

TapetedeAgulhas
©TodososdireitosreservadosaoselodigitalLAB502
Adistribuição das cópias eletrônicas dolivro,sendotodoouparte, é permitida.Poréma utilizaçãodos textosdemododiferente do formato apresentado,precisarádeautorizaçãopréviadaautora.
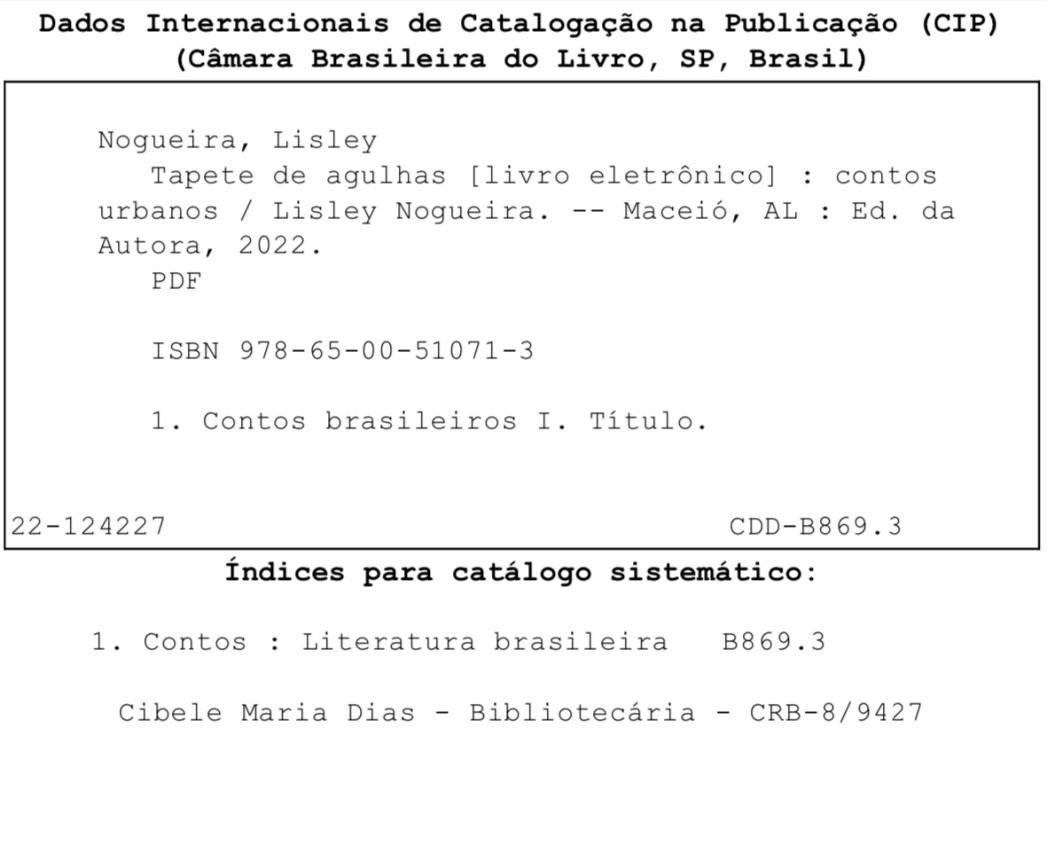
Capa|©byLisleyNogueira
Fotointerior|©LisleyNogueira
Diagramação|©byLisleyNogueira
Apresentação|GuilhermeRamos
Aos meus amigos.
De sangue e sombras
Setembrode2022. .
Lisleysimpatiza comsangue e sombras. Flerta com a morte e pavimentacom palavras essaestrada inevitável.Friaé a chama que acendeentreaspáginas,aindaassimescuras,cheiasdevaziosexistenciais, tornandoaleituraturvaetenebrosa.
Se você tem restrição às verdades dahumanidade – e da crueldadeemseusdiversos graus pareagoramesmo. Procure leiturasmaisamenas.Seulugarnãoéaqui.
Não queo conteúdo deste livrosejatotalmenteindigesto.Mas apresentaum mundorealosuficientepara embrulharum ou outroestômago mais fraco;abalarumaou duasmentesmais frágeis.Do contrário,sevocêétrevoso,atraídopor cenasperturbadoras,sanguinolentas, capazes deroubar o ar doleitormaisincauto,paretambém.Aautoranãoprecisachegaratanto.
Suas histórias (e, aqui,temosapenas oito)devemapenas ser lidas.Degustadascomcalma.Digeridascomparcimônia.Poispovoamum mundoigualaonosso.Maisexplícito.Pior,então.
Sabe aqueleuniversoque escondemos em nossos silêncios?Que não contamos a ninguém?Quedesejamosesconder até mesmo de nós(como se fosse possível) e, nãoosendo, o reproduzamosautomaticamente em nossoscotidianos,numoutrosegredoegoísta,quandonemmais Deusse importa?
Pois vire a página,conheçamães, filhas, cães, crianças, pais, filhos,gentesã,gentedoente, fome, sede, gente descrente, descaso, culpa,violência, cansaço, racismo,prostituição...Porqueviverdói.E, talvez,sejaesseoverdadeiroalertadequeaindarespiramos.
Guilherme de M. Ramos Escritor e Compositor
Simbiótica
A mãe segurava um livro enfadonho, enquanto sua outra mão ossuda fazia do cafuné um desconforto. Afagava os cabelos da filha e, assim, via o tempo, lento e dolorido. Depois do livro, hora da medicação. “Tome, meu amor, engula”, disse a mãe. Duas gotas após o jantar e, uma hora depois, a filha dormia como criança. Na verdade, era uma criança num corpo de adulto, pois a doença a fez permanecer assim, como se tivesse quatro, cinco anos de idade.
A mãe, já idosa, passava boa parte da madrugada lembrandose do passado, da casa cheia, dos jantares, das roupas caras, das amigas socialites engolindo suas próprias línguas, enquanto grasnavam, às custas de suas plásticas mal feitas.
Lembrava se do marido, que a abandonara assim que soube do diagnóstico da filha. Foi viver com outra mulher, na Espanha. Deixou-lhe a pequena fortuna como compensação. Essa foi gasta com médicos, remédios, enfermeiros, padres, novenas. Nada curou a menina. Transtorno mental, comportamento agressivo.
“Venha, meu amor, hora do banho”. A filha gritava, corria nua pela casa, enquanto a mãe, com toda a paciência, tentava acalmá la ao som do grupo Roupa Nova, sua banda preferida.
Almoçavam, ouviam o rádio, faziam tudo juntas. “Vamos rezar, meu amor?”. Com o terço na mão, a filha tagarelava um mantra qualquer, enquanto a mãe pedia por semanas de paz.
Num dia ordinário, a filha pediu colo. Aquele corpo grande, pesado, de cabelos ruivos, olhar perdido e saliva excessiva.
Mas, quando a mãe baixou a guarda, levou uma mordida no seio esquerdo. A mãe conteve o choro, enquanto a filha gargalhava, incessante e irracional. Amor e ódio na mesma proporção.
A mãe vivia em função da filha e, aos poucos, foram se isolando das pessoas, do mundo.
Mais duas gotas, filha, “Tome, beba tudo”; “Mamãe! Mamãe! Vamos ver quem dorme primeiro?”. Todos os dias a mesma rotina, uma velha e uma adulta que, no fim das contas, teria sempre pouca idade.
Osossosdoloridosjá não disfarçavamo cansaço, duasgotasapós o jantar, e a filha demorava cada vez mais a pegar no sono.“Mamãe, quero ouvir Trem Azul”. “Hoje não, meu bem, vamos ver quem dorme primeiro?”. “Sou eu! Sou eu, mamãe!”.
A mãe apagou as luzes e esperou a filha dar seu primeiro ronco. Desceu as escadas, em direção ao gazebo. Sentia dores nas costas, nas mãos, mas era a melhor hora do dia; adorava reconhecer seu passado em cada cômodo da antiga mansão.
Enquanto admirava suas hortênsias, ouviu um baque, seguido de um grito que lhe atravessou o peito.Diante do susto, esqueceu as dores e caminhou o mais rápido que pôde, até ver a filha caída entre as almofadas, na sala principal. “Mamãe, eu sei voar! Eu sei voar!”. A velha não conseguiu esboçar reação.
“Aonde você vai, mamãe?”,
“Levante! vou buscar o chá, já que você está acordada. Mas que inferno!”. Foi até a cozinha; vinte e cinco gotas para cada copo, água, açúcar. “Tome, beba logo”,“Quero a xícara amarela, mamãe...”, “Vá logo, sem conversa. Beba!”, “Humm, está docinho,mamãe”, “Está”, a mãe disse. “"Vamosver quem morre primeiro...”, pensou.
Georgina
O som de duas ou três notas agradáveis, quando a porta abria, avisava a chegada de mais clientes. O café bistrô era o lugar da vez; decorado com móveis em couro e almofadas suntuosas, tinha uma penumbra elegante, de maneira que era quase possível ver o próprio reflexo nas luminárias.
O movimento era imenso, principalmente na alta temporada, e parecia até que, numa cidade grande como aquela, tomar café era a receita para manter o sorriso no rosto.
Parte do sucesso do bistrô era Georgina, que esbanjava paciência e simpatia e conseguia boas gorjetas, por conta disso. Vez ou outra, arriscava um portunhol; decorou em inglês as sobremesas do cardápio e algumas sugestões de café, só para atender melhor quem fosse por lá pela primeira vez.
Nesse dia, já no fim da tarde, entrou um casal jovem, bronzeado. Todos repararam em sua imponência e ar altivo, enquanto sentavam discretamente em uma das mesas com vista para o terraço. O ambiente era mesmo acolhedor, com todas aquelas referências sobre cinema e música.
O casal praticamente sussurrou para fazer o pedido, o que quase obrigou Georgina a adivinhar o que eles queriam. Ainda assim, a garçonete os atendeu com um sorriso e as melhores opções da casa.
Massa, vinho, doce, café, pareciam à vontade com aquele universo, com aqueles preços. A mulher, inexpressiva, totalmente indiferente a tudo; o homem, não menos indiferente, ainda conseguiu esboçar um sorriso no momento em que Georgina substituía os pratos, os copos. O homem assumiu as falas, e também a conta.
Do outro lado da sala, Georgina pensava em como a vida podia ser rude; pouca empatia, tanto azedume, polidos com dinheiro. Para a garçonete, aquele casal não engordaria nem se enchesse a boca de açúcar o dia inteiro.
O homem pôs algumas cédulas dentro do envelope que tinha as cores do café bistrô, mais uma excentricidade daquele lugar. Ele escreveu alguma coisa e colocou junto com o dinheiro. A garçonete aguardava a gorjeta com ansiedade, mas disfarçava, olhando para os calos na mão direita.
Georgina pegou o envelope, agradeceu ao casal, parabenizou os jovens pela escolha, enfim, agiu como alguém que domina o seu ofício. O casal, por sua vez, não fez nenhum esforço para retribuir a cordialidade.
A garçonete dirigiu-se ao caixa para receber o trocadinho da vez. Abriu discretamente o envelope e viu, por cima das cédulas, no verso do cupom fiscal, a frase: “Não dou gorjeta a uma garçonete negra”.
Amarelo
A chuva era tanta que o bairro parecia um rio. Os carros tortos barcos escorriam em fila e um cachorro, acostumado, molhado, no outro lado da pista. Cada carro que passava remava uns litros d’água sobre ele, mas o cachorro queria atravessar a rua para alcançar a marquise.
A patinha pisava no asfalto, eu torcia para chegar a minha vez, já que eu pararia a rua inteira para ele passar. Sou louca por cachorro, mesmo os que sabem se virar. Naquela manhã, tudo era tudo muito lento. As pessoas também.
Eu dei sinal de luz e, se ele olhasse, entenderia, mas lutava e tinha pressa, parecia destemido. Era amarelo e o pelo não o aquecia o suficiente.
A patinha novamente na pista, quando o outro carro acelerou para não perder o sinal verde. Ele se encolheu rápido, assim como o meu coração, concentrado naquela distância entre ajudar e estar em atraso.
A vida nem sempre amanhece. Dá esse aperto no peito querer fazer algo e não poder, nunca estar no tempo certo, tentar entender porque ela nosempurra paraa enxurrada e faz com que a gente atravesse a rua às pressas.
O cachorro amarelo estava acostumado. Ele não tinha o nosso medo, aquele de confiar em alguém. Esse medo pede calma na tempestade, mas ele não me esperou, assim como o tempo não espera ninguém. Deu dois ou três passos despreparados, até que o carro de algum náufrago viu o sinal verde novamente e não fez o que eu queria fazer.
Ouvi um gemido agudo, intermitente, doído. Minhas coxas imóveis sob o volante, inertes com o que acontecia do lado de fora. Ninguém se incomodou. Estiquei o pescoço, mas não vi nada amarelo embaixo da marquise.
A água quase na altura dos pneus no momento em que eu mesma pedi para não ver o amarelo vermelho grito descendo por algum bueiro. Havia uma culpa falando por mim, como se buzinar baixinho fosse mudar o curso de algum rio ou o daquele cachorro amarelo e acostumado, como a vida amarela e acostumada às culpas e às desculpas que nos lavam em enxurradas e nos atrasam.
Passei a semana inteira subindo e descendo a ladeira do morro por Madalena. Estudava pela manhã, e era só chegar em casa pra mãe chamar o tempo todo: “Santianna, traga água!”,“Santianna, vá na Deusa buscar a tinta de cabelo”, “Santianna, vá comprar verdura e diga a Seu Dino que anote”. Eu fazia tudo rápido, pra sobrar tempo pro dever de casa. Eu gostava da escola. Só não gostava da Dora.
À tarde, a mãe passava o café, enquanto Madalena andava pela sala de salto alto, pra frente e pra trás, como via na TV. Falava com o chinelo e imitava um monte de gente. Queria ser atriz.
Madalena era bonita, tinha olho verde, sabia cantar. Era boa comigo, mas às vezes, não. Eu com dez anos e ela, quinze. Só ela podia descer as escadas quintas à noite. A mãe não me deixava sair do quarto. Dizia que era coisa de adulto. Isso me dava muita raiva.
Eu ouvia aquelas vozes estranhas, barulho de prato, de cadeira arrastando, e ficava tão cansada de me imaginar chegando na
festa com a saia verde que tio Jorge deu a Madalena e todo mundo me aplaudindo porque eu estava linda como a mãe, que ali mesmo adormecia. Acordava com o sol esquentando meu braço. Descia atrás de brigadeiro ou bolo, mas nunca tinha nada pra mim.
No sábado, teve pagode na Dona Mercia. O tio mandou a mãe me levar. Madalena me olhou feio. Eu nem queria ir, mas a mãe fazia os gostos dele. Uma vez, o tio trouxe um tênis pra Madalena, um relógio pra mãe e uma boneca pra mim. Era coisa cara, lá do Centro. Tio Jorge podia comprar no Centro. Eu ouvi uma vez, na venda, que ele tinha duas filhas. Nesse dia, Dona Mercia se benzeu, me olhando. “Tomara que essa não puxe à mãe”, virou a cara e saiu. Mas, lá no pagode, me deu coxinha e guaraná. Ela era boa comigo, mas às vezes, não.
Eunem gostava de pagode, gostava de funk. Só queria ir pra casa. Madalena rodopiava na frente do tio Jorge. Todo mundo aplaudia, só porque ela usava a saia verde. Não fosse isso, eu dançava melhor que ela. A mãe fritava pastel naquele calor.
Tio Jorge voltou com a gente pra casa. Mãe fez suco e mandou Madalena comprar pão. Tio Jorge disse que ia junto, mas, quando eu pedi pra ir, ele mudou de ideia. Pegou o celular e pediu pizza.
Tio Jorge podia comprar pizza. Ele era bom comigo, às vezes não. Como na vez em que eu dei uma surra na Dora, porque ela perguntou se eu era filha de rapariga. Falei que era filha da Cida e parti pra cima dela, enquanto as outras riam de mim. Voltei da escola toda rasgada e a diretora mandou chamar a mãe.
O tio Jorge passou uma semana sem ir lá em casa. Mãe ficou nervosa. Me pôs de castigo, me trancou duas vezes. Só falou
comigo direito quando o tio apareceu. Depois, Madalena me disse que Dora era filha dele, mas, se eu abrisse a boca, ela me matava.
Madalena não era minha irmã de verdade. E a mãe dizia pra eu não confiar em ninguém. Cida também não era minha mãe de verdade. Vez ou outra, fala que nem o diabo me quis, aí fiquei na porta dela.
Na quarta, cheguei cansada da escola porque, depois da aula, mãe me mandou entregar um pacote na rua de cima. Ninguém podia ver o bagulho. Escondi na frente do umbigo, pra não perder. Na subida, o chinelo me deu duas bolhas no pé; mesmo assim, fui depressa, porque tinha medo do Léo Bituca.
Madalena nunca ia entregar pacote, pra não queimar a cara no sol. Tio Jorge brigava e dizia que ela ficava maisbonita sem pegar sol. Fiz a entrega e voltei correndo. Uma bolha estourou. A outra sangrou. Cheguei em casa sem conseguir falar direito, mãe pegou o dinheiro e me mandou pro quarto. Cochilei.
Acordei já escuro, com dor de cabeça. Chamei a mãe, ninguém respondeu. Madalena não estava na cama. Fui até a cozinha me apoiando nas paredes, pra não vomitar no chão, porque eu não queria limpar nada.
Quando acendi a luz, vi o tio Jorge sacudir Madalena, que voou como uma rã, mas caiu de pé. Não sei o que ela tava fazendo no colo dele, mas, depois disso, só lembro que vomitei e tudo apagou de vez.
Fiquei em casa no outro dia. Mãe trouxe biscoito, escovou meu cabelo, mandou Madalena comprar verdura, limpar a casa, e ela
toda calada. À noite, fui pro quarto, porque a festa já tinha começado. Sentei no chão pra fazer o dever e larguei tudo quando vi a saia verde embaixo da cama. Calcei a sandália de Madalena e corri pro espelho. Andei pra frente e pra trás, como via na TV.
Eu também tenho olhos verdes. Procurei no gavetão a caixa de esmaltes pra usar um roxo. Mãe nunca ia saber. Foi bem na hora em que alguém destrancou a porta. Tremi de susto. Derrubei os esmaltes no chão.
Vi que a luz do corredor tava acesa. Fui bem devagar e pus a cara na porta. Era Madalena. Ela sentada no primeiro degrau da escada. Fui bem na ponta dos pés e, quando cheguei perto, vi que ela tinha a cara borrada de choro.
Da escada, dava pra ouvir um barulho grande na sala, gargalhadas, cheiro forte de menta. Quando me viu com a roupa dela, Madalena sorriu sem vontade. Pensei que ia me bater, mas levantou calma, beijou meu rosto e disse que a mãe tava me chamando lá embaixo. Desci dois degraus, depois mais dois. Vi a mãe. Olhei pra trás. Madalena me aplaudia.
Curral de Sangue
Todos os dias, na hora do almoço, ele ouvia essa mesma música, uma voz vadia que incomodava. Era bom quando o cheiro do galeto assado umedecia as entranhas, e só por isso valia a tortura. As duas tiazonas olhavam ele de perto; uma com cara de dó, outra com cara de nojo. Ainda assim, ele sempre ficava na calçada, esperando um pedaço de frango voar pra cima dele.
O Galego nasceuna rua.A mãe pulguenta o pôsna vala e ele saiu de banda, serpenteando até desembocar aqui, no Curral de Sangue. Caixote velho, marquise rachada, carinho é tapa no couro, chute nos olhos, ferida nas ancas. Comida aqui é isso: osso, langanho, pelanca, óleo queimado, resto de marmita dos caras da obra, ou das que se roubam por aí.
Nesse reino tem de tudo, e eu bem que vejo, assim como ele viu quando jogaram o lixo da casa das tiazonas. Elas tinham um cheiro de estrago, de azedo, de sovaco, de bafo. Galego sempre murchava as orelhas quando elas passavam.
Nessas horas, ninguém merecia ter faro. Galego era parte do lugar. Sabia a hora do rapa, quem corria, quem se escondia, quem apanhava, sabia até quem era o dono da sirene: o polícia que o atropelou uma vez. O fardado tinha um esquema com o Ruivo. Faz parte, tudo era vizinhança.
À noite, a chapa esfriava e o Galego palmeava o terreiro todo antes de dormir; ciscava a areia pra puxar a quentura no buraco, rodopiava, rodopiava, mas não ficava tonto. Polia as unhas na terra seca, esquentava os cascos e o focinho na poeira. Fuçava o lixo a essa hora, porque a concorrência era menor.
Tava de olho no saco escuro da casa amarela desde o começo da noite. A língua pingava, ele coçava as costelas, balançava a cabeça pra todo lado, abanava o rabo e sempre começava pelas sacolas boas de rasgar, dava pra ver o que tinha dentro.
Eu achava engraçado esse jeito dele. Galego revirava tudo com cuidado, pra não acordar os parças e também pra não perder pedaço de si em tampa de lata de sardinha ou caco de vidro. Escavacou até encontrar o saco escuro. A tiazona havia jogado de um jeito que deu pra ver que era coisa mole. Talvez restos do assado.
Dizem que animal não tem alma, mas tem coisa no Galego. Do contrário, não tinha perdido a fome com aquele cheiro de esgoto embrulhado pra viagem. Com o saco na boca, procurouuma vala por perto, pra jogar córrego abaixo, como a pulguenta da mãe fez um dia.
Galego acelerou o passou e apertou a mordida ladrilho acima, pra algum humano ver. Ciscou na casa da tiazona, mas ninguém apareceu. Abocanhou o saco novamente e riscou as patas por quase um quarteirão. Foi em quase todas as casas. Ninguém pra ver aquilo.
O fato é que não se deve dar conversa de madrugada em Curral de Sangue. Casa pra quem é de casa. Rua pra quem é da rua. Tem os da vala também, como eu e o Galego. A vala é isso: azar, azar, lapada, azar, lapada, um segundo de sorte, um suspiro e, quem sabe, uma morte breve. As tiazonas dormindo, e ainda dizem que animal não tem alma.
Se não tivesse, Galego nem estaria na calçada com a baba escorrendo de tanto lamber e limpar os braços, dedos pequenos, a cabeça careca, a barriga machucada do bebê. Galego fungando, fungando, pra manter quente o resto de choro e pra que o bebê não parasse de se mexer.
Severo
Ele vivia como se não quisesse viver. Acordava quase sempre com jeito de lixo virado. Rezava algumas vezes; depois, um gole de cachaça para entorpecer a ideia de conviver consigo, mesmo que por algumas horas.
Sua descrença tinha raízes profundas, um casamento fodido e os pés estragados pelo lugar onde nasceu. Saiu do Sertão e, com isso, só mudou de desgraça, pois a moeda da favela não é a água, é a vida. Já havia morrido há tempos, na verdade, mas enterrarse deixando dois filhos pequenos e uma mulher com derrame era a certeza de pagar os pecados em algum lugar muito pior que o inferno.
Quase não falava, não era letrado, mas, na sua pouca história, pensar em suicídio não era coisa de homem. Passou fome, deu dinheiro a quem já tinha. Trabalhava para pagar remédio e
cachaça. O tempo passando, e ele parou de rezar. Sobrou a revolta e uma conta na venda.
O pensamento em acabar com aquilo tomava conta do corpo inteiro, como doença que não se pode mais curar. Um homem bom no passado. Hoje, enxergava se como bicho. Andava às voltas, por não ter trabalho; tentou em todo canto. Qualquer coisa para não ver a mulher definhando e os gêmeos chorando. Gastava a madrugada se enganando, até o álcool sair na urina. Queria um casulo maior. Ou um caixão. Gritou calado até o desespero tomar as rédeas.
Escolheu um dia próximo, esperou o galo cantar, saiu de casa cortando o esgoto até chegar à venda. Tentou negociar um serviço de pintor em troca da boia do dia. Voltou com uma lata de leite, uma de sardinha, quatro pães, água sanitária e a cachaça da vez.
Suava, desfazendo a sacola. Água no fogo para duas mamadeiras. O choro dos gêmeos. Aquele azedo n’alma. Olhou para a mulher e só viu sombra. Mal se mexia, não falava, tudo nela era roxo esverdeado, cadáver que não apodrecia. Fez o leite para os gêmeos, tomou metade da cachaça, amassou dois pães com a sardinha e o óleo da lata para a mulher e, em três copos, uma boa dose da água sanitária.
Não pensou em matar, pensou em salvar. Pensou em dar asas a três corpos. Pensou em quem merecia ficar. Pensou em ir sozinho, pensou em ir primeiro. Não pensou no fato de viver no lugar onde o sol não queima. Lá, quem te alisa é a dor.
Não pensou no dia seguinte. Duas crianças e uma mulher em estado grave. Queimadas, porém sobrevivendo. Do outro lado da cidade, um estranho conhecido como Severo agarrado a uma sacola de plástico, linchado até ausentar se de si.
Concurso de beleza Correria habitual nos bastidores. Câmeras, fotógrafos, concorrentes ansiosos e, com isso, a lista de itens de beleza só aumentava: modelador de cachos, brilho para cabelo, spray, clareador para os dentes, pentes e escovas de todos os tamanhos, chapinha, secadores, hidratantes, águas termais, maquiagem, esmaltes, toalhas, máscaras para pés e mãos e gente para aplicar tudo aquilo em uma só pessoa. Seria a quarta ou quinta performance do concurso, mas era sempre como se fosse a primeira.
A mãe no celular, tentando convencer o cenógrafo de que verde não era uma boa cor para a sua miss e não combinava nada com a roupa dos bailarinos. A menina não se alimentava desde o café da manhã, mas aprendeu logo cedo a não reclamar. “Murche a
barriga, assim sai melhor nas fotos”, dizia a mãe. “Seu lado bom é o direito”, “Vê se lembra de pôr a mão na cintura”, “Pé sobre pé”, “Sorria!”.
A menina, cada vez mais curvada, abraçava a barriga com firmeza e cerrava os olhos, já com os cílios postiços, enquanto tentava se distanciar do secador fumaçando suas orelhas. O escovista finalizava com bastante spray, enquanto ela tentava coçar o nariz por conta da ardência. A manicure se imprensava do lado esquerdo e a maquiadora aplicava o blush na bochecha direita.
A menina sentava em “S” na cadeira, para deixá los trabalhar. Os bracinhos esticados, para não borrar os dedos, e, entre uma mecha e outra, piscava bastante, pois percebeu que o peso dos cílios postiços a fazia lacrimejar, o que aliviava a ardência no nariz.
Seu número era sapatear um jazz Charleston. “Mãe, por que eu tenho que esmaltar as unhas dos pés, se os sapatos são fechados?”.
A mãe empurrava o ar com a mão, pedindo para que se apressassem. A TV local faria uma live com as finalistas.
“Vocês entram em dez minutos”, disse o assistente de produção. A mãe fez o escovista retocar as últimas mechas com spray, pois queria ondas de dois a três centímetros; assim, o look anos trinta ficaria mais natural.
A menina estendia a mão para alcançar o copo de suco, não como se fosse pegá-lo, mas para ver as unhas pintadas com o “rosa millennium”. "Mãe, me dá aqui, tô morrendo de sede!”, “O correto é ‘estou morrendo de sede’. Estooooou morrendo de sede, entendeu? Nenhum juiz valoriza esse tipo de linguagem”, a mãe retrucava. “Mãe, é sério, estou com sede”. “Nada disso, mocinha. Líquido só quando você descer daquele palco com o prêmio”.
A última palavra Morri pelo menos umas três vezes, de ontem para hoje. Enfurnada na emergência cardiológica, onde o plantão é, no mínimo, bem longo. Não é a minha ala favorita, mas pelo menos é setor fechado e não temos pacientes amontoados pelos corredores.
Mizael já agonizava desde as sete da manhã, quando assumi o prontuário e a rotina. O garoto vinha da Mata do Rolo, dezessete anos, baixa estatura e um coração que não dava conta do corpo que tinha. Estava acompanhado pelo pai, João Emílio, que há quarenta dias não voltava para casa, por conta da crise do filho.
João Emílio capinava cana de açúcar e, na baixa estação, mandava Mizael para São Luís do Quitunde. Ele ficava sob os
cuidados da tia, enquanto João fazia um bico na fábrica de queijo. A assistente social concordou que as refeições de João fossem feitas na própria enfermaria, já que Mizael piorava quando se via sem ele por perto.
Mizael usava uma máscara própria para ajudar na respiração, que praticamente cobria seu rosto inteiro. Balbuciava qualquer coisa, enquanto segurava a mão do pai. João aproximava o ouvido para entendê lo, mas a fraqueza era tanta que, na segunda vez, o menino desmaiou.
Correm médico, enfermeiro, auxiliar; tira a máscara, mede pulso, traz o oxímetro, desfibrilador, chama o maqueiro urgente, pois parece que o menino precisa ser entubado.
Os outros pacientes permaneciam em silêncio, como que em respeito àquela agonia. João, no pé da cama, suou de desespero até o momento em que estabilizaram o filho. Ninguém da família aparecia para dividir as horas com ele. No prontuário, só constava informação sobre pai e mãe. João adotou a cadeira ao lado do leito. Fez dela raiz. O setor fechado não deixa a gente ver se é dia ou noite, mas aquele pai não dormia, e amor também se prova com esse nível de vigilância. Só largava a mão do menino na hora da medicação.
A equipe, apesar de cuidar de todos com esmero, não tinha muita esperança sobre o caso e, para nós, era questão de horas. A madrugada seguia tranquila e era possível ouvir a oscilação das máquinas de monitoramento e o cansaço de João cada vez que ele estirava as pernas, como se quisesse fazer o corpo desistir do sono.
Eu, a médica, dois enfermeiros e a farmacêutica revezávamos o intervalo, rezando para que o plantão terminasse logo. Eu, rezando com mais força, já que meu plantão seria de trinta e seis horas.
“Seu João, quer um cafezinho?”, perguntei. Ele aceitou com constrangimento, como se não merecesse, mas aproveitei a paz dos minutos para distraí-lo um pouco. “Tá com saudade de casa, seu João? Tá aqui há muitos dias, não é?”. “Tem nada em casa não, dotôra. Sinto falta do cuscuz, que aqui não tem, mas se eu tivesse em casa, ia querer tá aqui com o Miza. Desde novo que é doente. A mãe não quis saber dele”.
Eu ouvi por alto a história dos dois. Nasceram gêmeos, Mizael e Miguel. A mãe, dependente química por um bom tempo, tentou abortar e não deu certo, trinta anos mais nova que João Emílio. Miguel, natimorto.
Na enfermaria, a gente acaba sabendo, mesmo sem querer. Ainda assim, eu conversava, para que pelo menos aquele café fosse só dele. “Mas o senhor tem outros filhos? Tem quem lhe ajude com Mizael?”. “Tenho idade de avô, dotôra. O menino ocupou meu tempo e meu sossego. Só peço a Nossa Sinhora a saúde dele, pra eu pisar de novo na roça antes que o sol seque tudo”.
Mais uns dez minutos e o apito do monitor fez a equipe correr novamente. Mizael contraía os braçose a barriga ascítica, travava o pulmão. Estava ofegante, a ponto de embaçar a máscara. O pescoço, enrijecido, sacudia a cabeça para trás. João atravessou se na frente da enfermeira, segurou a mão do filho com força. Eram quatro pessoas contendo a crise respiratória.
Injetável, soro, a respiração fazia a barriga pulsar e isso servia como medidor de vida para quem não entendia o que estava acontecendo.
Enquanto a equipe trabalhava, João ordenava, como pai: “Tem calma, fio.Tem calma”. A médica chamou João no canto: “Estamos fazendo o possível, mas o prognóstico é reservado”. João só entendeu que a noite estava doída demais.
Seis da manhã e minha vigésima terceira hora de trabalho. Eu deveria escrever um relatório, sinalizando as intercorrências da noite, algumas menos complicadas e a de Mizael. Minha vontade era deixar tudo sobre a mesa e sair. Porém, teria mais doze horas pela frente, eu e a equipe que chegaria às sete.
A copeira fez barulho ao arrastar o carinho com as bandejas. O cheiro de papa me deu enjoo, um misto de cansaço e desesperança. Distribuiu-se o desjejum leito por leito, alguns estavam em dieta zero (como Mizael). João continuava sentado na cadeira, vigilante, mas visivelmente esgotado. “Banana cozida ou inhame, senhor?”.
João riscava a bandeja, separando em partes diferentes o inhame e os ovos mexidos. “Me dá inhame, pai”. Mizael falava por dentro da máscara, o que fazia aumentar a frequência cardíaca no monitor. “Pode não, Miza”. O pai engolia, sem sentir o gosto. A angústia tira o gosto das coisas.
Uma auxiliar de enfermagem trabalhava também como cuidadora. A equipe se dispôs a fazer uma cota para que ela ficasse exclusivamente com Mizael, quando não fosse plantão da sua escala, para que João pudesse ir em casa, tomar um banho, dormir um pouco. “Ele só tem eu no mundo, diga à moça que carece não, dotôra”.
“Inhame”. Foi a palavra que entendi na hora em que o monitor disparou. Mizael puxou o ar, arregalou os olhos, convulsionou. João afastou se com bandeja e tudo, mas não a ponto de perder o filho de vista. “Fecha, fecha!”, o auxiliar fechava a cortina às pressas, para isolar o leito e evitar que os demais pacientes ficassem agitados vendo os procedimentos de emergência.
Do lado de fora, João permanecia sentado e alisava o peito. Do lado de fora, ouvia um resto da voz de Mizael: “Inhame, pai”, “Bora, pai”, “...ha me, pa...”.
João soltou um grito agudo. O susto gerou comoção entre pacientes e acompanhantes. Luzes, fios, monitores. Abriram a cortina, ainda enquanto tentavam ressuscitar Mizael. João, por sua vez, caído da própria altura, estava esticado no chão. Massagem cardíaca, pulso, respiração. Já não respondia aos sinais vitais.
A médica atestava o óbito: oito horas e quarenta e dois minutos. Infarto fulminante. “Doutora! Doutora!”, a enfermeira segurava o ombro de Mizael, enquanto o monitor se arrastava até estabilizar por completo. Oito e cinquenta e sete: Mizael com a máscara de oxigênio, visando o teto, não buscou a cadeira onde João sentava; lento por sedação, estirava a mão, buscando novamente a presença do pai.

