Enfermagem deSaúde Familiar
Coordenação:

Maria Henriqueta Figueiredo

Direção da coleção:
Manuela Néné I Carlos Sequeira


Coordenação:

Maria Henriqueta Figueiredo

Direção da coleção:
Manuela Néné I Carlos Sequeira

COORDENAÇÃO
Maria Henriqueta Figueiredo
Lidel – edições técnicas, lda. www.lidel.pt

Maria Henriqueta Figueiredo
Professora Coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP); Coordenadora do Mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar da ESEP; Pós-doutorada em Enfermagem de Saúde Familiar; Doutorada em Ciências de Enfermagem; Mestre em Psicologia; Terapeuta Familiar e Interventor Sistémico; Autora do Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar; Investigadora Integrada no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Enfermeira Especialista pela Ordem dos Enfermeiros em Enfermagem Comunitária e em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar e com competência acrescida avançada em Psicoterapia; Presidente da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Familiar.
Agostinha Corte
Doutora em Ciências da Educação; Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda.
Alcinda Reis
Doutora e Mestre em Ciências de Enfermagem; Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária; Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém; Investigadora Integrada do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Membro colaborador do Centro de Investigação Em Qualidade de Vida (CIEQV) do Instituto Politécnico de Santarém e Instituto Politécnico de Leiria.
Alexandra Freitas
Mestre em Ciências de Enfermagem; Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira.
Ana Cláudia de Souza Leite
Professora Adjunta na Universidade Estadual do Ceará (Uece); Professora do Programa de Mestrado da Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família (RENASF) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a Nucleadora Universidade Estadual do Ceará.
Ana Isabel Vilar
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária; Enfermeira Gestora; Pós-graduada em Gestão e Economia da Saúde; Mestre em Enfermagem na especialidade de Gestão de Serviços de Enfermagem; Doutoranda em Educação, área de Supervisão e Avaliação; Título de Especialista para o Ensino de Enfermagem; Professora Adjunta na Escola Superior de Enfermagem do Porto; Investigadora no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Ana Margarida Murteiro
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária no Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga; Mestre em Enfermagem e em Psicologia; Doutoranda em Enfermagem; Terapeuta familiar; Investigadora no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Ana Paula Gato
Professora Coordenadora na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal.
©Lidel – Edições Técnicas, Lda. IX
Ana Paula Prata
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica; Mestre em Gestão e Economia da Saúde; Doutora em Enfermagem; Professora Coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto; Investigadora Integrada no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Ana Pires
Professora Coordenadora aposentada da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja.
Ana Resende
Doutora em Enfermagem; Professora Auxiliar na Escola de Enfermagem do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa.
Ana Spínola
Doutora em Ciências de Enfermagem; Mestre em Ciências da Educação na especialidade de Educação para a Saúde; Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária; Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém; Investigadora Integrada do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Membro colaborador do Centro de Investigação
Em Qualidade de Vida (CIEQV) do Instituto Politécnico de Santarém e Instituto Politécnico de Leiria.
António Dias
Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar; Mestre em Enfermagem; Doutorando em Enfermagem; Assistente Convidado na Escola Superior de Enfermagem do Porto.
Assunção Nogueira
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária; Mestre em Ciências de Enfermagem; Doutora em Educação; Professora na Escola Superior de Enfermagem do Tâmega e Sousa do Instituto Politécnico de Saúde do Norte (IPSN); Investigadora no IA & Saúde (Inteligência Artificial & Saúde) do IPSN.
Carla Sílvia Fernandes
Pós-doutorada e Doutorada em Ciências de Enfermagem; Professora Adjunta na Escola Superior de Enfermagem do Porto; Investigadora Integrada no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Presidente da Associação para o Desenvolvimento de Inovação Tecnológica e Games em Saúde (ADITGameS).
Carlos Sequeira
Agregado em Ciências de Enfermagem; Pós-doutorado em Saúde Mental Positiva; Doutorado em Ciências de Enfermagem; Professor Coordenador Principal na Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP); Coordenador do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde e da Unidade de Investigação da ESEP; Presidente da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental; Editor Chefe da Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica.
Carlos Subtil
Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; Mestre em Ciências da Educação; Pós-graduado em Terapia Familiar; Doutorado em Enfermagem; Professor Convidado na Universidade Católica Portuguesa; Membro fundador e Presidente da Sociedade Portuguesa de História da Enfermagem.
Carlos Vitor
Doutorando em Enfermagem; Mestre em Enfermagem; Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública no Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga; Assistente Convidado na Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa; Investigador Integrado do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Carme Ferré-Grau
Professora emérita da Universidade de Rovira i Virgili, Tarragona; Coordenadora do Programa de Doutoramento de Enfermagem e Saúde.
Carmen Andrade
Professora Coordenadora na Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores; Investigadora Integrada no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Doutora em Enfermagem.
Cláudia Augusto
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar; Doutora em Ciências de Enfermagem; Professora Adjunta na Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho; Investigadora Integrada na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E) da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e do Centro de Investigação em Enfermagem (CiEnf) da Universidade do Minho.
Claudia Pires de Lima
Psicóloga Clínica e de Emergência; Psicoterapeuta e Terapeuta Familiar e de Casal; Curso de Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento; Mestranda em Comunicação Clínica; Investigadora Colaboradora do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Conceição Santiago
Doutora em Enfermagem; Mestre em Comunicação em Saúde; Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica; Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém; Investigadora Integrada do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Diliana Ribeiro
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar na Unidade de Saúde Familiar Santos Pousada do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental; Professora Convidada na Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa; Licenciada e Mestre em Psicologia da Educação; Investigadora do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Dora Ribeiro Machado
Doutoranda em Ciências de Enfermagem; Enfermeira Mestre e Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar no Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto III – Maia/Valongo.
©Lidel – Edições Técnicas, Lda. XI
Edmundo Sousa
Doutor em Psicologia, na vertente de Psicologia Intercultural; Mestre em Relações Interculturais; Mestre em Enfermagem Comunitária; Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária; Investigador Integrado no Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa (CIDNUR); Professor Coordenador na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.
Ermelinda Marques
Doutora em Ciências da Educação; Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda; Investigadora Integrada no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária.
Eugénia Anes
Professora na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança (IPB); Investigadora Integrada na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E) da Escola Superior de Saúde do IPB, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
Ezequiel Carrondo
Professor Coordenador na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda; Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária.
Fernanda Bastos
Professora Coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP); Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária; Mestre em Saúde Pública; Doutora em Enfermagem; Investigadora na Unidade de Investigação da ESEP (UNIESEP) e no Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas de Informação em Enfermagem (CIDESI) da ESEP.
Fernando Almeida
Pós-graduado em Enfermagem de Saúde Familiar; Enfermeiro de Família na Unidade de Saúde Familiar Terras de Santa Maria do Agrupamento de Centros de Saúde Entre Douro e Vouga I – Feira e Arouca.
Francisco Sampaio
Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica; Professor Adjunto na Escola Superior de Enfermagem do Porto; Investigador Doutorado Integrado no CINTESIS@ RISE; Membro da Coordenação Regional de Saúde Mental na Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.; Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros.
Helder Rebelo
Licenciado em Psicologia; Mestre em Psicologia Clínica do Desenvolvimento; Psicólogo Clínico e Terapeuta Familiar e de Casal; Membro Efetivo da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar; Sócio Efetivo da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica; Assistente Principal de Psicologia Clínica no Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VIII – Espinho/Gaia.
Helena Loureiro
Professora na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA); Doutora em Ciências e Tecnologias em Saúde; Diretora do Mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar na ESSUA; Investigadora Integrada no Institute of Biomedicine (IBIMED) da Universidade de Aveiro.
Autores
Hélia Dias
Doutora em Enfermagem na especialidade de Educação em Enfermagem; Mestre em Sexologia; Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica; Professora Coordenadora na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém; Investigadora Integrada do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Membro colaborador do Centro de Investigação Em Qualidade de Vida (CIEQV) do Instituto Politécnico de Santarém e Instituto Politécnico de Leiria.
Hortense Cotrim
Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém; Doutora em Enfermagem; Mestre em Ciências de Enfermagem e em Bioética; Investigadora Integrada do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Ilda Fernandes
Doutora em Ciências da Educação; Mestre em Ciências de Enfermagem; Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; Investigadora Integrada do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Inês Fonseca
Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda.
Irene Santos
Doutora em Enfermagem; Mestre em Sociologia; Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária; Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém; Coordenadora do Mestrado em Enfermagem Comunitária.
José Carlos Carvalho
Professor Coordenador na Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP); Presidente do Conselho Pedagógico na ESEP; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica; Mestre em Psiquiatria e Saúde Mental; Doutor em Ciências de Enfermagem; Investigador Integrado do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
José Vilelas
Professor Coordenador na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa – Lisboa (ESSCVP); Coordenador do Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica na ESSCVP; Membro do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica na Ordem dos Enfermeiros.
Júlia Marques
Professora Adjunta na Escola Superior de Enfermagem do Porto; Investigadora no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Doutora em Ciências de Enfermagem; Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica.
Lia Fernandes
Psiquiatra Assistente Hospitalar Sénior do Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE; Professora Catedrática na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP); Diretora do
©Lidel – Edições Técnicas, Lda. XIII
Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental da FMUP; Investigadora no CINTESIS
– Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Lídia Moutinho
Professora Adjunta na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa; Investigadora no CINTESIS
– Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Luís Ferreira
Enfermeiro Gestor; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica; Pós-graduado em Gestão e Administração de Unidades de Saúde; Mestre em Ciências da Educação.
Luísa Andrade
Professora Adjunta na Escola Superior de Enfermagem do Porto; Doutora em Ciências de Enfermagem; Mestre em Ciências de Enfermagem e Pediatria; Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; Investigadora Integrada no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Manuel Brás
Doutor em Ciências de Enfermagem; Professor Adjunto na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança; Coordenador do Mestrado em Enfermagem Comunitária na Área de Enfermagem de Saúde Familiar; Investigador Integrado do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Manuela Teixeira
Doutora em Ciências de Enfermagem; Professora Coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto.
Margarida Abreu
Professora Coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP); Doutora em Ciências de Enfermagem; Coordenadora da Unidade Científico-Pedagógica de Desenvolvimento Humano na ESEP; Coordenadora do Mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública na ESEP.
Margarida Moreira da Silva
Mestre e Doutora em Ciências de Enfermagem; Professora Adjunta na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC); Coordenadora do Mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar; Investigadora Integrada na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E) da ESEnfC; Investigadora Colaboradora no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Margarida Reis Santos
Professora Coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto; Coordenadora do Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; Doutora em Ciências de Enfermagem; Mestre em Ciências de Enfermagem; Investigadora Integrada do grupo de investigação NursID
– Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS@RISE – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Membro da Comissão Científica do Doutoramento em Ciências de Enfermagem do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto.
Maria Isabel Araújo
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública e em Enfermagem de Saúde Familiar.
Maria Jacinta Dantas
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE.
Maria João Pinto Monteiro
Doutora em Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Educação; Professora Coordenadora na Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Maria João Rodrigues
Professora Coordenadora na Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira; Doutora em Saúde Mental.
Maria João Sousa Fernandes
Doutora em Enfermagem; Professora Coordenadora no Instituto Politécnico da Lusofonia; Diretora da Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches.
Maria Luísa Santos
Professora Adjunta na Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny (ESESJCluny); Coordenadora da Licenciatura em Enfermagem na ESESJCluny; Investigadora Integrada do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Maria Manuela Ferreira
Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa; Doutora em Ciências e Tecnologias da Saúde; Investigadora no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Maria Manuela Martins
Professora Coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) e no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto; Núcleo de Investigação em Enfermagem de Família (NIEF) da Unidade de Investigação da ESEP; Investigadora do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Maria Rui Sousa
Professora Coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto; Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária; Mestre em Educação para a Saúde; Doutora em Ciências de Enfermagem; Investigadora do grupo de investigação NursID – Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do CINTESIS@RISE – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Marlene Lebreiro
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar; Enfermeira Especialista e Mestre em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; Supervisora Clínica em Enfermagem Avançada; Investigadora Integrada no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Sócia Fundadora da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Familiar.
Mireille Amaral
Licenciada em Psicologia Social e do Trabalho; Responsável pela Unidade de Apoio à Gestão do Agrupamento de Centros de Saúde de Gondomar.
©Lidel – Edições Técnicas, Lda. XV
Olga Ribeiro
Doutorada e Pós-doutorada em Ciências de Enfermagem; Professora Adjunta na Escola Superior de Enfermagem do Porto; Investigadora Integrada no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Paula Sapeta
Licenciada em Enfermagem; Mestre em Sociologia; Pós-graduada em Cuidados Paliativos; Doutora em Enfermagem; Professora Coordenadora na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco; Investigadora na AGE.COMM – Unidade de Investigação Interdisciplinar – Comunidades Envelhecidas Funcionais; Investigadora Convidada do grupo ATLANTES do Instituto de Cultura e Sociedade da Universidade de Navarra.
Pedro Melo
Professor Adjunto na Escola Superior de Enfermagem do Porto; Investigador no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde; Doutor em Enfermagem; Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária; Sócio Fundador e Secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Familiar.
Renata Silva
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária; Mestre em Saúde Pública na Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel; Investigadora Colaboradora no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Rute Rego
Enfermeira com Mestrado e Especialidade em Enfermagem de Saúde Comunitária, Especialidade em Enfermagem de Saúde Familiar e com competência acrescida diferenciada em Supervisão Clínica; Enfermeira na Unidade de Saúde Familiar de Sesimbra do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida.
Sónia Martins
Investigadora Doutorada no Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Investigadora no CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.
Teresa Kraus
Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria; Coordenadora do Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública do Politécnico de Leiria; Membro integrado da Unidade de I&D – Center for Innovative Care and Health Technology (ciTechCare).
Virgínia Sousa Guedes
Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar no Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega I – Baixo Tâmega.
Zaida Charepe
Professora Associada no Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa; Investigadora no CIIS – Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa; Doutora em Enfermagem; Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica.
Este livro é sobre o olhar da Enfermagem para o cuidado familiar e está dirigido para estudantes e profissionais experientes que desejam ganhar uma ampla e profunda compreensão deste importante campo de conhecimento que é a Enfermagem da Saúde Familiar.
O livro está organizado em oito seções que se conectam entre si, permitindo ao leitor uma construção que inclui embasamento teórico, contextos de cuidado e ferramentas para avaliação e intervenção com famílias.
A primeira seção contextualiza a Saúde Familiar em termos de políticas de saúde e sociais de Portugal. Na sequência, capítulos apresentam referenciais teóricos, conceitos e definições, onde se destaca uma densa seção com capítulos que examinam de modo detalhado importantes aspectos da Família como Unidade de Cuidados.
Uma vez apresentadas as definições, uma ampla gama de situações que caracterizam as vivências das famílias ao longo do ciclo vital dá ao leitor uma base para compreender a família como um organismo que se move ao longo do tempo e é desafiada pelos inúmeros eventos que afetam cada membro da família.
A discussão segue abordando a família e a experiência de doença, luto, morte e fatores sociais que afetam a saúde, articulando-os aos respetivos processos adaptativos da família. A discussão cuidadosa dos temas permite que sejam apreendidos os referenciais e conceitos abordados nas seções iniciais do livro.
A parte final oferece uma revisão muito completa de instrumentos e modelos de avaliação e intervenção com famílias, que permite ao leitor adquirir uma ampla perspetiva sobre o cuidado familiar apoiada em práticas consistentes e atuais.
O livro como um todo foi muito bem planeado de modo a capacitar o leitor a adquirir uma perspetiva crescente sobre o cuidado da família à medida que os capítulos avançam. Ao mesmo tempo, a diversidade de situações analisadas possibilita a apreensão da complexidade das situações que afetam a saúde, vividas pelas famílias como unidade de cuidado.
É uma grande honra prefaciar esta obra que tem como autores profissionais e professores experientes que hoje constituem referências na área de Enfermagem Familiar em Portugal, reconhecidas internacionalmente e com quem tive o privilégio de conviver, partilhar experiências, ideias e aprender sobre o cuidado familiar.
Este livro preenche uma grande lacuna de uma obra original para os enfermeiros de língua portuguesa, comprometidos com a busca por novas formas de pensar e agir em enfermagem da saúde familiar. O leitor, seja ele novato ou experiente nos cuidados às famílias, terá um olhar renovado para esta importante prática de cuidados, ampliando seu repertório de conceitos e de habilidades interpessoais e de comunicação com as famílias nas situações de transição de vida e no processo saúde/doença.
Seguramente, os leitores encontrarão neste livro a motivação, o conhecimento e a inspiração que os ajudará a dar uma importante direção ao seu fazer quotidiano na prática clínica de enfermagem com as famílias.
©Lidel – Edições Técnicas, Lda. XVII
A Enfermagem de Saúde Familiar tem-se desenvolvido no domínio teórico pela emergência de modelos e teorias de avaliação e intervenção familiar, na investigação pela mudança de paradigma, enfatizando a família enquanto objeto de estudo. A investigação sobre família tem gerado conhecimento com impacto na saúde familiar, mantendo-se prioritária, pelo seu contributo na mudança de um paradigma centrado na doença e no indivíduo, para a família e saúde.
O desenvolvimento da investigação em Enfermagem de Saúde Familiar constitui-se como um potencial complexo de conhecimento, colocando questões epistemológicas que advêm dos novos paradigmas que emergem da interação com o mundo empírico e que permitem a sua compreensão. Os resultados da investigação como fator de desenvolvimento de um corpo de conhecimento, nas suas componentes empírico-conceptual e disposicional-expressiva, impulsionadores de práticas formativas e clínicas centradas nos projetos de saúde vivenciados pela família, focalizadas no sistema familiar enquanto unidade dinâmica coevolutiva. Apreciamos, assim, a abertura epistemológica, sustentada na coerência entre o sujeito e o objeto, entre o investigador e o objeto de conhecimento, como bases de autorreferência, autocrítica e autorreflexão.
Os desenvolvimentos nos contextos da prática pelas experiências de implementação de cuidados centrados no sistema familiar, são sustentadas nos pressupostos ecossistémicos que evidenciam as características de globalidade e auto-organização da família. Nesta perspetiva, os referenciais filosóficos do pensamento sistémico definem as questões onto-epistemológicas da Enfermagem de Saúde Familiar, enquanto campo disciplinar da enfermagem.
O conhecimento empírico traduz o campo de experimentação e, por sua vez, as teorias como explicação do mundo empírico e referência para as práticas de cuidados com as famílias. Nesta interdependência recursiva, a construção do conhecimento nesta área traduz-se ainda pela organização coerente de teorias e resultados de investigação. A capacidade de produzir novos conhecimentos, que emergem da reflexão processual face à complexidade dos contextos de ação onde se desenvolvem as interações com as famílias, é impulsionadora de transformações estruturantes no seu domínio empírico.
A consolidação de uma prática centrada no sistema familiar requer o entendimento da família como unidade em transformação através de um paradigma integrativo que possibilite a compreensão da sua complexidade e multidimensionalidade, num contexto de historicidade e contextual.
A Enfermagem de Saúde Familiar encontrou a sustentação política que lhe permite afirmar-se num contexto multiverso de novas realidades e necessidades de saúde familiar. De modo mais específico e reportando-nos ao seu domínio empírico, centra-se nos projetos de saúde vivenciados pela família, cimentando-se numa abordagem coevolutiva da família, enquanto sistema autopoiético. Com a finalidade de promover a autonomia do sistema familiar, a intervenção de enfermagem enfatiza as interações entre os membros da família, com enfoque nas competências co-construídas pelos processos vivenciados enquanto grupo familiar. Neste prisma, os cuidados de enfermagem são centrados na unidade familiar, concebendo a família como uma unidade em transformação, promovendo a sua capacitação face às exigências decorrentes das transições que ocorrem ao longo do seu ciclo vital.
Da complexidade dos cuidados com as famílias, emerge a produção de novo conhecimento, sustentado pelas situações reais, que permite a justaposição da prática com a teoria, reportando-se tanto aos aspetos conceptuais como às experiências. Nesta matriz de interligação, as teorias representam um grupo de conceitos relacionados que sugerem ações para conduzir a prática.
©Lidel – Edições Técnicas, Lda. XIX
Devem permitir a flexibilização aos diversos níveis de atuação intersistémicas às especificidades dos contextos, de forma que a intervenção seja caracterizada pela promoção de mudança que implique um funcionamento efetivo do sistema familiar. Do mesmo modo, constituem-se como um conjunto de referenciais que ajudam na compreensão e explicação das múltiplas realidades dos cuidados de enfermagem com as famílias, assim como dirigem a investigação e a integram num corpo de conhecimento específico.
Por sua vez, a problematização das práticas e dos contextos permite a delimitação de novas linhas epistemológicas que consolidam áreas de atenção já delineadas ou permitem a nomeação de novos conceitos que, ao serem integrados como categorias operatórias, criam novas áreas de atenção em Enfermagem de Saúde Familiar. Assim, é essencial que os enfermeiros tenham conhecimentos, entre outros aspetos também fundamentais, dos fundamentos filosóficos que alicerçam a Enfermagem de Saúde Familiar, bem como dos seus modelos e teorias de enfermagem, instrumentos de avaliação familiar e estratégias de intervenção centradas na unidade familiar. Para tal, é necessária a ampliação do foco de observação do indivíduo para a família, a compreensão da sua complexidade através das relações intrassistémicas e intersistémicas; a aceitação dos seus processos de auto-organização e reconhecer a sua participação no sistema, pela validação de possíveis realidades. É neste contexto que a compreensão da estrutura, do desenvolvimento e dos padrões funcionais das famílias permitirá o desenvolvimento de uma prática direcionada para a capacitação da família face aos seus processos de transição, normativos ou acidentais, como elementos base de desenvolvimento da Enfermagem de Saúde Familiar. As delimitações das áreas de atenção circunscrevem-se aos pressupostos conceptuais enunciados nos modelos/teorias que definem a família enquanto unidade de cuidados de enfermagem. Neste paradigma, as intervenções que articulam os saberes éticos e processuais decorrem do processo avaliativo de recursos e necessidades do sistema familiar, com ênfase nas áreas de saúde relevantes para a manutenção do seu funcionamento. A matriz operatória destas áreas resulta da descrição dos conceitos, problematizados e enunciados nos resultados da investigação. As intervenções emergem como elementos promotores da capacitação da família na resolução dos seus problemas e que, desenvolvidas num contexto relacional, sendo a mudança determinada pela coerência estrutural do sistema familiar.
Conceber a família enquanto unidade de transformação, identificando-a como um sistema social que se autodefine e que recria funções específicas ao longo do seu desenvolvimento, permitirá ampliar o foco para uma visão mais apreciativa dos seus potenciais. Esta visão integra um entendimento sobre a prestação de cuidados ao longo do ciclo de vida, que incorpora as respostas aos processos de vida vivenciados pela família enquanto alvo de cuidados.
É neste quadro que os enfermeiros se podem afirmar como elementos-chave na conceção de cuidados de maior complexidade, centrados na família como agente de desenvolvimento social e humano. Da mesma forma, assumirem a liderança na formulação e aplicação de políticas conducentes ao desenvolvimento da investigação e das práticas em enfermagem de família, que contribuam para a promoção da saúde familiar e subsequentemente da saúde coletiva.
A apropriação da família enquanto domínio específico de enfermagem reforça a necessidade do desenvolvimento da Enfermagem de Saúde Familiar, tanto na sua vertente teórica – que a consolida – como na vertente clínica.
Esta obra tem como finalidade a problematização dos aspetos centrais dos cuidados de enfermagem às famílias, pois a família contemporânea carateriza-se pela diversidade e complexi-
Introdução
dade, refletindo mudanças sociais e culturais das últimas décadas. As famílias constituem-se como sistemas dinâmicos, onde as relações entre os membros, o sistema e o ambiente são interdependentes. A compreensão desses fatores e da recursividade entre eles é fundamental para a prática de Enfermagem de Saúde Familiar, permitindo aos profissionais adaptarem as suas intervenções às necessidades específicas de cada família, num paradigma de paradoxo entre o uno e o múltiplo, exigindo estas abordagens colaborativas.
Este livro reconhece a complexidade das famílias modernas e a importância de compreender e respeitar a diversidade das estruturas familiares, perfilhando abordagens flexíveis e adaptáveis, que considerem as necessidades de cada família, na sua unicidade.
Este livro tem a colaboração de autores de diversas áreas que partilham um interesse comum, o da capacitação das famílias.
A descrição em plural é construída com base na intersubjetividade, pretendendo-se oferecer uma perspetiva holística e sistémica, em que cada autor contribui com o seu conhecimento e experiência, proporcionando uma visão abrangente e aprofundada da Enfermagem de Saúde Familiar. Esperamos que seja contributo para todos os que se interessam pela saúde familiar.
Maria Henriqueta Figueiredo (Coordenadora)
©Lidel – Edições Técnicas, Lda. XXI
IEnfErmagEm dE SaúdE familiar: PolíticaS dE SaúdE E PolíticaS SociaiS
Fazer uma retrospetiva da evolução das políticas de saúde no mundo implica percor rer e compreender as decisões tomadas nos principais marcos destas políticas. Para este ponto deste capítulo, considera‑se pertinen te iniciar a nossa análise na altura em que foi constituída uma importante entidade que viria a contribuir de forma significativa para a gestão da saúde mundial, a Organização Mundial da Saúde (OMS). A OMS foi formal mente estabelecida no dia 7 de abril de 1948, ainda que aprovada a sua constituição dois anos antes, na Assembleia Mundial da Saúde que decorreu em Nova Iorque. A comissão interina da OMS, formada em 1946, mesmo antes de aprovada a constituição oficial da mesma, começou a intervir em contextos de vulnerabilidade de saúde pública logo em 1947, no contexto da epidemia de cólera no Egito (Matta, 2005). Desde logo se compre endeu a importância de unir e formar uma visão partilhada da saúde mundial entre os vários países.
Na década de 70 do século XX, altura em que decorreu a 30.ª Assembleia da OMS,
foram estabelecidas metas para a saúde dos cidadãos no ano 2000, com o início do mo vimento “Saúde Para todos no ano 2000” (Buss, 2000). Este movimento viria a ser revisitado e atualizado em 1998, na Assem bleia Mundial da Saúde desse ano, para “Saú de para todos no século XXI”. No entanto, desde 1977, na 30.ª Assembleia da OMS, até aos dias de hoje, foram sendo construídas políticas de saúde em coerência com os pro cessos sociais, económicos e ambientais que influenciaram, nos países do mundo, defini ções estruturantes para a construção do qua dro de gestão da saúde mundial como hoje o conhecemos.
Na Tabela 1.1 apresentam‑se os prin cipais marcos das políticas internacionais que apresentaremos neste ponto, com a identificação cronológica dos seus desen volvimentos:
Considerando a importância destas po líticas para o desenvolvimento da saúde em geral, e da enfermagem de saúde familiar em particular, comecemos por compreender os contributos da Declaração de Alma‑Ata.
Ano Política de saúde
1948 É formalizada a constituição da OMS
1977 30.ª Assembleia da OMS – Movimento “Saúde para todos no ano 2000”
1978 Declaração de Alma‑Ata. Conferência Internacional sobre os Cuidados de Saúde Primários
1986 Carta de Ottawa – 1.ª Conferência Internacional Sobre Promoção da Saúde
1988 Declaração de Adelaide − Promoção da Saúde e Políticas Públicas Saudáveis
1991 Declaração de Sundsvall (Suécia) − Promoção da Saúde e Ambientes Favoráveis à Saúde
1997 Declaração de Jacarta − Promoção da Saúde no Século XXI
2000 Declaração do México − Promoção da Saúde: Rumo a Maior Equidade
2005 Carta de Bangkok − Promoção da Saúde num Mundo Globalizado
2009 Conferência de Nairobi − Promover a saúde e o desenvolvimento: fechando as barreiras de imple mentação
2013 Conferência de Helsínquia − Saúde em todas as políticas
2016 Declaração de Shanghai − Promover a Saúde na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
Refletir na saúde da família é ser capaz de compreender o que fica para lá da saúde individual, ou seja, de cada membro da fa mília. As famílias são vistas como espaços privilegiados de cuidados de suporte à vida e à saúde dos seus membros, constituindo‑se elas mesmas como unidades dotadas de ener gias com capacidade auto‑organizativa, sen do nesta última perspetiva que encontramos a possibilidade de ver a saúde da família para lá do espaço da ausência de doença, coletiva ou individual (Figueiredo & Martins, 2010).
Com base no modelo sistémico como paradigma de abordagem da família, a saúde é considerada, na perspetiva do bem‑estar familiar, integrando processos de retroali mentação, num continuum entre transfor mações na estrutura do sistema familiar, mantendo a sua organização e conferindo ‑lhe um desenvolvimento próprio com uma sequência (Alarcão, 2002). Sendo neste con texto que teremos que questionar o que re presenta a intervenção dos enfermeiros na saúde das famílias.
O conceito de saúde da família tem evo luído, tendo por base os paradigmas de aná lise da família, antropológico, biológico, so cial, religioso, cultural, e da própria ciência
da família, e será neste enquadramento que os enfermeiros devem aprofundar o que será para eles a saúde da família. Quando consi deramos a família como um todo, estamos a considerar que a saúde inclui o ambiente in terno e externo, o que nos ajuda a compreen der que, decorrente desta visão, teremos de considerar a interação da família e as suas funções, o que tem por consequência o facto de a saúde decorrer da dinâmica desenvolvi da na família, sendo será sempre complexa (Hanson, 2005).
São vários os modelos que sustentam a saúde familiar, que possibilitam fornecer es truturas para compreender o nível de saúde percebido pela família para conceber inter venções no sentido de manter ou recuperar a boa saúde ou de lidar com a doença, mas também para ajudar a desenvolver o conhe cimento de enfermagem de família (Figura 12.1).
Os estudos demonstram existir uma maior abordagem à saúde individual do que à saúde da família, contudo, alguns concei tos de promoção da saúde referem ser ne cessário implicar atividades voltadas tanto a grupos sociais como a indivíduos, por meio de políticas públicas abrangentes, em rela
togestão em crianças com doenças crónicas complexas: a estrutura de autogestão pediá trica e a Classificação Internacional de Fun cionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).
Os comportamentos de autogestão ope ram nos domínios individual, familiar, comu nitário e do sistema de saúde. As influências específicas do domínio modificáveis e não modificáveis afetam os processos de autoges tão por meio de processos cognitivos, emo cionais e sociais subjacentes. A autogestão afeta a adesão e, finalmente, os resultados (Figura 27.1).
A estrutura do modelo de autogestão pediátrica permite analisar as influências contextuais de multiníveis que promovem ou prejudicam os comportamentos de auto gestão em crianças com doença crónica por meio de processos cognitivos, emocionais e sociais. Como uma adaptação do modelo ecológico social, a estrutura de autogestão pediátrica enumera uma lista abrangente de
influências de nível individual, familiar, co munitário e de sistema de saúde na autoges tão pediátrica que afetam, em última análise, a adesão das crianças ao tratamento (Figura 27.1). O modelo ecológico social verifica as influências ambientais na saúde e nos cui dados de saúde, desde o microssistema (por exemplo, família, escola e vizinhos) até às re alidades sociais e culturais mais amplas (por exemplo, políticas económicas e racismo ins titucional). Estes fatores desempenham um papel na autogestão e enfocam as influências desses fatores na autogestão pediátrica. Nes se contexto, as crianças são colocadas no centro desse sistema social interconectado, e os autores sugerem que o autogestão pedi átrica só pode ser entendida quando se con sidera as influências complexas em diferen tes níveis (Flynn, Kliems, Saoji, et al., 2018; Modi, Pai, Hommel, et al., 2012).
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (Or ganização Mundial da Saúde, 2001, 2007).
A CIF, da Organização Mundial da Saúde (OMS), anteriormente mencionada no Capí tulo 25 – Famílias com membro com defici
estão inerentes a intenção e a responsabili dade de providenciar o “melhor cuidado”, o que pressupõe o desenvolvimento e a apren dizagem de novos comportamentos, conhe cimentos e capacidades.
Considera‑se que a mestria, enquanto processo a potenciar e resultado a alcançar, está condicionada por atributos pessoais –fatores intrínsecos ao cuidador informal – e por atributos relacionados ao contexto de cuidados – fatores extrínsecos ao cuidador informal –, situados em domínios cognitivo, psicológico, físico e socioeconómico que re levam da teoria das transições, de Meleis e colaboradores (2000), em particular das con dições nela apontadas como facilitadoras e/ ou inibidoras de processos desta natureza e que se consideraram como clinicamente re levantes para o contexto em que o Modelo de Apoio à Mestria do Cuidador Informal se desenvolveu (Figura 31.1).
O reconhecimento destes fatores na tomada de decisão sobre os cuidados de enfermagem constitui uma premissa assu mida no modelo. Conhecer, compreender e interpretá‑los no contexto da ação profis sional orientada para o desenvolvimento da mestria facilita a interação enfermeiro/clien te, contribuindo para a eficácia dos cuidados de enfermagem.
No Modelo de Apoio à Mestria do Cuida dor Informal enunciam‑se como condições facilitadoras e/ou dificultadoras da transição para o desempenho do papel, relacionadas com os atributos do Cuidador Informal (Fi gura 31.1):
X A perceção sobre o papel, definida como o reconhecimento e a interpre tação que os cuidadores fazem acerca da situação de transição e dos signifi cados – positivos e/ou negativos –atribuídos;
Indicadores de mudança:
• Aceitação do papel
• Conhecimento
• Capacidades
Atributos do cuidador informal:
• Percepção sobre o desempenho do papel
• Atitude face ao desempenho do papel
• Potencial de desempenho
MESTRIA
Aceitação do estado de saúde
Autocuidado
Processos corporais
Atributos do contexto:
• Status socioeconómico
• Apoio ao desenvolvimento
• Condição de saúde do FD
Terapêuticas de enfermagem:
Avaliação da transição Preparação para o papel Apoio/suporte ao papel
Determinar Gerir
Apoiar Executar Informar
Aceitação do estado de saúde
Consciencialização
Participação nas atividades de autocuidado
Autocuidado
Tomar banho
Vestir-se e despir-se
Arranjar-se
Alimentar-se
Usar o sanitário
Elevar/Virar-se
Transferir-se
Tomar a medicação
Processos corporais
Respiratório
Tegumentar
Gastrointestinal
Urinário
Musculoesquelético
Regulador
Nervoso
Figura 31.3 Áreas de atenção na avaliação da transição: familiar dependente.
Fonte: Andrade (2014); (2016).
cisão diagnóstica corresponde ao reconhe cimento e à formalização das respetivas ne cessidades, problemas e/ou potencialidades. Deste modo, o Modelo de Apoio à Mes tria do Cuidador Informal oferece uma base de orientação para o raciocínio diagnóstico em função dos dados avaliativos por áreas de atenção, tal como consta na sua matriz operativa (Andrade, 2014; 2016). A atribui ção do juízo diagnóstico sobre as áreas de atenção definidas no modelo permite avan çar para a enunciação de diagnósticos de en fermagem e a prescrição de intervenções de enfermagem.
Face aos diagnósticos validados com o cuidador informal e familiar dependente, o planeamento das intervenções de enferma gem deve considerar as forças identificadas, no sentido de a mudança ser percecionada como viável e, assim, obter o compromis so de ambos com o plano de cuidados. Tal
como para os diagnósticos de enfermagem, o Modelo de Apoio à Mestria do Cuidador Informal sugere uma lista de intervenções de enfermagem por cada área de atenção, as quais constam da sua matriz operativa (An drade, 2014; Andrade, 2016). Tanto os diag nósticos de enfermagem como as interven ções são sujeitas ao julgamento clínico do enfermeiro relativamente à sua adequação, viabilidade, aceitação e eficácia no contexto das características que definem o processo de transição.
Assim, as intervenções de enfermagem devem reportar‑se ao processo dinâmico, através do qual o enfermeiro/subsistema fa miliar concretizam os resultados esperados numa transição saudável. Centradas tanto no cuidador informal como no familiar depen dente, propõe‑se um conjunto de interven ções direcionadas para as áreas de atenção consideradas como relevantes para a ação
Pode definir‑se adolescência como a eta pa do ciclo de vida que corresponde a um perí odo desenvolvimental caracterizado por mu danças fisiológicas, cognitivas, socioculturais e comportamentais (Eisenstein, 2005; Srof & Velsor‑Friedrich, 2006; Sawyer et al., 2018). Corresponde ao período compreendido entre os 10 e os 19 anos, período de transição entre a infância e a idade adulta [Organização Pan ‑Americana da Saúde (OPAS), 2011].
Na adolescência, o processo desenvolvi mental resulta da combinação de duas for ças distintas: as biológicas, relativas à matu ração; e as comportamentais, relacionadas com o processo de aprendizagem (Stein berg, 2005; WHO, 2017). Este período é mar cado pela impulsividade e pela dificuldade de autocontrolo, o que leva os adolescentes a terem comportamentos de risco, que su bestimam (Steinberg, 2005; WHO, 2017).
Segundo a OPAS (2011, p. 29), apesar de esta fase ser uma época saudável, acarreta riscos, especialmente no que se relaciona ao uso de substâncias e à atividade sexual, considerando ser necessário prevenir e cui dar de tais riscos para promover a saúde dos jovens.
A gravidez na adolescência tem vindo a diminuir, globalmente, ao longo dos anos (OPAS, 2011; Martin et al., 2018), verificando ‑se em Portugal a mesma situação, como se pode observar na Figura 34.1
No entanto, em 2017, observou‑se ainda uma taxa de fecundidade de 8 %0, em Portugal,
verificando‑se um maior número de gravide zes na região autónoma dos Açores, onde a taxa foi de 15 %0 (INE, 2018). Como se pode observar na Figura 34.2, apesar de a maioria das gravidezes (86,2%, n = 1748) se verificar entre os 17‑19 anos, continua a existir um número preocupante de adolescentes grávi das entre os 14‑15 anos (4,9%, n = 100).

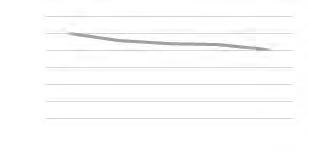
O início precoce da atividade sexual, o baixo nível de escolaridade, a falta de diálo go e controlo parental, o baixo nível socioe conómico e de escolaridade dos pais e a es trutura da família (numerosa, monoparental, reconstituída e com história de gravidez na adolescência) contribuem para a falta de in formação sobre sexualidade e contraceção, constituindo‑se como fatores de risco, não só para a gravidez precoce, como também para uma maior incidência de doenças de transmissão sexual (Benson, 2004; Canavar ro & Araújo‑Pedrosa, 2012; Okigbo, Kabiru, Mumah, Mojola & Beguy, 2015; Patton, 2016; Pires, Araújo‑Pedrosa & Canavarro, 2014; Sieverding et al., 2005; Vieira et al., 2017; Widman, Choukas‑Bradley, Noar, Nesi & Garrett, 2016).
A gravidez que ocorre neste período de transição aumenta o risco materno e infantil, devido ao incremento de eventos adversos que podem ocorrer na gravidez, no parto e no pós‑parto (Jolly et al., 2000). Anemia, aborta
a de nacionalidade portuguesa atingia 21,6% (Oliveira & Gomes, 2018b). Destacam as autoras que entre as nacionalidades estran geiras que registam maior concentração nas idades ativas entre os 20‑49 anos surgem a romena (72,2%), a brasileira (70,1%), a ango lana (66,6%), a guineense (63,8%) e a chinesa (60,1%). No intervalo de idades entre os 0‑19 anos, a chinesa (24,5%), a guineense (19,5%), a romena (16,9%) e a cabo‑verdiana (16,2%); e com percentagens mais significativas de crianças até aos 9 anos de idade, a chinesa (12,5%) e a romena (8%) (Oliveira & Gomes, 2018b, p. 74). Estes elementos relevam os grupos sociais e nacionalidades que podem estar mais sujeitas à exclusão social e à pobreza, quando surgem acumulados com outros, como níveis de escolaridade mais baixos, baixos rendimentos familiares ou desemprego.
Por sua vez, os nacionais da UE resi dentes em Portugal tendem a assumir uma percentagem mais elevada de cidadãos com mais de 65 anos (18,1%), sendo um reflexo do aumento de fluxos de imigrantes reforma dos nos últimos anos, com destaque para os nacionais de Reino Unido, França e Espanha (Oliveira & Gomes, 2018b).
Dando relevo à estrutura da população estrangeira por sexo, tendencialmente, esta foi adquirindo a uma configuração próxima da paridade. A partir de 2012, notou‑se uma tendência de feminização da imigração para Portugal, registando‑se, em 2017, uma dife rença em cerca de 2,4% entre o sexo femini no (51,2%) e o masculino (48,8%) (SEF, 2018).
Dados que vão ao encontro da literatura so bre as migrações, ao mostrarem que a imi gração feminina, desde as últimas décadas do século xx, tem‑se afastado da imagem as
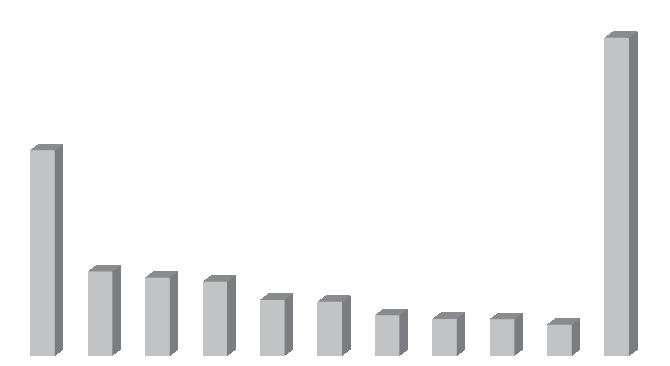
de vulnerabilidade social: Grécia (61,8%), Suécia (61,3%), Bélgica (60,3%), Espanha (59,5%), Itália (54%), França (53,9%) e Ho landa (53,9%). Entre os Estados‑membros, a Suécia, a Bélgica e a França apresenta vam uma maior diferença entre o risco de pobreza ou exclusão social da população nacional e dos estrangeiros extracomunitá rios: 46,1%, 41,9% e 38,4%, respetivamente (EAPN Portugal, 2018a, p. 18).
severa
Outros indicadores complementares re portados pela EUROSTAT de 2017, citados por Oliveira e Gomes (2018b), permitem uma melhor compreensão do modo como o risco de pobreza ou exclusão social se rela ciona com a nacionalidade dos indivíduos. Entre eles encontram‑se os indicadores de privação material, que se fundamentam em nove itens relacionados com as necessida des económicas e de bens duráveis das fa mílias, que são conjugados para calcular três
indicadores distintos:
(i) o indicador geral de privação material, que identifica situações em que não existe acesso a pelo menos três dos nove itens por dificuldades económicas;
(ii) o indicador de privação material severa, para as situações em que não existe acesso a pelo menos quatro dos nove itens por dificul dades económicas; (iii) a intensidade da pri vação material, que corresponde ao número médio de itens em falta para esta população em privação material (p. 195).
Com efeito, numa tendência decrescen te, em 2017, registaram‑se menos estrangei ros residentes no país em privação material (17,8%), em condições de privação material severa (10,5%), mas atingindo taxas superio res à dos portugueses (16,7% e 6,7 %, respe tivamente).
Relativamente aos dois grupos de es trangeiros residentes em Portugal (naciona lidade de outro Estado‑membro e extraco munitários), os dados do EUROSTAT 2017 revelam diferenças significativas nestes in dicadores no ano 2017: viviam em privação material 6,5% dos nacionais de outro Estado
Este livro aborda, de uma forma transversal, os temas da Enfermagem de Saúde Familiar. Esta área requer a prestação de cuidados de enfermagem em proximidade, acompanhando as várias etapas do ciclo vital das famílias. Assim, é necessária uma perspetiva sistémica e integrativa da família enquanto cliente dos cuidados, perspetivando-a em interação com a sociedade, em constante mudança de paradigmas. Ajustada aos conteúdos essenciais da formação na área de Enfermagem de Saúde Familiar, esta obra conta com o contributo de enfermeiros especialistas nesta área, e também de autores de referência em temas mais específicos.
Principais temas: Enfermagem de Saúde Familiar: políticas de saúde e políticas sociais
Referenciais epistemológicos para a Enfermagem de Saúde Familiar

A família como unidade de cuidados
Transições familiares: crises desenvolvimentais e processos normativos
O livro está organizado em oito secções que permitem ao leitor construir o seu referencial teórico e conceptual, apoiado em ferramentas essenciais para a avaliação e intervenção com as famílias.
Destina-se, assim, aos enfermeiros ligados à Enfermagem de Saúde Familiar, mas também a outros com interesse nesta área, para além dos estudantes de enfermagem.
Transições familiares: crises acidentais e processos adaptativos à doença
Transições familiares: crises acidentais e eventos situacionais
Instrumentos e modelos de avaliação e intervenção familiar Intervenção sistémica em Enfermagem de Saúde Familiar
Seguramente, os leitores encontrarão neste livro a motivação, o conhecimento e a inspiração que os ajudará a dar uma importante direção ao seu fazer quotidiano na prática clínica de enfermagem com as famílias.
Professora Doutora Margareth Angelo in Prefácio
ISBN 978-989-752-491-2

Apoio cientí co:
