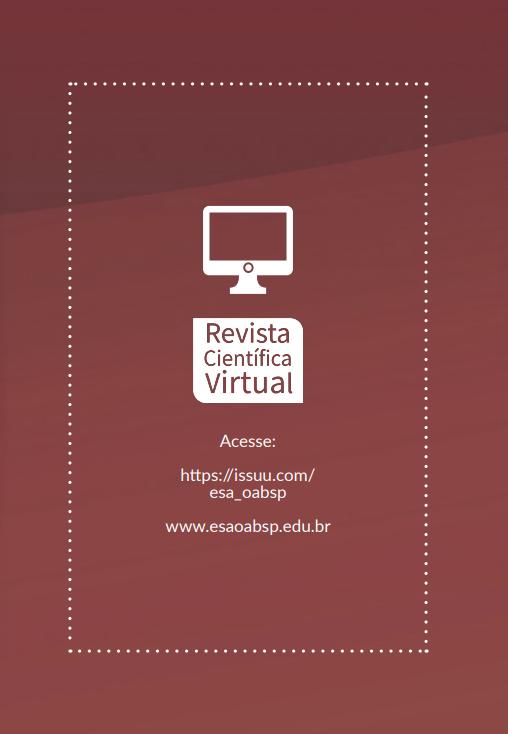Fabio Paulo Reis de Santana
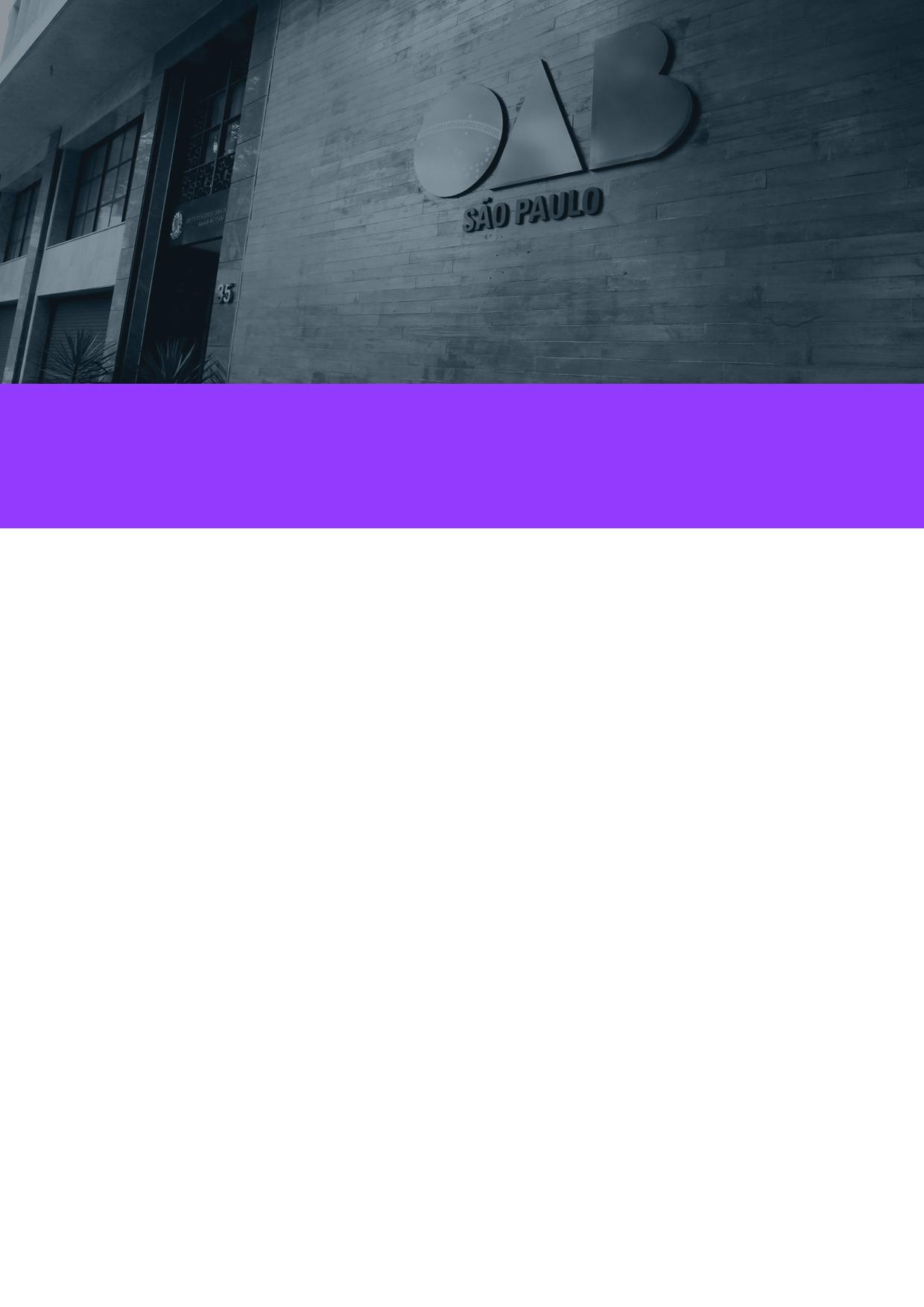


Fabio Paulo Reis de Santana
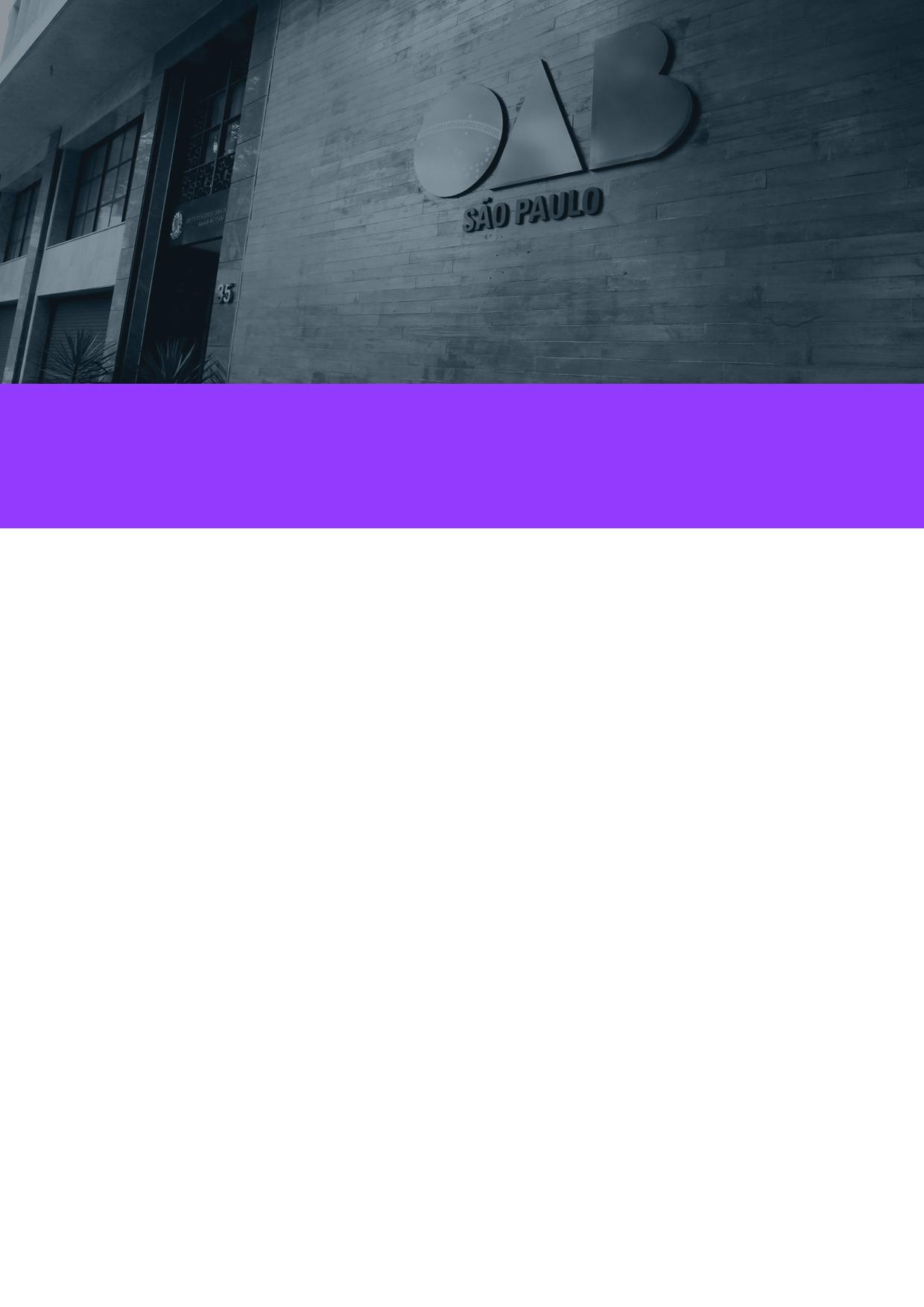
Diretoria OAB SP
Presidente:
Leonardo Sica
Vice-Presidente:
Daniela Magalhães
Secretária-Geral:
Adriana Galvão
Secretária-Geral Adjunta:
Viviane Scrivani
Diretor Tesoureiro:
Alexandre de Sá Domingues
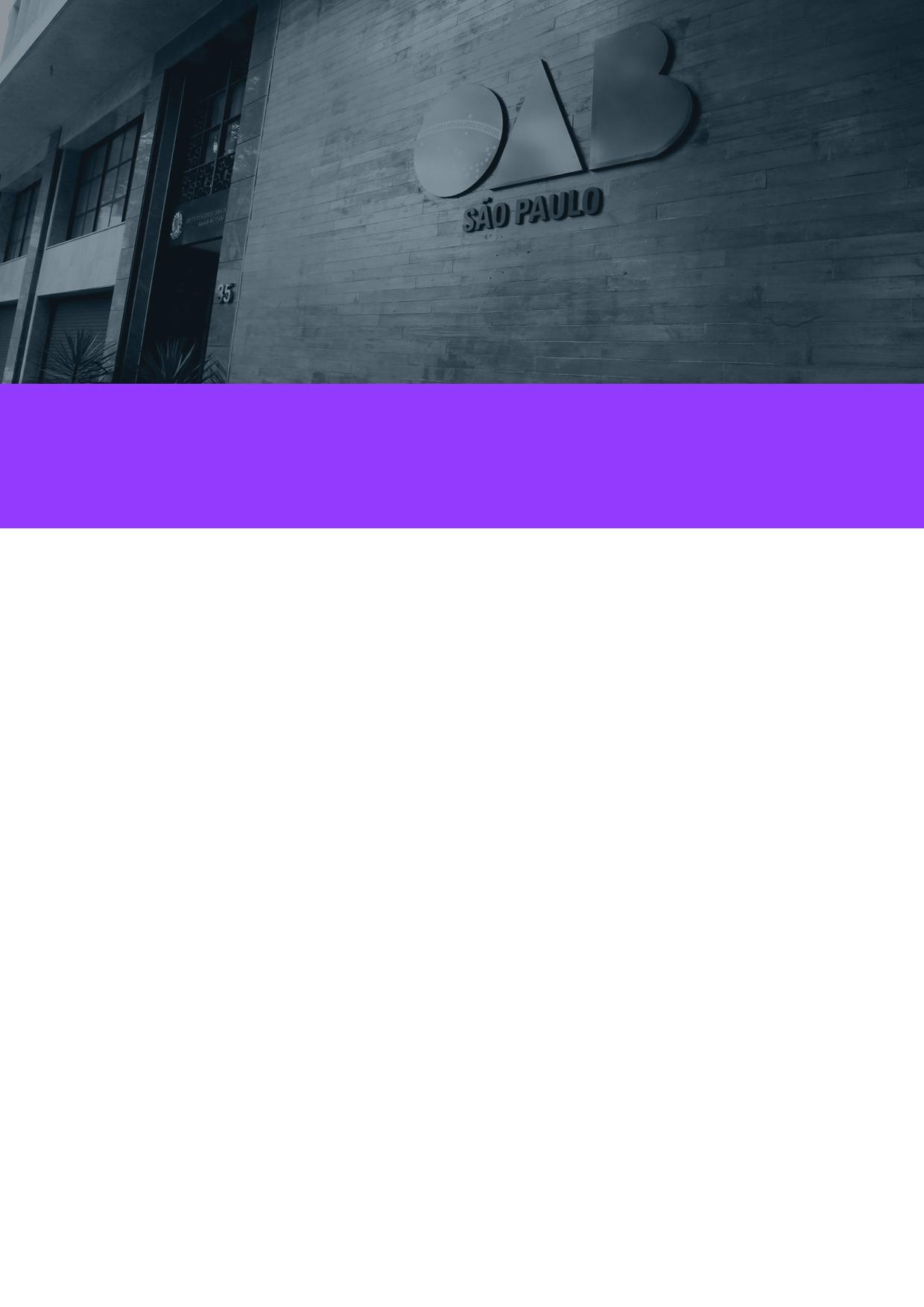
Diretoria ESA OAB SP
Diretora da ESA OAB SP:
Daniela Campos Libório
Vice-Diretora da ESA OAB SP:
Sarah Hakim
Gestão 2025/2027
ESA OAB SP
CONSELHO CURADOR:
Presidente: Sarah Hakim
Vice-Presidente: Maria Garcia
Conselheiros:
Antonio Rodrigues de Freitas Jr
Celso Fernandes Campilongo
Claudia Stein
Delaide Alves Miranda Arantes
Dione Almeida
Felipe Chiarello
Giselda Hironaka
José Fernando Simão
Lorival Ferreira dos Santos
Magda Biavaschi
Maria José Bravo Bosch
Marta Voltas Martinez Carrera
Mauro Silva
Patrícia Maeda
Patrícia Vanzolini
Renato Cassio Soares de Barros
Sérgio Tibiraçá
Administrativo, Urbanístico e Infraestrutura: Lilian Regina Gabriel Moreira Pires
Criminologia:
Cristiano Avila Maronna
Civil: Daniela de Carvalho Mucilo
Constitucional, Teoria Geral do Direito, Sociologia Jurídica e Filosofia do Direito: Fabio Paulo Reis de Santana
Digital e Tecnologia: Ronaldo Lemos
Empresarial: Armando Luiz Rovai
Financeiro e Tributário: Raquel Alves Preto
Imobiliário: Paola de Castro Ribeiro Macedo
Meio Ambiente e Clima: Debora Sotto
Penal:
João Paulo Martinelli
Previdenciário:
Priscilla Milena Simonato de Migueli
Processo Civil: Cláudia Elisabete Schwerz
Processo Penal: Danyelle Galvão
Relações Institucionais: Ricardo Marar
Trabalho e Processo do Trabalho: Carlos Augusto Monteiro
Coordenação geral: Adriano de Assis Ferreira
Cursos de extensão e de pesquisa: Erik Chiconelli Gomes
Cursos regulados: Renata Cristina do Nascimento Prada
Coordenação acadêmica: Andrea Borelli
Núcleos regionais: Arleide Santana Felipe
Maria Cristina Silva
Tecnologia da informação: Leandro Urquiza da Silva Moraes
Audiovisual: Ruy Dutra da Silva Junior
Financeiro: Renato Gomes Carlini
Secretaria Geral: Ana Marcia de Matos Arraes
Erik Chiconelli Gomes Fabio Paulo Reis de Santana
1. ARE 1.042.275/RJ (TEMA 977 RG)
Maurício Schaun Jalil
3. ARE 1.553.243/CE (TEMA 1.420 RG) Simone Henrique
2. RE 970.343/PR (TEMA 111 RG)
Raphael Molina
Guilherme Molina
Juliana Rímoli Molina
4. ARE 1.539.801/SP
Augusto César Monteiro Filho
5. ADIS 7.600, 7.601 E 7.608
Reinaldo Roberto Ghesso
6. RE 1.326.178/SC (TEMA 1.156 RG)
Eurico Souza Leite Filho
7. ADI 5.644
Luiz Rascovski
8. RE 631.363/SP (TEMA 284 RG) E RE 632.212/SP (TEMA 285 RG)
Alex Faria Pereira
9. ADI 2.965
Márcia Walquiria Batista dos Santos
João Eduardo Lopes Queiroz
10. ADI 7.231
Marcello Antonio Fiore
11. ADI 7.021
Juliana Cardoso Ribeiro Bastos
Luiz Gustavo de Andrade
12. ADI 7.553
Fábio Franco Pereira
13. ADI 7.719
Carlos Eduardo Fernandes da Silveira
Carlos Ogawa Colontonio
15. ADI 5.043
Guilherme Lobo Marchioni
17. MI 7.452
Marcelo Brito Guimarães
19. ADI 7.715
Diogenes Nielsen Júnior
21. RE 1.326.559/SC (TEMA 1.220
RG)
Tiago Romano
23. ADPF 1.066
José Luiz Souza de Moraes
25. ADO 62
Mirian Gomes
Maria Fernanda Gomes Azambuja
27. ADI 5.761
Marco Antonio Hatem Beneton
14. RE 1.490.708/SP (TEMA 1.367 RG)
Eduardo Figueiras Ismael
Julia Moura de Souza
16. RE 1.426.083 (TEMA 1.277 RG)
Carlos Ogawa Colontonio
18. ADI 7.873
Jucilene de Campos dos Santos
20. ADI 5.728
Josafá Marques da Silva Ramos
22. ADI 6.085
Ricardo Teixeira da Silva Tassiane de Fátima Moraes
24. ADI 7.727
Liliane Aparecida Sobreira Ferreira Fonseca
26. ADO 85
Renato Cassio Soares de Barros
28 . RE 1.037.396/SP (TEMA 987) E RE 1.057.258/MG (TEMA 533)
Marcelo Fonseca Santos
29. RE 1.298.647 (TEMA 1.118)
Felipe Gonçalves Fernandes
98
30. ADI 7.641
Vanessa Cerqueira Reis de Carvalho
100
31. ADPF 982
Eduardo Leandro de Queiroz e Souza
Graziela Nóbrega da Silva
Tatiana Barone Sussa
103
32 . ADI 7.746
José Jerônimo Nogueira de Lima
Ano 2025
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA
São Paulo, OAB SP - 2025 COORDENAÇÃO TÉCNICA COORDENAÇÃO GERAL
Adriano Oliveira COORDENAÇÃO ACADÊMICO
Erik Chiconelli Gomes COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO
Ruy Dutra
PROJETO GRÁFICO
Sarah Aimê
ARTES E DIAGRAMAÇÃO
Sarah Aimê ORGANIZAÇÃO
Carlos Augusto Monteiro FALE CONOSCO
Rua Cincinato Braga, 37, 13° andar
São Paulo/ SP
Tel. .55 11.3346.6800
Publicação Trimestral
ISSN - 2175-4462
Direitos - Periódicos
Ordem dos Advogados do Brasil
Erik Chiconelli Gomes1
A edição número 49 da Revista Científica da Escola Superior da Advocacia de São Paulo apresenta análise sistemática dos principais julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal durante o ano de 2025. Os trinta e dois artigos aqui compilados oferecem panorama abrangente da atividade jurisdicional constitucional, abordando temas que vão desde questões procedimentais específicas até grandes controvérsias de direito material com repercussão social significativa.
O conjunto de decisões comentadas revela a diversidade temática que caracteriza a jurisdição constitucional contemporânea. Questões tradicionais de direito administrativo e tributário convivem com desafios emergentes do direito digital, enquanto temas de direitos fundamentais ganham novos contornos interpretativos. Esta amplitude reflete a posição central que o controle de constitucionalidade ocupa no sistema jurídico brasileiro.
Merece destaque a frequência com que a Corte enfrentou conflitos entre diferentes esferas de competência federativa. As decisões sobre regulamentação profissional, custas judiciais e programas de regularização tributária no âmbito estadual e municipal evidenciam a persistente necessidade de delimitação das fronteiras constitucionais do federalismo brasileiro. A jurisprudência firmada em 2025 reforça a tendência de interpretação restritiva das competências subnacionais em matérias de repercussão nacional.
No campo dos direitos fundamentais, observa-se evolução interpretativa significativa. A extensão da Lei Maria da Penha às relações homoafetivas e a regulamentação dos procedimentos de heteroidentificação racial demonstram como princípios constitucionais abstratos adquirem concretude através da aplicação jurisprudencial. Estas decisões ilustram o fenômeno da constitucionalização do direito ordinário e sua capacidade de produzir efeitos sociais concretos.
A dimensão tecnológica do direito constitucional ganha relevo especial na análise da responsabilidade de plataformas digitais e do acesso a dados em aparelhos celulares. Estas decisões enfrentam o desafio de aplicar categorias jurídicas tradicionais a realidades tecnológicas em constante transformação, exigindo ponderação cuidadosa entre valores constitucionais concorrentes.
As questões de direito financeiro e orçamentário ocuparam posição proeminente na pauta da Corte, especialmente nas decisões sobre precatórios e teto de gastos públicos. A modulação de efeitos utilizada em vários destes julgamentos demonstra a preocupação do STF em conciliar correção constitucional com estabilidade das relações jurídico-financeiras consolidadas.
1 Coordenador Acadêmico da Escola Superior da Advocacia de São Paulo. Pós-Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Doutor e Mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Economia do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e em Direito do Trabalho pela USP. Bacharel e Licenciado em História (USP). Licenciado em Geografia (UnB). Bacharel em Ciências Sociais (USP) e em Direito (USP).
O tratamento dispensado às questões trabalhistas revela tensão permanente entre proteção social e eficiência administrativa. A definição dos critérios para responsabilização subsidiária da Administração Pública e a discussão sobre equiparação remuneratória no serviço público evidenciam como questões aparentemente técnicas carregam implicações distributivas significativas.
Particularmente relevante é a abordagem conferida aos conflitos entre autonomia institucional e controle democrático. As decisões sobre competência dos Tribunais de Contas e autonomia orçamentária do Poder Judiciário ilustram a complexidade do arranjo institucional brasileiro e a necessidade de equilibrar independência funcional com accountability democrático.
Os comentários apresentados pelos diversos autores demonstram rigor técnico e capacidade analítica, situando cada decisão em seu contexto jurisprudencial mais amplo e identificando suas repercussões práticas. A diversidade de perspectivas enriquece o debate e oferece ao leitor múltiplas chaves interpretativas para compreensão dos julgados.
Esta coletânea cumpre função técnica importante ao sistematizar e analisar criticamente a produção jurisprudencial constitucional recente. Contudo, sua contribuição transcende a mera documentação, oferecendo instrumental analítico para compreensão das transformações em curso no direito brasileiro.
A leitura atenta destes artigos permite identificar não apenas as soluções jurídicas adotadas pelo STF, mas também os pressupostos metodológicos e valorativos que orientaram essas escolhas. Cada decisão comentada representa um momento específico de um processo interpretativo mais amplo, no qual diferentes concepções sobre o papel do direito na sociedade se confrontam e se articulam. A análise crítica dessas decisões revela como questões técnicas frequentemente veiculam escolhas políticas fundamentais sobre distribuição de poder e recursos na sociedade brasileira, exigindo do operador jurídico consciência das implicações sociais concretas de cada interpretação constitucional adotada.
Fabio Paulo Reis de Santana1
É com imensa satisfação que apresentamos à comunidade jurídica esta obra coletiva, fruto do esforço e dedicação de renomados profissionais da advocacia e da academia, integrantes do Grupo de Estudos em Direito Constitucional, Teoria Geral do Direito, Sociologia Jurídica e Filosofia do Direito da ESA-SP, que se debruçaram sobre os mais relevantes julgados do Supremo Tribunal Federal no ano de 2025. Cada autor e autora aqui reunidos traz consigo um currículo sólido, construído com anos de experiência prática, docência qualificada e intensa produção intelectual, características que conferem a este trabalho a credibilidade e a profundidade necessárias para a análise de temas de tamanha envergadura.
Os estudiosos que assinam os capítulos são advogados, professores e pesquisadores comprometidos com a difusão do conhecimento jurídico e com a formação crítica da advocacia brasileira. A pluralidade de perfis e a riqueza de abordagens garantem ao leitor uma visão abrangente e, ao mesmo tempo, precisa sobre a interpretação constitucional levada a efeito pelo STF. Essa diversidade é um dos maiores méritos da obra, pois traduz a multiplicidade de olhares que compõem a prática forense no Brasil contemporâneo.
Destacar a relevância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a advocacia é reafirmar o papel central da Corte na definição de rumos institucionais, na proteção de direitos fundamentais e na concretização da Constituição. O estudo atento dos precedentes do STF não é apenas exercício acadêmico, mas ferramenta indispensável à prática profissional. Na realidade cotidiana dos tribunais, a correta compreensão da jurisprudência constitucional pode ser o diferencial para a efetividade da defesa e para a construção de teses inovadoras.
A advocacia moderna demanda profissionais atualizados e capazes de dialogar criticamente com as decisões da Suprema Corte. É por meio desse constante estudo que o advogado se habilita a atuar com técnica refinada, a prevenir litígios, a formular argumentos consistentes e a contribuir, de maneira efetiva, para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.
Por tudo isso, a Revista não se limita a compilar julgados, mas apresenta reflexões consistentes que estimulam a análise crítica e a prática responsável. Enalteço, portanto, o trabalho dos autores, que souberam traduzir complexas decisões em linguagem acessível, sem perder o rigor científico. Com esta Revista, a ESA-SP reafirma seu compromisso inquebrantável com a educação jurídica de alta qualidade, oferecendo esta valiosa ferramenta como um subsídio indispensável para o aprimoramento contínuo de toda a classe.
Desejo que desfrutem desta leitura!
1 Coordenador do Núcleo de Direito Constitucional, Teoria Geral do Direito, Sociologia Jurídica e Filosofia do Direito da ESA-SP
Maurício Schaun Jalil
Advogado Criminal e Procurador do Município. Mestre e Doutorando em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. Foi Coordenador do Núcleo de Ciências Criminais da Escola Superior de Advocacia-ESA-OAB/SP (gestão 2022/2024).
Objeto
Acesso, sem autorização judicial, a registros e a informações contidos em aparelho celular encontrado fortuitamente no local do crime. Resumo do caso
Dois assaltantes armados assaltaram uma vítima e, no momento da fuga, um deles deixou cair seu aparelho de telefonia celular, apreendido pelos policiais ao chegarem ao local para atender a ocorrência. Do manuseio e acesso superficial aos dados e informações digitais desse bem móvel, identificou-se o seu proprietário, um dos criminosos. Condenação em primeiro grau. O TJ/RJ anulou todo o processo entendendo que a prova obtida (informações advindas do aparelho celular - lista de contatos e o histórico de ligações) era ilícita, eis que violou a privacidade

do indivíduo, pois a análise de dados digitais não foi precedida por autorização do proprietário nem judicial. Interporto recurso extraordinário (ARE 1042075, Relator Min. Dias Toffoli), o STF reconheceu a existência de repercussão geral, firmando-se, posteriormente, o Plenário, em julgamento publicado no DJe em 27.06.25, a tese que será comentada.
Entendimento fixado pelo STF
A tese fixada pelo STF foi no seguinte sentido:
“1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do art. 6° do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes: 1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim
exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou de quem seja o seu proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. 1.2. Em se tratando de aparelho celular apreendido na forma do art. 6° do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7°, inciso III, e art. 10, § 2°, da Lei n° 12.965/2014) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5°, X e LXXIX, CRFB/88). Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a Autoridade Policial atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. 2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido, antes da autorização judicial, justificando, posteriormente, as razões de referido acesso. 3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesas até a data do encerramento do presente julgamento”.
Comentários do autor
O nosso octagenário Código de Processo Penal, de 1941, mesmo após algumas atualizações legislativas, obviamente não contempla todas as situações concretas vivenciadas por nós na atualidade, sobretudo no que tange ao mundo digital, e especificamente, os aparelhos de telefonia celular (“smartphone”)
que contém em seu armazenamento interno informações pessoais de seu proprietário, tais como: fotos, conversas, extratos bancários, histórico de localização, preferências, interesses, correio eletrônico, agendas telefônicas, etc. Estes modernos dispositivos móveis, na verdade, não são meros aparelhos de telefonia, possuem diversas funcionalidades e grande capacidade de armazenamento de dados, capazes de revelar vida e o cotidiano de seu dono. Eis que surgem os seguintes questionamentos jurídicos: a autoridade policial, por decisão própria e não judicial, pode apreender o objeto em questão e, também acessar indistintamente todos os dados e metadados existentes nesse dispositivo móvel, independente de autorização de seu dono? É lícito, razoável e proporcional o acesso ilimitado e profundo dessas informações particulares, ainda que algumas delas não se relacionem com o crime cometido?
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema em questão, permitiu uma “exceção controlada”, autorizando a autoridade policial, na hipótese de o agente delituoso abandonar ou esquecer seu dispositivo móvel logo após praticar a infração penal, apreender (“mera apreensão”) o aparelho de telefonia celular, com o exclusivo propósito de tentar descobrir a identificação de seu proprietário e/ou autoria da infração penal. Afasta-se, pontualmente, o princípio da reserva de jurisdição e privilegia-se a necessária elucidação dos fatos criminosos. Portanto, a premissa básica, de acordo com o entendimento do STF, é a seguinte: quem estiver portando um aparelho celular consigo mantém incólumes todos os seus direitos fundamentais, conforme as normas do art. 5, X, XII e LXXIX, da Constituição Federal e dos arts. 7°, III, e 10, § 2°, do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14), portanto os dados pessoais existentes no aparelho de telefonia celular só podem ser acessados por “consentimento livre e expresso” do proprietário ou ordem judicial, neste último caso essa ordem forense
deve justificadamente, com base em elementos concretos, demonstrar a proporcionalidade da medida e delimitar sua abrangência à luz dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais. Esse entendimento se aplica as hipóteses de diligências investigativas preliminares ou para fins de prisão em flagrante (respectivamente arts. 6 e 302, do CPP). Contudo, excepcionalmente, tendo em vista o objetivo primordial de esclarecer o crime e seus elementos básicos, admitir-se-á a mera apreensão por parte da autoridade policial do dispositivo móvel para fins de preservação dos dados e metadados (ou seja, da prova em si) e obtenção de algumas informações advindas desse aparelho (tais como agenda telefônica/lista de contatos1 e histórico de ligações2 , mas não a conversas de aplicativos de mensagens- ex: WhatsApp, e via “SMS”3), objetivando especificamente descobrir-se a autoria do delito ou propriedade desse bem. Ressalva-se, também, que essa apreensão, medida restritiva excepcional, não será ilimitada, abrangente e incondicionada, eis que a autoridade policial deve concluir a finalidade ensejadora desse ato (perícia ou análise superficial) na maior brevidade possível, bem como justificar o fundado receio de que os dados sejam eliminados pelo seu titular ou por terceiros e demonstrar, por meios técnicos, que não foi re -
1 STJ: REsp 1782386-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe.18.12.2020.
2 STF: HC n. 91.867/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.09.12. STJ: AgRg no REsp n. 1.760.815-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13.11.18.
3 STJ: HC 588.135-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.09.20; AgRg no HC 516.857-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 18.05.20; AgRg no Rec. Especial 1.853.702-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13.08.20; REsp n. 1.701.504/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/3/2018. É importante distinguir comunicação telefônica e registros telefônicos. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5°, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados (nesse sentido STF: HC 91867, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.04.12).
alizado nenhum outro tratamento desses dados, e o Poder Judiciário, inclusive, deve dispensar agilidade e prioridade na apreciação dos pedidos de análise do aparelho móvel, inclusive, apreciando-os no plantão judiciário.
Raphael Molina
Mestre em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC/SP, membro associado do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), membro efetivo das Comissões de Direito Constitucional, de Direitos Humanos e de Comércio Exterior da OAB/SP, sócio de Molina Reis Sociedade de Advogados.
Guilherme Molina
Mestre em Direito Fiscal pela Universidade de Coimbra, especialista em Direito Tributário pela PUC/SP, Regulatory Compliance pela University of Pennsylvania (Penn Law) e Planejamento Tributário pela Faculdade Brasileira de Tributação (FBT), membro associado do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), sócio de Molina Reis Sociedade de Advogados.
Juliana Rímoli Molina
Mestranda em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC/SP, pós-graduada em Direito do Trabalho pelas Faculdades de Campinas (FACAMP).
Objeto
ADCT: compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar.
Resumo do caso
Em sede de Recurso Extraordinário (RE 970.343/ PR), com repercussão geral reconhecida (Tema 111),

o Supremo Tribunal Federal debruçou-se, como traz a própria ementa do acórdão, sobre a temática da compensação de débitos tributários com precatórios alimentares. O exame, sob relatoria do ministro Cristiano Zanin e julgado pelo Tribunal Pleno, abordou a temática sob o prisma do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional 30 de 2000 (EC 30/00), no tocante à apli -
cabilidade imediata ou não do disposto no artigo 78, §2°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias1 , bem como sobre a possibilidade ou não da referida compensação de débitos tributários com precatórios alimentares com vistas à mencionada emenda constitucional.
A EC 30/00 incluiu o artigo 78 no ADCT, trazendo novo regime de pagamento de precatórios que permitia o parcelamento, em até 10 (dez) anos, daqueles pendentes à época de sua promulgação e daqueles oriundos de lides ajuizadas até o final do ano de 1999. O §2° do artigo 78, de sua vez, atribuía poder liberatório às prestações anuais que não efetuadas para o pagamento de tributos com o ente devedor - lato sensu, permitindo a compensação tributária. Minúcia havia, porém, relativa às exceções ao novo regime, evidenciadas na própria emenda constitucional - dentre essas, os precatórios de natureza alimentar.
No caso em si, um contribuinte devedor de ICMS perante o Estado do Paraná requereu a compensação de tais débitos com precatórios alimentares vencidos e não pagos, fundamentando o pedido na própria EC 30/00. A questão levantada seria da isonomia (ou não) desses débitos da Fazenda Pública para fins de compensação tributária, não importando sua natureza. Infrutífera a tentativa de fazê-lo a nível administrativo, o Judiciário foi provocado a decidir, com a negativa de ambos o TJPR e o STJ, este último enfatizando que a emenda constitucional fez uma ressalva acerca de tal possibilidade. Ao STF, o contribuinte aventou a não exclusão expressa do poder liberatório ao pagamento de tributos no §2° do artigo 78, ADCT, o que oportunizaria a pretendida compensação.
1 Art. 78, §2°, ADCT. As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora
Em paralelo, o regime de pagamento de precatórios da EC 30/00 vinha sofrendo contestação por parte do Conselho Federal da OAB e da CNI, em duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 2.356/ DF e 2.362/DF). Uma década após seu ajuizamento, o Plenário do Supremo confirmou decisão em caráter liminar que suspendia o parcelamento2 , por violação à coisa julgada, ao direito adquirido e à independência do Poder Judiciário. Em 2023, definiu sobre o mérito, declarando inconstitucional o artigo 78, ADCT. No ano seguinte, o mesmo STF ratificou os parcelamentos que realizados até o dia 25/11/2010, data da decisão de suspensão dos efeitos do dispositivo.
De volta ao RE 970.343/PR, o relator, ministro Cristiano Zanin, percebeu superada a questão a partir da decisão de 2023, entendendo prejudicada a análise da matéria, no que foi acompanhado de forma unânime. Em outras palavras, não haveria como definir, à luz do princípio da isonomia, sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários enquanto embasada em norma declarada inconstitucional. A ementa do acórdão do Pleno é altissonante: a análise da eficácia do poder liberatório do art. 78, §2°, do ADCT pressupõe a execução do parcelamento, inviável após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
Julgado prejudicado o recurso extraordinário, o Pleno passou à apreciação da tese a nível de repercussão geral. A tese proposta, em suma, secundou as decisões de 2023 e de 2024. E foi aprovada por todos os ministros da Suprema Corte.
Entendimento fixado pelo STF
Assim, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 111 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “O regime previsto no art. 78 do Ato das Dispo -
2 Medida concedida nos autos da ADI 2.356/DF, em 25/11/2010.
sições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010”.
Reconhecida a repercussão geral em 01/07/2016, o trânsito em julgado deu-se em 17/06/2025.

Doutora e Mestra em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Advogada especialista em Compliance pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e a Universidade de Coimbra. Está Coordenadora de Educação em Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo.
Objeto
Comissão de heteroidentificação em concurso público: controle judicial de ato administrativo.
Resumo do caso
Trata-se de Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que anulou ato de comissão de heteroidentificação para permitir que candidata de concurso público concorresse às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas.
Entendimento fixado pelo STF
A tese fixada pelo STF foi no seguinte sentido:

“O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa; 2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação”.
Comentários da autora
O controle judicial de atos da comissão de heteroidentificação em concursos públicos é plenamente possível desde que para a garantia do contraditório e da ampla defesa. Porém, o STF não pode revisar critérios ou fundamentos que foram usados para a ex-
clusão de candidatos, na medida em que o conflito se restringe à análise de fatos, provas e cláusulas do edital do certame.
Conforme a jurisprudência da nossa mais alta Corte de Justiça, é legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação na reserva de vagas para pessoas pretas e pardas nos concursos públicos, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Por seu turno, a reanálise de critérios previstos no edital e utilizados no procedimento de heteroidentificação escapam da competência do STF, que também não pode examinar os fundamentos do ato administrativo da citada comissão (Súmulas 279/STF e 454/STF).
No caso em testilha, a Turma Recursal do Estado do Ceará anulou ato de comissão de heteroidentificação sob o argumento de que o edital não apresentou critérios objetivos para a revisão da autodeclaração, o que redundou em uma avaliação aberta e subjetiva, sem oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa pelos candidatos.
Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema 1.420 da repercussão geral), bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria1 para conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Derradeiramente, fixou as teses citadas em momento anterior.
1 Precedentes citados: ADC 41, RE 632.853 (Tema 485 RG), AI 758.533 QO (Tema 338 RG), ARE 1.532.552 AgR, ARE 1.504.534 AgR, ARE 1.510.036 AgR-segundo, RE 1.497.892 AgR-ED e ARE 1.524.344 AgR.
Augusto César Monteiro Filho
Especialista em Processo Civil pela Escola da PGE/SP. Mestre e Doutorando em Direito Constitucional – PUC/ SP. Procurador Federal.
Objeto
Concessão de cesta de natal a servidores públicos municipais.
Resumo do caso
Trata-se de Recurso extraordinário manejado pelo Presidente da Câmara Municipal de Americana, contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que instituiu a cesta de Natal para servidores públicos, por ausência de parâmetros legais para a fixação do valor do benefício.
A lei impugnada delegou ao Poder Executivo e à Mesa Diretora da Câmara Municipal a fixação do valor da cesta de Natal por meio de decreto e resolução, respectivamente, tendo o Tribunal de origem entendido pela violação da necessária reserva de lei para a fixação de vantagens pecuniárias a servido -

res públicos, bem como aos princípios da moralidade e da razoabilidade.
Entendimento fixado pelo STF
A jurisprudência do STF afirma que a retribuição pecuniária de servidores públicos está sujeita à reserva absoluta de lei, sendo necessário que o legislador estabeleça critérios mínimos para o cálculo e aferição de gratificações.
Nesta senda, a lei impugnada, ao delegar ao Poder Executivo e à Mesa Diretora da Câmara Municipal a fixação do valor da cesta de Natal sem parâmetros legais, violou a reserva de lei e os princípios da moralidade e da razoabilidade, estando a decisão recorrida, portanto, em consonância com a jurisprudência do STF sobre a matéria – motivo do desprovimento do recurso.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a retribuição pecuniária dos servidores públicos se sujeita à reserva absoluta de lei, competindo, pois, ao legislador estabelecer critérios e parâmetros mínimos para o cálculo e aferição das gratificações, sob pena de inconstitucionalidade, conforme se colhe dos acórdãos proferidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.551/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 29.6.2020 e no julgamento pelo Tribunal Pleno, em sentido análogo, .do RE 264.289 4/CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 3.10.2001.
Em se tratando, na espécie, a instituição de gratificação a servidores públicos, de competência conferida pela Constituição Federal ao Poder Legislativo, revela-se injurídica sua abdicação mediante a concessão de total liberdade ao Chefe do Poder Executivo e à Mesa Diretora da Câmara Municipal, mediante decreto e resolução legislativa, respectivamente, na fixação dos valores devidos, ainda que sob a forma de “cesta de Natal”.
Consigne-se que a Constituição Estadual, reproduzindo a Constituição Federal – princípio da simetria -, exige lei em sentido estrito para a fixação da remuneração de cargos, funções e empregos públicos (arts. 20, III, e 24, § 2°, ‘1’, da Constituição Estadual, e arts. 51, IV, 52, XIII, e 61, § 1°, II, ‘a’, da Constituição Federal).
Diante do exposto e considerando que o acórdão recorrido se encontrava em consonância com iterativa jurisprudência do STF na matéria, sobreveio o desprovimento do recurso extraordinário, com a importante ressalva, porém, acerca da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos funcionários públicos até o julgamento, forte na natureza alimentar
da verba em tela, bem como no princípio da razoabilidade.
Em remate, havendo tradução pecuniária a instituição de cesta de Natal, a ser concedida aos funcionários públicos do respectivo ente federativo no mês de dezembro de cada ano, de rigor que sua implementação adviesse de lei em sentido estrito, fixadora de todos os parâmetros para a aferição do valor do benefício, sob pena de afronta aos princípios da moralidade e da razoabilidade - na medida em que se trata de benefícios voltados à satisfação de interesses privados dos servidores públicos.

Reinaldo Roberto Ghesso
Mestre e Doutor pela USP. Procurador do Município de São Paulo. Professor na Escola Paulista de Direito e no Legale Educacional, em Direito Eleitoral, Constitucional, Administrativo, Prática Jurídica, Redação Jurídica e Gestão Pública.
Objeto
Consolidação da propriedade de bem móvel alienado fiduciariamente.
Resumo do caso
O artigo apresenta uma análise das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) questionando a Lei n° 14.711/23, conhecida como Marco Legal das Garantias. O texto aborda a constitucionalidade dos procedimentos extrajudiciais criados pela lei, como a consolidação da propriedade em alienação fiduciária de bens móveis, a busca e apreensão extrajudicial e a execução extrajudicial de créditos garantidos por hipoteca e em concurso de credores, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema da desjudicialização, e a interpretação

conforme a Constituição para garantir direitos fundamentais na decisão do Pretório Excelso.
Entendimento fixado pelo STF
1. São constitucionais os procedimentos extrajudiciais instituídos pela Lei n° 14.711/23 de consolidação da propriedade em contratos de alienação fiduciária de bens móveis, de execução dos créditos garantidos por hipoteca e de execução da garantia imobiliária em concurso de credores.
2. Nas diligências para a localização do bem móvel dado em garantia em alienação fiduciária e em sua apreensão, previstas nos §§ 4°, 5° e 7° do art. 8°-C do Decreto-Lei n° 911/69 (redação da Lei n° 14.711/23), devem ser assegurados os direitos à vida privada, à honra e à imagem do devedor; a inviolabilidade do sigilo de dados; a vedação ao uso privado da violência;
a inviolabilidade do domicílio; a dignidade da pessoa humana e a autonomia da vontade.
Comentários do autor
A concepção de Justiça Multiportas (Multi-Door Courthouse), desenvolvida por Frank Sander no âmbito da Harvard Law School, constituiu um marco teórico de relevância para a reflexão contemporânea acerca da administração da justiça.
A proposta, redesenhar o próprio sistema de resolução de disputas (processos), concebendo-o como um espaço institucional no qual diferentes “portas” corresponderiam a diferentes mecanismos de tratamento do conflito, conforme suas especificidades1 .
Com o caminhar do tempo, muitos institutos foram desenhados tendo por pano de fundo a Justiça Multiportas (tais como: mediação, arbitragem, fact-finding, ombudsman, malpractice screening panel, por exemplo).
À luz desse referencial, a edição da Lei n° 14.711/23 — o chamado Marco Legal das Garantias — pode ser compreendida como uma das vias possíveis de ampliação do acesso à justiça por meio de mecanismos extrajudiciais.
Todavia, o diploma normativo, ao reconfigurar institutos ligados à concessão e à execução de garantias reais, suscitou o debate jurídico sobre mecanismos extrajudiciais e outros valores constitucionais.
O ponto culminante deste debate se deu com a decisão das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.° 7.600, 7.601 e 7.608, do Supremo Tribunal Federal as quais serão objeto de análise crítica neste artigo.
Quais os dispositivos impugnados por inconstitucionalidade?
Os dispositivos impugnados podem ser agrupados em quatro eixos principais:
(i) Execução extrajudicial da garantia em alienação fiduciária de bens móveis (consolidação da propriedade): prevista no art. 8°-B, em articulação com os arts. 8°-D e 8°-E do Decreto-Lei n° 911/69, na redação dada pela Lei n° 14.711/23, essa disciplina estabelece a possibilidade de transferência da propriedade do bem móvel em favor do credor fiduciário mediante procedimento administrativo, suprimindo a necessidade de ação judicial para tanto.
(ii) Busca e apreensão extrajudicial em alienação fiduciária de bens móveis: regulada no art. 8°C, § 1°, também em combinação com os arts. 8°-D e 8°-E do Decreto-Lei n° 911/69, a inovação legislativa confere ao credor fiduciário a prerrogativa de promover, sem intervenção judicial prévia, a apreensão do bem, dado em garantia.
(iii) Execução extrajudicial da garantia hipotecária: consubstanciada no art. 9° da Lei n° 14.711/23, a norma inaugura uma modalidade não jurisdicional de execução da hipoteca, deslocando para a esfera administrativa um instituto tradicionalmente submetido ao crivo judicial.
(iv) Execução extrajudicial da garantia imobiliária em concurso de credores: disciplinada pelo art. 10 da Lei n° 14.711/23, a regra estabelece um procedimento autônomo de execução extrajudicial mesmo em hipóteses em que há pluralidade de credores, o que potencializa tensões com princípios constitucionais relacionados ao devido processo legal, à isonomia e à par conditio creditorum
1 SANDER, Frank E. A. The Multi-Door Courthouse: Settling Disputes in the Year 2000. Barrister, v. 3, p. 18, 1976. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/barraba3&div=33&id=&page= Acesso em 02 set. 2025.
Da superação dos argumentos de inconstitucionalidade
A Lei n° 14.711/23 (Marco Legal das Garantias) foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que determinados de seus dispositivos afrontariam princípios e direitos constitucionais fundamentais, tais como a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à segurança, a inviolabilidade da intimidade, do domicílio e dos dados, além do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade e reserva de jurisdição, bem como do direito de propriedade e de sua função social.
O Supremo, contudo, não enfrentou essas objeções de maneira isolada. Ao longo do julgamento, foi possível observar como os argumentos de inconstitucionalidade foram sendo paulatinamente afastados, em grande parte mediante uma leitura sistemática e uma interpretação conforme a Constituição da norma impugnada.
Em alguns pontos, inclusive, destacou-se a plena compatibilidade dos institutos questionados com a ordem constitucional de 1988.
No que diz respeito à inafastabilidade da jurisdição, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a Corte entendeu que o procedimento previsto na lei não se desenvolve em ambiente destituído de garantias.
Ao contrário, é conduzido por registrador público, cuja atuação se reveste de imparcialidade e permanece sujeita a controle judicial.
Além disso, assegura-se ao devedor o direito de ser previamente notificado, com oportunidade de solver a obrigação ou de demonstrar a inexigibilidade da cobrança — hipótese em que o procedimento não pode prosseguir.
Quanto ao direito de propriedade, prevaleceu a compreensão de que, na alienação fiduciária, o credor já detém propriedade resolúvel.
Descumprida a condição resolutiva – isto é, o pagamento da dívida –, a consolidação da propriedade plena em favor do credor decorre diretamente da lei, sem necessidade de ato constitutivo ulterior. Ademais, a adoção do procedimento extrajudicial depende de cláusula expressa no contrato, o que reflete o exercício legítimo da autonomia da vontade e da liberdade negocial das partes, não havendo imposição legal arbitrária.
Por sua vez, em matéria de inviolabilidade do domicílio, dignidade da pessoa humana, vida, segurança, intimidade e proteção de dados, a Corte adotou posição mais cautelosa, sobretudo em relação ao procedimento de busca e apreensão extrajudicial previsto no art. 8°-C do Decreto-Lei n° 911/69.
Reconheceu-se que a compatibilidade desse dispositivo com a Constituição exige interpretação conforme, de modo a preservar direitos fundamentais do devedor, especialmente nos §§ 4°, 5° e 7°, que disciplinam atos de localização e apreensão do bem.
Dessa forma, o Supremo fixou que tais diligências somente se legitimam quando observados alguns parâmetros: a) respeito à vida privada, à honra e à imagem, vedando qualquer forma de perseguição; b) Inviolabilidade do sigilo de dados que se dá pela utilização exclusiva de dados públicos ou fornecidos voluntariamente pelo devedor; c) absoluta proibição de emprego de violência privada, sob pena de tipificação criminal; d) preservação da inviolabilidade domiciliar, cujo afastamento depende de ordem judicial, conforme já decidido na ADI n° 1.668; e) Dignidade da pessoa humana, exigindo atuação cordial dos agentes; e f) Autonomia da vontade: proibição de
uso de força física ou psicológica para constranger o devedor.
A Corte ressaltou, ainda, que o instituto do reapossamento extrajudicial, tal como reconhecido no direito comparado, somente é admitido em contextos de ausência de oposição do possuidor. Havendo resistência, qualquer tentativa de insistência por parte do credor implicaria violação grave da esfera pessoal e patrimonial do devedor, hipótese em que se impõe, de forma inafastável, a via judicial.
Conclusão
O julgamento das ADIs n° 7.600, 7.601 e 7.608 pelo Supremo Tribunal Federal projeta-se como marco na reflexão contemporânea sobre a constitucionalidade de mecanismos de desjudicialização no direito brasileiro.
A decisão não apenas confirmou a validade dos procedimentos extrajudiciais instituídos pelo Marco Legal das Garantias, mas também evidenciou que sua legitimidade depende de uma leitura compatível com os direitos fundamentais.
Ao afastar, um a um, os argumentos de inconstitucionalidade, o STF não esvaziou a força normativa da Constituição. Pelo contrário, reforçou que a desjudicialização não pode ser concebida como um expediente de erosão das garantias constitucionais, mas como um arranjo institucional que amplia o acesso à justiça sem abdicar da proteção da vida privada, da honra, da imagem, da inviolabilidade de domicílio e do devido processo legal.
Assim, o que se firmou não foi uma autorização irrestrita à autotutela privada, mas a consagração de um modelo normativo em que a eficiência econômica na realização de garantias deve conviver, de modo equilibrado, com o núcleo essencial de direitos fundamentais.
Em síntese, a decisão revela que a eficácia do Marco Legal das Garantias não reside apenas em sua capacidade de dinamizar o mercado de crédito, mas sobretudo em sua adequação constitucional.
A jurisprudência consolidada pelo STF indica que a verdadeira medida da constitucionalidade não é a utilidade instrumental de um instituto, mas a sua conformidade com a arquitetura de direitos e princípios que estruturam o Estado Democrático de Direito.
Eurico Souza Leite Filho
É Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, tendo-lhe sido reconhecido o mesmo Grau em Espanha e Portugal. É especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Foi Secretário São Bernardo do Campo em diversas Secretarias Municipais, bem como Assessor Especial da Presidência da Câmara dos Deputados. Foi Coordenador Geral da UCP – BID – Programa de Transportes Urbano. Foi também Procurador do Estado de São Paulo, entre 1990 a 2004 e é Membro da Ordem dos Advogados Portugueses – Portuguese Bar Association – Lisbon District Council, do American Bar Association (ABA) e da OAB-SP. Professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito de Itu 1990/1994. Professor Auxiliar de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – 1988/1995. Professor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo – 1991/1993.
Objeto
Créditos de natureza superpreferencial: pagamento da parcela por meio de RPV.
Resumo do caso
O caso apresentado à Suprema Corte brasileira buscou definir se a parcela superpreferencial prevista no art. 100, § 2°, da Constituição Federal pode ser paga mediante RPV (requisição de pequeno valor), e não apenas por precatório.

Dispositivo constitucional envolvido
Art. 100, § 2°, da Constituição Federal: “Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3° deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade.”
Entendimento fixado pelo STF
O STF fixou a tese de que “o pagamento de crédito superpreferencial deve ser realizado por meio de precatório, exceto quando o valor total se enquadrar no limite legal de RPV.”
Comentários do autor
O STF atingiu um marco histórico para o regime constitucional de precatórios. A Suprema Corte analisou se os créditos chamados superpreferenciais (aqueles devidos a idosos, pessoas com deficiência ou portadores de doença grave) poderiam ser pagos por RPV (requisição de pequeno valor) quando não ultrapassassem o limite fixado em lei ou se necessariamente dependeriam da via do precatório.
Alguns tribunais vinham aplicando a Resolução n° 303/2019 do CNJ, que autorizava o pagamento de parte do crédito superpreferencial diretamente por RPV, sem passar pelo regime de precatórios. A ideia era agilizar e dar mais efetividade à prioridade constitucional.
Havia um problema: a Constituição Federal (CF) não previa essa situação. Por isso, o STF já havia suspenso esse ponto da resolução na ADI 6556, e o próprio CNJ acabou voltando atrás em 2022, com a edição da Resolução n° 482.
Em julgamento em maio, o ministro Cristiano Zanin resumiu bem a questão. Para ele, a prioridade dos superpreferenciais é clara, mas isso não significa criar um tipo de pagamento diferente do que está escrito na Constituição. O art. 100 da CF é taxativo: os débitos da Fazenda Pública são pagos por precatório, e a exceção só vale quando a própria lei define os limites de RPV. Além disso, o relator lembrou que a abertura de brechas poderia comprometer o planejamento orçamentário dos estados e municípios, já pressionados por dívidas judiciais.
O voto foi seguido por todos os ministros do Plenário.
O STF fixou a tese de que “o pagamento de crédito superpreferencial deve ser realizado por meio de precatório, exceto quando o valor total se enquadrar no limite legal de RPV.”
Ou seja, se o crédito inteiro couber dentro do valor de uma RPV, ele pode ser pago dessa forma; caso contrário, mesmo sendo prioridade, precisa seguir a via do precatório. Portanto, a decisão proferida no RE 1.326.178/SC (Tema 1.156 da repercussão geral) declarou a inconstitucionalidade do pagamento de parcela superpreferencial por meio de requisição de pequeno valor.
A título de conclusão, observa-se que o julgamento analisou dois valores constitucionais – a proteção dos vulneráveis, que não podem esperar indefinidamente, e a responsabilidade orçamentária do Estado, essencial para que todos recebam – e acabou dando prioridade à disciplina fiscal.


Luiz Rascovski
Defensor Público do Estado de São Paulo.
Objeto
Destinação de recursos do orçamento da Defensoria Pública para pagamento de advogados dativos.
Resumo do caso
A ADI questionava a constitucionalidade de dispositivo que vinculava 40% do Fundo de Assistência Judiciária (FAJ) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para custear assistência judiciária suplementar por advogados dativos. Ou seja: a Lei Complementar obrigava parte do orçamento da Defensoria a ser usada para contratar advogados privados para auxiliar em casos onde o assistido não estava sendo atendido diretamente pela Defensoria Pública.
Dispositivo constitucional envolvido
A Defensoria Pública é prevista como instituição essencial à função jurisdicional no art. 134 da Constitui -
ção Federal, com autonomia funcional, administrativa e orçamentária. A Constituição impede que haja subordinação ou limitação legal que comprometa essa autonomia, ou que parte significativa do orçamento seja vinculada a usos que não sejam definidos pelos órgãos constitucionais ou internos da Defensoria.
O STF decidiu proceder com a ADI, declarando inconstitucional a lei estadual que vinculava esse percentual do fundo da Defensoria para assistência suplementar por advogados dativos. O fundamento principal foi que tal vinculação orçamentária ofende a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, garantida pela Constituição Federal.
Comentários do autor
O Supremo Tribunal Federal, em março de 2025, realizou o julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) 5.644/SP, ajuizada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), contra a Lei complementar 1.297/2017.
Essa lei destinava obrigatoriamente 40% dos fundos econômicos da FAJ – Fundo de Assistência Judiciária para pagar convênios com advogados privados, contratados para atuar em regime de assistência jurídica suplementar para as Defensorias.
O quesito em questão discutia a possibilidade de o Legislador Estadual poder tirar das Defensorias a gestão de parte de seu orçamento, vinculando-a de forma obrigatória a um modelo de advocacia dativa.
O voto foi do Relator Ministro Edson Fachin e por 8 votos a 3 o S.T.F. declarou inconstitucional tal Lei.
Fachin proferiu seu voto no sentido que, a Constituição em seu art. 134, §2°, CF, garante às Defensorias autonomia funcional, administrativa e orçamentária.
A imposição de um percentual fixo do FAJ para advogados privados violaria diretamente essa prerrogativa, retirando da instituição a capacidade de definir suas prioridades estruturais.
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5° desta Constituição Federal.
administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2°
O Ministro reforçou e deixou claro que a atuação de advogados conveniados pode ocorrer, mas de caráter suplementar e somente, mas jamais como política pública obrigatória e fixa. Pois essa destinação de 40% dos fundos obrigatoriamente por Lei feria a Constituição logo acima mencionada.
Com isso, o Supremo Tribunal Federal devolve à Defensoria sua liberdade constitucional orçamentária, frisa-se que a Defensoria não está proibida de firmar convênios, mas sim sua plena liberdade orçamentária.
De forma a se concluir, a referida decisão é um marco histórico para a Defensoria, que deixa de ser presa por uma lei inconstitucional para ter a plena liberdade orçamentária. A Exma. Dr. Luciana Jordão, Douta Defensora Pública-Geral paulista enalteceu a decisão: “É uma grande vitória para todas as Defensorias Públicas do país, que representa o reforço do modelo público de assistência jurídica integral e gratuita no Estado de São Paulo e no Brasil”.
Assim, a Lei Complementar 1.297/2017 de SP foi considerada inconstitucional no que dizia respeito a essa porcentagem vinculada para advogados dativos. Isso reforça que a Defensoria Pública deve gerir seu orçamento com independência, decidindo como aplicar seus recursos de forma mais eficaz para seu mandato constitucional. Serve de precedente para que outras leis estaduais que façam vinculações de orçamento à assistência suplementar por dativos sejam contestadas, se violarem a autonomia da Defensoria.
§ 2° Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e

Alex Faria Pereira
Advogado, Mestre em Direito Constitucional pela PUC-SP.
Objeto
Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, decorrentes dos Planos Collor I e II.
Resumo do caso
Nas décadas de 1980 e 1990, o governo editou diversos planos de estabilização monetária, com o objetivo de conter os efeitos da desvalorização da moeda, em decorrência da hiperinflação vivida no período. Entre as várias medidas implementadas nos planos econômicos denominados Bresser, Verão, Collor I e Collor II, destacou-se a substituição dos critérios de correção monetária da caderneta de poupança. Essa alteração gerou forte reação da sociedade, sobretudo dos poupadores, que alegaram violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfei -

to, pois a alteração dos índices acarretou a remuneração dos saldos menor do que se previa pela legislação anterior.
Com o ajuizamento de milhares de ações por todo o território nacional, esse macrolitígio chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF n.° 165, na qual se exigia um posicionamento da Corte sobre a constitucionalidade dessas medidas.
Após anos de sobrestamento das ações individuais, um acordo coletivo foi firmado em meados de dezembro de 2017. Essa composição envolveu, além das partes processuais, entidades representativas de poupadores e bancos. O acordo permitia que autores de ações e execuções individuais optassem pela adesão aos seus termos, para receberem as diferenças inflacionárias reclamadas.
No mês de maio de 2025, surpreendentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a controvérsia constitucional em seu plenário virtual.
A tese firmada, por unanimidade, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Reafirmou-se a homologação do acordo coletivo anteriormente celebrado entre entidades representativas de consumidores e instituições financeiras, em todas as suas disposições, inclusive seus aditivos. Determinou-se a aplicação do acordo a todos os processos que pleiteiam os expurgos inflacionários de poupança, garantindo aos poupadores elegíveis o recebimento dos valores estabelecidos na composição coletiva. Ademais, fixou-se o prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata de julgamento, para novas adesões de poupadores aos termos do acordo homologado.
Comentários do autor
O Supremo Tribunal Federal acertou ao reconhecer a constitucionalidade dos planos de estabilização monetária das décadas de 1980 e 1990, mas não aproveitou a oportunidade de enfrentar e resolver todas as teses envolvidas nessa discussão jurídica que se arrasta há décadas.
Observa-se, ainda, que a Suprema Corte adotou como premissa de sua decisão a pacificação desse macrolitígio pelo decurso do tempo, aliada às adesões de poupadores aos termos do acordo coletivo — circunstância que, segundo o entendimento firmado, teria acarretado o esvaziamento da ADPF ou a perda superveniente de seu objeto. Entretanto, esse fundamento não poderia ser considerado nesse julgamento, pois a composição coletiva sempre foi uma opção aos poupadores e, portanto, jamais implicou a vinculação da Corte a quaisquer das teses jurídicas em debate na ADPF 165.
Seja como for, as leis que implementaram os planos econômicos e alteraram o critério de correção das
cadernetas de poupança foram legitimamente editadas pela autoridade monetária. Essa autoridade detinha não apenas a legitimidade constitucional, mas também a obrigação institucional de intervir no cenário econômico para conter as crises inflacionárias que atingiam, sobretudo, os mais vulneráveis. Tal circunstância foi prudentemente considerada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucionais os planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Trata-se do reconhecimento de que, diante de crises dessa magnitude, a intervenção estatal é legítima e indispensável.
Márcia Walquiria Batista dos Santos
Pós doutora pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP). Doutora em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP. Procuradora da Universidade Estadual “Júlio Paulista de Mesquita”.
João Eduardo Lopes Queiroz
Doutor em Direito Constitucional pelo IDP. Professor de Direito Constitucional do Centro de Ensino Superior de São Gotardo. Procurador da Universidade Estadual “Júlio Paulista de Mesquita”.
Objeto
Diretrizes e bases do sistema educativo no âmbito estadual.
Resumo do caso
Trata-se de ADI movida pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) em agosto de 2003 em face da Lei Estadual Complementar n° 26/1998 o Estado de Goiás, que estabeleceu regras para o funcionamento e a fiscalização das escolas, permitiu deliberação do Conselho Estadual de Educação para regular a elaboração dos regimentos internos das escolas e a gestão de -

mocrática da educação, fixou diretrizes para a valorização dos professores e exigências mínimas de formação de acordo com cada etapa do ensino. A COFENEN entendeu que a aplicação das normas questionadas às escolas particulares violaria alguns preceitos constitucionais, arrolando os seguintes: (i) liberdade de ensino na iniciativa privada (art. 209), (ii) competência da União para criar normas gerais sobre educação (arts. 22, XXIV, e 24, IX, §§ 1° e 2°); e (ii) competência da União para editar leis sobre direito do trabalho (art. 22, I).
A ADI 2965-GO foi distribuída para a condução do Min. Nelson Jobim, sucedendo, com a sua aposen -
tadoria, o Min. Eros Grau, que negou seu provimento liminarmente, ao acolher preliminar a AGU que suscitava que a ofensa à CF/88 seria indireta, argumentando que a questão deveria ser resolvida no plano da legalidade, pois qualquer dissonância entre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a norma estadual em referência caracterizaria questão de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. Após Agravo Regimental da CONFENEN, e manifestação favorável de seu provimento pela PGR, o Min. Eros Grau reconsiderou sua decisão espelhada em decisões recentes do STF, que revendo jurisprudência anterior, fixou entendimento no sentido de que o cotejo entre Lei Federal e Lei Estadual não configura ofensa reflexa a ensejar o não-conhecimento da ADI, baseando-se na ADI n. 2.903.
Com a aposentadoria do Min. Eros Grau, o Min. Luiz Fux assumiu a condução da ADI 2965-GO, todavia, somente maio de 2025 foi realizado o julgamento, que considerou parcialmente procedente o pedido, decidindo o Plenário, em relação à Lei Complementar Estadual n° 26/1998, com as alterações realizadas pelas Leis Complementares Estaduais n° 85/2011 e n° 86/2011, para:
(a) por unanimidade: declarar a constitucionalidade dos arts. 4°, II; 14, VI e VII; e 34, “a” a “d”, bem como para declarar a inconstitucionalidade da expressão “a ser realizada preferencialmente, em universidades e centros universitários”, constante do art. 83, e atribuir interpretação conforme à Constituição Federal ao dispositivo, para excluir da sua incidência a educação infantil;
(b) por maioria: (b.1) declarar a constitucionalidade do art. 14, V e XV, e parágrafo único, alínea “d”, do art. 84, I; (b.2) declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do art. 84, parágrafo único, para que sejam suprimidas as expressões “quatro” e “em caráter precário, a durar até o fim da Década
da Educação”; (b.3) declarar a inconstitucionalidade da expressão “por jornada de trinta horas-aula semanais”, constante do art. 92, por violação à competência federal para legislar sobre Direito do Trabalho; (b.4) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 93, para limitar sua aplicação aos estabelecimentos de ensino públicos; (b.5) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 94, de modo que as expressões “plano de carreira” e “ingresso exclusivamente por concurso público” sejam aplicadas somente aos profissionais pertencentes aos quadros de estabelecimentos públicos de educação.
Entendimento fixado pelo STF
A competência suplementar dos estados-membros para legislar sobre educação e ensino restringe-se à edição de normas específicas para atender às peculiaridades desses entes da Federação e não serve de pretexto para elaborar normas gerais sobre educação ou disciplinar outras matérias de competência reservada à União.
Comentários dos autores
Embora haja um evidente condomínio legislativo1 entre a União e os Estados-membros para legislar sobre educação e ensino (CF/1988, art. 24, IX), a competência suplementar destes últimos vincula-se apenas à elaboração de normas específicas para atender as suas peculiaridades, sendo as normas gerais competência reservada à União, a quem compete privativamente legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Subsidiariamente, os Estados-membros e ao Distrito Federal, poderão,
1 O Ministro Celso de Mello, em seu voto, no julgamento da ADIn-MC n. 903-6/MG, adotou a terminologia “condomínio legislativo” ao tratar da competência legislativa concorrente (ADI 903, Relator(a):Celso de Mello. Tribunal Pleno, julgado em 14/10/1993, pub. em 24/10/1997). Locução que reiteradamente foi repetida no STF, ex vi: ADI 5077, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 25.10.2018, DJe-250, pub. 23.11.2018.
em concorrência com a União, legislar sobre ensino e educação, sempre observando a regra predisposta nos §§ 1° ao 4° do art. 24, ou seja, a União estabelece normas gerais (§1°), os Estados-membros (normas suplementares), podendo eles legislarem sobre normas gerais para atender a suas peculiaridades apenas quando inexistir Lei Federal disciplinando as normas gerais (§3°), todavia, havendo superveniência de Lei Federal, automaticamente a eficácia da Lei Estadual ficará a ela condicionada, suprimindo a eficácia dos comandos normativos estaduais no que lhe for contrário aos federais.
Não obstante, em matéria de ensino e educação, como já há norma federal disciplinando as suas regras gerais - Lei n° 9.394/1996 (LDB) – aos Estados-membros restou apenas residualmente estabelecerem normas específicas às suas estruturas, observando sempre em primeiro plano as diretrizes e bases da educação nacional trazidas pela LDB.
Em consonância com a LDB, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada também serão por ela regida (arts. 16, 17 e 18), observando-se as regulações elaboradas pelos respectivos estados-membros no uso de sua competência legislativa suplementar.
Ao final, o STF considerou constitucional as normas estaduais que disciplinam a fiscalização dos estabelecimentos de ensino privados, lastreadas na observância por eles das normas gerais da educação nacional e das normas locais suplementares de natureza organizacional, bem como o cumprimento de Resoluções do Conselho Estadual de Educação voltadas às peculiaridades locais.
No entanto, o STF não considerou saudável ao sistema educacional brasileiro a exigência por Lei Estadual de formação mínima em ensino superior para o exercício do magistério na educação infantil, dada
a dificuldade que se criaria para o país na oferta de profissionais habilitados com a formação técnica em magistério ou nível superior de licenciatura em Pedagogia como argumento fático, mas que juridicamente iria de encontro ao art. 62 da LDB, que permite a formação oferecida em nível médio, na modalidade normal, como mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental. Considerou válida, entretanto, a exigência de formação mínima para o exercício do magistério em outras etapas da educação, ensino fundamental do 6° ao 9° ano e ensino médio.

Marcello Antonio Fiore
Graduado pela PUC-SP em 1992, Mestre em Direito Justiça e Impactos na Economia pelo Centro de Estudos de Direito Econômico e Social CEDES-SP; Doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Objeto
Estatuto da Advocacia: revogação de dispositivos legais em razão de erro material de redação.
Resumo do caso
A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7231 reconheceu a inconstitucionalidade formal de dispositivos da Lei 14.365/2022 que, por erro material de tramitação legislativa, acabou por revogar prerrogativas do Estatuto da Advocacia, como o acesso de advogados a processos judiciais e imunidade profissional no exercício da profissão. Verificou-se incompatibilidade entre o texto aprovado no Congresso e a redação final sancionada, já que a revogação dos dispositivos não foi objeto de deliberação parlamentar, mas resultou de equívoco reconhecido pela Câmara dos Deputados, Senado Federal e Poder Exe -
cutivo, caracterizando violação ao devido processo legislativo (arts. 59 e seguintes da CF) e ao princípio democrático (art. 1°, CF), conforme fundamentado pelo ministro relator Flávio Dino.
Entendimento fixado pelo STF
A decisão do STF na ADI 7231 declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade formal do art. 2° da Lei 14.365/2022 no ponto em que revogava os parágrafos 1° e 2° do art. 7° do Estatuto da Advocacia, restabelecendo sua vigência, destacando erro material de tramitação legislativa e a afronta às prerrogativas essenciais da profissão.
No caso, o STF constatou grave erro material na consolidação da redação final do texto legal visto que, a revogação dos parágrafos 1° e 2° do art. 7° da Lei 8.906/94 não foi objeto de deliberação pelo
Congresso Nacional, tendo decorrido de confusão na elaboração do substitutivo e de falha na técnica legislativa, reconhecida expressamente pela Câmara, Senado e pelo próprio Executivo.
Tais vícios, inclusive, caracterizam violação ao devido processo legislativo (arts. 59 e seguintes da CF) e ao princípio democrático (art. 1°, CF), pois a redação final não correspondia à vontade soberana do Parlamento.
Importante destacar que a decisão reconheceu que a supressão dessas prerrogativas, realizada sem deliberação parlamentar, privaria toda a classe dos advogados de garantias fundamentais como, o acesso de advogados a autos judiciais, inclusive em processos sob segredo de justiça, condicionando restrições a situações estritas e justificadas e a imunidade profissional, ao estabelecer que manifestações do advogado, no exercício da atividade, não constituem injúria, difamação ou desacato puníveis, salvo excessos disciplinares.
Dessa forma, o STF considerou que retirar essas garantias por via formalmente viciada, além de ilegal, comprometeria não apenas a advocacia, mas o direito de defesa e o acesso à Justiça.
Comentários do autor
O livre exercício da advocacia constitui um dos pilares mais robustos da democracia, sendo indispensável para assegurar o controle, a transparência e a efetividade da jurisdição. O recente julgamento do STF, relatado na ADI 7231, reafirmou que as prerrogativas profissionais dos advogados — especialmente imunidade e acesso aos autos judiciais — não podem ser violadas sem o respaldo claro e soberano do Parlamento, e muito menos por mero erro legislativo.
O papel do advogado vai além da representação técnica. O acesso irrestrito aos processos e a imunidade profissional constituem salvaguardas que viabilizam a defesa firme, autônoma e destemida dos interesses do cidadão perante o Estado. Quando essas garantias são amenizadas ou extintas, não é apenas a classe advogada que é prejudicada, mas todo o sistema democrático, pois o devido processo legal depende da atuação livre e segura da advocacia.
Sem a imunidade assegurada, o exercício da advocacia poderia se tornar vulnerável à intimidação, à criminalização indevida de manifestações técnicas e ao cerceamento do acesso à justiça. A advocacia livre — enquanto função essencial da administração da Justiça — é requisito de uma jurisdição plural, eficiente, dialógica e aberta ao contraditório. Qualquer ataque ou restrição às suas prerrogativas repercute diretamente sobre os direitos fundamentais de defesa, igualdade e contraditório.
Garantir o livre exercício da advocacia é garantir a democracia em sua essência, fortalecer o controle das instituições, preservar direitos e assegurar a pluralidade de vozes dentro do sistema judicial.
Assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao restabelecer as prerrogativas suprimidas por erro legislativo, reafirma o compromisso do Estado brasileiro com o processo democrático e o respeito às regras constitucionais.
Juliana Cardoso Ribeiro Bastos
Mestre e Doutora em Direito Constitucional pela PUC-SP. Professora de Direito Constitucional da PUC-SP e das FMU. Advogada.
Luiz Gustavo de Andrade
Doutorando em Direito pela PUC-SP. Diretor da Escola Paranaense de Direito EPADI. Advogado.
Objeto
Federações partidárias: regras e prazo para constituição e registro.
Resumo do caso
Considerando a criação da Lei Federal n°.14.208/2021, que alterou a Lei dos Partidos Políticos (Lei n°. 9,096/1995) para a criação das Federações Partidárias de caráter nacional, aplicáveis as eleições majoritárias e proporcionais, foi ajuizada, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), no Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n°.7021 com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1°, 2° e, por arrastamento, 3° da Lei n°. 14.208/2021, justificada pela violação

frontal ao §1°, artigo 17 e artigo 65, caput e §1° da Constituição Federal de 1988, além de violar os princípios federativo e democrático, autonomia partidária, sistema partidário e eleitoral proporcional.
Os debates se concentraram em dois pontos principais: a. a validação das federações partidárias, com o argumento de que a criação das federações partidárias seria uma forma de restabelecer de forma indireta as coligações partidárias para as eleições proporcionais que foram proibidas pela Emenda Constitucional n°.97/2017; e, b. o prazo para o registro de partidos e federações, uma vez que a lei, em sua redação original, permitia que as federações partidárias fossem registradas até a data final das conven -
ções partidárias, enquanto os partidos precisam se registrar seis meses antes das eleições.
Em dezembro de 2021, em decisão liminar, o Ministro Luís Roberto Barroso, relator da decisão, reconheceu a validade das federações partidárias. Contudo, identificou a quebra da isonomia entre federação e partidos políticos no que diz respeito ao prazo para registro na Justiça Eleitoral. Decisão que foi referendada pelo Plenário em fevereiro de 2022.
Entendimento fixado pelo STF
A tese foi no seguinte sentido: O Plenário do Supremo Tribunal Federal validou, por maioria de votos, a constitucionalidade da Lei n°.14.208/2021 que criou as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para registro na Justiça Eleitoral que deverá ser de seis meses antes das eleições, o mesmo prazo aplicável aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições de 2022, o prazo para constituição de federações partidárias foi estendido até 31 de maio do mesmo ano.
Nesse sentido, a partir das eleições de 2026, as federações partidárias, em respeito ao princípio da isonomia, precisarão estar constituídas e registradas no Tribunal Superior Eleitoral no mesmo prazo aplicado aos partidos políticos, qual seja, seis meses antes do pleito. Segundo o Ministro, atribuir prazo de registro diferente para partidos políticos e federações não se justifica e poderia, inclusive, dar à federação indevida vantagem competitiva.
Ainda, houve modulação dos efeitos da decisão pelo Plenário para permitir que as federações constituídas em 2022 possam alterar sua composição ou formar novas federações em 2026, antes, portanto, do decurso do prazo de quatro anos, sem a incidência das sanções previstas na Lei dos Partidos Políticos.
Comentários dos autores
Conceito de Federações Partidárias
A federação partidária constitui-se de uma reunião temporária, de abrangência nacional, de dois ou mais partidos políticos, registrada perante o Tribunal Superior Eleitoral, que deve atuar como se fosse uma única agremiação partidária tanto na disputa eleitoral, quanto no exercício da legislatura, por no mínimo 4 anos. A abrangência da federação é nacional. Por conseguinte, não é possível firmar federações entre partidos em nível estadual ou municipal. Além disso, federações de partidos precisam mostrar identidade programática.
Distinção de outras organizações partidárias e a atuação das federações nas eleições proporcionais
É possível distingui-la de outras formas de união entre partidos. Antes da Lei n.° 14.208/2021, os partidos poderiam unir-se no intuito de melhorar seu desempenho eleitoral através das coligações para as eleições proporcionais, as quais foram extintas pela Emenda Constitucional 97/2017. As coligações partidárias continuam existindo, mas apenas para eleições majoritárias. De qualquer forma, há distinção em relação às federações, pois diferentemente das coligações, que existem apenas do período das convenções até a eleição, as federações possuem duração de apenas 4 anos. O elo e compromisso entre partidos coligados desaparece com a eleição, diferentemente do que ocorre com as federações. Além disso, não há obrigação de identidade programática em coligações partidárias. Distingue-se, a federação, ainda, da fusão: os partidos podem fundir-se, situação em que seus componentes perdem suas características para formar um novo partido, em caráter definitivo. Os partidos também podem unir-se em blocos para atuar em conjunto no parlamento.
Importante mencionar que a federação atuará “como se” fosse uma única agremiação e não como um agrupamento pontual de partidos, como ocorria com as coligações partidárias. Em razão dos princípios da autonomia e da identidade partidária é garantida a independência de cada partido continuar a ter sua atuação apartada e livre da interferência da federação. No entanto, quanto a alguns temas, obrigatoriamente, os partidos deverão atuar “como se” fossem uma única agremiação, um só partido. Na disputa eleitoral, exemplificativamente, os partidos federados deverão definir em seu estatuto a lista dos candidatos que disputarão o pleito nas eleições proporcionais. Tal lista será constituída levando em conta o número total de cadeiras disputadas e a federação será considerada “como se” fosse um único partido, podendo lançar somente o mesmo número total de candidatos que um partido não federado poderia lançar.
Fábio Franco Pereira
Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor de Direito Constitucional e Administrativo. Advogado.
Objeto
Fixação de custas judiciais no âmbito estadual.
Resumo do caso
Trata-se de lei estadual do Tocantins (Lei 4.240/2023) que trouxe nova regulação sobre custas judiciais no Estado. Contra alguns de seus dispositivos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs a ADI 7553. Adotado pelo Ministro Relator (Gilmar Mendes) o rito do art. 12 da Lei 9.868/99, a ADI foi julgada parcialmente procedente. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF), em embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da majoração do limite máximo de cobrança de custas judiciais.

Entendimento fixado pelo STF
O STF adotou as seguintes teses ao julgar o mérito da ADI:
1) É inconstitucional, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre processo civil (art. 22, I, da Constituição Federal – CF), norma estadual que discipline gratuidade da justiça;
2) É inconstitucional, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre processo civil (art. 22, I, da CF) e, subsidiariamente, para legislar sobre normas gerais a respeito de procedimentos em matéria processual (art. 24, XI e §1°, da CF), lei estadual que determina a necessidade de comprovação do recolhimento de custas no ato da interposição do recurso perante o juízo de primeiro grau;
3) É constitucional a fixação de custas judiciais incidentes sobre os serviços públicos de natureza forense considerando o valor da causa e fixando limites mínimos e máximos. Porém, seu reajuste deve observar a proporcionalidade, inclusive nos limites, sob pena de obstar o acesso à justiça e incidir em inconstitucionalidade.
4) É constitucional norma estadual que, com o objetivo de evitar a mobilização desnecessária do Estado, determine o pagamento de custas em valor razoável para procedimentos pré-processuais perante os CEJUSCs no caso de não comparecimento injustificado dos interessados.
Comentários do autor
O acórdão segue jurisprudência consolidada no STF e trata de um dos principais temas levados ao tribunal: repartição constitucional de competências na federação. Quanto às teses 1 e 2, acima, frequentemente os Estados, valendo-se da competência concorrente para legislar sobre procedimentos em matéria processual (art. 24, XI, da CF), acabam tratando do direito processual civil, violando competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da CF).
Nem sempre é simples distinguir com clareza, à luz dos critérios adotados pela doutrina e jurisprudência, processo e procedimento para o fim de separar o que compete a cada ente federativo. Porém, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que regras relativas à gratuidade judiciária são normas de processo, já que envolvem o acesso à justiça e deveres processuais atribuídos às partes, regulados integralmente pelo Código de Processo Civil (CPC). Daí que inovações ou contradições de normas estaduais com o CPC são tidas por inconstitucionais, como no caso, em que a lei tocantinense fixava valor mínimo genérico a ser pago pela parte na hipótese de deferimento parcial da gratuidade.
Na mesma linha, o acórdão reconheceu que a norma estadual que determinava a comprovação do recolhimento prévio do preparo no ato da interposição do recurso é regra de processo, por impor ônus processual que, não atendido, gera consequências também processuais (deserção). O relator fundamentou ainda que, mesmo considerando o tema como procedimento, a matéria tem natureza de generalidade, não havendo especificidade a ser tratada pelos Estados, atraindo da mesma forma a competência da União.
Por fim, diante da competência concorrente para legislar sobre custas dos serviços forenses (art. 24, IV, da CF), o acórdão fixou as teses 3 e 4, acima. Especificamente em relação à tese 3, o acórdão declarou a inconstitucionalidade do limite máximo das custas fixado na tabela da norma tocantinense. Na jurisprudência do STF, as custas têm natureza de taxa, de modo que a cobrança deve ser proporcional ao custo da atividade jurisdicional, dentro de limites mínimos e máximos fixados com razoabilidade para não impedir o acesso à justiça.
A lei estadual fixou as custas em 0,5% do valor da causa, o que é admitido pelo STF. Contudo, aumentou o limite máximo em 19.000% no cotejo com a lei anterior, enquanto os principais índices inflacionários giraram entre 250% e 500% no período até a lei questionada. Por isso, o STF apontou violação à proporcionalidade e declarou o trecho inconstitucional.
A seguir, o acórdão repristinou o limite máximo da lei original e o atualizou pela SELIC, provisoriamente, até que o legislativo estadual adeque a previsão à proporcionalidade.
Carlos Eduardo Fernandes da Silveira
Procurador do Estado de São Paulo.
Carlos Ogawa Colontonio
Procurador do Estado de São Paulo; Mestre em Filosofia (USP); Professor de Direito Público.
Objeto
Fornecimento obrigatório e gratuito de embalagem ao consumidor no âmbito estadual. Resumo do caso
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço (ABAAS) contra a Lei n° 9.771/12 do Estado da Paraíba, que estabelecia a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de embalagens em supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres. A requerente alegou violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou procedente o

pedido, declarando a inconstitucionalidade da lei paraibana.
Entendimento fixado pelo STF
A tese foi fixada no seguinte sentido: “São inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou similares a fornecer gratuitamente sacolas ou embalagens para as compras, por violação do princípio da livre iniciativa (arts. 1°, inciso IV, e 170 da Constituição).”
Comentários dos autores
A decisão proferida na ADI 7.719 trata dos limites da intervenção estatal na atividade econômica privada, estabelecendo parâmetros para a aplicação do prin -
cípio da livre iniciativa em face de restrições impostas sob o fundamento da proteção consumerista.
A requerente, Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço (ABAAS), fundamentou sua pretensão em dois eixos principais. Primeiro, alegou violação da proteção constitucional ao meio ambiente, argumentando que a lei incentivaria a produção de resíduos sólidos, contrariando tendências políticas de coibição da distribuição gratuita de embalagens plásticas, alinhadas aos princípios da prevenção e proibição do retrocesso ambiental. Citou o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n° 12 da ONU e precedente do STF (RE 732.686) que considerou constitucional a substituição de sacolas plásticas por biodegradáveis. Segundo, sustentou violação do princípio da livre iniciativa, argumentando que a imposição representaria intervenção desproporcional na atividade empresarial, restringindo a autonomia dos estabelecimentos comerciais e aumentando custos operacionais. Destacou que o setor atacadista opera com modelo de negócios baseado no princípio “usuário poluidor-pagador”, onde sacolas são cobradas apenas de quem opta por utilizá-las.
Os interessados apresentaram defesa da constitucionalidade da norma. O Governador da Paraíba afirmou a competência estadual para legislar sobre a matéria e sustentou que a lei tutelava o meio ambiente ao promover utilização de sacolas biodegradáveis, alinhada com normas estaduais e objetivos de desenvolvimento sustentável. Negou conflito com a livre iniciativa, alegando que a legislação não promoveria interferência estatal direta no modelo de negócio empresarial. A Assembleia Legislativa argumentou que a norma não obrigava tipo específico de embalagem, deixando escolha ao estabelecimento, que permaneceria livre para adotar opções sustentáveis. Defendeu que o objetivo seria impedir onera-
ção do consumidor pela opção mais sustentável ao meio ambiente.
A Advocacia Geral da União se manifestou pelo não conhecimento do pedido (preliminar de ausência de impugnação de todo complexo normativo) e, no mérito, pela procedência. Alegou que a imposição de obrigações similares repercute negativamente na liberdade de iniciativa dos comerciantes sem garantia de reversão de benefícios aos contribuintes. A Procuradoria Geral da República defendeu a procedência por violação dos princípios da livre iniciativa, liberdade econômica e proporcionalidade. Afastou a preliminar da AGU e a alegação de afronta ao meio ambiente, considerando que a norma não definia material da embalagem. Concluiu que a lei restringia a liberdade dos comerciantes sem aptidão para proteção dos consumidores.
Preliminarmente, cabe destacar questão processual relevante enfrentada pelo STF quanto à legitimidade ativa da requerente. Embora a jurisprudência da Corte exija, por analogia ao art. 8° da Lei n° 9.096/95, que entidades de classe tenham presença em pelo menos nove unidades da federação para configurar caráter nacional, a ABAAS possui associados em apenas oito unidades (sete estados e o Distrito Federal). O Relator, contudo, reconheceu a legitimidade ativa considerando as especificidades do setor econômico representado e a expressividade da requerente, que congrega 20 grandes empresas em segmento caracterizado por número limitado de concorrentes. Essa flexibilização do requisito territorial demonstra que o STF pode abrandar critérios formais quando as particularidades do caso concreto evidenciam a representatividade adequada da entidade autora1
1 No julgamento do Ag Reg. na ADI 5.989/DF (sv. de 14.08.2020 a 21.8.2020), o Supremo confirmou a necessidade de a representatividade adequada se traduzir no ônus de a associação autora demonstrar sua organização e efetivo funcionamento em, pelo menos, 09 (nove) estados da federação.
Acerca do mérito, o voto do Ministro Relator Dias
Toffoli enfrentou duas questões jurídicas centrais. Quanto à alegada violação ambiental, o Tribunal afastou a inconstitucionalidade por esse fundamento. O relator concordou com a manifestação da PGR, considerando que a lei não impunha distribuição de sacolas plásticas e que o artigo 2° mencionava substituição por materiais biodegradáveis ou reutilizáveis, alinhados com boas práticas ambientais. Concluiu-se que a obrigação de fornecimento de embalagens, em contexto normativo de estímulo a práticas ambientalmente responsáveis, não implicava necessariamente violação de princípios e diretrizes do direito ambiental.
Já em relação à violação dos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, o Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade material. O voto aplicou o teste da proporcionalidade, examinando adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
Os julgadores concluíram que o fornecimento obrigatório e gratuito de embalagens não se mostrava proporcional e razoável para afastar a garantia da livre iniciativa quando ponderada com o princípio da proteção ao consumidor. Consideraram desnecessário o fornecimento gratuito para promoção do direito do consumidor, pois tal ônus não constituía proteção especial em situação de vulnerabilidade. Além disso, consideraram a medida inadequada para proteção consumerista, uma vez que oneraria o produto
Os fundamentos determinantes:
“Cumpre ter presente, neste ponto, o fato de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consignado, no que concerne ao requisito da espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. Essa particular característica de índole espacial pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de associados ou membros em, pelo menos, nove Estados da Federação. Trata-se de critério objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente, atividades econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território nacional” (RTJ 141/4, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)”.
adquirido, constituindo espécie de venda condicionada ao fornecimento de outro produto (venda casada), prática repelida pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Como observou o Relator, os custos das embalagens “gratuitas” são inevitavelmente diluídos nos preços dos produtos, onerando todos os consumidores, inclusive aqueles que não utilizam as embalagens ou que dispõem de alternativas próprias.
A decisão se enquadra na linha de precedentes do STF sobre obrigações impostas a estabelecimentos comerciais. O Tribunal aplicou metodologia semelhante ao Tema 525 da Repercussão Geral (RE 839.950), que tratou da obrigatoriedade de serviços de empacotamento. Em ambos os casos, o STF identificou que a imposição de ônus ao setor privado configurava, na prática, transferência de custos para os consumidores.
A decisão também evidencia a aplicação da jurisprudência constitucional sobre as condições em que o princípio da livre iniciativa admite restrições estatais. O STF examinou se a obrigação legal atendia aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, chegando à conclusão de que a medida não se justificava pelos fundamentos apresentados.
Do ponto de vista prático, a tese fixada provavelmente terá impacto sobre legislações estaduais e municipais similares, estabelecendo parâmetros para a atuação do Poder Público na regulação de atividades comerciais. A decisão sinaliza que a proteção consumerista deve focar em situações de efetiva vulnerabilidade, não em eventuais conveniências que devem ser reguladas pelo próprio mercado.
No mais, o caso em questão revela a dificuldade de serem definidas balizas objetivas sobre (i) os limites da competência legislativa concorrente na defesa das relações de consumo2 e o (ii) tensionamento fe2 Por exemplo, também se valendo da técnica de teste de pro-
derativo com o exercício do sobredito poder concorrente em matéria legislativa por parte dos estados membros e certas competências privativas asseguradas à União no modelo constitucional de diluição de funções entre os três entes subnacionais 3
Em síntese, o acórdão que julgou a ADI 7.719 reforça que a ordem econômica constitucional privilegia porcionalidade e com paradigma de confronto similares ao caso comentado (razoabilidade, proporcionalidade e livre iniciativa), a Corte Suprema ratificou a constitucionalidade de norma estadual que impõe obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.
Assim:
“A imposição de adaptação de 5% dos carrinhos de compras para o transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida não ofende os princípios da livre-iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade. A medida é adequada para facilitar a locomoção, necessária por complementar o arcabouço normativo de proteção à pessoa com deficiência, e proporcional em sentido estrito, visto que o ônus imposto é moderado diante do direito fundamental à inclusão e à dignidade da pessoa com deficiência, em consonância com os arts. 1°, III; 3°, IV; 23, II; 24, V e XIV; 227, § 2°; e 244 da Constituição Federal e as previsões da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.”
RE 1.198.269, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 10.06.2025.
3 Por outro lado, no julgamento proferido na ADI 5.772 (rel. Ministro Alexandre de Moraes, j. em 23.08.2019), o Supremo, diferentemente do caso em comento, revelou tendência a privilegiar a competência legislativa concorrente dos estados quando se tratar de norma reguladora de defesa do consumidor.
O caso concreto versava sobre lei estadual que obrigava empresas de internet a apresentar na fatura da conta a velocidade efetivamente oferecida no mês:
“1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno da defesa do consumidor. Cite-se, por exemplo, a ADI 5.745, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019.”
a livre iniciativa como fundamento da República, exigindo que eventuais restrições estatais demonstrem sua necessidade, adequação e proporcionalidade para a tutela de outros direitos fundamentais ou princípios constitucionais.
Sem prejuízo, a jurisprudência da Corte adota critérios casuísticos ao analisar os processos submetidos à jurisdição constitucional que versem sobre defesa das relações de consumo e livre iniciativa.
Eduardo Figueiras Ismael
Graduando na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP).
Julia Moura de Souza
Graduanda na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP).
Objeto
ICMS: incidência, como regra, na transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em estados distintos antes de 2024. Resumo do caso
Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 102; §2°, da CF, se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, impõe a incidência do tributo nas operações não ressalvadas pela modulação de efeitos.

Entendimento fixado pelo STF
A tese fixada pelo STF foi:
“A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021).”
Comentários dos autores
Considerando a tese fixada no RE-RG 1.490.708/SP (Tema 1.367/STF), defendemos que o julgado expôs
fragilidades do sistema de precedentes e da técnica de modulação de efeitos no direito tributário, que progressivamente se revela como solução pragmática que se sobrepõe à segurança jurídica que deveria proteger o jurisdicionado.
Evolução Jurisprudencial do Tema e Modulação de Efeitos
Historicamente, tanto o STF quanto o STJ consolidaram o entendimento de que o simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, pois inexiste transferência de titularidade ou ato de mercancia (Súmula 166/STJ; Tema 1.099/STF). Todavia, estados continuaram exigindo (e muitos ainda exigem) o imposto nessas operações, acarretando insegurança jurídica.
No julgamento da ADC 49, o STF reafirmou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nessas transferências, mas optou por modular os efeitos da decisão, postergando a eficácia da declaração de inconstitucionalidade para 2024 e ressalvando os processos pendentes até 29/04/2021. Embora a doutrina reconheça a modulação como instrumento de preservação da segurança jurídica em situações excepcionais, a aplicação recorrente desse mecanismo, especialmente em matéria tributária, tem sido alvo de críticas.
Em vez de restaurar imediatamente a ordem constitucional, a modulação acaba por legitimar, ainda que temporariamente, a cobrança de tributos com base em normas já reconhecidas como inconstitucionais, o que fragiliza a confiança do contribuinte e estimula a incerteza quanto à estabilidade das decisões judiciais.
O Caso Concreto e a Divergência no STF
No RE 1.490.708/SP, o Estado de São Paulo recorreu de decisão do TJ-SP que afastou a incidência do ICMS em transferências interestaduais anteriores a 2024, mesmo sem processo pendente até a data de corte fixada na modulação.
Tanto o TJSP quanto, em um primeiro momento, o STF acolheram as razões do contribuinte por entenderem que a jurisprudência consolidada do STF e do STJ já afastava a incidência do imposto nessas operações, e que a confiança legítima dos contribuintes deveria ser preservada. O afastamento da cobrança buscava evitar surpresas fiscais e proteger a boa-fé, princípios que justificam a modulação apenas em situações excepcionais e imprevisíveis.
O STF contrariou essa lógica ao dar provimento ao recurso do Estado, priorizando a eficácia da modulação sobre a proteção da confiança legítima e da segurança jurídica dos contribuintes.
Apesar disso, em embargos de declaração, prevaleceu a divergência inaugurada pelo Ministro Dias Toffoli, que corrigiu, ao menos em parte, o equívoco anterior. O voto vencedor reconheceu que a modulação não poderia servir de salvo-conduto para cobranças retroativas de ICMS sobre fatos anteriores a 2024 em relação aos quais não houve pagamento, sob pena de violação à confiança e à segurança jurídica.
Ainda assim, a própria necessidade de reafirmar esse fato revela o quanto a modulação, quando banalizada, pode gerar distorções e insegurança, afastando-se de sua finalidade original de restaurar a constitucionalidade e proteger a confiança. A modulação tem se tornado regra, em vez de exceção, comprometendo a previsibilidade do direito tributário.
Estados não podem exigir o ICMS de contribuintes que, amparados pela jurisprudência, não recolheram o imposto em transferências interestaduais realizadas antes de 2024. Apenas os créditos tributários já constituídos e pagos até então permanecem válidos, respeitando-se a estabilidade das relações jurídicas e evitando surpresas fiscais. A Corte reafirmou o papel da modulação como instrumento de pacificação social e de respeito à confiança legítima dos contribuintes, sem abrir espaço para cobranças retroativas baseadas em norma declarada inconstitucional.
Conclusão
O julgamento do RE 1.490.708/SP demonstra que a utilização recorrente da modulação, em vez de exceção, revela um risco de enfraquecimento do controle de constitucionalidade e da previsibilidade das decisões. A estabilidade das relações tributárias exige respeito à autoridade dos precedentes e à proteção da confiança, sob pena de se comprometer a própria legitimidade do sistema tributário, como bem adverte a doutrina.

Guilherme Lobo Marchioni
Mestre em Direito pela PUC/SP; Especialista em Penal e Processo Penal pela PUC/RS e Escola Superior do Ministério Público; Advogado Criminalista
Objeto
Investigação criminal e condução exclusiva por delegado de polícia.
Resumo do caso
A Lei n° 12.830, de 20 de junho de 2013, dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, estabelecendo funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais por essa autoridade. Embora traga poucas novidades em cotejo com as normas inscritas no Código de Processo Penal acerca do inquérito policial, a lei avança ao definir o indiciamento pelo delegado de polícia como “ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias”, nos termos do art. 2°, § 6°.
Pode-se afirmar, com segurança, que o núcleo da lei está na disposição do art. 2°, § 1°, que atribui ao delegado de polícia “a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais”. É ao questionamento dessa norma que se dedicou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.043, ajuizada pelo Procurador-Geral da República.
Na ADI sustentou-se que uma interpretação equivocada do texto legal poderia conduzir ao entendimento de que qualquer procedimento investigatório de natureza criminal seria de atribuição exclusiva da autoridade policial, hipótese que conflitaria com disposições normativas que permitem ao Ministério Público a investigação de infrações penais.
Nessa linha, a controvérsia é sintetizada na seguinte questão: é compatível com a Constituição Federal de 1988 a interpretação do § 1°, do art. 2°, da Lei n° 12.830/2013 que atribui caráter privativo ou exclusivo ao delegado de polícia para a atividade de investigação criminal? Tendo pugnado a autora da ADI que a Corte Constitucional declarasse a nulidade da interpretação do dispositivo legal que conferiria exclusividade aos delegados de polícia na condução de procedimentos de investigação criminal.
A ADI foi julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sessão virtual realizada de 21 a 28 de março de 2025, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli. Em voto marcado pela objetividade e precisão, o relator julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da interpretação do § 1° do art. 2° da Lei n° 12.830/2013 que atribua privativa ou exclusivamente ao delegado de polícia a condução da investigação criminal, sendo acompanhado à unanimidade pelos demais ministros.
O acórdão proferido pelo STF destacou que a norma não proíbe, expressa ou implicitamente, a realização da investigação criminal pelo Ministério Público ou por autoridades administrativas, limitando-se a prescrever que a investigação criminal a cargo do delegado de polícia materializa-se por inquérito, que tem como finalidade a apuração de circunstâncias da infração penal. Observou que outrora a Corte Constitucional verificou a possibilidade de que outros órgãos sejam dotados de poderes investigatórios, com destaque ao tema n° 184 de Repercussão Geral (RE 593727) no qual firmou-se a tese de que “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a
qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado”. Lembrou, ainda, que o constituinte originário atribui, categoricamente, competência investigativa às comissões parlamentares de inquérito no art. 58, §3°, da CF, indicando a ausência de exclusividade da autoridade policial na atividade de investigação criminal.
Concluiu, assim, que a atividade de investigação criminal não é exclusiva ou privativa da polícia, sob direção dos delegados de polícia, tendo em vista (i) a ausência de norma constitucional que estabeleça essa exclusividade, contemplando a CF, em seu art. 144, § 4°, texto legal de caráter genérico sobre a competência para apuração de infrações penais pela polícia civil; (ii) a atribuição expressa de competência investigativa às CPIs; e (iii) a atribuição de competência investigativa ao Ministério Público. Tudo a apontar que a Polícia Civil não detém exclusividade sobre as investigações criminais, mas tão somente sobre a condução do Inquérito Policial.
Comentários do autor
Da decisão na ADI n° 5.043, é interessante notar que a celeuma quanto à interpretação do art. 2°, § 1°, da Lei n° 12.830/2013 quanto ao risco de leitura equivocada do dispositivo já havia sido debatida durante a tramitação do projeto de lei que lhe deu origem. Isto é, desde o nascedouro da norma o Congresso Nacional registrou que o projeto não visava diminuir prerrogativas de quaisquer poderes ou órgãos com função investigativa. Com efeito, o Parecer n° 409, de lavra do Senador Humberto Costa, ao projeto de Lei n° 132 de 2012, que deu origem à lei em referência, alertava que “essa proposta se aplica única e exclusivamente às investigações que são conduzidas pelo delegado de polícia. Portanto, essa proposta não abrange o inquérito policial militar, que tem suas regras próprias; não abrange o trabalho de investigação das comissões parlamentares de inquérito, que
tem suas regras próprias; e não interfere no poder de investigação do Poder Judiciário, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que tem também suas regras próprias”.
A ADI comentada representa, portanto, um notável exemplo de duas circunstâncias dignas de registro: a primeira, por ter culminado na declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, mantendo-se exatamente a formulação da disposição como proposta pelo legislador, mas restringindo-se a sua interpretação para declarar inconstitucional entendimento que venha a distinguir onde a lei não distinguiu – no caso, impedindo a afirmação de exclusividade da autoridade policial na condução de investigações criminais. Assim, corresponde à hipótese de sentença interpretativa na jurisdição constitucional, ou seja, decisão que versa sobre a possibilidade hermenêutica da lei1
A segunda circunstância é a constatação de que os debates durante o processo de elaboração do texto legal abordaram o tema, adiantaram a controvérsia e preventivamente o enfrentaram, de modo que a solução no campo jurídico conciliou a vontade expressa do legislador com o respeito à interpretação constitucional da norma. Desta feita, o julgamento denota a maneira como a ADI significa um ponto de encontro entre a vontade da maioria expressa no parlamento e a jurisdição em controle de constitucionalidade que visa salvaguardar o Estado Democrático de Direito.
1 O texto legal contém em si miríades de possibilidade, que, inclusive, só se estabilizam diante de um contexto fático subjacente. Daí a necessidade de diferenciar enunciado textual e as suas variantes interpretativas que exsurgem diante de um caso, isto é, as normas. Diante disso, veio a lume a possibilidade de um texto não ser inconstitucional na sua inteireza, mas apenas em algumas de suas variantes hermenêuticas. ABBOUD, Georges. Direito Constitucional pós-moderno. São Paulo: Thompson Reuters, 2021, p. 423.

Carlos Ogawa Colontonio
Procurador do Estado de São Paulo; Mestre em Filosofia (USP); Professor de Direito Público.
Justiça Especial e competência da Justiça Federal.
Resumo do caso
Trata-se de recurso extraordinário em que se discutiu a compatibilidade do art. 3°, § 3°, da Lei 10.259/2001 com o art. 109, § 2°, da Constituição Federal. A controvérsia consistiu em definir se a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais, prevista em lei, afasta a faculdade constitucional do autor de escolher o foro (local) para ajuizar ação contra a União e entidades da administração indireta federal. O STF, por unanimidade, fixou tese no sentido de que a competência absoluta dos JEFs se restringe ao valor da causa, preservando-se a faculdade de escolha do foro pelo demandante conforme o art. 109, § 2°, da CF/88.
A tese foi no seguinte sentido: O art. 3°, § 3°, da Lei 10.259/2001, é compatível com a Constituição Federal, devendo ser interpretado no sentido de que a competência absoluta dos juizados especiais federais se restringe ao valor da causa, havendo a faculdade de escolha do foro pelo demandante na forma do art. 109, §2°, da CF/88.
Comentários do autor
O julgamento do Tema 1.277 da repercussão geral enfrentou questão que dividia a jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: a extensão da “competência absoluta” prevista no art. 3°, § 3°, da Lei 10.259/2001.
O caso concreto ilustra bem a controvérsia. A parte autora, residente em município sob jurisdição da Subseção Judiciária de Picos/PI, onde há JEF ins-
talado, ajuizou ação contra a FUNASA perante o Juizado Especial Federal de Teresina/PI, capital do Estado. O processo foi extinto sem julgamento de mérito tanto em primeira instância quanto pela Turma Recursal, sob o fundamento de que a competência do JEF seria absoluta também quanto ao aspecto territorial, obrigando o ajuizamento no juizado do domicílio do autor. A Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que não se admite o ajuizamento de ação na capital por autores domiciliados em municípios que integram jurisdição de Subseção Judiciária com JEF instalado.
A parte recorrente sustentou violação aos arts. 109, § 2°, e 110 da CF/88, argumentando que a Constituição faculta ao jurisdicionado o ajuizamento da ação na capital do Estado, por ser esta a sede da seção judiciária. Invocou jurisprudência consolidada do STF reconhecendo essa faculdade e defendeu que a interiorização da Justiça Federal não poderia extinguir prerrogativa constitucional. A FUNASA sustentou a competência do JEF do domicílio da autora, alinhando-se às decisões das instâncias inferiores.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, afirmando que a limitação da escolha do foro ofende o acesso ao Judiciário e o princípio da proteção da parte vulnerável.
O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade pela compatibilidade do dispositivo legal com a Constituição, mediante interpretação conforme. O voto condutor, do Ministro Alexandre de Moraes, partiu da premissa de que o art. 109, § 2°, da CF/88 institui faculdade em favor do cidadão, objetivando facilitar o acesso ao Poder Judiciário. A norma constitucional permite à parte que pretende ajuizar ação contra a União ou entidade da Administração Indireta Federal escolher entre diversos foros.
A Corte desenvolveu interpretação sistemática entre a norma legal e a constitucional, estabelecendo
distinção fundamental entre competência em razão do valor e competência territorial. A competência absoluta prevista no art. 3°, § 3°, da Lei 10.259/2001 refere-se exclusivamente ao valor da causa (até 60 salários-mínimos), não afetando a prerrogativa constitucional de escolha do foro territorial. A competência é absoluta no sentido de que, para causas dentro do limite estabelecido, o julgamento cabe obrigatoriamente a um Juizado Especial Federal, e não a uma Vara Federal Comum. Contudo, isso não suprime a faculdade de escolha quanto à localização territorial desse juizado.
O acórdão fixou três conclusões fundamentais. Primeiro, nas causas sujeitas ao Juizado Especial Federal, a União poderá ser demandada, por eleição do autor, no foro de seu domicílio, na capital do Estado, no lugar onde houver ocorrido o ato ou fato, onde situada a coisa, ou no Distrito Federal. Segundo, a competência absoluta estabelecida no § 3° do art. 3° da Lei n° 10.259/2001 opera em razão do valor da causa. Terceiro, o autor, embora possa eleger o foro pelo critério territorial nos termos do § 2° do art. 109 da CF/88, deverá obrigatoriamente ajuizar a demanda no Juizado Especial Federal do foro eleito, se houver JEF instalado naquela localidade.
A fundamentação assentou-se na supremacia da Constituição e no princípio do amplo acesso à justiça. Interpretar a Lei 10.259/2001 de modo a conferir competência territorial absoluta ao JEF do domicílio do autor representaria inconstitucionalidade material, por violar o disposto no § 2° do art. 109 da CF/88 e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV, da CF/88). O acórdão destacou que tanto a norma constitucional quanto a criação dos Juizados Especiais visam facilitar o acesso ao Judiciário, e interpretação que restrinja a escolha do autor contraria essa finalidade, transformando em obstáculo o que deveria ser facilidade.
A decisão harmoniza-se com precedentes anteriores. O Tema 374 da repercussão geral estendeu a faculdade de escolha de foro às ações contra autarquias federais, aplicando o mesmo raciocínio interpretativo. A Súmula 689 do STF, específica para causas previdenciárias, também reconhece ao segurado a possibilidade de ajuizar ação “perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado-Membro”. A Corte enfatizou que a faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias e entidades federais.
Desta forma, o STF reconhece que a interiorização da Justiça Federal, conquanto positiva por ampliar o acesso jurisdicional, não pode suprimir prerrogativas constitucionais do jurisdicionado. O fortalecimento da estrutura judiciária deve ampliar, e não reduzir, as opções processuais do cidadão que demanda contra a União e suas entidades.
Marcelo Brito Guimarães
Advogado formado pela PUC SP com escritório próprio há mais de 30 anos. Mestrando em Direito pela PUC SP, sob orientação da Profa. Flavia Piovesan. Pós-graduado em direitos autorais, planejamento sucessório e ESG pela FGV-SP. Formado em Programação Neurolinguística pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Formado em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Pós-graduado em Marketing Digital pelo Digital Marketing Instituto – Irlanda. Autor, em coautoria, de “VIH/SIDA en América Latina desde la perspectiva social”. Consultor jurídico da Agência de Notícias da Aids e do Instituto Luiz Gama. Vice-presidente da Associação Cultural Mix Brasil, responsável pelo Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade.
Objeto
Lei Maria da Penha: aplicabilidade às relações afetivo-familiares de casais homoafetivos do sexo masculino, travestis e transexuais.
Resumo do caso
Na sessão de 24 de fevereiro de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu a ordem no Mandado de Injunção 7452, impetrado pelo Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas – ABRAFH, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

A ação teve como pedidos o reconhecimento da mora inconstitucional do Congresso Nacional na aprovação de legislação contra a violência doméstica que proteja homens em relações com outros homens (GBTI+), com a determinação de medidas de prevenção e punição das violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral e a criação de políticas públicas para acolhimento e assistência das vítimas, dentre ouros requerimentos.
Na tramitação da ação, foram consultados tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal e ambas as casas se posicionaram contra o cabimento do mandado de injunção por informarem haver,
nos respectivos posicionamentos, projetos de leis que tratam do tema objeto do mandado de injunção. Além disso, a ação teve parecer da Procuradoria-Geral da República pela improcedência do pedido.
A decisão do Supremo Tribunal Federal foi unânime em reconhecer a mora das Casas Legislativas Federais nesta proteção, porém houve divergência quanto aos dispositivos da Lei Maria da Penha que deveriam ser aplicados.
Por maioria de votos, decidiu-se que a totalidade da lei deve ser aplicada a casais homossexuais masculinos, mulheres trans e travestis. Porém, para os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Edson Fachin seriam aplicáveis apenas os dispositivos contidos nos artigos 18 a 23 da Lei Maria da Penha, que se referem a medidas protetivas de urgência, excluindo-se a possibilidade de aplicação da sanção prevista no artigo 24-A do mesmo diploma legal, que tipifica o crime de descumprimento das medidas citadas medidas protetivas.
Entendimento fixado pelo STF
O posicionamento adotado pelo STF foi o seguinte: a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) é aplicável às relações homoafetivas compostas por homens gays, mulheres trans e travestis. Essa aplicação é condicionada à presença de fatores contextuais que insiram a vítima em uma posição de subalternidade na relação, o que justifica a proteção legal.
A decisão foi unânime em reconhecer a omissão do Legislativo. No entanto, houve uma divergência sobre quais dispositivos da lei deveriam ser aplicados.
A maioria dos ministros decidiu pela aplicação integral da lei. Já os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Edson Fachin votaram pela aplicação apenas das medidas protetivas de urgência (artigos 18 a 23), excluindo a tipificação do crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A).
Comentários do autor
A lei 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, tem como foco criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 226, § 8°. da Constituição Federal, levando-se em consideração a compreensão de subordinação cultural da mulher na sociedade.
De um lado, é importante salientar que a aplicação da Lei Maria da Penha em relações de casais divergentes da heterocisnormatividade já estava contida no próprio diploma legal, em seu artigo 2°. que determina que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual entre outras características, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhe as oportunidades e facilidades para viver sem violência. Neste dispositivo, portanto, o foco é a proteção da mulher, independentemente de sua orientação sexual.
De outro lado, o parágrafo único do artigo 5° da citada lei determina que “As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”
Ou seja, pela leitura destes dispositivos, tem-se que a Lei Maria da Penha é aplicável em casais homossexuais formados por mulheres.
Primeiramente, sob o ponto de vista formal, o mandado de injunção em análise reconhece a inércia do Poder Legislativo no cumprimento de sua função e que esta omissão prejudica diretamente a dignidade da pessoa humana, no caso os homens homoafetivos, mulher trans e travestis quando envolvidos em relações de violência doméstica e familiar. E, ainda, a decisão da Suprema Corte rechaça veementemente o argumento da Câmara dos Deputados e do Senado, quando estas entidades afirmam que há projetos de lei com a mesma finalidade que o mandado de injunção, posicionando-se o Supremo Tribunal Federal que, pela tramitação legislativa dos citados
projetos de lei, a qual se demonstrou ser extremamente morosa, a inércia legislativa estava configurada. Acrescenta ainda a Corte Suprema que, ainda assim, a existência dos citados projetos de lei não impede o conhecimento e a concessão da ordem do mandando de injunção.
Um aspecto também importante a ser salientado na citada decisão refere-se ao reconhecimento da diferença entre sexo biológico e gênero. O STF encampou a interpretação sobre esta diferença realizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na qual este Tribunal aplicou a Lei Maria da Penha para mulher trans em alguns de seus julgados. Portanto, o Supremo Tribunal Federal reconhece sexo como uma designação baseada estritamente em características morfológicas do corpo humano enquanto afirma ser gênero um conceito psicossocial, que se baseia na identificação que a própria pessoa faz de si mesma como também quanto à forma como ela é percebida em seu meio.
A decisão ora comentada decide, portanto, que a Lei Maria da Penha é aplicável às relações compostas por homens gays, mulheres trans e travestis, se estiveram presentes os fatores contextuais que os insiram, na relação, como vítimas da violência na posição de subalternidade.
Portanto, por ausência da atividade do Poder Legislativo, o Poder Judiciário, interpretando os princípios fundamentais da Constituição Federal, especialmente a obrigação do Estado em assegurar a assistência à família, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, determina a aplicação da Lei Maria da Penha para os atores citados.
Apesar da insistente inércia dos legisladores brasileiros quando se trata da proteção dos direitos das pessoas LGBTQIA+, nossa Constituição Fede -
ral, que está alicerçada no fundamental princípio da dignidade da pessoa humana, se faz valer pelo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que, acionado pela sociedade civil, traz à concretude para os direitos humanos, a democracia e o Estado Democrático de Direito, garantindo os direitos das pessoas vulnerabilizadas.
Esta falta de atuação dos legisladores faz com que os direitos das pessoas LGBTQIA+ sejam reconhecidos tomando-se como base por instrumentos legais originalmente previstos para outros grupos vulnerabilizados, como as pessoas negras (Lei dos Crimes Raciais n. 7716/1989) ou as mulheres, com a Lei Maria da Penha.
Seja como for, o que toda a sociedade brasileira anseia é uma vida de paz e de relações harmoniosas, cessando a subordinação de grupos vulneráveis e com o término da violência nas relações humanas.
Passados 37 anos da promulgação da Constituição Federal, as pessoas LGBTQIA+, cidadãs brasileiras não podem esperar o Congresso Nacional para que sua dignidade seja respeitada e seus projetos de vida sejam realizados.
8

Jucilene de Campos dos Santos
Advogada, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito – EPD ; pós-graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP; cursando pós-graduação em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), cursando LL.M em Direito Societário e Mercado de Capitas pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC).
Objeto
O novo regime de precatórios e a Emenda Constitucional 136/2025.
Resumo do caso
No âmbito do direito constitucional e financeiro, o regime de pagamento de precatórios se revelou tema de grande importância. Isso porque, de um lado, representa a efetividade da prestação jurisdicional e a concretização de direitos fundamentais dos cidadãos, ao passo que, de outro, envolve o desafio do equilíbrio fiscal dos Entes federativos.
Nesse contexto, a recém promulgada Emenda Constitucional n° 136/2025, oriunda da PEC 66/2023, estabeleceu novo modelo de pagamento
dos precatórios, impondo limites taxativos à destinação de recursos, alterando o índice de atualização monetária e revogando o prazo final legalmente fixado para quitação do passivo acumulado.
Ainda que justificada sob a retórica da responsabilidade fiscal, a medida gerou intenso debate jurídico e levou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) a ajuizar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7873, questionando a compatibilidade da emenda com os preceitos normativos decorrentes da Constituição Federal.
Entendimento fixado pelo STF
A ADI 7873 está em fase inicial de tramitação e o Supremo Tribunal Federal, após a retirada do feito de pauta pelo ministro relator Luiz Fux, ainda não se
pronunciou acerca dos argumentos apresentados pelo requerente, contestando a constitucionalidade das alterações promovidas pela EC 136/2025.
Comentários da autora
Alterações promovidas pela Emenda
Constitucional n° 136/2025
A EC 136/2025 instituiu alterações de grande relevância em relação ao regime de pagamento de precatórios. Dentre estas, importa ressaltar o disposto no art. 1° da emenda, o qual limita taxativamente a destinação de recursos à quitação de débitos judiciais, nos termos dos novos §§ 23 e 24 do art. 100 da Constituição, baseado em critérios absolutamente insuficientes ante o acumulado correspondente ao passivo judicial não pago.
No mais, mas não menos importante, em atenção ao art. 2° da EC 136/2025, o legislador definiu novo critério de correção dos pagamentos decorrentes de condenações da Fazenda Pública, substituindo a SELIC pelo IPCA como índice a ser aplicado, somado a juros simples de 2% para compensação da mora. De acordo com o Sen. Jaques Wagner, quando da elaboração de parecer à então PEC 66/2023, atual EC 136/2025, a alteração no índice de correção garante que as dívidas com precatórios não cresçam de maneira exorbitante1
Foram estabelecidas, também, disposições relativas ao devido cumprimento das condenações judiciais em face de Entes públicos, dado que o prazo para apresentação de novas requisições, a serem inclusas para pagamento no ano orçamentário seguinte, que deverão ser protocoladas nos Tribunais até 1° de
1 BRASIL, Senado Federal. De plenário, sobre a PEC 66/ 2023, do Senador Jader Barbalho e outros, que abre novo prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com seus Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos e com o Regime Geral de Previdência Social. Parecer n° 105 de 2025. 16 de julho de 2025. Relator: Jaques Wagner.
fevereiro de cada ano. Além disso, revogou-se por completo o prazo final estabelecido para quitação do passivo judicial acumulado, fixado, até então, para dezembro de 2029 pela EC 109/2021.
Por último, a Emenda altera significativamente a política de acordos diretos com deságio junto às respectivas Entidades devedoras. Até então, a EC 114/2021 limitava o desconto sobre créditos submetidos a acordo direto em até 40% de seu valor, vide art. 107A, § 3°, da ADCT. A EC 136/2025, todavia, através do novo § 29 do art. 100 da Constituição, extingue o limite de deságio sobre os créditos, viabilizando a imposição de descontos cada vez maiores por parte dos Entes devedores.
Precedentes Constitucionais sobre Precatórios
Tendo em vista que a ADI 7873, está em fase inicial de tramitação, o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou acerca dos argumentos apresentados pelo requerente, contestando a constitucionalidade das alterações promovidas pela EC 136/2025. No entanto, há de se ressaltar que a Corte formou entendimentos relevantes sobre mecanismos semelhantes, senão idênticos, aos ora em análise.
Dentre as ações de maior relevância no âmbito dos elementos que envolvem a controvérsia acerca do regime de pagamento de precatórios, destacam-se as ADIs 2356, 4357, 7047 e 7064. Nesse contexto, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de medidas que tenham por objetivo prolongar o pagamento de débitos judiciais ou visem a deterioração do valor real de precatórios em mora, violando direitos fundamentais à segurança jurídica, à propriedade e à igualdade de tratamento, bem como garantias constitucionais de tutela jurisdicional efetiva e coisa julgada.
Cumpre destacar, quando do julgamento da ADI 2356, a Suprema Corte, ao julgar a constitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional n° 30/2000, firmou o seguinte entendimento:
O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado2
O Supremo, em nova oportunidade, instado a julgar a constitucionalidade do teor da Emenda Constitucional n° 62/2009 através da ADI 4357, especificamente no tocante à devida correção dos créditos judiciais em mora, entendeu violado o direito de propriedade quando aplicado índice insuficiente, na medida em que não preserva o valor real do precatório não pago.
O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5°, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão 3
2 STF - ADI: 2356 DF, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 07/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 1408-2024, p. 2
3 STF - ADI: 4357 DF, Relator.: AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 14/03/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/09/2014
Nesse contexto, a Corte firmou entendimento, no âmbito da ADI 7047, sobre a legitimidade do uso da SELIC como índice balizador de atualização dos créditos.
A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade [...]. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata4
Logo, nota-se que o STF, em diversas oportunidades, reconheceu como inconstitucionais medidas que tenham por objetivo prorrogar indefinidamente o pagamento de débitos judiciais não pagos ou visem a deterioração do valor real de precatórios em mora, tais quais as recentemente implementadas da promulgação da EC 136/2025.
Comentários ao teor da EC 136/2025
A Emenda Constitucional 136/2025 reestrutura mecanismos legais instituídos visando a prorrogação indefinida quanto ao pagamento de precatórios em mora, da mesma forma que institui alterações normativas que obstam o devido cumprimento de condenações judiciais de natureza pecuniária, acar-
4 STF - ADI: 7047 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023
retando graves violações de direitos e garantias fundamentais, constituindo verdadeiro retrocesso institucional, repetindo fórmulas legislativas já declaradas inconstitucionais pelo STF.
Nessa linha, a limitação escalonada no percentual de recursos destinados ao pagamento de precatórios em atraso, nos termos dos novos §§ 23 e 24 do art. 100 da Constituição, se revela medida absolutamente precária. Isso porque, o limite de 1% a 5% sobre a receita do respectivo Ente devedor, bem como eventual majoração de 0,5% sobre o mencionado percentual, a cada decênio, caso ainda haja mora nos pagamentos, não são suficientes para garantir o devido adimplemento da dívida.
Ao destinar recursos insuficientes ante o estoque acumulado, a EC 136/2025 viola diretamente o princípio da coisa julgada (CF, art. 5°, XXXVI), dado que esvazia de sentido e efetividade as decisões que dão ensejo aos precatórios, bem como obsta o pleno acesso e gozo dos valores de propriedade única dos credores judiciais.
Quando do julgamento da ADI 4357, o nobre Min. Ayres Britto, em seu voto, preceitua:
[...] sem que se garanta ao particular um meio eficaz de reparação às lesões de seus direitos, notadamente àquelas perpetradas pelo Estado, o princípio em tela não passa de letra morta. E também é óbvio que por meio eficaz há de se entender a prolação e execução de sentença judicial, mediante um devido e célere processo legal 5
Sobre isso, no ensejo da referida ação, a Suprema Corte formou entendimento no sentido de declarar inconstitucional a dilação temporal excessiva e a perpetuação do parcelamento dos precatórios,
5 STF - ADI: 4357 DF, Relator.: AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 14/03/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/09/2014, p. 26
configurando verdadeiro “calote” por parte do Poder Público. Cumpre destacar que o precatório não se constitui como faculdade da Administração, mas sim uma obrigação constitucional de cumprimento de decisões transitadas em julgado.
Não bastando a demora excessiva no recebimento dos pagamentos, a Emenda promove flagrante confisco de valores de titularidade única e exclusiva dos credores judiciais, dado que substitui a SELIC pelo IPCA como índice de correção. O fundamento da alteração promovida, de fato, ao contrário do afirmado no mencionado parecer de relatoria do Senador Jaques Wagner, se resume à conveniência do Poder Público em definir critério mais favorável para si, acarretando a perda do valor real dos precatórios, restando aos credores arcarem com a desvalorização artificial de seu crédito.
Nessa lógica, como única via de recebimento, os credores acabam por renunciar à parcela significativa dos respectivos créditos ao submetê-los a acordos diretos junto às Entidades devedoras. Ocorre que, pela regra vigente até então, os deságios estariam limitados a 40% do valor do crédito. Nos termos do novo § 29 do art. 100 da Constituição, a nova lei deixa de fixar percentual máximo de desconto sobre o crédito, possibilitando a imposição de reduções ilimitadas sobre os precatórios submetidos a acordo direto, promovendo violação direta ao direito de propriedade (CF, art. 5°, XXII) dos credores judiciais. Além disso, cumpre ressaltar as considerações feitas por parte do Comitê Nacional de Precatórios (FONAPREC), órgão do CNJ, o qual levanta pontos relevantes a fim de avaliar a viabilidade do novo regime de acordos diretos.
O acordo direto, conforme previsto na proposta, não deixa claros, entre outros pontos: quais serão suas fontes de custeio (pois não há repasses mensais no atu -
al regime geral e tampouco no novo regime criado pela PEC n. 66/23); se haverá ou não necessidade de legislação regulamentadora por parte do ente público devedor; as razões de ter de se aguardar até o exercício financeiro posterior se o credor já ofereceu deságio; qual o percentual máximo de deságio, entre outros 6
Dessa forma, as alterações decorrentes da nova emenda padecem de plena inconstitucionalidade ao violar direitos fundamentais à propriedade, à coisa julgada e à efetiva tutela jurisdicional (CF. art. 5° XXXV). Ainda, tem-se violado o princípio da isonomia, na medida em que a emenda confere tratamento desigual entre o Ente devedor e o credor, porquanto aquele permanece inerte ante à condenação e obrigação de pagar, bem como o princípio da separação de poderes, dado que se esvazia a função jurisdicional ao condicionar o cumprimento de decisões à conveniência fiscal do Executivo.
Nesse contexto, a ADI 7843 enfrenta diretamente tais questões, expondo a clara tentativa de prorrogar indefinidamente o pagamento de precatórios, assim como implementar medidas que violam a propriedade dos respectivos credores e dificultam o devido e eficaz cumprimento de decisões judiciais. Em fase inicial de tramitação, sob relatoria do Min. Luiz Fux, a ação inaugura nova tentativa de barrar o abuso de prerrogativas conferidas às funções Legislativa e Executiva, visando a suspensão de quaisquer alterações legislativas que violem direitos e garantis fundamentais.
Diante desse cenário, é razoável esperar que o Supremo Tribunal Federal, em linha com a sua jurisprudência, reconheça a inconstitucionalidade da EC 136/2025 no julgamento da ADI 7873, reafirmando a 6 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Ofício n° 10/2025/FONAPREC – Comitê Nacional de Precatórios. Encaminhado ao Presidente do CNJ em 15 ago. 2025, subscrito por seus membros, contendo considerações técnicas sobre a PEC n° 66/2023, p. 9
centralidade do Estado de Direito e a vedação ao retrocesso em matéria de direitos fundamentais.
9

Diogenes Nielsen Júnior
Advogado. Perito Judicial. Comendador. Licenciado em Direito, Administração de Empresas e Pedagogia. Pós-Graduado em Administração. Mestre em Educação pela UNICAMP. Professor Adjunto e Coordenador de Graduação e Pós-Graduação - Universidade Paulista, de 2003 a 2015. Professor de Ensino Médio e Técnico, Coordenador de Gestão, Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola Técnica, Coordenador de Projetos da Unidade de Recursos Humanos e Unidade Processante – Núcleo Regional Administrativo Campinas Norte, do Centro Paula Souza, desde 1984. A partir de 2025 responde pela Superintendência de Auditoria do Centro Paulo Souza. Membro Regional da Comissão de Direito Constitucional da OAB/SP, seccional São Paulo. Organizador de livros na área jurídica.
Objeto
Ocupantes ilegais, invasores de propriedades privadas rurais e urbanas e aplicação de sanções no âmbito estadual.
Resumo do caso
Trata-se da Lei n° 12.430/2024, do Estado do Mato Grosso, que impunha sanções às pessoas que ocupassem ilegalmente propriedades privadas rurais e urbanas do Estado. A norma previa que invasores, comprovadamente ilegais, ficariam proibidos de re -
ceber benefícios de programas sociais estaduais, de tomar posse em cargos públicos de confiança e de contratar com o Poder Público estadual.
Entendimento fixado pelo STF
A tese foi no seguinte sentido: O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, invalidou a Lei n° 12.430/2024, considerando-a inconstitucional, por entender que ela invadia a competência privativa da União para legislar a respeito de direito penal (art. 22, I da Constituição) e normas gerais de licitação e contratação pública (art. 22, XXVII). Segundo o rela-
tor, ministro Flávio Dino, a norma criava uma espécie de “direito penal estadual”, o que poderia gerar grave insegurança jurídica e abrir precedentes para legislações semelhantes em outros Estados.
Os principais argumentos do ministro Flávio Dino, relator da ADI 7.715/MT, foram incisivos e juridicamente bem fundamentados, destacando que a Lei n° 12.430/2024 de Mato Grosso ampliava sanções já previstas no Código Penal, como violação de domicílio e esbulho possessório, configurando uma tentativa de criação de um “direito penal estadual”, o que é vedado pela Constituição Federal, que reserva à União a competência exclusiva para legislar sobre matéria penal. O relator alertou para o grave risco de insegurança jurídica caso estados passem a editar normas penais próprias, o que poderia gerar uma multiplicação de legislações estaduais conflitantes, comprometendo a uniformidade do sistema jurídico nacional. Ao proibir que invasores contratassem com o poder público estadual, a lei também invadia a competência da União para editar normas gerais sobre licitação e contratação pública, conforme o art. 22, XXVII da Constituição. Ressaltou o risco de dano irreparável à população vulnerável, que poderia ser privada de benefícios sociais essenciais, mesmo sem condenação judicial definitiva.
Esses argumentos foram acolhidos por unanimidade pelo STF, que julgou a lei inconstitucional. Tal decisão teve implicações jurídicas e políticas bastante relevantes, especialmente no contexto da relação entre estados e União. Em apertada síntese, o STF reforçou que apenas a União pode legislar sobre direito penal e normas gerais de licitação. Isso impede que estados criem sanções penais ou restrições administrativas que extrapolem o que já está previsto em leis federais. A decisão protege o acesso de cidadãos a benefícios sociais, cargos públicos e contratos com o Estado, evitando punições sem jul -
gamento ou condenação. Evita que pessoas em situação de vulnerabilidade sejam punidas por meio de sanções administrativas disfarçadas de penalidades. A decisão cria um precedente vinculante: outros estados não podem editar leis semelhantes que criem sanções penais ou administrativas fora da competência constitucional. Isso pode levar à revisão de legislações estaduais que tentem punir ocupações ou invasões de forma autônoma. O STF reafirmou os limites da autonomia estadual, preservando a estrutura federativa e evitando a fragmentação do ordenamento jurídico nacional.
A presente ADI reafirma os limites da competência legislativa dos Estados, protegendo a estrutura federativa. A decisão caracteriza-se como um freio, em potencial, a iniciativas legislativas punitivistas que, sob o pretexto de proteger a propriedade privada, poderiam violar direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. Estados não podem criar sanções sem o devido processo legal. Tal norma poderia atingir movimentos sociais e populações em situação de vulnerabilidade, como trabalhadores sem-terra ou moradores de ocupações urbanas. A exclusão dessas pessoas de benefícios sociais e da possibilidade de contratação com o Estado poderia ser considerada discriminatória e desproporcional.
A decisão da ADI 7.715/MT, deve ser vista e interpretada como um precedente importante para barrar outras leis estaduais que tentem legislar a respeito de temas reservados à União. Isso fortalece a segurança jurídica e evita que Estados adotem medidas populistas ou ideológicas que comprometam direitos garantidos pela Constituição.

Josafá Marques da Silva Ramos
Advogado sócio do escritório Marques Ramos. Professor de Direito do UNIFIEO e da UNIAN. Mestre em Direitos Fundamentais (UNIFIEO). Especialista em Direito Constitucional (FDDJ). Especialista em Direito Eleitoral (PUC/ MG). Especialista em Direito e Processo Penal (MACKENZIE). Graduado em Direito (UNIFIEO). Graduado em Teologia (BATISTA). Membro efetivo da Comissão de Direito Constitucional da Seccional OAB/SP. Coordenador da Escola Superior da Advocacia da OAB/SP - 117a. Subseção - Barueri.
Objeto
Prática da vaquejada: hipótese de manifestação cultural.
Resumo do caso
A Construção Legislativa da EC 96/2017: Uma Cronologia de Reações e o Efeito
Backlash
A trajetória da vaquejada no ordenamento jurídico pátrio é marcada por uma evolução legislativa e judicial que culminou na Emenda Constitucional n° 96/2017. Para compreender plenamente a decisão do STF na ADI n° 5.728/DF, faz-se imperioso retroceder aos eventos que a precederam.
Inicialmente, a prática da vaquejada foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 4.983/ CE, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra a Lei Estadual n° 15.299/2013 do Ceará. Em 6 de outubro de 2016, o STF, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, declarou a referida lei cearense inconstitucional. A Suprema Corte concluiu que a vaquejada, em sua essência e na forma como era praticada, expunha os animais a tratamento cruel, infringindo diretamente o artigo 225, § 1°, inciso VII, da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de proteger a fauna, vedando as práticas que submetam os animais à crueldade.
A repercussão dessa decisão judicial foi imediata e intensa no cenário político. O julgamento da ADI
4.983/CE gerou o que se convencionou chamar de efeito backlash ou reação legislativa, um movimento do Poder Legislativo em resposta a uma decisão judicial que é percebida como restritiva ou contrária a determinados interesses sociais ou políticos. Nesse contexto, menos de duas semanas após o julgado, em 19 de outubro de 2016, o Senado Federal acolheu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 50, de 2016, iniciativa do Senador Otto Alencar, com o propósito explícito de criar um novo fundamento constitucional que viabilizasse a continuidade da vaquejada. Paralelamente, em 29 de novembro de 2016, a Lei n° 13.364/2016 foi promulgada, elevando a vaquejada, o rodeio e suas expressões artístico-culturais à condição de manifestações da cultura nacional e patrimônio cultural imaterial.
A articulação política se concretizou em 6 de junho de 2017, com a promulgação da Emenda Constitucional n° 96/2017. Esta emenda acrescentou o § 7° ao artigo 225 da Carta Magna, estatuindo que práticas desportivas que utilizem animais não seriam consideradas cruéis se fossem manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial do patrimônio cultural brasileiro, desde que regulamentadas por lei específica que assegurasse o bem-estar dos animais envolvidos. A posterior Lei n° 13.873/2019 viria, inclusive, a aprimorar as determinações relativas aos cuidados com os animais no âmbito dessas práticas.
Entendimento fixado pelo STF
O Julgamento da ADI 5.728/DF: A Conciliação de Valores sob a Ponderação de Princípios
No âmbito da ADI n° 5.728/DF, ajuizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a questão central residia em determinar se a EC 96/2017 violava princípios pétreos da Constituição Federal, nota-
damente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a vedação à crueldade contra animais.
O Ministro Dias Toffoli, em seu voto condutor, optou pela improcedência dos pedidos, confirmando a constitucionalidade da Emenda Constitucional n° 96/2017 e das leis que regulamentam a vaquejada.
A argumentação do Relator se assentou em pilares fundamentais do direito constitucional:
a) A Teoria dos Diálogos Institucionais: O Ministro Dias Toffoli salientou que as decisões do STF não representam uma palavra final e imutável, mas sim uma “última palavra provisória”. Nesse sentido, o Poder Legislativo possui a legitimidade para, através de uma emenda constitucional, promover uma “reação legislativa” a decisões anteriores do Judiciário. Essa interação entre Poderes, segundo a perspectiva adotada, configura um diálogo institucional salutar, desde que respeitados os limites constitucionais, especialmente as cláusulas pétreas.
b) Princípio da Ponderação de Princípios e a Mínima Restrição: Ao lidar com o aparente conflito entre o direito cultural e a proteção animal, o STF aplicou o princípio da ponderação de princípios. Esse princípio busca otimizar a efetividade de direitos fundamentais em situações de colisão, de modo a garantir a máxima efetividade possível de cada um deles, mas com a mínima restrição necessária. Para o Ministro, a EC 96/2017 não se destinou a abolir o direito ao meio ambiente equilibrado ou a vedação à crueldade animal. Pelo contrário, ao exigir que as práticas culturais com animais sejam regulamentadas por lei específica para assegurar o bem-estar dos animais, buscou uma compatibilização desses valores. A Emenda, de fato, condiciona a permissão da vaquejada à regulamentação que evite os maus-tratos, demonstrando a intenção de não restringir excessivamente a proteção animal enquanto se permite a expressão cultural.
c) Diferenciação da Vaquejada de Outras Práticas: Foi crucial para a tese vencedora a distinção da vaquejada de outras práticas já vetadas pelo STF, como a “farra do boi” e a “briga de galos”. O Relator enfatizou que, com a adoção de regulamentos específicos e medidas protetivas, como o uso de protetor de cauda e a disposição de areia na pista, a vaquejada poderia ser praticada sem configurar o tratamento cruel que motivou a decisão anterior.
A decisão do Plenário do STF, que por unanimidade acompanhou o voto do Relator, reforça a constitucionalidade da EC 96/2017. E, é digno de nota, contudo, que Ministros como Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, embora concordando com a improcedência, manifestaram ressalvas. Tais ressalvas, ora sobre a análise das leis infraconstitucionais, ora sobre a extensão da “reação legislativa” ou a interpretação do bem-estar animal, adicionam camadas de complexidade à compreensão do julgado, denotando a riqueza do debate jurídico que cerca a matéria.
Comentários do autor
O Diálogo entre Proteção e Expressão
A análise da ADI n° 5.728/DF revela a contínua busca do Poder Judiciário brasileiro por uma síntese entre a proteção da vida e a valorização das manifestações culturais. A decisão não apenas validou a Emenda Constitucional n° 96/2017, mas também estabeleceu um importante precedente sobre a capacidade do Legislativo de reagir a decisões judiciais por meio de reformas constitucionais, desde que observados os limites materiais ao poder de emenda.
Este julgado ecoa debates teóricos sobre as diferentes cosmovisões na proteção de animais e da natureza. Como apontado por Fábio Corrêa Souza de Oliveira (2013), a tensão entre a proteção individual do animal senciente e a preservação do coletivo
(ecossistemas ou espécies) é um desafio constante. O acórdão aqui analisado, ao exigir a regulamentação para o bem-estar animal em práticas culturais, parece alinhar-se a uma postura pragmática, buscando conciliar a manifestação cultural com a mitigação do sofrimento, sem necessariamente coadunar com a proibição absoluta de instrumentalização animal em nome de direitos individuais. A Corte optou por uma solução que, embora reconheça a vaquejada como cultura, impõe a ela o ônus de provar que não incorre em crueldade, através de mecanismos de proteção que permitam a coexistência entre o direito de expressão cultural e o dever de zelar pela fauna.

Coordenador e Professor da pós-graduação lato sensu EAD em direito da Universidade de Araraquara; Coordenador da Escola Superior da Advocacia – Núcleo Regional da OAB de Araraquara; Professor de prática jurídica e estágio supervisionado em direito da Universidade de Araraquara; Autor de livros e artigos jurídicos; Advogado e Membro Efetivo da Comissão Estadual de Direito Constitucional da OAB do Estado de São Paulo.
Objeto
Preferência de pagamento a honorários advocatícios em relação a créditos tributários.
Resumo do caso
O recurso visava basicamente reconhecer a constitucionalidade do parágrafo 14 do artigo 85 do código de processo civil1 sustentando a não invasão da esfera de competência do legislador complemen -
1 “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial” (BRASIL. Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm acesso em 02 set/25).

tar quanto à referência dos honorários advocatícios (contratual, arbitrado e sucumbencial) em relação ao crédito tributário, tendo em vista o disciplinamento da matéria à luz do artigo 186 do código tributário nacional2
O tribunal reconheceu que o estatuto da advocacia3 estabelece que os honorários advocatícios contratuais, arbitrados ou sucumbenciais possuem natureza autônoma e alimentar, qualificando-se a advocacia
2 “Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho” (BRASIL. Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, 1966. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ l5172compilado.htm, acesso em 02 sete/25).
3 BRASIL. Lei n° 8.906, de 04 de julho de 1994, 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm acesso em 02 set/25.
como trabalho ou profissão. Reconheceu ainda que o artigo 186 do código tributário nacional já assegura aos honorários advocatícios, contratuais, arbitrados ou sucumbenciais, a preferência em relação aos créditos tributários, sendo certo que a Lei n° 8.906/94, a qual disciplina o trabalho dos advogados, se enquadra no conceito de legislação do trabalho para tal fim. Portanto, realmente, o legislador ordinário, ao editar o parágrafo 14 do artigo 85 do código de processo civil, não invadiu a esfera de competência do legislador complementar quanto à preferência dos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário.
Por fim, reconheceu que, ainda que se diga que o artigo 186 não comporta aquela compreensão, verifica-se que a expressão “decorrentes da legislação do trabalho” se enquadra no conceito de norma geral, podendo o legislador ordinário federal, dentro de seu poder de conformação e considerando as particularidades da advocacia, bem como a natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios, enquadrar tais honorários no conceito de créditos decorrentes da legislação do trabalho.
O julgamento não foi por unanimidade e os ministros do Supremo Tribunal Federal divergiram sobre a matéria discutida.
O voto do relator do recurso extraordinário, ministro Dias Toffoli dava provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a preferência aos honorários contratuais em relação ao crédito tributário e propunha a fixação da tese (tema n° 1.220 da repercussão geral) “é formalmente constitucional o parágrafo 14 do artigo 85 do código de processo civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando o teor do artigo 186 do código tributário nacional” (STF:2025, p. 85).
Todavia, após a leitura do voto do relator, o ministro Gilmar Mendes solicitou vistas dos autos e proferiu voto-vista que dava parcial provimento ao recurso extraordinário, para (i) conferir interpretação conforme à constituição federal ao parágrafo 14 do artigo 85 do código de processo civil, no sentido de reconhecer que a preferência dos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário deve observar o limite previsto no artigo 83, inciso I, da Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 até que sobrevenha legislação específica que fixe um teto para essa verba; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito das balizas para a preferência dos honorários advocatícios sobre o crédito tributário, de modo que, orientadas pelo princípio da proporcionalidade, observem um patamar razoável que assegure a verba alimentar do patrono no limite do que se considerar essencial à sua subsistência; (iii) propunha a modulação dos efeitos da decisão, a fim de reconhecer a inexigibilidade da devolução dos valores de honorários, contratuais e sucumbenciais, já levantados pelos advogados, ainda que com preferência em relação ao crédito tributário e (iv) sugeria a fixação da seguinte tese (tema 1.220 da repercussão geral) “é formalmente constitucional o parágrafo 14 do artigo 85 do código de processo civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do artigo 186 do código tributário nacional, desde que restrito ao limite previsto no artigo 83, inciso I, da Lei n° 11.101/2005, até que sobrevenha legislação específica que fixe um teto para essa verba” (STF:2025, p. 85-86).
Entendimento fixado pelo STF
Após o voto-vista do ministro Gilmar Mendes o tribunal por maioria apreciando o tema n° 1.220 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a preferência dos honorários
advocatícios contratuais em relação ao crédito tributário, e fixou a seguinte tese: “é formalmente constitucional o parágrafo 14 do artigo 85 do código de processo civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do artigo 186 do código tributário nacional” (STF:2025, p. 85-86) nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que davam parcial provimento ao recurso.
Comentários do autor
Acertada a nosso ver a decisão, eis que os honorários advocatícios esculpidos no estatuto da advocacia e com previsão expressa no parágrafo 14 do artigo 85 do código de processo civil devem prevalecer sobre os créditos tributários frente a lei de recuperação judicial, pois caracterizam-se como créditos trabalhistas, o que inclusive é amparado pelo artigo 186 do código tributário nacional.
Além disso, não deve sofrer nenhum limite (proporcionalidade), na medida em que a garantia da subsistência do trabalhador, que é feita através de salário, ou crédito decorrente de trabalho, se sobrepõe a qualquer outro crédito, inclusive de natureza tributária. Logo, em fase de uma recuperação judicial, o trabalhador, no sentido amplo da palavra, não pode sofrer prejuízo em seu sustento e de sua família frente ao poder de império do estado e à sua ânsia arrecadadora.
Em suma, perfeita a redação do tema n° 1.220 e o provimento do recurso extraordinário que reconheceu formalmente constitucional o parágrafo 14 do artigo 85 do código de processo civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando o teor do artigo 186 do código tribu -
tário nacional, sem qualquer critério de limite proporcional.
Ricardo Teixeira da Silva
Procurador Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo. Mestre em Ciência Política (USP). Doutor em Direito do Estado (USP).
Tassiane de Fátima Moraes
Procuradora Legislativa da Câmara Municipal de Laranjal Paulista. Mestre em Direito Administrativo pela PUC-SP. Foi integrante da Comissão de Direito Constitucional da OAB-SP.
Objeto
Processo legislativo: apresentação de emenda constitutiva e necessidade de retorno à Casa iniciadora.
Resumo do caso
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por meio da qual o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, afirma que a Lei n° 13.714/2018 padece de inconstitucionalidade formal. Isso porque o projeto de lei, originalmente aprovado na Câmara dos Deputados apenas com dispositivos relativos à identidade visual do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), foi alterado pelo Senado Federal com a

inclusão de emenda de mérito sobre acesso à saúde. Tal inovação, alegou-se, teria ampliado substancialmente o conteúdo da proposição. No entanto, em vez de retornar à Câmara dos Deputados, como exige o processo legislativo bicameral previsto nos artigos 65 e 66 da Constituição Federal, o texto foi encaminhado diretamente à sanção presidencial, suprimindo a manifestação da Casa iniciadora e, assim, violando o devido processo legislativo.
O Supremo Tribunal Federal reafirmou, no julgamento, a importância do devido processo legislativo bicameral como garantia essencial do Estado Democrático de Direito. Destacou que a inserção de emenda pela Casa Revisora que altere o mérito da
proposição legislativa exige, necessariamente, o retorno do projeto à Casa Iniciadora, sob pena de violação ao art. 65 da Constituição. Assim, o vício constatado não poderia ser convalidado pela sanção presidencial, pois comprometeu a integridade do processo legislativo e a própria legitimidade democrática da norma produzida.
No exame do caso concreto, verificou-se que a Câmara dos Deputados aprovou proposta restrita à padronização da identidade visual do SUAS, mas o Senado Federal introduziu emenda substancial, vinculando o acesso à saúde e à dispensação de medicamentos a indivíduos em situação de vulnerabilidade, inovação que ampliava significativamente o alcance da proposição original. Apesar disso, o projeto seguiu diretamente para a sanção presidencial, culminando na edição da Lei n° 13.714/2018, em flagrante afronta ao modelo bicameral previsto pela Constituição.
Diante dessa constatação, o Plenário do STF, por maioria, conheceu parcialmente da ação e a julgou procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei n° 13.714/2018. Contudo, optou-se por não pronunciar a nulidade imediata do dispositivo, estabelecendo sua vigência por mais 18 meses, prazo considerado adequado para que o Congresso Nacional reaprecie a matéria, agora de forma regular e constitucionalmente válida. Com isso, a Corte buscou conciliar a necessidade de respeito ao processo legislativo com a preservação da segurança jurídica e da continuidade de políticas públicas voltadas à proteção da população em situação de vulnerabilidade.
Entendimento fixado pelo STF
A tese fixada pelo STF foi no sentido de que: “É formalmente inconstitucional — por violação ao devido processo legislativo (CF/1988, art. 65) — disposi-
tivo oriundo de emenda proposta pela Casa revisora a projeto de lei (PL) que altera o conteúdo original da proposição, mas que não retornou à Casa iniciadora para sua confirmação”.
Comentários dos autores
A decisão do STF no bojo da ADI 6085 evidencia, na prática, um aspecto estruturante do bicameralismo brasileiro: a prevalência da Casa iniciadora, em regra a Câmara dos Deputados, sobre a revisora, o Senado Federal. Esse desenho foi se consolidando historicamente e se encontra hoje reforçado pela Constituição de 1988, que estabelece que, em caso de emendas no Senado, o projeto deve retornar à Câmara, sob pena de nulidade do processo legislativo.
O Supremo apenas reafirmou essa leitura ao considerar inconstitucional a sanção direta de uma proposição emendada, reconhecendo que o vício não poderia ser convalidado.
Um aspecto positivo deste modelo institucional reside no fato de assegurar à Câmara dos Deputados, composta por representantes eleitos proporcionalmente pelo povo, maior peso no processo decisório. Trata-se de um reflexo da concepção de que a “Casa do povo” deve prevalecer em situações de conflito, garantindo a correspondência mais imediata entre o Legislativo e a soberania popular. Esse desequilíbrio também evita impasses prolongados e permite maior celeridade na produção normativa, o que, em um país grande, populoso, complexo e politicamente fragmentado, pode ser visto como uma forma de assegurar eficiência institucional
Por outro lado, a prevalência sistemática da Câmara enfraquece a função revisora do Senado e compromete a lógica do bicameralismo, que pressupõe revisão e equilíbrio entre diferentes formas de representação.
O julgamento do STF confirma essa assimetria, mas enseja discussões sobre o risco de esvaziamento da representação federativa, o que pode gerar distorções na qualidade legislativa e na própria legitimidade das leis.


José Luiz Souza de Moraes
É Professor de Direito Administrativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Doutor e Mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e, Procurador do Estado de São Paulo, Presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo – APESP.
Objeto
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT): isenção do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pelas pessoas físicas e jurídicas aderentes.
Resumo do caso
O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu um importante julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.066/MG, que apontou a inconstitucionalidade de norma municipal que isentava o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pelas pessoas físicas e jurídicas aderentes ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT.
Entendimento fixado pelo STF
A tese foi no seguinte sentido: É inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF/1988, art. 22, I), norma municipal que isenta de pagamento de honorários de sucumbência os contribuintes que aderirem ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) e desistirem das ações judiciais que tratem dos débitos que são objeto do referido programa.
Na espécie, a norma municipal impugnada tem como consequência prática a renúncia, em benefício dos contribuintes, do pagamento dos honorários advocatícios que seriam devidos aos procuradores municipais. Ao dispor sobre honorários advocatícios, cuja matéria é típica de direito processual, ela invadiu a esfera de competência legislativa atribuída à União.
Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente a arguição para declarar a inconstitucionalidade do art. 6°, § 2° da Lei n° 4.542/2023 do Município de Ipatinga/MG, fixando efeitos prospectivos a fim de preservar os negócios jurídicos entabulados até a data da publicação da ata deste julgamento.
Comentários do autor
A questão da regularização tributária tem sido um tema recorrente no cenário jurídico-econômico brasileiro, visando à recuperação de créditos fiscais e à reestruturação financeira de contribuintes. Nesse contexto, programas como o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) foram instituídos para oferecer condições facilitadas de pagamento de débitos. Contudo, a adesão a tais programas frequentemente levanta discussões sobre a dispensa de encargos acessórios, como os honorários advocatícios de sucumbência.
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.066/MG, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, representou um novo marco na discussão sobre a competência legislativa para dispor sobre honorários advocatícios de sucumbência em programas de regularização tributária municipais, assunto já tratado no que tange a equivalente tratativa nos estados federados. O cerne da controvérsia residia em uma norma municipal do Município de Ipatinga/MG (art. 6°, § 2° da Lei n° 4.542/2023) que isentava os contribuintes que aderissem ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) do pagamento de honorários advocatícios.
O STF, por unanimidade, julgou procedente a arguição para declarar a inconstitucionalidade da referida norma municipal. O entendimento da Corte baseou-se na premissa de que a matéria relativa a honorários advocatícios é de direito processual, cuja com -
petência legislativa é privativa da União, conforme o artigo 22, I, da Constituição Federal. A norma municipal, ao dispor sobre honorários, invadiu a esfera de competência legislativa atribuída à União, configurando uma renúncia de receita em benefício dos contribuintes, em detrimento dos honorários devidos aos procuradores municipais.
Essa decisão reforça a importância da observância da repartição de competências legislativas e protege a autonomia da verba honorária, que possui natureza alimentar sui generis, e essencial para a subsistência da Advocacia Pública e, consequentemente, para a defesa do interesse público em juízo.
O Programa Especial de Regularização Tributária (PERT)
O Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) foi instituído pela Medida Provisória n° 783, de 2017, posteriormente convertida na Lei n° 13.496/2017, com o objetivo de permitir que pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, pudessem regularizar seus débitos tributários e não tributários vencidos até 30 de abril de 2017, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Como em outros programas de regularização de débitos tributários, o PERT ofereceu condições especiais para o parcelamento e a quitação de dívidas, incluindo reduções de multas e juros, com o intuito de estimular a arrecadação e regularizar a situação fiscal de contribuintes em dificuldades. A adesão ao programa exigia, entre outras condições, a desistência de ações judiciais ou recursos administrativos que tivessem por objeto os débitos a serem quitados, bem como a renúncia a quaisquer alegações de fato e de direito sobre as quais se fundamentassem as referidas ações.
Contudo, apesar de seu caráter de fomento à regularização fiscal, a discussão sobre a isenção de honorários advocatícios de sucumbência no âmbito do PERT, como visto na ADPF 1.066/MG, revela um ponto de tensão entre o interesse do contribuinte em aderir ao programa com o menor custo possível e a necessidade de preservação da remuneração dos advogados públicos, que atuam na defesa do erário. A isenção de honorários, embora possa parecer um incentivo adicional à adesão, impacta diretamente a autonomia e a valorização da advocacia pública, implicando em uma grave fragilidade ao interesse público.
A Natureza dos Honorários Advocatícios de Sucumbência e o Interesse Público
Os honorários públicos constituem uma parcela essencial da remuneração da Advocacia Pública, possuindo natureza jurídica própria e relevância constitucional. A sua preservação não é apenas um interesse corporativo, mas um imperativo ligado ao fortalecimento da função essencial à Justiça, à independência técnica dos procuradores e à eficiência na defesa do Estado e da sociedade.
Os honorários advocatícios de sucumbência, conforme estabelecido no Código de Processo Civil (CPC), constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar.
No contexto da Fazenda Pública, esses honorários são devidos aos advogados públicos que atuam na defesa dos interesses do Estado, seja na cobrança de tributos, na defesa em ações judiciais ou em outras demandas que envolvam o patrimônio público. A sua natureza jurídica e a destinação desses valores têm sido objeto de intensa discussão, mas a jurisprudência e a legislação têm consolidado o entendimento de que se trata de verba de caráter sui generis, mas com restrições de interesse público
como a limitação de seu pagamento ao teto constitucional dos Ministros do STF.
A jurisprudência consolidada, especialmente do STF e do STJ, reconhece que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, assim como salários e vencimentos. Tal natureza lhes confere proteção reforçada contra reduções arbitrárias e restrições desproporcionais. Apesar de compor a remuneração global, os honorários não se confundem com subsídios ou salários. Trata-se de verba resultante do exercício efetivo da atividade jurídica em favor do ente público, vinculada ao êxito em demandas judiciais.
Em razão disso, o Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), em seu art. 85, prevê que a fixação de honorários sucumbenciais como direito do advogado, incluindo os públicos, e que a verba não pode ser renunciada ou mitigada pelo julgador, salvo hipóteses expressamente previstas em lei.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores. Tal entendimento ficou consolidado na Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, a ADI 7.014, de relatoria do Ministro Edson Fachin, (DJe de 19 de dezembro de 2022)
A manutenção dos honorários advocatícios de sucumbência da Fazenda Pública é crucial por diversas razões que se alinham diretamente com o interesse público:
A Valorização da Advocacia Pública: A percepção de honorários de sucumbência é um reconhecimen -
to da importância do trabalho dos advogados públicos na defesa do patrimônio e dos interesses do Estado. Essa valorização atrai e retém talentos, garantindo a qualidade da representação jurídica dos entes federados. A advocacia pública desempenha um papel fundamental na arrecadação de receitas, na recuperação de ativos e na prevenção de perdas para o erário, o que beneficia toda a sociedade.
Estímulo à Eficiência e Produtividade: A vinculação dos honorários de sucumbência ao desempenho dos advogados públicos serve como um incentivo à eficiência e à produtividade. Ao terem sua remuneração parcialmente atrelada aos resultados de seu trabalho, os advogados são estimulados a buscar soluções mais eficazes para as demandas do Estado, o que se traduz em maior celeridade processual e em melhores resultados para a administração pública.
Além disso, a garantia de honorários de sucumbência contribui para maior independência técnica dos advogados públicos, permitindo que atuem com maior autonomia na defesa dos interesses do Estado, sem pressões indevidas. Essa independência é vital para a integridade do sistema jurídico e para a proteção do interesse público contra eventuais desmandos ou interesses particulares.
Em suma, a manutenção dos honorários advocatícios de sucumbência da Fazenda Pública não é apenas uma questão corporativa, mas um imperativo de interesse público, que visa fortalecer a advocacia pública, garantir a eficiência da administração da justiça e proteger o patrimônio do Estado em benefício de toda a coletividade.
Conclusão
A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 1.066/MG é de suma importância para a advocacia pública e para a defesa do interesse público. Ao declarar a inconstitucionalidade de norma municipal
que isentava o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em programas de regularização tributária, o STF reafirmou a competência privativa da União para legislar sobre direito processual e protegeu a natureza alimentar e a autonomia da verba honorária.
A manutenção dos honorários advocatícios de sucumbência da Fazenda Pública é um pilar fundamental para a valorização da advocacia pública, o estímulo à eficiência na defesa do erário e a garantia da independência técnica dos advogados que representam o Estado. A renúncia a esses valores, fragiliza a estrutura de defesa dos interesses da coletividade e a dignidade da advocacia pública, em benefício do interesse público maior.


Liliane Aparecida Sobreira Ferreira Fonseca
Mestranda em Direito pela PUC-SP, Pós-graduanda em Ciências Criminais e Segurança Pública pelo Instituto Rogério Greco; Pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Triade/IBDFAM; Pós-graduada em Direito Constitucional pela UNIFIA; Graduada em Direito, pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – (FMU).
Objeto
Reforma da Previdência: EC n° 103/2019 e aposentadoria de policiais civis e federais do sexo feminino.
Resumo do caso
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 7.727/DF, ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol), que questionou a uniformização da Reforma da Previdência, promovida pela Emenda Constitucional n.° 103/2019, posto que instituiu a uniformização dos critérios de aposentadoria de policiais civis e federais, fixando para homens e mulheres idade mínima de 55 anos, 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício em cargo policial. A alteração rompeu com a tradição
constitucional de diferenciação etária e contributiva em favor das mulheres, prevista desde 1988 como mecanismo de compensação diante das desigualdades estruturais no mercado de trabalho e na vida social.
Em decisão liminar de outubro de 2024, confirmada pelo Plenário em abril de 2025, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a expressão “para ambos os sexos”, restabelecendo o redutor de três anos para mulheres policiais.
Entendimento fixado pelo STF
O posicionamento adotado pelo STF na ADI 7727/ DF foi no seguinte sentido: a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 103/2019 no que se refere à uniformização dos critérios de aposentadoria
entre homens e mulheres policiais civis e federais. O Tribunal determinou a aplicação de um redutor de três anos na idade mínima para a aposentadoria das mulheres policiais, corrigindo a falta de diferenciação de gênero introduzida pela reforma previdenciária de 2019.
Comentários da autora
1. Igualdade substantiva: quatro dimensões
O julgamento recoloca em evidência a tensão entre igualdade formal – que exige tratamento uniforme – e igualdade substantiva – que reconhece desigualdades materiais e busca corrigi-las. Para analisar a decisão, foi utilizado o arcabouço de Sandra Fredman , que propõe quatro dimensões da igualdade substantiva, em diálogo com o conceito de interseccionalidade desenvolvido por Kimberlé Crenshaw e aprofundado no Brasil por Carla Akotirene.
Reparar desvantagens
A primeira dimensão exige neutralizar desvantagens históricas e sociais. No caso das mulheres policiais, a sobrecarga da dupla jornada, a maternidade e a sub-representação em cargos de comando configuram desigualdades reais. O redutor etário funciona como medida reparatória necessária, ainda que insuficiente.
Enfrentar estigmas e estereótipos
A segunda dimensão combate narrativas que naturalizam desigualdades. A EC 103/2019 pressupôs uma igualdade abstrata entre homens e mulheres, ignorando desigualdades estruturais. O STF, ao restaurar a diferenciação, rompeu com o mito da neutralidade normativa e reconheceu que a igualdade formal pode perpetuar exclusões.
Ampliar voz e participação
A terceira dimensão valoriza a voz de grupos marginalizados. A decisão da ADI 7.727, ao reconhecer especificidades de gênero, contribui para maior visibilidade das mulheres em corporações policiais, tradicionalmente masculinizadas. Contudo, a construção normativa ainda carece de mecanismos de participação efetiva dessas mulheres na formulação das políticas.
Acomodar diferenças e promover mudanças estruturais
A quarta dimensão ultrapassa medidas reparatórias, propondo a transformação institucional. O diferencial previdenciário, aqui, não é privilégio, mas estratégia constitucional de acomodação da diferença, coerente com a vedação ao retrocesso social e com compromissos internacionais como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW).
2. Interseccionalidade: desigualdades sobrepostas
A interseccionalidade evidencia que gênero não pode ser analisado isoladamente. Mulheres negras, periféricas, pobres, mães solos, lésbicas ou com deficiência enfrentam múltiplas camadas de subordinação. No campo policial, essas desigualdades se acentuam:
• Mulheres negras estão mais expostas a funções de risco e com menor progressão salarial.
• Mães solo acumulam maior descontinuidade contributiva.
• Mulheres LGBTQIAPN+ enfrentam violências institucionais adicionais.
A decisão do STF, embora avance ao reconhecer a desigualdade de gênero, permanece restrita ao bi -
narismo homem/mulher. Uma política previdenciária interseccional deveria prever créditos de cuidado, contagem diferenciada para funções de risco e mecanismos de compensação racial, evitando que a diferenciação se traduza em aposentadorias de menor valor.
A Convenção Americana de Direitos Humanos e o Protocolo de San Salvador asseguram a progressividade dos direitos sociais, vedando retrocessos. A CEDAW admite medidas especiais temporárias, mas alerta contra aposentadorias precoces compulsórias que reduzam a proteção futura das mulheres. Já a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em suas Convenções n.° 102 e 111, estabelece padrões mínimos de seguridade social e combate à discriminação.
No direito comparado, regimes policiais de países como EUA, Canadá, Chile, Argentina, Peru, Colômbia e Uruguai adotam predominantemente o critério de tempo de serviço, sem diferenciação de gênero. Nos regimes gerais, persistem idades diferenciadas, mas cresce o uso de créditos de cuidado (como no Uruguai e na Colômbia) como forma mais sofisticada de alcançar a igualdade substantiva. Conclusão
A ADI 7.727 representa um avanço ao reafirmar a igualdade substantiva como parâmetro constitucional no Brasil. Contudo, permanece limitada se não incorporada a uma perspectiva interseccional.
A verdadeira justiça previdenciária exige medidas transformadoras: políticas que reconheçam diferenças concretas sem cair em paternalismo, que protejam as mulheres sem reduzir sua renda futura, e que considerem simultaneamente os marcadores de gênero, raça, classe e sexualidade.
Em síntese, a decisão do STF foi necessária, mas não suficiente. A construção de uma previdência justa requer um olhar interseccional, capaz de garantir não apenas o direito de se aposentar antes, mas o direito de se aposentar melhor.

Mirian Gomes
Advogada, doutoranda em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora Grupo de Pesquisa CNPq “Cidadania, Constituição e Estado Democrático de Direito”.
Maria Fernanda Gomes Azambuja
Graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro do Grupo de Estudos da PUC/ SP - Liga de Direitos Humanos Internacionais.
Objeto
Regulamentação da assistência aos herdeiros e dependentes carentes de vítimas de crimes dolosos.
Resumo do caso
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão em que se alega haver omissão inconstitucional do Congresso Nacional quanto à regulamentação da matéria prevista no art. 245 da Constituição Federal, o que configuraria mora inconstitucional e tornaria inviável o exercício do direito à assistência social pelos herdeiros e dependentes carentes de vítimas de crimes dolosos, com ofensa à dignidade humana e violação do dever do Estado de combater
a pobreza e as desigualdades sociais, de proteger a família e de assegurar o mínimo existencial aos hipossuficientes.
A questão em discussão consiste em saber se existe omissão inconstitucional do Congresso Nacional quanto à regulamentação da matéria prevista no art. 245 da Constituição da República de 1988, pelo qual se determina que lei disporá sobre as hipóteses e as condições em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito.
Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que julgava improcedente o pedido formulado na ação di -
reta de inconstitucionalidade por omissão, pediu vista dos autos o Ministro Flávio Dino. Falaram: pelo interessado, o Dr. Mateus Fernandes Vilela Lima, Advogado do Senado Federal; pelo amicus curiae Instituto Brasileiro De Direito de Família – IBDFAM, o Dr. Jones Figueirêdo Alves. Afirmou suspeição o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 13.6.2025 a 24.6.2025. Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, vencidos os Ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia. Afirmou suspeição o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 8.8.2025 a 18.8.2025.
Entendimento fixado pelo STF
O STF conheceu da ação e julgou improcedente o pedido de reconhecimento de omissão inconstitucional quanto ao art. 245 da CF/88. Concluindo, portanto, que não se caracteriza omissão inconstitucional do Congresso Nacional quanto à regulamentação do art. 245 da Constituição Federal. O art. 245 não impõe a criação de benefício pecuniário específico; cabe ao legislador, no âmbito de sua liberdade de conformação, definir as formas de assistência às vítimas de crime e a seus familiares. A assistência e o combate à pobreza são de competência material comum dos entes federados, e o panorama normativo revela ausência de inércia deliberativa. Pedido julgado improcedente.
Comentários das autoras
Da decisão do STF, podemos destacar os seguintes pontos como causa de decidir: (i) Liberdade de conformação do legislador: o art. 245 da CF/88 não impõe necessariamente a criação de benefício pecuniário ou prestação material específica; compete ao legislador escolher as formas de assistência; (ii) Implementação gradual de direitos sociais: políti -
cas públicas sociais e econômicas são complexas, demandam recursos limitados e priorização progressiva, o que afasta a configuração automática de omissão; (iii) Competência material comum: União, Estados, DF e Municípios compartilham o dever de prestar assistência pública e combater a pobreza e a marginalização (interpretação sistemática dos arts. 23, 24 e 30 da CF); (iv) Ausência de inércia deliberativa: o panorama normativo indica esforços em curso nas várias esferas federativas, não havendo, no momento do julgamento, omissão inconstitucional; (v) Dignidade da pessoa humana e mínimo existencial: reconhecidos como valores orientadores, sem que disso decorra imposição de formato específico (p. ex., benefício pecuniário obrigatório) para cumprir o art. 245.
Todavia, o art. 245, C.F., que “a lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso”, ou seja, o comando legal completa 37 anos sem efetivo cumprimento. Em seu voto, o relator Ministro Dias Toffoli justifica a existência de “inúmeros projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional objetivando regular as hipóteses e condições nas quais o Poder Público deverá prestar assistência às vítimas de crimes, ou a seus herdeiros e dependentes carentes.”. Projetos estes, que adiante enumera, datam de 2002 (o mais antigo) e 2019 (o mais recente), ratificando décadas de inércia do legislativo na regulamentação da matéria prevista no art. 245 da CF, afinal, a simples elaboração de dezenas de projetos não supre a exigência legal, ao contrário, só reforça a atuação ineficiente da casa legislativa e qualifica a mora como grave e institucionalmente relevante. Neste sentido, destaco o voto vencido do Ministro Flávio Dino, seguido pela Ministra Carmen Lúcia: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o decurso excessivo de lapso temporal, sem que o legislador dê cumprimento a ine -
quívoco dever constitucional de legislar, configura a mora, independentemente da existência de projetos de lei em trâmite, bastando que se verifique inércia do legislador em discutir e aprovar a matéria.”
Na mesma linha, eventuais programas esparsos (federais, estaduais ou municipais), não suprem a exigência constitucional de uma lei nacional que uniformize critérios, defina beneficiários, requisitos, procedimentos, fontes e mecanismos de financiamento, além de garantir segurança jurídica e previsibilidade.
Ou seja, com respeito à decisão contrária do Ministro Relator, o lapso temporal per si configura a inércia do legislativo no atendimento ao artigo 245 da CF. Assim, a improcedência da ADO 62 garantiu mais alguns anos de proposições sem efetividade, mantendo a situação de vulnerabilidade social para os herdeiros e dependentes de vítimas de crimes dolosos.

Renato Cassio Soares de Barros
Pós-doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco. Doutor e Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, com ênfase na formação jurídica e no ensino do Direito do Trabalho. Especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de São Carlos. Pesquisador no Grupo de Pesquisa “Educação Jurídica e Direito à Educação no Brasil”, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, pesquisador no Grupo de Pesquisa Proteção do Trabalhador e Promoção das Relações de Trabalho, da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco. Integrante do “Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo do Trabalho e da Seguridade Social”, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP. Presidente da 30.ª Subseção da OAB/SP, São Carlos, nos triênios 2016/2018 e 2022/2024. Membro do Conselho Curador da Escola Superior de Advocacia da OAB/SP, nos triênios 2022/2024 e 2025/2027. Vice-presidente da Comissão de Relacionamento da OAB/SP com o TRT da 15.ª Região, no triênio 2022/2024. Membro da Comissão da Advocacia Trabalhista, triênio 2025/2027. Professor de Direito no Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Professor da Escola da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista (ABRAT). Advogado. https://orcid.org/0000-0002-0679-2585 Lattes:1897557744040137. E-mail: recas.adv@gmail.com
Objeto
Regulamentação da participação dos trabalhadores na gestão da empresa.

Resumo do caso
A Constituição Federal, no artigo 7.°, inciso XI, positiva que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social; (...) participação nos lucros, ou resul-
tados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”. A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa é regulada pela Lei n.° 10.101, de 19/12/2000, que, no artigo 1.°, em interpretação legislativa da primeira parte do referido inciso, positiva ser “a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade”. Pelo artigo 2.° dessa Lei, a participação nos lucros ou resultado depende de comum acordo, através de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão paritária escolhida pelas partes, integrada por um representante indicado pelo sindicato da categoria, ou por convenção ou acordo coletivo. É um direito limitado ao comum acordo das partes.
No que se refere à “participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”, depara-se com uma norma constitucional de eficácia limitada e aplicabilidade diferida que, pela omissão legislativa, após 35 anos da promulgação da Constituição Federal, em 14/12/2023, a Procuradora-Geral da República exerceu o direito de ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional, na definição do direito à participação do trabalhador na gestão da empresa. Processo Eletrônico 009154817.2023.1.00.0000, ADO 85.
Entendimento fixado pelo STF
O Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua competência, julgou pela procedência do pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e, por unanimidade, reconheceu-se a mora legislativa do Congresso Nacional quanto à regulamentação do artigo 7.°, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, especificamente no ponto em que se prevê a participação excepcional dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão da empresa. Para a
superação da omissão, a Corte Suprema fixou prazo de vinte e quatro meses, contados da publicação da ata do julgamento, a fim de que sejam adotadas as medidas legislativas necessárias ao cumprimento da exigência constitucional. A decisão seguiu integralmente os fundamentos expostos no voto do Relator, o Ministro Gilmar Mendes, com ata de julgamento publicada em 20/02/2025 e decisão com trânsito em julgado em 01/03/2025.
Comentários do autor
A omissão legislativa reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é reflexo da própria lógica estrutural que rege as relações de trabalho. A participação dos trabalhadores na gestão da empresa, prevista no art. 7°, XI, da Constituição de 1988, representa uma ruptura com a tradição de produção centrada no capital, ao propor mecanismos de democratização das relações produtivas. A ausência de regulamentação, que perdura há mais de três décadas, revela a resistência na conjugação dos interesses que envolvem o capital e o trabalho.
É fato que a norma jurídica estampa a vontade do grupo político que ocupa o Poder, como regra, o Poder Legislativo. No campo da legislação trabalhista e do direito, há discursos fundamentados no conceito de que o Direito do Trabalho é um empecilho para o crescimento, um fator impeditivo para o desenvolvimento do capital; há, porém, outros discursos que revelam a esperança no Direito do Trabalho para a melhora na condição de vida da classe trabalhadora, efetivação da justiça social e emancipação do homem. A análise da realidade social demonstra a extrema importância do Direito Constitucional do Trabalho, ainda que se reconheça que o Direito é instrumento de preservação de determinado modelo de sociedade e que conserva, ou pode conservar, as
desigualdades sociais, econômicas e política (Barros, 2021)1
A visão científica e jurídica permite grafar que as relações sociais e econômicas exerceram papel determinante na conformação e na especificidade do Direito. O Direito surgiu das relações materiais de existência, das relações sociais, como produto histórico resultante das dinâmicas de poder, das necessidades de regulação das trocas econômicas e da institucionalização de formas de convívio e dominação social. Sustentado nessas relações e destinado a elas o Estado se organiza enquanto aparato institucional, assumindo a função de disciplinar e regular uma pluralidade de comportamentos, atos e relações. A normatividade jurídica é instrumento de ordenação e de estabilização das relações sociais, assegurando a reprodução das condições econômicas e políticas do modelo de sociedade capitalista, ao mesmo tempo em que estabelece os parâmetros de convivência e de juridicidade na sociedade.
Partindo essa premissa, em tese, é possível considerar que a omissão legislativa é a manifestação da vontade de “parte” do Estado de manter a sociedade da forma como está, perpetuando a desigualdade social, com a ausência do empregado na gestão da empresa, fruto da lógica do modelo de sociedade contemporânea (Barros, 2021).
Conjugar os interesses do capital, de gestão individualizada da propriedade, com o interesse social, de participação do empregado na gestão da empresa, efetiva o desejo constitucional de democratização do ambiente de trabalho. É inegável que essa realidade impõe valoração conjunta de direitos fundamentais, quando se refere à liberdade do empregador, ao direito da propriedade privada, à função social da propriedade privada, à participação do em -
1 BARROS, Renato Cassio Soares de. Direito do Trabalho: formação jurídica e a lógica do capital. 1.ed. Jundiaí, SP, Paco, 2021.
pregado na gestão da empresa, aos valores sociais do trabalho para a existência digna e à função social da propriedade.
No contexto constitucional, se apropriando das lições de Alexy 2 , é possível invocar a necessidade de conjugação da norma dos artigos 1.°, inciso, IV, 3.° inciso, III, 5.°, caput,incisos XXII e XXIII e 170, caput, incisos II, II, VII e VIII, da Constituição Federal, com um poder-dever do Legislativo de concretização da norma, no que se refere à participação do empregado urbano e rural na gestão da empresa, no qual a autoridade competente, orientada por princípios constitucionais e pela teleologia do sistema jurídico, apresentará a previsão legal, pautada no reconhecimento dos valores sociais do trabalho, da erradicação da pobreza, da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, na valorização do trabalho humano para assegurar a todos existência digna e na função social da propriedade privada.
Ao impor prazo de vinte e quatro meses para a superação da omissão, o STF sinaliza para a necessidade de repensar o papel do legislador na concretização da democracia participativa, entendida não apenas como participação política, mas como inclusão do trabalhador na esfera decisória da produção, que garante condição material e intelectual de vida. A medida toca diretamente no ponto nevrálgico da relação capital e trabalho. A decisão tem por finalidade assegurar a concretização da Constituição pelo legislador e garantir a eficácia da norma constitucional, de modo a viabilizar a efetividade do direito fundamental positivado no artigo 7.°, inciso XI, da Carta Política.
2 Alexy, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 3.ª ed. São Paulo: Editora JusPdivm, 2024.
Marco Antonio Hatem Beneton
Procurador da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Doutor em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo.
Objeto
Regulamentação da profissão de bombeiro civil em âmbito estadual.
Resumo do caso
Trata-se de lei estadual que dispôs, no Estado de Rondônia, sobre a profissão de bombeiro civil.
Entendimento fixado pelo STF
A tese foi no seguinte sentido: “Constitucional. Ação
Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 3.271/2013 do Estado de Rondônia. Bombeiro Civil. Disciplina. Revogação. Prejuízo parcial. Direito do trabalho e condições para o exercício profissional. Competência legislativa privativa da União. Usurpação parcial. Lei federal n. 11.901/2009. Reprodução de norma federal pelo ente subnacional. Constitucionalidade.”

Comentários do autor
No caso em comento, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar lei estadual que dispôs sobre a profissão de bombeiro civil, entendeu que, em regra, compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho e condições ao exercício das profissões (art. 22, I e XVI)1 – matérias cuja regulamentação pressupõe disciplina uniforme no território nacional.
A jurisprudência do STF entende que, além da usurpação da competência legislativa da União, a regulamentação da matéria pressupõe tratamento uniforme no território nacional, a fim de que seja preservada a isonomia entre os profissionais, ainda que
1 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; ... XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões.
a atividade em comento envolva prestação de serviços perante órgãos da Administração Pública local.
O Plenário assentou a inconstitucionalidade de disposições similares, elaboradas em outras unidades federadas, por meio das quais, sob o pretexto de estatuir preceitos administrativos de interesse local, acabaram regulamentando as profissões, entre outras, de cabeleireiro, manicure e esteticista (ADI 3.953, ministro Ricardo Lewandowski); vigilante particular do serviço comunitário de quadras (ADI 2.752, ministro Luís Roberto Barroso); professor de educação física, (ADI 5.484, ministro Luiz Fux); mototaxista e motoboy (ADPF 539, ministro Luiz Fux); carregador e transportador de bagagens (ADI 3.587, ministro Gilmar Mendes).
O entendimento sedimentado pelo Plenário é de que, no sistema federativo, não podem coexistir normas diferentes disciplinando matéria semelhante, sob pena de desequilíbrio, assimetria e caos normativo.
No entanto, a Lei n. 3.271/2013 do Estado de Rondônia, resultante do Projeto de Lei Ordinária n. 1.106 de 2013, de iniciativa do Governador, regulamentou a profissão, sem, contudo, instituir regime jurídico completamente diverso ou inovador em relação ao modelo estabelecido no diploma federal, a título de uniformização nacional.
Nesses casos, o STF entende que não há inconstitucionalidade naqueles dispositivos que simplesmente reproduzem, sem inovar, criar, modificar ou suprimir, dispositivos iguais aos constantes na lei federal, poderíamos dizer, copiada pelo legislador estadual.
Neste caso concreto em análise, o relator, ministro Nunes Marques, entendeu que incide a figura do chamado federalismo cooperativo. Ou seja, “O constituinte de 1988, ao ampliar a repartição de competências, expressou opção por uma interpretação
pela autonomia dos Estados e do Distrito Federal. Assim, esta Corte tem evoluído na afirmação da prevalência do federalismo cooperativo, interpretando mais extensivamente as atribuições dos Estados-membros, em consonância com os princípios e objetivos preconizados no Texto Constitucional.”
Assim, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da lei do Estado de Rondônia que discrepavam do poder regulamentar da União, mantendo, por sua vez, aqueles que tão somente reproduziram normas da lei federal; que não destoam do parâmetro federal, nem tampouco usurpam a competência exclusiva da União quanto ao estabelecimento de condições para o exercício da profissão.
Marcelo Fonseca Santos
Doutorando e Mestre em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pós Graduado em Direito Empresarial pela FGV/SP, Advogado na área de Direito Digital e Tecnologia, Vice-Presidente da Associação Nacional das Advogadas e Advogados de Direito Digital ANADD, Diretor da International Association of Artificial Intelligence I2AI, Conselheiro do Instituto Nacional de Estudos de Criptoativos - INECRIPTO, Pesquisador, Professor e Palestrante. https://lattes.cnpq.br/9923895914317734
Objeto
Responsabilidade de plataformas digitais por conteúdo de terceiros.
Resumo do caso
Trata-se de recursos extraordinários com repercussão geral que questionaram a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). O primeiro caso (RE 1.037.396/SP) envolveu a responsabilização do Facebook por não remover perfil falso criado em nome de terceiro, mesmo após notificação pela própria plataforma. O segundo caso (RE 1.057.258/MG) tratou da responsabilidade do Google por comunidade ofensi -

va mantida no extinto Orkut contra uma professora. Por maioria de 8 votos contra 3, o STF declarou a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19, estabelecendo novos parâmetros para a responsabilização civil das plataformas digitais por conteúdos de terceiros.
Entendimento fixado pelo STF
• Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI: O art. 19 da Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional.
Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia).
• Interpretação do art. 19 do MCI: Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo.
• Presunção de responsabilidade: Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de anúncios e impulsionamentos pagos ou rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs).
• Dever de cuidado em crimes graves: O provedor responde quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem práticas de crimes graves como terrorismo, crimes contra crianças, racismo, homofobia, violência de gênero e atos antidemocráticos.
• Deveres adicionais: Os provedores deverão editar autorregulação, manter sede no Brasil, disponibilizar canais de atendimento e publicar relatórios de transparência.
Comentários do autor
A decisão do STF representa um marco regulatório fundamental para o direito digital brasileiro, estabelecendo novo paradigma na responsabilização das plataformas digitais. A Corte reconheceu adequadamente que a evolução tecnológica exigiu atualização do marco normativo, superando o modelo puramente reativo do artigo 19 original.
Os aspectos positivos da decisão incluem o reconhecimento da necessidade de resposta imediata para crimes graves, a imposição de deveres de transparência e a manutenção de representação local das empresas. Estes elementos fortalecem a governança digital e a proteção de direitos fundamentais no ambiente virtual.
Contudo, a decisão suscita preocupações legítimas quanto à segurança jurídica e ao risco de censura preventiva. A ausência de critérios objetivos claros para definir “falha sistêmica” e “medidas adequadas” pode gerar insegurança para as plataformas e inconsistência na aplicação da norma. Existe risco real de que empresas, por precaução, removam conteúdos legítimos para evitar responsabilização¹.
Particularmente preocupante é a responsabilização por “notificação extrajudicial” em crimes gerais, que transfere às plataformas o poder decisório sobre a licitude de conteúdos sem controle judicial prévio. Tal mecanismo pode comprometer debates legítimos e o pluralismo democrático².
O apelo do STF ao Congresso Nacional para nova legislação é fundamental e urgente. Somente regulamentação específica e detalhada poderá oferecer a segurança jurídica necessária, estabelecendo critérios objetivos e procedimentos claros que equilibrem adequadamente a proteção de direitos fundamentais com a preservação da liberdade de expressão no ambiente digital brasileiro.
Aspectos Positivos: A Corte respondeu adequadamente à evolução tecnológica e aos novos desafios digitais. O reconhecimento de que crimes graves exigem resposta imediata das plataformas é louvável, especialmente considerando a velocidade de propagação de conteúdos prejudiciais na internet. A imposição de deveres de transparência e represen -
tação local também fortalece a governança digital no país.
Preocupações Legítimas: Contudo, a decisão gera incertezas jurídicas significativas. A definição de “falha sistêmica” e “medidas adequadas” permanece vaga, criando insegurança para as empresas. Existe risco real de censura preventiva, já que as plataformas, por precaução, podem remover conteúdos legítimos para evitar responsabilização. A ausência de critérios objetivos claros pode levar a aplicação desigual da norma.
Impacto na Liberdade de Expressão: Embora o STF tenha buscado equilibrar direitos, a responsabilização por “notificação extrajudicial” em crimes gerais é preocupante. Sem controle judicial prévio, aumenta-se o poder das plataformas para decidir unilateralmente sobre a licitude de conteúdos, potencialmente prejudicando debates legítimos.
Conclusão
A decisão é necessária e bem-intencionada, mas sua implementação exigirá cuidado redobrado. O apelo ao Congresso Nacional para nova legislação é fundamental, pois somente uma regulamentação específica e detalhada poderá oferecer a segurança jurídica necessária. Enquanto isso não ocorre, será essencial monitorar os efeitos práticos dessa interpretação constitucional para evitar excessos que comprometam a liberdade de expressão no ambiente digital brasileiro.
A decisão do STF representa um marco na regulação das plataformas digitais no Brasil, mas suscita importantes reflexões sobre o equilíbrio entre proteção de direitos e liberdade de expressão.

Felipe Gonçalves Fernandes
Procurador do Estado de São Paulo, especialista em Direito do Estado pelo curso de Pós Graduação Lato Sensu em Direito do Estado da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (ESPGE), Mestre e Doutor em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP.
Objeto
Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas de prestadora de serviços: ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações.
Resumo do caso
Trata-se de julgado no qual o Supremo Tribunal Federal fixou que a Administração Pública não responde automaticamente pelos encargos decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas em contratos de terceirização de serviços. Restou decidido que é necessária a comprovação, pela parte autora, de conduta negligente ou de nexo causal entre o dano alegado e a atuação estatal. Esclareceu-se, na mesma toada, que configura negligência quando, mes-

mo formalmente notificada do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, a Administração permanecer inerte, competindo a ela, ainda, assegurar condições de segurança, higiene e salubridade nos locais em que o trabalho for prestado. Por fim fixou-se que, nesses contratos, deve o Poder Público exigir da empresa contratada capital social compatível com o número de empregados, bem como adotar medidas efetivas para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas.
Entendimento fixado pelo STF
A tese foi fixada no seguinte sentido:
Tema 1118 de repercussão geral.
1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados
pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5°-A, § 3°, da Lei n° 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n° 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.
Comentários do autor
O conceito de terceirização
A terceirização pode ser vista como a transferência de determinadas atividades de uma pessoa (tomadora/contratante) a uma empresa prestadora de
serviços. Ela representa, portanto, uma relação triangular, na qual figuram um empregado, um contratante, e uma empresa prestadora de serviços.
Nesses moldes, existirá um contrato de natureza civil entre contratante e prestadora de serviços e, em paralelo, um contrato de trabalho entre o empregado e a empresa prestadora de serviços. No entanto, não obstante seja contratado pela empresa prestadora de serviços, o empregado trabalhará (sem pessoalidade e sem subordinação) junto à contratante.
Convém pontuar que esse tipo de contratação também é uma realidade no setor público brasileiro: ao adentrar qualquer repartição ou órgão público, o leitor constatará que a quase integralidade de serviços como limpeza e vigilância são feitos por empresas terceirizadas (a única diferença, neste caso, é que o vínculo é firmado com o Poder Público por meio de um contrato administrativo).
Ocorre que essas relações de emprego, travadas paralelamente a um contrato administrativo estabelecido com as empresas terceirizadas, podem ser alvo de inadimplemento, o que levará ao ajuizamento de ações trabalhistas e o vislumbre de eventual responsabilização estatal. Mas, afinal, o Estado responde pelos débitos das empresas terceirizadas? Se sim, quais são os condicionamentos para isso?
Para responder a esses questionamentos, é relevante traçar um histórico da jurisprudência e da legislação pátrias, conforme fazemos na sequência.
Histórico da responsabilização estatal
Esclarecemos inicialmente que a regulamentação da terceirização de serviços no Brasil foi realizada, durante muito tempo, pela Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Nesses termos, à época, o Estado era amplamente condenado nos pleitos referentes a débitos trabalhistas decorrentes da terceiri -
zação de serviços. Ocorre que havia um dispositivo na hoje revogada Lei n° 8.666/93 que afastava a responsabilidade da Administração Pública em tais casos. Vejamos:
Art. 71, §1°, L. 8666/93. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
Diante disso, o STF foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade desse artigo, por meio da ADC 16-DF, a qual foi julgada procedente em 09/09/2011. Em razão de referido julgamento, o TST modificou a redação da Súmula 331 para fazer constar os itens V e VI, nos seguintes termos:
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.° 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
Como se vê, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública ficou condicionada à demonstração da conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.° 8.666, de 21.06.1993, especial -
mente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço. Esse entendimento vale até hoje (responsabilidade subsidiária condicionada à falha na fiscalização).
Ocorre que não foi definido a quem competia demonstrar que houve falha na fiscalização: se caberia ao reclamante demonstrar a falha para obter a condenação ou se a Administração Pública deveria demonstrar que fiscalizou e, caso não o fizesse, seria condenada.
Diante dessas dúvidas, o tema continuou sendo discutido, de modo que foi levado novamente ao Supremo Tribunal Federal, que, no bojo do RE 760.931, fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993”.
Todavia, o mais relevante desse julgado se referiu ao fato de que, para muitos intérpretes, as razões constantes do acórdão levariam à conclusão de que o ônus de comprovar a culpa in vigilando não teria sido imposto à Administração Pública, mas ao reclamante.
O TST, todavia, não adotou esse entendimento e, em dezembro de 2019, por meio de sua SDI-I fixou, expressamente, que “cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, para que não seja responsabilizado”. Vejamos:
SDI-I- 13/12/19 - A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho decidiu, nesta quinta-feira (12), que, nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar
que fiscalizou de forma adequada o contrato, para que não seja responsabilizado. O fundamento da decisão é o chamado princípio da aptidão para a prova, que vincula o ônus a quem possui mais e melhores condições de produzi-la. “Certamente não é o trabalhador, que sequer consegue ter acesso à documentação relativa à regularização das obrigações decorrentes do contrato”, assinalou o relator, ministro Cláudio Brandão (Processo: E-RR-92507.2016.5.05.0281).
À vista disso, o tema seguiu sendo debatido, de modo que restou afetado para julgamento em sede de repercussão geral, no bojo do tema 1118. No ano de 2025, em julgamento histórico, o STF analisou referido tema e, dentre outros assuntos, fixou que compete ao reclamante comprovar a falha na fiscalização. A tese fixada em conclusão foi a seguinte:
Tema 1118 de repercussão geral.
1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5°-A, § 3°, da Lei n° 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n° 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.
Abaixo, tecemos breve comentário ao tema 1118.
O tema 1118 de repercussão geral
No que tange ao tópico 1 da tese fixada, nota-se que, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o ônus da prova cabe ao reclamante, ou seja, o trabalhador é quem deve comprovar que houve falha na fiscalização das obrigações do contrato administrativo para que se faça possível a responsabilização da Administração Pública.
Nesses moldes, conclui-se que não há responsabilidade automática do Poder Público pelo simples inadimplemento da empresa terceirizada, de modo que não basta ao reclamante invocar “presunção de culpa” nem buscar a aplicação da inversão do ônus da prova. Na verdade, extrai-se da tese que o trabalhador deve provar que houve conduta negligente da Administração para que essa possa ser subsidiariamente condenada ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas.
Não obstante se trate de um posicionamento passível de críticas por parte da doutrina justrabalhista, fato é que o Supremo Tribunal Federal pareceu orientar posição no sentido de que a responsabilização do Poder Público deve ser algo excepcional, baseado em conduta que evidencie sua negligência ou a falta de cuidado na fiscalização de seus contratos. Mas a tese não se ateve apenas a isso, o que impõe irmos adiante em nossa análise.
Verifica-se que, para fins de constatação dessa postura negligente, o Pretório Excelso deu um certo norte aos operadores do direito. Foi justamente o que indicou no tópico 2 da tese, quando fixou que haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. Essa comunicação pode ser enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. Assim, em suma, configura negligência quando a Administração é notificada (por empregado, sindicato, MPT, Defensoria etc.) de que a empresa contratada está descumprindo obrigações trabalhistas e permanece inerte.
Nesses termos, entendemos que o auditamento de eventual sonegação de direitos trabalhistas pode ser realizado por todos e quaisquer dos interessados, tais como trabalhadores e sindicatos, além dos órgãos de fiscalização. Essa diligência permitirá instar a Administração Pública a tomar as providências em caso de inadimplemento e, caso não o faça, poderá incidir a sua responsabilização.
Ou seja, a tese fixada parece indicar dois momentos: um pré-processual, quando os interessados deverão agir para formalizar eventual descumprimento contratual e outro, no curso do processo, em que essa atuação poderá ser utilizada como fundamento
para a responsabilização do Poder Público. Nesses termos, verifica-se um condicionamento consistente no requisito de que a Administração Pública tenha tomado ciência do inadimplemento da terceirizada e, não obstante isso, tenha se quedado inerte.
Doutra ponta, a tese fixada repete algo que já estava expresso na legislação de regência. Conforme cristalizado no item 3, constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5°-A, § 3°, da Lei n° 6.019/1974. Vejamos o dispositivo:
Art. 5o-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal.
(...)
§ 3o É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato.
Parte da doutrina entendeu que esse tópico daria azo à responsabilização direta (e não subsidiária) do ente público, quando se tratasse de medidas referentes a segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. Entendemos que não se trata do caso, uma vez que o dispositivo em questão precede a tese fixada e essa, por sua vez, não inovou, limitando-se a repetir aquilo que já constava do texto legal. Assim, esse tópico consiste, a nosso ver, no reconhecimento do dever de diligência que o Poder Público (assim como qualquer outro tomador) deve tomar quando admitir trabalhadores (ainda que terceirizados) em suas dependências. Descumprido
esse dever e demonstrada a negligência, abre-se caminho para a responsabilização subsidiária do Poder Público.
Por fim, verificamos que, no tópico 4 da tese fixada, a Suprema Corte abordou as medidas que podem/ devem ser adotadas pelo Poder Público, referentes à exigência de que a contratada apresente a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, bem como a adoção de medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela terceirizada.
Acerca da empresa terceirizada, lembramos que, conforme a legislação, é a prestadora de serviços quem contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços (art. 4°-A, §1°, Lei n° 6.019/74). Sobre isso, podemos fazer duas observações. Primeiramente, para frisar que o trabalhador terceirizado não se subordina diretamente à contratante, mas à prestadora. Doutra ponta, para acrescentar que, nos termos estabelecidos pela Lei n° 6.019/74, existe a possibilidade de a empresa prestadora de serviços subcontratar outras empresas (chamada, por alguns, de “terceirização em cadeia” ou, por outros, “quarteirização”).
Outrossim, ressaltamos que, enquanto a contratante pode ser pessoa física ou jurídica, a prestadora de serviços deve necessariamente ser uma pessoa jurídica. Nesses termos, a legislação trouxe alguns requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros. Vejamos eles abaixo:
Art. 4°-B, Lei n° 6.019/74. São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros:
I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - registro na Junta Comercial;
III - capital social compatível com o número de empregados, observando-se os seguintes parâmetros:
a) empresas com até dez empregados - capital mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b) empresas com mais de dez e até vinte empregados - capital mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
c) empresas com mais de vinte e até cinquenta empregados - capital mínimo de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
d) empresas com mais de cinquenta e até cem empregados - capital mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e
e) empresas com mais de cem empregados - capital mínimo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Esses requisitos foram reforçados pelo STF, como forma de evitar a contatação de empresas inidôneas ou vazias de capital, incapazes de honrar suas dívidas trabalhistas.
Ademais, é importante notar que a Lei n° 14.133/2021 trouxe uma série de prerrogativas que a Administração Pública pode tomar frente às empresas terceirizadas, a fim de evitar o inadimplemento das verbas trabalhistas. Vejamos elas:
Art. 121 (...) § 3° Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas:
I - exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas;
II - condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato;
III - efetuar o depósito de valores em conta vinculada;
IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;
V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador.
§ 4° Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso III do § 3° deste artigo são absolutamente impenhoráveis.
§ 5° O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Relevante acrescentar que o artigo 50 da Lei ° 14.133/2021 também traz importantes medidas que podem/devem ser adotadas pelo Poder Público, como forma de fiscalizar seus contratos:
Art. 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela Administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:
I - registro de ponto;
II - recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
III - comprovante de depósito do FGTS;
IV - recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;
V - recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato;
VI - recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva.
Neste sentido, reforça-se que não é do interesse público que os trabalhadores dessas empresas deixem de receber seus legítimos direitos. Por essa razão, o julgado em questão não deve ser interpretado como uma isenção total e absoluta de responsabilidade da Administração Pública, mas uma espécie de “mapa institucional” para que o Poder Público exerça seu dever de diligência. Nos momentos em que esse falhar, os interessados terão a oportunidade de instar a Administração a fazê-lo e, caso não o faça, aí sim, abre-se espaço para sua responsabilização subsidiária. O que não se admite é a presunção de que houve falha, devendo essa ser demonstrada.
Neste sentido, observa-se a imperiosidade de uma atuação mais altiva tanto dos órgãos públicos na fiscalização dos contratos quanto dos demais interessados, o que demandará, por parte desses, um atuação pré-processual, de diálogo e canais abertos, sobretudo entre sindicatos, órgãos de fiscalização e trabalhadores, a fim de que esses possam comunicar eventuais descumprimentos e, por sua vez, a Administração Pública seja provocada a agir, evitando, assim, o inadimplemento (ou pelo menos mitigando suas consequências).
Com essa atuação sistêmica, a ideia é que todos os interessados ajam e, assim, evitem o pior do resultado: a sonegação dos direitos dos trabalhadores, a parte mais sensível de toda essa relação.
Doutoranda em Direito Financeiro e Econômico Global pela Universidade de Lisboa. Mestre em Direito da Administração Pública pela Universidade Gama Filho (2002). Dissertação: O Princípio da Transparência na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Objeto
Teto de gastos: imposição de limite de gastos aos Poderes e órgãos autônomos.
Resumo do caso
A Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7.641, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), questionou a aplicação do teto de gastos previsto na Lei Complementar n° 200/2023 (novo regime fiscal sustentável) às receitas próprias do Poder Judiciário da União, quando destinadas ao custeio das atividades específicas da Justiça.
O ponto central era saber se tais receitas deveriam ser submetidas às mesmas limitações orçamentárias impostas a outros órgãos, mesmo tendo natureza vinculada e finalidade específica, ou se estariam

excepcionadas em razão da autonomia financeira do Judiciário (CF, arts. 98, § 2° e 99, § 1°), em atenção aos princípios da separação dos Poderes (CF, art. 2°), da eficiência (CF, art. 37) e da proporcionalidade (CF, art. 5°, LIV).
Entendimento fixado pelo STF
O STF, por unanimidade, decidiu que: “As receitas próprias de tribunais e órgãos do Poder Judiciário da União, vinculadas ao custeio de suas atividades específicas, não se submetem ao teto de gastos instituído pela Lei Complementar 200/2023.”
Comentários da autora
O voto condutor, do Ministro Alexandre de Moraes, destacou que:
1. Autonomia do Judiciário: a submissão das receitas próprias ao teto comprometeria a independência financeira e administrativa do Poder Judiciário, violando a separação de poderes.
2. Finalidade específica: tais receitas são vinculadas a fundos e atividades próprias da Justiça, não devendo ser confundidas com as dotações orçamentárias gerais sujeitas ao teto.
3. Compatibilização com responsabilidade fiscal: embora a prudência fiscal seja exigência constitucional, não se pode inviabilizar o funcionamento de um Poder autônomo. O voto ressaltou o binômio autonomia financeira e responsabilidade fiscal, indicando que o Judiciário continua sujeito a controles, mas não pode ter recursos vinculados limitados de forma que inviabilize sua atuação.
4. Harmonia entre poderes: o relator enfatizou que a decisão não significa isenção de controle, mas sim respeito à harmonia institucional, evitando que o Executivo e o Legislativo, ao definir o teto, restrinjam indevidamente a capacidade operacional da Justiça.
Em síntese, o voto conciliou a necessidade de responsabilidade fiscal com a preservação da independência do Poder Judiciário, reconhecendo que receitas próprias não podem ser enquadradas no teto sob pena de descontinuidade da prestação jurisdicional.
Sabe-se que o Estado desempenha seu papel de promotor do bem-estar social, financiando políticas de saúde, educação, segurança, assistência social dentre outras através da despesa pública. Essas políticas são essenciais para reduzir as desigualdades sociais, promover o desenvolvimento humano e garantir que todos os cidadãos tenham acesso a serviços essenciais. A alocação eficiente das despesas
públicas em áreas prioritárias é, portanto, um dos principais desafios da gestão orçamentária.
Além de seu papel social, a despesa pública também é um instrumento de política econômica. O governo pode usar os gastos públicos para estimular o crescimento econômico, especialmente em períodos de crise ou recessão. Ao aumentar os investimentos em infraestrutura, por exemplo, o Estado pode gerar empregos e estimular a demanda agregada, contribuindo para a recuperação econômica. Contudo, essa estratégia deve ser equilibrada com a necessidade de manter a sustentabilidade fiscal, evitando que o aumento dos gastos comprometa o equilíbrio das contas públicas a longo prazo.
É importante ressaltar que a despesa com o Poder Judiciário não deve ser vista como mero custo, mas como parte essencial da própria garantia dos direitos fundamentais. Assim como a saúde, a educação e a seguridade social, o funcionamento adequado da Justiça representa um investimento na efetividade do Estado Democrático de Direito.
A despesa pública constitui a concretização de imposições constitucionais, a realização da consagração de direitos fundamentais e a materialização de determinados bens jurídicos constitucionalmente consagrados.
A manutenção de tribunais, magistrados, servidores e toda a estrutura de suporte é condição necessária para que os cidadãos possam ter acesso à justiça, à proteção de seus direitos e à concretização de valores constitucionais. Portanto, a preservação da autonomia financeira do Judiciário, reafirmada na ADI 7.641, não é um privilégio institucional, mas uma salvaguarda que garante a independência e a própria efetividade dos direitos fundamentais.

Eduardo Leandro de Queiroz e Souza
Advogado. Graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. Pós-graduado em Direitos Difusos, coletivos e individuais homogêneos. Mestrando em Direito à Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas. Currículo Lattes: https://lattes.cnpq.br/0631501617557269
Graziela Nóbrega da Silva
Advogada. Graduada em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. MBA em Política e gestão governamental. Mestranda em Direito à Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas. Currículo Lattes: https://lattes.cnpq. br/8421335231099291
Tatiana Barone Sussa
Advogada. Graduada em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. Mestranda em Direito à Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas. Advogada Coordenadora no Queiroz Advogados, com ênfase em direito público. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9959676620893614
Objeto
Tribunal de Contas local: competência para julgar as contas de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas.
Trata-se de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Flávio Dino, em sede da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n°. 982, prevista no §1° do artigo 102 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n°. 9882, de 1999, proposta pela Associação dos Mem -
bros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) em face dos Tribunais de Justiça do Estado do Paraná, Rio de Janeiro e Goiás, em decorrência de diversas decisões judiciais que anularam penalidades aplicadas, pelos Tribunais de Contas, a prefeitos municipais, no exercício da função de ordenadores de despesa.
A arguição afirma a competência dos Tribunais de Contas para aplicar penalidades aos prefeitos municipais, na condição de ordenadores de despesa, para imputação de débito e aplicação de sanções, em esfera distinta da eleitoral. Alerta que, o conjunto de decisões proferidas, em sentido contrário, viola o princípio republicano e da separação de poderes, destacando a atribuição prevista no inciso IX do artigo 49 e inciso II do artigo 71 da Constituição Federal, que consiste no exercício do controle externo do Poder Executivo pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, incluindo a competência para julgar as contas dos responsáveis pela administração de bens e valores públicos
Isso porque, os prefeitos atuam na administração do múnus público, e em razão de sua atuação na gestão de valores e bens, devem prestar contas e, a depender do caso em concreto, sofrer responsabilização por possíveis prejuízos ao erário.
O Ministro Roberto Barroso, relator original, negou conhecimento à arguição pois, em seu entendimento, a petição inicial apresentou apenas cinco decisões judiciais, das quais quatro transitadas em julgado e uma impugnada por recurso extraordinário, pendente de julgamento. Destacou que, ainda não fosse esse o caso, o pedido seria improcedente, já que a matéria é pacífica no Tribunal em julgamento com repercussão geral (tema 835).
Houve a interposição de agravo regimental, no qual se fundamentou que as decisões colacionadas fo -
ram apenas exemplificativas e a celeuma não se restringiria a tais paradigmas. Salientou-se que, a matéria não estava pacificada na Corte, sendo indispensável a distinção entre os fundamentos da presente arguição e o tema de repercussão geral 835, no qual se discutiu a competência do Poder Legislativo, especificamente no julgamento das contas do prefeito, e seus efeitos quanto à aplicação da sanção de inelegibilidade, sem abordar a sujeição do responsável ordenador de despesa à multa civil e o ressarcimento ao erário, sem reflexos na seara eleitoral.
O Plenário do STF deu provimento ao recurso interposto pela ATRICON e conheceu da arguição de preceito fundamental, para posteriormente julgar o mérito da questão.
Entendimento fixado pelo STF
A tese foi no seguinte sentido: De acordo com o previsto nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal, os prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar contas e compete aos Tribunais de Contas a análise destas contas. A competência dos Tribunais de Contas, nesses casos, restringe-se à imputação de débito e aplicação de sanções não eleitorais, independentemente de ratificação pela Câmara Municipal, em consonância com a tese fixada no tema de Repercussão Geral n°. 1287. A competência das Câmaras Municipais permanece exclusiva apenas para os fins do art. 1°, I, g, da LC 64/1990 (inelegibilidade).
Por unanimidade, o STF julgou procedente o pedido da arguição de descumprimento de preceito fundamental para invalidar as decisões judiciais sem trânsito em julgado que anularam decisões dos Tribunais de Contas, na análise das contas dos prefeitos municipais e imputaram débitos ou aplicaram sanções fora da esfera eleitoral.
Comentários dos autores
A Constituição Federal atribuiu a fiscalização contábil e financeira daqueles que administram bens e valores públicos ao Congresso Nacional, com o auxílio dos Tribunais de Contas, em cumprimento aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.
O Poder Judiciário também tem a competência de supervisionar os atos da Administração Pública, em respeito ao sistema de tripartição dos poderes vigente no país.
Sundfeld1 recorda que, após a deflagração da democracia, a Constituição de 1988 se tornou um marco no condicionamento da autoridade, com novas normas que exaltam o Poder Legislativo e ampliam a atuação do Judiciário e dos Tribunais de Contas. Nesse sentido, diversas engrenagens trabalham e existe um alto fluxo de decisões, destacando-se o direito administrativo como motor da estrutura democrática.
A tese fixada reconhece a atribuição dos Tribunais de Contas para julgar as contas dos responsáveis pelos gastos públicos, sem necessidade do crivo das Câmaras Municipais. Ramalho2 exemplifica que compete ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo analisar as contas municipais e emitir parecer favorável ou desfavorável, e, posteriormente, encaminhar às Câmaras que julgarão tais contas. Portanto, ainda que o Tribunal aponte irregularidades e determine devolução de valores, a pena de inelegibilidade só poderá ser atribuída pela Câmara Municipal, se também considerar irregular a prestação de contas.
1 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para Céticos, 2ª ed. rev. e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 67-68 2 RAMALHO, Dimas. STF decide que gestor pode ser punido quando ordenar despesa. Tribunais de Contas e o julgamento de prefeitos. São Paulo: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 02 abr. 2025. p. 1-3. Disponível em: https://www.tce.sp.gov.br/sites/ default/files/noticias/Artigo_DrDimasRamalho_TribunaisdeContas.pdf Acesso em: 18.09.2025. p. 2.
Cunda e Onzi3 ressaltam que o gestor público, ao empregar recursos públicos, está submetido aos órgãos de fiscalização, que exercem o poder sancionatório, caso existam irregularidades na tomada de decisões.
Diante do exposto, os Tribunais de Contas têm competência para julgar contas de gestão de prefeitos que ordenem despesas, com possibilidade de aplicação de imputação de débito ou sanções fora da esfera eleitoral, preservada a competência exclusiva das Câmaras Municipais.
3 Cunda, Daniela Zago Gonçalves; ONZI, Eduarda. Responsabilidade do Gestor Público sob a ótica do Tribunal de Contas da União após as alterações trazidas pela Lei 13655/2018 In: Jurksaitis, Guilherme Jardim; Almeida, Lívia Marques M. (coord). Tribunais de Contas em ação: Estudos de Jurisprudência em licitações e contratos públicos. São Paulo: Quartier Latin, 2022. p.350.
José Jerônimo Nogueira de Lima
Mestre e Doutorando em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Advogado com atuação na área do Direito Público, especialmente em questões remuneratórias e disciplinares relacionadas a servidores públicos. E-mail: jeronimo@ngadvogados.com.br
Objeto
Vinculação remuneratória no âmbito estadual: equiparação do salário de empregados públicos ao vencimento de titulares de cargo efetivo. Resumo do caso
A Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.746 analisou a constitucionalidade do art. 7°, § 3°, I, a, da Lei n° 15.665/2006, do Estado de Goiás, a qual vincula a remuneração de empregados públicos da Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP (atual GOINFRA) aos vencimentos de servidores efetivos de mesma denominação e equivalência de funções.
O Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pelo Ministro Cristiano Zanin e acompanhado por parte dos Ministros da Corte, julgou parcialmente

procedente a ADI, conferindo ao dispositivo interpretação conforme à Constituição Federal, de forma a preservar o valor nominal da remuneração vigente na data da publicação de julgamento da ação e vedar reajustes automáticos decorrentes da vinculação legal.
Cabe ressalvar que a divergência ficou restrita à Ministra Carmen Lúcia que declarava a inconstitucionalidade do dispositivo legal e propunha sua modulação, apenas para preservar o valor nominal da remuneração na data da publicação da decisão e vedar reajustes futuros.
O entendimento adotado pelo STF foi no sentido de que a norma questionada violaria o art. 37, XIII, da Constituição Federal, na redação conferida pela EC
n° 19/98, o qual veda a “a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”.
A decisão ressaltou a jurisprudência da Corte acerca da impossibilidade de vinculação remuneratória entre carreiras distintas, com o objetivo de evitar que um aumento remuneratório concedido a uma determinada carreira fosse estendida a servidores integrantes de quadros ou carreiras diversas, com impactos financeiros não previstos pela Administração Pública, sem observar a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e a peculiaridade entre os cargos e funções, conforme dispõe o artigo 39, I, II e II, da CF.
Comentários do autor
A decisão proferida pelo STF adotou como premissa a posição consolidada pela Corte acerca da aplicação do artigo 37, XIII, da CF, em casos envolvendo legislações editadas pelos mais diversos entes federativos que promoveram a vinculação remuneratória de uma carreira com outra distinta, a exemplo da LC n° 111/2006, do Estado do Rio de Janeiro, que vinculou a remuneração final da carreira de Procurador do Estado ao subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal1
Isso porque a vinculação remuneratória entre carreiras distintas, com funções distintas, acabaria por subverter a lógica isonômica do artigo 39, I, II e II, da CF que prevê regras para a definição do padrão de vencimentos dos servidores considerando a natureza, grau de responsabilidade, complexidade e as peculiaridades do cargo.
Ocorre que a legislação analisada no âmbito da ADI 7.746 prevê a vinculação remuneratória entre empregados públicos de uma Autarquia Estadual (AGE-
1 ADI 3.697, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/05/2023.
TOP – atual GOINFRA), com servidores de cargos efetivos da Administração Estadual que exercem exatamente as mesmas funções.
Com a devida vênia à conclusão adotada na ADI 7.746, não se verifica a inconstitucionalidade no art. 7°, § 3°, I, a, da Lei n° 15.665/2006, do Estado de Goiás, na medida em que o normativo objetivou assegurar tratamento remuneratório isonômico entre carreiras que exercem as mesmas funções e, portanto, possuem natureza, complexidade e graus de responsabilidade semelhantes, de forma a garantir a efetiva aplicação do artigo 39, I, II e II, da CF entre os servidores titulares de cargos e empregos públicos com identidade de funções.