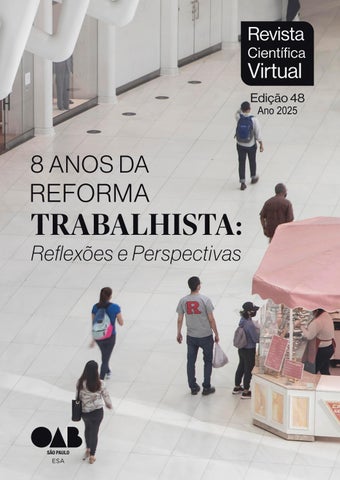8ANOS DA
REFORMA TRABALHISTA:
Reflexões e Perspectivas
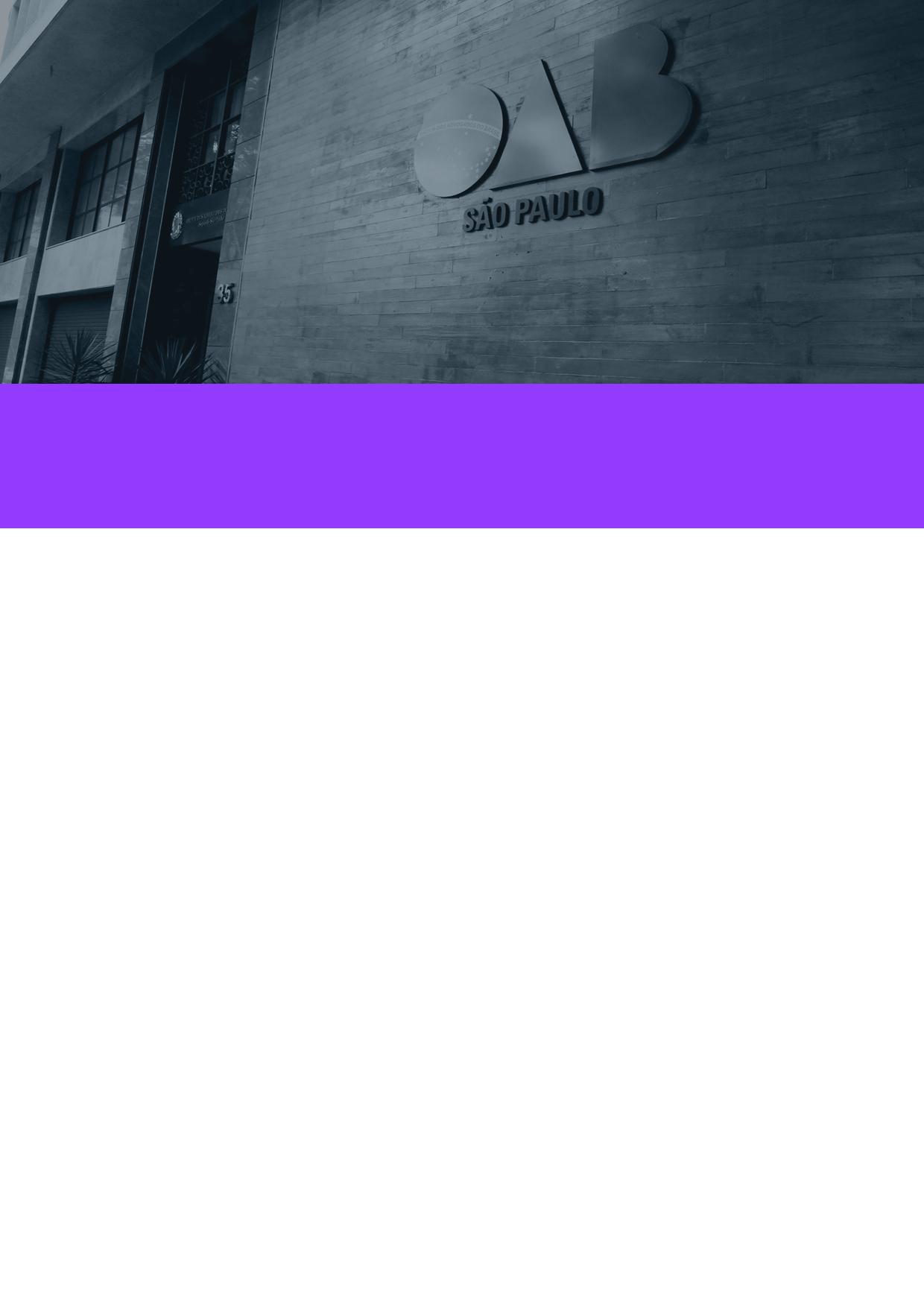
OAB SP (Gestão 2025/2027)
Diretoria OAB SP
Presidente:
Leonardo Sica
Vice-Presidente:
Daniela Magalhães
Secretária-Geral:
Adriana Galvão
Secretária-Geral Adjunta:
Viviane Scrivani
Diretor Tesoureiro:
Alexandre de Sá Domingues
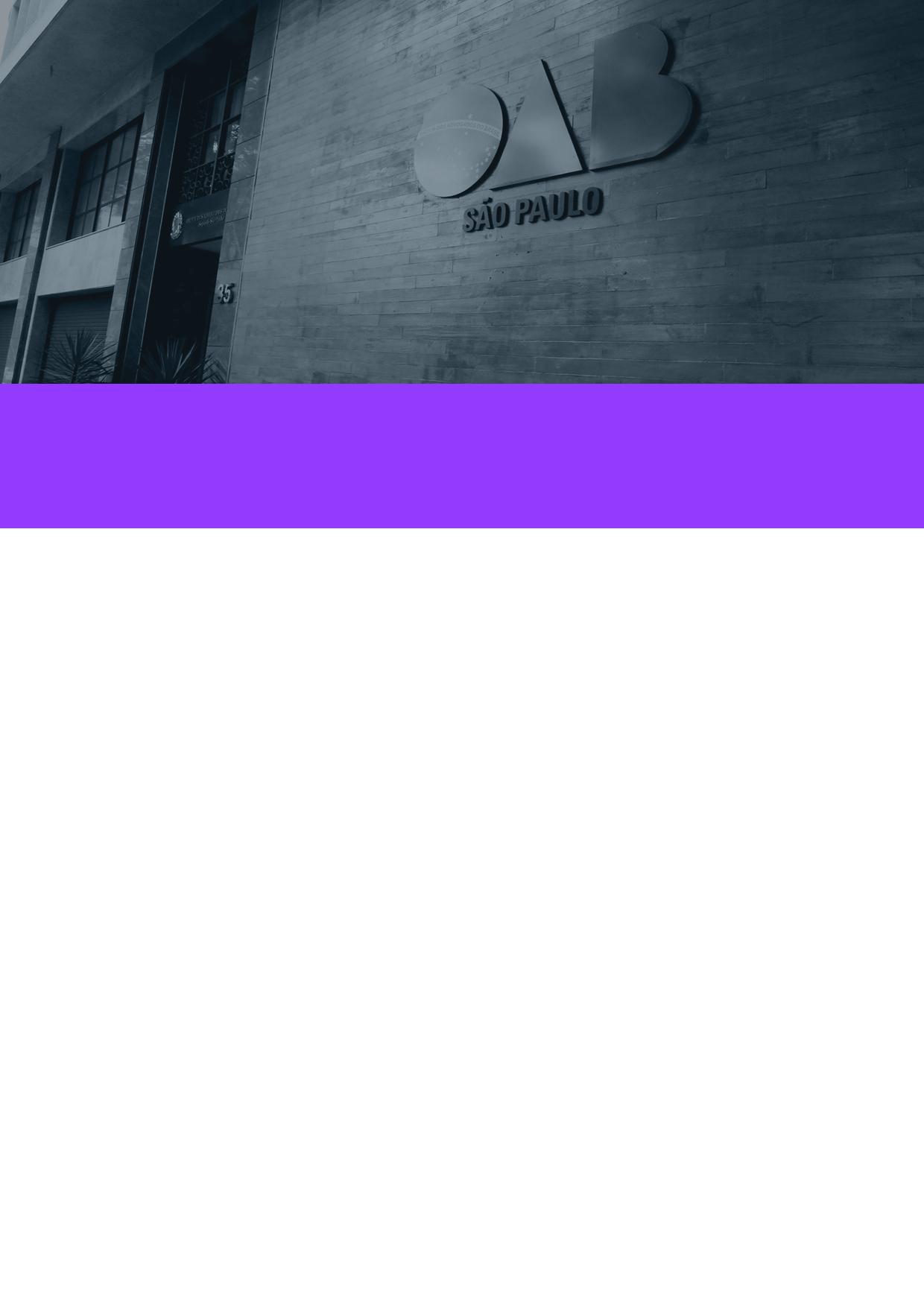
OAB SP (Gestão 2025/2027)
Diretoria ESA OAB SP
Diretora da ESA OAB SP:
Daniela Campos Libório
Vice-Diretora da ESA OAB SP:
Sarah Hakim
Gestão 2025/2027
ESA OAB SP
CONSELHO CURADOR:
Presidente: Sarah Hakim
Vice-Presidente: Maria Garcia
Conselheiros:
Antonio Rodrigues de Freitas Jr
Celso Fernandes Campilongo
Claudia Stein
Delaide Alves Miranda Arantes
Dione Almeida
Felipe Chiarello
Giselda Hironaka
José Fernando Simão
Lorival Ferreira dos Santos
Magda Biavaschi
Maria José Bravo Bosch
Marta Voltas Martinez Carrera
Mauro Silva
Patrícia Maeda
Patrícia Vanzolini
Renato Cassio Soares de Barros
Sérgio Tibiraçá
NÚCLEOS TEMÁTICOS
Administrativo, Urbanístico e Infraestrutura: Lilian Regina Gabriel Moreira Pires
Criminologia: Cristiano Avila Maronna
Civil: Daniela de Carvalho Mucilo
Constitucional, Teoria Geral do Direito, Sociologia Jurídica e Filosofia do Direito: Fabio Paulo Reis de Santana
Digital e Tecnologia: Ronaldo Lemos
Empresarial: Armando Luiz Rovai
Financeiro e Tributário: Raquel Alves Preto
Imobiliário: Paola de Castro Ribeiro Macedo
Meio Ambiente e Clima: Debora Sotto
Penal:
João Paulo Martinelli
Processo Civil:
Cláudia Elisabete Schwerz
Processo Penal: Danyelle Galvão
Relações Institucionais: Ricardo Marar
Trabalho e Processo do Trabalho: Carlos Augusto Monteiro
COORDENAÇÃO:
Coordenação geral: Adriano de Assis Ferreira
Cursos de extensão e de pesquisa: Erik Chiconelli Gomes
Cursos regulados: Renata Cristina do Nascimento Prada
Coordenação acadêmica: Andrea Borelli
Núcleos regionais: Arleide Santana Felipe
Maria Cristina Silva
Tecnologia da informação: Leandro Urquiza da Silva Moraes
Audiovisual: Ruy Dutra da Silva Junior
Financeiro: Renato Gomes Carlini
Secretaria Geral: Ana Marcia de Matos Arraes
Sumário
Apresentação
1. REFORMA TRABALHISTA DE 2017: NOVOS REGRAMENTOS DE DIREITO COLETIVO DO TRABALHO
Andre Cremonesi
30
3. O FORTALECIMENTO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.467/17: ALTERAÇÕES DA LEI
TRABALHISTA QUANTO AO DEPÓSITO RECURSAL
Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro
Giovanna de Cássia Bettim Nogueira
47
5. O CONTRATO DE TRABALHO
INTERMITENTE: AVANÇO NA FLEXIBILIZAÇÃO OU PRECARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES LABORAIS?
2. O CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE MARCA: REFLEXÕES À LUZ DO CONCEITO DE GRUPO ECONÔMICO FIXADO PELA LEI Nº 13.467/2017
Carla Teresa Martins Romar
Domingos Sávio Zainaghi 40
4. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: APLICAÇÃO NO PROCESSO DO TRABALHO
Cristina Paranhos Olmos
56
6. OITO ANOS DA REFORMA
TRABALHISTA: ENTRE PROMESSAS DE MODERNIZAÇÃO E A DISTOPIA ALGORÍTMICA — UMA ANÁLISE JURÍDICA, ECONÔMICA E SOCIAL DA PRECARIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO TRABALHO
Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro
7. DISPENSAS COLETIVAS: CONTEXTO APÓS 8 ANOS DA REFORMA TRABALHISTA
Fabiano Zavanella
Mariana Siqueira
92
9. A PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO E OS NOVOS RUMOS DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO DIREITO DO TRABALHO
BRASILEIRO PÓS-REFORMA TRABALHISTA
Líbia Alvarenga de Oliveira
Guilherme Ghilardi Cavini
114
11. O “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”: MAIS UM CAPÍTULO DA “REFORMA” TRABALHISTA DE 2017 E SEUS RETROCESSOS
Leonardo Aliaga Betti
130
13. JUSTIÇA GRATUITA NA REFORMA TRABALHISTA.
INTERPRETAÇÃO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO, DO ACESSO À JUSTIÇA, DA SOLIDARIEDADE E DA DIGNIDADE HUMANA E A VISTA CANSADA
Maria de Fátima Zanetti Barbosa e Santos
82
8.VALOR DA CAUSA NO PROCESSO DO TRABALHO: ESTIMATIVA OU LIMITAÇÃO DE FUTURA EXECUÇÃO?
Fabio Augusto Branda
102
10.O GRUPO ECONÔMICO NO DIREITO DO TRABALHO: DA
INTERPRETAÇÃO TRADICIONAL À DINÂMICA PÓS-REFORMA E OS DESAFIOS DO SÉCULO XXI
José Lucio Munhoz
122
12.IMPACTOS DA AMPLIAÇÃO DA FIGURA DO GRUPO ECONÔMICO PELA REFORMA TRABALHISTA DE 2017
Márcio Granconato
143
14.O TELETRABALHO E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR
Miron Tafuri Queiroz
15. OITO ANOS DA REFORMA TRABALHISTA: SINDICATOS E NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
Otavio Pinto e Silva
16. DESAFIOS DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE NO BRASIL: ANÁLISE ESTATÍSTICA E LACUNAS LEGISLATIVAS
Raphael Jacob Brolio
Edição 48 Ano 2025
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA
São Paulo, OAB SP - 2025 COORDENAÇÃO TÉCNICA COORDENAÇÃO GERAL
Adriano Oliveira COORDENAÇÃO ACADÊMICO
Erik Chiconelli Gomes COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO
Ruy Dutra
PROJETO GRÁFICO
Sarah Aimê
ARTES E DIAGRAMAÇÃO
Sarah Aimê ORGANIZAÇÃO
Carlos Augusto Monteiro FALE CONOSCO
Rua Cincinato Braga, 37, 13º andar
São Paulo/ SP
Tel. .55 11.3346.6800
Publicação Trimestral
ISSN - 2175-4462
Direitos - Periódicos
Ordem dos Advogados do Brasil
Apresentação
Erik Chiconelli Gomes1
A Reforma Trabalhista de 2017 transcende a mera alteração normativa; ela representa a expressão condensada de uma luta de classes em um contexto de reconfiguração das forças sociais no Brasil. Seu processo de formulação e aprovação revela uma escolha política deliberada para reequilibrar a correlação de forças em favor do capital, deslocando a proteção jurídica para uma lógica contratual privatista e fragmentada. Ao reduzir a força da lei e ampliar a individualização dos conflitos, a Reforma invisibilizou a experiência concreta dos trabalhadores e esvaziou seus mecanismos de resistência.
É nesse contexto crítico que a 48ª edição da Revista Científica da ESA OAB SP se insere, apresentando 15 artigos que, em conjunto, traçam um panorama abrangente e crítico sobre os múltiplos desdobramentos da Reforma. A jornada analítica desta edição se organiza em torno de grandes eixos temáticos.
A análise se aprofunda nas transformações do direito coletivo e nas novas formas de contratação. Em O Contrato de Licenciamento de Marca: Refl exões à Luz do Conceito de Grupo Econômico Fixado pela Lei n° 13.467/2017, Carla Teresa Martins Romar investiga a responsabilização solidária pós-reforma. As alterações processuais que impactam o acesso à justiça são o foco de Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro e Giovanna de Cássia Bettim Nogueira em O Fortalecimento do Duplo Grau de Jurisdição com o Advento da Lei n° 13.467/2017
Ainda no campo processual, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é abordado por Cristina Paranhos Olmos, que analisa sua compatibilidade com os princípios trabalhistas em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica: Aplicação no Processo do Trabalho A discussão sobre os novos modelos contratuais é iniciada por Silvia Augusta Mateus, com uma reflexão crítica em O Contrato de Trabalho Intermitente: Avanço na Flexibilização ou Precarização das Relações Laborais?
Ampliando o debate para a era digital, Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro investiga a subordinação algorítmica em Oito Anos da Reforma Trabalhista: Entre Promessas de Modernização e a Distopia Algorítmica Em seguida, Fabiano Zavanella e Mariana Siqueira analisam o tratamento jurídico das Dispensas Coletivas e seus tensionamentos institucionais. A função do valor da causa e seus riscos para a execução são o tema de Fabio Augusto Branda em Valor da Causa no Processo do Trabalho: Estimativa ou Limitação de Futura Execução?.
A complexa relação entre o negociado e o legislado é examinada por Líbia Alvarenga de Oliveira e Guilherme Ghilardi Cavini no artigo Prevalência do Negociado sobre o Legislado e os Novos Rumos da Negociação Coletiva no Direito do Trabalho Brasileiro Pós-Reforma, à luz do julgamento do Tema 1046 pelo STF. Retoman-
1 Pós-Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Doutor e Mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Economia do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP. Bacharel e Licenciado em História (USP). Licenciado em Geografia (UnB). Bacharel em Ciências Sociais (USP) e em Direito (USP). Atualmente, é Coordenador Acadêmico e do Centro de Pesquisa e Estudos na Escola Superior de Advocacia (ESA/OABSP. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4385-4586
do o debate sobre estruturas empresariais, Rafael Eustáquio da Silva explora as transformações do conceito em O Grupo Econômico no Direito do Trabalho: Da Interpretação Tradicional à Dinâmica Pós-Reforma e os Desafios do Século XXI
Apresentando uma visão contundente, Leonardo Aliaga Betti critica o incidente de desconsideração como um obstáculo à justiça social em O ‘Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica’: Mais um Capítulo da ‘Reforma’ Trabalhista de 2017 e seus Retrocessos As consequências práticas da nova definição de grupo econômico são o foco de Samara Katerine de Souza Araújo em Impactos da Ampliação da Figura do Grupo Econômico pela Reforma Trabalhista de 2017. O acesso à justiça é novamente debatido por Adriana Cristina de Oliveira Teixeira em Justiça Gratuita na Reforma Trabalhista: Interpretação à Luz dos Princípios do Livre Convencimento, do Acesso à Justiça, da Solidariedade e da Dignidade Humana.
As implicações da modernização das relações de trabalho na vida dos indivíduos são abordadas por Juliana da Silva Lopes, que discute O Teletrabalho e seus Impactos na Saúde do Trabalhador A trajetória dos sindicatos é revisada por Fernanda de Oliveira Mendes em Oito Anos da Reforma Trabalhista: Sindicatos e Negociação Coletiva de Trabalho Encerrando o ciclo de análises, Raphael Jacob Brolio apresenta um estudo empírico em Desafi os do Contrato de Trabalho Intermitente no Brasil: Análise Estatística e Lacunas Legislativas
Ao reunir essas quinze análises, esta edição não apenas revisita os oito anos da Reforma, mas reafirma a urgência de um balanço comprometido com o trabalho digno, a solidariedade e a justiça social. Oitenta e cinco anos após a CLT, o Direito do Trabalho brasileiro encontra-se em um limiar entre sua dissolução e sua reinvenção crítica. As contribuições aqui reunidas são um convite à reconstrução do pacto social, reconhecendo que qualquer projeto civilizatório e democrático não pode prescindir da centralidade do trabalho como valor humano e normativo.
REFORMA TRABALHISTA DE 2017: NOVOS REGRAMENTOS
DE DIREITO COLETIVO DO TRABALHO
Andre Cremonesi
Possui graduação em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU (1994) e mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2003). Atualmente é Juiz titular da 5ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
INTRODUÇÃO
Com advento da Lei n° 13.467/2017, denominada de Reforma Trabalhista, muitos artigos foram aprovados, outros tantos revogados e muitos deles receberam nova redação.
A avaliação dos operadores do direito mostra-se dividida quanto à correção e à eficácia das alterações promovidas pelo diploma legal retromencionado.
Ressalvado o respeito que devemos ter com o Poder Legislativo, cuja atribuição não é outra senão a de aprovar leis, na nossa avaliação, em termos gerais, a Reforma Trabalhista não foi a melhor, sobretudo sob a ótica dos trabalhadores.
Por óbvio que um diploma legal de 1943, como é o caso da Consolidação das Leis do Trabalho, deve
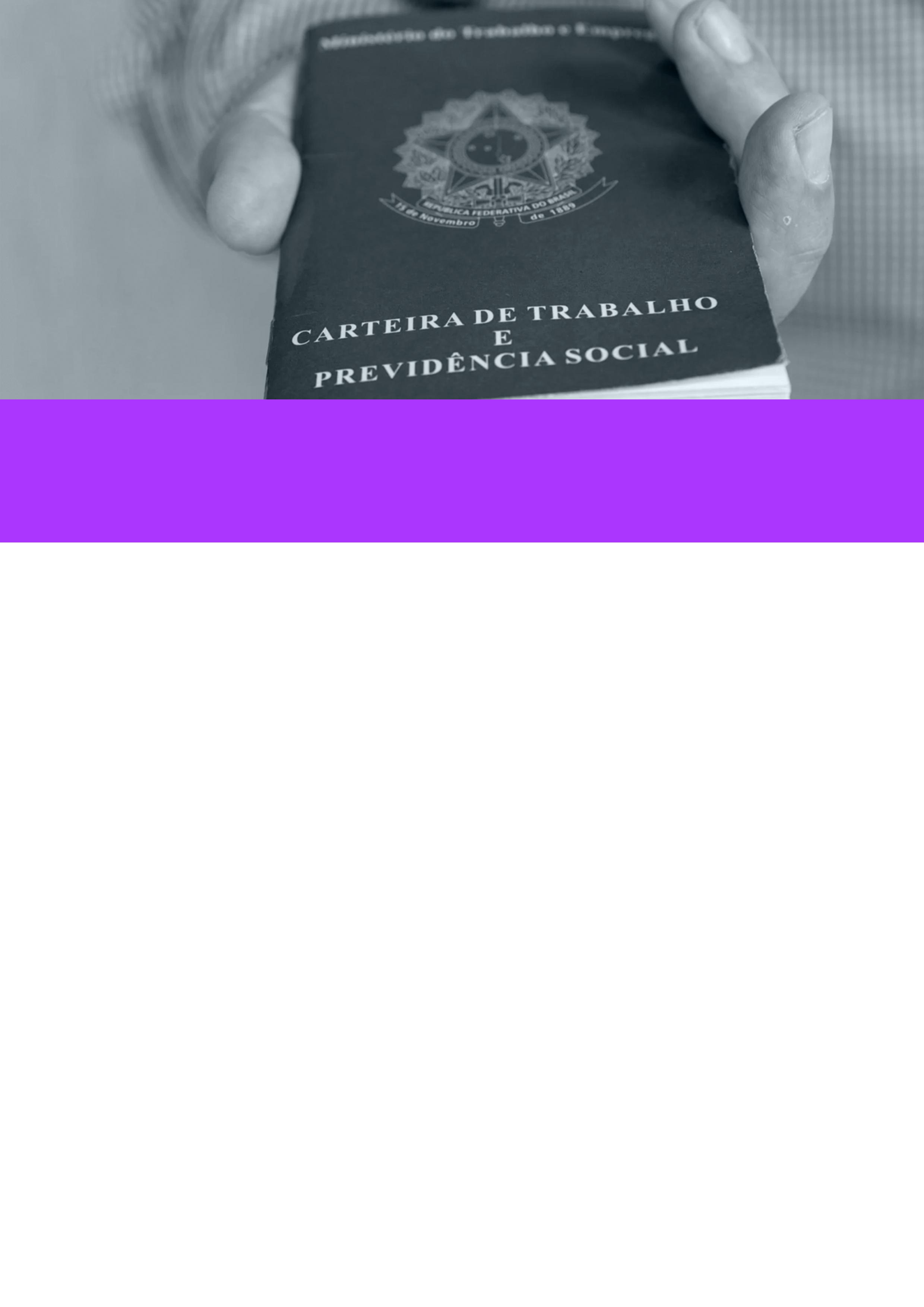
merecer atenção do Poder Legislativo visando atualizar os dispositivos legais para os dias atuais, cuja realidade não é, nem de longe, a mesma quando de sua aprovação.
Contudo, entendemos, s.m.j., que muitas das alterações promovidas pelo Poder Legislativo não deveriam ter ocorrido, nem mesmo sob o argumento questionável de que muitos daqueles dispositivos legais necessitassem de uma atualização drástica.
Neste modesto artigo o objeto de estudo será a inclusão dos artigos 611-A e 611-B e bem assim as alterações promovidas nos artigos 614 e 620, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho.
O objetivo é demonstrar que, se por um lado os artigos 611-A e 611-B, da Consolidação das Leis do Trabalho, indicam o que pode e o que não pode ser ne -
gociado e que deve prevalecer sobre o legislado, por outro lado os artigos 614 e 620, do mesmo diploma legal, se prestam a enfraquecer a luta sindical, como veremos adiante.
O embate capital/trabalho, como conhecido atualmente, remonta os tempos da Revolução Industrial. Isto porque os empregadores têm a convicção de que pagam muito, enquanto que os trabalhadores têm a certeza de que recebem pouco.
Assim, na análise dos dispositivos legais objeto deste estudo tentamos, à exaustão, afastar questões políticas limitando-se a identificar as consequências trazidas para empregadores e trabalhadores com o advento da Reforma Trabalhistas aprovada pela Lei n° 13.467/2017.
1. O QUE CONSAGRA O ARTIGO 611 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRAB ALHO
Antes de tratarmos das inserções dos artigos 611-A e 611-B no Texto Consolidado, mister trazer à colação o contido no artigo 611 desse mesmo diploma legal, in verbis:
Artigo 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.
Parágrafo 1º - É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.
Parágrafo 2° - As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações.
As normas hererônomas de direito do trabalho consagram o que comumente chamamos de “direitos mínimos”. São as normas trabalhistas aprovadas pelo Estado, via Poder Legislativo.
Referidos direitos trabalhistas encontram-se insculpidos no artigo 7°, da Carta Constitucional de 1988 e na Consolidação das Leis do Trabalho.
Entretanto, é certo que alguns empreendimentos trazem melhores resultados aos empregadores, quando comparados a outros menos auspiciosos.
Assim, ao lado das normas heterônomas do direito do trabalho, temos também as normas autônomas deste ramo do direito, ou seja, aquelas normas produzidas por iniciativa das próprias partes e que se prestam a conferir direitos trabalhistas acima do patamar civilizatório mínimo.
Nesse sentido, entre outros, um dos princípios que rege o direito coletivo de trabalho é o da adequação setorial negociada.
Nos ensina o ilustre doutrinador Maurício Godinho
Delgado que:
Pelo princípio da adequação setorial negociada, as normas autônomas juscoletivas, constituídas para incidirem sobre certa comunidade econômico-profissional, podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, desde que respeitados certos critérios objetivamente fixados. São dois esses critérios autorizativos: a) quando as normas autônomas juscoletivas implementam um padrão setorial de direitos
superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma aplicável; b) quando as normas autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade apenas relativa (e não de indisponibilidade absoluta).
No primeiro caso especificado (quando as normas autônomas juscoletivas implementam um padrão setorial de direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma aplicável ), as normas autônomas elevam o patamar setorial de direitos trabalhistas, em comparação com o padrão geral imperativo existente. Assim o fazendo, não afrontam sequer o princípio da indisponibilidade de direitos que é inerente ao Direito Individual do Trabalho.
No segundo caso (quando as normas autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas de in disponibilidade apenas relativa – e não indisponibilidade absoluta), o princípio da indisponibilidade de direitos é realmente afrontado, mas de modo a atingir somente parcelas de indisponibilidade relativa. Estas, assim, se qualificam quer pela natureza intrínseca à própria parcela (ilustrativamente, modalidade de pagamento salarial, tipo de jornada pactuada, fornecimento ou não de utilidades e suas repercussões no contrato, etc.), quer pela existência de expresso permissivo jurídico heterônomo a seu respeito (por exemplo, montante salarial: art. 7°, VI, CF/88; ou montante de jornada: artigo 7°, XIII e XIV, CF/88).
Curso de Direito do Trabalho, 18ª edição, 2019, pág. 1679)
Assim, mostra-se importante – e até mesmo obrigatório - que os atores sociais (empregadores e trabalhadores), devidamente representados por seus entes sindicais, devam negociar, deliberar e assinar uma convenção coletiva de trabalho (celebrada en -
tre entidades sindicais patronais e entidades sindicais de empregados) ou mesmo um acordo coletivo de trabalho (celebrado entre uma ou mais empresas e entidades sindicais de empregados), levando-se em consideração que a atividade empresarial tenha tido melhor produtividade e resultado se comparada com outras atividades ou ainda dentro da mesma atividade.
2. O QUE REZAM OS ARTIGOS 611-A E 611-B DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Dispõem os artigos 611-A e 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho que:
Artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
Inciso I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;
Inciso II - banco de horas anual;
Inciso III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas;
Inciso IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei n° 13.189, de 19 de novembro de 2015 ;
Inciso V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança;
Inciso VI - regulamento empresarial;
Inciso VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;
Inciso VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;
Inciso IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual;
Inciso X - modalidade de registro de jornada de trabalho;
Inciso XI - troca do dia de feriado;
Inciso XII - enquadramento do grau de insalubridade;
Inciso XII - enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em locais insalubres, incluída a possibilidade de contratação de perícia, afastada a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde que respeitadas, na integralidade, as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
Inciso XII - enquadramento do grau de insalubridade;
Inciso XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;
Inciso XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;
Inciso XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo;
Inciso XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.
Parágrafo 1° - No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no § 3° do art. 8° desta Consolidação
Parágrafo 2° - A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico.
Parágrafo 3° - Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.
Parágrafo 4° - Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito.
Parágrafo 5° - Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.
Artigo 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:
Inciso I - normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Inciso II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
Inciso III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
Inciso IV - salário mínimo;
Inciso V - valor nominal do décimo terceiro salário;
Inciso VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
Inciso VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
Inciso VIII - salário-família;
Inciso IX - repouso semanal remunerado;
Inciso X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal;
Inciso XI - número de dias de férias devidas ao empregado;
Inciso XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
Inciso XIII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias;
Inciso XIV - licença-paternidade nos termos fixados em lei;
Inciso XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
Inciso XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
Inciso XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
Inciso XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;
Inciso XIX - aposentadoria;
Inciso XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;
Inciso XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite
de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
Inciso XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência;
Inciso XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
Inciso XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;
Inciso XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso;
Inciso XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;
Inciso XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender;
Inciso XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;
Inciso XXIX - tributos e outros créditos de terceiros;
Inciso XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394A, 395, 396 e 400 desta Consolidação.
Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo.
Os artigos 611-A e 611-B foram aprovados pelo Congresso Nacional, por meio da Lei n° 13.467/2017, para consagrar a prevalência do negociado sobre o legislado, mas com limitações, eis que parte dos direitos trabalhistas são classificados como indisponíveis. Consagrou o legislador, também, o que não poderá ser objeto de negociação coletiva.
Nesse passo, o artigo 611-A rotula expressamente o que pode ser matéria de negociação coletiva, que prevalecerá sobre o Texto Consolidado, enquanto que o artigo 611-B consagra, também de forma expressa, o que não pode ser objeto de negociação coletiva.
Relativamente ao artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho, respeitosamente, pensamos que algumas das matérias contidas em seus incisos não poderiam ser objeto de negociação coletiva, v.g., intervalo intrajornada mínimo de trinta minutos, enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação da jornada quando se tratar de atividade insalubre sem licença prévia do Ministério do Trabalho.
Ainda, quanto ao artigo supracitado, vale lembrar que, nas últimas décadas, a Consolidação das Leis do Trabalho tem sofrido profundas alterações, sendo certo que algumas das matérias ali elencadas já são objeto de negociação coletiva, v.g., banco de horas, regulamento empresarial, modalidade de registro de jornada, participação nos lucros ou resultados, entre outros.
Com o enfraquecimento dos entes sindicais, sobretudo após o fim da contribuição sindical obrigatória, o risco de imposição patronal de flexibilização de direitos trabalhistas previstos em lei, tende a produzir maior concentração de renda aos empregadores, em detrimento de uma melhor distribuição de renda aos trabalhadores, o que não nos parece algo interessante a um País.
De outra banda, o artigo 611-B do Texto Celetizado traz as matérias que não podem ser objeto de negociação coletiva. Paradoxal e estranhamente, em total descompasso com o caput do inciso, o seu parágrafo único preconiza que regras sobre duração do trabalho e intervalo não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho!!!
É certo que o artigo retromencionado consagra o patamar mínimo civilizatório, cujos direitos não podem ser suprimidos ou reduzidos, v.g., férias, 13° salário, anotação do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social, salário maternidade e licença paternidade, aposentadoria, entre outros.
Entretanto, mostra-se estranho, a nosso ver, é o inciso XXIX do artigo 611-B que trata da vedação de negociação coletiva no que respeita a tributos ou a créditos de terceiros. A nosso ver, fica a impressão de que o legislador ordinário da Reforma Trabalhista ser esqueceu do contido no artigo 123 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Em suma: ninguém pode negociar algo que não lhe pertence.
3.
A
DECISÃO
DO
SUPREMA
TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA 1046 DA TABELA DE REPERCUSSÕES GERAIS
Na esteira dos dispositivos legais em comento, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar sobre a constitucionalidade dos artigos 611-A e 611-B do Texto Celetizado.
Assim, no ARE – Agravo em Recurso Extraordinário n° 1.121.633, cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, com julgamento ocorrido no dia 02/06/2022, com acórdão publicado no dia 28/04/2023 e respectivo trânsito em julgado no dia 09/05/2023, a tese firmada foi a seguinte:
São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.
Assim, com a decisão no sentido de que deve prevalecer o negociado sobre o legislado, a matéria foi devidamente pacificada para todo o Poder Judiciário Trabalhista.
Contudo, resta saber as consequências para os jurisdicionados no tocante aos efeitos da decisão supracitada.
4. A NOVA REDAÇÃO DO PARÁGRAFO
3° DO ARTIGO 614 DA CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS DO TRABALHO
O parágrafo 3° do artigo 614 da Consolidação das Leis do Trabalho recebeu nova redação com o advento da reforma Trabalhista, in verbis:
Artigo 614... ...
Parágrafo 3° - Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.
O caput do artigo supracitado e bem assim os parágrafos 1° e 2° deste tratam dos instrumentos cole -
tivos de trabalho, prazo para assinatura e depósito, sua vigência e divulgação.
A novidade trazida pela Lei n° 13.467/2017 encontra-se no parágrafo 3°, que repete a redação anterior, mas acresce dispositivo ao final que veda a ultratividade da norma coletiva.
A nosso ver trata-se de precedente que nos traz reflexões, embora escorada no julgamento da ADPF-DF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 323/DF, na qual foi relator o Ministro Gilmar Mendes, publicada no DFE de 15/09/2022 quando declarou inconstitucional a Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho.
Dizia a Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho:
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABA-
LHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE.
As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificados ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.
É certo que notícia extraída do site do Tribunal Superior do Trabalho, de 30/06/2025, noticia que a Súmula 277 foi formalmente cancelada por aquela Corte, sobretudo por não mais estar em consonância com o regramento legal supracitado.
Singelamente pode-se dizer que ultratividade da norma coletiva seria a superação do termo final desta ultrapassando sua data limite de vigência para período posterior a esta, notadamente no caso de sindicatos patronais (no caso de convenção coletiva de trabalho) e empregadores (no caso de acordo coletivo de trabalho) se recusassem a negociar mais e melhores condições de trabalho para o futuro.
É cediço que a solução dos conflitos coletivos de trabalho pode ocorrer das seguintes formas:
a) Autocomposição - A solução ocorre com a celebração de convenções coletivas de trabalho ou de acordos coletivos de trabalho.
b) Heterocomposição – A solução ocorre via Poder Judiciário Trabalhista (jurisdição estatal) quando proposta ação de dissídio coletivo de natureza econômica, ou mesmo via mediação ou via arbitragem.
c) Autodefesa – A solução ocorre seja pela deflagração de greve ou pelo lockout, este último proibido no Brasil.
A autocomposição é a forma de solucionar conflitos trabalhistas em que as próprias partes chegam a um acordo para colocar fim ao litígio, sem qualquer intervenção de terceiros.
Todavia, imaginemos que os patrões, de forma deliberada, se recusem a negociar com os empregados, quer via sindicato patronal, quer via empresa.
Por óbvio que dificuldades econômicas podem surgir para os patrões entre a vigência de um instrumento coletivo de trabalho e/ou no momento da renovação. Com efeito, isso pode tornar as negociações mais complicadas e mais difíceis. Entretanto, esse problema não autoriza a negativa dos patrões em se submeterem à negociação coletiva, a teor do que dispõe o artigo 616, caput, da própria Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis:
Artigo 616 - Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.
Como saída para o impasse podemos sustentar que a busca da solução dos conflitos trabalhistas deve ser resolvida pela heterocomposição, quando um terceiro é quem vai decidir sobre o litígio.
Já adiantamos que, no Brasil, a cultura da mediação e da arbitragem não evoluiu a contento, donde resta, de verdade, a jurisdição estatal para colocar fim ao litígio.
Entretanto, com o advento da Emenda n° 45/2004, uma alteração foi promovida pelo legislador constituinte derivado, mais precisamente no parágrafo 2° do artigo 114 da Carta Republicana de 1988, in verbis:
Artigo 114...
...
Parágrafo 2° - Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.
...
Com efeito, a expressão, “de comum acordo” não foi bem recebida entre os operadores do direito, sobretudo porque estaria vinculando a concordância de um réu com uma ação que haverá de ser proposta contra si no futuro, o que indica verdadeiro contrassenso entre partes que se encontram diametralmente opostas face à existência de um litígio.
O dispositivo constitucional em comento recebeu 05 (cinco) ADIs – Ações Diretas de Inconstitucionalidade, a saber: 3392, 3423, 3431, 3432 e 3520. O julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que o dispositivo constitucional supracitado encontra-se em consonância com a Cons -
tituição Federal, donde resultou na improcedência das mesmas. Um dos argumentos utilizados no v. acórdão foi no sentido de que, com essa decisão, a autocomposição estaria sendo estimulada entre as partes.
Mas as negociações coletivas tem início justamente na tentativa de autocomposição, e que, se provocada a jurisdição estatal, é porque a forma de composição entre as partes teria sido frustrada!!!
De todo o modo, em havendo recusa à autocomposição (celebração de convenções coletivas de trabalho ou de acordos coletivos de trabalho) e não havendo concordância expressa dos réus com a propositura de ações de dissídio coletivo, restaria, então, a autodefesa , que diga-se de passagem, é a pior de todas as formas de solução dos conflitos trabalhistas.
Com efeito, a quem interessaria a deflagração de um movimento paredista (greve dos empregados)?
Aos empregados não interessa, posto haver um desgaste gigantesco nas relações com seus patrões podendo culminar com dispensas indesejadas posteriores, sobretudo se a greve for declarada abusiva pelo Poder Judiciário Trabalhista.
Aos empregadores não interessa, eis que deixam de produzir bens e serviços, o que reduz sensivelmente as vendas e, em consequência, o lucro patronal.
Ao governo não interessa, pois se as empresas não vendem produtos e serviços terminam por não recolher tributos necessários à manutenção máquina governamental.
Considerado o fato de que o objetivo maior é a solução dos conflitos trabalhistas de modo a evitar tanto a propositura de ações de dissídio coletivo de natureza econômica, bem como evitar a todo custo a deflagração de greve, respeitosamente, a nosso ver, o
legislador ordinário não deveria ter vedado a aplicação da ultratividade da norma coletiva, ou seja, permitir sua extensão de vigência, mesmo após o término desta, até que outra fosse assinada pelos entes sindicais.
Reforça o nosso entendimento a favor da aplicação da ultratividade da norma coletiva o fato de que, o disposto no artigo 616, parágrafo 3°, do Texto Consolidado, enfraquece sobremaneira a luta sindical na busca de mais e melhores condições de trabalho, eis que lhe traz evidente desprestígio quanto à sua atuação constitucional.
5. A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 620 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
O artigo 620 da Consolidação das Leis do Trabalho recebeu nova redação com o advento da reforma Trabalhista, in verbis:
Artigo 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.
A redação anterior do supracitado dispositivo legal era no sentido de que se as condições de trabalho estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, se mais favoráveis, prevaleceriam sobre aquelas estipuladas em acordo coletivo de trabalho.
A nosso ver, com todo o respeito a opiniões em contrário, a redação anterior atendia bem mais os interesses dos trabalhadores, na medida em que poder-se-ia aplicar ou a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho, dos dois o instrumento coletivo que contivesse melhores condições de trabalho àqueles.
Não ignoramos que, por vezes, uma empresa de um determinado setor, pode estar em melhores condi -
ções econômicas e financeiras do que outras desse mesmo setor, o que permitiria àquela observar os direitos previstos em convenção coletiva de trabalho (aplicável aos patrões e aos empregados daquela categoria econômica e profissional, respectivamente), enquanto outras não poderiam fazê-lo.
De outra banda, a imposição de aplicar sempre as cláusulas de um acordo coletivo de trabalho, qualquer que seja o conteúdo deste e não de uma convenção coletiva de trabalho, nos parece que caminha, em tese, para a possibilidade de pressionar os empregados – agora circunscritos a uma empresa – a aceitarem condições de trabalho menos interessantes e vantajosas do que aquelas previstas em convenção coletiva de trabalho, em especial sob ameaça de demissões em massa caso isso não ocorra.
Por óbvio que impor aos empregados a assinatura de um acordo coletivo de trabalho menos vantajoso sob o aspecto econômico a estes culmina com o fracionamento da luta sindical, cujo objetivo não é outro senão o de coalizão de trabalhadores com um objetivo único, qual seja alcançar mais e melhores condições de trabalho.
Nesse sentido, melhor seria os empregados todos de uma categoria profissional unidos em prol de direitos trabalhistas – e não apenas empregados de uma única empresa - além daqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, que abarca apenas e tão somente direitos mínimos.
Com a nova redação vislumbramos uma dificuldade maior dos trabalhadores conseguirem mais e melhores condições de trabalho, eis que sempre deverá prevalecer o acordo coletivo de trabalho e não a convenção coletiva de trabalho, dos dois o melhor.
Nessa linha de raciocínio, o poderio econômico representado pelo empregador por certo haverá de
exercer maior pressão sobre os trabalhadores, mesmo que dependam da aprovação dos trabalhadores em assembleia, como previsto em nosso ordenamento jurídico.
Evidente, pois, que haverá um fracionamento inafastável da luta sindical por mais e melhores condições de trabalho.
6. CONCLUSÃO
Ao final podemos concluir que:
a) Nem todos os incisos do artigo 611-A deveriam ter sido contemplados com a possibilidade de prevalecerem sobre o legislado;
b) O artigo 611-B consagra o que se denomina de patamar mínimo civilizatório, não podendo o legislador aprovar normas diversas daquelas ali elencadas, embora ao menos uma dela já esteja prevista no Código Tributário Nacional. Além disso, mostra-se paradoxal e respeitosamente equivocado o contido no parágrafo único do referido dispositivo que sustenta que jornada e intervalos não são considerados como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho;
c) A nosso ver, respeitosamente, entendemos que o fim da ultratividade da norma coletiva de trabalho mostra-se equivocada, pois coloca os empregadores numa posição mais vantajosa quando se recusarem à negociação coletiva, com permissivo de indevido fracionamento da luta sindical;
d) Por fim, a nosso ver, entendemos que consagrar expressamente que os acordos coletivos de trabalho haverão de prevalecer sobre as convenções coletivas de trabalho traz inequívoco indicativo de fracionamento da luta sindical.
O CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE MARCA: REFLEXÕES
DE GRUPO ECONÔMICO FIXADO PELA LEI
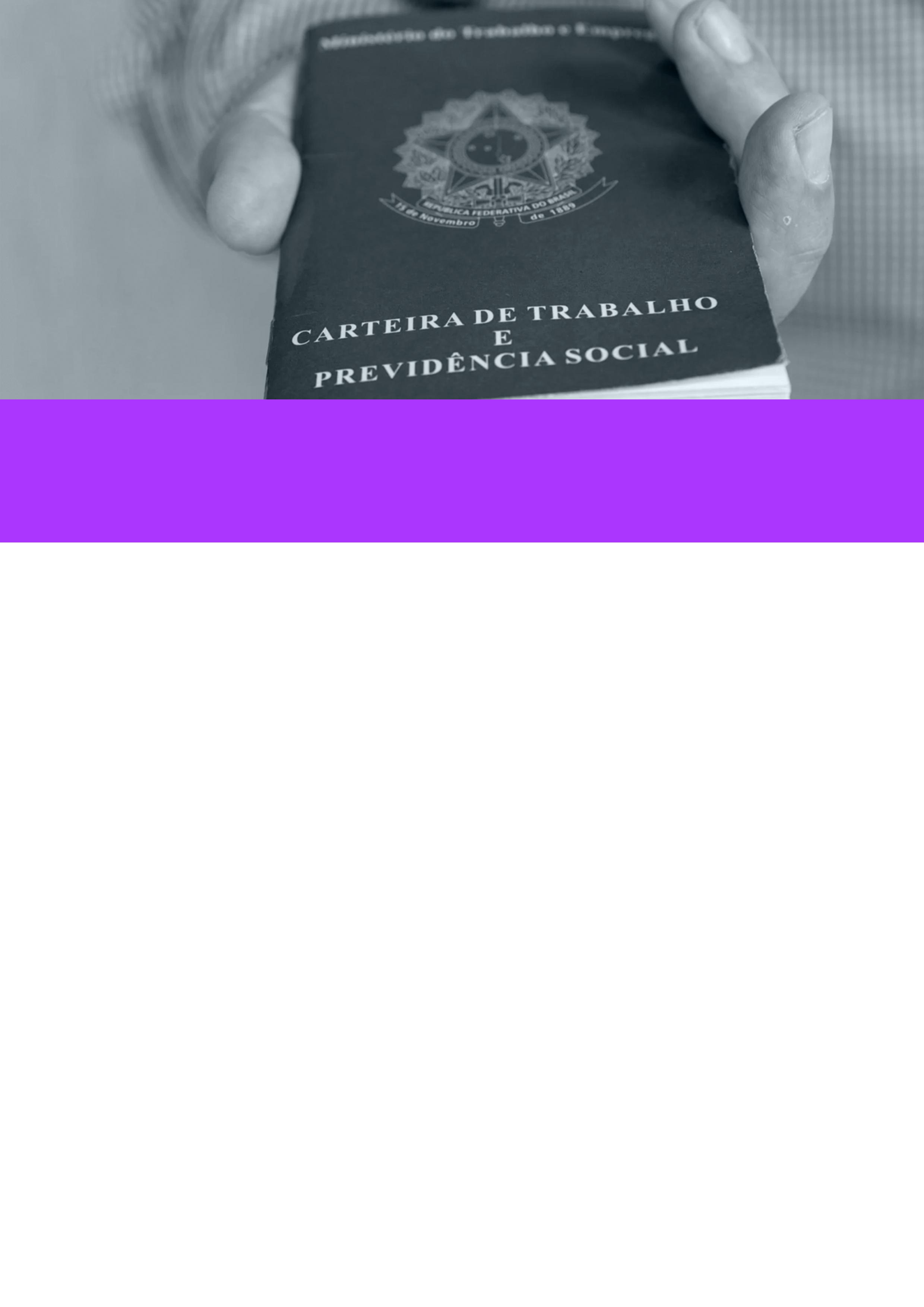
Graduação em Direito pela USP, Mestrado e Doutorado pela PUCSP, Pós Doutorado pelo Mediterranea International Center for Human Rights (Reggio Calabria, Italy). Professora do Programa de Pós Graduação em Direito da PUCSP. Perita em relações trabalhistas – OIT. Advogada trabalhista.
A Lei n° 13.467/2017 alterou o art. 2° da CLT, que trata do conceito de grupo econômico, e incluiu o §3° para deixar expresso que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Para configurar um grupo, é preciso demonstrar os seguintes requisitos de forma concomitante: (i) interesse integrado; (ii) efetiva comunhão de interesses; e (iii) atuação conjunta das empresas integrantes.
A partir dos novos contornos do grupo econômico definidos pelo legislador, pretendemos no presente artigo analisar as questões jurídicas decorrentes do licenciamento de marca industrial devidamente registrada, enfrentando o questionamento sobre este licenciamento induzir ou não à formação de grupo econômico para fins trabalhistas.
1.1. Marca
Ao lado do movimento de proteção às criações do espírito, surgiu a necessidade de identificação da origem dos produtos, para evitar que os mais afoitos se servissem do conceito dos produtos alheios para inculcar os seus. Surgiu a proteção à marca de fábrica que constitui um bem de caráter imaterial que passou a ser visto igualmente como uma forma de propriedade. A proteção especializou-se e surgiu a marca de comércio, aposta pelo comerciante a produto por ele encomendado1
A questão dos negócios jurídicos relativos a itens singulares, integrantes de um fundo de comércio, tem sido - faz algum tempo - objeto de atenção pelo Direito. A noção é a de que elementos do fundo de comércio, individualmente ou como um todo, podem
1 SILVEIRA, Newton. Curso de Propriedade Industrial. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987, p.15.
Carla Teresa Martins Romar
também ser objeto de negócios jurídicos, em particular a propriedade imaterial: “Também constitui elemento do fundo de comércio a propriedade imaterial, que se caracteriza pelo que se costumou chamar de aviamento e pela freguesia, elemento do aviamento que, pela sua importância na marcha dos negócios do comerciante, tem papel preponderante nos mesmos2 ”.
Aviamento, afinal, é protegido pelo direito em função de sua potencialidade de lucro, mas apenas assumirá significado concreto quando tomados em consideração à própria organização empresária. Isoladamente considerado não frutifica ou produz relações jurídicas autônomas e lucratividade. Somente em um estabelecimento organizado pode ele manifestar-se com aptidão para produzir lucros, como energia acumulada, transfusa, difusa, objetivada do estabelecimento 3 . O mesmo sucede com a marca, a qual isoladamente não tem nenhuma utilidade prática. Apenas quando organizada e explorada empresarialmente é que se constituirá uma integralidade articulada sob a organização do empresário.
Marca é uma subespécie da espécie propriedade industrial, que por sua vez é uma espécie do gênero propriedade intelectual. Do outro lado, também dentro do gênero propriedade intelectual, há a espécie direitos autorais, que ainda aprisiona como suas subespécies as obras literárias, as científicas e as artísticas.
Como esclarece Newton Silveira, todo nome ou sinal hábil para ser aposto a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviços e estabelecer entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação, cons -
2 MARTINS, Fran Martins. Curso de Direito Comercial, 8ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 513.
3 Essa ideia está contida na obra de Evaristo de Moraes Filho Sucessão nas obrigações e teoria da empresa. vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 1960. P. 355- 357.
titui marca. Assim, a natureza da marca decorre de sua finalidade. O sinal deve simplesmente ser capaz de preencher tal finalidade. É importante considerar que o sinal ou nome não é o produto, acresce-se a ele 4
Em sentido similar são as lições do Prof. Irineu Strenger, para quem a marca juridicamente considerada não exerce outra função que a de individualizar, em um ou outro aspecto, produtos ou serviços. A presença de uma marca significa somente que todas as coisas que ostentam aquele sinal têm em comum determinado caráter, certo elemento funcional, ou que ao mesmo tempo tenha sido comum certo fato, evento ou operação que possua algum significado social, técnico ou jurídico 5
Assim, dentro do grande gênero “propriedade intelectual”, temos o seguinte:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Invenções
Modelo de Utilidade Marcas
DIREITOS AUTORAIS
Obras literárias, científicas e artísticas
Como dito linhas acima, a espécie propriedade industrial era composta por variado número de subespécies como as invenções, os modelos de utilidades e os desenhos industriais. Todas espécies do gênero propriedade intelectual
4 SILVEIRA, Newton. Curso de Propriedade Industrial. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987, p. 19. E o autor cita o exemplo seguinte: “Como a finalidade é identificar o produto, é preciso que a marca tenha características que permitam tal identificação. Por exemplo – escrever queijo num queijo não o distingue dos outros, que, geralmente, levam a mesma indicação. Então a marca não está marcando. Em suma, a marca é um sinal, que se acresce ao produto para identificá-lo e que deve ser suficientemente característico para preencher tal finalidade”.
5 STRENGER, Irineu. Marcas e patentes. 2ª ed. São Paulo: LTr, 2004, p.25.
As marcas e o nome comercial encontram expressa disciplina na Convenção da União de Paris 6
Absorvendo as lições da doutrina especializada e do sedimentado debate internacional, a proteção às marcas encontrou expressão e regramento próprio relativamente recente no ordenamento jurídico brasileiro. De conformidade com a Lei n° 9.279/96, em seu artigo 122, marca é o sinal distintivo, suscetível de percepção visual e que identifica de forma direta ou indireta produtos ou serviços. Eis a sua redação: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
Prosseguindo na sistematização da matéria, registre-se o art. 123, do mesmo diploma legal: Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e IIImarca coletiva: aquela usada para identificar produtos
6 A Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial teve seu início sob a forma de anteprojeto, redigido em uma Conferência Diplomática realizada em Paris no ano de 1880. Nova conferência foi convocada em 6 de março de 1883, para aprovação definitiva do texto, que entrou em vigor um mês depois do depósito de instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 1883. O presidente da conferência de 1880 pronunciou frase histórica: “Nós escrevemos o prefácio de um livro que vai se abrir e que não será fechado se não após longos anos”. Desde o começo, a Convenção previa em seu art. 14, a celebração de conferências periódicas de revisão a fim de introduzir no texto original, instrumentos destinados a aperfeiçoar o sistema da união à luz da experiência obtida em sua aplicação prática. Várias foram as modificações introduzidas no texto de 1883 através de 7 revisões. Na primeira, em Roma, os atos assinados não forma ratificados por nenhum país. Seguiram-se as Revisões de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). O Brasil, país signatário original, aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992.
ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
As marcas também são passíveis de registro para que exista a sua exploração e proteção jurídica. A concessão do registro (assim como a de patente) é realizada por meio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
No Brasil o INPI distingue as marcas em 3 espécies: nominativas, figurativas ou mistas. A primeira, a nominativa, é composta por um nome (substantivo), como, por exemplo, Ford. A segunda, isso é, a figurativa, é composta por um desenho, como, por exemplo, a borboleta da Chevrolet; e a mista tem como exemplo a Coca Cola, que tem tanto um nome quanto um desenho ou uma tipografia específica.
Em resumo, marca é o sinal distintivo que identifica, direta ou indiretamente, um produto ou um serviço. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos. Ela também cria um vínculo de identificação de origem, permitindo assim que consumidores identifiquem rapidamente aquele fabricante ou prestador de serviço.
Importante não confundir marca com nome empresarial. Esta distinção ganha relevo já que a marca registrada no INPI não se confunde com o nome empresarial, registrado nas Juntas Comerciais de cada estado da federação. Ademais, o nome empresarial tem validade jurídica, mas não é necessariamente o nome pelo qual os consumidores conhecem a empresa no mercado.
Como mostra Fábio Ulhoa Coelho, o primeiro elemento distintivo entre “marca” e “nome empresarial” diz respeito ao órgão em que são registrados: a proteção ao nome empresarial deriva da inscrição da firma individual, ou do arquivamento do ato consti -
tutivo da sociedade, na Junta Comercial, ao passo que a da marca decorre do registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A segunda diferença é uma consequência da primeira. A proteção conferida pela Junta Comercial ao nome se exaure nos limites do Estado a que ela pertence, enquanto que os efeitos do registro de marca são nacionais (CC/02, art. 1.166). A terceira diferença está relacionada ao âmbito material da tutela. A marca tem a sua proteção restrita à classe dos produtos ou serviços em que se encontra registrada pelo INPI, enquanto o nome empresarial é protegido independentemente do ramo de atividade econômica a que se dedica o empresário7
Uma empresa pode ter um único nome empresarial e várias marcas registradas, que farão parte de seu patrimônio. Inclusive, esse é o caso de importantes empresas, como, por exemplo, a Unilever, que possui diversas marcas registradas como Close-Up, Comfort, Dove, Becel, Knorr, entre outras.
Ou seja, para efetivamente proteger os interesses jurídicos de uma empresa, é preciso se atentar não apenas para o registro de seu contrato ou estatuto social, como também para o registro e uso de sua marca em diferentes ramos de atuação.
Nesse ponto, importante questionar por que uso de marca não constitui empresa?
Pelo fato de que marca é apenas um elemento isolado da empresa, um bem incorpóreo. E a prova maior disso é que marcas e patentes são registradas no INPI, e não na Junta Comercial.
Marca isoladamente considerada não é “empresa”; e sua exploração não gera sucessão ou grupo econômico nem do ponto de vista comercial e nem do ponto de vista trabalhista.
7 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 181-182.
O Código Civil não conceitua empresa, mas empresário e estabelecimento (art. 1.142), que é um complexo de bens corpóreos e incorpóreos, in verbis: “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizados, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. (grifos nossos)
Assim, inserem-se no estabelecimento comercial o estoque de mercadorias, os imóveis, as instalações e, no tocante aos bens incorpóreos, as patentes, marcas e inclusive serviços8
Ora, estabelecimento é bem coletivo ou, como conceitua a doutrina, uma universalidade: conjunto de mercadorias, imóveis, instalações, patentes, aviamento, clientela, conjunto de mão de obra etc, enfim, um feixe de relações jurídicas organizado. É o complexo de bens de natureza variada, materiais (mercadorias, máquinas, móveis, veículos, equipamentos, estrutura etc) ou imateriais (marcas, patentes, tecnologia, ponto etc), reunidos e organizados pelo empresário por serem necessários para a exploração de sua atividade econômica, ou melhor, para o exercício da empresa.
A marca é apenas um direito incorpóreo e pertence ao estabelecimento. É coisa singular.
Por isso não há sucessão trabalhista com a transferência de coisas singulares. É necessário existir uma universalidade, isto é, a transferência de parte significativa do estabelecimento ou da empresa, de um complexo empresarial, de um organismo vivo, de modo a afetar significativamente os contratos de trabalho, como é, ademais, entendimento assente na doutrina.
8 Cf. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, in Empresa, empresário e estabelecimento. A nova disciplina das sociedades. Revista do Advogado [da Associação dos Advogados de São Paulo]. Direito Empresarial no Novo CC. São Paulo: AASP, nº 71, p. 15-25, ago./03, p. 19
1.2. Contrato de licença de uso de marca
Nesse ponto, impõe-se responder dois questionamentos: se contrato de licença de uso de marca induz grupo econômico e, ainda, se seria possível reconhecer alguma responsabilidade de da licenciada em relação às dívidas trabalhistas da licenciadora e a relação de tal fato com outras empresas que exploraram ou exploram a marca.
Normalmente se utiliza a expressão contrato de licença para uso de marca. Cedente/licenciante é quem transfere o uso da marca, cessionário/licenciado é quem dela faz uso.
Em que consiste um contrato de licença de uso de marca?
A licença, aduz Fábio Ulhoa Coelho, é o contrato pelo qual o titular de uma patente ou registro (licenciador) autoriza a exploração do objeto correspondente pelo outro contratante (licenciado), sem lhe transferir a propriedade intelectual. A autorização pode ser concedida com ou sem exclusividade e admite limitações temporais ou territoriais, hipóteses em que os seus efeitos se circunscrevem aos âmbitos definidos pelas partes. Entre as partes, esclarece Ulhoa, é aplicável, subsidiariamente as normas estabelecidas pela legislação de direito industrial, o regime jurídico do contrato de locação de coisas móveis (CC/2002, arts. 565 a 5789).
A lei brasileira também traz uma definição legal, ao fixar que o contrato de licença de uso da marca se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no INPI, devendo respeitar o disposto nos artigos 139, da Lei n. 9.279/96 (LPI): Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de
9 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 170.
seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos”.
A licença, pois, é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a marca, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da marca promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da marca.
Para Luiz Leonardos, em clássico estudo, “usualmente, o contrato de licença é o contrato pelo qual o titular da invenção ou da marca, já patenteada ou registrada ou, pelo menos, para as quais tenha sido pedida a patente ou o registro, cede a terceiros o direito de uso ou exploração do invento ou da marca, mediante uma retribuição, conservando a respectiva propriedade10 ”.
Assim, pela licença de uso de marca, o titular do direito exclusivo autoriza o uso e o gozo do objeto de sua patente e sinal distintivo ou, como quer parte da doutrina, compromete-se a não exercer o seu poder de proibir o uso.
À luz do acima exposto, logo se vê que quando uma empresa firma com outra um contrato de licença de marca há, neste caso, uma transferência, de um titular a outro, estritamente de uma parte isolada do estabelecimento (a marca, bem incorpóreo) a qual sozinha não é passível de qualquer exploração. Falta-lhe a unidade funcional organizada. Não é estabelecimento e nem empresa. É apenas uma parte 10 LEONARDOS, Luiz. O contrato de licença para exploração de privilégio de invenção e para uso de marca Tentativa de análise jurídica. Anuário da Propriedade Industrial-Publicação especializada em marcas e patentes, Edição de 1978. Editora Previdenciária. São Paulo. Pg. 39-52.
incorpórea isolada; tal como a compra de determinado maquinário que, sozinho, não é uma empresa.
Não se verifica, em tal hipótese, uma transmissão de funcionalidade organizada. Nesse sentido, aliás, é o Enunciado n. 233 da III Jornada de Direito Civil, ao interpretar o art. 1.142 do Código Civil de 2002: “A sistemática do contrato de trespasse delineada pelo Código Civil nos arts. 1.142 e seguintes, especialmente seus efeitos obrigacionais, aplica-se somente quando o conjunto de bens transferidos importar a transmissão da funcionalidade do estabelecimento empresarial”.
Com efeito, o objeto de transferência para efeitos de sucessão trabalhista é a unidade econômico-jurídica funcionalmente organizada, isto é, universalidade - e não coisas singulares -, como, in casu, o direito de utilizar, provisoriamente, uma marca.
Este é o entendimento da jurisprudência atual do C. TST, como se verá no tópico a seguir, muito bem distinguindo uso de marca, contrato de franquias e contratos comerciais afins das situações trabalhistas de sucessão e grupo econômico regidas pela CLT.
Apenas para que não pairem dúvidas, e para a devida compreensão de tal figura de direito comercial, ligada à intermediação industrial, insta transcrever as elucidativas lições do Prof. Waldirio Bulgarelli, o qual didaticamente agrupa a espécie “contrato de concessão de marca” no gênero maior “contrato mercantil”, e assim esclarece: “admite-se que há uma função intermediadora mais geral no quadro da economia, por força da qual, entre o produtor e o consumidor, inserem vários tipos de agentes. De acordo com a função específica de cada um desses agentes, alguns são denominados intermediários propriamente ditos, porque representando direta ou indiretamente os produtores ou distribuidores exercem função eminentemente auxiliar daqueles, ao passo que ou-
tros atuam sem esse caráter, comprando, vendendo ou prestado serviços conexos. A primeira distinção, pois, que se deve fazer para melhor agrupá-los é a de que a atuação de alguns deles não implica em compra e venda, por parte do próprio agente para negociar; são os mediadores que intervêm nos negócios, por conta de outrem, atuando basicamente através de uma atividade auxiliar, com ou sem representação. Neste grupo, podem ser alinhados: o mandato, a comissão, a agência (representação comercial ou autônoma) e a distribuição. No segundo grupo ficam aqueles agentes que, embora tenham também uma função intermediadora, atuam comprando para vender, em caráter continuado, embora não se esgotem essas atividades de mera compra para revender acrescendo-se em geral a prestação de assistência técnica. São os de: concessão por revenda. O terceiro grupo é constituído por aqueles agentes que para vender ou produzir ou oferecer serviços e utilidades obtém a cessão de marcas ou nome comercial; é integrado basicamente pela franquia (franchising). Finalmente, num quarto grupo, aqueles agentes que embora não atuem diretamente no campo da compra e venda ou da intermediação direta para auxiliar a venda, exercem atividades auxiliares na área do financiamento e da cobrança de títulos emitidos pela compra e venda; é o factoring (faturização)11 ”. Bem situada a figura comercial de licença de marca nos quadros do direito comercial, passa-se ao exame detalhado do contrato de licença de marca, bem como a visão que sobre ele tem a Justiça do Trabalho.
11 BULGARELLI, Waldírio. Contratos Mercantis. Ed. Atlas, 14ª ed., 2001, p. 453 e 454.
1.3. Contrato de “licença de marca” e contrato de “franquia”: uma comparação necessária. Posição da jurisprudência trabalhista.
Para efeitos trabalhistas, justifica-se a comparação entre “contrato de licença de marca” e “contrato de franquia” basicamente por duas ordens de razão.
A primeira é a de que, como bem compreendido pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), franquia e licença de uso de marca constituem contratos mercantis entre empresas, fato que não configura grupo econômico ou sucessão trabalhista ou outra modalidade de responsabilidade trabalhista entre as empresas celebrantes envolvidas.
A segunda é porque, a rigor, dentro de um contrato de franquia está abrangido o contrato de uso de marca, vale dizer, não existe franquia sem uso de marca. Ora se nem mesmo contratos de franquia –cujos pontos de contato entre as partes envolvidas têm uma profundidade e amplitude inegavelmente maiores – não constituem grupo econômico, com muito maior razão uma mera cessão provisória apenas de uso de marca ensejaria responsabilidade trabalhista ou configuraria grupo econômico para fins trabalhistas ou civis.
Na doutrina, também comunga deste entendimento, por exemplo, Vólia Bonfim Cassar, ao dizer que na franquia não existe a atuação conjunta entre franqueador e franqueado, mas há apenas um “vínculo formal de cumprimento de regras de uso e exploração de marca e produto”, não se caracterizando nem como grupo econômico nem como terceirização.
Na franquia não há interesse na ingerência administrativa dos sócios de uma sociedade na administração das outras “franqueadas”. Há, apenas, um vínculo formal de cumprimento das regras de uso e
exploração da marca e produto. Há interesses integrados, mas não atuação conjunta. Logo, nos contratos de franquia, não há formação de grupo econômico trabalhista entre as empresas franqueadas ou entre a franqueada e franqueadora, já que a pessoa que adquire a franquia paga apenas para utilizar a marca, os produtos e o know-how da “franqueadora”. De resto, controla seu próprio negócio, o administra e não sofre a ingerência administrativa ou controle da franqueadora. Seus empregados não possuem qualquer relação com os empregados das demais pessoas jurídicas que também exploram a mesma franquia ou com o franqueador 12
Cabe observar que uma transferência de marca ou patente pode envolver contrato de franquia, como previsto, expressamente, no art. 2°, da Lei n° 8.955/94, sendo, inclusive, a hipótese mais comum no âmbito trabalhista. E a franquia, por si só, figura de transferência, não gera grupo econômico ou sucessão trabalhista.
Como mostra Waldirio Bulgarelli: “O franchising é figura contratual atípica, decorrente de novas técnicas negociais, no campo da distribuição e venda de bens e serviços, uma operação pela qual um comerciante, titular de uma marca comum , cede seu uso, num setor geográfico definido, a outro comerciante (...) Destaca-se na análise da operação da qual resulta o contrato de franchising, além do seu aspecto mais aparente que é o da complexidade, também a importância da marca (em sentido genérico, posto que se admite a utilização pelo usuário também de nome comercial, rótulo de estabelecimento etc) que vai ser explorada pelo beneficiário; o caráter continuado da operação e a independência do beneficiário13 ”.
Expliquemos.
12 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: Método, 2017. P. 433. 13 Op. cit., op. 529.
A modalidade contratual das franquias, de fato, é muito mais complexa que o contrato de licenciamento de marca e envolve não só a cessão do direito de uso de determinada marca, como também a transferência de know how sobre a produção, comercialização e/ou distribuição de produtos ou serviços. No contrato de franquia também estão envolvidas regras estabelecendo o direito de realizar propaganda, o comodato de manuais de franquia e uma série de direitos e obrigações entre as partes que permitem ao franqueador entregar ao franqueado um negócio formatado e que, por essa razão, pode ser replicado na forma de rede ou sistema de negócios. E é pacífico, na doutrina, legislação e jurisprudência trabalhistas, que franquia não configura grupo econômico, dada a autonomia econômica e jurídica entre as empresas.
Valiosas, as observações que sobre esse tipo de contrato empresarial faz o conceituado especialista Fábio Ulhoa Coelho, em Manual de Direito Comercial. Referido autor mostra que franquia é um contrato pelo qual um empresário (franqueador – franchisor) licencia o uso de sua marca a outro (franqueado —franchisee) e presta-lhe serviços de organização empresarial, com ou sem venda de produtos. Através deste tipo de contrato, uma pessoa com algum capital pode estabelecer-se comercialmente sem precisar proceder ao estudo e equacionamento de muitos dos aspectos do empreendimento, basicamente os relacionados com a estruturação administrativa, treinamento de funcionários e técnicas de marketing. Isto porque tais aspectos encontram-se já suficiente e devidamente equacionados pelo titular de uma marca de comércio ou serviço e ele lhe fornece os subsídios indispensáveis à estruturação do negócio.
A franquia consiste, de acordo com Ulhoa, “na conjugação de dois contratos: o de licenciamento
de uso de marca e o de organização empresarial. Normalmente, o franqueado dispõe de recursos e deseja constituir uma empresa comercial ou de prestação de serviços. Contudo, não tem os conhecimentos técnicos e de administração e economia geralmente necessários ao sucesso do empreendimento nem os pretende ter. Do outro lado, há o franqueador, titular de uma marca já conhecida dos consumidores, que deseja ampliar a oferta do seu produto ou serviço, mas sem as despesas e riscos inerentes à implantação de filiais. Pela franquia, o franqueado adquire do franqueador os serviços de organização empresarial e mantêm com os seus recursos, mas com estrita observância das diretrizes estabelecidas por este último, um estabelecimento que comercia os produtos ou presta os serviços da marca do franqueador. Ambas as partes têm vantagens, posto que o franqueado já se estabelece negociando produtos ou serviços já trabalhados junto ao público consumidor, através de técnicas de marketing testadas e aperfeiçoadas pelo franqueador; e este, por sua vez, pode ampliar a oferta da sua mercadoria ou serviço, sem novos aportes de capital.” 14
Como é sabido, ante a complexidade dessa forma negocial, estabeleceu-se lei específica para o sistema de franquias, regrado pela Lei n° 8.955/94 que conceitua a franquia da seguinte forma: Art. 2°. Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca 14 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 125; 127. E continua Fabio Ulhoa Coelho: “Os serviços de organização empresarial que o franqueador presta ao franqueado são, geralmente, os decorrentes de três contratos, que podem ser tratados autonomamente. Primeiramente, o contrato de engineering, pelo qual o franqueador define, projeta ou executa o layout do estabelecimento do franqueado. Em segundo lugar, o management, relativo ao treinamento dos funcionários do franqueado e à estruturação da administração do negócio. Por fim, o marketing, pertinente às técnicas de colocação dos produtos ou serviços junto aos seus consumidores, envolvendo estudos de mercado, publicidade vendas promocionais, lançamento de novos produtos ou serviços etc.”
ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.
Como se depreende do próprio conceito legal, o contrato de licenciamento de marca está contido no contrato de franquia, mas com ele claramente não se confunde: é apenas parte do todo que compõe o contrato de franquia. Assim, o que se verifica é que neste, opera-se maior complexidade na relação franqueador e franqueado que não se observa no contrato de licenciamento.
Finalize-se apresentando a posição cediça da jurisprudência do TST, para o qual a licença de uso de marca e de franquia constituem contratos tipicamente comerciais, sem qualquer aspecto subsumível à figura de sucessão trabalhista ou de grupo econômico encartadas na CLT (arts. 2° §2°, 10 e 448). Permitimo-nos transcrever os julgados, aplicáveis à discussão que ora se coloca:
“RECURSO DE REVISTA. CONTRATO DE FRANQUIA. MARCA OU PATENTE. DIREITO DE USO. ENTREGA DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. GRUPO ECONÔMICO TRABALHISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO I. Os contratos de franquia e assemelhados visam a promover a cooperação entre empresas, proporcionando ao proprietário de uma marca conhecida maior participação no mercado e ao comerciante o direito de uso da marca, da tecnologia, do estudo de mercado e do sistema de gestão. II. Conquanto somem esforços para alcançar objetivos comuns, os contratos dessa natureza caracterizam-se pela autonomia da personalidade e do patrimônio dos
contratantes. III. Da moldura fática delineada no acórdão regional não se verifica a subordinação direta do Reclamante à empresa dona da marca, tampouco uma ingerência tão rigorosa que autorize a declaração de nulidade do “ACORDO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL”, muito assemelhado ao contrato de franquia, celebrado pelas Reclamadas. IV. O atrativo do contrato celebrado consiste na higidez da marca do franqueador e, em razão disso, cabe ao dono da marca zelar intensamente pela preservação de sua imagem no mercado, sem que isso se traduza em fraude, tampouco na configuração de grupo econômico trabalhista. Precedentes. V. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento, para excluir a responsabilidade solidária imposta ao dono da marca.” (TST-RR-11365-41.2013.5.18.0011, Relator Desembargador Convocado: Ubirajara Carlos Mendes, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/06/2018).
“RECURSO DE REVISTA - CONTRATO DE FRANQUIA TÍPICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- NÃO CONFIGURAÇÃO. A Corte regional, soberana na análise do conjunto fático-probatório trazido aos autos, consignou a existência de contrato de franquia entre as reclamadas. Ocorre que a Corte a quo constatou que a referida hipótese traduz, portanto, nada mais que a formação de um grupo econômico para efeitos trabalhistas, nos termos do § 2° do art. 2° da CLT. Na presente hipótese, a franqueada não se encontra sob direção, controle ou administração do franqueador, não existindo, portanto, ingerência direta da franqueadora nos negócios da primeira-reclamada, franqueada, o que não configura a constituição de um grupo econômico, mas sim de um contrato de franquia típico. O que ocorre é que a franqueada contrata os próprios empregados para realizar o trabalho, o que torna inaplicável a ela a responsabilidade solidária. Recurso de revista conhecido e provido” (TST - RR295-18.2011.5.15.0096, Relator Ministro Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, 13/05/2015, 7ª Turma, DEJT de 15/5/2015).
Outro não é o entendimento dos Tribunais Regionais do Trabalho:
“EXECUÇÃO. CESSÃO DE MARCA. SUCESSÃO TRABALHISTA. REQUISITOS. NÃO COMPROVA-
DA. A sucessão trabalhista não precisa ser formal; todavia, ao menos deve ser demonstrada a transferência da unidade produtiva e a continuidade da atividade desenvolvida pela sucedida, o que não se vislumbra pela prova dos autos, a revelar mera utilização da marca das reclamadas. Ausentes os requisitos básicos, como identidade de endereço e sócios, a sucessão trabalhista não deve ser reconhecida”. (TRT-1 - AP: 00157003820045010223, Relator Celio Juacaba Cavalcante, Data de Julgamento: 01/10/2014, 10ª Turma, Data de Publicação: 21/10/2014).
“CESSÃO DO DIREITO DE USO DA MARCA. SUCESSÃO. Não há dúvidas de que a marca comercial constitui um dos principais bens da unidade econômico-produtiva. Contudo, a utilização da marca por outra empresa não é suficiente para caracterizar a sucessão de empregadores, especialmente se não há provas de que tenha havido cisão, fusão ou incorporação, tampouco o encerramento das atividades da empresa cedente”. (TRT-2 - AP: 02385002619985020040, Relatora ANA MARIA MORAES BARBOSA MACEDO, 17ª TURMA, Data de Publicação: 03/10/2014)
“CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE MARCA. EMBARGOS DE TERCEIRO. A relação entre a embargante e a executada é de natureza tipicamente comercial decorrente de um contrato de licenciamento de marca, o que afasta a hipótese de sucessão ou mesmo grupo econômico entre as empresas.” (TRT2 - AP: 00011184820145020031, Relator FLÁVIO
VILLANI MACÊDO, 17ª TURMA, Data de Publicação: 06/11/2015)
1.4. Conclusões
Em que pese o Direito do Trabalho tenha que acompanhar as novas relações estabelecidas entre empresas e a novos arranjos societários no sentido de resguardar a proteção dos créditos trabalhistas, não nos parece ser este o caso quando estamos diante de regular contrato de licenciamento de uso de marca.
Em primeiro lugar porque a o contrato de licença de marca cede apenas um bem incorpóreo isolado, e não um estabelecimento organizado empresarialmente.
Em segundo lugar porque entre as empresas que em um país explorarem ou detenham o direito de explorar determinada marca não decorre uma relação de grupo econômico. Cada empresa mantém sua autonomia gestionária, empresarial, jurídica, contábil e organizativa, sem influência de uma empresa sobre a outra. Tal aspecto comum não as torna integrantes de um mesmo grupo empresarial por ausente qualquer articulação de interesse integrado e unificado para um fim comum, ou aproveitamento de empregados.
Em terceiro lugar, jurisprudência e doutrina são assentes em identificar no contrato de uso de marca um típico contrato mercantil, ao lado do contrato de franquia e afins, afastando, em tais hipóteses, a figura do grupo econômico trabalhista, sucessão ou terceirização.
Nesse sentido, salvo melhor juízo, parece-nos equivocada a extensão da responsabilidade pelo crédito trabalhista na transferência de marcas, em situações em que absolutamente ausente prova de fraude ou simulação.
O FORTALECIMENTO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.467/17: ALTERAÇÕES DA LEI
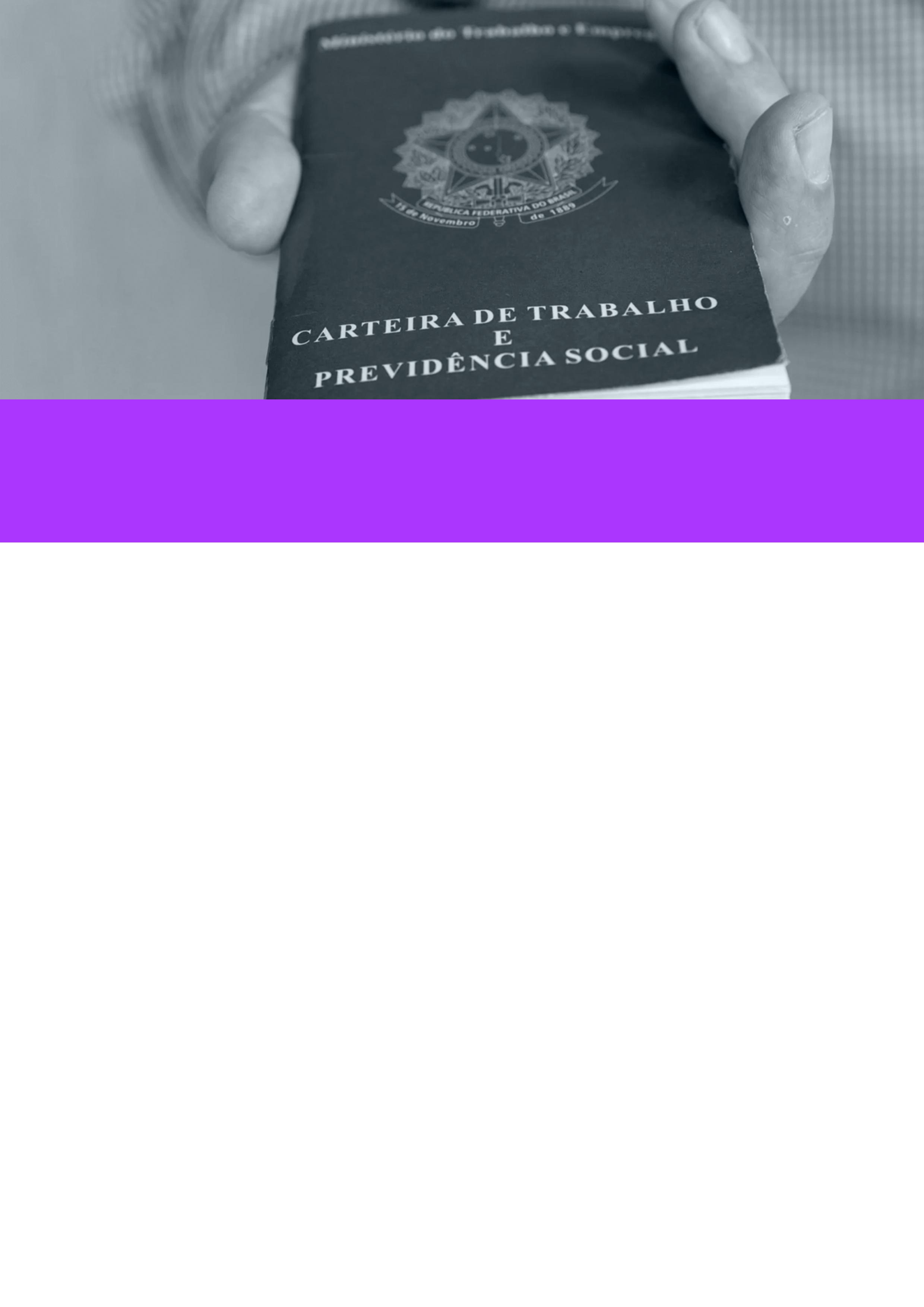
Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro
Sócio da DMG Advogados, Doutor e Mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), coordenador e professor dos cursos de pós-graduação em direito do trabalho da Escola Paulista de Direito (EPD), coordenador da Comissão de Direito do Trabalho da ESA OAB-SP.
Giovanna de Cássia Bettim Nogueira
Advogada associada da DMG Advogados, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola Paulista de Direito (EPD) e graduada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC).
1. Introdução
A Lei n° 13.467 de 13 de julho de 2017 alterou e incluiu normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), entre elas algumas especificidades do depósito recursal, nos termos do artigo 899 e seus parágrafos da CLT.
Exclusivamente, analisa-se no presente artigo a inclusão do § 9°, que ostenta rol taxativo de partes condenadas que poderão efetuar o depósito recursal pela metade para interposição do recurso, bem como do § 10, com arrolamento de partes que mes-
mo condenadas, não necessitarão efetuar o depósito recursal para interposição do recurso.
A inclusão destes parágrafos na norma trabalhista brasileira fortalece o duplo grau de jurisdição, possibilitando que partes que possuem a economia mais frágil e limitada ainda assim possam recorrer de decisões desfavoráveis.
2. Depósito recursal trabalhista
O artigo 899, caput e §§ 1° ao 6° da Consolidação das Leis do Trabalho foram redigidos pela Lei n° 5.442 de 24 de maio de 1968 e tratam do depósito
recursal como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos da esfera trabalhista. Atualmente os §§ 3° e 5° foram revogados, o § 7° foi incluído pela Lei n° 12.275/10, o § 8° pela Lei n° 13.015/14 e os §§ 9°, 10° e 11° foram incluídos pela Lei n° 13.467/2017.
Ocorre que o objetivo principal do depósito recursal é de viabilizar a garantia da execução. Neste seguimento, a compreensão é de que a parte vencida, devedora diante da decisão que pretende recorrer, deve apresentar com a interposição do recurso um depósito judicial para facilitar a posterior execução, demonstrando assim que não busca meramente protelar o processo.
O pagamento do depósito recursal é devido para interposição de recurso ordinário, recurso de revista, embargos do Tribunal Superior do Trabalho e agravo de instrumento, conforme disposto na Instrução Normativa n° 3 do Tribunal Superior do Trabalho.
Todavia, se o agravo de instrumento visar destrancar recurso de revista que aborda contrariedade a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, disposta em súmula ou orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade para realização do depósito.
A mencionada Instrução Normativa destaca que o depósito recursal não possui natureza jurídica de taxa judiciária, pois o depósito recursal é determinado em face da necessidade de condenação em obrigação de pagar, sendo também esta a compreensão da Súmula 161 do Tribunal Superior do Trabalho.
Neste sentido, bem explica Ana Paula Pavelski1 , que o pagamento do depósito recursal não possui vinculação com a prestação de serviço pelo Estado, sendo que em hipóteses que não há condenação em
1 PAVELSKI, Ana Paula. O depósito recursal e a reforma trabalhista: incertezas. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, v. 8, n. 82, p. 17-32, set. 2019.
obrigação de fazer, mas sim de pagar, por exemplo, ainda que a parte obrigada recorra não há necessidade de pagamento de depósito recursal.
“Não se pode confundir o depósito recursal com mera taxa judiciária como as custas, por exemplo, pois ele não está vinculado à uma prestação de serviço pelo Estado. Se assim fosse entendido, deveria ser recolhido em qualquer espécie de decisão, ou seja, mesmo nos casos de decisões meramente declaratórias ou que determinem obrigações de fazer, tais como: em que se tem uma decisão que reconhece vínculo de emprego, em que se determina retificação ou anotação de CTPS, determinação de entrega de PPP. Porém, dada a natureza de garantia do juízo, somente será realizado em casos de condenação em pecúnia, conforme o início das redações dos §§1° e 2° do art. 899 da CLT, que mencionam “condenação de valor”, confirmadas pela súmula 161 do TST.
O outro ponto que não permite confundir o depósito recursal com taxa é o fato de que, caso a parte que o efetue, porque condenada em pecúnia, posteriormente ao recurso seja absolvida desta condenação, a mesma IN 3/1993 do TST, no inciso II, “g”, prevê que o valor será devolvido a quem depositou. Esta devolução a quem o efetuou também será verificada para o caso de as partes realizarem acordo e nada estipularem quanto aos valores de depósito. Caso fosse considerado taxa, esta devolução não aconteceria”.
Ademais, o depósito recursal deve ser efetuado por guia de depósito judicial em conta vinculada pelo juízo. A emissão da referida guia é realizada pelas plataformas do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, sendo que os Tribunais Trabalhistas disponibilizam em seus respectivos sites a plataforma para emissão.
Nesta plataforma há necessidade de inclusão do número do processo em que o depósito será efetuado e então dados como nome das partes, advogados e a Vara do Trabalho do processo serão preenchidos automaticamente. A parte será responsável por incluir o valor correto da guia e os dados do depositante.
Conforme item XIV da Instrução Normativa nº 3 do TST, caso a guia seja preenchida equivocadamente, o relator do processo deve conceder prazo de 5 (cinco) dias para sanar o vício sob pena de deserção, ou seja, de o recurso não ser conhecido. Se o depósito for realizado em valor insuficiente, também haverá concessão de prazo suplementar, nos termos do item XIII da Instrução Normativa nº 3 do TST.
3. Valor do depósito recursal
O valor do depósito recursal foi determinado pela Lei n° 7.701/1988, com redação atualizada pela Lei n° 8.542/1992. Entretanto, o valor limite para pagamento é atualizado todos os anos por ato assinado pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho considerando a variação acumulada do INPC/IBGE da data da última atualização.
A última atualização disponível foi prevista no Ato SEGJUD.GP n° 366, de 15 de julho de 2024 em que o valor do depósito recursal para interposição do recurso ordinário foi de R$ 13.133,46 (treze mil cento e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) e para interposição do recurso de revista e recurso em ação rescisória no valor de R$ 26.266,92 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).
Já o valor do depósito recursal para interposição do agravo de é da metade do valor limite do depósito recursal que se pretende destrancar.
No entanto, a atualização anual promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho é do valor atualizado do limite que deve ser depositado para interposição do recurso. Desta feita, na hipótese da interposição de um recurso em face de decisão que arbitrou o valor da condenação em valor menor ao limite do teto do recursal estabelecido, a parte recorrente deve efetuar o depósito no valor da condenação, garantindo assim o processo.
Caso a parte tenha recorrido da sentença e pretenda recorrer do acórdão regional e sendo o valor da condenação arbitrado em valor maior que o teto do depósito recursal em recurso ordinário, porém menor que o teto do recurso de revista, deve-se depositar tão somente a diferença do valor da condenação e do valor já depositado.
Neste seguimento, em face da possibilidade de minoração do valor da condenação da sentença em acórdão regional há possibilidade que para interposição de recurso de revista a parte sequer tenha que efetuar novo depósito.
Por essa razão, o item I da Súmula 128 do Tribunal Superior do Trabalho determina que “é ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso.”
Vale ressaltar que não há que se falar em depósito recursal para interposição de agravo de petição exatamente porque seu intuito primordial é de garantir a execução. Sendo assim, como o agravo de petição é cabível em face de decisão de embargos à execução (processo já está garantido ou dispensa garantia), embargos de terceiro (os terceiros não garantem o juízo), exceção de pré-executividade (não há garantia do juízo) e decisão interlocutória de incidente
de desconsideração de pessoa jurídica (não há necessidade de garantir o juízo), não há necessidade de garantir o juízo, dispensando o depósito recursal.
Enquanto o processo segue, o depósito recursal permanecerá na conta vinculada ao juízo e o valor depositado será corrigido com os índices da poupança.
4. Parte depositante do depósito recursal
O depósito recursal será efetuado pela parte vencida na decisão, ainda que parcialmente e que tenha sido condenada ao pagamento de uma condenação em obrigação de pagar. Por essa razão, geralmente apenas o empregador como parte reclamada em uma ação trabalhista necessita efetuar o pagamento de depósito recursal para interposição de recurso.
Reitere-se que o depósito recursal tem o objetivo de garantir a execução, razão pela qual o empregado usualmente não necessita realizar o depósito recursal, visto que não necessita garantir a execução que ele mesmo promove ou em face da parte reclamada.
Mas não é só, pois a Lei 13.467/17, a Reforma Trabalhista, acrescentou ao artigo 899 da CLT os §§ 9° e 10°, estabelecendo um rol de partes que não necessitarão efetuar o depósito judicial ou pagarão a metade do valor devido, bem como o § 11 possibilitando que o depósito recursal possa ser substituído por carta de fiança bancária ou seguro garantia judicial.
4.1. Exceções do depósito recursal
Conforme exposto previamente, a Reforma Trabalhista inovou a compreensão quanto a necessidade de depósito recursal, tanto de forma integral quanto parcialmente.
Neste sentido, § 9° do artigo 899 da CLT determina que “o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empre -
gadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte”. Saliente-se que o referido parágrafo possui rol taxativo, conforme compreensão de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho2 :
“RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017. ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELOS RECLAMADOS. PREPARO RECURSAL. RECLAMADOS PESSOAS FÍSICAS. RECOLHIMENTO PELA METADE. ART. 899, §9°, DA CLT. ROL TAXATIVO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. RECONHECIMENTO. I. No caso dos autos, em sede de recurso ordinário, a parte reclamada (pessoas naturais) requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. O Tribunal Regional decidiu que os reclamados não têm o direito ao benefício. Por este motivo, a parte reclamada foi regularmente intimada para efetuar o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal. A parte, ora recorrida, então, recolheu as custas e efetuou o depósito recursal pela metade do valor. O Tribunal Regional entendeu como preenchido o requisito e em sede de embargos de declaração pontuou que o benefício do art. 899, §9° da CLT pode ser estendido aos empregadores pessoas naturais (além das entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte). II. A parte reclamante, ora recorrente, requer a declaração da deserção do recurso ordinário interposto pela parte reclamada . III . O art. 899, §9°, da CLT prevê que “ o valor do depósito recursal será reduzido pela
2 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista. Processo nº 1846-55.2017.5.17.0132. Recorrente: Francelino Batista Ferreira e outro. Recorrido: Romildo Rosa da Silva. Publicado em: 07/03/2025.
metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte ”. IV. O rol é taxativo e os reclamados, pessoas naturais, não se enquadram em nenhuma das hipóteses arroladas nesse dispositivo . A parte reclamada não é entidade sem fins lucrativos, empregador doméstico, microempreendedor individual, microempresa nem empresa de pequeno porte e, por isso, não pode ser beneficiada com a redução do valor do depósito recursal . Vale esclarecer que o objetivo da redução, instituída pelo §9° do art. 899 da CLT, é facilitar a interposição de recurso por empregadores que teriam mais dificuldade de recolher o valor integral do depósito recursal, o que não se demonstra no caso dos reclamados . V. Ao ampliar o rol de beneficiários da redução do valor do depósito recursal, o Tribunal Regional violou o art. 899, §9°, da CLT. VI. Recurso de revista de que se conhece e se dá provimento”
Por conseguinte, nos termos da ementa transcrita acima, ainda que o empregador seja pessoa física, não faz parte do rol do § 9°, razão pela qual deve apresentar o depósito recursal no valor integral.
Importante consignar que os artigos 170, inciso IX e 179 da Constituição Federal ainda determina que as microempresas e empresas de pequeno porte devem ser tratadas de forma diferenciada para incentivá-las, sendo que a redução do depósito recursal é um exemplo de aplicação da norma constitucional:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
O § 9° do artigo 899 da CLT presume que as partes ali relacionadas não possuem meios de em 08 (oito) dias úteis após a publicação da sentença depositarem um valor que atualmente ultrapassa R$ 13 (treze) mil. É ilógico pensar que um microempreendedor individual possuí a mesma capacidade econômica que outros empregadores.
Vale destacar que a redução pela metade se refere ao valor que a recorrente pagaria se não se enquadrasse nas disposições do § 9°. Assim, se a condenação supera o valor do teto do depósito recursal estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, o valor que a parte do § 9° será da metade do teto do depósito recursal, ou seja, metade do que pagaria se não fizesse parte do rol do § 9°. Neste teor, bem exemplifica o Desembargador Homero Batista3 :
“O art. 899, § 9°, refere-se que o desconto de 50% deve ser calculado sobre o valor que seria devido se a empresa fosse de grande porte, ou seja, se não fosse um réu detentor do novo benefício. Assim, se o valor arbitrado pela sentença é de 5.000 reais, o depósito recursal será de 2.500; se o valor arbitrado é de 12.000 reais, devemos localizar o valor-teto do recursal e, sobre o teto, aplicar os 50%; para agilizar a leitura,
3 BATISTA, Homero. CLT Comentada 2024, 5ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 224. P. 778
suponha que o teto seja de 9.000 reais: a empresa grande deposita 9.000 e a microempresa e demais detentores, 4.500. Não vejo espaço para dizer que a microempresa deva depositar 6.000, porque nesse caso o desconto seria aplicado sobre o valor da condenação (arbitrada) e não sobre o valor do depósito recursal devido. Se o valor da condenação é de 20.000, nada muda: 9.000 para a empresa grande, 4.500 para a microempresa.”
Além disso, o direito de redução do depósito recursal é gerado em face de cada novo recurso interposto. Portanto, se a parte se enquadra no § 9° do artigo 899 da CLT, a cada novo depósito recursal necessita pagar a metade do valor devido caso não estivesse no referido rol. O intuito do depósito recursal permanece o mesmo: garantir a execução. Logo, o direito é de depositar a metade a cada recurso e não garantir a metade da execução 4 .
4 “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. MICROEMPRESA. DEPÓSITO RECURSAL INSUFICIENTE. ARTIGO 899, § 9°, DA CLT. Nos termos do artigo 899, § 9°, da CLT, o benefício da redução do valor do depósito recursal à metade, aplicável a microempresas, não dispensa o recolhimento integral do valor da condenação, mas apenas reduz o valor de cada depósito recursal. Com efeito, segundo a diretriz da Súmula nº 128, I, do TST, mesmo para as hipóteses previstas no artigo 899, § 9°, da CLT, deve-se depositar metade do valor do depósito recursal para cada novo recurso interposto, até atingir o montante total da condenação. No caso vertente, na ocasião da interposição do recurso de revista, o limite estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme o ATO.SEGJUD.GP N° 247/2019, era de R$ 19.657,02. Apesar da condenação fixada em R$ 12.000,00 pela sentença e mantida pelo Tribunal Regional, a reclamada, após o depósito de R$ 4 . 756,58 (metade do valor devido para o recurso ordinário), efetuou depósito complementar de apenas R$ 1 . 243,42 para o recurso de revista, insuficiente para atender ao disposto na Súmula 128, I do TST e na OJ n° 140/SDI-1. Na sequência, a reclamada foi intimada para proceder à complementação correta do depósito recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Contudo, assim não procedeu. Assim, em sede de recurso de revista, a parte recorrente deveria proceder à complementação do depósito recursal. Por não o fazer, mesmo após intimação para o recolhimento, restou deserto o recurso (artigo 789, § 1°, da CLT e Súmulas 245 e 128, I, do TST). Precedentes. Agravo não provido” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Processo nº 10495-28.2015.5.01.0551. Agravante:
Ainda, como exceção ao pagamento do depósito recursal tem-se o § 10 do artigo 899, que concede a isenção aos beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Em complemento, a Súmula 86 do TST também possibilita a isenção da massa falida, bem como, conforme item X da Instrução Normativa n° 3, são isentos os entes de direito público externo, pessoas de direito público contempladas no Decreto-Lei n.º 779, de 21.8.69 e a herança jacente.
Alguns doutrinadores compreendam que como o § 10 teve sua redação posterior à Súmula 86 do TST sem inclusão da massa falida, o Tribunal Superior do Trabalho mantém o entendimento que a massa falida quando parte está dispensada do preparo recursal, conforme ementa abaixo 5 :
(...) 2. MASSA FALIDA. COMPROVAÇÃO. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. EXTENSÃO ÀS DEMAIS LITISCONSORTES. CÓPIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO AFASTADA. SÚMULA 86/TST. O TRT de origem decidiu pela deserção do recurso ordinário, por considerar que a falência não estaria demonstrada nos autos. Entretanto houve a juntada de cópia da sentença, junto aos recursos apresentados, que comprova a decretação de falência da Reclamada, com extensão às outras Litisconsortes. Demonstrado, portanto, o estado falimentar da Reclamada, com extensão dos efeitos às demais Recorrentes, é indevida a exigência de recolhimento das custas processuais e do
Maria Aparecida Arruda de Barros; Agravada: Simone Freitas de Andrade. Publicado em: 10/04/2025).
5 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista. Processo n° 21915-83.2016.5.04.0204. Recorrente: Delta Guia Métodos e Gestão Logística LTDA. e outros. Recorridos: Etelma Neto Oliveira, Transporte Panazzolo LTDA. Publicado em: 18/09/2023.
depósito recursal, afastando-se a deserção do recurso ordinário, a teor da referida Súmula 86 do TST. Julgados desta Corte Superior. Recurso de revista conhecido e provido no tema”
Importante frisar que a facilidade concedida pela Reforma Trabalhista não alcança o depósito prévio da ação rescisória ou o depósito judicial para oposição de embargos à execução, já que neste caso trata-se efetivamente da garantia da execução. Neste seguimento, também não há possibilidade de alegação pela parte de que se enquadra ao disposto no § 9° ou § 10° do artigo 899 com a interposição de agravo de petição, eis que o processo deve estar garantido nesta fase processual 6
Outrossim, a isenção não abrange os demais litisconsortes que não sejam isentos, mesmo que apresentem o recurso conjuntamente7
Também importante expor que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST8 já de6 “AGRAVO INTERNO DA EXECUTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DESERÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEPÓSITO RECURSAL - AUSÊNCIA. A jurisprudência predominante do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que a isenção do depósito recursal às empresas em recuperação judicial, prevista no art. 899, § 10, da CLT, limita-se à fase processual de conhecimento. Precedentes. Agravo interno desprovido” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Processo n° 0011384-41.2020.5.03.0101. Agravante: Servita Serviços de Empreitadas Rurais LTDA. e outros. Agravado: João Roberto da Silva. Publicado em: 13/10/2023.) 7 (...) 2 - O entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal Superior é no sentido de que a isenção de recolhimento do depósito recursal garantida à massa falida (Súmula n° 86 do TST) e à empresa em recuperação judicial (art. 896, § 10, da CLT) não aproveita aos litisconsortes que não se encontrem em idêntica situação, ainda que tenham apresentado o recurso conjuntamente. Logo, a deserção reconhecida na decisão monocrática aplica-se somente à empresa MARANHÃO SUPERMERCADOS S.A (...) (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Processo n° 11742-42.2015.5.15.0070; Agravante: Massa Falida de Maralog Distribuição S.A. Agravado: Maranhão Supermercados S.A. e outros. Publicado em: 30/08/2024).
8 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração de Embargos ao
terminou que a parte deve comprovar a condição especial que possibilita que deposite o valor pela metade ou a razão da isenção com a interposição do recurso, sob pena de deserção:
“AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017. DESERÇÃO DO RECURSO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. Esta Subseção já decidiu que para fazer jus à isenção prevista no art. 899, § 10, da CLT, incluído pela Lei n° 13.467/2017, atinente ao depósito recursal, as empresas em recuperação judicial devem comprovar essa especial condição no momento da interposição do recurso. Precedente. Com efeito, não tendo a ora agravante, na data da interposição do seu recurso de embargos, comprovado a condição especial que alega ostentar, não se há falar em isenção do depósito recursal. Logo, ausente o recolhimento do depósito recursal, sobressai a deserção do apelo. Ademais, tendo em vista não se tratar de recolhimento insuficiente do depósito recursal, inviável a aplicação do § 2° do artigo 1.007 do CPC de 2015, conforme assegura a Orientação Jurisprudencial 140 da SBDI-1 do TST. Agravo conhecido e desprovido”
Está tramitando na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 5.931/2019, que também isentaria os empregadores domésticos, microempreendedores individuais e microempresas do pagamento do depósito recursal. Atualmente está aguardando a designação de relator na Comissão de Trabalho (CTRAB).
Recurso de Revista. Processo nº 766-02.2012.5.09.0020. Agravante: Ivaicana Agropecuária LTDA. Agravado: Izabel Cristina Vieira e Cocari – Cooperativa Agropecuária e Industrial.
As novas regras do depósito recursal aplicam-se tão somente aos recursos interpostos após a Lei 13.467/2017, nos termos do artigo 20 da Instrução
Normativa n° 41 do TST.
Por fim, a Lei n° 13.467/17 incluiu no artigo 899 o §11 que possibilita que o depósito recursal seja substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial.
4.2. Do fortalecimento do duplo grau de jurisdição
Nos termos do quanto apresentado alhures, a Lei n° 13.467/17 inovou ao reduzir (§ 9°) ou isentar (§ 10) determinados vencidos do depósito recursal na esfera trabalhista. Ocorre que a questão encontra fundamento no princípio do duplo grau de jurisdição, além do amplo acesso à justiça.
Neste sentido, como já consubstanciado alhures, para interposição de recurso ao Tribunal Regional do Trabalho, pela parte vencida e condenada a pagar, há necessidade do depósito recursal.
Ocorre que a regra do preparo, antes da Lei n° 13.467/17, era aplicada indistintamente para toda e qualquer empresa, ou seja, o mesmo valor de depósito recursal era aplicado tanto a uma multinacional quanto para uma microempresa.
Assim, com o advento da Reforma Trabalhista, algumas partes que o legislador considerou possuir menor poder econômico tem o direito do pagamento do depósito recursal pela metade ou até mesmo são isentas, garantindo assim que mesmo empresas com menor porte econômico consigam requerer o reexame de decisões judiciais.
Neste seguimento, entende-se que houve o fortalecimento do princípio do duplo grau de jurisdição, que significa que a parte tem direito de requerer com a interposição de recurso a reanalise de determinada questão novamente por outra instância recursal.
Conforme dispõe o Professor Adriano Sant’Ana Pedra9 , a justificativa para existência deste princípio é a falibilidade do julgamento humano, sendo que referido princípio garante “melhor solução para os litígios mediante o exame de cada caso por órgãos judiciários diferentes, sanando a insegurança acarretada pelas decisões de única instância.”
Compreende-se que o princípio do duplo grau de jurisdição trata-se de princípio constitucional, no entanto é implícito, eis que decorre de outros princípios expressos na Constituição Federal como o da ampla defesa.
Outrossim, referido princípio não é absoluto, vez que por vezes as partes não podem recorrer de todas as matérias e até mesmo existem decisões irrecorríveis, no entanto a Lei nº 13.467/17, com inclusão dos §§ 9° e 10 ao artigo 899 fortaleceram referido princípio, pois partes que antes deixavam de recorrer pelo vultuoso valor do depósito recursal a ser quitado atualmente possuem maior facilidade pela redução do valor ou até mesmo a isenção.
5. Conclusão
O artigo 899, § 9° determina que entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte poderão efetuar o depósito recursal pela metade ao interpor recurso na Justiça do Trabalho.
Por sua vez, o § 10 do mesmo artigo exime o beneficiário da justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial do depósito recursal para interposição de recurso.
9 PEDRA, Adriano Sant’Ana. A Natureza Principiológica do Duplo Grau de Jurisdição. Revista da AGU. [S. l.], v. 5, n. 09, 2006. DOI: 10.25109/2525-328X.v.5, n.09.2006.447. Disponível em: https://revistaagu.agu.gov.br/index.php/AGU/article/ view/447. Acesso em: 17/06/2025.
Ambos os parágrafos incluídos no artigo 899 da CLT pela Lei n° 13.467/17 possibilitam que partes condenadas ao pagamento de alguma verba na reclamação trabalhista possam interpor recurso em face da decisão, mas sem prejudicar o andamento de sua atividade.
Saliente-se que esta facilitação não prejudica o credor, pois a regra é aplicada tão somente para interposição dos recursos e não na fase executória.
Em contrapartida, é evidente o fortalecimento do duplo grau de jurisdição, vez que empregadores que por vezes não tinham a possibilidade de recorrer considerando o vultuoso valor do depósito recursal, que, destaque-se, necessita ser recolhido em 8 (oito) dias úteis da prolação da decisão, atualmente tem a possibilidade de interpor recurso, garantindo ainda assim o seu acesso à justiça.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BATISTA, Homero. CLT Comentada 2024, 5ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 224. P. 778.
PAVELSKI, Ana Paula. O depósito recursal e a reforma trabalhista: incertezas. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, v. 8, n. 82, p. 17-32, set. 2019.
PEDRA, Adriano Sant’Ana. A Natureza Principiológica do Duplo Grau de Jurisdição. Revista da AGU. [S. l.], v. 5, n. 09, 2006. DOI: 10.25109/2525328X.v.5, n.09.2006.447. Disponível em: https:// revistaagu.agu.gov.br/index.php/AGU/article/ view/447. Acesso em: 17/06/2025.
STAUDT, Carine; FRANZOI, Fabrisia. O depósito recursal: obstáculo à ampla defesa das microempresas e empresas de pequeno porte. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Florianópolis, v. 19, n. 28, p. 145-177, 2016. Disponí-
vel em: https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/215973/2016_staudt_carine_deposito_recursal.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 17/06/2025.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, de 5 de outubro de 1988. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17/06/2025
BRASIL. Decreto-Lei n° 5.452. Consolidação das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/ del5452.htm . Acesso em: 17/06/2025.
BRASIL. Lei n° 7.701 de 21 de dezembro de 1988. Dispõe sobre a especialização de Turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos e dá outras providências. Brasília. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7701.htm. Acesso em: 17/06/2025.
BRASIL. Lei n° 8.542 de 23 de dezembro de 1992. Dispõe sobre a política nacional de salários. Brasília. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8542.htm . Acesso em: 17/06/2025.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Processo n° 0011384-41.2020.5.03.0101. Agravante: Servita Serviços de Empreitadas Rurais LTDA. e outros. Agravado: João Roberto da Silva. Publicado em: 13/10/2023.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Processo n° 10495-28.2015.5.01.0551. Agravante: Maria Aparecida Arruda de Barros; Agravada: Simone Freitas de Andrade. Publicado em: 10/04/2025.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo em Embargos de Declaração em Agravo de
Instrumento em Recurso de Revista. Processo n° 11742-42.2015.5.15.0070; Agravante: Massa Falida de Maralog Distribuição S.A. Agravado: Maranhão Supermercados S.A. e outros. Publicado em: 30/08/2024.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalh o. Agravo em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração de Embargos ao Recurso de Revista. Processo n° 766-02.2012.5.09.0020. Agravante: Ivaicana Agropecuária LTDA. Agravado: Izabel Cristina Vieira e Cocari – Cooperativa Agropecuária e Industrial.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Ato n. 366/SEGJUD.GP, de 15 de julho de 2024. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: caderno judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 4014, p. 44, 15 jul. 2024. Disponível em: https://hdl.handle. net/20.500.12178/235274. Acesso em: 17/06/2025.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Instrução Normativa n. 3, de 5 de março de 1993. Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil: seção 1, Brasília, DF, p. 3393, 10 mar. 1993. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12178/5132. Acesso em: 17/06/2025.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista. Processo n° 1846-55.2017.5.17.0132.
Recorrente: Francelino Batista Ferreira e outro. Recorrido: Romildo Rosa da Silva. Publicado em: 07/03/2025.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista. Processo n° 21915-83.2016.5.04.0204.
Recorrente: Delta Guia Métodos e Gestão Logística LTDA. e outros. Recorridos: Etelma Neto Oliveira, Transporte Panazzolo LTDA. Publicado em: 18/09/2023.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: APLICAÇÃO NO PROCESSO DO TRABALHO
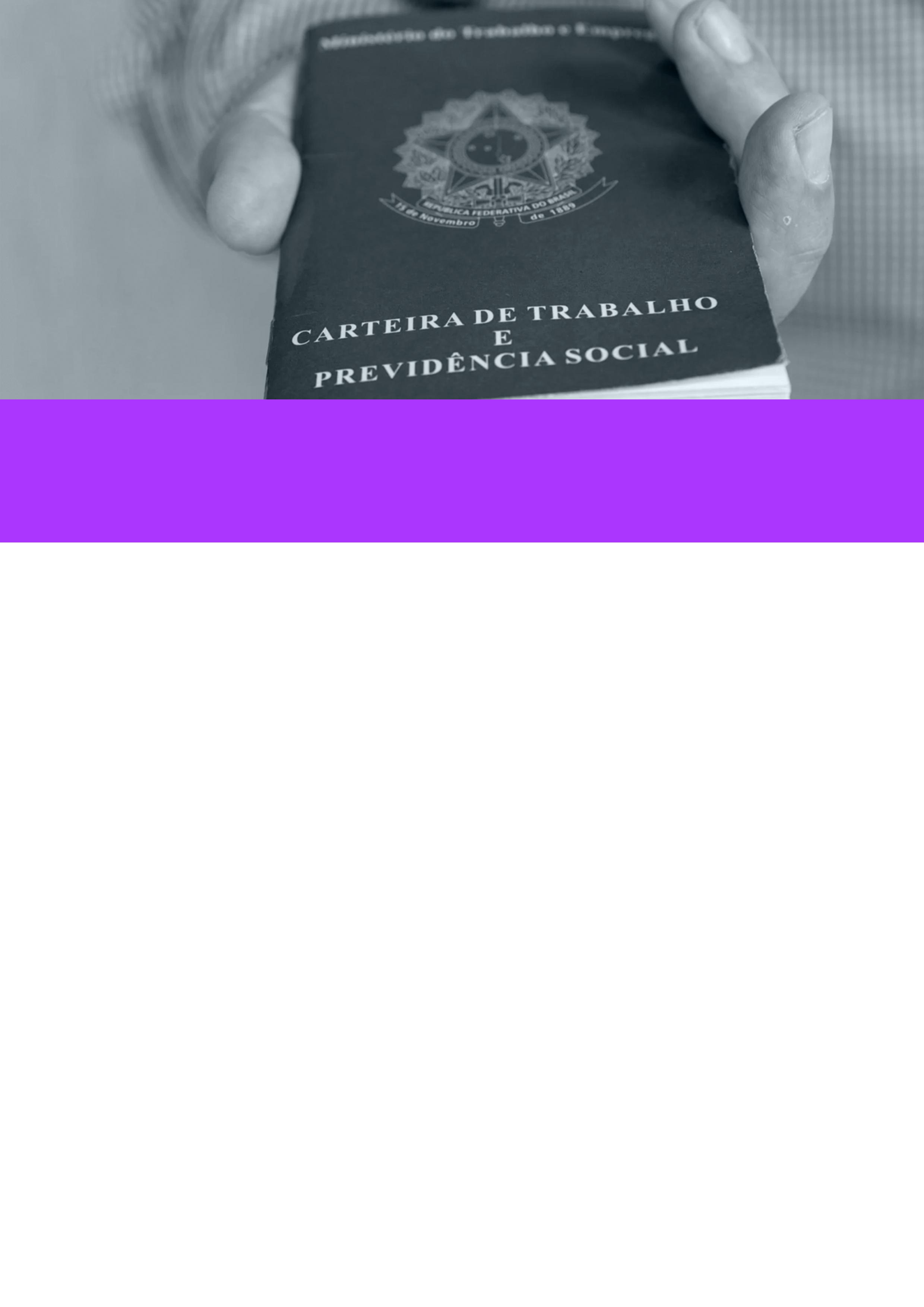
Advogada. Doutora, Mestre e Especialista em Direito do Trabalho pela PUC/SP. Professora do curso de pós-gradução lato sensu da PUC/SP e da Escola Paulista de Direito. Autora de Discriminação nas relações de trabalho e proteção contra a dispensa discriminatória e Direitos da Personalidade nas Relações de Trabalho. Limitação. Relativização e Disponibilidade, editora LTr. cristina@olmosadvogados.com.br
Origem e previsão legal
O caso inglês Salomon v. A. Salomon & Co., de 1897, representa o leading case da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine). Tratou-se de caso com objetivo de imputar responsabilidade ao sócio pelo pagamento das dívidas da sociedade que se tornou insolvente em razão de uma série de greves que atingiu o governo inglês, seu principal cliente, que teve que diversificar fornecedores, reduzindo suas vendas, levando a empresa à falência. As decisões responsabilizaram a pessoa física de Salomon, pois constatado abuso de privilégios da Constituição e responsabilidade limitada da sociedade, utilizada como meio para fraudar credores. À época, a Corte dos Lordes alterou as decisões e reafirmou a distinção entre o sócio e a sociedade.
No Brasil, a introdução da doutrina ocorreu por Rubens Requião, e o fundamento para tanto foi a função social da propriedade, com posterior previsão pelo artigo 281 do Código de Defesa do Consumidor.
Na sequência, o artigo 182 da Lei Antitruste 3 , atual -
1 Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
2 Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
3 Lei n. 8.884/94.
Cristina Paranhos Olmos
mente revogado pela Lei n. 12.529/2011, previu a desconsideração da personalidade jurídica.
Após isso, o artigo 4º da Lei n. 6.605/98, trouxe ao sistema brasileiro hipótese de desconsideração da personalidade jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
Também o Código Civil, no artigo 504 , tratou da matéria, e houve previsão, ainda em direito material, no artigo 34 5 da Lei n. 12.259/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
O artigo 14 da Lei n. 12.846/20136 também traz pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto prevê a hipótese de abuso de direito no uso da empresa para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos ou para provocar confusão patrimonial7.
Assim, há muito se trata da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, amplamente aplicada ao processo do trabalho, até mesmo de ofício, sem requerimento pela parte, o que suscitou diver-
4 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
5 Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.
Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
6 Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.
Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 7 Lei anticorrupção.
sas críticas ao sistema de sua aplicação, sem prévio contraditório aos interessados.
Ocorre que, com a promulgação da Lei n. 13.105/2015, Código de Processo Civil, passou a haver regulamentação para sua adoção, impondo-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 de referido instrumento normativo.
A aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho despertou, desde sua previsão inicial no Código de Processo Civil de 2015, bastante discussão.
É que a CLT, em seu artigo 8°, parágrafo único, dispõe que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste, e, por sua vez, o artigo 769 da CLT, estabelece que nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.
No que se refere à execução, a CLT contém previsão específica, que remete à Lei de Execução Fiscal: “Art. 889. Aos trâmites e incidentes do processo de execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente Título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal.”
Assim, a CLT remete às normas do direito comum para as normas de direito material, ao direito processual civil para as normas processuais, e, em especial na execução, às normas da Lei n. 6.830/80.
Já a Lei de Execução Fiscal, em seu artigo 1°, estabelece que “a execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.
Assim, na execução trabalhista impõe-se a observância das normas previstas na própria Consolidação das Leis do Trabalho, que, se omissa, exigirá a aplicação da Lei de Execução Fiscal, e, apenas então, do Código de Processo Civil.
Exatamente por tal razão é que a aplicação das disposições do Código de Processo Civil de 2015, especificamente a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi objeto de bastante discussão, havendo quem defendesse que não seria aplicável ao direito processual do trabalho, ante a incompatibilidade com seus princípios 8 .
Logo após inserido no sistema o Código de Processo Civil de 2015, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu por dispor, pela Instrução Normativa n. 39, de 20169 (IN 39/2016), as normas do Código de Processo Civil que seriam aplicáveis ao processo do trabalho, ainda que de forma não exaustiva.
Evidente que a IN 39/2016 não vinculou os magistrados, eis que não se trata de lei, mas simples ato normativo secundário. Foi editada, portanto, com caráter de orientação e detalhamento do que está na lei, sem inovação.
Logo em seguida, em 2017, a Lei n. 13.467/2017 encerrou a discussão e estabeleceu, ao inserir o artigo 855-A na CLT: “Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.”
Indiscutível, em razão da previsão legal, a obrigatoriedade da aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho, com as particularidades do sistema trabalhista.
8 Nesse sentido: CLAUS, Bem-Hur Silveira. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no CPC de 2015 e o direito processual do trabalho. In: DALLEGRAVE NETO, José Affonso; GOULART, Rodrigo Fortunato. Novo CPC e o processo do trabalho. São Paulo: LTr, 2016, p. 85-104. 9 Resolução n. 203 de 15 de março de 2016.
Pressupostos legais e hipóteses de cabimento
O Código de Defesa do Consumidor previu no artigo 28 a teoria da desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de abuso do exercício de direito, excesso de poder, infração da lei, ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, além de má administração.
O artigo 50 do Código Civil estabeleceu que o abuso da personalidade jurídica é caracterizado quando há desvio de finalidade ou confusão entre o patrimônio da sociedade e o de seus sócios.
Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 134, estabeleceu que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
A Consolidação das Leis do Trabalho, por sua vez, consagrou no artigo 855-A, que aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015.
A celeuma relativa ao cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no direito processual do trabalho está, portanto, resolvida: certo é que cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em qualquer fase do processo, seja fase de conhecimento, fase de cumprimento de sentença e de execução baseada em título executivo extrajudicial.
A hipótese de cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, com a utilização do respectivo incidente, nos termos do artigo 855-A da CLT, é também matéria que merece análise.
Fábio Ulhoa Coelho10 faz a distinção da teoria da desconsideração da personalidade jurídica entre as consagradas teorias maior e menor:
“Há no direito brasileiro, na verdade, duas teorias da desconsideração. De um lado, a teoria mais elaborada, de maior consistência e abstração, que condiciona o afastamento episódico da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas à caracterização da manipulação fraudulenta ou abusiva do instituto. Nesse caso, distingue-se com clareza a desconsideração da personalidade jurídica e outros institutos jurídicos que também importam a afetação de patrimônio de sócio por obrigação da sociedade (p. ex. a responsabilização por ato de má gestão, a extensão da responsabilidade tributária ao gerente etc.). Ela será chamada, aqui, de teoria maior. De outro lado, a teoria menos elaborada, que se refere à desconsideração em toda e qualquer hipótese de execução do patrimônio de sócio por obrigação social, cuja tendência é condicionar o afastamento do princípio da autonomia à simples insatisfação de crédito perante a sociedade. Trata-se da teoria menor, que se contenta com a demonstração pelo credor da inexistência de bens sociais e da solvência de qualquer sócio, para atribuir a este a obrigação da pessoa jurídica.”
Já Mauro Schiavi11 prefere classificar a teoria da desconsideração em subjetiva e objetiva, e estabelece que:
“pela teoria subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica, os bens do sócio podem ser atingidos quando: a) a pessoa jurídica não apresentar bens para pagamento das dívidas; b) atos forem pra-
10 Autor citado, Curso de direito comercial. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 35.
11 Autor citado, Manual de direito processual do trabalho: de acordo com a reforma trabalhista. 13ª ed. – São Paulo: LTr, 2018, p. 1150-1151.
ticados pelo sócio com abuso de poder, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má-fé.”
O autor 12 ainda pondera que:
“atualmente a moderna doutrina e a jurisprudência trabalhista encamparam a chamada teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica que disciplina a possibilidade de execução dos bens do sócio, independentemente de os atos destes terem violado ou não o contrato, ou de haver abuso de poder. Basta a pessoa jurídica não possuir bens para ter início a execução aos bens do sócio.”
Dúvida não resta, pois, que a desconsideração da personalidade jurídica tem amplo campo de aplicação no direito do trabalho, e que na atualidade é indispensável que seja manejado o incidente próprio para tanto, à exceção da hipótese de o pedido ser feito em inicial. A previsão é da própria CLT (art. 855A), com referência à adoção do procedimento do CPC (arts. 133 a 137).
A desconsideração da personalidade jurídica é forma de afastar a autonomia patrimonial decorrente da personificação, para atribuir responsabilidade ao integrante da pessoa jurídica por dívida da própria pessoa jurídica.
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica implica a responsabilidade subsidiária do sócio para a garantia da execução, e é certo que o sócio pode indicar bens da sociedade como prioritários para a satisfação da dívida, em verdadeiro benefício de ordem.
Normalmente, a desconsideração da personalidade jurídica ocorre na execução trabalhista quando a empresa devedora se torna insolvente, o que dá motivo para que se integre o sócio dessa empresa 12 Ibidem.
como responsável pela dívida. Normalmente, os sócios têm responsabilidade limitada no quadro societário, porém com a desconsideração da personalidade jurídica é possível atribuir a esse sócio a responsabilidade ilimitada. Há também o caso em que o devedor não é uma empresa, e nesse caso também é necessário que se cumpram os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, que são desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial.
Há dois métodos de desconsideração da personalidade jurídica: o método em que se declara a desconsideração da personalidade jurídica mediante a simples insolvência, e em que há necessidade de que o crédito seja de trabalhador e que o devedor seja a empresa, e o método em que são exigidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
É que o crédito trabalhista pode ser devido não por uma empresa, mas, por exemplo, por uma associação. Nessa situação, deve ser comprovado que o associado contra quem se voltou a execução usou mal a pessoa jurídica, com confusão do patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica, ou com desvio de finalidade da pessoa jurídica para ocultar patrimônio.
É possível que se requeira a desconsideração da personalidade jurídica desde a peça inicial no processo. Nesse caso a empresa já deve ser insolvente na data da propositura da ação, ou a parte tendo conhecimento do desvio do uso da pessoa jurídica ou confusão patrimonial do integrante da pessoa jurídica, fazer prova dos requisitos do artigo 50 do Código Civil para requerer a desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. Para se efetivar a desconsideração da personalidade jurídica, necessária a demonstração dos requisitos legais, sendo irrelevante se a discussão se dá na seara trabalhista ou civil. Logo, imprescindível, para a desconsideração da personalidade jurídica, a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, a teor do art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei 13 .874, de 2019, o que não restou sequer minimamente evidenciado no caso em análise. Portanto, d.m.v., entendemos que, no momento, não se vislumbra fundamento suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa reclamada, razão pela qual se impõe a reforma da r. decisão proferida, para que seja excluído do polo passivo o nome do sócio da empresa reclamada. Recurso patronal provido.” (TRT-15 - ROT: 00116675820195150071 0011667-58 .2019.5.15.0071, Relator.: PAULO AUGUSTO FERREIRA, 1ª Câmara, Data de Publicação: 07/07/2021)
A partir da reforma trabalhista, Lei n. 13.467/2017, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ter regulamentação aplicada no processo trabalhista, mas é prevista no CPC, artigos 133 a 137.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser requerido pela parte, a menos que se trate de processo de execução em que o trabalhador não é representado por advogado, em exercício do jus postulandi, hipótese em que prevalece a execução de ofício, mesmo após a reforma trabalhista.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto garantir contraditório
ao integrante da pessoa jurídica, normalmente o sócio de uma sociedade empresarial. Assim, não é preciso a garantia do juízo na execução, tampouco o sócio tem que fazer depósito recursal para recorrer da decisão que reconheça a desconsideração da personalidade jurídica, com sua responsabilidade pessoal pela execução13
Evidente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica assegura que seja conferida ao sócio responsabilizado a oportunidade de contraditório prévio, inclusive com oportunidade para sua defesa, o que, é certo, traz a possibilidade de o sócio se evadir do cumprimento da dívida. Para tanto, a própria lei prevê a possibilidade de arresto de seus bens, para assegurar a penhora, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, indiscutivelmente aplicável ao processo do trabalho: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protestos contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”
Assim, por ser o arresto tutela de urgência de natureza cautelar, é certo que seu objetivo é garantir a penhora, conforme previsão tanto do artigo 301 do Código de Processo Civil quanto do artigo 6°, §2°, da Instrução Normativa n. 39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho14 .
O arresto, como se sabe, é convertido automaticamente em penhora, caso o sócio não cumpra a decisão ou acordo, faça depósito judicial do valor devido ou indique bens para a garantia da execução, no prazo de 48 horas (artigos 135 e 830 do CPC c/c artigos 880 e 882 da CLT).
13 MARCELO RODRIGUES PRATA, O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no CPC de 2015 e seus reflexos no processo de execução trabalhista. Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho, Ano VI, n. 8, Janeiro 2017, p. 279-292. 14 “A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 do CPC.”
Normalmente, a desconsideração da personalidade jurídica atrela o sócio ou associado à execução trabalhista. Há debate ainda a respeito de a desconsideração da personalidade jurídica também vincular o cônjuge ou se pode vincular outra pessoa jurídica. Em relação ao cônjuge do sócio integrado, ele não responde pela dívida, mas o regime de casamento pode permitir que os bens comuns respondam pela dívida em execução.
Já a pessoa jurídica, se fizer parte da sociedade empresarial que é devedora na Justiça do Trabalho, poderá ser incluída em execução e haver sucessivas desconsiderações da personalidade jurídica, inclusive de forma inversa. Não se trata de grupo econômico, mas de pessoa jurídica composta por outras pessoas jurídicas, até que se chegue à pessoa física com patrimônio para pagamento.
Em relação às sociedades anônimas, é perfeitamente possível a responsabilização dos diretores administradores, pois detêm a administração da empresa.
Procedimento
Ultrapassadas as hipóteses de cabimento, há que se tratar, de forma sintética, do procedimento para o trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Instaurado o incidente com a citação do sócio (pessoa física ou jurídica), poderá apresentar resposta e requerimento de produção de provas. A citação do sócio deve ser feita por oficial de justiça, nos termos do artigo 880, §2°, da CLT, eis que procedimento afeto à execução.
Não sendo apresenta defesa, haverá revelia e confissão em relação à matéria de fato. A matéria de defesa, entretanto, sempre será limitada, em razão da aplicação da teoria menor.
É recomendável que, em defesa, se cabível, os sócios invoquem o benefício de ordem do artigo 795, §§1° e 2°, do CPC, ou o fato de serem sócios retirantes (art. 1.003 do CC).
Com o acolhimento do incidente na fase de execução, o sócio é intimado para pagamento ou nomeação de bens à penhora, em 48 horas (art. 880 da CLT).
Após a penhora, o sócio já compõe o polo passivo da execução, de sorte que a apresentação de defesa dos atos posteriores à execução deve ser por embargos à execução. Não são cabíveis embargos de terceiro a sócio cuja desconsideração da personalidade jurídica foi acolhida.
A decisão, se proferida em sede de execução, é o agravo de petição. Se proferida em inicial, tratando-se de decisão interlocutória, tem sua recorribilidade diferida para o momento de interposição de recurso ordinário.
O agravo de petição, se interposto, terá efeito meramente devolutivo, e não obstará o prosseguimento da execução definitiva contra o sócio.
Contra o acórdão proferido em agravo de petição, o recurso de revista é cabível apenas na hipótese do art. 896, §2°, da CLT, ou seja, na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal.
Disposições Finais
A desconsideração da personalidade jurídica não é novidade na Justiça do Trabalho e sempre se operou de maneira bastante simplificada. A fim de se oportunizar ao sócio o direito de defesa em relação à sua integração ao polo passivo da demanda, conferiu-se procedimento próprio para tanto, com oportunidade de defesa, ainda que limitada a matéria de preferência para pagamento.
A sistemática do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contou com previsão inicial no Código de Processo Civil de 2015, e, logo em seguida foi indiscutivelmente inserida no sistema processual do trabalho, nos termos da Lei n. 13.467/2017, não cabendo mais a discussão a respeito de seu cabimento na Justiça do Trabalho.
Os pressupostos de direito material que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica não foram alterados pelo sistema processual que o estabelece, buscando o legislador assegurar maior efetividade à execução, conferindo ao sócio o direito de defesa, para que posteriormente não sejam suscitadas questões de afronta a princípios constitucionais na execução trabalhista.
Os anos de vigência da Lei n. 13.467/2017 demonstraram que a instauração do incidente não foi medida que obstou o prosseguimento das execuções, ao contrário, limitaram eventuais objeções por aqueles que são chamados ao pagamento da dívida, na ausência do devedor principal.
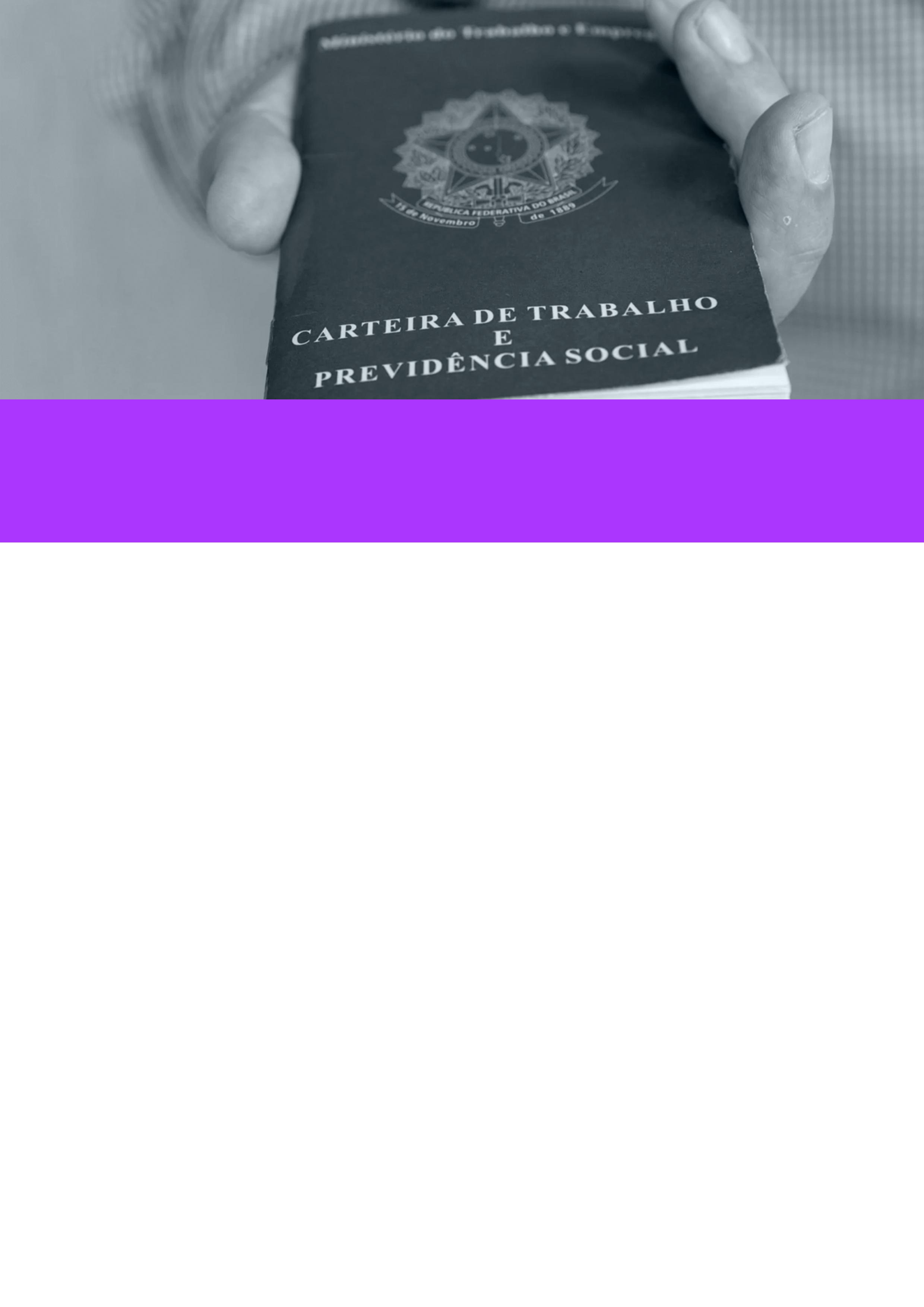
O CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE: AVANÇO NA FLEXIBILIZAÇÃO OU PRECARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES LABORAIS?
Domingos Sávio Zainaghi
Mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC/SP. Pós-doutorado em Direito do Trabalho pela Universidad Castilla-La Mancha, Espanha. Pós-graduado em Comunicação Jornalística pela Faculdade Casper Libero. Pós-graduado em Ciência Humanas pela PUCRS. Membro da Academia Paulista de Direito, da Academia Paulista de Letras Jurídicas e da Academia Nacional de Direito Desportivo. Presidente honorário da Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e do Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo. Professor no curso de mestrado em Direitos Fundamentais do UNIFIEO. Profesor do curso de Mestrado em Derecho de la Universidad Católica Boliviana Profesor honoris causa da Universidad Paulo Freire, da Costa Rica .Membro da Sociedade Amigos do Exército Brasileiro em São Paulo-SASDE. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Membro do Instituto de Direito Social-Cesarino Jr. Advogado, escritor, palestrante, psicanalista e jornalista.
Resumo
O contrato de trabalho intermitente, introduzido pela Reforma Trabalhista de 2017 (Lei n° 13.467/2017), representa uma inovação significativa no ordenamento jurídico brasileiro. Ao permitir a prestação de serviços de forma não contínua, com alternância de períodos de atividade e inatividade, busca-se conferir maior flexibilidade às relações de trabalho. No entanto, essa modalidade contratual tem sido alvo
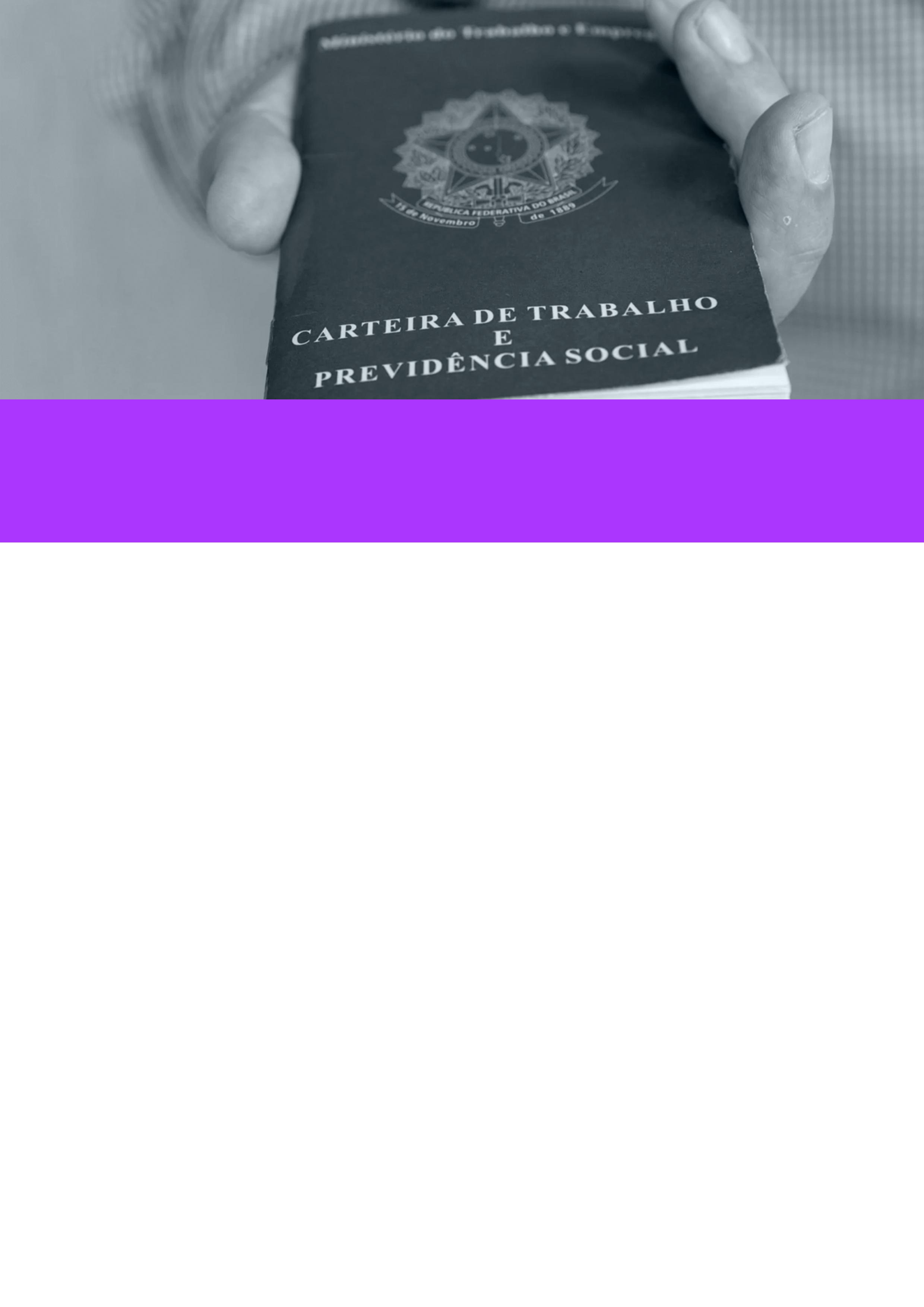
de críticas por possibilitar a precarização das condições laborais, especialmente no que se refere à imprevisibilidade de renda e à desproteção social. Este artigo analisa os aspectos legais, jurisprudenciais e doutrinários do trabalho intermitente, discutindo seus impactos à luz dos princípios constitucionais do Direito do Trabalho.
Palavras-chave: Contrato intermitente; Reforma Trabalhista; Flexibilização; Precarização; Direito do Trabalho.
1. Introdução
A crescente flexibilização das relações de trabalho tem sido uma tendência global nas últimas décadas, especialmente diante das transformações tecnológicas, da economia digital e da busca por maior competitividade entre as empresas. No Brasil, esse movimento ganhou força com a promulgação da Lei n° 13.467/2017, que promoveu ampla reforma na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Dentre as diversas inovações trazidas pela reforma, destaca-se o contrato de trabalho intermitente, que permite ao empregador convocar o trabalhador de forma esporádica, mediante necessidade.
Este artigo tem como objetivo central examinar criticamente a natureza jurídica, os requisitos legais, os desafios práticos e os impactos sociais do contrato intermitente. Pretende-se, ainda, avaliar sua compatibilidade com os princípios fundantes do Direito do Trabalho, bem como discutir as principais controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais que envolvem essa modalidade contratual.
2. Contexto Histórico e Justificativas da Reforma Trabalhista
Historicamente, o Direito do Trabalho brasileiro foi concebido com forte viés protetivo, fruto das conquistas sociais do século XX. A CLT, editada em 1943, baseava-se em um modelo de relação de emprego contínuo, com jornada fixa e direitos indisponíveis. Esse arcabouço jurídico, eficaz por décadas, passou a ser criticado por arte do setor produtivo a partir dos anos 1990, sob o argumento de que a rigidez normativa dificultava a criação de empregos formais.
A globalização e a intensificação da competitividade internacional colocaram novas exigências sobre o mercado de trabalho. Nesse cenário, o discurso
da “flexibilização” ganhou força, defendendo-se a criação de contratos mais ajustáveis à realidade do mercado. A Reforma Trabalhista de 2017 surge nesse contexto, impulsionada por uma agenda política e econômica de liberalização das relações laborais.
A justificativa oficial foi modernizar a legislação, reduzir a informalidade e gerar empregos. No entanto, diversas entidades sindicais e especialistas denunciaram a ausência de diálogo social efetivo e apontaram riscos de retrocesso. O contrato de trabalho intermitente foi um dos dispositivos mais criticados, justamente por romper com a noção clássica de continuidade e previsibilidade, que sempre caracterizou o vínculo empregatício tradicional.
Ao invés de um processo de modernização negociada, a mudança foi imposta por maioria legislativa, sem ampla participação dos trabalhadores. Isso agravou as críticas ao modelo intermitente, cuja aceitação tem sido baixa inclusive entre os próprios empregadores. Em termos históricos, portanto, trata-se de uma ruptura com a tradição protetiva, ensejando a reconfiguração das bases do contrato de trabalho no Brasil.
A legislação trabalhista brasileira, por muitos anos, foi criticada por seu excesso de rigidez, o que, segundo setores empresariais e parte da doutrina, dificultava a adaptação das empresas às dinâmicas do mercado. A Reforma Trabalhista de 2017 foi apresentada como uma resposta a essas críticas, com o argumento de modernizar a CLT, aumentar a formalização de empregos e reduzir a judicialização das relações de trabalho.
Nesse contexto, o contrato intermitente surgiu como uma tentativa de legalizar práticas já existentes de forma informal, especialmente em setores como comércio, hotelaria e eventos. O modelo foi inspirado em legislações de outros países, como a Itália (con -
tratto a chiamata) e o Reino Unido (zero-hour contract), e busca atender a atividades que demandam mão de obra sazonal ou esporádica.
3. Fundamentos Jurídicos do Contrato
Intermitente
O contrato de trabalho intermitente encontra respaldo legal nos artigos 443, §3°, e 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho. O art. 443 §3° define que se trata de contrato com subordinação, mas sem continuidade, com alternância de períodos de prestação de serviços e inatividade. Já o art. 452-A regula sua forma escrita obrigatória, conteúdo mínimo e regras de convocação.
O fundamento jurídico central dessa modalidade é a tentativa de flexibilização das normas trabalhistas, com base na liberdade contratual, coexistente com os princípios da proteção e da função social do contrato. Doutrinadores como Maurício Godinho Delgado e Vólia Bomfim Cassar alertam que a interpretação dessa norma deve ser feita à luz da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, ambos fundamentos da República.
4. Características e Elementos Essenciais
O contrato intermitente apresenta algumas peculiaridades:
• Alternância entre atividade e inatividade
• Remuneração proporcional ao final de cada período trabalhado
• Direito de recusa à convocação
• Registro obrigatório na carteira de trabalho
• Ausência de garantia de jornada mínima
Esses elementos o diferenciam de contratos convencionais e exigem atenção quanto ao cumprimento formal de seus requisitos.
5. Direitos e Obrigações das Partes
Durante a prestação de serviços, o empregado intermitente tem os mesmos direitos dos demais trabalhadores: salário mínimo/hora, adicionais legais, férias proporcionais, 13° salário proporcional, FGTS e INSS. Os pagamentos devem ser quitados integralmente ao final de cada período.
Nos intervalos de inatividade, o empregado pode firmar contratos com outros empregadores. A subordinação, contudo, só existe durante o período efetivo de convocação.
6. Impactos Econômicos e Sociais
Do ponto de vista econômico, o contrato intermitente foi idealizado como um instrumento para dinamizar o mercado de trabalho, permitir a contratação legal de trabalhadores em atividades esporádicas e reduzir o custo da folha de pagamento para as empresas. Estudos do Ministério da Economia estimaram, à época da Reforma Trabalhista, que a medida poderia formalizar até 2 milhões de trabalhadores que atuavam sem registro.
Entretanto, dados do IBGE, do DIEESE e de instituições acadêmicas demonstraram que, passados os primeiros anos da reforma, o número de contratos intermitentes representava uma fração mínima do total de vínculos formais. Em muitos casos, os trabalhadores contratados nessa modalidade permaneciam com rendimento mensal inferior ao salário-mínimo, fato que limita o acesso ao crédito, à moradia e à seguridade social.
No plano social, os efeitos da intermitência são mais drásticos. A instabilidade de renda gera ansiedade e
insegurança, afetando diretamente a saúde mental dos trabalhadores. Além disso, o modelo dificulta a participação do empregado em programas sociais, que muitas vezes exigem renda estável. Isso compromete, inclusive, o planejamento familiar e a organização da vida cotidiana.
Ademais, durante a pandemia de COVID-19, verificou-se que trabalhadores intermitentes foram duramente impactados, pois, embora formalmente empregados, não trabalhavam e, portanto, não recebiam salários nem tinham acesso imediato a benefícios emergenciais, dado o caráter descontínuo da prestação de serviços. Esse episódio reforçou a necessidade de rever o modelo, sob pena de se consolidar uma nova forma de subemprego institucionalizado.
A adoção do contrato intermitente tem efeitos ambivalentes. Por um lado, permite formalizar trabalhadores em setores antes marcados pela informalidade. Por outro, a ausência de jornada mínima compromete a previsibilidade de renda e afeta diretamente a segurança econômica dos trabalhadores, aumentando sua vulnerabilidade social.
Pesquisas empíricas indicam que o uso do modelo ainda é tímido, e há indícios de sua utilização para substituir postos de trabalho com garantias mais robustas. Isso levanta o temor de precarização estrutural.
7. Análise Crítica à Luz dos Princípios Constitucionais
A Constituição Federal de 1988 estabelece como fundamentos da ordem econômica e social a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. O contrato intermitente, se utilizado de forma indiscriminada, pode violar esses princípios ao não assegurar estabilidade econômica mínima ao trabalhador.
A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova ordem jurídico-social no Brasil, assentada no valor social do trabalho e na dignidade da pessoa humana (art. 1°, III e IV), além de assegurar uma série de direitos sociais no art. 7°. Nesse contexto, o Direito do Trabalho deve funcionar como instrumento de justiça social, corrigindo desequilíbrios estruturais entre capital e trabalho.
Ao se analisar o contrato intermitente à luz desse marco constitucional, surgem importantes questionamentos. Pode-se argumentar que a ausência de jornada mínima inviabiliza a percepção de renda compatível com uma existência digna. A liberdade de recusa da convocação, muitas vezes enaltecida como sinal de autonomia, não elimina o caráter subordinado da relação nem assegura meios de sobrevivência ao trabalhador.
A jurisprudência constitucional também oferece parâmetros relevantes. O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, já declarou que normas infraconstitucionais devem ser interpretadas de forma a garantir o núcleo essencial dos direitos sociais. Assim, mesmo que legal, o contrato intermitente não pode ser aplicado de maneira a esvaziar os direitos fundamentais do trabalhador.
Além disso, o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) deve ser observado também no campo laboral. O uso desse modelo com o único objetivo de reduzir encargos, substituindo contratos tradicionais por formas precárias, configura desvio de finalidade e afronta aos princípios constitucionais.
O modelo intermitente só se compatibiliza com a Constituição quando utilizado com cautela, em situações nas quais a intermitência seja intrínseca à atividade. Caso contrário, poderá ser objeto de restrição
pelo Poder Judiciário e pelas convenções coletivas de trabalho.
Portanto, sua utilização deve ser restrita a atividades que, de fato, exijam prestação esporádica de serviços. O uso generalizado pode representar violação aos direitos fundamentais sociais.
8. Jurisprudência Atualizada
A jurisprudência ainda está em evolução, mas já há decisões importantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI N° 13.467/2017 . RECLAMADA. TRANSCENDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PARA O TRABALHO . EXISTÊNCIA DE VOLUME MÍNIMO DE CONVOCAÇÕES. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DO CONTRATO DE TRABALHO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO . DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CONFORME A RACIONALIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E A BOA-FÉ. EXIGIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MO -
RAIS 1 - Há transcendência jurídica quando se constata em exame preliminar discussão a respeito de questão nova, ou em vias de construção jurisprudencial, na interpretação da legislação trabalhista. 2 - O art . 443, § 3°, da CLT define o contrato de trabalho intermitente como aquele em que “a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador”. Observa-se que a característica essencialmente distintiva de tal modalidade especial de contrato de trabalho é a alternância de períodos de
trabalho e de inatividade. 3 - É certo que não existe norma jurídica específica que oriente o empregador quanto ao que se poderia tratar como volume mínimo de convocações do empregado intermitente, de forma geral e abstrata. Ainda que exista tal liberalidade, em tese, a favor do empregador que celebra com trabalhador contrato de trabalho intermitente (art . 443, caput , CLT), é indispensável tomar-se em consideração que a celebração de todo contrato deve observar o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que tem em seu núcleo a proibição do comportamento contraditório do sujeito de direito (venire contra factum proprium). Isso significa que o empregado e o empregador, ao celebrarem o contrato de trabalho intermitente, manifestam vontade de manter a relação de trabalho nessa modalidade especial, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Logo, como consequência de tal princípio e de seu corolário dever de evitar-se o comportamento contraditório ao longo da execução contratual, o empregador terá obrigações no sentido de manter meio ambiente de trabalho adequado para as ocasiões em que o empregado irá à empresa, e o empregado terá obrigação de manter-se apto, física e tecnicamente, para o desempenho do trabalho . Afinal, no momento em que as partes avaliam as vantagens e as desvantagens econômicas da celebração do contrato (fases de pontuação e policitação), elas avaliam suas próprias condições de se manterem aptas a cumprir sua prestação correspondente na relação obrigacional (o empregador quanto à organização da atividade econômica e dos fatores de produção, e o empregado quanto à sua aptidão para a entrega da força de trabalho do modo preferido pelo empregador). 4 - Embora a alternância de perío -
dos não seja determinada no próprio contrato, ela deve guardar adequação ao disposto no art. 113, § 1°, do Código Civil, que impõe a interpretação dos negócios jurídicos conforme usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio e conforme a racionalidade econômica das partes , consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração (empregado e empregador, no momento de celebrar o contrato, vivenciam um contexto em que a demanda pode ser mensal, trimestral, semestral, dentre outras periodicidades). 5 - O fato de o empregador nunca, em momento algum, convocar o empregado, sem apresentar-lhe satisfações ou previsões mínimas de possibilidade de convocação, torna o negócio jurídico viciado no plano da validade, em razão de erro substancial quando ao seu objeto: a prestação de trabalho subordinado me períodos alternados (art . 139, I, Código Civil). Afinal, a característica distintiva do contrato de trabalho intermitente é alternância de períodos de trabalho e de inatividade, não a faculdade unilateral de o empregador convocar, ou não, o empregado contratado e qualificado para o labor. Conforme o art. 122 do Código Civil, são proibidas as condições puramente potestativas , isto é, aquelas que ficam a exclusivo arbítrio de uma das partes do negócio jurídico . Logo, se a previsibilidade de convocação do empregado fica totalmente a critério do empregador, sem existência de qualquer periodicidade mínima (como períodos de pico e estações do ano), o contrato de emprego intermitente é nulo, por conter condição suspensiva puramente potestativa. Portanto, de acordo com a teoria trabalhista das nulidades , o empregado tem direito a receber todas as parcelas eventualmente pendentes de adimplemento, inclusive indenização por danos
morais, se exigível, e o contrato deve encerrar-se com efeitos ex nunc. 6 - A definição da periodicidade mínima de convocações do empregado intermitente não pode resumir-se a equação matemática. Afinal, como o art . 443, § 3°, da CLT não distingue a aplicabilidade do contrato de trabalho intermitente em relação a diferentes ramos da atividade econômica, tal definição demanda exame de cada situação concreta, acompanhada dos postulados normativos da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva. O art. 113, § 1º, do Código Civil, como visto, impõe a interpretação dos negócios jurídicos conforme usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio e conforme a racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Portanto, a definição concreta do volume mínimo de convocações exige consideração de três fatores (não exaustivos): 1) a demanda em face da atividade econômica do empregador que tenha justificado a contratação do empregado intermitente; 2) a natureza dos serviços para que o empregado foi contratado; 3) a frequência de convocação de outros trabalhadores intermitentes de iguais condições para o trabalho . Há outros fatores que podem influenciar tal definição, como, por exemplo, o labor extraordinário de outros empregados em extensão superior à legalmente permitida (art. 59 da CLT) e a supressão ou redução indevida de intervalos legais ou regulamentares (art. 71 da CLT e NR 17, Anexo II). 7 - A definição concreta do volume mínimo de convocações depende de exames casuísticos . De toda forma, é invariável a conclusão de que, se o empregado, apesar de contratado e capaz para o trabalho na modalidade intermitente, nunca é convocado para tanto, o empregador comete
ato ilícito (art. 186 do Código Civil), por abusar do direito (art. 187 do Código Civil) de predeterminar os períodos de alternância entre prestação de serviços e inatividade, submetendo-os a seu exclusivo arbítrio. Cabe salientar, ainda, que o princípio da boa-fé objetiva, como dever anexo do contrato de trabalho, também contempla o dever de informação . Logo, eventuais alterações dos fatores relevantes à convocação do empregado (demanda da atividade econômica, necessidade dos serviços contratados e intenção de convocação do trabalhador contratado) devem ser-lhe revelados, com a clareza adequada. 8 - Todo trabalho, seja ele prestado na modalidade empregatícia ou não, comum ou intermitente, deve desenvolver-se em condições dignas e decentes. Por conseguinte, o adimplemento de deveres anexos do contrato de trabalho, como o de informação e o da proibição do comportamento contraditório (decorrentes da boa-fé objetiva), compõe o núcleo de deveres do empregador para com a pessoa contratada.
Não é demais ressaltar que até mesmo no direito civil o descumprimento de deveres anexos da relação contratual acarreta o inadimplemento do negócio jurídico, mesmo que não exista culpa ou dolo especificamente associados às consequências lesivas . O Enunciado n. 24 da 1ª Jornada de Direito Civil orienta: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.” . Portanto, a reclamada, ao empreender a conduta omissiva de jamais convocar empregado contratado sob a modalidade de trabalho intermitente, sem justificativa ou diálogo, abusou de seu direito (art. 187 do Código Civil) e cometeu ato ilícito (art. 186 do Código Civil) violador dos direitos da
personalidade da reclamante, que deve ser indenizada por tal conduta, que ensejou danos morais (arts. 5º, X, Constituição Federal, 223-C, § 1°, CLT e 927 do Código Civil) . 9 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.(TSTAIRR: 0011000-23.2020.5 .15.0076, Relator.: Katia Magalhaes Arruda, Data de Julgamento: 22/11/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: 24/11/2023)
CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE. DESCARACTERIZAÇÃO. O contrato de trabalho intermitente se caracteriza pela prestação de serviços de maneira não contínua, para atender eventual necessidade de pessoal. O trabalho contínuo, por meses a fio, desvirtua o contrato intermitente, autorizando o reconhecimento do vínculo por tempo indeterminado.(TRT-1RO: 00100067112022501004, Relator.: CESAR MARQUES CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: DEJT 2022-07-07).
RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE. REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA . O contrato de trabalho intermitente foi inserido na CLT pela Lei nº 13.467/2017, sendo que o caput do artigo 443 passou a ter a seguinte redação: “o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente” (destaquei). Aludida modalidade contratual está regulamentada no artigo 452-A da CLT, com o dever de o contrato ser celebrado por escrito e conter especificamente o valor da hora de trabalho. O empregado é convocado para a prestação de serviços com antecedência de três dias corridos, no entanto, pode recusar o cha -
mado, situação que não descaracteriza a subordinação . Prestando os serviços, receberá o pagamento imediato da remuneração, férias proporcionais com o adicional de 1/3, décimo terceiro proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. O elemento a diferenciar o contrato de trabalho intermitente do contrato de trabalho por prazo indeterminado é o trabalho prestado de forma eventual, mantendo, entretanto, os demais requisitos, ou seja, trabalho prestado pessoalmente (intuito personae) por pessoa física, de forma subordinada e onerosa. No caso em apreço, em depoimento o reclamante confirmou ter prestado serviços “quando era convocado pela 1a. reclamada, em dias aleatórios”, situação típica do contrato em aludida modalidade . Ao reclamante competia comprovar que o contrato não respeitou as disposições legais, ônus que lhe competia na forma do artigo 818 da CLT, da qual não se desincumbiu. NEGA-SE PROVIMENTO.(TRT-2 10009875020215020083 SP, Relator.: MOISES DOS SANTOS HEITOR, 1ª Turma - Cadeira 4, Data de Publicação: 09/02/2022)
Vê-se pela leitura ados arestos acima, que a Justiça do Trabalho vem se debruçando com sobre o tema com a indispensável atenção que este merece.
Esses entendimentos demonstram a tentativa dos tribunais de evitar o uso abusivo da nova modalidade.
9. Comparativo com Outras Modalidades Contratuais
Diferente do contrato por tempo parcial ou determinado, o intermitente não assegura mínima carga horária. Tampouco pode ser confundido com trabalho autônomo, pois há subordinação.
Esse contrato, portanto, é uma figura jurídica própria, que exige atenção redobrada para não mascarar relações contínuas de emprego.
10. Conclusão e Propostas de Aperfeiçoamento
O contrato de trabalho intermitente representa uma inovação com potencial positivo, mas que deve ser aplicada com cautela. Para evitar sua transformação em mecanismo de precarização, propõe-se:
• Regulamentação por norma coletiva. Com a proteção sindical o contrato diminuiria muito as tentativas de uso fraudulento do contrato de trabalho intermitente.
• Fiscalização intensiva. O Ministério do Trabalho deve ter um cadastro de empresas que adotam o contrato de trabalho intermitente e sobre elas exercer fiscalização constante.
• Garantia mínima de horas mensais.
• Maior proteção da legislação previdenciária mais efetiva
O equilíbrio entre flexibilidade e proteção social é essencial para que a inovação cumpra sua função sem comprometer os avanços históricos do Direito do Trabalho brasileiro.
Este contrato é exclente para aquelas atividades sazonais, como pousadas em regiões turísticas, que têm demanda em certos meses do ano, como no verão ou no inverno.
Em regiões de veraneio, por exemplo, onde existe demandas entre novembro e março, muitos trabalhadores eram contratados sem registro, pois ao final do período assinalado, eram despedidos. Em seguida propunham reclamação trabalhista e celebrava-se acordo.
No ano seguinte novo ciclo de trabalho-reclamação-acordo se instalava. Com o trabalho intermitente empresários e trabalhadores deste tipo de serviço encontraram solução, e sem o desgaste de uma relação trabalhista para ambos.
Como tudo no mundo, sempre existirão pessoas que tentarão se utilizar do contrato intermitente para fraudar as normas trabalhistas, e em razão disto é que Ministério do Trabalho e até Ministério Público do Trabalho devem ter constante vigilância.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BATISTA, HBRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017.
CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 15. ed. Forense, 2023.
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 20. ed. LTr, 2023.
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 42. ed. Atlas, 2023.
SÜSSEKIND, Arnaldo; VIANNA, Segadas; MARANHÃO, Délio. Instituições de Direito do Trabalho. LTr, 2019.
ZAINAGHI, Domingos Sávio Zainaghi. Curso de Legislação Social. 15. Ed. Manole, 2021
OITO ANOS DA REFORMA TRABALHISTA: ENTRE PROMESSAS DE MODERNIZAÇÃO E A DISTOPIA ALGORÍTMICA — UMA ANÁLISE JURÍDICA, ECONÔMICA E SOCIAL DA PRECARIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO TRABALHO
Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro
MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos. Pós doutoranda pela Universidade de Bologna. Doutora e mestra em Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social pela USP/Professora titular de Direito Processual do Trabalho e de Compliance da FDSBC (09750-650) – São Bernardo do Campo – São Paulo – Brasil/Juíza do trabalho/ Pesquisadora do NTADT da USP/Ocupa a Cadeira 07 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. erotilde.minharro@direitosbc.br; ORCID https://orcid.org/0000-0003-2638-0147
Resumo
Este artigo analisa criticamente os efeitos da Reforma Trabalhista brasileira de 2017, com foco especial na ascensão do trabalho mediado por plataformas digitais. A partir de uma perspectiva jurídica, econômica e social, investiga-se como a flexibilização promovida pela Lei nº 13.467/2017, aliada ao avanço do capitalismo algorítmico, resultou não em maior formalização e geração de empregos, como prometido, mas em um aprofundamento da precarização laboral. O estudo evidencia que o discurso da modernização, baseado na eficiência econômica e na autonomia contratual, tem servido para legitimar modelos contratuais que externalizam riscos aos trabalhadores, mascarando vínculos de emprego
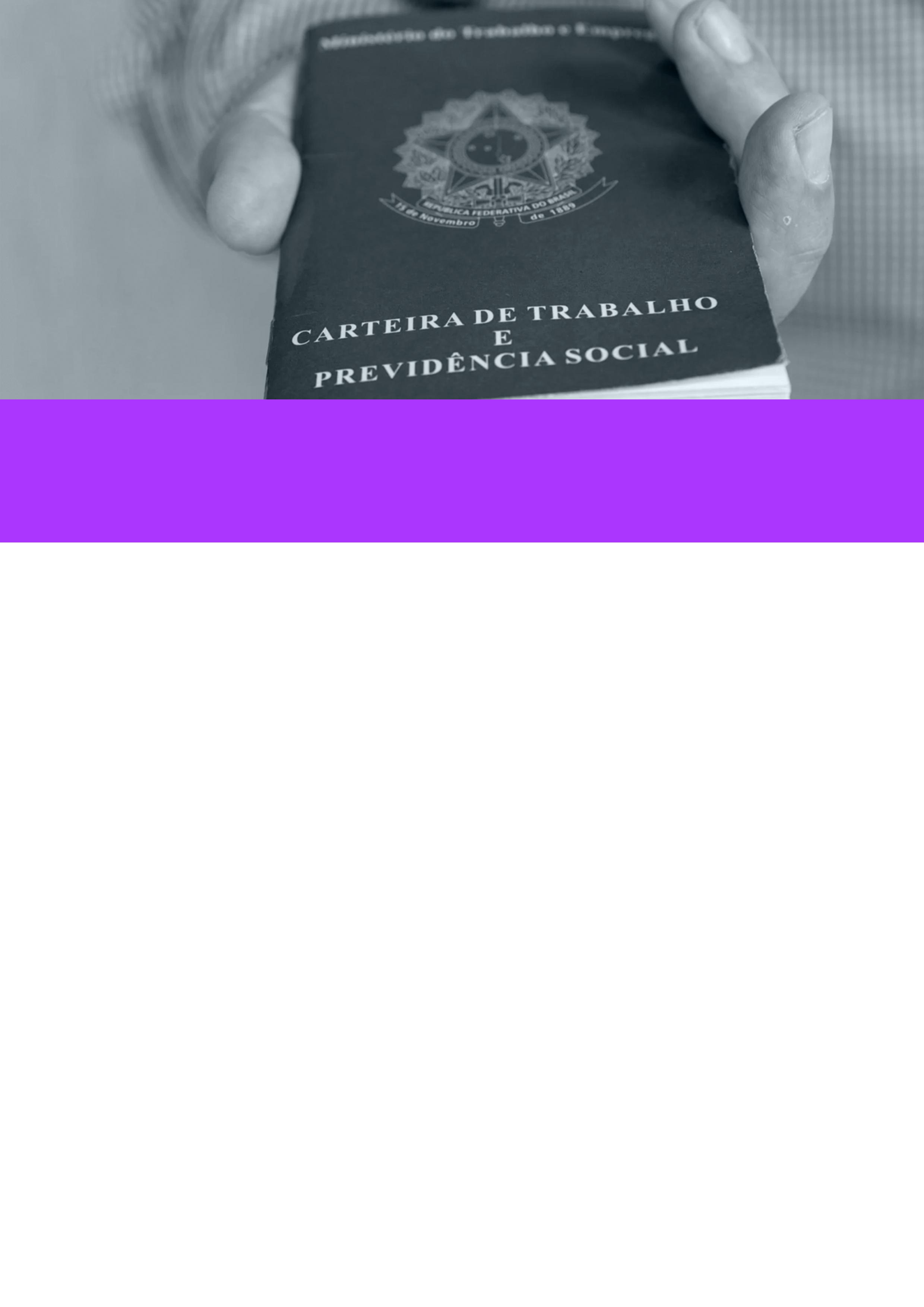
sob novas roupagens jurídicas. São analisadas também experiências internacionais, como a Ley Rider da Espanha e decisões da Suprema Corte do Reino Unido, apontando caminhos para uma regulação mais adequada ao trabalho digital. Defende-se, ao final, a necessidade urgente de um novo pacto trabalhista, que reconheça a dignidade do trabalho em todas as suas formas, assegurando direitos sociais também aos trabalhadores de plataformas digitais, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do trabalho.
Palavras-chave: Direito do Trabalho; Justiça Social; Modernização; Plataformas Digitais; Precarização; Reforma Trabalhista; Subordinação Algorítmica.
Sumário
Introdução. 1- O mito da flexibilização: o que realmente mudou? 2- A explosão das plataformas digitais. 3A distopia algorítmica: o novo comando invisível. 4- A crítica da análise econômica do direito. 5- O papel do Poder Judiciário: contraponto ou reforço da lógica econômica? 6- Oito anos depois: Reforma Trabalhista já ultrapassada? 7- Considerações finais. 8- Referências bibliográficas.
Introdução
A Reforma Trabalhista de 2017, implementada pela Lei n°670 13.467, foi apresentada ao país como um marco de modernização das relações de trabalho. O discurso oficial defendia que a atualização da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) era indispensável para adequar o Brasil às novas dinâmicas econômicas e à crescente complexidade do mercado. Entre as principais promessas políticas e econômicas estavam a redução da informalidade, o estímulo à criação de empregos formais e o fortalecimento da negociação coletiva como instrumento de equilíbrio entre capital e trabalho.
Os defensores da reforma garantiam que a flexibilização de direitos, especialmente por meio da ampliação da possibilidade de acordos coletivos sobre direitos estabelecidos em lei (velha dicotomia do negociado X legislado), criaria um ambiente mais atrativo para investimentos e fomentaria o crescimento econômico. A expectativa era clara: menos rigidez normativa resultaria em mais empregos com carteira assinada, redução da litigiosidade trabalhista e maior segurança jurídica para empresas e trabalhadores.
No entanto, passados oito anos, os dados econômicos e sociais mostram uma realidade muito mais complexa e geram várias reflexões sobre o real impacto da reforma trabalhista de 2027 nos índices de
emprego formal e nas condições de trabalho em geral1
A hipótese central que propomos é a de que a Reforma Trabalhista de 2017, ao flexibilizar direitos e relativizar garantias históricas, acabou por facilitar o avanço do trabalho algorítmico precarizado no Brasil. Mais do que apenas atualizar a legislação, a reforma criou brechas normativas que foram rapidamente exploradas pelas novas formas de organização do trabalho, sobretudo pelas plataformas digitais.
Ao incorporar conceitos como autonomia do trabalhador e ao ampliar a possibilidade de negociação direta entre empresas e trabalhadores, a reforma contribuiu para legitimar modelos contratuais mais flexíveis — ou mesmo para ocultar vínculos de emprego sob novas roupagens jurídicas, como a pejotização e a contratação por intermediação via aplicativos.
Nesse contexto, a ascensão do trabalho mediado por algoritmos — característico de plataformas como Uber, iFood, 99 e tantas outras — se consolidou em um vazio regulatório. A retórica da modernização, usada para justificar a reforma, acabou também por naturalizar relações laborais profundamente desiguais, marcadas pela ausência de direitos mínimos como férias, 13° salário, descanso semanal remunerado e proteção previdenciária.
Assim, a hipótese é clara: a reforma não só falhou em impulsionar empregos formais, como também acelerou a precarização algorítmica, tornando o mercado de trabalho brasileiro ainda mais fragmentado e vulnerável aos impactos da economia digital desregulada.
1 CARRANÇA, Thais. Reforma trabalhista aumentou informalidade ao enfraquecer sindicatos, diz estudo inédito. G1, São Paulo, 1 maio 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2025/05/01/reforma-trabalhista-aumentou-informalidade-ao-enfraquecer-sindicatos-diz-estudo-inedito.ghtml Acesso em: 17 jul. 2025.
Imagine um cenário em que o Direito do Trabalho, historicamente concebido como ferramenta de proteção do trabalhador, passa a ser moldado não mais pelas garantias constitucionais, mas pela lógica fria e implacável dos algoritmos.
O que deveria ser um instrumento de justiça social, equilíbrio nas relações econômicas e promoção da dignidade humana, transformou-se em instrumento de validação da precarização travestida de modernidade. A promessa era modificar uma legislação originária da década de 30 do século XX (consolidada em 1° de maio de 1943) para ampliar as possibilidades de emprego e renda; a realidade, porém, tem mostrado um cenário de precarização em escala exponencial, em que o trabalho é mediado por aplicativos que impõem jornadas extensas, remunerações instáveis e inexistência de proteção social.
Essa reflexão nos obriga a olhar para além da fachada de “inovação” e questionar: estamos diante de uma verdadeira evolução das relações de trabalho ou apenas reembalando velhas formas de exploração com uma roupagem tecnológica? A reforma trabalhista abriu caminho para um mercado de trabalho cada vez mais fragmentado, onde o trabalhador é gerenciado não por chefes, mas por códigos e equações matemáticas, e sua dignidade é calculada em métricas de desempenho.
Se o Direito do Trabalho nasceu para limitar o poder econômico e domesticar o capitalismo selvagem, o que acontece quando o poder passa a ser exercido por inteligências artificiais invisíveis, sem rosto, sem diálogo e sem negociação? Esta é a distopia silenciosa que precisamos enfrentar. O capitalismo contemporâneo não é mais industrial, é tecnológico2 e está mais indomável do que nunca esteve antes.
2 MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos; SABINO, Renato. Inteligência artificial e o futuro do trabalho: reflexões sobre a proteção trabalhista na era do capitalismo tecnológico. In: BENACCHIO, Marcelo; RIBEIRO, Paulo Dias de Moura (Orgs.). Estudos e
Neste estudo são utilizados os métodos exploratório e explicativo. O método exploratório mapeia o problema e coleta informações bibliográficas. O método explicativo, por sua vez, identifica as ideias centrais e os fatores que influenciam o fenômeno estudado na busca de soluções para harmonizá-los.
1. O mito da flexibilização: o que realmente mudou?
A promulgação da Lei n° 13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista, foi acompanhada por um discurso promissor de modernização das relações de trabalho, aumento da formalização, geração de empregos e crescimento econômico. As justificativas apresentadas pelo legislador e setores empresariais giravam em torno da necessidade de flexibilização para adequar o Brasil às novas dinâmicas do mercado global. Entretanto, passados oito anos de vigência da reforma, um número crescente de estudos acadêmicos e relatórios institucionais tem demonstrado que os resultados concretos ficaram distantes das promessas inicialmente propagadas.
Segundo levantamento recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Brasil assistiu a uma redução da taxa de desemprego em anos recentes, mas sem a correspondente expansão do emprego formal. Pelo contrário, o crescimento da ocupação foi absorvido majoritariamente pelo setor informal, que permaneceu em patamares elevados, variando entre 31% e 39% da população ocupada no período pós-reforma3 . Esses números evidenciam que o discurso da modernização, associado à Repesquisas em direito sob a perspectiva do humanismo. São Bernardo do Campo: FDSBC University Press, 2023. p. 211-229. 3 PATEO, Felipe Vella; LOBO, Vinicius Gomes. Panorama recente da informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2024. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/1f211fbe-2257-4ed6-b03a-9fbda58a10ff/content. Acesso em: 17 jul. 2025.
forma Trabalhista, não resultou em uma formalização consistente do mercado de trabalho.
A corroborar essa perspectiva, estudo publicado pela Fundação Perseu Abramo 4 aponta que a reforma contribuiu para o enfraquecimento do sistema sindical e favoreceu o crescimento de modalidades contratuais precárias, como o trabalho intermitente e a pejotização, sem promover ganhos significativos na formalização dos vínculos empregatícios. A desregulamentação promovida pela reforma não apenas reduziu direitos consolidados, mas também impactou a capacidade fiscalizatória do Estado, com a redução expressiva do número de auditores fiscais do trabalho no período, como demonstram os dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego 5
Do ponto de vista da análise econômica do direito, a flexibilização pretendia reduzir custos de contratação, dinamizar o mercado e fomentar a criação de empregos. Contudo, os resultados práticos revelam que o aumento de modalidades contratuais mais frágeis promoveu, na realidade, uma acentuada transferência de riscos ao trabalhador, sem contrapartida em termos de estabilidade ou acesso a direitos sociais. O crescimento econômico recente, registrado após a pandemia, não foi acompanhado pela formalização das ocupações, evidenciando a fragilidade das promessas de crescimento com proteção social.
Diante desse cenário, é possível afirmar que a Reforma Trabalhista teve papel restrito e pouco relevante na criação de empregos formais, contribuindo para a consolidação de um mercado de trabalho cada vez mais informalizado e precarizado. Tal constatação reforça a necessidade de reavaliação crítica do modelo normativo atual, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho, sob pena de se perpetuar um ciclo de exclusão social travestido de modernização.
A constatação é clara: o que foi apresentado como modernização do trabalho revelou-se uma estratégia jurídica de desproteção social. A eficiência prometida não se concretizou em termos de equilíbrio distributivo ou crescimento sustentável; ao contrário, consolidou-se um modelo de mercado de trabalho mais fragmentado, inseguro e excludente. A Reforma Trabalhista, ao invés de universalizar direitos ou dinamizar a economia, contribuiu para a precarização estrutural do trabalho no Brasil, com comprometimento dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização social do trabalho.
2. A explosão das plataformas digitais
4 CARRANÇA, Thais. Reforma trabalhista aumentou informalidade ao enfraquecer sindicatos, diz estudo inédito. G1, São Paulo, 1 maio 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2025/05/01/reforma-trabalhista-aumentou-informalidade-ao-enfraquecer-sindicatos-diz-estudo-inedito.ghtml. Acesso em: 17 jul. 2025.
5 IPEA. Baixa fiscalização pode explicar permanência da informalidade mesmo em cenário de baixo desemprego. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 18 abr. 2025. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/ noticias/15705-baixa-fiscalizacao-pode-explicar-permanencia-da-informalidade-mesmo-em-cenario-de-baixo-desemprego . Acesso em: 18 jul. 2025.
Após a aprovação da Reforma Trabalhista em 2017, o Brasil assistiu a uma rápida expansão de modelos de trabalho mediado por plataformas digitais, fenômeno inserido no contexto global da chamada “uberização” das relações de trabalho. A proliferação de aplicativos de transporte, delivery e serviços sob demanda se intensificou, coincidindo com um arcabouço jurídico mais permissivo à flexibilização contratual. Embora a ascensão das plataformas digitais esteja relacionada a avanços tecnológicos, a ausência de regulação clara somada às mudanças normativas implementadas pela Lei n° 13.467/2017, a alteração da Lei 6.019/1974 para deixar claro que a
terceirização poderia atingir atividades-fim da tomadora de serviços e a jurisprudência do STF mais favorável à terceirização irrestrita, favoreceu o avanço de situações fáticas que simulam legalidade, mas na prática, burlam a proteção clássica prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O novo quadro jurídico criado pela reforma expandiu a lógica da “negociação sobre a legislação” (especialmente após a edição do Tema 1046, pelo STF), e permitiu que acordos individuais, ou negociações coletivas fragilizadas, passassem a suprimir direitos historicamente garantidos. Modalidades como o trabalho intermitente foram legalizadas, ampliando a margem para contratações flexíveis sem garantia de jornada mínima, estabilidade financeira ou benefícios sociais. Esse ambiente normativo foi propício para que o trabalho por meio de plataformas digitais, em especial os contratos via pessoa jurídica (PJ) e autônomo, prosperassem em um vazio normativo quanto à proteção social.
A fragilidade das proteções tradicionais revelou-se ainda mais evidente com o enfraquecimento da estrutura sindical, promovido pela reforma por meio da extinção da contribuição sindical obrigatória e pela crescente limitação da atuação da Justiça do Trabalho em face de novas modalidades contratuais (por exemplo, Tema 725, do STF e mais recentemente a paralisação dos processos envolvendo “pejotização” até a efetiva análise do Tema 1389, pela Corte Constitucional Pátria). Esse esvaziamento institucional gerou um campo fértil para a disseminação de relações laborais atípicas, nas quais o trabalhador se vê subordinado a mecanismos algorítmicos — como ranqueamentos, bloqueios e metas automatizadas — sem qualquer reconhecimento jurídico da subordinação ou da relação empregatícia.
Surge, assim, a figura do capitalismo algorítmico. Conforme argumenta Ferlin D’Ambroso 6 , trata-se de um modelo econômico que não apenas emprega algoritmos como instrumentos de gestão da força de trabalho, mas também instrumentaliza a retórica da autonomia e do empreendedorismo individual para mascarar relações de intensa subordinação econômica. Nesse contexto, o trabalhador é controlado por métricas digitais, metas automatizadas e bloqueios unilaterais, sem que isso gere qualquer reconhecimento formal de vínculo empregatício ou acesso aos direitos trabalhistas clássicos. O efeito concreto é a normalização de uma nova camada de precarização estruturada, na qual o aparato tecnológico legitima e amplia formas de exploração antes combatidas pelo Direito do Trabalho.
Assim, há uma relação direta entre o enfraquecimento das garantias clássicas de proteção social e o surgimento de novas formas de exploração laboral, caracterizadas pela intermediação algorítmica, ausência de vínculo, e precarização estrutural. O contexto pós-reforma demonstrou que a flexibilização normativa, longe de impulsionar modernização inclusiva, contribuiu para institucionalizar novas formas de precariedade, o que exige urgente reavaliação do papel do Estado na regulação do trabalho em tempos de transformação digital.
3. A distopia algorítmica: o novo comando invisível
A ascensão do trabalho mediado por plataformas digitais introduziu uma nova lógica de controle e exploração no mundo do trabalho, caracterizada pela figura do “comando invisível” 7 exercido pelos algorit-
6 FERLIN D’AMBROSO, Marcelo José. A selvagem precarização laboral no capitalismo de plataformas. Cielo Laboral, n. 6, jun. 2024. Disponível em: https://www.cielolaboral.com/wp-content/ uploads/2024/06/ferlin_noticias_cielo_n6_2024-1.pdf . Acesso em: 18 jul. 2025.
7 Atualmente, identificam-se quatro efeitos principais no controle
mos. Distante da relação direta entre empregador e empregado prevista no modelo tradicional celetista, o trabalhador de aplicativos se vê subjugado por mecanismos impessoais que definem, de maneira automática e opaca, sua jornada de trabalho, sua remuneração e suas condições laborais 8
Os algoritmos são programados para impor jornadas imprevisíveis e extensas, frequentemente levando trabalhadores a permanecerem conectados por mais de 10 ou 12 horas por dia, sem qualquer garantia de remuneração mínima. A lógica de remuneração variável, baseada em dinâmica de demanda, leva a uma oscilação acentuada de ganhos semanais e mensais, expondo o trabalhador a uma instabilidade financeira crônica. Soma-se a isso o estabelecimento de metas inalcançáveis e sistemas de ranqueamento que pressionam o trabalhador a uma produtividade extrema, sob pena de sofrer punições ocultas, como bloqueios temporários ou permanentes da plataforma, sem direito a contraditório ou defesa prévia.
O discurso da “autonomia”, amplamente difundido durante a Reforma Trabalhista e na narrativa das empresas de tecnologia, transforma-se, na prática, em dependência econômica absoluta. O trabalhador se vê compelido a aceitar todas as corridas ou entregas para não ser apenado pelo algoritmo, o que gera vulnerabilidade psicológica, ansiedade constante e dificuldade em organizar vida pessoal e descanso. Não se trata de liberdade, mas de subordinação algorítmica, que opera sem contrato formal, mas com rígido controle digital.
algorítmico: autonomia X heteronomia, precariedade, ativismo algorítmico e necessidade de regulação específica.
8 SILVA, Felipe Marques; SALTORATO, Patrícia. O controle algorítmico na organização do trabalho via plataformas digitais: uma revisão sistemática da literatura. Revista de Administração, Sociedade e Inovação, v. 10, n. 1, 2024, pp. 36-58. Disponível em: https:// www.rasi.vr.uff.br/index.php/rasi/article/view/791 . Acesso em: 18 jul. 2025.
A jurisprudência do TST tem oscilado em determinar que o legislador deve solucionar a questão dos trabalhadores intermediados por plataformas, com decisões que – diante das provas concretas colhidas – enxergam subordinação na entrega da força de trabalho do trabalhador para com a empresa de tecnologia. Vejamos as ementas que ilustram estas duas situações:
RECURSO DE REVISTA. MOTORISTA DE APLICATIVO . VÍNCULO DE EMPREGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL OU ALGORÍTMICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão debatida nos autos diz respeito à natureza da relação jurídica que se forma entre empresas que exploram plataformas digitais e motoristas que se utilizam da tecnologia do aplicativo. 2. O Tribunal Regional reconheceu o vínculo empregatício fundamentado exclusivamente na existência de uma subordinação algorítmica, pois o trabalhador teria sua atividade controlada e fiscalizada por meio de sistemas de inteligência artificial . 3. A relação jurídica que envolve os motoristas de aplicativo e as empresas que gerem as plataformas digitais é fruto da revolução tecnológica que promove novas formas de prestação de serviços e novos formatos contratuais, muitas das quais ainda carecem de uma regulamentação legal específica. 4. A chamada subordinação algorítmica não encontra agasalho na ordem jurídica vigente e esse novo modelo contratual que envolve motoristas de aplicativos e empresas provedoras de plataformas digitais não se enquadra no modelo empregatício regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho. 5. A observância de regras de conduta é inerente a qualquer modalidade contratual e ínsita a qualquer atividade profissional, seja ela subordinada ou não, de modo que as cir-
cunstâncias fáticas registradas no acórdão regional não são suficientes para caracterizar a relação empregatícia. 6. Não se desconhece a notória necessidade de proteção jurídica aos motoristas de aplicativo, porém, tal desiderato protetivo deve ser alcançado via legislativa, nada justificando trazê-los ao abrigo de uma relação de emprego que não foi pactuada. Recurso de revista conhecido e provido. (TSTRRAg: 00009187420225100019, Relator.: Amaury Rodrigues Pinto Junior, Data de Julgamento: 02/04/2025, 1ª Turma, Data de Publicação: 10/04/2025).
De maneira oposta, concedendo o vínculo, apresento a seguinte jurisprudência, também oriunda do C. TST:
RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO . PLATAFORMA DIGITAL. ENTREGADOR DE APLICATIVO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA PROTEÇÃO AO EMPREGO. VÍNCULO DE EMPREGO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CENTRALIDADE DA PESSOA HUMANA NO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS ( CF/88, ARTIGOS 1º, 3º, 5º, 6º, 7º e 170). DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL (CAPUT DO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). Cinge-se a controvérsia em definir a relação jurídica do serviço prestado pelo entregador de aplicativo em plataforma digital. In casu , o TRT afastou o vínculo de emprego requerido com fundamento de que o reclamante é entregador autônomo e sem subordinação com a plataforma de transporte, o que é impugnado pelo autor neste apelo. Tal relação é estabelecida por economia sob demanda (on-demand economy), por
meio de plataforma conectada à internet, à qual os usuários - clientes cadastrados digitalmente - requerem a prestação serviços de locomoção pessoal ou de entrega de bens e serviços. Está claro que houve evolução das relações de trabalho muito mais rápida e maior do que a evolução da lei . Assim, nos casos de contratação por intermédio de plataformas digitais, cumpre analisar a controvérsia sobre a relação estabelecida entre as partes e, nos casos submetidos a esta Justiça especializada, a constatação, ou não, dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. Na prestação desses serviços, tem-se que a atuação do profissional pode ser acompanhada em tempo real pela plataforma eletrônica da empresa (subordinação algorítmica), que verifica o trajeto, a velocidade desenvolvida e a avaliação do cliente. Podemos considerar , ainda , outras condições do controle da atividade laboral, entre as quais , o fato de o contratado sofrer punição pelo cancelamento de corridas , ou por não manter o carro nas condições pré-determinadas, e de não dispor de liberdade de escolha de clientela, destino, tempo de execução ou valor do serviço . No que se refere à pessoalidade, temos que a prestação de serviços para a empresa é exclusiva do entregador que preencheu os pré-requisitos empresariais de contratação - “termos de uso”. Ademais, é impertinente o fundamento de que o entregador não assume os riscos do negócio, visto que, além de arcar com os custos da prestação do serviço (manutenção do carro, combustível, IPVA), cabe a ele a responsabilidade por eventuais sinistros, multas, atos ilícitos ocorridos, entre outros. Ressalta-se que a exclusividade com a contratante não é característica essencial do contrato de trabalho e a habitualidade pode ser constatada pela continuidade da prestação de serviço. Analisando o direito internacional comparado, temos que a tendência mundial
é de que os contratados por plataformas digitais tenham direitos mínimos assegurados ou até mesmo direitos trabalhistas reconhecidos . No Brasil, não existem normas específicas para regular esse tipo de contrato, contudo, existe extensa controvérsia jurisprudencial e doutrinária sobre a natureza jurídica dessa relação. Dessa forma, não pode o trabalhador ficar desamparado dos direitos mínimos consagrados em nossa Carta Magna e na vasta legislação celetista. Dadas as características dos atuais contratos, passamos ainda à problemática da previdência social, que seria responsável pelas possíveis eventualidades acometidas com os prestadores de serviços, sem a contribuição paritária das partes envolvidas no negócio jurídico, uma vez que o contratado não ostenta a qualidade de contribuinte previdenciário direto, o que traz insegurança jurídica ao próprio sistema garantidor social - SUS. Assim, no caso , demonstrada a prestação dos serviços em prol da empresa reclamada, a subordinação jurídica, a habitualidade e , considerando a fragilidade e a insegurança suportada pelo prestador de serviços, deve-se reconhecer o vínculo requerido . Precedentes e publicações específicas. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 10000136420235020205, Relator.: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: 07/03/2025).
Esses exemplos demonstram que, sob a aparência de modernidade, o trabalho em plataformas digitais consolidou uma distopia algorítmica, onde a regulação do trabalho é privatizada, automatizada e ocultada, em flagrante violação aos princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana, proteção do trabalho e valor social da pessoa. Trata-se de uma nova era de exploração que exige resposta jurídica robusta e atualizada, capaz de enxergar além da for-
ma contratual e alcançar a substância da relação de trabalho.
A tendência jurisprudencial majoritária e no sentido de remeter ao legislador a solução desta celeuma, até mesmo para atender a inclinação do próprio Supremo Tribunal Federal nesta vertente.
4. A crítica da análise econômica do direito
A Reforma Trabalhista de 2017 foi profundamente influenciada pelo discurso da Análise Econômica do Direito (AED), especialmente por argumentos clássicos que exaltam a liberdade contratual e a busca pela eficiência econômica. O legislador brasileiro, ecoando premissas neoliberais, sustentou que a flexibilização das normas trabalhistas reduziria os custos de contratação, incentivaria a criação de empregos e modernizaria as relações de trabalho. Elementos como a prevalência do negociado sobre o legislado, a possibilidade de contratos intermitentes e a desregulamentação de garantias foram justificados sob a lógica do “mercado eficiente”, no qual trabalhadores e empregadores, em condições supostamente equilibradas, poderiam pactuar livremente as condições de trabalho.
Contudo, essa retórica ignora um aspecto essencial: a realidade material do mercado de trabalho brasileiro, marcada por profunda desigualdade econômica, assimetria informacional e baixa capacidade de negociação dos trabalhadores. O que se verifica, especialmente após a consolidação do trabalho mediado por plataformas digitais, é um modelo de externalização extrema de riscos, no qual os custos operacionais — equipamentos, combustível, manutenção, cobertura previdenciária e ausência de proteção social — são totalmente transferidos ao trabalhador.
Surge, então, uma questão fundamental: é possível falar em eficiência social quando os custos da flexibilização recaem exclusivamente sobre o trabalhador, enquanto as plataformas otimizam lucros sem qualquer responsabilização jurídica? Do ponto de vista do bem-estar coletivo, o ganho privado das plataformas contrasta com o aumento da precariedade, da insegurança e do adoecimento laboral, desmentindo a promessa da eficiência social da desregulação.
A falácia do “mercado eficiente” no setor de serviços mediados por aplicativos é ainda mais evidente diante da assimetria informacional extrema e do controle algorítmico opaco. O trabalhador desconhece os critérios exatos que determinam sua remuneração, sua visibilidade no sistema ou a lógica das punições automáticas. O processo decisório é automatizado, unilateral e intangível, inviabilizando qualquer real liberdade contratual. O mercado de trabalho digital, longe de ser um espaço de trocas livres, funciona sob um regime de dominação algorítmica, onde a empresa controla integralmente a relação de trabalho sem arcar com os deveres legais de um empregador.
Autores críticos da Análise Econômica do Direito ajudam a desmistificar essa lógica. Duncan Kennedy 9 denuncia como a ideologia da eficiência frequentemente serve para mascarar escolhas políticas que favorecem a classe econômica dominante, legitimando desigualdades sob a aparência de neutralidade econômica. Cass Sunstein10 , ao discutir a importância do paternalismo libertário e da regulação corretiva, afirma que mercados reais são permeados por falhas — incluindo assimetria informacional, externalidades e racionalidade limitada — o que
exige intervenção estatal para garantir justiça social mínima.
A importação acrítica dos conceitos da AED para justificar a flexibilização trabalhista, sem considerar os vícios estruturais do mercado brasileiro, apenas contribuiu para a consolidação de um modelo de exploração econômica legitimada juridicamente. A análise econômica, quando utilizada de maneira simplista e descolada da realidade social, deixa de ser ferramenta de diagnóstico para se tornar instrumento de opressão jurídica, aprofundando a vulnerabilidade dos trabalhadores diante do poder econômico das plataformas.
A Análise Econômica do Direito (AED) não se manifesta apenas no contexto da Reforma Trabalhista de 2017, mas também aparece de forma sistemática em outras reformas legislativas brasileiras ocorridas posteriormente, como na alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) pela Lei n° 13.655/2018 e na promulgação da Lei da Liberdade Econômica (Lei n° 13.874/2019), que alterou dispositivos do Código Civil e impactou diretamente a organização das relações econômicas e laborais. Essas três reformas compartilham uma mesma matriz ideológica: a aposta na eficiência econômica, na autonomia privada e na redução da intervenção estatal como soluções para o crescimento econômico.
9 KENNEDY, Duncan. Legal education and the reproduction of hierarchy: a polemic against the system. New York University Press, 1997.
10 SUNSTEIN, Cass R.. Legal reasoning and political conflict. Oxford University Press, 1996.
A LINDB introduziu a exigência de análise das consequências práticas das decisões administrativas, controladoras e judiciais, incorporando diretamente princípios da AED ao Direito Público, sob a justificativa de maior racionalidade na gestão pública. Por sua vez, a Lei da Liberdade Econômica consagrou no Código Civil novos princípios como o direito de livre iniciativa, a presunção de boa-fé nas relações econômicas e a autonomia privada reforçada, além de relativizar conceitos fundamentais como a descon -
sideração da personalidade jurídica, protegendo de forma mais rígida os interesses empresariais.
No conjunto, tais reformas ampliam o espaço da liberdade contratual e da livre iniciativa, muitas vezes em detrimento dos direitos trabalhistas e da proteção social. O discurso da eficiência econômica justifica a flexibilização normativa e a contenção das prerrogativas regulatórias do Estado, com o argumento de que a simplificação e a redução da burocracia gerariam mais empregos e dinamizariam a economia.
No entanto, estudos recentes11 apontam que tais mudanças normativas contribuíram para uma crescente externalização de riscos ao trabalhador, maior informalidade, e aprofundamento da precarização nas relações laborais. O que se observa, portanto, é a consolidação de um modelo jurídico onde a eficiência de mercado é prioritária, mas as consequências sociais são desconsideradas ou tratadas como externalidades inevitáveis. Isso gera o paradoxo: em nome da liberdade e da eficiência, institui-se um sistema legal que fragiliza a proteção dos sujeitos mais vulneráveis nas relações de trabalho.
5. O papel do Poder Judiciário: contraponto ou reforço da lógica econômica?
A consolidação do trabalho mediado por plataformas digitais trouxe ao sistema jurídico brasileiro um desafio contemporâneo: a tensão entre o reconhecimento da realidade material da relação de trabalho e a crescente formalização de contratos civis, utilizados para mascarar vínculos de emprego. No centro deste dilema está o papel do Poder Judiciário, especialmente da Justiça do Trabalho, diante da crescen -
11 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. A tal “Lei da Liberdade Econômica”. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 114, p. 101-123, 2019. Disponível em: https://revistas.usp.br/ rfdusp/article/view/176578 . Acesso em: 19 jul. 2025.
te precarização laboral promovida pelo avanço do capitalismo algorítmico.
Nos Tribunais Regionais do Trabalho, multiplicam-se decisões reconhecendo o vínculo empregatício em casos envolvendo motoristas, entregadores e prestadores de serviços por aplicativos. Em julgados como os do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, envolvendo motoristas da Uber, e do TRT da 7ª Região, envolvendo entregadores do iFood, verificou-se que, mesmo sob contratos civis, os trabalhadores estavam submetidos a subordinação algorítmica, controle de jornada, metas impostas unilateralmente e penalidades automáticas. A Justiça do Trabalho, nessas hipóteses, atuou como contraponto às estratégias de ocultação do vínculo empregatício, priorizando o princípio da primazia da realidade sobre a mera aparência contratual.
No entanto, essa resistência encontra forte oposição em instâncias superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal (STF). O STF, em decisões recentes, tem deslocado a competência para julgar fraudes contratuais envolvendo contratos civis para a Justiça Comum, sob o argumento de respeito à liberdade contratual. Em julgamentos monocráticos e em discussões como o Tema 1389 de Repercussão Geral, prevalece a lógica segundo a qual a existência de contrato civil afastaria, a priori, a competência trabalhista. Este movimento gera o risco de esvaziamento da proteção social, permitindo que formas contemporâneas de exploração escapem ao controle da Justiça do Trabalho.
Essa tensão entre a autonomia contratual formal e a proteção substancial do trabalho não é exclusiva da realidade brasileira contemporânea. A experiência norte-americana oferece um exemplo paradigmático: o famoso caso Lochner v. New York (1905)12 . A 12 COCHRAN, Augustus Bonner. Lochner x Nova Iorque: o caso dos padeiros que trabalhavam demais. Curitiba: Editora Juruá, 2024.
Suprema Corte dos Estados Unidos invalidou uma lei que limitava a jornada dos padeiros a 60 horas semanais, defendendo a liberdade contratual como princípio supremo. Ignorou-se, naquele contexto, a desigualdade material nas relações de trabalho, e a decisão favoreceu a perpetuação da exploração sob o pretexto de “livre escolha”. A doutrina do caso Lochner vigorou até a década de 1930, quando foi finalmente superada pela jurisprudência do New Deal, com a decisão histórica em West Coast Hotel Co. v. Parrish (1937)13 , que reconheceu a necessidade de regulação estatal para proteção da dignidade do trabalhador.
O paralelo é inevitável: assim como o caso Lochner se tornou símbolo da captura do Judiciário pelo formalismo econômico, a atual tendência do STF no Brasil caminha para o mesmo dilema. Sob o argumento da liberdade contratual, busca-se legitimar modelos contratuais que externalizam todos os riscos ao trabalhador, ignoram a subordinação algorítmica e consolidam a precarização estrutural. Ocorre que a Suprema Corte estadunidense reviu seus parâmetros em 1937, estabelecendo que a liberdade econômica não é absoluta e não pode ultrapassar os limites da dignidade da pessoa humana.
O Judiciário brasileiro, encontra-se em uma encruzilhada histórica: poderá reafirmar o papel protetivo, não dele Poder Judiciário, mas do Direito do Trabalho (especialmente por força do princípio da primazia da realidade) frente às novas formas de exploração digital, reconhecendo a hipossuficiência dos trabalhadores em face das plataformas, ou poderá aderir ao formalismo contratual, perpetuando um modelo que privilegia os interesses econômicos e fragiliza a proteção social. O desfecho dessa disputa institucional será determinante para definir o futuro do tra-
13 SUNSTEIN, Cass R.. The Second Bill of Rights: FDR’s Unfinished Revolution and Why We Need It More than Ever. Nova York: Basic Books, 2004.
balho no Brasil, especialmente em um contexto de crescente utilização da tecnologia como instrumento de comando invisível sobre a força laboral.
A leitura crítica da experiência internacional e da história do Direito do Trabalho revela que a defesa abstrata da liberdade contratual tem sido, recorrentemente, utilizada para legitimar práticas de exploração. A lição histórica é clara: sem considerar a realidade concreta das relações de trabalho, corre-se o risco de transformar o Judiciário em agente legitimador da precarização, exatamente o que o Direito do Trabalho sempre buscou combater.
6. Oito anos depois: Reforma Trabalhista já ultrapassada?
A crescente expansão do trabalho mediado por plataformas digitais, especialmente em setores como transporte e entregas, impõe ao Direito do Trabalho o desafio de enfrentar novas formas de precarização laboral disfarçadas pela tecnologia. A atual arquitetura normativa, estruturada a partir de categorias tradicionais — empregado, autônomo, eventual — mostra-se insuficiente para lidar com a complexidade do trabalho intermediado por algoritmos, caracterizado por subordinação velada, controle digital e ausência de proteção social mínima.
Essa realidade tem impulsionado o debate sobre a urgência de uma regulação específica para o trabalho em plataformas, capaz de combater fraudes contratuais sofisticadas e garantir direitos básicos a trabalhadores que, embora não enquadrados nos moldes clássicos da CLT, são indiscutivelmente dependentes economicamente e subordinados tecnologicamente. A ausência de legislação adequada favorece a proliferação de contratos precários e de condições laborais degradantes, além de enfraquecer a atuação fiscalizatória do Estado.
O direito comparado oferece modelos inspiradores para pensar alternativas no contexto brasileiro. A chamada Lei Riders da Espanha (Real Decreto-ley 9/2021)14 foi um marco na Europa ao presumir o vínculo empregatício dos entregadores de aplicativos, invertendo o ônus da prova e reconhecendo a subordinação algorítmica como critério relevante para o enquadramento jurídico. A lei também exigiu transparência dos algoritmos, obrigando as plataformas a informar aos trabalhadores como são gerados os ranqueamentos, a distribuição de tarefas e os critérios de desligamento.
Outro exemplo relevante é o da Suprema Corte do Reino Unido, que, no emblemático caso Uber v. Aslam (2021), reconheceu que motoristas da plataforma eram, de fato, “workers” 15 — categoria intermediária do direito britânico — e, portanto, detinham direito a salário mínimo, férias remuneradas e proteção contra demissão injusta. A corte baseou sua decisão no controle operacional exercido pela empresa, desconsiderando a narrativa empresarial de que os trabalhadores seriam empreendedores autônomos.
Esses modelos internacionais evidenciam a possibilidade de construção de soluções jurídicas inovadoras, que atualizem o Direito do Trabalho sem necessariamente replicar o modelo fordista tradicional, mas também sem capitular ao discurso da “autonomia simulada” promovida pelas plataformas digitais.
A superação do paradigma formalista, centrado exclusivamente no contrato escrito, é essencial para combater as fraudes laborais contemporâneas, cuja
14 GARCÍA-PÉREZ, Montserrat; MUÑOZ RUIZ, Paloma. La Ley Riders en España: un avance en la protección laboral frente a la subordinação algorítmica. Revista de Derecho Social, n. 95, p. 6785, 2021.
15 SUPREME COURT OF THE UNITED KINGDOM. Uber BV and others v Aslam and others [2021] UKSC 5. Disponível em: https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2019-0029.html . Acesso em: 19 jul. 2025.
sofisticação repousa exatamente no uso de aparatos digitais para ocultar o vínculo de emprego. Diante desse contexto, o futuro do Direito do Trabalho passa, necessariamente, pela incorporação de novos instrumentos normativos que protejam os trabalhadores das formas disfarçadas de exploração e assegurem direitos básicos em um mercado cada vez mais moldado pela lógica algorítmica. A proteção da dignidade do trabalhador e a realização do princípio da função social do trabalho dependem de uma regulação capaz de enfrentar as transformações tecnológicas com inteligência jurídica e sensibilidade social.
7. Considerações finais
O desafio do presente é construir um novo pacto trabalhista, capaz de assegurar a dignidade no trabalho digital, tecnológico e com uso de inteligência artificial.
A promessa central que justificou a Reforma Trabalhista brasileira e outras alterações legislativas recentes foi a modernização do mercado de trabalho. O discurso oficial afirmava que a flexibilização das normas laborais estimularia a criação de empregos, reduziria a informalidade e dinamizaria a economia. No entanto, a análise dos dados econômicos e sociais dos últimos anos revela que essa modernização fracassou nos seus compromissos essenciais. A taxa de formalização não se expandiu conforme o prometido, o desemprego oscilou sem que houvesse crescimento sólido do emprego protegido, e o enfraquecimento das proteções trabalhistas coincidiu com o aumento de ocupações precárias, instáveis e mal remuneradas.
Por outro lado, houve um avanço concreto em outra direção: a modernização da exploração laboral. A transformação tecnológica, longe de promover
melhores condições de trabalho, potencializou novas formas de precarização. Surgiu um modelo de trabalho comandado por sistemas algorítmicos, no qual trabalhadores são monitorados, punidos e estimulados ao desempenho via mecanismos digitais, sem o amparo de garantias clássicas do Direito do Trabalho. A tecnologia foi mobilizada para consolidar a desresponsabilização empresarial, externalizando riscos e custos aos trabalhadores, que, mesmo subordinados e dependentes, permanecem invisíveis às proteções jurídicas.
Diante desse cenário, impõe-se a necessidade de reconstruir o sentido originário do Direito do Trabalho como instrumento de promoção da justiça social. É urgente a formulação de um novo pacto trabalhista, capaz de enfrentar os desafios da era digital sem abrir mão dos princípios constitucionais que norteiam a proteção da dignidade da pessoa humana. Esse pacto deve reconhecer o direito ao trabalho digno em todas as suas formas, incluindo os vínculos informais, atípicos ou mediados por plataformas digitais.
Mais do que adaptar a legislação à nova realidade, trata-se de reafirmar o compromisso com a função social do trabalho, restabelecendo o equilíbrio entre eficiência econômica e justiça social, tal qual encontra-se preconizado na Constituição da República. O trabalho do século XXI não pode ser condenado à precariedade apenas por se revestir de roupagens tecnológicas. O desafio do presente é garantir que a inovação tecnológica não seja pretexto para a supressão de direitos, mas instrumento para ampliar o bem-estar, a proteção social e a inclusão econômica. O futuro do trabalho só será sustentável se for também socialmente justo. Como diz a OIT, não há paz, sem justiça social.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARRANÇA, Thais. Reforma trabalhista aumentou informalidade ao enfraquecer sindicatos, diz estudo inédito. G1, São Paulo, 1 maio 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/ noticia/2025/05/01/reforma-trabalhista-aumentou-informalidade-ao-enfraquecer-sindicatos-diz-estudo-inedito.ghtml . Acesso em: 17 jul. 2025.
COCHRAN, Augustus Bonner. Lochner x Nova Iorque: o caso dos padeiros que trabalhavam demais. Curitiba: Editora Juruá, 2021.
FERLIN D’AMBROSO, Marcelo José. A selvagem precarização laboral no capitalismo de plataformas. Cielo Laboral, n. 6, jun. 2024. Disponível em: https://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2024/06/ferlin_noticias_cielo_n6_2024-1.pdf Acesso em: 18 jul. 2025.
GARCÍA-PÉREZ, Montserrat; MUÑOZ RUIZ, Paloma. La Ley Riders en España: un avance en la protección laboral frente a la subordinação algorítmica. Revista de Derecho Social, n. 95, p. 6785, 2021.
IPEA. Baixa fiscalização pode explicar permanência da informalidade mesmo em cenário de baixo desemprego. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 18 abr. 2025. Disponível em: https:// www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/15705-baixa-fiscalizacao-pode-explicar-permanencia-da-informalidade-mesmo-em-cenario-de-baixo-desemprego. Acesso em: 18 jul. 2025.
KENNEDY, Duncan. Legal education and the reproduction of hierarchy: a polemic against the system. New York University Press, 1997.
MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos; SABINO, Renato. Inteligência artificial e o futuro do traba -
lho: reflexões sobre a proteção trabalhista na era do capitalismo tecnológico. In: BENACCHIO, Marcelo; RIBEIRO, Paulo Dias de Moura (Orgs.). Estudos e pesquisas em direito sob a perspectiva do humanismo. São Bernardo do Campo: FDSBC University Press, 2023. p. 211-229.
PATEO, Felipe Vella; LOBO, Vinicius Gomes. Panorama recente da informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2024. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/1f211fbe-2257-4ed6-b03a-9fbda58a10ff/ content. Acesso em: 17 jul. 2025.
RODRIGUES, Camila Moreira. Plataformas digitais e reestruturação do mundo do trabalho: notas sobre a uberização no Brasil. Espaço e Economia, n. 25, 2023. Disponível em: https://journals.openedition.org/espacoeconomia/23419. Acesso em: 18 jul. 2025.
SILVA, Felipe Marques; SALTORATO, Patrícia. O controle algorítmico na organização do trabalho via plataformas digitais: uma revisão sistemática da literatura. Revista de Administração, Sociedade e Inovação, v. 10, n. 1, 2024, p. 36-58. Disponível em: https://www.rasi.vr.uff.br/index.php/rasi/article/ view/791 . Acesso em: 18 jul. 2025.
SUNSTEIN, Cass R. Legal reasoning and political conflict. Oxford University Press, 1996.
SUNSTEIN, Cass R. The Second Bill of Rights: FDR’s Unfinished Revolution and Why We Need It More than Ever. Nova York: Basic Books, 2004.
SUPREME COURT OF THE UNITED KINGDOM. Uber BV and others v Aslam and others [2021] UKSC 5. Disponível em: https://www.supremecourt. uk/cases/uksc-2019-0029.html . Acesso em: 19 jul. 2025.
TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. A tal “Lei da Liberdade Econômica”. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 114, p. 101-123, 2019. Disponível em: https://revistas.usp.br/rfdusp/ article/view/176578 . Acesso em: 19 jul. 2025.
DISPENSAS COLETIVAS: CONTEXTO APÓS 8 ANOS DA REFORMA TRABALHISTA
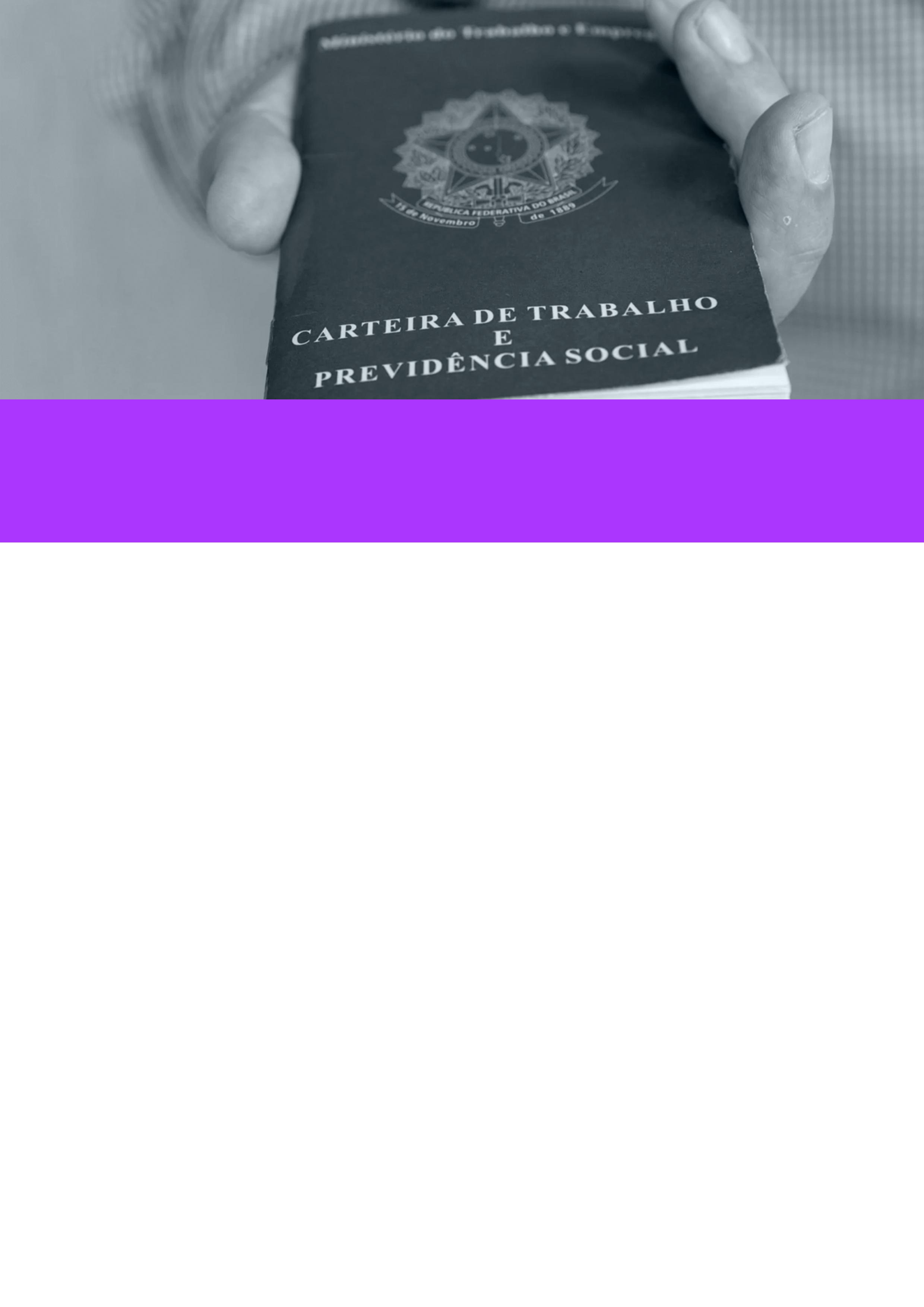
Fabiano Zavanella
Doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), especialista e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), MBA em Direito Empresarial pela FGV/SP, diretor Acadêmico do IPOJUR, membro efetivo da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB/SP, professor em cursos de Graduação e Pós-Graduação em Direito, sócio do escritório Rocha, Calderon e Adv. Associados, pesquisador do GETRAB-USP.
Mariana Siqueira
Advogada com atuação profissional no segmento empresarial trabalhista no âmbito individual e coletivo. Monitora acadêmica na Fundação Getulio Vargas - FGV SP. Formada pela IBMEC|Damásio, especialista em direito constitucional e direito e processo do trabalho pela mesma instituição.
Resumo
Oito anos após a promulgação da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), o tratamento jurídico das dispensas coletivas no Brasil passou por mudanças significativas, especialmente após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que consolidou o entendimento introduzido pela nova redação da CLT de que não é necessária a autorização prévia do sindicato para a realização de dispensas coletivas, embora a negociação coletiva permaneça essencial para resguardar direitos e reduzir os impactos sociais. Este artigo analisa o tema considerando essa consolidação jurisprudencial, discute os fundamentos constitucionais envolvidos, como a dignidade da pessoa humana, a função social da empresa e o princípio da boa-fé, e examina de que forma esses valores devem orientar a conduta de empresas, sindicatos e do Poder Judiciário.
Palavras-chave: Reforma Trabalhista. Dispensa Coletiva. Negociação Coletiva. Direitos Fundamen -
tais. Função Social da Empresa. Sumário
1. Apresentação. 2. Marco Normativo até 2017. 2.1.O vazio legislativo e a CLT pré-reforma. 2.2. Experiências internacionais sintéticas 3. O artigo 477-A da CLT: alcances e limites 4. Jurisprudências do TST antes do STF 4.1. Caso Embraer (2009) e dissídios coletivos 4.2. Pandemia de COVID-19 e o “Caso Ford” 5. O STF e o Tema 638 5.O STF e o Tema 638. 5.1. A tese fixada em 08/06/2022 5.2. A modulação e efeitos (Ata de 14/06/2022, embargos julgados em 12/04/2024) 6. Crítica ao modelo dual 477-A x Tema 638 - 7. Conclusão 8. Referências Bibliográficas.
1. APRESENTAÇÃO
Até o advento da Lei n. 13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista, o ordenamento jurídico brasileiro era silente quanto à regulamentação da dispensa coletiva de trabalhadores. Diante dessa lacuna normativa, consolidou-se no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (“TST”), notadamente por meio da Decisão Normativa n° 309/2009, o entendimento que diferenciava a dispensa coletiva da dispensa individual ou plúrima, estabelecendo a necessidade de negociação coletiva prévia com o sindicato da categoria profissional como condição para a validade das dispensas.
Com a promulgação da Reforma Trabalhista, passou a vigorar o art. 477-A da CLT, que dispõe expressamente que as dispensas individuais, plúrimas e coletivas não dependem de autorização prévia da entidade sindical nem de convenção ou acordo coletivo para sua efetivação. Essa inovação legislativa modificou substancialmente o entendimento até então consolidado, suscitando intensos debates entre operadores do direito.
Nesse contexto, o tema foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”), que, no julgamento do Tema 638 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que não há exigência legal de autorização prévia da entidade sindical para a dispensa coletiva. Contudo, reconheceu-se a importância da negociação coletiva como mecanismo de diálogo e de mitigação de impactos sociais, ainda que não constitua requisito de validade do ato de dispensa.
Diante desse cenário, o presente artigo propõe-se a analisar as disposições legais introduzidas pela Reforma Trabalhista, os impactos sobre o panorama jurídico anteriormente vigente, bem como o atual posicionamento dos tribunais trabalhistas, especialmente à luz da decisão do STF. Ao final, conclui-se que a interpretação mais compatível com os princípios constitucionais e internacionais do Direito do Trabalho compreende que, embora inexista necessidade de autorização prévia, a negociação coletiva permanece como prática essencial para assegurar transparência, prevenir conflitos e concretizar a função social da empresa em casos de dispensas coletivas.
2. MARCO NORMATIVO ATÉ 2017
A garantia de emprego e a consequente estabilidade assegurada pelo regime constitucional instituído após o período de ruptura do regime ditatorial foram temas que mobilizaram intensos debates no cenário jurídico e político brasileiro. De um lado, as entidades representativas dos trabalhadores buscavam consolidar mecanismos de proteção que garantissem a continuidade do vínculo empregatício e coibissem práticas abusivas de desligamento. De outro lado, o setor empresarial manifestava-se de forma contrária, argumentando que tais garantias, se excessivas,
poderiam engessar a gestão da atividade econômica e comprometer a competitividade das empresas. Nesse contexto, a rescisão dos contratos de trabalho, tanto em âmbito individual quanto coletivo, sempre constituiu um ponto central de tensão e de negociação entre as bancadas laborais e patronais.
Apesar da relevância do tema, até 2017 o ordenamento jurídico brasileiro não dispunha de regulamentação específica para as dispensas coletivas, o que levou a doutrina e a jurisprudência a delinearem conceitos e parâmetros interpretativos para a sua caracterização e aplicação.
Orlando Gomes foi um dos primeiros juristas a tratar do tema, conceituando a dispensa coletiva como a “rescisão simultânea, por motivo único, de uma pluralidade de contratos de trabalho numa empresa, sem substituição dos empregados dispensados” 1
No mesmo sentido, Nelson Mannrich contribuiu para o aprimoramento do conceito ao definir a dispensa coletiva como a “ruptura diferenciada do contrato de trabalho de natureza objetiva, de iniciativa patronal, decorrente de causas homogêneas que, durante um determinado período de tempo, atingem certo número de trabalhadores”2 .
No âmbito jurisprudencial, destacou-se a Decisão Normativa n° 309/2009 do TST, que estabelecia a distinção entre dispensa coletiva e dispensa individual ou plúrima, condicionando a validade das dispensas coletivas à prévia negociação com o sindicato representativo da categoria profissional.
O cerne desse entendimento jurisprudencial baseava-se na observância de garantias fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho em equilíbrio com a livre iniciativa, a pro -
1 GOMES, Orlando. Dispensa coletiva na reestruturação da empresa. São Paulo: Revista LTr, LRT Editora, ano 38. p.50. 2 MANNRICH, Nelson. Dispensa coletiva: da liberdade contratual à responsabilidade social. São Paulo: LTr, 2000, p.555
teção do contrato de trabalho contra a dispensa injustificada e o reconhecimento do papel central da negociação coletiva.
Apesar dessa fundamentação em princípios constitucionais e em convenções internacionais, a legislação brasileira, até 2017, carecia de previsão expressa sobre o tema. Assim, as empresas que precisavam realizar dispensas coletivas, à luz do entendimento consolidado à época, deveriam obrigatoriamente realizar negociação coletiva com a entidade sindical competente, a fim de conferir validade e legitimidade às rescisões contratuais.
2.1. O vazio legislativo e a CLT pré-reforma
No regime jurídico trabalhista brasileiro, a extinção do contrato de trabalho sempre foi um tema de destaque, refletindo a busca constante pelo equilíbrio entre a proteção do trabalhador e a autonomia da iniciativa privada.
A CLT, em sua redação original de 1943, disciplinava a rescisão contratual de forma geral, prevendo a dispensa individual, caracterizada pela decisão unilateral do empregador ou do empregado de pôr fim ao vínculo empregatício de forma isolada e personalizada.
A dispensa plúrima, por sua vez, refere-se à rescisão simultânea de diversos contratos de trabalho, mas sem o caráter abrangente, homogêneo e motivado por uma causa única que caracteriza a dispensa coletiva.
A dispensa coletiva é definida na doutrina como um fenômeno de elevada relevância socioeconômica, pois implica a ruptura de múltiplos contratos de trabalho de forma simultânea, fundamentada em uma causa objetiva e comum a todos os desligamentos, como crises econômicas, reestruturações produti -
vas ou o encerramento de atividades de uma unidade empresarial.
Diante da ausência de regulamentação legal específica, coube à jurisprudência e à prática sindical estabelecer parâmetros de controle social sobre as dispensas coletivas, fixando a negociação como instrumento de contenção de impactos sociais e de proteção dos direitos coletivos dos trabalhadores.
Assim, o período pré-reforma trabalhista caracterizou-se por um modelo sustentado em princípios constitucionais de proteção ao emprego, na valorização da negociação coletiva e em construções jurisprudenciais, ainda que sem respaldo expresso na legislação ordinária, mas fundamentado em valores como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e a função social da empresa.
2.2. Experiências Internacionais Sintéticas
A discussão acerca das dispensas coletivas não é um fenômeno restrito ao Direito do Trabalho brasileiro. Diversos ordenamentos estrangeiros dispõem de normas específicas que regulamentam detalhadamente os procedimentos para rescisões coletivas, buscando conciliar a liberdade de gestão empresarial com a proteção social dos empregados.
Nesse cenário, destaca-se o papel da Organização Internacional do Trabalho (“OIT”), que, por meio de convenções e recomendações, orienta padrões mínimos para os países membros. Entre tais instrumentos, merece especial atenção a Convenção nº 158, que aborda, de forma abrangente, a questão do término da relação de trabalho, inclusive por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos.
Nesse sentido, a Convenção n° 158 dispõe:
PARTE III — Disposições Complementares sobre o Término da Relação de Traba-
lho por Motivos Econômicos, Tecnológicos, Estruturais ou Análogos
SEÇÃO A — Consulta aos Representantes dos Trabalhadores
Artigo 13
Quando o empregador prever términos da relação de trabalho por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos:
a) fornecerá aos representantes dos trabalhadores interessados, em tempo oportuno, as informações pertinentes, incluindo os motivos dos términos previstos, o número e as categorias dos trabalhadores que poderão ser afetados, bem como o período durante o qual serão efetuados esses términos;
b) em conformidade com a legislação e a prática nacionais, oferecerá aos representantes dos trabalhadores, o mais breve possível, oportunidade para consultas sobre as medidas a serem adotadas para evitar ou limitar os términos, bem como para atenuar suas consequências adversas para os trabalhadores afetados, por exemplo, por meio da recolocação em novos empregos.
O texto da Convenção, embora denunciada e não vigente no Brasil3 , evidencia a importância do dever de informação, transparência e diálogo social no pro -
3 A ratificação da Convenção nº 158 da OIT pelo Brasil foi formalizada por meio do Decreto Legislativo nº 68/1992, sendo realizado o depósito da carta de ratificação em 05/01/1995, data a partir da qual o tratado passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro, com vigência efetiva a partir de 05/01/1996.
Entretanto, apesar do regular trâmite legislativo, o governo brasileiro decidiu denunciar a referida Convenção em 20/11/1996, o que deu início a intensos debates jurídicos e institucionais acerca da validade da denúncia, sem a prévia aprovação do Congresso Nacional.
A controvérsia culminou na propositura da ADC nº 39, julgada pelo STF em junho de 2023. Na ocasião, a Corte declarou a validade do Decreto Presidencial nº 2.100/1996, que formalizou a denúncia da Convenção nº 158 da OIT, reconhecendo, por maioria, que o ato não violou a Constituição Federal e que a denúncia foi válida e eficaz no plano jurídico-interno.
cesso de dispensa coletiva. A partir de sua leitura, depreende-se que a dispensa coletiva não deve ser tratada como um ato discricionário exclusivo do empregador, mas como uma consequência de circunstâncias econômicas e estruturais que demandam procedimentalização.
Essa procedimentalização compreende, essencialmente, a comunicação prévia da intenção de realizar as dispensas, a consulta obrigatória aos representantes dos trabalhadores, a notificação das autoridades competentes e a participação destas na busca de soluções e alternativas capazes de evitar ou mitigar os impactos das demissões em larga escala.
Em síntese, a experiência internacional, alinhada às diretrizes da OIT, reforça que a dispensa coletiva transcende o interesse exclusivo do empregador, assumindo natureza de fato econômico-social que exige disciplina normativa clara e instrumentos de proteção coletiva.
Na União Europeia, por exemplo, a Diretiva 98/59/ CE estabelece diretrizes claras para a harmonização das legislações dos Estados-Membros sobre dispensas coletivas. Essa norma prevê critérios mínimos para definição do que se entende por dispensa coletiva, obriga o empregador a informar e consultar previamente os representantes dos trabalhadores e fixa prazos para negociação, comunicação às autoridades públicas competentes e cumprimento de etapas procedimentais antes de efetivar os desligamentos.
Em linhas gerais, observa-se que os sistemas europeus reforçam a importância da negociação como pilar do procedimento de dispensa coletiva, assegurando um canal institucional de diálogo para redução de danos sociais.
As conclusões demonstram ainda, conforme explorado em outro estudo que:
“atenta às mudanças de cenário socioeconômico e das próprias relações humanas, a extinta Comunidade Europeia, atual União Europeia, alinhada com as disposições emanadas da OIT, sempre demonstrou nítida preocupação com o conflito existente entre capital e emprego. Assim, por um lado suas ações sempre foram pautadas pela não intervenção do Estado na gestão privada e, por outro, pela proteção ao emprego contra as dispensas arbitrárias ou imotivadas”4
Comparativamente, o modelo brasileiro, até a Reforma Trabalhista, apresentava-se tímido em face dessas experiências, limitando-se a construções doutrinárias e jurisprudenciais, sem uma lei específica que previsse fases, prazos e direitos correlatos.
3. O ART. 477-A DA CLT: ALCANCE E LIMITES
A edição da Lei n° 13.467/2017, introduziu mudanças relevantes no tratamento jurídico das dispensas coletivas no Brasil, buscando suprir a lacuna normativa que, até então, era preenchida por construções doutrinárias e pela jurisprudência do TST. Nesse contexto, foi inserido na Consolidação das Leis do Trabalho o artigo 477-A, que assim dispõe:
“Art. 477-A. As dispensas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins de direito, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção ou acordo coletivo para sua efetivação.” (g.n.)
A inclusão desse dispositivo teve por objetivo conferir maior previsibilidade e segurança jurídica às empresas, afastando a exigência de anuência formal 4 Zavanella, Fabiano. Da máxima preservação dos direitos fundamentais na dispensa coletiva e o papel ativo do Estado. 2014. 112 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014, p.60.
do sindicato como condição de validade para a realização de dispensas coletivas, entendimento que até então prevalecia na prática sindical e estava sedimentado na Decisão Normativa n° 309/2009 do TST.
No entanto, o alcance do artigo 477-A não deve ser interpretado de forma restrita e isolada, como se legitimasse a dispensa coletiva como ato unilateral e discricionário, alheio a qualquer dever de diálogo ou de responsabilidade social. Embora não se exija a autorização prévia do sindicato, o contexto constitucional e os princípios fundamentais do Direito do Trabalho impõem limites materiais e procedimentais que precisam ser observados para garantir a conformidade da medida com a ordem jurídica.
Nessa perspectiva, a negociação com a entidade sindical permanece essencial como instrumento de gestão responsável, viabilizando a discussão de alternativas à dispensa coletiva, a definição de medidas mitigadoras, o planejamento de eventuais planos de desligamento voluntário ou de recolocação, além de fortalecer a transparência e a boa-fé nas relações coletivas de trabalho. Essa postura, alinha-se com o cenário de boas práticas de governança corporativa e de prevenção de litígios judiciais e conflitos coletivos, além de preservar a imagem institucional da empresa perante a sociedade.
Assim, o artigo 477-A deve ser compreendido em harmonia com os princípios constitucionais, com as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, notadamente aquelas da OIT, e com os valores estruturantes do direito do trabalho, como a dignidade da pessoa humana, a função social da empresa e a valorização do trabalho.
Desta forma, embora o texto legal não exija mais a autorização formal do sindicato, a negociação prévia, transparente e de boa-fé com a entidade sindi -
cal se mostra como prática recomendável, eficaz e alinhada às diretrizes de uma gestão trabalhista moderna e socialmente responsável.
4. JURISPRUDÊNCIA DO TST ANTES DO STF
A ausência de regulamentação específica sobre as dispensas coletivas no ordenamento jurídico brasileiro, até a promulgação da Reforma Trabalhista, atribuiu ao Poder Judiciário trabalhista o papel de suprir essa lacuna por meio da construção jurisprudencial. A partir do Caso Embraer, consolidaram-se critérios interpretativos e diretrizes para orientar a prática de desligamentos coletivos, fundamentando-se na proteção ao emprego e na mitigação dos impactos sociais, em detrimento do exercício do poder potestativo do empregador.
4.1. Caso EMBRAER (2009) e Dissídios Coletivos
Um marco importante para a consolidação desse entendimento foi o julgamento do caso Embraer, em 2009. Na ocasião, a empresa alegou enfrentar dificuldades econômicas e necessidade de ajustes estratégicos, promovendo o desligamento de aproximadamente 4.200 empregados sem realizar uma negociação prévia com o sindicato representativo da categoria.
O episódio desencadeou forte mobilização sindical e resultou na instauração de um dissídio coletivo de natureza jurídica, no qual se discutiu a legalidade da dispensa coletiva. Em primeira instância, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região concedeu liminar em favor da entidade sindical, determinando a suspensão das rescisões contratuais.
Em sua defesa, a Embraer sustentou possuir o direito potestativo de realizar as dispensas, argumentando que não havia, à época, qualquer vedação legal
ou exigência procedimental específica que restringisse o exercício de sua autonomia para gerir o negócio, invocando a livre iniciativa em detrimento da proteção constitucional do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana e da imprescindível negociação coletiva.
Na análise de mérito, o TRT da 15ª Região determinou o pagamento de indenização aos trabalhadores dispensados, assegurou a manutenção do convênio médico por doze meses e estabeleceu que eventuais novas contratações deveriam, pelo prazo de dois anos, priorizar os empregados demitidos.
Em sede de recursal, o TST, sob relatoria do Ministro Mauricio Godinho Delgado, consolidou o entendimento de que a dispensa coletiva, em razão de seu impacto social expressivo, não poderia ser realizada de forma unilateral, devendo ser precedida de um processo de negociação coletiva com a entidade sindical, com vistas a discutir alternativas, reduzir danos e, se inevitável, pactuar medidas compensatórias.
Cabe destacar que a decisão final do caso Embraer reconheceu a validade das dispensas efetuadas, mas fixou um precedente relevante, posteriormente reiterado em outros dissídios coletivos, servindo como parâmetro para conter potenciais práticas abusivas e proteger a coletividade em cenários de reestruturação empresarial. Assim, o entendimento sedimentado pelo TST passou a distinguir a dispensa individual, de livre exercício pelo empregador, da dispensa coletiva, que exigiria a participação efetiva do sindicato como mecanismo de controle social e de promoção do diálogo entre capital e trabalho.
4.2. Pandemia de COVID-19 e o “Caso FORD”
A pandemia ocasionada pelo COVID-19, impôs um contexto de crise sanitária e econômica sem prece -
dentes, pressionando fortemente diversos setores produtivos e acentuando o debate sobre a licitude e os limites das dispensas coletivas em situações de força maior.
Diante da queda abrupta na demanda, interrupção de cadeias de fornecimento e medidas restritivas para contenção do contágio, várias empresas recorreram a estratégias de redução de custos, incluindo a rescisão de contratos de trabalho.
Nesse cenário, um dos episódios com grande destaque foi o “Caso Ford”, ocorrido em 2021. A montadora anunciou o encerramento de suas operações fabris no Brasil, o que resultou na demissão de diversos empregados diretos e indiretos, além de gerar expressivo impacto nas cadeias produtivas locais, especialmente na região do ABC Paulista e em Camaçari (BA).
A empresa trouxe como justificativa as dificuldades estruturais do setor automotivo, agravadas pelos efeitos da pandemia, alegando inviabilidade econômica para manter a produção no país. Entretanto, assim como no caso Embraer, a decisão de fechar fábricas e promover dispensas em larga escala sem uma negociação coletiva efetiva gerou intensa reação sindical, com mobilizações, paralisações e ajuizamento de ações para discutir a legalidade do procedimento adotado.
A controvérsia reacendeu a discussão sobre o alcance do artigo 477-A da CLT, inserido pela Reforma Trabalhista, em confronto com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo TST antes da pandemia. Apesar de o dispositivo legal afastar a exigência de autorização prévia do sindicato, a magnitude do impacto social e econômico evidenciou a necessidade de diálogo estruturado, reforçando a importância da negociação coletiva como instrumento para construção de alternativas, definição de indeni -
zações suplementares e medidas de requalificação profissional para amenizar os efeitos da dispensa coletiva.
O “Caso Ford” demonstrou que, mesmo em situações excepcionais como crises sanitárias globais, o Judiciário e o Ministério Público do Trabalho tendem a reconhecer a centralidade da boa-fé e da negociação prévia, não apenas como formalidade, mas como exigência para compatibilizar o poder diretivo do empregador com os valores constitucionais do trabalho digno e da função social da empresa.
5. O STF E O TEMA 638
A promulgação da Reforma Trabalhista e a inserção do artigo 477-A na CLT não extinguiram as controvérsias sobre a natureza e os limites das dispensas coletivas, sobretudo diante do histórico consolidado pelo TST, que condicionava tais desligamentos à negociação prévia com a entidade sindical.
Com decisões divergentes nos Tribunais Regionais do Trabalho, a matéria chegou ao STF por meio do Tema 638 da Repercussão Geral, no qual se discutia, em essência, se a negociação coletiva prévia com o sindicato seria um requisito obrigatório para a validade das dispensas coletivas, mesmo após o advento do artigo 477-A da CLT.
Durante o julgamento, o STF examinou a compatibilidade do artigo 477-A com os princípios constitucionais da valorização do trabalho, da dignidade da pessoa humana, da função social da empresa e da livre iniciativa. A Corte reconheceu que, embora não seja exigida autorização prévia do sindicato para validar a dispensa coletiva, a negociação é indispensável como meio de viabilizar o diálogo social, mitigar impactos econômicos e garantir a transparência do processo de desligamento coletivo.
Assim, o Supremo consolidou entendimento que harmoniza o texto literal da CLT com a necessidade de preservar o equilíbrio entre os direitos fundamentais dos trabalhadores e a liberdade de organização empresarial, afastando a ideia de que a dispensa coletiva pudesse ser equiparada, em todos os aspectos, à dispensa individual.
Essa decisão reforçou a orientação de que o procedimento deve ser orientado pelos princípios da boa-fé, da cooperação e da função social da empresa, impondo ao empregador o dever de dialogar com o sindicato sempre que pretenda adotar medida de impacto coletivo sobre o emprego.
O julgamento do Tema 638, concluído em 8 de junho de 2022, marcou um divisor de águas na interpretação do regime jurídico das dispensas coletivas no Brasil, oferecendo diretrizes mais claras para empresas, sindicatos e operadores do Direito sobre os requisitos de validade, limites e boas práticas que devem ser observados para compatibilizar a gestão empresarial com a proteção do trabalho.
5.1. A Tese fixada em 08/06/2022
No julgamento do Tema 638, em 08 de junho de 2022, o STF firmou, em sede de repercussão geral, a tese que esclareceu definitivamente o alcance do artigo 477-A da CLT frente aos princípios constitucionais aplicáveis às dispensas coletivas.
A tese fixada foi a seguinte:
“A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo”.
Com isso, restou consolidado que, embora a lei dispense a autorização formal do sindicato, o empregador não está dispensado de promover a negociação
coletiva prévia, devendo dialogar com a entidade representativa para discutir condições, alternativas e medidas mitigatórias relacionadas ao desligamento coletivo.
Essa orientação uniformizou o entendimento no Judiciário trabalhista, afastando controvérsias sobre a equiparação irrestrita entre dispensa individual e coletiva, reafirmando a proteção constitucional do trabalho e valorizando o papel institucional dos sindicatos como interlocutores legítimos para equilibrar os interesses sociais e econômicos envolvidos em dispensas de grande impacto.
5.2. Modulação de Efeitos (Ata de 14/06/2022; Embargos Julgados em 12/04/2024)
Após fixar a tese no Tema 638, o STF voltou a examinar a matéria ao julgar os embargos de declaração, visando resolver questionamentos sobre a aplicação retroativa do entendimento firmado. No voto que prevaleceu, o ministro Luís Roberto Barroso destacou que a repercussão geral da questão havia sido reconhecida em março de 2013, e o mérito do recurso extraordinário somente julgado em junho de 2022, sem que houvesse suspensão dos processos judiciais em tramitação sobre o tema durante esse período.
Nesse intervalo, embora o TST já sustentasse que a negociação coletiva era imprescindível para validar as dispensas coletivas, o entendimento não era uniforme em toda a Justiça do Trabalho. Diversos Tribunais Regionais do Trabalho, inclusive, proferiram decisões admitindo a licitude de dispensas coletivas mesmo sem a participação ou autorização da entidade sindical.
Para o ministro Barroso, permitir a aplicação retroativa da tese fixada pelo Supremo imporia um ônus excessivo e desproporcional às empresas que, à épo -
ca dos desligamentos, não dispunham de previsão legal ou constitucional expressa que as obrigasse a negociar previamente com o sindicato, sobretudo diante da literalidade do artigo 477-A da CLT, que não estabelece tal exigência de forma clara.
Assim, o Supremo decidiu modular os efeitos da decisão para atribuir eficácia prospectiva, de modo que o processo negocial prévio fosse exigido apenas para dispensas coletivas futuras, resguardando situações jurídicas já consolidadas sob o regime anterior de incerteza interpretativa.
6. CRÍTICA AO MODELO DUAL
477-A × TEMA 638
A decisão do STF no Tema 638 consolidou um marco interpretativo relevante para as dispensas coletivas no Brasil, pacificando o entendimento de que não se exige autorização prévia do sindicato, mas que a negociação coletiva é imprescindível como instrumento de proteção social e mitigação dos impactos decorrentes da dispensa coletiva.
Contudo, a convivência entre a literalidade do artigo 477-A da CLT, introduzido pela Reforma Trabalhista, e o posicionamento jurisprudencial fixado pela Corte Constitucional revela uma tensão normativa e prática que ainda gera incertezas para empregadores e entidades sindicais.
O artigo 477-A dispõe, de forma objetiva, que “as dispensas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não se exigindo autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção ou acordo coletivo para sua efetivação”. Em leitura isolada, o dispositivo confere ampla liberdade ao empregador para efetuar desligamentos, inclusive de forma coletiva, sem necessidade de qualquer procedimento prévio junto à entidade sindical.
Entretanto, o STF, ao interpretar esse dispositivo à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social da empresa e do valor social do trabalho, firmou o entendimento de que, embora não se exija autorização sindical, a tentativa de negociação prévia é imprescindível. Com isso, estabelece-se um modelo dual: de um lado, a norma infraconstitucional que confere liberdade formal; de outro, uma exigência procedimental baseada na ordem constitucional.
Esse modelo, embora conciliador em teoria, na prática pode gerar insegurança jurídica, pois impõe ao empregador a obrigação de dar início a uma negociação, sem que exista um rito legal claramente previsto para conduzi-la ou para lidar com a eventual recusa do sindicato em participar do processo negocial.
Ressalta-se que a recusa injustificada do sindicato em negociar não deve inviabilizar a realização da dispensa coletiva, tampouco pode servir como obstáculo absoluto à gestão empresarial. A atuação sindical, quando pautada por obstrução deliberada ao diálogo ou pela negação arbitrária ao processo negocial, pode configurar abuso de direito coletivo e ensejar responsabilidade civil da entidade sindical.
Neste viés, não somente os empregadores têm o dever de iniciar a negociação, os sindicatos também possuem o dever de dela participar de boa-fé, contribuindo para soluções que mitiguem os efeitos da medida e protejam os interesses da categoria.
O procedimento de negociação coletiva não deve servir como um mecanismo de veto sindical, mas um espaço de diálogo institucional e de construção de medidas compensatórias ou alternativas. O descumprimento injustificado desse dever por qualquer das partes fragiliza o próprio modelo democrático de relações trabalhistas.
Como forma de aperfeiçoamento prático desse modelo, uma alternativa de ajuste legislativo seria prever um regime de compensação variável, vinculado à causa da dispensa coletiva. Nos casos em que a causa objetiva for de ordem econômica ou financeira, poderia haver flexibilização das obrigações compensatórias, com aplicação de multa ou indenização reduzida, considerando a limitação de recursos do empregador.
Por outro lado, se a dispensa decorrer de reestruturações tecnológicas ou estratégicas, geralmente associadas à preservação ou ampliação de margens empresariais, a compensação devida aos empregados deveria ser mais robusta, refletindo a responsabilidade social pela externalização dos custos da inovação sobre os vínculos laborais.
O aprimoramento legal deve buscar consolidar um modelo que harmonize a dinâmica econômica com a justiça social, contribuindo para relações de trabalho mais equilibradas e democráticas.
7. CONCLUSÃO
Passados oito anos da promulgação da Reforma Trabalhista, o tratamento jurídico das dispensas coletivas no Brasil ainda reflete um modelo misto, marcado por tensões entre a literalidade do artigo 477A da CLT e o entendimento consolidado pelo STF no Tema 638. Enquanto o dispositivo legal permite a equiparação das dispensas individuais, plúrimas e coletivas, sem impor exigência de negociação prévia, a jurisprudência constitucional impôs um freio normativo ao reconhecer a indispensabilidade da negociação coletiva como elemento de legitimidade e proteção social.
Esse cenário revela o esforço do ordenamento jurídico em equilibrar a autonomia empresarial com os direitos fundamentais dos empregados. A evolução
jurisprudencial, que vai do Caso Embraer até o julgamento do Tema 638, demonstra que as dispensas coletivas deixaram de ser tratadas como simples somas de desligamentos individuais, passando a exigir uma abordagem que considere seus impactos socioeconômicos e promova transparência, diálogo e medidas compensatórias.
Na prática, esse modelo impõe novos deveres aos empregadores, como o planejamento prévio, a comunicação clara e a abertura ao diálogo com as entidades sindicais. Ao mesmo tempo, exige dos sindicatos uma atuação proativa e responsável, pautada pela boa-fé, sob pena de, em caso de recusa injustificada ao processo negocial, incorrer em abuso de direito e eventual responsabilização civil.
A ausência de regulamentação legislativa detalhada, entretanto, ainda gera insegurança jurídica, especialmente diante de lacunas quanto ao rito da negociação, aos prazos e às consequências jurídicas da inércia ou obstrução por parte das entidades envolvidas. Por essa razão, o aperfeiçoamento do marco legal, que deve incorporar os parâmetros construídos jurisprudencialmente e prever, de maneira clara, procedimentos que promovam segurança e previsibilidade.
Como contribuição prática, propõe-se que uma futura legislação trate da compensação diferenciada conforme a causa da dispensa coletiva: quando motivada por crise financeira ou restrição orçamentária, poderia haver flexibilização das obrigações compensatórias por parte do empregador; já nos casos de reestruturações tecnológicas ou estratégicas, especialmente quando não há prejuízo financeiro direto, a compensação devida aos trabalhadores deveria ser mais significativa, refletindo o dever social da empresa diante das transformações que impõe.
Consolidar esse equilíbrio entre liberdade econômica e proteção social, mediante regras claras e inspiradas nos princípios constitucionais do trabalho, é o caminho para tornar as relações laborais mais democráticas, responsáveis e juridicamente seguras em um cenário de constantes mudanças no mundo do trabalho.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARBOSA, Maria da Graça Bonança. O “caso Embraer” e os desafios para a tutela coletiva dos interesses legítimos dos trabalhadores. Revista LTr. Legislação do Trabalho, v. 75, mai. 2011.
BELMONTE, Alexandre Agra. A proteção do emprego na Constituição Federal de 1988. In: NEVES DELGADO, Gabriela; PIMENTA, José Roberto Freire; MELO FILHO, Luiz Philippe Vieira de; LOPES, Othon de Azevedo (orgs.). Direito constitucional do trabalho: princípios e jurisdição constitucional. São Paulo: LTr, 2015.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 20 jun. 2025.
BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho — CLT. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm . Acesso em: 20 jun. 2025.
BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. A ltera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm . Acesso em: 20 jun. 2025.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tema 638 da Repercussão Geral. Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 999435. Relator: Min. Alexandre de
Moraes. Julgado em 08 jun. 2022. Disponível em: https://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=638 . Acesso em: 20 jun. 2025.
DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017.
GOMES, Orlando. Contrato de trabalho. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974.
GOMES, Orlando. Dispensa coletiva na reestruturação da empresa. Revista LTr, LRT Editora, ano 38, p. 50.
MANNRICH, Nelson. Dispensa coletiva: da liberdade contratual à responsabilidade social. São Paulo: LTr, 2000.
ZAVANELLA, Fabiano. Da máxima preservação dos direitos fundamentais na dispensa coletiva e o papel ativo do Estado. 2014. 112 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014.
VALOR DA CAUSA NO PROCESSO DO TRABALHO:
ESTIMATIVA OU LIMITAÇÃO DE FUTURA EXECUÇÃO?
Fabio Augusto Branda
Juiz do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo. Especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela FADUSP. Professor do INSPER.
1. Introdução
Recebi de forma lisonjeada o convite para escrever um artigo sobre 8 Anos da Reforma Trabalhista: Reflexões e Perspectivas nesta prestigiosa publicação da Escola Superior da Advocacia de São Paulo. Confesso que é um desafio e uma tarefa arriscada diante da atual quadra da história em todos os aspectos da vida em sociedade, mas, em especial, para os profissionais do Direito e, de forma mais desafiadora ainda, para os profissionais do Direito do Trabalho.
Explico-me. Não vai aqui uma justificativa para uma possível decepção do leitor quanto à qualidade do texto a seguir, mas uma advertência de que o que será escrito nesta data, possa ter perdido completamente a importância até a publicação. Sim, porque, as decisões liminares e de mérito envolvendo Direi -
to Processual e Material do Trabalho no âmbito de reclamações constitucionais, sem precedentes na história institucional recente quanto a outro ramo do Direito, pode ser contrariado por uma nova interpretação da Suprema Corte.
Faço essa constatação, não apenas por uma impressão pessoal ou do meu dia a dia no exercício da jurisdição, mas pelos dados publicados pelo próprio Supremo Tribunal Federal nos quais se verifica um crescente número de ajuizamentos de reclamações constitucionais sobre o tema “Direito do Trabalho” que foram de 1.158 em 2021 para 3.481 em 2024 e, até a data em escrevo esse texto (junho de 2025) já somam 2.0891 reclamações.
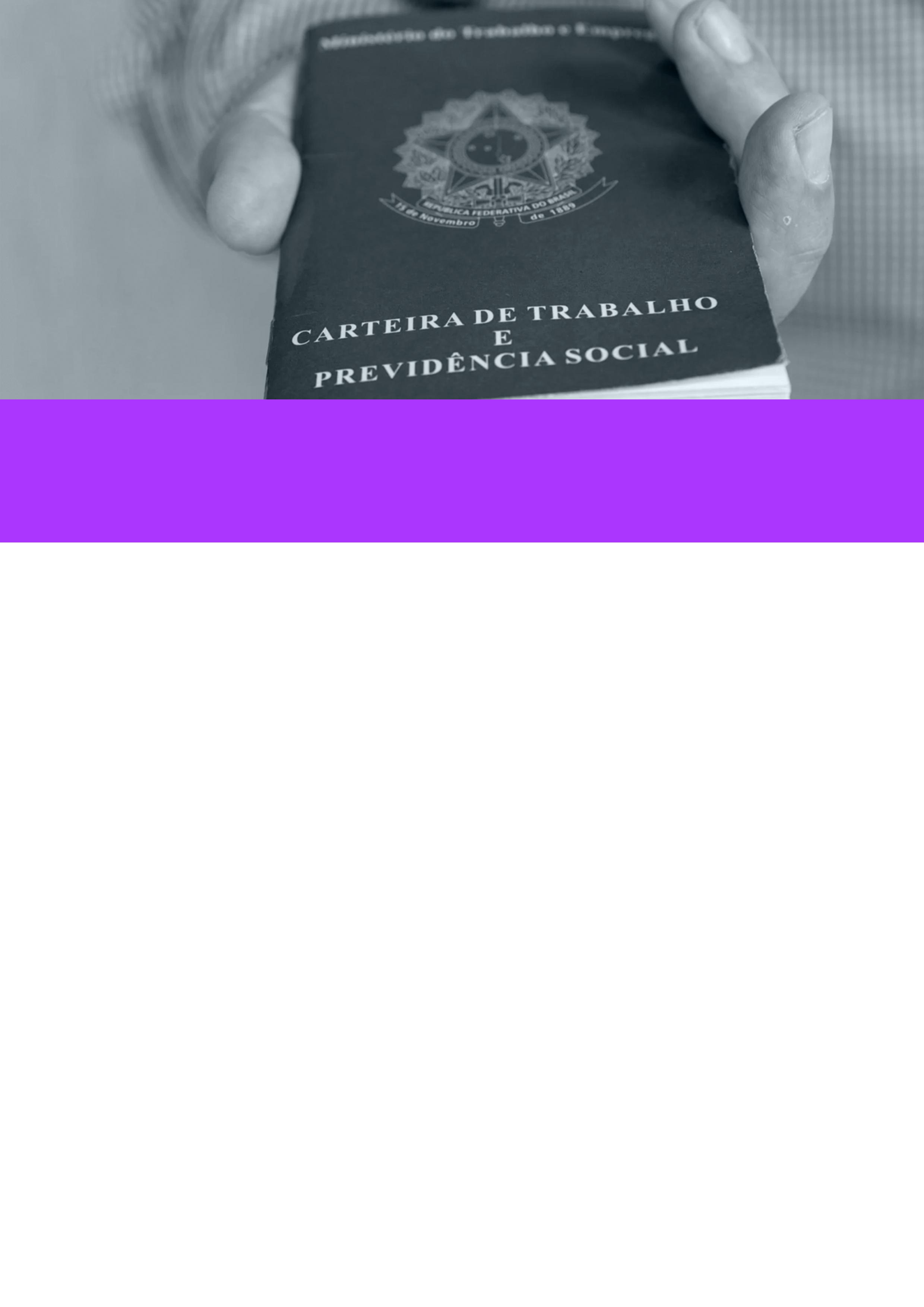
1 https://transparencia.stf.jus.br/extensions/reclamacoes/reclamacoes.html
Diante dessa realidade fluida e um tanto quanto incerta, o desafio proposto diz respeito a duas vertentes que se firmaram na jurisprudência sobre o valor da causa no Processo do Trabalho ser uma mera estimativa da expressão econômica dos pedidos e, portanto, não limitativo do valor da execução ou, se é o máximo valor que alcançará a execução.
O tema ganhou relevância partir das alterações levadas a efeito no artigo 840, §1º, da CLT, pela Lei n. 13.467/2017, em que se incluiu no texto da CLT a exigência da indicação do valor do pedido, o que até então só existia em legislação extravagante (Lei n. 5.584/1970 e CPC). E, portanto, sem a pretensão de esgotar o tema, mas de suscitar o debate sobre a solução mais adequada e coerente com a realidade e princípios do Direito do Trabalho e Processual do Trabalho.
2. O valor da causa no Processo do Trabalho
Para compreendermos o estágio atual dos entendimentos conflitantes sobre o valor da causa, é necessária uma rápida digressão legislativa sobre o instituto. E um dado importante sobre o valor da causa no Processo do Trabalho diz respeito à inexistência desse requisito da petição inicial trabalhista na redação original Consolidação das Leis do Trabalho, cuja redação original dispunha:
“Art. 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do presidente da Junta ou do juiz de direito, a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.”
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do presidente da
Junta ou do juiz de direito, a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.”
E a partir desse pressuposto, de que o valor do pedido não era um requisito da petição inicial, os demais atos processuais foram orientados por essa realidade e havia a possibilidade de as custas serem calculadas sobre o valor da causa fixado pelo juiz na hipótese de não ter sido indicado na petição inicial2
Já em 1946, houve a regulamentação do rito sumário ou “ações de alçada contida”, por intermédio do Decreto-lei nº 8.737, que deu nova redação ao art. 851 da CLT, nos seguintes termos:
“(...) § 1º Nos processos de exclusiva alçada das Juntas, será dispensável, a juízo do presidente, o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão do tribunal quanto à matéria de fato.”
Procedimento que havia sido extinto pelo Código de Processo Civil de 1939, mas que, diante das peculiaridades do conflito trabalhista, orientado pelo princípio da simplicidade e com permissão de demandas deduzidas pelo trabalhador sem assistência do patrocínio profissional (jus postulandi), exigia uma maior simplicidade e facilitação de acesso à Justiça.
Considerando que muitos processos não continham uma pretensão econômica aferível no momento da distribuição da ação, só em 1970, o legislador estabeleceu um procedimento que impõe ao Juiz fixar o valor da causa antes de iniciar a instrução “se este
2 CLT, art. 789 (...) § 3° As custas serão calculadas da forma seguinte: - quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor; quando houver desistência ou arquivamento, sobre o valor do pedido; quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz ou o presidente fixar; e, no caso de inquérito administrativo, sobre seis vezes o salário mensal do reclamado ou dos reclamados. (grifei)
for indeterminado no pedido” como forma de estabelecer o rito a ser seguido, se de alçada contida (inferior a dois salários-mínimos) ou rito ordinário (artigo 2°, §3°, da Lei n. 5.584/1970)3 .
Assim, já é possível identificar que o primeiro, se não principal, motivo de indicação de valor da causa no Processo do Trabalho é a fixação do rito do processo, se sumário ou ordinário, com implicações na forma do que constará da ata de instrução e limitação de recursos à matéria constitucional (art. 2°, §§ 3° e 4°4 , da Lei n. 5.584/1970).
O que se repetiu com a instituição do Rito Sumaríssimo que, também seguindo o critério econômico como definidor do rito, estabeleceu que as lides com valor de até quarenta vezes o salário-mínimo vigente na data da reclamação, se submetem ao rito simplificado com restrição do número de testemunhas, dispensa do relatório da sentença, e os recursos não terão revisor, com redução de prazos durante todo o procedimento.
No Processo Civil também há implicações no rito processual pois as causas que veiculam valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos estão sujeitas ao rito especial, mas implica, também, alterações na competência (art. 3°, I, da Lei n. 9.957/2000 5), diferentemente do Processo do Trabalho.
3 Art 2º Nos dissídios individuais, proposta a conciliação, e não havendo acôrdo, o Presidente, da Junta ou o Juiz, antes de passar à instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para a determinação da alçada, se êste fôr indeterminado no pedido. (...)
§ 3º Quando o valor fixado para a causa, na forma dêste artigo, não exceder de 2 (duas) vêzes o salário-mínimo vigente na sede do Juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da Ata a conclusão da Junta quanto à matéria de fato.
4 art. 2º (...) § 4º - Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada a que se refere o parágrafo anterior, considerado, para esse fim, o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação.
5 Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;
A lei que regulamentou esse procedimento, contudo, foi expressa em determinar que a sentença deve ser líquida, ainda que o pedido seja genérico, consoante a literalidade da norma:
“art. 38 (...) Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.”.(Lei n. 9.029/1995)
Já no rito ordinário do Código de Processo Civil, não reproduz essa mesma exigência, com se vê:
“Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:
I – não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;
II – a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.
§ 1° Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.(...)” (pus os grifos)
O Código de Processo, respeitando uma disciplina lógica, no capítulo que trata “Da Liquidação de Sentença” (Capítulo XIV), dispõe:
“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:(...)”
Assim, é lícita a conclusão que nem mesmo no Processo Civil, usado como referência para se sustentar que os valores dos pedidos limitam a execução, não faz essa restrição e permite em situações de conde -
nação ilíquida, que se proceda à liquidação e posterior cumprimento.
Essa transposição das normas do Processo Comum para o Processo do Trabalho exige um olhar atento e cuidadoso, advertências que fazemos de forma didática, sem uma pretensão professoral, mas em respeito a toda uma doutrina e jurisprudência produzidas há anos e por estudiosos de nomeada.
Cito como exemplo de aplicação subsidiária das normas do CPC, a possibilidade de se determinar a emenda da petição por ausência de documento indispensável ou ausência de outro requisito legal nos termos do art. 295 do CPC de 1973, atual artigo 321 do CPC, conforme jurisprudência consagrada pelo TST (Súmula 263 do TST6).
Contudo, essa aplicação subsidiária depende da omissão da CLT e compatibilidade da norma com as normas do direito processual do trabalho, nos exatos termos do art. 769 da CLT, cujo teor transcrevo para realçar a conclusão:
“Art. 769 – Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.”
Importante lembrar que não há omissão da Consolidação das Leis do Trabalho quanto ao tema em que, a despeito de exigir a indicação de valores dos pedidos, e não valor da causa, trata da liquidação de sentença, também, com situação possível:
6 SUM-263 PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
INS -
TRUÇÃO OBRIGATÓRIA DEFICIENTE. Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do CPC de 1973), o indeferimento da petição inicial, por encontrar-se desacom-panhada de documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em 15 (quinze) dias, mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o fizer (art. 321 do CPC de 2015).
“Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.”
Assim, se houvesse a exigência de sentença líquida, e, portanto, limitada a valores dos pedidos, a lei teria tornada expressa essa determinação e não permitiria a liquidação posterior.
Nesse ponto é importante lembrar, aqui vai um tom de lamento pela tentativa de equiparação do Direito do Trabalho ao Direito Civil, diante de todas as peculiaridades, princípios, doutrina, jurisprudência e realidade que exigiu a formação de um ramo científico específico, o Direito Material e Processual do Trabalho, que difere por princípio do Direito Comum. Discussão que os fins deste estudo e a restrição de espaço impede que nos aprofundemos.
Não é necessário, portanto, um raciocínio muito sofisticado para concluir que o processo, como instrumento de efetivação dos direitos materiais, deve respeitar os princípios e peculiaridades do ramo do direito material em conflito.
Lembrando as origens do Processo do Trabalho na lição do mestre e fundador da Cátedra de Direito Social da FADUSP, Doutor Cesarino Júnior:
“Os princípios essenciais e diferenciais do processo do trabalho são, segundo a maioria dos tratadistas: o oralidade, a unidade do Juiz, a concentração do processo, da prova e julgamento imediato, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias e o da revocabilidade das decisões definitivas. Segundo JAEGER, o direito processual do trabalho, que êle define como: ‘o complexo sistemático das normas que disciplinam a atividade das partes e do juiz e dos seus auxiliares, no processo, individual, coletivo e intersindical não coletivo,
do trabalho’, é quase uma transição entre o processo civil e o processo penal” 7
E é por tudo o que foi dito até aqui que o valor do pedido no Processo do Trabalho tem que ser tratado de forma diversa da exigência do valor na petição inicial do Processo Civil. Por isso se faz necessária uma ressalva técnica quanto aos termos utilizados na CLT e no CPC quanto ao tratamento do instituto.
É essencial fazer uma diferenciação técnica sobre valor da causa e valor do pedido. A alteração levada a efeito pela Lei n. 13.467/2017, exigiu a indicação de valor ao pedido, enquanto o CPC trata o valor da causa (art. 319, V) ora como soma dos valores dos pedidos, ora considera o valor do pedido principal em detrimento do subsidiário, ora limita a prestação de alimentos a 12 (doze) meses:
“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
I – na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
III – na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;
IV – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;
V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;
7 JR.CESARINO, A.F; “Direito Social Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1970, V.1, p. 216.
VI – na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
VII – na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;
VIII – na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.
§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.
§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.
§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” (grifei).
Essa distinção permite concluir que temos que dispensar um tratamento diferente entre os dois ramos processuais pois no Processo do Trabalho, a regra é, que o reclamante não disponha dos documentos necessários para se aferir a extensão da obrigação no momento da propositura da ação.
E são vários os exemplos de que a exata extensão da lesão depende de documentos e dados em poder do empregador, cito, ao acaso, os relatórios de vendas realizadas por vendedor que pleiteia diferenças de comissões ou a quantidade de horas extras efetivamente realizadas para empregadores obrigados a manter o registro escrito de jornada.
Já no Processo Civil, também em regra, o autor da ação dispõe dos documentos e dados necessários
para a quantificação da lesão ou definição da extensão da lesão, mas a lei processual considera que a realidade é muito maior do que a previsão legal é capaz de abarcar, logo, autoriza a dedução de pedidos genéricos e, consequentemente, de sentenças ilíquidas, sem nenhuma norma que imponha uma limitação à futura execução.
Importante notar, também, que há uma grande diferença na disciplina dos honorários de sucumbência nos dois ramos processuais. A introdução do art. 791-A pela lei 13.467/20178 , os honorários sucumbenciais são calculados sobre a sucumbência total de cada pedido, ao passo que no Código de Processo Civil, os honorários são devidos pela sucumbência entre o valor do pedido e o valor da condenação9
O que também corrobora a conclusão de que o instituto, valor do pedido e valor da causa, são tratados forma diferente nos dois ramos processuais, tanto que o TST conferiu a seguinte interpretação ao dispositivo:
“art. 12 (...) § 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil.” (IN n. 41/2018).
Assim, a indicação de valor do pedido é um requisito formal da petição trabalhista, mas não uma referência limitadora da execução, pois a realidade do trabalhador é não ter acesso a documentos e dados necessários para indicar o exato valor do pedido, si -
8 Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
9 Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
tuação permitida inclusive ao litigante do processo comum10
3. Decisões do STF
Retomando a indagação inicial deste estudo, passamos a demonstrar os motivos de nossa inquietação pelas decisões da Suprema Corte sobre o Direito Material e Processual do Trabalho que tem gerado uma enorme insegurança jurídica e contrariando cânones da matéria e jurisprudência há muito pacificada pelas cortes trabalhistas.
Em uma dessas situações, temos uma reclamação constitucional proposta em 12 de março de 2025 em face de acórdão proferido pelo TST em que se entendeu que os valores da petição inicial são estimativas para uma futura execução, nos seguintes termos:
“AGRAVO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL PARA CADA UM DOS PEDIDOS. VALORES “PROVISORIAMENTE ATRIBUÍDOS”, “COMO UM NORTE PARA A LIQUIDAÇÃO”. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CARACTERIZADA. 1. Discute-se a interpretação do artigo 840, § 1°, da CLT, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 13.467/2017. Representa, portanto, “questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista”, nos termos do art. 896-A, IV, da CLT, porquanto se trata de inovação legislativa oriunda das alterações promovidas pela Lei 13.467/2017, sobre as quais ainda pende interpretações por esta Corte Trabalhista, restando, pois, configurada a transcendência jurídica da matéria em debate. 2. A jurisprudência desta Cor10 Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1º É lícito, porém, formular pedido genérico: (...) II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;
te consolidou-se no sentido de que a parte, ao atribuir valor individualizado aos pleitos, ainda que em ações sujeitas ao rito ordinário, restringe o alcance da condenação possível, tendo em vista o que dispõem os artigos 141 e 492 da CPC/2015, antigos 128 e 460 do CPC/73. 3. No caso presente, constou expressamente da petição inicial que os valores foram “provisoriamente atribuídos” aos pedidos, “como um norte” para a liquidação. 4. Logo, na medida em que houve expressa menção na petição inicial de que foram atribuídos valores meramente provisórios aos pedidos, a condenação não fica limitada ao quantum estimado. 5. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.” (grifei - TST-Ag-RRAg-1286-34.2018.5.09.0025; Rel. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga; Publ: 25/11/2022).
Diante dessa decisão, aproveitando de uma grande afluência de reclamações constitucionais contra decisões do STF, sugerindo adesão às inúmeras ADIs, ADPFs, e outras ações constitucionais, o reclamado daquele processo, ajuizou reclamação constitucional alegando a decisão reclamada teria negado vigência ao art.840, §1°, da CLT, “sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade”, tendo violado a SV n. 10.
E, em análise preliminar, o DD. Relator da ação constitucional, assim se pronunciou em 21/03/2025:
“(...) Ora, da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 840, § 1°, da CLT, ainda que implicitamente.
Com efeito, não há se falar em violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que
o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.
Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.
Por conseguinte, não se verifica violação ao teor da Súmula Vinculante 10, o que acarreta a inadmissibilidade da ação. (...)” (Rcl. 77.179-PR).
O mesmo reclamado na Justiça do Trabalho ajuizou nova reclamação constitucional, distribuída a outro relator, e em 12 de maio de 2025, houve a seguinte fundamentação:
“(...) No julgamento do recurso de revista, contudo, a impugnação não foi conhecida pela Eg. 5ª Turma do C. TST, que assim decidiu: […] Em face dessa decisão, proferida em 09.04.2025, e ainda não publicada, será interposto Agravo Interno pela Reclamante. Ocorre que a decisão proferida pela Eg. 5ª Turma do TST, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, §1° da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. É contra essa decisão, proferida no julgamento do recurso de revista, que se ajuíza a presente reclamação, ante o claro desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 desta E. Corte (...)” (pus os grifos).
Segue o relator na fundamentação:
“(...) No presente caso, a autoridade reclamada assinalou que “os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa n° 41/2018 c/c art. 840, §1°, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5°, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1°, IV, da CF)”. Ou seja, sob o pálio da argumentação constitucional da aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1°, IV, da CF), afastou a incidência do art. 840, § 1°, da CLT, especialmente naquilo que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor (...)”.
E concluiu:
“(...) Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. (...)
Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a cassar a decisão
reclamada por inobservância à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tais parâmetros. Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2025” (Rcl. 79034).
Portanto, em menos de dois meses, idêntica conclusão jurídica do TST desafiou duas respostas opostas da Suprema Corte, mas em 09 de abril de 2025, o mesmo reclamado das duas reclamações, interpôs agravo regimental na Rcl. 77.179, e essa foi a decisão:
“(...)Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 53 (ID: 590017ae), julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:(...) Na espécie, ao estabelecer que “no caso concreto, constou expressamente da petição inicial que a Reclamante atribuiu valores meramente estimativos aos pedidos (valores provisoriamente arbitrados)”, concluindo que “na medida em que houve expressa menção na petição inicial de que os valores foram atribuídos aos pedidos como mera estimativa, a condenação não fica limitada ao quantum estimado”, entendo que o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF. (...) Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. No mesmo sentido, em situação semelhante aos dos autos, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, na Rcl 79.034/SP, consignando o seguinte: (...)
Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 53 (ID: 590017ae) e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF. Prejudicado o agravo regimental. (...)” (Rcl. 77.179 - 9/06/2025).
Com todo o respeito à autoridade da Suprema Corte, o fato é que há enorme provocação de litigantes trabalhistas, predominantemente, empregadores, tem gerado uma profusão de decisões, algumas vezes contraditórias, além de uma grande quantidade de ordens de sobrestamento de feito.
É de tal a ordem a relevância da matéria que a utilização excepcional das reclamações constitucionais para a realidade da Justiça do Trabalho foi abordada em artigo dos professores Leandro Bocchi de Moraes e Ricardo Calcini, no site Conjur, sob o título “Reclamação como instrumento estratégico da advocacia trabalhista”, em que constatam:
“Nos últimos tempos, algumas decisões decretadas na Justiça do Trabalho têm sido cassadas pelo STF, em sede de reclamação constitucional, de modo que esse instrumento processual vem ganhando cada vez mais destaque e relevância no universo jurídico. (...)
Em arremate, a reclamação constitucional além de ser perfeitamente aplicável ao Processo do Trabalho, tem sido recorrentemente como um instrumento estratégico da advocacia trabalhista, razão pela qual se faz necessário o seu estudo aprofundado, pois além da sua relevância prática, é importante que não haja o desvirtuamento da sua finalidade11 .” (g.n.)
11 https://www.conjur.com.br/2023-ago-24/pratica-trabalhista-reclamacao-constitucional-instrumento-estrategico/
4. Considerações Finais
Como nos propusemos desde o início, não tivemos a pretensão de esgotar o tema, mas suscitar um debate necessário que parece ter sido relegado a um segundo plano: o respeito a princípios próprios do Direito Material e Processual do Trabalho.
O valor dos pedidos na ação trabalhista não está sujeito à mesma disciplina do Processo Civil em razão da matéria tratada e da realidade social de onde provém. O reclamante trabalhista parte de uma situação de inferioridade econômica e técnica. e, diante disso, não tem condições materiais de indicar o valor do pedido, em geral, apenas uma estimativa, sendo lícita a dedução de pedidos sem a exata atribuição de um valor.
Esse procedimento é autorizado ao litigante do âmbito do Processo Civil que, também, por regra detém documentos e dados que permitem a dedução de pedidos líquidos, mas por exceção está autorizado a deduzir pedidos genéricos.
A previsão de liquidação diante de sentenças ilíquidas é outra referência importante de que os pedidos iniciais devem conter uma referência econômica, mas não um limite da execução, pois a exata extensão da lesão e correspondente reparação dependem de documentos que são anexados ao processo com a defesa, notadamente, relatórios de comissões ou controles de ponto.
E o que pode parecer um tom dramático, na verdade é a tentativa de chamar à racionalidade e render respeito a toda uma doutrina e jurisprudência que nos antecedeu para chegarmos no ponto em que estamos. Com a Justiça do Trabalho fortalecida desde o advento da Emenda Constitucional n. 45 de 2004 e, por consequência, a proeminência da Advocacia Trabalhista que, ampliando sua área de atuação, não
pode ter um ambiente institucional de tamanha insegurança em que a orientação a um cliente num mês, não se confirme no outro mês.
A PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO E OS NOVOS RUMOS DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO PÓS-REFORMA TRABALHISTA
Líbia Alvarenga de Oliveira
Sócia do Innocenti Advogados Associados, com experiência em atuação perante a Corte Superior Trabalhista (TST), com ênfase em Ações Coletivas. Especialista em Direito Empresarial do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e em Perícia Contábil pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP). Membro da Comissão de Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP)
Guilherme Ghilardi Cavini
Advogado do Innocenti Advogados Associados, graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
Sumário
1.Introdução. 2. A Reforma Trabalhista e o Princípio do Negociado sobre o Legislado. 3. Do Posicionamento do STF. Tema 1.046 de Repercussão Geral.
4.Consequências da Prevalência da Negociação Coletiva sobre a Legislação Trabalhista. 5. Desafios e Críticas à Expansão da Autonomia Negocial. 6. Conclusão. Referências.
Palavras-chave: Negociação coletiva. Direito do Trabalho. Reforma Trabalhista de 2017. Princípio do negociado sobre o legislado. Tema 1046 do STF. Autonomia coletiva. Direitos indisponíveis. Cláusulas
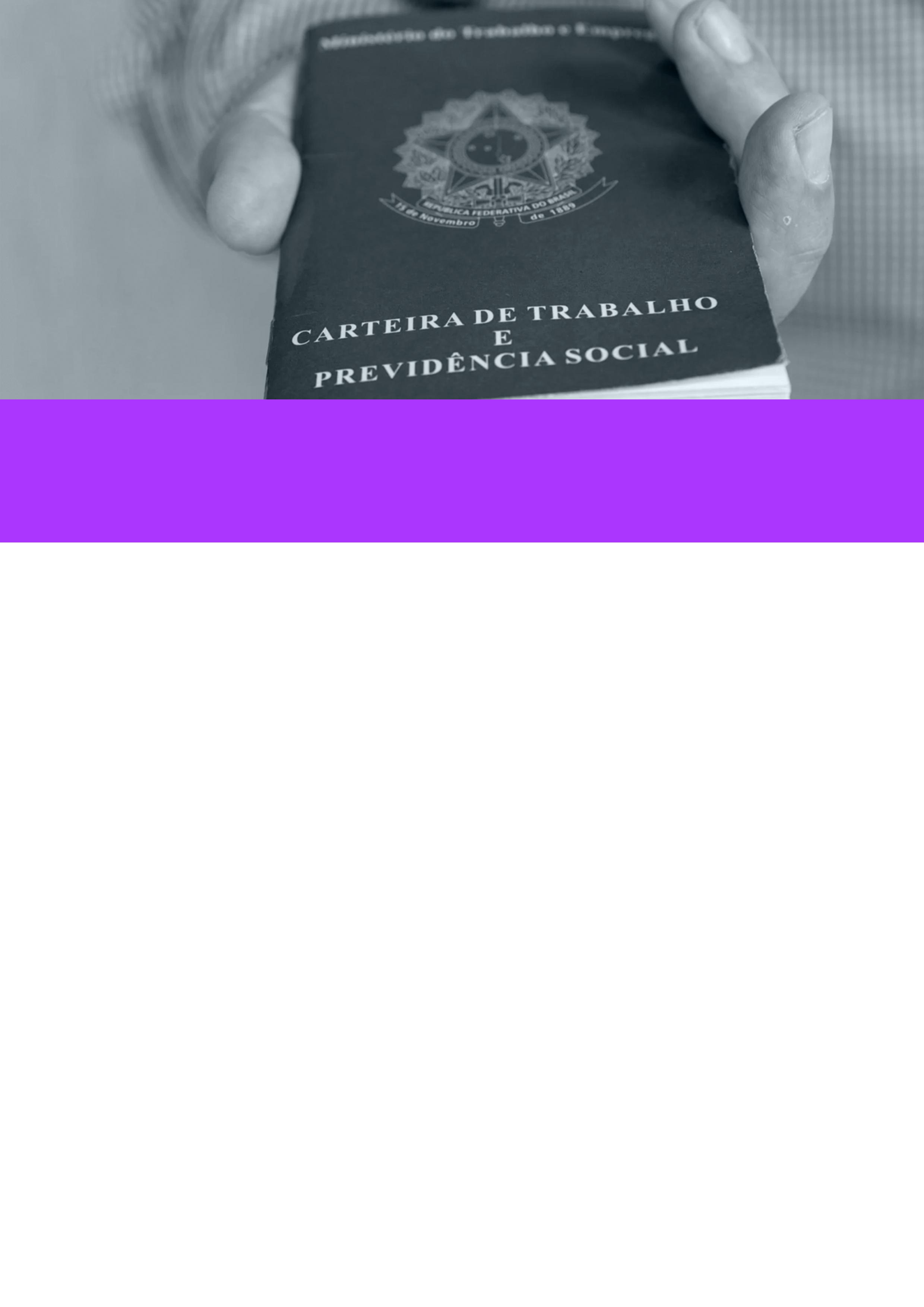
coletivas. Representatividade sindical. Flexibilização das normas trabalhistas.
1. Introdução
O Direito do Trabalho, desde sua formação, tem se estruturado como um ramo jurídico de proteção, visando equilibrar a relação historicamente desigual entre empregados e empregadores. A consolidação desse ramo jurídico ocorreu, sobretudo, no contexto da Revolução Industrial, quando a massiva exploração da mão de obra e as precárias condições de trabalho tornaram necessária a intervenção estatal
por meio de normas imperativas e protetivas. Nesse cenário, surge a rigidez de direitos trabalhistas, com normas cogentes que, por décadas, foram consideradas indisponíveis para os trabalhadores, ainda que mediante negociação coletiva.
Entretanto, as relações de trabalho não são estáticas. A partir da segunda metade do século XX, e especialmente nas últimas décadas, observa-se uma significativa transformação nas dinâmicas produtivas, impulsionada pela globalização, pelo avanço tecnológico, pela descentralização produtiva e pela busca incessante das empresas por competitividade e flexibilidade. Esse novo paradigma gerou tensões entre a rigidez da legislação trabalhista e as demandas de adaptação, tanto dos empregadores quanto dos próprios trabalhadores, que passaram a vislumbrar, na negociação coletiva, uma possibilidade de construção de regras mais aderentes às realidades setoriais, regionais e empresariais.
2. A Reforma Trabalhista e o Princípio do Negociado sobre o Legislado
No Brasil, o movimento de flexibilização das normas trabalhistas se intensificou especialmente com a promulgação da Reforma Trabalhista (Lei n° 13.467/2017), que incorporou expressamente o princípio da “prevalência do negociado sobre o legislado”. Esse princípio permite que normas coletivas pactuadas entre sindicatos e empresas prevaleçam sobre determinadas disposições legais, desde que não sejam direitos absolutamente indisponíveis, como os previstos na Constituição Federal ou normas de ordem pública essenciais à dignidade do trabalhador. Em outras palavras, trata-se do reconhecimento da autonomia coletiva da vontade, que permite que sindicatos representativos de trabalhadores e empregadores definam regras próprias, moldadas às suas necessidades específicas, ainda que distintas — e,
por vezes, menos benéficas — do que aquelas previstas na legislação ordinária.
Esse princípio reflete uma concepção contemporânea do Direito do Trabalho, que se afasta, em certa medida, do paradigma clássico da proteção unilateral do trabalhador, valorizando o diálogo social, a negociação e a cooperação entre as partes. Contudo, tal prevalência não é absoluta: há direitos e garantias mínimas, sobretudo de natureza constitucional, que não podem ser suprimidos ou reduzidos por meio da negociação coletiva.
A fundamentação do princípio da prevalência do negociado sobre o legislado encontra respaldo tanto na teoria da autonomia coletiva quanto nos princípios constitucionais da livre iniciativa, da valorização do trabalho, da dignidade da pessoa humana e da busca do pleno emprego.
No plano teórico, a autonomia coletiva é compreendida como um desdobramento da liberdade sindical, que permite que os sujeitos coletivos — sindicatos de trabalhadores e empregadores — estabeleçam normas jurídicas próprias, ajustadas à realidade econômica e social de cada setor, categoria ou empresa. Essa autonomia não se limita à defesa de interesses econômicos, mas também se estende à criação de normas jurídicas aplicáveis às relações de trabalho.
No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal de 1988 oferece sólido fundamento para a negociação coletiva. O artigo 7°, inciso XXVI, consagra expressamente o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, elevando-os ao patamar de direito fundamental dos trabalhadores. Ademais, o artigo 8º assegura a liberdade sindical, condição indispensável para o exercício pleno da negociação coletiva.
A doutrina trabalhista, especialmente na vertente
contemporânea, reconhece que o Direito do Trabalho deve ser sensível às mudanças econômicas e sociais. Assim, a flexibilização por meio da negociação coletiva surge como instrumento legítimo para adaptar as normas gerais às particularidades de cada contexto, sem, contudo, desnaturar os princípios basilares de proteção ao trabalho.
No entanto, a adoção do princípio do negociado sobre o legislado não implica outorga irrestrita de poderes às entidades sindicais. Há limites bem definidos, tanto de natureza constitucional quanto de ordem infraconstitucional, que condicionam o alcance da autonomia coletiva.
A Constituição estabelece um conjunto de direitos fundamentais sociais dos trabalhadores que são indisponíveis, intransigíveis e inderrogáveis pela negociação coletiva. Além disso, princípios como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e os valores sociais do trabalho (art. 1º, IV) funcionam como cláusulas de contenção contra eventuais abusos.
O Supremo Tribunal Federal tem reiterado, inclusive no julgamento do Tema 1046, do qual trataremos a seguir, que a negociação coletiva não pode servir como instrumento de precarização das condições mínimas necessárias à proteção do trabalhador, especialmente em relação aos direitos que garantem sua saúde, segurança, subsistência digna e integridade física.
A própria CLT, após a reforma, delimitou expressamente quais direitos podem ser objeto de negociação e quais são absolutamente indisponíveis (arts. 611-A e 611-B). Ademais, as cláusulas negociadas devem respeitar os requisitos de (i) transparência nas negociações; (ii) representatividade efetiva das entidades sindicais; e (iii) equilíbrio nas concessões feitas entre as partes, sendo certo que, se tais cláusulas contrariarem normas de segurança e medicina
do trabalho, por exemplo, serão consideradas nulas de pleno direito.
Por outro lado, dentro dos limites estabelecidos, a negociação coletiva permite construir soluções flexíveis e customizadas, que atendam melhor às necessidades das categorias profissionais e aos desafios econômicos. À título de exemplo, pode-se citar: ajustes de jornada que favoreçam setores sazonais; definição de regimes de trabalho remoto; implantação de bancos de horas específicos; criação de modelos de remuneração por produtividade; definição de critérios para participação nos lucros etc.
Essa flexibilidade, quando exercida com boa-fé e equilíbrio, tem potencial de fortalecer tanto as empresas, quanto os próprios trabalhadores, contribuindo para a manutenção de empregos e a melhoria das relações laborais.
3. Do Posicionamento do STF. Tema 1.046 de Repercussão Geral
Na ocasião do julgamento do Tema 1046, a controvérsia submetida à Suprema Corte versava sobre a análise da validade de cláusulas que previam, por exemplo, a supressão do pagamento das chamadas horas in itinere, benefício previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) até então. A discussão transcendia esse caso específico, uma vez que colocava em debate a própria hierarquia normativa entre a lei estatal e os instrumentos de negociação coletiva, questionando até que ponto a autonomia coletiva poderia se sobrepor às normas legais, especialmente quando envolvesse direitos patrimoniais disponíveis.
Foram levados à Suprema Corte fundamentos robustos tanto em defesa quanto em oposição à prevalência da negociação coletiva sobre a legislação. De um lado, sustentou-se que a Constituição Federal, ao reconhecer a negociação coletiva como direito fun -
damental no artigo 7º, inciso XXVI, fortalece a autonomia coletiva da vontade, conferindo aos sindicatos legitimidade para negociar condições de trabalho que atendam às especificidades de cada setor econômico. Sob essa ótica, os instrumentos coletivos representam não apenas meios de expansão de direitos, mas também instrumentos legítimos de flexibilização das normas trabalhistas, desde que observados os princípios constitucionais e garantidos os direitos indisponíveis.
Em contrapartida, a tese contrária à prevalência irrestrita da negociação coletiva alertava para os riscos de esvaziamento da proteção trabalhista. Defendia-se que, diante das assimetrias de poder historicamente reconhecidas nas relações de trabalho, a negociação coletiva não poderia ser utilizada como meio para reduzir direitos essenciais, sob pena de violação aos princípios estruturantes do Direito do Trabalho, como a dignidade da pessoa humana, a função social do trabalho e o princípio da proteção.
No julgamento do Tema 1046, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou a tese de que é válida a norma coletiva que limita ou restringe direitos trabalhistas de natureza patrimonial, desde que tais direitos não estejam assegurados constitucionalmente. Contudo, estabeleceu-se como condição que sejam rigorosamente respeitados os direitos indisponíveis, bem como as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho, além dos princípios fundamentais que regem as relações de trabalho, especialmente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho.
O voto condutor, proferido pelo ministro Gilmar Mendes, destacou a importância da autonomia coletiva no Estado Democrático de Direito e sua compatibilidade com a Constituição de 1988. Para o ministro, a negociação coletiva deve ser reconhecida como
instrumento legítimo de construção normativa no âmbito das relações de trabalho, capaz de adaptar as regras gerais às particularidades dos setores produtivos e das empresas. Argumentou-se que o fortalecimento da negociação coletiva está alinhado tanto com os ditames constitucionais quanto com as práticas internacionais, nas quais o diálogo social é considerado fundamental para o equilíbrio das relações laborais.
Ainda segundo os votos vencedores, a Constituição não estabelece um rol fixo de direitos absolutamente indisponíveis no campo trabalhista, sendo possível, portanto, que determinados direitos previstos na legislação infraconstitucional possam ser objeto de flexibilização, desde que respeitados os parâmetros constitucionais. Os ministros que acompanharam esse entendimento ressaltaram que a negociação coletiva, longe de precarizar as relações de trabalho, promove segurança jurídica e estabilidade, especialmente em um cenário econômico complexo, no qual a rigidez normativa pode ser, em certos casos, um obstáculo à preservação dos empregos e à competitividade empresarial.
Em contraponto, os votos vencidos, proferidos, dentre outros, pelos ministros Edson Fachin e Rosa Weber, alertaram para o risco de que a autorização ampla à negociação coletiva possa enfraquecer a função protetiva do Direito do Trabalho. Para esses ministros, a negociação coletiva deve ser, sim, valorizada, mas não pode servir como instrumento de redução de direitos essenciais, sobretudo em um país como o Brasil, cuja estrutura sindical apresenta fragilidades que dificultam a paridade efetiva de forças entre empregadores e trabalhadores. A decisão, na ótica dos votos vencidos, poderia abrir espaço para a celebração de acordos assimétricos, firmados sob pressão econômica, em que os trabalhadores acabam por aceitar condições menos favoráveis em tro -
ca da simples manutenção de seus empregos.
A partir desse julgamento, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetros normativos claros para a validade dos instrumentos coletivos. De um lado, afirmou-se que podem ser objeto de negociação coletiva todos os direitos trabalhistas de natureza patrimonial que não estejam expressamente protegidos como cláusulas pétreas constitucionais. Isso inclui, por exemplo, a negociação sobre jornada de trabalho, compensações, banco de horas, intervalos, modalidades de trabalho remoto, regimes de sobreaviso, formas diferenciadas de remuneração, participação nos lucros e resultados, bem como ajustes sobre critérios de produtividade ou registros de jornada.
Por outro lado, o STF reafirmou que certos direitos são absolutamente indisponíveis e, portanto, não podem ser objeto de negociação coletiva. Entre esses direitos estão aqueles expressamente previstos na Constituição Federal, tais como o salário mínimo, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o décimo terceiro salário, a licença-maternidade, a licença-paternidade, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, o repouso semanal remunerado e, sobretudo, as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho. A integridade física, a preservação da saúde e da dignidade do trabalhador foram reafirmadas como limites intransponíveis à autonomia negocial.
Além desses aspectos objetivos, o STF condicionou a validade da negociação coletiva ao respeito a princípios fundamentais, como a boa-fé, a transparência e a representatividade efetiva das entidades sindicais, deixando claro que a negociação coletiva não pode ser instrumento de fraude, nem de abuso de direito, e que cláusulas pactuadas sem a observância desses requisitos podem ser judicialmente invalidadas.
O posicionamento do STF no Tema 1046 consolida uma compreensão segundo a qual a negociação coletiva tem papel central na regulação das relações de trabalho no Brasil contemporâneo, sendo reconhecida como meio legítimo tanto de ampliação quanto de flexibilização de direitos, desde que observados os limites constitucionais e os princípios fundamentais que asseguram a dignidade do trabalhador. Trata-se de um marco que busca equilibrar os princípios da proteção ao trabalhador e da valorização da autonomia coletiva, permitindo que o Direito do Trabalho se adapte às dinâmicas econômicas e sociais sem perder de vista sua função primordial de proteção e promoção da dignidade no ambiente laboral.
A decisão em questão produziu efeitos práticos imediatos e relevantes sobre as relações de trabalho no Brasil. Ao reconhecer a validade de cláusulas de acordos e convenções coletivas que limitam ou restrinjam direitos trabalhistas de natureza patrimonial não assegurados constitucionalmente, a Suprema Corte redefiniu os contornos da autonomia coletiva, conferindo maior segurança jurídica às negociações coletivas e estabelecendo parâmetros objetivos para sua validade, posicionamento que impactou diretamente tanto as dinâmicas internas das empresas quanto a atuação dos sindicatos, além de repercutir na formulação, interpretação e revisão de cláusulas coletivas.
4. Consequências da Prevalência da Negociação Coletiva sobre a Legislação Trabalhista
No âmbito das relações de trabalho, o impacto mais evidente foi a consolidação do entendimento de que a negociação coletiva não se limita à função de expansão de direitos, mas também se apresenta como instrumento legítimo de ajuste, flexibilização e até
mesmo de restrição de certas prerrogativas trabalhistas, desde que dentro dos limites constitucionais. Isso significa que empregadores e empregados, por meio de seus sindicatos representativos, podem pactuar condições específicas que se sobreponham à legislação infraconstitucional, proporcionando maior maleabilidade para adequar as normas gerais às peculiaridades econômicas, produtivas e regionais.
Essa maior liberdade negocial, no entanto, também impôs desafios e responsabilidades acrescidas às entidades sindicais. A decisão do STF elevou o patamar da atuação sindical, exigindo dos sindicatos maior profissionalização, qualificação técnica e capacidade de negociação efetiva. A representatividade sindical, que já vinha sendo objeto de questionamento diante das alterações trazidas pela Reforma Trabalhista — especialmente pela extinção da contribuição sindical obrigatória —, passou a ser um elemento ainda mais sensível. A partir do Tema 1046, torna-se imprescindível que as entidades sindicais demonstrem efetiva legitimidade, capacidade de mobilização e de defesa dos interesses da categoria, uma vez que as cláusulas que venham a restringir direitos podem ter impacto direto e substancial na vida dos trabalhadores representados.
Os reflexos da decisão também se fizeram sentir no conteúdo dos próprios acordos e convenções coletivas. A partir do reconhecimento da possibilidade de negociação sobre direitos patrimoniais disponíveis, observou-se um crescimento da utilização de cláusulas que tratam, por exemplo, de modelos de compensação de jornada, regimes especiais de trabalho remoto, adoção de bancos de horas diferenciados, flexibilização de intervalos intrajornada (desde que respeitado o limite mínimo estabelecido pela Reforma Trabalhista), além de alterações na estrutura remuneratória, com maior ênfase em remunera-
ção variável, prêmios e participação nos lucros e resultados.
Sob outra perspectiva, a decisão também trouxe clareza quanto às cláusulas que são absolutamente nulas por afrontarem direitos indisponíveis ou normas constitucionais. Assim, cláusulas que tentem suprimir o pagamento do décimo terceiro salário, reduzir o valor do salário mínimo, eliminar o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), suprimir o direito ao repouso semanal remunerado ou reduzir a duração das licenças maternidade e paternidade são, à luz do Tema 1046, manifestamente inválidas e inconstitucionais, não sendo passíveis de convalidação sequer por meio da negociação coletiva.
Exemplos práticos ajudam a ilustrar a aplicação deste novo princípio laboral estabelecido pelo artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho. No campo da jornada de trabalho, são consideradas válidas cláusulas que instituem banco de horas com prazo de compensação superior ao mensal, desde que haja previsão em convenção ou acordo coletivo, nos termos do artigo 611-A da CLT. Também são reputadas válidas cláusulas que estabelecem modelos alternativos de jornada, como o turno de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, amplamente utilizado em setores como segurança e saúde. Da mesma forma, são válidas cláusulas que preveem a redução do intervalo intrajornada para até 30 minutos, conforme autorizado pela Reforma Trabalhista, desde que pactuadas coletivamente.
Por outro lado, são manifestamente inválidas as cláusulas que tenham como propósito, por exemplo, eliminar integralmente o pagamento do adicional de insalubridade, suprimir o direito a férias — ainda que parcialmente — ou reduzir o valor das horas extras abaixo do patamar constitucional. Tais disposições extrapolam os limites da autonomia negocial esta-
belecidos em lei e reafirmados pela Suprema Corte. Da mesma forma, qualquer cláusula que enfraqueça a proteção à saúde, à segurança ou à dignidade do trabalhador — como aquelas que desconsiderem normas relativas a ambientes insalubres, jornadas extenuantes ou à ausência de repouso adequado — é nula de pleno direito.
Além disso, a decisão repercutiu na atuação do Poder Judiciário, que passou a ter um novo referencial para avaliar a validade das cláusulas coletivas. Os juízes do trabalho, que anteriormente exerciam um controle mais rigoroso e restritivo sobre os instrumentos de negociação coletiva, especialmente quanto a cláusulas restritivas de direitos, passaram a adotar uma postura mais deferente, reconhecendo a legitimidade das escolhas feitas pelos sujeitos coletivos, desde que respeitados os parâmetros constitucionais. Isso reforça a concepção de que o papel do Judiciário não é substituir a vontade coletiva, mas assegurar que ela seja exercida dentro dos limites legais e constitucionais.
Os efeitos práticos da ampliação da liberdade negocial, conferida pelo artigo 611-A da Reforma Trabalhista e ratificada pelo STF no julgamento do Tema 1046, são profundos e multifacetados. De um lado, essa ampliação fortalece a autonomia e a autorregulação nas relações de trabalho, permitindo que sindicatos e empresas ajustem normas às necessidades concretas de suas respectivas realidades. De outro, impõe maiores exigências à atuação sindical, que passa a demandar não apenas representatividade formal, mas também efetiva capacidade de negociação, responsabilidade institucional e transparência na condução dos processos coletivos. Ao mesmo tempo, essa nova configuração reafirma os direitos fundamentais do trabalho como limite intransponível à negociação, preservando o caráter protetivo
que historicamente caracteriza o Direito do Trabalho, mesmo diante da flexibilização normativa.
5.
Desafios e Críticas à Expansão da Autonomia Negocial
Embora o posicionamento da Suprema Corte tenha sido celebrado por parte da doutrina e de setores empresariais como um avanço no fortalecimento da negociação coletiva e na modernização das relações de trabalho, não deixou de suscitar críticas contundentes, especialmente por juristas, estudiosos do Direito do Trabalho e representantes de entidades voltadas à proteção dos trabalhadores. Tais críticas concentram-se, sobretudo, nos riscos que a flexibilização normativa pode representar para a função histórica e protetiva do Direito do Trabalho, bem como para a preservação dos direitos fundamentais dos trabalhadores, especialmente em um cenário marcado por profundas assimetrias de poder nas relações laborais.
Do ponto de vista doutrinário, uma das críticas mais frequentes à decisão reside na inversão da lógica tradicional do Direito do Trabalho, que historicamente tem como princípio fundamental a proteção da parte hipossuficiente — o trabalhador — em virtude da reconhecida disparidade de forças em relação ao empregador. Ao permitir que instrumentos coletivos restrinjam direitos assegurados pela legislação infraconstitucional, mesmo que patrimoniais e disponíveis, críticos argumentam que tal decisão abre um caminho perigoso para a erosão gradual do patamar civilizatório mínimo construído ao longo de décadas no Brasil.
Levanta-se a questão de que a decisão da Suprema Corte, que reconhece a constitucionalidade do artigo 611-A da CLT de forma implícita, pode ter ultrapassado os limites impostos pela Constituição Federal de 1988. Embora o artigo 7°, inciso XXVI, as -
segure o reconhecimento das convenções e acordos coletivos, parte da doutrina argumenta que esse reconhecimento não implica autorização irrestrita para que tais instrumentos disponham sobre quaisquer direitos, sobretudo quando isso resulte em retrocesso social. Por isso, há um debate intenso sobre se o STF, ao fixar a tese do Tema 1046, interpretou de forma excessivamente ampla o alcance da autonomia coletiva, sem considerar suficientemente as fragilidades estruturais do sistema sindical brasileiro. Nesse contexto, um dos desafios mais relevantes na aplicação prática do dispositivo legal introduzido pela Reforma Trabalhista e respaldado pelo STF, reside justamente na precariedade da estrutura sindical no Brasil. O modelo sindical brasileiro, historicamente baseado na unicidade sindical e na contribuição compulsória (extinta com a Reforma Trabalhista), enfrenta sérias dificuldades de representatividade e financiamento. Muitas entidades sindicais, sobretudo de categorias economicamente mais vulneráveis, não dispõem de recursos, de assessoria técnica qualificada e, em alguns casos, sequer de efetiva legitimidade junto à categoria que representam. Esse quadro gera preocupações justificadas sobre a real capacidade de tais sindicatos negociarem em pé de igualdade com empregadores, especialmente grandes empresas ou conglomerados econômicos.
Outro desafio significativo se refere à fiscalização e ao controle da validade das cláusulas pactuadas. Embora o STF tenha estabelecido que a negociação coletiva deve respeitar os direitos constitucionalmente assegurados, bem como princípios como a dignidade da pessoa humana e a função social do trabalho, a tarefa de aferir esses requisitos é transferida ao Judiciário trabalhista, que, por sua vez, pode enfrentar dificuldades práticas para estabelecer, caso a caso, se houve ou não abuso na negociação,
se a entidade sindical representava de fato os interesses da categoria e se os limites da autonomia foram devidamente observados.
Paralelamente, há um risco concreto de que a decisão do STF, ao legitimar de forma ampliada a liberdade de negociação coletiva, especialmente no que se refere à possibilidade de pactuação restritiva de direitos, acabe por fragilizar a proteção mínima assegurada aos trabalhadores. Esse risco se acentua em contextos de crise econômica ou em setores com reduzido poder de barganha, nos quais o receio do desemprego compromete significativamente a capacidade de resistência da classe trabalhadora. Nesses cenários, pode ocorrer a normalização de condições menos favoráveis, não em razão de uma manifestação autêntica da vontade dos trabalhadores, mas como resultado da imposição das circunstâncias econômicas, gerando situações de precarização disfarçadas sob a aparência de um consenso negocial.
Nesse contexto, o debate sobre a (in)suficiência da atuação sindical no Brasil assume papel central. Parte significativa da doutrina sustenta que, antes de se ampliar os efeitos da negociação coletiva — como fez a Reforma Trabalhista e posteriormente ratificou o STF —, seria imprescindível a realização de uma reforma sindical estrutural. Tal reforma deveria visar ao fortalecimento das entidades sindicais, assegurando-lhes maior autonomia, democratizando seus processos internos e aprimorando os mecanismos de representatividade. Na ausência desse prévio fortalecimento institucional, a Reforma Trabalhista pode contribuir para o agravamento das distorções já existentes, ao permitir que sindicatos frágeis, pouco representativos ou até mesmo de fachada firmem acordos que favorecem mais os interesses patronais do que os da categoria profissional que deveriam representar.
Outro aspecto relevante das críticas é a percepção de que a decisão transfere para a negociação coletiva a responsabilidade pela regulação de temas que, em tese, deveriam ser assegurados por normas gerais, estáveis e aplicáveis de forma universal. Isso gera o risco de fragmentação do direito trabalhista, com trabalhadores de categorias distintas — ou até da mesma categoria, mas em empresas diferentes — submetidos a regimes jurídicos profundamente desiguais, com repercussões diretas sobre o princípio da isonomia.
6. Conclusão
A decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1046 representa um marco de inflexão na interpretação do princípio do negociado sobre o legislado no Brasil, e seus efeitos tendem a se projetar de forma significativa nas dinâmicas futuras das relações de trabalho, tanto no campo jurídico quanto no social. As perspectivas futuras, portanto, passam pela análise das tendências da jurisprudência que se consolidará após esse julgamento, pela possibilidade de alterações legislativas, pela comparação com modelos adotados em outros países e, sobretudo, pelos desafios ainda pendentes para o fortalecimento efetivo da negociação coletiva no país.
O ambiente legislativo também poderá ser impactado pela decisão do STF, o que certamente gerará discussões sobre a necessidade de atualização da legislação sindical, especialmente no tocante à representatividade, financiamento e organização dos sindicatos. A ausência de uma reforma sindical estruturante aparece, cada vez mais, como um gargalo para que a negociação coletiva se efetive de maneira robusta e legítima. Assim, uma possível tendência futura é que o Congresso Nacional retome discussões sobre temas como liberdade sindical plena, plurali -
dade sindical, fortalecimento da negociação coletiva por meio de incentivos ou novos modelos de financiamento, e criação de mecanismos mais rigorosos de aferição da representatividade sindical.
Diante desse cenário, os desafios para o fortalecimento da negociação coletiva no Brasil são múltiplos e complexos. O primeiro deles consiste na necessária reestruturação do sistema sindical, com a adoção de medidas que garantam a efetiva liberdade sindical, a autonomia financeira das entidades representativas e a democratização de seus processos internos. Isso implica, necessariamente, na superação dos vícios históricos do sindicalismo brasileiro, como a proliferação de sindicatos sem representatividade, a dependência financeira do Estado e a baixa participação dos trabalhadores nas instâncias decisórias das entidades.
Outro desafio relevante é o desenvolvimento de uma cultura negocial mais madura e responsável, tanto por parte dos sindicatos quanto dos empregadores. Isso exige a qualificação dos dirigentes sindicais, a profissionalização das negociações, a adoção de práticas transparentes e o fortalecimento dos mecanismos de solução coletiva de conflitos, como a mediação e a arbitragem.
Outrossim, há também o desafio de garantir que o Judiciário trabalhista atue de forma equilibrada, nem intervindo de maneira excessiva, que esvazie a autonomia coletiva, nem adotando uma postura de deferência cega, que permita abusos em nome da negociação. Esse equilíbrio é fundamental para que o princípio do negociado sobre o legislado cumpra sua função social, que é permitir adaptações legítimas das normas trabalhistas às realidades específicas, sem renunciar à proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores.
Em síntese, a Reforma Trabalhista, que ampliou a liberdade de negociação coletiva e teve sua aplicação ratificada pela Suprema Corte, projeta um cenário de fortalecimento da negociação coletiva como eixo central na regulação das relações de trabalho. Contudo, para que esse avanço se concretize de forma equilibrada e sustentável, é imprescindível o fortalecimento do sistema sindical, por meio de reformas estruturais que assegurem maior liberdade sindical, pluralismo, representatividade efetiva e autonomia financeira às entidades representativas.
Por fim, a reflexão central que se impõe é que o equilíbrio entre a autonomia coletiva e a proteção mínima aos trabalhadores não se alcança automaticamente por meio de decisões judiciais ou iniciativas legislativas. Trata-se de um processo contínuo e complexo, que demanda vigilância constante da sociedade civil, atuação qualificada e responsável das entidades sindicais, sensibilidade por parte do Judiciário trabalhista e, acima de tudo, um compromisso institucional firme com a promoção do trabalho digno, da justiça social e do desenvolvimento econômico sustentável. O futuro desse equilíbrio dependerá, em grande medida, da capacidade das instituições brasileiras de consolidar os pilares da negociação coletiva sem abdicar dos princípios fundamentais do Direito do Trabalho, cuja essência é a proteção da parte hipossuficiente na relação laboral.
REFERÊNCIAS
FACHINI, Tiago. Direito do trabalho: características, divisões e princípios. Projuris, 2020. Disponível em: https://www.projuris.com.br/blog/direito-do-trabalho/. Acesso em 09.06.2025.
Supremo Tribunal Federal. Tema 1046. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5415427&numeroProcesso=1121633&classe -
Processo=ARE&numeroTema=1046. Acesso em 09.06.2025.
OLIVEIRA, Celso Ricardo Peel Furtado de; CALCINI, Ricardo (orgs.). Estudos Contemporâneos Trabalhistas. São Paulo: Mizuno, 2024.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 17ª ed. São Paulo: LTr, 2018.
RAMOS, Alexandre Luiz. O conceito de direito absolutamente indisponível contido no Tema 1.046. Disponível em: https://www.conjur.com.br/ 2022-set-30/alexandre-luiz-ramos-direito-absolutamente-indisponivel . Acesso em 10.06.2025.
DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022.
O GRUPO ECONÔMICO NO DIREITO DO TRABALHO: DA
INTERPRETAÇÃO TRADICIONAL À DINÂMICA PÓS-REFORMA E OS DESAFIOS DO SÉCULO XXI
José Lucio Munhoz
Advogado Trabalhista e Cível, Autor, Palestrante, foi Conselheiro do CNJ, Presidente da AMATRA-SP, Juiz do Trabalho do TRT2 e TRT12; é Mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, Pós-Graduado em Arbitragem Internacional pela Universidade de Aberdeen (UK) e PhD em curso pela Universidade de Strathclyde (UK). jlm@luciomunhoz.adv.br
1. Introdução: A Essência Protetiva do Direito do Trabalho e a Complexidade das Estruturas Empresariais
O Direito do Trabalho, desde sua gênese, estrutura-se sobre o princípio da proteção do trabalhador, reconhecido como a parte hipossuficiente da relação empregatícia. Para que essa proteção seja efetiva, mostra-se fundamental desvendar as complexas estruturas empresariais, garantindo que a pulverização de atividades em distintas pessoas jurídicas não se torne um subterfúgio para a frustração de direitos e créditos laborais. É nesse contexto que o conceito de “grupo econômico” ganha relevo ímpar, atuando como um poderoso instrumento de garantia do crédito alimentar.
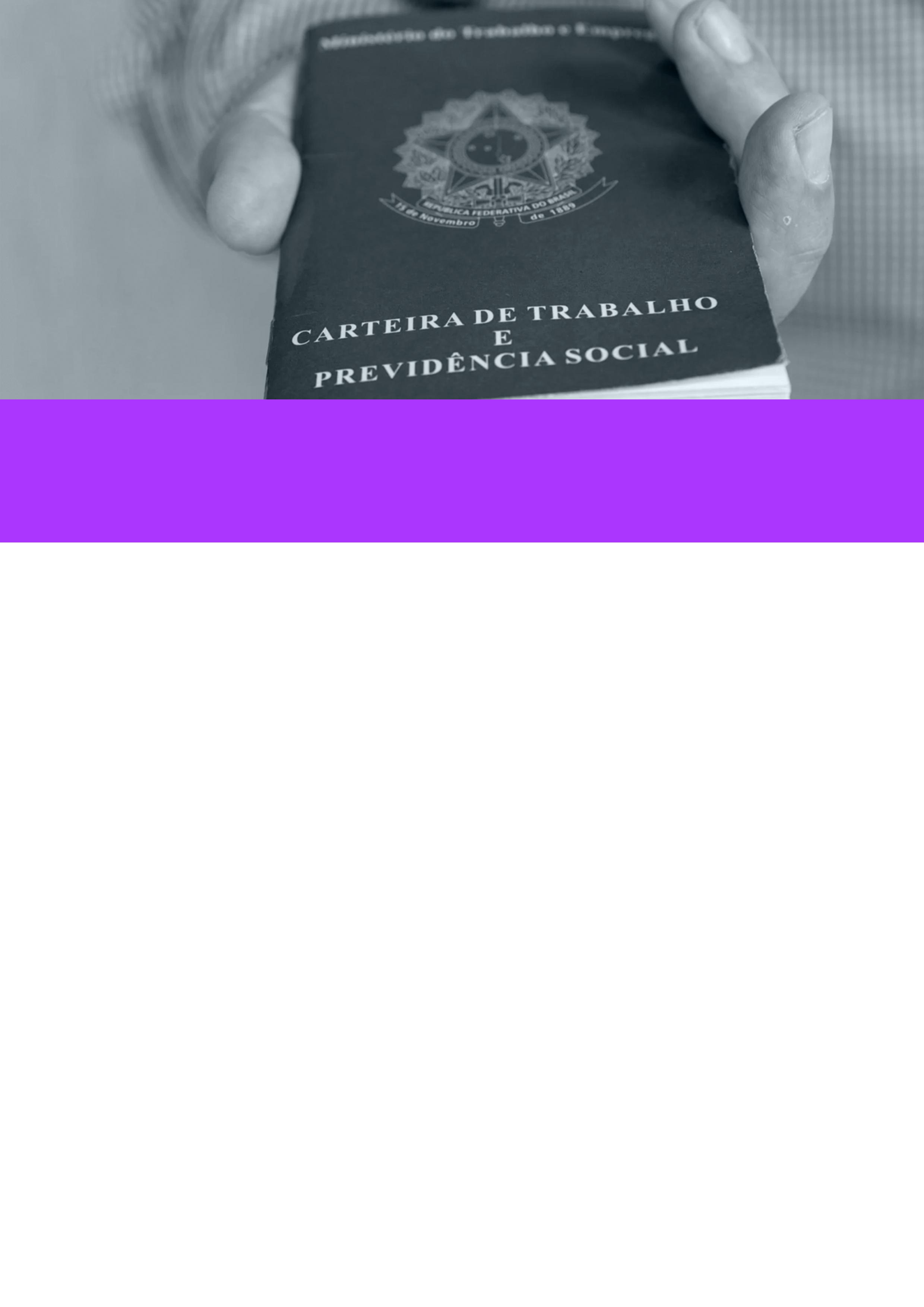
Como bem destacamos em uma visão geral sobre o tema1 , para que exista um contrato de trabalho, é imprescindível a figura do “empregador”, que assume os riscos da atividade econômica e dirige a prestação pessoal de serviço. Contudo, nem todo contrato de trabalho constitui um contrato de emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); havendo outras modalidades como o trabalho autônomo, cooperativas, aprendizes ou servidores públicos estatutários. A conceituação do “contrato de emprego”, com seus direitos e deveres, é delineada no art. 3° da CLT, que exige a presença de pessoa física prestando serviços não eventuais a um empregador, sob dependência e mediante salário. Assim, a correta
1 MUNHOZ, José Lucio. Reforma Trabalhista Comentada Artigo por Artigo, 2ª ed, São Paulo, LTr, 2018, p. 36
definição do “empregador ” e a extensão de sua responsabilidade são centrais, e é precisamente a isso que se dedica o art. 2° da CLT.
A Reforma Trabalhista (Lei n° 13.467/2017) trouxe significativas alterações ao instituto, impondo uma revisão crítica de seus contornos e gerando um intenso debate doutrinário e jurisprudencial. Este artigo se propõe a analisar a evolução do conceito, suas bases legais, as interpretações do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Supremo Tribunal Federal (STF) pós-reforma, e os desafios que se impõem na busca por uma justiça social equilibrada com a segurança jurídica.
2. Conceito e Fundamentos Legais: As Mutações do Art. 2° da CLT
O artigo 2° da CLT define essa figura do “empregador ” e, em seus parágrafos, estende a responsabilidade para as empresas que compõem o grupo econômico.
2.1. O Caput e o § 1°: Definição Inalterada e a Questão da “Equiparação”
O caput do art. 2° da CLT, que conceitua o empregador, e seu § 1°, que equipara a empregadores profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitam empregados, não sofreram alterações com a Reforma Trabalhista.
Em verdade, se alguém ou alguma entidade contrata um empregado, essa pessoa não é “equiparada” a um empregador, pois ela é, propriamente dita, uma verdadeira empregadora! Há uma imprecisão na terminologia do texto que, obviamente, não afeta sua aplicação prática, devendo-se considerar, ainda, que as pessoas ali referidas são mencionadas de modo exemplificativo, não exaustivo.
Eis o conteúdo do atual dispositivo da CLT:
Art. 2° – Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
§ 1° – Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.
§ 2° Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
§ 3° Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.
2.2. O § 2° antes da Reforma: O Modelo da Subordinação e a Ampla Interpretação Jurisprudencial
A redação anterior do § 2° do art. 2° da CLT estabelecia que haveria grupo econômico “Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.”
Aquele texto consagrava o grupo por subordinação ou verticalidade, exigindo uma hierarquia de con -
trole de uma empresa sobre as demais. Contudo, como destacamos em nossa análise original2 , com base nessa disposição de conceito aberto, a jurisprudência acabou interpretando a existência do grupo econômico de forma bastante ampla. A caracterização ocorria mesmo sem a instituição formal de um relacionamento grupal, sempre que as empresas utilizassem os serviços do empregado em benefício do grupo, tivessem sócios comuns, atividades que se misturassem ou beneficiários de uma mesma família. A flexibilidade do conceito permitia que a responsabilidade solidária fosse aplicada quando se verificasse, por exemplo, mesmos sócios, mesma atividade, mesma administração, comunhão dos mesmos instrumentos de produção. (TRT/SC, Proc. 0003870-98.2014.5.12.0003, Rel. Juiz Hélio Henrique G. Romero, 22.06.2017).
Bastava mera relação de coordenação entre os reclamados, não sendo exigidas as formalidades do Direito Empresarial. Havia mais amplitude no conceito. Reconhecida a finalidade econômica da atividade e um nexo relacional entre as empresas, seria possível o reconhecimento do grupo econômico. Ver: TST, RR-281400-65.2009.5.02.0031, Rel. Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 07.06.2013.
3. Tipos de Grupo Econômico. O § 2° e § 3° após a Reforma
A nova redação do § 2° tornou o dispositivo mais “enxuto”, o que contribui para a boa técnica legislativa, eis que foram excluídas concepções exemplificativas e repetições desnecessárias existentes no texto anterior. A exclusão da frase “constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica” não restringe a concepção, mas ao contrário, amplia-a, ao impedir interpretações limitadas apenas às hipóteses anteriormente previstas.
2 Munhoz, José Lucio, in: Reforma Trabalhista Comentada, Artigo por Artigo, LTr, São Paulo, 2018, p. 36
Contudo, a grande inflexão está no § 3°. Ele buscou refrear parte da jurisprudência que, por vezes, caracterizava o grupo econômico pela simples identidade de sócios. Embora já houvesse precedentes jurisprudenciais entendendo que não bastava a mera existência de sócios comuns para caracterizar o grupo econômico (TRT/SC, Proc. AP 0004205-53.2011.5.12.0026, Rel. Juiz Nivaldo Stankiewicz, 04.10.2017; TRT/SC, Proc. RO 0000157-67.2014.5.12.0019, Rel. Juiz Ubiratan Alberto Pereira, 03.10.2017), a Reforma Trabalhista tornou essa exigência explícita.
Assim, temos basicamente três formas de grupos econômicos, muito embora as relações comerciais ou empresariais para a tipificação de cada um deles possa ter infinitos aspectos fáticos diferentes:
a) Grupo Econômico formal. O grupo econômico formal ou estruturado decorre da definição jurídica que as próprias empresas que o compõe assumem. São conglomerados de empresas formalmente ligadas entre si, cuja formação do grupo econômico é expressa nos instrumentos constitutivos ou pelo uso da própria logomarca ou identidade visual.
b) Grupo Econômico informal por hierarquia (vertical). Esse tipo de grupo econômico não possui estrutura visual direta e nem instrumentalização jurídica própria, mas as ações das empresas são dirigidas por uma delas (“estiverem sob a direção, controle ou administração de outra” ), ou por um conselho geral (ainda que informal). Esse era o único tipo de grupo econômico expressamente previsto no texto da CLT antes da Reforma Trabalhista, muito embora houvesse à época interpretação jurisprudencial das mais diversas, normalmente alargando os limites da lei, como já mencionado.
c) Grupo Econômico informal por coordenação (horizontal). Nesse tipo de grupo econômico as
empresas são efetivamente independentes ou “autônomas”, mas acabam agindo de maneira coordenada entre si, usufruindo e tirando proveito, portanto, dessa “atuação conjunta”. Essa é a caracterização que traz mais dificuldades, pois exige a demonstração dessa ação coordenada, mas também do “interesse integrado” e “efetiva comunhão de interesses”. A prova de sua existência exige a demonstração dos requisitos do § 3° do art. 2°, da CLT.
Quando o grupo econômico é formal ou é informal vertical, já deve obrigatoriamente estar presente os requisitos do § 3° do art. 2°, da CLT. Nessas situações só haveria hierarquia (vertical) se demonstrado que uma empresa ou um órgão diretivo, atue como aquele que conduz a atuação das empresas do grupo. E se elas agem dirigidas por alguém, há automaticamente o “interesse integrado” e a “efetiva comunhão de interesses”
O novo texto legal, portanto, quanto às empresas que agem com autonomia, só restaria caracterizado o grupo econômico informal (horizontal) se e quando houver a demonstração cumulativa dos seguintes elementos, devido à utilização da conjunção aditiva “e”:
1. Demonstração do interesse integrado.
2. Efetiva comunhão de interesses
3. Atuação conjunta das empresas dele integrantes.
De todo modo, cumpre ressaltar que as hipóteses de reconhecimento de grupo econômico e as restrições à responsabilização ampla, não diz respeito aos casos de fraude explícita, na tentativa dos devedores em deliberadamente criar artifícios para não cumprir com suas obrigações legais. Para esses casos, a situação se apresenta mais próximo do instituto da sucessão de empresas, que não se confunde com o instituto do grupo econômico.
A sucessão trabalhista, lícita ou fraudulenta, é tratada nos arts. 9, 10 e 448-A da CLT, e não constitui matéria de natureza constitucional, como já pacificou o Supremo Tribunal Federal, no tema 333:
“Tema 333. A questão da responsabilidade solidária do empregador pelos créditos trabalhistas, no caso de cisão parcial ou sucessão de empresas, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
Logo, ao contrário do que temos visto em algumas decisões, não há que se falar em suspensão de processos tratando de sucessão trabalhista (ainda que por fraude), que não é matéria afeta ao STF, em razão de ser infraconstitucional (Tema 333), como se fosse a hipótese de grupo econômico, ainda a ser tratado pelo STF (Tema 1232).
Adalberto Martins 3 aparenta compartilhar do mesmo entendimento:
“Finalmente, também nos parece que a fraude perpetrada pelo empregador, com a utilização de subterfúgios para se esquivar do julgado, não estará contemplada em decisão que determina a aplicação do art. 513, § 5ª, CPC. Exemplifique-se com a situação concreta em que os sócios esvaziam o patrimônio da empresa executada e constituem outra pessoa jurídica para seguir na mesma atividade econômica. São situações que não podem ficar ao abrigo do dispositivo legal em apreço, nos termos do art. 9° da Consolidação das Leis do Trabalho, e estamos convencidos de que o Excelso Supremo Tribunal Federal não chancelará esse tipo de conduta.”
3 MARTINS, Adalberto. “A Responsabilidade das Empresas do Grupo Econômico na Execução Trabalhista”, in: Estudos Contemporâneos Trabalhistas, LTr, São Paulo, 202, p. 30.
4. Requisitos para a Caracterização do Grupo Econômico Informal por Coordenação: A Prova da “Tríade”
A definição dos requisitos exigidos no § 3° do art. 2° da CLT, exige do profissional certa habilidade e alguma dose de paciência para tentar compreender tipos abertos e aplicá-los na prática processual. E quando a norma exige isso, é natural a existência de divergências, as quais também se traduzem na jurisprudência.
A interpretação dos termos “interesse integrado”, “comunhão de interesses” e “atuação conjunta” impõe um desafio hermenêutico ao intérprete. Vejamos:
• “Interesse Integrado” e “Efetiva Comunhão de Interesses”: A primeira aparição do termo “interesse integrado” em nossa jurisprudência foi notada em um acórdão do TRT/PR de 2000, anteriormente à Reforma Trabalhista, posteriormente transcrito em decisão do TST:
- “RECURSO DE REVISTA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A configuração do grupo econômico, para fins trabalhistas, exige a demonstração inequívoca dos elementos que caracterizam a sua existência, com a imprescindível comunhão de interesses e atividades econômicas, que podem se apresentar sob diversas formas, como mesmos sócios, mesma atividade, mesma administração, comunhão dos mesmos instrumentos de produção. 2. No caso, a decisão regional, ao constatar a existência de pluralidade de empresas com personalidade jurídica distinta, direção geral e interesse integrado demonstrados pelos atos constitutivos e atuação conjunta (mesmo advogado, contestação conjunta), concluiu pela existência de grupo econômico. 3. Incólume
o art. 2°, § 2°, da CLT. Recurso de Revista não conhecido.” (TST, Proc. RR – 72116309.2001.5.09.5555, Rel. Aloysio Corrêa da Veiga, 07.12.2004)
O “interesse integrado” remete à percepção de um interesse “comum”, que diga respeito a duas ou mais empresas do grupo. Da mesma forma, a “efetiva comunhão de interesses” sugere que as empresas compartilham os mesmos fins econômicos e se beneficiam mutuamente. Como notamos em nossa análise anterior, esses termos aparentam ser sinônimos, muito embora a boa técnica de interpretação legislativa refira que a lei não deve possuir termos inúteis.
Mas convém referir que por vezes as construções legislativas passam por termos genéricos justamente para diminuir a resistência de certos grupos, quando utilizados termos mais específicos e diretos.
De nossa parte, compreendemos o “interesse integrado” e a “efetiva comunhão de interesses”, como sinônimos. Essa também aparenta ser a posição de Homero Batista:
“... os conceitos de “interesse integrado” e “comunhão de interesses” e “atuação conjunta” (aliás três expressões quase pleonásticas usadas pela Reforma de 2017) são aferíveis mediante provas documentais e testemunhais, capazes de evocar, entre outros elementos, o objeto social coincidente ou complementar, a atuação no mesmo espaço físico, o compartilhamento de mão de obra, insumos, máquinas, clientes e fornecedores, o panorama de escala produtiva, e assim por diante. Nesse sentido, as provas necessárias à configuração do grupo econômico não sofreram alteração.”4
4 BATISTA, Homero. CLT Comentada, 5ª ed, 2024, Revistas dos Tribunais, p. 37
• “Atuação Conjunta”: Esta expressão, no nosso entender, vai além do mero “interesse comum”. Pode dar a sensação de que as empresas devem atuar de modo compartilhado, em parceria. No entanto, é fundamental entender que a “atuação conjunta” não se restringe apenas à “ação”, mas pode ser caracterizada também por condutas omissivas, como a empresa que apenas recebe valores ou produtos de transações realizadas por outras, ou aquela que assume responsabilidades das demais. Nesses casos, há uma atuação “conjunta” por parte delas, que obviamente caracteriza a “comunhão de interesses”.
Para ilustrar a distinção entre interesse comum e atuação conjunta efetiva, consideramos um exemplo didático: Duas empreiteiras atuam na construção de um prédio, uma fornecendo caixarias e a outra ferragens, ou uma com o contrapiso e a outra com o assoalho. Ambas possuem interesses de que o cliente final seja bem atendido, que a obra transcorra normalmente e que o serviço fique adequado (pois isso afeta a imagem comercial de todas). Contudo, embora haja “interesse comum” nem por isso haverá, nesse caso, formação de grupo econômico.
Apenas se, e quando, elas começarem a unificar sua forma de atuação empresarial (desenvolvendo campanhas publicitárias comuns, atuando nos mesmos clientes com unidade, uso de material conjunto, emprestando empregados ou maquinário, etc.) é que se poderá admitir a existência de um grupo econômico de fato.
A reforma deixou expresso que a mera identidade de sócios não basta para caracterizar o grupo. É preciso que, mesmo com sócios comuns, haja outros elementos relacionados aos interesses das empresas que revelem a atuação conjunta.
5. A Jurisprudência do TST PósReforma: Consolidação de Entendimentos e a Necessidade da Prova Robusta
Após a entrada em vigor da Lei n° 13.467/2017, o TST tem se posicionado de forma mais rigorosa na aplicação do § 3° do art. 2° da CLT, exigindo a comprovação mais robusta dos elementos ali descritos para a caracterização do grupo econômico.
• Afirmação da Rejeição da Mera Identidade de Sócios: A jurisprudência do TST consolidou o entendimento de que a mera identidade de sócios, ou mesmo a exploração da mesma atividade econômica, não é suficiente, por si só, para configurar o grupo econômico.
Todavia, há decisões exigindo apenas a definição de grupo horizontal entre as empresas, aplicando-se o reconhecimento do grupo econômico apenas se existente a hierarquia entre as empresas:
“AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE AS EMPRESAS. RELAÇÃO DE COORDENAÇÃO. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que, para a configuração de grupo econômico é necessário que exista relação hierárquica entre as empresas, não bastando a mera identidade de sócios ou a relação de coordenação. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.” (Ag-AIRR 1000066-02.2020.5.02.0318, 5ª T., j. 15/09/2021, Rel. Ministro Breno Medeiros)
Ao afastar a mera identidade de sócios para a configuração do grupo econômico, a decisão se mostra em conformidade com o texto legal. Todavia, em nossa opinião, ao indicar que a relação de coordenação entre as empresas não basta para a configu -
ração do grupo econômico, essa posição contrasta expressamente com a lei atual, em seu § 2º.
De fato, o parágrafo 2º, na sua parte inicial, estabelece o grupo econômico quando houver a relação hierárquica (grupo vertical), mas a parte final permite a configuração do grupo quando houver relação meramente “horizontal”, sem necessidade da hierarquia. O § 2º é expresso: “ou, ainda, quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico...”. Nessa segunda parte do parágrafo, é permitido o reconhecimento do grupo quando inexistente hierarquia (“mesmo guardando cada uma sua autonomia” ), afinal, se são empresas autônomas, não estão hierarquicamente subordinadas à outra. Nessa hipótese, elas, independentes, sem hierarquia, podem formar grupo econômico, conforme diz a lei.
E de que forma elas formam grupo econômico, sem hierarquia, mantendo a sua “autonomia”? Agindo de modo coordenado, com a efetiva comunhão de interesses (grupo horizontal).
É indispensável a demonstração de interesse integrado (ou a “efetiva comunhão de interesses”) e atuação conjunta (coordenada) das empresas.
Portanto, relembramos que temos, pós-reforma trabalhista, duas hipóteses de reconhecer os grupos econômicos não oficializados: a) pelo controle hierárquico de umas sobre as outras (grupo vertical); ou, b) justamente pela atuação coordenada delas, com interesses comuns (grupo horizontal).
E a SDI I do TST parece ter esse mesmo entendimento:
“RESPONSABILIZAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 296, I, DO TST. No acórdão recorrido, a Turma deste Tribunal concluiu
que as alterações introduzidas pela Lei 13.467/2017, no que dizem respeito à caracterização do grupo econômico a partir da relação de coordenação entre as empresas, aplicam-se ao período contratual posterior a 11/11/2017, em contrato de trabalho que prossegue sem solução de continuidade por ocasião da mudança legislativa. Nenhum dos arestos apresentados nas razões dos embargos interpreta o artigo 2º, § 2º, da CLT à luz da modificação trazida pela Lei 13.467/2017, fundamento nuclear do acórdão recorrido para confirmar a responsabilidade solidária quanto aos créditos trabalhistas devidos a partir de 11/11/2017, pelo reconhecimento de grupo econômico por coordenação entre as empresas. Inviável, pois, o processamento dos embargos, ante a diretriz preconizada na Súmula 296, I, do TST. Decisão de inadmissibilidade dos embargos que se mantém. Agravo conhecido e não provido” (Ag-E-Ag-RRAg-21316-54.2019.5.04.0006, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 30/08/2024).
Mas e se, além disso, as empresas tiverem sócios comuns? Ora, daí há um elemento ainda maior para demonstrar a existência do grupo econômico.
6. Posicionamento Doutrinário
Atualizado: A Aptidão para a Prova e os Princípios Protetivos
A alteração legislativa gerou intenso debate doutrinário.
• A Tese da Presunção Relativa e Inversão do Ônus da Prova: Muitos autores, como Homero Batista Mateus da Silva, argumentam que, embora a mera identidade de sócios não caracterize o grupo por si só, ela pode ser um forte indício que acarreta a transferência do ônus da prova para as empresas.
A dificuldade do trabalhador em acessar a documentação interna das empresas justifica a aplicação do princípio da aptidão para a prova (Art. 818, § 1º, da CLT). Nesse sentido, pode-se presumir a existência do grupo, cabendo aos sócios ou empresas provar o contrário.
- Essa posição foi acolhida, por exemplo, pela Tese 39 no Encontro Institucional dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 12ª Região (Santa Catarina), de outubro de 2017: “GRUPO ECONÔMICO E ÔNUS DA PROVA. CLT, ART. 2º, §§ 2º E 3º E ART. 818, § 1º. A identidade de sócios, total ou parcial; as sociedades familiares; ou ainda, a identidade de endereço de empresas diversas; acarretam indício de existência de grupo econômico. Nestes casos, aplica-se o § 1º do art. 818 da CLT, pois pelo princípio da aptidão da prova, cabe ao empregador o ônus de provar a inexistência dos requisitos estabelecidos no art. 2º, §§ 2º e 3º da CLT (interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas).” (No mesmo sentido, Enunciado N. 5 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho).
• A Posição Protetiva e os Fundamentos Constitucionais: Autores como o Juiz Oscar Krost defendem um entendimento mais amplo da responsabilidade, argumentando que a simples comunhão patrimonial e o benefício obtido por todas as pessoas jurídicas integrantes do conglomerado pelo labor prestado pelo trabalhador deveriam ser suficientes para a imputação da solidariedade.
• Essa corrente doutrinária busca fundamentar a extensão da responsabilidade em princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a livre iniciativa, além da proibição do retrocesso social (KROST, O. “Empregador. Responsabilidade (Art. 2º, §§ 2º e 3º; Art. 10-A, Art. 448-A)”. Comentários à Lei n. 13.467/2017:
contribuições para o enfrentamento crítico. Porto Alegre. HS Editora, 2017. p. 30-31). Essa visão enfatiza que a busca pelo direito do trabalhador não justifica a usurpação do direito alheio, mas que a proteção deve abranger aqueles que se beneficiam da mão de obra.
A distinção entre a responsabilidade do grupo econômico e a do patrimônio do sócio da empresa executada é importante. A penhora de cotas sociais do sócio em outras empresas é possível, pois se trata de seu patrimônio pessoal. No entanto, o patrimônio de uma empresa distinta não pode responder por dívida de outra apenas pela identidade de sócios, salvo fraude ou simulação, como bem observado em nossa análise de 2018. A responsabilidade pelas dívidas trabalhistas deve se restringir àquelas previstas no ordenamento legal, sob pena de ferir o princípio de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II, da CF).
7. O Grupo Econômico e o STF: A Tensão Entre a Efetividade Processual e o Contraditório
A discussão sobre o grupo econômico alcançou o Supremo Tribunal Federal (STF), culminando no reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria. A questão central que motivou a intervenção da Suprema Corte refere-se à possibilidade de inclusão de empresas no polo passivo da execução trabalhista sem que estas tenham participado da fase de conhecimento do processo.
• Tema 1.232 de Repercussão Geral:
- Tese: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”
- Processo Leading Case: RE 1.387.795/SP (Recurso Extraordinário), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2022
- Órgão Julgador: Plenário do Supremo Tribunal Federal (reconhecimento da Repercussão Geral). O mérito da controvérsia ainda está pendente de julgamento.
O tema é de extrema relevância, pois o TST, por muitos anos, consolidou o entendimento de que a inclusão de empresas do grupo na fase de execução era admissível, dado o caráter de empregador único e a solidariedade.
Esse posicionamento levou ao cancelamento da Súmula nº 205 do TST em 2003, que antes impedia a execução de responsável solidário não constante do título executivo judicial. A Súmula nº 205 do TST dispunha:
“GRUPO
ECONÔMICO. EXECUÇÃO.
SOLIDARIEDADE (cancelada). O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”
A decisão do TST de cancelar a Súmula nº 205 e o entendimento que prevaleceu é de que a Lei nº 13.467/2017 não alterou as premissas de que o grupo econômico constitui empregador único (art. 2º, § 2º, da CLT) e, consequentemente, a responsabilidade solidária das empresas integradas de grupo econômico poderá ser declarada na fase de execução, sendo inaplicável ao processo do trabalho a regra do art. 513, § 5º, do CPC de 2015 (que veda a execução do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento):
“§ 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fia-
dor, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.”
Ao reconhecer a repercussão geral, o STF determinou a suspensão nacional dos processos trabalhistas que versam sobre essa matéria, buscando dirimir o conflito entre a efetividade da execução trabalhista e os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A decisão do STF será um marco, definindo se a participação prévia na fase de conhecimento é uma condição indispensável para que as empresas do grupo sejam alcançadas pela execução, ou se a natureza do grupo econômico, para fins trabalhistas, justifica sua inclusão direta na fase executória. A prevalência do princípio da proteção ao crédito alimentar versus a garantia do contraditório na fase de conhecimento é o cerne do debate constitucional.
8. Nossa posição. Pode a empresa integrante do grupo econômico que não participou da fase de conhecimento ser incluída no polo passivo do processo trabalhista em fase de execução?
Um dos primados do Estado Democrático de Direito é que ninguém pode ser “privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, garantindo-se aos acusados em geral o “contraditório e a ampla defesa” (CF, art. 5º, LIV e LV). Nesse sentido, parece ser razoável a disposição processual prevista no § 5º, do art. 513, do CPC.
Por outro lado, o art. 2º da CLT aparenta ter a compreensão de que o grupo econômico responderia como uma unidade, de modo que se uma empresa do grupo já respondeu ao processo na fase de conhecimento, as demais empresas estariam já defendidas. Assim, a integração de uma empresa do grupo na fase de execução não estaria afetando o seu
direito constitucional de defesa, pois a outra empresa do grupo a teria representado processualmente na fase de conhecimento.
Além das disposições da CLT terem natureza especial e, portanto, prevalecerem sobre as disposições do CPC no âmbito do processo do trabalho, se pode observar que o Processo Civil, no referido § 5º, do art. 513, não foi expresso sobre a questão do grupo econômico. O texto fala em “fiador, do coobrigado ou do corresponsável”, ou seja, diz respeito expressamente à vedação de inclusão de um “terceiro” na fase de execução, que não tenha participado da fase de cognição.
Todavia, caso se adote a compreensão de que o grupo econômico, ao menos para fins trabalhistas, na forma do art. 2º, § 2º, constitui uma “unidade” (“integram grupo econômico”, e, por isso, respondem “solidariamente” ), não haveria que se falar em um “terceiro”. Para esse fim, a consequência de inclusão na fase de execução poderia se equiparar à situação do sucessor trabalhista. O sucessor, embora aparente ser uma terceira pessoa, na verdade é apenas uma “variação” do mesmo devedor.
De nossa parte, fazemos a distinção quanto a essa possibilidade de ingresso na fase de execução, de conformidade com o tipo de grupo econômico que estiver envolvido no caso. Expliquemos:
Se tratarmos do grupo econômico formal, estruturado juridicamente ou assumido publicamente como uma esfera empresarial dinâmica e coletiva, ele deve, realmente, ser visto de modo unitário. E, portanto, se a empregadora direta, integrante do grupo, já participou da fase de conhecimento, ela já representou toda a estrutura unitária do grupo. Assim, o ingresso de outra no polo passivo, na fase de execução, é perfeitamente possível. Por qual motivo se iria garantir qualquer tipo de defesa quanto ao méri -
to do caso, se a oportunidade de defesa do grupo já foi previamente ofertada na fase de conhecimento? Claro que a empresa que ingressa poderá ofertar a defesa normalmente admitida nessa situação: que não pertence ao grupo econômico, bem como as demais defesas possíveis na fase de execução pela própria executada (pagamento, novação, prescrição, etc).
Todavia, se estivermos tratando do grupo econômico informal vertical, onde as empresas mantêm certa autonomia formal, mas são controladas por uma outra estrutura hierárquica, é de se presumir que essa “liderança” esteja monitorando as ações do grupo. O ingresso dessa empresa poderia ser admitido através de um IDPJ (Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica), onde seria feita a demonstração das provas do grupo vertical, e ela poderia se defender a respeito de sua inclusão ou não no processo, mas sem a formalidade tão drástica de ter a parte que mover nova ação. Afinal, se há uma hierarquia que gerencia as ações das empresas, elas já se submetem a uma submissão estrutural, de modo que a contestação de uma delas na fase de conhecimento já seria suficiente para conferir legitimidade e amplitude ao direito de defesa delas.
Assim, na hipótese de grupo econômico informal vertical, o IDPJ seria necessário para se aferir a existência dessa “verticalidade” a respeito do grupo econômico. Se existente o respectivo vínculo hierárquico para com a respectiva empresa, ela seria incluída no polo passivo da ação. No grupo informal vertical, apesar de haver subordinação de fato, a ausência de uma declaração jurídica formal do grupo impõe a necessidade de um incidente para que essa subordinação seja provada e declarada processualmente, garantindo-se, assim, o contraditório específico sobre a existência da hierarquia, que não estaria “assumida” como no grupo formal.
E pelas regras ordinárias do ônus da prova, caberia ao Exequente comprovar a existência dessa vinculação hierárquica entre as empresas. Em casos de sólidos indícios ou outra hipótese legal, o magistrado poderia determinar a inversão do ônus da prova (art. 818, § 1º, da CLT).
Caso se trate do grupo econômico informal horizontal, no entanto, as empresas são efetivamente autônomas entre si, não havendo vínculo formal ou hierárquico e, nessa situação, uma empresa pode não conhecer o que se passa na outra. Portanto, uma empresa não pode vir a responder por dívidas de uma empresa terceira sem nem ao menos ter controle sobre os fatos, o exercício do contraditório, produção de provas, etc.
Para as empresas do grupo econômico informal horizontal, portanto, ela não poderia ser chamada para ingressar na lide, no polo passivo, apenas na fase de execução, para responder por uma eventual dívida que ela possa desconhecer por completo e nem ter sido beneficiada daquilo nem indiretamente. Para essa empresa se deve garantir a possibilidade de defesa integral, eis que não tem vinculação estruturada e nem por subordinação com a outra empresa.
Ainda que existam interesses comuns e certa coordenação, uma empresa não pode ser coibida a responder por débito que, a princípio, é de outra empresa. Ainda que a empresa possa responder pela dívida em razão da configuração do grupo horizontal, não vemos como suprimir o direito dessa empresa em exercer os direitos de representação direta, tendo acesso a todos os mecanismos de defesa processual próprio. Assim, para essas empresas, só poderão responder por eventual débito do grupo caso tenham tido a oportunidade de serem incluídas no polo passivo da demanda de conhecimento.
Desse modo, pensamos que seria o mais adequado do ponto de vista de compatibilidade do procedimento com os aspectos de Justiça, que o modo de ingresso ou não da empresa no polo passivo da execução trabalhista, na hipótese de grupo econômico, deveria observar o seguinte sistema:
1. Citação para pagamento, no caso de demonstração de grupo formal juridicamente ou publicamente instituído;
2. Utilização do IDPJ para demonstrar a existência de grupo informal vertical, com a finalidade de comprovar que as empresas se submetem a uma estrutura hierárquica de comando.; e,
3. Inclusão da empresa no polo passivo da ação de conhecimento, caso se esteja tratando de grupo econômico horizontal, ou quando não haja elementos concretos d’a ocorrência dos demais tipos de grupos econômicos antes analisados (grupo formal ou grupo vertical).
9. Efeitos Jurídicos da Caracterização: A
Responsabilidade Ampliada
Uma vez reconhecido o grupo econômico, seus principais efeitos jurídicos são:
Responsabilidade Solidária: Conforme o art. 2º, § 2º, da CLT, todas as empresas integrantes do grupo tornam-se solidariamente responsáveis pela integralidade das obrigações decorrentes da relação de emprego. O trabalhador pode direcionar a cobrança de seu crédito a qualquer uma das empresas, independentemente de qual tenha sido seu empregador formal. Empregador Único: Para fins trabalhistas, o grupo econômico é tratado como um único empregador. Isso implica, por exemplo, que a transferência de um empregado entre empresas do mesmo grupo não configura novação contratual ou inter-
rupção do contrato de trabalho, mantendo-se a unicidade do vínculo (Súmula 129 do TST).
Esses efeitos visam, primariamente, blindar o trabalhador contra artifícios societários que pudessem diluir a responsabilidade e, em última instância, frustrar o crédito alimentar.
10. Críticas e Desafios Atuais: A Dinâmica da Interpretação
A aplicação do instituto do grupo econômico enfrenta contínuos desafios e críticas:
• Complexidade Probatória: A exigência dos três elementos cumulativos no § 3º do art. 2º da CLT tornou a prova do grupo por coordenação mais complexa, especialmente para o trabalhador, que geralmente não tem acesso aos documentos internos das empresas. Isso exige uma investigação aprofundada dos laços fáticos e operacionais, muitas vezes utilizando a tese da aptidão da prova para inverter o ônus.
• Redação Legal e Hermenêutica: A aparente redundância entre “interesse integrado” e “efetiva comunhão de interesses” no texto legal gera questionamentos doutrinários. O elemento “atuação conjunta” surge como o critério mais concreto para a demonstração do grupo de fato.
• Adaptação a Novas Realidades Empresariais: O Direito precisa adaptar-se às novas formas de organização empresarial, como startups, parcerias estratégicas, consórcios e ecossistemas complexos. A interpretação do grupo econômico deve ser suficientemente flexível para abranger essas novas realidades, sem desvirtuar o instituto protetivo.
• O Equilíbrio entre Segurança Jurídica e Proteção Social: O dilema central, evidenciado pela intervenção do STF, reside em encontrar um ponto de
equilíbrio que assegure a proteção do crédito trabalhista sem gerar uma insegurança jurídica excessiva para as empresas. A decisão final do STF influenciará diretamente a previsibilidade e a forma de atuação tanto das empresas (de como estruturarão seus negócios), quanto dos advogados (de como adotarão suas posturas processuais)
11. Conclusão: Perspectivas Futuras e a Perene Busca pela Justiça
O conceito de grupo econômico no Direito do Trabalho brasileiro, embora reformulado pela Lei nº 13.467/2017, mantém sua relevância como um dos pilares da proteção ao crédito trabalhista. A mudança de foco, de uma presunção por mera identidade de sócios para a exigência de uma prova mais robusta da atuação conjunta e comunhão de interesses, representa um desafio probatório, mas também um convite a uma análise mais aprofundada das relações empresariais.
A intervenção do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de participação das empresas do grupo na fase de conhecimento representa um momento crucial, que poderá redefinir a dinâmica da execução trabalhista e as estratégias processuais. Independentemente do desfecho dessa controvérsia, a essência do instituto nos aparenta ser perene: garantir que a justiça social não seja mitigada pela complexidade das voláteis estruturas societárias, em prejuízo da natureza principiológica protetiva e alimentar dos direitos trabalhistas.
O “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”: MAIS UM CAPÍTULO DA “REFORMA” TRABALHISTA DE 2017 E SEUS RETROCESSOS
Leonardo Aliaga Betti
Juiz do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, titular da 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP. Mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, e professor na Universidade de Mogi das Cruzes, Escola Paulista de Direito e Escola Superior de Advocacia da OAB. Contato: labetti@uol.com.br
Resumo
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi introduzido no processo do trabalho por meio da Lei n.º 13.467/2017 (“Reforma” trabalhista). Neste breve ensaio, discute-se a pertinência dessa mudança à luz da sistemática material e processual trabalhista, bem assim seus reflexos práticos, inclusive no plano recursal.
Palavras-chave: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. “Reforma” trabalhista. Consolidação das Leis do Trabalho.
Abstract
The incident of disregard of legal personality was introduced into the labor process by means of Law No. 13,467/2017 (“Labor” Reform). This brief essay
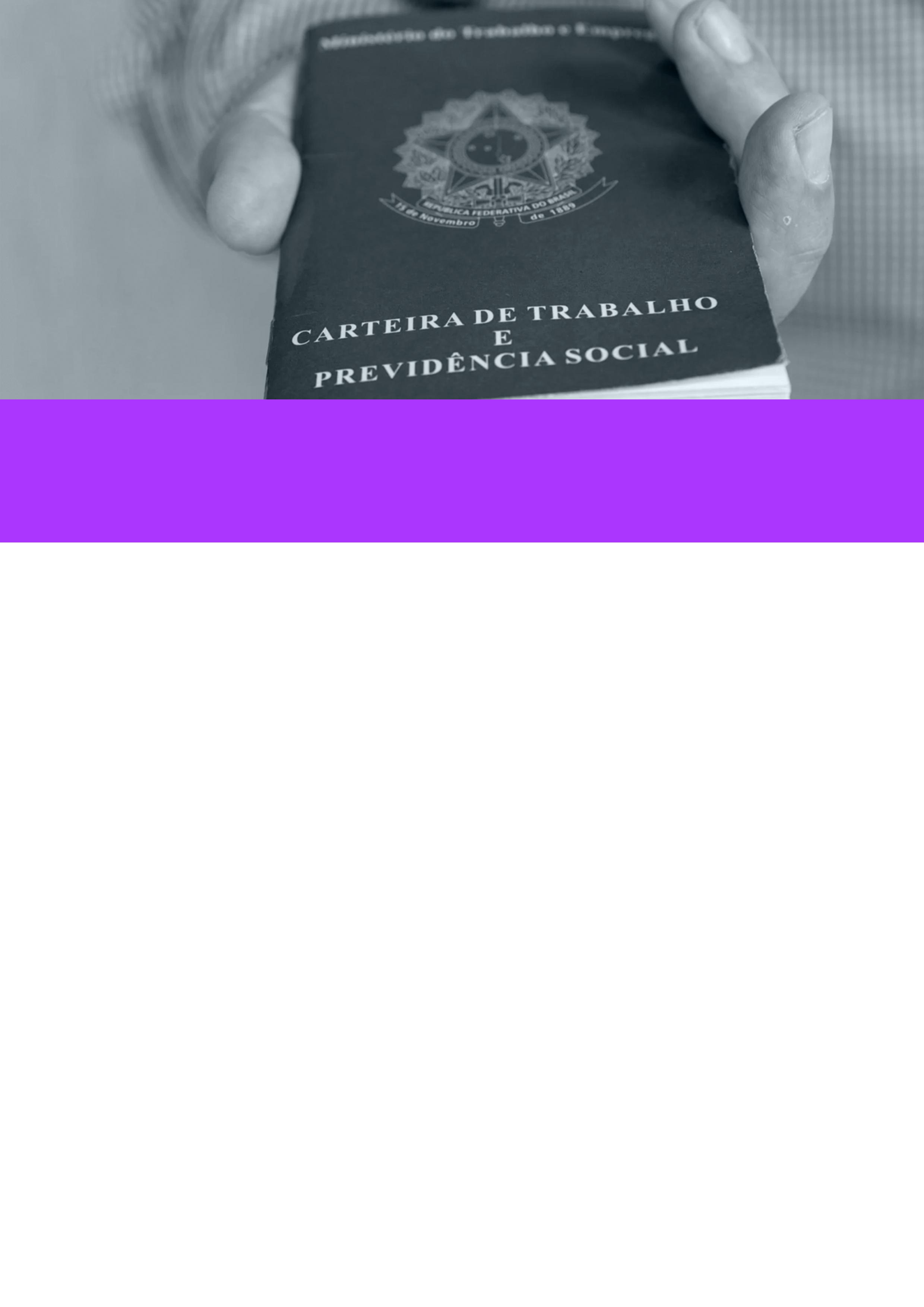
discusses the relevance of this change in light of the labor material and procedural system, as well as its practical implications, including in the appeals sphere.
Keywords: Incident of Disregard of Legal Personality. Labor “Reform”. Consolidation of Labor Laws.
1. INTRODUÇÃO
Lá se vão oito anos da “Reforma” trabalhista de 2017. Entre dispositivos mortos e princípios feridos, a remendada Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) tenta sobreviver em meio ao caos.
Do ponto de vista processual, muitas foram as mudanças, algumas já desnaturadas pelo STF1 , outras 1 Caso dos artigos 790-B e 791-A, § 4º, declarados parcialmente inconstitucionais pelo STF na ADI 5766 (STF, Plenário. Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE nº 125, divulgado em 27/06/2022).
cada vez mais vivas. Destas últimas, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) parece ser exemplo eloquente.
O objetivo deste singelo texto é traçar algumas linhas sobre o instituto. Falar inicialmente de suas características. Depois, de suas particularidades no processo do trabalho. Mais adiante, criticar sua regulação, especialmente do ponto de vista recursal. Por fim, a ideia é tentar identificar o que se pode fazer para que, na prática, o instituto em questão não atrapalhe ainda mais a já tão surrada execução trabalhista.
É o que se propõe.
2. O IDPJ E SUA REGULAÇÃO
Como se sabe, o IDPJ não foi criado pelo legislador “reformista”. Nasceu no Código de Processo Civil de 2015 (CPC), como uma modalidade de intervenção de terceiros2 . Sua principal finalidade é resguardar ao sócio titular de uma pessoa jurídica a ampla defesa. Por ele, instaura-se uma discussão incidental com a finalidade de aferir se a execução iniciada contra a pessoa jurídica pode prosseguir contra seus sócios.
A forma de sua instauração nem deveria ser o aspecto mais importante, embora o CPC dedique seis artigos (133 ao 138) para esse fim. Relevante mesmo é saber até que ponto o sócio deve ou não responder por dívidas da sociedade a que pertence. E, nesse aspecto, dividiu-se a doutrina e, consequen -
2 “O Código de Processo Civil inclui, entre as modalidades de intervenção de terceiro, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se, na verdade, de um incidente processual que provoca a intervenção forçada de terceiro (já que alguém estranho ao processo – o sócio ou a sociedade, conforme o caso –, será citado e passará a ser parte no processo, ao menos até que seja resolvido o incidente)”. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER Jr., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015. p. 425.
temente, o legislador, em duas teorias para regular o assunto: a maior e a menor, a depender das condições em que a responsabilidade por dívidas da sociedade deve ser atribuída aos sócios.
A primeira dessas teorias parte do seguinte princípio: só responde o sócio por dívida da sociedade em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ou seja: para essa teoria, do ponto de vista da responsabilidade civil, é imprescindível que o sócio tenha agido com culpa ou dolo na gestão do negócio para que venha a ser responsabilizado.
Trata-se, como se vê, de hipótese de responsabilidade subjetiva. É ela consagrada no art. 50 do Código Civil3 , aplicando-se, assim, para as dívidas de natureza cível em geral.
Já a teoria menor segue outro rumo: não paga a dívida contraída pela sociedade, os sócios por ela respondem independentemente de culpa. É, portanto, objetiva essa responsabilidade, bastando a inadimplência da pessoa jurídica para caracterizá-la. Essa teoria está hoje institucionalizada nos artigos 28, § 5º do Código de Defesa do Consumidor (CDC)4 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN)5 , incidindo, portanto, aos casos consumeristas e tributários.
3 “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
4 “Art. 28. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
5 “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Claramente, a teoria maior, mais formalista, cria uma dificuldade extra para o credor ver seu direito satisfeito: é preciso que se demonstre a existência do componente subjetivo a que nos referimos (culpa ou dolo), para que o sócio responda pela dívida.
Por isso, parece mesmo plausível que, ainda que por um incidente instaurado no curso do processo executivo, se preserve a ampla defesa dos sócios, garantindo-se o contraditório prévio aos atos executivos. Daí a importância de se prever a suspensão do processo quando da instauração do incidente (CPC, art. 134, § 3º)6 e a possibilidade de produção de provas, até mesmo orais (CPC, arts. 135 e 136)7 para a sua correta apuração.
Mas e as dívidas sobre as quais recai a teoria menor? Será que o incidente é mesmo necessário?
3. O IDPJ E O PROCESSO DO TRABALHO
Quis o legislador “reformista” incluir no processo do trabalho o instituto que nos move a escrever este texto. E o fez de forma lacônica, limitada a referenciar a regulação do CPC, como se observa do art. 855-A da CLT8
Porém, as questões que se colocam são: há compatibilidade do IDPJ com o processo do trabalho? Ele é mesmo necessário? As respostas são negativas.
No item anterior, quando mencionamos a teoria menor, observamos que é ela aplicável às relações tributárias e consumeristas. E isso decorre do fato de
6 “Art. 134. [...] § 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º”.
7 “Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”. “Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”.
8 “Art. 855-A. [...] Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil”.
que, nos dois casos, reconhece o legislador a necessidade de maior protecionismo aos respectivos credores: o consumidor, parte fraca da relação de consumo; e o Fisco, pelo interesse público que se pretende resguardar.
O direito (e respectivo processo) do trabalho, estruturalmente muito parecido com as relações de consumo – invertendo-se tão somente o polo que merece a proteção, pois lá, o protegido é o tomador dos serviços, e aqui, o prestador –, inspira-se do mesmo modo. Por isso, é tranquila a jurisprudência a respeito da aplicabilidade da teoria menor nestas plagas trabalhistas. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DAS EXECUTADAS. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO ÀS SÓCIAS DA EMPRESA EXECUTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. 1. Acórdão regional em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte Superior no sentido da aplicabilidade da Teoria Menor para fins de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 28, § 5º, do CDC, segundo o qual é possível a constrição judicial de bens particulares dos sócios quando evidenciado que a empresa executada não possui bens suficientes para suportar a execução, não se exigindo prova de ato ilícito praticado pelos sócios para sua responsabilização. 2. Ofensa aos arts. 1º, IV, e 5º, II, da Constituição Federal que não se reconhece. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (AIRR-1000798-81.2021.5.02.0080, 1ª Turma, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT 27/06/2025).
Pois é a partir desse contexto que nos parece criticável a inserção de um incidente como o ora analisado. Senão, vejamos.
Como observado, é pacífico que, pela teoria menor, não há necessidade de aferição de culpa do sócio da pessoa jurídica para o direcionamento da respectiva execução em seu desfavor.
Nesse caso, basta ao juiz condutor do processo, de posse do contrato social (ou ficha de breve relato atualizada da empresa), identificar quem são os sócios e contra eles direcionar a execução. Para que um contraditório prévio nesses casos?
De fato. Até a “reforma” de 2017, os processos trabalhistas tramitavam rigorosamente desta forma: caracterizada a inadimplência da pessoa jurídica, era automático o direcionamento da execução em face de seus sócios, o que se fazia apenas mediante consulta à respectiva ficha de breve relato.
E não havia maior preocupação com um “contraditório prévio” nessas situações, pois a máxima que sempre imperou na execução trabalhista foi a de que, para a instauração do contraditório, haveria a necessidade de garantia prévia da execução, conforme art. 884 da CLT9
Havia claramente uma razão para essa simplicidade: se o único requisito para o direcionamento da execução contra o patrimônio dos sócios é a inadimplência da pessoa jurídica, por que instaurar um contraditório prévio nesses casos se já se sabe quem deve e o que deve?10
9 “Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação”.
10 A doutrina processual trabalhista elenca uma série de incompatibilidades entre o IDPJ e o processo do trabalho. Segundo Homero Batista: 1) o contraditório diferido caracteriza o processo do trabalho; 2) o processo do trabalho já elenca a exceção de pré-executividade como mecanismo alternativo para o sócio trabalhista executado indevidamente; 3) tanto a execução fiscal quanto a trabalhista nunca previram esse tipo de incidente, justamente pela natureza dos créditos perseguidos. (SILVA, Homero Mateus Batista da. CLT Comentada. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024. p. 693). Mauro Schiavi segue a mesma linha. Nas palavras do renomado autor, “de nossa parte, o referido incidente não é adequado ao Processo do Trabalho, na fase de execução,
Mas a “reforma” trabalhista fechou os olhos para essas peculiaridades. Na vala comum do novo incidente, agora vão tanto os casos que envolvem teoria maior (em relação aos quais, como visto, se justifica a instauração do contraditório prévio), como aqueles inspirados pela teoria menor, em que não haveria qualquer necessidade do IDPJ, pois a mera aferição dos requisitos objetivos do direcionamento da execução contra o sócio independe dessa formalidade.
A preocupação em comento não é meramente acadêmica. Afinal, instaurado o incidente, tem-se a automática suspensão do processo. E até que se julgue a questão, os sócios então terão algum tempo para possivelmente buscar frustrar a execução, fazendo-se letra morta da proteção que deveria salvaguardar os créditos trabalhistas (assim também os consumeristas e tributários).
Mas esses meses podem durar anos, como se verá a seguir.
4. OS IMPACTOS NO SISTEMA RECURSAL TRABALHISTA
Ao regular o IDPJ, entendeu por bem o legislador reconhecer a natureza interlocutória da decisão que acolhe ou rejeita o incidente, como se observa no art. 855-A, § 1º da CLT11
O problema é que esse mesmo dispositivo estabelece que, quando essa decisão for proferida na fase de execução (que é a mais comum das hipóteses), “cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo”.
pois [...] é incompatível com a simplicidade e a celeridade da execução trabalhista”. SCHIAVI, Mauro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 19. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2023. p. 1286. 11 “Art. 855-A. [...] § 1o Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente: I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do § 1o do art. 893 desta Consolidação; II - na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo; III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal”.
Ou seja: o IDPJ, mesmo sendo resolvido por decisão interlocutória, permite a interposição de recurso para o Tribunal Regional sem a necessidade de garantia da execução.
Ou seja: o IDPJ, mesmo sendo resolvido por decisão interlocutória, permite a interposição de recurso para o Tribunal Regional sem a necessidade de garantia da execução.
Há nessa disposição, porém, evidente conflito com o art. 893, § 1º da CLT, que dispõe que “os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva” (destaque da transcrição).
No caso concreto, não há decisão definitiva. Portanto, não deveria caber recurso algum de imediato em face da decisão que resolve o IDPJ. Por isso, a novidade é claramente incompatível com o sistema recursal consagrado na CLT12
Mas tudo o que é ruim pode piorar.
É evidente que, abrindo-se as portas do Regional para o sócio agravante, também se sinaliza a possibilidade de a questão ser levada até o TST, pela via do recurso de revista e sucessivo agravo de instrumento.
Ainda que o óbice do § 2º do art. 896 da CLT13 sirva como desestímulo ao sócio executado, a inexistência de qualquer custo (como depósito recursal e
12 Interessante notar que o mesmo legislador “reformista” prevê que, quando o incidente tiver sido instaurado na fase de conhecimento, “não cabe recurso de imediato, na forma do § 1º do art. 893 desta Consolidação” (art. 855-A, § 1º, I), parecendo entender que o dispositivo em questão não se aplica genericamente à execução, o que não é o caso.
13 “Art. 896. [...] § 2º. Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal”.
custas processuais) para a utilização desse mecanismo é um belo chamariz para a protelação.
E assim um processo que, até a “reforma” de 2017, só chegaria ao Tribunal após o automático direcionamento da execução contra o sócio, com a respectiva garantia da execução, hoje pode chegar ao TST, por meio de um simples IDPJ, sem garantia do juízo, com a execução suspensa e com acréscimo de anos à sua tramitação.
5. MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO TRABALHISTA
Como se viu até aqui, é concreta a possibilidade de o sócio se valer do IDPJ como meio de ganhar tempo para não pagar o que deve. É preciso, então, identificar meios para impedir esse intuito.
A primeira e mais eficaz medida para que a instauração do IDPJ não sirva como um tormento para o credor trabalhista é a correta utilização da novidade implementada na parte final do § 2º do art. 855-
A da CLT: “A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” (o destaque é da transcrição).
Ora: o que o dispositivo em questão sinaliza é que, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar, é perfeitamente possível ao credor, ao instaurar o IDPJ, requerer o “arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, na dicção do art. 301 do CPC.
Nesse contexto, à luz do que até aqui foi exposto, parece-nos claro que esses requisitos, consubstancia-
dos na probabilidade do direito e no risco ao resultado útil do processo14 , sempre estarão presentes. Com efeito.
A probabilidade do direito de se executar o patrimônio dos sócios identificados no contrato social (desde que juntada a ficha de breve relato atualizada junto à Jucesp) é evidente a partir da mera juntada desse documento. Afinal, não se pode esquecer que, com a consagração da teoria menor, a aferição do elemento “culpa” se torna irrelevante, restando clara a perspectiva do direcionamento da execução em face dos sócios, simplesmente a partir de sua identificação no contrato social.
Já o risco ao resultado útil do processo transparece com a constatação de que, ao ser citado, o sócio da pessoa jurídica ficará no mínimo instigado a dilapidar seu patrimônio, especialmente aquele de maior liquidez, como é o caso do dinheiro.
A título de exemplo, o próprio CPC estampa essa preocupação quando estabelece em seu art. 854 que, “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira”, o juiz, “sem dar ciência prévia do ato ao executado”, procederá ao bloqueio de ativos financeiros.
Ou seja: o legislador processual civil presume, nessas hipóteses, o risco ao resultado útil do processo, caso se dê ciência prévia de um bloqueio de contas bancárias ao executado. Não nos parece errado supor essa mesma possibilidade nos casos em que se exige a instauração de um IDPJ15
14 Eles estão presentes no art. 300 do CPC, que dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
15 No mesmo sentido: “Se o juiz do trabalho entender de adotar o procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do CPC, ele deve desde logo verificar se a prova dos autos indica a ocorrência da responsabilidade da pessoa física ou jurídica a ser citada no incidente. Havendo essa prova, ou indícios consistentes, o magistrado, sem dar ciência pré-
Mas aqui vai uma dica a quem pretende se valer desse mecanismo: é no mínimo recomendável que se instaure o IDPJ de forma sigilosa (sinalizando-se tal condição no momento do respectivo peticionamento). Com isso, o credor impede a frustração da medida a partir do conhecimento prévio dos sócios quanto a sua postulação.
O sistema recursal também pode ter seus resguardos.
Embora o art. 855-A, § 1º, II, como vimos, permita a interposição de agravo de petição “independentemente de garantia do juízo”, isso não significa que a respectiva execução deva permanecer suspensa. Isso porque o art. 899 da CLT é claro ao dispor que os recursos “terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora”.
Nesse sentido, a interposição de agravo de petição não suspende a execução movida contra o sócio, tanto que o § 2º do art. 855-A estabelece que “a instauração do incidente suspenderá o processo”, não se podendo presumir que essa suspensão deva perdurar para além da prolação da decisão do incidente.
Por outro lado, não se pode ignorar o comando do § 1º do art. 897 da CLT, que estabelece que “o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte via do ato ao executado ou ao citando no incidente, deve buscar garantir a eficácia da execução. A requerimento da parte ou de ofício, pode ordenar às instituições bancárias a indisponibilidade de ativos financeiros pertencentes aos sócios, pessoas jurídicas ou terceiros citados na forma do art. 135 do CPC, até o limite da garantia da execução (art. 855-A, § 2º, da CLT, inserido pela Lei 13.467/2017, art. 301 do CPC)”. MELHADO, Reginaldo. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e Redirecionamento da execução: a “Reforma” trabalhista na Esquina de uma outra racionalidade. In: SOUTO MAIOR, Jorge Luiz; SEVERO, Valdete Souto (Coords.). Resistência: aportes teóricos contra o retrocesso trabalhista. São Paulo: Expressão Popular, 2017. p. 604.
remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença”.
Esse entendimento também se aplica ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que não receber o agravo de petição, conforme o § 2º do art. 897 da CLT16
Por fim, mas não menos importante: mesmo que seja instaurado o IDPJ, com a suspensão da execução; mesmo que haja a interposição de agravo de petição, com intuito protelatório ou não; mesmo que seja interposto recurso de revista ou, se o caso, agravo de instrumento; não se pode deixar de lado que qualquer alienação ou oneração de bem no curso da execução caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, IV do CPC17
Nesse contexto, na linha do que dispõe o § 3º do artigo citado, “nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar”.
Ou seja: o termo inicial para a caracterização de fraude à execução, nos casos em que se instaura o IDPJ, é a citação da pessoa jurídica para pagamento, ainda na abertura da fase de execução. Isso quer dizer que, suscitada fraude à execução, seus efeitos podem retroagir a momento anterior à própria inclusão do sócio no processo executivo, o que é medida salutar para inibir dilapidação patrimonial ainda antes do direcionamento da execução em face dos sócios.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como observado, a introdução do IDPJ pela “Reforma” trabalhista não veio para trazer efetividade ou maior celeridade à execução no processo do trabalho. Foi inserida, isso sim, como retrocesso em um sistema que sempre buscou a duração razoável do processo em função da natureza do crédito que visa satisfazer.
São diversas as incongruências entre o novo instituto e a sistemática processual trabalhista: de um lado, há incoerência entre a utilização da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e a necessidade de instauração de contraditório prévio aos atos executórios; de outro, há incompatibilidade entre a regulação recursal do incidente e a sistemática recursal trabalhista consagrada na CLT.
Diante da preocupação com a possível utilização do incidente como meio de protelar o pagamento da dívida, há diversos mecanismos passíveis de prevenir esse indesejável caminho, como é o caso da tutela de urgência, da não suspensão dos atos executórios durante a tramitação recursal e do reconhecimento eficaz de casos de fraude à execução cometida pelos sócios.
Espera-se, com essas particularidades, que a novidade não traga ainda mais dificuldades para a já tão dificultosa execução trabalhista.
REFERÊNCIAS
16 “Art. 897. [...] § 2º - O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença”.
17 Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: [...] IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
MELHADO, Reginaldo. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e Redirecionamento da execução: a “Reforma” trabalhista na Esquina de uma outra racionalidade. In: SOUTO MAIOR, Jorge Luiz; SEVERO, Valdete Souto (Coords.). Resistência: aportes teóricos contra o retrocesso trabalhista. São Paulo: Expressão Popular, 2017.
SCHIAVI, Mauro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 19. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2023.
SILVA, Homero Mateus Batista da. CLT Comentada. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER Jr., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015.
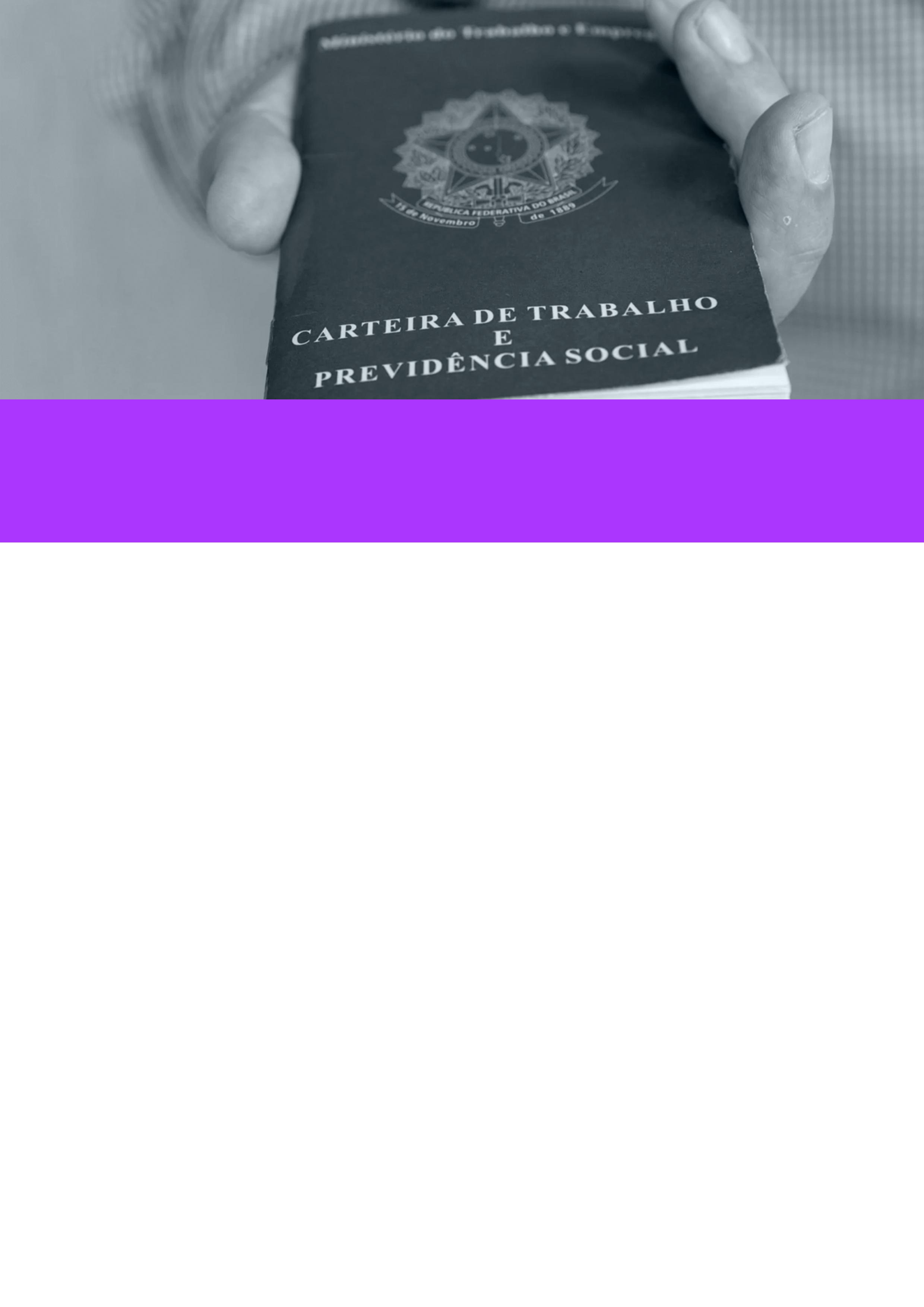
IMPACTOS
DA AMPLIAÇÃO DA FIGURA DO GRUPO ECONÔMICO PELA REFORMA TRABALHISTA DE 2017 1
2
Márcio Granconato
Juiz do Trabalho do TRT da 2ª Região, Professor e Coordenador da Pós-Graduação em Direito do Trabalho da Escola Paulista de Direito – EPD, Especialista, Mestre e Doutor em Direito do Trabalho.
Introdução
A responsabilidade do grupo econômico trabalhista encontra previsão no art. 2º da CLT. Esse dispositivo legal foi modificado pela Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou o § 2º e inseriu o § 3º em seu texto.
O presente estudo tem como finalidade analisar os impactos dessas modificações promovidas pela reforma trabalhista de 2017. Passados oito anos da vigência das alterações referidas, justifica-se a análise do cenário atual, uma vez que as mudanças promovidas pelo legislador foram profundas e alteraram significativamente as bases da figura do grupo econômico no âmbito laboral.
Evolução legislativa
O grupo econômico trabalhista tem na Lei n. 435, de 17 de maio de 1937, uma de suas primeiras previsões. Eis o teor de seu art. 1º:
Art. 1º Sempre que uma ou mais emprêsas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, contrôle ou administração de outra, constituindo grupo industrial ou comercial, para efeitos legislação trabalhista serão solidariamente responsáveis a emprêsa principal e cada uma das subordinadas.
Parágrafo único. Essa solidariedade não se dará entre as emprêsas subordinadas, nem diretamente, nem por intermédio da emprêsa principal, a não ser para o fim único de se considerarem todas elas como um mesmo empregador (lei n. 62, de 1935).
Essa norma previa a figura do grupo econômico por direção e a solidariedade passiva tão somente entre as empresas principal e cada uma das subordinadas. Entre as empresas comandadas, como pode ser visto no parágrafo único acima transcrito, não havia previsão legal de solidariedade passiva.
Porém, havia entre todas – empresa principal e empresas subordinadas, inclusive entre estas, uma solidariedade ativa, porque todas seriam consideradas como um só empregador. Isso também resultava na solidariedade passiva entre todas no tocante ao pagamento da indenização rescisória prevista na Lei n. 62, de 5 de junho de 1935.
Foi com o § 2º do art. 2º da CLT, de 1º de maio de 1943, que a solidariedade passiva das empresas integrantes do grupo econômico por direção foi ampliada:
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
O texto legal de 1943 suprimiu a restrição anterior, contida no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 435/1937, que limitava a solidariedade entre as empresas subordinadas, permitindo concluir que o grupo todo passava a ser responsável solidário passivo, e não apenas a empresa principal e cada subordinada individualmente.
Foi assim que as empresas subordinadas também passaram a ocupar a posição de responsáveis solidárias entre si pelas dívidas de seus empregados.
Passou o grupo todo a ser solidário ativo e passivo, portanto.
De fato, apesar de a CLT suprimir o texto contido no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 435/1937, a ideia de solidariedade ativa entre as empresas do grupo econômico não foi alterada, de sorte que o grupo continuou a ser visto como empregador único, o que foi até mesmo referendado pelo TST por meio de sua Súmula n. 129, editada pela Resolução Administrativa 26, de 04.05.1982:
CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO.
A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.
Já no âmbito rural, a Lei n. 4.214, de 2 de março de 1963, que dispunha sobre o Estatuto do Trabalhador Rural, previa em seu art. 3º, § 2º, o seguinte:
§ 2º Sempre que uma ou mais emprêsas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção contrôle ou administração de outra, ... VETADO... VETADO, serão solidàriamente responsáveis nas obrigações decorrentes da relação de emprêgo.
Com a Lei n. 5.889, de 8 de junho de 1973, houve a revogação do Estatuto do Trabalhador Rural e um novo texto legal passou a disciplinar a relação de trabalho do rurícola, tendo o seu art. 3º, § 2º, passado a dispor sobre o grupo econômico ou financeiro rural de forma mais ampla, contemplando os consórcios por direção e coordenação:
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada
uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego.
Como pode ser visto até aqui, as primeiras normas trabalhistas previam tão somente a figura do grupo econômico por direção. Somente em 1973 e apenas no meio rural, o grupo econômico por coordenação passou a ser contemplado pela lei.
Foi com a Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017, que isso mudou e a CLT passou a considerar, também, o grupo econômico por coordenação, que há bastante tempo vinha sendo objeto de reclamo pela doutrina e pela jurisprudência. A redação do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT ficou assim:
Art. 2º Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.
Com essa alteração, a figura do grupo econômico por coordenação migrou dos livros, das sentenças e dos acórdãos para o texto legal consolidado, o que
ocorreu em boa hora face à superação da norma até então em vigor.
A evolução da economia e seus novos arranjos empresariais demandavam essa regulação, pois a integração e a cooperação negocial por meio da associação de diversos estabelecimentos há muito era uma realidade que repercutia na vida do trabalhador subordinado, que mais do que nunca necessitava da ampliação dessa proteção juslaborativa consistente na figura do grupo econômico.
O grupo econômico por coordenação
Como foi retratado no tópico anterior, o grupo econômico tradicional reconhecido por lei sempre foi aquele que envolvia uma empresa dominante, que dirigia, controlava ou administrava outras empresas.
Tratava a CLT unicamente do chamado grupo econômico por direção, hierárquico, subordinante ou vertical. Nessa modalidade de grupo, como regra, de fato ou de direito, uma empresa comanda outras, como se dá, por exemplo, com a sociedade controladora e suas controladas, com previsão nos arts. 243, § 2º, da Lei n. 6.404/1976, e 1.098 do Código Civil.
Caminhando na direção da ampliação dos direitos trabalhistas, porque essa deve ser a vocação do legislador no campo laboral (art. 7º, “caput”, da CF), a reforma de 2017 ampliou o conceito de grupo econômico, inserindo no art. 2º da CLT a figura do grupo horizontal, por integração ou por coordenação.
Realmente, é opinião comum na doutrina que a figura do grupo econômico serve como ferramenta preciosa para a garantia dos direitos do empregado. Amauri Mascaro Nascimento deixa isso muito claro em sua aclamada obra Iniciação ao Direito do Trabalho1 :
1 In p. 224
Não resta dúvida de que a lei trabalhista (CLT, art. 2º, § 2º) instituiu a responsabilidade solidária entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, pelas dívidas trabalhistas de cada uma delas perante os seus respectivos empregados. A figura da responsabilidade solidária vem do direito civil, como no caso do fiador ou dos fiadores em relação ao inquilino para o qual prestaram fiança no contrato de locação de imóvel. Portanto, havendo grupo econômico, os empregados das diversas empresas do grupo estão mais bem garantidos, uma vez que seus créditos trabalhistas podem ser respondidos por outra empresa do grupo, mesmo que para ela não tenham trabalhado, e que será responsabilizada a título de coobrigada ao lado da devedora principal.
Esse novo grupo econômico previsto na CLT passou a ser reconhecido mesmo quando cada empresa dele integrante guarda sua autonomia na gestão de seus negócios. É exemplo dele a sociedade coligada ou filiada, retratada pelo art. 1.099 do Código Civil: “Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la”.
Mas para a caracterização do novo grupo econômico reconhecido pelo legislador não basta que duas ou mais empresas mantenham meras combinações comerciais entre si, ou até mesmo tenham sócios em comum. Para que a relação entre elas permita o reconhecimento do grupo, é necessário que os requisitos cumulativos do § 3º do art. 2º da CLT se façam presentes. Esse dispositivo legal dispõe que “não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”.
Ou seja, para que o grupo por coordenação seja reconhecido é preciso que haja entre as empresas dele integrantes:
a) interesse integrado;
b) efetiva comunhão de interesses;
c) atuação conjunta.
Por interesse integrado pode-se compreender a realização de operações conexas ou complementares, direcionadas para um objetivo comum e que foi dividido entre duas ou mais empresas independentes para que fosse alcançado com maior eficácia. Trata-se de um requisito objetivo previsto em lei e que corresponde à atuação de cada uma das empresas, as quais se inserem em um conjunto, completando-se e formando um todo coerente.
Um exemplo de interesse integrado pode ser visto no caso de uma empresa que produz bebidas, enquanto outra, de representação comercial, faz a sua venda com exclusividade e uma terceira, de logística, a distribuição unicamente desse produto. As atividades dessas três empresas são claramente conexas e complementares, com finalidade comum e, portanto, o interesse integrado está demonstrado.
Também é necessário que entre essas empresas exista efetiva comunhão de interesses. A literalidade do texto legal exige que entre as empresas desse novo grupo econômico existam fortes, perenes e eficientes laços de união, e não a mera, episódica ou pontual busca de propósitos. Mais ainda, é necessário que essa união envolva o compartilhamento de objetivos, desejos e necessidades comuns. As empresas do grupo formam uma parceria estratégica e, por isso, dividem recursos, conhecimentos e riscos para atingir as metas que estabeleceram e que dificilmente seriam alcançadas individualmente. Elas ganham e perdem nas mesmas proporções e, por isso, buscam ajuda mútua.
No exemplo das empresas de refrigerante, representação comercial e logística é evidente que há entre as três efetiva comunhão de interesses, porque a reunião delas é que permite a potencialização dos ganhos, mas também facilita a ruína comum. A saúde econômica de uma depende da outra e vice-versa, havendo entre todas uma união intrínseca, essencial para o sucesso dos correspondentes empreendimentos, que mesmo assim se autodeterminam no dia a dia, porque são autônomos em suas respectivas gestões. A união se perfaz no aspecto mercantil, interessando a todas elas, em igual proporção, a qualidade dos produtos (fabricação), o cumprimento de metas de vendas (representação comercial) e a satisfação dos menores prazos de entrega (logística).
O último requisito para a caracterização do grupo econômico horizontal é a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Essas empresas, em última análise, têm suas atividades voltadas para um fim comum e agem de modo coordenado, sendo, por isso, vistas pelos clientes e consumidores em geral como se fossem uma só entidade.
Voltando ao exemplo acima, ao receber seu refrigerante, o supermercado, bar ou restaurante, assimila que chegou a ele o produto que comprou da fabricante, sem nem mesmo pensar na representação comercial ou na logística, pois para ele tudo isso representa uma coisa só, uma só empresa. A atuação conjunta e indistinta das três empresas levou-o a essa compreensão de unidade. Não lhe ocorreu a ideia de uma separação entre elas.
Esses três elementos somados, interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, definem o grupo econômico por coordenação ou horizontal. Já para o grupo econômico vertical ou hierárquico basta que uma empresa dirija, controle
ou administre outra para que fique caracterizada sua existência.
Em todo caso, deve ficar claro que a mera identidade de sócios não caracterizará a existência do grupo econômico. O art. 2º, § 3º, da CLT é bastante claro nessa direção, de tal sorte que nem mesmo se poderá falar em uma presunção de existência do grupo nesse caso, pois isso importaria em violação ao dispositivo legal. É claro, todavia, que essa presunção é relativa e comporta prova em contrário.
Impactos da ampliação da figura do grupo econômico pela reforma trabalhista
Verificada a alteração promovida pela Lei n. 13.467/2017 na figura do grupo econômico trabalhista, é preciso saber quais foram os impactos daí provenientes. Passados oito anos da reforma trabalhista, o que mudou?
É evidente que a ampliação do conceito de grupo econômico aumentou a proteção do crédito trabalhista. Como foi visto em linhas anteriores, o grupo econômico trabalhista tem entre suas finalidades conferir maior amparo ao trabalhador subordinado e, sendo acrescida sua definição, para alcançar novos arranjos empresariais, obviamente isso também ampliou o grau de proteção do crédito trabalhista.
E tanto isso é verdade que a jurisprudência do TST, até então bastante refratária ao reconhecimento do grupo econômico por coordenação, passou a admiti-lo sem maior resistência. A seguir podem ser vistas duas ementas a respeito desse tema: a primeira, anterior à Lei 13.467/2017, negando o grupo por coordenação; a segunda, posterior, assimilando a nova figura inclusive com efeitos pretéritos:
RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. ARTIGO 2º, § 2º, DA CLT. IO § 2º do art. 2º da CLT preconiza que
“Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas”. II - A SBDI-I do TST firmou entendimento de que para a configuração de grupo econômico é imprescindível a existência de relação hierárquica de uma empresa sobre a outra, não sendo suficiente a mera relação de coordenação entre elas. Precedentes. III - Na hipótese dos autos, o Regional concluiu pela existência de grupo econômico entre a agravante, Omni Táxi Aéreo S.A, e a Whitejets Transportes Aéreos S.A, ao fundamento de que basta a existência de relação de coordenação entre as empresas, ainda que sem posição de predominância ou hierarquia, para garantir a responsabilização solidária do artigo 2º, § 2º, da CLT. IV - Recurso de revista conhecido e provido” (RR-10116-75.2014.5.01.0049, 5ª Turma, Relator Ministro Antonio Jose de Barros Levenhagen, DEJT 30/06/2017). (grifou-se).
RECONHECIMENTO DO GRUPO ECONÔMICO POR COORDENAÇÃO. Este Relator sempre entendeu que a mera relação de coordenação entre empresas configura grupo econômico. Entretanto, aplicava-se a orientação firmada pela SBDI-1 quanto ao tema, que exige a demonstração da inequívoca subordinação hierárquica entre empresas como condição para o reconhecimento de grupo econômico. No entanto, após ficar vencido em diversas oportunidades, retoma-se o posicionamento anterior, para passar a adotar o entendimento de que a formação de grupo econômico se dá pela mera coordenação entre empresas. Dessa forma, e uma vez
que o colendo TRT concluiu pela configuração de grupo econômico, porque constatou a inequívoca demonstração de interesses comuns e atuação conjunta das empresas integrantes do grupo, que exploram a mesma atividade econômica, não se verifica afronta ao artigo 2º, § 2º, da CLT. A decisão regional está em conformidade com a jurisprudência desta c. Turma, que tem concluído pela configuração do grupo econômico, por coordenação, considerando o requisito estabelecido pela Lei nº 13.467/2017 (artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), mesmo em relação a fatos anteriores à sua vigência. Agravo conhecido e desprovido. (Ag-AIRR-10254-93.2013.5.12.0009, 7ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 01/03/2024). (grifou-se).
Outro impacto advindo da alteração do art. 2º da CLT diz respeito à composição do polo passivo da reclamação trabalhista. Se no passado deixou-se de questionar a necessidade de participação do responsável solidário na fase de conhecimento do processo, especialmente depois do cancelamento da Súmula 205 do TST2 , atualmente, quiçá em razão da ampliação do alcance da figura em estudo, passou-se a exigir observância do art. 513, § 5º, do CPC no processo do trabalho. Essa norma dispõe que “o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”, exigindo, portanto, que todos os responsáveis solidários passem a compor a lide desde o seu início.
2 GRUPO ECONÔMICO. EXECUÇÃO. SOLIDARIEDADE (cancelada) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.
Durante muitos anos foi comum o ajuizamento da reclamação trabalhista tão somente em face de uma empresa e, depois, na execução, a responsabilização de outras integrantes do grupo econômico. O responsável solidário, integrante do grupo econômico, ainda que não houvesse participado da relação processual como reclamado e, portanto, não constasse no título executivo judicial como devedor, poderia ser sujeito passivo na execução sem grandes dificuldades. E questionar essa condição era algo que em muitos casos somente poderia ser feito depois da garantia do juízo, por meio de embargos à execução, o que onerava sobremaneira o direito de defesa. Mauro Schiavi sintetiza muito bem esse posicionamento ao criticar a Súmula 205 do TST3 :
Mesmo na vigência da referida Súmula, entendemos em sentido contrário, pois o grupo econômico constitui empregador único e a solidariedade é instituto de natureza econômica e não processual. Além disso, não havia prejuízo à empresa do grupo que não tivesse participado da fase de conhecimento, pois o direito de defesa havia sido exercido pela outra empresa do grupo que participou. Felizmente, a Súmula foi cancelada, atendendo à moderna doutrina e à jurisprudência mais recente (...).
Ocorreu que alguns anos após a reforma trabalhista, com o incremento da responsabilização das empresas integrantes do grupo econômico, o STF passou a apontar para direção oposta, exigindo que o seu integrante conste no título executivo judicial para ser responsabilizado pela dívida trabalhista, conforme pode ser visto abaixo:
No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de pro -
3 In Manual de direito processual do trabalho, p. 1.210.
mover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:
“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.
§ 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (grifos nossos)
Nesse sentido, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal. (STF, ARE 1160361, Rel. Min. Gilmar Mendes, DO 14/09/2021).
A matéria ganhou repercussão geral (Tema 1232) e aguarda julgamento para fixação de tese pelo STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALE-
GADA
OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE nº 1.387.795 RG, Relator o Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2022).
A exceção à necessidade de inclusão das empresas do grupo no polo ativo desde o início da lide fica por conta das hipóteses em que a parte instaurou o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir a empresa do grupo econômico na execução, porque nesses casos se entende que o contraditório e a ampla defesa foram garantidos e é possível o prosseguimento da cobrança judicial contra o novo devedor (Rcl. 60.263 e 60.649).
Conclusão
Passados oito anos da alteração da figura do grupo econômico trabalhista pela Lei 13.467/2017, verifica-se que as mudanças promovidas pelo legislador resultaram em avanços e retrocessos.
Isso porque, se por um lado se observou a ampliação das garantias dos direitos trabalhistas no campo material, com a inclusão do grupo econômico por coordenação no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, de outro, no campo processual, constatou-se que isso provocou maiores dificuldades para a cobrança das empresas integrantes do grupo.
Já não basta a mera inadimplência da empresa demandada para que as demais empresas integrantes do grupo econômico sejam acionadas. Atualmente, é necessário que todas elas tenham participado da fase de conhecimento e constem no título executivo
judicial para que possam ser responsabilizadas pelos créditos do trabalhador ou, se assim não for, que tenham pelo menos ajuizado contra si um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que certamente provoca maiores dificuldades para a satisfação do crédito trabalhista que, sabe-se, continua a ter natureza alimentar. Assim, houve, em certa medida, a restauração do entendimento adotado pela (hoje cancelada) Súmula 205 do TST.
Resta saber qual será a derradeira decisão do STF sobre o tema, mas tudo indica que a tendência vista acima persistirá e que os avanços advindos da alteração legislativa de 2017 serão definitivamente neutralizados por dificuldades processuais que impõem um formalismo exacerbado a um processo que nasceu para ser célere e simples.
Referências bibliográficas
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 11ª ed. São Paulo: LTr, 2017.
MONTEIRO, Carlos Augusto Marcondes de Oliveira; Granconato Mendes, Márcio (coords). Reforma trabalhista. Indaiatuba: Foco Jurídico, 2017.
MORAES FILHO, Evaristo de; Moraes, Antonio Carlos flores de. Introdução ao direito do trabalho. 11ª ed. São Paulo: LTr, 2014.
Nascimento, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 36ª ed. São Paulo: LTr, 2011.
REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 1993. v. 2.
SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 15ª ed. São Paulo: LTr, 2019.
SÜSSEKIND, Arnaldo; Maranhão, Délio; Vianna, Segadas; Teixeira, Lima. Instituições de direito do trabalho. 16ª ed. São Paulo: LTr, 1996. v. 1.
JUSTIÇA GRATUITA NA REFORMA TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO, DO ACESSO À JUSTIÇA, DA
SOLIDARIEDADE E DA DIGNIDADE HUMANA E A VISTA CANSADA
Maria de Fátima Zanetti Barbosa e Santos
Desembargadora Aposentada do TRT 2ª Região, Mestre em Direito Social pela PUC/SP, Pós-graduada em Constelação Sistêmica pela Hellinger Schule/Innovare
“O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio.”
(Oto Lara Resende)1
Introdução
A crônica de Oto Lara Resende, intitulada Vista Cansada, serve de referência para evitar interpretações “des-coladas”, e “descoladas”, agora no sentido de pós-modernidade, ou quem sabe de novo normal, que impedem o exercício do aperfeiçoamento e da análise centrada na controvérsia apresentada ali, naquele momento. Interpretações que têm como subs1 RESENDE, Oto Lara. https://armazemdetexto.blogspot. com/2018/11/cronica-vista-cansada-otto-lara-resende.html acesso em 29.6.2025 às 09h36
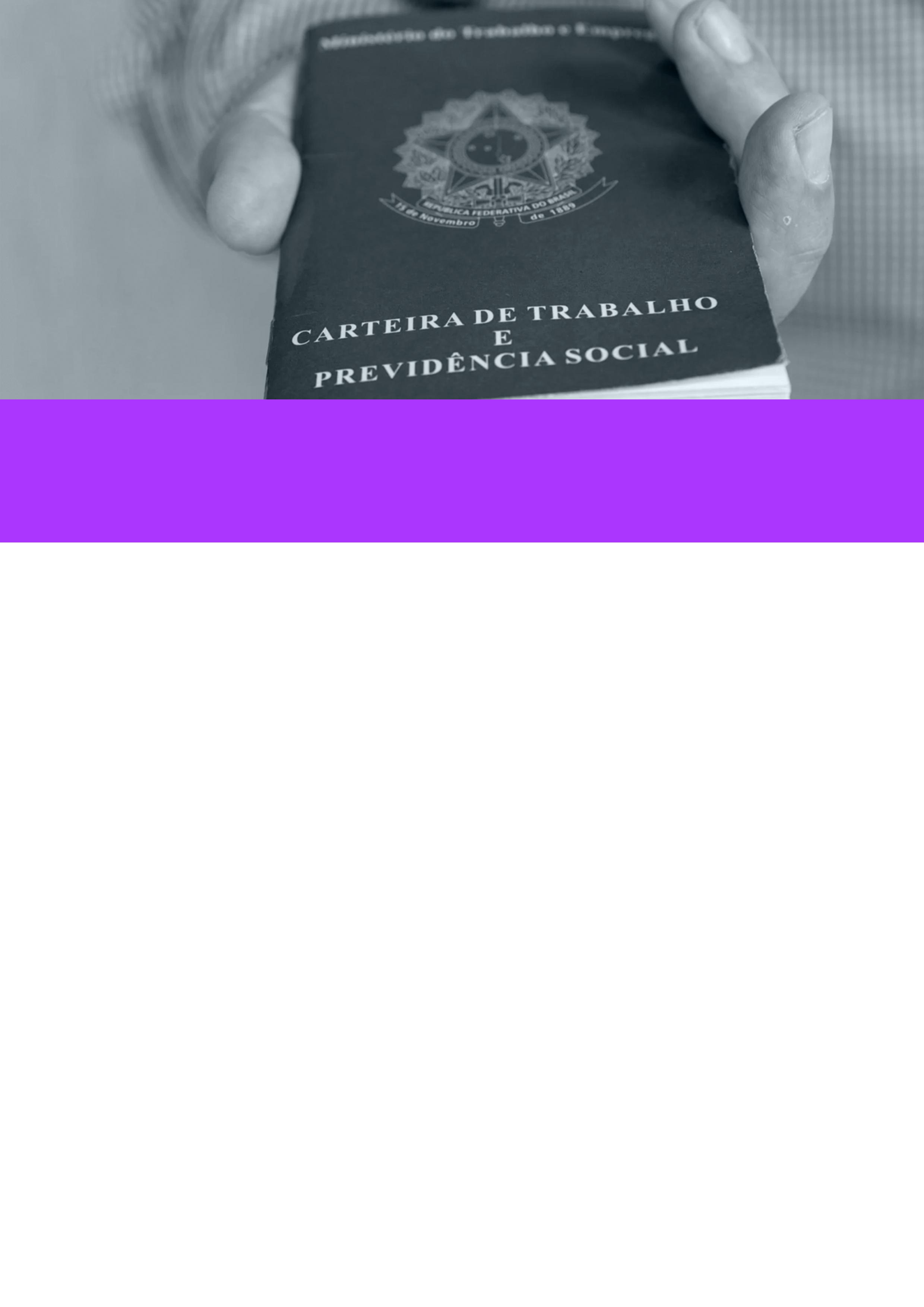
trato a ideia de que, se é novo, é bom e verdadeiro.
Não é tarefa fácil ter a vista limpa, clara, e de primeira vez, como ocorre com os verdadeiros poetas.
O registro de Oto Lara Resende quando refere que “de tanto ver, a gente banaliza o olhar”, vê não-vendo”, transposto para o campo do Direito, onde se convive com um número descomunal de ações trabalhistas, é o que leva, na pós-modernidade, a interpretações “per relationem”, outras vezes em fundamentos como “a jurisprudência dessa corte”, “não preenchidos os requisitos legais”, isso sem fazer qualquer referência à situação fática.
Por isso que a proposta desse texto é de revisitar o óbvio, pois tudo está posto, e claramente posto na legislação e, também, na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Contudo, por vezes, e muitas vezes, se apresentam decisões que foram tomadas pela vista
cansada, e, em alguma medida é preciso resgatar o olhar do poeta, para que possa ser visto o que está posto e claro e que, no Direito, está determinado por lei, que um dos pressupostos de validade processual é a dialeticidade. Isso porque o Direito lida com bens essenciais para a vida em sociedade.
De outro lado, não há como ignorar a necessidade de síntese, medidas práticas, para que se possa dar vazão ao volume de serviços da Justiça, num país em que seu povo é litigioso e culturalmente prefere levar suas controvérsias ao Judiciário.
Ocorre que, por isso mesmo, em razão do elevado volume de serviços, é que as interpretações judiciais precisam estar vinculadas ao entendimento dos Tribunais Superiores que, por sua vez, precisa estar sintonizado com o significado do texto constitucional.
É indispensável que haja uma sintonia quanto ao significado das disposições do ordenamento jurídico. Um ordenamento jurídico é um sistema. Aqueles que operam dentro do Poder Judiciário, que são seus integrantes, têm a responsabilidade de atuar como membros de um sistema. E os membros de um sistema precisam cooperar para que ele funcione de forma adequada. Um sistema é um conjunto de elementos todos vinculados a uma finalidade.
E a cooperação prevista em lei deve, sempre, estar vinculada à efetividade e justiça. Sim, o princípio sistêmico de cooperação previsto no art. 6º do CPC está sedimentado na finalidade de que o resultado do processo seja efetivo e justo.
Todo sistema relacional há de obedecer a critério de hierarquia, sob pena de se estabelecer um desequilíbrio, pois se cada membro atua de forma individual e subjetiva, resultará numa plêiade de entendimentos, o que, no caso do Poder Judiciário, implicará em grande quantidade de recursos, aumentando, assim,
o volume de serviços, além de causar grande insegurança jurídica.
Sim, quando a primeira instância deixa de obedecer a jurisprudência dos Tribunais Superiores causa um desequilíbrio, posto que os jurisdicionados se veem inseguros e no “dever” de recorrer. E esse dever se dá não só no sentido de dispor de recursos para obter aquilo que lhe interessa, mas, também, por dever moral à frente daquilo que percebe como injustiça.
A vista cansada pede que, tal como o poeta, relembremos o óbvio, ou seja, que, quem busca por seu direito na Justiça, sobretudo em se tratando de pessoa em condição de hipossuficiência, na verdade cumpre um “dever de autodefesa moral”, assim como, “um dever para com a sociedade”2 . Essa ideia original do sentido de Justiça colide frontalmente com posições jurídicas simplificadas pela rotina e vista cansada manifestadas sob fundamentos “des-colados” como já expressado acima.
Assistência Judiciária Gratuita e a Vista Cansada
Um dos temas que tem sido tomado pela vista cansada e até por uma ideia de que deve ser reduzido o número de ações, em especial as trabalhistas, de qualquer forma, sem um estudo aprofundado das causas dessa realidade, é o da Assistência Judiciária Gratuita, cujo apelido, “Benefício da Justiça Gratuita”, revela, por si só, uma ideia equivocada de que se trata de uma benesse para o cidadão.
Esse texto objetiva apresentar reflexões sobre a dissonância entre a prática da realidade do denominado “Benefício” da Justiça Gratuita e a finalidade desse instituto.
Essas reflexões se originam das seguintes indagações: O serviço de distribuição de Justiça por meio
2 NETO, Richard Paul. Prefácio à obra A Luta Pelo Direito de Rudolf von Ihering, Editora Rio, Rio de Janeiro,1975.
de um dos Poderes da República constitui um “benefício”? Porventura o Estado Democrático de Direito, regularmente constituído, para o qual se recolhe obrigatoriamente impostos da ordem de quarenta por cento (40%) de seus rendimentos anuais, não tem como finalidade precípua destinar esses recursos aos serviços essenciais de seus cidadãos? Dos impostos não são retirados importe da ordem de mais de 60 bilhões (em 2025) para fazer frente aos serviços prestados pelo Poder Judiciário?3 Quais seriam, então, esses serviços essenciais? A distribuição de Justiça seria um deles? Como compatibilizar o indeferimento da assistência judiciária gratuita com o direito de acesso à Justiça, o princípio da igualdade, da solidariedade e da dignidade humana?4 Esses princípios estão subordinados ao princípio da livre convicção ou deveria ser o contrário? Porventura, a interpretação jurídica está a serviço do legalismo objetivo isolado ou a serviço do bem-comum, da boa-fé, da ética, enfim de um sentido de Justiça e, assim, não comporta livre convicção no sentido de que cada Juiz pode interpretar segundo os seus cânones subjetivos?
Talvez as respostas a essas indagações possam conduzir a alguma contribuição para que se possa construir um entendimento que garanta segurança jurídica no sentido de que a busca de direitos junto ao Poder Judiciário não seja considerada, em si, uma afronta que merece ser punida com o indeferimento da gratuidade da Justiça. Isso porque os casos de efetivo abuso do direito processual têm regulação precisa no Código de Processo Civil 5
3 https://www.camara.leg.br/noticias/1142456-congresso-nacional-aprova-proposta-de-orcamento-de-2025/ acesso em 29.6.2025 às 15h31
4 CF. Artigo 5º.
5 CPC. Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
Um dos aspectos que evidencia que há, sim, um sintoma de vista cansada reside no fato de que é muito mais comum o indeferimento de Justiça Gratuita do que a aplicação de litigância de má-fé.
Essa realidade evidencia que, se não foi reconhecida a litigância de má-fé, é porque havia uma dúvida razoável a justificar a litigiosidade da controvérsia. Logo, o deferimento da Justiça Gratuita deveria constituir uma presunção favorável, pois a busca da Justiça por alguém que se sente injustiçado, a priori, constitui um dever moral consigo mesmo e com a sociedade. Aliás, segundo o jusfilósofo Rudolf von Iehring 6 :
“A energia da reação efetiva do sentimento de justiça diante duma lesão de direito representa a pedra de toque do seu do estado de sanidade. A meu ver a suscetibilidade, isto é, a capacidade de sentir a dor diante duma ofensa ao direito, e a energia, isto é, a coragem e a determinação de repelir a agressão, constituem os critérios pelos quais se afere a presença dum sadio sentimento de justiça.”
Portanto, a ideia de repelir ações por meio do indeferimento da assistência judiciária gratuita, como forma geral de desestímulo, em razão do volume de processos, é, na verdade, um estímulo ao enfraquecimento moral na luta pelo Direito.
Antes de se considerar que o volume de processos judiciais é um obstáculo ou um custo para o Estado, que deveria cobrar, então, pela prestação desse
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
6 IHERING, Rudolf von. A Luta pelo Direito. Editora Rio, Rio de janeiro, 1975. Pág. 60.
serviço, sem dúvida, o mais relevante e necessário seria estudar as causas da litigiosidade e preparar a sociedade para cumprimento de suas obrigações e para a adoção de medidas de soluções extrajudiciais.
E nem se diga que a grande maioria das ações são improcedentes, pois os números publicados pelo CNJ dizem o contrário, como será visto adiante. Portanto, se a maioria das ações trabalhistas são procedentes; se a média salarial dos brasileiros é da ordem de R$3.410,00; se a maioria das ações são propostas quando o trabalhador está desempregado, há uma questão a ser respondida com seriedade: é razoável o indeferimento da assistência judiciária gratuita com base no salário percebido quando o trabalhador estava empregado ou com fundamento em não preenchimento os requisitos legais, sem que tenha sido comprovado qualquer indício de suficiência, ou que tenha sido ouvido o interessado sobre esse tema?
O formalismo. O legalismo. O distanciamento da garantia Constitucional.
Quando a Constituição Federal estabelece garantias de proteção a direitos fundamentais, em cláusula pétrea, assim o faz porque esses direitos são aqueles sobre os quais há consenso universal de sua relevância para a vida humana em sociedade.
De modo geral, as garantias constitucionais estabelecidas no art. 5º da Constituição Federal encontram respaldo nas convenções e tratados internacionais. No particular, essas garantias são, também, universalmente reconhecidas na DDHU7
Aliás, tal como ensina a doutrina, a igualdade perante a lei é das garantias constitucionais a única que a Constituição assegura de modo plenário, incondi -
7 UNICEF. https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos acesso em 29.6.2025 às 14h28
cional ou exclusivo de quaisquer limitações. Esse aspecto também é reconhecido senão em todos ou quase todos os ordenamentos jurídicos em que se implantou o aludido princípio 8 .
O fato é que, se diante de uma lei, o Judiciário ora decide de um modo, ora de outro, o cidadão, a quem deve se destinar as proteções legais, se vê inseguro e desprotegido. Nessa medida o Estado causa-lhe um mal, descumpre sua função, perde a credibilidade, e passa a ser temido em vez de respeitado.
Ainda, sobre o princípio da igualdade, SEABRA FAGUNDES, ensina que “A igualdade de todos perante a lei não significa uma equiparação absoluta de indivíduos, senão relativa, isto é, tratamento igual para situações iguais e desigual para situações desiguais’’ (Arquivos do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, número 19, pág. 103). 9
Dessa forma, quando se trate de direito assegurado como garantia constitucional como o acesso à Justiça; quando se trate de preservar a dignidade humana; é absolutamente necessário unificar o discurso jurídico, torná-lo o mais objetivo possível, para que a garantia constitucional da igualdade perante a lei se torne uma realidade, sob pena de restar combalida a credibilidade das instituições de Justiça.
Ora, a subjetividade na interpretação do direito à assistência judiciária gratuita, constitui um vilipêndio aos princípios constitucionais da igualdade perante a lei, do acesso à Justiça e da dignidade humana.
E quando se ignora a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que a declaração de hipossuficiência10 , sem contraprova de suficiên -
8 BRAGA, Leopoldo. Princípio De Isonomia (Ou De Igualdade Perante A Lei), pág. 28. https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1749195/Leopoldo_Braga_1.pdf acesso em 29.6.2025 às 14h35.
9 BRAGA, Leopoldo. Op. Cit. ,pág. 26.
10 TST. SÚMULAS. SÚMULA 463. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO.
cia, basta para o deferimento da Justiça Gratuita, se propicia um processo justo?
A utilização isolada de dispositivo legal, desconectado dos princípios norteadores do sistema jurídico pátrio, inverte a “proposição razoável e lógica, segundo a qual as leis são instrumentos de humanidade e como tais devem basear-se “na realidade social e serem conforme a esta.” 11
Ora, se as leis devem ser instrumento de humanidade; se devem se basear na realidade social; se o trabalhador em sua luta pelo Direito está em busca de crédito de natureza alimentar, ou de reparação por danos à sua dignidade humana, é preciso que tenha garantia de que o princípio de acesso à justiça terá efetividade na jurisdição e que represente resposta que dê segurança jurídica, e só assim se traduzirá em processo justo.
Com efeito, essa é uma matéria em relação à qual há necessidade de súmulas vinculantes para que os jurisdicionados não fiquem à mercê de entendimentos que se distanciam dos pressupostos constitucionais e estão eivados de subjetividades, que não se coadunam com um ordenamento jurídico que possa garantir aos cidadãos a segurança necessária no sentido de que é justo, lícito, e até mesmo um dever, a busca de seus direitos na Justiça.
Quando não há segurança jurídica sobre a possibilidade de busca de direitos perante o Poder Judiciário, o que se dá é o endereçamento de que procurar a Justiça pode representar um “risco”, quando deveria significar conduta capaz de revelar a “importância do direito como condição moral de sua existência12
Daí porque é um engano referir-se à gratuidade da Justiça, que deveria ser a regra, como “benefício”, o que dá uma ideia equivocada de que se lhe está sendo feita alguma doação, alguma benesse, o que não é o caso.
No Estado Brasileiro, o serviço de Justiça, estranhamente, está condicionado a um custo para aqueles que possuem situação econômico-financeira privilegiada, que devem, então, fazer uma contribuição como condição para obtenção do direito, enquanto os que não têm determinadas condições, estão dispensados de cumprir essa condição.
Essas condições estão hoje regulamentadas pelo artigo 98 do CPC, que dispõe:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1º A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
I - A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);
II - No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.
Observação: (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 - Republicada, DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017
11 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. Editora Saraiva, São Paulo, 1996, pág. 84.
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do em -
12 IHERING, Rudolf von. A Luta pelo Direito. Editora Rio, Rio de Janeiro, 1975, pág. 60. “..: o direito é a condição de vida moral da pessoa, sua defesa representa um imperativo de autoconservação moral.”
pregador salário integral, como se em serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.
§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 7º Aplica-se o disposto no , ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.
§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
Esses dispositivos regulamentam o direito à gratuidade da Justiça e evidenciam que o indeferimento só é admitido como exceção, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão”, e ainda assim condicionado à intimação para que seja determinado à parte “a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Portanto, o indeferimento, conforme o Código de Processo Civil, está condicionado em requisito ob -
jetivo e depende de comprovação. O que resta para a discricionariedade é a interpretação do que seja o grau de riqueza capaz de excluir o benefício da gratuidade. Esse aspecto vem sendo debatido na jurisprudência.
Na Justiça Comum a jurisprudência oscila entre interpretações que sopesam a realidade de cada caso, assim como outras que levam ao “pé da letra” os limites para o indeferimento.
Esse tema aguarda atualmente no STJ definição sobre “... se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil.”13 Não há ainda data de julgamento, sendo certo que foram admitidas várias entidades como “amicus curiae”.
Na Consolidação das Leis do Trabalho também existe regulamentação atualizada na reforma trabalhista de 2017 que dispõe:
Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.
§ 1o Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita, ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas.
§ 2o No caso de não-pagamento das custas, far-se-á execução da respectiva importância, segundo o procedimento estabelecido no Capítulo V deste Título.
13 STJ. https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/ pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_ inicial=1178&cod_tema_final=1178 acesso em 29.6.2025 às 15h55.
§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.
O dispositivo na CLT é, aparentemente, mais rigoroso do que aquele estampado no CPC.
De fato, se levado a rigor e ao legalismo estar-se-ia diante da seguinte situação: na Justiça Comum, onde a natureza do direito, em maioria, não tem natureza alimentar, o juiz só pode indeferir a gratuidade se houver nos autos elementos que indiquem o não preenchimento dos pressupostos, ou seja, sempre que houver sinais exteriores de condição econômica de suficiência. Já na Justiça do Trabalho a parte teria, necessariamente, que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. E até mesmo para aqueles que recebem salário correspondente a 40%, ou menos, do limite máximo do Regime da Previdência Social, estariam ao alvedrio do Juízo que teria a “faculdade” de deferir, ou não.
A interpretação legalista conduz à ideia de que o Juiz tem uma “faculdade” de deferir para os que ganham igual ou menos de 40% do teto da Previdência Social e, para os demais, deve indeferir, caso não haja comprovação da insuficiência.
Esse dispositivo precisa de muita temperança. De muita consciência do juiz, que deve ter conhecimen -
to da realidade brasileira em que os trabalhadores têm renda média da ordem de R$3.400,00.14
Imaginar que alguém que receba o teto do Regime da Previdência que atualmente é da ordem de R$8.157,41, cujo valor de INSS é de (14%) é 114, 20, e o imposto de renda é de R$1.136,17, do que resulta valor líquido de R$6.907,03 deve ser considerado com suficiência de recursos para pagar custas processuais é ignorar a realidade social do País.
Com efeito, na cidade de São Paulo, um apto com uma vaga, um quarto, um banheiro, na região do Anhangabaú tem aluguel da ordem de R$1750,00. Qual a realidade social de um casal com um filho na cidade de São Paulo?15
Pois bem essa família, supondo que tenha um filho, terá disponível para todas as despesas familiares o importe de R$5.057,03, cuja distribuição seria: plano de saúde, R$800,00; supermercado, R$2.000,00; combustível/transportes R$600,00; luz, R$300,00; água R$400,00; internet, R$250,00, seguro do carro, R$300,00, IPVA, R$200,00; manutenção do carro/pneus, R$250,00; remédios, R$200,00; roupas e calçados, R$300,00 = R$5.600,00. Isso se não houver nenhum contratempo...
Salário e desemprego
Mas, não é só. Mesmo trabalhadores que recebam salário de 20 ou 30 mil reais/mês, caso sejam arrimo de família, tenham dois filhos, uma mãe ou pai idoso para cuidar, uma vez desempregado, ainda que receba uma boa quantia em sua quitação, em dois ou três meses depois da perda do emprego, terá dificulda-
14 https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/15629-renda-media-dos-trabalhadores-brasileiros-apresenta-aumento-interanual-de-4-3-no-quarto-trimestre-de-2024 acesso em 29.6.2025 às 14h46.
15 https://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/imoveis/apartamento-para-alugar-na-r-consolacao-proximo-metro-anhangabau-1-vaga-1-quarto-1-banhe-1414250739?lis=listing_1002 acesso em 29.62025 às 14h47.
des para manter seus compromissos regulares com escolas, plano de saúde, alimentação, luz, água, telefones, internet, combustível, seguro do carro, roupas, calçados, eventualmente aluguel...
Voltando ainda à vista cansada de Oto Lara Resende, é preciso dizer: quando a lei refere que o benefício será concedido aos que “perceberem” salário igual ou inferior a 40% do teto, está cogitando de alguém empregado, por óbvio...Isso é o que está dito. Quem está desempregado não recebe salário. Não recebe nada.
Portanto, o salário de quando estava empregado não pode servir de referência, ainda que em valor superior aos 40% do teto da Previdência.
Por razões óbvias, ainda que uma família tenha um padrão diferenciado em relação à maioria dos brasileiros, não se pode dizer que, ao perder o emprego, esse desempregado conseguirá manter as despesas regulares da família três ou quadro meses depois. Além disso, não há nenhuma garantia de que terá facilidade para se recolocar no mercado de trabalho.
Isso é fato público e notório. Isso é percepção que se extrai do senso comum. Portanto, a prudência recomenda que, para se negar o direito do trabalhador ao acesso e gratuidade da justiça, é necessário dar oportunidade de comprovar, isso se houver impugnação efetiva e séria.
E, além do mais, o fato de existir uma poupança significativa, reunida ao longo de uma vida, e que poderá dar suporte na velhice; dar suporte no desemprego, nem de longe pode ser considerado sinal de suficiência econômica para fins de custear o serviço de Justiça que já é custeado por todos nos impostos recolhidos.
O Estado não vende serviços de justiça. O Estado “presta” serviços de justiça.
De todo modo, ainda é significativo o número de decisões que indefere a gratuidade apenas com fundamento no salário percebido no emprego que o trabalhador já não tem. E esse tipo de interpretação atende aos fins sociais e às exigências do bem comum? Atende ao princípio da solidariedade?
E o que significa solidariedade no texto constitucional? E teria esse princípio aplicação ao direito processual? Haveria diálogo entre ele o princípio de acesso à Justiça?
Ora, se a Constituição pretende que tenhamos acesso à Justiça e que sejamos uma sociedade justa e solidária; se Justiça pressupõe boa-fé, e esta pressupõe ética; e se solidariedade pressupõe cooperação, não há dúvida de que todos, inclusive a parte contrária, hão de cooperar para que os mais frágeis e hipossuficientes recebam a prestação dos serviços de Justiça exatamente nesses limites: ética, cooperação, boa-fé, solidariedade, justiça e dignidade humana.
Será que é ético negar a gratuidade da Justiça com fundamento em um salário que o trabalhador já não recebe?
Portanto, constitui falta de ética fazer impugnação ao requerimento de Assistência Judiciária Gratuita em casos em que à toda evidência trata-se de pessoa desempregada e em situação de fragilidade econômico-financeira.
Aliás, por questão de cooperação, solidariedade, ética, justiça, a impugnação à assistência judiciária gratuita só deveria ser admitida quando fundamentada e com a indicação de evidência sólida de capacidade econômico-financeira.
A existência de poupança de uma vida inteira. E casos de habilitação em falência.
Há casos em que um cidadão já as portas da aposentadoria, ou, entrado nela, amealhou ao longo da vida uma poupança, talvez um fundo de garantia que lhe rendeu 500 ou 600 mil reais, que estão investidos e que representam sua segurança no futuro próximo, que é a velhice. Pode-se dizer num caso como esse que se trata de um hipersuficiente que deve arcar com despesas processuais? Por acaso o Estado Brasileiro garante aos cidadãos idosos saúde de qualidade? Se essa pessoa for acometida de alguma doença seria justo e razoável que pudesse utilizar essa sua poupança para tratamento ou para pagar pelo serviço público de justiça? Se esse cidadão restar desempregado o que é muito factível para os mais idosos, qual será a sua fonte de renda para se manter em condições minimamente dignas? Seria a aposentadoria? Qual o custo de um convênio médico médio para um idoso?
Essas são perguntas que precisam ser consideradas para se formar um entendimento sobre esse instituto da Assistência Judiciária Gratuita, para que ele tenha algum sentido prático na vida dos cidadãos.
E, por isso, é preciso que fique claro que bens de pequena monta ou poupança, por si só, não traduzem sinais de riqueza suficientes para que o trabalhador arque com custas e despesas processuais. É necessária uma análise efetiva da real situação do trabalhador. Se há valores aplicados, de onde provêm, do fundo de garantia de uma vida inteira? Se tem um imóvel alugado, mas tem filhos em idade escolar, cursando faculdade particular, e está desempregado, esse rendimento, por óbvio, se destinará a cobrir os custos de manutenção de sua família...
Trata-se de instituto sério, relevante, essencial para confirmar a sanidade moral dos jurisdicionados, e
não deve ser utilizado como desestímulo em face do número de ações. A qualidade moral relativa ao senso de justiça não se compara com uma qualidade de justiça célere, cuja procura esteja mitigada porque os cidadãos consideram a busca pela justiça como um risco à sua situação econômico-financeira.
Se aqueles a quem cabe dar concretude aos princípios da garantia de acesso à Justiça; que devem promover a solidariedade, a cooperação, em favor da dignidade humana; se pronunciam sem olhos para a realidade pessoal posta sob sua jurisdição, o que reina é a insegurança, a descrença e a perda de sentido.
A possibilidade de habilitação em falência também foi penalizada para os trabalhadores.
No Estado de São Paulo instituiu-se a cobrança de custas nas habilitações retardatárias de crédito em falência.
Como se sabe, na maioria das vezes os trabalhadores, quando da decretação da falência, estão às voltas com processo na Justiça do Trabalho, que muitas vezes demora anos a fio, depois precisam liquidar o crédito, e quando conseguem, já houve a publicação do quadro geral de credores, onde não consta o seu crédito, o que o obriga a ingressar na falência como retardatário.
E, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a sanção do governador, instituiu a cobrança de custas, a serem recolhidas antecipadamente, pelo credor para proceder a habilitação retardatária de seu crédito, de natureza alimentar 16 . Esse crédito é líquido e certo, sem garantia de recebimento e, de consequência, sem nenhuma possibilidade de reversão de custas pagas antecipadamente.
16 ALESP. Lei 15.760/2015. https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2015/lei-15760-31.03.2015.html acesso em 29.6.2025 às 16h14.
Não há situação mais esdrúxula e desumana, o que revela a falta de preparo dos representantes eleitos pelo povo, e a sanha arrecadatória do estado, em todos os seus níveis.
Conclusão
O Poder Judiciário resultaria mais fortalecido se, em vez de opor barreira ao acesso à Justiça através da negação da Gratuidade da Justiça, apenasse de forma séria aqueles que atuam de forma abusiva na utilização de recursos absolutamente sem fundamentos, cujo intuito único é o de procrastinar?
Porventura já foi feito por qualquer das instituições judiciárias, pelo CNJ, pela OAB, estudo estatístico sobre a quantidade de recursos sem fundamentos, utilizados como instrumento de procrastinação? E em quantos deles houve aplicação de multa? E qual o percentual de multa foi aplicado?
Há, na atualidade, um número imenso de casos de recursos extraordinários na fase de execução trabalhista que não atendem a um só dos requisitos necessários para esse tipo de medida. Essa situação porventura não afeta o volume de serviços do Judiciário?
A questão, portanto, não passa pela gratuidade da Justiça e sim pelo real interesse de combater as atuações deletérias, as práticas efetivamente injustas, a utilização da Justiça como meio de retardar o cumprimento das obrigações trabalhistas. O enfrentamento daquilo que, de fato, constitui o ponto nevrálgico da questão certamente conduziria a uma redução significativa de processos, o que talvez pudesse evitar a ideia equivocada de que o cidadão médio, que passa a vida trabalhando para sustentar a si e sua família, com os recursos de seus ganhos salariais, deve pagar para obter Justiça.
A realidade estampada acima de que a utilização abusiva de defesas e recursos sem consistência, com objetivo único de procrastinar, não é malvista, nem apenada, enquanto a propositura de ações trabalhistas por um desempregado que tinha um bom salário tem sido alvo constante de críticas e defesa de que, nesses casos, o pressuposto deve ser o pagamento de custas, sugerindo uma forma de evitar o que seria um abuso do direito de acesso à Justiça, constitui, em verdade, evidência de desequilíbrio em desfavor daquele que, via de regra, é a parte mais frágil da relação jurídica.
Olhando de outro ângulo, é fato é que, quando coloco um entrave para seguimento no Processo do Trabalho afeto diretamente o Direito do Trabalho. É na possibilidade do desenvolvimento regular e válido do processo que o Direito do Trabalho alcança a sua realização. Nessa medida o processo como instrumento é vital para a realização do Direito.
Portanto, quando se admite, tolera, sem qualquer punição, defesas e recursos sem fundamentos, com objetivo de procrastinação, prejudica-se a realização do Direito do Trabalho.
De outro lado, quando se opõe óbice ao prosseguimento da ação com o afastamento da gratuidade da Justiça, coloca-se uma pedra a mais no desequilíbrio que já impera com a liberdade no do direito de defesa que, muitas vezes, vai muito além do justo, ético e razoável.
Em verdade, a ideia de cobrar pela Justiça já constitui, em si, uma distorção. Essa ideia de que boa parte da sociedade deve pagar custas para obter o serviço público de garantia da Justiça, para o que já se destina orçamento da ordem de aproximadamente 60 bilhões de reais, conquanto esteja assentada na Constituição Federal (art. 5º, LXXIV), se interpretada isoladamente, sem levar em conta os princípios
constitucionais que devem informar o conjunto de regras e condutas no país, resultará numa forma de afastar a Justiça do povo, para quem o Estado deve existir.
Certamente haverá oposições, fundamentadas, de que sem essa barreira que consiste no pagamento das custas processuais, ocorreria um número ainda maior de ações. E, sim, o Brasil é um país que tem um povo litigioso. Somos litigiosos.
Contudo, há legislação suficientemente capaz de, se bem aplicada, coibir lides temerárias, litigância de má-fé, litigância predatória. É preciso apenas que a legislação seja levada a sério.
Ocorre que, em geral, as penalidades previstas para coibir lides temerárias e litigância de má-fé são aplicadas nos percentuais mínimos, o que, dada a irrisoriedade, não são suficientes para coibir as iniciativas deletérias.
O fato é que existe uma corrente jurídico-ideológico que se insurge de forma veemente contra esse suposto “benefício” da justiça Gratuita, atribuindo-lhe a pecha de ser o facilitador do grande número de ações em trâmite no País.
A evidenciar que isso não é verdade estão os dados publicados pelo TST17 que demonstram que, em 2023, dos 1.898.912 processos solucionados, apenas 221.869 foram julgados improcedentes. Se se considerar que uma parte desses, pelo menos 20%, são processos que a parte não teve êxito na prova, e não que o direito não lhe fosse assegurado, resta evidente que há algo de errado, porém não está no cidadão que busca seu direito junto ao Poder Judiciário Trabalhista. 17 https://www.tst.jus.br/documents/18640430/33216013/ RGJT.pdf/fa638cf6-969b-6508-09d8-625ffba9cd93?t=1740769697350 acesso em 29.6.2025 às 14h55.
Portanto, o combate ao excessivo número de ações trabalhista deve ser entendido a partir da realidade dos números; de onde provêm esses números; e, depois, então buscar, com fundamentos verdadeiros, o remédio a ser aplicado. E claro está que ministrar obstáculo como o indeferimento da Gratuidade da Justiça é uma forma de desestímulo do exercício valoroso e moral da luta pelo Direito e pela Justiça. Não se pode cortar o mal pela raiz quando a árvore é frutífera, e, se bem cuidada, entregará alimento para a subsistência digna, distribuirá justiça, e coibirá o desrespeito à lei e ao próprio Poder Judiciário.
Sim, se o número de ações é imenso; se os processos solucionados em conciliações (715.856), procedência (125.109), procedência em parte (567.711), totalizam 1.408.576 casos, e, apenas 221.869 resultaram improcedentes, e, ainda, se é razoável supor que em pelo menos 20% os trabalhadores não conseguiram, por completa falta de possibilidades, produzir a prova, o que se tem é que o insucesso ocorreu em uma parte ínfima das ações.
Esse é um dado objetivo, produzido pelo próprio Poder Judiciário, que deve ser considerado na análise das razões pelas quais há um número descomunal de ações trabalhistas.
O que não faz sentido, o que constitui um contra senso, é utilizar a garantia constitucional de acesso à Justiça em sentido reverso, desconsiderando a realidade que está evidenciada nas estatísticas da Justiça do Trabalho e que justifica as seguintes indagações: seriam os direitos trabalhistas complexos demais para boa parte dos empregadores, já que a maior parte dos geradores de emprego são as pequenas e médias empresas? ou, é fato que pelo menos uma parte dos empregadores têm uma cultura e preferência ao litígio do que honrar integralmente suas obrigações?
Enfim, esse é só um esforço de dar visibilidade a um tema que talvez justifique um olhar diferenciado de modo a que os princípios de acesso à Justiça, da solidariedade, da igualdade de todos perante a lei, da dignidade humana, possam, de fato, encontrar uma expressão real na vida dos jurisdicionados, a fim de que, tal como conclui Oto Lara Resende, se perdemos os olhos de primeira vez, aqueles do poeta, acabamos por “perder o espetáculo do mundo” e permitimos que se instale em nosso coração “o monstro da indiferença”.18
Que o direito de acesso à Justiça possa ser visto, efetivamente.
18 RESENDE, Oto Lara. https://armazemdetexto.blogspot. com/2018/11/cronica-vista-cansada-otto-lara-resende.html acesso em 29.6.2025 às 09h36
O TELETRABALHO E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR 1 4
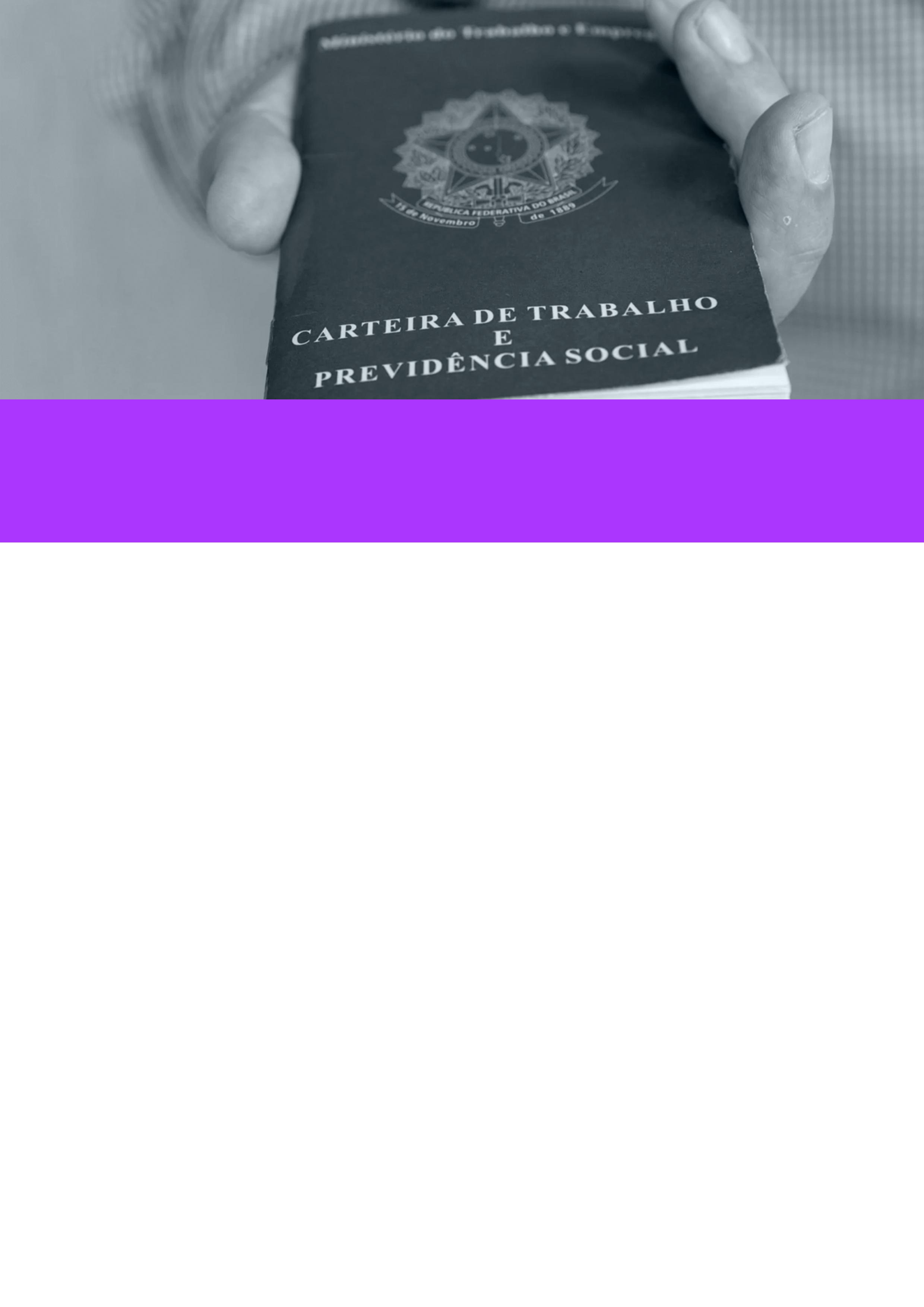
Miron Tafuri Queiroz
Procurador do Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região. Mestre em Direito na área de concentração Direito do Trabalho e da Segurança Social pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP).
1. INTRODUÇÃO
Dentre as inúmeras inovações criadas pela chamada Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), avulta, como uma das mais relevantes, a inédita regulamentação do instituto do “teletrabalho”, ocorrida por meio da introdução, na CLT, do Capítulo II-A do Título II (originalmente, arts. 75-A a 75-E) e do inciso III do art. 62.
Mister registrar, contudo, que essa modalidade de prestação de serviços já era factualmente utilizada de modo amplo, tendo sido, inclusive, juridicamente reconhecida muito antes da Reforma, por meio da Lei nº 12.551/2011 que, ao alterar o art. 6º da CLT, previu que “não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde
que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego”, arrematando, por meio da inserção do Parágrafo único ao citado artigo, que “os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio”. Assim, muito embora o legislador não houvesse, à época, utilizado expressamente o termo “teletrabalho”, é inegável que se preocupou em albergar as novas formas de labor humano (marcadas pelo trabalho à distância, exercido e controlado por ferramentas modernas de tecnologia de informação e comunicação) sob o manto da legislação juslaboral, equiparando-as às convencionais formas de prestação de trabalho subordinado.
A grande novidade da Reforma Trabalhista, porém,
foi a tentativa de conferir ao teletrabalho um tratamento jurídico pormenorizado, abordando questões não apenas atinentes à sua própria definição, mas também relacionadas ao seu desenvolvimento, tais como a sua submissão (ou não) às normas relativas à duração do trabalho; a responsabilidade pelo fornecimento de infraestrutura; as formas de direção, supervisão e controle das atividades; os aspectos contratuais; as precauções necessárias para assegurar a saúde e higidez do trabalhador, dentre outras.
Não obstante os esforços legislativos em regulamentar o teletrabalho, imperioso reconhecer que a normatização é imprecisa, repleta de lacunas e passível de críticas quanto a vários de seus aspectos.
De fato, ela está inserida no bojo de uma “Reforma” vista geralmente como precarizante e com forte apelo ideológico, calcada em uma política neoliberal que buscou privilegiar ainda mais os grupos detentores do poder econômico e do controle sobre os meios de produção.
Sob o pretexto de “modernizar” a legislação laboral, promovendo a “adequação” da “anacrônica” CLT às novas dinâmicas das relações de trabalho do Século XXI, a Lei nº 13.467/2017 nada mais fez do que “flexibilizar” e subtrair direitos sociais construídos e conquistados ao longo de décadas, tornando cada vez mais precárias as garantias conferidas aos trabalhadores, numa evidente tentativa de implosão de pilares da Constituição Federal de 1988, como alguns dos princípios que fundamentam nossa República, dentre os quais a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o valor social do trabalho (CF, art. 1º, IV), bem como alguns dos objetivos de nossa Ordem Econômica e Social, tais como a busca do pleno emprego (CF, art. 170, VIII) e do bem-estar e justiça socias (CF, art. 193).
A regulamentação do teletrabalho empreendida pela Lei nº 13.467/2017 não foge a esse viés. Em linhas gerais, precarizou as garantias sociais tendentes a conferir um mínimo de dignidade humana ao subtrair do teletrabalhador, de modo injustificado, a aplicação de todo o arcabouço normativo previsto na CLT em relação à duração do trabalho (art. 62, III). Além disso, equiparou forças antagônicas claramente assimétricas, ao delegar à negociação individual entre empregador e empregado, a previsão para alteração do regime presencial para o de teletrabalho (art. 75-C), ainda que desse acordo resultasse algum prejuízo ao trabalhador (o que per se viola o disposto no art. 468 da CLT). No mesmo sentido, deixou também para a negociação individual a regulação da responsabilidade quanto à aquisição, manutenção ou fornecimento da estrutura para a prestação do trabalho remoto (art. 75-D), podendo esta, inclusive, recair sobre o próprio trabalhador, o que se traduz em uma franca violação ao princípio da alteridade que norteia a relação de emprego (art. 2º da CLT). Finalmente, no que tange à questão da saúde e segurança do trabalho, a legislação limitou-se a responsabilizar o empregador quanto ao dever de instruir o teletrabalhador sobre precauções a serem tomadas para evitar doenças e acidentes de trabalho (art. 75-E), não prevendo nenhuma medida adicional quanto ao monitoramento do meio ambiente laboral, ainda que de forma indireta, por meio da realização de exames médicos complementares ou avaliação do local da prestação de serviços, que poderia ocorrer, exemplificativamente, de forma remota, com a utilização de aparato de vídeo, ou até mesmo por visita presencial autorizada previamente pelo trabalhador.
Não obstante as gritantes imperfeições e propositais omissões existentes na regulamentação do teletrabalho, é imperioso reconhecer que a percepção social a respeito dessa modalidade de prestação de
serviços sofreu uma guinada significativa em razão da pandemia de Covid-19.
Com efeito, o trabalho remoto, antes relegado a alguns nichos econômicos específicos (sobretudo, trabalhadores em setores de tecnologia da informação), emergiu, no cenário pandêmico, como uma importante medida sanitária de isolamento social, assegurando a continuidade de empregos e a sobrevivência da própria economia. O teletrabalho se espraiou para os mais diversos segmentos, em especial, para aqueles que demandavam quase que exclusivamente a realização de atividades intelectuais, passando a ser visto como uma tendência irrefreável e irreversível de um novo paradigma laboral no contexto pós pandemia.
Em outros termos, deixou de ser encarado apenas como uma modalidade marginal de prestação de serviços, adstrita a algumas atividades e grupos limitados de trabalhadores, sendo ventilado como uma forma de prestação de serviços revolucionária, ampla e vantajosa não só para o empregador, mas também ao próprio trabalhador.
Nesse sentido, argumenta-se que haveria para o empregado uma economia de tempo, já que este prescindiria do deslocamento ao local da prestação de serviços, o que, de fato, não pode ser desprezado, sobretudo, em grandes centros urbanos, em que o trânsito intenso e a precariedade dos meios de transporte coletivos constituem-se, sem dúvida, como fatores de elevado estresse e desgaste. Mas não só isso, o trabalhador, no seio de seu lar, poderia, em tese, dosar melhor seu tempo para realizar, de maneira alternada, suas atividades laborais com outras que lhe dão prazer, além é claro, de ter a possibilidade de um convívio familiar ampliado.
Mas será que tais ganhos justificariam, per se, a ideia de que o teletrabalho seria, em linhas gerais, uma
modalidade de prestação de serviços realmente mais benéfica ao trabalhador?
Em resposta a tal indagação, alertam DURÃES, BRIDI e DUTRA que:
“essa narrativa, ao tempo que exalta os benefícios do teletrabalho, tende a ocultar os riscos de precarização, nos âmbitos individual e coletivo, bem como as possibilidades de reformulação dos ganhos empresariais na exploração do trabalho humano, numa nova redistribuição de ônus do processo produtivo, que desequilibra ainda mais as já assimétricas relações de trabalho”.1
Prosseguem os mencionados autores, referindo-se aos riscos da “fetichização da tecnologia” ou da exaltação do “mito salvacionista do mundo digital”, salientando que as perspectivas do capitalismo global gravitam essencialmente em torno de dois elementos: a redução do tempo ocioso ou “o não trabalho”, seguindo a máxima de que tempo é dinheiro; e a diminuição dos custos de produção, com especial atenção aos custos do trabalho. 2
A regulamentação do teletrabalho empreendida pela Lei nº 13.467/2017 foi, claramente, construída sob a ótica capitalista de maximização dos lucros por meio da precarização das relações de trabalho. Nesse diapasão, uma análise crítica sobre os principais impactos do teletrabalho sobre a saúde do trabalhador tende a tornar ainda mais evidente o quão pernicioso o arcabouço jurídico criado pela Reforma Trabalhista se revela, demonstrando o total desequilíbrio da equação amplamente propagada como argumento pelos seus defensores, segundo a qual
1 DURÃES, Bruno, BRIDI, Maria Aparecida da Cruz, DUTRA, Renata Queiroz, O teletrabalho na pandemia da Covid-19: uma nova armadilha do capital in Revista Sociedade e Estado, Volume 36, Número 3, Setembro/Dezembro 2021, p. 947.
2 DURÃES, Bruno, BRIDI, Maria Aparecida da Cruz, DUTRA, Renata Queiroz, idem, p. p. 961 e 962.
tanto os empregadores, quanto os empregados, só teriam ganhos com a prestação de serviços na modalidade remota.
Deveras, observa-se recentemente um aumento significativo de casos de adoecimento por doenças mentais relacionadas ao trabalho. Burnout, Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), estresse crônico, insônia e depressão tornaram-se parte do vocabulário hodierno e têm se revelado como os grandes males do novo Século. Mas o que o teletrabalho tem a ver com tudo isso? A resposta para essa indagação não comporta tergiversações: o trabalho em home-office está no cerne das causas do crescimento generalizado dessas moléstias, na medida em que estas se ligam intrinsecamente à própria dinâmica de tal modalidade de prestação de serviços, sendo a situação toda ainda agravada pelas opções deliberadamente feitas por nosso Poder Legislativo no que concerne à sua normatização.
Mas não são apenas os transtornos psíquicos aqueles que decorrem do teletrabalho, também despontam, como preocupantes, questões relacionadas à proliferação de doenças osteomusculares, posturais, oculares e outros males fisiológicos fortemente atreladas ao desenvolvimento do trabalho em home-office, sobretudo, por inadequação ergonômica de estruturas, mobiliário e equipamentos, resultantes da transferência de responsabilidade do empregador ao empregado sobre a instalação e manutenção de um ambiente de trabalho saudável.
2. TELETRABALHO E SAÚDE MENTAL
Já em 2003, SOUTO MAIOR, em artigo relacionado ao direito à desconexão, alertava sobre os riscos da apropriação indevida dos espaços domésticos, reservados à vida privada e à intimidade, pelo trabalho realizado em home-office, sinalizando sobre as dificuldades no estabelecimento de limites entre as
esferas profissional e pessoal3 . Partindo dessa perspectiva, inferem DURÃES, BRIDI e DUTRA que:
“o teletrabalho tem um potencial avassalador em afetar a subjetividade das pessoas e adentrar os espaços mais recônditos de nossas vidas (que é a esfera do pessoal e familiar). O que vem fantasiado de flexibilidade e conforto na realização do trabalho no espaço doméstico, com suposta satisfação e manejo do tempo livre pelo empregado, significa, na prática, a apropriação do espaço doméstico do trabalhador em prol da organização capitalista, com o desenvolvimento de novos grilhões, com potencial de afetar as condições de trabalho, a vida fora do trabalho (que pode deixar de existir de forma definitiva) e as possibilidades de socialização a partir do trabalho, contribuindo para a dimensão do adoecimento psíquico que já vinha prevalecendo nessa fase do capitalismo”.4
Vê-se, assim, que a concepção do teletrabalho já encerra, por si própria, um potencial danoso: ao promover naturalmente um maior isolamento do trabalhador e um empobrecimento de suas relações sociais (antes conflagradas no ambiente coletivo do trabalho desenvolvido presencialmente), bem como uma ocupação indevida do espaço privado de sua residência, abre-se um campo fértil para um maior sofrimento psíquico e adoecimento mental.
Poder-se-ia argumentar, como contraponto a esses aspectos, a possibilidade de o trabalhador beneficiar-se de um convívio familiar eventualmente maior, o que lhe traria maior conforto, repercutindo positivamente no balanço de sua saúde mental. A princípio, a ilação teria algum peso e sentido, porém, o fato de o trabalhador permanecer em casa não implica, ne -
3 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Do direito à desconexão do trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, n. 23, p. 296-313, 2003.
4 DURÃES, Bruno, BRIDI, Maria Aparecida da Cruz, DUTRA, Renata Queiroz, idem, p. 957.
cessariamente, que haja esse convívio ampliado ou que, havendo, seja ele um convívio de qualidade. Pelo contrário, a opção legislativa de suprimir do teletrabalho a aplicação do Capítulo II, do Título II, da CLT, relativo às normas de duração do trabalho, já se constitui um forte indicativo de que os empregados que realizam suas atividades em home office, e que, em tese, fariam a autogestão de seu tempo de trabalho, na prática, laboram durante muito mais horas do que faziam quando trabalhavam presencialmente. Tal fato é corroborado por pesquisas realizadas com teletrabalhadores de diversos segmentos.
A título de exemplo, uma investigação conduzida por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná e da Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista (REMIR), entre os dias 5 e 17 de maio de 2020, apurou, com base em entrevistas realizadas com 906 pessoas, que apenas 8,4% dos entrevistados trabalhavam seis dias por semana, antes da experiência do teletrabalho, passando esse número a representar 18% nessa nova condição. Além disso, 2,32% dos respondentes disseram que trabalhavam sete dias por semana, mas a pós a implementação do trabalho remoto, esse número saltou para 17,7%, ou seja, um aumento porcentual de 666,66%. Finalmente, de todos os ouvidos, 48,45% afirmaram que, no geral, passaram a trabalhar mais, sendo que 25% deles disseram que esse incremento se deveu a um aumento das metas de produtividade. Concluíram os pesquisadores, após análise dos dados coletados, que o trabalho realizado remotamente representou uma sobrecarga de horas e dias de trabalho, além de um ritmo mais acelerado de labor5 .
5 BRIDI, Maria Aparecida; BOHLER, Fernanda; ZANONI, Alexandre. Relatório técnico-científico da pesquisa (parte 1): o trabalho remoto/home office no contexto da pandemia Covid 19, [recurso eletrônico]. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade, 2020 apud DURÃES, Bruno, BRIDI, Maria Aparecida da Cruz, DUTRA, Renata Queiroz, idem,
Por sua vez, pesquisa realizada por CARELLI, SILVA e DOMINGUES, em que 4.437 profissionais da advocacia do Estado do Rio de Janeiro foram entrevistados no final de 2020, revela que:
“[...] três em cada cinco advogados recebem demanda de trabalho após o horário comercial (58%) e em torno de dois em cada cinco advogados(as) costumam trabalhar após as 22h durante a pandemia (38%). [...] A maioria dos(as) advogados(as) informaram sofrer algum distúrbio osteomuscular (64%) ou algum distúrbio mental (57%) com a adoção do teletrabalho na pandemia [...]. Mais de 20% indicaram que sofriam outro tipo de distúrbio, sendo que a maior parte afirmou sentir ansiedade, insônia, estresse, pânico, tristeza ou depressão [...] outro efeito que pudemos verificar sobre os(as) respondentes foi o aumento da sensação de cansaço (59%), do estresse (63%) e da pressão (44%) após a adoção do teletrabalho”6
A falácia da “vantajosa” autogestão do tempo de trabalho evidencia-se não apenas pelo cenário acima relatado de que os trabalhadores em home office passaram, realmente, a trabalhar durante mais tempo e num ritmo maior, mas também pelo fato de que os limiares entre o tempo de repouso e o tempo de labor entraram em uma zona cinzenta como consequência do uso indiscriminado dos aparatos tecnológicos e comunicacionais pelos empregadores. De fato, observa-se que há uma disponibilidade constante do empregado, uma verdadeira hiper conexão, em razão da submissão, durante o dia, a incontáveis mensagens e chamadas (por aplicativos, tais como WhatsApp e Teams, telefone e e-mails), recebidas p. 953.
6 CARELLI, Rodrigo de Lacerda, SILVA, Jackeline Cristina Gameleira Cerqueira, DOMINGUES, Carlos Arthur Giannini, A advocacia em teletrabalho: um estudo sobre o impacto da pandemia da COVID-19 no exercício da advocacia no Estado do Rio de Janeiro, Disponível em: https://doi.org/10.33239/rjtdh.v4.96. Acesso em 25/06/2025., p.p.12-16.
de seus supervisores ou colegas de equipe, em horários que deveriam ser destinados a momentos adequados de descanso, sem que isso seja sequer percebido ou compreendido pelo próprio trabalhador como algo inapropriado, já que ele, não raro, vê o uso desses instrumentos comunicacionais como parte da lógica inerente ao trabalho remoto.
Soma-se a isso que a produtividade, normalmente atrelada a metas predefinidas (e muitas das vezes excessivas e inconciliáveis com um padrão de jornada compatível com a saúde e dignidade humanas) passa a ser avaliada por um sistema de controle tecnológico cada vez mais invasivo, por meio do uso de algoritmos, o que desumaniza ainda mais o trabalhador, submetendo-o a uma sobrecarga de trabalho como nunca observada.
Diante desse cenário, conclui COELHO, com total acerto, ao discorrer sobre a falsa sensação de conforto e a pseudo autogestão da jornada, no teletrabalho, que:
“Estamos falando de uma imersão forçada, de uma jornada sem horário, difusa, que invade a privacidade, que se dissemina durante o lazer, que não tem fronteiras e que submete o trabalhador a surtos de ansiedade, depressão e falta de perspectiva, embora a mensagem, utópica como sempre, seja a de que você conquistou o suposto privilégio de trabalhar em casa, ao lado dos seus familiares, do seu animal de estimação, de seu ambiente particular, cercado de conforto e com disponibilidade para administrar seu tempo. Sim, supostamente você “faz” o seu horário, desde que as metas estejam cumpridas...” 7
A opção legislativa, encetada pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) de alijar, por completo, to -
7 COELHO, José Jorge Pantoja, Teletrabalho, Home Offíce e Abuso do Direito, eBook Kindle, 27/02/2022, disponível em www. amazon.com.br, p. 3
dos os teletrabalhadores da aplicação dos dispositivos legais que regulam a duração do trabalho, revelou-se insustentável, porquanto partia de uma premissa falsa de que, se o trabalho seria executado fora do estabelecimento do empregador, não haveria como este exercer um controle sobre o tempo gasto pelo empregado para a sua execução. Todavia, a própria tecnologia empregada para a realização dessas tarefas permite um controle efetivo (e até mesmo invasivo) sobre a jornada de labor.
A fim de “corrigir” essa deletéria opção do legislador da Reforma Trabalhista, a Lei 14.442/2022 trouxe algumas alterações pontuais à regulamentação do teletrabalho, alterando a redação original do art. 62, III, para excluir da aplicação do Capítulo II, do Título II, apenas “os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa”
Ora, a redação atual, data maxima venia àqueles que enxergam alguma boa intenção em sua mens legis, não trouxe, em linhas gerais, nenhum avanço significativo. Com efeito, qual seria a incompatibilidade para que o trabalho auferido por tarefa ou produção não pudesse (e devesse) ser submetido a um controle de jornada? Novamente, partiu-se de uma premissa totalmente falsa para se produzir uma regra deletéria à dignidade humana.
Como bem apontou MONTEIRO, o legislador baralha um critério especificamente salarial (remuneração calculada por tarefa ou produção), utilizando-o como parâmetro para uma norma que teria como escopo regular uma questão de duração do trabalho 8 , com o claro propósito de criar um sofisma.
Não há empecilho nenhum, do ponto de vista lógico, para que um trabalho baseado em metas seja cum8 MONTEIRO, Carlos Augusto Marcondes de Oliveira, in MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (organizador) e ZAINAGHI, Domingos Sávio (coordenador), CLT Interpretada, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, 15ª ed. São Paulo, Manole, 2024, p. 103.
prido dentro de uma jornada predeterminada e regulada. Deveras, o estabelecimento de metas deve ser inclusive compatibilizado com uma jornada decente, de modo a preservar a saúde do trabalhador. Ao criar a “sutil” exceção contida no inciso III do art. 62, o legislador o que fez foi passar um cheque em branco para o empregador exigir um ritmo de trabalho e uma produtividade cada vez maiores, escorchantes e impossíveis de serem atingidas em uma jornada cuja duração seja adequada à dignidade humana.
A realidade fática revela justamente que os teletrabalhadores que “prestam serviços por produção ou tarefa” são a esmagadora maioria, não a exceção à regra. Ou seja, a alteração legislativa não surtiu nenhum efeito prático, denotando apenas um subterfúgio da ideologia neoliberal que impregna nosso Legislativo, querendo oferecer uma resposta vazia a eventuais críticos e, assim, prosseguir, sem maiores consequências, com o assaque aos direitos mínimos dos trabalhadores.
Ao se abrir caminho à exposição do trabalhador a jornadas de trabalho extenuantes, com grave comprometimento ao exercício do direito à desconexão laboral, fomenta-se condições para o surgimento de moléstias físicas (v.g. problemas osteomusculares e de visão) e, sobretudo, de transtornos mentais (como ansiedade, depressão e burnout). Destarte, coloca-se em xeque a própria constitucionalidade do art. 62, III, da CLT, por franca violação a princípios consagrados na Carta Magna, como a dignidade humana (art. 1º, III), o valor social do trabalho (art. 1º IV), o risco mínimo regressivo (art. 7º, XXII) e, em especial, a isonomia, pois se admite uma discriminação entre trabalhadores em regime presencial e de teletrabalho (art. 5º, caput).
Visando ao enfrentamento de algumas dessas questões cumpre destacar que o Ministério Público do Trabalho, no período da pandemia do COVID-19,
emitiu a Nota Técnica nº 17/2020, externando algumas diretrizes que, na visão do referido Órgão, seriam necessárias para a proteção da saúde e demais direitos fundamentais dos trabalhadores em trabalho remoto ou home office, a serem observadas por empresas, entes da Administração Pública e sindicatos.
Dentre as principais recomendações, no campo da saúde mental, destacam-se:
1. a observância de parâmetros adequados quanto à organização do trabalho (o conteúdo das tarefas, as exigências de tempo e ritmo da atividade);
2. a observância da jornada contratual na adequação das atividades na modalidade de teletrabalho com a compatibilização das necessidades empresariais e dos trabalhadores;
3. a adoção de modelos de padrões de “etiqueta digital” em que se oriente toda a equipe, com especificação de horários para atendimento virtual da demanda, assegurando os repousos legais e o direito à desconexão.
Vê-se, em síntese, que o caminho a ser delineado para que o adoecimento mental dos trabalhadores submetidos ao teletrabalho seja mitigado deve passar necessariamente pelo estabelecimento de limites da jornada de trabalho e a imposição de medidas concretas que assegurem o chamado direito à desconexão, entendido como o direito efetivo ao descanso (não trabalho), que assegure a preservação da saúde e bem-estar do indivíduo.
Finalmente, é imperioso que se registre o conteúdo da Norma Regulamentadora nº 1 do Ministério do Trabalho e Emprego – NR 1, que em sua nova redação, prevê, em diversos de seus dispositivos, a necessidade das empresas inserirem nos seus Programas de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (PGR) também a identificação dos fatores de riscos
psicossociais, bem como as medidas a serem adotadas para mitigar esses riscos e, assim, prevenir a incidência cada vez mais alarmante de adoecimento mental de seus trabalhadores. No regime de teletrabalho, embora, a Reforma Trabalhista não tenha nenhuma previsão específica, resta patente que a aplicação dos mencionados itens da NR 1 também deverá ser observada, porquanto, plenamente compatível com esse regime de prestação de labor.
3. TELETRABALHO E ERGONOMIA
Outra questão que é motivo de preocupação no desenvolvimento do teletrabalho diz respeito à existência de uma estrutura física que propicie o respeito a padrões mínimos de saúde ao trabalhador.
Em conformidade com a Convenção nº 155 da OIT, a saúde “(...) com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e a higiene no trabalho” (art. 3º, e). Malgrado a regulamentação específica do teletrabalho feito pela Reforma Trabalhista não faça qualquer tipo de referência, resta muito claro que a essa modalidade cabem, no que for compatível, todas as normas gerais de Segurança e Medicina do Trabalho estabelecidas em nossa ordem jurídica, dentre as quais aquelas previstas no Capítulo V, do Título II, da CLT e nas Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego.
De fato, a Lei 13.467/2017, como já destacado alhures, foi deliberadamente muito tímida e inadequada na regulamentação de certos aspectos do teletrabalho. Sem dúvida, a questão da infraestrutura de mobiliário e equipamentos necessários à execução dos serviços não foge à regra, sendo um desses pontos que sujeitam a Reforma Trabalhista a severas críticas.
De acordo com o art. 75-D, a “responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito”. Em termos claros, relegou-se à negociação individual (assimétrica, por natureza, no que tange aos polos que compõe a relação de trabalho) a possibilidade de transferência para o empregado de uma responsabilidade que deveria ser acometida ao empregador (criar e assegurar a manutenção de um meio ambiente de trabalho que atenda as normas protetivas).
O texto legal, ademais, não traz nenhum tipo de orientação ou preocupação relacionada a como o empregador deve instruir ou fiscalizar a opção por certos mobiliários e equipamentos, de modo a garantir que estes atendam às normas de ergonomia, tais como descansos de pé e punho (visando a evitar fadigas), mesas com altura apropriada, cadeiras com encostos para a coluna e braços, uso de iluminação adequada, ambiente com conforto térmico para a realização de atividade intelectual, dentre outros.
O art. 75-E, por sua vez, limita-se a reproduzir o conteúdo do art. 157, II, e 158, I, da CLT, impondo ao empregador o dever de instruir seus empregados sobre as precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, bem como prevendo aos trabalhadores a assinatura de termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções do empregador. Não há, contudo, nenhuma regulamentação no sentido estabelecer um dever ativo de fiscalização das condições reais de trabalho pelo empregador, tampouco previsão específica de como tais condições poderiam ser avaliadas pelas autoridades trabalhistas competentes.
Argumenta-se que, quando o trabalho remoto é realizado no próprio domicílio do empregado (home-office), o poder de fiscalização, tanto do empregador, quanto de órgãos públicos, sofreria as limitações decorrentes das garantias da inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do domicílio dos empregados (art. 5º, X e XI da CF). Embora sejam direitos fundamentais da personalidade, atrelados umbilicalmente ao princípio supremo da dignidade humana, tais garantias não são absolutas, devendo ser cotejadas com outras normas de direitos humanos, dentre as quais aquelas que asseguram o direito a um ambiente de trabalho saudável e seguro (art. 7º, XXII e 225 da CF).
Nesse sentido, mostra-se plenamente válido, como uma forma de equilibrar esses valores (direito à intimidade, de um lado e direito a um ambiente laboral saudável, do outro) que o empregador possa lançar mão de uma verificação periódica do ambiente de trabalho por meio remoto, utilizando-se da tecnologia de captação e transmissão de áudio e vídeo, com o escopo de verificar a adequação do local de trabalho às normas legais sobre ergonomia, dentre as quais a Norma Regulamentadora nº 17, do Ministério do Trabalho e Emprego – NR 17, que contém previsão meticulosa quanto a diversos fatores, tais como adequação do mobiliário, iluminação, condições de ventilação e conforto térmico, ruído, dentre outros, bem como uma análise postural do empregado na execução de suas tarefas.
Essa avaliação deveria ser conduzida por um médico do trabalho ou outro profissional habilitado em ergonomia e segurança do trabalho que, para além de constatar eventuais irregularidades, poderia, no ato, já fornecer orientações técnicas e correções posturais ao trabalhador. A par dessa análise, poderiam ser conjugados exames clínicos com periodicidade maior que aquela que seria habitualmente realiza-
da se o trabalho fosse executado presencialmente, como forma de se obter um diagnóstico mais preciso das condições ambientais e de se evitar adoecimento.
Uma alternativa igualmente válida, seria a realização de inspeções in loco ao ambiente utilizado pelos trabalhadores, tanto pelo empregador, como pelas autoridades públicas competentes, desde que previamente agendadas e autorizadas pelo empregado, em casos em que a própria empresa ou agente público identifiquem a necessidade de visitas presenciais. Tal possibilidade já se encontra, inclusive, albergada pela aplicação analógica do art. 106 da Instrução Normativa nº 2/2021 do Ministério do Trabalho e Emprego que prevê a possibilidade dos Auditores-Fiscais do Trabalho adentrarem à casa do empregador doméstico para realizarem inspeção, desde que haja o seu consentimento prévio.
Somente na hipótese de não autorização do teletrabalhador em relação à visita presencial para monitoramento das condições ambientais de seu ambiente laboral, quando justificada a necessidade de tal forma de verificação, poder-se-ia cogitar na formação de uma presunção juris tantum de regularidade do ambiente, o que afastaria do empregador a responsabilidade administrativa e civil em caso de eventuais acidentes ou doenças profissionais.
Mister esclarecer, ainda, no que tange ao teletrabalho, que a Reforma Trabalhista não abordou especificamente a responsabilidade civil do empregador nos casos de doença profissional ou acidentes de trabalho. Malgrado a omissão legal, entende-se pela aplicação das normas gerais sobre o tema, dentre as quais as disposições previstas nos arts. 7º, XXVIII; 200, VIII e 225, § 3º da CF, art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, e arts. 186 e 927, caput, do Código Civil.
Sobre o assunto, sintetiza com maestria FELICIANO e PAQUALETO9 que o art. 7º, XXVIII, da CF estabelece como direito de o trabalhador receber “seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”, deixando clara a opção legislativa pela responsabilidade subjetiva do empregador nos casos pontuais de acidente, com a aplicação do previsto nos arts. 186 e 927, caput, do Código Civil. Todavia, em paralelo, a Constituição Federal, ao tratar da responsabilidade por dano ambiental, silenciou-se propositalmente sobre os elementos subjetivos dolo e culpa, deixando para a legislação infraconstitucional a definição dos parâmetros da responsabilização do causador do dano. Nesse caso, aplica-se o disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 (que regula o Sistema Nacional do Meio Ambiente), o qual estabelece a responsabilidade objetiva do poluidor.
Assim, haveria, de um lado, a responsabilidade subjetiva que se dirigiria somente àqueles casos pontuais, em que os danos são advindos de causalidades tópicas, em que não se verifica uma magnitude de desequilíbrio, no todo ou em parte, do meio ambiente laboral; e de outro lado, a responsabilidade civil objetiva aplicável às hipóteses em a atividade econômica do empregador, em função de suas peculiaridades, oferecesse riscos especialmente elevados aos trabalhadores.
Em relação ao teletrabalho, asseveram os referidos autores:
“E o desequilíbrio do meio ambiente laboral doméstico, nesse caso, poderá ser de responsabilidade [objetiva] do empregador nos contratos individuais de trabalho?
9 FELICIANO, Guilherme e PAQUALETO, Olívia de Quintana Figueiredo, Teletrabalho, saúde e segurança do trabalho e regulamentação estatal: pandemia, aprendizados e perspectivas futuras, Revista do TRT 3ª Região, Belo Horizonte, v 66, nº 102, jul/dez 2020, p.p. 113-115.
Entendemos que sim, “si et quando”, apesar da incontornável inviolabilidade domiciliar (CRFB, art. 5º, XI), o empregador podia e devia interferir positivamente na organização do local de trabalho do teletrabalhador, ainda que em caráter meramente preditivo.
De todo modo, ainda que se opte pela responsabilização subjetiva do empregador, que dependerá da averiguação de dolo e culpa de seus prepostos (CC, arts. 932, II, e 933), será juridicamente possível responsabilizá-lo em casos de patente negligência, como, e.g., se, cumprindo a determinação do art. 75-E sobre o dever de informar, recomendando mobiliários inadequados ou estimulando esforços que geram fadiga muscular ou lesões por esforços repetitivos.” 10
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Reforma Trabalhista, de maneira inédita, regulamentou o teletrabalho, estabelecendo na ordem jurídica nacional normas que abordam questões atinentes à sua definição e ao seu desenvolvimento, tais como, aspectos relacionados à jornada de trabalho; a responsabilidade pelo fornecimento de infraestrutura; as formas de direção, supervisão e controle das atividades; elementos contratuais; e medidas relacionas à saúde do trabalhador.
Não obstante aparentar ter significado, de certa forma, um avanço (ante a anomia anteriormente existente), é mister reconhecer que a leitura dessa regulamentação não pode ser feita de maneira dissociada de toda carga ideológica que orientou a edição da Lei nº 13.467/17. De fato, embora com o discurso de “modernizar” a legislação trabalhista à realidade do Século XXI, a Reforma Trabalhista é amplamente vista como um instrumento do
10 FELICIANO, Guilherme e PAQUALETO, Olívia de Quintana Figueiredo, idem, p.p. 114-115.
capitalismo visando à maximização dos ganhos daqueles que detém o poder econômico, por meio da flexibilização (rectius: redução) de direitos dos trabalhadores. Nesse sentido, suas principais inovações, no mundo jurídico, refletem, em geral, uma tentativa de precarização da legislação protetiva das relações de trabalho, não fugindo a regulamentação do teletrabalho a esse padrão.
A modalidade de prestação de trabalho remoto em domicílio, por meio de ferramentas tecnológicas de informação e comunicação, já carrega, em si, um potencial danoso ao trabalhador, concernente à usurpação do espaço privado de sua residência por uma estrutura produtiva empresarial, obscurecendo, assim, as fronteiras de sua vida pessoal e profissional. Além disso, extirpa do empregado a oportunidade de um ambiente social no trabalho, empobrecendo as suas relações interpessoais. Somado a esses aspectos intrínsecos do teletrabalho, a legislação foi perversa ao retirar dos teletrabalhadores a aplicação de todas as normas previstas na CLT referentes à duração da jornada (art. 62, III da CLT), permitindo, assim, uma superexploração dos teletrabalhadores, por meio da adoção de jornadas exaustivas, em horários não convencionais e com a utilização abusiva de meios de comunicação, mesmo em períodos que deveriam ser por ele utilizados para descanso, mantendo-o permanentemente à disposição da empresa e em estado de constante alerta.
A despeito, da Lei n° 14.442/2022 ter alterado a redação original do art. 62, III, para excluir da aplicação do Capítulo II do Título II, apenas “os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa”, na prática, a mudança não representou nenhum avanço na tutela desses empregados já que a maioria deles trabalham por tarefa e produção. Ademais, conferiu-se ao empregador a possibilidade ilimitada de exigir um ritmo de traba-
lho e uma produtividade calcada em metas cada vez maiores e impossíveis de serem atingidas em uma jornada cuja duração seja adequada à preservação da saúde do trabalhador.
Infere-se, pois, que o “privilégio” de trabalhar em casa e ter a possibilidade de autogerir o seu próprio tempo de trabalho nada mais é do que uma ilusão para a maioria dos trabalhadores, havendo, na verdade, mais vantagens às empresas, em decorrência da redução drástica de seus gastos com infraestrutura. Para os trabalhadores o que exsurge desse sistema é a violação do seu direito à desconexão, com graves consequências à sua saúde mental, como já se pode observar a partir do número crescente de afastamentos em razão de adoecimento psíquico.
Além das questões relacionadas à saúde mental, defluem da execução do trabalho em home-office também preocupações concernentes à saúde física do trabalhador pelo uso de equipamentos e infraestrutura em desacordo com os parâmetros mínimos de ergonomia. Novamente, a Reforma Trabalhista foi inadequada ao tangenciar tais aspectos. Primeiro, porque em seu art. 75-D, permitiu a transferência de responsabilidade do empregador para o próprio empregado quanto à aquisição de equipamentos e criação da estrutura para realização das atividades. E, em segundo lugar, porque deixou, deliberadamente, lacunas ao tratar dos temas da saúde e da segurança do trabalho, impondo ao empregador apenas o dever de instruir seus empregados sobre as precauções a tomar, a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho (art. 75-E), como se esse dever de informação e a mera assinatura de um termo pelo empregado, fosse suficiente para lhe retirar toda a responsabilidade pela salvaguarda de um meio ambiente de trabalho saudável.
Apesar das falhas apontadas em relação à Reforma Trabalhista, é mister reconhecer que a ordem jurídi -
ca contém um arcabouço normativo suficiente para fazer frente às omissões e contradições dessa regulamentação, cabendo aos profissionais do Direito fazer uso, sem receio, de todas as normas que tutelam a saúde e segurança do trabalho e que se compatibilizam perfeitamente com o teletrabalho, em especial, as NRs 1 e 17 do Ministério do Trabalho e Emprego e as normas que asseguram o efetivo direito à desconexão, como forma de assegurar um meio ambiente laboral equilibrado, bem como a preservação da saúde e dignidade do trabalhador.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CALCINI, Ricardo e CAMARA, Amanda Paoleli, Teletrabalho e saúde: desafios e políticas para um ambiente seguro, in LIMA, Bruno Choairy Cunha, FONSECA, Bruno Gomes Borges, ZIMMERMANN, Cirlene Luiza, MERÍSIO, Patrick Maia, BELTRAMELLI NETO, Sílvio (organizadores), CODEMAT – 20 anos de atuação na defesa do meio ambiente do trabalho e na promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora, Vol. II, Brasília, MPT, 2023, p.p. 379-402
CARELLI, Rodrigo de Lacerda; SILVA, Jackeline Cristina Gameleira Cerqueira, DOMINGUES, Carlos Arthur Giannini, A advocacia em teletrabalho: um estudo sobre o impacto da pandemia da COVID-19 no exercício da advocacia no Estado do Rio de Janeiro, Disponível em: https://doi. org/10.33239/rjtdh.v4.96 . Acesso em 25/06/2025.
COELHO, José Jorge Pantoja, Teletrabalho, Home-offíce e abuso do direito, eBook Kindle, 27/02/2022, disponível em www.amazon.com.br
DURÃES, Bruno, BRIDI, Maria Aparecida da Cruz, DUTRA, Renata Queiroz, O teletrabalho na pandemia da Covid-19: uma nova armadilha do capital in Revista Sociedade e Estado, Volume 36, Número 3, Setembro/Dezembro 2021
FELICIANO, Guilherme e PAQUALETO, Olívia de Quintana Figueiredo, Teletrabalho, saúde e segurança do trabalho e regulamentação estatal: pandemia, aprendizados e perspectivas futuras, Revista do TRT 3ª Região, Belo Horizonte, v 66, nº 102, jul/dez 2020, p.p. 107-127
MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (organizador) e ZAINAGHI, Domingos Sávio (coordenador), CLT Interpretada, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, 15ª ed. São Paulo, Manole, 2024
MEDEIROS, Marcia Bacher e VITÓRIA, Mateus Côrte, A saúde mental do trabalhador em xeque: a nova roupagem da subordinação e o direito à desconexão como norte no regime de teletrabalho, in LIMA, Bruno Choairy Cunha, FONSECA, Bruno Gomes Borges, ZIMMERMANN, Cirlene Luiza, MERÍSIO, Patrick Maia, BELTRAMELLI NETO, Sílvio (organizadores), CODEMAT – 20 anos de atuação na defesa do meio ambiente do trabalho e na promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora , Vol. II, Brasília, MPT, 2023, p.p. 353377
MELO, Sandro Nahmias, MANCUSO, Carlos Eduardo, O mundo do trabalho em transição e a poluição labor-ambiental , in Revista LTr, Vol. 87, nº 11, Novembro de 2023, p.p. 1338-1345
MERÍSIO, Patrick Maia, SANO, João Pedro e FONSECA, Bruno Gomes Borges, Meio Ambiente do Trabalho, Saúde, Fatores e Riscos, in LIMA, Bruno Choairy Cunha, FONSECA, Bruno Gomes Borges, ZIMMERMANN, Cirlene Luiza, MERÍSIO, Patrick Maia, BELTRAMELLI NETO, Sílvio (organizadores), CODEMAT – 20 anos de atuação na defesa do meio ambiente do trabalho e na promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora, Vol. II, Brasília, MPT, 2023, p.p. 299-321
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Do direito à desconexão do trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, n. 23, p. 296313, 2003
SCHARCZ, Priscila Dibi, A invisibilidade dos transtornos mentais relacionados ao trabalho: as notificações dos agravos à saúde mental dos trabalhadores como instrumento essencial ao desenvolvimento de políticas públicas de saúde e ações de vigilância epidemiológica , in LIMA, Bruno Choairy Cunha, FONSECA, Bruno Gomes Borges, ZIMMERMANN, Cirlene Luiza, MERÍSIO, Patrick Maia, BELTRAMELLI NETO, Sílvio (organizadores), CODEMAT – 20 anos de atuação na defesa do meio ambiente do trabalho e na promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora, Vol. II, Brasília, MPT, 2023, p.p. 323-352
ZIMMERMANN, Cirlene Luiza, Prevenção de fatores de riscos psicossociais e promoção da saúde mental no trabalho, in Revista LTr, Vol. 88, nº 10, Outubro de 2024, p.p. 1173-1178
OITO ANOS DA REFORMA TRABALHISTA:
SINDICATOS E NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
Otavio Pinto e Silva
Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP. Advogado. Conselheiro da OAB/SP e Presidente da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista da OAB/SP.
1. INTRODUÇÃO
A Revista Científica da ESA nos convida a refletir sobre os oito anos da reforma trabalhista, tendo em vista as inúmeras alterações que a Lei nº 13.467/2017 trouxe para o direito do trabalho e o processo do trabalho: é o caso, então, de pesquisar as repercussões na atuação dos sindicatos, quando do uso da função da negociação coletiva.
A reforma trabalhista foi produzida em meio a uma grave crise política e econômica e se originou de um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, encaminhado ao Congresso Nacional no final de 2016 pelo Presidente Michel Temer, após a aprovação do impeachment da Presidente Dilma Roussef.
A Fundação Ulisses Guimarães, braço do PMDB, havia divulgado o documento “Uma ponte para o futuro”,
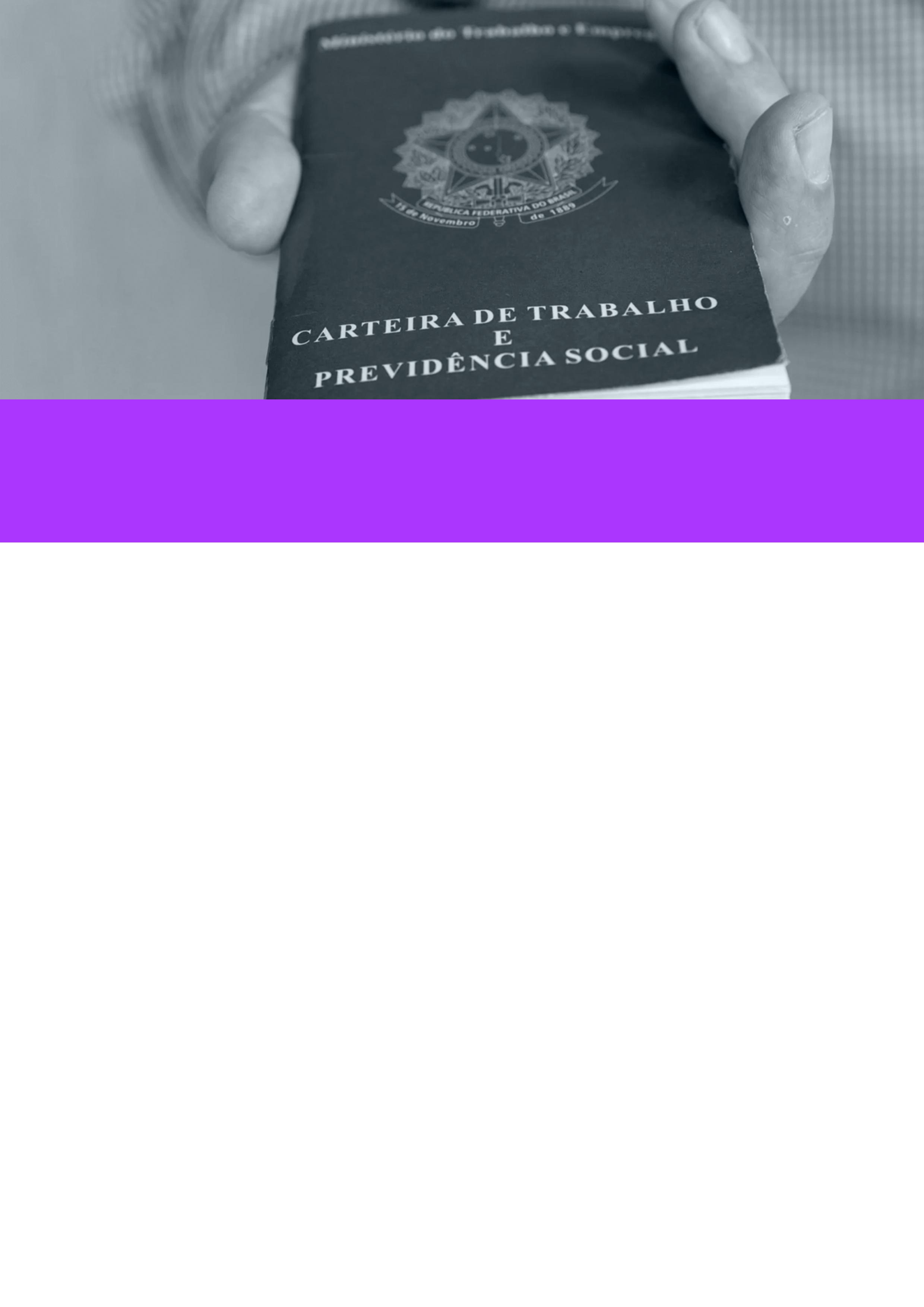
defendendo a ideia de que na área trabalhista seria necessário “permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos”.
O projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional, assim, era bem restrito, limitando-se a tratar de alguns poucos temas (como a terceirização, a negociação coletiva, a representação dos trabalhadores nos locais de trabalho, atividades de fiscalização do trabalho).
A tramitação na Câmara dos Deputados resultou na aprovação de um substitutivo que ampliou significativamente os temas abordados, envolvendo mudanças no direito individual do trabalho, no direito coletivo do trabalho e no direito processual do trabalho; encaminhado ao Senado Federal, o projeto foi apreciado por aquela que deveria cumprir o papel de uma casa
revisora no sistema bicameral, mas que o aprovou sem fazer qualquer modificação no texto oriundo da Câmara, abdicando de uma atuação mais propositiva.
Dessa forma, foi sancionada em julho/17 a Lei nº 13.467, em meio às turbulências políticas vividas pelo governo diante das graves denúncias de corrupção enfrentadas pelo Presidente Michel Temer (em razão da acusação apresentada pelo Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, que naquele momento ainda dependia de apreciação pelo plenário da Câmara dos Deputados). A apreciação do projeto de lei no Congresso Nacional ocorreu em um momento político bastante complexo, em que o Governo precisava mostrar sua sustentação parlamentar para conseguir completar o mandato.
O presente artigo pretende apontar algumas das alterações introduzidas pela reforma trabalhista do Governo Michel Temer no campo do direito coletivo do trabalho e analisar a atuação das entidades sindicais no uso da negociação coletiva.
2. REFORMA DE 2017: AS MUDANÇAS
NO DIREITO COLETIVO DO TRABALHO
A lei 13.467/17 teve como principal característica, no campo do direito coletivo do trabalho, a busca pela introdução em nosso ordenamento de normas jurídicas que viessem a tratar da chamada “prevalência do negociado sobre o legislado”.
Foi introduzido um § 3º no art. 8º da CLT, para prever que no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico (respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade co -
letiva.
O tema da anulação de cláusulas negociadas por sindicatos e empresas sempre foi bastante polêmico e controvertido, tanto que o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada em recurso extraordinário com agravo em que se discutia a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias1 .
Esse é o Tema 1046 de Repercussão Geral, sendo que no julgamento, finalizado em 2022, o STF acabou fixando a seguinte tese:
“São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”
O legislador de 2017 inseriu ainda o art. 611-A da CLT (com o rol de temas a respeito dos quais a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei) e o art. 611-B da CLT (prevendo que constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos direitos que arrola).
O §2º do artigo 611-A da CLT passou a prever que a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade, por não caracterizar um vício do negócio jurídico.
Para a efetiva garantia da autonomia privada coletiva não basta o “reconhecimento” de acordos e conven -
1 ARE 1121633, sendo relator o Ministro Gilmar Mendes
ções coletivas de trabalho (artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Brasileira): é preciso ir mais além, promovendo e incentivando a função negocial, como propõe a Organização Internacional do Trabalho.
A Convenção 98 da OIT aponta a importância da função negocial do sindicato, ao assinalar a necessidade da adoção de medidas adequadas para estimular trabalhadores e empregadores ao pleno desenvolvimento dos procedimentos de negociação.
A valorização dos direitos humanos ligados ao trabalho pauta a atuação da OIT desde 1998, quando aprovou a “Declaração relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho”: nesse documento foi reconhecido, em seu artigo 2º, que alguns princípios são de observância obrigatória por todos os membros da organização, ainda que não tenham ratificado as convenções internacionais correspondentes, mas visando respeitar, promover e tornar efetivos os seguintes aspectos:
a) liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva;
b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório;
c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e
d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação.
O Brasil ratificou a Convenção 98 da OIT, mas a Convenção 87 não, o que seria indispensável para que se pudese falar em efetiva valorização da autonomia privada coletiva, na busca de um modelo que assegure aos particulares, na prática, os mecanismos necessários para a autorregulamentação de condições de trabalho.
Regular o trabalho contemporâneo passa pela ne -
cessidade de sindicatos que estejam à altura do desafio de representar os novos tipos de trabalhadores, cujas demandas são complexas e estão inseridas em um mundo globalizado, intensamente ligado à tecnologia e à Internet.
Teresa Coelho Moreira adverte que o próprio conteúdo do diálogo social se altera, uma vez que as condições de trabalho no mundo digital são diferentes das tradicionais: isso exige um diálogo qualificado acerca das novas atividades, da automatização, da inserção no mercado de trabalho dos trabalhadores vulneráveis, do equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, e da própria transparência no funcionamento deste novo tipo de empresa 2
Isso tudo demonstra a relevância de o Estado brasileiro instituir políticas que possam estimular os sindicatos a efetuarem a negociação coletiva de trabalho, para regular as diversas questões que estão presentes no quotidiano das relações de trabalho.
Tome-se como exemplo a reforma tributária: a Lei Complementar 214/2025 prevê no art. 57, IV, “f” e “g”, a caracterização do critério de uso ou consumo pessoal para serviços de planos de assistência à saúde e de fornecimento de vale-transporte, de vale-refeição e vale-alimentação destinados a empregados e seus dependentes em decorrência de acordo ou convenção coletiva de trabalho; bem como para benefícios educacionais a seus empregados e dependentes em decorrência de acordo ou convenção coletiva de trabalho, inclusive mediante concessão de bolsas de estudo ou de descontos na contraprestação, desde que esses benefícios sejam oferecidos a todos os empregados, autorizada a diferenciação em favor dos empregados de menor renda ou com maior nú -
2 MOREIRA, Teresa Coelho. Algumas questões sobre trabalho 4.0, “in” O mundo do trabalho em movimento e as recentes alterações legislativas: um olhar luso-brasileiro. Benizete Ramos de Medeiros, coordenadora. São Paulo: LTr, 2018, p. 200
cleo familiar.
Questões ligadas ao meio ambiente do trabalho (incluindo riscos psicossociais e climáticos), bem como ao teletrabalho e ao direito à desconexão aparecem cada vez mais nas mesas de negociação e é natural que seja assim, pois trabalhadores e empresas conhecem as peculiaridades dos respectivos ramos de atuação, podem trazer então propostas que estejam adaptadas aos locais de trabalho.
Também é importante lidar com temas ligados ao combate das práticas discriminatórias nas relações de trabalho, como assédio moral, racismo, etarismo, capacitismo, gordofobia, preferências políticas ou religiosas, discriminação de gênero ou de opção sexual.
Enfim, são inúmeros os temas que podem ser objeto de negociação coletiva, buscando assegurar a construção, pela via negocial, de um ambiente de trabalho saudável, plural, diversificado e livre de práticas discriminatórias.
Renato Cassio Soares de Barros mostra que o Direito do Trabalho deve se ocupar do tema do antirracismo porque, na prática, o racismo impede ou dificulta o trabalho do negro: assim, o pensamento doutrinário deve partir dessa realidade e o ordenamento jurídico, ao regular as relações humanas na sociedade, precisa levar em conta essas inquietações sociais. A negociação coletiva que promova medidas de combate ao racismo, assim, contribui para que as condições de trabalho sejam igualitárias, trazendo ferramentas de promoção da equidade e que podem ser usadas na fundamentação de decisões judiciais.
Afinal, se as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho dispuserem de cláusulas que busquem coibir discriminações e promover a igualdade, darão oportunidade para os sindicatos agir em juízo
a fim de buscar o cumprimento daquilo que tiver sido pactuado, como bem apontam Adriana Saraiva Lamounier Rodrigues e Bruna Salles Carneiro ao tratar da atuação das entidades sindicais em juízo para defesa dos interesses de trabalhadoras no combate ao assédio no trabalho.
3. A REFORMA SINDICAL QUE NÃO HOUVE
O direito coletivo do trabalho no Brasil continua a necessitar de alterações no que se refere à organização sindical e à representação dos trabalhadores no local de trabalho, com a aplicação prática do princípio da livre formação de sindicatos.
Para que o objetivo de fortalecimento da negociação coletiva seja efetivamente alcançado, medidas reformadoras ainda precisam ser aprovadas, muitas delas implicando a necessidade de emenda constitucional.
A questão do financiamento das atividades do sindicato é uma das que não foram bem resolvidas em 2017: não bastava dizer que a autorização do pagamento de contribuição deve ser “prévia e expressa”, pois era preciso regulamentar a contribuição negocial, o que os nossos parlamentares não chegaram a fazer.
Assim, no que se refere à extinção da contribuição sindical compulsória, o STF seguiu caminhos tortuosos, com idas e vindas, até aprovar o Tema 935 de Repercussão Geral para reconhecer a constitucionalidade da instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados. O Tribunal reformulou seu entendimento original sobre essa fonte de receita sindical, mas deixando a ressalva de que deve ser assegurado o direito de oposição do indivíduo à cobrança da contribuição, ficando ainda aberto o debate para o
Congresso Nacional legislar a respeito.
Uma segunda medida reformadora é a supressão da regra da unicidade sindical, prevista no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal: os parâmetros para a organização sindical devem ser os estabelecidos pela Convenção 87 da OIT, que consagra os princípios da liberdade e autonomia sindical.
Cabe aos interessados - trabalhadores e empregadores - definir quantas e quais entidades representarão seus interesses: a unidade do movimento sindical não pode e não deve ser imposta mediante intervenção legislativa estatal, pois tal intervenção contraria o princípio de liberdade sindical previsto no artigo 2º da referida convenção internacional.
Sendo a liberdade sindical a diretriz fundamental, não cabe ao Estado definir os contornos das entidades representativas de trabalhadores e empresários, de modo que uma terceira medida indispensável é a supressão tanto na Constituição (artigo 8º, inciso II) quanto na lei (parágrafos do artigo 511 da CLT) das referências aos conceitos de categorias econômica, profissional e diferenciada como formas obrigatórias de organização em entidades sindicais.
Não deve o Estado estabelecer a forma de organização dos sindicatos, impondo a existência das categorias; ao contrário, a possibilidade de escolha precisa ser atribuída aos próprios grupos, o que fica cada vez mais claro quando nos deparamos com as novas condições de trabalho decorrentes do uso intenso da tecnológica. Quem, por exemplo, representa no Brasil os entregadores de aplicativos?
Pode até ser que a similitude das condições de vida e de trabalho decorrente das atividades desenvolvidas justifique a continuidade da existência de sindicatos tradicionais. Os entregadores até podem resolver se integrar, por exemplo, ao mesmo sindicato dos con -
dutores de veículos urbanos; mas cabe aos trabalhadores (e somente a eles) decidir se devem se organizar de tal forma.
A quarta medida de garantia da liberdade e autonomia sindical é a revogação da regra constitucional (também contida no inciso II do artigo 8º) que prevê a área do Município como limite mínimo da base territorial de atuação dos sindicatos.
Deve ser aberta a possibilidade de criação de sindicatos por empresas ou por região geográfica, em conformidade com a similitude das condições de trabalho nas empresas envolvidas e de acordo com as conveniências e circunstâncias ditadas unicamente pelos interesses dos trabalhadores e empresários.
A quinta transformação necessária consiste na criação de novas formas de representação e participação dos trabalhadores no local de trabalho: ampliar os canais institucionais de atuação dos trabalhadores, incrementando a sua representação e participação no quotidiano empresarial, de maneira a tornar mais frequentes as negociações nos próprios locais de trabalho e a democratizar a gestão.
Uma sexta providência imprescindível é a inclusão no ordenamento jurídico de mecanismos efetivos de proteção contra os atos antissindicais, medida que visa dar legitimidade ao processo de negociação coletiva, estabelecendo garantias para o livre exercício da atividade dos sindicatos.
São classificados como antissindicais quaisquer atos que venham a prejudicar indevidamente o titular de direitos sindicais, quando em exercício de atividade sindical, sendo que a OIT expressa a necessidade de previsão de mecanismos de proteção contra os atos de “discriminação” e de “ingerência” (respectivamente, artigos 1º e 2º da Convenção nº 98 da OIT).
Mas a experiência da Comissão de Peritos da OIT
revela que a existência de normas legislativas fundamentais que proíbam atos antissindicais é insuficiente, se estas não vem acompanhadas de procedimentos eficazes que garantam sua aplicação na prática, o que exige medidas legais que assegurem a eficácia dos mecanismos de proteção, tais como: a) a possibilidade de suspensão liminar do ato antissindical, para evitar que os seus efeitos se consolidem antes de uma decisão definitiva; b) uma diferenciação na distribuição do ônus da prova, pois pode ser muito difícil para o trabalhador ou para a sua entidade provar que determinado ato patronal está sendo praticado com fim ilícito; c) a celeridade do processo, uma vez que a lentidão para a solução de pendência acerca de um ato antissindical gera efeitos ilícitos, podendo tornar inócua uma solução reparatória tardia.
Por fim, reafirme-se que não há negociação coletiva de trabalho autêntica sem que o Estado assegure a efetiva garantia do direito de greve, respeitando a diretriz prevista no artigo 9º da Constituição brasileira: cabe aos trabalhadores decidirem pela oportunidade do exercício do direito de greve e sobre os interesses que devam por meio dele defender (de modo que a nossa lei de greve ainda necessita ser aperfeiçoada, com a regulamentação do exercício do direito pelos servidores públicos e também pelos trabalhadores sob demanda de aplicativos).
O enfrentamento da crise de representatividade sindical brasileira passa pela adoção de várias premissas para que se possa falar em um sistema fundamentado no critério de liberdade (e que, infelizmente, não foram enfrentadas na Reforma de 2017): é necessária uma reforma do nosso modelo, pois somente com a tutela da liberdade sindical é que o Estado poderá garantir o desenvolvimento de negociações coletivas autênticas e regular de forma abrangente as novas modalidades de trabalho.
José Aparecido dos Santos, em releitura da obra de Gurvitch, aponta que a coerção sobre os membros da categoria, tanto empregados como empregadores, é incompatível com a função integradora do direito social e aproxima a normatividade sindical muito mais de uma atividade estatal do que um movimento espontâneo da sociedade, de modo que a chamada “prevalência do negociado sobre o legislado”, nas condições atuais, acaba sendo um fator de desequilíbrio nas lutas que se realizam entre as espécies jurídicas 3 .
O grande dilema do sindicalismo no século XXI não é outro senão o de obter efetiva representatividade, pois esta é a única forma de sobreviver ao novo sistema de relações de trabalho que vem sendo desenhado no mundo em que vivemos.
4. O TST E OS RECURSOS REPETITIVOS
A partir da decisão do STF no Tema 1046 reconhecendo a constitucionalidade dos acordos e das convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, ganhou extrema relevância, no debate jurisprudencial, a definição nos casos concretos de quais, então, seriam os tais “direitos absolutamente indisponíveis”.
Assim, o TST passou a discutir várias situações práticas, extraídas de normas coletivas do trabalho, a fim de definir a licitude de cláusulas negociadas, no âmbito dos recursos repetitivos, como se pode verificar, exemplificativamente, nos seguintes temas:
• Atividade insalubre – Tema 149: Definir se: (i) é válida a cláusula de norma coletiva que autoriza, independentemente da licença prévia da autorida-
3 SANTOS, José Aparecido dos. O direito social de Gurvitch e a autonomia coletiva, “in” Direito do Trabalho: releituras, resistência. Organizadores: Germano Siqueira (et al). São Paulo: LTr, 2017, p. 91
de competente, regime de trabalho que tem como corolário o elastecimento da jornada em ambiente insalubre; (ii) para a aplicação da norma coletiva aos empregados que desenvolvem suas atividades em ambiente insalubre, é necessária previsão expressa no sentido de que a cláusula abrange os trabalhadores que laboram em tal ambiente.
• Adicional de insalubridade – Tema 43: É válida norma coletiva que dispõe sobre o enquadramento do grau de insalubridade para pagamento do respectivo adicional?
• Jornada por exceção – Tema 151: É válida a norma coletiva que autoriza o controle de jornada por exceção?
• Jornada 12x36 – Tema 152: É válida cláusula de norma coletiva que prevê a exclusão do direito do trabalhador de receber em dobro os feriados laborados e não compensados no regime especial 12x36?
• Marítimos – Tema 147: É válida a cláusula coletiva que estabelece a fruição das férias do empregado marítimo de forma cumulativa com as folgas, totalizando 180 dias de descanso?
• Bancários – Tema 28: 1. É válida cláusula de norma coletiva que prevê a compensação/dedução da gratificação de função percebida com as horas extras deferidas judicialmente em razão da descaracterização do exercício de cargo de confiança previsto no artigo 224, § 2º, da CLT? 2. Em caso de conclusão pela validade, a compensação deve ser limitada às parcelas atinentes ao período de vigência da norma coletiva ou deve abranger a totalidade do período objeto da ação ajuizada durante a sua vigência?
• Intervalo – Tema 151: É inaplicável o intervalo interjornada de 11 horas (art. 66 da CLT) cumulado com o repouso de 24 horas consecutivas, concedido em face de 3 turnos trabalhados (art. 3º, V, da Lei nº
5.811/72), aos trabalhadores submetidos ao regime de revezamento em turno de 8 horas, perfazendo o total de 35 horas, em razão da prevalência da Lei específica e em respeito ao disposto em negociação coletiva?
• Trabalho noturno – Tema 92: A jornada de trabalho iniciada no período noturno (art. 73, § 2º, da CLT) e prorrogada além das 5 horas da manhã autoriza a percepção do adicional noturno relativamente ao período prorrogado, mesmo se não laborado todo o horário noturno? À luz do Tema 1046 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, é possível que norma coletiva limite a percepção do referido adicional na prorrogação da jornada noturna?
• Contribuição sindical patronal em favor do sindicato profissional – Tema 112: É válida a norma coletiva que institui contribuição patronal direta com recolhimento compulsório pelas empresas em favor do sindicato da categoria profissional?
O que se percebe, portanto, é que a reforma trabalhista trouxe contornos mais abrangentes para a indispensável reflexão sobre a validade dos procedimentos destinados à formação consensual de normas e condições de trabalho aplicáveis às relações jurídica entre trabalhadores e empregadores, como expressão do poder normativo desses grupos sociais, a partir da concepção pluralista da sociedade (já que o Estado não detém o monopólio da criação do direito).
5. CONCLUSÃO
As condições políticas e jurídicas que levaram o Congresso Nacional a promover a chamada “reforma trabalhista”, com alterações no ordenamento jurídico no campo do direito coletivo do trabalho, mostram que o Governo Michel Temer teve os objetivos de, simultaneamente, criar novos parâmetros e con -
dições para a negociação coletiva de trabalho e reduzir as fontes de receita das entidades sindicais (com a exigência da autorização prévia e expressa dos trabalhadores para o desconto, em seus salários, de contribuições destinadas às entidades).
Ao aprovar os Temas 1046 e 935 de Repercussão Geral, o STF analisou essas mudanças legais e fixou teses que reconhecem a constitucionalidade da reforma, respectivamente:
a) no tocante à validade de acordos e convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, buscando com isso sustentar que os sindicatos teriam sido valorizados em sua principal função (ou seja, a negocial);
b) na instituição, por acordos ou convenções coletivas, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados (mas deixando a ressalva de que deve ser assegurado o direito de oposição do indivíduo à cobrança da contribuição).
Assim, embora a Lei 13.467/17 não tenha realizado uma reforma sindical abrangente, deixando de tratar de uma série de temas importantes para o efetivo fortalecimento do modelo brasileiro de organização sindical, fica o desafio para que os sindicatos, no uso da função da negociação coletiva, busquem uma maior representatividade junto às categorias profissionais, trazendo para o debate relevantes questões atuais do quotidiano das relações de trabalho e que afetam diretamente a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras.
A negociação coletiva de trabalho é uma importante fonte de produção de normas jurídicas trabalhistas, como expressão da autonomia coletiva dos particulares. Após oito anos de reforma trabalhista alguns caminhos foram trilhados, mas ainda persistem mui -
tas dúvidas que exigem pesquisa, reflexão e decisão.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARROS, Renato Cassio Soares de. Direito do Trabalho e antirracismo. São Paulo: Lacier, 2024
LIMA, Firmino Alves. Teoria da Discriminação nas Relações de Trabalho. São Paulo: Elsevier, 2011
MOREIRA, Teresa Coelho. Algumas questões sobre trabalho 4.0, “in” O mundo do trabalho em movimento e as recentes alterações legislativas: um olhar luso-brasileiro. Benizete Ramos de Medeiros, coordenadora. São Paulo: LTr, 2018
RODRIGUES, Adriana Saraiva Lamounier e CARNEIRO, Bruna Salles. Coletivizar ações para proteger trabalhadoras: a atuação dos sindicatos em processos coletivos acerca de assédio no trabalho, “in” Advogando sob as lentes de gênero e raça. ALMEIDA, Dione et al. (coordenadores). São Paulo: Mizuno, 2023
SANTOS, José Aparecido dos. O direito social de Gurvitch e a autonomia coletiva, “in” Direito do Trabalho: releituras, resistência. Organizadores: Germano Siqueira (et al). São Paulo: LTr, 2017
DESAFIOS DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE NO BRASIL: ANÁLISE ESTATÍSTICA E LACUNAS LEGISLATIVAS
Raphael Jacob Brolio
Juiz do Trabalho da 2ª Região – TRT de São Paulo – desde 12/07/2013. Juiz do Trabalho da 3ª Região – TRT de Minas Gerais (31/08/2012 – 11/07/2013). Aprovado no 17º Concurso para Procurador do Trabalho – Ministério Público do Trabalho – no ano de 2012. Aprovado no concurso de analista judiciário do TRT de São Paulo. Exerceu a advocacia entre os anos de 2000 e 2012 e atuou como Defensor Dativo do Tribunal de Ética e Disciplina IV de 2001/2012. Graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo – FMU (1999). É Especialista, Mestre e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Pós-doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Pós-graduado em Direito Processo Civil pela UNIdombosco (UniDBSCO). Membro do Instituto Ítalo-Brasileiro de Direito do Trabalho. Professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Autor e Palestrante.
Logo com a novidade da reforma trabalhista, introduzida pela Lei 13.467/2017 e em vigor a partir de 11 de novembro daquele ano, surgiu, durante o curso do meu doutorado em direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), a ideia de escrever sobre o contrato de trabalho intermitente. Entre 2017 e 2018, após muita reflexão sobre o tema e diversas conversas com o meu Orientador, Prof. Dr. Thiago Lopes Matsushita – a quem reitero meus profundos agradecimentos pelo empenho e orientação – decidimos avançar. Realizado, então, o necessário esfor-
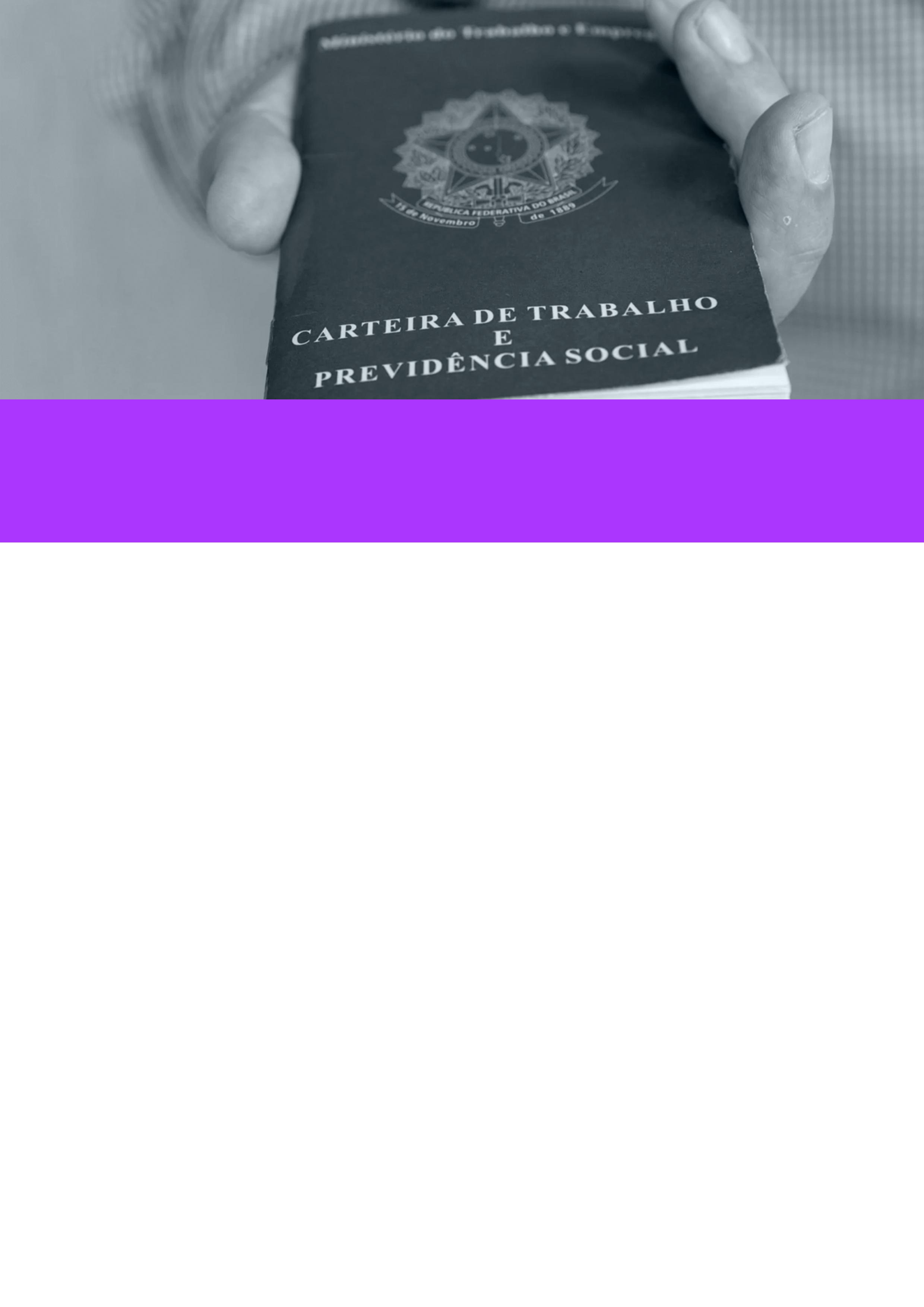
ço e passado o tempo de maturação para entender os desafios que viriam, mãos à obra!
Não foi fácil, nunca é, e nem poderia ser diferente. Uma tese no doutorado exige ineditismo, originalidade e contribuição ao conhecimento científico na área do estudo, e a recente chegada do instituto (contrato de trabalho intermitente) na legislação brasileira era a oportunidade perfeita para embarcar nessa longa jornada. Embora no direito estrangeiro existissem modalidades contratuais de trabalho parecidas
ou similares ao modelo brasileiro, pouca coisa havia em solo pátrio naquela época (2017/2018) para que fosse pesquisado. Quanto mais incipiente a matéria, consequentemente mais árido e denso se torna o terreno da pesquisa.
Após a imprescindível elaboração de um banco de ideias – que sempre é extremamente bem-vindo em qualquer trabalho que exija pesquisa e escrita – muito refleti sobre qual deveria ser o meu ponto de partida no trabalho. Uma vez elaborado o sumário – que normalmente problematiza e delimita o tema a ser tratado – qual poderia ser o assunto a ocupar a primeira parte, o pano de fundo do primeiro capítulo de minha tese. Esse era o ponto.
Em busca de soluções práticas e factíveis – em vez de teorias ou ideais –, busquei estruturar meu pensamento de forma pragmática: apresentar perguntas e, na sequência, oferecer soluções, até porque, diversas eram as demandas sem respostas que o contrato de trabalho intermitente brasileiro gerava e, seguramente, podemos afirmar que, ainda são. Sem sombra de dúvidas. Contudo, essa forma de organização e encadeamento de ideias (perguntas e respostas), eram absolutamente incompatíveis com o trabalho acadêmico ao qual me propus e que deveria entregar. Uma tese de doutoramento requer refinamento e erudição, lastreada em pesquisa profunda e rigorosa.
Foi então, que, na ocasião, o primeiro capítulo elaborado em minha tese de doutorado se ocupou de tratar do “trabalho e sua magnitude: uma das dimensões básicas do índice de desenvolvimento humano (IDH)”. A missão dessa parte inaugural era identificar quais países adotaram modelos parecidos ou similares ao contrato de trabalho intermitente brasileiro, fazendo, a partir daí, um entrelaçamento com o índice de desenvolvimento humano (IDH1) de cada um deles.
1 O IDH pode variar de 0 (zero), que represente nenhum desen-
O que levou, por exemplo, a países como Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido2 , entre outros, a incorporarem ao seu ordenamento jurídico tais modelos de contrato. Talvez tenha sido a busca por flexibilização de direitos trabalhistas, com o objetivo de aumentar o número de novos postos de trabalho. Isso porque o empregado somente é convocado para trabalhar quando há demanda, sem jornada fixa ou garantida. Uma segunda hipótese: os países referidos optaram por adotar tal modelo contratual em busca da adaptação às novas relações sociais, a fim de dar resposta às necessidades atuais. Ou, quem sabe, por outros motivos diferentes dos quais colocamos há pouco.
Sabe-se que o índice de desenvolvimento humano (IDH) é uma medida utilizada para avaliar o nível de desenvolvimento humano de um país ou região e, justamente quando da confecção do meu trabalho no doutorado, uma das tarefas a desempenhar foi entender a razão de o Brasil adotar um modelo (contrato de trabalho intermitente) parecido ou similar ao de países com uma classificação IDH superior ao nosso.
Simples: se, no Brasil, nem mesmo as relações convencionais de emprego apresentam índice satisfatório de cumprimento espontâneo (anotação de CTPS), o que motivaria e seduziria os protagonistas daquele contrato (empregador e empregado) a celebrar e formalizar um contrato de trabalho intermitente?
Parte-se da premissa de que o maior ou menor cumprimento espontâneo das obrigações, em nosso sentir, está diretamente ligado ao nível cultural e educacional de determinado país. Dessa forma, pode-se conjecturar: se a educação é uma das divolvimento humano, até 1(um): desenvolvimento humano total. As 3 (três) dimensões básicas do IDH são: renda, educação e saúde. 2 O Reino Unido é formado por 4 (quatro) países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.
mensões básicas do IDH, então, países com melhores índices têm maior propensão ao cumprimento espontâneo das obrigações. Parece-me que sim! Quanto maior o descumprimento das obrigações na sociedade, mais se delega ao Estado a solução dos conflitos e maior o volume de judicialização das questões.
O fato é que países que utilizam os modelos parecidos ou similares ao contrato de trabalho intermitente brasileiro seguem firmes, cada qual com a sua respectiva padronização e peculiaridade e nomes do instituto diferentes (por vezes). Veja-se: (i) Portugal, que regulamenta a matéria por meio de seu Código do Trabalho (Lei n.º 7/2009 3), arts. 157/160: trabalho intermitente 4 ; (ii) Espanha, que trata do assunto no art. 16 do Estatuto dos Trabalhadores (Real Decreto Legislativo 2/2015 5): contrato fijo-discontinuo; (iii) Itália, que prevê o lavoro intermitente 6 , em seu art. 13, por meio do Decreto Legislativo 15 de junho de 2015, n. 817; e (iv) Reino Unido, que ainda possui o zero hour contract. Essa espécie contratual é conhecida por não garantir um número fixo de horas de trabalho por semana ou mês e sua previsão está no art. 27A do Employment Rights Act8 de 1996.
Na época em que pesquisávamos e escrevíamos o trabalho de doutorado, no relatório de desenvolvimento humano (RDH) de 2016, dos 188 países, o Brasil ocupava a posição de nº 799 . De lá para cá,
3 Disponível em: https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475. Acesso em: 23 de junho de 2025.
4 LEGISLAÇÃO LABORAL PORTUGUESA. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. p. 79-80.
5 Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf – Acesso em 23 de junho de 2025.
6 SOLOMBRINO, M.; IZZO, F.; DEL GIUDICE, F. Manuale di diritto del lavoro. 33. ed. Napoli: Grupo Editoriale Simone, 2015, p. 336.
7 Disponível em: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/ id/2015/06/24/15G00095/sg. Acesso em: 23 jun. 2025.
8 Disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/ part/2A . Acesso em: 23 jun. 2025.
9 BROLIO, Raphael Jacob. O contrato de trabalho intermitente: a necessidade de regulação por meio da negociação coletiva. Rio
com quase 8 anos completos de vida do contrato de trabalho intermitente no Brasil, conforme o RDH de 2023/20241011 , dos 193 países que hoje fazem parte do dele, o último lugar está com a Somália, já o Brasil teve uma piora de 10 posições: 89º lugar, ficando para trás de muitos países todos pertencentes às Américas (Norte, Central e Sul), quase 20 (vinte). É o que se passa com: Peru (87º), Cuba (85º), Equador (83º), República Dominicana (82º), São Vicente e Granadinas (81º), México (77º), Granada (73º), Costa Rica (64º), Barbados (62º), Trinidad e Tobago (61º), Panamá (57º), Bahamas (57º 12), Antígua e Barbuda (54º), Uruguai (52º), Argentina (48º), Chile (44º), Estados Unidos (20º) e Canadá (18º).
É claro e evidente que o IDH brasileiro não piorou 10 (dez) posições exclusivamente em razão do contrato de trabalho intermitente. Por óbvio. O retrocesso relacionado ao IDH brasileiro pode se dar a partir de um conjunto de fatores, sejam eles culturais, econômicos, políticos, sociais, entre muitos outros. Só os especialistas de cada setor é que poderão dizer com a autoridade necessária o quanto se deve essa participação nas áreas que representam.
Podemos sustentar, no âmbito do direito, que os fatores descritos no parágrafo imediatamente precedente (culturais, econômicos, políticos, sociais, entre muitos outros) podem influenciar, sim, na criação e alteração do direito.
de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 12.
10 O novo Relatório do Desenvolvimento Humano (RDH) 20232024, com o título “Breaking the Gridlock: Reimaginar a cooperação num mundo polarizado” foi lançado no dia 13 de março de 2024, em Nova Iorque. Disponível em: https://www.undp.org/ pt/sao-tome-principe/news/visao-geral-do-relatorio-do-desenvolvimento-humano-global-rdh-2023-2024#:~:text=O%20 novo%20Relat%C3%B3rio%20do%20Desenvolvimento,de%202024%2C%20em%20Nova%20Iorque. Acesso em: 24 jun. 2025.
11 Disponível em: file:///D:/Raphael/Videos/Downloads/relatorio_desenvolvimento_humano_2024_pnud_visao_geral_0.pdf. Acesso em: 22 jun. 2025.
12 Há empate no IDH do Panamá e Bahamas: 0.820.
A essas fontes que inspiram a formação, ou até mesmo mudança do ordenamento jurídico, dá-se o nome de fontes materiais do direito: de onde o direito emana, provém. São os motivos que empolgam, impulsionam a atuação legislativa; são as causas que levam à criação ou a modificação do direito.
Com a lei em vigor, aí nasce a fonte formal do direito: que são os meios pelos quais o direito se manifesta e se torna conhecido. As fontes formais do direito, portanto, representam as formas pelas quais as normas jurídicas são estabelecidas, o modo como o direito se apresenta: seja como leis, costumes ou a jurisprudência13
A conclusão dessa parte é, por certo, que essas fontes formais do direito podem influenciar (ou não) o índice de desenvolvimento humano (IDH) de cada país. Trata-se de um assunto que passa e deve ser analisado pela eficácia social da norma jurídica. Vale dizer, qual o grau em que uma norma jurídica é efetivamente seguida e aplicada pela sociedade, ou seja, se ela produz efeitos práticos no comportamento das pessoas, sendo mais específico.
A partir disso, pode-se perguntar: o contrato de trabalho intermitente brasileiro tem sido aceito por nossa sociedade? Se sim, tem contribuído para uma melhoria na qualidade de vida das pessoas (trabalhadores) e daqueles que tomam os serviços (empregadores)? O termômetro, a resposta a essa pergunta pode ser dada pelo sumário executivo do novo CAGED14 (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
13 A cada dia que passa tem ocupado mais o nosso cenário jurídico os precedentes vinculantes. Disponível em: https://www. tst.jus.br/en/nugep-sp/tabela-de-recursos-de-revista-repetitivos. Acesso em: 24 jun. 2025.
14 Desde de 2020 temos o novo CAGED – Portaria SEPRT nº 1.127, de 14/10/2019. Disponível em: https://app.powerbi.com/ view?r=eyJrIjoiNWI5NWI0ODEtYmZiYy00Mjg3LTkzNWUtY2UyYjIwMDE1YWI2IiwidCI6IjNlYzkyOTY5LTVhNTEtNGYxOC04YWM5LWVmOThmYmFmYTk3OCJ9&pageName=ReportSectionb52b07ec3b5f3ac6c749. Acesso em: 23 jun. 2025.
A partir da referência de abril de 202515 do novo CAGED, encontram-se estatísticas mensais dos contratos de emprego formais: divididos em 2 (duas) espécies: (i) contratos típicos; e (ii) os contratos não típicos
Os contratos de trabalho intermitentes são considerados como uma modalidade de contrato não típico. Da mesma forma (não típico), são considerados: (i) os trabalhadores aprendizes (arts. 428/433 da CLT), (ii) temporários (Lei 6.019/74: que versa sobre a terceirização por tempo determinado), (iii) contratados por CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física); e (iv) com carga horária de até 30 horas (trabalho em tempo parcial: art. 58-A da CLT).
Pois bem, analisando o sumário executivo do novo CAGED, de abril de 2025, chega-se à seguinte conclusão: o saldo de empregos resulta da equação entre de admissões (contratações) e desligamentos (extinção do contrato). Para os contratos típicos foram 1.984.411 (admissões) e 1.766.167 (desligamentos), resultando num saldo de 218.244 nos regimes típicos de trabalho. Já em relação aos trabalhadores não típicos, foram 297.776 (admissões) e 258.492 (desligamento), resultando num saldo de 39.284 trabalhadores em regimes não típicos de trabalho.
Nessa quadra de raciocínio, observa-se que: no regime típico, as contratações são quase 5,5 (cinco inteiros e cinco décimos) vezes maiores que nos regimes não típicos de trabalho. Outro ponto importante, considere-se ainda que no grupo de regime não típico de trabalho não estão só os empregados intermitentes. Incluem-se nesse grupo, ainda, mais 4 (quatro) categorias de trabalhadores, a saber: aprendizes, temporários, contratados por CAEPF e aqueles com
15 Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/ assuntos/estatisticas-trabalho/novo-caged/2025/abril/sumario-executivo_abril-de-2025.pdf. Acesso em: 23 jun. 2025.
carga horária de até 30 horas (trabalho em tempo parcial: art. 58-A da CLT).
O resultado coloca em xeque a eficácia social (comentada supra) da lei do contrato de emprego intermitente no Brasil16 , inclusive em momentos em que sua aplicação deveria prosperar. Refiro-me ao período pandêmico (covid-19).
Mesmo com o distanciamento social exigido pelas autoridades competentes à época –decorrente da pandemia ensejada pela covid-19, iniciada no ano de 2020 – que obrigou empresas – notadamente aquelas que não desenvolviam atividades não essenciais – a sucessivas aberturas e reaberturas dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, constatou-se que, ainda assim, o contrato de emprego não protagonizou, não vingou.
Ora, as medidas de lockdown, que implicavam isolamento social, impossibilitava que os contratos de empregos típicos se desenvolvessem normalmente, e aquele momento foi a oportunidade, a chance perfeita para o contrato de trabalho intermitente (não típico) assumir o seu papel, à medida que, como dito pelo legislador celetista – da reforma trabalhista – é da essência desse tipo contratual alternar períodos de atividade com períodos de inatividade17
Entretanto, não foi o que aconteceu. Tal modelo de contrato seguiu como de baixa aceitação, permaneceu como coadjuvante, mesmo num momento tão propício à sua aplicação. E isso pode ser confirmado por dados estatísticos do sumário executivo do CA-
16 Na CLT, a previsão do contrato de trabalho intermitente está nos arts. 443, § 3º, 452-A e 611-A, VIII. 17 Art. 443, § 3º, da CLT: “Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria”.
GED daquela época. Por amostragem, vejam-se os indicadores de julho de 202118 :
houve 21.603 admissões e 13.938 desligamentos na modalidade de trabalho intermitente, gerando saldo de 7.665 empregos, envolvendo 5.085 estabelecimentos contratantes. Um total de 240 empregados celebrou mais de um contrato na condição de trabalhador intermitente. Do ponto de vista das atividades econômicas, o saldo de emprego na modalidade de trabalho intermitente distribuiu-se por Serviços (+4.517 postos), Construção (+1.678 postos), Indústria geral (+1.082 postos), Comércio (+324 postos) e Agropecuária (+64 postos).
Os dados mencionados ratificam, portanto, o baixo volume de contratação também à época da pandemia. Nota-se, então, que o contrato de trabalho intermitente não empolgou às partes e fez com que empregados e empregadores não optassem por esse modelo.
De maneira geral, o que se passa hoje com o modelo de contratação intermitente no Brasil é que, há tempos, ele não vem atendendo às expectativas da sociedade. Falta-lhe eficácia social. Nesse sentido, parece-nos relevante o que Rosa Maria de Andrade Nery explica:
Caso o intérprete perceba que a norma como posta não atende aos reclamos e aos anseios das instituições sociais (interpretação de lege lata), procura buscar argumento na construção de outra solução que a lei deveria ter dado, mas ainda não deu (interpretação de lege ferenda), àquela hipótese de fato. Toda essa elaboração argumentativa, que evidencia a necessidade de se criar novo texto de lei, texto 18 Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2021/arquivos/202107-sumario-executivo-caged.pdf. Acesso em: 29 jun. 2025.
esse que melhor atenda àqueles reclamos e anseios institucionais da sociedade organizada, comprova à evidência de que é longe da norma que o direito encontra seu fundamento último19
Ainda de um modo geral, acredita-se que a falta de eficácia social da lei (contrato de emprego intermitente) decorra em parte das suas omissões legislativas. Há lacunas. Segundo Aurora Tomazini de Carvalho: “Surge, assim, o conceito tradicional de ‘lacuna’ como a ausência de norma na ordem jurídica que regulamente determinado caso concreto”20
A lei do contrato de trabalho intermitente de nossa CLT carece de eficácia técnica. Pode-se se dizer, então, que sua estrutura não atende aos requisitos necessários para sua aplicação plena. Vale dizer, a lei em questão não atingiu as consequências jurídicas desejadas.
Já havíamos constatado isso quando da entrega da tese de doutorado, seguida da publicação do livro a respeito do tema. Identificou-se uma disciplina legal insuficiente, sem clareza, a fim de se dar segurança jurídica às partes contratantes. Nessa linha, percebemos também o destaque de Homero Batista:
Como tal, ainda depende de período de maturação e da observância dos desdobramentos jurisprudenciais. Carrega latente uma forma de precarização das relações de trabalho e, ao mesmo tempo, risco exacerbado para o empregador diante da pouca clareza dos dispositivos legais21
Na mesma direção, Leonardo Aliaga Betti, em sua obra Contrato de trabalho intermitente: análise à luz do conceito de trabalho decente no Brasil22 , concluiu: “O tópico final deste capítulo tem o propósito de destacar algumas das mais relevantes omissões legislativas a respeito do trabalho intermitente”.
Enfim, quase caminhando para o desfecho deste artigo, que não teve a pretensão de esgotar o tema, e nem poderia, não à toa que o título da obra que tive a oportunidade de publicar, fruto de minhas pesquisas no doutoramento, foi: “O contrato de trabalho intermitente brasileiro: a necessidade de regulação por meio da negociação coletiva”
Justamente, à falta de norma legal a contento, relegou-se à negociação coletiva o papel de atuar e buscar soluções nos espaços deixados pelo legislador. Procura-se, portanto, auxílio na norma coletiva – como legítima fonte autônoma do direito – para socorrer as lacunas deixadas pelo legislador da reforma trabalhista no contrato de trabalho intermitente.
Ora, se a “grama do vizinho é sempre mais verde”, e se um dia assim pensou o legislador da reforma trabalhista, como um dos motivos que o instigou a trazer o contrato de trabalho intermitente para solo pátrio – espelhando-se nas referências do direito estrangeiro (por exemplo: Portugal, Espanha, Itália e Reino Unido) – desde o seu nascimento, o contrato de trabalho intermitente – como já supramencionado – permanece despertando muitas dúvidas e incertezas. Conquanto o STF, por maioria, em 202423 , já tenha declarado a sua constitucionalidade, muitas questões ainda nos desafiam, remanescem a respeito desse assunto.
19 NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 54.
20 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito. O constructivismo lógico semântico. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 493.
21 BATISTA, Homero. CLT comentada. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024, p. 341.
22 BETTI, Leonardo Aliaga. Contrato de trabalho intermitente: análise à luz do conceito de trabalho decente no Brasil. São Paulo: Dialética, 2022, p. 249.
23 Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/contrato-de-trabalho-intermitente-e-constitucional-afirma-stf/. Acesso em: 27 jun. 2025.
A partir de dados empíricos, poder-se-ia listar aqui dezenas de assuntos que continuam despertando dúvidas sobre o contrato de trabalho intermitente. Porém, para que não escapemos do cerne deste artigo, apenas, a título exemplificativo, citemos algumas delas: (i) o contrato de trabalho intermitente celetista não se aplica ao trabalhador rural porque há lei especial tratando do assunto (Lei nº. 5.889/1973, art. 6º)?; (ii) cabe rescisão indireta do contrato de emprego se o empregado intermitente não é convocado?; (iii) empregada com contrato de trabalho intermitente tem direito à estabilidade para gestante?24 ; (iv) o contrato de trabalho intermitente é por prazo determinado, indeterminado, ou, uma espécie híbrida?; e (v) se o contrato de trabalho intermitente for por prazo indeterminado, cabe aviso prévio?25
Em última análise, pode-se concluir que, se, pela ótica do legislador, o contrato de trabalho intermitente busca imprimir flexibilidade para ajustar a necessidade de trabalho do empregado à demanda patronal, e com isso reduzir custos e encargos em períodos de menor atividade, na busca de otimização da gestão de pessoal, necessariamente, a legislação sobre o tema deve ser melhorada, seja por nova lei, seja pela atuação sindical mediante regulação por meio da negociação coletiva, mas, sempre, os olhos devem estar bem atentos para que não se precarize (ainda mais) a situação do trabalhador nesse modelo contratual.
Por fim mesmo, quem sabe essas reflexões postas aqui possam servir como uma inspiração, uma motivação a um capítulo inaugural em busca de uma próxima edição do meu livro sobre esse árido e ainda desafiador tema.
REFERÊNCIAS
BATISTA, Homero. CLT comentada. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024.
BETTI, Leonardo Aliaga. Contrato de trabalho intermitente: análise à luz do conceito de trabalho decente no Brasil. São Paulo. Dialética. 2022.
BROLIO, Raphael Jacob. O contrato de trabalho intermitente: a necessidade de regulação por meio da negociação coletiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2019.
CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito. O constructivismo lógico semântico. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2013.
LEGISLAÇÃO LABORAL PORTUGUESA.
2. ed.
24 Disponível em: https://www.tst.jus.br/-/vendedora-com-contrato-intermitente-terá-direito-à-estabilidade-para-gestantes. Acesso em: 25 jun. 2025.
25 Portaria MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021.
Coimbra: Coimbra Editora, 2009
NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
SOLOMBRINO, M.; IZZO, F.; DEL GIUDICE, F. Manuale di diritto del lavoro. 33. ed. Napoli: Grupo Editoriale Simone, 2015.
Outros sites consultados:
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/novo-caged/2025/ abril/sumario-executivo_abril-de-2025.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2021/arquivos/202107-sumario-executivo-caged.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf
file:///D:/Raphael/Videos/Downloads/relatorio_desenvolvimento_humano_2024_pnud_visao_geral_0. pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWI5NWI0ODEtYmZiYy00Mjg3LTkzNWUtY2UyYjIwMDE1YWI2IiwidCI6IjNlYzkyOTY5LTVhNTEtNGYxOC04YWM5LWVmOThmYmFmYTk3OCJ9&pageName=ReportSectionb52b07ec3b5f3ac6c749
https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475
https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/contrato-de-trabalho-intermitente-e-constitucional-afirma-stf/ https://www.gazzettaufficiale.it/eli/ id/2015/06/24/15G00095/sg
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/part/2A
https://www.tst.jus.br/-/vendedora-com-contrato-intermitente-terá-direito-à-estabilidade-para-gestantes
https://www.tst.jus.br/en/nugep-sp/tabela-de-recursos-de-revista-repetitivos
https://www.undp.org/pt/sao-tome-principe/news/ visao-geral-do-relatorio-do-desenvolvimento-humano-global-rdh-2023-2024#:~:text=O%20 novo%20Relat%C3%B3rio%20do%20Desenvolvimento,de%202024%2C%20em%20Nova%20Iorque
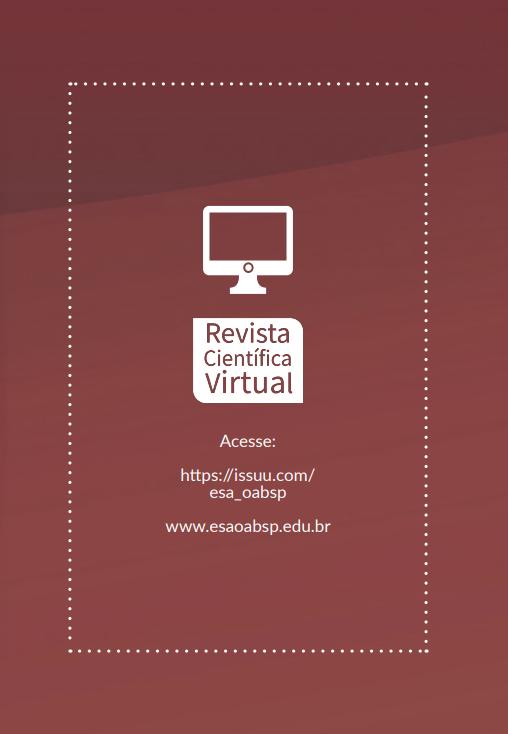


Edição 48 Ano 2025