Filipe Fontes
prefácio de jonas madureira
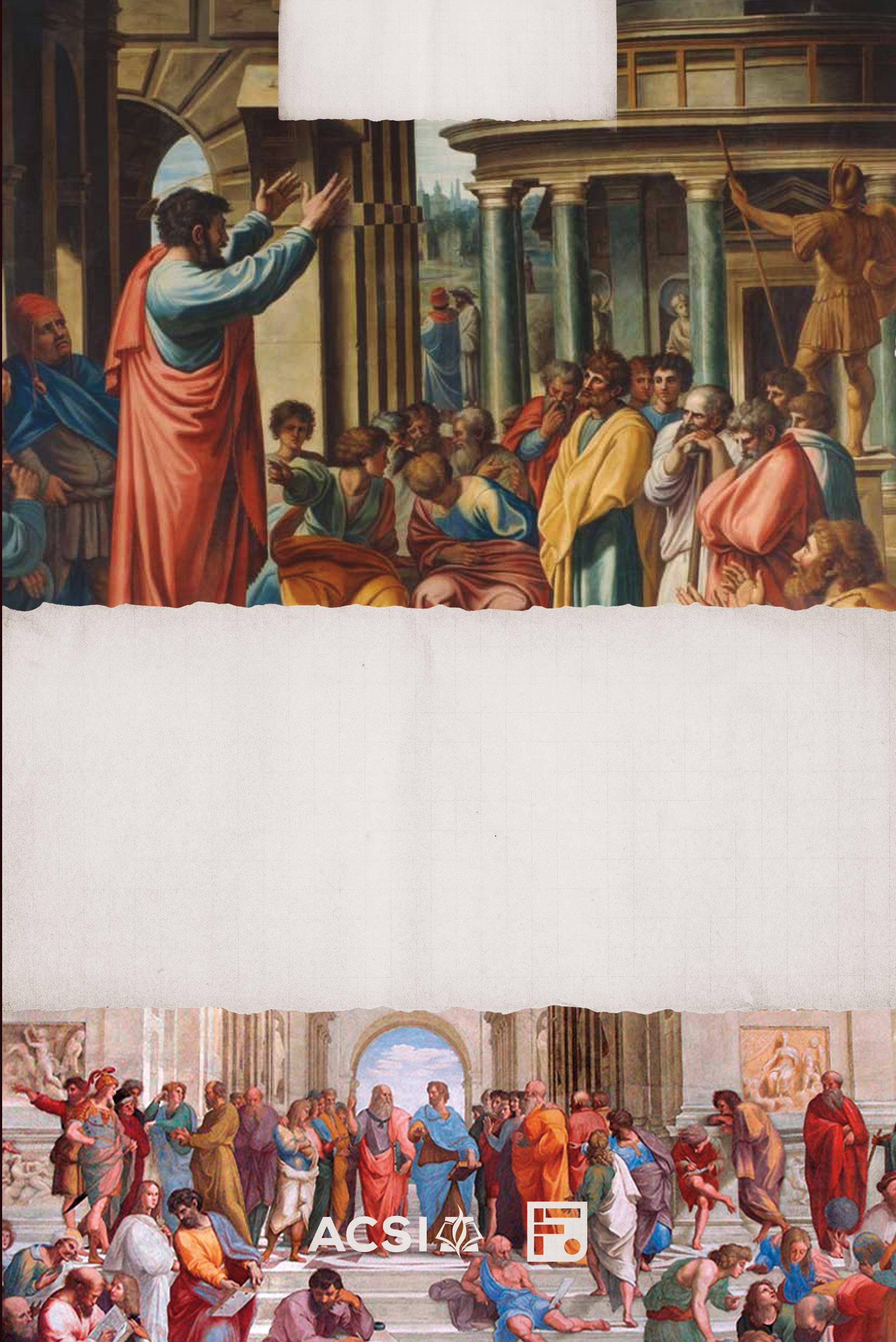

prefácio de jonas madureira
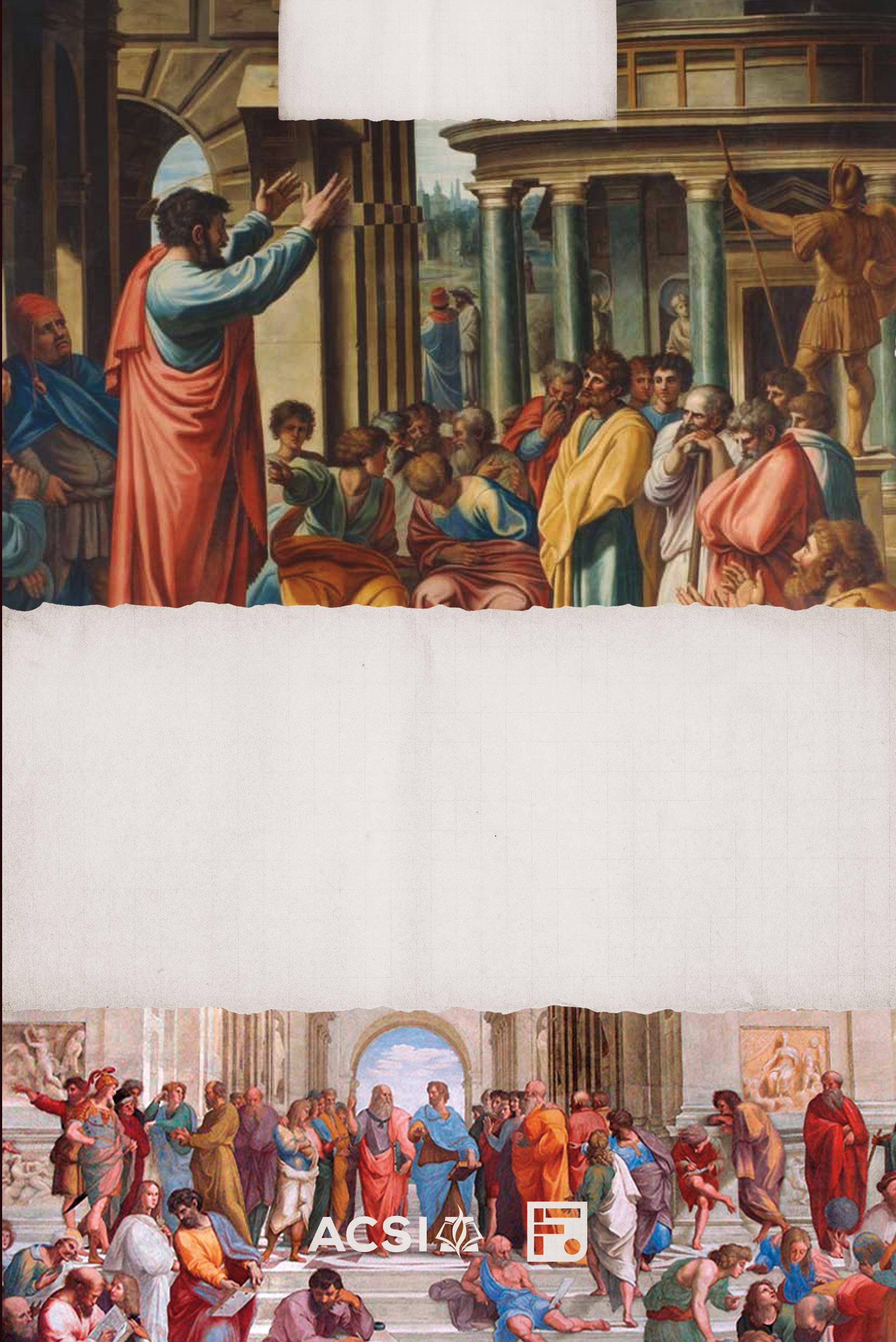
Uma introdução à realidade, ao conhecimento e aos valores
“Na cultura popular, falar como ‘filósofo’ é sinônimo de explicar temáticas difíceis com pensamentos abstratos, confusos, inacessíveis ao homem comum. Sou grato ao Senhor porque o Prof. Filipe Fontes é um filósofo que rompe com esse preconceito. Ele aborda as áreas clássicas da filosofia (ontologia, epistemologia, ética) com clareza, linguagem precisa e muito pedagógica para o iniciante. Se você, leitor, ama teologia, mas não vê muita utilidade na filosofia, saiba que nossa compreensão de certas linhas teológicas é enriquecida quando conhecemos as tendências filosóficas por detrás da teologia. O panorama do Prof. Filipe cobre várias escolas de filosofia que ajudarão o iniciante a se situar. Se, por outro lado, você gosta de testar seus neurônios em leitura de filosofia, é possível que esteja absorvendo informação sem o devido quadro de referência para emoldurar sua apreensão da filosofia. O Prof. Filipe termina o seu panorama de cada área da filosofia com uma reflexão sobre como a fé cristã interage com tal área. Por essas razões, este livro é para ambos os tipos de leitores. É tanto uma introdução aos iniciantes quanto uma expressão dos marcos de fé cristã que devem moldar nossa leitura da filosofia.”
Heber Campos Jr., pastor presbiteriano; professor de Teologia Histórica e Teologia Sistemática no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e no Seminário JMC
“A filosofia é incontornável para todo ser humano, não interessa o período da história em que viveu, a educação que recebeu ou mesmo como se encerrou sua vida.
Todos nós, em níveis variados, somos confrontados por nossas próprias perguntas a respeito da própria realidade, sobre o conhecimento e os nossos valores. Ainda que busquemos evitar gastar muito tempo com essas questões profundas, elas vão, mais cedo ou mais tarde, nos espantar e nos colocar para pensar. Foi dessa forma que os primeiros filosofaram na Grécia Antiga, e nós, ainda hoje, precisamos pensar filosoficamente. No entanto, nem sempre contamos com recursos e ferramentas que nos auxiliem nessa tarefa — principalmente se você é um discípulo de Cristo e está preocupado não apenas em encontrar respostas para suas questões últimas, mas honrar o seu Deus com todo o seu entendimento. A obra que você tem em mãos é uma pérola para esse fim! O reverendo Filipe Fontes é um mestre da Igreja. Ele tem o raro dom de explicar argumentos complexos de forma didática e serena, fazendo-nos acreditar que é possível percorrer com clareza e segurança caminhos filosóficos e teológicos que podem parecer sinuosos. Recomendo com entusiasmo sua abordagem triperspectivista sobre a filosofia! Temos uma excelente oportunidade de nos ocuparmos uma vez mais com questões fundamentais para nossa vida, mas, agora, de uma maneira que elas permaneçam entrelaçadas umas com as outras e dependentes da direção do Criador.”
Pedro Lucas Dulci, pastor efetivo na Igreja Presbiteriana Bereia (Goiânia, GO); coordenador pedagógico do Invisible College
“Mentir é pecado — e crer em mentiras também. Pensar errado não é apenas um erro técnico: é um problema espiritual. Este livro é um convite à lucidez, à responsabilidade intelectual e à fidelidade bíblica num mundo cheio de confusão. Com clareza e profundidade, Filipe Fontes mostra que a fé cristã não dispensa o pensamento, mas o redime. Este não é só um manual de filosofia, mas um manifesto contra o anti-intelectualismo que ainda ronda o meio evangélico. E, ao mesmo tempo, é um alerta contra o erro oposto: usar a razão para buscar prestígio, e não a verdade; vencer debates, e não glorificar a Deus. Aqui, a razão volta ao seu lugar: serva da Revelação. Um livro que forma a mente sem esfriar o coração — e que convida o leitor a amar a Deus com todo o seu entendimento.”
Mauro Meister, pastor na Igreja Presbiteriana da Barra Funda (São Paulo, SP); professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper; diretor da Associação Internacional de Escolas Cristãs
“Ideias têm consequências. Essa noção deveria nos mover não apenas na direção de cultivar boas ideias e pensamentos, como Paulo nos orienta em Filipenses 4.8, mas também de promover a reflexão sobre as diferentes ideias e propostas que nos cercam. Neste livro, que será útil a estudantes e professores, a leigos e pesquisadores, a líderes e liderados, a pais e filhos, o Rev. Dr. Filipe Fontes nos guia em uma caminhada importante para entender as principais questões e correntes da filosofia, que têm influenciado a maneira como eu e você vivemos no dia a dia. Mais do que isso, ele nos oferece um mapa para interpretar e avaliar essas visões
a partir de uma base firmada na sabedoria bíblica. Este é o livro que eu gostaria de ter lido no fim do ensino médio ou ao longo da universidade, mas que agora posso usar para servir à igreja.”
Allen Porto, pastor na Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos (SP); professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper; autor de Produtividade Redimida
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Fontes, Filipe
Filosofia essencial para cristãos : uma introdução à realidade, ao conhecimento e aos valores / Filipe Fontes. -- 1. ed. -- São José dos Campos, SP : Editora Fiel, 2025.
ISBN 978-65-5723-428-0
1. Bíblia - Estudo 2. Cristãos 3. CristianismoFilosofia 4. Filosofia cristã I. Título.
25-292909.0
Índices para catálogo sistemático:
1. Cristianismo : Filosofia 230.1
Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964
Filosofia essencial para cristãos: uma introdução à realidade, ao conhecimento e aos valores
Copyright © 2025 por Filipe Fontes. Todos os direitos reservados.
Copyright © 2025 Editora Fiel
Primeira edição em português: 2025
Todos os direitos em língua portuguesa reservados por Editora Fiel da Missão Evangélica Literária.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO DESTE
LIVRO POR QUAISQUER MEIOS, SEM A PERMISSÃO ESCRITA DOS EDITORES, SALVO EM BREVES CITAÇÕES, COM INDICAÇÃO DA FONTE.

CDD-230.1
As citações bíblicas sem indicação da versão foram extraídas da Almeida Revista e Atualizada (ARA © 1993 Sociedade Bíblica do Brasil). As citações com indicação da versão in loco foram extraídas da Almeida
Século 21 (A21 © 2008 Edições Vida Nova).
Diretor: Tiago J. Santos Filho
Editor-chefe: Vinicius Musselman Pimentel
Editor: André G. Soares
Coordenação Gráfica: Michelle Almeida
Preparação: André G. Soares
Revisão de Provas: Zípora D.V. de Lima
Diagramação: Jorge Simionato
Capa: Jorge Simionato
ISBN brochura: 978-65-5723-428-0
ISBN ebook: 978-65-5723-429-7
ISBN audiolivro: 978-65-5723-430-3
Caixa Postal 1601
CEP: 12230-971
São José dos Campos, SP PABX: (12) 3919-9999 www.editorafiel.com.br
O pensamento e o entendimento verdadeiros são uma expressão tão válida da nossa resposta a Deus quanto as ações e as palavras verdadeiras, e são igualmente significativos para trazer glória ao Deus da verdade. Em um tempo em que, para muitos, a prática é o critério da verdade, é necessário enfatizar que a busca da própria verdade honra a Deus.
Bruce Milne
A publicação de um livro é sempre a culminação de uma história. A deste começa há cerca de 20 anos, quando comecei a perceber a importância da filosofia, impactado por professores que tinham, em seu currículo, alguma formação filosófica. Os primeiros impactos ocorreram ainda durante minha graduação em Teologia, no Seminário Teológico Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição. Mas os mais profundos vieram nas aulas do Dr. Davi Charles Gomes, durante o mestrado no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Com Davi, mestre a quem hoje tenho o privilégio de chamar de amigo, aprendi muito do que está neste livro, e aquilo que antes era apenas uma percepção — o valor e a importância da filosofia para a fé e a vida cristã — passou a ser compreendido com maior clareza. Sou profundamente grato pelas instituições e professores com os quais tive o privilégio de
Filosofia essencial para cristãos
estudar e, ao mencionar o Dr. Davi, espero homenagear todos eles.
O material deste livro não foi produzido da noite para o dia. Grande parte nasceu das aulas de Introdução e História da Filosofia, Epistemologia e Ética, ministradas em escolas teológicas nas quais tive e ainda tenho o privilégio de ensinar. As duas principais, já mencionadas, são o Seminário JMC e o Andrew Jumper. É uma dádiva poder ensinar, há 15 anos, no mesmo seminário em que me formei e, há 11, no centro de pós-graduação onde me especializei. Deus tem sido extremamente generoso comigo também nesse aspecto, e, por isso, sou sinceramente grato. Agradeço aos diretores pela confiança e aos colegas e alunos pela rica interação, que certamente contribuiu para a concepção das ideias aqui apresentadas.
O encorajamento para transformar este material em livro veio do meu amigo Dr. Mauro Meister, e a publicação só se concretizou graças à generosidade de Vinicius Musselman, outro amigo querido. Registro aqui minha gratidão a ambos.
Nos últimos dias de preparação do manuscrito, Jonas Madureira, Noemih Sá, Wellington Castanha e João Batista dos Santos Almeida ofereceram sugestões
que enriqueceram significativamente o texto. Sou devedor a cada um deles por terem dedicado parte de seu tempo, sempre precioso e escasso, à leitura deste material. As eventuais fragilidades e imprecisões que porventura tenham permanecido são de minha exclusiva responsabilidade.
Por fim, agradeço à minha família — Lenice, Ana Lívia e Daniel —, que, de maneira generosa, me concederam o tempo necessário para o estudo, além de participarem comigo de conversas filosóficas no carro ou ao redor da mesa. Muito obrigado por trilharem comigo essa aventura de experimentar a realidade, expandir o conhecimento e viver à luz da verdade.
Ao Senhor, fonte de toda existência, sabedoria e justiça, seja a glória, eternamente!
Prefácio
Introdução
Parte 1 – Questões introdutórias
Capítulo 1 – A origem da filosofia
Capítulo 2 – Uma definição de filosofia
Capítulo 3 – O objeto da filosofia
Parte 2 – Ontologia: a questão da realidade
Capítulo 4 – Ontologia
Capítulo 5 – O realismo e o início da revolução
Capítulo 6 – O criticismo e o anúncio da revolução
Capítulo 7 – O antirrealismo e os efeitos da revolução
Capítulo 8 – Fé cristã e ontologia
Parte 3 – Epistemologia: a questão do conhecimento
Capítulo 9 – Epistemologia
Capítulo 10 – Racionalismo
Capítulo 11 – Empirismo
Capítulo 12 – Subjetivismo
Capítulo 13 – Fé cristã e epistemologia
Parte 4 – Ética: a questão dos valores
Capítulo 14 – Ética
Capítulo 15 – Fé cristã e ética
Conclusão
Há perguntas que atravessam os séculos sem perder força. A questão da origem da filosofia é uma delas. Entretanto, não se trata de uma indagação exclusiva para especialistas em história da filosofia. É, antes, uma questão que, de certo modo, atrai qualquer pessoa que já tenha se perguntado sobre o sentido da vida, a natureza da realidade ou o fundamento da verdade.
Quando falamos da “origem” da filosofia, precisamos considerar duas dimensões. Podemos nos referir à sua dimensão histórica, isto é, ao momento e ao contexto cultural em que aquilo que chamamos de filosofia começou a existir como prática reconhecida, com nomes, métodos e representantes. Mas também podemos falar de uma dimensão inerente à própria condição humana. Afinal, desde o Éden, somos todos não apenas teólogos, mas também filósofos.
O livro que você está prestes a ler não ignora a questão da origem da filosofia. Pelo contrário, parte justamente dessas duas dimensões e, ao fazê-lo, desafia algumas das respostas que costumamos aceitar sem muito questionamento. Antes de mergulhar nessa reflexão, vale situar o tema e perceber o que está em jogo. A partir da dimensão histórica, o ser humano é, por natureza, concebido como um contador de histórias. Não nos basta viver. Temos de narrar o que vivemos. Quando buscamos compreender o mundo ou a nós mesmos, quase sempre o fazemos contando uma história que nos leva ao princípio das coisas. É assim com os povos, com as religiões, com as famílias, e não poderia ser diferente com a filosofia.
Há, pelo menos, duas grandes narrativas sobre onde e quando a filosofia começou. A primeira, mais popular e amplamente repetida em salas de aula e livros introdutórios, é a origem da filosofia na Grécia Antiga, conhecida pela tese de Ernest Renan (1823–1892) sobre o “milagre grego”. Nessa perspectiva, a filosofia é uma criação exclusiva dos gregos. A história costuma ser contada mais ou menos assim: após milênios de pensamento mítico, preso às explicações religiosas e simbólicas, o espírito grego, por uma combinação
peculiar de fatores políticos, econômicos, artísticos e religiosos, deu um salto e inventou algo novo — o pensamento racional, sistemático, crítico. Portanto, de Tales a Aristóteles, teríamos o nascimento e a consolidação de uma forma de pensar que nunca havia existido antes na história universal.
A segunda narrativa, menos divulgada, é da origem da filosofia no Oriente, sobretudo, na Índia, na China, na Babilônia etc.1 Aqui, a filosofia não é vista como um ato de criação absoluto, mas como fruto de influências mais antigas, vindas do Oriente: da África, da Índia, da China. Os gregos teriam herdado, direta ou indiretamente, através de contatos comerciais e culturais, elementos de tradições milenares de reflexão, incorporando-os ao seu modo de pensar. Essas duas histórias competem entre si há muito tempo. Desde um passado remoto, encontramos defensores apaixonados do “milagre grego” e críticos que preferem destacar a dívida com o Oriente. Fato é que ambas são plausíveis, e o dilema de escolher uma ou outra talvez seja falso. É possível, e até provável, que a filosofia tenha surgido de
1 Há quem defenda as origens da filosofia também em Israel e até mesmo na Mesoamérica. Veja Alexus McLeod, An Introduction to Mesoamerican Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2023); Yoram Hazony, The Philosophy of Hebrew Scripture (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
Filosofia essencial para cristãos
uma combinação de fatores, ou seja, de um encontro entre o terreno fértil da cultura grega e as sementes de sabedoria de outras civilizações.
Em contrapartida, a partir da dimensão inerente à própria condição humana, é possível aventar a possibilidade de a filosofia sequer ter tido uma data de nascimento. Ora, quando dizemos que a filosofia nasceu na Grécia ou na China, na Índia ou na Babilônia, o que exatamente chamamos de filosofia? Essa é uma pergunta decisiva, porque a resposta define como entendemos não só o passado, mas o próprio filosofar. Muitos manuais, de forma mais ou menos explícita, assumem que “filosofia” significa “amor pela sabedoria”, algo que inclusive se opõe a uma sabedoria já alcançada, como é o caso do pensamento mítico ou religioso, por exemplo. Essa definição, aparentemente simples, carrega um pressuposto ideológico considerável: implica entender que filosofar é deixar para trás qualquer dependência de crenças religiosas, entrando num terreno puramente neutro e não posicionado. Nesse caso, ela é apenas um amor. Ou seja, filosofia não é sophia (sabedoria) é filosophia (amor pela sabedoria).
Mas isso condiz com a realidade? Filipe Fontes responde com um enfático “não”. Toda filosofia nasce de
convicções últimas, e mesmo as mais seculares mantêm, de algum modo, um núcleo que funciona como um absoluto, algo que não depende de nada mais. A ideia de uma neutralidade religiosa é, nesse sentido, um mito moderno. Se essa análise estiver correta, a narrativa do nascimento da filosofia na Grécia, entendida como a inauguração de um pensamento totalmente desvinculado da religião, precisa ser revista. Podemos até admitir que, de todos os lugares por onde a filosofia passou, a Grécia, sem dúvida, foi o lugar onde ela se estabeleceu como a tradição mais técnica e sistemática de reflexão filosófica já vista no mundo. Estamos de acordo com isso. Há que se reconhecer essa façanha sem muitos esforços. Todavia, seria bem difícil demonstrar que apenas os gregos foram os primeiros a dar o impulso filosófico na história da humanidade. É aqui que a discussão histórica cede espaço para a pergunta mais importante da filosofia: por que filosofamos? O que, na experiência humana, desperta o pensamento filosófico? Desde a Antiguidade, a resposta mais influente foi dada por Platão e Aristóteles: a filosofia nasce do espanto, do thaumazein. Não é a dúvida que está na raiz, mas a admiração, o maravilhar-se diante do mundo e das questões que ele suscita.
Filosofia essencial para cristãos
Esse espanto é mais do que curiosidade. É um choque diante da ordem e do mistério da realidade. É o que leva Tales a perguntar qual é a substância primordial de todas as coisas, ou Anaximandro a pensar no infinito, ou Heráclito a refletir sobre o fluxo das mudanças. É o que, séculos depois, leva Descartes a desconfiar de tudo para encontrar um fundamento seguro, ou Kant a se maravilhar com as formas a priori de conhecimento.
Fontes retoma essa noção clássica do espanto, porém a enriquece com uma perspectiva teorreferente.
Se o ser humano é o único entre os seres que se espanta e busca sentido, isso se deve ao fato de que fomos criados à imagem de Deus. Ele mesmo plantou a eternidade no coração humano, e é isso que nos leva a buscar explicações últimas para nossa experiência. O impulso de filosofar, por ser uma expressão da imago Dei, não é um fim em si mesmo. A filosofia, entendida assim, não é apenas a busca por conhecimento abstrato; é, mais profundamente, parte da busca por Deus. Mesmo os que rejeitam explicitamente a fé não conseguem escapar desse movimento: ao buscar significado, pressupõem que o mundo tem sentido e que esse sentido pode ser encontrado.
ÁCIO
Além disso, Filosofia Essencial para Cristãos mostra, de forma convincente, que toda filosofia acaba por reconhecer algo divino, no sentido de um “princípio último” (arché) ou um “elemento primordial” (stoicheion).
Pode ser a água de Tales, a Forma do Bem de Platão, o Primeiro Motor Imóvel de Aristóteles, a Natureza em Espinosa, o númeno de Kant, o Absoluto de Hegel, ou o Místico no Tractatus de Wittgenstein. Mesmo na esfera epistemológica, onde a razão humana costuma ser tratada como autossuficiente, um tribunal que não se submete a nenhuma instância superior, há um “sujeito cognoscente” ou um “sujeito transcendental” sendo concebido como princípio último. A filosofia, portanto, sempre parte de algo. Entre filósofos cristãos, não seria diferente. Mas, nesse caso, a filosofia encontra seu início e destino somente quando é iluminada pela Revelação. O espanto pode até iniciar a jornada, mas o fim último está naquele “em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos” (Cl 2.3).
O leitor não encontrará aqui um manual convencional de história da filosofia, preocupado apenas em listar datas, nomes e teorias. O que encontrará é um convite à reflexão sobre o próprio ato de filosofar, sobre o que ele significa e sobre o fim para o qual nos
Filosofia essencial para cristãos
conduz. Esse é um ponto especialmente relevante em um tempo como o nosso, em que a filosofia muitas vezes é reduzida a um campo acadêmico isolado, distante da vida real, ou então confundida com mera opinião de quem fala o que já sabemos, embora com palavras que não compreendemos. Recuperar a noção de que filosofar é responder a um chamado, que é, no fundo, um chamado de Deus, muda a forma como nos aproximamos do pensamento.
Ao longo da leitura, você será levado a percorrer o terreno das explicações históricas e, ao mesmo tempo, a refletir sobre a “raiz existencial” da filosofia. Verá como as teses dos grandes filósofos da humanidade se relacionam com a questão mais ampla do sentido de filosofar. E, sobretudo, será desafiado a considerar que a história da filosofia não começa apenas em Mileto ou em Atenas, mas no Éden, quando o ser humano, diante da criação, deu os primeiros passos de sua jornada intelectual e espiritual. O texto não nega a importância dos grandes marcos da história do pensamento. Pelo contrário, reconhece que a Grécia Antiga foi um laboratório extraordinário de ideias, que moldou a tradição ocidental e deu forma a categorias que ainda usamos. Mas ele nos convida a
olhar além da cronologia, para perceber que a filosofia é, antes de tudo, um movimento do coração.
Este prefácio é apenas uma antessala. A verdadeira viagem começa agora, quando você abrir as páginas seguintes e se deixar conduzir pelas hábeis linhas de raciocínio de Filipe Fontes, um amigo precioso que Jesus nos deu o privilégio de chamar de irmão. Leia sem pressa. Não se contente em apenas colher informações. Permita-se sentir o peso das perguntas e a clareza das articulações do pensamento. Talvez você se descubra mais próximo da filosofia do que imaginava. Talvez perceba que, em certo sentido, já é um filósofo, não porque domina conceitos técnicos, mas porque já se espantou com a vida e já buscou entender o seu significado. Se isso acontecer, este livro terá cumprido seu papel mais profundo: não apenas ensinar filosofia, mas despertar o desejo de filosofar e, acima de tudo, filosofar a partir de uma referência explícita: o Deus das Escrituras, não o deus dos filósofos.
Jonas Madureira Pastor na Igreja Batista da Palavra Professor de filosofia na Universidade Presbiteriana Mackenzie
Ainda durante o tempo de estudo teológico no seminário, tive uma intuição: a de que algum conhecimento de filosofia poderia ser importante para o exercício do ministério pastoral. Àquela altura, era apenas intuição mesmo. Eu não tinha nenhuma consciência das razões pelas quais uma coisa, eventualmente, estaria relaciona à outra. Vinte anos se passaram desde que saí do seminário. Desses 20, já há 15, ensino disciplinas relacionadas à filosofia em escolas teológicas. O que era intuição tornou-se uma convicção ampliada: um pouco de filosofia pode ser importante não apenas para o pastor, mas para todo cristão.
Sei que essa afirmação pode causar estranhamento. Afinal, vivemos em um contexto no qual é comum falar-se em uma tensão entre fé e racionalidade.
Mark Twain, o cético autor americano de romances como Tom Sawyer e Huckleberry Finn, certa vez brincou: “(Fé é) acreditar naquilo que você sabe que não é verdade.” Previsivelmente, os diversos “novos ateus” nos dizem que há uma incompatibilidade fundamental entre a crença religiosa e a ciência baseada em evidências. Apesar de repetidas refutações de críticos muito diferentes entre si, como Jonathan Sacks, Rowan Williams e John Lennox, Richard Dawkins insiste em declarar: “Porque os moderados são tão gentis, todos nós crescemos com a ideia de que há algo de bom na fé religiosa… que há algo de bom em criar crianças para terem fé… O que significa acreditar em algo sem evidências e sem a necessidade de justificá-lo.1
Se apenas os inimigos pensassem assim, seria compreensível. O problema é que muitos cristãos pensam de modo semelhante. Muitos entre nós concebem a relação com Deus como uma experiência mística, relacionada exclusivamente aos afetos, que pouco ou nada
1 William Edgar, The Christian Mind: Escaping Futility (Edimburgo: The Banner of Thuth, 2018), p. 13.
tem a ver com a vida da mente. Você, provavelmente, já viu afirmações bíblicas tais como “a letra mata” ou “o saber ensoberbece” serem tiradas de contexto e utilizadas com a finalidade de sugerir que a razão é inimiga da fé. Nancy Pearcey descreve esse cenário e seus efeitos com as seguintes palavras:
Na qualidade de ser moral, o cristão segue a ética bíblica. Na qualidade de ser espiritual, ele ora e frequenta cultos de adoração. Mas na qualidade de ser pensante, o cristão moderno sucumbe diante da secularização, aceitando um quadro de referência construído pela mente secular e um conjunto de critérios que espelham avaliações seculares. Ou seja, quando entramos no fluxo de discurso em nosso campo de atuação ou profissão, participamos mentalmente como nãocristãos e nos servimos de conceitos e categorias vigentes, pouco importando quais sejam nossas crenças particulares.2
2 Nancy Pearcey, Verdade Absoluta: Libertando o Cristianismo de Seu Cativeiro Cultural, trad. Luis Aron (Rio de Janeiro: CPAD, 2016), p. 36.
Embora comum, essa ideia de que fé e racionalidade são contraditórias é um grande equívoco. Primeiro, porque Deus é um ser racional. A Bíblia diz que ele é “perfeito em conhecimento” (Jó 37.16) e conhece perfeitamente “todas as coisas” (1Jo 3.20). Ela lhe atribui atividades intelectuais como planejar (Jr 29.11) e arrazoar (Is 1.18), além de apresentar o Filho eterno de Deus como o Logos (a Palavra; Jo 1.1), um termo grego utilizado pela filosofia clássica em referência à ordem ou racionalidade do cosmos.3
Em segundo lugar, é problemático enxergar uma tensão entre fé e racionalidade porque nós somos seres racionais. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para experimentarmos, na qualidade de criaturas, muitos dos atributos do Criador, dentre os quais está o da racionalidade. A capacidade que temos de analisar esta realidade em que vivemos é um traço
3 Ao apresentar essa aproximação, não estamos sugerindo que o significado atribuído por João à palavra tenha sido o de seu uso filosófico regular. Como diz Claudio Moreschinni: “se o autor do quarto Evangelho definiu o Filho de Deus como ‘Logos’, essa palavra foi interpretada como a suma Sabedoria, e o Filho foi identificado com a sabedoria de que falava um texto veterotestamentário [...] a influência da filosofia grega jamais foi recebida passivamente, pois foi filtrada por uma experiência e problemática tipicamente cristãs: o mesmo Logos de João, de que acabamos de falar, não é um conceito abstrato, mas entra de modo direto em relação com os homens, porque se faz carne, e é o próprio Cristo que sofreu morte de cruz; a morte de Deus é, para os judeus, escândalo, e para os gregos, loucura, mas é o essencial da mensagem cristã (1 Cor 1,23)” (Claudio Moreschini, História da Filosofia Patrística, 2ª ed. [São Paulo: Loyola, 2013], p. 19).
claro da imagem de Deus em nós, que nos diferencia de todos os demais seres criados e enriquece a nossa experiência do mundo.
Neste ponto, é importante lembrar que o cumprimento das tarefas básicas para as quais fomos criados — em especial, a tarefa de guardar e cultivar o jardim, aquilo que chamamos de mandato cultural — exige o envolvimento do nosso intelecto.
Não é de se admirar que nós, cristãos, tenhamos fundado as primeiras universidades e estabelecido escolas e faculdades por onde quer que nossos missionários tenham ido. Nem que a ciência tenha começado na Europa cristã, baseada na crença de que o mesmo Deus racional que criou a mente humana também criou o mundo, de modo que a mente pudesse discernir a estrutura racional que Deus colocou na criação. Deus certamente não é um elitista cultural, nem ama os intelectuais mais do que qualquer outra pessoa. Mas é necessário afirmar, ao mesmo tempo, que a ignorância não é uma
virtude cristã, pois as virtudes cristãs devem refletir a perfeição do caráter de Deus.4
Finalmente, não pode haver contradição entre fé e racionalidade porque Deus “determinou que a revelação mais clara e mais categórica de si mesmo, neste lado do céu, viesse por meio de sua Palavra escrita: a Bíblia”.5
Ora, a Bíblia é um livro, e não há como nos beneficiarmos de um livro sem que a nossa mente esteja envolvida em nossa relação com ele. “Ler envolve pensar — o maravilhoso ato de reconhecer símbolos e fazer conexões que nos capacitam a formar significados”.6
4 J. P. Moreland, Love Your God with All Your Mind: The Role of Reason in the Life of the Soul (Colorado Springs: NavPress, 2012), p. 47.
5 John Piper, Pense: A Vida da Mente e o Amor de Deus, trad. Francisco Wellington Ferreira (São José dos Campos: Editora Fiel, 2013), p. 60.
6 Ibid., p. 65. Piper ilustra bem o lugar da mente na atividade de leitura com a seguinte ilustração: “Envio-lhe uma mensagem: ‘encontro você na Hut às cinco’. O objetivo de ler essa mensagem não é uma experiência mística ou uma reconstrução criativa. O objetivo é que minha ideia — minha intenção — se mova de minha mente para a sua mente. Isso envolve pensar. Fazemos isso com tanta frequência que não há quase nenhum esforço neste ato. Você constrói o significado de: encontro (ir ao mesmo lugar e encontrar um ao outro); você (isso significa você, e não ele, ou ela, ou eles, mas você); na (o lugar designado, não outro; há mais do que uma pizzaria, mas eu e você temos bastante experiência para saber que é ‘esta’); Hut (o nosso jargão para a pizzaria do centro da cidade); às (o tempo designado, não uma hora mais cedo ou mais tarde); cinco (não passos, não anos, não o endereço, mas a “hora”; e à tarde — sabemos isso de nosso uso comum). Seu cérebro está realmente trabalhando enquanto você lê e constrói o significado dessa mensagem. Mas você é tão bom nisso que não precisa de esforço. Sua mente está excelentemente treinada para isso [...] Só reconhecemos quão grande é esse desafio quanto começamos a ler textos mais complexos — textos que têm palavras incomuns, ou sentenças intrincadas, ou conexões lógicas que não ficam claras imediatamente. Quando isso acontece, ou desistimos logo, ou pensamos com mais empenho” (p. 64-65).
O fato de Deus nos ter dado a sua Revelação especial como um livro implica que tanto a conversão quanto a santificação envolvem o nosso intelecto. Quando Filipe se encontrou com o eunuco de Candace, que lia o profeta Isaías enquanto voltava de Jerusalém, a pergunta que lhe fez foi: “Compreendes o que vens lendo?” (At 8.30). E, quando o apóstolo Paulo apresentou a condição para que os romanos tivessem uma vida completamente impactada pelo Evangelho — o que ele chama de “a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” —, a condição apresentada por ele foi: “transformai-vos pela renovação da vossa mente” (Rm 12.2).
Alguém poderia argumentar que funcionar racionalmente e fazer filosofia são coisas diferentes. Não estaria errado, mas também não estaria completamente certo; pois, como mostraremos nos capítulos iniciais deste livro, antes de ser uma disciplina teórica, a filosofia é uma necessidade existencial. E, mesmo quando se constitui em disciplina teórica, o que ela faz é promover a articulação de tópicos fundamentais que são a própria condição para a possibilidade da nossa experiência na realidade. Isso significa que, no que diz respeito à filosofia, existem apenas dois tipos de pessoas: as que sabem
que dependem dela, e as que dependem dela, mas não sabem.
Para o cristão, ignorar completamente reflexões filosóficas pode ser arriscado, já que somos sujeitos decaídos, vivendo em um mundo que jaz no maligno.
Este momento da História da Redenção é caracterizado por uma antítese religiosa que se manifesta tanto em nossa subjetividade quanto na cultura que nos cerca, na qual, frequentemente, o pensamento dominante se baseia em pressupostos antagônicos aos pressupostos bíblicos ou cristãos. Em um contexto como esse, ignorar o universo do pensamento significa abrir-se à influência desses pressupostos e permitir que eles penetrem sorrateiramente em nossa mente, comprometendo a nossa integridade. “Se os cristãos não desenvolvem suas próprias ferramentas de análise, quando surge um assunto que querem entender, eles têm de pedir emprestado as ferramentas de outra pessoa e acabam aceitando qualquer conceito em seu campo profissional ou na cultura em geral”.7
O propósito deste livro é ajudar cristãos que desejam ser intencionais no desafio de pensar como tais. Ele é um conjunto de lições introdutórias sobre
7 Pearcey, Verdade Absoluta, p. 48.
filosofia e aborda as questões filosóficas maiores, que estão na base de toda a nossa atividade intelectual: a realidade, o conhecimento e os valores. O pressuposto aqui adotado é o de que um alicerce bem construído é essencial para que um edifício permaneça em pé. Este livro não é extenso como outras obras introdutórias e procura resumir, em linguagem mais acessível, embora rigorosa, a maneira como a filosofia em geral tem enfrentado essas questões ao longo da história, considerando as respostas oferecidas por ela à luz dos princípios da cosmovisão cristã. Nosso desejo é que, ao fim do texto, o leitor tenha recebido uma moldura teoreferente8 para conduzir o seu pensamento e, desse modo, tenha crescido no propósito de amar ao Senhor com todo o seu entendimento. “É necessário que haja boa filosofia, senão por outra razão, porque a filosofia ruim precisa de uma resposta”.9
8 Teoreferência é um conceito empregado por Davi Charles Gomes para indicar que Deus é o ponto de referência último de toda a existência tanto do homem regenerado, pelo poder do Espírito e da Palavra de Deus, quanto do homem não regenerado. Veja Davi Charles Gomes, “A Metapsicologia Vantiliana: Uma Incursão Preliminar”, Fides Reformata 11, n. 1 (2006): 116.
9 C. S. Lewis, O Peso da Glória, trad. Estevan Kirschner (Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2017), p. 62.
Começar do começo costuma ser uma boa escolha. No caso deste livro, o começo é a discussão sobre a origem da filosofia. Antes de tudo, devemos dizer que essa questão pode ser discutida em dois sentidos diferentes: o sentido histórico, se estivermos pensando na ocasião em que a filosofia nasceu, e o sentido existencial, se estivermos pensando na razão pela qual fazemos filosofia. Neste capítulo, lidaremos com ela em ambos os sentidos.
Quanto à origem histórica, há duas teses clássicas.1
A primeira, mais popular, é a de que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, como produto da genialidade
1 Veja Giovanni Reale e Dario Antiseri, História da Filosofia, Volume 1: Filosofia Pagã Antiga, trad. Ivo Storniolo (São Paulo: Paulus, 2005), p. 11.
Filosofia essencial para cristãos
do homem grego. Essa tese, conhecida como tese do milagre grego, sustenta que, a partir de elementos intrínsecos, como a sua arte, religião e organização político-econômica, os gregos teriam desenvolvido um modo de pensamento novo, completamente sem precedentes nas civilizações anteriores.
A segunda, menos celebrada, é a de que a filosofia teria nascido no Oriente, mais especificamente na África, na China e na Índia. A tese orientalista, como é conhecida, se fundamenta na eventual existência de paralelos entre as ideias dos primeiros filósofos gregos e as ideias de alguns pensadores orientais, e sugere que gregos teriam absorvido elementos da sabedoria oriental a partir do contato comercial e cultural que estabeleceram com os povos do Oriente. Essa não é uma controvérsia recente. Ainda na virada do segundo para o terceiro século, Diógenes Laércio, o primeiro grande biógrafo dos filósofos, defendeu o gênio grego contra a ideia de que a filosofia teria nascido em outros lugares. Ele escreveu:
Frequentemente, pretendeu-se que a filosofia havia nascido no estrangeiro. Aristóteles (Livro da Magia) e Socião (Filiações)
dizem que os Magos, na Pérsia, os Caldeus, na Babilônia e na Assíria, os Gimnosofistas, na Índia, e uma gente chamada Druidas e Senoteus, entre os Celtas e Gauleses, foram seus criadores [...]. Por seu turno, os egípcios pretendem que Hefesto, o criador dos princípios da filosofia ensinados pelos padres e profetas, era filho do Nilo [...]. Porém, ao atribuir aos estrangeiros as próprias invenções dos gregos, todos esses autores pecam por ignorância, pois os gregos deram nascimento não só à filosofia, mas a todo o gênero humano. Registramos: em Atenas nasceu Museu e em Tebas, Linos. Museu, filho de Eumolpos, escreveu, segundo a tradição, a primeira teogonia e o primeiro tratado da esfera. Foi o primeiro a afirmar que tudo nasce do Uno e retorna ao Uno [...]. Por sua vez, Linos era filho de Hermes e da musa Urânia. Compôs uma cosmogonia e descreveu o curso do Sol e da Lua e a geração dos animais e das plantas [...]. Sim, foram os gregos
Filosofia essencial para cristãos
que criaram a filosofia, cujo nome, aliás, não soa estrangeiro.2
A força retórica dessas teorias, bem como a presença recorrente delas nos manuais de filosofia, pode nos levar a pensar que precisamos escolher entre elas. Isso, porém, não é verdade. É perfeitamente plausível conceber a origem histórica da filosofia como um acontecimento que combina o gênio grego com uma eventual influência da sabedoria oriental.
Para além disso, é importante perguntar: o que chamamos de filosofia quando nos referimos à sua origem histórica, a qual assumimos que se deu no período clássico? Afinal, frequentemente, a defesa de que a filosofia nasceu na Grécia Antiga parte da concepção de filosofia como pensamento racional autônomo, em contraste com o pensamento mítico, visto como dependente da religião.3 Essa concepção, entretanto,
2 Diógenes Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, trad. Leonan Mariano (Brasília: Editora da UnB, 1987), p. 31.
3 Essa concepção de filosofia segue o entendimento de Hegel, que “chegou à conclusão de que a religião era a filosofia primitiva, a metafísica imaginativa e travestida em alegorias do povo comum, e, portanto, que a filosofia é religião transposta em conceitos pelos pensadores. Ao propor isso, ele ofereceu uma descrição insuficiente da essência de ambas, particularmente no tocante à religião (Herman Bavinck, Cosmovisão Cristã, trad. Fabrício Tavares de Moraes [Brasília: Monergismo, 2024], p. 50-51). Para uma discussão mais técnica sobre este debate, veja Pierre Hadot, O que é a Filosofia Antiga?, trad. Dion Davi Macedo, 2ª ed. (São Paulo: Loyola, 2004), p. 27-30.
apresenta um problema fundamental, uma vez que “o pensamento é uma função da religião, e a neutralidade religiosa na academia e formação de teorias, incluindo a filosofia, é apenas um mito”.4 Uma vez questionada e rejeitada essa concepção de filosofia, a própria ideia de que o pensamento filosófico teria nascido no período antigo deveria ser reconsiderada.
A afirmação de que uma transformação intelectual ocorreu na Grécia Antiga é inevitável, mas é discutível se essa transformação teria sido o surgimento da filosofia ou de um tipo específico dela.
Embora a discussão sobre a origem histórica da filosofia tenha o seu valor, ela é menos importante do que a discussão sobre a origem existencial da filosofia. Mais significativo do que saber quando a filosofia nasceu é saber por que fazemos filosofia ou o que nos impulsiona a pensar filosoficamente.
Há quem diga que a filosofia nasce da dúvida. No entanto, a palavra-chave, quando o assunto é a origem
4 David K. Naugle, Filosofia: Um Guia para Estudantes, trad. Josaías Cardoso Ribeiro Júnior (Brasília: Monergismo, 2014), p. 33.
existencial da filosofia é thaumazein — transliteração de uma palavra grega que significa “espanto” ou “admiração”. Platão afirmou que o espanto é o pathos (sentimento) do filósofo e que não há outra origem para a filosofia além dele.5 Semelhantemente, Aristóteles afirmou que “os homens começaram a filosofar, agora e na origem, por causa da admiração, na medida em que, inicialmente, ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples”.6
Ao relacionar a filosofia ao espanto/admiração, Platão e Aristóteles sugerem que o impulso para a reflexão filosófica é a experiência de maravilhamento diante do mundo, uma ideia que é fortalecida quando consideramos a natureza das primeiras reflexões filosóficas gregas. Os pré-socráticos, como ficaram conhecidos os primeiros filósofos ocidentais, eram estudiosos da physis (natureza) e tinham como grande preocupação desvendar o mistério do arché (princípio, origem), fato que confirma que a filosofia grega realmente
5 Platão escreveu: “Efectivamente, meu amigo, Teodoro parece não ter adivinhado mal a tua natureza. Pois o que estás a passar, o maravilhares-te, é mais de um filósofo. De facto, não há outro princípio da filosofia que não este, e parece que aquele que disse que íris é filha de Taumanto não fez mal à genealogia” (Teeteto, trad. Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri, 4ª ed. [Lisboa: Calouste Goulbenkian, 2015], p. 212).
6 Aristóteles, Metafísica, Volume II: Texto Grego com Tradução ao Lado, trad. Marcelo Perine (São Paulo: Loyola, 2002), p. 11.
nasceu a partir do espanto do homem com o ordenamento do cosmos.
Isso faz todo o sentido à luz da perspectiva cristã. Há, porém, no próprio espanto, algo que deveria espantar o pensador cristão e convidá-lo a dar um passo além: a sua singularidade. Não somos os únicos entes que existem, mas somos os únicos que nos espantamos. Não somos os únicos que experimentam a realidade, mas somos os únicos que atribuímos sentido e significado às experiências que temos. Como é possível explicar isso?
A resposta é: imago Dei (imagem de Deus). Filosofamos porque nos espantamos e nos espantamos porque, embora sejamos parte da complexa realidade que experimentamos, nós a transcendemos. Deus plantou a eternidade em nosso coração (Ec 3.11), e isso nos leva a buscar explicações universais para a nossa experiência na realidade.
A conclusão a que isso nos leva é que a busca filosófica não é um fim em si mesma. A filosofia não é apenas busca por conhecimento; é, principalmente, busca por Deus. Quando filosofamos, respondemos ao chamado de Deus para conhecê-lo. Mesmo os pensadores que o rejeitam experimentam
esse impulso.7 Eles podem elaborar explicações puramente naturais para a realidade, mas o fato de buscarem explicações mostra que eles pressupõem um mundo com significado e que foram criados com um desejo que apenas Deus pode satisfazer.
[A]s filosofias, por mais seculares que pretendam ser, sempre reconhecem algo que é divino no sentido de ‘não depender de nenhuma outra coisa’. Como exemplo, temos a água de Tales, a Forma do Bem de Platão, o Primeiro Motor de Aristóteles, “Deus ou Natureza” de Espinosa, o númeno de Kant, o Absoluto de Hegel, o Místico do Tractatus de Wittgenstein. Igualmente, na esfera epistemológica, os filósofos reconhecem em especial a razão
7 A opinião de Jean Brun sobre os primeiros filósofos gregos é uma evidência de que o espanto deles em relação ao cosmos era, por assim dizer, extensão de um espanto maior, de natureza religiosa: “Se deixarmos de lado os atomistas, com os quais algo mais começa a aparecer, a maioria adota um tom inspirado, e quase todos falam como poetas e vaticinam. Xenófanes, que pode ter sido um rapsodo, escreveu elegias; Pitágoras foi fundador de religião; Parmênides escreve um poema e pretende relatar o que a divindade que o recebeu lhe confiou; Empédocles apresenta-se como uma espécie de deus vivo tendo já vivido numerosas existências e implora aos deuses que permitam fluir uma fonte pura de seus lábios santificados; Heráclito fala como um oráculo, invoca ao Mestre que está em Delfos e a Sibila, cuja voz atravessa milhares de anos. Todos têm o sentimento de trazer de volta uma mensagem à qual um conhecimento superior os iniciou” (Jean Brun, L’Europe Philosophe: 25 Siècles de Pensée Occidentale [Paris: Stock, 1988], p. 23-24)
humana como autossuficiente no sentido de que ela não exige justificativa de nada superior a si mesma.8
Neste capítulo, exploramos a questão da origem da filosofia. Vimos as duas teses comumente apresentadas em manuais de filosofia e constatamos que, embora elas pareçam excludentes, de fato não o são. Vimos também que, ao falar do nascimento da filosofia na Grécia Antiga, é importante definir o que entendemos por filosofia. Talvez seja possível dizer que a Antiguidade clássica é o berço da tradição ocidental de filosofia, considerando-se filosofia como empreendimento técnico registrado.
Uma vez que, existencialmente, a filosofia é filha do espanto, e o espanto expressão da imagem de Deus em nós, é mais apropriado pensar na origem histórica do fazer filosófico como algo que remonta ao Éden, à criação do primeiro homem. Em que pese toda essa discussão, é no sentido existencial que a questão da origem da filosofia mais nos interessa. Nesse sentido, vimos
8 John Frame, História da Filosofia e Teologia Ocidental, trad. Pedro H. R. de O. Issa (São Paulo: Vida Nova, 2023), p. 56-57.
que o impulso filosófico é uma manifestação da sede espiritual do homem pelo conhecimento do Criador.
Consequentemente, o fim último da filosofia não está na razão humana, mas na Revelação divina. O espanto nos move à reflexão, mas a resposta definitiva para as nossas inquietações só pode ser encontrada naquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento (Cl 2.3).
Talvez você já tenha ouvido — ou até mesmo repetido — a ideia de que a filosofia é complicada e teórica demais para ter qualquer aplicação prática na vida real. Porém, em Filosofia Essencial para Cristãos, Filipe Fontes mostra que, na verdade, só existem dois tipos de pessoas: as que sabem que dependem da filosofia e as que dependem dela, mas não sabem. A pergunta mais importante é: a filosofia em que baseamos nossa vida, mesmo sem estarmos conscientes, é boa ou ruim? Ao ler este livro, você se surpreenderá ao perceber como as principais tendências filosóficas estão por toda parte e influenciam tudo em nossa vida, mas talvez fique ainda mais surpreso ao constatar que a Bíblia apresenta um modo muito melhor de pensarmos sobre a realidade, o conhecimento e os valores. Não existe conflito entre fé e razão.
“Este livro é tanto uma introdução aos iniciantes quanto uma expressão dos marcos da fé cristã que devem moldar nossa leitura da filosofia.”
Heber Campos Jr., pastor presbiteriano; professor no CPAJ e no Seminário JMC
“Este é o livro que eu gostaria de ter lido no fim do ensino médio ou ao longo da universidade, mas que agora posso usar para servir à igreja.”
Allen Porto, pastor presbiteriano; professor no CPAJ; autor de Produtividade Redimida


Filipe Fontes é doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de ser ministro presbiteriano, professor do Departamento de Teologia Filosófica no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper (CPAJ) e do Departamento de Cultura Geral no Seminário Teológico Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição (JMC). É autor de vários livros, incluindo Você Educa de Acordo com o que Adora. É casado com Lenice e pai de Ana Lívia e Daniel.
