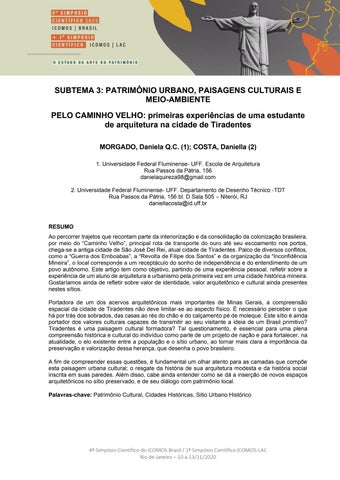SUBTEMA 3: PATRIMÔNIO URBANO, PAISAGENS CULTURAIS E MEIO-AMBIENTE

PELO CAMINHO VELHO: primeiras experiências de uma estudante de arquitetura na cidade de Tiradentes
MORGADO, Daniela Q.C. (1); COSTA, Daniella (2)
1. Universidade Federal Fluminense- UFF. Escola de Arquitetura Rua Passos da Pátria, 156 danielaquireza98@gmail.com
2. Universidade Federal Fluminense- UFF. Departamento de Desenho Técnico -TDT Rua Passos da Pátria, 156 bl. D Sala 505 – Niterói, RJ daniellacosta@id.uff.br
RESUMO
Ao percorrer trajetos que recontam parte da interiorização e da consolidação da colonização brasileira, por meio do “Caminho Velho”, principal rota de transporte do ouro até seu escoamento nos portos, chega-se a antiga cidade de São José Del Rei, atual cidade de Tiradentes. Palco de diversos conflitos, como a “Guerra dos Emboabas”, a “Revolta de Filipe dos Santos” e da organização da “Inconfidência Mineira”, o local corresponde a um receptáculo do sonho de independência e do entendimento de um povo autônomo. Este artigo tem como objetivo, partindo de uma experiência pessoal, refletir sobre a experiência de um aluno de arquitetura e urbanismo pela primeira vez em uma cidade histórica mineira. Gostaríamos ainda de refletir sobre valor de identidade, valor arquitetônico e cultural ainda presentes nestes sítios.
Portadora de um dos acervos arquitetônicos mais importantes de Minas Gerais, a compreensão espacial da cidade de Tiradentes não deve limitar-se ao aspecto físico. É necessário perceber o que há por trás dos sobrados, das casas ao rés do chão e do calçamento pé de moleque. Este sítio é ainda portador dos valores culturais capazes de transmitir ao seu visitante a ideia de um Brasil primitivo? Tiradentes é uma paisagem cultural formadora? Tal questionamento, é essencial para uma plena compreensão histórica e cultural do indivíduo como parte de um projeto de nação e para fortalecer, na atualidade, o elo existente entre a população e o sítio urbano, ao tornar mais clara a importância da preservação e valorização dessa herança, que desenha o povo brasileiro.
A fim de compreender essas questões, é fundamental um olhar atento para as camadas que compõe esta paisagem urbana cultural; o resgate da história de sua arquitetura modesta e da história social inscrita em suas paredes. Além disso, cabe ainda entender como se dá a inserção de novos espaços arquitetônicos no sítio preservado, e de seu diálogo com patrimônio local.
Palavras-chave: Patrimônio Cultural, Cidades Históricas, Sitio Urbano Histórico
4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020Introdução
Palco de uma série de importantes eventos históricos, Tiradentes, cidade que hoje conhecemos, teve sua formação administrativa associada a descoberta de cascalhos e manchas de ouro na Bacia do Rio das Mortes, em 1702. (FILHO, 2011, p.11) Como em tantas outras partes das Minas Gerais, se estabelece um pequeno arraial, com uma capela dedicada a Santo Antônio. Daí o nome inicialmente utilizado para designar a área, Arraial de Santo Antônio (IDEM).
Como tantos outros “arraiais de mineração” (PESSOA, 2007, pg.21) frutos desta interiorização e da consolidação da colonização brasileira, foi percorrendo o Caminho Velho, estrada que se desenhava pelo território de Minas Gerais e São Paulo, e por onde passavam “as riquezas d’ouro e pedras preciosas, desentranhadas dos sertoens para a Capital” (PIZARRO e ARAUJO, In: DPHAN, 1960, p.47), que a Villa começou a expandir. O ouro “brotava docemente” (FILHO, 2011, p.18) da Serra de São José e através da exploração de seus veios auríferos, o arraial se consolida e passa a chamar-se Villa de São José Del Rei em homenagem ao filho do rei D. João V.
A região é conhecida como protagonista de diversas revoltas, inclusive emancipacionistas, como a “Guerra dos Emboabas”, a “Revolta de Filipe dos Santos” e a “Inconfidência Mineira”. Mas, no decorrer do Século XIX o ouro começa a escassear (FILHO, 2011, p.22) e com o fim do ciclo do ouro e do domínio português, as cidades históricas mineiras entram em calmaria e em declínio, permanecendo o acervo construído que perpetuaram as lembranças desse período de formação do território brasileiro.
Com a proclamação da república, surge a necessidade da criação dos heróis e símbolos nacionais, que representassem este novo movimento. A cidade, berço de uma das figuras icônicas do movimento da Inconfidência Mineira, teve seu nome substituído, logo após a proclamação da República, em dezembro de 1889 (FILHO, 2011, p.23). A comarca de São José passa a ser reconhecida pelo apelido do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, morto por fazer parte do grupo dos Inconfidentes
À deriva pela cidade
Durante viagem de férias em família pela região da zona da Mata Mineira, a decisão de última hora de prolongar viagem, concedeu a esta estudante de arquitetura e urbanismo, admiradora das cidades históricas, um antigo desejo: o de conhecer a cidade de Tiradentes.
4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020A caminho da cidade histórica, o primeiro impacto no viajante é a paisagem local, imponente pela presença da Serra de São José. Nossa família, originária da capital do estado do Rio de Janeiro, região constituída por uma densa cadeia montanhosa, mas que se diferencia da paisagem da antiga São José Del Rei, uma vez que a baixa densidade demográfica, torna a serra uma imagem marcante no horizonte da cidade mineira.
Ao chegar, nos hospedamos nos arredores do centro histórico. A proximidade com um sítio preservado, nos permite refletir acerca dessa relação entre conservação e sociedade local. Quando questionamos como essa conservação foi possível, é fundamental nos lembrarmos de que, em sua grande parte, estas cidades foram preservadas porque foram esquecidas, isto é, o processo de isolamento socioeconômico foi o responsável pela manutenção das características tradicionais das cidades históricas, em oposição ao processo de perda de memória presenciados nos grandes centros urbanos. (LEMOS, 1981, p.33)
Conversando com as pessoas locais, alguns nos relataram as solicitações do órgão de patrimônio para a manutenção das principais características arquitetônicas coloniais, ao mesmo tempo em que há uma mescla da nova configuração do lote e do mobiliário urbano. Tal decisão teve como objetivo evitar a ocorrência de uma mudança brusca entre a arquitetura contemporânea e colonial. Assim, torna-se nítida a diferença pela presença de elementos que não vemos no centro histórico, como rede elétrica aérea, postes de iluminação e ruas asfaltadas, bem como sinalização comercial Notamos que nesta área as residências repetem algumas características tradicionais encontradas no centro histórico, como a cor, o tipo de telha e das aberturas. Porém, essa arquitetura se diferencia em outros aspectos, como na adição de varandas, janelas na empena cega e por afastamentos laterais e frontais. E isso acontece não apenas pela questão da preservação do acervo arquitetônico, mas, pela influência da valorização socioeconômica que o sítio adquiriu após seu tombamento. As residências do entorno buscaram também ampliar o valor de seus imóveis e, consequentemente, a elevação de seus status sociais.
À medida que nos aproximávamos do centro histórico, percebíamos uma mudança. O cotidiano dos moradores de Tiradentes parecia acontecer distante desse centro. As casas térreas não abrigavam mais seus antigos habitantes, que haviam sido substituídos pelo o comércio em geral, especialmente com a presença de restaurantes, ateliês e lojas de suvenires. O centro histórico representa um ambiente completamente produzido, retocado, a fim de atender a demanda turística na cidade que surgiu com sua preservação Assim, antes de atravessarmos a Ponte das Forras, limite entre o perímetro preservado e a cidade, vemos
4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiroo trânsito livre de locais circulando pela cidade, cumprindo seus compromissos de rotina. O Largo das Forras, primeira parada dentro do centro histórico, nos apresenta uma paisagem distinta, mas ainda encontramos moradores que utilizam o espaço da praça para suas atividades regulares. Porém, a partir do momento em que derivamos pelo centro histórico, percebemos a diferença entre as pessoas que frequentam esse pedaço de Tiradentes, claramente distintos dos locais
Ao adentrarmos o centro histórico (fig.1), muitas reflexões podem ser feitas acerca da compreensão de quais fatores envolvem a questão da preservação, como nos lembra o autor Carlos Lemos em seu livro: O que é Patrimônio Histórico (1981). Segundo ele, o patrimônio cultural é formado por três aspectos, primeiro da análise dos elementos naturais que permitem que um determinado sítio seja habitável; depois das técnicas desenvolvidas pelo homem em prol de sua sobrevivência nesse meio e, por último, como consequência da transformação dos recursos naturais por meio do ‘saber fazer’, resultam os bens culturais, objetos, artefatos e construções. (LEMOS, 1981, p.8)
 4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020
Figura 1: Rua Direita, Centro Histórico, jan./2020 Fonte: Daniela Quireza
4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020
Figura 1: Rua Direita, Centro Histórico, jan./2020 Fonte: Daniela Quireza
Seguindo essa lógica, a construção passa a ser testemunha do saber artístico humano e do momento histórico do qual foi produto, e com isso assume o título de patrimônio cultural edificado. Podemos sugerir então, que o ambiente cultural de Tiradentes é resultado da relação dos recursos presentes nas redondezas da cidade, com a intensa exploração da Serra de São José, aprimorados pelas técnicas advindas da colonização portuguesa e do ‘saber fazer’ popular.
Esse bem cultural, como algumas das edificações da cidade histórica por exemplo, quando de interesse nacional, é aquele ligado ao quadro de elementos determinadores da identidade pátria. E é, portanto, compreendido como imprescindível à exata compreensão da nossa formação. Tem seu valor social atribuído de acordo com o caráter de excepcionalidade do exemplar. (LEMOS, 1981, p.91) Ou como define a arquiteta Lia Motta, em seu famoso texto ‘A SPHAN em Ouro Preto’:
Centros históricos correspondem as áreas institucionalmente protegidas contra situações ou interesses passageiros que possam colocá-las em risco de desaparecimento ou de sofrer uma descaracterização de elementos essenciais para a compreensão da sociedade que às produziu (MOTTA, 1987, p.1)
A experiência de vivenciar um centro histórico é sempre enriquecedora e memorável. Ao experimentar esse tipo de espaço, costumo ter a sensação de ser transportada para uma realidade em que não existe essa arquitetura contemporânea com a qual estamos habituados. Por um instante, parece que o Brasil ainda é constituído basicamente pela tipologia das casinhas brancas de pedra e cal, do calçamento em pé-de-moleque e da paisagem natural quase intocada A permanência nesse espaço, me faz sentir uma mistura de emoções, uma identificação, ao compreender minha relação histórica com esse sítio urbano.
Os centros históricos, como os demais monumentos de “pedra e cal”, passaram a compor um quadro de “bens culturais” capazes de referenciar a “identidade cultural do Brasil” e manter a memória nacional. Nesse contexto os centros históricos ganham dimensão mais real como objetos de uso social e começam a ser encarados como registro de uma trajetória histórica ainda viva, devendo ser compreendidos pelos significados que lhes são atribuídos pelas comunidades locais. (MOTTA, 1987, p.12)
Mas este espaço não está congelado no tempo. Observamos no centro histórico, o desenvolvimento de novos espaços e a adaptação de outros a fim de que pudessem receber programas atuais. O primeiro deles foi a Rampa das Flores (fig.2), um boulevard que interliga o centro histórico à periferia desse centro. O que mais chamou atenção foi a preocupação que o profissional teve ao projetar essa área, pois ela não oferece um contraste visual com o sítio preservado, não causa impacto à arquitetura pré-existente.
Outros lugares nos chamaram a atenção pelo cuidado com a preservação do acervo construído, como o Museu de Sant’Ana Projeto do arquiteto mineiro Gustavo Penna, situado na antiga Cadeia Pública de Tiradentes, o novo programa manteve praticamente todas as características originais do prédio, a não ser o que já havia sido perdido durante o incêndio ocorrido em 1829, que modifica bastante sua fachada restaurada segundo padrões neoclássicos. (fonte: https://museudesantana.org.br/conheca/historico/ - acessado em 16/03/2020) O acesso ao museu, encontra-se semienterrado e mistura de forma responsável, após uma restauração em 2014, a arquitetura contemporânea à Tiradentes. Percebemos que o mesmo acontece no Museu da Liturgia, projeto do Escritório Santa Rosa Bureau Cultural, de 2012. Em um primeiro momento, a visão que se tem da rua, não nos prepara para a existência de um museu contemporâneo por trás da fachada de traços coloniais típicos, em um casarão do século XVIII. Ao atravessar o acesso principal, deparamo-nos com uma grande área externa, e o diálogo da arquitetura colonial com a arquitetura contemporânea acontece, conduzindo o visitante através da percepção de questões simbólicas associadas à religiosidade católica.
 4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020
Figura 2: Rampa das Flores, Centro histórico, jan./2020 Fonte: Daniela Quireza
4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020
Figura 2: Rampa das Flores, Centro histórico, jan./2020 Fonte: Daniela Quireza
Experimentar esses espaços foi extremamente construtivo para uma estudante de arquitetura. Pude perceber de uma maneira clara como é possível inserir a nova arquitetura, em um contexto de centro histórico, sem impactá-lo e de forma criativa. Pude compreender que a revitalização dos bens preservados através do uso significa reintegrá-los à comunidade e perpetuá-los às gerações futuras acrescidos com novas cargas de memória. (RIBEIRO et al., 2005, p.7)
A necessidade de se alterar o programa original de uma edificação está associada ao surgimento de novas atividades como consequência do desenvolvimento das relações socioeconômicas do homem. Tal processo ocorre desde os tempos antigos, como quando, por exemplo, graças à ascensão do cristianismo, as basílicas romanas puderam ser preservadas, após a incorporação destas à tradição cristã. (LEMOS, 1981, p.13) Esse fato, não se distancia da nossa realidade, ao observarmos na própria cidade de Tiradentes quando especialmente construções do centro histórico têm sua função original transformada. Assim, como afirma Carlos Lemos (1981, p.28), “Preservar é manter vivos, mesmo que alterados usos e costumes populares”.
Seguindo nosso percurso pelo centro histórico, chegamos à esquina da rua Direita com a rua da Câmara, o que costumava ser, durante o período colonial, o ponto mais alto da cidade Dali avista-se a imponente Matriz de Santo Antônio (fig.3). A grandiosidade que a fachada da matriz transpassa e que pode ser vista de diversos pontos de Tiradentes, foi produto da obra em estilo rococó projetada por Aleijadinho. Tal patrimônio cultural edificado, pode ser considerado uma grande testemunha do momento histórico durante o qual foi produzido Certamente presenciou tantos eventos importantes que auxiliaram no desenvolvimento da paisagem e da identidade local. Apesar de não ter sofrido grandes alterações formais, houve acréscimos no programa da Igreja. Hoje, além de seu uso religioso, a igreja recebe concertos que mesclam música clássica e luzes a fim de contar um pouco mais da história da Matriz. O seu interior, destaca-se por sua esplendorosa decoração em talha dourada, considerada uma das mais ricas em ouro do Brasil, além da composição constituída pela presença de 7 retábulos (fig.4). O órgão da Matriz, foi encomendado em 1786 pela irmandade do Santíssimo e apresenta detalhes imitando mármore. (OLIVEIRA; SANTOS, 2010, p.101) Mas, o que de fato nos chamou a atenção, é o significado religioso que o artista quis transmitir por meio do projeto da igreja, em seu interior, que lembra a uma embarcação de cabeça para baixo, como se o edifício estivesse navegando nos céus.
4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020
 4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020
Figura 3 Igreja Matriz de Santo Antônio, jan./2020 Fonte: Daniela Quireza
Figura 4 Interior da Igreja Matriz de Santo Antônio, jan./2020 Fonte: Daniela Quireza
4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020
Figura 3 Igreja Matriz de Santo Antônio, jan./2020 Fonte: Daniela Quireza
Figura 4 Interior da Igreja Matriz de Santo Antônio, jan./2020 Fonte: Daniela Quireza
Por fim, é importante compreender que o processo de perda de memória da população brasileira está associado à um hábito amplamente debatido durante a década de 70. Há relatos de nossa má tradição pela busca da destruição das provas da ‘opressão banida’, à medida que o povo alcançava alguma meta libertária (LEMOS, 1981, p.35). Assim, o processo de conscientização nacional, em prol dos valores culturais formadores de nossa sociedade, sofre um imenso descaso, o que dificulta a salvaguarda dos bens culturais.
Cabe ainda o reconhecimento de nossa história como legítima, não apenas como resultado de uma violência externa, significando reafirmar nossa própria identidade diante dos modelos dominantes. Desse modo, faz-se imprescindível a compreensão de nossos centros históricos como parte de um processo de independência cívico cultural a tempos negada e que nos possibilita caminhar como nação de maneira autônoma e original. (PICCINATO In. PESSÔA, 2007, p.4)
Uma Paisagem formadora
Uma cidade como Tiradentes conta uma história, não apenas história de guerras, avanço econômico e sua decadência, mas seus espaços contam “aos que estão neles não só onde estão, mas quem são e quem são os outros.” (SANTOS, 1986, p.60). Essas cidades com história são paisagens formadoras, já que como vimos, são produto de seu tempo e de uma sociedade e, trazem em suas camadas cristalizadas pelo tempo a capacidade de contar histórias, e assim portanto, são capazes de formar aqueles que a vivenciam.
Mas este tipo de paisagem não acontece de forma espontânea, ao contrário, é fruto de um trabalho intenso para que a história continue a ser contada. Como num jardim, que para parecer natural precisa de um intenso trabalho de poda, rega e eliminação daquilo que não pertence aquela paisagem, permitindo assim, a exibição de detalhes da natureza selecionados. Isto permite que as pessoas o vejam de uma perspectiva determinada, ou num enquadramento milimetricamente pensado para causar, naturalmente, impacto no observador, durante o percurso programado para ele. Mas, tudo isso deve ser feito sem esquecer de “apagar as marcas da jardinagem” (CAUQUELIN, 2007, p.11) para que permaneça a ideia de paisagem natural, que sempre foi ‘naturalmente’ assim.
Daí a riqueza das primeiras impressões. Olhar estes espaços, antigos conhecidos de alguns, através dos olhos de que quem os vivência pela primeira vez, é irresistível. Pensamos que esta experiência poderia ser quase que um termômetro para este espaço, programado para
4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020contar uma história, e assim entender se o mecanismo ainda funciona. Me parece que tudo funciona ainda muito bem.
Essa experiência me levou a pensar em outra. Quase a um século atrás Monteiro Lobato, esteve a serviço do governo brasileiro como adido comercial no consulado em Nova Iorque, em 1926. Lobato conta sua experiência durante este período em seu livro América, onde encontramos relatos muito interessantes sobre a cultura Norte Americana. Um dos relatos que podemos relacionar ao nosso texto é o de sua primeira visita a capital do país, Washington. Após três dias na cidade ele se dá conta da “insídia”, isto é, da arapuca guardada nos monumentos da cidade, projetada para mostrar a quem chega a grandiosidade daquela nação, e afirma “sem ter aberto um só livro, creio que assimilei, pelo menos, metade da história americana”. (LOBATO, 2009, p.49)
Washington é um símbolo de pedra. A história americana está toda ali. Basta uma visita à cidade para que os fatos capitais da formação política da América se desenhem para sempre em nosso espírito. Daí a forte reamericanização que sofrem os americanos em visita a capital. Saem de Washington mais americanos, mais exaltados da tremenda fé em si próprios [...] (LOBATO, 2009, p.49)
Uma cidade colonial brasileira como Tiradentes causa efeito semelhante, em seus visitantes. Nossas cidades, ao contrário da grandiosidade de Washington, têm como argumento de convencimento uma outra escala, nossas cidades também são “símbolos de pedra” (IDEM) mas símbolos singelos de pedra e cal, como seu ar “despretensioso e puro” (COSTA, 1962, p.86). Esta foi a ferramenta escolhida para contar a história de nossa jovem nação. Essa arquitetura modesta, que traz em suas ruas tortuosas e becos, com pavimentação pé de moleque, um mar de casas brancas com esquadrias coloridas. Nossas igrejas, suntuosas ou singelas, também são esses gatilhos da história “inteirinha feita sob medida, dosadamente, calculadamente, maquiavelicamente armada como arapuca para americanizar quem chega” (LOBATO, 2009, p.49) ou neste caso, abrasileirar quem chega.
[...] Nossos construtores do patrimônio tiveram a ambição de inventar, num tempo de afirmação do nacional, os contornos de um passado que se queria autêntico e específico. Não se tratava apenas de ‘celebrar a história’, mas de definir o passado a ser recuperado, o passado que deveria ter direito a perpetuidade e direito à visibilidade” [...] (SANTOS, 2007, p.130)
Essa arquitetura foi a escolhida para criar nossas raízes como pais. Nossas cidades são este argumento escolhido para legitimar a nação. Fazer de nossas raízes profundas e legítimas apoiada no passado de colônia que foi descobrindo seu próprio ritmo, sem esquecer a boa tradição portuguesa.
4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020Mas, para que este mecanismo continue funcionando, as engrenagens muitas vezes precisam de um pouco de óleo novo para vitalidade, ou até uma eventual substituição de peças. Essa evolução natural, uma adaptação do nosso objeto as demandas da vida contemporânea é o que confere ao nosso objeto de estudo, os sítios urbanos históricos, sua principal característica, o dinamismo e capacidade de seguir se transformando para acolher quem nela chega, sem perder sua identidade e a capacidade de contar histórias.
Percebemos que a própria percepção das cidades vai mudando. O conceito de cidades históricas vai evoluindo para incluir o termo cultura em sua definição e hoje muitas outras camadas são usadas para mostrar a complexidade destes sítios.
Em 2011, em sua conferência anual em Paris, a UNESCO amplia o foco de observação das cidades históricas, expandindo a abertura das lentes que deveriam enxergar não apenas o patrimônio edificado, mas deveria reconhecer a importância dos processos sociais, culturais e econômicos como parte deste patrimônio.
O patrimônio urbano constitui um recurso social, cultural e econômico para a humanidade, definido por uma estratificação histórica de valores que foram produzidos por culturas sucessivas e contemporâneas e por uma acumulação de tradições e de experiências, reconhecidas como tal na sua diversidade (UNESCO, 2011)
E faz uma ampliação do conceito,
A paisagem histórica urbana é a área urbana que resulta da estratificação histórica de valores e atributos culturais e naturais, que transcende a noção de "centro histórico" ou de "conjunto histórico” para incluir o contexto urbano mais abrangente e a sua envolvente geográfica. (UNESCO, 2011)
Entendemos hoje, que nosso desafio é não só aproveitar a paisagem preservada para ler nossa identidade, mas entender a sua seleção como elementos dignos de serem incluídos no hall de possuidores de excepcional valor histórico e artístico, como lemos no primeiro artigo do Decreto-Lei 25 (BRASIL, 1937). Mas essa paisagem formadora, que ainda tem uma longa missão com as futuras gerações, deve ser considerada com todas as camadas que a compõe, e entender o impacto desta proteção, para que, como acontece em alguns casos, que recortam e congelam o tecido histórico, ela não os transforme em “guetos de preservação histórica” (UNESCO, 2013, p.6), mas numa paisagem histórica urbana preservada
Conclusão
Esse artigo nasceu da oportunidade de revisitar um sítio urbano histórico pelos olhos de quem o observava pela primeira vez. Do desejo de saber se um sítio, como a cidade de Tiradentes
4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020em Minas Gerais, ainda é capaz de contar as novas gerações sobre a ideia de um Brasil primitivo Tiradentes é sim uma paisagem cultural formadora Ainda é capaz de contar não só a sua história, mas a do País e de falar também sobre a história das técnicas construtivas no Brasil. Antigas e contemporâneas.
Foi exatamente para isto que esta versão da cidade de Tiradentes que conhecemos hoje foi programada, como bem descreveu Monteiro Lobato, calculadamente, maquiavelicamente armada como arapuca para convencer a todos do mito criado para este Brasil primitivo.
Os problemas ficam logo expostos em um sítio como estes, o ‘dentro’ e ‘fora’ do perímetro tombado fica mais claro pelo contraste formal e por seu uso. A vida que segue do lado de fora com o cotidiano e preserva a espécie de ‘sala de visitas’ para os convidados que vem de todas as partes para a experimentar a atmosfera histórica. Mas, não seria possível que todas estas camadas estivessem sobrepostas e convivessem? O uso não é o que dá sentido as cidades? Acredito, que as cidades como o corpo humano, estão em constante transformação. Algumas de nossas células precisam morrer, para que novas nasçam e o corpo, continue ativo. Se o sistema parar de se renovar, o corpo morre. Como nos lembra, o arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura da UFRJ Gustavo Rocha-Peixoto, “Coisas precisam ser esquecidas para a saúde da memória. Também a cultura urbana tem o dinamismo como caráter essencial” (ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. s/pg. 2012)
A esperança é que, uma vez que caímos na arapuca destes sítios, passamos a levar dentro de nós um pouco da história contada por estas cidades. Isto nos faz pessoas muito diferentes, cidadãos diferentes, profissionais diferentes e mais sensíveis ao passado e ao mito de legitimação do nosso país, ainda contando através de nossas paisagens históricas urbanas.
Referências Bibliográficas
BRASIL. Decreto-Lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/Del0025.htm - acessado em 21/07/2016.
CAUQUELIN, Anne. A invenção da Paisagem. Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2007.
COSTA, Lucio. Sôbre Arquitetura. 1. ed. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.
FILHO, Olinto R. dos S. A matriz de Santo Antônio em Tiradentes.Brasília: IPHAN,2011.
LEMOS, Carlos. O que é Patrimônio Histórico. Edição 1. Brasiliense, 1981
4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOS-LAC Rio de Janeiro – 10 a 13/11/2020LOBATO, Monteiro. América.1. ed. São Paulo: Globo,2009.
MOTTA, Lia. A Sphan em Ouro Preto. In. REVISTA DO PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTISTICO NACIONAL. Rio de Janeiro: IPHAN. nº 22, 1987. P.108 a 122.
OLIVEIRA, Myriam. SANTOS, Olinto. Barroco e Rococó nas Igrejas de São João Del Rei e Tiradentes. Brasília: Iphan/Programa Monumenta, 2010.
PESSOA, Jose. PICCINATTO, Giorgio. (Org.): Atlas dos centros históricos do Brasil. Rio de Janeiro: Casa da palavra, 2007.
PIZARRO e ARAUJO, In: DPHAN, Tricentenário Histórico de Parati: Notícias Históricas. Rio de janeiro: DPHAN, 1960
RIBEIRO, Rosina et al. Olhares sobre o Patrimônio Edificado: O conceito de valor. In: ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Londrina, 2005.
SANTOS, Carlos Nelson F. Preservar não é tombar, renovar não é por tudo abaixo. In. REVISTA PROJETO. São Paulo nº186, 1986. P.59-63.
ROCHA-PEIXOTO. Gustavo. Um patrimônio de palavras. Rio de janeiro: Secretaria de cultura, 2012 In. http://www.cultura.rj.gov.br/publicacao-setoriais/um-patrimonio-de-palavras-1acessado em 17.01.2018.
SANTOS, Afonso C.M. A invenção do Brasil: Ensaios de História e Cultura. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,2007
UNESCO. Recommendation on the Historic Urban Landscape. In. 36th UNESCO´s General Conference. Paris, 2011. Fonte: https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity638-98.pdf - Acessado em 12.02.2019.
__________ New Life for historic Cities: The historic urban landscape approach explained. Paris, 2013.Fonte: https://whc.unesco.org/en/activities/727/ - Acessado em 12.02.2019.
Sites Consultados
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1501/ https://museudesantana.org.br/conheca/historico/ https://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/destinos/2012/04/tiradentes-mg-inauguramuseu-da-liturgia_77408.html