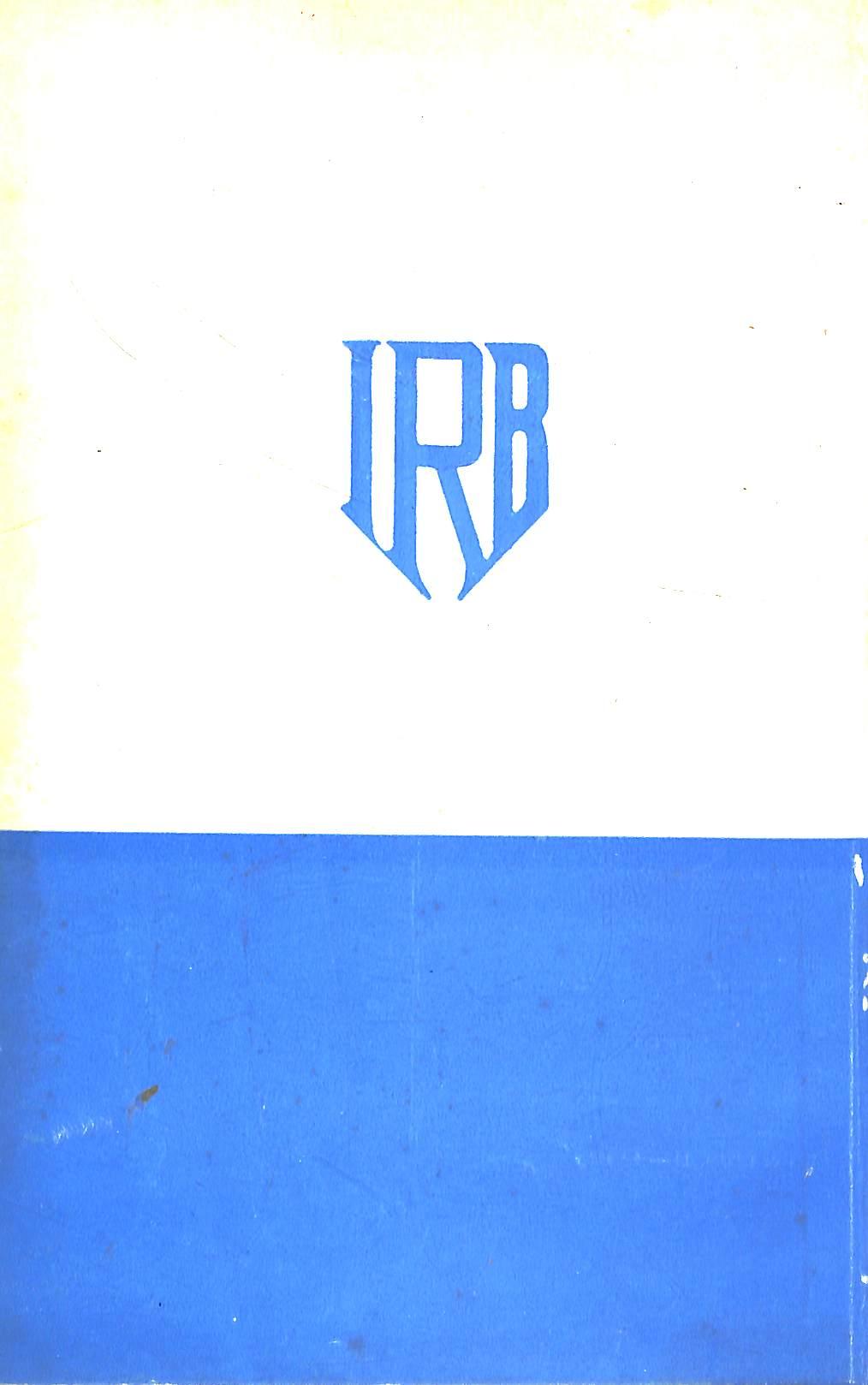NSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL



REDACAO
Assessdria de Rela;oes Publtcas
Avenida Marechal Cdmara, 171
Edificio Joao Corlos Vital
Telefone 232-8055 - CP. 1440
Rio de Janeiro - Brasil
Oi coneeilos etnilidot em ortigoi aisinodoi exprimem apenai opiniSei de teus airtoret e i3» de tua exdvsiva reipenabilidode.
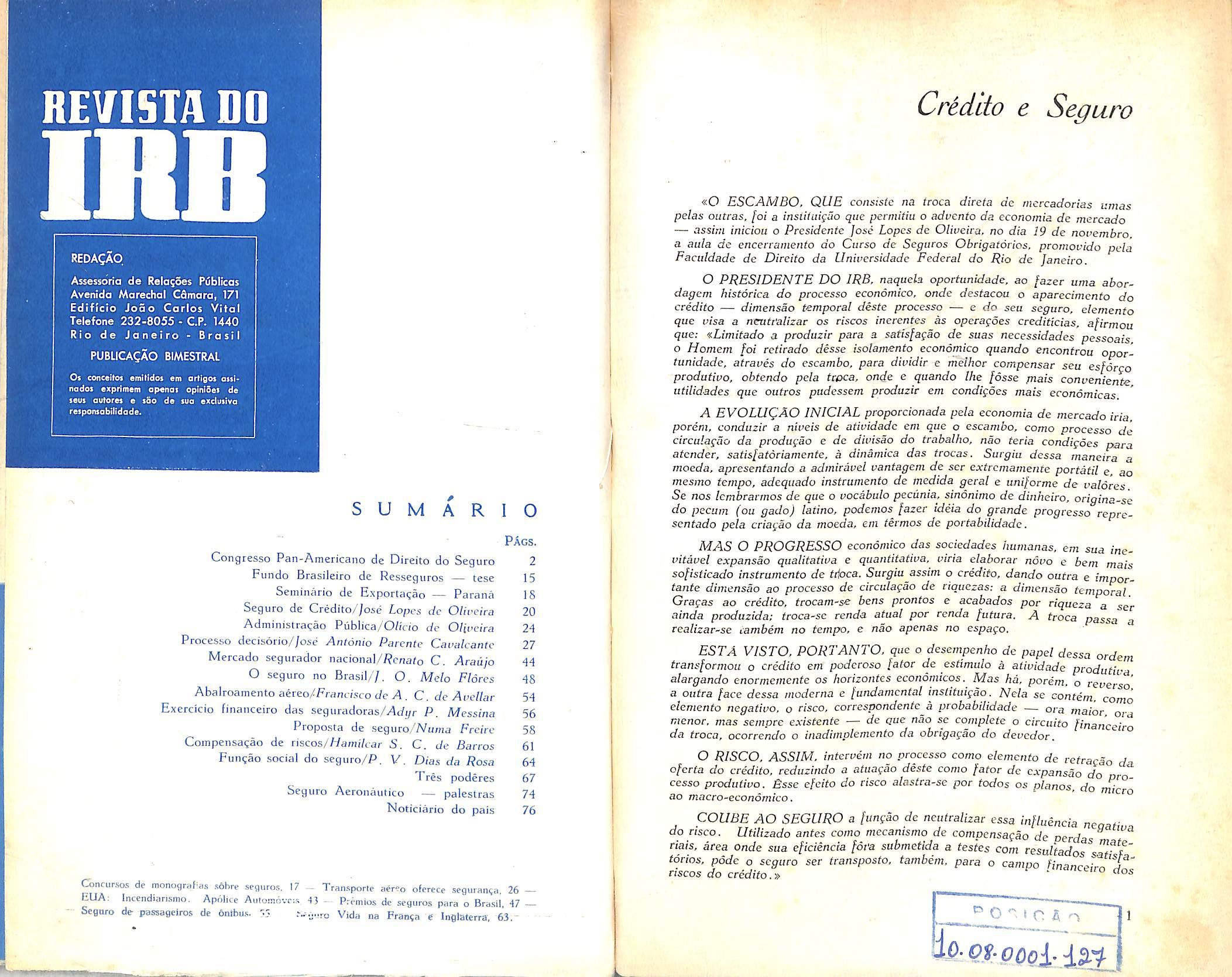
«0 ESCAMBO, QUE consistc na troca direta de rncrcadorias vmas pelas ourras, [oi a insijVui'fao qtie perniitiu o advento da economia de mercado
— assitti iniciou o Presidente Jose I,opcs de Oliveira. no dia 19 de novembro a aula dc encerramento do Curso de Seguros Obrigatorios. prornovido pela Faculdade de Direito da Universidadc Federal do Rio de Janeiro.
O PRESIDENTE DO IRB, naquela oportunidade, ao [azer uma abordagcm historica do processo economico, onde destacou o aparecimcnto do credito — dimensao temporal diste processo — e do seu seguro, elemento que visa a ncuti'alizar os riscos inercnfes as operagoes crediticias, afirmou que: ^Limitado a produzir para a satisjagao de suas necessidades pessoars 0 Homem [oi retirado desse isolamento economico quando enconfrou opor- tunidade, afraues do escambo, para dividir e melhor compensar seu esjorco produtivo, obtendo pela trpca, onde e quando Ihe [osse piais conveniente utilidades que outros pudessem produzir em condigocs mais econdmicas
S U
PAgs. Congresso Pan-Americano de Direito do Seguro 2
Fundo Brasileiro de Ressegiiros — tese 15 Seminario de Exportagao — Parana 18
Seguro de Credito/'/osc Lopes dc Oliveira 20
Administra^ao Publica/O/icio de Oliveira 24
Processo decis6rio//oie AiUonio Parcntc Cavalcantc TJ
Mercado segurador nacional//?cnaio C. AraiijO 44
O seguro no Brasil//. O, Melo FIdres 48
Abalroamento aereo/Franc/sco Jc A . C. dc Avellar 54
Exercicio financeiro das segtiradoras/Adyr P. Messina 56
Proposta de segueo/Numa Fteiic 58
Compensa^ao de liscos/Hamilcar S. C. de Barcos 61
Fungao social do seguro/P, V. Dias da Rosa 64
Tres poderes 67
Seguro Aeronautico — palestras 74
Noticiario do pais 76
Concur.sos de monograf'a.s sobre •■ieguros. 17 - Transporte a#reo oferece seguran^a 26
EUA: Incendiansmc. Apblicc Automovcis 43 - Premios de seguros para o Brasil, 47
A EVOLUQAO INICIAL proporcionada pela economia de mercado iria. porem, conduzir a niveis de atividadc em que o escambo, como processo de circulagaci da produgao e de divisao do trabalho, nao teria condigoes para atcnder, satisjatdriamente. a dinamica das trocas. Surgiu dcssa maneira a moeda, apresentando a admiravel vantagem de scr extrcmamente portatil e, ao mesmo tempo, adequado instrumento de medida geral e unifcrme de naZdres Se nos lembrarrnos de que o vocabulo pecunia, sinonimo de dinheiro. origina-s'e do pecum fou gado) latino, podemos [azer ideia do grande progresso representado pela criacao da moeda, em Zermos de portabilidadc.
MAS O PROGRESSO economico das sociedades humanas. em sua inevitavel expansao qualitativa e quantitativa. viria elaborar novo e bem mais sojisticado instrumento de tcioca. Surgiu assim o credito, dando outra e impor- tante dimensao ao processo de circulagao de riquezas: a dimensao temporal Gragas ao credito, Zrocam-se bens pronfos e acabados par riqueza a ser ainda produzida: troca-sc renda atual por renda [utura. A troca passa a realizar-se rambem no tempo, e nao apenas no espago.
ESTA VISTO, PORTANTO. que o desempenho de papel dessa ordem transjormou o credito em poderoso [ator de estimulo a atividade produtiva alargando enormemcnte os horizontes economicos. Mas ha, porem. o reverso a outra [ace dessa moderna e [undamcntal inslituigao. Nela sc confem. como eZemenfo negativo, o risco. correspondentc a probabilidade — era maior or menor. mas sempre existente — de Que nao sc complete o circiiito [inaricei'ro da Zroca, ocorrendo o inadimplemento da obrigagao do devcdor.
O RISCO. ASSIM, intervem no processo como elemento de retragao da o[erta do credito. reduzindo a atuagao deste como [ator dc expansao do oro cesso produtivo. Esse efcito do risco alastra-se por todos os pianos do rnicr' ao macro-economico.
COUBE AO SEGURO a [ungao de neutralizar essa in[luencia neoaf do risco. Utilizado antes como mecanismo de compensagao de oerda rials, area onde sua eficiincia [ova submetida a tesies com resultados^s^l^^f' tovios, pode o seguro ser transposto, tambem, para o campo HnanceirnJ^' nscos do credito.» '
es-% f 9
Segnro de- passageiros de onlbu.s. Vida oa Fraofa e Inglaterra. 63.
Cerca de. quinhentos delegados e observadores, entve juristas e emptesarios de varies partes do mundo. participaram, de 11 a 14 de outuhro, do III Congresso Pan-Americano de Direito do Seguro, no Rio de Ja neiro. Ptomouido pela Associagao Internacional de Di reito do Seguro [AIDA) e organizado pela Segao Brasileira dessa entidade — com a colaboragao do IRB, SUSEP, FENASEG e Ordem dos Advogados do Brasil — L> conclave realizou-se no Centro de Convengocs do Hotel Gloria.

A sessao solene de instalacjao do Congresso foi presidida pelo Ministro da Justi^a, Prof. Alfredo Buzaid. tendo discursado ainda, na ocasiao, 'alem do Prof. Theophilo de Azeredo San tos, presidente da Se^ao Brasileira da AIDA, OS SIS.: Angelo Mario Cerne, membro do Conselho da Presidencia da AIDA, ex-Conselheiro Tecnico do IRB, Ernesto Caballero Sanches, secretario-geral da Se^ao Espanhola, e Antigono Donatti, presidente da mesma associagao.
A mesa diretora estava tambem composta pelo presidente do IRB, Jose Lo pes de Oliveira, peio presidente da Or dem dos Advogados do Brasil, Jose Cavalcanti Neves, pelo presidente da FENASEG, Raphael de Almeida Magaihaes e peio Superintendente da SUSEP, Decio Vieira Veiga.
Afirmando ser o Brasil um dos importantes centros seguradores do Ocidente, o Ministro da Justiga externou sua satisfagao pela escolba do nosso Pais como sede do III Congresso PanAmericano de Direito do Seguro.
Segundo o Ministro, «e firme proposito do Governo Federal atualizar a legislagao reference aos seguros, tendo ja sido tomadas varias medidas nesse sentido, como, por exemplo, o Decretolei n" 1.115, que tral'a da fusao e incorporagao das sociedades seguradoras; a Resolugao 3/71 do CNSP, que determinou a realizagao do seguro, em empresas nacionais. do transporte in ternacional de mercadorias importadas, e a Resolugao n" 192 do Banco Cen tral, que ampliou o sistema de aplicagao de reservas tecnicas das empresas de seguros».
A atuagao do IRB junto aos demais paises latino-americanos, «cstabe!ecendo contatos diretos e dispensando intermediarios», foi tambem ressaltada pelo Ministro, em seu discurgo de instalagao do Congresso.
«A atualizagao legislativa», disse ainda, «nao se limita, no entanto, ao campo do seguro. O Governo Federal esta vivamente empenhado nao apenas ern atualizar esse setor do Direito. mas tambem em rever toda a legislagao, corrigindo-lhe os defeitos, suprindoIhes as lacunas c substituindo-a total ou parcialmente, quando ja nao corres-
ponder as cxigencias do desenvolviniento e do progresso cientifico».
Mais adiante, acrescentou o Minis tro Buzaid que «a legislagao e a imagem do povo e ... organizar um povo significa determinar-llie a ordem juri, dica ... Ocorre, porem, que o direito nao e imutavel. sujeito que esta a influencia de fatores economicos, socials e politicos...
A transformacao do direito nao e um sintoma de crise de suas instituigoes.
Ela brota como um anseio em busca de melhores formas que assegurem coexistencia socials.
A proposito das grandes reformas legislativas cm que o Governo esta em penhado. o Prof. Buzaid destacou dois grupos fundamentais, o primciro abranqendo o Codigo de Processo Penal, a Lei de Contravengoes, o novo Regime Penitenciario e emendas ao Codigo
To Codigo de Processo Penal adota o principio da oralidade, simphfica os
atos. institui o despacho saneador e amplia os poderes do Ministerio Publico. O projeto da Lei de Contravengoes qualifica novas especies. regula a pena pecuniaria e se poe em harmonia com a nova politica de prevcngao criminal.»
O segundo grupo juridico a ser reformulado inclui o Codigo Civil, o Codigo de Processo Civil, o Codigo de Direitos Autorais. o Codigo de Meno-
res e o Codigo de Navegagao Maritima.
A revisao do Codigo Civil Brasiieiro, «que comegou a perder a sua fisionomia originaria porque foi enxertado com novas regras», obedecera a tendcncia de se tratar. num sistema unitcirio. toda a materia por ele abrangida, ao inves da divisiio em varies codigos distintos.
ANGELO MARIO CERNE
Apos 0 pronunciamento do titular da PasU da Justiga, o Sr. Angelo Mario Cerne sauclou os participantes
do certame, fazendo um retrospecto da cvoJu^ao da legislagao brasileira no setor do seguro:
«Cabe a nos, OS tecnicos, definir qua] a melhor forma de fazer emergir esse Direito, para o presence e para o fucuro. Em que sentido evoiuirao essas normas? Serao elas casuisticas, em relagao ao individuo? Genericas, em relatao as massas. ou mistas, tentando harmonizar as duas correntes?
E dificil fazer prognosticos e prever qual dcssas modalidades merecera a preferencia. Mas o Direito, este nao podera mudar.
O Direito, como ensinam os mestres, e latente. Nossos estudos visam, apenas, revela-lo.»
Lembrou, ainda, que «os riscos provaveis ou improvaveis, oriundos de faIha liumana, falta de conhecimento tecnico ou cientifico, obrigam a criayao de uma imensa variedade de contratos de seguros, para compensar os prejuizos.
Os contornos desses contratos modificam-se velozmente o que, em conseqiiencia, exige maior presteza do tccnico em Direito do Seguro, na forniulagao da apolice certa, com todos os requisites do presence estagio de desenvolvimento economico e de conceito sociaI».
O Presidente da AIDA, Prof. An tigone Donatti — um dos mais conhecidos juristas internacionais e considerado a maior autoridade em direito do seguro — saudou o Congresso que sc inaugurava e ressaltou a importancia dos Congresses Mundiais e Continentais Panamericanos que. ao lado «da atividade continuativa das varias segoes nacioiiais, represeiitam a vitalidade e eficiencia da AIDA».
Em seguida, falou do exito alcan?ado per esses Congresses — e piimeiro, realizado em Roma, em 1962; e segqndo em Hamburgo, era 1966, e o terceiio em Paris, em 1970 — e dos
preparatives para o IV Congresso Mundial de Direito do Seguro, a se realizar em 1974, na Suiga.
fcTambem grande sucesso obtiveram OS Congresses Panamericanos, na ci'dade do Mexico, em 1964 e em Bue nos Aires, em 1969».
O Prof. Donatti, apos esse retros pecto, disse que «nao podia faltar neste conjunto o maior pais latino-americano, 0 Brasil, e que o III Congresso Panamericano estara sem duvida alguina a mesma altura dos outros».
Fazendo votes de bom trabalho a lodos OS congressistas. o Presidente Internacional da AIDA — que e tambem presidente do Banco Nazionale Del Lavoro. da Italia — finalizou seu discurso afirmando que «das relagoes e debates surgirao contribuiqoes de grande relevo para o desenvolvimento e cooperaqao internacional, em geral, e panamericana, em particular, em materia de Direito do" Seguro.»
O Prof. Theophilo de Azeredo San tos, presidente da Secao Brasileira da AIDA. iniciou sua oragao agradecendo a presenga do Ministro Buzaid a cerimonia de ihstalagao do Congresso, ressaltando que a palestra por ele profeiida sobre Reforma dos Cbdigos «ira indicar em nossos Anais um dos pontos aitos desta Reuniao.s
Destacou ainda o apoio prestado pelo Presidente do IRE, Dr. Jose Lo pes de Oliveira, que «prestigia ativanieate todas as iniciativas da Segao Brasileira da AIDA»; pela FENASEG, na pessoa de seu ex-Presidente. Dr. Carlos Washington Vaz de Mello e do atual. Dr. Raphael de Almeida Magalhaes; pelos Sindicatos de Sao Paulo e Parana, bem como de inumcras seguradoras, «conscientes da Im portancia do Direito do Seguro para esse mercado».
O Presidente da Segao Brasileira da AIDA abordou em sua palestra aspectos do modelo economico de desenvol vimento brasileiro que, segundo ele, se assenta especialmente em cinco grandes teses;
— a descentralizagao do poder eco nomico, pela democratizagao do capital das sociedades anonimas. conferindose maior participagao popular nos !ubem vinculada a abcrtura do capital:
— a concentragao de empresas, para a obtengao dos beneficios da economia de escala, melhoria da produtividade e redugao de pregos, mas tambem vinculadas a abertura do capital;
— o fortalecimento das pequenas e niedias empresas, que sao, todas elas. sem excegao, nacionais:
— o alargamento do comercio ex terior, e
— faciiidades para importagao de maquinas, equipamentos e materias-primas indispensaveis ao nosso processo de desenvolvimento, o que reclama, para possuirmos as divisas necessarias, maior projegao de nossas exportagoes, inclusive a conquista de novos mercados.
Prosseguindo. o Prof. Theophilo dc Azeredo Santos ressaltou o papel desempenhado pela iniciativa privada, na qual o Govenio se baseia para alcangar a estabilidade monetaria e incremcntar nosso processo de desenvolvi mento:
«Nessa intima colaboragao entrc as Classes Produtoras do Pais e os orgaos do Governo. nessa uniao de interesses que nao sao conflitantes, mas coincidentes reside o nosso sucesso e tambem a esperanga de conquista da Paz Social, que perseguimos com vontadc de alcangar sem delongas».
«0 Mercado de Seguros, pela sua importancia no evolver de todas as atividades economicas vitais ao pais e pegti de grande relevo era nossa Politica Econ6mica», continuou ele, explicando que ai reside a importancia dos estudos juridicos na area dos seguros.
Finalizando, elogiou «a participagao dos juristas na busca dc um muudo melhor, onde fiquem preservadas as nossas tradigoes de 'amor a liberdade com responsabilidade, o primado do interesse piiblico, o nosso permanentc
dcsagrado aos extremismos da direita ou da esquerda, a violencia e a qualqucr forma de abuse do Poder, a fim de que prevalegam, sempre, o respeito a dignidade humana, a forga do Di reito e aos sagrados ideais da Justiga, que sao os verdadeiros postulados do Estado de Direito.»
O entdo Vice-Presidente da Segao Brasileira da AIDA, membro do Ins titute da Ordem dos Advogados do Brasil, Professor de Legislagao de Se guros e Chefe do Departamento Juridico do IRB. Dr. Raymundo G. Correa Sobrinho — de quern agora lamentamos profundamente o recente falecimento — teve ativa participagao no Congresso, apresentando sua tese cEvoIugao da Legislagao de Seguros Privados no Brasil», dentro do Tema 11 — «Contribuig6es dos paises da America para o Direito Positive do Seguro».
Introduzindo a materia que iria abordar. sob forma de sintese historica, aquele jurista falou da importancia e interesse da analise dos fates socioeconomicos para o aperfeigoamento do Direito Positive:
«0 edificio juridico nao c obra de lima geragao, nem de um povo, mas dc todo o mundo civilizado. Cada nacao civilizada contribui de algum'a for ma. dentro de suas limitagoes culturais, para a construgao desse edificios.
A parte inicial da exposigao consistiu no estudo do D periodo da evolugao que, se iniciando com o Alvara de 1684. termina em 1939. A primeira companhia de seguros autorizada a funcionar no Brasil foi a «BDa Fe» que operava apenas em seguros maritinios. obedecendo suas operagoes as regulagocs da Casa de Seguros dc Lisboa.
O marco inicial da nacionalizagao dos seguros foi o Decreto n'' 294 de 5-9-1895 que regulamentou as ope.^ ragoes das companhias estrangeiras que funcionavam no pais.
O «Regulamento Murtinho». como ficou conhecido o Decreto 4.270. de

10-12-1901. por ter sido obra do Ministro da Fazenda da epoca, alem de criar a Superintendencia Geral dos Seguros. constituiu importante regulamenta^ao das operagoes de seguros, di.spondo sobre a constituigao das sociedades, regime de fiscalizagao, iimite de operagbes e outros aspectos do contrble do Estado.
fisse decreto provocou considerave! reagao das companhias estrangeiras que, como salientara o Ministro loa-
«A colocagao de excesso de riscos 'dos seguros maritimos podera ser feita excepcionalraente em companhias nao autorizadas. com sede no estrangeiro. quando for devidamente comprovado que se acham esgotadas as capacidades seguradoras das companhias que funcionam no pais, ou que estas recusaram aceitar o resseguro.
Igualmente, os seguros e resseguros contra riscos de furtos, roubos ou estragos de merc'adorias, a bordo de na-
feita imediatamente comunicagao a Inspetoria.»
Em 1933, pelo Decreto 22.865, a Inspetoria de Seguros passou da area do Ministerio da Fazenda para a do Trabaiho, Industria e Comercio e, no ano seguinte, foi criado o Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao (Decreto n'' 24.782/934).
O segundo periodo comega em 1939. ano de criagao do Institute de Resse guros do Brasil, que transformou substancialmente a politica de seguros no Brasil, com repercussbes profundas na tccnica seciwatbria e no Direito civo, causando imediata modificagho do regulamento de seguros vigente.
Foi por isso promulgado o Dccretolei ir-" 2.063. de 7-3-1940. que regulou, sob novos moldes, as operagbes_de se guros privados e sua fiscalizagao, dividindo-as ainda em dois grupos: se guros de ramos elementares e seguros do vida.
Em 1946, foi reformulado o IRB. que passou a ser uma entidade de economia mista. dividindo seu capital em partes iguais entre as sociedades de seguros e as instituigbes de previdencia social criadas por lei federal.
da historia do seguro no Brasil cujo marco inicial foi o Decreto-Iei n'' 73/66 que instituiu o Sistema Nacional dc Seguros Privados, context© que nao eiKontta similar em nenhum outro pais.
Para .se adaptar a sistematica estabelecida per esse Decreto-lei, o IRB teve seus Estatutos modificados em 1967, o gue, no entanto, nao Ihe alterou subsfancialmente a estrutura. Foram posteriores, em 1969, os decretos que, quebrando uma tradigao de 30 anos. operaram pcofunda alteragao na administragao do IRB.
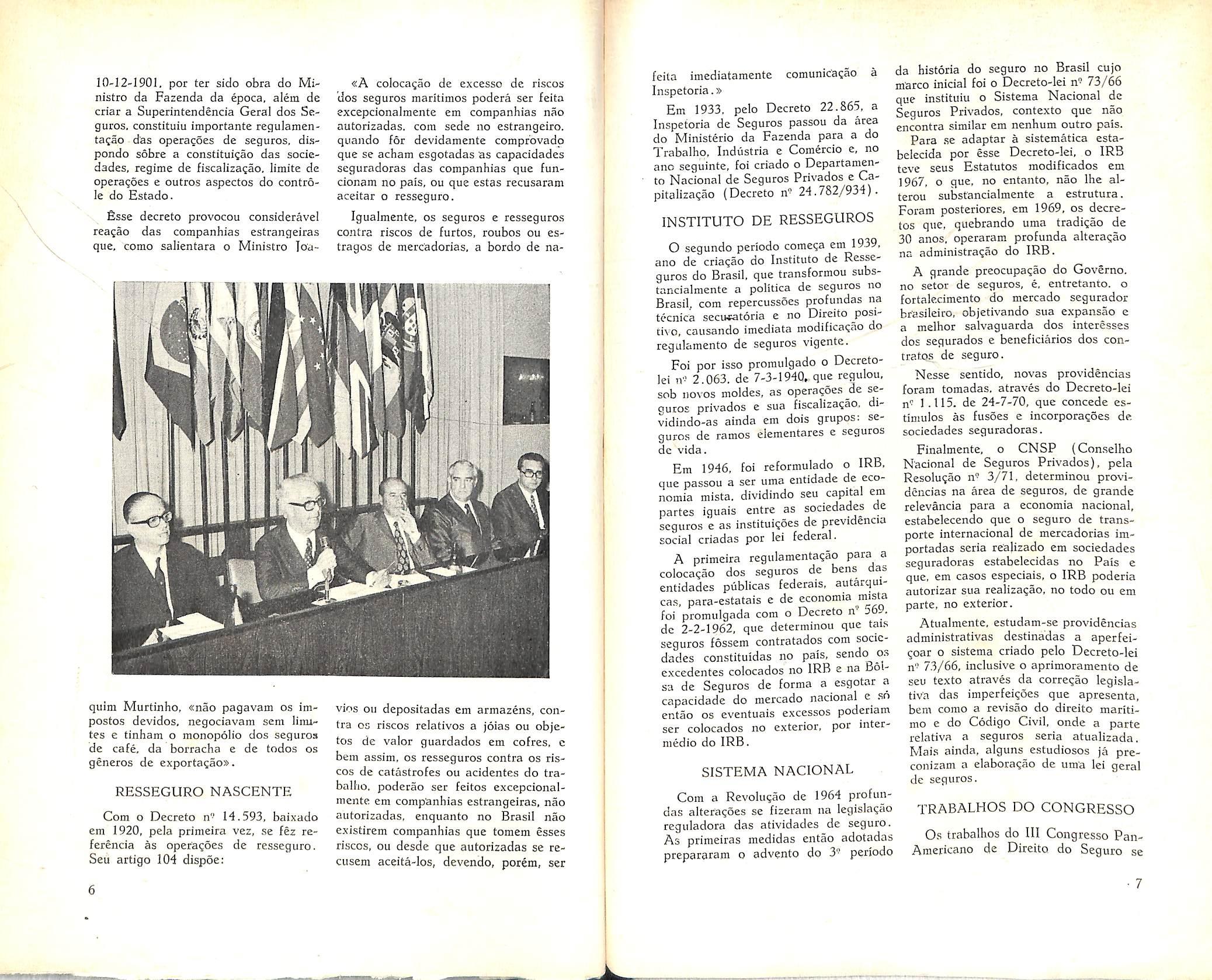
A qrande preocupagao do Governo. no setor de seguros, e, entretanto. o fortalecimento do mercado segurador br'asiieiro, objetivando sua expansao e a melhor salvaguarda dos interesses dos segurados e beneficiarios dos concraf.os de seguro.
Nesse sentido, novas providencias foram tomadas. atraves do Decreto-lei n- 1 .115. de 24-7-70, que concede cstimulos as fusbes e incorporagoes de sociedades seguradoras.
quim Murtinho, «nao pagavam os impostos devidos. negociavam sem linutes e tinham o monopblio dos seguros de cafe, da borracha e de todos os generos de exportagao».
Com o Decreto n- H.593, baixado em 1920, pela primeira vez, se fez referencia as operagbes de resseguro. Seu artigo 104 dispbe:
vios ou depositadas em armazens, con tra OS riscos relatives a jbias ou objetos de valor guardados em cofres. c bem assim. os resseguros contra os ris cos de catastrofes ou acidentes do traballio. podcrao ser feitos excepcionalmente em companhias estrangeiras, nao autorizadas, enquanto no Brasil nao existirem companhias que tomem esses riscos, ou desde que autorizadas se recusem aceita-los, devendo, porem, ser
A primeira regulamentagao para a colocagao dos seguros de bens das entidades publicas federais, autarquicas, para-estatais e de economia misia foi promulgada com o Decreto n- .>6.-. dc 2-2-1962, que determinou que tai.s seguros fbssem contratados com socie dades constituidas no pais. sendo o.'? excedentes colocados no IRB e na 1361su de Seguros de forma a csgotar a capacidade do raercado nacional e .sri entao os eventuais excessos podcriam ser colocados no exterior, por intermedio do IRB.
Cora a Revolugao de 1964 profun das alteragbes se fizeram na legislagao reguladora das atividades de seguro. As primeiras medidas entao adotadas prepararam o advento do 3'' periodo
Finalmente, o CNSP (Con.selho National de Seguros Privados). pela Resoiugao n- 3/71, determinou provi dencias na area de seguros, de grande relevancia para a economia nacional, estabelecendo que o seguro de transporte internacional de mercadorias importadas scria re'alizado em sociedades seguradoras estabelecidas no Pais e que, em casos especiais, o IRB poderia autorizar sua rcalizagao, no todo ou em parte, no exterior.
Atualmente. estudam-se providencias administrativas destinadas a aperfeigoar o sistema criado pelo Decreto-lei n- 73/66, inclusive o aprimoramento de seu texto atraves da corregao legislativ'a das imperfeigbes que apresenta, bem como a revisao do direito maritimo e do Codigo Civil, onde a parte relativa a seguros seria atualizada.
Mai.s ainda, alguns estudiosos ja preconizam a elaboragao de uma lei geral de seguros.
O.s trabalhos do III Congresso PanAmericano de Direito do Seguro se
desenvolveram em clima de grande iiitercsse. Cendo os debates atingido urn aito nivei, o que fez do conclave um evento da maior importancia p'ara o desenvolvimento cientifico da jurispru- dencia relacionada com o seguro no nuindo.
O teraario abordado peios congressistas abordou os seguintes temas: «Seguro de Responsabilidade Civil do Autoinobilista no Direito dos Paises Americanos», «Contribui^oes dos Paises Americanos para o Direito Positivo do oeguros e «0s Atos Coletivos ou Individuais de Violencia e os Riscos dos Contratos de Seguro», incluido. neste ultimo, o sequestro de bens e de pessoas.
Os deiegados dos 16 paises americaiios participantes do Congresso Argentina, Bolivia. Canada, Chile. Co lombia, Costa Rica, Guatemala, Hon duras Mexico, Paragiiai, Peru. Salva dor, Estados Unidos, Uruguai, Vene zuela e Brasil — alem dos representantes de mais quatro delega?6es europeias tarabem presentes — Alcmanha. Espanha, Italia e Portugal — e de varios tecnicos de outros Estados brasileiros piocuraram, diirante os quatro dias de debates, encontrar «solug6es mais eficazes e mais justas para os multiplos problemas que surgem em tao importante carapo das atividades economicas», como afirmou o presidente da Associa?ao Mexicana do Direito do Se guro, Prof. Roberto L. Mantilla Mo lina.
— VEICULOS
^^Pf^ssntante do Brasil, o tecnico Mauro Grinberg apresentou sua, contribui^ao ao Tema I, com a tese «Seguro de Responsabilidade Civil do Autoniobilista no Direito dos Paises Americanoss, um estudo comparativo da modalidade no Brasil, Estados Unidos e demais paises.
Ainda dcntro desse tema, foram apresentados os seguintes trabalhos: «Bases para uma lei comum panamericana sobre seguro obrigatorio de res ponsabilidade civil para veiculos autoniotores^, per Ruben S. Stiglitz, dele-
gadc argentine, que tambem apresentou <cSeguro Obrigatorio de Responsabilidade Civil para Veiculos Automotores»: «Responsabilidade Automobilistica e Seguro Obrigatorio no Direito Espanhob, de Ernesto Caballero Sandiez, que representou a Espanha no Congresso: «Seguro de Automoveis nas Americas^, de autoria de Allen M. Linden, do Canada.
Dino Marchetti, delegado italiano, apresentou «A Lei Italiana sobre Se guro Obrigatorio de Responsabilidade Civil para Veiculos Automotoress. «Apontamentos sobre a Legislagao Portuguesa a respeito de Seguros» foi a contribuigao de Portugal, na pessoa de Manoel Scares Povoas.
O texto do Decreto n'-' 632-68, vigente na Espanha, sobre «Seguro Obriga torio de Responsabilidade Civil pelo USD e drcula^ao de Veiculos Automotores» foi apresentado por Antonio Isidro Caballero Garcia, da «Mutua Patronal de Acidentes.de Trabajo», daquele pais.

A «Associa(;ao HiJngara de Advogados» esteve tambem presente ao conclave, com a tese «Novas Regulamen^coes sobre o Seguro Obrigatorio de Responsabilidade Civil para Veiculos Aiitomotores na Hungria».
O Dr. Rubens Gomes de Souza, do Institute Brasileiro de Direito Financeiro contribuiu com «Natureza Juridica da exa^ao criada pela Lei n'' 5.390, de 23-11-1968, incidente sobre o preseguro obrigatorio de respon sabilidade civil dos veiculos automotores c destinada a melhoria da seguranga nas estradas federais».
O Conselheiro do IRB, Dr. Raul leJies Rudge, tambem da Segao Brasileira da AIDA e presidente da Comissao de Teses do Congresso apre^lUou o co-relatorio do Brasil para o
~ «Seguro de Responsabili dade Civil do Automobilista no Direi to dos Paises Americanoss.
Dentro do tema «0s Atos Coletivos ou Individuais de Violencia e os Ris cos dos Contratos de Seguro», o dele
gado da Argentina, Professor Eduardo Steinfeld, apresentou o trabalh'o «Dano Intencional dos Bens Assegurados a exclusao dos feitos de violencia na Argentinas.
O brasileiro Floriano da Matta Barcellos demonstrou diversos conceitos juridicos do que sejam tumulto, greve. gucrra civil, motim. arrua^a e qualquer perturbaijao da ordem piiblica para efeito de exclusao de coberturas nas arolices de seguro.
O delegado espanhol, Ignacio Hernando Del Larramendi, frisou que o seguro deve abordar em toda a sua profundidade o problema que denominou de «nova violencia® e oferecer protei^ao adequada a^'necessidades que dela sur-
sulas especiais que se procura aprimorar, cada vez mais, provide da experiencia que vem sendo colhida — a disposi^ao de nao se omitir nem deixar sem resposta o reclame pela cobertura integral de todos os aspectos desse risco deploravel, criado pela insania da epoca que atravessamos».
Os estudos e pareceres que os juristas presentes ao III Congresso Pan-Aniericano de Direito do Seguro trouxeram de scus paises traduzem a im portancia e atualidade das questoes relativas aos danos causados pelo automovel, bem como a pratica de atos de violencia individual e coletiva.
Ficou tambem evidente, durante os trabalhos. o esforgo empreendido pelo
gem, com o menor niimero possivel de limitagoes.
Outras contribuiqoes importantes ao debate do tema foram oferecidas por Gordon W, Shaw, da Inglaterra, Am brose B. Kelly, da «General Counsel Factory Mutual System® e Bruno Peleira Bueno, do Brasil.
Na sua tese, o delegado brasileiro diz que «o mercado segurador esta atento e ja mostra — atraves de clau-
nieic juridico no sentido de evoluir o direito positivo para que possa fazer face ao impacto das transforma^oes do contexto social.
Num balance final das medidas cstudadas durante o conclave, realizado pelo Dr. Raul Telles Rudge, ficou clara a necessidade de uma reforma no cainpo legislativo de mode a enquadrar o mercado segurador no processo de desenvolvimento da economia ra undial.
Alem das teses apresentadas sobre OS tres temas oficiais do Congresso. realizou-se, paralelamente, uma niesa-redonda de «Seguro de Credito a Exportagao» que visou a proporcionar acs congressistas iim cncontro, «sem temas pre-estabelecidos, erainentemente praticos, para discussao dos problemas criados pelas operaqoes diarias de Segui'o de Credito». como afirmou o Doutor Raymundo Correa Sobrinho. secretario da reutiiao.
Os trabalhos foram iniciados pelo delegado espanho]. Sr. Javier Guttierrez Sanches, que falou da necessidade dc se adotar nos palses americanos uma e.'itrategia comum para as opcracjoes de Seguro de Credito a Exportagao.
Em seguida, o chefe do Departamcnto de Seguro de Credito do IRB, Luiz Alves de Freitas, que representou o Presidente Jose Lopes de Oliveira. fez uma anaiise do desenvolvimento da economia brasileira e de seus rcflexos no mercado de seguros, em especial no ramo.
Disse ele que no Brasil existem varias seguradoras autorizadas a operar no ramo de Seguro de Credito, e explicou que «a inexistencia de urn orgao segurador unico determinou a concentragao no orgao ressegurador, o IRB, das responsabilidades excedentes das seguradoras diretas e da administragao do consorcio de resseguros, formados per diversas instituigoes securitarias.
Alem disso o IRB centraliza e coordenr. as operagocs. estuda e autoriza a einissao das apolices e, ainda, determina OS limites de credito c de responsa bilidades referentes aos devedores das operagoes cobertas».
«Relativamente as necessidadcs brasileiras do Seguro de Credito» — continuou — «a industria nacional deve oriejitar-se pela diretriz de ampliagao de sua capacidade produtiva, com vista ao atendimento da demanda do mer cado interno e, na medida do possivel, para exportar.
Alem do problema de aquisigao de Know-how, ela se preocupa com a garantia adicional do seguro a venda fa-
cilitada de seus produtos, no pals e no exteriors.
Entre outros, foram debatidos neste encontro, problemas como o das contragarantias frente a variagao da iegislagao de cada pais, assim como o do adiantamento concedido aos segurados do seguro de credito. antes que se tenht« comprovado a perda liquida.
Representando o Brasil na mesa-rcdcnda, o Sr. Fernando Fortes, da «Cid Ferreira Corretora de Seguros Ltda.», apresentou urn estudo onde resScdtou a importancia de se mostrar ao nosso exportador a necessidade desse tipo de seguro que, embora tenha sido criado em 1965. proporciona arrecadagao de premies das mais baixas do mercado.
Os tecnicos do IRB reservaram a tcse para uma anaiise posterior mais detalhada e os representantes estrangeiros depois de estudarem o trabalho, relataram como funciona esse tipo de seguro em seus paiscs.
Aspectos de grande interesse para o mercado segurador tais como «Risco Comercial e Impontualidade», cRiscos Politicos e Extraordinarios e Recusa de Cobertura», «Amp]iagao da Margem de Cobertura», «Introdugao de Novas Modalidades», «Riscos Politicos e Ex traordinarios e a Corretagem de Segu ros e «A Assistencia Juridica ao Segu rados foram abordados pelo relator.
A sessao de encerramento do III Congresso Pan-Americano de Direito do Seguro foi reaiizada no dia H, as 11 horas, no Hotel Gloria. O presi dente do IRB, Dr. Jose Lopes de Oli veira, presidiu a cerimonia represen tando o Ministro Marcus Vinicius Pratini de Moraes, da Industria e Comercio.
Falaram, ainda, na ocasiao, alem do Superintendente da SUSEP, Dr. Decio Vieira Veiga, chefes de varias delegagoes estrangciras.
A ultima providencia tomada pelos congressistas foi a escolha da sede do IV Congresso Pan-Americano, que se realizara em 1973, no Uruguai, confor-
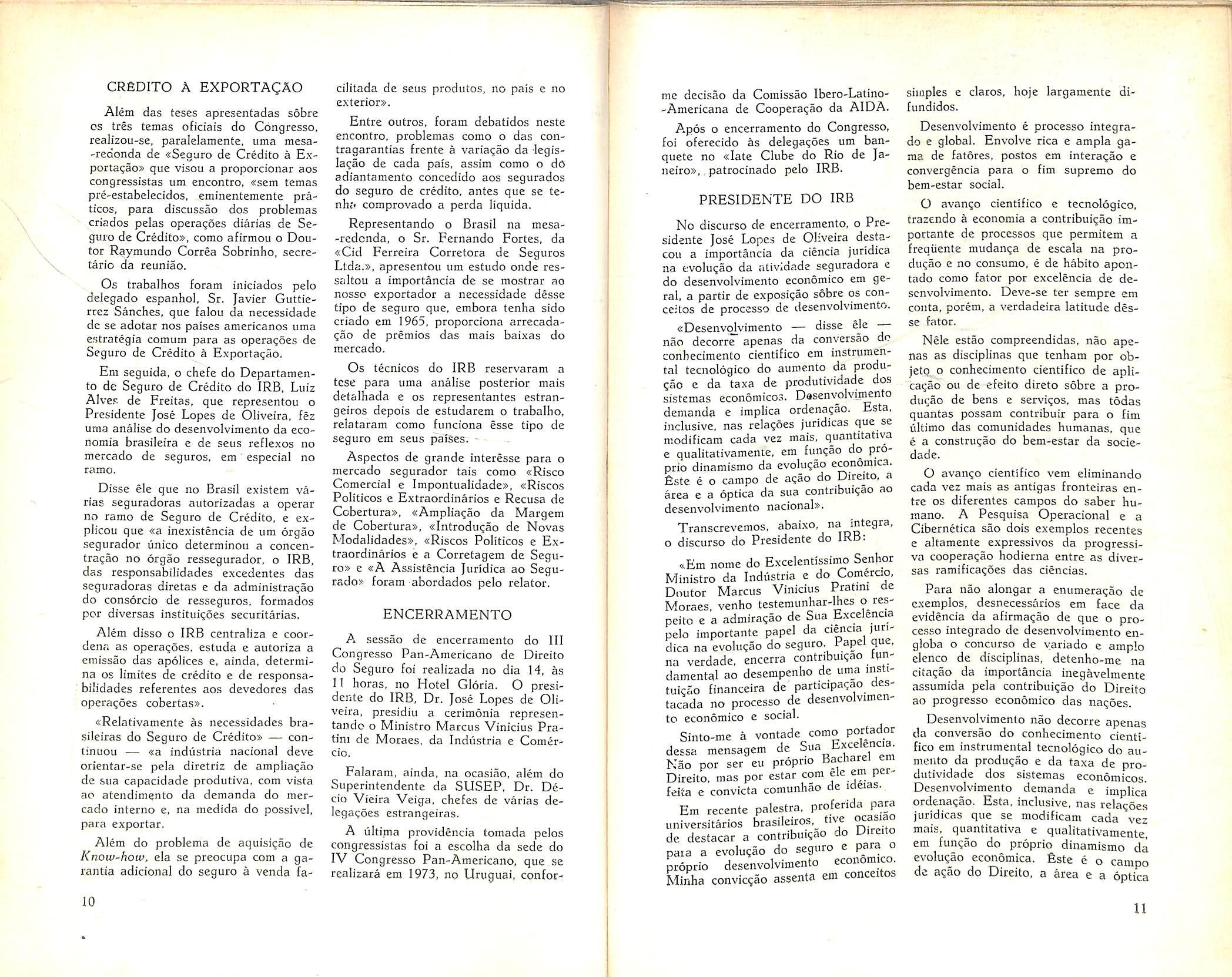
me decisao da Comissao Ibero-Latino-Americana de Cooperagao da AIDA.
A.pos o encerramento do Congresso, foi oferecido as delegagoes um banquete no «Iate Clube do Rio de Janeiro», . patrocinado pelo IRB.
No discurso de encerramento, o Pre sidente Jose Lopes de Oliveira destacou a importancia da ciencia juridica na evolugao da ntividade seguradora e do desenvolvimento economico em geral, a partir de cxposigao sobre os conceiLos de processo de desenvolvimento.
«Desenvql_vimento — disse eje nao decorrr apenas da conversao dc conhecimento cientifico em instrumen tal tecnologico do aumento da produgao e da taxa de produtividade dos sistcmas economicos. Dasenvolviinento demanda e implica ordenagao. Esta, inclusive, nas relagocs juridicas que se modificam cada vez mais, q^uantitativa e qualitativamente, em fungao do proprio dinamismo da evolugao e^nomica. fiste e 0 campo de agao do Direito, a area e a optica da sua contribuigao ao desenvolvimento nacional».
Transcrevemos, abaixo, na ^^9"o discurso do Presidente do IRB:
<.Em nome do Excelentissinio Senhor Ministro da Industria e do Comerao. Doutor Marcus Vinicius Pratim de Moraes. venho testemunhar-lhes o respcito e a admiragao de Sua Excelencia pelo importante papel da ciencia juri dica na evolugao do seguro. Papel que. na verdade, encerra contribuigao fgndamental ao desempenho dc um_a instttuigao financeira de participagao_ destacada no processo de desenvolvimen to economico e social.
Sinto-me a vontade como po^ado': dessa mensagcm de Sua Ex^celencia. Kao por ser cu proprio Bacharel em Direito, mas por cstar fom ele em perfeita e convicta comunhao dc ideias.
Em recente palestra, profenda para universitarios brasiieiros,^ tive de destacar a contribuigao do Direito para a evolugao do seguro e para o proprio desenvolvimento economico. Minha convicgao assenta em conceitos
simples e claros, hoje largamente difundidos.
Desenvolvimento e processo integrado e global. Envolve rica e ampla gama de fatores, postos em interagao e convergencia para o fim supremo do bem-estar social.
O avango cientifico e tecnologico, trazendo a economia a contribuigao im portante de processes que permitem a freqtiente mudanga de escala na produgao e no consume, e de habito apontado como fator por excelencia de de senvolvimento. Deve-sc ter sempre em coiita, porem, a verdadeira latitude des se fator.
Nele estao compreendidas, nao ape nas as disciplinas que tenham por objeto, 0 conhecimento cientifico de aplicagao ou de efeito direto sobre a produgao de bens e servigos, mas todas quantas possam contribuir para o fim ultimo das comunidades humanas, que e a construgao do bem-estar da sociedade.
O avango cientifico vem eliminando cada vez mais as antigas fronteiras en tre os difeientes campos do saber humano. A Pesquisa Operacional e a Cibernetica sao dois exemplos recentes e altamente expressivos da progressiva cooperagao hodierna entre as diver sas ramificagoes das ciencias.
Para nao alongar a enumeragao dc exemplos, desnecessarios em face da evidencia da afirmagao de que o pro cesso integrado de desenvolvimento engloba o concurso de yariado e ampio elenco de disciplinas. detenho-me na citagao da importancia inegavelmente assumida pela contribuigao do Direito ao progresso economico das nagoes. Desenvolvimento nao decorre apenas da conversao do conhecimento cienti fico em instrumental tecnologico do au mento da produgao e da taxa de pro dutividade dos sistemas economicos. Desenvolvimento demanda e implica ordenagao. Esta, inclusive, nas relagoe.s juridicas que se modificam cada vez mais, quantitativa e qualitativamente em fungao do proprio dinamismo da evolugao economica. 6ste e o campo de agao do Direito, a area e a optica
da sua contribuigao ao desenvoivimentc nacional.
Segundo Ortega y Gasset, o Direito seria uma secre^ao espontanea do organismo social. Como fenomeno que emerge da vida em sociedade. pode ser o Direito uma secregao espontanea. Mas essa espontaneidade original, tumultuaria e diversificada nos efeitos que produz, carece da intervengao sistematizadora do homem. E atraves dessa sistematizagao o Direito alcanga o piano cientifico.

Organizando a vida social de modo a torna-la um sistema harmonioso e justo de convivencia entre os membros da comunidade, o Direito assegura a
palmente juridica do papel atribuido ao Estado. fiste, mero espectador na epoca do liberalisrao classico. reservando-sc apenas o poder de policia, tornou-se gradativamente intervenciOnista, Essa intervengao progressiva, a principic impregnada de improvisagao e ostentando as deficiencias naturais de tal forma de atuagao, com o tempo passaria a adquirir organicidade atraves das tecnicas de planejamento. E hoje o planejamento como no caso da nossa Carta de 1967. passou ao status de principio constitucional. institucionalizando-se como metodo de governo.
Entre nos, tal como acontece nas sociedades democraticas. a ordem econo-
jogo de incentivos e provocagoes, desempenho eficiente e consentaneo com o objetivo do desenvolvimento nacional.
F.xempio atual e ilustrativo des.sa forma de atuagao do Estado no dominto economico ocorre na area da ati vidade seguradora brasileira. Por via legislativa, esta em implantagao uma nova politica para o setor. que visa a dinamiza-lo e redimensionar-lhe a participagao no-desenvolvimento nacional.
Essa nova politica tem o proposito de conduzir o segiiro, dentro da eco nomia brasileira, a mesma poslgao em one ele se encontra nos sistemas economicos de outros paises. Isto porque. era face da sua capacidade poteiicial de atrair e acumular poupangas. o seguro e sem diivida notavel e poderoso meio de expansao da atividade inversora nacional.
fisse papel do seguro ncm sempre e identificado e compreendido pelo publico, que nele ve tao somente a sua fungao mais transparente de mecanismo de protegao contra riscos de conseqiiencias economico-financeiras danosas.
Mas, onde o mercado segurador tem maioi. presenga como fator de investimentos e no mercado de capitais. Ai. atraves de agao direta, aplicando re cursos proprios que se acumulam sob a forma de reservas tecnicas. constituidas para garantia das operagoes de seguros e dos interesses do piiblico segurado.
Tais reservas logicamente crescem na medida em que se expandem as ope ragoes de scguros. Assim. num processo dc causagao circular, o desenvolvi mento economico potencializa a expan sao do seguro e este. assim tonificado, oblem meios para incrementar seus investjmentos no mercado de capitais, e, portanto. no proprio desenvolvimento economico nacional.
Da observagao e compreensao desse mecanismo de impulsos reciprocos en tre a atividade seguradora e o desen volvimento nacional, surgiu a nova po litic? estabelecida pelo Governo Fe deral com vistas a acelerar e ampliar a participagao do seguro no desenvol vimento brasileiro.
sociedade uma condigao fundamental a realizagao de seus fins: o funcionamento organico e ordenado de toda.a sua e.stiutura.
Desde as engrenagens mais complexn.s que acionam o Estado que e a so ciedade politicamente organizada. ate a disciplina da variada constelagao de relagbes entre os individuos, o Direito estii onipresente no exercicio da agao fecunda de sistematizar e racionalizar a dinamica social e, portanto, o desenvolvimento nacional.
Lembro, no capitulo da economia, a evolugao nao so filosofica mas princi-
mica baseia-se no principio da livre empresa. O planejamento estatal nao tern, portanto, carater impositivo, mas indicative. Torna-se instrumento de indugao, de estimulo para que a atividadv empresarial, livre mas nao caotica, seja motivada para litil e racional convergencia no sentido do desenvolvimento em termos macro-economicos.
Por outras palavras, o planejamento cria condigoes para que, em regime de liberdade de iniciativa, a atividade economica alcange, atraves de adequado
Mesmo no exercicio dessa fungao. alias, nao deixa o seguro de agir como fator de investimento. estimulando realizagoes economicas cm que o risco tornaria arredia a iniciativa empresarial, se esta nao pudesse contar com formas eficientes de protegao.
Igualmente, e ainda nessa faixa de atuagao, o seguro elimina solugoes de continuidade no proccsso de investi mento. restaurando a atividade produtiva interrompida pela incidencia de sinistro, atraves da recomposigao indcnitaria dos recursos nela empregados.
Essa politica, que se desdobra dc maneira a compor toda uma trama de variados instrumentos de execugao, procura em ultima analise ajustar a magnitude do mercado segurador a propris grandeza economica ja atingida pela Nagao. Varies fatores, dentre os quais se destaca a longa agao corrosiva da inflagao. em particular nos periodos de maior exacerbagao desse feno meno monetario, geraram o descompasso havido entre os ritmos de crescimento do seguro e da economia.
Cabc agora, portanto, recuperar o dinamismo evolutivo da atividade se guradora. Para esse fim, a nova po litica implantada por via legislativa en-
caminha o processo de recuperagao atraves da linha compativel de normaliza?ao funcional do raercado de seguros.
Os caminhos que vac levar a esse objetivo foram tra^ados a partir da ideiitificagao da diferen^a de niveis de crescimento entre a economia e o sistema segurador, bem como do diagnost!Cd das causas de entorpecimento ainda presentes no mercado nacional de seguros.
Enriquecido por imagens de que e desprovida a simples linguagem falada, o programa audio-visual que agora vai ser projetado expoe em linhas gerais OS [undamentos, mecanismos de agio e objetivos da nova politica a que obedecc 0 processo de desenvoivimento do seguro brasileiro.
Estas sao as coordenadas pelas quais agora se orienta a trajetOria da ativir dado seguradora na economia brasileira. Uma economia em franca e acelerada expansao, nao pelo simples e exciusivo finalismo do desenvoivimento, mas por ser este componente necessario de uma filosofia de Governo que tern como substrate a efetiva paz social.
Com vistas a esse objetivo supremo, esta sendo construida no Brasil uma sociedade aberta, em que o desenvoivi mento e a justiga, intima e diretamente correlacionados, constituem o verdadeiro alvo da ordem socio-economica.
Desenvoivimento e precario e instavel, vazio de conteiido, sem humanizar-se atraves da justi^a. E e de justi^a que se nutre c se mantem a verdadeira paz.
Nao so a paz interna como a externa, reclamando esta ultima a transformacao das estruturas internacionais. Assim como, internamente, a paz so cial demanda a mais ampla distribuicao dos frutos do desenvoivimento, internacionalmente o convivio pacifico das nagoes depende cada vez mais da
redugao das distancias entre os niveis de desenvoivimento das respectivas economias.
O sistema segurador brasileiro, no qual se integram com fungoes especificas e definidas o Governo e a iniciativa privada, sente-se honrado pela deferencia da escolha do Brasil como sede do III Congresso Pan-Americano de Direito do Seguro.
Todos nos brasileiros, anfitrioes dos ilustres juristas de nagoes amigas que aqui vieram contribuir para a obra comiiir do aperfeigoamento da instituigao do seguro, esperamos ter correspondido as responsabilidades do nosso encargo e aos alevantados propositos da Associagao Internacional do Direito do Seguro.
Ii facil. em Cdngressos como o que neste momento se encerra, captar a essencia e o amplo sentido do pensamenfo de Stuart Mill, contido na sua afirraagao de que «nao ha melhor prova do progress© da civilizagao do que o progresso do poder da cooperagao».
AUDIO-VISUAL
O discurso do Presidente Jose Lopes de Oliveira foi intercalado pela projegao de urn programa audio-visual sobre a «Nova Politica de Seguros do Brasil».
Ilustrando, com narragao e imagens fotograficas adequadas, o processo brasileiro de desenvoivimento, o pro grama exibido assinalou o descompasso entre os ritmos de crescimento da eco nomia e do sistema segurador.
A corregao desse desentrosamento constitui a origem e o objetivo da nova politica de seguros, cujas diretrizes basicas foram expostas e explicadas pelo audio-visual.
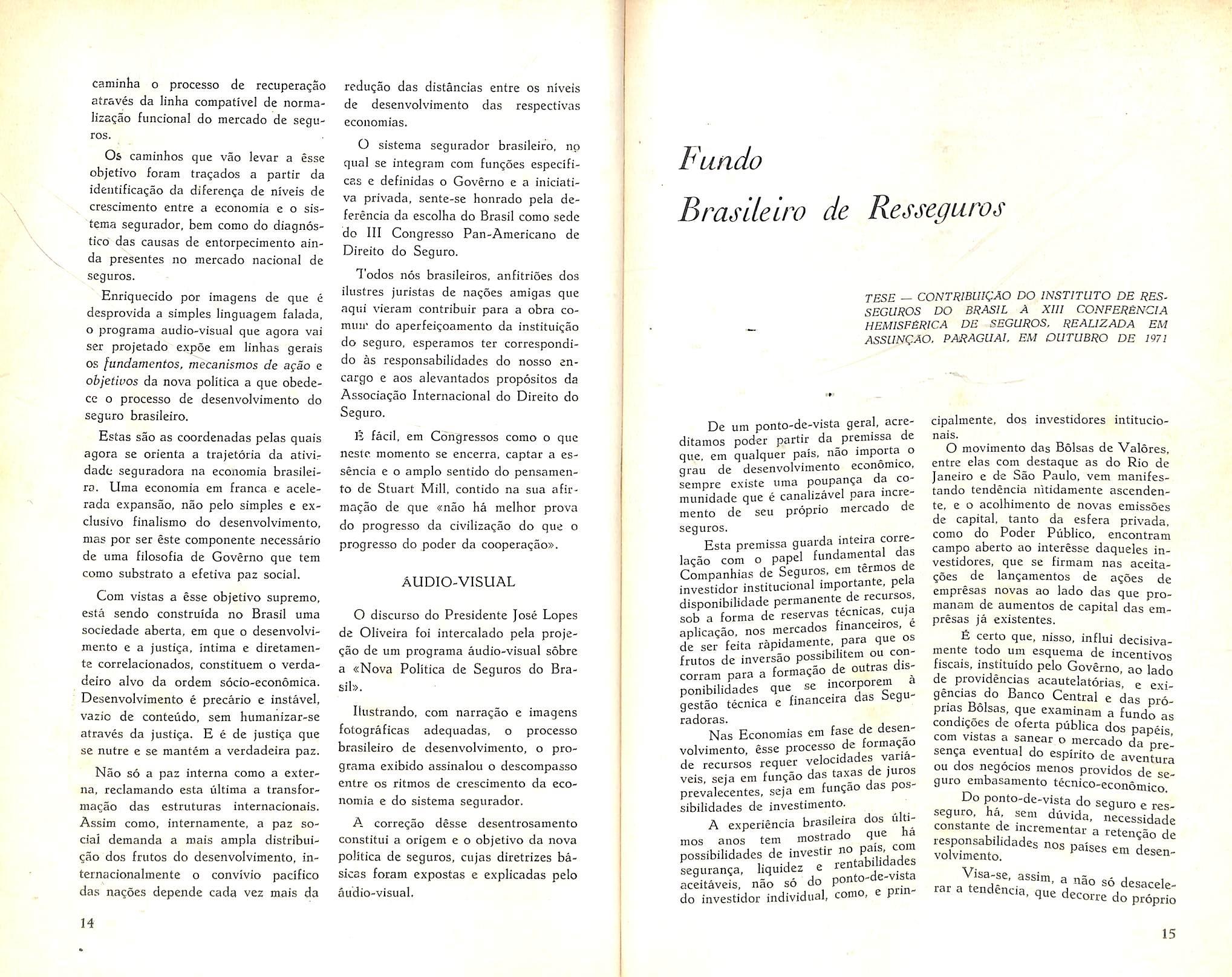
De um ponto-de-vista geral, acreditamos poder partir da^premissa de que, em qualquer pais, nao importa o grau de desenvoivimento economico. sempre existe uma poupanga da comunidade que e canalizavel para mcremento de scu proprio mercado de seguros.
Esta prcmissa guarda inteira correlagao com o papel fundamental das Companhias de Seguros. invcstidor institucional importante, pela disponibilidade permanente de sob a forma de reseryas ^cnicas cu,a aplicagao, nos mercados ^'^^nce ros, e de ser feita rapidamente, para que o^ frutos de inversao 'S. corram para a forniagao de ds ponibilidades que se gestac tecnica e flnanceira das Scgu radoras. , ,
Nas Economias em fase de desen voivimento. esse de recursos requer yelocidades veis, seja em fungao das ' prevaleccntes, seja em fungao P sibilidades de jnvestimento.
A experiencia brasileira dos ultimos anos tern mostrado que a possibilidades de investir no pa..-^ seguranga, hquidez e ^ ^e-vista aceitaveis. nao so do poi"''^ do investidor individual, como, e p
cipalmente, dos investidores intitucionais.
O movimento das Bolsas de Valores, entre elas com destaquc as do Rio de Janeiro e de Sao Paulo, vem manifestando tendencia nitidamente ascendente, e o acolhimento de novas emissoes de capital, tanto da esfera privada, como do Poder Piiblico, encontram campo aberto ao interesse daqueles in vestidores, que se firmam nas aceitagoes de langamentos de agoes de cmpresas novas ao lado das que promanam de aumentos de capital das empresas ja existentes.
fi certo que. nisso, influi decisivamente todo um esquema de incentives fiscais, instituido pelo Governo, ao lado de providencias acautelatorias e exi gencias do Banco Central e das pro- prias Bolsas, que examinam a fundo as condigdes de oferta publica dos papeis com vistas a sanear o mercado da nrp' senga eventual do espirito de aventura ou dos negocios menos providos de se guro cmbasamento tecnico-economico
Do ponto-de-vista do seguro e resseguro, ha sem duvida, necessidade constante de mcrementar a retengao de
Visa-se. assim, a nao so desacelerar a tendencia, que decorre do proprio
processo de desenvolvimento economico. de agravaraento da participa^ao reJativa ao seguro e resseguro no balan^o-de-pagamentos internacionais como a permitir que o Governo se torne menos dependence de decisoes de carater tecnico e financeiro que promanem do exCerior, seja na coloca^ao dos excedentes, seja na solugao dos pedidos de indenizagao em conseqiiencia de sinistros.
Ao lado disso, ha certamente uma trijha Jarga para a instituigao de convenios de redprocidade, que possibilitariam melhorar sensivelmente as composigoes de massas seguradas, inclusive pelo acesso a tecnicas mais sofisticadas em vigor em outros paises.
Postas, assim, as preliminares em termos gerais, propende agora o Insti tute de Resseguros do Brasil a valer-se do mercado de capitals brasileiro, num primeiro passo, e dos mercados de ca pitals dos paises latino-americanos, em segunda fase, mas de execugao quase imediata, a patrocinar a implantagao de um chamado «Fundo Bmsikico de Ressegatos». cuja formulagao basica se apoia nos seguintes pontos:
a) entidade autonoma, vinculada e administrada pelo Institute de Res seguros do Brasil, sob forma de «fundo mutuo de invescimentos», com personalidade juridica propria e coparticipagao do IRB e de pessoas fisicas e juridicas do pais e do exterior;
b) objeto social definido: — aceitagao de operagoes de resseguros provindas dos mercados interno e do ex terior, estas sobretudo a base de convenios de reciprocidade;
c) recursos de origem nao. inflacionaria, advindos da poupanga interna e externa, sob a forma de aquisigao de «cotas de participagaos no Fundo em causa, representadas por certificados emitidos em moeda nacional;
d) aplicagdes em papeis selecionados, de primeira ordem, de facil negociabilidade e bom rendimento direto e indireto, entre eias Obrigagoes Reajustaveis do Tesouro Nacional, agoes de Erapresas industrials, coraerciais, financeiras e securitarias, obrigagoes de tais Empresas desde que araparadas em
clausulas de corregao monetaria, depositos em Bancos, em moeda nacional e estrangeira, e outras operagoes ativas. excetuadas as do campo imobiliario.
O Fundo Brasileiro de Ressegu ros. ademais de Administragao propria, dispora de um Comite Tecnico com fungao de proporcionar ampio assessoramento de carater permanence aquela AdminisCragao, inclusive o exaine quinzenal da composigao da Carteira de Aplicagdes, indicagao de normas e criterios tecnicos de aceitagao de responsabilidades de resseguros e de liquidagao de sinistros, e fixagao periodica do valor da «coCa de participagaos, para fins de colocagao (venda) ou rcsgate, cendo em conta referida composigao de Carteira, as perspectivas dos mercados de valores mobiliarios, a composigao das aceitagoes e tendencias dos mer cados de resseguros nacional e do exCerior.
De notar, ainda, que, no projeto, nao existe qualquer aspecCo de compulsoriedade seja para as Seguradoras, que tomarao «cotas de participagao» na medida de suas conveniencias, vinculando-as ou nao as respectivas re serves Cecnicas quando e enquanto assim desejarem.
Da mesma forma o IRB tomara participagao no Fundo de acordo com suas proprias conveniencias, e os demais coparticipantes decidirao do volu me de suas coparticipagoes no momento e no limiCe de seus inCeresses especlficos,
Quanto ao ingresso de pessoas e enCidades do exterior, e porque o valor realizado de cada «cota de participagao» no Fundo tem carater de capital garantidor das operagoes de resseguro por ele aceitas, constituindo, assim premio sdicional indistinto, para todos os efeiCos, nao sera neccssario registro previo dessc ingresso no Banco Cen tral, como acontece com os premios de resseguro aceitos no Brasil, de origem externa, podendo, enCao, processar-se o resgaCe das cotas sem qualquer enCrave ou exigencia de ordem cambial,
Acreditamos que o Fundo Brasi leiro de Resseguros, em face da orientagao que presidiu a sua formulagao,
pode vir a constituir-se em instrumento adequado aos fins visados, e de inicio expostos, e sua implanCagao em outros paises tornar-se viavel, uma vez feitas as adaptagoes aconselhaveis em cada caso.
Os processes e mecanismos tradicionais de pulverizagao de riscos ja hoje nao mais se revelam suficientes para a realizagao dos objetivos que Ihes sao inerentes.

O advento da economia de massa, fazendo proliferar o contingente de ris cos que atingem niveis mais elevados de capiCais seguraveis. tornou exiguas nao so a capacidade de absorgao dos mercados nacionais como, tambem, a do proprio mercado intemacional de resse guro, onde com frequencia cada vez maior se observa a insuficiencia da' oferta para a procura crescentc de cobertura para os chamados tiscos' mamute.
Assim, alem dos mecanismos^ tradicionais de dispersao de riscos, ha necessidade de que se recorra a criagao de novos instrumentos. Dai surgiu a
ideia do «Fundo Brasileiro de Resseguros», associando os mercados segurador e financeiro.
£sse Fundo, constituindo faixa adicional de reCengao, situada acima das faixas preenchidas pelo seguro direto, pelo resseguro normal e pela retrocescessao, pode introduzir consideravel reforgo a capacidade operacional do mercado interno, dando a este condigoes para acompanhar a evolugao da economia nacional e de suas conseqiientes necessidades previdenciarias em expansao.
Esta e a contribuigao que a Delegagao do IRB oferece ao exame da XIII Conferencia Hemisferica de Seguros, com o proposito de ensejar, em breve prazo, um maior e mais duradouro entrelagamento dos mercados latino-americapos financeiro e de Seguros. Dos resulCados dcsse exame, apreciaria o IRB receber manifestagoes de Plenario e das Entidades nele representadas, e agradeceria sugestoes e criticas que possibiliteni o aperfeigoamento do ins trumental cujo uso se imagina por em pratica ao inicio do novo ano.
A Diretoria do Sindicato das Empresas dc Seguros Privados da Guanabara designou os Srs. Aylton de Souza Almeida, Walter Xavier c Duke Pacheco da Silva para a Coraissao Julgadora do Concurso «/or£rc Cdrfcs Freitasi. subordinado ao tema «0 Desafio do Seguro Automovcl — Como enfrentar os problemas decorrentes da sua crescenCe hegemonia nos ramos elementaress. A irbiaria Dulce a checo da Silva, Chcfe do DEONE; vai coor denar os trabalhos, « * «
(.CESAR
O concurso proraovido pelo Sindicato de Seguradores do Parana encerrou as inscrigScs
no dia 20 de outubro, havendo a participagao de dez trabalhos concorrentes, inclusive aiguns de outros Estados. A Comissao Juigadora deveria conciuir seus trabalhos no dia 30 de novembro.
(DAVID
O Presidente do IRB ja designou os mem. bros da Comissao Juigadora Dciio Brito Presidente do Conseiho Tccnico; Jorge Alberto Pratt de Aguiar. Diretor de Operagoes, ambos do IRB. c o Prof. Thcophiio de Azeredo Santos -. que deverao decidir a ciassificagao dos trabalhos sobre o tema «A Nova Poiitica de Seguros».
Realizou-se nos dias 2 e 3 de setembro. no edificio-sede da Federagao das Industrias do Parana, em Curitiba. o Seminario de Exportagao, promovido pela Confederagao Nacional do Comercio (CNC). Carteira de Comercio Ex terior do Banco do Brasil (CACEX). Centre Interamericano de Proniogao de Exportagao (CIPE) e Centro de Comercio Exterior do Parana (CEXPAR).
Estiveram presentes as s e s s 6 e s, muito concorridas, autoridades, empresarios e universitarios.
Logo ap6s a abertura oficial do concJave. pelo governador do Estado discursou o Dr. Mario De Mari presidente da Federagao das Industrias do Parana e do CEXPAR.
O programa ciimprido pelos participantes incluiu conferencias, seguidas de debates, abordando os seguintes temas: «ALALC c integragao Economica», proferida per Bcnedito Pires de Almeida, da Federagao das Indus trias de Sao Paulo: «Capacitagao de Peritos em Exportagao e Tecnicas de Comcrcializagao Internacionals. pelo
Prof. Walter Manana, do Centro Interamericano de Comercializagao, da Fundagao Getulio Vargas: Mecanismo de Isengoes Tarifarias no Fomento das Exportagoes; «Draw-back e outros», por Joaquim Ferreira Mangia, do Ministerio da Fazenda; «Carga Aerea Intcrnacionai», (projegao de fiimes sobre Transporte Aereo), por Mauro Guidetti. da Varig-Rio: «Transporte Maritimo, Fretes e Diretrizes», pelo Comte. Luiz Cyrillo de Albuquerque Cunha, do Lloyd Brasileiro, e «Formagao de Novos Exportadores. Tarefa Prioritaria», por Carlos Tavares, da CNC.
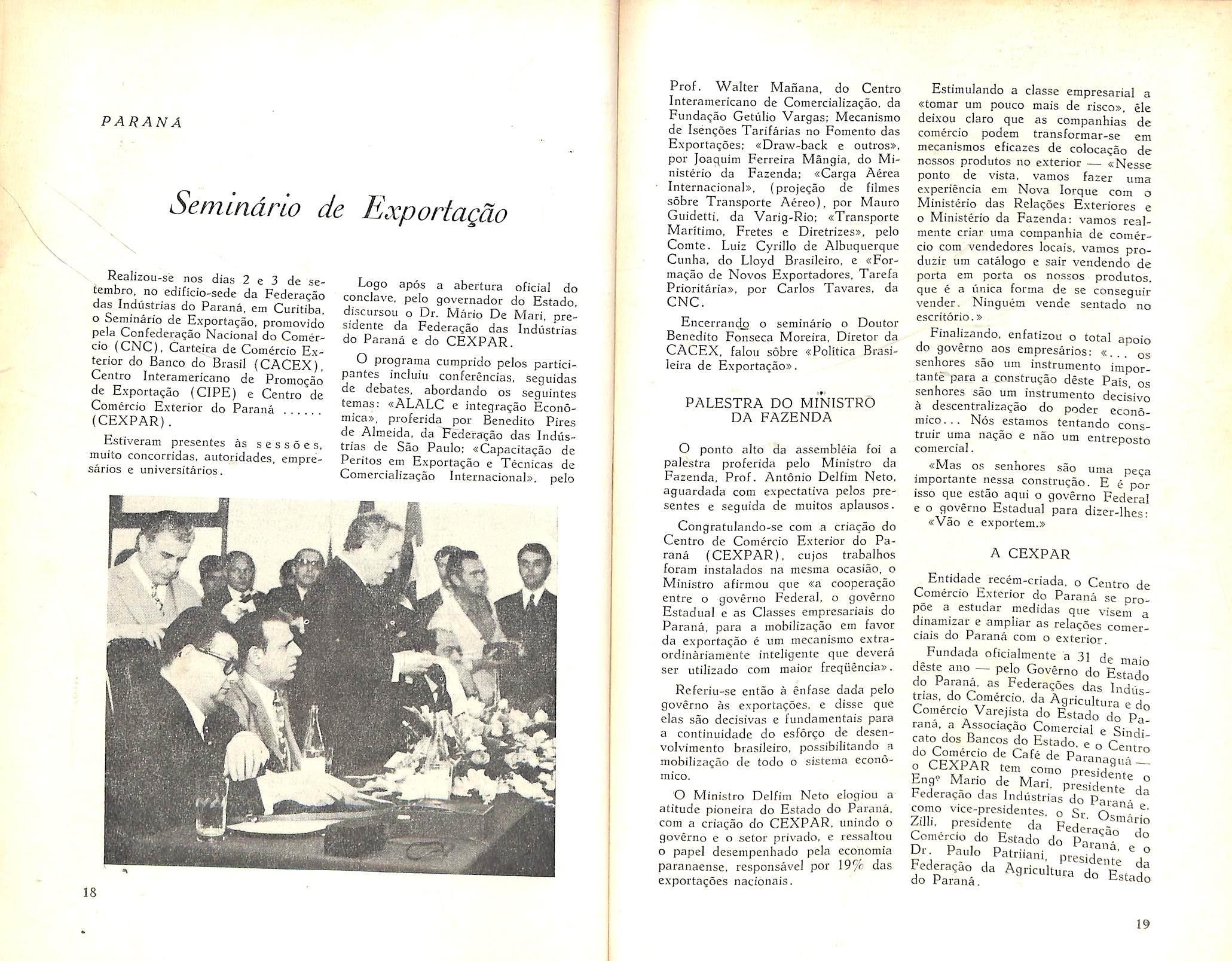
Encerrancjo o seminario o Doutor Benedito Fonseca Moreira, Diretor da CACEX. falou sobre «Pol!tica Brasileira de Exportagao».
PALESTRA DO MINISTRO DA FAZENDA
O ponto alto da assembleia foi a palestra proferida pelo Ministro da Fazenda. Prof. Antonio Delfim Neto. aguardada com expectativa pelos pre sentes e seguida de muitos aplausos.
Congratulando-se com a criacao do Centro de Comercio Exterior do Pa rana (CEXPAR). cujos trabalhos foram instalados na mcsma ocasiao, o Ministro afirmou que «a cooperagao entre o governo Federal, o governo Estadual e as Classes empresariais do Parana, para a mobilizagao em favor da exportagao e um mecanismo extraordinariamente inteligente que devera ser utilizado com maior frequencia».
Referiu-se entao a enfase dada pelo governo as exportagoes. e disse que elas sao dccisivas e fundamcntais para a continuidade do esforgo de desenvolviracnto brasileiro, possibilitando a mobilizagao de todo o sistema economico.
O Ministro Delfim Ncto elogiou a atitude pioneira do Estado do Parana, com a criagao do CEXPAR. unindo o governo e o setor privado, e ressaltou 0 papel dcsempenhado pela economia paranaensc, responsave! por 19% das exportagoes nacionais.
Estimulando a classe empresarial a «tomar um pouco mais de risco». ele deixou claro que as companhias de comercio podem transformar-se em mecanismos eficazcs de colocagao de ncssos produtos no exterior — «Nesse ponto de vista, vamos fazer uma experiencia em Nova lorque com o Ministerio das Relagoes Exteriores e o Ministerio da Fazenda: vamos realmente criar uma corapanhia de comer cio com vendedores locais, vamos produzir um catalogo e sair vendendo de porta em porta os nossos produtos. que e a I'mica forma de se conseguir vender. Ninguem vende sentado no escritorio.»
Finalizando. enfatizou o total apoio do governo aos empresarios; «... og senhores sao um instrumento importante para a construgao deste Pais. os senhores sao um instrumento decisive a descentralizagao do poder economico... Nos estamos tentando construir uma nagao e nao um entreposto comercial.
«Mas OS senhores sao uma pega importante nessa construgao. E e por isso que cstao aqui o governo Federal e o governo Estadual para dizer-lhes: «Vao e exportem.»
Entidade recem-criada, o Centro de Comercio Exterior do Parana se propoe a estudar medidas que visem a dinamizar e ampliar as relagoes comerciais do Parana com o exterior.
Fundada oficialmente a 31 de ma' deste ano — pelo Governo do Estado do Parana, as Federagoes das Indiis trias, do Comercio. da Agricultura e do Comercio Varejista do Estado do P-,. raiia. a Associagao Comercial e cato dos Bancos do Estado e o C-. do Comercio de Cafe de Paran.. o CEXPAR tern con^o Eng' Mano de Mari. presidente da Federagao das Industrias do Para^ como vice-presidentes o n Zilli. presidente da Federal""''? Comercio do Estado do Paran-?
AULA PROPERIDA NA FACULDADE DE DIREITO DA UmVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. NO DIA 19-11.7I, PELO DR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA. PRESIDENTS DO I.R.B.
O escambo, que consiste na troca direta de mercadorias umas pelas outras, foi a instituigao que permitiu o advento da economia de mercado.
Limitado a produzir para a satisfa?ao de suas necessidades pessoais, o Homem foi retirado desse isolamento economico quando encontrou oportunidade, atraves do escambo, para divldir e melhor compensar seu esforgo produtivo, obtendo pela troca, onde e quando ihe fosse mais conveniente, utilidades que outros pudessem produzir em condigoes mais economicas.
A evolu^ao inicial proporcionada pela economia de mercado iria, porem, conduzir a niveis de atividade em que o escambo, como processo de circulagao da produgao e de divisao do trabalho, nao teria condi^oes para atender, satisfatoriamente, a dinamica das trocas.
Surgiu dessa maneira a moeda, apresentando a admiravel vantagem de ser extremamente portatil e, ao mesmo tempo, adequado instiumento de medida geral c uniforme de valores.
Se nos lembrarmos de que o vocabulo pecunia, sinonimo de dinheiro, origina-se do pecum (ou gado) latino, podemos fazer ideia do grande progresso representado pela criagao da moeda, em teririos de portabilidade.
Mas o progresso economico das s^ciedades humanas, em sua inevitavel expansao qualitativa e quantitativa, viria elaborar novo e bem mais sofisticado instrumento de troca.
Surgiu assim o credito, dando outra e importante dimensao ao processo de circula^ao de riqueza: a dimensao tem poral.
Gramas ao credito, trocam-se bens prontos e acabados pot riqueza a set
ainda produzida: troca-se renda atual por renda futura. A troca passa a realizar-se tambem no tempo, e nao apenas no espaqo.
Esta visto, portanto, que o desempenho de papel dessa ordem transformou o credito em poderoso fator de estimulo a atividade produtiva, alargando enormemente os horizontes economicos. Mas ha, porem, o reverso, a outra face dessa moderna e funda mental instituiqao.
Nela se contem, como elemento negativo, o riseo, correspondentc a probabiiidade — ora maior, ora menor, mas sempre cxistente — de que nao se complete o circuito financeiro da troca, ocorrendo o inadimpleracnto da obrigagao do devedor.
O risco, assim, intervem no processo como elemento de retra^ao da oferta de credito, reduzindo a atuai;ao deste co mo fator de expansao do processo pro dutivo. £sse efeito do risco alastra-se por todos OS pianos, do micro ao macro-economico.
Coube ao Seguro a fun^ao de ncutralizar essa influencia negativa do ris co. Utilizado antes como mecanismo de compensaqao de perdas materiais, area onde sua eficiencia fora siibmetida a tesfes com resultados sati.sfatorios, pode o seguro ser transposto, tam bem, para o campo financeiro dos riscos do credito.
As tentativas iniciais para essa movagao datam da primeira metade go seculo passado. Ocorreram na Franqa, onde afinal uma das mais ^ntiga-s organizacoes bancarias — o Banco a let & Cie. — constituiu a «L'Umon du Commcrcc». seguradora especiahzada na cobertura de riscos de credito.
Em seguida, tal seguro surgiu: na Inglaterra, em 1890; nos Estados Uni-
dos, em 1893: e, sucessivamente, na Sui?a, na Alemanha, na Belgica, na Italia e, em 1928, na Espanha.

6 claro que. de inicio, a exploragao de tal seguro ficaria circunscrita a eco nomia interna de cada pais onde sua pratica era conhecida. Em fase poste rior, todavia, viria a ocorrer sua extensao ao comercio externo, sob a forma do seguro de credito a exportagao.
Sao vanguardeiras dessa nova modaiidade a Inglaterra, a Alemanha e a Franqa, a qual nao tardaria a generalizar-se entre os paises dcsenvolvidos. Suas operagoes somente ganhariam impulso, entretanto, no ultimo pos-guerra, quando se tornou cada vez mais acirrada, entre aqueies paises, a competigao pela conquista dos mercados importadores.
Essa competiqao entre os paises tradicionalniente exportadores. dcsenrolando-sc em particular no tocante as vendas de bens-de-capital e de bens-de-consumo duraveis, teve um gradual deslocamento da area dos pregos, onde ja comegavam a ser tangenciados os limites dos custos de produi;ao, para o campo do financiamento.
As facilidades concedidas quanto ao pagamento. contribuindo para a melhoria da programagao financeira do importador e para aliviar .pressoes sobre OS Balangos-de-Contas dos paises compradores, passaram inevitavelmente a constituir o polo principal da concorrencia entre os mercados exportadores.
O fenomeno de tal forma se exacerbou que deu motivo. por isso mesmo. a ser identificado como uma verdadeira «:guerra fria» do credito.
Essa participa^ao crescente do cre dito no comercio intcrnacional gerou como corolario natural, a expansSo do seguro de credito a exportaqao, assim arrolado entre os servigos indispensa-
veis a continua ativa^ao das vendas externas.
Esse tipo de seguro abrange variada gama de eventos. desde os configiirados como de natureza comercial ate os de ordem politica ou de carater extraordinario.
Define-se como risco comercial o quo se manifesta sob a forma da insolvencia do devedor. O conceito de insolvencia e juridico e varia de uma para outra legislagao nacional.
Pode-se dizer, no entanto, em termos esquematicos, que a insolvencia ocorre e e reconhecida quando sobrevem urn dos seguintes fatos;
a) publicaqao de senten^a judicial, decretando a falencia do devedor ou homologando concordata deste com seus credores:
b) assinatura de instrumento de acordo de pagamento com redugao de debito:
c) comprovagao da inexistencia ou insuficiencia dos bens do devedor. a penhorar ou sequestrar.
Os riscos politicos e extraordinarios, numerosos e hcterogeneos, por isso mesmo nao se prestam a redu^ao exigida por uma shitcse definidora. Tem por vezes como denominador comum a conseqiiencia danosa da falta de paga mento da divida contraida pelo importador.
Tal acontece quando este se ve impedido de atender a seus compromissos cm decorrencia:
a) de guerra interna ou externa envolvendo seu pais;
b) de eventos catastroficos como furacoes. maremotos, inundagoes, terremotos e erupgoes vulcanicas:
c) de moratoria estabelecida em ca rater gera! no seu pais.
Outras vezes, porem. o que caracteriza a incidencia do risco nao e a ina^ dimplencia do importador. mas a falta ou insuficiencia do pagamento em con seqiiencia de medida governamental.
Estao nesse caso a falta de transferencia das divisas adquiridas pelo im portador. ou a transferencia era moeda diversa da convencionada na compra-e-venda.
Outro tipo de perda, tambem caracterizada como risco segurado. e a que decorre de acontecimentos politicos. dos quais se origine requisigao, destruigao ou avaria dos bens objeto do c:edito, entre os momentos do embarque e do recebimento-pelo comprador, Encontram ainda cobertura as perdas sofridas pelo exportador em con seqiiencia da recLiperagao de suas mercadorias, promovida para evitar um risco politico latente e iminente.
A sintese que acaba de ser feita reduz a sua expressao simples todo o historico do credito. suas fungoes economicas e riscos que Ihe sao implicitos, bem como o papel do seguro como mecanismo de suporte da expansao de tal institute e da aceleragao que ele imprime ao processo produtivo.
£ uma sintese indispensavel a compreensao do advento, no Brasil, do se guro de credito a cxportagao e do ca rater obrigatorio de que ele se revestiu legalmente, embora essa obrigatoriedade, ate agora e por raotivos realmente ponderaveis, ainda nao constitua exigencia regulamentar.
Trata-se de seguro cuja primeira tentativa de implantagao ccorreu em 1962, quando foi promulgado o De-
creto n" 736. O aperfeigoamento desse texto, porem, tornou-se necessario para a viabilizagao do sistema criado. Sobreveio para tanto a Lei n" 4.678. de 1965, estruturando em condigoes mais adequadas o funcionamcnto e operagao daquele seguro, sendo esse o di ploma legal que ainda hoje permanece em vigor.
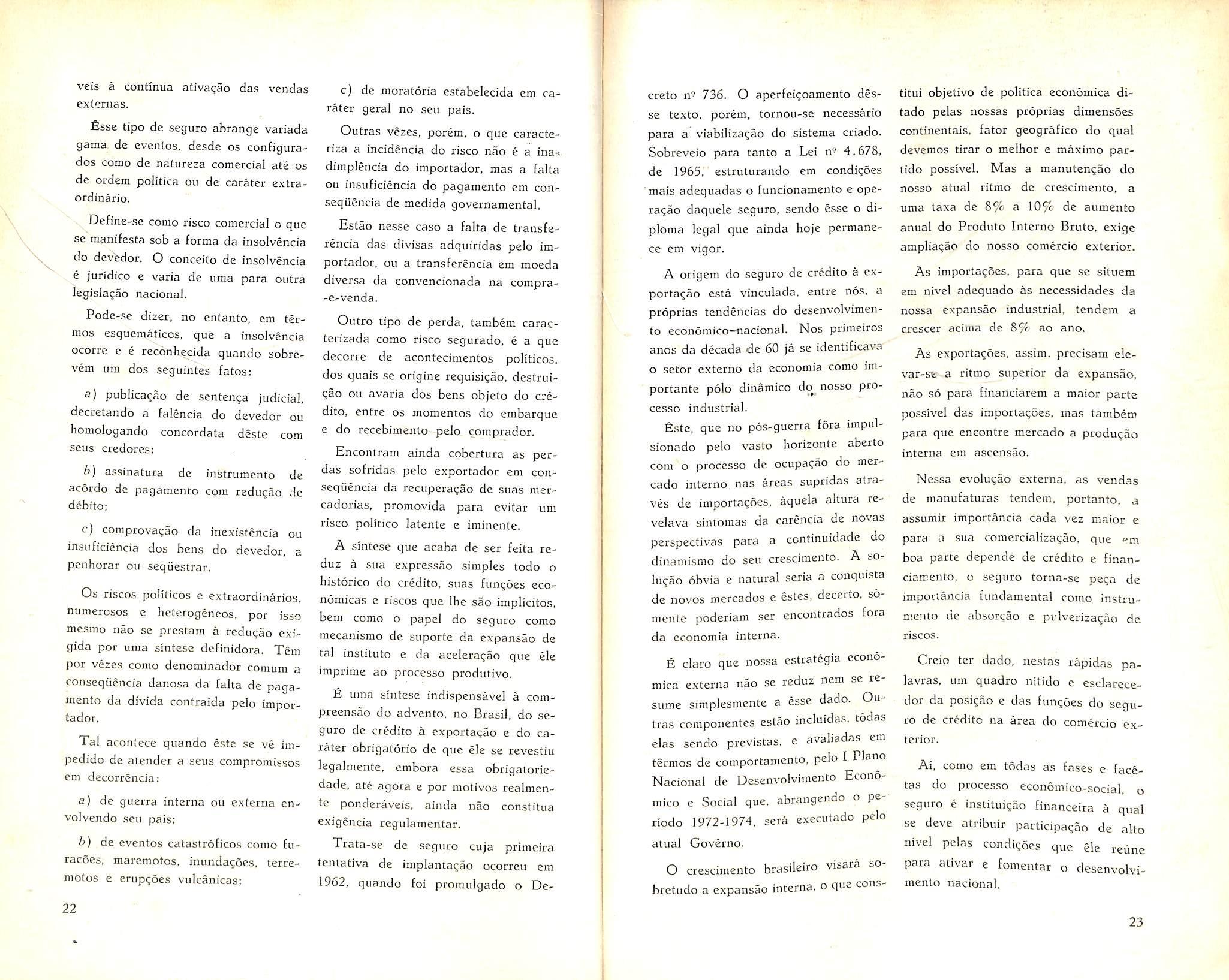
A origem do seguro de credito a cxportagao esta vinculada. entre nos, a proprias tendencias do desenvolvimento economico-nacional. Nos primeiros anos da decada de 60 ja se identificava o setor externo da economia como importante polo dinamico do nosso pro cesso industrial.
£ste. que no p6s-guerra fora impulsionado pelo vasto horizontc aberto com o processo de ocupagao do mercado interno nas areas supridas atraves de importagoes, aquela altura revelava sintomas da carencia de novas perspectivas para a ccntinuidade do dinamismo do seu cresciraento. A solugao obvia e natural seria a conquista de novos mercados e cstes. deccrto. s6mente poderiam ser cncontrados fora da economia interna.
£ claro que nossa estrategia economica externa nao se reduz nem se re surae simplesmente a esse dado. Ou tras componentes estao incluidas, todas elas sendo previstas, e avaliadas em termos de comportamento, pelo I Piano Nacional de Dcscnvolvimento Economico c Social que, abrangcndo o pe-riodo 1972-1974. sera executado pelo atual Governo.
O crescimento brasileiro visara so bretudo a expansao interna, o que cons
titui objetivo de politica cconomica ditado pelas nossas proprias dimensoes continentais. fator geografico do qual dcvemos tirar o melhor e maxlmo partido possivel. Mas a manutengao do nosso atual ritmo de crescimento. a uma taxa de 8% a 10% de aumento anual do Produto Interno Bruto, exige ampliagao do nosso comercio exterior.
As importagoes. para que se situem em nivel adequado as necessidades da nossa expansao industrial, tendem a crcscer acima de 8% ao ano.
As exportagoes. assim. precisam elevar-sf a ritmo superior da expansao, nao s6 para financiarem a maior parte possivel das importagoes. mas tambem para que encontre mercado a produgao interna em asccnsao.
Nessa evolugao externa, as vendas de manufaturas tendem, portanto, a assumir importancia cada vez maior e para a sua coraercializagao. que boa parte depende de credito e financiamento. o seguro toina-sc pega de importancia fundamental como instruoteuto ric cibsorgao e pvlverizagao de riscos.
Creio ter dado, nestas rapidas palavras, um quadro nitido e esclarecedor da posigao e das fungoes do segu ro de credito na area do comercio ex terior.
Ai, como em todas as fases e facetas do processo economico-social, o seguro e instituigao financeira a qual se deve atribuir participagSo de alto nivel pelas condigoes que ele reune para ativar e foraentar o desenvolviinento nacional.
. I. A Administcacao Publica e sens principios. A Administracao Publi ca: Conccito. natureza e fins. Os principios basicos da Administra gao Publica: legalidade, mocalidade e [inalidade.
O conceito de administragao publica nao oferece contornos bem definidos, quer pela diversidade de sentidos da propria expressao. quer pelos diferentes campos cm que se desenvolve a atividade administrativa. A despeito disso, tentaremos balizar o ambito de agao do administrador publico e assinalar OS principios juridicos que devem nortear a gestao dos negocios estatais.
Em sentido lato, administrar e gerir interesses, segundo a lei. a moral e a finalidade dos bens entregues a guarda e conservagao alheias. Se os bens e interesses geridos sao individuals, realiza-se administragao particular: se sao da coletividade, realiza-se adminis tragao publica.
Administragao publica. portanto. e a gestao de bens e interesses qualificados da comunidade, no ambito federal, estadua] on municipal, segundo os preceitos do direito c da moral, com o fim de realizar o bem comum.
A natureza da administragao publi ca e a de um munus publico para quern a exerce, isto e, a de um encargo de defesa, conservagao e aprimoramenfo
dos bens, servigos e interesses da co letividade. Como tal, imp6e-se ao ad ministrador publico a obrigagao de cumprir fielniente os preceitos do direi to c da moral administrativa que regem a sua atuagao.
Ao ser investido no cargo publico, todo agente do poder assume para com a coletividade o compromisso de bem servi-la, porque putro nao e o desejo do povo, como legitimo titular dos bens, servigos e interesses administrados pelo Poder Publico.
Na administragao particular, o admi nistrador recebe do proprietario as ordens e instrugoes de como administrar as coisas que Ihe sao confiadas: na administragao publica, essas ordens e instrugoes estao concretizadas nas lets e reguianientos administrativos. e complementadas pela moral da instituigao.
Dai o dever indeclinavel do adminis trador publico de agir segundo os pre ceitos do direito e da moral adminis trativa, porque tais preceitos e que expressam a vontade do titular — o povo — dos interesses administradciS e condicionam os atos a serem praticados no desempenho do miinus publico que Ihe e confiado.
Os fins da administragao publica se resumem num linico objetivo: o bem ^mum da coletividade administrada. Toda atividade do administrador publi co deve ser orientada para esse obietivo.
Se dele o administrador se afasta ou desvia, trai o mandato de que esta in vestido, porque a comunidade nao instituiu a Administragao senao como meio de atingir o bem-estar social.
Ilicito e imoral sera todo ato administrativo que nao for praticado no interesse da coletividade.
Os principios basicos da administra gao publica estao consubstanciados em tres regras de observancia permanente e obrigatoria para o bom administra dor: legalidade, moralidade c finali dade.
Por esses ties padroes e que se haode pautar todos os atos administrati vos. Constituem, por assim direr, cs tres fundamentos da validadc da agao administratiira, ou, por outras palavras. OS sustentacuios da atividade publica.
A legalidade. como principio de ad ministragao, significa que o administra dor publico esta, em toda a sua ativi dade fimcicnal, sujeito aos mandamentos da lei e as exigencias do bem comum, e deles nao se pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato irwalido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.
A eficacia e a validade de toda ativi dade administrativa estao condicionadas ao atendimento da lei.
Na Administragao Publica, nao ha liberalidadc ncm vontade pessoal bnquanto na administragao particular e licito fazer tudo que a lei nao proibe, na Administragao Publica so^ e permitido fazer o que a autonza.
A lei para o particular significa «pode fazer assim»: para o administrador publico significa «deve fazer assims.
As leis administrativas sao, normalmente, de ordem publica, c seus pre ceitos nao podem ser descumpndos, nem raesmo por acordo ou von a e coniunta de seus destinatarios, luna vez que contem verdadeiros podcres_-deveres, irrelegaveis pelos agentes pub icos.
Por outras palavras. a natureza da fungao publica e a finalidade do bsta-
do impedem que seus agentes deixem, de exercitar os poderes e de cumprir OS deveres que a lei Ihes impoem.
Alem de atender a legalidade e a fi nalidade, o ato do administrador pu blico devera conformar-se com a mora lidade administrativa, ou seja, com os preceitos internos da boa administra gao.
A «boa administragaos e a que se reveste de legalidade e probidade admi nistrativas. no sentido de que, tanto atende as exigencias da lei. como se conforma com os preceitos da insti tuigao publica.
Os romanos ja distinguiam o probus administrador do improbus administra dor. Aquele era o que agia em defesa da res publica, este o que a dilapidava e malbaratava em beneficio proprio e de seus favorites.
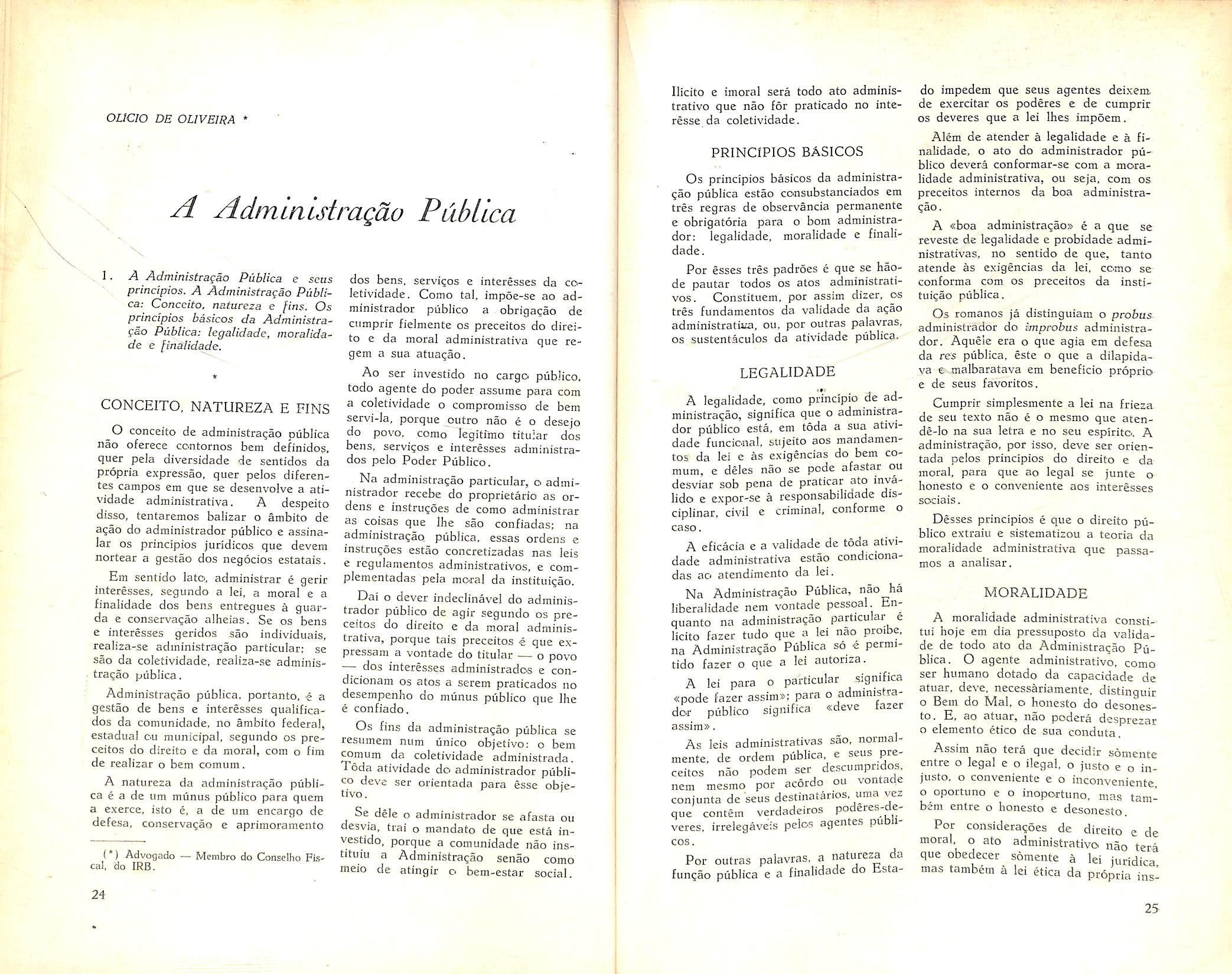
Cumprir simplesmente a lei na frieza de seu texto nao e o mesmo que atende-lo na sua letra e no seu espirito, A administragao, por isso, deve ser orien tada pelos principios do direito e da moral, para que ao legal se junte o honesto c o conveniente aos interesses sociais.
Desses principios e que o direito pu blico extraiu e sistematizou a teoria da moralidade administrativa que passamos a analisar.
A moralidade administrativa constitui hoje em dia pressuposto da valida de de todo ato da Administragao Pu blica. O agente administrativo, como ser humane dotado da capacidade de atuar. deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mai. o honesto do desonesto. E, ao atuar, nao podera desprezar o elemento etico de sua conduta.
Assim nao tera que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto. o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. mas tambem entre o honesto e desonesto.
For consideragoes de direito c de moral o ato administrative nao tera que obedecer somente a lei juridica mas tambem a lei etica da propria ins-
titujgao, porque nem tudo que e legal ■e honesto, conforme ja proclaraavam os romanos.
O certo e que a moralidade do ato administrative juntamente com a sua legaJidade e finalidade. constituem pressupostos de validade, sem os quais toda atividade piiblica sera ilegitima.
A finalidade e o derradeiro principio a que deve atender todo ate adminis trative que almeje legitimidade. & re quisite indisseciavei da atividade publi cs, e a sua ausencia eu distor^ae condu2 a nulidade do ato.
O interesse piiblico, o bem-estac coletivo, o atendimento das e.vigencias da comiinidade sao os objetivos unices que 0 administrador estatai pode visar na sua conduta funcional. Todo ato que se apartar desses obfetivos carecera de tmalidade administrativa.
O fim a que se endereea o ato admimstrativo deve ser aqueie expresso na
norms legal. £sse fim e insubstituivel per quaJquer outro, ainda que de inte resse piiblico, porque a finalidade e sempre cspecifica e nao generica, quan- do se trata de administra(;ao piiblica. .
Quando o administrador piiblico se afasta da finalidade cspecifica do ato, incide em desvio do poder.
Desde que se exige que o ato seia praticado com finalidade piiblica, fica o administrador impedido de buscar outro objetivo, ou de pratica-lo no in teresse de particulares. Nada impede entretanto, que o interesse publico coincida com o interesse privado, como ocorre normalmente nos atos administrativos negociais e nos contratos de direito publico. casos em que e licito conjugar a pretensao do particular, com a finalidade da Administragao.
O que 0 principio da finalidade veda e a pratica de ato administrative sem interesse ou vantagera para a Administraeao. visando unicamente satisfazer interesses privados. por favoritismo ou persegui^ao dos agentes piibiicos.
Para cada 100 Jatos comcrciiiis em servko cm 1970, o indice de perdas totals decorrcntcs de acldentes foi de 0,73, o que demon.'^^lra uma elevacao da segiiranca dos vdos, rrintipalmente si compararmos esse niimero com OS rcsultados do ano de I960 — 1,33.
As linhas ae.-eas opresentam, d.'ssa forma, um coeficiente dc seguranca superior ao de oiitio? mcios dc transportc, em especial, o iuvoir.obilistico, cuja sinistralidade revela in dices bem mais elevados.
O indice de inortallclade foi tamb^m bast-mc redueido. no decorrcr da dccada. Para ca a 100 niilhses de passageiro.s/quiloraetro eiii 1960, bavin uma pioporcSo de 0.80 de mortal.dade; em 1970, essa propor;ao caiu pa; a 0,24.
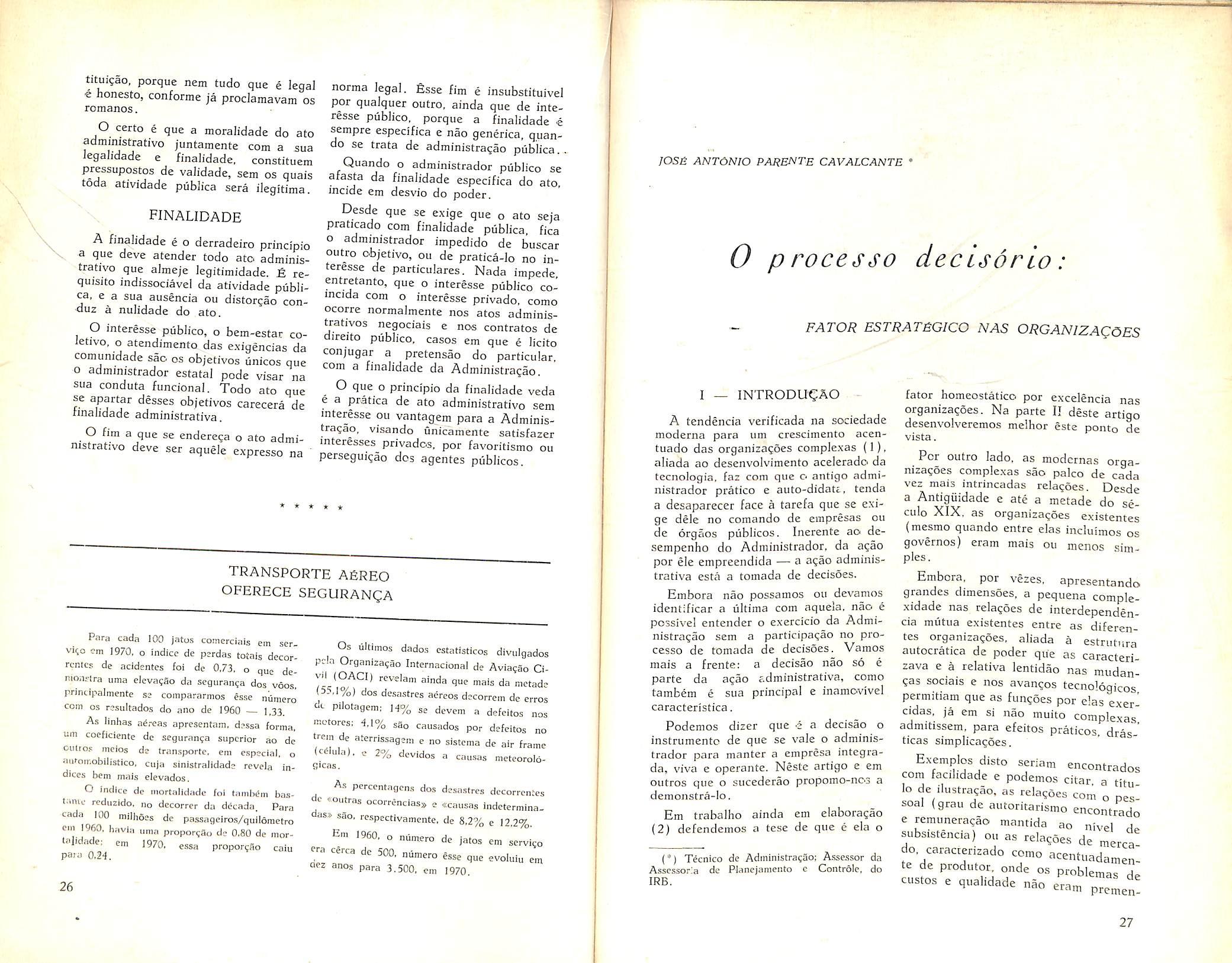
Os ultimos dado-s estatisticos divulgados pt-a Organiza^ao Internacional de Aviagao Cirevelam ainda que mais da metadc /o) dos de.snstres aereos decorrem de erros "C pilotagem; H% se devem a defeitos nos mctores; 4.1% sao causados por defeitos no trem dc aterrissagem e no sistema de air frame c un). o 2% devidos a causas meteorold9'cas.
As percentaoen.<; dos desnstres dccorrentes dc ^outras ocorrencias» e «cansas indeterminadas» sao, respectivamentc, de 8,2% e 12,2%, 1960, o numero de jatos em servigo circa dc 500, numero es« que cvoiuiu em oez anos para 3.500. em 1970,
A tendencia verificada na sociedade moderna para urn crescimento acentuado das organizagoes complexas (1). aliada ao desenvolvimento acelerado da tecnologia, faz com que o antigo admi nistrador pratico e auto-didatc, tenda a desaparecer face a tarefa que se exi ge dele no comando de empresas ou de orgaos publicos. Inercnte ao desempenho do Administrador, da agao por ele empreeiidida — a agao adminis trativa esta a tomada de decisoes.
Embora nao possamos ou devamos identificar a ultima com aquela, nao e possivel entender o exercicio da Administra^ao sem a partiripa^ao no processo de tomada de decisoes. Vamos mais a frente: a decisao nao so e parte da a^ao administrativa, como tambem e sua principal e innmovivel caracterlstica,
Podemos dizer que e a dccisao o instrumentc de que se vale o adminis trador para manter a empresa integrada, viva e operante. Neste artigo e em outros que o sucederao propomo-nos a demonstra-lo.
Em trabalho ainda em elaboragao (2) defendemos a tese de que e ela o
fator homeostatico por exceiencia nas organiza?6es. Na parte II deste artigo desenvolveremos melhor este ponto de vista.
Per outro lado, as modcrnas organiza?6es complexas sao palco de cada vez mais intrincadas rela?6es. Desde a Antigiiidade e ate a metade do seculo XIX. as organizaqoes existentes (mesmo quando entre elas incluimos os governos) eram mais ou nienos sim ples.
Embora, por vezes, apresentando grandes dimensoes, a pequena comple- xidade nas reia^oes de interdependencia mutua existentes entre as diferentes organizagoes. aliada a estrut-ira autocratica de poder que as caracterizava e a relativa lentidao nas mudangas sociais e nos avanqos tecnologicos permitiam que as fun^oes por elas exer' cidas, ja em si nao muito complexas admitissem, para efeitos praticos, dras-' ticas simplicagoes.
Exemplos disto seriam encontrados com facilidade e podemos citar a titu lo de iluscra^ao, as relaqoes com o pes- soal (grau de autoritarismo encontrado e remuneraqao mantida ao nivel de Jibsistenca) ou as relaqoes de merca do, caracrerizado como acentuadamen- te de produtor onde os problemas de custos e qualidade nao eram premen-
tes, dada a reduzida posibilidade de opção permitida ao comprador.
No último século. principalm�nte nas últimas quatro ou cinco décadas, tivemos um aceleramento no processo de avanço tecnológico em paralelo com a emergência e o alastramento de transformações sociais intensas, ambas causadoras de progressivas desarticulação e transformação das estruturas sociais e, em alguns casos, políticas. Como conseqüência, a função do administrador vem-se tornando mais e mais complexa.
O surgimento de novos campo!.ô de especialização, a ampliação da área geográfica de ação das emprêsas, a complexificação das relações inter e intra-organizacionais, o acirramento da competição pela participação, e, se possível, domínio de mercado, as transformaçõesno âmbito da legislação do trabalho, o fortalecimento das associações de classe, a disseminação das associações entre as emprêsas em busca do autofortalecimento, a crescente presença do Estado na vida econômica, quer regulando-a, quer nela participando a�ivamente, as descobertas e divulgaçao de novos conhecimentos nos campos da sociologia das organizações e da psicologia social, a invenção, desenvolvimento e uso em larga escala de novos meios de comunicação e de processamento da informação, o aumento populacional, à emancipação de novos Estados transformando o panorama da politica mundial, a ocorrência de duas guerras mundinis, a divisão político-ideológica que marca o mundo desde a 2•1 metade da década dos 40, bem como a crescente tomada de consciência da outra divisão,·esta de caráter econom1co, caracterizada pelos polos do desenvolvimento e do subdesenvolvimento tudo isto, obrigou o administrador a tomar decisões cada vez mais complexas, sem que dispusesse de instrumentos muito melhores que sua experiência e seu bom senso. ,Desde os anos 40 e até o presente, surgiram e foram aprimorados processos para enfrentar tal tarefa. Progressivamente seu uso vem se generalizando.
Entre os autores que se dedicaram u êste campo e facilmente acessíveis ao leitor brasileiro, destacamos Herbert Simon, que sistematiza o estudo dos. meios tradicionais e modernos de decidir. (3)
Destaca êle que, no quediz respeito às decisões programadas (4), os métodos consagrados, peculiares a cada organização que os desenvolve, são: o hábito, os manuais e rotinas padronizadas, a definição de objetivos e subobjetivos ao longo da estrutura.
A tendência demonstrada nos últimos anos é no sentido da adoção da análise matemática. da simulação em computador e da utilização das t-écnicas de pesquisa operacional.
Para decisões não-programadas (5) o treinamento especialmente elaborado para aquêles que tomam decisões (pro�essos gerais de resolver problemas) e a adoção de modêlos -e pr_ogramas heurísticc.s de computadores vêm substituindo os procedimentos tradicionais com base na experiência individual. tais como a intuição e a criatividade.
A rigor, até a década dos 40 muito pouco foi aperfeiçoado na técnica da decisãc,. Embora dispondo de mão de obra e recursos matenais em maior quantidade e aprimorada qualidade. continuamos a utilizá-los na tomada de decisões da mesma forma que o fazíamos há 200 ou 300 anos.
Pouco avançou a humanidade no co� nhecimento do processo de solucionar problemas não estruturados. Só sob a pressão de situações críticas tais como guerras e crise mundiais, quer econômicas, quer sociais ou políticas, algum passo era dado.
As teorias psicológicas surgidas no início do século atual e os estudos de Dewey (6) s5o exemplos dêstes esforços isolados.
Foi durante a guerra mundial iniciada em 1939 que vimos desenvolveremse técnicas de decisões mais refinadas. utilizando conhecimentos matemáticos e descobertas sôbre o comportamento humano surgidos desde O inicie, dos anos 30.

O advento do computador eletrônico veio acelerar êste processo.
No-pós-guerra e at-é o prese_nte �emento têm se progredido mais neste campo ôe conhecimento do que em tôda a história do Homem.
A Cibernética (7), a Teoria Geral de Sistemas (8) e a Heuristica_ (9)' deram surgimento a um sem _numero de estudos, em grande parte �nte�d1sciplinares. que vieram repercutir.!ºb_rc os tradicionais campos das c1enc1as voltadas para o estu�o d? Home_m. como a Psicologia, a Biologia, ª Sociologia. a Economia e as recém �hegadas Administração e Antropologia Cultural.
No campo especifico do estudo da decisão a partir de, aproximadamen_te, meados da década dos 60, vem-_se mtensificando a influência qa Te�r_ia Ge: ral de Sistemas e da Cib:rnetica· E concorde com esta orientaçao que _dei. ha central deste senvolveremos a m ' artigo.
Faz-se conveniente que,neste ponto, t'do exato com que esclareçamos o sen 1 ' • O t·1 determinados vocabulos. u 1 1zamos . d • fazemos sem intensão de fixar outnna ou estabelecer polémica·
T- . ente por apresentarem em ao som ' - arte disportuguês, conce1tuaçoes em_ � .. cardantes ao sabor da pos1çao teorica em ue se coloca aquêle que os_ ��ª•
J·uJg�mos necessário explicitc1rd�s t 1de t ias contexto es e raque representam �o balho. Temos pois:
_ Or anização _ Co'.1j_unto de pe�- fl.0 artificialmente crisoas em interaça ' - d d t . _ ado com vistas à obtençao e �derm1 . s ré-fixados, conti o em nadosobJ e�vo P ..1 objetivos êstes um macros1stema soc,a' uelas pessoas que são buscados por aq d Penho de papeis espe através o ese� - de recursos e ·f· da utiizaçao c1 1cos e riedade ou posse instrumentos de prop do conjunto como tal·
Ad . t ação _ Cc1mpo do co- minis r . . . ue procura exp1car e onnhec1mento q . ões podem e entar como as organizaç •
. ar-se em grau max1mo, devem aprox1m . . d 1. _ d seus 06Jet1vos, mana rea ,zaçao e , 1 tendo-.se, tanto quanto poss1ve , coesas
_ Decisão - Processo através o qual um indivíduo ou um �rupo _ de indivíduos, diante de uma s1tuaçao problemática que exige em resposta, ou o desenvolvimento de uma ação, ou uma omissão consciente e voluntária, chega a optar pela adoção de uma entre duas ou mais soluções diferentes e igualmente possíveis.
A visualização da organização como parte de um macrosistema de ordem mais elevada (entenda-se mais abrangente, contenedor da organização.
E-x.: a sociedade, macrosistema, contém a emprêsa - organização) conduz-nos a conclusão necessária de ser ela, também, um sistema. E ao comprová-lo, inferimos ser êste sistema aberto (lO), pois ser componente de outro implica em integrá-lo, portanto reagir em uníssono com êle. permutar influências (11). Em uma palavrainteragirem
A aceitação da evidência de que é a organização um sistema aberto, vem trazer como conseqüência apresentar ela tôdas as características peculiares a tal tipo de sistemas.
Um sistema, qualquer sistema social apresenta algumas características qu� são encontradas, portanto, nas organizações. Um sistema social é:
a) aberto - porque transiciona com o meio ambiente, permutando, matériaprima, recursos e informações;
b) artificial -porque construído pelo homem visando atender a deter minados objetivos conscientemente bus cados;
c) probabilístico dado conjunto de corresponde uma ta (saída) com maior que 0,5;
- porque a um estímulos (entradas) determinada resposuma probabilidade
d) de informação _ porque possui, pel� menO\S, � uma entrada e uma saída de mformaçoes; e idênticas a si mesmas ·
Alem destas caracteristicas, possui determinados atributos, que podem ser assim enumerados:
a) feedbacks — negativos — que permit.em ao sistema autocorrigir-se, podendo ser eJes discriminados em:
a.l) feedback interno de avaliagao — informa sobre a atividade do sistema na consecugao de suas metas:
a.2) feedback mterno ambiental — informa sobre o funcionamento glo bal dos dementos integrantes do siste ma;
a.3) feedback extecno de avaliagao — informa sobre a reagao do meio ambiente a agao desenvolvida pelo sistema:
a A) feedforward que corresponde as informagoes sobre a evolugao do meio__ambiente passive! de condicionar a a?ao do sistema. mas nao condicionada per esta;
b) feedback positivo — que conduz ao ref6r(;o da a;ao do sistema quando e ela bcm sucedida;
c) homeostase — Capacidade do sistema de autoajustar-se as modifica?oes do meio exterior. Permite a sobrevivencia do sistema em condi^oes ambientais desfavoraveis;
d) entropia — aqui entendida como a tendencia para a autodestrui^ao pela perda de energia vital (baseia-se na nocao de entropia conhecida em termodinamica);
e) entropia negativa — em sistemas abertos, portanto capazes de obter do exterior a energia e os recursos de que necessita e que sofram desgaste, pode ocorrer um consumo de recursos menor do que a quantidade captada, torhando-se possivel a acumula^ao, pelo sis tema, do excedente;
f) cresc/monto — crescimento aqui pode ser visto como uma grandeza algebrica, podendo. pois, ser negative. Pode apresentar-se sobre diias formas: populacionai c estruturai, Na primeira ocorre um acrescimo de elementos de sistema; na segunda ocorrem mudan^as na ccmposigao e nas rela^oes internas do sistema.
Esta ultima variedade relaciona-se com duas outras caracteristicas, a sa ber:
g) centralizagao ou totalizagio que ocorre com a absor^ao de outros. sistemas ou fungocs do meio ambiente;
h) desmembramento — com a perda de elementos ou fungoes que exercia. Pode decorrer de uma progressiva diferenciagao e especializagao daquelas fungoes e elementos que terminariam por se tornarem autonomos;
i) estabilidade — capacidade que o sistema apresenta de manter sua identidade, mesmo efetuando modificagoes estruturais e ajustamentos na agao nele e por ele desenvolvida;
j) equifinalidade — Caracteristica que permite que o sistema atinja um dado estado final (objetivo) partindo de diferentes estados iniciais e segundo diferentes trajetorias ou procedimentos.
Vamos alem. O macrosistema (12) que contem a organizagao e composto de outros tantos sistemas que se relacionam entre si e com esta. ponto cen tral de nosso estudo, Tais sistemas apresentam-se semeihantes na estrutura basica e nas suas caracteristicas qerais.
A organizagao sofre, a todo instantc, influencias externas tanto configuradoras (13) como entropicas (H); internamente, as tensoes geradas pelo seu proprio funcionamento. contra^em-se^ as forgas de coesao (15). Estas forgas em entrechoque geram di ferentes conflitos.
A organizagao como tal parece ter, por natureza, o direito de sobreviver e expandir-se. Cabe ao administrador lazer com que tais resultados sejam obtidos.
Todavia torna-se, de pronto, claro que aquelas sobrevivencia e expansao sao regidas pelas condigoes de mercado, o que implica em niveis de conflito bem caracterizados entre a organi zagao e OS individuos que a integram. em torno do ponto de equilibrio "entre o mteresse de cada parte, referindo-se ao problema salarial. a obtengao de beneficios e a produtividade da mao de
obra; ainda internamente a organiza gao, temos o problema do entrechoque de metas de diferentes departamentos (produgao e vendas, por exemplo).
Aqui, assume papel iniportante a realizagao profissional dos dirigentes de cada departamento.
6ste aspecto, embora envolvido no primeiro tipo de conflito. nele e mascarado pela problematica salarial.
Um terceiro nivel pc.de ser identificado na disputa travada entre as organizagoes por maior particlpagao no mercado.
Um quarto nivel e aqucle que engloba o conflito das organizagoes empresariais e o smtema governamental politico-administrativo, Situa-se, basicamente. em torno do problema tributario e da participagao direta do poder piiblico na atividade economica — o chamado problema da cstatizagao da economia.
O liltimo nivel engloba o conflito entre o interesse das organizagoes empresariais e/ou politico-adrainistrativas e OS interesses e valores da sociedade nacional.
£ste conflito apresenta caracteristi cas variadas e. em larga escala. e de cunho valorativo.
decisao, que a homeostase organizacional se manifesta plenamente,
Pouco se tern escrito sobre a historia da Administragao mas e possivel rclacionar, tentativamente, seu suigimento c desenvolvimento com o estagio cultu ral em que se encontra a sociedade.
Tambem podemos considerar como hipotese viavel o fato de que foi a complexidade crescente das necessidades humanas que conduziu o Homem a criagao de organizagoes socials progressivamente mais complexas.
A divisao social do trabaiho. bem como a conseqiiente necessidade de coCiidenagao das agoes nela empreendidas e o surgimento de um embriao de estrutura hierarquica, foram os elemen tos que permitiram o aparecimento da Administragao como agao social diferenciada das demais.
De outra parte, a agao social, apre senta um grau de pluralizagao de fato res e uma dinamica par demais com plexas para ser captada em sua totalidade. Podemos, tao-somente, a partir de uma sistematizagao ideal daqueles fatores e de suas interagoes, inferir certas caracteristicas.
Ante este quadro, cabe a pergunta; Como pode a organizagao sobreviver?
Usando linguagem usual em Teona Geral de Sistemas. como pode prevalecer a homeostase. possibihtando a so brevivencia da organizagao e, fceq^entemente, o seu crescimento? Qual o fator ou OS fatores P^omotores da coesao anuladora das tendencias entro picas atuantes a todo instante.
Voltando ao conceito de Admimstracao fcrnmlado na parte 1 deste ar- grpodemos identificar na agao adminfsua'tiva no seio das organizagoes o fator anti-entropico.
A rigor, e na manifestagao mais caracterisante da agao administrativa. na
O fenomeno social, no qual se insere a agao social e marcado por um constante devir. um vir-a-ser inacabado, um movimento de totalizagao opemanente. oriundo dos entrechoques de fatores estruturantes. desestruturantes e estruturais (fatores homeostaticos. entropiccs e estruturais).
A agao administrativa, como modalidade de agio social, npresenta-se com tais caracteristicas. Nela. o fator estruturante e a decisao.
Na parte I deste artigo conceituamos «decisao». Desenvolvamos aqui os ele mentos constitutivos daquele conceito.
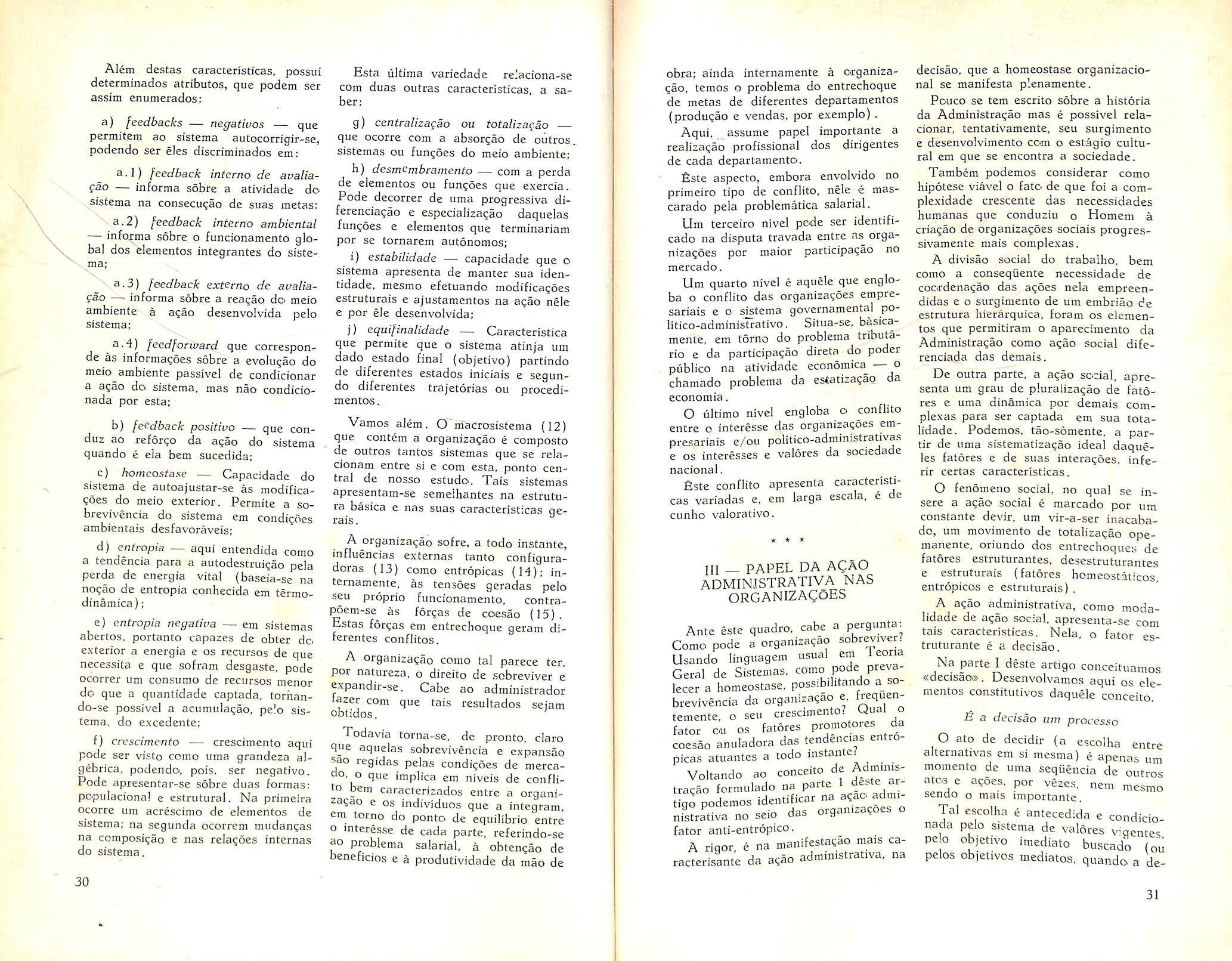
£ a decisao urn processo
O ato de decidir (a escolha entre akernativas em si mcsma) e apenas um momento de uma seqiiencia de outros atcs e agoes. por vezes, nem mesmo senao o mais importante.
Tal escolha e antecedida e condicionada pelo sistema de valores \nqentes peo objetivo imediato buscado (oti pelos objetivos mediatos, quando a de-
•cisao diz respeito a definigao de objetivos especificos), pelos meios e inforjna?6es disponiveis e por todo urn conjunto de tecnicas. habitos e possibili■dades efetivas de comportamento daquele que decide, dos que tambem participam da decisao e daqueles que sejao pacientes de seus efeitos.
A decisao envolve desde discernir da necessidade de ser cla tomada {sua ■oportunidade, atraves a identificagao de uma situagao problcmatica atual ou futura), passa pela definigao de objetivos especificos, pela elaboragao ou identifica^ao de alternativas e sua pos terior avaliagao, ate a op^ao final por uma dada alternativa.
Pode ser a decisao um ato indwidual ou c'oletivo
Nao altera substancialmente, no tocante ao processo decisorio e o papel que desempenha na organizagao. o fato da escolha final ser obra de um O.U de varies individuos. Sendo a de cisao um processo. e ela nas organiza?6es, quase que em todos os cases, um produto coletivo.
Quer OS individuos nela envoividos •atuem sequencialmente em suas vanas etapas ou em conjunto em uma ou em mais de uma delas, o valor intrinseco da decisao para a organizagao ou as etapas necessarias para a sua toma da (16) nao sao alterados.
Do ponto de vista metodologico, aquele que a nos interessa neste artigo, a decisao independe do fato de ser agente individual ou coletivo.
A decisao surge como uma conseqiiencia de uma situagao problema
Nao necessitamos mais que o sense comura para entender que s6 se faz necessario decidir (escolher entre alter nativas previamente identificadas c/ou desenvolvidas e avaliadas a luz de um dado sistema de valores) se existir uma discrcpancia entre a situa^ao dcsejada como ideal e arealmente existente.
Efetivamente uma dada situagao em que haja coincidencia entre o estado existente e o desejado acha-se em equi-
librio estavel e, per inercia, tendera a perpetuar-se.
Somente a presen?a de um agente modificador da situa?ao (que pode ser a simples visualiza^ao da possibil'idade de ser o equilibrio desfeito ou transformado em um equilibrio instavel) podera induzir os individuos nela envoivi dos a empreender qualquer agao ou a tomar uma decisao.
A decisao pode conduiir a uma agao subseqiiente ou a recusa uoluntaria e consciente a qualquer agao ifi quase desnecessario explicitar este elemento do conceito. Apenas ressaltese a diferencia^ao entre a omissao consciente e voluntaria e outras formas de omissao.
A primeira pressupoe, de um lado, o cumprimento de todas as etapas do processo decisorio; de outro, a existencia real da capacidade para empreen der alguma a(;ao em resposta a situagao problematica enfrentada.
Pode inclusive a decisao ser no sentido de «nada decidir sobre o problema». Mas sempre deve ser a atitude assumida fruto de uma escolha fundamentada na avaliagao de alternativa, sendo a adotada uma delas.
A omissao nae-consciente ante uma situagao problematica (ignora o agen te a existencia do problema) ou naovoluntaria (embora consciente, nao tern 0 agente capacidade para agir), nao pode ser considerada produto de uma decisao deste agente.
A decisao pressupoe a existencia real de pelo meno.s duas solugoes pira a situagao-problema que Ihe deu causa
^Nao existindo mais que uma solu?ao efetivamente possivel (percebida e realizavel com os recursos disponiveis), inexiste decisao. O processo pode ser desenvolvido ate a valoragae e comparagao das alternativas.
Se^ neste confronto evidencia-se a existencia de um unico curso de agao ser adotado, ou a necessidade da omissao na agao (nada pode ser feito), nao ocorrera o ultimo passo do proces-
so decisorio; a opgao pela alternativa mais adequada. Inexiste pois decisao.
A explicitagao dos elementos necessariamente presentes a uma decisao deixa de fora alguns outros aspectos importantes, porem nao suficientes, para caracterizar uma dada agio huma.na como uma decisao.
Podemos como artificio metodologico grupar estes elementos em tres categorias: OS componcntes da situagao glo bal e a sua estruturagao. a racionalidade e a intencionalidade presentes na decisao e a orientagao temporal do agente ativo da decisao.
A primeira destas categorias (17) envolve em primciro piano dois elemen tos ja trataddS — o agente da decisao e a situagao-problema que a provocou, alem de um terceiro sub-ccnjunto de elementos; os meios disponiveis. Mediatamcnte, estes tr^ elementos conduzem a uma situagao-totaUm- dado-momento que envolve o decisorio em curso, abrangen o lagoes psico-sociais relacionadas ^s papeis sociais dos agentes nek empe nhados e o meio arabiente fisico e s cial externo relacionado com a situa gao-probkma.
Adotando a termindogia usual na Teorirde Campo (18). estanam con- Sos naqueia situagao total os espago devida (19) e as zonas jtotrofes (20) dos agentes da decisao todos aqueks que sao d'reta ou mdiretamente. nela envoividos, ativa ou passivamente.
Toda decisao, sendo um modo de encontrar uma respostatuapao-problema deve
to de referencia a situagao-total, contenedora da situagao-problema especifica.
Dois autores (21) desenvolvcram estudos sobre este aspecto. Com base neks poderemos considerar a raciona lidade de uma decisao como possuindo duas dimensoes associadas.
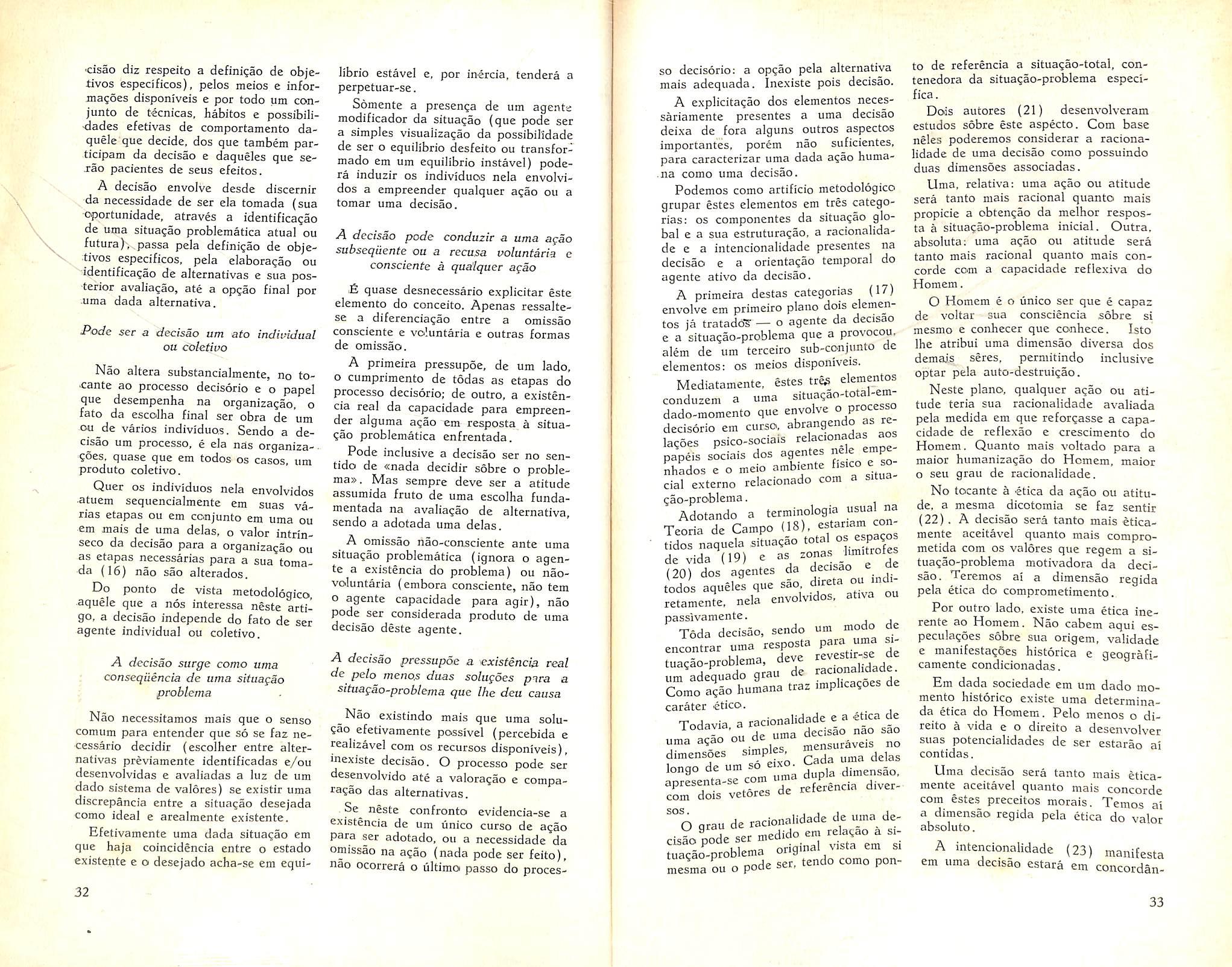
Uma, relativa: uma agao ou atitude sera tanto mais racional quanto mais propicie a obtengao da melhor respos ta a situagao-problema inicial. Outra, absoluta: uma agao ou atitude sera tanto mais racional quanta mais concorde com a capacidade reflexiva do Homem.
O Homem e o linico ser que e capaz de voltar sua consciencia ,sobre si mesmo e coiihecer que conhece. Isto Ihe atribui uma dimensao diversa dos demaj.s seres, perniitindo inclusive optar pela auto-destruigao.
Neste piano, qualquer agao ou ati tude teria sua racionalidade avaliada pela medida em que reforgasse a capa cidade de refkxao e crescimento do Homem. Quanto mais voltado para a maior humanizagao do Homem, maior o seu grau de racionalidade.
No tocante a -etica da agao ou atitu de, a mesma dicotomia se faz sentir (22) A decisao sera tanto mais eticamente aceitavel quanto mais comprometida com os valores que regem a si tuagao-problema motivadora da deci sao, Tercmos ai a dimensao regida pela etica do comprometimento.
Por outro lado. existe uma etica inerente ao Homem. Nao cabem aqui espcculagoes sobre sua origem, validade e manifestagoes histbrica e geograficamente condicionada,s.
^SmoSStru"
Imp.icapdes de caratcr etico.
Todavia a racionalidade e a etica ^e lodayia, a decisao nao sao uma agao o mensuraveis no dimensoes simple o jelas longo de um ^ ^ dimensao. apresenta-se com uma P com dois vetores oe
'°0 qrau de racionalidade de uma de- cis?p pode ser medldo em relaoao a s.waeao problema original v.sta em s. mesma on o pode ser, tendo como pon-
Em dada sociedade em um dado me mento histbricQ existe uma determinada etica do Homem. Pelo menos o direito a vida e o direito a descnvolver suas potcncialidades de ser estarao ai contidas.
Uma decisao sera tanto mais eticamente aceitavel quanto mais Concorde com estes preceitos morais. Temos ai a dimensao regida pela etica do valor absoluto.
A intencionalidade (23) manifesta cm uma decisao estara em concordan-
trar
cia em diferentes graus com a etica do valor absoluto e a etica do comprometimento. Esta decisao apresentara di ferentes graus de racionalidade absoluta e reJativa.
O terceiro conjunto de elementos diz respeito a orienta^ao temporal do agente ativo da decisao. Ao desenvolver e analisar aiternativas. aquele que decide pode adotar tres orienta^oes basicas quanto ao modo como considera a dimensao temporal do processo decisorio.
£ste, sendo um processo, ocorre .sempre em um dado tempo: por um lado. sendo a decisao um modo de encontrar solu^ao para um problema anteriormcnte percebido, eJa sempre 4 a ponte entre um momento pas.cado (onde o problema foi identificado) e um momento future (no qual pretende-se que o problema esteja solucionado. tendo a decisao produzido seus efejtos.
A decisao ocorre no momento presente, Seu agente, entretanto. pode ter seus criterios de aferigao e suas fontes de informagao radicadas predominantemente no passado, no presente ou no futuro.
Quando predomina a orientagao para o passado, tende a decisao a repetir procedimentos que. em situagoes semeIhantes, mostraram-se adequados Se este procedimento e generalizado, a organizagao propende ao conservadorismo, por vezes, ao conformismo.
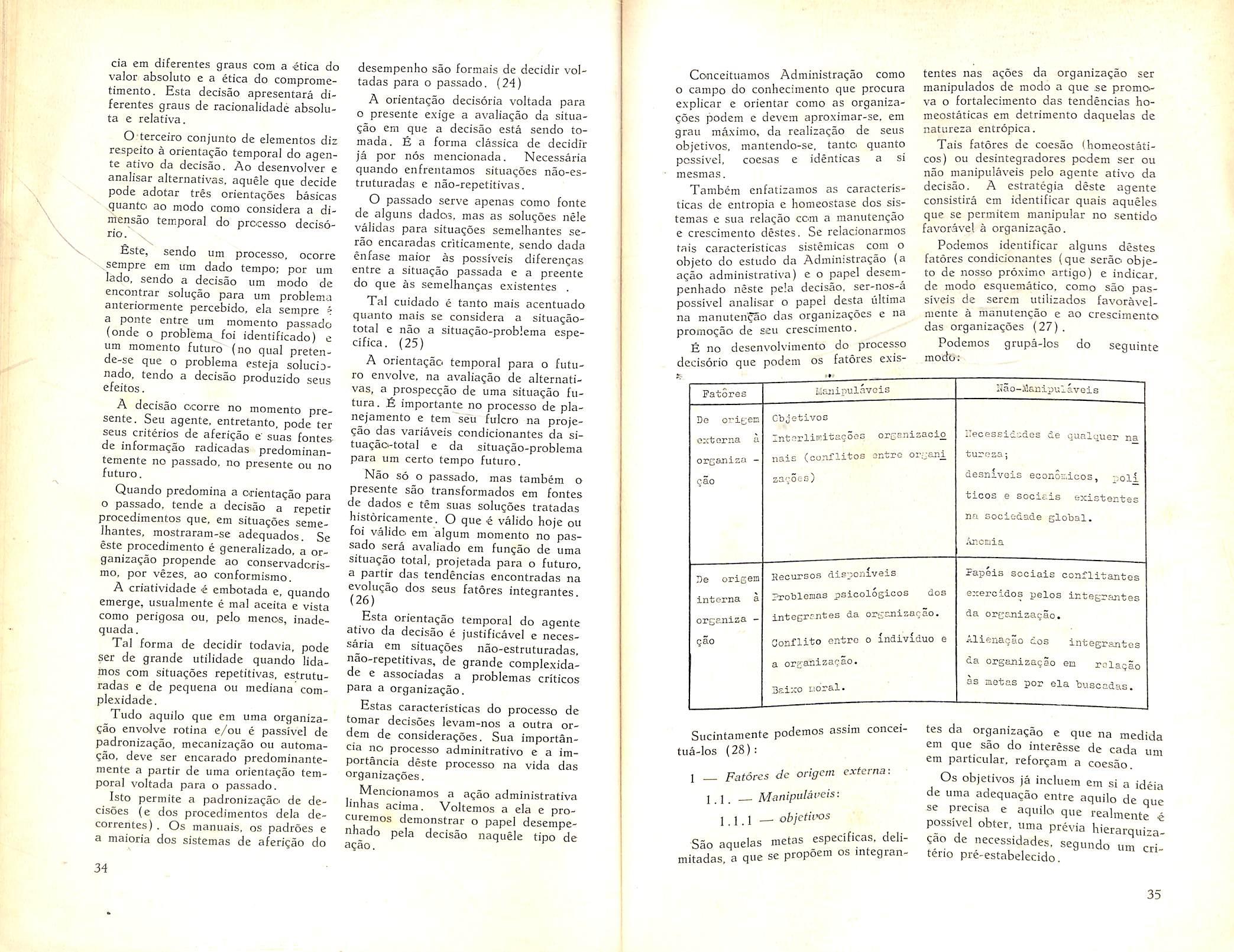
A criatividade e embotada e, quando emerge, usualmente e mal aceita e vista como perigosa ou, pelo menos, inadequada.
Tai forma de decidir todavia. pode ser de grandc utilidade quando lidatnos com situagoes repetitivas, estruturadas e de pequena ou mediana complexidade.
Tudo aquilo que em uma organizagao envolve rotina e/ou e passivel de padronizagao. mecanizagao ou automagao. deve ser encarado predominantemente a partir de uma orientagao tem poral voltada para o passado.
Isto permite a padronizagao de decisoes (e dos procedimentos dela decorrentes). Os manuais, OS padroes e a maioria dos sistemas de aferigao do
desempenho sao formais de decidir voltadas para o passado. (24)
A orientagao decisoria voltada para o presente exige a avaliagao da situagao em que a decisao esta sendo tomada. £ a forma classica de decidir ja por nos mencionada. Necessaria quando cnfrentamos situagoes nao-estruturadas e nao-repetitivas.
O passado serve apenas como fonte de alguns dados, mas as solugoes nele validas para situagoes semelhantes serao encaradas criticamente, sendo dada enfase raaior as possiveis diferengas entre a situagao passada e a preente do que as semelhangas existenles .
Ta! cuidado e tanto mais acentuado quanto mais se considera a situagaototal e nao a situagao-problema especifica. (25)
A orientagao temporal para o futu ro envolve, na avaliagao de aiternati vas, a prospecgao de uma situagao futura. £ importante no processo de planejamento e tern seu fulcro na projegao das variaveis condicionantes da situagao-total e da situagao-problema para um certo tempo futuro.
Nao s6_^o passado. mas tambem o presente sao transformados em fontes de dados e tem suas solugoes tratadas histoncamente. O que e valido hoje ou foi validc. em algum momento no pas sado sera avaliado em fungao de uma situagao total, projetada para o futuro, a partk das tendencias encontradas na evoiugao dos seus fatores integrantes. (26)
Esta orientagao temporal do agente ativo da decisao e justificavel e necessana em situagoes iiao-estruturadas nao-repetitivas, de grande complexidae e associadas a problemas criticos para a organizagao,
Estas caracteristicas do processo de tomar decisocs levam-nos a outra ordem de consideragoes. Sua importancia no processo adminitrativo e a importancia deste processo na vida das orgsnizagoes.
Mencionamos a agao administrativa inhas acima, Voitemos a ela e procuremos demonstrar o papel desempenhado pela decisao naquele tipo de agao.
Conceituamos Administragao como o campo do conhecimento que procura explicar e orientar como as organizagoes podem e devem aproximar-se. em grau ma.ximo, da rcalizagao de seus objetivos, mantendo-se, tanto quanto passive!, cocsas e identicas a si mesmas.
Tambem enfacizamos as caracteris ticas de entropia e homeostase dos sis temas e sua relagao com a manutengao e crescimento destes. Se rclacionarmos tais caracteristicas sistemicas com o objeto do estudo da Administragao (a agao administrativa) e o papel desempenhado neste peia decisao. ser-nos-a possive! analisar o papel desta ultima na manuten^o das organizagoes e na promogao de seu crescimento.
£ no desenvolvimento do processo decisorio que podem os fatores exis-
tentes nas agoes da organizagao ser manipulados de modo a que se promova o fortalecimento das tendencias homeostaticas em detrimento daquelas de natureza entropica.
Tais fatores de coesao (bomeostaticos) ou desintegradores pcdem set ou nao manipulaveis pelo agente ativo da decisao. A estrategia deste agente consistira cm identificar quais aqueles que se permitem manipular no sentido favoravel a organizagao.
Podemos identificar alguns destes fatores condicionantes (que serao obje to de nosso proximo artigo) e indicar. de modo esqucmatico, como sao passiveis de sercm utilizados favoravelnicnte a manutengao e ao crescimento das organizagoes (27).
Podemos grupa-los do seguinte modo:
Fatores Uauinulnveis Iiao-.\l6aiipul£veis
Da ori^en Objetivos oxtorna u Int.erlimitagoos organizacio iecessicades de gualquer na oreaniza - nais (co.nflitos antro organi tureaa; gao zagSes) desniveis econor.icos, noli ticos e socials existentes na sociedade global.
.ir.cmia
De origem Keoursos disponlveis Papeis socials conriitantes interna a Problemas psicologicos dos exercidos pelos integrantes organlza - iategrr.ntes da organizagao. da orgrmiaagio.
gao Conflito entre o individuo e Alienagao dos integrantes a orii'anizagio. da organ!aagao en relagao 3aino i;o'ral. as motes por ela buscadas.
Sucintamcnte podemos assim conceitua-los (28):
I _ Fatores dc origcm externa:
1.1. _ Manipulaveis:
1 1.1 — objetivos
Sao aquelas metas espedficas. delimitadas, a que se propSem os integran
tes da organizagao e que na raedida em que sao do interesse de cada um em particular, reforgam a coesao.
Os objetivos ja incluem em si a idma de uma adequagao entre aquilo de aue se precisa e aquilo que realmente e possive! obter, uma previa hierarquiza- jao de necessidades, segundo um criteno pre-estabelecido.
No jogo de forgas das interagoes das diversas organizagoes, os objetivos de uma podem ser tao inibitorics, em relagao aos objetivos de outra, que, devido ao carater intransponivel desses obstaculos, a organizagao nao consiga evitar a desestruturagao, cedendo a forga entropica.
Embpra os obstaciilos possam ter uma fungao integradora relativa, na medida em que sao vistos pelos membros da organizagao como poissiveis de ser ultrapassados, por outro lado, quando percebidos como sendo inviavel a sua transposigao, a organizagao tendc a desintegrar-se, se a remogao dos mencionados obstaculos for indispensavel a sua sustentagao.
Os homens vivem sob a egide das necessidades, sejam de ocdem psicologica, social, polltica ou economica, Bias condicionam a forma que assumem nossas organizagoes, determinando a tecnologia, a forma de produgao vigente, ambas condicionantes do tipo de estrutura organizacional.
1.2.2
fistes fatores se referem a propria distribuigao, no niundo e nas sociedades atuais, das parcelas da produgao economica; do poder politico; das posigoes socials.
O crescimeiito e o desenvolvimento destes tres setores tern sido inegavelmente bastante desequilibrado, fazendo com que subsistam, no mundo e nas sociedades globais, padroes de vida altamente desproporcionais.
A anomia, fenomeno identificado por Durkheim, tern atuagao prejudicial a coesao da Sociedade tomada globalmente.
Resultando de bruscas modificagoes (ascendentes ou descendentes) da situagao economica de grupos, de tal modo que a sociedade nao tenha tempo para definir os limites possiveis de suas posigoes e reivindicagoes, o fenomeno" da anomia se caracteriza por ser uma especie de ausencia de regras de jogo. O proprio Durkheim assim se manifesta:
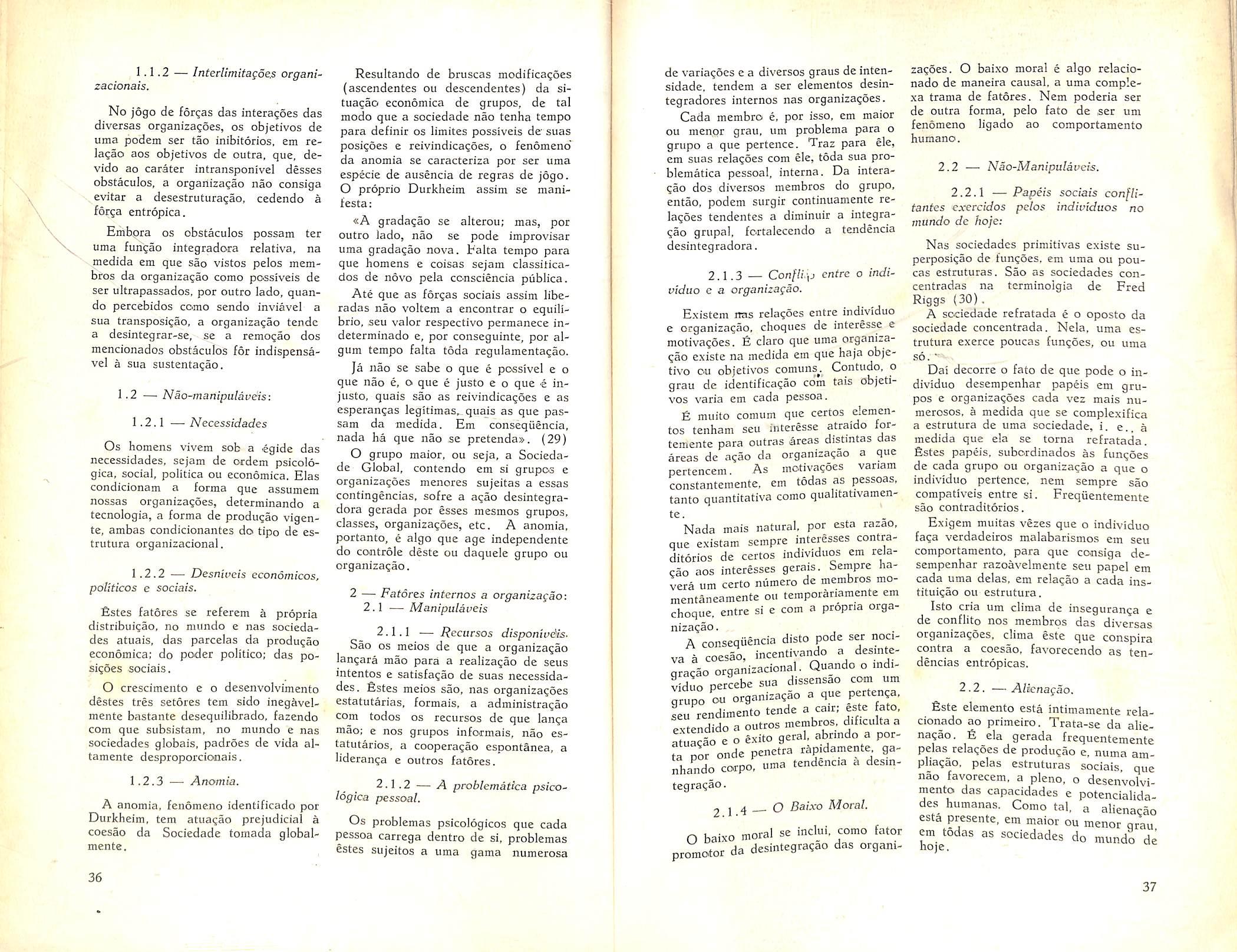
«A gradagao se alterou; mas, por outro lado, nao se pode improvisar uma gradagao nova. Ealta tempo para que homens e coisas sejam classiticados de novo pela consciencia publica.
Ate que as forgas socials assim liberadas nao voltem a encontrar o equiiibrio, seu valor respective permanece indeterminado e, por conseguinte, por algum tempo falta toda regulamentagao.
Ja nao se sabe o que e pcssivel e o que nao e, o que e justo e o que e iiijusto, quais sao as reivindicagoes e as esperangas legitimas,. quais as que passam da medida. Em conseqiiencia, nada ha que nao se pretenda». (29)
O grupo maior, ou seja, a Socieda de Global, contendo em si grupos e organizagoes menores sujeitas a essas contingencias, sofre a agao desintegradora gerada por esses mesmos grupos, classes, organizagoes, etc. A anomia. portanto, e algo que age independente do cojitrole deste ou daquele grupo ou organizagao.
2 — Fatdrzs internos a organizagao: 2.1 — Manipulaveis
2.1.1 — Rccursos disponivdisSao OS meios de que a organizagao langara mao para a realizagao de seus intentos c satisfagao de suas necessida des. fistes meios sao, nas organizagoes estatutarias, formais, a administragao com todos OS recursos de que langa mao; e nos grupos informais, nao estatutarios, a cooperagao cspontanea, a lideranga e outros fatores.
2.1.2 — A problematica psicO' logica pessoal.
Os problemas psicologicos que cada pessoa carrega dentro de si, problemas estes sujeitos a uma gama numerosa
de variagoes e a diversos graus de intensidade, tendem a ser elementos desintegradores internos nas organizagoes.
Cada mcmbro e, por isso, em maior ou menor grau, um problema para o grupo a que pertence. Traz para ele, em suas relagoes com ele, toda sua problematica pessoal, interna. Da interagao dos diversos membros do grupo, entao, podem surgir continuamente re lagoes tendentes a diminuir a integragao grupal, fortalecendo a tendencla desintegradora.
2,1.3 — Con[li.)j enfre o individuo c a organizagao.
Existem iras relagoes entre individuo e organizagao, choques de interesse e raotivagoes. £ ciaro que uma organiza gao existe na medida em que haja objetivo ou objetivos comuns^. Contudo, o grau de identificagao com tais objeti vos varia em cada pessoa.
E muito conium que certos elemen tos tcnham seu interesse atraido fortemente para outras areas distmtas das areas de agao da organizagao a que pertenccm. As mctivagoes variam constantemente, em todas as pessoas, tanto quantitativa como qualitativamen-
te.
Nada mais natural, por esta razao, que existam scmprc interesses contraditorios de certos individuos em relaCao aos interesses gerais. Sempre havera um certo niimero de membros momentaneamente ou teraporariamente em cheque, entre si e com a propna orga nizagao.
A consequencia disto pode ser nociva a coesao, incentiyando a desmteqragao organizacional. Quando o md.So percebe sua dissensao com um grupo ou organizagao a que pertenga, Lu rendimento tende a cair; este ato, cxtendido a outros membros, dificultaa Ituagao e o exito geral. abr.ndo a porTa por onde penetra rap.damente ga- nhando corpo. uma tendencm a desintegragao.
Obaixo moral se inclui, como fator promoter da desintegragao das orgam-
zagoes. O baixo moral e algo relacionado de maneira causal, a uma complexa trama de fatores. Nem poderia ser de outra forma, pelo fato de ,ser uni fenomeno ligado ao comportamento humano.
2.2.1 — Papeis socials conflitantcs cxercidos pelos individuos no mundo de hoje;
Nas sociedades primitivas existe superposigao de fungoes, em uma ou poucas estruturas. Sao as sociedades concentradas na tcrminolgia de Fred Riggs (30).
A sociedade refratada e o oposto da sociedade concentrada. Nela, uma estrutura exerce poucas fungoes, ou uma so. •
Dai decorre o fato de que pode o in dividuo desempenhar papeis em gru pos e organizagoes cada vez mais numerosos. a medida que se complexifica a estrutura de uma sociedade, i. e.. a medida que ela se torna refratada. fistes papeis. subordinados as fungoes de cada grupo ou organizagao a que o individuo pertence, nem sempre sao compativeis entre si. Freqiientemente sao contraditorios.
Exigem muitas vezes que o individuo faga verdadeiros malabarismos em seu comportamento, para que co-nsiqa de sempenhar razoavelmente seu papel em cada uma deles, em relagao a cada instituigao ou estrutura.
Isto cria um clima de inseguranga e de conflito nos membros das diversas organizagoes, clima este que conspira contra a coesao, favorecendo as ten dencies entropicas.
fiste elemento esta intimamente relacionado ao primciro. Trata-se da alienagao. fi ela gerada frequentemente pelas_relagoes de produgao c, numa ampliagao. pelas estruturas sociais que nao favorecem, a pleno, o desenvolvi mento das capacidades e potencialidades humanas. Como tal, a alienagao esta presente, em maior ou menor qrau em todas as sociedades do mundo de hoje.
— Intedimitagoes ocganizacionais. — Desnit'cis economicos. politicos e socials. 1.2.3 Anomia.Erich Fromm assim ideia de aliena^ao: nos explica
«0 fato e que o homem nao se'sente a SI mesmo como portador ativo de seus poderes e riquezas. mas como uma «coisa» empobrecida que depende de po eres externos a ele e nos quais pro- jeta sua substancia vital» (31),
Smh . ° ""ico e SdanT' as pessoas, moldando grandes massas humanas
Lctr, ^ -9-ipulagao dos seus membros por alquns
como chefes e •fi certo que a.coesao, no sentido em que a estamos utilizando, nao exclui a ideia de poder ser mantida pe!a manipulapo. Contudo, ha que sentir este prcblema como questao de grau, de urn continuum. A coesao pela manipuiaqao contem em si mesma. em alta dose, OS germes de sua ruptura, de seu desmoronamento.
Assenta-se ela em bases fiageis. Sua necessidade se impde pela impossibilidade da ado<;ao de metodos superiores.
E. na verdade, a aliena(;ao, por si so somente pode ser usada como fator de coesao (se bem que em bases fraqeis) se bunlada e utilizada por mecanismos manipuladores.
A aJienagao em si nao pode ser elemento integrador na organizagao porque ela implica a propria nega?ao das capacidades e dos poderes de elabora|ao crifica e construtiva do homem buas conseqxiencias escao sempre a obstruir os meios pelos quais poderao se desenvolver as potencialidades hu manas.
O desenvolvimento mais intense e mais amplo destas e, isto sim, um fator de coesao. A alienaqao, negandoo e impedindo-o se constitui, ipso facto, num fator desintegrador.
Vistos superficialmente estes fatores organizacionais, voltemos ao objeto central de nossa anaiise: a tomada de decisao. Nela. seu agente ativo necessita considerar alguns ou todos estes elementos (dependendo no nivel da hierarquia em que se situe).
Todavia nccessitara faze-lo sempre tendo como valor determinante a maximizaqao do objetivo visado pela organizagao, sendo os demais elementos fatores condicionantes do processo.
Alguns podendo ser utilizados em prol daquela maximizaqao. Outros sao, por natureza, obstaculos a ela. Todos necessitando serem conhecidos.
Por outro lado, em uma organizagao podemos identificar sete fungoes fun damentals:
1) Fungao dc. Prodiigao — atraves as quais a empresa transforma. seus inputs em outputs.
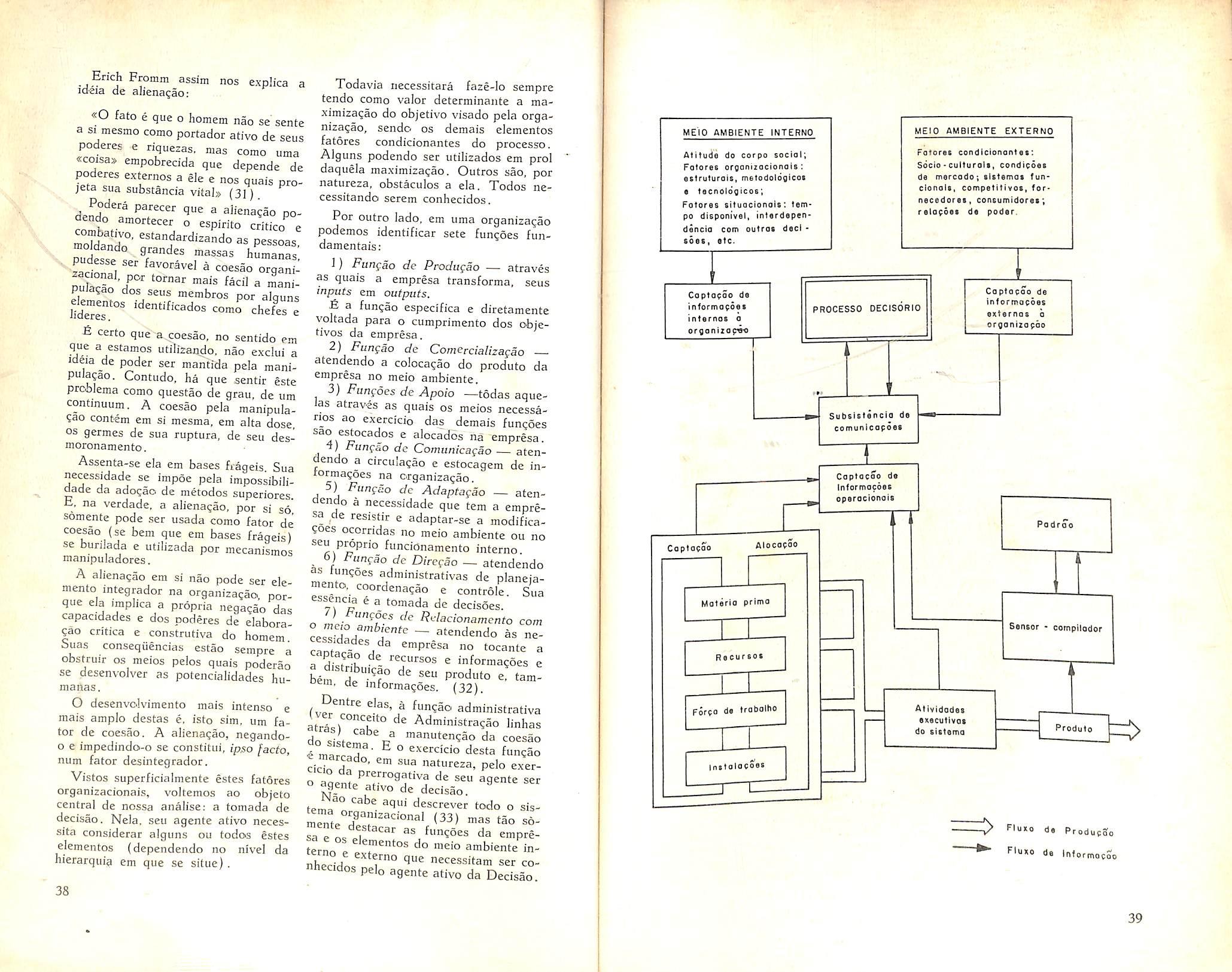
& a fun?ao especifica e diretamente voltada para 0 cumprimento dos obietivos da empresa.
Fi^ncao do Comercializagao atendendo a coloca^ao do produto da empresa no meio ambiente.
3) Fungoes de Apoio —todas aqueas atraves as quais os meios necessanos ao exercicio das demais funqoes e alocados na empresa.
t) tungao de Comunicagao — aten dendo a circula^ao e estocagem de intorma^oes na crganiza^ao.
) Fungao dc Adaptagao — aten dendo a necessidade que tern a empre sa de resisfir e adaptar-se a modificaCoes ocorridas no meio ambiente ou no seu proprio funcionamento interno.
6} Funcao de Diregao — atendendo as tun?oes administrativas de planejamento, coordenagao e controle. Sua essencia e a tomada dc decisoes.
o Rdadonamento com ce sidaH ~ atendendo as necnnf - j empresa no tocante a captagao de recursos e informaqoes e a d..e„b„,5 „ de seu produlo e! la„! em. de mformagoes. (32).
^ funcao administrativa Administra,ao linhas do siLma manuten^ao da coesao e marS ° exercicio desta fungao cicio da ' "atureza, pclo exer cicio da prerrogativa de seu agente ser o «9eme ativo de decisao. tema^?. descrever todo o sisInSe (33) mas tao s6sa e (v; fungoes da empreterno e do meio ambiente innheddoc necessitam ser co- dos pelo agente ativo da Decisao.
MEIO AMBIENTE INTERNO
Atitude do corpo social; Foloret orgoniraclonois estrulurols, melodclogicoi
Fotores tltuaciondie; tem po dIspGnivel, interdependancid com outros dec! ■ eoee, etc.
MEIO AMBIENTE EXTERNO
Fotoree csndiclonani se:
Socio■ cuiturole, condicoee de mercodo; aletemae funciorole, competitlvoi, fornecedorei, coneumidoree relopoee de poder.
Fluxo de ProducSo de informocSo
Nêste diagrama procuramos apresentar, tão esquemática e sucintamente quanto possível o conjunto de fluxos de informações que convergem para aquêle que participa do processo decisório ao nívelsuperiorda organização.
O diagrama representa no seu conjunto central, integrado pelo processo decisório e o subsistema de comunicações, o centro promotor da ação dinâmicadaorganização. Aquiloqueé modernamente denominado sistema de informação Administrativa (Manage ment lnformation System M.1.S) ou Sistema de Informação para Tomada deDecisão (Decision-making Information System).
Abstemo-nos de desenvolver maiores considerações sôbre êste diagrama kn do em vista que será êle o ponto cen tral de outro artigo sôbre O mesmo tema- processo decisório -a ser brevemente publicado (34)
Diremos tão sômente que nêle procuramos indicar as grandes áreas da atividade empresarial que estão a exi gir a atenção do Administrador (o homem a quem cabe a teimada de de cisão na organização): as atividades internas de produção, a interação da emprêsa com o meio ambiente, o clima social interno e a evolução autônoma do meio ambiente passível de condicionar a ação da emprêsa por êle dirigi da.
O Administrador, ao tomar suas de cisões, fixando ou retificando o curso dos acontecimentos na emprêsa, está tentando controlar não só a sua ação corno, pelo menos parcialmente, a ação de outros sistemas do meio ambiente que com ela se interrelacionam.
O como empreender tal tarefa será tratado em terceiro artigo desta série, ao propormos um modêlo heurístico de tomada de decisões em organizações complexas (35) . * * *
Procuramos apresentar, nas partes iniciais dêste artigo. o papel desempenhado pela função de tomada de decisões na administração de organizações
complexas, de modo especial, nas emprêsas.
Do exposto, do envolvimento do agente ativo da decisão - do Administrador, uma vez que é a êle que cabe a função de decidir no contexto organizacional. com as demais funções exercidas na organização. fica patente quea decisão•é, na realidade, um modo detransformar informações em estímulos para a ação daorganização (entendendo aqui ação no seu sentido mais amplo, inclusive a não alteração de um estado de equilíbrio pré-existente, desde que esta não alteração seja deliberada e voluntàriamente assumida pela organização).
Esta convergência e integração de informações no processo de tomada de decisões por um lado, e o produto dêsteprocesse,consubstanciado na ação empreendida pela organização por outro, permite identificar aquêle processo como o fator estratégico por excelência nas organizações.
Desde a fixação dos objetivos da ernprêsa - fixados por uma decisão daquêlesque ainstituíram e/ou dirigem - até a solução de problemas do dia a dia da vida organizacional, são objeto de decisões, quer de caráter repetitivo (programadas), quer de caráter único e jamais voltando a ocorrer de modo idêntico (não-programadas).
É noprocessodesua elaboração que podem ser identificados os fatôres favoráveis e/ou desfavoráveis à obtenção dos objetivos desejados pela orga nização e, com base nesta identificação, pode-se tentar manipulá-los de modo mais conveniente. Esta manipulação, a rigor, ,é objetivo do processo de tomada de decisão .
Lembremos as etapas do processo decisórioe veremosque estamos, aodecidir, adequando meios disponíveis e, via de regra, escassos a objetivos buscados, com base nas informações igual mente disponíveis.
Uma primeira indicação de quais são êstes meios e quais as informações que permitem informar a ação voltada para a obtenção do objetivo foi esboçadano diagrama apresentado neste artigo.
A explicitação daqueles meios, os modelos de tratamento q�e.podemos
te 3.3 últimas devem ocupar o tempo de especialistas e executivos de alto nível.
6-Dcwey, John - Como Pensamos, Companhia, Ed'.tõra Nacional São Paulo, Brasil. ternos à emprêsa, e um modêlo heuns- 1959. tico que sugerimos para tratar c�m o grau de diversidade que car�ctenz� o fenômeno administrativo, serao obieto dos dois artigos já menc1onados e que _ . 1 de. «precesso De- receberao os t1tu os . 1 1 d f t- s e os moeeos e cisório: seus aore . , de �<Processo Dec1sono: um ec1sao» , modêlo heurístico»•
d clicar-lhes, os fatôres Imutantes e e • . uer ex- condiciohantes, quer internos q .
7 _A Cibernética teve origem, na acepção atual do térmo, designando a «ciência da comunicação e do contrõle» ou «a ciência do autogovêrno» com a obra de Norbert Vvicner, Cybcrnctics, or Co11/rol and Communicntion in thc Animal and t/ic Machinc, Herman& C:e. Paris, 1948 A palavra foicunhada a partir do têrmo grego Kybcrnytys, que significn «timoneiro».
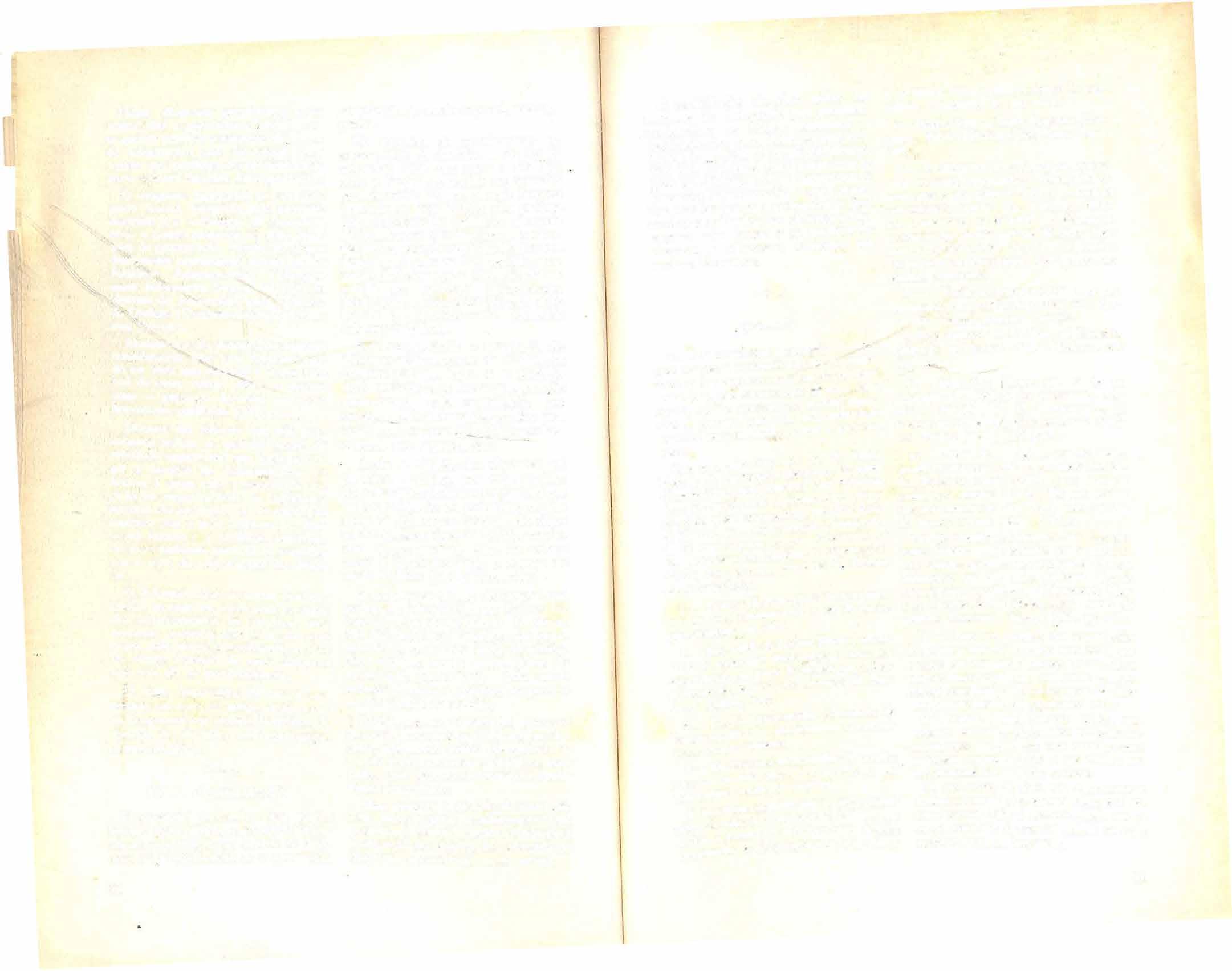
* * *
�OTAS: -- organ ·ti
l - Utilizamos aqui n cxpres,ao cl' Am;;ai sentido que Jhe u çõcs comp/c.wis no d predomi• .d d • sociais oncnta ns Et:ioni: «um ª e::. ' - dt: metns r.spe- consccuçao nantcmentc par;i ª 1 granJcs dimen• f do aprcsentan<o d ci ;cas quan de complexida e So·es e. portanto, nlto grn11 a e com o mc:o arn• nas suns relações intern s biente.
1 de Amitai t sugerimos cr Para o assuno . 1 R acler or Complex A Soc:10/oy1c.a e w· Et::10111, R' hart and instou, ·- - Holt, inc Org:i11.�1.1ft0':5� 69· A Comparatiuc A111.1ly· lnc., 2• ed1çao. 19 ·- ('ons the Free Press sis of Comp/e:,; Org.im-ª 1 bc:m a monografia 1961· tam , of Glencoe, inc., p' -ente C,walcante O Ca Mynam ª' de ctana d' 'e/ 0 110 Ür{J<Wi::açiio, ComfJortamr,11to do ln ,v1 b u de A Etzio1ü tas o ras DASP. 1966, e our são reco1nendada3. . - �r,·n sobre a natu d monogr.. , 2 _ Trata-se e . a ser divulgada d 50 ,.dministrat1va, < reza a aç, cm 1972 1)rovãvelmente

8 _ A Teoria de Sist�mas Gerais teve seu surgimeato com o artigo de Ludwig Von Bcrtalaufly «Gcncrnl Systems Theory>
A New Approach to thc Unity o[ ScienLe". publicado na revista Human B:ology, cm 195!.
9 - Heuristica: 'ciência que estuda as constnntes dn atividade do peMamento criador» - Pischkin, V. N. - Heurística, A Ciência do Pensamerro Criador, Zahar Editôres. Rio de Janeiro. 1969, PP. 8.
10 -Di::-se de um sistema ser êle aberto quando tnins:iciona com o seu meio ambiente. Todos o.; s:stcmas vivos e os sistemas sociais são sistemas abertos De um sistema que não transacione com o seu meio ambiente dir-se-á ser um sistema [echado
Heuryk Grentiewski identifica ainda os sistemas «relativamente fechados (ou isolados):►. São aquéles sist'?m..is que recebem e exercem influências em seu meio ambiente através <icertas vias especifica3�. (Grcnicwski. Hcuryk, Cibernética sin Matemáticas, Fundo de Cultura Econômica. México, 1965, pp 13).
1 d Herbert Simon éencon· .,., te estuco e . - 3 -cs 1 µles para o le;tor m,o d do mais s m C trado e mo . da decisão cm A a·
1 do cm teoria F cspeciaiz:a . _ de Lidcranç,a, Ed. un·d�dc de Dcc1sao e
Isto conduz: a uma distorção teórica, que podemos denominar «biologismo,;, dateoria di.'IS organizações, na qual são estns trat..idas como se fõsscmorgani.;mos vivos, o que conduz. ne� cessàriamente a conclusões crrõnens.
11 - Esta característica das organizações depermutar influências com o meio social que a cêrca tem conduzido autores a desenvolver estudos intcrdisciplin.ires, analisando caractcristicas semelhantes em outros tipos de sistemas, principalmente em organismos vivos paCI " 6� do de Cultura, 19 J. . _ 5 rogramadas são aquelas de 4 - Deci_s�e p c que permitem a padroni· -cr repcttttvo cara dimentos zação de proce, programc1das sao aqllelas Decisões nao . 5 - tlllicn vez e cx1g.im, por e ocorrem uma 1 qu tratamento sínguar. conseguinte, te segundo Simon. que o AdmiÉ importan . t discernir q11a1s os assunos que tador saiba d - n1sr ser encarados como cc1socs d e devem . po em d e nJo-progr;imadas, pois someoprograma as
O que existe, de fato, são características sistêmicas comuns a organismos vivos e a si3• temas sociais. Não é possível reduzir um ao outro. como não é possível reduzir a1nbos a modelos físicos ou mecânicos.
12 -É freqüente encontrarmo:; a nomen• clatura «,upra-sistcma», em lugar de jma• cro-sistema�. Preferimos a segunda porque julgamos transmitir melhor a idéia de· maior abrangência. Supra-sistema deixa transparecer uma idéia de h:erarquização, de um sistema ocupar nível mais elevado que outro.
13 - Para um estudo mais aprofundado dêste problema recomendamos ler a teoria de M. Maus:; sõbre o fenômeno soc:al total, quer cm suas obras (Sociologie et Anthropologic, principalmente), quer na obra de George Gurvitch (I?rincipalmentc Traité de Sociolog;e).
H - Usamos aqui a forma «entróp:ca� no sentido de «desestruturante� utilizado por Mauss, Gurv:tch (obras citadas na nota 13) e Alberto Guerreiro Ramos em Ad,ninistraçiio e Estratég:a de Dcsc.nvolvimcnto, FGV, 1966. Refere-se à característica -4c entropia, identificável cm todos o3 sistemas e baseada na 2• lei da Tcrrnodinãmica.
Nos sistcmns vivos e soc:nis corresponderia a tendência para o desaparecimento da potência vital e para o aniquilamento total.
15 - Fôrças de coesão são aquelas de nél· tureza homeostática. mantencdora� do sistema, portnnto, anti-cntrópicas
16 - Ao mcnc:onarmos as et,1pas cio processo decisório temos em vista o modêlo clás• sico de decisão que. com pequenas variações. consta de: identificação da oportunidade da decisão; def:nição de objetivo; identif:cnção e/ou elaboração de alternativas: avaliaçl'ío das alternativas; e e3colha de uma alternativa.
A éstc modêlo cláss:co contrapõem-se diversas outras colocé1ções, as quais trataremos em outra oportunidade
17 - Serão objeto do segundo artigo desta série.
18 - Para melhor estudo dêsle assunto ver Le·w.n. Kurt - Teoria de Campo em Ciê11cia Social - Livraria Pioneira Editôra, 1965.·
19 Idem, obra citada.
20 Idem, ohrn citada.
21 Sugerimo.; ao leitor ler de Karl Mannheim, O Homem e a Sociedade. Zahar Editorc3. 1962 purtc I. capitulo V e de Marx Weber, &onomia Y Socicd,1d, Fundo ele Cultura Econõmica. Méx:co, 1964. vol. 1 PP 64 e seg.
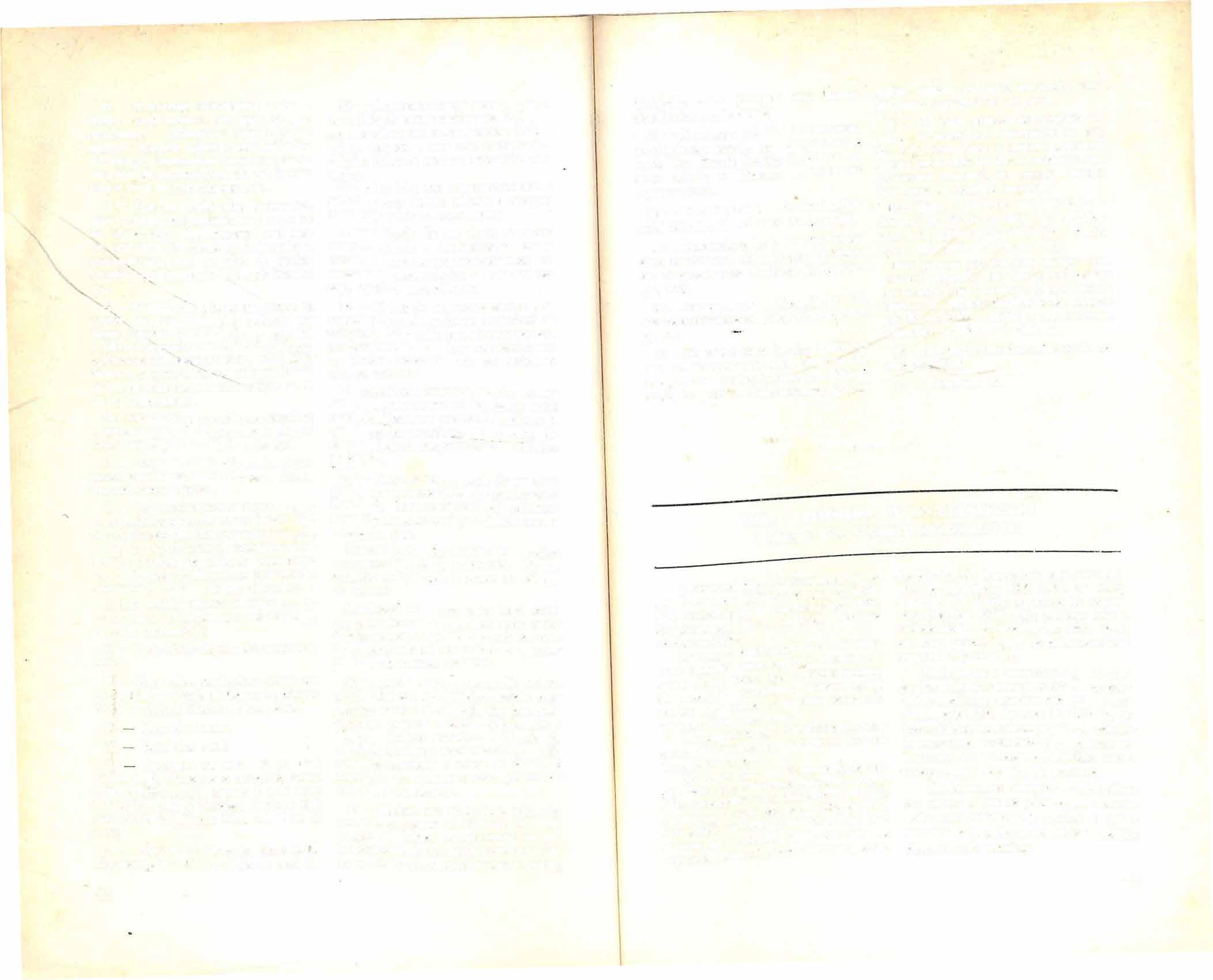
22 - Sugerimos a leitura das obras de K. Mannhcim e Max Weber citadas na nota 21.
23 - A expressão é aqui usada cnglc,ban• do a idéia de «compromet:mcnto.;,. Ao optar por uma alternativa. o Administrador compro• mete-se com ela e com suas conseqüências. Adquire obrigação total cm decorrência desta opção.
Por outro lado, cst,í comprometido com o mundo e suas decisões refletem e reforçam, n um tempo, êste comprometimento.
A maximização de um elenco de valôres através a tornada e implementação de uma decis;io - expressa na intensiona!idade ma• nifesta nesta mesma decisão - traz, cm seu bõjo, aquêle comprometimento.
2-1- O fato de manuais de serviço e de organização. estruturas formais e proce3sos de aferição de desempenho serem formas de decisiio programadas com base no passado não as condena, ncccssi\riarnentc, ao imobilismo e/ou ao arcaísmo
Tais deficiências ocorrerem, todav:a. 1111 medida cm que não existir, na cmprêsa de modo inst:tucionalizado, um processo de avaliação e quando se fi�cr necessário,_ de correção, da adequabilidade de tais padrões à� necessidades da crnprêsa
25- Estas dec:sõrs. a p11rtir de um certo graude complex:dade, podem ser tratada:; pelas técnicas de Pesquisa Operacional, principalmente Programnção Linear, Teoria d03 jogos e Teoria das Filos.
Tarnhém podem ser trntadns por modêlos econômicos (tcocin da preferência, seria um exemplo) 011 aplic,rndo 11 técnica da «árvore da decisão».
A utiliznção de uma ou outra destas técnicas será determinada e limitada pelas caracteri;t:cas gcrnis do problema e pelo seu grau de complexidade cm confronto com a potcn• cia!idade do processo escolh:do
26 - Aqui é válido o que se diz na nota n' 25. Também são utilizados moclelo3 estocásticos; técaic11s de simulação têm ]arg.:i utilização na tom.ida de decisão voltada para o futuro. Modelos heurísticos, utilizaç5o da Teoria de Conflito c modelos de Programação Dinàonica compl!-tam o elenco de técnicas ;t disposição dos Administradores que neces;itam tomar tais decisões.
17 - Embora não caiba. neste artigo. desenvolver o assunto, na re111idadc esta manipulação de fatõrcs organizacionais em prol do fortalecimento da emprêsa constitui o campo de <"3tudo denominado institu(ion building
(tradtddo, para o português <:ionalização organizacional»)
como ,institu·
8 O d e o texto a êlc clir�tamcn- 2 -.qun ro · . . .di te referido são baseados na monograf.a me ta de José R:carclo Brandão Azevedo e do e' f L'1dcrança no Fenômeno autor. « ncia e Açlministrat:vo�
29 - Durckeim, Emile - E/ Suiciclio, Edi6- 202 torial Schapirc, Buenos Aires. 19 , PP
1 d F ed Vl Riggs, 30 _ Rccomcnda-sz cr e r · entre outrns obr;is. Admi11islraç1iO nos Paiscs
·""' Desenvolvimento, un açao gas, 1968.
F d - Getúl'o Var
31 - Frot11m, Er:ch - Ps.ca:_�/isc e/ai��- ,ceicfac/e Co11tcmporá11ca. Zahar Editores. .
pp 125.
f • · desenvol-
3? - O estudo dcsta3 unçocs e• inda cm clavido n11 moaografia do auto,· n - U M d'lo Sistêrnico para Orgamboraçao. « 111 ° e T h'rné apr�scntndocr.1
:açõesComplexas�. am e
apostila utilizada cm cursos min_'strados para dirigentes e ;issc,sõrcs de alto n1vel.
33_ O modêlo proposto no d:agrama baseia-se em modêlo geral mencionado na nota 32. Nêlc consideramos a emprês;:i como um sistema subdividido cm 1r�s ccosistcmas: comportamentnl (humano). de suporte (instalações fiska; cni gernl) e funcional.
:ê,ste ülfmo se subdiv:de nas funçõ?s (subsistemas) de Direção produção. comcrciali:nção. apo:o. com1micaçõcs. adapt;:ição e rclaçfio com o meio <1mbiente (ver nota 32).
Ê.stc, por sua ve:. tem seus sistemas componentes tipificados cm função das relações que mantém com a emprêsa. O conjunto da cmprêsa. de seu meio <1mbiente e d:1s relações nêle dcscnvoh·id»� constitui o macro-sistema contenedor ou un:vcrso do ·Sistema
3-1_ Em -.,m cios próx:mos numero3 da Revista do•T.R.B.
35- Idem , nota 3-1
F. p ·cction Association» A 4.Nation,11 ire ro, d . , 1970,65.300 casos e mcen· afirmou qnc, cm istraclos nos EUA, ·t11is foram rcg dios proposi < _6 300 cm )Çí,9. e somcnt:: comparado com :, .
1-1.400 cm 1964. d realizado o incenclias d O estu o < 1 egun o . l971. devido a atou m1uto cm
rismo aumen • t..1 0 e sensacionalismo ra-ocs. cc1 gumas c!::5tas -d 1. 0 protesto social. d van a1sm • da juvcntu e . ' sentimentos pessoais de ocultar outros cruncs. f de no seguro. vingançn, rau _ séldos c1� favorecer O � uradores sao acu ' . - s s.g rar o imove\ por v..� o incendiarismo por scgu , r ao real. lor supcno ' 1 d u )cvanta111cnto de opip outro a o, ui l . or I rance {nformation nsllcio « nsu ' niiio feito P d 2 OOO habitantes dos EUA. abrangcn ° ~, 1971 tute», . d-vez 111;:iior (6,10 cm 1qur-eca·"rcvcou1gfig) 0 número dos que concontr;:, 63% em ento rápido cios custos de ue o aum :sideram . q 11\ carro e a construção precária reparaçao de u
dos vcicuios sfio responsáveis p::los altos prê· rníos dt> automóveis: 1ç;-'}0 (3C% cm 1969) acha que são d::vidos à prática do seguro: 5-1%(55;% cm 1961) estão s,:tisfeitos com o estabelecimento de indenizações: 5-l¾ (-13%, cm 1961) prefere seguro de automóveis com companhias pJrticulares.
Ainda quanto a automóveis, algumas causas dos acidentes automobilísticos - .:is cstatisticns amzricanas <1ssinolam que apenas aproximadamente 2,5o/0 do total de ,1cidrntes se de,·ea deficiências técnicas próprias ao veículo. A maior parte dos acid:-ntcs é causada por infração das Normas legais estnbch?cidas par,t o trúfcgo ou por dc::scuidos do motorista .
Um dos maiores inimigos do automobilista é a rotina: o fato de pen:-orrcr um determinado trecho habitualmente propicia a que o motorista se descuide ou não adote as medidas elementares de pre(.iução.
PALESTRA REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO PELO CHEFE DE GABINETE DA SUSEP. SENHOR RENATO COSTA ARAa/O. NA SEDE DO SINDICATO DA GUANABARA
Atendendo a cbnvite da Diretoria deste Sindicato, compared a este auditorio. no dia 9 de agosto ultimo, para trazer aos senhores os esclarecimentos que se faziam necessaries sobre as «Normas para a constitui^ao das Reservas Tecnicas das Sociedades Seguradoras», aprovadas pela Resoliiqao n' 5-71. do Conselho Naciona! de Seguros Privados, hem como elucidar algims aspectos da Resoluqao n'' 192, do Conselho Monetario Nacional, que regula a aplica^ao dessas reservas, e cujo cumprimento cabe a Superintendcncia de Seguros Privados observar.
Voko, agora, a este Sindicato para oferccer aos senhores alguns esclare cimentos sobre as iflnstrmjoes® apro vadas pela Circular n'' -44, de 8-9-71 da SUSEP.
Todos esses atos — a Resoluqao niimero 5-71. do Conselho Nacional de Seguros Privados, a Resolu<;ao n- 192, do Conselho Monetario Nacional. as Circulates ns. 44-71 e 20-69, da' SU SEP — a Superintendcncia de Segu ros Privados reuniu em uma coletanea que ja foi distribuida as Sociedades Seguradoras: assim procedendo, procurou a SUSEP oferecer ao mercado segurador, reunidos em um so instrumento, todos os atos reguladores da constitui^ao e da aplicaqao das reser vas tecnicas que, por forsa de disposigoes legais, devem as sociedades se guradoras manter para garantia de suas opera^oes.
Antes, porem. de abordar o tema basico desta palestra, quero oferecer a considera^ao dos senhores, em rapidos comentarios, o resultado de estudos e observaqoes por mim feitos sobre o mercado seguradof nacional. relativamente ao perlodo iniciado no ano de I960.
No qiiinqiienio 1960-1964, a media anual dos premios contabilizados (premios recebidos ou a receber). alcangou a quantia de 81 railhoes e 30 milhares de cruzeiros, sendo 58,06 % de seguros dos ramos elementares. 14.55 % de se guros do ramo vida e 27.39 % de segu ros de acidentes do trabalho.
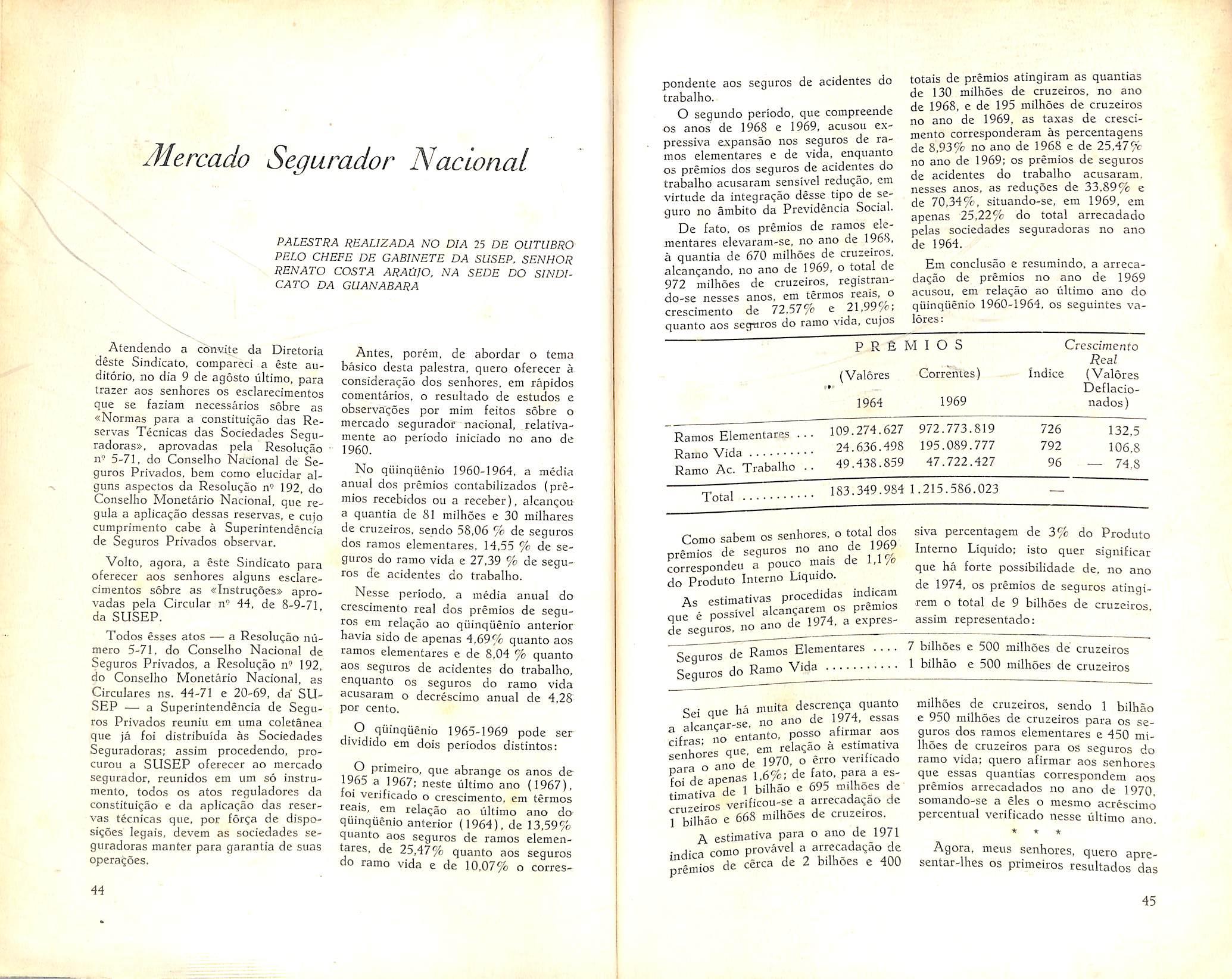
Nesse periodo. a media anual do crescimcnto real dos premios de segu ros em relaqao ao qliinquenio anterior havia sido de apenas 4,69% quanto aos ramos elementares e de 8,04 % quanto aos seguros de acidentes do trabalho. enquanto os seguros do ramo vida acusaram o decrescimo anual de 4.28 por cento.
I. 1965-1969 pode ser dividido em dois periodos distintos:
abrange os anos de } . neste ultimo ano (1967). loi verificado o crescimcnto, cm termos reais, em reia<;ao ao ultimo ano do qiiinqiienio anterior (1964). de 13,59% quanto aos seguros de ramos elemen tares. de 25.47% quanto aos seguros do ramo vida e de 10,07% o corres-
pondente aos seguros de acidentes do trabalho.
O segundo periodo, que comprcende
OS anos de 1968 e 1969, acusou expressiva expansao nos seguros de ra mos elementares e de vida, enquanto
OS premios dos seguros de acidentes do trabalho acusaram sensivel redu^ao, em virtude da integraqao desse tipo de seguro no ambito da Previdencia Social.
De fato, OS premios de ramos ele mentares elevarara-se, no ano de 1968, a quantia de 670 milhoes de cruzeiro^s. alcanqando, no ano de 1969, o total de 972 milhoes de cruzeiros, registrando-se nesses anos. em termos reais, o crescimento de 72.57% e 21,99/c. quanto aos seguros do ramo vida, cujos
totais de premios atingiram as quantias de 130 milhoes de cruzeiros, no ano de 1968, e de 195 milhoes de cruzeiros no ano de 1969, as taxas de cresci mento corresponderam as percentagens de 8,93% no ano de 1968 e de 25,47% no ano de 1969: os premios de seguros de acidentes do trabalho acusaram, nesses anos, as reduqoes de 33.89% e de 70,34%, situando-se, em 1969, em apenas 25.22% do total arrecadado pelas sociedades seguradoras no ano de 1964.
M I O S Correhtes) 1969 Ramos Elementares • Ramo Vida Ramo Ac. Trabalho ..
Crescimcnto Real fndice (Valores Deflacionados) 109.274.627 24.636.498 49.438.859
972.773.819 195.089.777 47.722,427
726 792 96
132.5 106,8 — 74,8 Total 183.349.984 I.215.586.023
Como sabem os senhores, o ^tal dos premios de seguros no ano de 1969 correspondeu a pouco mars de 1,1/c do Produto Interno Liquido. As estimativas procedidas '"^mam f ^ nossivel alcanqarem os premios Sfseguros. no ano de 1974. a expres-
Seguros de Ramos Elementares
Seguros do Ramo Vida
q.; nue ha muita descrenqa quanto 1 .nrar-se no ano de 1974, essas cifras So entanto. posso afirmar aos f e em relaqao a cstimativa senhore q - 2970, o erro verificado
° Lnas 1.6%: de fato, para a esHva de 1 bilhao e 695 milhoes de cZeiros verificou-se a arrecadaqao de "bilhao e 668 milhoes de cruzeiros.
A cstimativa para o ano de 1971
•,4ira como provavel a arrecadagao de cerca de 2 bilhoes e 400
siva percentagem de 3% do Produto Interno Liquido: isto quer significar que ha forte possibilidade de, no ano de 1974, OS premios de seguros atingirem o total de 9 bilhoes de cruzeiros, assim representado:
I bilhao e 500 milhoes de cruzeiros
milhoes de cruzeiros, sendo 1 bilhao c 950 milhoes de cruzeiros para os se guros dos ramos elementares e 450 mi lhoes de cruzeiros para os seguros do ramo vida: quero afirmar aos senhores que essas quantias correspondera aos premios arrecadados no ano de 1970 somando-se a eles o mesmo acrescimo percentiial verificado nesse ultimo ano.
* * *
Agora, meus senhores. quero apresentar-lhes os primeiros resultados das
45
apura?6es procedidas com base nos baan^os das sociedades segiiradoras reiativos ao aiio de 1970.
quantia de I bilhao, 370 milhoes e 385 milhares de cruzeiros, apenas 5 ramos tiveram arrecadagao superior a 5% do total, representando essas modalidades de seguros 80,3% do premio total:
Elas nao estabeleceram simples modificagoes de rotina, nem se limitaram a considerar interesses do momento.
derna para os quetazeres do nosso dia a dia.
A velocidade que marca o nosso progresso setorial impoe essas mudangas profundas e rapidas de conceituagao e metodoiogia. imprescindiveis ao alcance dos objetivos que balisam a nossa atuagao.
Resp. Civil Obrigatorio 140 129 Acidentes Pessoais ... npioa
].100.343
Abriram, isto sim, novas e imensas perspectivas para um future muito pro ximo, concrete e visivel, quando a aplicacclo das reservas tecnicas das Socie dades Seguradoras pesara reaimente na dinamica do nosso desenvoivimento economico. de maneira ponderavel.
O que se pretendia teoricamente ate bem pouco, quando se sonhava com mais expressiva participa^ao da atividade seguradora na economia nacio nal, e precisamente o que se comega agora a obter praticamente.
46
cru-
41,7 69,9 — 27.9 68.1 34,7 34.2 1970 1969 -- Aumento 28,87] 166,218 195,089 114,70 42,13 Seguros de Vida Individual ., • -
O volume dos investimentos previstos para 1974-e de molde a quebrar o cepticismo ou a indiferenqa dos que tdmavam em descrer da capacidade de agir e realizar do homem brasileiro, quando menos fosse no campo especializado dos seguros privados.
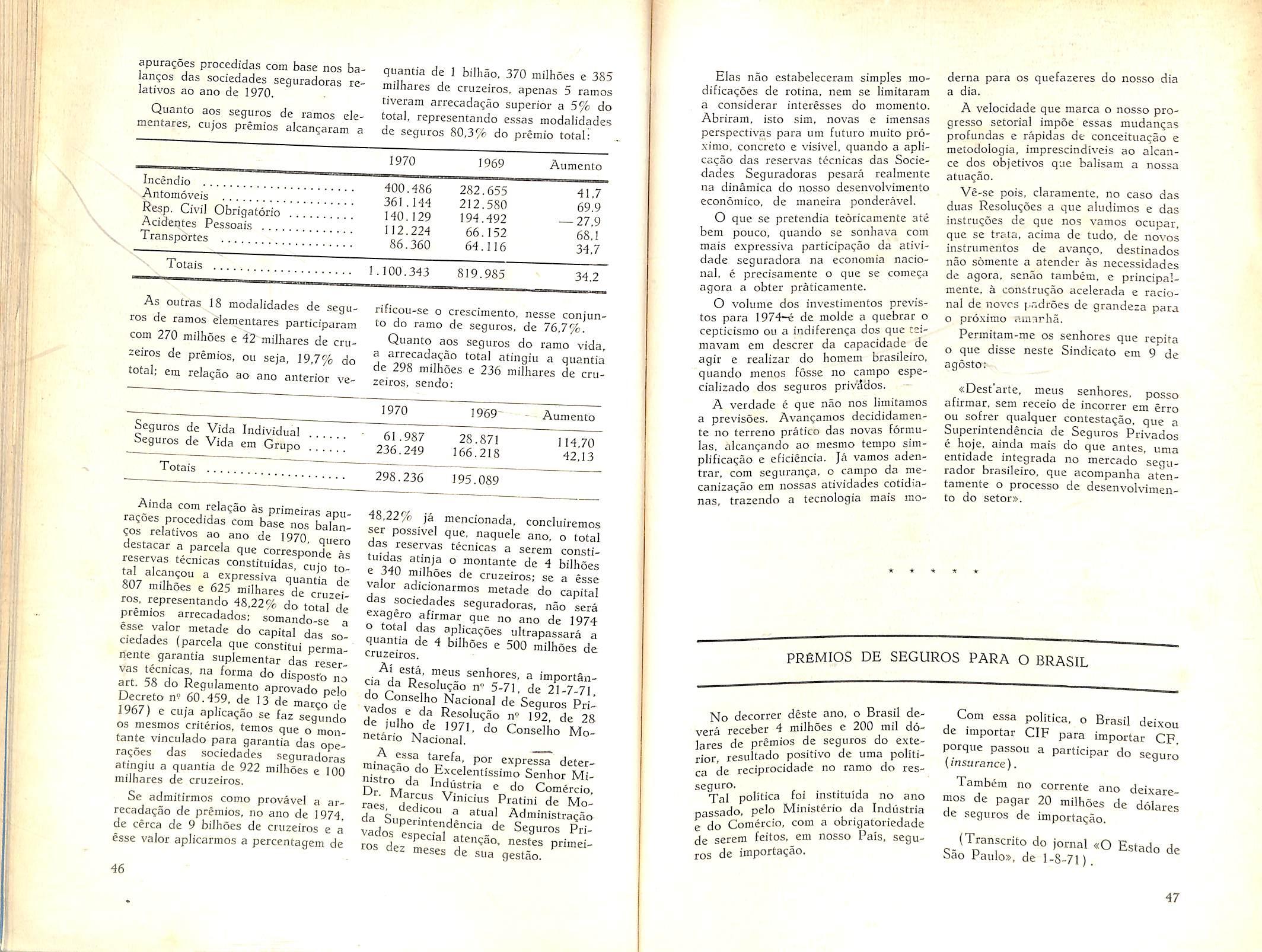
A verdade e que nao nos limitamos a previsoes. Avan^amos decididamente no terreno pratico das novas formu las, alcaiKjando ao mesmo tempo simplifica^ao e eficiencia. Ja vamos adentrar, com seguran^a, o campo da mecanizagao em nossas atividades cotidianas, trazendo a tecnologia mais ino-
Ve-se pois, claramente. no caso das duas Resoliigoes a que aludimos e das instru^oes de que nos vamos ocupar, que se trata, acima de tudo. de novos instrumentos de avanqo, destinados nao somente a atender as necessidades de agora, senao tambem, e principalmente. a constru^ao acelerada e racional de novcs padroes de grandeza para o proximo aniarha.
Permitam-me os senhores que repita o que disse neste Sindicato em 9 de agosto":
«Dest'arte, metis senhores, posso afirmar, sem receio de incorrer em erro ou sofrer qualqucr contesta^ao, que a Superintcndencia de Seguros Privados e ''oje, ainda mais do que antes, uma entidade integrada no mercado sequrador brasileiro. que acompanha atentamente o processo de desenvoivimen to do setor».
?n7 1U-°" ^^^^Pressiva quantia de vaW cruzeiros; se a esse
807 milhoes e 625 milhares de cru-ei 7 ad.cionarmos metade do capital res, representando 48,22% do totafde !°C'edades scguradoras, nao sera premios arrecadados; somando-se a j ^e 1974 esse valor metade do capital das so ^ aplica^oes ultrapassara a uedades (parcela que constitui perma- ^ ^ milhoes de nente garant.a suplementar das re^er '"'f
art' 5^77^ na forma do disposfo no da da'p^' senhores, a importan- art, 58 do Regulamento aprovado ndo ^7- ^esolu^ao n" 5-71. de 21-7-71 Decreto 60.459, de 137ma° va°dns°""?'^ SegurLVi 1967) e cuja aphcagao se far segundo f ResoIu(;ao n' 192, de 28 OS „os„os enterics, te„„s ,„e 'I''. I97I. do Conselho Mo! tante vmculado para garantia das ope Nacional. ra^oes das sociedades seguradoras' ^^sa tarefa. por expre^ deter atmgm a quantia de 922 milhoes e 100 do Excelemissimo sfnhor milhares de cruzeiros. mstro da Industria e do^^Com^rd^
PRfiMIOS DE SEGUROS PARA O BRASIL
Tal politica foi instituida no ano nassado, pelo Ministerio da Industria c do Comercio, com a obrigatoriedade de serem feitos, em nosso Pais, segu ros de importagao.
Com essa politica, o Brasil deixou de importar CIF para importar CP porque passou a participar do sequro (insurance).
Tambem no corrente ano deixaremos de pagar 20 milhoes de dolares de seguros de importaqao.
47
ANALISE DO MERCADO NACIONAL. PEITA PELO SEGURADOR TORGE OSCAR DE MELLO FLõRES, EM OUTUBRO úLTIMO, AOS MEMBROS DA COMISSÃODEFINANÇAS DA GAMARA DOS DEPUTADOS
Oseguro,em,nossoPaís,começou asersistematizad�'e�isciplinadono regimedaConstituiçãode1937,atravésdeDecretos-leisdosquaissobressaíramosdens.1.186e2.063,respectivamentede3-4-39e7-3-40,opri meirocriandooInstitutodeResseguresdoBrasileosegundoregulamentando,emnovosmoldes,asoperações desegurosprivados.
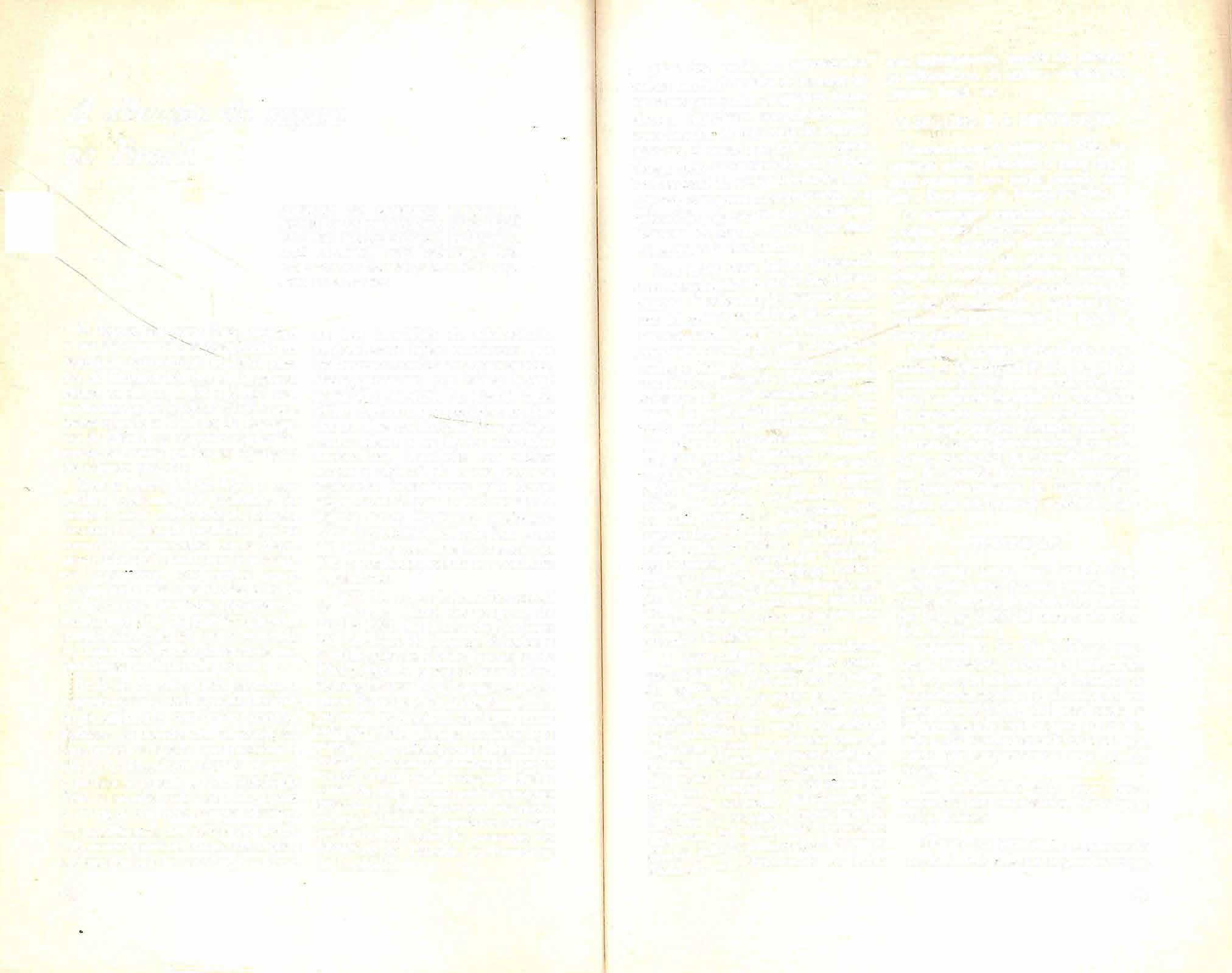
Comotempo,deumlado,aconjunturaeconômicafoievoluindo,de modoaexigiraalteraçãodesoluções fixadasnabasedepremissasquese tornaramultrapassadas;certasdisposiçõesadotadas,aindasemanecessáriaexpenencia,revelaram-sepouco adequadasasuasfinalidades;ainfla
çãocrescenteinvalidou,progressivamente,umasériedegrandezasfixadas quantitativamente,emtêrmosnominais; emsuma,modificaçõesimportantesimpunham-senalegislaçãovigente.
Todavia,deoutrolado,ocorreraa segundagrandeconflagraçãomun.dial; noBrasilhaviamsidocriadospartidos políticos,deacôrdocomascondições imperantes 01 épocaqueprecedeuà quedadoPresidenteGetúlioVargas, epassaraavigoraraConstituição::l� 1946;omundo,cadavezmais,tendi:i adividir-seemdoiscamposideológicosconflitantes;nospaísesemdesenvolvimento,particularmentenasregiões C?classesmE'nosfavorecidas,bemcomo
nafasetransitóriadaadolescência, predominavamidéiasestatizantes,socializantesexenofobistas,aproveitadas, demagógicamente,pormuitoslíderes políticosesindicais;noBrasil,essas idéiasdominavamo2partidospopulistas,asalasrevisioni�tasêlospartidos .conservadoreseasfrenteschamadas nacionalistas,impedindoumaanálise serenaeobjetivadecertosassuntos exploradosespecialmentepelademagogia,entreosquaissobrelevavaode seguro;assim,tornava-sedesaconselháveloencaminhamentoaoCongresso dasmedidascorretivasindispensáveis, poisoresultadopoderiasercontrário edesastroso.
Possodaromeutestemunhopessoal doqueoraafirmo,devezque,de 1958a1964,fuidiretordoSindicato dasEmprêsasdeSegurosPrivadose CapitalizaçãodoRioeleJaneiro,e,ele 1964a1967,fuivice-presidentedaFe deraçãoNacionaldasEmprêsasdeSegurosPrivadoseCapitalização,tendo, emambasasentidadesdeclasse,exercidoporváriasvêzesapresidência;e sempretivecontatocomoLegislativo federal,noacompanhamentodeprojetosdeordemgeral,atingindodesfavoràvelmenteoseguro,oudeprojetos específicossôbreseguro,emsuamaio riaprejudiciaiseorigináriosdecongressistas,ouentãodepropostasdo MinistériodoTrabalhoaoPresidente daRepública.
Alémdosproblemasmencionados, outrossurgiamdafaltaderecursosdo Govêrnoparacertosprogram��•levando-oae;tabelecer,compulsoriamente, investimentosdecoberturadereservas ·àssegura- técnicas,altamentenocivos
'b·-paraoBan doras.comoacontnu1çao
N.1doDesenvolvimentoEco- Coaciona ... ea ..ocomurosexpropnatonos, nom1c, h subscriçãodecapitaldaCompania NacionaldeSeguroAgrícola,porduas vêzestornadainsolvente.
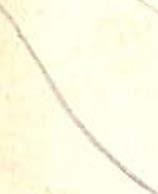
Comtodosêssesfatôresdes�avor�. b'l'dademédiados111vest1- ve1sarenta11 .. · dervastecni- mentosdecoberturaeres f.· 11do't1Sdeficitsdecarregacas OI cai. das mentosampliaram-se,assegura _ ºr 1 dmaisdescap1ta•- tornaram-secaavez zadaseficoudifícilmantera d srese�- ..1eadeqt\.élamene vastécnicasmtegra .ddueno vassocieaesq, -cobertas;asno"_Hcionáriahaauedaaceleraçaoina � g .dmantiveram-se,t:m viamproliferao, ..roentefracas, .•econorruca suama10na, .ddecoropetitindetenac1a mascom�ra concorrênc.ianomerva,exacerba11d0ª . dascornpa•cado;inf_elizi_ne1'.te,:;:1:taremcontra nhiasmaisdeb::s:�tradicionais,não . asmaispotenL�s ,e1.railegalcicia• t.va:1,aq\.u raropra IC< .• ddescontos 1.da••a\•E'�e rifas,reaizaªd·•·etagemclandesti.-esecori -emcom1sso .d.b'·nrfúgiof::idita- .fiaas-,u" namentein .--�eladafiscalização90- •dopelade�1oed-ontribuia,porronamenta,·tuO'· tpro- vern·' {raquecimeno tparaoen segmne, l.ten•a,_pgurador. .· (O SIS ,,< �- gress1vo providência lturacomo Acertaa'monopólioestatal .·parao preparatona dentesdotrabalho. dgurodeao E ose ·dmprazoparaaeefoie,:ta�el:c\��;amedida,bemcome tivaçao1�tgd.enovasseguradoras
f··o•b1oqu d .1couP1 • . 0 referidoramoe dmoperarn. d. puesse foiprorrogaova- Talprazo � seguro�.acabourevogado,danuo ·vezese nas tagemàsempresasque ertavan. d umae segurodeacidentese
··tuavornno 'ddd Jªª tocanteàcapac1aee traba!ho.11�dificuldadescrescentes resistiremel:s LegislativoeoExecutivo criadas_P
· adiretamentenosetor, Federais,seJ
sejaindiretamente,atravésdoprocessoinflacionário,dapolíticasalariaCdo sistemafiscal,etc.
Encontrava-seoseguronoPaísem situaçãograve,piorandoacadadiae aparentementesemsaída,quandosurgiuaRevoluçãodeMarçode1964. o tratamentoconsciencioso.honesto ecapazdadoatodososproblemasbrasileiros,nagestãodoilustrePresidente CasteloBranco,nãopodiadeixarde atingirosistemasegurador,reconhecidasuaimportâncianaestabilidadeda vidadepessoasfísicasejurídicaseno fornecimentodecapitaisamédioe longoprazo.
Assim.,oassuntofoiestudadoeexpedidooDecreto-lein�73,de21de ncwembrode1966,que,senãofoiperfeito,melhoroubastanteascondições domercadosegurador,medianteum textolegalsintético,fixandoprincípios salutaresecomplementando-secomdecretos,resoluçõesdoConselhoNacionaldeSegurosPrivadoseinstruções daSuperintendênciadeSegurosPrivades,emumesquemamaleáveleobjetivo.
Sobreveio,assim,umafasedetransiçãoentredoisregimeslegais,passandoomercadoseguradordosistema doD.L.n'1 2.063-40paraodonôvo D.L.1111 73-66.
SalientouoSr.MelloFlôresque, nessatransição,ocorreuaintegração dusegurodeacidentesdotrabalhona previdênciasociale,oadventodoseguroRECOVAT,daíresultandoa substituiçãode«umsegurojáconhecidoederesultadossatisfatórios»por outroque«representavaumagrande incógnita».
Talsubstituiçãoviriagerarpreocupaçõesaosempresários,declarando oSr.Flõres:
«Tantoerajustificadaa.apreensão predominanteentreasseguradorasgne
enfrentavam tecnica e consciendosamente seus problemas, que eia veio mais tarde a confirmar-se, pois as tarifas do novo seguro, calculadas na base de elementos deficientes e ainda diminuidas pelo receio de uma rea^ao generalizada cntrc os segurados obrigatorios, conduziu a resultados indus trials negatives, salvo para as poucas sodedades que investiram judiciosaraente-o ativo de cobertura das correspondcntes reservas tecnicas. as quais, ppr conseguintc. conseguiram seus lu cres indiretamente, atraves do mercado de capitais.
Reconhecendo o fato, isto e, a deficiencia das tarifas e-q consequcnte prejuizo para o sistema segurador, os 6rgaos governamentais, ao termino do primeiro ano de aplicacao, procuraram corrigir essa falha. mas sem vir a sobrecarregar os segurados obrigatorios, do que decorreu u"a mudan^a de con-' ceito. restringindo a responsabilidade civil aos danos pessoais. com redu?ao do premio e, portanto, dos recursos encaminhados as sociedades seguradoras.»
Referindo-se a politica de inversoes o Dr- Fibres lembrou que o Conselho Monetario Nacional. visando a obter recursos para o financiamento do programa de construgao naval, determinou que 50% do aumeiito das reservas tec nicas nao comprometidas (30% no caso do seguro de vida individual) fossem aplicados na compra de obrigagoes reajustaveis do Tesouro Nacional (ORTN), diretamente adquiridas no Banco Central do Brasil; conquanto tudo indicasse que o sistema segurador, uma vez entregue sua contribuiqao ao programs em aprepo, piidesse, sempre que necessario, vender suas ORTN a terceiros, a Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP) houve por bem vincular os titulos mencionados ate a
concliisao do programs, tirando-lhes a Hquidez e, portanto, diminuindo a liquidez das seguradoras.
A situa^ao so nao ficou mais grave porque as sociedades de seguro, que, em sua legisla^ao especifica inicial eram proibidas de reavaliar seu ativo imobilizado, passaram a poder faze-lo em determinadas condi^bes e com certa flexibilidade.
Como somente a metade do capital e garantia subsidiaria das reservas tec nicas e, como tal, prccisa estar coberta com OS mesmos investimentos de co bertura dessas reservas, a reavalia^ao do ativo imobilizado, com corresponclente aumento de capital no passive, coraprometia apenas a metade do acrescimo do ativo imobilizado. e a outra metade deste ficava liberada para cobrir a ampliagao das reservas tecnicas, dando uma certa folga as seguradoras; esta facilidade, porem, foi com o tem po se restringindo, nao so pela margem cada vez mcnor de imoveis a rea valiar, mas tambem pelo decrescimo da corregao monetaria, com a queda do ritmo inflacionario.
Com esse quadro geral pouco iisonjeiro, iniciou-se o terceiro periodo revolucionario — o do atual Governo , no qua], felizmente, voltou-se ao exame serio dos problemas do seguro, co mo ocorrera na fase do eminentc estadista Marechal Castelo Branco.
Vanas medidas foram tomadas, outras encaminhadas, tornando-se licito prever uma melhora geral, em future proximo, para o sistema segurador.
e urn modo geral, o que se devera er em vista, em sintese, e o fortalecimento do sistema segurador, atraves
da expansao do mercado de seguro, interna e externamente, do aprimoramento das operaqocs securatorias, tec nica e cconomicamente, e, sobretudo, da maior eficiencia e pujanqa das so ciedades seguradoras.
Para alcan^armos tal finalidade estrategica, varios objetivos taticos precisarao ser atingidos:
1) Redugao quantitativa das segu radoras, ate um numero compativel com o mercado a atender e com o minimo de potencialidade indispensavel as so ciedades. ^
2) Amplia^ao do mercado segura dor interno.
3) Ampliaqao, para as seguradoras nacionais. do mercado segiS'rador externo.
4) Estabelecimento das condi^oes minimas de potencialidade, indispensaveis ao funcionamento adequado de uma sociedade seguradora.
5) Hierarquizacao das seguradoras, por sua potencialidade, de forma a compatibiliza-las com sua participa^ao nas responsabilidades do mercado.
6) Regulamcnta^ao adequada da co bertura de reservas tecnicas. nao so quanto aos tipos de investimentos. mas tambem no tocante a forma de ,sua efetiva^ao.
7) Melhoria da liquidez das socie dades seguradoras.
8) Melhoria da eficiencia das socie dades seguradoras.
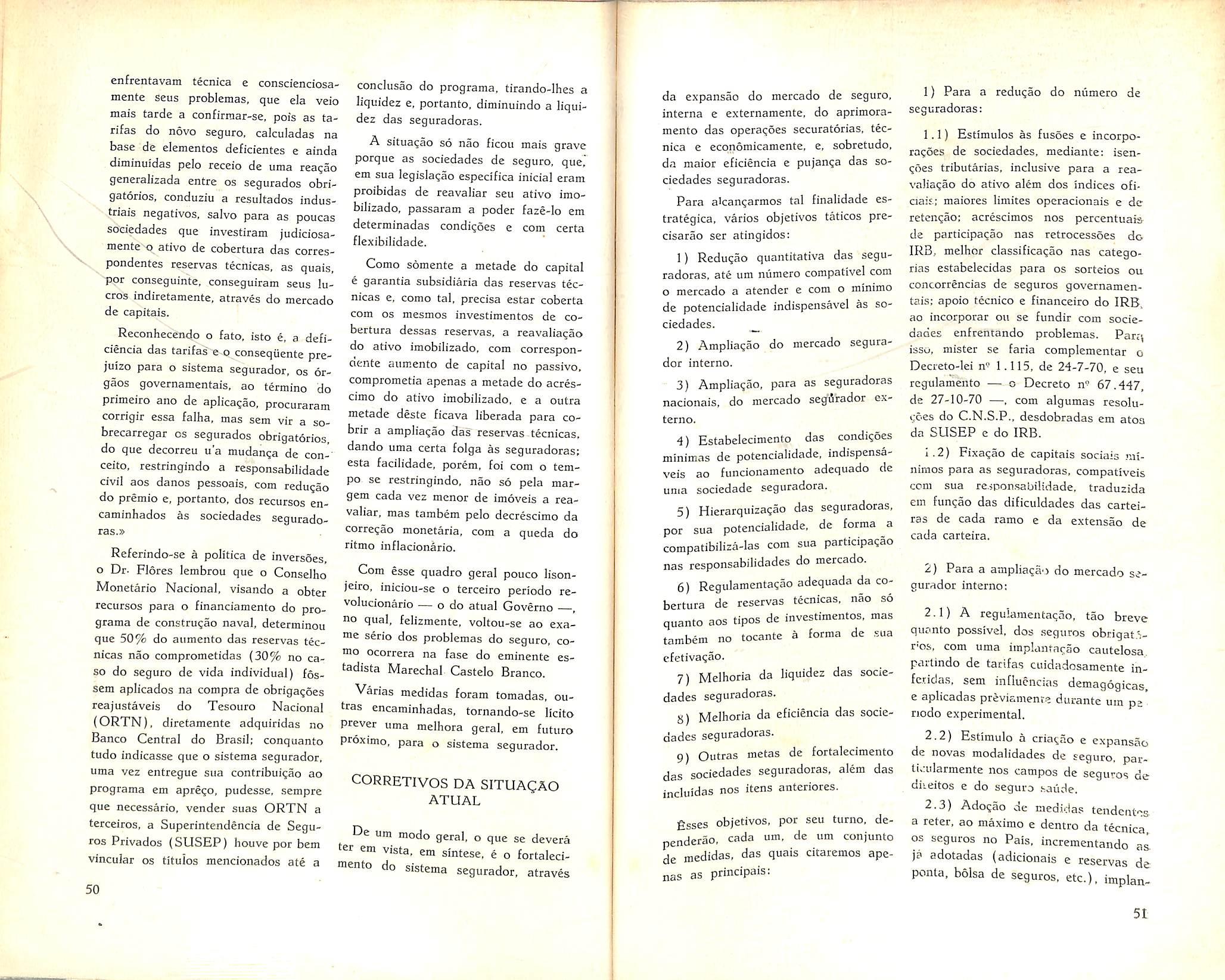
9) Outras metas de fortalecimento das sociedades seguradoras, alem das incluidas nos itens antcriores,
Esses objetivos, por seu turno, depcnderao. cada um, de um conjunto de medidas, das quais cicaremos ape nas as principais:
1) Para a reduqao do numero de seguradoras:
1.1) Estimulos as fus5es e incorpora^oes de sociedades, mediante: isenqbes tributarias, inclusive para a reavaliagao do ativo alem dos indices oficiaif: maiores limitcs opcracionais e de retcnqao; acrescimos nos percentuaisde participac;ao nas retrocessoes do IRB, melhor classifica<;ao nas categorias estabclecidas para os sorteios ou concorrencias de seguros governamen tais: apoio fccnico e financeiro do IRB, ao incorporar ou se fundir com socie dades enfrentando problemas. Par^ isso, mister se faria complementar o Decreto-Iei n'^ 1.115, de 24-7-70, e seu regulamento — o Dccreto n' 67.447, de 27-10-70 —. com algumas resolucces do C.N.S.P., desdobradas em atoa da SUSEP c do IRB.
1.2) Fixa^ao de capitais sociais .niinimos para as seguradoras, compativeis com sua re.spon.sabilidade, traduzida em fungao das dificuldades das carteiras de cada ramo e da extensao de cada carteira,
Z) Para a amplia^ao do mercado se gurador interno;
2.1) A reguiamentaqao, tao breve quanto possivel. dos .seguros obrigat.';r'os, com uma implanfa^So cautelosa. parlindo de tarifas cuidadosaraente infcricla.s. sem influcncias demagogkas. e aplicadas prevismente durante um p>' riodo experimental.
2.2) Estimulo a cria<,5o e expansao de novas modalidades de seguro, particularmente nos campos de seguros de direitos e do seguro saude.
2.3) Ado^ao de medidas tendentes. a reter, ao maximo e dentro da tecnica OS seguros no Pais, incrementando as ja adotadas (adicionais e reservas de ponta, bolsa de seguros, etc.), implan-
tando novas e fortalecendo o sistema segurador.
3) Para a amplia^ao do mercado se gurador externo:
3.1) Negociagao, na base de reclprocidade, da colocagao de resseguros no exterior.
3.2) Desenvolvimentc de uma politica, de maior participa^ao nos seguros de exporta?ao (em cruzeiros) e de-importa(;ao (em moeda estrangeiru), aprovcitando em especial as exportacoes GIF, as importa(;6es FOB e o transporte de mercadorias em navio.s e av.'oes nacionais.
3.3) Aplica^ao efetiva do seguro de credito a exportacjao.
3.4) Autoriza^ao do seguro de garajitia de cumprimeiito de contrato, paia apoio de companhias nacionais que se candidatam a trabalhos no ex terior, principalmente na area da ALALC.
3.5) Maior diversificagao dos segurcs passiveis de realiza^ao em moeda eslrangeira.
4) Para o estabelecimento de condi;6es minimas de potencialidade das scguradoras:
4.1) Fixagao de capitais sociais miiiimos. abaixo dos quais as sociedades nao poderao operar.
4.2) Estabelecimento de limites operacionais minimos, para cada rarao de seguro, de modo que as seguradoras que nao os atinjam, em determinado ramo, nele nao poderao operar.
5) Para a hierarquizagao adequada das seguradoras em sua participagao no mercado:
5.1) Graduagao dos capitais sociais mirjimps das seguradoras, em fun^ao
dos ramos em que operam e de indices de potencialidade das sociedades.
5.2) Revisao do conceito de ativo liquido das seguradoras. de modo' a enquadra-lo melhor no conceito geral, a torna-lo comparavcl entrc as socie dades atuando nos diferentes ramos e a faze-lo um indice real da potenciali dade efetiva das companhias.
5.3) Revisao da forma de determinar os limites maximos operacionais e de retengao das seguradoras, a fim de melhor atcnderem aos objetivos que colimam e a melhor se compatibilizarem com a potencialidade das empresas.
5.4) Estabelecimento de indices adequados para estimularem fusoes e incorporagoes de seguradoras, em fungao dos aumentos absolutes e relatives de potencialidade. decorrentes dessas operagoes de aglutinagao,
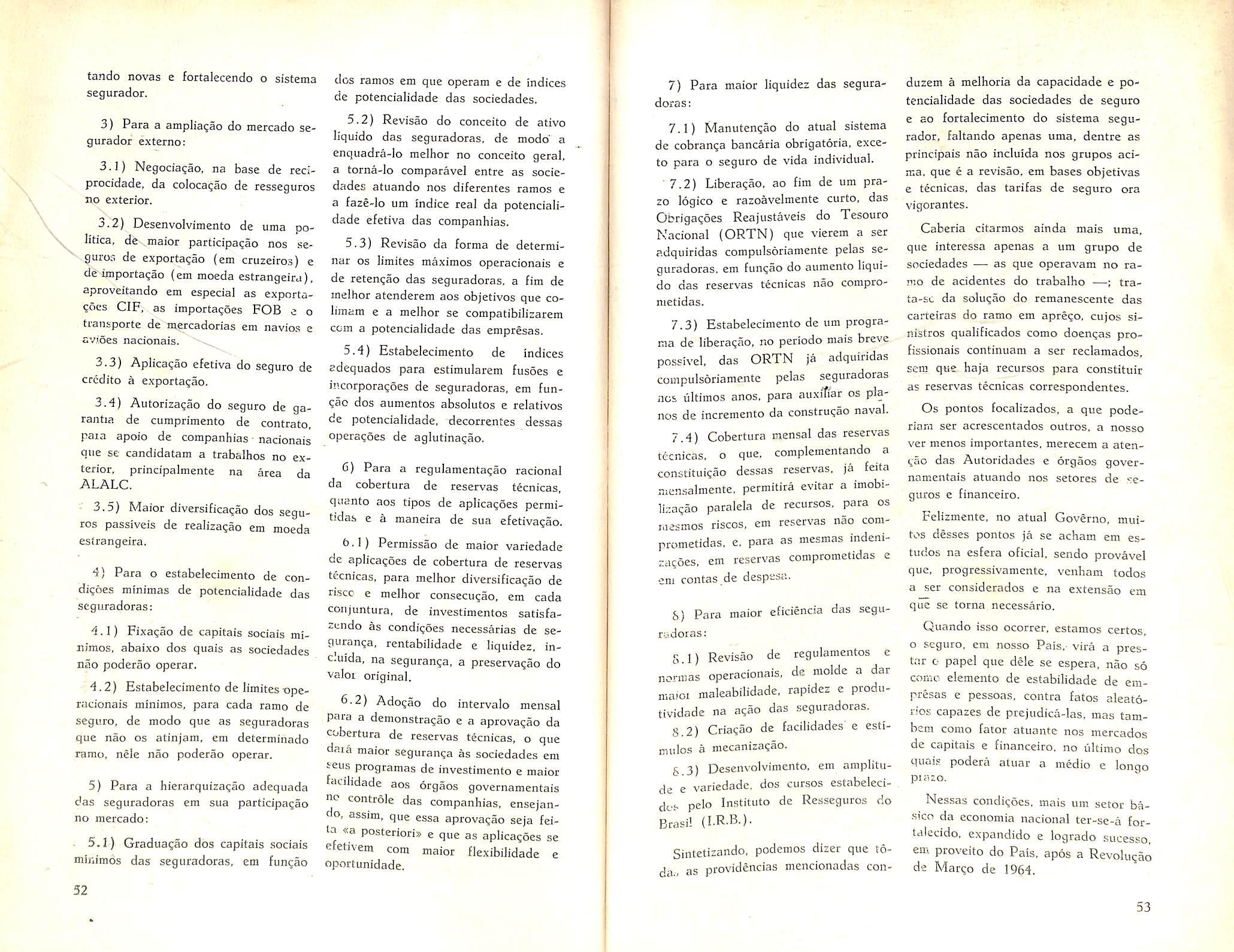
6) Para a regulamentagao racional da cobertura de reserves tecnicas. qaanto aos tipos de aplicagoes permitidas e a maneira de sua efetivagao.
b.l) Permissao de maior variedade de aplicagoes de cobertura de reservas tecnicas. para melhor diversificagao de riscc e melhor consecugao, em cada coiijuntura, de investimentos satisfazendo as condigoes necessarias de seguranga. rentabilidade e liquidez. inc.uida, na seguranga, a preservagao do valoi original.
6,2) Adogao do intervale mensal Pura a denionstragao e a aprovagao da cobertura de reservas tecnicas, o que daia maior seguranga as sociedades em ieus programas de investimento e maior facilidade aos orgaos governamentais no controle das companhias, ensejano, assim, que essa aprovagao seja feila «a posteriori» e que as aplicagoes se efetivem com maior flexibiiidade e oportunidade.
7) Para maior liquidez das segura doras:
7.1) Manutengao do atual sistema de cobranga bancaria obrigatoria, exceto para o seguro de vida individual.
'7.2) Liberagao, ao fim de um prazo logico e razoavelmente curto, das Obrigagoes Reajustaveis do Tesouro Nacional (ORTN) que vierem a ser adquiridas compulsorianiente pelas se guradoras. em fungao do aumento liqui do das reservas tecnicas nao compronietidas.
7.3) Estabelecimento de um programa de liberagao, no perlodo mais breve possivel, das ORTN ja adquiridas compulsoriamente pelas scguradoras nos ultimos anos, para auxifiar os pia nos de incremento da construgao naval.
7.4) Cobertura mensal das reservas tecnicas. o que. complementando a constituigao dessas reservas. ja feita men.salmente. permitira evitar a imobiIbagao paralela de rccursos, para os mesmos riscos, em reservas nao comprometidas. e. para as mesmas indenizagoes, em reservas comprometidas e em contas.de despesa.
S) Para maior eficicncia das segu radoras:
8,1) Revisao de rcgulamentos e normas operacionais. de molde a dar maioi maleabilidadc. rapidez e produtividade na agao das seguradoras.
8 2) Criagao de facilidades' e estimulos a mecanizagao,
8 3) Dcscnvolvimento, em amplitucie e variedade, dos cursos estabelecidos pelo Institute de Resseguros do Brasil (I.R.B.).
Sintetizando, podcmos dizer que toda-j as providencias mencionadas con-
duzem a melhoria da capacidade e po tencialidade das sociedades de seguro e ao fortalecimento do sistema segu rador, faltando apenas uma, dcntre as priiicipais nao incluida nos grupos acima. que e a revisao, em bases objetivas e tecnicas, das tarifas de seguro era vigorantes.
Caberia citarmos ainda mais uma, que interessa apenas a um grupo de sociedades — as que operavam no ra mo de acidentes do trabalho —; trata-bc da solugao do remanescente das carteiras do ramo em aprego, cujos sinistros qualificados como doengas profissionais continuam a ser reclamados, sera que haja recursos para constituir as reservas tecnicas correspondentes.
Os pontos focalizados. a que poderiani ser acrescentados outros, a nosso vcr menos importantes, merecem a atengao das Autoridadcs e orgaos gover namentais atuando nos setores de seguros e financeiro.
Felizmente, no atual Governo, muitos desses pontos ja se acham em estudos na esfera oficial, sendo provavel que, progressivamente, venham todos a ser considerados e na extensao em que se torna necessario.
Quando isso ocorrer. estamos certos, o seguro, em nosso Pais,- vira a prest.'ir c papel que dele se espera, nao so come elemento de estabilidade de em presas e pessoas, contra fatos aleatoi-ios capazes de prejudica-las. mas tambem como fator atuantc nos mercados de capitais e financeiro, no ultimo dos quais podera atuar a medic e longo piazo.
Nessas condigoes. mais um setor ba.sico da economia nacional ter-se-a fortdlecido, expandido e logrado sucesso. em proveito do Pais, apos a RevoUigao de Margo de 1964.
RESPONSABIUDADB DO EXPLORADOR DA AERONAVE
CoNSULTA:
A responsabilidade de proprictario de aeronave, no caso de abalroamento aereo. e limitada em [unfao do piso da acronai>e ?
Resposta: I
A responsabilidade do propdetano, transportador ou explorador aereo regiilamentada em fun^ao do peso da aeronave e. cxclusivamcnte. aquela para com terceiros no solo — pessoas on coisas.
O Titulo VIII do Codigo Brasileiro do Ar (Dec.-lei n" 32, de 18-11-66), particularmente os artigos 117 e 119 abaixo transcritos, estabelecem as ba ses dessa responsabilidade:
«Art. 117. Os danos causados a pessoas na superficie serao indenizados pelo explorador. observado nos casos de morte ou incapacidade o estabelecido no art. 103 deste Codigo, acrescido de 50% {cinqiienta por cento)».
«Art. 119. No caso de danos a pessoas e bens na superficie, causados
(*) Chefe do Depnrtamenfo Transportes, Cascos e Responsabilidades, do IRB.
por aeronave brasileira, a indenizaqao, que sera rateada proporcionalmente aos prejuizos resultantes, obedecera aos seguintes limites:
a) para aeronaves com o maximo de mil quilogramas de peso, a importanda correspondente a 200 (duzentas) Veres o maior salario-minimo viqentc no Pais;
b) para aeronave acima de mil qui logramas de peso, a imporfancia cor respondente a 200 (duzentas) vezes o maior salario-minimo vigente no Pais, acrescida de 1/40 (urn quarenta avos) desse salario, por quilograma que exceder de mil quilogramas.s
O abalroamento aereo e regulado pelo Titulo X, nao tendo o C.B.A, esta elecido quaisquer responsabilidades em fumgao do peso das aeronaves envolvidas.
A reparagao dos danos cabera ao exp orador da aeronave comprovadamente culpada (art. 129 do C.B.A.), por nao ter cabimento, aqui, o criterio ae «culpa presumida».
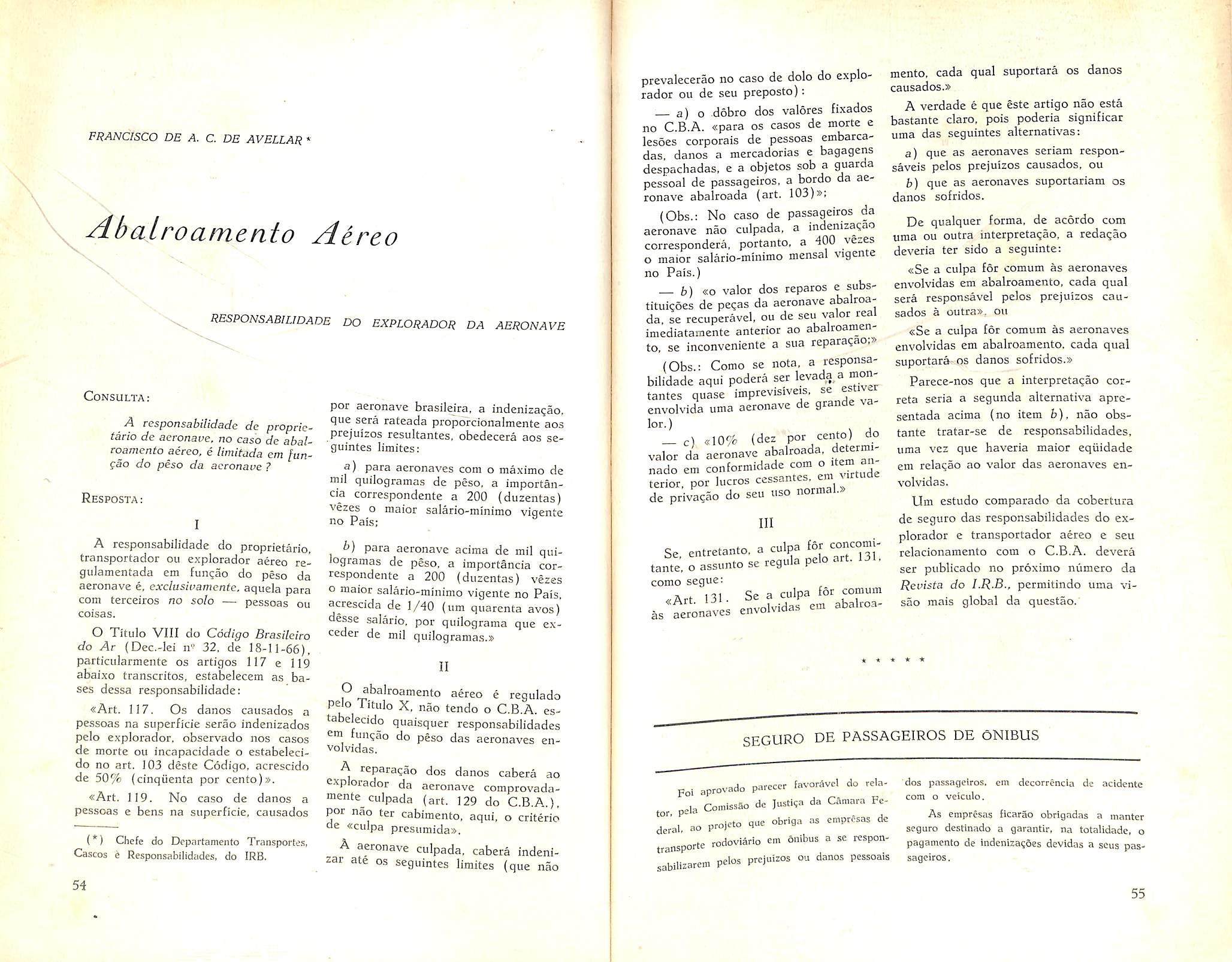
A aeronave culpada, cabera indenizar ate os seguintes limites (que nao
prevalecerao no caso de dolo do explo rador ou de seu preposto):
a) o dobro dos valores fixados no C.B.A. «para os casos de morte e lesoes corporals de pessoas embarcadas, danos a mercadorias e bagagens despachadas, e a objetos sob a guarda pessoal de passageiros, a bordo da ae ronave abalroada (art. 103)»;
(Obs.; No caso de passageiros da aeronave nao culpada, a indenizaqao correspondera, portanto, a 400 vezes o maior salario-minimo mensal vigente no Pais.)
— b) «o valor dos reparos e substituiqoes de peqas da aeronave abalroa da, se rccuperavel, ou de seu valor real imediatamente anterior ao abalroamen to, se inconveniente a sua reparaqao.»
(Obs.; Como se nota, a responsa bilidade aqui podera ser levad|,a montantes quase imprevisiveis, se estiver envolvida uma aeronave de grande va lor-) , ,
mento, cada qual suportara os danos causados.»
A verdade e que este artigo nao esta bastante claro, pois poderia significar uma das seguintes alternativas;
a) que as aeronaves seriam responsaveis pelos prejuizos causados, ou
b] que as aeronaves suportariam os danos sofridos.
De qualquer forma, de acordo com uma ou outra interpretaqao, a redaqao deveria ter side a seguinte:
«Se a culpa for comum as aeronaves envolvidas em abalroamento, cada qual sera responsavel pelos prejuizos cau sados a outra». ou
«Se a culpa for comum as aeronaves envolvidas em abalroamento. cada qual suportara-OS danos sofridos.»
c) «10% (dez por cento) do valor da aeronave abalroada, nado em conformidade com o tem an terior, por lucres ' de privaqao do seu uso noimai.»
_
Se, entretanto, a culpa -ncomi- tante, o assimto se regula pelo art. iii. como segue:
«Art 131. Se a culpa f6r comum envolvidas em abalrcaas aeronaves
Parece-nos que a interpretaqao correta seria a segunda alternativa apresentada acima (no item b), nao obstantc tratar-sc de responsabilidades, uma vcz que haveria maior equidade em relaqao ao valor das aeronaves en volvidas.
Urn estudo comparado da cobertura de seguro das responsabilidades do ex plorador e transportador aereo e seu rclacicnamento com o C.B.A. devera ser publicado no proximo niimero da Revista do LR.B.. pcrmitindo uma visao mais global da questao.
Foi aprov •ado parccer favoravcl do rela- dos passageiros. em decorrendo de acidente tor, p2la Comissao de ]usti?a da Camara Fccom o veiculo.
As emprlsas ficarao obrigadas a manter one obriga as emprcsas de deral ao proj<-io seguro destlnado a garantir, na totalidade, o transporte rodoviario em onibus a se respon- pagamento de indeniza?des devidas a sous pas, _ ngios prejuizos ou danos pessoais sagciros, sabi"2arem v
FRANCISCO DE A. C. DE AVELLAR *ticas da industria do seguro, esta parte dos encargos pode comprometer tambem por uma serie de anos os resultados que de ordinario se apresentavam favoravelmente.
POR
Numa epoca em que, com maior frequencia, banqueiros vac se tornando seguradores, ,a seria de se esperar a pergunta acima.
Recebemo-la e passamos a desenvolver, neste artigo, o que ela enseja.
Os seguros privados, na sua quase totahdade. estao tecnicamente estruturados para o periodo de ] (um) ano Alem das apoliccs serem predominantemente anuais. as probabilidades as distribui?6es muUialisticas e os Jomponentes financeiros, sobre os qua^s se assenta toda a formuJa^ao atiiarial do seguro, tem como referencia de tempo, o referido pen'odo de um ano. O siriplcs fato de se denominar de prazo curto OS prazos inferiores a um ano c de prazo longo os superiores a um ano ja indica que o normal, a nonna e csse prazo.
No proprio seguro de Vida Indwidual. com premio nivelado, tanto mortalidade como sobrevivencia tem suas probabilidades aferidas para aquele pe riodo.
Nos seguros de Vida em Grupo o premio mensal e um simples fracionamento financeiro do premio anual. Os
seguros de Ramos Elementares de pra zo curto ou longo tem suas taxas modificadas simplesraente por fatores fi nanceiros ou de carregamento.
Pelo que nos ocorre. apenas os se guros de Credito tem, no Brasil, taxas de premios basicamente mensais, atraves de um criterio, alias de nossa auforia. quando participamos de sua institujqao no Pais.
Pouco ou nada se conhece ou se sabe da distribui?ao dos riscos dentro do periodo dc um ano.
Ainda^ que se conhecesse ta] distrit>m?ao. esse conhecimento, necessariamente estocastico, nao permitiria paciicamente modificar o tradicional mo dulo temporario anual. Serviria. isto Sim, para melhor aferigao das reserves tecmcas.
• ®ssim. persistiria a adverten- cia de^Humberto Roncarati, que eniora nao seja atuario, foi segurador de drga expericncia, ao afirmar, talvez com certa candencia, que:
temerario confiar sistematicamen- te no bom andamento tecnico dos sinistros, pois ninguem ignore que. sendo essencialraente aleatorias as caracteris-
Uma das mais antigas e divuigadas caracteristicas da industria do seguro e justamente o seu carater aleatorio. fi certo que esta caracteristica foi particularmente importante nos primordios do dcscnvolvimento da nossa industria, que subsiste ainda e que muitos outros aspectos peculiares historicos. tecnicos e da sua organiza^ao derivam disso e sao explicaveis por esta sua caracteris tica fundamentals. (Aspectos dc administraqao de seguros, — Rcvista do IRB n" 12).
Alias, o ideal teorico para Ramos Elementares seria minimizar-se a formulaqao e constituigao de reserves tecr.icas pela adogao do sistema de compsfencia, que conduz a uma definitiva apuragao de resultados, isento que esta de componencias aleatorias.
Em termos simples diriamos que o resultado das opera^oes de um exerdcio seria apurado ao termino do exercicio seguintc, quando, excetuados os poucos seguros de prazo longo, nao haveria riscos nao cxpirados. Nesse sistema, o resultado das operaqoes decorreria do custo real dos sinistros e nao de um custo atuarialmentc adniitido.
Tal sisteni-t .'fm sendo adotado em algumas -.rartciras isoladas de ressenuro. O Consorcic de Resseguro de Cre dito e Garantia o adota. assim como alguns contratos de resseguro no Ex1,'rioi o estipulam. Repetimos, porem. que sua adoqao generalizada e apenas tcoricamente ideal. Praticamente apresenta cle uma seiie de dificuldades, ja que implicaria numa ampla '.eformula^ao contabil.
financcira e fiscal da atividade .seguradora.
As incompatibilidades ja apontadas para a redu^ao do exercicio financeiro. de anual para semestrai, acreszem asseguintes:
l'>) Pela lei dos grandes nu.mcrcs. a compensagao dos riscos se faz no cspa?o e no tempo: quanto maior o numero de seguros mais seria permitido prescindir da compensaqao no tempo. As carteiras dc seguros no Brasil, m?sluo das grandes seguradoras, ainda nao r.tingiram condiqoes de tal permissikilidade;
2") Ainda que assim fosse, faltaria compensa^ao, dentro do exercicio, dos dcsvios .sazonais de sinistralidade (nao mensurados mas sabidamente existentcs em ccrtos ramos de seguros e fortemente suspeitados em outros): sendo. portanto, plenamente vaiida a presungao de heterogcneidade dos exercicios semestrais.
Pelo que expusemo.s, pcnsamos t-er ficado evidente a inadequabilidade da redu^ao do exercicio, de anual para semestrai,
Tambem constitui equivoco pensar-se que as disposi^oes da Resolu^ao CNSP n'l 5-71, de relevante importancia, venham propiciar a rcducao do exercicio.
Essa Circular, embora detzrminando a consticui(;ao mensal e a comprovacao trimestral das reservas tecnicas, mantem intangivci o exercicio anual para as empresas de seguros.
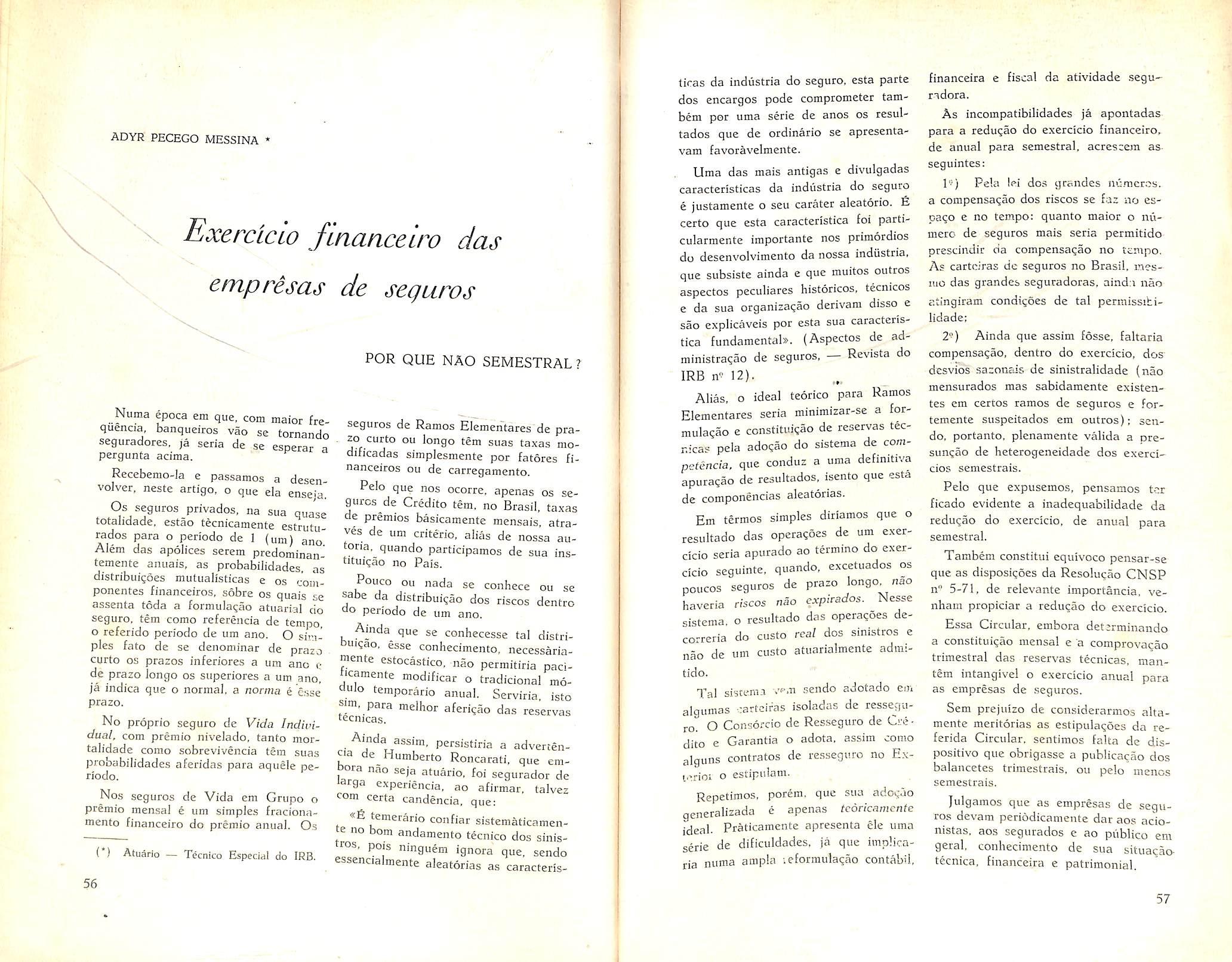
Sem prejuizo de conslderarmos altamente meritorias as estipuiaijoes da referida Circular, sentimos falta dc dis positive que obrigasse a publicacao dos balancetes trimestrais, ou pelo menos semestrais.
Julgamos que as empresas de segu ros devam periodicaraente dar aos acionistas, aos segurados e ao publico em geral, conhecimento de sua situacaotecnica, financeira e patrimonial.
Proposta de seguro -e a solicita^ao por escrito a empresa segufadora. paia cfetiva(;ao do seguro que alguem deseia reaJizar. Juridicamente manifesta a vontade de uma das partes.
E assim, ujn nto unilateral do proponente ao seguro, que nao gera. o contrato, apenas sen'e como documento de sua formacao.
Como nao pode haver seguro verbal a proposta e o documento base para a /ormacao do contrato de seguro; per ela e feita a emissao da respective ap6lice que expressa, entao, a um so tempo, a concordancia de ambas as partes. segurado e seguradora.

Pela legisiacac em vigor os seguros so poderao ser contratados mediante proposta assinada pelo segurado. seu representante legal ou corretor habilitado, da qual resultar.-i a respectiva apolice. consoante disposi(;ao do artigo 9'' do Decreto-lei 73/66.
Contudo, c permitida a contratacao de afguns seguros por simples emissao de Bilhete de Seguro, mediante solicitagao verbal do interessado, forma previsla no artigo 10" do citado escatuto lega_l. ,
Urge nao confundir seguro verbal. com salicitagao verbal.
A solicita^ao verbal para emissao do Bilhete de Seguro nao contraria o conceito de que nao ha seguros verbais. pois que, nao havendo proposta escrita,
ha, todavia. o contrato escrito represenlado legalmente pelo Bilhete de Se guro que se equipara a apolice.
A proposta faz parte integrante do contrato. mas e a apolice o seu instrumento comprovador. "
•Por isso. deve a proposta set preenchida com o maior criterio, ja que. no caso de litigio. a proposta, fontc de uados para emissao da apolice, servirj lambem como elemento provante das \ontades: a proposta e o documento pelo qual a seguradora pode contrariar intentos do segurado, e apolice, por sua vez, habilita ao segurado a provar contra a seguradora.
Em virtude deste valor da proposta, o Regulamento de Seguros determina que as propostas de seguros sejam devidamcnte colecionadas pela seguradora em ordem numerica. pelos ramos de seguros.
A aprovacao dos modelos das pro postas pelo orgao controlador das operacoes de seguro e exigencia contida no respective regulamento. Apos essa ormalidade as corapanhias scguradoras sac obrigadas a fornecer ao Institute cc Kesseguros do Brasil, os modelos oe suas propostas.
Na eventual falta de emissao da ap6Jice. a proposta caracteriza a existenve^r. se a seguradora hou-
~7 "i^ii'festado, por escrito, a apro- vagao; > ^
— feito o lanQamento usual da operagao, em seus livros, ou
—■ recebido o premio do seguro.
O Codigo Civil Brasileiro, artigo 1.080, refere-se a proposta em geral, c o Regulamento de Seguros, de mode especlfico.
O Codigo Comercial Brasileiro. ar tigo 666, refere-se a minuta como primeiro documento para forma^ao do contrato de seguro m'aritimo. e estabelece que nela sejam apostas as assinaturas das partes contratantes. Esla minuta equivalc a proposta. Entcnde-se por minuta a primeira reia^.ao de qualquer documento que, depois de revista, corrigida e aprovada e passada a limpo, como proposta a um negocio, e assim. documento liabil para formagao do contrato.
A proposito diz Arnaldp Pinheiro Torres, era «Ensaios sobre o Contrato dv» Seguros»: «A proposta de efetivaqao do seguro que contem todos os elemcntos que a lei reputa indispensaveis para a existencia desse contrato e auc. equiparada a apolice, fica nas raaos do segurador, da-se o norae de M:uuta>^.
Ha tratadistas que conceituam a pro posta como: declaracao do nsco, ma- nifcstacao da vontade e inamlestacao de conhecimento.
Para facilitar 'a transa?ao de colocacao de seguros, as companliias segu- radoras tern as propostas ja irapressas, era forma de questionario devidamcnte aprovado pelo orgao competentc, com esoagos cm branco. em seguida as pei- Quntas indispensaveis ao estudo do ns co a fim de que o proponenle os pre- encha com exatidao, validando as declaraqoes com a sua assinalura.
Nao e correto considerar-se a pro- nosta como simples pcdido de informacoes: os esclarccimentos prelimmares sobrc pessoas e coisas e outros ele mcntos do risco para estudo da coberlura solidtada. a par das condi?6cs ge- i-ais do contrato, nela exatadas. cre- denciam-Ihe como documento valido da declaracao de vontade, essencial e inleqrante do contrato de seguro.
'por isso, c exigido que a proposta exare as condigdes gerais e particula-
res da apolice, a coisa e a pessoa a ser segurada. a natureza do risco. a duracao do contrato, o valor do seguro, o ricdo de pagamento do premio, e ainda, ser assinada pelo proponente-segurado ou seu representante capaz.
Esta tambem ua exigencia da lei a informacao da existencia ou nao de outre ou outros seguros sobre o mesmo risco-pessoa ou coisa.
A proposta de seguros de pessoas vida ou acidentes pessoais, deve center mais: nome por extenso do segurado. sua idadc. profissao ou ocupacao; piano do seguro ou tipo da cobertura; designacao de beneficiario e alguns informes pessoais.
Em alguns seguros. geralmente nos de vida, acompanha a proposta um questionario apropriado ao seguro, para esclare'cimentos mais particulares ao ri.sco.
fi obrigatorio. tambem, no formulario — proposta de seguro de vida a inserqao das vantagens garantidas pela sociedade e os cases de decadencia e eliminacao ou redugao dos direitos do segurado ou beneficiarios instituidos. e ainda, da ciausula de cancelamento do contrato, independente de notificacao. interprctaqao ou protesto, no caso de nao ser page o premio no prazo devido.
No seguro de Vida em Grupo, o segurado manifesta sua adesao por nieio do cartao-proposta individual, que pode deixar de ser assinado pelo se gurado quando se tfatar de seguro contralado por associaqoes de classe. de beneficencia e montepios.
Com referencia ao seguro maritinio, a proposta pode criar o vinculo obrigacional, bastando que nela constem as assinatiiras do segurado e da segura dora
Para validade da qualidadc juridica da proposta, as informaqoes nela prestadas pelo proponentc. segurado ou re presentante legal, devem ser completas, veridicas, exatas e prcci.sas, e nao haver no documento rasura ou emenda.
O Codigo Civil Brasileiro, no artigo 1-444, estabelecc que o segurado per- dera direito ao valor do seguro e pagara o premio vencido, se fizer declaraqoes falsas ou incompletas e omitir
circunstancias que possam influir na aceita^ao da proposta.
A aceitagao da proposta, pode ser cxpiessa ou tacita.
E expressa se efetuada por qualquer meio de comunica^ao; e tacita. pela simples emissao da apolice ou pelo recebimento do premio sem ressalva no recibo, do carater provisorio.
Devendo a apolice ser emitida nos mesmos termos da proposta. qualquer \^acrescimo, restri^ao ou modificaqao que faqa a seguradgra, representa unia contra-proposta. e, como tal, deve ser submetida ao proponente.
A emissao da apolice em discordancia com a respectiva proposta sujeita a sociedade seguradora a penalidade prevista no item 10 do artigo 163 do Decreto-Iei 2.063/40.
A responsabilidade do corretor devidamente habilitado e relativa, pois, sua assinatura na proposta ou bilhete de seguro, como intermediario do seguro, so implica em obriga^ao para o segurado quando deste possuir mandato expresso. De qualquer forma, no caso de apolice emitida de acordo com a proposta e recusada pelo segurado. re.sponde o corretor pelas despesas da emissao.
Tern, contudo. o corretor responsa bilidade moral e profissional na solicita^ao do seguro, cuniprindo-Ihe orienCar o proponente no preenchimcnlo da proposta e na escolha da cobertura que mai.s Ihe convent, cientificando-o do valor dos elementos nela constantes.
Linquanto nao accita, a proposta nao da nenhuma responsabilidade a socie dade seguradora, embora formulada em impresso por ela fornecido. Ocorre o contrario com o segurado, que se compromete com as declaragoes da proposta, e obriga-se, segundo os ter mos do artigo l.OoO do Codigo Civil, ao curaprimento de sua .solicitacao, se aceito o risco pela seguradora, sob qu.aisquer das formas legais.
Pelas dec]ara(;6es constantes da pro posta e que a seguradora julga o ri.sco a ser coberto e. conseqiienteniente, nelas se baseia para recusa-lo on accitd-lo coin ou sem restrlgoes, dando o
dcvido conhecimento ao segurado ou emitindo, de pronto, a apolice.
O Regulamento de Seguros fixa como condigao gera! a emissao da apo lice ate 15 dias depois da aceitagao da proposta.
Para o seguro de vida, de acordo com o artigo 108 paragrafo tinico, do Decreto-lei 2.063/40. a emissao da apolice deve ser realizada noventa (90) dias, no maximo, apos a apresentagao da proposta.
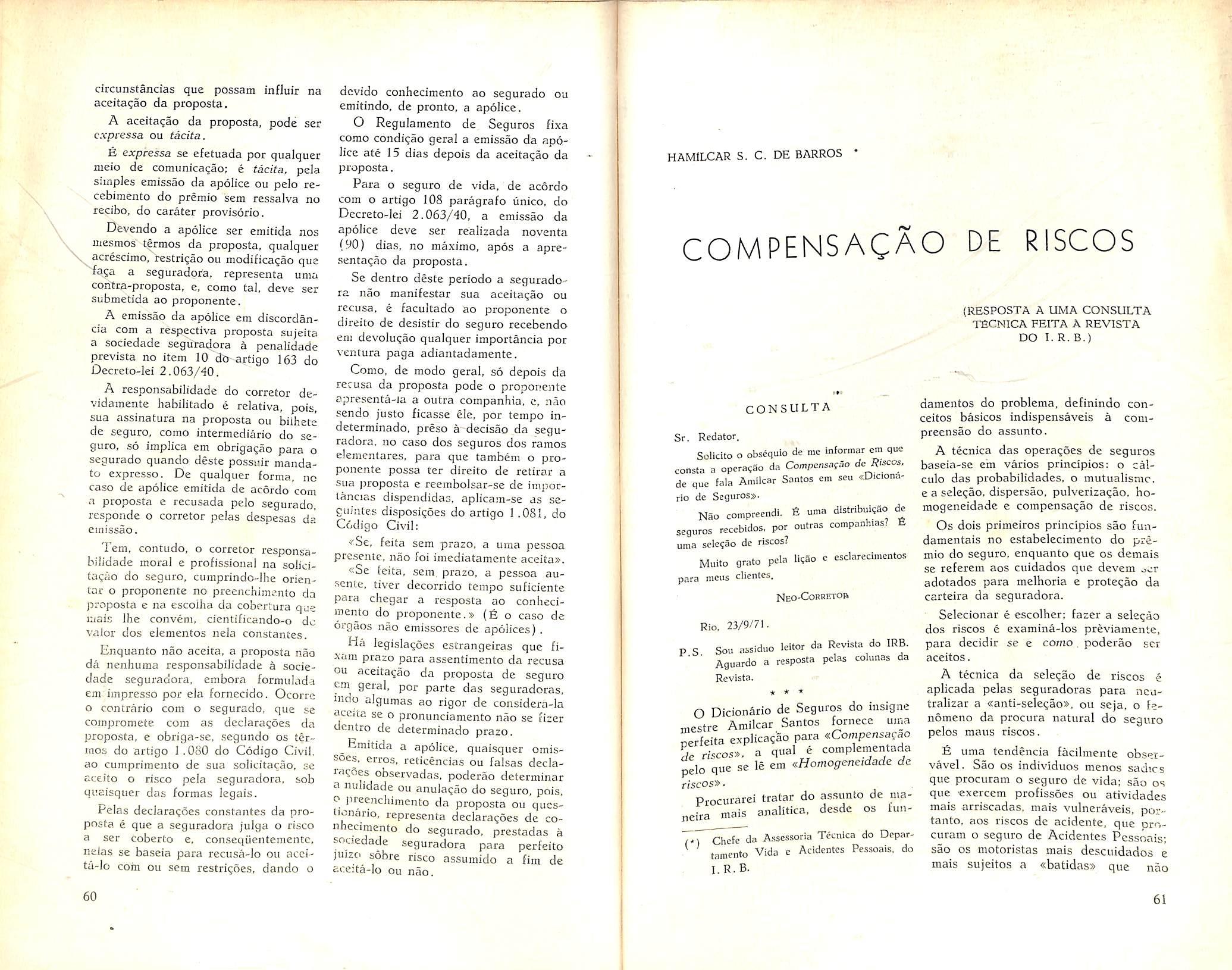
Se dentro deste periodo a segurado ra nao manifestar sua aceitagao ou recusa. e facultado ao proponente o direito de desistir do seguro recebendo em devolugao qualquer importancia por Ventura paga adiantadaniente.
Como, de modo geral, s6 depois da rerusa da proposta pode o proponente apresenta-ia a outra companhia, c, nao sendo justo ficasse ele. por tempo indeterminado, preso a-decisao da segu radora, no caso dos seguros dos ramcs elemrnlares. para que tambem o pro ponente possa ter direito de retirar a sua proposta e reembolsar-se de importancias dispendidas, aplicam-se as seguintes disposigoes do artigo 1.081, do Codigo Civil:
«'Se, feita sem prazo, a uma pessoa prcsente, nao foi imediatamente aceita».
«Se leita, sem, prazo, a pessoa auscnte, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a respo.sta ao conheci mento do proponente.» (E o caso de orgaos nao emissores de apoiices).
Ha legislagoes estrangeiras que fixam prazo para assentimento da recusa ou aceitagao da proposta de seguro em geral, por parte das seguradoras, indo algumas ao rigor de considera-la aceua se o pronunciamento nao se fizer dentro de determinado prazo.
^ Emitida a apolice, quaisquer omissoes, erros, rcticencias ou falsas declaragoes observadas, poderao determinar a nuhdade ou anulagao do seguro, pois, o prcenchimento da proposta ou qucslionario, representa dcclaragoes de co nhecimento do segurado, prestadas a socsedade seguradora para perfeito imzo sobre risco assumido a fim de aceita-lo ou nao.
Sr. Redator.
Solicito o obsSquio de me informar em que consta a opcragao da Compemafuo deR'scos. de que fala A.nilcar Santos em seu ^Dicionario de Seguros».
Nao compreendi, fi uma distribuigao de seguro.s recebidos, por outras companWas? £ uma selegao de riscos?
Muito grato pela ligao e esdarecimentos para mcus clientes.
Neo-Cobretob
Rio, 23/9/71.
p s Sou assiduo leitor da Revista do IRB. Aguardo a resposta pelas colunas da Revista. « * *
o Dicionario de Seguros do insigne mestre Amilcar Santos fornece uma perfeita explicagao para «Compensacao 5e riscos.. a qual e complementada %\o que se le em «Homogencidade de riscos^ ■
Procurarci tratar do assunto de inaneira mais analitica. desde os fuit-
T7) Chcfe da Assessoria Tecnica do Departamento Vida e Acidentes Pessoais, do
I. R. B.damentos do problema, definindo conceitos basicos indispensaveis a conipreensao do assunto.
A tecnica das operagoes de seguros baseia-se era varies principios: o calculo das probabilidades, o mutualismc. e a selegao, dispersao, pulverizagao. homogcneidade e coinpensagao de riscos.
Os dois primeiros principios sac fun damentals no estabelecimento do pre mio do seguro, enquanto que os demais se refercm aos cuidados que devcm ocr adotados para melhoria e protegao da carteira da seguradora.
Selecionar e escolher; fazer a selegao dos riscos e examina-los previamente, para decidir se e como, poderao ser aceitos.
A tecnica da selegao de riscos e aplicada pelas seguradoras para ncutralizar a «anti-selegao», ou seja, o fenomeno da procura natural do seguro pclos mans riscos.
uma tendencia facilmente obsetvavel. Sao os individuos menos sadics que procuram o seguro de vida; sao os que exercem profissoes ou atividades mais arriscadas, mais vulneraveis. portanto. aos riscos de acidente, que pro curam o seguro de Acidentes Pessoais; sao OS motoristas mais descuidados e mais sujeitos a «batidas» que nao
dispensam o seguro Automóvel; quando os roubos se acentuam, hámais µrocura do seguro contra Roubos.
A dispersão dos riscos consiste em evitar a sua aglomeração, ou seja, impedir que êles fiquem expostos ao si-nistro, pelo mesmo evento danoso.
Observa-se que êsse objetivo é mais fàcilmente conseguido nos seguros de bens, principalmente quando se trata de· bens imóveis. Nos casos de bens móveis e nos casos de seguros de pes-soas é mais difícil conseguir essa di�persão, por motivos fàcilmente compreensíveis. Como impedir, por exemplo, que viajem, entre os passageiros do mesmo avião, 50 pessoas seguradas com capitais vultosos em Acident�s Pessoais? ---......_
Enquanto a dispersá:> consiste crr.. separar os riscos, a pulverização � a divisão das responsabilidades relativas aos mesmos, por diversas pessoas jurídicas. seguradoras ou resseguradora'>.
A pulverização é. portanto,. o pri·1cípio técnico da distribuição das re�ponsabilidades decorrentes dos negécios segurados
Duas circunstâncias aconselham essa pulverização:
a) a eventualidade de os prêmics recebidos serem insuficientes, em face dos sinistros resultantes dos «desvios estatísticos; e
b) o fato de que. não sendo -;s riscos assumidos pelo mesmo valor fínanceiro, a incidência de sinistros ,1os riscos de maiores responsabilidades financeiras. mesmo sem qualquer desvi..:> da probabilidade
119 de sinistros n9deriscosem carteira poderia conduzir o segurador à insolvência.
É necessário, portanto, que cada segurador, além de procurar ter. em carteira. a maior massa de seguros. ;:>rocure reduzir sua responsabilidade em cada negócio.
Embora, na arrecadação de prêm10s, a receita seja a mesma para a segurâ62
dora, é preferível, em têrmos de estabilidade de carteira. segurar l.000 riscos de Cr$ 1O.000,00 cada um, d,-, que 1O riscos de Cr$ 1.000.000.00. É claro que, doponto de vista do C"lr• retor, nem sempre coincidente com o daseguradora. uma carteira constitu1da d('. menor número de riscos, com o mesmo volume de prêmios. é preferível.
A pulverização, ou seja, a distnbuição de responsnbilidades, é realizada de duas maneiras básicas: pelo cossegurr: ( entre diversas seguradoras) e pelo resseguro (entre uma ou diversas r,cguradoras e o ressegurador).
A homogeneidade dos riscosé obtiJa em três fases:
classificação dos riscos segund� o objeto. a natureza. o vabr. etc ...
agrupação dos riscos em cate30rias homogêneas -
Aplicação de condições e taxação adequadas a cada classe ou �ategoria
O ideal para uma seguradora ser•,1 ter, em carteira. seguros de baixa e média sinistralidade e. até certo ponto, riscos de sinistralidade mais elevada, desde que, em qualquer dos casos, ela tenha uma experiência de sinistrali dade dos diversos riscos, que lhe per mita taxá-los adequadamente: é necessário, portanto. que os riscos sejam quantitativamente mensuráveis.
É claro que, taxados adequadam�,: te. poderíamos aceitar. no seguro Je Vida, a prêmio único, até mesmo os doentes graves de um Hospital de �ancerosos; no entanto, o negócio seria 1rreal1zavel, porque, tendo em vista ':l alta probabilidade de morte e a neces si�ade de aplicar uma sobrecarga ao premio puro, para cobrir as desp.::sa:; de aquisição, cobrança e adminis,r.a ç�o. o prêmio comercial será, pcs-· s1velmente, igual ou superior ao cai-)itril segurado.
Se fõssem segurados apenas os riscos e� r�lação aos quais já se possui expenenc1a de sinistralidade, os riscos
novos, que aparecem. freqüentemente, na conjuntura evolutiva do n:1undo moderno, não poderiam ser aceitos. Por outro lado. se existe uma pe�soa, coisa, bem, responsabilidade, �1reito, garantia ou obrigação queprec•s� ser segurado, o risco sômente . devera ser recusado se não fõr poss1vel e�tabelecer condições de cobertura e tan-
f - d adas· em outras palavras, acao a equ , . só·devem ser recusados os·nscos co�-
provadamente classificados como «nao seguráveis».
Não será prudente que um� segu• radora se dedique apenas aos �iscos �e alta sinistralidade e/ou aos nscos h e f · t con e sinistralidade imper eitamen e cida.
. t to que seja reaÉ necessano por an · ' - de riscos isto lizada uma compcnsaçao . ., sos
• 1· n dos riscos mais pengo , e, que, a et .· ·afo pH:cedente, a citados no paiagr b'm uma boa d Possua tam e segura ora . fciente de simassa de riscos cuJO coe t
nistro/prêmio ( relação percentual entremontante de sinistros ·e arrecadaçao deprêmios, permaneça e� níveis r�zoáveis. que ela possa, facilmente, estimar.
É imprescindível, além disso. que, embora possuindo uma carteira deriscos heterogêneos, no seu conjunto, a seguradora os agrupe em classes, tanto quanto possível, homogêneas. sob 0 aspecto das condições de cobertura e de taxação.
Conforme disse o mestre Amílcar Santos: «Agrupados os riscos de acõrdo com o objetivo, o valor. a natureza e a duração. é conseguido um perfeito cquilíbrio . do� mesmos. por sua melhor d1stribu1çao, tornando, assim. menu:, suscetível a ocorrência do sinistro.»
É êsse equilíbrio dos riscos e essa menor suscetibilidade ou vulnerabilidade da seguradora à ocorrência dos sinistros que definem uma perfeita compensação de riscos.
NA FRANÇA E INGLATERRA
rescido muíto o seguro de vida na Tem c 1 1969 registrou um d ante O ano ee França: ur _ d 15401 no que diz; resde cerca e • 'º d aumento d prêmios arrecada os t ao volume e pelO cm 1968 . ·d • ,. táassimdistribui a: cerca Esta cxpansao es . 2 701 s clássicos de v,da: 1 , ,o de !3,6o/o nos :zp�l;:�es de vida, e 21.5% nos nos seguros P seguros de grupos. dos Ê de se ressaltar que a prop�rçilo comrelação àcartcir.:ipassou urosde grupos I seg ,, !968 para 32,So/4 cm 1969. sto d 31 2'}o em e ' premios arrecadados correspon- põe que os d su de grupos são aprox11na adentes a seguros . . • • •5 dos seguros class1cos. que vem mente ,gua1s a 1 ·rcade 35, 4i0/0 da carteira tota. a representar ce
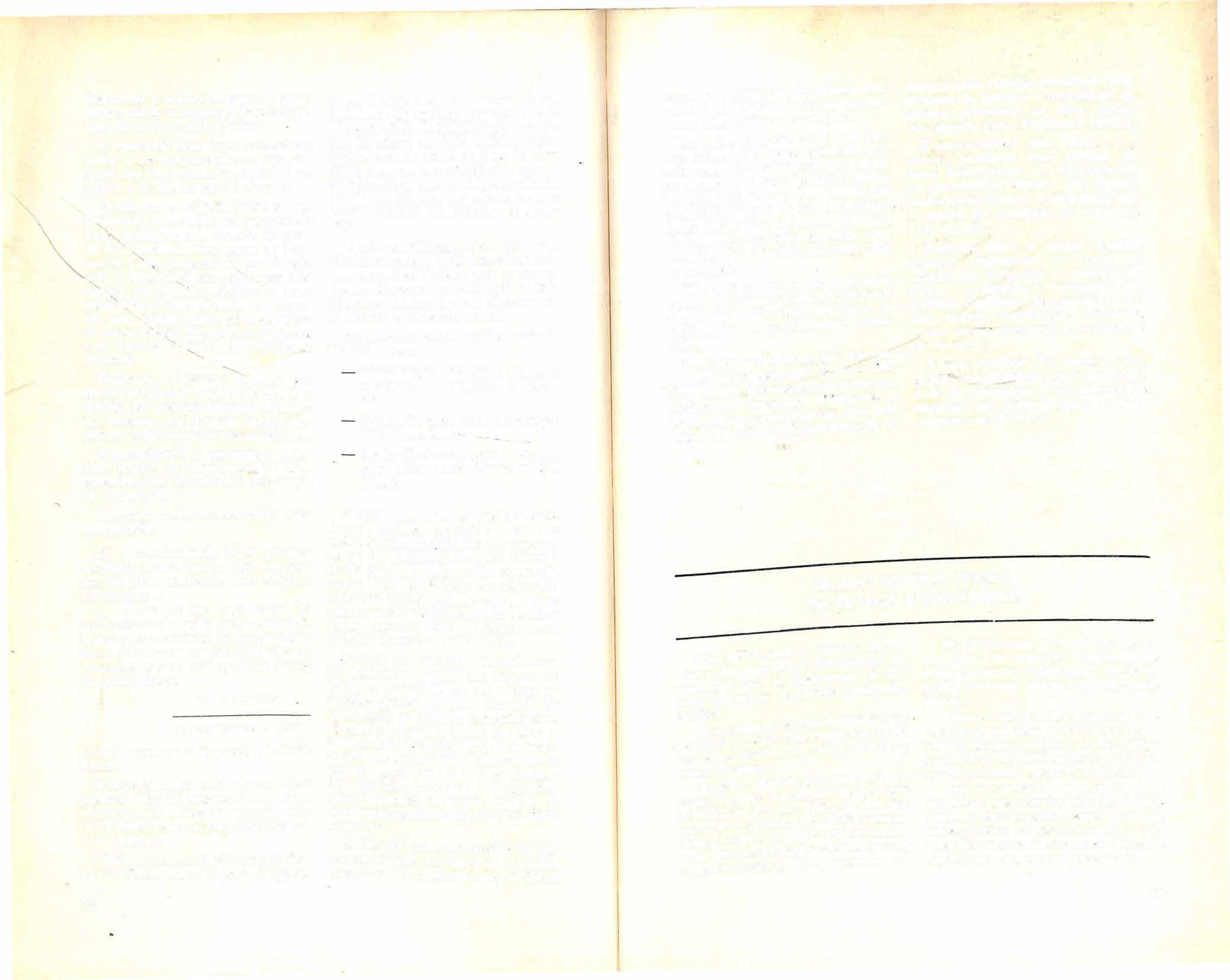
Na Grã-Bret;:inha, as modalidadt.:s de seguros associadas com ações cxp�rimentaram grande crescimento ao passo que a venda de apólices tradicionais aumentou em ritmo muito, inferior.
Durante o ano de 1969 os seguros de vida relacionados com ações ascenderam a 23% do, conjunto de novos negócios subscritos durante o exercício. Para 1970, estima-se que a proporção será muito superior à assinalada
Um dado curioso é o foto de- que as novas. modalidades que pretendem evitar a inflação monetária sôbre o capital segurado parecem interessar menos �,s pessoas com idudcs compreendidas entre os trinta e quarenta anos queàquelas que têm mais ou menos idade.
Cotejando a opiniao de varies 'ralad.stas vamos colher. resuraidamente
A. Manes diz que: «E] seguro fomenta poderosamenfe •eJ espiritu de familia y Ja vida familiar que en America es de mayor atencion .que en muchos paises europeus La familia sigue .siendo la base de toda Ja organjzacion economica y nj itica moderna, y cuando contribuva a lecantarla y fotificarJa, favorece indiretamente a la sociedad, El seguro no solo ofrece hs recucsos para sanear eJ patrimonio y Ics ingresos de una persona, sino que ayuda tambiem al progresso de la fa•milia aim en su aspect© espiritual, prociirando a sus miembros los medios para empreender estudios y acometer otras actividades» (9)
P. Leroy Beaulieu diz que o segu ro «es una recompensacion general de OS siniestros entre personas, las que a tal efecto constituyen un grupa en for ma proporcional a las partes conseritidas con anterioridad para cada uno; las consecuencias de cada ano se dis-
Advogado.
(ConttnuafSo)
tribuyen sobre la totaJidad de los mi embros, en la mencionada medida en Jugar de concentrar-se sobre el solo miembro afectado materialmente; cada uno sufre el dano en cierta proporcion y.ninguno es aplastado por el». (10)
Evidentemente nao se refere o autor ao seguro mutuo conhecido por nos taz referenda, isso sim, ao efeito de dispersao do prejuizo entre as pessoas que contratam seguros com a empresa.
Portanto, indiretamente sao os ajquirentes de apolices os portadores ce uma parcela do prejuizo alheio,
E. de forma imediata. aparece a emPresa seguradora. que constitui-se numa pessoa jurldica que dirigc e orienta os sens ncgocios no sentido ds> captando recursos da massa dos sequ- rados, aplicar entre aqueles que sofr»m prejuizos.
Los seguros privados y los seguros sodales no solamente satisfacen una necesidad individual, sino y mas bien una necesidad coletiva. puesto que interesa a toda la colectividad que los individuos que la componen esten a cubicrto de las consecuencias de los riesgos que gravitam sobre sus actividades y sus vidas.
El fenomeno del seguro es un problema social. La conciencia social, en esta cuestion, esti en contimia evolucion: evolucion que, sin duda alguna, influye sobre la voluntad del Estado, la cual se manifesta en la transformacion del ordenamiento juridico.
En la evolucion del Estado moderno la satisfacion de una necesidad cole tiva, necesaria para cubrir los riesgos economicos a que etan expuestos los trabajadores y otros comportfentes del niicleo social, deve ser impuesta por un procedimiento especial. Ese procedimiento especial no es otro que el del servicio publico».
E mais adiante conclui Muratti;
«En consecuencia. la nocion del se guro debe ser dirigida. en estos mnmentos. por un verdadeiro sciitido econoraico social y no solamente economico privados (12)
Ccwno ja referimos, a importancia do seguro social e refletida pela preocupagao do Governo do nosso pais em avocar para si, sob a forma do monopolio da Previdencia Social, os seguros de Acidentes do Trabalho (atraves da Lei n' 5,316 — de 14/9/67).
glo que dispensam ao problema da aquisigao de apolices de seguro que possibilitem a cobertura de danos prcvisiveis que possam afetar negativamente o patrimonio. com o comprometimento do bem-estar economico da entidade que lideram.
M. M. de Serpa Lopes (13) diz que «A fungao do institute do segu ro, 0 seu papel na vida economica e juridica de uma sociedade. pode ser apreciado em relagao a prbpria ideia de segvranga, como um elemento de constituigao dc capitais, como uiji tncio de credito, e finalmente no seu aspecto internacional.
No que diz respeito ao elemento seguranga o seguro revestc-se de um aspecto moral: a previdencia. um mei'o pelo qua! o individuo ou as empresas se protegem contra os riscos que impendem sobre a vida das pessoas como sobre o objeto dos seus negocios.»
E, mais adiante. afirma que «Tal se guranga concedida aos individuos r> forga a economia nacioiial. Per meio do seguro, consegue-se uma efetiva conservagao das forgas produtivas, tra balho e capital, pela possibilidade de uma restauragac. facil do desequilibrio produzido por um prejuizo imprevisto,
A segunda fungao do seguro e permitir a formagao de capitals por meio da acumuiagao dos premios pages pelos segurados.
"f. ^"^^"^gadura y esta coDrevisi-'^°'^ vanguardia de la V ■rT° fuertes y mas solido« fundamientoss. (II)
Natalio Muratti acrescenta que:
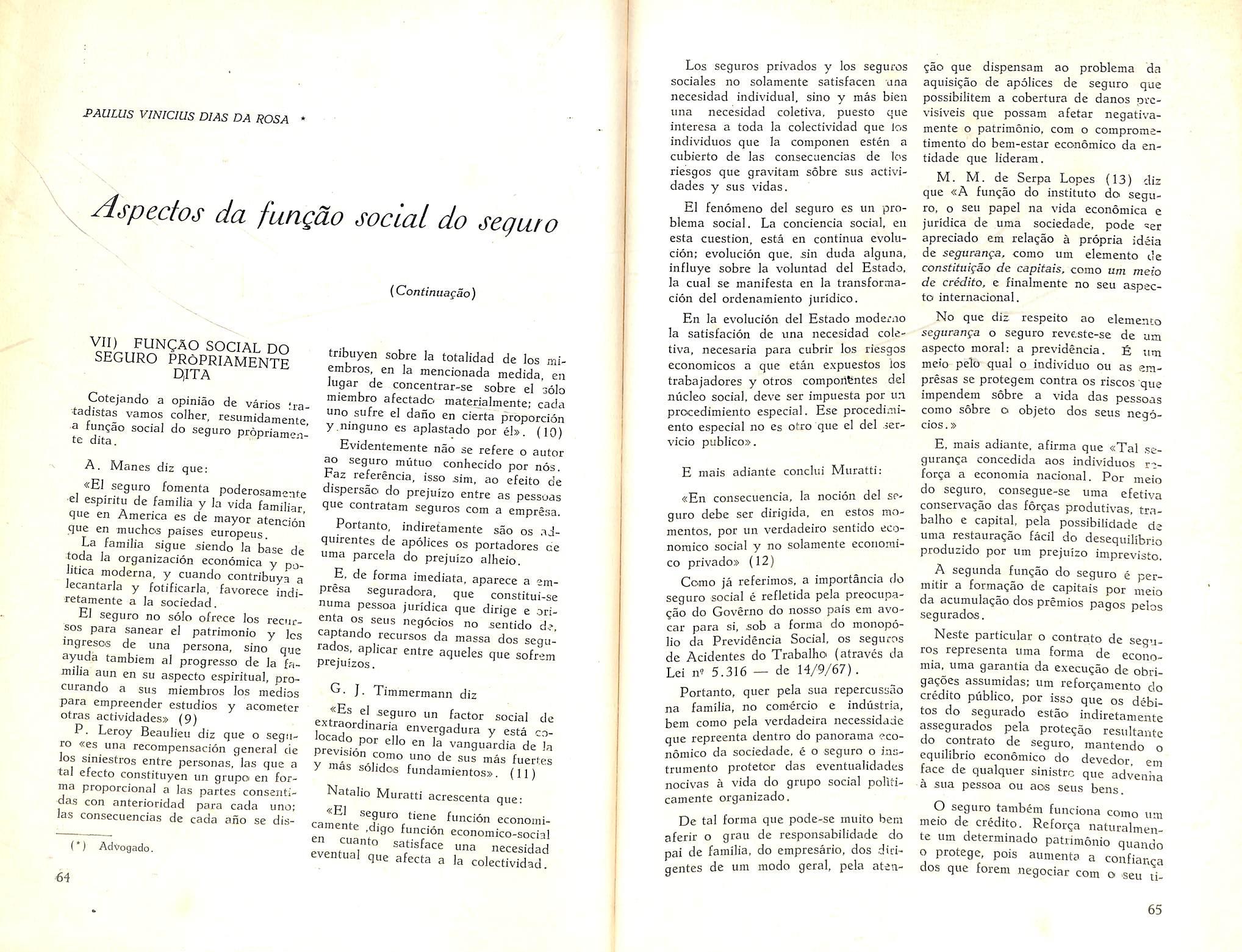
economien cuanV ° economico-social eventual necesidad eventual que afecta a la colectividad.
Portanto, quer peia sua repercussao na familia, no comercio e indiistria, bem como peia verdadeira neccssidade que repreenta dentro do panorama economico da sociedade, e o seguro o inctrumento protetor das eventualidades nocivas a vida do grupo social politicamente organizado.
De tal forma que pode-se inuito beni aferir o grau de responsabilidade do pai de familia, do empresario, dos dirigentes de urn modo geral, peia aten-
Neste particular o contrato de segu ros representa uma forma de econo mia, uma garantia da execugao de obrigagoes assumidas: um reforgamento do credito piiblico, por isso que os debitos do segurado estao indiretamente assegurados pela protegao resultante do contrato de seguro, mantendo o equihbno economico do devcdor em face de qualquer sinistrc que advenha a sua pessoa ou aos seus bens.
O seguro tambem funciona como u.ti meio de credito. Reforga naturalmente um determinado patrimonio quando o protege, pois aumenta a confianga dos que forem negociar com o seu ti
\^Aspecfos da fungao social do sequro
tular, facilitando o desenvolvimento dos negocios com os futures credores.
Finalmente. o seguro de vida constitui por ai mesmo urn instrumento de credito, pela possibilidadc de um segurado contrair emprestimos com base do seu proprio seguro de vida e tendo em vista o capita] ja realizado,
P segurado pode dispor na proporqao do valor ja atingido, obter adiantamentos, quer do proprio seguradcr \ quer mesmo de um terceiro, caucionando a sua apolice de seguros.
Para concluir — prossegue o ilustre raestre o seguro tern um aspecto internacional. Cobrindo inumeros riscos, a estabilidade das empresas seguradoras e tanto maior quanto os riscos assumidos sao partilhados por outras empresas, fora do territorio onde op^ram.
£sse aspeto internacional apresentase dedois modos: quer quando uma sociedade de seguros torna-se co-responsavel por seguros feitos em outro pais, quer quando precede de um modo inverse.
S portanto o resseguro um dos fatores mais poderosos do desenvolvi mento internacional do contrato de se guro.»
{Curso de Dircito Civil — M.M. de Serpa Lopes — vol. 4 — pg. 353^/ 4)
Nestas condi^ocs, os cfeitos do con trato de seguro sao muJtipIos e repercutem na sociedade das formas mais diversas: substitui o risco, previne-o. atua como elemento psicologico na forma^ao de negocios juridicos, no descrnpenho de atividades, estabiliza a economia, incrementa a forma^ao de capitais, au.xiJia o fortalecimento da fainilia e da sociedade.
Mas, como foi acentuado. 0 valor social do seguro pode ser ainda mais dilatado com a renova^ao de criterios suscetiveis de remodelayao em beneficio da propria sociedade.
Talvez, possa ate substituir metodos antiquados de prevengao a criminalida-
de, que tern se mostrado ineficazes em face da alarmante tendencia para o delito verificado em nossos dias, Tudo, certamente, dependera do proprio tempo que encarregar-sc-a de mostrac o caminho a ser seguido, para maior sucesso da ciencia penal, Todavia, 0 estimulo representado pelo lucre nao pode ser desprerado pelo legisiador, no desenvolvimento de novos criterios para solucao dos graves problemas da prevengao ao crime e a conduta imoral.
(1) fi possivel a realiza^ao do contrato de seguro com a reparti;ao do prepizo entre os proprios contratantes — segu ro mujuo.
(2) Grande Encyclop^die^ verb. Assurance, —■ Histoire.
(3) Droit prive de Ja Republique althctenienne, IV, p. 274/5.
(4) Direito das Obriga^ocs — CIdvis Bevilaqua — pg. 378,
(5) Bekerman. L- ], — Seguro Social Rev. de Ja Facultad de Qencias Economicas — pg. 913 — Buenos Aires — setembro/30.
(6) Francis T. Allen — Princip.os do Se guro — pg. 10,
(7) Francs T. Allen, Principios Generales de Seguros — pg. 13.
(8) Natalio Muratti — Elementos Economicos, Tecnicos y Juridicos del Seguro pg. 17.
(9) A. Manes — Teoria Pratica do Segu ro — Buenos Aires — 1934.
nci) P. Leroy Beaulieu — Tratado de Econoinia Politica — Turismo, 1888,
(11) Timmermann — La Intcrvencidn del Estado en los seguros — Rev. de la Faciiltad de Qencias Economicas de Rosario 19^0
(12) Muratti — op, cit. pg. 13.
(15) M. M. Serpa Lopes — vol 4 P9S, 363/4.
TRIBUNAL DE JUSTigA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGURO OBRIGATdmiO DE RESPONSABILIDAD^' CIVIL-VEICULOS
APELACAO CIVEL N' 32.182. DA COMARCA DE JLIIZ DE FORA
Relatores: Desembs. Jose de Cas tro (apela^ao) e Mello Junior {embargos).
— Seguro Obrigatorio — Veiculo
— Acidente — Responsabiiidade Civil
~ Dec.-lei n" 73. de 21-11-66 — Interpretagao — Voto Vencido.
— O Decreto-lei n" 73, de 21-11-66, nao consagrou a «teoria do risco» como fundamento da responsabiiidade civil nela prevista.

— E ainda que o tivesse consagrado, isto e, admitindo-sc a presungao da culpa. imprescindivel se torna a demonstragao do dano efetivamentc sofrido por quern se apresenta para receber o valor do seguro obrigatorio, pois. a fun^ao social deste e a de cobrir o risco da possivel insolvencia do causador direto do dano, ou de seu responsavel indireto, que e o causador do acidente.
V. vencido: — Nas agbes propostas pela vitima contra a seguradora nos casos de seguro obrigatorio pouco importa a licitude ou ilicitude do ato, neni se houve ou nao culpa do autor
do dano, porque. cm verdade. o que cumpre avcriguar como causa da obrigagao de indenizar c, alem da vigencia do contrato com a apolice quitada, a existencia do dano. (Des. Jose de Cas tro). •
_
Ao relatorio da sentenqa, que e fiel, acrescento que a a^ao foi julgada pro- cedente, com a condenagao da companhia de Seguros Maritimos e Terrestres Lloyde Sul Americano a pagar. ao autor, a quantia de CrS 6.000,00, ficando. ainda, responsavel pelo pagamento das custas processuais e honorarios de advogado, na base de 20% sobre o valor dado a causa.
Inconformada, apelou a re. tempes- tivamente, alegando, em resume, o seguinte:
a) que a a^ao nao podia ser diriqi- da contra ela, apelante, a qual. no maximo, devia figurar na lide como a<=sistente, equiparada ao litisconsorte uma vez que o contrato de seguro estabelece re]ac;ao juridica apenas entre o segurado e a seguradora;
b) que o que compete a seguradora e reembo^sar o segurado a quantia da condena?c=io, ate o limite estabelecido na apolice:
c) que o seguro de que tratam os aiito-s e de responsabiiidade civil baseada na culpa, uma vez que o Dccre to-lei n" 73, de 21-11-66. nao adniitiu a teona do risco, ou da culpa objetiva;
d) que, conforme demonstrado no inquerito policial, que, entao, se instaurou, o segurado nenhuma culpa teve no lamentavel desastre em que perdeu a vida o infortunado filho do autor;
e) que foi excessiva a verba de 20% a titulo de honorarios de advogado, etc.
Contra-arrazoada a apelagao, subiram ,os autos, e, aqui foi o recurso regularmente preparado.
£ 0 relatorio.
A douta revisao do eminente Senhor Des. Horta Pereira.
Belo Horizonte, 31-12-69. — Jacomino Inacarato. * * AC6RDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apclagao n'-' 32.182, da Comarca de Juiz de Fora, apelante Cia. de Seguros Maritimos e Terresttres Lloyde Sul Americano e apelado Jose
Alves do Nascimento, acorda, em Turma, a Primeira Camara Civel do Tri bunal de Justiqa do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatorio de fls.. negar provimento ao apelo, pelos fundamentos constantes das inclusas notas taquigraficas. devidamente autenticadas, que ficam intcgradas nesta decisao, vencido o Exmo. Sr. Desembargador Horta Pereira, revisor.
Custas na forma da lei.
Belo Horizonte, 20 de abril de 1970.
■— Helio Cosfa, Prcsidente. — /acomino Inacarato, Relator. — Horta Pe reira. Revisor, vcncido. — Jose de Cas tro.
O Sr. Des. Jacomino Inacarato •—
Voto: — «A presente aqao foi dirigida, inicialmente, contra o autor do dano, nao contra a seguradora. A intervengao desta na lide se deveu a pedido daquele, e, entao, contra a seguradora, que contestou a aqao, passou a correr a aqao.
Preliminarmente. se a seguradora devia figurar como mera assistente, nao como litisconsorte necessario, passive, o assunto e materia superada, uma vez que o saneador de fls., que dcclarou Icgitimas as partes, se tornou precluso.
Todavia, devo esciarecer que, conforme reiterados pronunciamentos meus nesta Casa, em se tratando de seguros facultativos, a convocaqao da segura dora, na agao movida pela vitima con tra o segurado para integrar a lide como litisconsorte coacto, e tarefa perfeitamente dispensavel, uma vez que a seguradora nao intcressa substancialmente a verificacjao da responsabilidade civil do segurado.
Consoante liqao de Aguiar Dias, «nao ha solidariedade entre o autor do dano e o segurador da responsabilidade civil. O primeiro e responsavel em virtude do ato danoso: o segurador se liga a um contrato e so responde nos limites desse contrato» (Da Responsabilidade Civil, vol. II, pag. 871)
Alias, que entre o responsavel pelo dano e a seguradora nao existe soli dariedade, ha perfeito entendimento entre os doutrinadores, como assinala Mario Moacyr Porto, em «Revista dos Tribunais», vol. 359, p, 28.
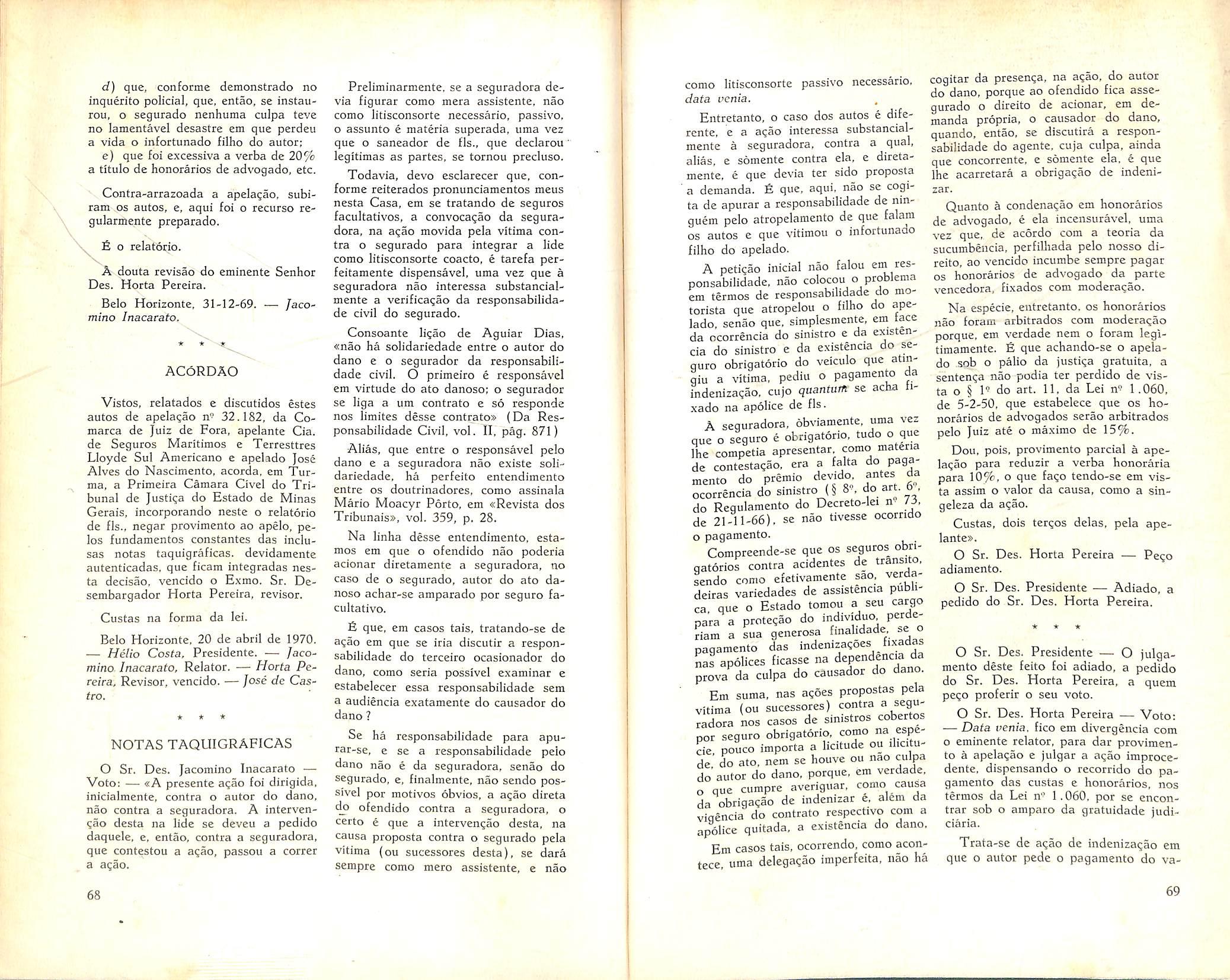
Na linha desse entendimento, estamos em que o ofendido nao poderia acionar diretamcnte a seguradora, no caso de o segurado, autor do ato da noso achar-se amparado por seguro fa cultative.
fi que, em casos tais, tratando-se de a;ao em que se iria discutir a responsabilidade do terceiro ocasionador do dano, como seria possivel examinar e estabelecer essa responsabilidade sem a audiencia exatamente do causador do dano ?
Se ha responsabilidade para apurar-se, e se a responsabilidade pelo dano nao e da seguradora, senao do segurado, e, finalmente, nao sendo pos sivel por raotivos obvios, a a^ao direta do ofendido contra a seguradora, o certo e que a interven^ao desta, na causa proposta contra o segurado pela vitima (ou sucessores desta), se dara sempre como mero assistente, e nao
como litisconsorte passive necessario. data vcnia.
Entretanto, o caso dos autos e difercnte, c a aqao intcressa substancialmente a seguradora, contra a qua!, alias, e sdmente contra ela, e diretamente, e que devia ter sido proposta a demanda. E que, aqui, nao se cogita de apurar a responsabilidade de ninguem pelo atropelamento de que falam OS autos e que vitimou o infortunado filho do apelado.
A petiqao inicial nao falou em res ponsabilidade, nao colocou o problema em termos de responsabilidade do motorista que atropelou o filho do ape lado, senao que, simplesmente, em lace da ocorrencia do sinistro e da existencia do sinistro e da existencia do sequro obrigatorio do veiculo que atinqiu a vitima, pediu o pagamento da indenizaqao, cujo quantum se acha lixado na apolice de fls.
A seguradora, obviamente, uma vez que o seguro e obrigatorio, tudo o que Ihe competia apresentar como materia de contestaqao, era a falta ao mento do premio devido. antes da ocorrencia do sinistro (§ 8^ do art. 6 do Regulamento do Decreto-lei n 73, de 21-11-66), se nao tivesse ocorndo o pagamento.
Compreende-se que os seguros obriqatorios contra acidentes de transjo, sendo como efetivamente sao, verdadeiras variedades de assistencia pubhca que o Estado tomou a seu cargo para a protegao do 'nlividuo pcrderiam a sua generosa ° pagamento das indenizaqoes fixadas las apolices ficasse na dependence da prova da culpa do causador do dano.
Em suma, nas agoes propostas pela vitima (ou sucessores) contra a segu radora nos casos de sinistros cobertos por seguro obrigatorio, como na espe- S pouco importa a licitude ou ilic.tude do ato, nem se houve ou nao culpa do'autor do dano, porque, em verdade, o que cumpre averiguar, como causa da obriqagao de indenizar e, alem da viqencia do contrato respective com a apolice quitada. a existencia do dano.
Em casos tais, ocorrendo, como acontecc. uma delegagao imperfeita, nao ha
cogitar da presenga, na agao. do autor do dano, porque ao ofendido fica assegurado o direito de acionar, em de manda propria, o causador do dano, quando, entao, se discutira a respon sabilidade do agente, cuja culpa, ainda que concorrcnte, e somentc ela. e que Ihe acarretara a obrigagao de indeni zar.
Quanto a condenagao em honorarios de advogado. e ela incensuravel, uma vez que,. de acordo com a teoria da sucumbencia, perfilhada pelo nosso di reito, ao vencido incumbe sempre pagar OS honorarios de advogado da parte vencedora, fixados com moderagao.
Na cspecie, entretanto. os honorarios nao foram arbitrados com moderagao porque, em verdade nem o foram legltimamente. E que achando-se o apela do sob 0 palio da justiga gratuita, a sentenga nao podia ter perdido de vis ta o § 1" do art. 11, da Lei n*^ 1.060, de 5-2-50, que estabelece que os ho norarios de advogados serao arbitrados pelo Juiz ate o maximo de 15%.
Don, pois, provimento parcial a apelagao para reduzir a verba honoraria para 10%, o que fago tendo-se em vis ta assim o valor da causa, como a singeleza da agao.
Custas, dois tergos delas, pela apelante».
O Sr. Des. Horta Pereira — Pego adiamento.
O Sr. Des. Presidente — Adiado, a pedido do Sr. Des. Horta Pereira.
O Sr. Des. Presidente — O julgamento deste fcito foi adiado, a pedido do Sr. Des, Horta Pereira, a quern pego proferir o seu voto.
O Sr. Des. Horta Pereira — Voto: — Data venia. fico em divergencia com 0 eminente relator, para dar provimen to a apelagao e julgar a agao improcedente, dispensando o recorrido do pa gamento das custas e honorarios, nos termos da Lei n'' 1.060. por se encontrar sob o amparo da gratuidade judiciaria.
Trata-se de agao de indenizagao em que o autor pede o pagamento do va-
Jor maximo do seguro obrigatorio de responsabilidade civil, fcito pelo propnetario de veiculo auto-motor com a Ci'a. Apelante.
A R. seiiten^a recorrida depois de confundir valor de seguro com premio pago pelo segurado. deu pela procedencia da demanda, ao entendimento de que, verificada. em acidente de trafego. a morte de um terceiro (no caso, um menor pequeno jornaleiro). o valor ■•<|o seguro para a hipotese de morte sera sempre devido aos herdeiros do falecido, mesmo sem culpa do motorista proprietario do veiculo por f6r;a da «teoria do risco». que estaria consagrada no Dec.-lei n'-' 73, de 21-11-66. que instituiu o seguro, obrigatorio, bem' como no seu Regulamenfo.-
Penso que ha no julgado um evidente equivoco de conceitos e. por isso segundo entendo, uma inexata aplica?ao da lei.
Li e reli o Decreto-lci mencionado e o seu Regulamento e, neles. nao encontrei nada que me levasse a conclusao de que a ctcoria do riscoa esta ali consagrada como fundamento da respon sabilidade civil.
Entretanto, mesmo que se aceite, co mo de consagra(;ao implicita na lei, a «teoria do risco». o certo e que ela ha de ser considerada como fundamento da responsabilidade civil pelos danos causados a quern se apresente como beneficiario do seguro. E entendo assim porque o risco segurado e o da res ponsabilidade civil do proprietario do veiculo. tal como se le no prdprio biIhete do seguro as fls. 18.
Ora, se e assim, mesmo que se afaste a pcsquisa da existencia da culpa," que se presumiria por forga daquela teoria, restaria para demonstragao a ocorrencia do dano efetivaraentc sofrido por quern se apcesenta para receber o valor do s'^guro, posto que, a res ponsabilidade civil (objeto do seguro) so se configura com a demonstra(;ao do segundo eiemento integrativo dela a existencia do dano, fiste e que ha de ser rcparado pela seguradora, cuja funqao social, pro- curada pela lei que instituiu o seguro
obrigatorio sera o de cobrir o risco da possivel insolvencia do causador direto do dano ou de seu responsavel indireto — o proprietario do veiculo causa dor do acidtnte.
Na especie em julgamento. nao se alegou e nem se provou a ocorrencia de qualquer dano efetivo causado ao autor pela morte do infeliz menor. Nem mesmo o dano moral foi alegado como fundamento da agao.
O que o libelo pediu foi simplesmcnte 0 valor do seguro obrigat6rio, que, as sim. se transformaria em fonte de enriquecimento, desde que nao se demonstrou a existencia de qualquer dano efe tivo. ressarcivel por efeito da responsa bilidade civil segurada. E porque en tendo que, sem a demonstragao do da no e impossivel acolher o pedido, e que provejo a apelagao nos termos inicialmente dcclarados neste voto.»
O Sr. Des. Jose de Castro — Vote: — «Certo, no direito brasilefro para que-haja responsabilidade civil e necessario tenha havido culpa.
Todavia, com a instituigao do seguro obrigatorio de responsabilidade dos proprietaries de veiculos. automdveis de vias terrestces e outros, tern havido en tendimento de que, em tais casos, prevalece a teoria do risco e a esse enten dimento me inclino.
Na verdade. nao se ve do Decreto-lei n" 73, de 1966, que institui o se guro obrigatorio, neiihuma exigencia para a previa apuragao da culpa do segurado. para que a seguradora pague ou nao a indenizagao.

Apenas. para o pagamento de qual quer indenizacao decorrente do contrato de seguios, segundo o disposto "o § 3", do art. 6", do citado Decre- to-lei, condiciona-se a prova do paga mento do premio antes da ocorrencia do sinistro.
Mas. satisfeita tal exigencia, estabemce o art. 20 daquele decreto, que as •-ompanhias Seguradoras farao o pa gamento da indenizagao decorrente do seguro obrigatorio. dentro do prazo de JO dias uteis. a contar do momento em qiie ficar apurado o valor da indeniza
gao com 0 acordo das partes interessadas.
Contudo, caso nao haja o acordo dos interessados, quanto a fixagao da inde nizagao, devera ser esta apurada em vistoria judicial, com arbitramento.
Reza, ainda, o § 2", desse art. 20 que. se a seguradora nao pagar a in denizagao no prazo previsto, ficara sujeita a corregao monetaria.
Do exposto, como se ve evidencia-se a inexistencia de exigencia de previa apuragao de culpa do segurado, competindo tao somente a seguradora fazer o pagamento desde que esteja apurado o valor da indenizagao com acordo dos interessados e caso nao haja o acordo, entao, devera fazer o pagamento da in denizagao tao logo esteja a mesma apu rada pela vistoria judicial com arbitra mento. Nao ha, portanto, 'outras exigencias ou condigoes.
No caso dos autos. ao que parece, teria havido um acordo dos interessa dos, isto e, entre o segurado e a familia do peqiieno jornaleiro sinistrado, por intermedio de sen pai. e. para que esse recebesse o seguro no seu valor maxi mo entao cstabelecido pela morte do menor jornaleiro; fora expedido um alvara que a seguradora que com isso antes estaria de acordo, passou, posteriormente a nao aceita-lo, argumentando que so faria o pagamento, depois de apurada a culpa do segurado na agao criminal que a Justiga intentara contra o mesmo.
Nao estava certa a seguradora apelante. pois, a responsabilidade civil e independente da criminal (art. 1.525. do C.C.) e nem estava o pagamento do seguro condicionado a agao criminal pj'oposta.
Em tais condigoes, tendo havido co mo se ve dos autos, acordo das partes quanto a iiicierizacao pela morte do pequeno jonicilciio, deveria a segura dora fazer o pagamento da indeniza gao. Nao o fez. obrigando o pai do menor a ingressar em Juizo com esLa agao que fora julgada procedente.
Confirmo a sentenga recorrida nao so pelos sens iundamentos como tambem pelos que estou aduzindo, mas,
mesmo que assim nao fosse, nao conseguiu a seguradora provar que o se gurado nao teve culpa no sinistro. fi que, pelas testemunhas que arrolou e que dcpuseram, ficou patente que o evento houve por culpa do segurado que, atento a uma briga em frentc ao SAPS, na Av. dos Andradas, em Juiz de Fora, nao viu quando o pequeno jor naleiro saira correndo do meio da multidao e fora apanhado pelo seu automovel; e o que se ve dos depoimentos as fls. 45 e 46.
Se o segurado estivesse atento ao seu dever. dada aquela agloraeragao existente, feria diminui.do bem a marcha do carro, pois, era tais circunstancias e previsivel que da mukidao alguem saia correndo, como aconteceu, e quem esta atento. podc cvitar ocorrencias.
fissc fato seria mais um motivo para que a seguradora indenizasse a vida do menor a seu pai. E porque o menor jornaleiro contribuia para a economia de sua familia, e de aplicar-se ao caso a Jurisprudencia do Excelso Pret6rio que ordena o pagamento da indeniza gao quando o vitimado seja menor, de pequena ou nenhuma capacidade salarial, mas integrante de familia de baixa condigao economica, («Rev, Trimestral de Jurisprudencia* — vol. 49, pag. 124, mes de julho).
Em scndo assim, nao era mesmo de se prover o apelo da seguradora.
O Sr. Deseinbargador Presidente Negaram provimento, vencido o Exmo. Sr. Desembargador Hocta Pereira. AC6RDA0
Vistos, examinados e discutidos estes autos de embargos declarat6rios na apelagao civel n'-' 32.182, da Comarca de Juiz de Fora. scndo embargante Cia. de Seguros Mar'itimos e Terrestres Lloydc Sul Americano e embargado — Jose Alves do Nascimento, ac'orda. em Turma, a Primeira Camara Ci vil do Tribunal de Justiga do Estado
de Minas Gerais, sem divergencia na votagao, receber os embargos, para declarar o acordao, pelos fundamentos constantes do veto do relator, lan^ado apos sua assinatura.
Custas na forma da lei.
Bclo Horizonte, 3 de agosto de 1970. — (a.) Mello Junior. Presidente sem veto. — (a.) Jacomino Inacarato, re lator. com o seguinte vote lido na assentada do julgamento:
«No julgamento da apelacjao niimero 32.182, da Comarca de Juiz de Fora, sendo apelante a Cia. de Segiiros Marltimos e Terrestres Lloyde Sul Americano e apelado Jose Alves do Nascimento, houve divergencia na respectiva votagao, pois. enquanto o re lator dava provimento em parte, para reduzir a verba honoraria, o eminente revisor dava provimento total e o douto vogal negava provimento como se ve das respectivas notas taquigraficas.
Todavia, ao redigir-se o acordo nelc se consignou que foi negado provimen to ao apelo, e, dai, os presentes embar gos de declaragao opostos pela apelan te, embargos que merecem declarados.
Efetivamente, no men voto, como re lator, dei provimento parcial a apelagao apenas para reduzir a verba ho noraria, uma vez que o magistrado de primeira instancia c-s havia fixado em 20% sobre o valor da causa, fixagao de todo impossivel, pot isso que a Lei niimero 1.060, no § I^ do seu art. 11, nao OS admite senao ate o maximo 15%.
E, como se tratava de causa muito singela, como se depreende na simples compulsagao dos autos, cu os reduzi para 10%. em cuja taxa, data vcma. OS devia fixar o acordao, que, assim. deve ser redigido no sentido de d?.r-sc provimento parcial a apelagao, para o aludido fim». — (a.) llorta Ptu-ico. — (a.) /ose dc Castro.
Relatorio de Embargos
Ao relatbrio de apelagao. langado as fls. 76, pelo Exmo. Sr. Desembargador Jacomino Inacarato, acrescento que, a
ilustre Turma Julgadcra, pelos arestos de fls. 78 e 93 (o ultimo recebendo em bargos declaratcii'ios), deu provimento parcial ao recurso, para reduzir a 10% a taxa de honorarios, com voto vencidO' do revisor, Exnio. Sr. Desembargador Horta Pereira, que ao apelo dava inte gral provimento, para julgar improcedente a agao de indenizagao.
Com suporte no voto divergente, a apelada, Companhia de Seguros Ma rltimos e Terrestres Lloyde Sul Ame ricano opos ao acordao embargos de nulidade e infringentes do julgado, que foram regularmente admitidos e processados.
Apos o prepare, foi feita nova distribuigao.
O embargado Jose Alves do Nasci mento nao ofercceu impugnagao aos embargos.
A revisao.
Designado dia para~ julgamento. reraetam-se aos Exmos. Srs. Desembargadorc^s vogais. copias, do relatorio da apelagao (fls. 76) do presente relato rio e dos arestos de fls. 78 e 93, com as respectivas notas taquigraficas.
Horizonte. 5 de novembro de 19/0. - Mdlo Junior.
Acordao
Vistos. relatados e discutidos estes
^""bargos a apelagao civel u. dc Fora. sendo em- «^ante Cia. de Seguros Maritimos Sul Americano e embargado Jose Alves do Nascimento acorda a Primeira Camara Civil do 1 ribunal de Justiga do Estado de Mi'"'^°''Porando neste o relaciflr, ^ It" OS embargos, vent Desembargado- U ® Castro e Helvecio Rosenfundamentos constantes e mtegrantes deste, Custas na forma da lei.
1970^'' novembro de lalo?" ~Z ll P'-esidente e re- breu e Silua, revisor.
Horta Pereira, vogal. — Jose de Cas tro, vogal, vencido. — Helvecio Rosenhurg. vogal, vencido.
O Sr. Des. Mello Junior — Voto: — «Conhego dos embargos infringentes do julgado, que tern suporte no voto divergente do Exmo. Sr. Des. Horta Pereira, e foram oportunamente manifestados, atendendo-se a que recaiu em scgunda-feira o dia 24 de agosto do corrente ano, data em que foi protocolada na Secretaria do Tribunal a petigao do recurso.
Data venia recebo os embargos para, de inteiro acordo com o voto do Exmo. Sr. Des. Horta Pereira, reformat a decisao embargada. e com ela a sentenga de primeira instancia, e.julgar improcedente a agao de indci-nagno.
Tambem entendo que nao ficou consignada no Decreto-lei n'' 73, de 21 de novembro de 1966. a denominada leoria do risco. que o pagamento do segmo obrigatorio de responsabilicladc civil depends de prova de culpa e, amda que absolutamente nccessana e. na agao de indenizagao, a prova do dano.
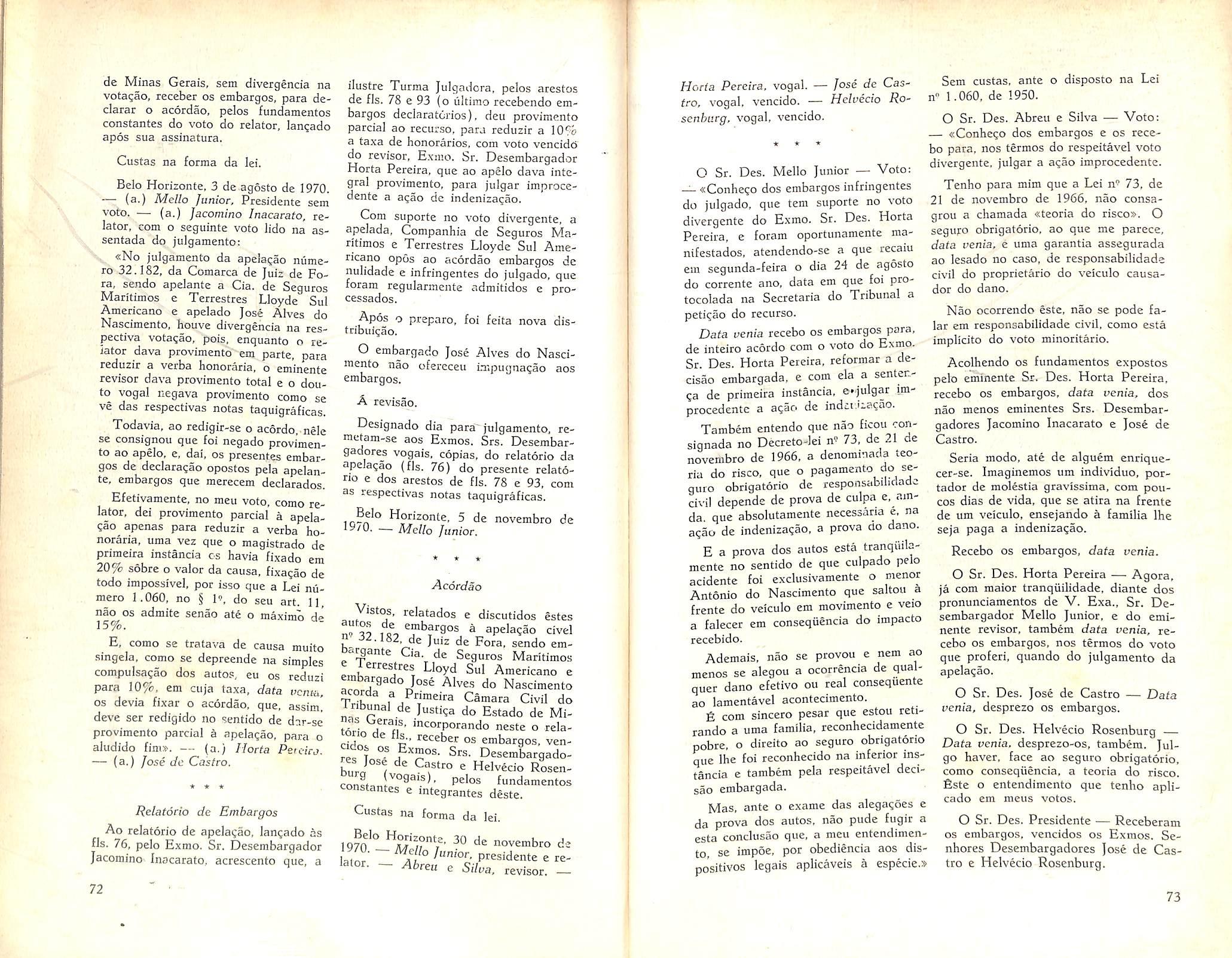
E a prova dos autos esta tranqiiilamentc no sentido de que culpado pelo acidente foi exclusivamentc o menor Antonio do Nascimento que saltou a frente do veiculo em movimento e veio a falecer em consequencia do impacto recebido.
Ademais, nao se provou e nem ao menos se alegou a ocorrencia de qualquer dano efetivo ou real consequente ao lamentavel acontecimento.
g com sincere pesar que estou retirando a uma familia, reconhccidamente pobre, o direito ao seguro obrigatbno que Ihe foi reconhecido na inferior ins tancia e tambem pela respcitavel decisao embargada.
Mas, ante o examc das alegagoes e da prova dos autos, nao pude fugir a esta conclusao que, a mcu entcndimento se impoe, por obediencia aos dispositivos legais aplicaveis a especie.»
Sem custas, ante o disposto na Lei n" 1.060, de 1950.
O Sr. Des. Abreii e Silva — Voto: — «Conhego dos embargos e os rece bo para, nos termos do respeitavel voto divergente, julgar a agao improcedente.
Tenho para mim que a Lei n" 73. de 21 de novembro de 1966, nao consagrou a chamada «teoria do risco». O segufo obrigatorio. ao que me parece, data venia. e uma garantia assegurada ao lesado no caso, de responsabilidade civil do proprietario do veiculo causador do dano.
Nao ocorrendo este, nao se pode fa!ar em responsabilidade civil, como esta implicito do voto minoritario.
Acolhendo os fundamentos expostos pelo eminente Sr. Des. Horta Pereira. recebo os embargos, data venia, dos nao menos emincntes Srs. Desembargadores Jacomino Inacarato e Jose de Castro.
Seria modo. ate de alguem enriquecer-se. Imaginemos um individuo, portador de molestia gravissima, com poucos dias de vida, que se atira na frente de um veiculo, ensejando a familia Ihe seja paga a indenizagao.
Recebo os embargos. data venia.
O Sr. Des. Horta Pereira — Agora, ja com maior tranqiiilidade, diante dos pronunciamentos de V. Exa., Sr. De sembargador Mello Junior, c do emi nente revisor, tambem data venia, re cebo OS embargos, nos termos do voto que proferi, quando do julgamento da apelagao.
O Sr. Des. Jose de Castro — Data venia, desprezo os embargos.
O Sr. Des. Helvecio Rosenburg Data venia. desprezo-os, tambem. Julgo haver, face ao seguro obrigatorio. como consequencia. a teoria do risco. £ste o entendimento que tenho aplicado em meus votos.
O Sr. Des. Presidente — Receberam OS embargos, vencidos os Exmos. Senhores Desembargadores Jose de Cas tro e Helvecio Rosenburg.
Forani entao promovidas reunioes e -mesas-redondas em Sao Paulo, no auditorio da DSP, em Belo Horizonte. no auditorio do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitalizaqao do Estado de Minas Gcrais e no Rio de Janeiro, no auditorio da .... FENASEG. respectivamente nos dias 8 e 9, 10, 13 c 14 de setembro.
Na primeira parte das reunioes. os tecnicos do IRB, Francisco Avellar, Chefe do DETRE. Jose Ribeiro Souza
grande participa^ao dos presentes, cerca de 50 em Sao Paulo e mais de 20 em Belo Horizonte. apresentando-se diversas perguntas. prontamente esclarecidas pelos tecnicos.
Ao cncerrarem-se os debates, foi solicitado pelos presentes que a iniciativa do DETRE, que obteve pleno exito. se torne rotina. atraves de um esquema de contatos com os principals centres seguradorcs. permitindo o desenvolvimento de debates, troca mutua
As «Normas de Seguros Aeronauticos» (Circular SUSEP ii' 19/71, de. 5.5) englobam todos os elenientos relatives as opera^oes do ramo, inclu sive a Tarifa de Cascos Acronauticos. pioneira no pais.
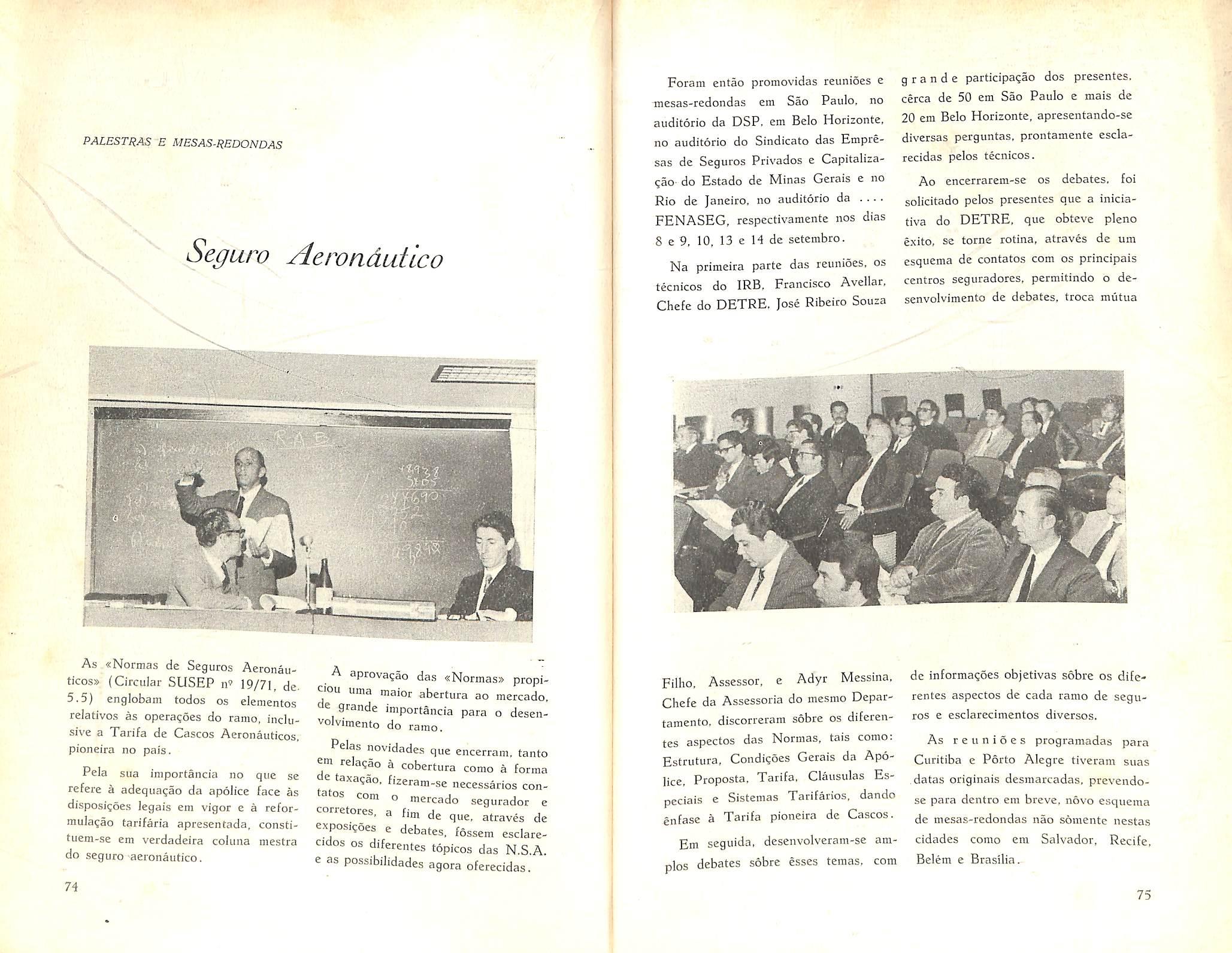
Pela sua importancia no que se refere a adequagao da apolice face as disposigoes Jegais em vigor e a reformulagao tarifaria apresentada, constituem-se em verdadeira coluna mestra do seguro aeronauticc.
A aprova^ao das «Normas» propiC'ou Ulna maior abertura ao mercado, tie grande importancia para o desenvolvimento do ramo.
Pelas novidades que encerram, tanto em relagao a cobertura como a forma e taxacjao. fizeram-se necessaries con3 OS com o mercado segurador e corretores. a fim de que. atraves de exposi^oes e debates, fossem esclarecidos OS diferentes topicos das N.S.A. e as possibilidades agora oferecidas.
Filho, Assessor, e Adyr Messina. Chefe da Assessoria do mesmo Departamento, discorreram sobre os diferen tes aspectos das Normas, tais como: Estrutura. Condi^oes Gerais da Apo lice, Proposta, Tarifa, Clausulas Especiais e Sistemas Tarifarios, dando ■enfasc a Tarifa pioneira de Cascos.
Em seguida. desenvolveram-se amplos debates sobre esses temas, com
de informaqbes objetivas sobre os dife rentes aspectos de cada ramo de segu ros e esclarecimentos diversos.
As reunioes programadas para Curitiba e Porto Alegre tiveram suas datas originais dcsmarcadas. prevendose para dentro em breve, novo esquema de mesas-redondas nao somente nestas cidades como em Salvador, Recife, Belem e Brasilia.
SEGURADORES ESTRANGEIROS ESTUDAM O SEGURO NO BRASIL
O seguro de transporte internacional de mercadorias importadas foi uma das p r i m e i r a s medidas adotadas para absor?ao da procura. ja que obrigou o impoctador a coloca^ao do premio no mercado interno. scmpre que seutilizar deste tipo de apolice. anteriormente feita no exterior.
Constou ainda do programa cumprido pelos seguradores uma pales^a proferida pelo Ministro do mento. Joao Paulo dos Re.s Velloso, sobre o modelo brasileiro de desenvolvimento economico.
No dia 26, foram recebidos pelo Presidente e Chefes de Departamento do IRB, ocasiao em que foi exib.do para os visitantes o audio-visual sobre
a nova politica de seguros, preparado especialmente pelo Institute para o III Congresso Pan-Americano de Dircito do Seguro.
O tcmario da reuniao incluiu uma explanagao, feita pelos tecnicos norteamericanos, sobre o sistema de ensino do seguro nos Estados Unidos, alem de exposigoes sobre o mercado segurador brasileiro c o modelo brasileiro de desenvolviraento economico.
Apos as exposigoes. houve debate acerca desses temas, com perguntas sendo feitas de lado a lado, isto e, tanto por parte dos estrangeiros como dos brasileiros, para uin melhor conhecimento das tecnicas empregadas em ambos os paises.
Esteve em visita ao IRB. durante OS dias 25, 26 e 27 de outubro, um grupo de cerca de 150 seguradores norte-amcricanos, membros da «Chartered Property and Casualty Underwriters». organizacao que sc dedica ao estudo do seguro iios principais mercados do mundo.
Durante o encontro, tecnicos do IRB explicaram aos estrangeiros que as
medidas programadas na politica de xpansao do mercado fazem prever para ate 1974 uma elevagao da arrecada^ao de premies de 1 a 3% doProduto Nacional Bruto.
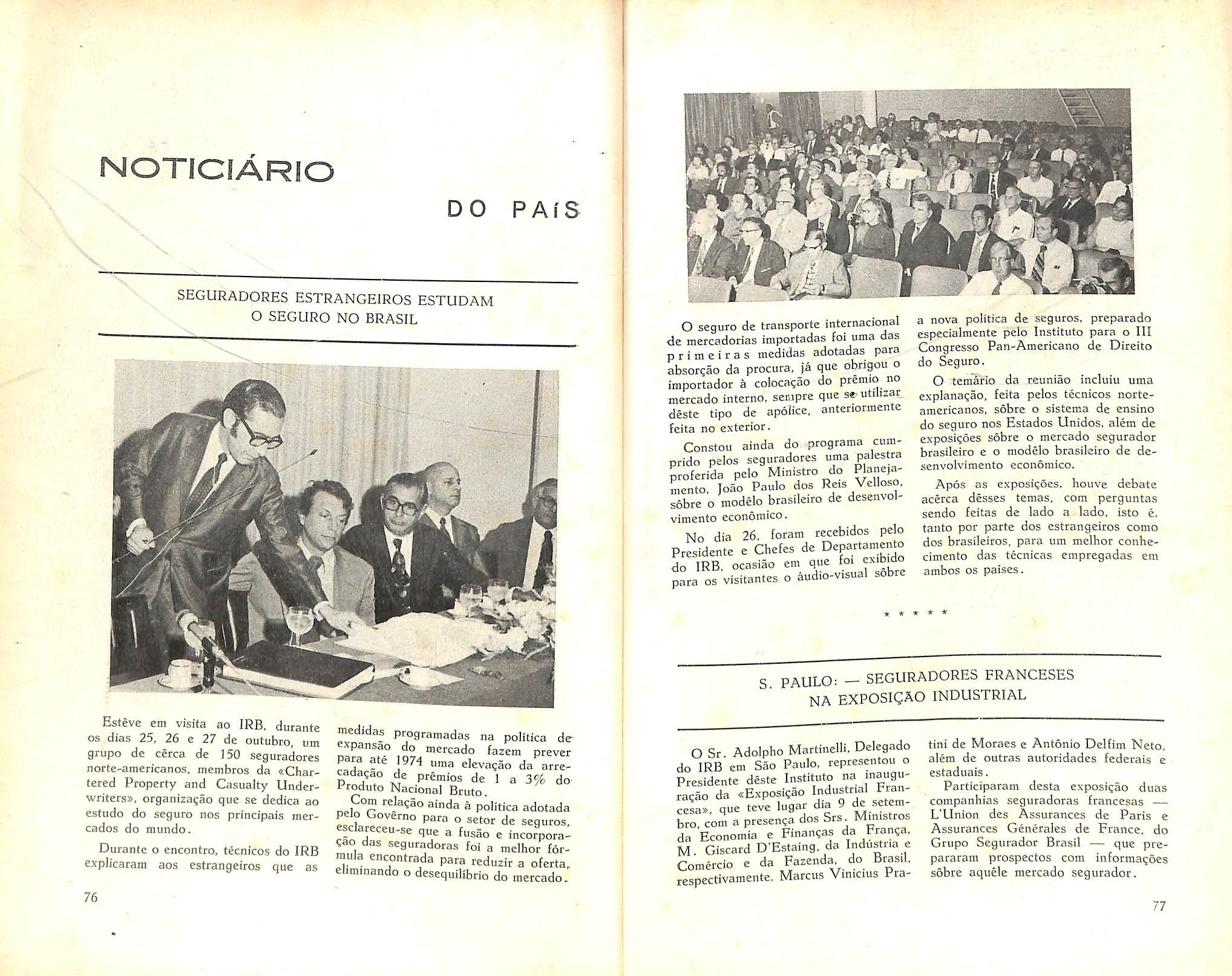
^ P°'"ica adotada ° de seguros. can ^ ^ incorpora- ?ao das seguradoras foi a melhor for mula encontrada para reduzir a oferta. eliminando o desequiUbrio do mercado.
s PAULO; —
O Sr Adoipho Martinclli, Delegado do IRB em Sao Paulo, representou o Presidente deste Institute na '"JUSUragao da «Exposigao Industrial FranceLa.. que tevc lugar dia 9 de bro, com a presenga dos Srs Mmistros da Economia e Finangas da Franga, M. Giscard D'Estaing, da Industna e Comercio e da Fazenda do Brasil. respectivamente, Marcus Vinicius Pra-
tini de Moraes e Antonio Delfim Neto. alem de outras autoridades fcderais e estaduais.
Participaram desta exposigao duas companhias seguradoras franccsas L'Union des Assurances de Paris e Assurances Generales de France, do Grupo Segurador Brasil — que prepararam prospectos com informagoes sobre aquelc mercado segurador.
representava o conforto do seu afeto. o encanto de sua companhia, a seguranga de que nele encontrariamos sem pre esclarecimento para nossas diividas e remedio para nossas afli^oes.
Deixou-nos ele, porem, o legado de sua lembranqa. a heran^a de seu cxemplo, de que retirareraos sempre alguma compensagao para a perda sofrida.
For diversas vezes, e sempre acompanhado dc intenso e doioroso pesar, temos rcgistrado faleciinento de alguns companheiros de jornada. Desta feia. a triste surpresa nos colheu no dia 19 de outubro quando, repentinamente, morreu o Procurador do IRB, Dr. Raymiindo Geraldo da Motta Azevedo Correa Sobrinho.
Da ata da priraeira reuniao do Conselho Tecnico desdc Instituto apos seu passaraiznto, transcrevemos a seguinte manifesta^ao;
«0 nosso Raymundo Correa Sobri nho deixou-nos ontem, levado pelo Criador qiie, desde algum tempo, vinha dando a entender qiie o queria junto a Si.
A sua ausencia nos deixa a todos, seus parentes, companheiros e amigos, empobrecidos do muito que para nos
Nas letras Juridicas brasileiras ficara a niarca indeleve! da valiosa contribui?ao que Ihes dizu Raymundo Correa Sobrinho, patrocinando causas dos seguradores, resseguradores e retrocessidnarios, que nele sempre tiveram desvelado defensor, publicando os frutos de suas p.esquisas e estudos, Iccionando em lacuidades e cursos, participando com empenho e sucesso de seminaries, conterencias e congressos no pais e no exterior.
Perdurara no Instituto de Resseguros do Bras.l o nome e a recordagao de quern num perseverante labor de tres decadas, tao abundantemente concorrcu para dar-lhe estatura, o renome e a va'>3 que hoje tem. Perdurara em nos a memona do homem sem egoismo, do ™ PU' e famiha, do cstudioso jurista e mcansavel advogado, do leal servidor sua empresa, em quern encontrareTra ^ para nossas buscas, Em nome dos seguradores brasileiros aqui representados por seus Conselheiros, sohcito seja registrada na ata desta sessao a manifesta^ao do nosso pesar..
Com uma sessao solene no auditorio vido pela Sociedade Brasileira de Cida Deleqacia do IRB. foi encerrado o encias do Seguro, e que habilitou 197 III Curso para Formaqao de Correto- alunos., res de Seguros em Sao Paulo, promo* * ***
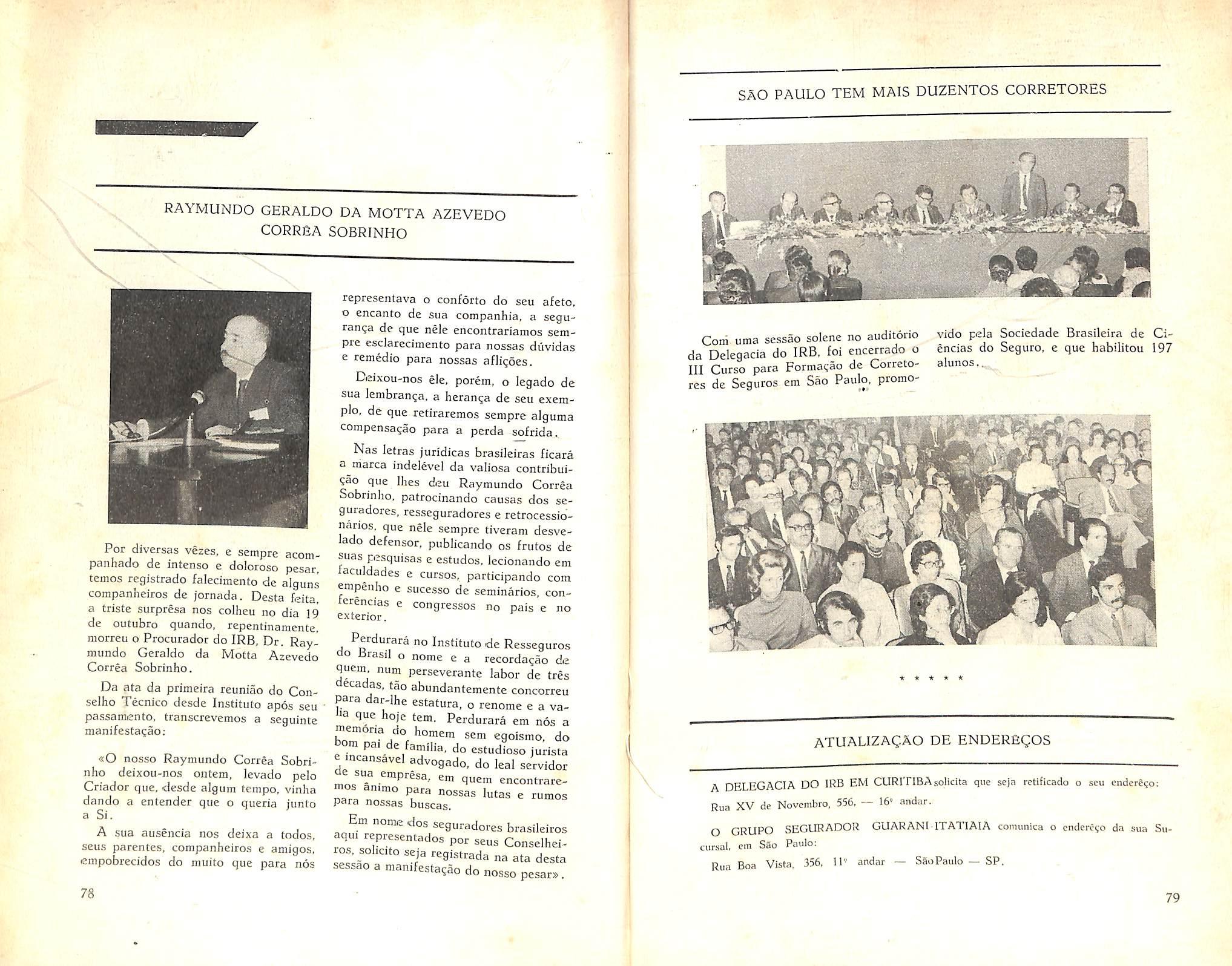
A DELEGACIA DO IRB EM CURITIBAsolicita que sejn retificado o seu endcreqo:
Rua XV de Novcmbro, 556, — 16' andar,
O GRUPO SEGURADOR GUARANMTATIAIA comunica o endercgo da sua Sucursal, em Sao Paulo:
Rua Boa Vista, 356. 11' andar — SaoPaulo — SP.
No dia 17 de setembro de 1971, foram eleitos os componentes dos 6rgaos de administra^ac e de reprcsenta^ao do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e CapitaJiza^ao no Estado de Pernambuco, para o trienio 1971/1974, empossados no dia 31 de oufubro.
E[eiit>os^
Presidente — Elpidio Vieira Brazil
Vice-Presidente — Antonio Felipe do Rosario
1' Secretario — Analio de Souza
Rolim
2,® Secretario — Moacyr Baptista
Domingues da Silva.
I.® Tesoureiro — Antonio Ferreira dos Santos.
2» Tesoureiro — Rubens Gongalves
Braga
Sup/enfes:
Jose Mauricio Rodrigues de Mello
Eugenio Oliveira Mello
Jaime Monteiro de Carvalho
Dilson Vieira de Melo
Adalhzrto Sergio de Castro Pere grine
Antonio Luiz Gongalves Santhiago
CONSELHO FISCAL:
E[ctivos:
Arthur Orlando de Andrade Bezerra
Antonio Telmo Carneiro de Novaes
Paulino Juca de Albuquerque Pimentcl
Siiplentei':
Jose Ely da Mota Pe_ssqa
Enoque Alvcs do Souza
Oscar Ribeiro da Silva
DELEGADOS REPRESENTANTES NO CONSELHO DA FEDERACAO:
Efetwos:
Elpidio Vieira Brazil
Cleto Araiijo da Cunha
Supl^nte:
Albino Dias Ferreira
REVISTA DO r.R.B. n® 190 - DEZEMBRO/71 - Mendon^a (Chefe da ARP;, A.B. Fernandcs. L. Bidart c M.G. Te>«ira - Diayran..,So. marcofSo de ociglnats e oricnlafSo da conlecsao tipogra{ica: O. Allam — Iie,visao: O Allam I Mes'

^ELfiM
Av. Presidents Vargas, 197 - 223/230
6EL0 HORIZONTE
Avenida Amazonas. 191/507 - S.® endar
BRASILIA , Setor BancaVio Sui tEd. Seguradoras), Conjunto
__ BIDCO B — 15." andar
curitiba
Rua XV de Novembro, 556 — 16® andar
portaleza
Rua Pari, 12 — 3® andar
MANAUS
Avenida Eduardo Ribeiro, 423 — l" an^ar
P6RT0 ALEGRE
Rua Siqueira Campos, 1,184 - 12.® andar
RECIFE
Avenida Guararapes, 120 — an<^ar
SALVADOR
Ru. d. BMgic. 10 - 9.' aidar
SAO PAULO
Avenida Sao Joao, 313 - H.® andar
PRESIDENTE:
Jcse Lopes de Oliveira
DIRETORES;
Jorge Alberto Prati de Aguiar
Ruy Edeuvale de Freilas
CONSELHO TECNICO:
Delio Brito (Presidente)
Alberlco RaveduttI Bulcao
Arthur Pinio Ribeiro Canda!
Claudio Lulz Pinto
Egas Munlz Santhiago
Raul Telles Rudge
CONSELHO FISCAL:
Aiberio Vieira Souto (Presidente)
Deiio Ben-Sussan Olas
Olicio de Oliveira
Sede: Avenida Marechal Camara, 171 Rio cie jEti-teiro — BreisU
DcpartimtDie de lopxcDse Naclesal