

REVISTA
Em fins de dezembro ultimo, procedendo a um levantamento de sua^ atividades ]no exercicio que entao se encerrava, pode o I.R.B. docamentar, com isse material, um Relatorio sumario e preliminar dog resultcidos alcanpados, em 1964, em decorrencia da nova politica que viera orientar e disciplinac a sua vida .administrativa e operacional.
REDA^O::
Servj^. .de Rela^oes Publicbs .
Ayenida-Marechal Cdmara, 171
Ediftcio'Joao Carlos Vital
Telefone 32-8055 - CP. 1440
Rio de Ja n ei,ro • B r a si I < • _ /
PUBLICACAp BIMEStRAL
Oj concaitat emitidM am arligdi pit!, nadoi'esprJmetn apenni epInlSe's. delauil auteret e .'.o de we exduiiyorMp'onMbllldade
Pmblemas a.i descpturnlirnqan da liquidaQao cic sinistrns/Carlos Bessa
Seqiiro saiidc na^. colctividades militarcs/C. Gentile de Mello
I.R.B. ; retrospectivci de 196'!
Reforma do sistema seqiirador brasileiro Scgiirn de Cteditt) a Expoitacan Prof. Caetano Stammati
Rnercjia nuclear : respon.sabiiidade civil
Atividades do I.R.B. em 1964

Ideia.'^. fafo.s e opinibes
Dadti.; eslaiisircos : Ativo liqiiido das sociedades em 1963
Nesse doQitmento. que cojafem um breve historico de todos os aspectos da atuagao do I.R.B., alguns [afos se sobressairam. por sua importancia e, entre eles, especialmente dois foram objeto de maior destaque : 1) o resultado excelente produzido pelo sistema de concori^ncias na colocacao de excedentes do mercado nacional; 2) o gr^nde aproveitamento do potencial econdmi'co do mercado 5e<7uracfor brasileiro, atraves de medidas que permitiram substancial incremento dos limites de trabalho das sociedades de seguros, submetidos a erosao inflacionaria.
.As concorr^ncias. em.' poucos meses de aplicagao do decreta presidencial que as instituiu, tiVeram o efeito de suscitar sen4ivel baixa das cota^des que oinham prevalecendo em nossos negocios com o exterior, produfthdo ale o lim do ano uma economia global de DOis MiLHOES de dolares, convindo assinafar que. na primeira grande concorrencia de 1965, realizada logo no comego de Janeiro e relative a seguro da ffota da VARIG S/A, nova redugao de monta era obtida. atingindo, so nesse caso, a cifra de 800 mil DOLARES. Em editorial a proposito do decreto do Excelentissimo Senhor Presidente da Republica. feito logo que aquele diploma era prom.ulgado, assinalaramos que a virtude do sistema de ccjncorrencia era a de «promover pela competigao o favorecimento do interesse ccletivo, afraves do melhor ajuste entre a oferta e a ^;rocura». E no caso particular da colocagao dos excedentes do mercado nacional. mais uma vez o sistema veio demonstrar tal virtude, estimulando uma competigao que resultou em economia de divisas e, portanfo, Jno beneficio do interesse publico.
O aumento dos limites operacionais do mercado interno', limites esses desajustados pela [alta de corregao monetaria, era tambem um objetivo necessano, indispensavel a politica de economia de divisas tragada pelo atual Governo na area do seguro e cesseguro. O mesmo decreto que Ihstituira o regime de concorrencia nas oper.agdes com o exterior, tambem determinava o «.aumento da capacidade de retengao do mercado nacionah. E o I.R.B., no que Ihe cumpria e estava ao seu alcance, promoveu revisoes substa\iCi.ais nos quantitativos que limitavam a capacidade de absorgao dos seus pianos de resseguro, ajustando todos eles, quanta pos^tvel, a nova realidad^. mone taria, havendo pianos com aumento ate de 150
Problemas da descentralizagao da liquidagao de sinistros
A descentraliza^ao de services apresenta-se na maioria das vezes, como lamina de dois gumes.
Medida desejavel sob todos Os aspectos pela suposi^ao intrinseca de rapidez na execu^ao das tarefas, dcsburocratizagao, multiplica^ao de setores especializados na resolugao de deteminados assuntos, elimiina^ao do transito de documentos entre estados par meio de malotes, portadores, ou simples remessa postal, com o aproveitamento desse tempo no estudo dos processes e aceleramento da solu?ao.
Entretanto, existem numerosos aspectos negatives que desaconselham a me dida nalguns setores de atividades e que merecem, por isso, um exame cuidadoso. A politica descentralizadora nao pode ser adotada indistintamente; deve condicionar-se as caracteristicas de cada 'tipo de atividade.
O problema da descentralizagao tern sido focalizado varias vezes a proposito da liquidagao de sinistros.
A extensao territorial do pais, a precariedade de suas comunica^oes, o vo lume de sinistros com diferencia?oes re-
gionais marcantes, sao argumentos invocados com veemencia para a descentraliza^ao dos servigos naquele setor.
O assunto, porem, deve ser examinado de todos os angulos principalniente pelas implicagoes de autonomia das Sucursais do nos diversos estados, inerentes a descentraliza^ao.

Inicialmente — e conveniente esclarecer —, entendemos como autonomia de uma sucursal, ou antes, maior auto nomia, na pratica, a faculdade do Gcrente de autorizar o pagamento de indeniza^oes dos sinistros.
Essa medida, em si mesma, considerado o objetivo de tornar menos moroso o processo de liquida^ao, nao tera nenhum efeito nas diversas fases do processo ate a confeccao e expedi^ao dos Relatorios de Liquidagao ou Fichas de Vistoria, ate onde tern as Sucursais inteira autonomia.
Dai em diante, vejamos quais os efeitos da medida, n© processo subseqtiente de estudo e autoriza^ao, unica fase em que poderia ter influencia.
(*) Chefe da DivisSo de LiquidacSo de Sinistros, do I.R.B.
Em primeiro lugar. quanto ao valor das indeniza^oes:
— todas as autorizagoes de paga mento, acima de determinado limite, estao reservadas ao Sr. Presidente: deste modo, os sinistros mais importantes continuariam forcosamente a ter o mesmo tratamento de hoje. Note-se que sao estes os sinistros de maior repercussao e que mais preocupam, como e natural, os segurados, corretores e seguradores.
— admitindo. ainda, que fique reservada a Divisao de Liquidagao de Sinistros. na sede, um outro limite de atribuigao para autorizar pagamentos; serianu outros tantos sinistros a continuar com o processamento atual.
Em segundo lugar, todos os sinistros em que haja divergencia entre o I.R.B. (no casD a sucursal) e as sociedade.s. e ainda aqueles em que surjam diividas ou que exijam o pronunciamento de outros orgaos (Departamento Tecnico, Procuradoria Geral. Comissoes Permanentes e CDoselho Tecnico) nao poderiam tambem, e evidente, ser dec:didos pela Sucursal.
Ja se ve, sob esses dois aspcctos, que — grande numero de sinistros nao estaria abrangido na capacidade de au torizar da Sucursal.
Emi seguida, quanto ao ramo de seguro:
a) desde logo, nos ramos Transportes e Cascos, dadas suas peculiaridades e as disposigoes das respectivas normas sobre apresentagao de Pedido de Liquidagao, documentos, etc. Ne nhum sinistro dos ramos Transportes e Cascos poderia ser autorizado pela Sucursal.
b) em Lucres Cessantes e Riscos Diversos e relativamente pequeno
ainda o numero de sinistros, o que nos dispense de maiores comentarios, bastando lembrar a pequena experiencia de tais ramos que exige uma observagao constante e uniforme para o proprio aperfeigoamento de suas condigoes.
c) quanto ao ranuo Automoveis, tern ele por caracteristica o fato de que, por ser um seguro de reposigao, a maioria dos sinistros se liquida pela efetivagao dos reparos a expenses das seguradores e, uma vez aprovados os orgamentos, ja podem as sociedades fazer adiaotamentos as oficinas (Cir cular AT-08/64, de 7-4-64); para tor nar efetiva essa faculdade foram da das pela Divisao de Liquidagao de Si nistros. oportunamcnte, instrugoes as Sucursais para fazerem chegar as se guradores. da forma mais pratica possivel, uma via do orgamento aprovado pelo inspetor, logo que ocorra essa aprovagao.
Assim, de modo geral. ©s reparos sao iniciados independe'ntemente da autorizagao final para o pagampento e esta invariavelmcnte e expedida antes de terminados os consertos, exceto os casos em que ficam na dependencia de documentagao policial.
d) resta apreciar o ram© Incendio — estc o mais importante do mercado e cujos sinistros tern maior reflexo em todos os sentidos; neste ramo. as sociedades podemi efetuar liquidagoes ate a indenizagao de Cr$ 1.000.000, independcndo de autorizagao os paga mentos inferiores a Cr$ 500.000 (estes limites serao alterados a partir de agora para Cr$ 3,000.000 e Cr$ 1.500.000, respectivamente. de acordo com recente resolugao do Conselho Tecnico do IRB).
Para ilustrar o que afirmamos e possibilitar o estudo aprofundado do problema, tomemos como exemplo o movimento de liquida^oes do Ramo
Incendio completadas pela Sucursal de Sao Paulo, em 1964, que e, pela imiportancia economica da regilo sob sua jurisdieao, a de maior atividade.
VALOR DAS INDENIZAQOES
O quadro acima demonstra que em 2/3 dos rclatorios recebidos da Sucur sal o assunto ficou decidido dentro de 15 dias corridos. sendo que 46% do total dentro de 10 dias.
ro de autorizagoes que ficaria na competencia da sucursal, abstragao feita da frequencia com que, nesse ramo, as autorizagoes ficam subordinadas a apresentagao de documentagao policial.
Vemos, pelo quadro acima, que 34% dos smistros liquidados se enquadram entre aqueles cuja autoriza«ao e da faixa reservada ao Sr. Presidente; deste modo, admitindo-se que tivesse ficado denfro da atribui^ao da Sucursal a autoriza^ao ate Cr$ 3.000.000 e que nenhum dos sinistros abrangidos apresentasse duvidas de maior monta, pouco mais da metade das liquidagoes, no maximo. poderia ter sido decidida pela Sucursal, sendo que 1/4 deles independia de autorizatao.
Vejamos, agora, quanto ao tempo que se poderia abreviar com a medida:,
a) OS relatdrios da Sucursal sao remetidos a sede, por malotes, 3 vezes per semana e sao entregues a DLS no dia imediato ao da chegada.
b) a contar do recebimento dos relatorios, a decisao final sobre os sinis tros liquidados em 1964 foi tomada

Considerando que. de acordo com as normas, as sociedades devem pronunciar-se sobre os relatdrios dentro de 10 dias a contar do seu recebimen to, conclui-se que. na pratica, esses 2/3 dos sinistros,^que foram os de liquida^ao sem duvidas ou com pequenas duvidas que podiam ser relevadas no interesse da presteza, esses 2/3 diziamos foram decididos dentro do prazo que, teoricamente, teriamos que observar antes da decisao: e note-se que nos primeiros 7 dias perto de 35 % ja estavam reesolvidos.
Ve-se ainda, nessa demonstragao que 85,5% das liquida?6es tiveram decisao final dentro de 30 dias.
Adiante-se que, entre as liquida?6es que demandaram mais de 15 dias para decisao estao todos os casos em que houve necessidade de corregoes ou esclarecimentos adicionais da Sucursal, pronunciamento expresso das socie dades por nos solicitado, duvidas quanto a origem do sinistro ou a prova apresentada, controversias sobre a cobertura etc,; e ainda assim, 93% das liquidagoes tiveram decisao final den tro de 60 dias do recebimento do relatorio.
De tudo que ficou exposto, podenios concluir:
l.") A nao ser no Ramo Automoveis, em que seria ponderavel o nume-
poucos seriam os sinistros dos ramos Lucros Cessantes, Riscos Diversos e Incendio que poderiam ser decididos na Sucursal e nenhum dos ramos Transportes e Cascos, isto quanto ao numero;
2.") Considerando que o processamentq da autoriragao demandaria, tambem na Sucursal, uma fase final de estudo mais acurado e de preparo do expediente, c em face da demonstragao que acima fizemos, nao havena, na realidade, nenhuma economia de tempo, que seria o principal objetivo da medida.
Mas, se nao haveria vantagem, ve jamos quais seriam, a nosso ver, os mconvenicntes:
— em primeiro lugar: mister se faria dotar a Sucursal de organismo (Segao) para estudo final e de Asses sor para a revisao final, a maig rigorosa, dos relatorios de liquidagao, a exemplo do sistemsa utilizado na DLS:
— segundo: ao Gerente seria dada incumbencia adicional de grande responsabilidade que, somada aos seus encargos tecnico-admmistrativos intransferiveis o deixaria, por certo, sobrecarregado com desvantagem para esses mesmos encargos atuais mencionados.
— terceiro: do ponto de vista das rela^oes e correspondenda das seQuradoras com o IRB na fase final das liquida^oes, havcria, sem diivida, alguma confusao, com os embara^os decorrentes, pois parte das trocas de pontos de vista deveria ser feita diretamente com a Sucursal e parte comp 'k^Sede.
quarto; a ado^ao da medida nJio se poderia estender apenas as sucursais de maior movimento de liquidagao de sinistros, mas a todas, a fiin de nao estabelecer tratamento desigual para os diversos segurados e seguradores.
finalmente, o mais importante ainda. seria a inevitavel diversidade de criterios que se estabeleceria na interpretagao de partes subjetivas das liquidagoes; essa subjetividade obriga a DLS a constante atengio na preservagao da uniformidade de tratamento que devem receber todos os segura dos e todos Os seguradores.
Essa unidade constitui, a nosso ver, depois do bom nivel tecnico das liquidagSes, a maior garantia do bom nome que o IRB, a par de ressegurador,adquiriu como liquidador de sinistros. E nao se diga que estamog fazendo restri^ao a capacidade e competencia tecnica de qualquer dos Gerentes de Sucursal.
Nao; 0 que ocorre e que nao pode haver unidade na variedade, neste campo, e qye, por isso, a decisao cent-ralizada e o sistema que melhor fun-
ciona, refletindo, alem disso, com maior rapidez e propriedade, a evolugao de conceitos ou as simples mudan?as de orientaeao do C.T. e da Administragao.
A D.L.S. executa esse papel, determinando a uniformidade desejavel e propugnando, ainda, o aperfeigoamento constante, pela assimila^io da contribui^ao variada de experiencia que recebe de todas as partes do pais.
Esta visto, por tudo quanto ficou exposto, que na realidade nao tem^ procedencia algumas criticas, hoje com certo transito no meio segurador, a proposito do ritrao de processamento dag liquidagoes de sinistros a cargo do IRB, determinado pelo atual sistema.
A razao dessas criticas reside antes de tudo na propria conjuntura economica do pais, em que. premidos pela infla?ao e pela retra^ao do credito, os segurados facilmente chegam a impaciencia no tocante a recupera^ao dos meios para regularizagao de seus negocios.
Em outros paises, existem apolices com' clausula expressa sobre liquida?ao, estipulando que o pagamento se fara no prazo de 60 dias, contado da data em que o segurado aprcsentar prova satisfatoria do valor dos danos ocorridos.
Ora, como ficou demonstrado atras no caso de Sao Paulo, as liquida^oes processadas pelo IRB tiveram decisao final seguramente antes daquele pra zo, na grande maioria.
CARLOS GENTILE DE MELLO •Seguro saude nas coletividades militares introducao
Dentro da problcmatica assistencial bcasileira, o estudo do seguro saiide, nos ultimos tempos, tern despertado es pecial interesse entre os componentes da equipe responsavel pela promoqao e recupera?ao da saude.
Jornais e revistas tecnicas tern publicado abundante material sobre oassunto. Nas reunioes e assembleias medicas o seguro saiide passou a constituir figura ofarigatoria.

Dai porque nao poderia o I Congresso de Assistencia Medico-Social das For^as Armadas e Auxiliares deixar de incluir, no seu temiario oficial. materia que tern polarizado as atengoes dos mais amplos setores da classe medica.
A iniciativa se reveste de aspectos altaraente positives porque proporciona oportunidade para esclarecimento visando particularmente aos que se dedicam a pratica de especialidades tradicionais — cirurgia, cardiologia, pediatria, urologia — e nao podem desviar a sua aten^ao para estudo de assuntos alheiog aos seus afazeres quotidianos.
(*) Medico do I.R.B. — Relator Tema of cial do I Congresso Brasileiro dc Assistencia M^ico-Social das Fdr^as Arma das e Auxiliares. realirado de 8 a 11 de dezembro de 196^ na Academia Brasifeira de Medicina Militar.
Posto seja o seguro uma instituigao secular que nao mais admitc diividas quanto aos seug objetivos, a sua conceitua^ao e a sua razao de ser, o seu campo de aplica^ao tern side motive de controversia no nueio medico.
Na qualidade de Relator do Tema
Oficial sobre Seguro Saiide nas Coletlvidades Militares. procurei, na elabora^ao deste trabalho, orienta-lo no sentido de. tanto quanto possivel, conter documenta^ao e referencias bibliograficas que pudessem assegurar autenticidade aos argumentos que justificara as suas conclusoes.
SEGURO
«0 seguro e um metodo pelo qual se busca, por meio de ajuda financeira miitua de um grande niimero de existencias amcagadas pelos raesmos perigos, a garantia de uma compensaqao para as necessidades fortiiitas e avaliaveis decorrentes de umi evento danoso» (I)■
Deprecnde-sc, desde logo, que o se guro e uma busca de segura'n?a, de indenizagao para restabelecer o equilibrio comprometido por «um acontecimento fatal e certo como a morte das pessoas ou iocerto e possivel como a perda de um bem, ambos eliminando valores reals.
A essas medidas de precaugao que os individuos tomam, com o intiiito de assegurar garantias futuras, da-se o nome de previdencia.
O objetivo primordial do seguro e facilitar essa tarefa de previdencia, mediante a reuniao de muitas pessoas, concorrendo todas para a massa comum, a fim de que esta possa suprir, em determinado momento, as necessidades eventuais de.algumas daquelas pessoas» (2).
Assim. o seguro, alem de uma demanda de seguran?a, representa tamibem um metodo de poupanga coletiva. No caso especifico do seguro saiide o procedimento se justifica porque «a ninguem e dado profetizar se vai adoecer, quando tal pode ocorrer, e de que enfermidade sera acometido.
Se essa antevisao fosse viavel, o individuo, desde que possuisse elevado nivel de renda, poderia precatar-se com uma reserva de numerario correspondente a possivel despesa com o tratamento.
Todavia, nas atuais condi?6es do conhecimento humano e impossivel uma previsao em termos individuals. O mesmo nao ocorre, porem, quando se cogita de coletividade» (3).
A previsao dos acontecimentos futu res nas coletividades se torna possivel em virtude da chamada lei do acaso ou lei dos grandes niimeros, segundo a qual todosos fenomenos vitais, desde que observados em grande niimero, obedecem a um ritmo regular, monotono, perfeitamente estimavel sob o pon-to de vista quantitativo.
SEGURO SAliDE
O pagamiento dos services de recupera^ao da saude, era carater indivi dual, afigura-se cada vez mais dificil etn razao do custo crescente da produ-
?ao e funcionamento do aparelhamento medico-assistencial.
«Os progresses tecnologicos encarecem OS servi(;os de medicina, aumentam as barreiras financeiras: elevam-se OS precos dos bens (produtos farmaceuticos e tratamentos especializados) e services pessoais, que dificultam seu aproveitamento, em maior escala, pelas classes populates de parcos rendimentos» (4).
«0 seguro saiide foi a solugao que OS paises industrializados da Europa viram para o problema medico. Entretanto, nos meados do ultimo secub o niimero de doentes indige'ntes aumentou tao consideraveimente que foi im possivel dar servigos medicos na base da caridades (5).
De fato a implantagao de um sistema de seguro saiide pressupoe a capacidade para pagamento das contribuigoes pelos segurados. o que nao ocorre com o total da populagao.
Nos Estados Unidos da America, embora a primeira companhia que ope ra em seguro saiide — Massachusetts Health I[nsurance Company of Boston — tenha sido fundada em 1847, havia, em 1960, cerca de 73% da populagao civil com alguma forma de protegao de seguro saiide.
Nas regiSes mais ricas, como Pennsylvania e New York a proporgao dos segurados atingia 87% e 91%, respectivamente.
Nos estados de menor renda per capita, como Kentucky, Louisiana, Mississipi e Alabama, a percentagem de segurados decresce consideraveimente. Em 14 estados da federagao americana mais de 40% da populagao civil estava sem qualquer parcela de prote gao pelo seguro saiide, chegando essa cifra a 63% no Alaska (6).
Deve ser ressallado que o funciona mento de organismos tipo Blue Cross e Blue Shield, dos Estados Unidos, pres supoe elevados niveis educacionais da clientela e, mesmo nessas condigoes, encontra consideraveis obices, como scja, freqiiencia aflitiva de fraudes e abuses (4).
Tais praticas devem realmente constituir serio problema porque as companhias americanas preveem uma franquia, tida como indispe'nsavel para baratear o premio e para policiar o abuso do consume dos'^ervigos (7).
Essas franquias sao as mais variadas e extremamente complexas abrangendo numerosas condig5es patologicas do que resulta severas limitagoes na protegao oferecida (8).
O controle das atividades assistenciais, como de resto. em todos os ramos da produgao de bens e servigos, representa problema administrativo que tem de set devidamente equacionado, mesmo nos servigos medicos de pequeno porte (9).
Com uma renda per capita aproximadamiente seis vezes menor do que a dos Estados Unidos, «no Brasil a implantagao do sistema de seguro saiide protegera limitado niimero de pessoas, excluindo amplas areas demograficas, de baixo nivel de renda (3).
Antonio Cesarino Junior confirma plenamente esse ponto de vista dizendo que «devemos manter o seguor saiide, mas temos que conscrvar a assistencia medica e a assistencia social porque havera sempre casos que vao escapar a possibilidade de uma contribuigao. (...) O que fazer comi os indigentes?» (10).
SEGURO SOCIAL
Embora nao esteja o seguro privado alheio a finalidade social (11), o
carater compulsorio da participagao de dcterminadas categorias profissionais assalariadas, em sistema de previden cia, por iniciativa de Bismarck em 1883, permitiu que o campo de aplicagao do seguro se estendesse a camadas sociais de menor nivel de renda e, consequentemente, mais sujeitas ao risco de adoecer e perder a capacidade de ganhar o sustento, proprio e de scus familiares.

Estudiosos com larga vivencia do modelo brasileiro considerami «um dos aspectos marcantes da evolugao socioeconomica contemporanea, a crescente importancia da previdencia sociab (12). E mais, que «nao se trata de fenomeno isolado, peculiar a este ou aquele pais, exclusive de determinado tipo de organizagao social ou economica, presentc em tal ou qual regime politico».
fisse modo de encarar o seguro so cial cataloga o institute como um instrumento de utilizagao universal. Neto (13) restringe a sua apiicagao quando afirma que «as lutas sociais, presididas pelo imperio irreconciliavel da fatalidade que divide os homens em ricos e pobres, conseguiram, quando muito, revelar fases e injungoss agudas, sem contudo oferecer um sistema que, sem abolir a riqueza, permitisse ao trabaIhador, ao que luta pelo dia a dia da sobrevivencia economica, libertar-se da agonia do hoje e do amanha, guardando-se e assegurando-se dos dois fantasmas, a invalidez e a morte, precatando seus filhos, benificiarios ou dependentes, da contingencia dolorosa do abandono economico e financeiro (...)
A previdencia social e um dos pontos mais altos do pensamento huma no. fi uma elaboragao absolutamente pertinente a civilizagao ocidental. o
maior recado que ela poderia dar a consumasao dos seculos a vir».
Tal perspectiva do problema admite que o seguro social e privative do mundo ocidental, que tern per objetivo possibilitar convivio entre as diversas camadas sociais, que e uma forma de redistribui?ao da renda nacional. Sem embargo da validade desses pontos de vista, considerar uma fatalidade o imperio irreconciliavel dos ricos e pobres contraria os principios doutrinarios aceitos pelas mais esclarecidas correntes do pcnsamento.
«Sentimo-nos tornados, de profiinda tristeza quando se nos apresentam diante dos olhos — trlstissimo espetaculo — enormes multidoes de trabaJhadores que, em muitos paises e ate contine'ntes inteiros, recebem salario tao pequeno que ficam reduzidos, com suas familiaSj a condi^oes infra-humanas. Deve ser isso atribuido ao fato de que, nessas regioes, os moderiros processes de industrializagao ou estao apenas no inicio ou ainda nao progrediram suficientemente.
Assim, em alguns desses paises, diante da extrema pobreza da maioria, em chocante e insolente contraste com a sorte dos necessitados, se exibe a cpulencia e o luxo desenfreado de al guns poucos privilegiados.
Ocorre. tambem, em outros, serem • cidadaos submetidos a onus exorbitantes, para que a economia nacional atinja, em curto prazo, altos niveis, o que so e possivel ferindo-se as leis da justi^a e da eqiiidade.
Em outros. finalmente. grande parte da renda nacional e invertida emi urn imoderado engrandecimento do prestigio nacional, e se fazem, ainda, descomunais despesas com arraamentos.
Alem disso, entre povos economicamente desenvolvidos, nao e raro que services de pouca importancia ou de valor discutivel tenham uma remunera?ao elevada e ate exorbitante, ao passo que o trabaiho assiduo e produtivo de classes inteiras de eficientes e honestos cidadaos e extremamente mal remunerado, em desproporqao com as necessidades da vida ou, de qualquer modo, inferior ao que e justo, se equitativamente levarmos em conta o beneficio por eles prestados a na^ao. aos rendimentos da empresa em que trabaIham e a renda nacional» (14).
O seguro saiide, social, compulsorio. embora nao resolva por inteiro o problema da assistencia medica. e um sistema valido para as classes assalariadas, careccndo de aperfei^oamento nos seus metodos para aumentar a siia eficiencia.
INTERVENCAO ESTATAL
«Ha um anseio universal pela «segurangas do presente c. sobretudo, do futuro. Os problemas do sustento na velhice, na invalidez, no desemprego: do tratamento e da subsistencia na doen?a; do amparo do grupo familiar, pela morte do que tern sob sua dependencia; do aumento dos encargos no nascimiento e na criagao dos filhos; assumiram na sociedade moderna em virtude das crescentes dificuldades da vida urbana e mesmo rural que a caracterizam — propor?6es tais que a pessoa isolada ou o proprio grupo fa miliar, nao podc, por si so, enfrenta-los e dar-lfies solugao adequada no momento oportuno.
Dai o apelo ao Estado — rcsponsavel pelo bem comum — para que propicie, por meio de institui^oes sociais especificas, Os meios de garantir essa «seguranga» para todos se para cada um» (15).

«E porque o seguro social se coioca na orbita do Estado? Porque ele se estrutura toma forma a fim de executar tarefas que interessam a socie dade organizada, a fim de atender a necessidades de ordem individual na conformidade da paz e do bem estar de toda a coletividade» (16).
O Conselho Nacional de Economia, pronunciando-se a respeito da reformula^ao da previdencia social brasileira, orienta-se no mesmo sentido: «a assistencia e, historicamente. o pro cess© geral de q^e lan^a mao o Esta do para amparar os necessitados sociais», recomendando que os s2rvi<;os medicos deveriam ser executados pelo Estado (17).
Beveridge, entre os numerosos argumrentos para justificar a aceitagao do piano que tomou o seu nome, dizia que o tiabalhador. sozinho, nao tinha capacidade para socorrcr todos os ne cessitados durante o pcriodo emi que durava essa necessidade, motive pelo qua], embora existis.se um seguro so cial em funcionamento, cram numerosas as pessoas desempregadas, doentes e invalidas. sem amparo. Dai por que se impunha a intervcn^ao estatal (18).
Tambem os economLStas entendcm que o Estado nao se pode alheiar na questao dos programas de saiide. Ro berto Campos (19), referindo-se ao pla'nejamento do desenvolvimento economico dos paises siibdescnvolvidos afirma que a maioria dos investimentos basicos, entre os quais os gastos com a saiide, sao apenas indiretamente produtivos, mas, nem assim nienos importantes, por isso que usualmente indispensaveis para que possam ser exe cutados outros projetos, E mais, que, as responsabilidades do Estado nos investimentos de produtividade indireta sao maiorcs, dada a pouca atragao queexercem sobre o capital privado.
ASSISTENaA MEDICO-SOCIAL
«Uma formula para obordar o pro blema do seguro social foi concebida, em fins do seculo passado, na Dinamarca, na base de um piano conjunto destinado a poupar aos cidadaos a ne cessidade de se valerem do socorro dos indigentes. o que acarretava a suspensao dos seus direitos civicos.
A opiniao piiblica achava revoltante que os trabalhadores idosos fossem expostos a essa indignidade, depois de longa vida de trabaiho que tinha contribuido para a prosperidade do pais.
Foi assim concebida uma nova for mula chamada de assistencia social, pela qua] os cidadaos, em caso de ne cessidade. e em determinadas situa?oes. onde sua respohsabilidade propria nao estivesse em causa, teriam dircito a prcsta^oes pagas a custa dos fundos publicos» (20)
Em varies paises, liderados pelo Reino Unido, a fase do seguro social foi superada, na liltima etapa de evolu^ao, pela criagao do Service Nacio nal de Saiide, sem fundamentos contributivos, e com base na receita geral tributaria, que nao be'neficia tais ou quais camadas da popula^ao assalariada, mas, sim, a todos os residentes no tcrritorio nacional, sem dis'crimina^ao alguma (4)
Dessa forma, na medida em que surgem os serviqos de assistencia social promovidos pelo Estado. perde a razao de ser a intervengao do seguro saiide como providencia especial as classes trabalhadoras (21).
Nos Estados Unidos da America, pelo sistema de assistencia social sao atendidos os gastos que representam duas quintas partes dos leitos dos hospitals gerais e quase todos os leitos de hospitals destinados ao tratamento de doentes mentals (22).
No mais ampio sentido define-se a assistencia medico-social como o servigo organizado pela sociedade com o objetivo de nafureza social, isto e, de mteresse coletivo. Dessa forma, toda vez que o Estado promove servigo de saude, tipifica-se a assistencia medicosocial
FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA MEDICA
Win^Iow (22), estudando os diversos paises do mundo, identificou os seguintes sistemas de financiamento da assistencia medica;
I • Pagamento direto, com recursos proprios, por quern recebe Og servigos medicos. Os reis e os grandes senhores tinham seus medicos particulares exclusivos. Os ricos dos nossos dias nao tern dificuldade para pagar os meIhores servigos medicos de que se possa dispor. fiste e o autentico e tradicional sistema do exercicio liberal da medicina, sem qualquer interferencia do Estado.
2. Seguro voluntario. acessivel as pessoas cuja renda e suficiente para pagar os gastos corre'ntes de assisten cia medica e se ve na impossibilidade absoluta de suportar a carga inesperada de uma doenga de proporgoes catastroficas. A experiencia term demonstrado que, mesmo nos paises altaraente industriaJizados, com elevada ren da per capita, o sistema de seguro vo-' luntario deixa sem protegao significafva parcela da populagao, precisamente a de menoreg recursos e de inferiores niveis de saude.
3. Seguro social, compulsorio subvencionado pelo Estado. No Brasil e representado pela Previdencia Social, que beneficia, no momento, cerca de 5 milhoes de segurados, que, com seus dependentes, atinge a 12 milhoes. Com a inclusao dos rurais alcangara a mas-
sa aproximada de 20 milhoes de trabaIhadores e. ao que parece, 40 milhoes de beneficiarios, isto e, 50% da popu- . lagao brasileira (23).
4. Assistencia filantropica, geralmente prestada por instituigoes religiosas. A nao ser quando altamente subsidiadas pelo Estado, essas entidades tendem a insolvencia face ao elevado custo de produgao dos servigos.
5. Assistencia medico-social, presta da pelo Estado, cujas origens dr.tam do seculo XVI, na Inglaterra, com a Poor Law. Destinava-se inicialmcnte aos pobres, evoluindo gradativamente ate chegar ao Piano Beveridge e ao Servigo Nacional de Saude. Parte-se do pressuposto, valido, de que o homem e o mais importante fator de produgao, sob o ponto de vista economico; e a pega rr.ais importante no dis positive de seguranga da Nagao.
SERVICO DE SAODE DAS FORgAS ARMADAS
Milton Roemer (24), estudando a assistencia medica na America Latina assinalou que, no Brasil, como nos demais paises do continente, ha um sis tema especial de assistencia para os membros^ das Forgas Armadas. A observagao c extensiva a todas as na?6es do mundo, seja pelo prestigio que desfrutam os militares, seja por moti ve de seguranga nacional, seja em ra2ao de defesa externa.
Aqui, como alhures. os servigos de saude das Forgas Armadas temi caracteristicas proprias, muito peculiares, que desaconselham a sua prestagao por organizagoes civis.
Os servigos medicos militares no Brasil datam de 1808. Presentemente e expressive a contribuigao desses ser vigos no aparelhamento assistencial do pals.
O Servigo de Saude do Ministerio da Guerra conta com 48 hospitals, 13 outras unidades assistenciais, e uma policlinica, totalizando 62 unidades com cerca de 5.000 leitos.
O Servigo de Saude do Ministerio da Aeronautica tem 7 hospitals, 1 instituto de selegao e uma policlinica, tendo, ao todo, aproximadamente. 1.400 leitos (25).
O Servigo de Saude Naval administra 10 hospitals, 17 outras unidades assistenciais com cerca de 2.000 leitos (26).
No todo, as Forgas Armadas brasileiras operam 65 hospitais, 31 outros estabelecimentos. 1 policlinica c 1 instituto de selegao, somando 98 organi zagoes com 8.400 leitos.
Sao tres redes assistenciais perfeitamcnte distintas cuja fusao, progressivamente, traria vantagens para cada uma em particular, por isso que evitaria paralelismos desnecessarios e, muitas vezesj inconveniente.
£ de notar que as unidades assis tenciais das Forgas Armadas, sem previsao em dispositivos legais, prestam servigos a populagao geral em determiinadas areas onde a carencia de re cursos deixa ao desamparo os habitantes da coletividade civil.
ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL DA ARMADA
Em 1959 foi criada a Assistencia Medico-Social da Armada (AMSA), com o objetivo especifico de atender aos beneficiarios dos militares e pensionistas dos militares do Ministerio da Marinha (27).

A AMSA e financiada por dotagoes proprias no Orgamento da Uniao, pelas contribuigoes mensais do pessoal inscrito (2% do vencimento basico) e pelas indenizagoes relativas a ufiliza-
gao dos seus servigos. A participagao e voluntaria, estimando-se que 50% da tropa esteja inscrita na AMSA, deixando de contribuir sobretudo o contingente de marinheiros, jovens solteiros, sem dependentes a quern beneficiar.
O pessoal que trabalha na AMSA e constituido de militares, de servidores civis do Ministerio da Marinha e de pessoal contratado sob o regime da Consolidagao das Leis do Trabalho.
A AMSA possui servigos pr6prios, diferenciados, administrados diretamente, na Guanabara (Hospital N. S. da Gloria e Ambulatorio Central) e em Niteroi (Ambulatorio). Nas demais areas os contribuintes sao atendidos nos hospitais do Servigo de Saude Naval.
A AMSA representa, em ultima analise, uma providencia eficaz no sentido de reforgar o orgamento da receita do Servigo de Saude da Armada, permitindo a elevagao dos padroes tecnicos.
No Exercito e na Aeronautica os beneficiarios dos militares sao assistidos pelas unidades dos respectivos Servigos de Saiidc.
CONCLUSOES
1. O seguro saude e um meio atraves do qual os individuos procurara assegiirar a assistencia indispensavel a recuperagao da saude no momento emi que isso se faz necessario, por intermedio de um metodo de economia coletiva que garante o financiamento dos servigos medico-assistenciais.
2. As coletivid'ades militares, no interesse da seguranga nacional, tem assegurado pelo Estado o financiamen to da assistencia medica de que necessita, nao justificando, por isso mesmo,
a cria?ao de urn sistema de seguro saiide-
3. O objetivo dos responsaveis pelos Services de Saude das Forces Arma das deve ser o aprimorainiento dos ser vices em curso, sem excluir do plane/amento a hipotese de sua unificacao de mode a evitar paralelismo que desfavorece a eftciencia e resulta em dis•persao de recursos.
BIBLIOGRAFIA CITADA
J. ASSIS, Armando de Oliveira. Compendio de Seguro Social. Funda^ao Getulio Vargas. Rio, 1963
"ESSEGUROS do BRASIL. No^ocs Fundaraentois de Seguros, n." 15, IRB, 1947.
3. GENTILE DE MELLO, Carlos, O Seguro Sauae no Brasil. Tribuna Med.ca ano VII, n.o 284, junho, 1964
Revste Paul:sta de Hospitais, ano XL
Tck ^ R^vista do ano AXV, n. 146, agosto, 1964,
4. PISCHLOWITZ, Estanislau Funda mcntos de Politica Social, PonSia"
Universidade Catoiica do Rio de Jancip®V.- Instituto de Estudos Po.iticos e Sociais, Agir, Rio 1964.
5. SIGERIST Henry E. On The Soc oJogy of Medicine. Edifed by Milton
VorkM960. I"':-. New
6. HEALTH INSURANCE INSTITUTF
Ho >1 Ffanciamento do Hospita . 1 Jornada de Administra?ao Hosp.talar. Associa?ao de Hospita's do Kio de Janeiro, R o, 1959.
8. FAULKNER, Edwin J. Health Insu
New
Sarf.! Medicos, Sequro did ® km® Escolha. Tribuna M4- dica. ano VII. n." 290. setembro, 1964
10, pGUR9 SAQDE. Mesa Redonda no
Li Classes Liberals. Jorank ^ Brasileira, ano VI, n. 196. setembro, 1964.
n. GENTILE DE MELLO. Carlos. Segud° t'dh r® Privado, Revista do KB, Instituto de Resseguros do oatubro. 1964 Yu 291, ou- tubro, 1964.
12. LEITE.CelsoBarroso: VELLOSO, Luir Paranhos. Previdencia Social. Zahar Editores. Rio, 1963.
13. NETO, Aben Athar. Curso de Previ-' dencia Soc'al, Distribuidora Record Editora, Rio. 1961.
14. JOaO XXIII, Carta Enciclica Mater et Ma^fjtra. Ministerio do Trabalho e Previdencia Social, Comissao Tecnica de Orientacao Sindical, Livraria Jose Olymp^o, Rio, 1963.
15. OLIVEIRA, Moacyr Velloso Cardoso, A Previdencia SociaJ Brasileira e a sua nova Lei Organica — Doutrina, Exposi;ao e Interpreta?ao. Distribuidora Re cord Editora, Rio. 1961.
16. ASSIS, Armando de Oliveira, Tecnica Interpretatva das Leis de Seguridade Social, Monografia da Revista dos BancSrios, Rio, I960.
Oc'nvio Gouveia; MARIINS. Lui2 Dodsworth; RAMOS, Fer nando de Andrade. Reforma da Previ dencia Social. Revista do Conselho Nacionai de Economia, Nov/dcz. n " 48 Rio, 1959.
18. BEVpiDGE, Sir Willam. Scguridad . Social y Servicios Afines, Editorial Losada S. A.. Buenos Aires. 1943,
19. CAMPOS. Roberto de Oliveira EconoAocc- P'^ncjamento e Nacionalismo. APEC Editora. Rio. 1963.
internacional DO TRABALHO. Li?oes de Scgurda1960 I"<'ustrjarios. n.6 70/89. Rio,
21. FISCHLOWITZ, Estanislau. Previdencia Social. Departamento Administrati ve do Service Publico, Servigo de Documcntacao, Rio, 1956.
22. WINSLOW, C.E.A. Lo cue cucsta la wlermedad y lo que vale la salud. Ut cina Sanitaria Pananiericana, Orga1955^^° da Saude, Washington,
23. FISCHLOWITZ, Estanislau, Prcblemas Crucials da Previdencia Social Bra sileira. Rio, 1964.
24. ROEMER, Milton I. La Atencion Medica en Amer ca Latina, Union Panamcncana, Secrctaria Geral, OEA. Was hington, 1964.
25. BIJOS Gerardo Majella. Servigos Me dicos Militarcs no Brasil. Enciclopedia Barsa, vol. 9, Rio. 1964
d. Saude Naval. Arquivos Brasileiros de Med cina Naval. Dirctoria de Saiide da Marinha, ano XXII, n." 1/2. R^o, 1951,
27. MINp-reRIO DA MARINHA. Diretonal do Pessoal. Regulamento para a Assistencia MMco-Social da Armada, Dccreto 47.057, de 1959.
LR.B,: retrospectiva de 1964
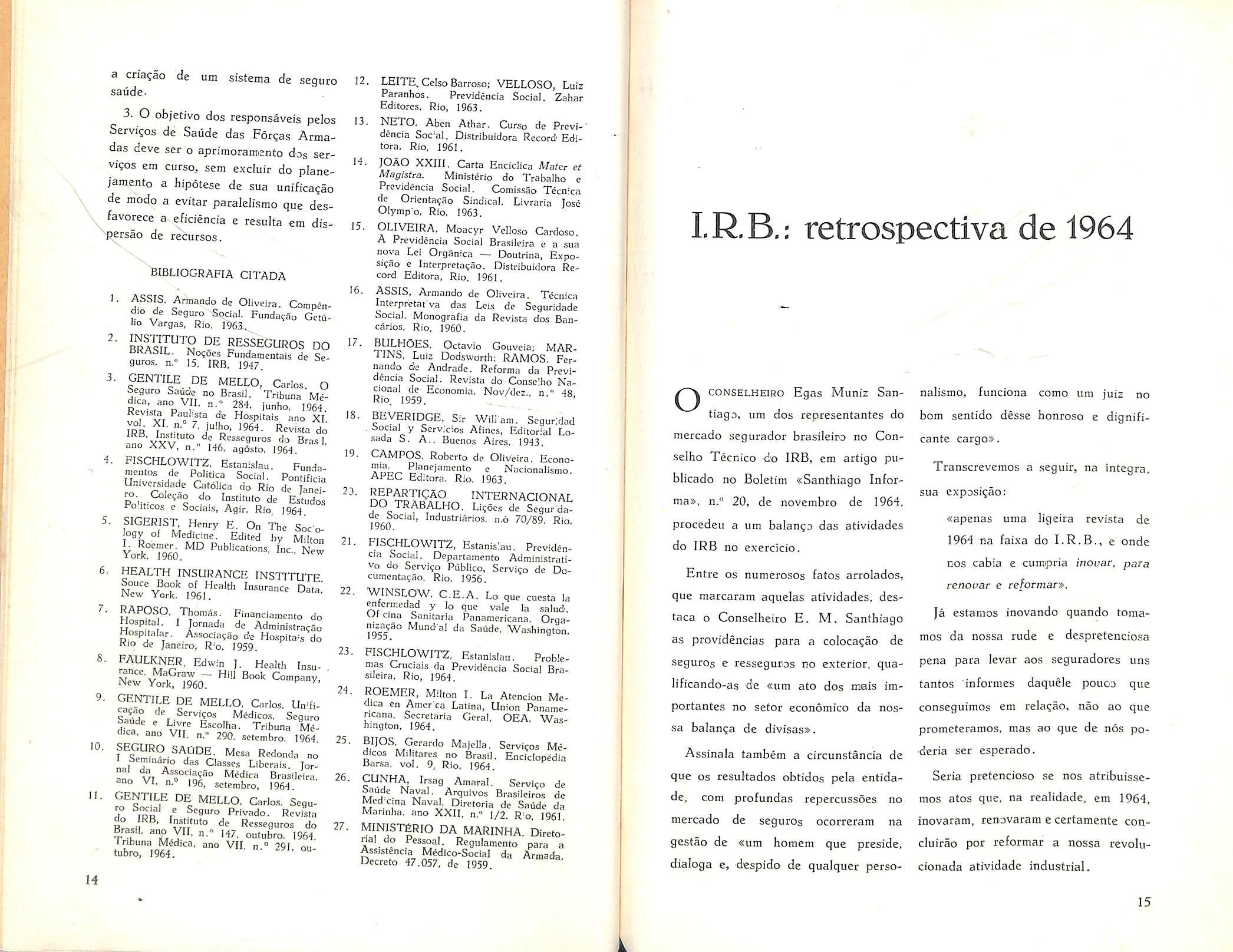
O CONSELHEiRO Egas Muniz San tiago, um dos representantes do mercado segurador brasileira no Con selho Tecnico do IRB, em artigo publicado no Boletim «Santhiago Informa», n." 20, de novembro de 1964. procedeu a um balan^o das atividades do IRB no exercicio.
Entre os numerosos fates arrolados, que marcaram aquelas atividades, destaca o Conseiheiro E. M. Santhiago as providencias para a colocagao de seguros e resseguros no exterior, qualificando-as de «um ato dos nuais importantes no setor economico da nossa balan^a de divisas».
Assinala tambem a circunstancia de que OS resultados obtidos pela entidade, com profundas repercussoes no mercado de seguros ocorreram na gestao de «um homem que preside, dialoga e, despido de qualquer perso-
nalismo, funciona como um juiz no bom sentido desse honroso e dignificante cargo».
Transcrevemos a seguir, na Integra, sua exposigao:
«apenas uma ligeira revista de 1964 na faixa do I.R.B., e onde nos cabia e cumpria inovar, para renovar e reformar».
Ja estamos inovando quando tomamos da nossa rude e despretenciosa pena para levar aos seguradores uns tantos informes daquele pouoo que conseguimos em relagao, nao ao que prometeramos. mas ao que de nos poderia ser esperado.
Seria pretcncioso se nos atribuissemos atos que, na realidade, em 1964. Inovaram, renovaram e certamente concluirao por reformar a nossa revolucionada atividadc industrial.
Tudo foi fruto, sem duvida, da agao decidida de todos aqueles que tiveram a sua parcela de responsabilidade nesse trabalho.
Muito, e eficientemente, calaboraram os orgaos tecnicos dos Sindicatos
todo o, pals e da Federagao das
Empresas de Seguros Privados.
Trouxeram sugestoes e trabalhos cujo encaminhamento nos cumpria junto ao Canselho Tecnico do Institu te de Resseguros do Brasil, que em perfeita consonancia e entrosamento com o DNSPC comanda o dcsenvolvimento das opera^oes da indiistria seguradora brasileira.
Um tanto quanto desejada entendimento entre a Federa^ao e Os representantes da classe seguradora no CT do IRB deram oportunidade de, entre outras ver concretizadas as seguintcs raedidas:
^ — Criagao de uma faixa suplementar — em segunda fase do excesso de dano — no oxcedente unico incendio, cujos auspiciosos resultados ja puderam ser constatados pelos seguradores.
^ A eleva^ao dos indices dessa mesma faixa, por reflexo de seus exccdentes resultados industrials, com uma paralela e desejada economia de divisas monetarias.
^ Resseguro percentual incendio, ambicionado metodo pelo qua! vinha-
mos de ha muito lutando. O que significa essa medida, semi embargo de ainda algumas duvidas pairarem sobre a justeza de sua formula — que a se comprovar retificavel. o sera inapelavelmente — cada um segurador ja o tera medido.
4 — O aumento substancial dos LL e dos FRs num primeiro passo para sua oportuna corre^ao no proximo semestre, Ja agora em indices efetivamente dosados pelas proprias corregoes determinadas pelo Governo Federal.
5 — A reformulagaa, tambem ansiosamente reclamada, da Lei de cosseguro incendio, multiplicando por 10 os seus anteriores indices. E, paralelamente, uma reforma judiciosa com a •distribuigao em partes iguais de 25% do total do excedente linico entre todas as seguradoras.
Aqui se previu corrigir os eventuais desvios de uma politica de absorgao cxagerada dos novos indices do cosseguro.
6 — A lei que inovou, para reformar, a politica de colocagao de segu ros e resseguros no exterior. Foi um ato dos mais importantes no setor economico da hossa balanga de divisas.
Os excepcionais e ate surpreendentes resultados para a economia brasileira, alem do efetivo e indispensavel controle das operagoes realizadas com 0 exterior, foi finalmente alcanpado,
por efeito desse dispositive governamentai, que coube ao CT do IRB regulamentar, fazendo-o da forma que tern confirmado o acerto de sua aplicagao.
7 — A inovagao no campo do seguro de Acidentes Pessoais, com um novo criterio de tarifagao, simples e tecnico, substituindo o ortodoxismo de regras inoperantes e contemporaneos do 1." Centenauio do Estado da Guanabara. E, paralelamente, o que se seguira — Resseguro percentual, fracionamento de premios de resseguro -e outras justas medidas que permitam o descnvolvimento dessa promissora carteira. A duplicagao dos limitcs de aceitagao automatica — hoje Cr$ 30 milhoes, sem os obsoletos e irritantes «questionarios».

8 — A elevagao dos juros, de 5 e •6% para 8% sobre as somas correspondentes as reservas retidas pelo IRB.
9 — A redugao, do fixe de 10,5 % sobre os premios incendio do exceden te linico a titulo de despesas de administragao, para a soma que realmente for devida, pela distribuigao proporcional do todo das despesas em rela-
•gao a receita de cada carteira. £sse novo criterio se impunha, pelas perspectivas, em parte ja confirmadas, da influencia dos novos niveis do cosseguro incendio, no volume da receita incendio.
10 — O fortalecimento do mercado segurador brasileiro, com uma corregao cuidadosa mas indiscutivelmente necessaria, nos indices de retengao do mercado. dai decorrendo cevisao de todos OS contratos de resseguro no ex terior.
11 — Os estudos que se vem rcalizanda e que se concretizarao seguramente em 1965, em tres importantes resolugoes:
1.") Seguro em moeda estrangeira, propiciando um campo de agao hoje impenetravel por forga da natureza das operagoes que o exigem, ligadas ao campo de operagoes internacionais.
2.") A «reforma» e existencia real da Bolsa de Seguros como orgao de fortalecimento do mercado brasileiro, com a criagao dos «subscritores individuais».
3.°) O piano assistencial de emprestimos e financiamento da casa pr6pria dos funcionarios das companhias segu radoras.
Essa a retrospective, simples mas seguramente honesta de uma parte do que foi nosso trabalho no C.T., com a responsabilidade de' representar as sociedades seguradoras e o Governo Federal, sob a Presidencia de um homem que preside, dialoga e, despido de qualquer personalismo, funciona como um juiz no bom sentido desse honroso e dignificante cargo.
Reforma do sistema segurador brasileiro
Por iniciativa da Companhia Seguradora Brasileira, uma Comissao Es pecial sob a presidencia do Prof. Themistocles Brandao Caualcanti, elaborou urn anteprojeto de lei que teria o objetivo de dar nova estruturagao ao sistema segurador brasileiro.
Em face da importancia e serieddde' do assunto. o "Cejnfro de Estudos de Seguros e Capitalizagao» ouviu tecnicos. e especiaUstas, entre eles o Dr. Jose Accioly. que ja exerceu elevados cargos no setor de seguros da Ad'ministragao Publica, inclusive a Vice-PreSid^ncia do I.R.B.
Como contribuigao ao exame e debate do assunto, a «Revista do I.R.B.»
fara a publicagao dos principais trabalhos de analise e discussao que surgirem, inicidndo essa contribuigao. neste numero, com a insergao do parecer do Dr. Jose Accioly de Si.
PARECER DO DR. JQSfi ACCIO
LY DE SA
Desde algum tempo, sob a pressao de dificuldades e problemas do seu ofj'cio, OS seguradores vem sendo induzidos a provocar uma revisao do estatuto legal que Ihes rege a atividade.
Nunca, entretanto, a conjuntura politica favoreceu uma tal iniciativa, de modo que a classe tern mantido suas pretensoes reformistas a bom recato.
A cautela ditada pelo fator politico, que sempre funcionou como uma preliminar no trato do assunto, nao deu
ensejo a que se promovesse, ha mais tempo, um estudo de profundidade comi o objetivo do plancjamento dessa reforma. Sem a perspectiva de uma aplica(;ao imediata de suas conclusdes, tal estudo sofreu uma natural e automatica postergagao.
A todo momento faltou ao mercado segurador, par isso, senao um invcntario complete dog problemas a enfrentar, pelo menos a identificagao pre cise de todas as suas causag e origens, o que constitui investigaglo absolutamente indispensavel ao perfeito equacionamento de tais problemas.
Gontudo, 0 assunto foi agora colocado em pauta. forgando a classe se guradora a uma decisao que impiica nao somente no exame da conjuntura politica, como tambem na apreciagao de todos os angulos que uma reforma de estrutura pode envolver.
Assim a questao foi posta pela Couipanhia Seguradora Brasileira, que patrocinou a elaboragao de um anteprojeto ora submctido ao julgamento da classe e sobra- o qual foi solicitado o nosso exame, de que vimos prestar contas com a apresentagao deste pa recer.
CRfTICA DO ANTEPROJETO
Como ja e do conhecimento geral, o anteprojeto fixou como colunas mestras do novo sistema: no setor administrativo, um Conselho de Seguros Privados e Capitalizagao: no setor economico, um rlgido esquema de custos de aquisigao e de cobranga de premios, cuja eficacia teria o suporte de um conjunto drastico de mediias repressivas.
De outrag coisas. porem, cuida o anteprojeto. Mas nog pontos antes referidos e que se fixaram as vigas mcsfras da reesfruturagao pretendida para o sistema segurador.
Assim, iremos aprofundar a analise da materia, fazendo a critica das solugoes oferecidas a partir dos fundamentos em que elas se apoiam.
1. Quanta aos fundamentos
O anteprojeto e todo ele construido sobre tres premissas basicas. A pri-
meira e a de que o seguro e uma atividade economica que «regrediu de forma alarmante nos ultimos 10 (dez) anos».
Desse movimento regressivo, simplesmente, a duas causas: 1) a inadequada estrutura administrativa do setor piiblico: 2) a distorgao economico-financeira provocada pelo alto custo de aquisigao de negocios e pelo atraso existente na cobranga de premios.
Nossa primeira observagao vai aos indices estatisticos utilizados na apre sentagao do anteprojeto. Nao coincidem com os que obtivemos, nao so atraves de elementos fornecidos pelo IRE, como da Fundagao Getulio Var gas e do IBGE.
Pelo Quadro I {anexo n.° 1), verifica-se que houve um crescimento real na arrecadagao de premios, registrando-se declinio apenas no ano de 1959.
Os Excedentes, que sempre se situaram acima do ano-base (1954), tiveram decrescimio apenas em 1962 e. 1963.

Quanto aos Ativos Liquidos, que dao a medida da capacidade operacionai das empresas, superam o anobase ate 1958, mas dai em diante entraram em acentuado decrescimo fenomeno, alias, apenas de ordem contabil, pois sofrera a indispensavel corrcgao com a reavaliagao dos ativos imobilizados, em decorrencia de lei recente.
Em termos de arrecadagao. porianto. nao houve «regressao alarnnantex. da atividade seguradora: ao contrario, o que ocoreu foi seu incremento.
Alias, coinciiencia muito expressiva c digna de registro e a que se observa entre as curvas do Produto Interno Bruto c da arrecadacao de premios (anexo n.° 2).
No periodo 1953 a 1962 houve uma nitida tendencia de manter-se em torno de 1% a reiagao entre as duas marchas.

'x Dai a conciusao de que a atividaie seguradora vem mantcndo urn crescimento mais ou menos paralelo com o da propria economia nacionai.
Da tendencia regressiva do seguro. que tanto contribuiu para oricntar os patrocinadorcs do anteprojeto, restaria de pe, como se ve, o declinio real havido na remiunera^Io dos seguradores. que comegou a ocorrer a partir de 1957 para acentuar-se nos anos de 1962 e 1963. quando os indices registrados desceram abaixo do nivel atingido no ano-base.
fisse, porem, nao e um fenomeno de correla^ao simples ou iimitado a umas certas e poucas origens.
Ao contrario, existe uma correlagao mtiltipla e. em todo compiexo de causas, se nele chegou, porventura, a figurar a inadequada estrutura administrativa do setor pubiico, isso tersc-a verificado cm proporgao minima, possivelmente insignificante. As raizes ■do problema sao muito mais de natureza economica.
A aquisicao de um seguro tern hoje, realmente. um alto custo. tendo havi do na cobranga de premios acentuada queda de ritmo.
Mas ai somos dos que acreditam que a irfluencia predominante e de fatores conjunturais, presentes em todo o pro.cessa economico e nao apenas na atividade seguradora.
Propria e particular ao mercado de seguros, em materia estrutura), tera sido apenas a violenta muta^ao ocorrida na composi^ao da oferta, estampada no Quadro III (anexo n." 3). De 1953, quando existiam 137 seguradoras. o mercado passou a ser trabaIhado por 176 erapresas em 1963, modificando-se em alta escala a curva da oferta.
Isto. em face de uma procura que se pode considerar inelastica como a do seguro, somente tera concorrido para acirrar em alto grau a concorrencia. com toda a sequela de efeitos prejudiciais, que se refletem sobretudo nos resultados da explora^ao economiica.
Facil e verificar, pois, -a relagao de casualidade entre a queda de remuneragao da atividade seguradora e o crescimento da oferta.
Ve-se, nos Quadros anexos I e II, que o mais forte declinio de remunera^ao coincide justamente com o mais forte increniento do niimero de companhias em operagao.
Outro elemento a considerar. numa analise mais atenta da evolu^ao do mercado, e a marcha estatistica dos Ativos Liquidos, ja que estes determiinam os niveis de capacidade operacional das empresas de seguros.
Os Ativos sofreram uma baixa vertiginosa, exatamente nos dois ultimos anos de pior remunera^ao para os seguradores.
A falta de adequada corregao monetar.a dos seus valores contabeis, os Ativos Liquidos amarraram as seguradoras a insatisfatorios indices operacionais, tanto quanto tiveram influencia negative, nesse sentido, os chamaios «Iim;tes legais».
QUADRO 1
PHltMIO.S. KXCl-:i)KNTI-;S K ATIVOS I.IQUIDOS DO MHHCADO SKCiUUADOR IJHASILKIRO
Fonlos: 1| Dados do m.-icadti sisuindui-; IRB; 2) Intllcra o-ovuia d<i in.-.c,..: KiimlatAo Gmilio VarKas. QUADRO II
HELAOaO PKBCHNTf-AI, — PlUtMIOS-DK SKOI'lUl-S; I'UODl'TO INTBUNO UUfTO
(U Etti billidi'., do oru^i'troK' 121 Uiri iiiillino- do orozoircs.
A n 0 Ndrn'TO d** sociodad''?: Indices
Alias, foi em conseqiiencia desse fato que Os seguradores. sofrendo nos dois ultimios anos pior remuneragao, mais pressionaram o setor piiblico para obter melhoria dos seus limites operacionais, e o setor publico, em que pese as deficiencias de estrutura^ao que agora se alega, pade encontrar meios de atender a aspiragao da classe se\guradora, aliviando a tensao do estrangulamento provocado pelos desatualizados limites de tcabalho. alterando per duas vezes os «]imites legais» das empresas.
Do mesmo modo, p.ode o setor pii blico reformular as condigoes em que vinha sendo praticado o cosseguro. dando-lhe nova sistematizagao e deslocando-o, do ponto de vista quantita tive, para niveis mais consentaneos com a realidade monetaria nacional.
Essa renovaciao das bases do cosseguro veio atacar outro aspect© do problema que nos liltimos anos aflige o mercado: o do custo administrative dessa forma de pulverizagao de riscos, que e a reciprocidade de negocios, onde o ritmo de cobranga de premios nao pode servir de modelo a nenhum piano que se pretenda introduzir para ordenar o regime financeiro das em presas de seguros.
Cabe ainda mencionar, no exame da taxa de remuneragao dos segura dores, o probleraia dos investimentos de reserves.
Sstes, submetidos a uma politica financeira propria, sofreram distorCoes, a partir de 1953, com a vigencm das leis que criaram as Obriga?oes do Reapareihamento Economico e o BNDE. E parte das aplicagoes as companhias de seguros vieram com isso a se transformar, deixando de ser propriamente inversocs para se

tornarem numa especie de imposto disfargado, diminuindo, conseqiientemente, os seus resultados patrimoniais (Quadro IV, anexo n.° 4).
Tudo isso contribuiu, naturalmente, para determinar o declinio, acentuado em 1962 e 1963, da taxa de remunera^ao.
Bncontradas formulas adequadas para a correcao dessa taxa, tera o seguro brasileiro dado urn grande passo. pois, quanto ao mais, tudo se resume em melhorar os indices de arrecada?ao de premios, ate aqui mantidos em constante crescimento. E essa nao e melhoria que se pretenda alcangar atraves de uma politica em continua revisao, por via legislative ou administrativa: constitui muito mais urn problema de «marketing», que, em pnmeiro lugar e acima de tudo, cabe ao empresariado resolver, isto e, um problema para a livre iniciativa.
Nao vamos aqui fazer compara?ao entre o segtiro brasileiro e o de outros paises. pois os dados existentes sac para tanto insuficientes.
£sse nao e um tipo de comparatao que se possa fazer a base de elementos parciais, como, por exemplo. a contribui?ao da atividade seguradora para a taxa de forma?ao do capital nacional.
Muito menos, sob este aspecto parcial, e possivel comparar o Brasil com a Suisa ou a Inglaterra, os dois maiores centres internacionais do resseguro. para onde afluem os excedentes de todos os outros mcrcados. num movimcnto de «exporta?oes invisiveisa sem paralelo comi quaisquer outros paises.
Alem do mais, seria ocioso o cotejo, se nao tencionassemos adotar para o seguro brasileiro a mesma estrutura de sistema vigente naqueles paises.
De qualquer forma, cremos haver demonstra.do que nada ha de alarmante com a atividade seguradora. Na turalmente, probiemas existem.
Mas o Brasil vive uma fase de transi^ao emi seu processo historico, tendo emergido ha pouco de uma economia semicolonial para uma intensa industrializagao.
E isto, em meio a todas as perturba?oes e distor^oes de um regime inflacionario cronico, de modo que nao seria concebivel -que o seguro pudessc .vir a constituir uma especie de ilha nesse mar de probiemas em que vem navegando a propria economia nacio nal.
Os seguradores, portanto, diante dos indices que tradusemi e refletem a marcha de sua atividade, nao tern maiores razoes de receio e muito menos para provocarem uma reforma de profundidade e grande amplitude no atual sistema de operagoes.
2.
Feita a verificagao de que os fundamentos do anteprojcto nao correspondem a extensao da reforma preconizada, mesmo assim passaremos a anaiise das solugoes que se pretende sejam adotadas.
2.1.
A cria^ao de um Conselho Nacio nal de Seguros Privados e Capitaliza?ao, de alta hierarquia e congregando o setor publico e o privado, seria, em primeiro lugar, uma solu^ao desproporcionada k natureza dos atuais pro biemas de seguro.
Mas isso nao e tudo, nem mesmo chega a ser o principal. Com esse
Conselho, e conn os orgaos que completam o sistema sob a sua superior jurisdigao, o que se pretende e dar ao seguro, no setor publico que Ihe e correspondente, uma estrutura administrativa que tern per modelo a da Re forma Bancaria, «que passou a cons tituir quase que a reprodugao simetrica do esqueraa elaborado».
Ora, nao e logico nem curial estabeleccr analogias de solu?6es para probiemas entre si diversos e sem qualquer semelhanga.
Mesmo o exame superficial do projeto de Reforma Bancaria desde logo revela qnc o Conselho Monetario Na cional, equivalente ao Conselho Na tional de Seguros Privados e Capitaliza^ao. e umi orgao com fun^oes tipicas e basicas de um Banco Central.
Tanto assim que Ihe cabem, entre outras coisas: 1) a adapta^ao do vo lume dos meios de pagamentos as reais necessidades da economia nacio nal; 2) a estabilidade do valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionarios ou deflacionarios de origem interna ou externa, as depressoes econoraicas e outros desequilibrios oriundos de fenomenos conjunturais.
Ai estao enunciados, com efeito, os objetivos essenciais de um Banco Cen tral. que atraves de controle dos meios de pagamento e da estabilidade mone taria funciona como um instrument© de equilibrio do sistema economico, evitando-lhe as depressoes tao temidas pelos que sufragam a teoria ciclica da economia capitalista.
Tais fundoes sao da maior transcend€ncia, alem de exigirem agao constante e bem atenta. Numa econo mia monetaria, em que o dinheiro e o estalao de todos os valores. esta visto que a influencia de um Banco Central
se estende a todo o sistema de produ?ao de bens e services.
Assim. e possivel desvendar qualquer analogia, por mais remota que seja, entre o papel do Conselho Monetario Nacional e o do Conselho Naaonal de Seguros Privados e Capitaliza?ao?
& dare qqe nao. Nem mesmo do pento de vista estritamente financeiro, pois cotno fonte de poupanga e investimentos. o seguro seria objeto de um cantrole setorial por parte do respective Conselho, ao passo que as fungoes do Conselho^ Monetario senam de ordem macro-economica.
O sistema segurador. quando muito, gera poupanga, como de resto o fazem tantas outras atividades.
O sistema bancario, ao contrario. capta poupanga. transformando-a, isto Sim, em moeda bancaria cujo fluxo constante gera a expansao do volume de meios de pagamento. E essa ex pansao, a bem do funcionamento organico e equilibrado da economia, necessita estar sob o controle permanente de um orgao de alto nivd.
Mesmo diante dessa descrigao sumana, nao e possivel divisar semeIhangas entre os dais sistcnnas — o segurador e o bancario — capazes de justificar a analogia das estruturas adramistrativas de ambos os sistemas. Um, cuida de gerir riscos patrimoniais e materials, ao passo que o outro tern fungao de captar e redistribuir pelo organismo economico a poupanga neste gerada.
Conseqiientemente, confundir os dois sistemas e lima ilusao de otica, que deve ser evitada.
Por outro lado. e mister lembrar que de um modo gera] os Conselhos. na Admiinistragao Publica, com sua
forma colegiada e o seu nivd hierarquico, sao uma especie de instancia onde se processa a coordenagao, por vezes necessaria. da agao estatal, fragmentada pda diversidade de orgaos autonomos, com ingerencia na mesma area economica ou administrativa que em comum Ihes interesse.
O seguro. entretanto, constitui area economica que esta livre do problema da diversidade de jurisdigoes.

Ai nao interfere sehao o Ministerio da Indiistria e do Comercio, de modo que faltaria a umi Conselho Na cional de Seguros a finalidade admi nistrativa do entrosamento de diferentes orgaos do Estado.
fi bem verdade que o antcprojeto inclui em tal Conselho "o Ministro da Fazenda.
Mas este decerto viria a ser desengajado como um corpo estranho, de presenga desnecessaria e destituida de scntido.
Com isso, o Conselho tornar-se-ia, quando muito, um orgao interno do MJ.C., de nivei departamental, com a unica diferenga de que nele se fariam representar seguradores e corretores.
Mas, para ouvir essas duas classes. 0 inisterio nao teria necessidade de traze-Jas a sua esfera administrativa.
Bastaria o contacto processado com as respectivas organizagoes sindicais, que, na legislagao brasileira, temi in clusive a tarefa de auxiliar e asscssorar os poderes piiblicos nos assuntos da sua esfera de representagao.
Assim, a criagao de um Conselho Nacional de Seguros e, do ponto de vista administrative, ideia concebida acima e alem das exigencias da realidade.
2.2, — Do ponto de v'.sta politico
Encarado do angulo da polltica de seguros, o Conselho projetado importaria em daf nova dimensao a interfei'^ncia estatal na atividade seguradora, dimensao de grande porte.
Mas, agora, se pretende ampliar e alterar esse regime, transferindo-se do Poder Legislative para o Executive a fungao normativa de estabelecer a disciplina e ordenamento da atividade seguradora,
Tuoo isso ocorre logo em seguida a uma revolucao democratica, que tenii anunciado repetidamente o proposito de reconduzir a livre iniciativa a sua verdadeira posigao.
E tudo isso ocorre porque, nos dois liltimos anos, declinou a taxa de remuneragao dos seguradores, aiimcntando-se a ingenua esperanga de que a mao de ferro do Estado, penetrandj mais a fimdo no sistema segura dor, possa ter o efeito benfazejo de melhorar a rentabilidade das empresas.
Surpreendentemente. essa iniciativa nao e do Estado, mas dos proprios seguradores. idealizando-se um siste ma em que se entrega a um Conselho da Administragao Publica poderes da maior ingerencia sobrc os empresarios. pois se outorga ao Estado o poder de confirmar-lhes ou recusar-Ihes a eleigao para cargos de diregao nas empresas.
Politica de seguros, em seu sentido mais amplo, significa a atitude do Es tado em face da atividade seguiadora. E essa atividade, a nosso ver, deve continuar a ser gerida pelo modo tradicional: o Parlamento legisia, o Governo autoriza e fiscaliza.
A ordem economica repousa no sis tema de livre empresa e este e tanto
mais desfigurado quanto maioi se torna a ingerencia estatal.
Se nao e satisfatoria, em termos globais, a renda da exploragao eco nomica do seguro, deve cuidar de meIhora-Ia o proprio empresariado, diagnosticando os males que afligem o mercado e administrando-Ihe a adequada terapeutica.
2.3 — Do ponto de vista economicofinanccico.
Cabe a esta altura examinar o rigido esqucma de custo de aquisigao e de cobranga. de premios, isto e, a outra coluna mestra sobre a qual o anteprojeto pretende edificar a nova estrutura do sistema segurador brasileiro.
Emi linhas gerais, o que se pretende e o tratamento de problemas economicos com soiugoes e processes quase, diriamos, de cunho poiicial.
Procura-se fazer com que o merca do de seguros pratique o sistema capitalista, mas atraves de normas que seriam proprias de um sistema socialista, tentando-se, assim, uma simbiose iirpossivel.
Em outras palavras. o anteprojeto decreta a revogagao implicita da lei da oferta e da procura, punindo com scvcridade os que. desobedecendo a lei positiva. observem as leis naturals da economia.
O anteprojeto, com rigor geometrico, traga um esquema operacional para a atividade seguradora, Nessa construgao ha niveis certos e inflexiveis para OS custos de aquisigao, e ha prazos inelasticos para o encaixe de premios.
Uma construgao que simplesmente igiiora as leis do mercado e as caracteristicas economicas do seguro, deixando de dar-se conta de que nao e por mere gosto ou prazec dos segura-
dores que surgiram as praticas hoje correntes no mercado.
Foucastii chamou a aten^ao para duas singularidades que tornam suig&neris o mecanismo da formagao de pregos no seguro.
A primeira consiste na inversao do ciclo da produgao, pois o segurador , somente conhecc o custo real da sua hiercadoria bem depois de ser ela vendida.
A outra singularidade consiste em nao sofrer a oferta limitagoes, como, por exempio, as de materias primas e bens de capital, o que a forna altaaiente elastica.
Tais caracteristicas sac, logicamente. de uma influencia profunda, contribuindo para o aviitamento dos pregos.
fi facil observar, sem duvida, que OS custos de aquisigao nao se podem submeter a niveis rigidos, pois o segu rador. dentro da concorrencia existente, e naturalmente levado a faze-Ios oscilar a niedida que declina o custo do risco. Subindo este, a tendencia do custo da aquisigao e para baixar.
No proprio mercado brasileiro o fenomeno pode ser amplamente constatado, pois e sabido que variam de uma para outra Carteira os custos de aquisigao, numa especie de fungao inversa do coeficiente sinistro-premio..
Se o animio inabalavel da classe seguradora e o de tornar certo e invariavel o custo de aquisigao, dois preceitos devem ser incluidos de acrescimo no anteprojeto: um, decretando a extingao da concorrencia, isto e, do sistema da livre empresa; outro, vedando em termos categoricos as flutuagoes de sinistralidade.
Ai. entao, tudo ficaria certo, simetrico, rigorosamente geometrico.
A confinuar, porem, o sistema de mercado e de competigao, comi suas virtudes e defeitos que na media final outra coisa nao fazem senao favorecer o interesse publico, entao cumpre respeitar e compreender as regras do jogo ecoiiomico. que tem suas leis proprias, nao raro de maior forga e vigor que OS esquemas juridicos feitos para modelar os fatos ao inves de serem por estes modelados.
No mesmo piano se coloca a questao da cobranga de premios. As condigoes de pagamento completam, na pratica comercial, o quadro financeiro da operagao de compra e venda.
Desse modo, igual ao que acontece em relagao ao prcgo do seguro, nao se pode e nao e aconselhavel tragar normas rigidas para o pagamento do premio.
O seguro. scndo uma atividade plenamente engajada no processo economico, torna-se pretensao va e inocua querer rege-lo por normas contrarias a circundante reaiidade nacional.
O que ocorrer em todo o sistema economico, fatal e inexoravelmente tambem ha de ocorrer no setor do seguro.
Portanto, o que e preciso e dar ao seguro a flexibilidade que o tome capaz de harmonizar-se e acomodar-se com as praticas comerciais imperantes no contexto da economia nacional: nunca, de modo algum, manieta-lo e jungi-lo a esse Conselho idealizado no anteprojeto, pois ai seria dificil o convivio e o entendimento da ativida de seguradora com as demais areas do sistema economico do pais.
Em 17 de novembro de 1964.

ass. /ose Accioly de Sa
PROF. CAETANO STAMMATISeguro de Credito a Exportagao
O sistema italiano de seguro de credito a exportagao. observado harmonica.rnejnte com. os sistemas de seguro dos paises da Comunidade Economica Europeia I
1 — Uma politica objetiva para manter as nossas vendas ao exterior vem sendo seguida pela Italia ha cerca de um decenio atraves a utilizagao de seguros e financiamentos dos cre■ditos a medio e a longo prazo para a icxportagao.
Trata-se de um periodo breve, se -considerarmos a extensa experiencia ja adquirida nesse camipo pela maioria •dos paises industrializados do mundo.
Basta citar a Inglaterra, ondeo«Export Credits Guarantee Departments pode aprescntar nesse campo uma supremacia tecnica: a Franga. onde a «Compagnie Frangaise Assurance
Credit* e o «Banque Frangaise pour le Commerce Exterieur* criaram um bem coordenado sistema de garantias
e financiamento das exportagoes a credito, a medic e a longo prazo: a Alemanha. onde a «Ausfuhr Kredit* e a «Hermes» permitiram as industrias alemas a reconquista de mercados exteriores pelos financiamentos e segu ros de credito a exportagao: e finalmente, a Belgica, onde o «Office Na tional du Ducroire» pos em pratica um sistema de seguro de credito dos mais habeis sob o ponto de vista funcional e dos mais eficientes para as realizagoes praticas. (A proposito, convem observar que a adogao de um sistema similar aos vige'ntes na Eurqpa, tenha sido posta em pratica apenas recentemente nos Estados Unidos, onde os seguros e os financiamentos as expor tagoes a credito estao a cargo do •xExport-Import Banks, e de algum tempo para ca tambem a cargo da «Foreign Credit Insurance Associa tion* de New York)
2 — Em nosso pais a exigencia de adotar — atraves formas oportunas de financiamentos e garantias as expor tagoes a credito — um instrumento fi nanceiro idoneo para estimular as nos sas correntes de exportagoes, forgando maior competigao no piano internacio-
nal, foi sentida na «terceira fase» da nossa politica economica post-belfca.
Concluia-se a reconstru?ao post-belica com a recuperagao dos danos de guerra sofridos pelo nosso parque in dustrial, e estabeleciam-se depois as condigoes essenciais para a implantagao de uma politica de desenvolvimijnto economico, pelos seguintes fatos:
'x relativa estabilidade do poder de aquisigao da lira, • redugao do deficit orgamentario reinicio dag relagoeg comerciais com o exterior,
~ recuperagao da capacidade de produgao destruida, danificada on desviada em consequencia da guerra.
3 — Comegaram entao os trabalhos tendentes a eliminar os antigos defeitos do sistema economico italiano, solucionando-se problemag fundamentais, e removendo-se as dcficiencias estruturais do.s nossos sistemas, principalmente as relativag aos metodos de trabalho.
Tratava-se nao mais de resolvcr problemas com providencias de emergencia (como por exemplo o processo de «]icengas», que eram validas mais sob o ponto de vista politico e social do que sob o ponto de vista economi co, Eram necessarias providencias organicas tendentes a garantir urn duradouro cresciinento na oferta de trabaIbo disponivel, como resultante e causas de uma progressiva expansao da renda real nacional.
^ — Para conseguir tai objetivo nao somente para impedir um aumento no desemprego,como para reduziressc desemprego ja existente a limites toler^veis — necessitava-se de duas condigoes:
criar'.amiienfe tal que assegurasse 0 maior ritmo possivel no desenvol-
vimento da renda nacional. (De fato,. no primeiro qiiinquenio apos guerra, a taxa media anual de desenvolvimento da renda atingiu 8%, taxa essa bcm elevada, e que bem testemunha a arrancada do nosso reerguimento econonn'co nesses anos.
— em segundo lugar, era necessario evitar que essa renda fosse destinada totalmente ao consumo, e para tanto cevia se obter uma quota de economia tal que garantisse um crescente volume dos investimentos.
5 — Em uma economia como a nossa, caracterizada por um excesso de populagao em relagao as existencias de capital, era indispensavel que o desenvolvimento da produgao se realizasse nao somente pela eficiencia, como tambem com ampliagao dos setores produtivos. de modo a poder incrementar a capacidade de trabalho.
Para que os investimentog pudessem atingir um volume tal que permitisse o alcance de tais objetivos, era portanto necessano que o nosso comercio com o exterior atingisse um alto niveJ de trocas (a fim de equilibrar o balango de pagamentos).
O desenvolvimento da nossa produ gao, essencialmcnte de transformagao, tornava indispen.savel a importagao, em volume cada vez maior, de produtos de base: por ,j'onseguinte o crescimento das exportagoes tornava possivel a reaiizagao de tais importagoes sem que dividas pesadas se acumulassem para com o exterior.
Por outro lado, as e.xportagoes crescentes permitiam colocar em outros mercados os excedentes de produgaoque nao obtinham consunuo interno, permitinao assim a raultiplicagao da capacidade de trabalho e de seus fatores, e 0 desenvolvimento da renda nacional.
6 — Pode se alcangar tais objeti vos seguindo as seguintes diretrizes:
— volta a liberdade de cambio, mantendo-se esse proposito:
• — desenvolvimento das importagoes de produtos basicog e de bens instrumentais, indispensaveis para a prevista politica de desenvolvimento;
— concentragao dos programas de inciemento da produgao nos setores basicos da nossa exportagao — particularmentc nos setores de mecanica, quimica, e tambem de agricultura de modo a permitir pela redugao dos custos uma duradoura ampliagao das nossas linhas de venda para o exterior.
7 — Seguindo o cammho da liber-" dade nas relagoes comerciais com o exterior, e da interligagao da nossa economia comi a de outros paise.s, aderimos, nesses anos, a todas as iniciativas internacionais diretas, tais como:
— eliminando, ou quanto menos, reduzindo as restrigbes quantitativas ao comercio:
— realizando, em grau tanto maior <juanto possivel, redugoes alfandegarias;
— aderindo sempre a sistemas mais eficientes de liquidagocs de contas in ternacionais (O.E.C.E., Uniao Europeia de Pagamentos ,etc.):
— participando das primeiras formas de integragao economica que se delincaram, taig como a Uniao Alfandegaria ftalo-Francesa, e a Comunidade Economica para o carvao c para o ago.
Essa politica contribuiu cm grande escala para dar uma dinamica toda es pecial ao nosso desenvolvimento eco nomico mais do que evidente no fim dos «fabulosos» anos 50. Contribuiu tambem para o crescente ritmo de in-
cremento de produtividade gragas a expansao da Despesa Piiblica a favor das nossas areas subdesenvolvidas.
Bem no inicio desse decenio, os efeitos dessa politica sobre as nossas correntes comerciais com o exterior, apareciam extremamente evidentes.
8 — Ag importagoes de 1951 atingindo 1.284 bilhoes de liras (esta cifra, como as outras que se seguem, devem se entender em liras com poder de aquisigao emt 1954) alcangavam um valor igual ao dobro do periodo que tinha sido considerado ate entao como a epoca aurea do nosso comer-
cio com o exterior, e que foi o de 1933/38 quando as importagoes alcangaram 600 bilhoes de liras anuais.
Em 1953 as nossas importagoes resultaram o triplo do citado periodo pre-belico, isto e, 1.525 bilhoes de li ras. bem verdade que nao se tratava somente de importagoes de bens instrumentais e materias primas, havendo ainda em grande proporgao aquisigoes de produtos finals ou seraii-acabados. mas nao ha duvidas que, se nao fosse esse incremento o desenvolvimento da nossa produgao industrial teria fraquejado.

As exportagoes, entretanto, aumentarain em ritmo menos elevado, embora dobrando de valor em 1953, com relagao ao periodo pre-beiico, isto e. de 465 para 976 bilhoes de liras. En tretanto, esse fato dcmonstrava como o incremento da produtividade e a re dugao nos custos comegavam a dar os .seug frutos, embora le'ntamente.
O menor incremento nas exporta goes tinha uma justificagao no fato de que a penetragao italiana nos merca dos do exterior encontrava uma limitagao devido as asperezas da concor-
rencia internadonal, principalmente porque os outros paises industrial's tambem tinham modemizado e ampliado suas instala^oes fabris apos a guerra, apresentando como conseqiiencia maior competividade nos mercados do exterior.
9 — Comegou-se entao a sentir, na Italia, a falta de instrumentos financeiros que pudessem incentivar as ex"porta^oes, de modo que os nossos exportadores pudessem operar em urn piano de igualdade com os exportadores de outros paises, ou pelo menos em posi?6es nao muito desfavoraveis.
Isto principalmente com relagao as exportagSes com pagamentos dilatados para os paises economicamente atrasados que, absorvidos na reaIiza?ao de programas acelerados e ambiciosos de desenvolvimento economico. reprcsentaram no apos-guerra importantissimos mercados de absor^ao para os produtos dos paises industrializados.
A experiencia demonstrou que na mais acesa concorrencia internacional, a possibilidade de conceder ao com prador estra'ngeiro extensas dilatacoes nos prazos de pagamento, constituia urn instrumento de Juta talvez mais eficaz do que as proprias manobras em pre^os e em diferengas qualitativas dos produtos.
Dai a exigencia de se criar tambem na Italia, a semelhan?a do que ja tinha sido criado em muitos outros paises, um sistema de estimulo as nossas linhas de vendas ao exterior, atravcs oportunas formas de seguros e de financiamentos as exportagoes a credito a medio e a longo prazo.
Essas formas de estimulo somente poderiam provir do Estado, principal mente porque os riscos mais graves que incidem sobre as exportagoes a
credito sao aqueles de natureza politica ou de desvalorizagao monetaria (falta de pagamento por parte dos Governos ou eotidades publicas estrangeiras, declaragao de moratoria, dificuldades de tra'nsferencias, riscos de cambio, etc.) riscos esses que as companhias de seguros privadas nao estao normalmente em grau de cobrir» pela impossibilidade de qualquer calculo atuarial sobre sua frequencia, e, portanto, pela impossibilidade de estabelecer bases tecnicas e taxas de «premios».
Ehtretanto, se de um lado havia a exigencia de apressar um ins trumento financeiro idoneo para proporcionar as nossas exportaqoes maior competi^ao no piano internacional, de outre lado nao era possivel ultrapassar OS limites das possibilidades de nosso BaIan?o de pagamentos, mesmo quando ele se apresentava persistentemente desequilibrado.
A €ste proposito convem acentuar que a concessao de extensos prazos de pagamento ao importador estrangeiro constitue um valiosissimo instru mento de penetragao nos mercados estrangeiros, mas, per oiitro lado, apresenta reflexes diversos no mercado mterno desde que se tenha superavits ou deficits nos pagamentos ao exte rior
Tais concessoes, desenvolvendo o volume global das exportagoes, asseguram vendas ao exterior capazes de fazer frente a insuficiencia da procura •nterna, absorvendo as quantidades excedentes da produ?ao existentes gracas a crescente produtividade decorrente do progresso tecnologico. Os efeitos cambiais decorrentes das dila tacoes de pagamentos concedidas aos compradores do exterior as consequen-
cias beneficas no mercado interno, elimunam, por outre lado, as posicoes de superavit no Balance de pagamentos.
No case de um Balance de paga mentos deficitario, o desenvolvimento das' exportacoes a prazo nao resolve de imediato a obtengao de meios de pagamento para aquisicao ao exterior de bens de consumo ou de materias primas necessarias a manutencao do nivel de produgao atingido pelas indiistrias de transformacao exportadoras.
A obtencao imediata dos meios de pagamento so e conseguida ou pelas partidas «invisiveis» ativas do Balan ce de pagamentos, ou pela exportacao conn pagamento a curto prazo.
II — No fim de 1953, ano em que se implantou na Italia o sistema de se guros e de financiamentos as exporta coes a credito a medio c a longo pra zo (o sistema de garantia dos creditos contra os «riscos especiais» politicos introduzido em 1927 pelo decreto legislativo n.° 1.046 tornou-se inoperante durante o segundo conflito mundial), o nosso Balance comercial apresentava um desequillbrio extremamente evidente, igual a 571 bilboes de liras, somente pracialmente compcnsado no Balango de pagamientos corrente (cujo deficit final alcangava a cerca de 176 bilboes de liras) pela existencia das tradicionais partidas «invisiveis» (remessa dos imigrantes. turismo, etc.)
Nesse ano o deficit orcamentario era de 320 bilboes de liras, e o ntimero de deserapregados alcancava a 1.946.533. A existencia dessas complexas circunstancias explica o surgimento nessa data dos dispositivos da lei sobre seguros de credito n.° 955, de 22 de dezembro de 1953 e o limite relativamente acanbado em que esses dispositivos foram contidos.
12 — Um rapido resumo do grande desenvolvimento que. de 1953 a 1961, teve o nosso sistema economico, esclarecera os motives que justificaram a evolucao da legislaqao italiana em materia de garantias e de finan ciamentos as exportacoes a credito.

De 1953 a 1961 o desenvolvimento economico de nosso pais foi, como e notorio, verdadeiramente excepcional, alcangando em quase todos os setores da producao, dos investimentos e do consumo, os mais altos niveis. em ntimieros absolutos. Apuraram-se percentuais elevadissimos de incremento, sem precedentes na historia economica do nosso pais.
Alguns dados darao uma ideia mais precisa do desenvolvimento desse processo evolutivo:
— a renda Jiacional liquida, que em 1953 foi de 10.360 bilboes de liras (tambem aqui as cifras que estamos indicando correspondem a liras de 1954) passou a ser de 16.844 bilboes em 1961, com uma taxa de incremiento media anual de 6.3%;
— o renda media per capita passou de 216.000 liras em 1953 para 331.000 liras em 1961, com uma taxa anual media de incremento de 5,5%;
— o niimero de inscritos nas listas de obtencao de empregos foi reduzido de 2.181.000 em 1953 para 1.608.000 omi 1961, o que demonstra como a expansao da producao italiana alcancou um grau, naqueles anos, adequado tanto para absorver as novas levas ao trabalho, como tambem para reduzir a desocupacao em 26, 3% com relaqao a situacao inicial.
13 — Este processo de expansao economica alimentou um poderoso de senvolvimento das nossas operacoes
com o exterior, o qual se refletiu no balance comercial e no balango de.pagamentos, e consequentemente sobre as nossas reservas monetarias. De fato:
— as importa^oes passaram de 1.513 bilhoes de liras em 1953, para 3.265 biihSes de liras em 1961. com um aumento de 115,8%;
por sua vez, as cxportaeoes pas saram de 942 bilhoes de liras emp 1953 para 2.614 bilhoes de liras em 1961, com um aumcnto de 177,5%.
O constante excesso das impartagoes sobre as exportagoes. divide as conhecidas caracteristicas do nosso sistema economico, carente de materias primas e de recursos energeticos. fez com que 0 Balango comercial apresentasse contlnuamente saldos passives.
fiss:s saldos, depois de firar relativamente estabilizados no trienio 19531955 com um montante medio de 535 bilhoes de liras crescerani -sensivelmente no bienio 1956-57 passando, respectivamente, a 643 e a 702 bilhoes de liras. Contraiu-se depois, em 1958 (com 399 bilhoes) e ainda mais em 1959 (com 285 bilhoes) para atingir em 1960 e 1961 a valores novamente elevados (rcspectivamente, 670 e 646 bilhoes de liras).
Os recursos obtidos pelas parcelas invisiveis permitiram, entretanto, cobrir iargamente os deficits mercanti's do balango de pagamentos,
A expansao descrita, depois de ter permitido de 1953 a 1957 uma sensivel redugao no saldo pas.sivo do citado Balango. determinou. de 1958 a 1961 a formaqao de saldos ativos, nao obstante decrescentes pelos agravamento.s dos deficits do balango comercial.
fisses saldos permiitiram um evidente desenvolvimento das nossas dispo-
nibilidades cambiais, que alcangaram ao final de 1961 a cerca de 2.475 bi lhoes de liras (liquidas de debitos para o exterior a curto prazo das empresas de credito).
— Em 1961 a nossa situagao economica estava pois profundamente modificada com relagao a situagao de 1953, principalmente tendo-se em vis ta a generalizagao dos processos de interpenetragao das econoniias do mundo ocidental que se iniciaram nos anos «50» (a O.E.C.E., a C.E.C.A,, e depois a C.E.E. e a E.F.T.A. represcntaiam etapas sucessivas. se bem que diferengadas, de tais procesos).
Essa interpenetragao determinou uma sensivel «abertura» da nossa economiaao intercambio internacional que introduziu-se crescentemente no complexo economico internacional.
A es.se proposito, basta verificar que no balango economico nacional a rela9ao entre «importag6es de mercadorias e servigoss e a «renda nacional liquida» passou de 16,5 em 1953 para 19,5 em 1961; e a relagao entre "exportagao de mercadorias e servigos» e a «renda nacional liquidas passou de 13,2 para 20,4.
Como consequencia dessa «aberturas nosso pais passou a dar maior atengao do que antes, em primeiro iugar ao mercado europeu, e em seguida ao mercado internacional emi geral.
A expansao das exportagoes colocava-se, de fato. como condigao necessaria para a manutengao dos elevado.s niveis alcangados pela produgao, indispensavel para impedir a volta dos fenomenos mais series de desocupaCao e subocupagao.
Impunha-se pois a adogao de meios mais adequados para reforgar as nossas
linhas de vendas ao exterior, particularmentc um sistema mais eficaz de seguros e de financiamentos para as •exportagoes a credito. tanto mais que o Ativo do Balango de pagamentos nao apresentava mais aqueles entraves que impediam em 1953 abrir concessdes nesse campo.
15 — Uma reforma no sistema de seguros de credit© instaurado com a lei n.° 955 de 1953 e sucessivamente modificado pela lei n." 1.198 de 3 de dezembro de 1957, se impunha tambera por dois outros motives:
— a entrada em vigor do Tratado de Roma, que levantou o problema de uma «harmonizagao» dos auxilios acordados entre os Estados mcmbros da Comunidade Economica Europeia, quanto as suas exportagoes. obrigando esses Estados a tomar as medidas necessarias para evitar que se falseasse ou se distorcesse a cohcorrencia entre as empresas dos seis paises;
— as obrigagoes assumidas internacionalmente pelo nosso Governo de contribuir juntamente conn as outras nagoes do mundo ocidental para a assistencia financeira (mais do que tecnica) aos paises em fase de desen volvimento. para que esses paises se elevassem, com certa rapidez. econo mica e socialmente, atraves de uma aceleragao na industrializagao, de uma expansao na renda per-capita, e de uma dilatagao e diversificagao nos con sumes.
Deixando de lado outras consideragoes, uma assistencia desse tipo resolveira a questao dos grandes «va2ios» do mercado internacional. determinnndo, comi proveito geral, a mais acentuada expansao no comercio mundial.
Entre as diversas formas para ineentivar a assistencia a tais paises,
apareciam as do seguro e do financiamento dos creditos a medio e a longo prazo derivados das exportagoes para as areas atrasadas a pagamentos dilatados.
Por este motivo tornou-se necessario proceder a uma revisao do nosso sistema de seguro de credito. e tal se fez com as leis n.° 68 de 17 de fevereiro de 1961. e n."^ 635 de 5 de juIho de 1961, esta ultima ainda em vi gor.
Ante? de falar sobre os principios essenciais c sobre alguns aspcctos tecnicos do atual sistema italiano de garantias e de financiamento das expor- tagoes a credito, achamos necessario tragar. mesmo que em sintese, as bases e as transformagoes sofridas por esse sistema.
17 — Ja se fez rcferencia a uma primeira cxperiencia de apoio as nossas vendas para o exterior mediante concessao de garantias para as exporta goes a credito, que ocorreu em 1927 com o decreto legislative n.° 1.046.

Limitada primeiramente aos «riscos espcciais» politicos, a garantia foi de pois estendida pelo decreto n.® 1.438 de 14 de outubco de 1932 aos riscos comerciais. autorlzando-se para esse fim um resseguro parcial no Istituto Nazionale delle Assicurazioni, que opcrava por conta do Estado.
Paralizado no periodo da segunda guerra mundial, o sistemia de seguro de credito foi reiniciado com a lei n.® 955 de 1953, se bem que, dados OS objetivos prelimi'narmente delineados, com limites financeiros relativamente modestos (o «plafond» geral do seguro foi fixado em 30 bilhoes de li ras). e com evidentes limitagoes de carater tecnico.
Havia a inten^ao de limitar o ambito do seguro para as exporta?6es de bens instrumentais, especialmente aqueles produzidos pela industria mecanica, que se encontrava naquela ocasiao em plena fase de expanslo depois da «reconversao» verificada em seguida ao termino da produgao belica.
^ 18 — Yalera a pena recordar pelo \menos algumas das limitagoes que existiam na lei n;° 955:
o limite maximo de garantia foi fixado em 70% do credito;
— eram seguraveis somente os riscos especiais «pollticds e catastroficos>, exduindo-se, portanto os riscos comerdais;
— nao era seguravel o risco politico mais importante, isto e, aquelc de falta de pagamentoporparte de um-«adquirente pub]ico»;
— a garantia era aplicavel somente as operaspes de exporta?ao de «manufaturas especiais^ as quais nao eram bem definidas na lei. fisse fato deixava margem a interpretagSes discricionarias na concessio das garantias, por parte do Comite de Seguros de Cre dito a Exportagao;
enfim, nao eram seguraveis os creditos que se formavam pela execugao de trabalhos no exterior e dos respectivos pianos e projetos.
Essas limitagoes, desconhecidas dbs sistemas vigentes nos demais paises do mundo ocidental, faziam com que o nosso sistema resultasse de porte bem reduzido.
Linhas atras apresentamos um breve resumo dos fatoreg de ordem economica que forgaram uma substancial revisao do sistema emp 1961. Pode-se dizer agora que assim modificado, 0 sistema italiano de seguro de
credito esta em larga escala alinhado aos sistemas vigentes nos paises da Comunidade Economica Europeia, se bem que esses paises oferecem, ainda, com providencias maig amplas e consistentes, maiores incentivos as proprias correntes de exportagao.
Conviria, portanto, relacionar em resumio as modificagoes trazidas pela lei n." 635 de 5 de julho de 1961 ao sistema ate entao em vigor.
20 — Antes de mais nada estendeuse a possibilidade de receber a garan tia assecuratoria do Estado para; todas as exportagoes. tanto as de bens instrumentais, como as de bens de consume, com credito a medio prazo, abolindo-se portanto as limitagoes das «manufaturas especiais»;
— exportagoes de servigos;
— depositos no exterior de produtos italianos, com intengao de venda;
execugao de trabalhos no exte rior. incluindo estudos e projetos.
Por outro lado, a lei n.° 635 ampliou a escala dos riscos politicos e economicos seguraveis por conta do Estado, acrescentando:
o risco de falta de pagamento por parte de «adquirente publicD» estrangeiro, e tambemi por parte de «adquirente privado» desde que estes ul^mos venham a ser garantidos pelo Estalo importador, ou por entidades pubLcas autorizadas:
— o risco de «aumento nos custos da produgao^ derivados de circunstancias de carater geral ocorridas no periodo de fabricagao das manufaturas a exporter.
Convem recordar, enfim, que a lei n-" 635, com og dispositivos inovadores do Titulo 3.°, estendeu as garan
tias do Estado e o refinanciamento parcial tambem para:
— Os creditos a longo prazo decorrentes de exportagoes de mercadorias ou de servigos, ou tambem da exe cugao de trabalhos no exterior:
— OS «creditos financeiros» vinculados ou nao, concedidos a titulo de assistencia aos paises em via de desenvolvimento economico.
A esta dilatagao da intervengao do Estado, seja sobre a forma de garan tia assecuratoria^ seja sobre a forma de refinanciamento parcial dos credi tos de exportagao, obteve-se paralelamente um aumento no «pIafond» geral das garantias assumidas a cargo do Estado: nos ultimos tres exercicios financeiros, de fato, o «plafond» foi de 300 bilhoes de liras (compreendendose nessa cifra tambem as garantias para os creditos «financeiros» aos paises em via de desenvolvimento)
A administragao desse seguro estatal e exercida, como e sabido. pelo Co mite interministerial prcvisto pelo artigo 9 da lei n." 635, o qua) se beneficia dos trabalhos dos dois maiores Institutes especializados nessa materia: o «Istituto Nazionale dclle Assicurazioni» representando o Estado nas garantias acordadas; e o «Instituto para o Comercio com o Exteriors quanto a parte tecnico-comercial, que normalmente da pareceres sobre os pedidos de garantias por intermedio de uma secretaria ligada ao proprio Comite.
21 — Para dar uma ideia da atividade desenvolvida pela administragao desse seguro. vale a pena aprescntar as seguintes cifras que bem demonstrami o vulto dessas atividades;
— em 31 de dezembro de 1963 o total das «responsabi]idades assumi-

dass pelo I.N.A. por conta do Esta do. atraves da admiinistragao do segu ro. somava 810 bilhoes de liras referentes a garantias efctivamente contratadas no decenio 1953-1963.
Obteve-se. portanto, a media de responsabilidades anuaig em torho de 80 bilhoes de liras, naturalmente comi pontos minimos para os premies anuais da gestao 1953-1958 e com pontos maximos para os premies do ultimo trienio (1961-1963) no qual o I.N.A. emitiu apolices para um total de «capitais scguradoss de cerca de 378 bi lhoes de liras;
— na mesma data de 31 de dezem bro de 1963 as responsabilidades vencidas, isto e, os creditos liquidados com cessagao das respectivas garan tias. somavam 232,4 bilhoes, se bem que, na data atual, restam responsabi lidades ainda em ser no montante de 568 bilhoes de garantias (fora 82,5 bilhoes de promessas de garantias ou «empenhos» ja deliberados pelo Co mite);
— se consideramos o aumento dos "capitals segurados», verificamos que este aumento nao teve um andamento uniforme no tempo. Isto e devido ao fato de que em alguns anos (como por exemplo em 1957 e em 1960.) a cobectura do seguro concentrou-se sobre algumas manufaturas de grande valor, enquanto em 1961 forami dadas numerosas garantias de modesto valor que implicarain em um grande numero de apolices para um menor capital complcxo segurado.
O forte aumento verificado nos dois ultimos anos (rcspectivamente, 134.8 e 186,5 bilhoes de liras) e, enfim, de vido em parte as coberturas de segu ros dos creditos derivados de operagoes de financiamento a paises em via de desenvolvimento. de acordo com os
artigos 20 e 21 da lei n.° 635. que alcancaram a 30 bilhoes em 1962 e a 84 bilboes em 1963.
Para a cobertura dos capitals scgurados adma citados, o Comite deliberou e 0 I.N.A. emitiu 1.582 apolices e 4.791 endossos.
Natiiralmente, o niimero de apolices , emitidas no decenio foi aumentando sProgressivamente, sobrctudo a partir ano de 1960 no qual se emitiram apphces (numero maior qu^ o ■dobro de 1958).
No ultimo trienio, isto e, de 1961 a - 3 emitiram-se em conjunto 1.054 apolices e 3.216 endossbs-. fiste fato e uma decorrencia direta do aumento do plafond, gera! das garantias a cargo do Estado e das deliberagoes consequentes adotadas pelo Comite.
A administrapao assecuratoria estatai. alem das responsabilidades acima assumidas. teve que proceder ao paqa- mento de mais cinco bilhoes e meio de indenizacoes em favor dos exportadores garantidos. Essas indeniza^oes foram todas referentes a sinistros por falta de transferencias de valores cambiais decorrentes de opera?oes de exportagoes para a Turquia.
_ 22 — Embora obvio, mas por questao de direito, h& que se fazer uma referencia ao esforgo que o I|N)A como administrador das responsabili dades do Estado, unido ao I.C.E. sustentou para poder gerir bem essa atividade cada vez mais complexa (particularmente depoig que a lei nu mero 635 introduziu a concessao de garantias tambem para as operagoes bnanceiras a favor dos paises em fase de desenvolvimento economiico.
A eficiencia desses organs foi tal que sat sfez, sem qualquer retardo, a necessidade das entidades economicas. Para isto muito contribuiu tambem
o planejamento da simplificagao dos procedimentos adotados pelo Comite. tanto na fase de estudos como na fase das deliberagoes sobre a concessao das garantias.
Notavel foi o esforgo desenvolvido pelo Estado atraves do sistema de seguros de credito. De fato, com a finalidade de criar uma «rcserva. adequada para fazer face aos pagamentos de eventuais indenizagoes de sinistros oragnizou-se urn fundo autonomo. que recebeu alem dos premios normals da administragao do seguro, uma do'tagao inicial de 35 bilhoes de liras.
Posteriormente o Estado demonstrou um outro esforgo financeiro, ao aumentar o fundo de dotagao do Inst'tuto Centrale Mediocredifo (que, inicia mente, com base na lei n." 955 suPra citada, era so de 40 bilhoes); e ao processar refinanciamentos parciais (pode ser refinanciado no maximo creditos que gozam da ga- rantia do Estado e que forem originalmente financiados pelos Institutes pnmanos especializados, tais como: •M.I., Efibanca. Mediobanca, Centrobanda, Icipu).
Pela serie de providencias adotadas o Tesouro e pela administragao tec^ca e racional do Institute Centrale Med.ocredito, pode se admitir que um conjunto de meios de cerca de 100 bi lhoes foi aplicado ate hoje a «refinanc'amentos parciais. de exportagoes (sem levar em conta os projetos em curso de aprovagao no Parlamento P_ara aumentar ainda o fundo dc dota?ao ao Medio Credito Centrale).
Aqueles 100 bilhoes. tendo em vista
OS seus postenares «reempregos» conseguiram favorecer a exportagao em ma;s cie 200 bilhoes de liras (sem le-
var em consideragao nessa cifra. os creditos fihanceiros aos paises em fase de desenvolvimiento economico).
24 — fiste breve resumo serviu para demonstrar a rapida evolugao no decenio do sistema italiano de seguro de credito, gragas as influencias positivas que foram exercidas pelos estu dos efetuados em conjunto para a harmonizagao dos sistem^as de seguro de credito dos paises da Comunidade Economica Europeia.
fisses estudos,-como e sabido, foram efetuados, e ainda estao sendo efetua dos, pelo Grupo de Coordenagao das politicas de seguros de credito, de cre ditos financeiros e de garantias. constituido ha tres anos, pelo Conselho da C.E.E.
Pode-.se afirmar que esses estudos ja proporcionaram resultados verdadeiramente concretes, seja com relagao aos sistemas de seguro de credito dos paises membros, seja com relagao a politica gera! comunitaria a ser seguida nas vendas a credito para outros paises, e principalmente para os paises em fase de desenvolvimento econo mico.
fistes liltimos paises sao os que solicitam as maiores diiatagoes nos pagamenfos, e por conseguinte as maiores extensoes dos creditos e das respectivas garantias.
25 — fisses resultados podem ser sintetizados como segue:
— estudo aprofundado das legislagoes, dos organismos, e dos riscos garantidos nos sistemas existentes nos seis paises da C.E.E., com relagao aos seguros de credito a exportagao:
— comparagoes desses sistemas, tendo em vista evidenciar claramente as diferengas estruturais e as diversas tecnicas de aplicagao;
—inclusao nos sistemas comunitarias de algumas «regras» fundamentais ncsta materia, ja aplicadas no ambito da Union de Berne a qual aderiram todos os organismos assecuratorios da C.E.E.:
—■ instalagao de um «procedimento de consultas. preventivas para as operagoes de exportagoes a credito supe rior a cinco anos, para que possam ser plenamente justificados os motivos que possam interessar os paises mem bros da C.E.E. a conceder creditos.
c garantias de maior duragio;
— elaboragao de "solugoes comuns:s»
a serenv aplicadas nos sistemas nacionais de seguros de credito, independentemente de reformas legislatives as^ leis vigentes em cada pais membro da C.E.E.
Algumas dessas importantes "solu goes. se referem a:
— definigao comum, em termos decondigoes de apolices, para os riscos politicos;
— definigao de «adquirente publico»:
— fixagao de uma quota comum de garantia maxima a conceder;
— extensao do seguro, ate uma quota de 30%, as materias primes estrangeiras incorporadas as manufaturas, que provenham de qualquer palsda C.E.E.;
— realizagao de convengoes para os. seguros conjuntos.;
— exclusao de «franquias» nas in denizagoes.
(Traduzido da Revista Assicurazioni — Margo-Abvil-d'} — Roma
Italia — por Americo Matheus Florentino, Cheh da Sub-adm^^^istragao de Credito Exterior, do I.R.B.)

Energia nuclear: responsabilidade civil
COMP££MS/vr^^ ^ CONVENQAO DE PAHIS DE 29 DE ]ULHO DE I960 SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DOMINIC DA ENERGIA NUCLEAR
Os Governos, Participaates da Convencao de 29 de juiho de 1960 sobre a respdnsabiJidade civil no dominio da energia nu clear (a seguir denominada «Conven?ao de Paris»). realizada no ambito da Organizagao Europeia de Cooperagao Economica tornada Organiza gao de Cooperagao e de Desenvolvimento Economicos.
Desejosos de trazer urn complemento as medidas previstas nesta Convengao, com o fiiro de elevar a importancia da reparagao dos danos que poder;am rcsultar da utilizagao da energia nuclear para fins pacificos;
Convem no seguinte;
Artigo Primt^iro — O regime complementar ao da Convengao obedece as disposigoes da Convengao de Paris, c tambem as disposigoes fixadas a se guir.
Artigo Segundo — a) O regime da presente Convengao nao se aplica aos danos causados por acidentes micleares ocorridos no territorio de urn Estado nao signatario da presente Con vengao:
/) cuja responsabiiidade caiba, em virtude da Convengao de Paris, ao operador (*) de uma instalagao nu clear para uso pacifico, situada no territorio de uma parte signataria a pre sente Convengao {a seguir denomi nada «Partc Contratante». e constante da lista estabelecida e atualizada nas condigoes previstas no artigo 13.
ii) ocorridos:
1) no territorio de uma Parte contratante
2) no mar ou no espago aereo, a bordo de um navio ou de uma aeronave matriculada no territorio de uma parte contratante:
3) no mar ou no espago aereo por um participante de uma Parte contra tante sob a condigao, no caso de danos
j ^ NR; Adotamos o termo opecsdor como tradugSo de «exploiteur», de acordo com o traduzido da Convencao de Paris, dc I960 publicado na Revista do IRB, n' 132 ano 1962:

fi a pcssoa fisica ou juridica devidamente autorlzada a p6r em iuncioDamento uma ins talagao nuclear.
a um navio ou a uma aeronave. de que seja matriculada no territorio de uma parte contratante: com a condigao de que os tribunals de uma Parte' contratante sejam competentes, de conformidade com a Con vengao de Paris:
b) Todo signatario ou Governo participante da Convengao pode, no momento da assinatura da presente Con vengao ou de sua adesao a esta ou no momento do deposito de seu instrumento de ratificagao, declarar que compara aos seus ^roprios dependentes para fins de aplicagao do paragrafo a) ii) acima, as pessoas fisicas que tern residencia habitual cm seu terri torio no sentido de sua legislagao, ou certas categorias dentre elas;
c) No sentido do presente artigo, a expressao «dependente de uma Par te contratante® abrange uma Parte contratante ou toda subdivisao politica de tal Parte, ou toda pessoa moral de direito piiblico ou de direito privado, como tambem toda entidade publica ou privada que nao tenha a personaiidade juridica estabelecida no territorio de uma Parte contratante.
Art. 3. — a) Nas condigoes fixa das pela presente Convengao, as Par ies contratantes se obrigami a que a reparagao de danos referidos no arti go 2 seja efetuada a concorrencia do montante de 120 milhoes de unidades de conta por acidente.
b) Esta reparagao se efetua:
i) a concorrencia de um montante pelo menos iguai a 5 milhoes de uni dades de conta. fixada para tal fim em virtude da legislagao da Parte contra tante no territorio em que esta situa da a instalagao nuclear do operador responsavel, por meios de fundos provenientes de um seguro ou de outra garantia financeira;
ii) entre este montante e 70 milhoes de unidades de conta, por meio de fundos publicos a abonar pela Parte contratante no territorio da qual esta situada a instalagao nuclear do ope rador responsavel;
iii) entre 70 e 120 milhoes de uni dades de conta, por meio de fundos publicos a abonar pelas Partes contra tantes segundo a fdrraula de repara gao prevista no artigo 12.
c) Neste sentido, cada Parte con tratante deve:
i) ou fixar, conforme o artigo 7 da Convengao de Paris, o montante maximo da responsabiiidade do operador a 120 milhoes de unidades de conta e dispor que esta responsabiiidade seja coberta pelo conjunto dos fundos previstos no paragrafo b) acima:
ii) ou fixar o montante maximo da responsabiiidade do operador a um nivel pelo mcnos iguai ao que e detcrminado conforme o paragrafo b) i) acima c dispor que alem deste mon tante e ate 120 ra'lhoes de uniiades de conta, os fundos publicos previs tos no paragrafo b) ii) e iii) acima sac abonados a titulo diferente de uma cofaertura da responsabiiidade do operador, entretanto, nao deve prejudicar as regras basicas e processes determinados pela presente Convengao.
d) Os creditos decorrentes da obrigagao do operador de reparar os da nos ou de pagar juros e despesas por meio de fundos abonados conforms o paragrafo b) ii) e iii) e f) do pre sente artigo sao exigiveis a medida do abono efetivo destes fundos.
e) As Partes Contratantes se obrigam a nao usar na execugao da pre sente Convengao da faculdade, pre vista no artigo 15 b) da Convengao
de Paris, de aditar CDndi^oes particulares:
i) para a reparaqao de danos causados por meio de fundos previstos no paragrafo b) e i) acima.
ii) aJem das da presente Conven?ao, para a reparagao dos fundos piiblicos previstos no paragrafo b) ii) e iii) acima.
f) OS juros e gastos previstos no artigo 7g) da Conven^ao de Paris sac pagos acima dos montantes estabelecidos no paragrafo b) acima.
Na medida em que sao abonados a titulo de rcparatao pagavel sobre os fundos previstos:
i) no paragrafo b) i) acimia, estao a cargo do operador xesponsavel;
ii) no paragrafo b) ii) acima, estao a cargo da Parte Contratante no territorio da qual esta situada a instala$ao nuclear deste operador;
iii) no paragrafo b) iii) acima, es tao a cargo de conjunto das Partes Contratantes.
g) No sentido da presente Conven?ao, «unidade de conta» significa a imidade de conta do Acordo Monetario Europeu como foi definida na data da Convcngao de Paris.
Art. 4. — a) Se urn acidente nu clear acarreta um dano que implica a responsabilidade de varios operadores, o acumulo de responsabilidade previsto no art. 5 b) da Convcngao de Paris atua, na medida em que fun dos publicos previstos no artigo 3 b)

ii) e iii) devam ser abonados, a concorrencia de um montante de 120 miIfioes de unidades de conta.
b) O montante global dos fundos publicos abonados em virtude do arti go 3 b) ii) e iii) nao pode ultrapassar, neste case, a diferen^a entre 120
miltioes de unidades de conta e o to tal dos montantes determinados para estes operadores conforme o art. 3 b) i) ou, no caso de um operador cuja instala?ao nuclear esta situada no territorio de um Estado nao contra tante a presente Convengao, confor me o artigo 7 da Convenqao de Paris. Se varias Partes contratantes tern de abonar fundos publicos conforme o artigo 3 b) ii), a responsabilidade deste abono e repartido entre si «pro rata» ao niimero de instala^oes nucleares situadas no territorio dc cada uma implicada no acidente nuclear e cujos operadores sao os responsaveis.
Art. 5. — a) No caso em que o operador responsavel tern um direito de recurso conforme o artigo 6 f) da Conven^ao de Paris, .a.. Parte contra tante no territorio da qual esta situa da a instala?ao nuclear deste opera dor. adota na sua legislaqao disposigoes necessarias para permitir a esta Parte contratante e as outras Partes beneficiar-se deste recurso na medida em que fundos publicos sao abonados conforme o artigo 3 b), ii), iii) e f).
b) Esta legisla^ao pode prever era favor deste operador disposicoes para a recupera^ao de fundos publicos abo nados conforme o artigo 3 b), ii), iii). e f) se o dano resulta de uma falta que Ihe seja imputavel.
6. — Para o calculo dos fun dos a abonar^em virtude da presente Convengao, sao tomados somente em considera?ao os direitos a repara?ao exercidos num prazo de dez anos a contar do acidente nuclear. No caso de dano causado por um acidente nu clear envolvendo combustiveis nucleares, produtos ou residues radioativos que foram no momento do acidente, roubados, perdidos ou abandonados e nao tenham sido recuperados, este prazo se inicia a partir do momento
do roubo, da perda ou de abandono. £ alem disso, prolongado no caso e nas condi^bes determinacas no artigo 8b) da Conven^ao de Paris. As reciam.agoes complementares apresentadas apos a expiraqao deste prazo, nas condiqoes previstas no artigo S d) da ConvcnQao de Paris, sao igualmente tomadas cm cohsidera^ao.
Art. 7—Desde que uma Parte Con tratante use da faculdade prevista no artigo 8a) da Convengao de Paris, o prazo fixado por cla e um prazo dc prescrigao de tfes anos a contar do momento em que o prejudicado tenha tomado conhecimento do dano e do operador responsavel, ou do momento em que devia razoavelmente tomaf conhecimento disso.
Art. 8. — Toda pessoa que se beneficie das disposi?6es da presente Convenqao tern o direito a reparagao integral do dano sofrido, conforme as disposi^oes previstas pelo direito nacional. Todavia, cada Parte contra tante pode determinar criterios de divisao equitativa para o caso em que o montante dos danos ultrapasse ou amcace ultrapassar:
i) 120 milhoes de unidades de con ta, ou
ii) a soma mais elevada que resultaria de um acumulo de responsabili dade em virtude do artigo 5 b) da Cdnven^ao de Parii. sem que disso resulte, qualquer que seja a origem dos fundos e sob rescrva das disposi?6es do artigo 2, em discrimina^ao emj fungao da nacionalidade, do domicilio ou da residencia da pessoa que tenha sofrido o dano.
Art. 9 — a) O regime de abono dos fundos publicos previstos no artigo 3b) ii), iii) e f) e o da Parte Contratante cujos tribunais sao competentes.
b) Cada Parte Contratante toma as disposi?6es necessarias para que as pessoas que tenham sofrido dano possam fazer valer seus direitos dc repara?ao sem ter que mover processos diferentes segundo a origem dos fun dos destinados a esta repara(;ao.
c)nenhuma Parte Contratante tern a obrigagao de abonar os fundos pu blicos previstos no artigo 3 b), ii) e iii) enquanto os fundos Lndicados no artigo 3b) i) continuem disponiveis.
Art. iO — a) A Parte Contratante cujos tribunais sao competentes e obrigada a informar as outras Partes Con tratantes da ocorrencia e das circunstancias de um acidente nuclear desde que se suponha que os danos causados por este acidente ultrapassem ou ameacem ultrapassar o montante de 70 milhoes de unidades de conta. As Partes Contratantes tomam sem demora, todas as disposigoes necessarias para regularoentar as modalidades de suas obrigaqoes neste sentido.
b) Somente a Parte contratante cujos tribunais sao competentes pode solicitar as outras Partes contratantes 0 abono dos fundos publicos previs tos no artigo 3b), iii) e f) e tern a competencia para atribuir tais fundos.
c) Esta Parte contratante exerce, se for o caso, os recursos visados no artigo 5 para a conta das outras Par tes contratantes que teriam abonado fundos publicos de acordo com o arti go 3b), iii) e f).
d) As transa?6es realizadas em conformidade com as condiqbes determinadas pela legisla?ao nacional a respeito da reparaqao dos danos efetuada por nieios de fundos publicos previstos no artigo 3 b), ii) e iii), serao reconhecidas pelas outras Partes
contratantes e as decisoes proferidas pelos tribunals competentes, a respeito -de uma reparagao. se aplicarao no terntorio das outras Partes contratan tes conforme disposicoas do artigo 13 e da Conven?ao de Paris,
Art. 11 a) Se OS tribunals com petentes dependent de uma Parte contratante que nao aquela em cujo terNXitono esta situada a instaJagao nu clear do operador responsavel, os fundos pubJicos previstos no artigo 3 ). ") e f) sao abonados a primeira •-estas Partes.
A Parte contratante em cujo territorio esta situada a instala^ao nuclear <io operador responsavel reembolsa aquela parte as somas despendidas. tstas duas Partes contratantes determmam de comum acordo as modalidaues do reemboJso.
b) Na adosao de todas disposi^oes legisJativas, regulaimentares ou admin'strativas posteriores ao momento do aadente nuclear e relativas a natureza, a forma e a extensao da repara?ao, as modaiidades de abono de fundos pubJicos previstos no artigo 3 b) '0, e se for o caso, aos criterios de divisao destes fundos. a Parte con tratante, cujos tribunals sao compe tentes. consuJta a Parte contratante em cujo territorio esta situada a instaJagao nuclear do operador respon- ' save], Alem disso, toma todas as me■didas necessarias para permitir a esta mtervir no processo e participar das transa?6es referentes a rcparacao.
Art. 12. a) A formula de divi■sao. segundo a qual as Partes contra tantes abonam os fundos publicos previstos no artigo 3 b) iii), e calculada:

i) a concorrencia de 50%, na base zela^ao existente entre, 0 produto
nacional bruto nos pre^os vigentes de cada Parte contratante. por um lado, e por outro, o total dos produtos na-' cmnais brutos nos pre^os correntes de todas as Partes contratantes, de acor do com a estatistica oficial publicada peJa Organiza?ao de Cooperagao e de DesenvoJvimento Economicos para o ano precedente ao do acidente nu clear.
ii) a concorrencia de 50%. na base da rela^ao existente entre a potencia termica dos reatores situados no ter ritorio de cada Parte contratante, por u^Iado. e por outro, a potencia ter mica total dos reatores situados no conjunto dos territorios das Partes contratantes. fiste calculo sera efetuado na base da potencia - termica dos reatores constantes, na data do acidente, da lista mencionada no arti90 2a) i). Entretanto. um reator so c tomado em consideragao para este calculo. a partir da data na qual atingm, pela primeira vez, o ponto critico.
_b) Para efeito da presente Conven?ao, «potencia tcrmica» significa:
0 antes da definitiva concessao da autonzagao de operagao, a potencia termica prevista;
"■) apos esta concessao, a potencia termica autorizada pelas autoridades nacionais competentes.
Alt. 13, _ Parte contra tante deve fazer constar da lista men cionada no artigo 2a) i) toJas as instalagoes nucleares para use padfico s'tuadas no seu territorio, atendendo as definigoes do artigo primeiro da Convengao de Paris.
b) Neste sentido, cada signatario ou Governo participante a presente onvengao comunica no momento do
deposito de seu instrumento de ratificagao ou de adesao. a relagao comtpleta destas instalagocs ao Governo belga.
c) A relagao devera conter:
i) para todas as instalagoes ainda nao concluidas, a indicagao da data prevista da existencia do risco do aci dente nuclear;
ii) c mais, para os reatores, a indi cagao da data prevista em que deve atingir peia primeira vez o ponto cri tico e a indicagao de sua potencia ter mica
d) Cada Parte contratante coinu-. nica, alem disso. ao Governo belga a data exata da existencia de risco do acidente nucelar e, para os reatores, a data em que atingiram pela primeira vez o ponto critico.
e) Cada Parte contratante comuni ca ao Governo belga qualquer modificagao a fazer na lista. No caso em que a modificagao comporte o acrescimo de uma instalagao nuclear, a comunicagao deve ser feita pelo mcnos tres meses antes da data prevista da existencia do risco de acidente nu clear.
0 Se uma Parte contratante tern conhecimento de que a relagao, ou uma modificagao a fazer na lista comunicada por uma outra Parte contra tante, nao esta conforme as disposigoes do artigo 2a) i) e as disposicoes do presente artigo, nao pode levantar objegoes a este rcspeito. senao os enderegando ao Governo belga num prazo de tres meses a contar da data na qual recebeu uma notificagao confor me o paragrafo h) abaixo.
9) Se uma Parte contratante tern conhecimento de que uma das comuni-
cagoes, exigidas conforme o presente artigo. nao foi feita nos prazos determinados, nao pode fazer objegoes se nao OS enderengando ao Govrno bel ga, num prazo de tres meses a contar do momento em que teve conhecimen to dos fatos que deveriam, a seu ver, ter sido comunicado.
h) O Governo belga notificara, desde que seja possivel, a cada Parte contratante as comunicagoes e obje goes que tiver recebido conforme o presente artigo.
i) O conjunto das relagoes e modificagoes previstas nos paragrafos b), c) d) e e) acima constitui a lista mencionada no artigo 2a) i), sendo que as objegoes apresentadas nos termos dos paragrafos f) e g) acima tenham efeito retroativo ate o dia em que forem formuladas, se forem aceitas.
j) O Governo belga remete as Par tes contratantes, a seu pedido. uma situagao atual das instalagoes nuclea res abrangidas na presente Conven gao e as indicagoes correspondentes fornecidas em virtude do presente ar tigo.
Art. H. — a) Na inedida em que a presente Convengao nao disponha em contrario, cada Parte contratante pode exercer as competencias que Ihe sao atribuidas pela Convengao de Pa ris e todas as disposigoes assini tomadas sao submetidas as outras Par tes contratantes para o abono de fun dos publicos prescritos no artigo 3 b), ii) c iii).
b) Todavia as disposigoes tomadas par uma Parte contratante conforme OS artigos 2, 7c) e 9 da Convengao de Paris nao obrigam uma outra Parte contratante para 0 abono de fundos
publicos prescritos no artigo 3b), ii) iii) senao com o seu consentimento.
c) A presente Conven^ao nao se opoe a que uma Parte contratante tome disposigoes fora do quadro da Conven^ao de Pan's e da presente Convengao, sob a condiqao de que estas disposigoes nao acarretem obrisuplementares para as outras ^rtes contratantes, na medida em que fundos publicos destas Partes estejam em causa.
^5. — a) Quaiquer Parte contratante pode estabelecer comi um Estado nao participante a presente Convenglo um acordo sobre a reparagao por meio de fundos publicos de danos causados por um acidente nuclear.
Art. 16 — a) As Partes contratan tes se consultarao a respeito de todos Os problemas de interessc apresentado' para a aplica^ao da presente Convenqao de Paris, notadamente dos artigos 20 e 22 c) desta ultima.
b) Consultar-se-ao sobre a oportunidade de rever a presente Convenqao ao termino do periodo de cinco anos a partir da data da sua entrada em vigor, e a quaiquer momento por proposta de uma Parte contratante.
c) Quaiquer restrigao aceita, conforme disposigoes do paragrafo a) acima, pode ser retirada a quaiquer momento por uma comunicagao enderegada ao Governo belga.
Art. 19 — Um estado so se pode fornar ou continuar Parte contratante da presente Convengao se for Parte Contratante da Convengao de Paris.
Art. 20 — a) O anexo a presente Convengao constitui parte integrantee desta ultima.
respective instrumento junto ao Go verno belga.
d) A adesao se efetivara tres meses apOs a data do depdsito do instrumen to de adesao.
Art. 23. — a) A presente Con vengao vigorara ate a expiragao da Convengao de Pafis.
b) Na medida em que as condigoes de reparagao resultantes de tal' acor do nao sejam mais favoraveis quanto as resultantes das disposigoes tomadas para a aplica^ao da Convengao de Paris e da presente
Conven?ao pela
Parte contratante considerada, o montante dos danos indenizaveis em virtude de um tal acordo e causados por um acidente nuclear coberto pela pre sente Convengao pode ser tornado em consideragao, em vista da aplica^ao do artigo 8, segundo item para o calculo do nuontante total dos danos cau sados por este acidente.
c) Em nenhum caso, as disposi^oes' dos paragrafos a) e b) acima podem afetar as obrigacoes correspondentes em virtude do artigo 3b). ii) e iii) as Partes contratantes que nao deram seu consentimento a tal acordo.

d) Quaiquer Parte contratante que se propoe concluir tal acordo deve participar sua intengao as outras Par tes contratantes. Os acordos concluidos devem ser notificados ao Governo belga.
Art. 17. — Quaiquer divergencia entre duas ou mais Partes contratan tes relativa a interpretaqao ou a aplicagao da presente Convengao, sera submetida, a pedido de uma Parte contratante interessadai 'ao Tribunal Europeu para Energia Nuclear criado pela Conven^ao, em 20 de dezembro de 1957, sobre o estabelecimento de um controle dc seguranga no dominio da Energia Nuclear.
Art. 18 — a) Quaisquer restrigoes sobre uma ou varias disposigoes da presente Convengao podem ser formuladas a quaiquer momento antes da ratificagao da presente Convengao, se OS seus termos forem expressamente aceitos por todos os signatarios ou entao, quer pela adesao, quer pela utilizagao das disposigoes dos artigos 21 e 24. se os seus termos foremi ex pressamente aceitos por todos os sig natarios e Governos aderentes a pre sente Convengao.
b) Todavia, a aprovagao de um Signatario nao e necessaria se ele proprio nao ratificou a presente Conven gao num prazo de doze meses a par tir da data em que a notificagao da restrigao Ihe foi comunicada pelo Go verno belga, conforme o artigo 25.
b) A presente .Xlonvengao sera ratificada. Os instrumentos de ratifica gao ficarao depositados com o Coverno belga.
c) A presente Convengao entrara em vigor tres meses apos o deposito do sexto instrumento de ratificagao.
d) A presente Convengao. ap6s o sexto deposito. produzira seus efeitos, para cada signatario que a tenha ratificado, tres meses apos a data do deposito do instrumento de ratifica gao.
Art. 21 — As modificagoes da pre sente Convengao sao adotadas em comum acordo pelas Partes contratantes. Entram em vigor na data em que as Partes contratantes as tenham ratificado ou confirmado.
Art. 22 — a) Apos a entrada eim vigor da presente Convengao, quai quer Parte contratante a Convengao de Paris, que nao tenha assinado a pre sente Convengao. pode solicitar sua adesao por meio de correspondencia dirigida ao Governo belga.
b) A adesao rcquer o acordo unanime das Partes Contratantes.
c) Em seguida a este acordo, a Parte contratante a Convengao de Pa ris, que solicitou adesao, deposita o
b) Quaiquer Parte contratante podera suspender, no que Ihe diz respei to, a aplicagao da presente Conven gao no termino do prazo de dez anos determinado no artigo 2a) da Con vengao de Paris, dando um aviso previo de um ano neste sentido ao Go verno belga. No prazo de seis meses a partir da comunicagao deste aviso previo, quaiquer Parte contratante podera por uma comunicagao ao Coverno belga suspender a presente Con vengao, no que Ihe toca, na data em que deixara de vigorar em relagao a Parte contratante que tenha efetuado a primeira comunicagao.
c) O termino da presente Conven gao ou a retirada de uma das Partes contratantes nao poe fim as obrigagoes que cada Parte contratante assume em virtude da presente Convengao, para a reparagao de danos causados per um acidente nuclear que ocorra antes da data deste termino ou desta reti rada.
d) As Partes contratantes se entenderao na ocasiao oportuna sobre as raedidas a tomar apos a expiragao da presente Convengao ou a retirada de uma ou de varias Partes contratantes, a fim de que sejam reparados. de mode comparavel aquele previsto pela presente Convengao, os danos causa dos por acidentes ocorridos apos a data deste termino ou desta retirada e cuja responsabilidade cabe ao opera-
dor de uma instalagao nuclear, que estava em funcionamento antes d.esta data nos territories das Partes contratantes.
Art. 24. — a) A presente Convengao se aplica aos territorios metropolitanos das Partes contratantes.
b) Qualquer Parte contratante, que deseje que a presente Convencjao seja ^Naplicavel a um ou mais territorios aos quais, conformie o artigo 23 da Convencao de Paris ela indicou que esta Conven^ao se aplica, encaminha um pedido ao Governo belga.
c) A aplicagao da presente Convengao nestes territorios requer o acordo unanime das Partes contratan tes.
d) Em seguida a este acordo, a Parte contratante interessada endere?a ao Governo belga uma decJaragao que se efetiva a partir do dia de seu recebimento.
e) Tal declara^ao pode, no tocante a qualquer territorio ai designado, ser retirada pela Parte contratante que a formulou mediante um aviso previo de um ano dirigido ao Governo belga.
f) Se a Conven^ao de Paris deixa de ser aplicavel a um destes territo rios, a presente Convengao deixa igualmente de Ihe ser aplicavel.
Art. 25. — O Governo belga comunica a todos os signatarios e Governos que tenham aderido a ConvenSao, o recebimento dos instrumentos de ratificagao, de adesao de retirada e quaisquer outras comrunicagoes recebidas. Informa-lhes, igualmente, a data da entrada em vigor da presente Conven?ao. o texto das modificagoes adotadas e a data da entrada em vigor destas mpdificagoes, como tambem as restrigoes feitas conforme o artigo 18.
ANEXO
a Convengao Complementar
a Convengao de Paris de 29 de ju>Iho de 1960 sobre a responsabilidade civil no dominio da energia nuclear.

Os Gov^cnos das Partes Contra' tantes:
declaram que a reparagao dos danos causados por acidente nuclear, que nao esteja coberto pela Convengao complementar pelo fato de que a instalagao nuclear correspondente, emf virtude de sua utilizagao nao constar da lista mencionada no artigo 2 da Convengao complementar (inclusive o caso em que esta instalagao, nao incluida na lista, e considerada por um ou vSrios. mas nao por todios os Governos, como nao coberta pela Convengao de Paris);
— e efetuada sem qualquer discriminagao entre os dependentes das Par tes contratantes a Convengao Com plementar:
— nao esta limitada por um teto que seria inferior a 120 milhoes de unidades de conta.
Alem disso, estes governos se esforgarao, caso ainda nao tenha sido feitOs por tornar as indenizagoes das vitimas de tais acidentes tao proximio quanto possivel das previstas para os acidentes nucieares ocorridos em rela?ao as instalagoes nucieares cobertas pela Convengao Complementar.
Ern testemunho do que os plcnipotenciarios abaixo, devidamente habilitados assinaram a presente Con vengao.
Bruxelas, em 31 de Janeiro de 1963, (Traduzido de Revue Gcnerale des Assurances Terrestres, Paris, n.® 1-2,. ianeiro/abril, 1964 — por Pen ha Ferreira do Nascimento, do Servigo de Relagoes Publicas do IRB).
Atividades do L R.B. em 1964
\ s atividades desenvolvidas pelo
I.R.B, em 1964 tiveram profundas repercussoes na economia brasileira atraves de medidas que propiciaram, em apenas um quadrimestre, a economia de divisas da ordem de dois milhoes de dolares. O regime de concorrencias, que substituiu a forma tradicional de colocagao de resseguros no exterior, instituido pelo Decreto niimero 53.964 de 11 de Junho, de 1964, apresentou-se como fator da mais elevada significagao na polltica de recuperagao de nossas finangas.
Outra medida de grande repercussao no mercado segurador constitui a adogao do sistema de resseguro percentual no ramo Inccndio, que determinou imediatamente uma redugao substancial no proccssamento das cessoes, simplificando sobremodo as tarefas administrativas e possibilitando o deslocamento de pessoal e de material para outros setores de atividade das companhias.
Poder-se-ia arrolar ainda na serie dessas medidas que caracterizaram o ano de 1964 como um dos mais fecundos para o I.R.B., o aumento dos limites de retengao do mercado segu rador brasileiro, no tocante aos ramos Incendio, Lucros Cessantes, Transportes, Cascos, Aeronauticos, Automoveis, Acidentes Pessoais, Vida e Riscos Diversos, e o estabelecimento de novas bases para as operagoes no ramo Ae ronauticos. entre outras.
A tnarcha dos premios
Os resultados aprcsentados pelas operagoes do I.R.B. no exerc'icio findo, que refletemi a propria evolugao do mercado segurador, bem como a extensao das medidas postas em pratica, quer no setor tecnico, quer no administrativo, podem ser observadog em numeros.
No quadro a seguir, apresentamos 0 movimento de premios de seguros diretos e de resseguro no I.R.B., nos ultimos dez anos:
As operagoes de resseguro do I.R.B. estendem-se no exercicio aos seguintes ramos:
—Incendio
— Lucres Cessantes
— Transportes,
— Cascos
— Responsabilidade Legal do Armador
— Vida
— Acidentes Pessoais
— Aeronauticos
— Automoveis
— Credi'to
— Agxicola Ramos e Riscos Diversos, compreendendo a quase totalidade dos ramos e modaiidades de menor desenvolvimento no mercado nacional. tais como Responsabilidade Civil, Tumultos, Vidros,'Roubo e outros.
As Colocagdes de Resseguro no Exterior
O Decreto n." 53.964, que instituiu o regime de concorrencia para a colocaqao de riscos no exterior, veio disciphnar estas opera^oes, enquadrandoas num sistema — a concorrencia vigente na administra^ao publica brasileira.

A medida preconizada teve em mdra assegurar a obten^ao de condi^oes de cobertura de resseguro mais favoraveis no exterior, pela escolha de cota9ao dos mercados internacionais que mais atendessem aos interesses de nossa economia.
Numerosas firmas europeias, norte e sul-americanas espccializadas acorreram para o necessario credenciamento junto ao I.R.B. As operagoes abrangem os ramos Incendio, Lucros Cessantes, Aeronauticos, Acidentes Pessoais, Vida, Riscos e Ramos Di versos, Transportes e Cascos.
As primeiras empresas que tiverami seus riscos colocados no exterior fo-
ram: Serviqos Aereos Cruzeiro do Sul, Panair do Brasii, Petrobras {Fronape), Services Aereos Agricolas e Pecuarios «SAAP» e Navegagao Mansur Ltda.
Os resultados obtidos, desde agosto, com o novo sistema, foram dos mais expressivos para o mercado segurador, acusando uma reducao no dispendio de divisas da ordcm de meio milhao de ddlares.
No tocante aos contratos automaticos mantidos e renovados com os resseguradores internacionais, benn como com os novos contratos estabelecidos relativamente aos ramos Incendio, Transportes e Riscos Diversos, foi obtida uma economia que pode set estimada em um milhao e meio de dolares, em consequencia da nova politica de colocagao de riscos no exte rior.
Resseguro Percentuah redugao de custos e simplificagao adniinistrativa
O acelerado cresciraento das operaCoes do ramo Incendio, acarretando um acumiulo de tarefas com reflexes acentuados na estruturacao dos servi ces do I.R.B., alem dos custos cada vcz mais elevados daquelas tarefas, levou o I.R.B. ao estudo e implantacao do sistema de resseguro percentual no ramo.
A mecanica do sistema, de grande simplicidade, aceito pelo mercado scgurador como uma necessidade que de ha maiito se fazia sentir, possibilitou uma reducao consideravel nos services administrativos das corapanhias, reduCao dos custos das operacoes e melhor aproveitamento de pessoal em outros setores igualmente em expansao.
A solucao encontrada com o estabelecimento de bases percentuais para as operacoes de resseguro aplicaveis
as cartciras de seguros diretos das companhias, levou em conta, em sua formulacao, componentes de calculo que assegurararm integralmente a manutencao da estabilidadc daquelas carteiras na faixa do seguro e do resse guro.
As principals vantagens do novo sistema, imediatamente comprovadas, foram a simplificacao burocratica, eliminacao de atrasos na remessa dos formularios de resseguro, eiiminacao de penalidades. e equilibrio na carteira das sociedades e do Excedente Onico.
Os resultados do sistema levaram ao estudo de sua extensao a outros ramos.
Aumento dos limites de retengao do mercado seguradot brasileiro
No exercicio de 1964, o I.R.B. teve suas vistas predominantemente voltadas para a consecucao de um ex pressive grau no crescimento do potencial retentive do nosso mercado segurador.
Nesse sentido, quer atraves de sua prdpria iniciativa, quer pela colaboraCao e pelo apoio a providencias do ambito de orgaos de atividades paralelas no mesmo mercado, logrou o I,R.B. desenvolver e por em pratica as medidas a seguir especificadas:
A capacidade de retencao do mer cado nacional — assim entendido o I.R.B. e todas as companhias de se guros em operacoes — apresenta variacao nos limites maximos de cober tura automatica, segundo a modalidade de seguro de que se trate.
Foi estabelecida a expansao desses limites nas proporcoes seguintes:
Ramo Incendio — de 500 milhSes de cruzeiros, para um bilhao de cru zeiros, em cada risco segurado;
Ramo Lucres Cessantes — de 200 milhoes de cruze:ros para 500 milhoes, ^ni cada risco;
Transposes ~ de 300 miIhoes de cruzeiros para 500 milhoes de cruzeiros de responsabilidades assuniidas por navio viagem;
Cascos - de iOO para 300 mdhoes de cruzeiros por embarcafao segurada;
100 „,lhoes de creeeiros por aeron.ve, na cobertura de caaco; e elevahdose para 100 milhoes e 200 milhoes de cruzeiros, respectivamente, ainda por Rcsponsa- b.!i..ade Civd para com terceiros e Acidentes Pessoais do conjunto de passageiros;
Ramo Automoueis - de 30 para 50 milhoes de cruzeiros por veiculo;
Ramc Acidentes Pessoais — de 15 para 40 mulhoes de cruzeiros por pessoa, em cada garantia; morte e invaliaez permanente;
Ramos e Riscos Dhersos:
-- Lucros Cessantes cousequentes de Riscos Diversos: de 75 para 132 mdhoes de cruzeiros por risco segu-
— Terremotos: Queda de Aeronaves: Impacto de Veiculos Terrestres: endaval e Similares; Vazamentos de' huveiros Automaficos; Instalagao; ^qmpamentos Moveis e Estacionariodc 250 para 400 milhoes de cruzeiros por risco segurado:
enfii Valores en, Perda de P„„e„; Desmprona„e„,o, de 125 para 200 milhbes de cruzeiros por risco segurado;
e AJagamento; de 62 P- 100 milhSes por risco segurado
Nouas bases nas cperagoes no Ramo Aeronauticos
A cobertura do seguro de arenoves em moeda estrangeira (dolar ou libra) apresenta aspectos particulares, que determmaram urn exame acurado por parte dos orgaos tecnicos do I R B principalmente tendo-se em vista' o grande numero de riscos e sua extrenia periculosidade. o que leva a retenCao do imercado a situar-se em nfveis prudeutemente reduzidos.
Dai a trans/erencia substancial de resseguro ao exterior, acarretando compromissos do mercado brasile'ro em virtude dos seguros realizados em moeda forte.
A solu^ao indicada "objetivou um deshgamento progressive de tais responsabilidaies. median,e a coMrata' -IM seguros do ramo Aeropaati- coa em moeda nacional, com a ,e,e„. WO do mercado elevada ao maximo ae sua capacidade.
5epuro de Credito
I ° ^^erdcio de 1964, o desenvolveu junto as autori- Jades governamentais constantes esor?os no sentido da implanta^ao de™ iva no pais do Seguro de Credia Exportagao.
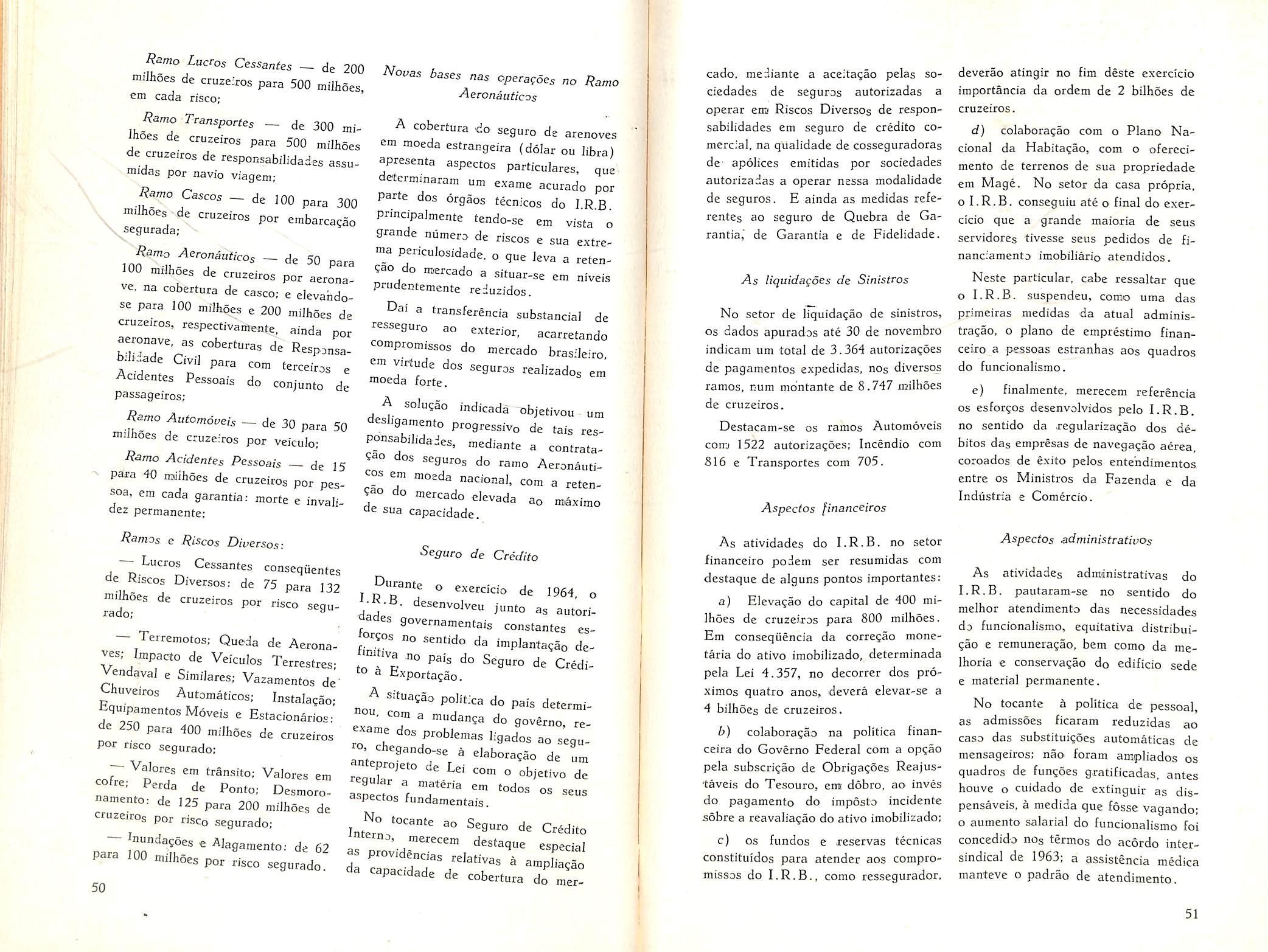
A sitaagao polibca do pals de.ermi-
exam T" re name dos problemas ligados ao sega. '^l^^gando-se a elabora^ao de um egular a materia em todos os seus aspectos fundamentals.
No tocamc ao Scgaro de Credlto "no, merecem destaque esnpri.l
- Providencias relatives\ ampL £ capacidade de cobertura do mer
cado, mediante a aceitagao pelas sociedades de seguros autorizadas a operar era Riscos Diversos de responsabilidades em seguro de credito comcrcial, na qualidade de cosscguradoras de- ap6lices eraitidas por sociedades autorizadas a operar nessa modalidade de seguros. E ainda as medidas referentes ao seguro de Quebra de Ga rantia," de Garantia e de Fidelidade.
As liquidagoes de Sinistros
No setor de liquidagao de sinistros, OS dados apurados ate 30 de novembro indicam um total de 3.364 autoriza?6es de pagamentos expedidas, nos diversos ramos, num mdntante de 8.747 ir/ilhoes de cruzeiros.
Destacam-se os ramos Automoveis con-j 1522 autoriza^oes; Incendio com 816 e Transportes com 705.
Aspectos financeiros
As atividades do I.R.B. no setor financeiro podcm ser resumidas com destaque de alguns pontos importantes:
a) Eleva^ao do capital de 400 mi lhoes de cruzeiros para 800 milhoes. Em conseqiiencia da corre^ao monetaria do ativo imobilizado, determinada pela Lei 4.357, no decorrer dos proximos quatro anos, devera elevar-se a 4 bilhoes de cruzeiros.
b) colabora^ao na politica financeira do Governo Federal com a opgao pela subscrigao de Obriga?oes Reajus'taveis do Tesouro, enii dobro, ao inves do pagamento do imposto incidcnte sobre a reavalia^ao do ativo imobilizado;
c) OS fundos e reservas tecnicas constituidos para atender aos compro missos do I.R.B., como ressegurador,
deverao atingir no fim deste cxercicio importancia da ordem de 2 bilhoes de cruzeiros.
d) colabora^ao com o Piano Na cional da Habitagao, com o oferccimento de terrenos de sua propriedade em Mage. No setor da casa propria, o I.R.B. conseguiu ate o final do exercicio que a grande maioria de seus servidores tivesse seus pedidos de financiamento imobiliario atendidos.
Neste particular, cabe ressaltar que o I.R.B. suspendeu, como uma das primeiras medidas da atual administragao, o piano de emprestimo finan ceiro a pessoas estranhas acs quadros do funcionalismo.
e) finalmente, merecem referencia OS esforgos desenvolvidos pelo I.R.B. no sentido da regularizagao dos debitos das empresas de navegagao aerea coroados de exito pelos entehdimentos entre os Ministros da Fazenda e da Industria e Comercio.
Aspccfos administrativos
As atividades adrndnistrativas do I.R.B. pautaram-se no sentido do melhor atendimento das necessidades do funcionalismo, equitativa distribuigao e remuneragao, bem como da meihoria e conservagao do edificio sede e material permanente.
No tocante a politica de pessoal, as admissoes ficaram reduzidas ao caso das substituigoes automaticas de mensagciros; nao foram amipliados os quadros de fungoes gratificadas, antes houve o cuidado de extinguir as dispensaveis. a medida que fosse vagando; o aumento salarial do funcionalismo foi concedido nos termos do acordo intersindical de 1963; a assistencia medica manteve o padrao de atendimento.
terio de taxa^ao dos seguros com garantia para valor de novo.
facultative a aplica?ao das Clau sulas de Valor de Novo mas e bom que se acentue que nao ha nenhuma restriCao' ao seu emprego, exceto a vontade do segurado ou da seguradora.
2.
I D E I A S F A T O S \ 3. OPINIOES
CLAUSULAS DE VALOR DE NOVO: OBRIGATORIEDADE NO SEGURO DE INCeNDIO
Encontram-se adiantados os estudos realizados pelos orgaos tecnicos do IRB para a inclusao, em carater obrigatorio, das chamadas «Clausu]as de Valor de Novox. nas condi^oes gerais das apolices do seguro Incendio.
A medida, que constituiu um dos temas debatidos na IV Conven^ao de Gerentes realizada pelo IRB, em abril, como parte das comeraoragoes do seu 25'' aniversario de criasao, viria facilitar grandemente o trato dos problemas de depreciagao, que surgem com frequencia nas liquidagoes de sinistros, concorrendo ainda para o maior esclarecimento dos segurados no focantc aos numerosos beneficios dai decorrentcs.
VANTAGENS
Procuramos ouvir o Sr. Carlos Barbosa Bessa, Chefe da Divisao de Liquidagao de Sinistros, sbbre as vantagens que adviriam para' os segurados e para
0 mercado segurador em geral da obrigatoriedade das Clausulas de Valor de Nbvo.
O carater indenitario do seguro-incendio — disse inicialmente o Sr. Car los Barbosa Bessa — faz com que, nos sinistros de bens de uso, via de regra o Segurado, embora indenizado em importancia equivalente ao valor da perda, tenha que suportar de seu bolso a diferenga entre esse valor e o custo real de reposi^ao, isto e, o valor de novo. Desde alguns anos, foi reconhecida a necessidade e a possibilidade de se conceder cobertura para as deprecia?oes, o que se faz atraves da aplica^ao facultativa as apolices das chamadas Clausulas de Valor de Novo. Tal co bertura, embora com limitagoes e sob condicao, e concedida sem quaiquer adicional, juigando-sc suficiente o aumento de premio decorrente do ajustamento necessario da importancia segurada ao valor de novo.
A isto se chegou depois de estudos e comparagoes com o que se fazia em outros paises, nos quais variam, de acordo com suas peculiaridades regionais, OS limites das restri^Qes e o cri-
Depois de todos estes anos, creio podermos afirmar que nao surgiu nenhum inconveniente da concessao de tal co bertura o que nada desaconsclharia, portanto, sua adogao sistcmatica.
Ao contrario, pa.rece-me, a mais frequente aplica^ao das Clausulas de Va-lor de Novo teria sido ate de grande utilidade para estimular a atualiza^ao dos valores segurados.
Nas liquidagoes de sinistros, por outro lado, seriam inegaveis as vanta gens, e as facilidades decorrentes da aplica^ao sistematica.
MATURIDADE DO MERCADO SEGURADOR
Seria oportuno — prosseguiu o Sr. Carlos Barbosa Bessa —, alem de constituir demonstra^ao de maturidade e evolugao do nosso mercado, que o seguro-incendio no Brasil fosse agora transformado de seguro de indenizagao em seguro de reposigao, mediante adaptagao de suas Condigoes Gerais com a incorporagao a Condigao VI (Valor emi Risco e Prejuizos) dos principios das Clausulas de Valor de Novo atuais.
Nao vejo quaiquer inconveniente concluiu — em manterem-se as restrigoes atualmente existentes porque podem ser considerados raros os casos de deprcciagoes superiores a 50% e, na maioria deles, o fator principal da elevada taxa de depreciagao sera ou o obsoletisrao ou entao a falta de conser■vagao; numa ou noutra hipotese, a men ver, justifica-se a limitagao.
Em vista da multiplicidade e extensao das «Clausulas do Valor de N6vo», foi elaborado um novo texto que viria substituir a atual Condigao VI da apoiice-padrao Incendio, que trata do valor em risco e prejuizos, incorporando os principios daquelas clau sulas.

SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO NA 6RBITA DA PREVIDENCIA SOCIAL
A Comissao de Reformulagao da Previdencia Social aprovou, por maio ria, o anteprojeto de «integragao» do seguro de acidcntes de trabalho na orbita da previdencia social. Os votos vencidos foram o do Ministerio de Planejamento, o dos empregadores (Industria e Comercio) e o dos trabalhadores rurais.
£ste, o fato. Sua conseqiiencia imiediata foi a reagao dos seguradores c uma entrevista do Sr. Jesse Pinto Freire, Presidente da Confederagao Nacional do Comercio.
Segundo o noticiario da imprensa. a Federagao Nacional das Empresas de Seguros esta disposta a fazer uma campanha de esclarecimento visando a impedir que o seguro de acidentes de trabalho vcnha a ser de fato, estatizado.
Os seguradores acham que «se projeta consumar a eliminagao da iniciativa privada num dos ramos do Segu ro privado, e citam os argumentos do representante do Ministerio do Plaile-
jamento na Comissao, que votou con tra o anteprojeto, e segundo os quais o regime de concorrencia, atualmente prevalecendo nas opera^oes de tal seguro. «me]hora e aperfeiijoa os servi ces assistenciais prestados ao acidentado».
O Presidente da CNC declarou em sua entrevista, publicada em O Globo, de 9-1-65;

— Suprimir o seguro privada con tra acidentes, para transferir o dever de assrstir os acidentados .a um orgao estatai, sera suprimir alguma coisa de concrete, de real, que ja existe, para substitui-ia por mais uma das tantas promessas de que e rica a nossa Previdencia Social.
— Ha, tambem, que considerar o negative impacto economiico que representaria para o mercado segurador a retirada daquela parcela constituida pelo ramo de acidentes do trabalho, a qua! e responsavel atualmente por mais de sessenta por cento do total da arrecadacao de premios, com xeflexo direto ate no Orcamento da Repiiblica, uma vez que ele tem, na rcceita tributaria oriu'nda das atividades seguradoras, uma fonte de renda nada desprezivel.
— Os primeiros prejudicados — argumentou — se se consumasse a estatizagao desse seguro, seriam os proprios acidentados. Como se sabe, desde que a lei impos o seguro obrigatdrio contra acidentes do trabalho, tornou efetiva a assistencia as vitimas o que foi logo sentido pelos trabalha-
dores brasileiros. fistes, pcla primeira vez, se viram amparad ospor algo concrete nas oportunidades de infor-
A assistencia, pronta e eficaz. que pode nao ser ainda perfeita, mas e a linica realmente existente e em funcionamcnto. alcancou a sua atual dimensao por estar livre das peias a que os orgaos estatais, pod sua propria natureza, nao podcm fugir.
Lembrando que a estatizagao do se guro privado contra acidentes seria, se admitida. «contraria ao espirito da revolucao — po:s viria ampliar o domi nie do Estado no campo econ6mico»
—,o Sr. Jesse Freire invocou as conseqiiencias negatives dk pretendida iniciativa que, no campo social e economico, «teria as seguintes conseqiiencias: acarretaria o desemprego de miIhares de chefes de familia que exercem suas atividades nesse setor, a nao ser que o Estado chamasse a si a responsabilidade pelos sacrificados, o que seria antiecon6mico».
Declarou ainda que, nao obstante o pronunciamento majoritario da Co missao Paritaria, que exaraina o assunto, o probiema nao esta encerrado, pais cabe ao Legislativo e ao Executi ve adotar a decisao final sobre a materia. Concluiu:
— Nao alimentamos duvidas de que, a base dos argumentos que podem ser invocados contra a solugao aprovada, isto e, contra a estatizagao, a mesma nao encontrara o beneplacito do Governo e dos Icgisladores.
SEGURO DE CREDITG A EXPORTAgAO
O Sr. Celio Olimpio Nascentes, Superintendente da Administracao de Se guro de Credito do IRB, concedeu ao Correio da Manha, edigao de 6-12-64, a entrevista que transcrevemos abaixo:
O Superintendentc da Administragao do Seguro de Credito do Institute de Resseguros do Brasil, sr, Celio Nas centes, informou que o ministro Daniel Faraco encaminhara, dentro em breve, ao presidente da Republica, a exposiCao de motives e o projeto de lei crian-do o Seguro de Credito a Exportacao do pais, para sec submetido ao Congresso Nacional.
O representante do IRB no Grupo de Trabalho que elaborou o anteproje to disse ainda que e de se esperar seja a materia aprovada o mais breve possivel, dado o grande interesse do Governo em incrementar e descnvolver a exporta?ao de produtos manufaturados.
A materia foi pesquisada e estudada por um Grupo de Trabalho composto por tecnicos do Ministerio da Fazenda, Ministerio da Indiistria c do Comercio, Carteira de Cambio e Carteira do Co mercio Exterior do Banco do Brasil e Institute de Resseguros do Brasil.
GARANTIA
Explicandb o mecanismo e as vantagens do seguro de credito a exporta?ao o Sr. Celio Nascentes disse que, com a sua ado?ao, o exportador brasileiro passara a contar com uma ga-
rantia efetiva para as suas vendas a prazo, podendo, na maioria das vezes, dispensar a cxigencia de apresenta^ao de garantias reais e avais pelo importador.
«Hojc em dia, — prosseguiu — com OS paises em acirrada luta pela conquista de mercados, vence aquele que pode oferecer as suas mercadorias em melhores condigocs e com as maiores facilidades para o comprador.
Os paises europcus, tradicionalmente exportadores, adotaram o seguro de credito a- exportagao ha mais de 30 anos. como garantia para as suas ven das financiadas.
Nas Americas, os Estados Unidos da America do Norte e Canada adotaramno recentemente e e de se esperar que na America do Sul o Brasil seja o primeiro a adota-lo, colocando-se, assim, em igualdade de condigoes com os demais paises para disputar os mercados e descnvolver uma politica agressiva de incrcmento as exportagoes.»
INDISPENSAVEL
«0 Seguro de Credito a Exportagao — continuou o sr. Celio Nascen tes — nao e vital para as exportagoes em geral, mas o c para a exportagao financiada, principalmente a de manu faturados.
O processamento de vendas ao consumidor de produtos manufaturados, pelo seu elevado custo, e feito geralmentc a prazo e, assim, o importadcr procura obter do exportador iguais fa cilidades para poder cealizar a operagao.
A venda a prazo para clientes do exterior apresenta riscos comerciais, politicos e extraordinarios que nao devem ser assumidos pelo exportador isoladamente.
O Seguro de Credito a Exporta^ao, garantindo esses riscos, torna a operaeao mais segura para o exportador. que ficara suficientemente resguardado con tra a falta de pagamento dos creditos pOr ele concedidos.»
LINHAS
«Para incentivaf -a exporta^ao de manufaturados pdos paises que constituem a ALALC. o Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID,abriu linhas de credito especiais, aiem da possibiiidade de desconto para as cambiais respectivas, tendo sido destinado ao Brasii urn credito de US$ 3.000.000,00.
- A utdiza^ao desse credito e a possibihdade de desconto das cambiais, for9osamente exigira sejam as operagoes garantidas e a forma mais adequada. reconhecida internacionalmente. e atraves das coberturas oferecidas pelo Se guro de Credito a Exporta?ao».
RISCOS
Segundo informagoes do sr. Celio Nascentes, o SCE garante o exporta dor, tanto contra o risco comrecial, caracterizado pela insolvencia do compra dor. como contra os riscos politicos e extraordinarios ocorridos no Pais do importador e que determinem o nao recebimento pelo exportador do credito concedido.
As peculiaridades e o vulto das responsabilidades determinaram a cria^ao, nos paises em que o seguro e operado, de sistemas de protegao securatoria em
que as empresas de seguros privados se entrosam com organismos do governo para conceder as coberturas respec tivas, correndo, porem-, por conta exclusiva dos governos a responsabilidade sobre os riscos politicos e extraor dinarios.
IMPLANTACAO
O Instituto de Resseguros do Brasii, ressegurador obrigatorio das emprsas de seguros privados, e que entra no esquema de opera^oes do Seguro de Credito a Exportagao como um dos principais orgaos executives, desde 1962 vem trabalhando para a implantagao definitiva desse seguro no Pais, o que, parece, sera conseguido agora, com a promulgagao da"" indispensavel lei.
A implantacao do Seguro de Credi to a Exporta^ao no Pais foi prevista pelo Decreto n" 736. de 16-3-62. Os riscos comerciais seriam assumidos por um «Cons6rcio» do qual participariam o Ministerio da Fazenda, o IRB e as sociedades de seguros privados c os «riscos politicos e extraordinarios^ senam assumidos exclusivamente pelo Ministerio da Fazenda.
Entretanto, informou, como nao tivesse ficado bem definida a forma de participagao do Ministerio da Fazenda nas rcsponsabilidades a ele atribuiveis, nao foi possivel a constitui?ao do «Consorcio», embora as sociedades de segu ros e o IRB tivessem subscrito as res pectivas participagoes.
As dificuldades que irapediram a implantagao desse novo seguro foram solucionadas pelo Grupo de Trabalho que eiaborou o anteprojeto de lei.
«No memento — concluiu o sr. Ce lio Nascentes — aguarda-se a decisao
ida Comissao de Comercio Exterior, presidida pelo sr. miinistro Daniel Faraco — uma das autoridades governamentais mais interessadas no assunto —,para o encaminhamento do projeto •de lei ao presidente da Repiiblicas.
OS GRANDES PROBLEMAS DO SEGURO ESTAO A CAMINHO DE BOA SOLUgAO
Sobre os problemas do seguro. que mcreceram o m^imo de atengao em 1964, transcrevemos a materia que, sob o titulo acima, foi publicada na segao de Seguros de O Jornal, edigao de 27 de dezembro de 1964:

Algumas providencias e nuedidas, toinadas no correr do ano que agora finda, vieram trazer aos seguradores, sc nao a solu?ao, pelo menos certo desafogo no tocante a dois importantes problemas.
Alias, ambos resultantes da a?ao distorsiva do processo inflacionario, gerando para as companhias de seguros ne■cessidades imperativas de duas ordens: a da simplifica^ao administrativa e a da elevagao dos limites de capacidade •operacional.
]a agora, em decorrencia das medidas adotadas, o processamento admdnistrativo. tanto do seguro como do resseguro, se realize sem os excesses que sobrecarregavam as rotinas de ser vice. Por outro la'do, com novos limi tes de trabalho, podem os seguradores •a esta altura dar mais um pouco de aproveitamento ao potencial economico de suas empresas.
Quanto a questao da capacidade ■operacional do mercado, por tanto tem po refreada e em boa parte mantida ociosa, cabe lemfcrar que ainda este
ano um grande passo foi dado no sentido de seu mais amplo aproveita mento.
Trata-se da corre^ao monetaria dos ativos imobilizados, imposta por lei, a principio negada mas per fira aplicada as companhias de seguros em resultado de uma firme atuagao da respectiva Federa^ao.
Com essa corre?ao dos ativos, em 1965 poderao os seguradores reajustar seus limites de trabalho, tornandoos mais consent§neos com a realidade monetaria nacional — e, assim, terao talvez quase resolvido um grave problema operacional.
Portanto, dos serios problemas de seguro brasileiro nos ultimos anos, resta por atacar de rijo apehas um: o da exacerbagao da concorrencia. provocada pela distensao que experimentou a oferta com o ingresso de novas seguradoras em niimero desproporcional ao dos indices de crescimento da procura.
Bsse e um problema mais dificil e mais delicado, dependendo da realiza^ao de programas coletivos de conquista de nova clientela e da cria^ao de novas areas operacionais. fi bem verdade que ranios tradicionais do seguro ainda encontram campo para expansao e que, por outro lado, 0 desenvolvimento economico do pais esta em forma continua criando potencialidade para a implantagao de novas especies de seguros.
Mas nao se pode negar que a incorpora^ao dessas novas faixas e areas operacionais constitui tarefa custosa c que deinanda um prazo relativamente longo para que se consiga colher os frutos de qualquer semeadura. Em todo caso, e uma tarefa que se impoe e que nao admiite delongas.
Dados estati'sticos
Contribuisao da Divisao de Planejamento e Mecanizagao do I.R.B.
ATIVO LIQUIDO DAS SOCIEDADES DE SEGUROS EM 1963

Os quadros a seguir refietem a situatao ecorjomica do mercado segurador brasileiro em 31 de dezembro de l963.
O quadro I destaca o ativo do mercado segurador, discriminando sua composigao absoluta e relativa, com indicagao do numerc de sociedades incluidas na operagao. permiitindo, desse modo, indices medios para melhor juJgamento da situagao de cada sociedade no conjunto das seguradoras. O cotejo dos dados do quadro 1 com os corres pondences pubjicados nas Revistas n° 131, 136 e 142 identificara a poli'tica de mversao adotada pelo mercado nos ultimos quatro anos.
O quadro 2 apresenta a evolugao do ativo hquido durante os ultimos cinco anos nos diferentes grupos de socieda des; destaca-se ai o ativo liquido medio pop sociedade para todo o mercado e para cada griipo, salientando-se os cor-
respondentes ao grupo vida e elementares exclusivamente. -
O quadro 3 compreende os mesmos dados do quadro 2, porem, desdobrados pelas sociedades nacionais e estrangeiras, o que permitira o confronto. entre ambos os grupos.
Os quadros 4, 5 e 6 constituem uma analise dog elementos do quadro 1, du rante o ultimo qiiinquenio, pop socieda des nacionais e estrangeiras.
Destacam-se no quadro 1 as rubricas
- Depositos Bancarios com 20% e 40% e Titulos Imobiliarios com 40% e 15%para sociedades nacionais e estrangei ras, respectivamente.
Nos quadros 5 e 6 podem-se ver os aumentos do Ativo liquido no ano de 1963, em relagao ao anterior, que foram de 43% para as sociedades nacionais e 67% para as estrangeiras.
ATIVO LIQUIDO E ATIVO LIQUmO MEDIO, FOR GRUPOS DE RAMOS
EM QUE OPERAM — 1959/1963
Indices: Bases 1959 = 109

ATIVO LIQUIDO E ATIVO LIQUIDO MEDIO, POR GRUPOS DE RAMOS EM
OPERAM — I959/I963

ONKl/TfVJC— yOW. £S5S:go;?;|£ 9g=^M'>C'0<ySS-?:«=>-so21?
^2KO«^«^V.Vk*«i
6? 5'"°S'-'£o^'r. i
2§IIHSSil2
2°c8
¥ £ u 3 c : :Si ;,si3 :'M 'T'ii » :I g- ^ •is 3 'C ? S •S^tSfCwiwcC as 5 e ^^ £ c g 85 S 2 QpUJ^aJ<<c£Q
f-»fA pj -Vs-o.A^C5^ £0©C»^ J5 ^I'•O'n & o «S 121ec — rioi/Ms r»
EXECUTIVO
Banco Naciona! de Habitagio —Corretor dos Seguros do Poder Pdhlico
EXECUTIVO LEGiSLATiVO J U D 1 C 1 A R I O
A seguir, a Integra do texto:
DECRETO N." 55.245 — DE 21 DE DEZEMBRO DE 1964
S5:'S5;3SSSi
''w wo nj o -.^«^^G0ocS»-aS1. iS-$irs" S U c S 9 c s t a *2 , i u ». HI 3 9< 1 ° 5 O O' s -e £ u
<4^ (0 bJ O ^sO cots CO '8 •!3 n 4 « V s ''I o a s-o 2c^?l aSQl jBlg
S§i2S?si3
O Presidente da Republica determinou — Decreto n'-' 55.245 de 21-12-64 que a corcetagem e a administragao dos seguros (ramios elementares) dos 6rgaos ce'ntralizados da Uniao, autarquias e sociedades de economia mista, controlados diretamente ou indiretamente pelo Poder Publico, caberao ao Banco Naciona] de Habitagio, a partir do corrente ano.
Dispoe sobre a corretagem de se guros dos orgaos centralizados da Uniao, autarquias e sociedades de eco nomia mista em que haja participacao majoritaria do Poder Publico e da outras providencias.
O Presidente da Republica usando das atribui^oes que Ihe confere o artigo 87, item I, da Constituigao Fe deral.
Estabelece ainda o Decreto que as entidades federals, autarquicas e de eco nomia mista, bem como as companhias de seguros lideres. encaminharao ao BNH, no prazo de trinta dias, a contar de sua data de vigencia, copia de todas as apolices e endossos dos segu ros em vigor.
(D.O. de 22-12-64, pag. 11.784.

Considerando que as corretagens sobre seguros realizados pelos orgaos centralizados da Uniao, autarquias e sociedades de economia mista controladas direta ou indiretamente, pelo Poder Publico nao devem caber a particulares senao quando nao houver orgao federal que se possa valer desta fonte de renda para fins socials:
Considerando que ao Banco Nacio na] de Habita^ao obedecida a legislagao vigente cabe a obrigagao legal de realizar seguros que, por suas caracteristicas peculiares e ineditas no pais, impcrtarao emi custo elevado que nao podera recair exclusivamente sobre os segurados:
65
Considerando que, dada a finalidade social do Banco Nacional de Habitagao cumpre ao Governo propiciarIhe fontes de receita que assegurem o seu potencial financeiro: e
Considerando que o Banco Nacio nal dc Habitagao estara, em prazo habit capacitado a exercer tais atividades de corretagem e administragao de seguros, com evidentes vantagens para a coletividade, decreta:
Art. 1.° A partir do exercicio de 1965 cabera exclusivamente ao Banco Nacional de Habita^ao a corretagem e administra^ao dos seguros de ramos elementares e seguros ,novos de que sejam segurados os orgaos centralizados da Uniao, autarquias e sociedades de economia miista, controlados direta ou indiretamente pelo Poder Ptiblico, bem como os seguros coletivos novos e renovagoes de seguros coletivos de seus servidores e empregados.
Paragrafo unico. Quaisquer renovagoes de apolices de seguros vigentes nesta data terao, igualmente corre tagem e administra^ao exclusivas do Banco Nacional de Habitacao.
Art. 2." As entidades mencionadas no artigo 1."' e as Companhias de Se guros lideres encaminharao ao Banco Nacional de Habita^ao. no prazo de 30 dias contados da data da vigeiicia deste Decreto, copias das apolices e dos endossos dos seguros em vigor.
Paragrafo unico. Igualmente Ihes cabe a obrigagao de remeterem, no prazo de 5 dias, copias das apolices e dos endossos das renova^oes ou dos seguros que realizarem entre a data da vigencia deste Decreto e 31 de dezemibro de 1964.
Art. 3.® O Banco Nacional de Habita^ao expedira as instru^oes necessarias ao cumprimcnto deste Decreto inclusive para fiscaliza^ao do cumpri-
mento da legisla^ao securitaria por parte das entidades mencionadas no artigo 1.®.
Art. 4.® A partir da publica^ao deste Decreto ate 1.® de Janeiro de 1965 ficam as entidades enumeradas no artigo 1.® proibidas de realizar se guros por prazos pluri-anuais sem a expressa autorizagao do Banco Nacio nal de Habitagao.

Art. 5.® O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publica?ao, revogadas as disposi^oes em contrario.
Brasilia, 21 de dezembro de 1964: 143.® da Independencia e 76.® da Republica.
H. Castello Branco
Milton Soares Campos
Ernesto de Mello Baptista'
Arthur da Cosfa e Silva
A. B. L. Castello Branco
Otavio Bulhdes
Juarez Tauora
Hugo de Almeida Leme
Flavio Lacerda
Arnaldo Sussekind
Marcio de iSoara e Mello
Raimundo Brlto
Daniel Faraco
Mauro Thibau
Roberto de Oliveira Campos
Oswaldo Cordeiro de i'arias
Tarifa Mafdima de Cabotagem e Apolice Padrao para os seguros maritimos
O Departamento Nacional dc Segu ros Privados e Capitalizagao aprovou a nova Tarifa Maritima de Cabotagem e a apolice padrao para os seguros ma ritimos, com vigencia a partir de 1' de julho de 1965. O trabalho de elabora530 dos textos esteve a cargo da Co-
missao Permanente de Transportes e Cascos, orgao tecnico do IRB, do qual fazem parte representantes das empresas seguradoras.
A materia foi apreciada pelas Federa5ao Nacional das Empresas de Se guros Privados e Capitalizagao, Comissao Central de Tarifas e Conseiho Tecnico do IRB, sendo em seguida encamiiihada ao DNSPC.
A orientaQao geral desse trabalho objetivou atender a tres aspectos prin cipals: a) consoli^agao de todas as disposi56es e interpretatoes existentes s6bre a materia: b) revisao geral do sistema tecnico tarifario para ajusta-lo as condi56es reais vigentes no mercado. brasileiro: c) simplificagao da mecanica operacional, visando a maior produtividade administrativa, mantendo-se, entretanto. sem altera5ao de vulto, sua estruturagao atual.
A mais ampla atengao foi dada aos interesses dos segurados com a amplia5ao dos riscos cobertos, destacando-se OS seguintes: a) inclusao dos riscos de «barataria» na cobertura basica do seguro: b) amplia5ao do direito de abandono; c) prorrogasao dos prazos de duragao dos riscos: d) prorrogagao da cobertura nos casos volu'ntarios de transbordo, desvio de rota, altera5ao de escalas ou prolonga5ao da viagem.
{Poctaria n' 1. de 7-1-1965.) * * *
LEGISLATIVO
Regulada a Profissao de Corretor de Seguros
O Congresso Nacional decrctou a Lei n» 4.594 de 29-12-64, sancionada pelo Presidente da Republica, que regula a profissao de corretor de segu ros.
Definindo o corretor de seguros •— pessoa fisica ou juridica — como «o intermediario legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro. admitidos pela legislagao vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas fisicas ou juridicas, de direito publico ou privado», a Lei nao limita o numero dc corretores e condiciona o exercicio da profissao a prcvia obten5ao do «Titulo de Habilitagaoa, que sera concedido pelo DNSPC. Para a outorga desse titulo, exige-se do requerente. entre outras coisas, habilitagio tccnico-profissional nos ramos em que deseja operar, ser brasileiro, ou estrangeiro com residencia permanente, e nao haver sido condenado por crimes a que se refere o Codigo Penal, nas se56es indicadas.
A Lei faculta ao corretor de seguros ter prepostos, que deverao ser registrados no DNSPC, satisfeitas as exigencias referentes aos corretores, ficando-lhe vedada a aceita5ao ou exercicio de empregos de pessoa juridica de di reito publico, inclusive de entidade paraestatal, bem como nao poderao ser socios, administradores, procuradores, despachantes ou empregados de empre sas de seguros, impedimento extensivo aos socios e diretores de empresas de corretagem.
Entre as penalidades, figura a multa dc 25% do premio anual da apo lice, e ao dobro em caso de reincidencia, para as empresas de seguros e cor retores que concederem, sob qualquer forma, vantagens que importemi em tratamenfo desiguai dos segurados, e a destituigao do corretor que softer condena5ao penal por motivo de ato praticado no exercicio da profissao, sendo-lhe vedada nova habilita5ao.
{Diario OJicial de 5-1-65 — pag. 35)
A seguir, transcrevemos, na Integra o texto da Lei:
LEI N." 4.594 — DE 29 DE DEZEMBRO DE 1964
Regula a profissao de corretoc de secures.
O Presidente da Republica
Fa^o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei;
CAPITULO I
Do corretor de Segur.os e da sua Habilita^ao ProHssional
Art. 1," O corretor de seguros. seja pessoa fisica ou jun'dica, e o intermediario legalmente atuorizado a angariar e a promover contratos de seguro, admitidos pela legisla(;ao vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas fisicas ou juridicas, de direito publico ou privado.
Art. 2." O exercicio da profissao de corretor de seguros depende da previa obtengao do titulo de habilita?ao, o qua] sera concedido pelo Departamento Nacional de Seguros Pri-' vados e Capitalizagao, nos termos desta lei.
Paragrafo linico. O numero de corretores de seguro e ilimitado.

Art. 3." O interessado na obten gao do titulo a que se referc o atrigo anterior, requerera ao Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitaiizagao, indicando o ramo de
seguro a que se pretenda dedicar, provando documentalmente:
a) ser brasileiro ou estrangeiro com residencia permanente;
b) estar quite com o servigo miilitar, quando se tratar de brasileiro ou naturalizado:
c) nao haver sido condenado por crimes a que se referem as Segocs II, III e IV do Capitulo VI do Titulo I: OS Capitulos I. II. Ill, IV. V, VI. e VII do Titulo II: o Capitulo V do Titulo VI; Capitulos I, II, c III do Titulo VIII; OS Capitulos I, II, III e IV do Titulo X e o Capitulo I do Titulo XI, parte especial do- Codigo
Penal:
d) nao ser falido:
e) ter habilitagao tecnico-profissional referente aos ramos requeridos.
§ 1.° Se se tratar de pessoa juridica devera a requerente provar que esta organizada segundo as leis brasileiras. ter sede no pals, e que seus d'iretores, gerentes ou administradores preencham as condigoes deste artigo.
§ 2." Satisfeitos pelo requerente os requisites deste artigo tera ele direito a imediata obtengao do titulo.
Art. 4," O cumprimento da exigencia da alinea «e» do artigo anterior podera consistir na observancia comprovada de qualquer das seguintes condigoes;
a) seivir ha mais de dois anos como preposto de corretor de seguros para OS ramos requeridos;
b) haver concluido curso (vetado) tecnico-profissiona! de seguros, oficial (vetado).
c) apresentar atestado do exercicio profissional anterior a esta lei. fornecido pelo sindicato de classc ou pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitaiizagao.
Art. 5." O corretor, seja pessoa fi sica ou juridica, antes de entrar no exercicio da profisao devera:
a) prestar fianga em moeda corrente ou em titulos da divida publica, no valor de urn salario-minimo mensal, vigente na localidade em que cxercer suas atividades profissionais.
b) estar quite com o imposto sindical.
c) inscrever-se para o pagamento do imposto de Industrias e Profissoes.
Art. 6.° Nao se podera habilitar novamente como corretor aquele cujo titulo de habilitagao profissional houver sido cassado. nos termos do arti go 24.
Art. 7." O titulo de habilitagao de corretor de seguros sera expedido pelo Departamento Nacional de Segu ros Privados e Capitaiizagao e publicado no Diario Oficial da Republica.
Art. 8.® O atestado, a que se refere a alinea «c» do art. 4.°. sera con cedido na conformiidade das informagoes e documentos colhidos pela Diretoria do Sindicato. e dele dcverao constar os dados de identidade do pretendente, bem como as indicagoes relativas ao tempo do exercicio nos
diversos ramos de seguro e as empresas a que tiver servido.
§ 1.° Da recusa do Sindicato em fornecer o atestado acima referido, cabe recurso, no prazo de 60 dias, para o Departamento Nacional de Se guros Privados e Capitaiizagao.
§ 2° Os motivos da recusa do ates tado, quando se fundarem em razoes que atendem a honra do interessado, terao carater sigiloso e somente poderao ser certificados a pedido de tercciros per ordem judicial ou mediante requisigao do Departamento Nacio nal de Seguros Privados e Capitaii zagao
Art, 9.® Nos municipios onde nao houver sindicatos da respectiva categoria, delegacias ou segoes desses sin dicatos. podera o atestado ser fornecido pelo sindicato da localidade mais proxima.
Art, 10. Os sindicatos organizarao e mantcrao registro dos corretores e respectivos prepostos, habilitados na forma desta lei, com os assentamentos cssenciais sobre a habilitagao legal e 0 «curriculum vitae» profissional de cada um, Paragrafo unico. Para os efeitos deste artigo, o Departamento Nacio nal de Seguros Privados e Capitaiiza gao fornecera aos interessados os da dos necessarios.
Art. 11. Os sindicatos farao publicar semestralmente. no Diario Ofi cial da Uniao e dos Estados, a relagao devidamente atualizada dos cor retores e respectivos prepostos habili tados
CAPITULO II
Dos Prepostos dos Corcetores '
Art. 12. O corretor de seguros podera ter prepostog de sua livre escolha bem como designar, entre eles, 0 que o substitua nos impedimentos ou faitas.
unico. Os prepostos se ra© registrados no Dcpartamento Nacional de Seguros Privados e Capitaiiza^ao, mediante requerimento do cor retor e preenchimento dos requisites exigidos pelo art. S.".
CAPITULO III
Dos direitos e Deveres
Art, 13. So ao corretor de seguros devidamente habilitado nos termos desta lei e que houver assinado a proposta, deverao ser pagas as corretagens adniitidas para cada modaJidade de seguro, pelas respectivas tarifas, inclusive em caso de ajustamento de premios.
§ 1° Nos casos de altera;6es de premios por erro de calculo na proposta ou por ajustamentos negatives, devera o corretor restituir a diferenga da corretageir.
§ 2.'' hios seguros efetuados diretamentc entre o segurador e o segurado. sem interveniencia do corretor, nao havera corretagem a pagar.
Art. H. O corretor devera ter o registro devidamente autenticado pelo Dcpartamento Nacional de Seguros Pnvados e Capitalizaqao das propostas que encaminhar as Sociedades de Seguros, coii todos os a.ssentamentos
necessaries a elucidaqao completa dos negocios em que intervier.
Art. 15. O corretor devera recoIher incontinent! a Caixa da Seguradora o premio que porve'ntura tiver recebido do segurado para pagamento do seguro realizado por seu intermedio.
Art. 16. Sempre que for exigido pelo Departamento Nacional de Se guros Pnvados e Capitaliza^ao e no prazo por ele determi'nado. os corretores e prepostos deverao exibir os seus registros bem como og documentos nos quais se baseiam os lanqamentos feitos.
Art. 17. vedado aos corretores e aos prepostos:
a) aceitarem ou exercerem empregos de pessoa juridica de direito publico, inclusive de entidade paraestatal;
b) serera socios, administradores, procuradores, despachantes ou empregados de empresa de seguros.
Paragrafo linico. O impedimento previsto neste artigo e extensive aos socios e diretores de empresa de cor retagem.
CAPITULO IV
Da aceitagaodas propostas de seguros
Art. 18. As sociedades de seguros, por suas matrizes. filiais, sucursais. agendas ou representantes, so poderao receber proposta de contrato de se guros ;
a) por intermedio de corretor de seguros devidamente habilitado;
b) diretamente dos proponentes ou seus legitimos representantes.
Art. 19. Nos casos de aceitacao de propostas pela forma a que se refere a alinea do artigo anterior, a importancia habitualraente cobrada a titulo de emissao cauculada de acordo com a tarifa respectiva, rcvertera para a cria^ao de escolas profissionais (VETADO) e criaqao de um "Fundo de Prevengao contra incendios».

§ 1." As empresas de seguros escriturarao essa imiportanda em livro de vidamente autenticado pelo Departa mento Nacional de Seguros Privados e Capitalizaqao.
§ 2." A criaqao e funcionamento dessas instituiqoes ficarao a cargo do Instituto de Resseguros do Brasil, que arrecadara essas importancias direta mente das entidades seguradoras.
CAPITULO V
Das Penalidades
Art. 20. O corretor respo'ndera profissional e civilmente pelas declaraqoes inexatas contidas em propostas por ele assinadas, independcntemente das sangoes que forem cabiveis a outros responsaveis pela infragao.
Art. 21. Os corretores de seguros independentemente de responsabilidade penal e civil em que possam incorrer no exercicio de suas fungoes sao passiveis das penas disciplinares de multa, suspensao e destituigao.
Art. 22. Incorrera na pena de mul ta de Cr$ 5.000,00 a Cr$ 10.000,00
e, na reincidencia. erm suspensao pelo tempo que durar a infragao, o corretor que deixar de cumprir o disposto nos artigos 16 e 17.
Art. 23. Incorrera em pena de sus pensao das fungoes, de 30 a 180 dias, o corretor que infringir as disposigoes desta lei, quando nao foi cominada pena de multa ou destituigao.
Art. 24. Incorrera em pena de des tituigao o corretor que sofrer condenagao penal por motivo de ato praticado no exercicio da profissao.
Art. 25. Ficam sujeitos a multa correspondente a 25% do premio anual da respectiva apolice, e ao dobro no caso de reincidencia, as empresas de seguro e corretores que, transgredindo o art. 14 desta lei e as disposigoes do Decreto-lei n." 2.063 de 7 de margo de 1940, concederem, sob qualquer forma, vantagens que importem no tratamento desigual dos scgurados.
Art. 26. O processo para cominagao das penalidades previstas nesta lei reger-se-a, no que for aplicavel pelos arts. 167, 168, 169, 170 e 171 do Decreto-lei n.® 2.063, de 7 de margo de 1940.
CAPITULO VI
Da Repartigao Fiscalizadora
Art. 27. Compete ao Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao aplicar as penalidades pre vistas nesta lei e fazer cumprir as suas disposigoes.
CAPiTULO VII
CAPITULO VIII
Disposigdes Gerais Disposigoes Transitocias
Art. 28. A presente lei e aplicavel aos territorios estaduais nos quais existem Sindicatos de Corretores de Seguros legalmente constituidos.
29. Nao se enquadram nos efeitos desta lei as opera^oes de cosseguro e de resseguro entre as Empresas seguradoras.
Art. 30. Nos Mynicipios onde nao houver corretor legalmente habilitado as propostas de contratos de seguro relativo a bens e interesses de pessoas fisicas ou juridicas nele domiciliadas continuarao a ser encaminhadas as empresas seguradoras por corretor de seguros ou por qualquer cidadao. indiferentemente, mantido o regimte de livre concorrencia na media^ao de contrato de seguro em vigor na data da publica^ao desta lei.
§ 1." As comissoes, devidas pela media^ao de contratos de seguro de pessoa fisica ou juridica, domiciliada nos Municipios a que se refere este artigo e neles agenciados e assinados, continuarao tambem a ser pagas ao intermediario da proposta. seja corretor habilitado ou nao.
§ 2. As companhias seguradoras deverao encaminhar instru^oes, nos termos da presente lei, a fim de que os referidos corretores possam se habilitar e se registrar, dando ciencia dessa providencia ao sindicato de classe mais proximo.
Art. 31. Os corretores, ja em atividade de sua profissao quando da vigencia desta lei, poderao continuar a exerce-la desde que apresentem ao Departamento Naciona! de Seguros Privados e Capitalizagao seus requerimentos, acompanhados dos documentos exigidos pelas alineas a, c, e d do artigo 3." e c do artigo 4.», e prova da observancia do disposto no art. 5.®.
Art. 32. Dentro de noventa dias, a contar da vigencia desta lei, o Poder Executivo regulamentara as profissoes de corretor de seguro de.vida e de capitaliza^ao, obedecidos os principios estabelecidos na presente lei.

Art. 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.
Art. 34. Revogam-se as disposigoes em contrario.
Brasilia, 29 de dezembro de 1964; 143.® da Independencia e 76." da Republica.
O seguro de credito a exportagao beneficia-se desse modo, o que repercutira de maneira favoravel no mercado exportador, como incentive ao desenvolvimento dessas operagoes, dentro,alias, da politica economica do Governo.
teriormente era penoso o trabalho de pesquisar, transcrever e juntar ao processo a jurisprudencia Julgada necessaria !
Acresce, por outro lado, que as publicagbes da Sumula tern sido feitas com o Indice por Materia precedendo OS enunciados.
Lei do se/o beneficia o seguro de cr^ito a exportagao
A Lei n"-' 4.505 de 30 de novembro de 1964, que entrou em vigor a partir de Iv de Janeiro deste ano, isenta do pagamento de imposto as operagocs do seguro de credito a exportagao, bem come do seguro de transporte de mercadorias em viagens internacionais.
J U D 1 C I A R I O
No Supremo "Tribunal Federal, a Comissao de Jurisprudencia, constituida dos Mi'nistros Gongalues de 01'veira, Victor Nunes Leal e Pedro_ Chaves, deliberou publicar oficialmente, sob forma de Adendos ao Regimento daquelc Tribunal, a Sumula da da Jurisprudencia Predominante do Suprerr:--) Tribunal Federal.
Nos meios forenses e ela conhecida abreviadamente por Sumula. Ja sairam a lume os Adendos ns. 1, 2 3.
A finalidade da Sumula e defacilitar o trabalho dos advogados, do prbprio Tribunal e dos numerosos Juizes que se espalham pela imcnsidade do territorio brasileiro.
As 3 sumulas Ja eiitadas contemi 472 enunciados, enumerados seguidamente, com indicagao da legislagao pertinente e da fonte de que foram extraidos.
Dessa forma, o profissional do direito, seJa advogado ou membro da magistratura, tera apenas de citar o niimero da Sumula para dar fundamento as suas razoes, quanto a Jurispridencia. Ninguem ignora como an-
Assim, se o assunto e Prescrigao. o interessado. consulta a parte referente a Direito Civil, no indice, onde ele aparece por ordem alfabetica c, ao seu lado. o n.". por exemplo, 151 (Segurador subrogado), que e o numero a ser citado e compulsado na Sumula, dentro da ordem numerica natural. La esta:
«151. Prescreve em um ano a agao do segurador sub-rogado para haver indenizagao por extravio ou perda de carga transportada por navio»
Outros exemplos: 1) honorarios
Direito Processual Civil :
«257. Sao cabiveis honorarios de advogado na agao regressiva do se gurador contra o causador do dano».
2) Clausula de nao indenizar Direito Comercial :
«161. Em contrato de trans porte, e inoperante a clausula de nao indenizar».
Como se verifica, tambem a velha Cortc Suprema evolui e atualiza seus servigos, Ja sob a Influencia de uma Capital Moderna e progressista. Aguardemos a publicagao de novos Adcjndos para ampliagao do repertorio jurisprudencial, que define a orientagao do Excelso Tribunal.
H. Castelo Branco Daniel Faracoatender aos requisites agora impostos em materia de habilitagao profissional e, assim, credenciar-se para o exercicio da profissao de corretor de seguros ?».
nal). Tudo isso o BNH podera satisfazer com tanta ou mais facilidade que qualquer das pessoas juridicas que atualmente se dedicam a corretagem.
Consultorio T ecnico
Os e.darecimentos publicados nesta segao representam apenas opinioes pessoais dos seas autores.
BACHAHBLANDO - -- o e.-er"C" ^ de de ser r..gu!ado por hi.. Bsse diplon^^ e^tabeleceu condigoes e [^rmalidade,- para a habilitatao pro{i.sionai e determina, ao memo fe-npo, ab oorrs,or devidam^^^a habiUfado sejam pagas as comiasoes [ixadas -ws fanfas domo raraanerafdes dp trabalho da angariagSo de se^ros.
Pace a nova lei. como poderia o Banco Nac:onal da Habdac^o a.ender ao. ^ffora impostos em ma^er.a de habdifa.So e assim. credmciar-se para o excrcic!.o da f'ssao de corretor de seguros?
A consalta foi encaminhada ao Dr. Walter Moreira da Silva, Procurador do I.R R nno. "• •■D., que apresentou os seguintes csclarecimentos:
O Presidenfe da RepubJica decretou em 21-12-1964 qae caberao exclasivamente ao BNH a corretagem e
Parece-me que a lei 4.594 da a solugao.
^^^'n'stragao dos seguros dos 6rgaos governamentais (Decreto numero 55.245, publicado no D.O. de 22-12-1964). Com isso o Governo. como consta dos «cousideranda^ desse cJecreto, nao so propiciava fontes de receita a uma dntidade de alta finalidade social, como se langava ao afan de centralizar e uniformizar as ativMades de corretagens e administcagao dos seguros dos beus dos 6r93os que eJe. Governo, criou e dirige.

'
Dias depois. em 29-12-1964. foi sancionada a Lei 0^ 4 504 r, j- i- "• que disciplina 0 exercicio da profissao de corretor dc seguros.
fi natural, pols, q„e »» esplrito daquele, q„e ae as atrvidadas securatdrlas no uosso eio, varias indagagoes, como esta que
CHARELANDO sintetizou na sua consulta: «como poderia o BNH
O corretor de seguros pode ser pessoa juridica (art. 1.") Outra premissa: a pessoa de direito piiblico nao ficou obstada de valer-se da intermiediagao propria dos corretores de seguros (art. 1.°). Apenas, essa intermediagao e hoje da exclusividade do BNH, conforme dispos o Decreto niimero 55.245, que nesse particular nao foi revogado pela nova lei. Mas e impcrioso que o Banco atenda e cumpra as exigencias de ordem pubiica estabelecidas na Lei n." 4.594, entre as quais esta a obtengao do fitulo de habilitagao para o exercicio da atividade de corretagem de seguros. Os arts. 3°, 4." e 5." do novo diploma legal especificam, ate com detalhes, os meios e modos de qualquer interessado obter a habilitagao.
No caso do BNH (pessoa juridica), cabera provar: — a) que esta organizado segundo as leis brasileiras c tern sede no pais: — 6) que seus diretores, gerentes ou administradores preenchemi as condigoes do art, 3.° (ser brasilciro, estar quite com o servigo militar, nao ter antecedentes crimihais, nao ser falido e ter habiiitagao tecnico-profissio-
Porque nao e de D. Sandra, a Presidente do Banco, nem de todos os seus companheiros de Diretoria, que se vai exigir a habiiitagao profissional. Como tambem nao e dela, nem dos demais Diretores, que se vai exigir a habiiitagao concernehte ao exercicio da profissao de Engenheiro para os projetos e contratos de construgao. Tal exigencia se fara dos setores do Banco que, em cada especialidade, representem-no. Por certo, a Carteira de Se guros ou de Corretagem tera gerentes ou responsaveis que satisfagam as condigoes da lei. E isso o BNH obtera com facilidade, Urn pequeno anuncio, divulgando um criterio de selegao apropriado, congregara candidates suficientes para uma boa escolha, Mas convem salientar que a Lei n.° 4.594 contem varios dispositivos qiie nao sao auto-aplicaveis, que carecem de certa regulamentagao. Num regulamento, certas situagoes particulares poderao ser esclarecidas e resolvidas sem ofensa a lei, que via de regra fica nas generahdades. £ de se aguardar, pois, a regulamentagao da lei era apreciada, embora se possa desde ja afinmar que o BNH, com facilidade, podera cumprir OS requisites impostos pela nova lei em materia de habiiitagao.
Imprensa
em r e vis ta
ECONOMIA DE 5 MILHOES DE D6LARES EM RESSEGUROS
O Institute de Resseguros do Brasil espera obter, em 1965, uma econamia da ordem de 5 milhoes de dolares, nas rela^oes do mercado segurador brasileiro com o exterior.
Trata-se da estimativa baseada na experiencia que se obteve, no ano passado com a aplica;ao do decreto baixada pelo presidente Castelo Branco, mstituindo o regime de concorrencia na colocagao de excedentes do merca do nacional nos centres internacionais de resseguros.
For outro lado, espera ainda o Ins titute de Resseguros do Brasil alcanCar razoavel economia de divisas como resultado da politica adotada no curso de 1964. de sistematica elevagao d^s nivcis de capacidade operacional d mercado brasileiro de mode a alcan^arse uma absorsao progressiva de maiores
rendas das operates de seguros dentro da economia interna""do pais.
{Gazeta de Noticias. 12-1-65.)

SEGURO DE CREDITO EM 1964
Tecnicos do Institute de Ressegu ros do Brasil afirmam que aquela entidade conseguiu dar consideravel expansao. em 1964, ao seguro de credito.
Cumprindo sua fun^ao legal de desenvolver as operagoes de seguros no pais e de evitar o escoamento de neg6cios e divisas para o exterior, o IRB estudou e aprovou varies pianos para a pratica de novas modalidades de seguros credito e garantia, tendo alcangado larga repercussao nos meios interessados a apolice destinada a cobrir os riscos financeiros das incorporagoes imobiliarias e a apolice que visa a cobertura das letras de cambio.
Entendem os segurados que, na presente etapa do desenvolvimento economico do pais, o seguro de credito constitui setor de grande perspectivas. podendo atraves dele a atividade seguradora prestar novos e importantes services ao progresso do pais.
{Diario Carioca, 3-1-65.)
IRB; MAIOR ECONOMIA DE DIVISAS EM 1964
Tecnicos do Institute de Ressegu ros do Brasil salientami, que em 1964, uma das mais importantes tarefas daqucla entidade consistiu na implanta?ao do sistema de concorrencias, decretado pelo presidente Castelo Bran co para as coloca^oes de excedentes do mercado brasileiro no Exterior.
O sistema de concorrencias visou ativar a competi^ao no mercado internacional e reduzir, ao minimo possivel, OS pre?os das coberturas de resscguro para as «pontas» que nao podem nem devem ser absorvidas pelo mercado interno, sob pena de amea^ar-lhe o equilibrio tecnico.
Com a implantagao de tal sistema calcula-se que o or?amento de Cambio do Pais pode ser aliviado de uma despesa anual da ordem de dois mi lhoes de dolares, pois a tanto correspondia a economia de divisas obtida pela redu^io das taxas de resseguro, " {A Gazeta — Sao Paulo, 21-12 de 1964.)
Em conjunto com as companhias de seguros, tecnicos do Instituto de Res seguros do Brasil estao realizando cstudos com 0 objetivo de reformular as atuais condi^oes do seguro de acidentes pessoais. Em particular, o que se pretende e sobretudo dar nova esquematizagao as coberturas relacionadas com assistencia devida no case de tratamento medico, cirurgico, farmaceutico e hospitalar.
Tais coberturas, ainda mantidas com uma estrutura^ao que vem de antigas etapas da evolu^ao do mercado segurador nacional, seriam passiveis de moderniza^ao, passando a ajustarem-se melhor as proprias necessidades do publico, hoje bem diferentes e, o que e pior, agravadas em face do alto custo dos scrvi^os asslstenciais e prejudicadas pela ineficiencia e incapacidade das instituigoes de previdencia social.
A agao do I^B, atraves da iniciativa agora em curso, visa proporcionar ao publico, assim, uma prote?ao adequada e oferecida com os altos padroes de eficiencia e garantia do siste ma segurador nacional. Com isso,sera evitada a prolifcragao de atividades ilegais que ja comegam a tomar corpo, e que acenam com vantagens ilus6rias para atrair o publico, dcsviando-o do r^aminho certo da previdencia.
noticiario
DO EXTERIOR
holanda "
Associasao Internadonal de Sociedades Mutuas de iSe^uro
Dingentes de sociedades mutuas espanholas, francesas, italianas, holandesas e sui^as fundaram recentemente a Association Interoacionale des Societes d-Assurance Mutuelle (Aj.S.A.M.).
com sede em Amsterdam.
A entidade, que esta aberta a todas as sociedades mutuas de seguro, pro.^ P6e.se defender os interesses gerais do seguro privado baseado no princiPio do mutualismo, evitando qualquer interferencia no campo tecnico. ja da ' competencia de outros orgaos, colaborar com os organismos internacionais de seguro, e favorecer o estabelecimento de iagos de amizade entre os seus membros.
A associasao, que tera inicialmente seus quadros compostos apenas de membros eutopeus, pretende em futuro
proximo estender sen campo de atividade aos demais continentes.
***-.estados unidos
Aumenfo da taxa de moctalidade
A taxa de mortalidade dos segurados do Ramo Vida. nos Estados Unidos, elevou-se durante 1963, segundo estimativas provisorias, a 6.5"/^^. No caso de confirmagao. essa cifra representara a mais eJevada taxa de mortaWade desde 1946. Em 1962, a taxa de6.2V,„.
Tais indices sio atribuldos as mas condi^oes meteorologicas no inverno, as epidemias de gripe e conseqiientes compIica?6es pulmohares e circulatorias.
Por outro lado, verificou-se durante o ano urn aumento do numero de mortes ocasionadas por cancer e pelas ondas de calor nos meses de verao.
APROVADA A PROPOSTA OR-gAMENTARIA DO I.R.B.
O Conselho Tecnico do I.R.B. aprovou, por unanimidade, a Proposta Orgamentaria da entidade, para o exercicio de 1965. Os numeros revelam o acerto da polltica que vem orientando as atividades do I.R.B. nos pianos tecnico e administrative, esperandose que o excedente da reccita sobrc a despesa supere, percentualmentc, o dos exercicios anteriores.

Na composi^ao dos resultados, figura o ramo Incendio com uma parcela que gira em torno de cinqiienta por cento.
0 seguro no tocante a cobran^a de taxas que incluem fragao de cruzeiro.
O abandono das parcelas referentes a centavos, como estabelece o art. 15 da Lei, nao poderia ser feito sem gra ves prejuizos para o mercado segurador.
Como solugao, a Federa^ao Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitaliza^ao encaminhou ao Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitaliza^ao sugestao no sentido de que a cobran?a dos premies seja calculada em forma percentuai.
RET6RNO AS TAXAS PERCENTUAIS
A extingao do centavo, dcterminada pela Lei n' 4.511, de 1 de derembro de 1964, criou alguns problemas para
Cabe lembrar que os processes tecnicos e matematicos do seguro conduzem, via de rcgra, a fixa^ao de taxas em indices percentuais. Para facilitar 0 calculo dos que tivessem a fungao de manipular tarifas, a partir de certa epoca come^aram a surgir taxas expressas em cruzeiros. Mas agora, com a lei que extinguiu o centavo, imp6e-se a conversao dessas taxas a forma per centuai.
NATAL NO I.R.B. der a iniimeras solicitagoes. As duas
tiveram o auditorio no maNos dias 19 e 20 de dezembro til- • j , ximo de sua lota^ao. Como desde "a time foraot reaiizadas as fesdvidades f,,da,ao do teatro de Natal o elenco natdmas do com a apresen- foi completamente integrado per fun-, ta^ao de uma pega teatral, distribui?ao cionario do I.R.B. e sens filhos.
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL
Presidentes MARCIAL DIAS PEQUENO
CONSELHO Mario Meneghelli (Vicc-Fres.'
TECNICO; Egas Muniz Santhiago
Orlcodo da Rocha Carvalho
Mauro Bento D. Saiies
Raul Telles Rudge
Rubem Molta
CONSELHO Alberto Vieira Souto (Presideme)
FISCAL: Edson Pimentel Seabra
Olicio de Ollveira
Sede: Avenlda Marechal Camara, 171 Rio de Jar^elro Brasil
'le presentes aos filhos dos funcionarios seguida de um lanche.
A pega Boi e o Burro a Caminho de Belero», de Maria Clara Machado. ja apcesentada no Natal de 1956. foi agora remontada para aten-
Coordenando a organiza^ao das festividades. Nilka Coimbra. A diregao da pe?a esteve a cargo de Hugo Mayer, assistido por Arlete Barbosa da Costa. As fotos acima ilustram dois momentos das tardes do Natal do I.R.B.

1
SUCURSAIS
Prosidente Vargas, 197 — snlas 228/230
■Lo HorizoNTE
^''enida Amazoiias. 491/507 — 8° aiidar
Bancario Sul — Ed. Seguradoras — 15." and
'Tiba
Quinze de Novembro 551/558 1®. andar
Avenida Eduardo Ribeiro 42.3 — a'to?
ALEGRE
V Siqueira Campos, 1 184 — 12° andar
^^enida Guararapes, 120 — 7." andar
'^ADOR
I'ua da Orecia, 6 — 8," andar
PAULO
Aveni<la Sao Joao, 313 II " andar

