

S U M A R I O

Valiosa contribtiiqao para o dcscnvolvimento do segtiro privado: Disciirso; Angela Mario Ccnie. col. 3 — Introducao a tcoria matematica do scgiiro; / /. dc Souza Mcndes, col. 9 Nova apolicc-padrao para o seguroincendio; Entrevista, Celio Olimpio Nascentcs, col. 33 — Teoria da Cau sa: David Campista Filho, col. 39 •— A higiene industrial como fatcr de seguran^a na indiistria: Conferencia: Jose Maria Tavcira, col. 47 — O uso de computadores eletronicos no Brasil; Discurso; Comfc. Jose Cruz Santos, col. 57 — A repara^ao do dano profissional, no seguro de acidcntes pessoais: Entrevista: Weber Jose Ferreira, col. 63 —• Notas sobre o seguro de vida em grupo: Adijr Pecego^ Mes sina,. col. 71 — Normas Incendio; Jorge do Marco Passos. col. 85 Objetivo e metodos da prevengao de incendio: Conferencia; Mario Trindade, col, 91 — O novo piano de resseguro incendio: Celio Olimpio Nascentes, col. 103 — Introdu^ao do seguro de valor de novo na Sui^a: Tradu^ao: Willy Koenig. col. 109 — Protecao e preven^ao em seguros: Premios a abnega^ao: Waldemar Leite de Rezende. col. 127 — Os campos da administra^ao cientlfica: Hezmtnio Augus ta Faria. col. 135 — Tribunal Maritimo: 25 anos de atividades; col. 145 — Dados Estatisticos, col. 151 Pareceres e Decisoes, col. 169 — BoIctim Informative da D.L.S.. col. col. 215 — Noticiario do Pais, col. 223.
O diagnostico da inflagao brasileira e tema para extensa e proJunda controrersia.
Dijicil harmonizar tecnicos e especialistas, enleados par inevitavel anfagonismo de opinioes. B que a analisc ccondmica, embora hoje provida de excslente instrumental cientifico. nao deixa de comportar boa dose de empirismo e subjetiuagao.
Para ilustrar a divergencia que lavra. basta a simples referenda a daas teorias que, entre outras, pretendem explicar o processo inflacionario da nossa economic. Uma, a bem dizer ortodoxa, reduzlndo o fenomeno a sua expressao mais simples, apresenta-o como a resultante final de urn sobreinvestimento. Supoe, poitanto. uma despesa global (consumo e'investimento) acima da renda nacional ao nivel do plena emprego dos fatores de produgao. A outra. mais compativel com as caracteristicas dos sistemas econonlicos subdesenvolvidos, aponta como causa basica da nossa-inflagao cronica o fato de, nas etapas de crescimento, a procura global atingir diversificagao mmto mais raptda do que a oferta.
Mas afinal a verdade e que, em materia de inflagao, ha um ponto de acordo geral. Consiste na identificagao da <^produtwidade» como objetivo de sama importancia para a correfao do desequihbrio funda mental da economia.
Aumento da produtividade teal significa maior volume fisico da produgao sem incremento proporcional de despesa. Imphca, basicamente, aperfeigoamento de maquinaria, avango tecnico e maior eficiencia dos metodos de trabalho. Se bem que assirn correntemente seja entendida. nao se completa com os elementos citados toda a gama dos seas componentes. Produtividade tambem exige. sem duvida alguma. um concurso cada vez maior da ^engenharia de seguranga^. especialidade que visa, atraves da preservagao de homens e equipamentos .normalizar a produgao.
Por reconhecer tal importancia na engenharia de seguranga alias indispensavel a fun^ao preventiva do Seguro-a atual Administragao do I.R.B. criou, na entidade, um setor especial,zado. Bste, que ja possui elogiavel folha de servigos, esfa agora empreendendo, em combinagao com o ^Curso Basico de Seguros., a execiifao de um vasto programa de conferencias, com a finalidade de difundir os principios de ordem geral dessa ramificagao da engenharia.
Nesta mesma edigao, atendendo ao interesse que a materia assume para os leitores, inserimos parte das conferencias ja realizadas. na certeza de que assim estaremos contribuindo para uma obra divulgacional de grande alcance.
Valiosa contribuigao para o desenvolvimento do seguro privado
cerimonia de posse do membros
* das Comissoes Tecnicas da FNESPC. nomeados para o bienio julho 1959-julho 1961. o Dr. Angelo Mario Ccrne proferiu um discurso cm que ressaltou a importancia da contri buigao de tais orgaos para o progresso do Seguro no pais. Solidarizando-se na homenagem prestada aos artifices desse eficiente e anonimo trabalbo realizado pelos tecnicos patricios, a «Revista do transvreve em suas paginas o teor do aludido discur

so:
«Tenho a honra, em nome da Federagao Nacicnal das Empresas de Seguros Privados e Capitaliza?ao, de dar posse aos Presidentes e Membros das Comiss5es Tecnicas da Federa(;.ao, para o exercicio de um mandate compreendido entre 1 de julho de 1959 e 30 de junho de 1961, conforme escoIha feita pelo mais alto orgao de cla.sse, o Conselho de Representantes da Federagao National das Empresas de Seguros Privados e Capitalizagao.
Os relevantes services prestados a nossa classc pelos dignos membros das nossas Comissoes Tecnicas. nao tern sido poucas vezes ressaltados, proclamando a maneira com que os homcn.s, atarefados na nossa atividade econo-
mica. prestam — desinteressadamente c com proficiencia — services valiosos ao aprimoramento e ao estudo clos problemas intrincados do meio segurador e de capitaliza^ao brasileiros.
Volto, com toda enfase, a proclamar de publico a valiosa contribuigao que todos dao para que o seguro pri vado continue sua trajetdria de bem servir aos seus segurados e, -sobretudo de proteger bens e pessoas que contribuem para o progresso e a riqucza da nagao brasileira.
O seguro privado tem enfrentado, nestes ultimos tempos, uma carapanlia constante daqueles que combatem a iniciativa privada e a livre empresa. Os metodos pelos quais agem «?3ses inimigos do regime da propriedade privada, sao sutis mas bem coordenados. Comegam por combater.a existcncia de capitais estrangeiros no pais, cerceando sua aplicagao em algumas atividades economicas e, depois, aos poucos, se dirigem para outros c. finalmente, vera contra os capitais pri vados brasileiros. Infelizmente, nem todos tomamos conhccimento desta pura manobra dos socialistas, sobretudo. agora, que eles se enfeitam com OS titulos de nacionalistas, ao passo que sabemos que o criador do .""ocia-
lismo moderno visava a internacioaalizagao do mundo, desaparecendo os contornos de patria.
a
Note-sc. em particular, que os partidos socialistas que predominam. majoritariamente, nos paises da Escandinavia e que predominaram na Inglaterra. governando aquele pais atraves do «labour party», nunca propugnaram pela nacionalizagao das companhias de seguros, reconhecendo que essa afi■^idade. necessitando de resseguros em niercados aiienigenos, como tambi-in de concorrer em certos ramos de seguros que nao sao bem desenvolvidos dentro do seu proprio pals, nao pode caracteristicas de atividade nacionalizada.
Cumpre, tambem, ressaltar que •'.s paises da Cortina de Ferro ja refor'^aram muito as suas normas de aiua9ao no campo do seguro privado pioPriamente dito, tendo ultimamente P^'oclamado leis criando, ao lado do ®^guro estatal, um seguro livre para facultativamente feito pelos seus ^oticidadaos e atraves de orgaos de ^ngariagao, tais como OS usados nos Poises ainda nao submetidos a Russia. ^'*38, ha mais de 15 anos a Russia Possui, em Londres. uma Companhia, ®3'tic €» Black Sea Insurance Conipapara colocar os seus excessos de '^^sseguro no mercado estrangeiro. ottanto, e incompreensivel que partirl politicos de proje^ao c jornaiisainda sufraguem teses que reprc-
sentam tao someote o comego da socializagao das empresas c da proprie dade privada, atraves declaragoes era prol da nacionalizagao das companhias de seguros no Brasil.
Acontece, ademais, que a nacionalizagao iniciada ao tempo do Estado Novo, foi inferrompida em face da Constituigao de 1946, em virtude de decisao do Supremo Tribunal Federal e este fato tem sido olvidado em todos OS pronunciamentos dessas pessoas. atirahllo, ao contrario, a nomes bra sileiros que cumprem as decisocs do Supremo Tribunal Federal, a oe.iha de estarem agindo contra os intcresses do pais.
Ao mesmo tempo em que isto ocorre. outras colegas nossas desejam reformas de base na estrutura do nosso seguro privado, atraves de propostas que tem sido objcto de acurados estudos de varios orgaos da nossa classe e de reunioes de seguradorcs, mas que se veem tejeitadas pelo metodo mais justo ate hoje encontrado para aferigao do valor e merecimento das coisas — qusl ® decisao deraocratica da maioria. No cntanto, cssas decisoes — que expressam o pen.samento e a vontade da maior parte das seguradoras — nao sac acolhidas pe los proponentes das reformas, que chegam a vir, de publico, criticar o criterio de nao se promover. por meios proprios. a reforma da nossa estrutura basica de seguro, criterio certo, oportuno e irrecusavel, porque, a se piuceder de modo contrario. estariamos"a
facilitar a esiatizagao do seguro privado no Brasil, conforme recente dcclaragao de um lider de importantc bancada da Camara dos Depufados Federals, largamenfe publicada nos .^'ornais de^a^ Capital.
ilustres membros das Comlssocs Tecnicas sabem que todos os problemas tecnicos levantados, quer individualmente por seguradores, quer por companhias ou atraves de sindicatos e de Conferendas Brasileiras de Seguros, sao culdadosamente estudados e se sao rejeitados e porque ficou apurada sua improcedenda ou inoportunidade. Alias, a Diretoria da Federaqao apresenta, anualmente, um relatorio onde enumera detalhadamer.te todos OS assuntos tratados e como i;frenta sua solu^ao. Aiem disso, pelos inumeros processos tratados em cada reuniao semanal da Federagao e publicados no Boletim do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e C.jpitalizaqao do Rio de Janeiro, pode-se aferir como meus colegas de Diretoria se esfor^am para estarem em dia e pa ra melhorar as condiqoes das atividades assecuratorias e de capitalizagao do Brasil.
Estas referencias se prendem ao fato dessas decisoes serem, muitas vczes, vasadas nos pareceres dados pelas Comissoes Tecnicas, dcpois de minuciosos estudos e ponderada a media do pensamento do mercado seguradnr brasileiro, representado pelos membros
dessas Comissoes e ouvidos os diversos Sindicatos do pais.
Assim, tambem sob este prisma, sobrelevam os trabalhos realizados pelos presentes.
Novos anos de lutas ainda tcre.nos, desta vez mais acentuadas pelos pronunciamentos havidos por aqueles que nao estao bem informados acerca da profissao do segurador patrio e nao sabem que o resultado da atividade operacional, nao passou, nestes liltimos anos, da percentagem de 1% a 2% e que, tambem, contribuimos para arrecadaqao de cerca de^ 1% da receita tributaria da Uniao. Ao me.sino tempo, apoiados por uma sadia cooperaqao do Instituto de Resseguros do Brasil, em diminuir, proporcionalmente. a remessa de premios para o exte rior, em face das medidas tomadas pela sua atual direqao, esta-se colaborando eficazmente, de um modo ativo, pa ra o aumento da renda bruta brasileira e, com isto, fortalecendo o produto bruto nacional, sem onerar os seguracios com empreguismo e burocracia, redf.ridando em «deficits» como se ve :i'-s orgaos autarquicos que operam com seguros de Acidentes do Trabalho, Devemos orgulhar-nos do trabaiho que realizamos c, sobretudo, unir-ros para enfrentar nossos adversaries e, para tanto, contamos com os subsidios e a dedica^ao dos membros das Co missoes Tecnicas da Fedcra^ao Nacio nal de Empresas de Seguros Privados e Capitalizagao.
InlroduQao a teoria matematica do seguro

I — Elementos da Teoria DOS CONJUNTOS
(Continua^ao)
Sr = ^ a relagao R dir-se vazia.
Se Sr a E X F a relagao R diz-se
Universal ou absoluta. Muito cmbora as relacoes binarias
•^ao sejajjj conjuntos, mas sim pro-
Priedades sobre elas, podemos operar
POf intermedio de seus conjuntos re presentatives.
.^®sta forma, duas relaqoes R| e Rj ditas iguais quando; Sri « Srj g R e a negagao da propriedade sera tambem uma rclacao binaria bga OS pares do subconjunto
Sr. Desta forma. Sr = Cexf Sr. propriedade R, esta contida em quando Sr, Sr, . Resulta ste fato que a existencia de r, im-
® a propriedade isto e. se:
Ri C R,. R,
® Sr,=5 SriP^Srjpodemos escrever:
sentada por um subconjunto de ExF, que e verdadeira para um par (x, y) * e E e y 6 F.
Se cxistir uma propriedade que seja verdadeira para o par (y, x), ela sera representada por R-i e sera dita iiiversa da relagao R. Seu conjunto representativo e um subconjunto de F X E. Se existirem R e R-i podemos esctever:
xRy ^ yR-'x
Se. por exemplo, R==< R-'==> e x<y^y>x
Uma relaqao binaria pode gozar das propriedades: reflexiva. simetrica. antisimetrica ou transitiva.
Quando para qualquer x podemos escrever x R x, a relaqao R goza da propriedade reflexiva.
Quando R = R-', isto e, quando
Ra
" n R, ou
t Riy X R»y
Sb, podemos escrevcr:
Rs = Ri L/ Rj ou :
^* Ray^X Rjy ou ^ Rjy
R uma relagao binaria repre-
X R y y R X a relaqao binaria R goza da propriedade sime trica.
Quando «x R y e y R x» ^ x » y
R goza da propriedade antisimetrica.
Finalmente, quando «x R y e y R z» 4. ■■ X R z a relagao goza da propriedade fransitivar
Exemplo:
Se R = C ela e reHexiva. anti-simetrica e transitiva. Se a relaqao binaria e a igualdade, ela e reflexiva, simetrica e transitiva.
Sejam E e F dois conjuntos distintos ou nao ■ Consideraremos definida uma aplica^ao de E em F quando tivermos um meio de fazer corres-
ponder a todo x 6 E um, e um
SO, elemento y de F.
Chamaremos x de variavel independente e o elemento y de F que corresponde a x de variavel dependente ou valor em x.
A expressao: «aplicatao de E em F» e emptegada com o mesmo sentido que as expressoes: «rcIa9ao funcional em y» ou «relasao funcional de E para F» ou ainda «fungao definida sobre E e com valores em F.»
Daremos o nome de fumjao a opera^ao que faz associar a todo elemento X de E o elemento y de F.
Dizemos tambem que a variavel y 6 o valor da fungao para a variavel x a que a fungao e determinada pela relagao funcional considerada.
A fungao e normalmente designada por uma letra, per exemplo f, e o Valor de ,f para x e represcntado por
f (x). Dcsta forma, y = f (x) e simbolicamente podemos representar a aplicagao por: x f (X).
O elemento de F. f(x) ou y, 6 chamado imagem de x por £.
No caso geral, nem todo elemento de F e imagem de um elemento de E: e quando se diz que ha a aplicagao de E em F.
Quando todo elemento y 6 F e um valor de f dizemos que f e uma aplicagao de E sobre F. Quando nao ha necessidade de uma maior precisao usamos somente a ex pressao: «aplicagao em» para designer OS dois casos.
Se para todo x 6 E tivermos f(x) = g{x) dizemos que f = g.
Se A e uma parte qualquer de E, a aplicagao de A em E que a todo elemento x de A faz corresponder em elemento de E e chamada aplicagao canonica de A em E.

Se f e uma aplicagao de A — parte de E — em F. a notagao f{A) reprcsenta o conjunto das imagens de e A em F.
Em conscqiiencia, podemos dizer que f e sempre uma aplicagao de A sobre f( A).
Dentro dessa ordem de idSias, se X e uma parte qualquer de E e Y e o conjunto das imagens dos elementos
x e X em F e se essas imagens
y 6 Y resultam da aplicagao f, po demos cscrever por uma extensao na tural que Y = f(X). Estabelece-se assim uma relagao funcional cntrc partes de conjuntos definindo-se uma extensao da nogao de aplicagao aos conjuntos de partes. Y =: f(X) e uma aplicagao de (E) em iP (F).
Quando f e uma aplicagao de E sobre F, mais comumente, ao inves de dizermos que f(x) e o valor de f para x e que f{X) e a imagem de X por f, dizemos que f transforma x em Hx) eX em f(X).
Neste caso. dizemos que as correspondencias x f(x) c X f(X)
sac transformagocs que f(x) e f(X) sao OS transformados per f e que £ e o operador da transformagaoDentro dessa linguagem dizemos 3inda, que o operador f transforma x emf(x) eXem f(X).
Sejam agora X e Y. respectivawente, duas partes quaisquer de E e F. S^ja f uma aplicagao de E em F, a parte X de E formada pelos elementos * que verificam a relagao: f(x) d Y, chamamos imagem reciproca de Y Por f. Estabelecemos assim uma re lagao entre X c Y que nada mais e uma aplicagao de (F) em 3^ (E). Essa aplicagao que chama-
mos aplicagao reciproca de £ c tepre* sentada por f-' de tal maneira qud podemos cscrever:
X = f-KY)
Se a parte Y e composta de ua unico elemento y, isto e, se:
Y = }yl, rHfyl) representa o conjunto.dos:
xe E que verificam a relagao f(x) = y. Em lugar de f~'(|yD escreve-se ifiais freqiientemente f-»(y)
Vejamos, agora, algumas proptiedades das aplicagoes, que podem ser facilmente estabelecidas com os conhecimentos que temos. Seja f uma aplicagao de E em F. sejam, tambem, X e Y duas partes arbitrarias do con junto E. Quaisquer que sejam X e Y temos:
1.") A relagao X C Y implica f(X) f(Y).
Com efeito. mesmo no caso extremo em que todo elemento de X tenha a mesma imagem em F a propriedade se verifica. Se f(X) e uma constante c podc dar-se o caso de tambem f^Y) = jci : mesmo assim a relagao f(X) C f(Y) sera verdadeira,
2.") Se X = 0 E(X)= (f> ; se X ^ f(X)^ <p
Se X nao tiver algum elemento nao pode haver a correspondencia que estabelece a fungao. Se por outro lado. X tiver algum elemento. f(X) tera, pelo menos, um elemento sendo, portanto, um conjunto diferente do conjunto vazio.
3.°) f(XUY) = f(X) U av)
Ptopriedade evidente por si mesma, conseqiiencia direta das definigoes que estabelecemos.
4.®) f(X n Y)c f(X)n f(Y)
Para a intersecqao, a igualdade nao 6^ como na reupiao, o caso geral. uma vez que X Y pode ser igual a ^ no caso de X c Y serem disjuntos sem que necessariamente f(X) e f(Y) sejam tambem disjuntos. fi o caso, por exemplo, em que todo elemento de X c todo elemento de Y tern por imagem um mesmo elemento c; se
Xr\Y=^ .f(X)nf(Y)={c} ef{^)
que como vimos (2.® propriedade acima) e igual a (j) nao podera ser igual a:
f(X) r\ f(Y) 33 jc:[
a relaqao de inclusao se impoe estabelecendo que:
f(X A Y) C f(X) A f{Y).
Sejam agora X e Y nao mais partes do conjunto E. mas sim partes arbitrarias do conjunto F. Se f e uma aplicagao de E em P. temos as seguintes propriedades correspondentes aquclas que acabamos de ver.
I-®) A rela^ao X ^ Y implies f-KX)C f-'(Y).
Esta propriedade. tendo em vista o que disscmos sobre a primeira proprie dade anterior^ e evidente por si mesma. Aqui X c Y sao os conjuntos das imagens dos elementos dos conjuntos
f-'(X) e f-i(Y), Se X C Y foreosamente f-^X) eslara tambem contido em f-i(Y)
2.-) f-(XU Y)= f~.(X)U H{Y)
Esta propriedade se identifies com-
pletamente com a 2.® propriedade an terior. Nada ha, portanto, a mostrar.
3.®) f-HX A Y) = f-i(X)A f-HY)
Nesta propriedade ha, pocem, uma diferenga fundamental. Note-se que, ao considerarmos X e Y partes de E, podemos, somente, escrcver:
f(X A Y) C f(X) A f(Y), isto e, mostramos que a imagem da intersecQao dos conjuntos estava contida na intersccfao dos conjuntos de imagens, isto porque X O Y podia ser um conjunto vazio, sem que f(X)O f(Y) fosse igual a ^. No-nosso caso. agora X e Y sao partes de F e, por outro lado, verificamos tambem que: = p .
Pois bem, se X e Y, partes de P. sao disjuntos, teremos que necessaria mente:
f-'(X) A f-HY) = 0 : isto e, como pela propria definiqao de fungao cada elemento de E tern por imagem um elemento de F e somente um. nao se pode admitir que varies elementos de X ou de Y tenham um mesmo antecedente em f~'{X) ou em f-'(Y). Assim para cada elemento de X ou de Y devemos ter antecedcntes diferentes em f~'(X) ou em f~'{Y), Nessas circunstancias se X e Y forcm disjuntos f~'(X) e f~'(Y) serao necessariamente disjuntos. Provada a propriedade para o caso extremo em que X A Y =^facil e prova-la, de acordo com o mesmo raciocinio para o caso geral, isto e, para:
^ HX A Y) qualquer.
Cabe observar, porSm, o seguinte: Quito embora em qualquer caso
• ^ (0) = 0 podemos ter:
rHX) = (j> para um complexo X de F, isto decorrente da propria defini^ao de aplicaqao que exige somente que cada ele mento de E tenha uma imagem em F. Para que f-i{X)5^ 0 « necessario e suficiente que todo elemento de F seja imagem de um ou mais elmentos de E, tsto e, e necessario e suficiente que lenhamos uma aplicagao de E sobre F.
4.® r^CpX) = CeT'cx)" Todo elemento de f-'{X) • imagem e uma so em X parte de FEm conseqiiencia, todo elemento de:
^Ef~HX) nao tera imagem em X [porque se tivesse seria elemento de f~'(X)] mas Sim em CpX. Nestas condi^oes:
f-'fCpX) e CEf-HX)
^Prcscntam ambos a mesma parte de E..e a igualdade se impoe. Com mais
^'gor: todo elemento dc:
f-'CCpX) esti em CErHX)
® todo elemento de:
CEr'(X) est4 em (CpX).
Esta propriedade nao tern analoga
^tiando se considera X parte de E, e, nao podemos escrever:
f{CEX) = CpfCX)
porque, por exemplo, em um caso cxtremo, f(CEX) PO^e ser um so
® ^mento de P e CFf(X) todos os
®utros elementos de F. menos o eleP'ento linico pertencente a:
{(CeX)
caso em que:
f(E) = {a} a c F.
7 — ApUcagio biantuoca.
Se a aplica^ao f de E em F 6 tal que todo y € F ® imagem de, no maximo, um elemento x e E, 'sto 6 que o conjunto:
r'CiyO
seja vazio ou contenha um so elemento, diz-se que f e uma ap!ica?ao biunivoca de E em F.
Se-a aplicagao f de E em F e tal que todo y 6 imagem de um, e de um so elemento * t E,isto e, que o conjunto:
seja composto de um so elemento, dizse que f e uma aplica?ao biunivoca de E sobre F.
Quando ha uma aplica?ao biunivoca de E sobre F e uma aplica^ao biuni voca de F sobre E (aplica?ao reciproca da precedente) dizemos que entre os conjuntos E e F existe uma correspondencia biunivoca. Desta forma, ha uma correspondencia biu nivoca entre E c F quando a todo elemento x S E corresponde um e um so elementoy £ F e todoy^pe por sua vez imagem de um e um s6x £" E.

E comum chamarmos ao elemento X 5 E 1"® imagem a variavel y g F de sujeito ou variavel sujeito.
Em uma correspondencia biunivoca entre E e F diz-se ainda que, x € E e o antecedente e que y <5 F e o consequente.
Uma aplica^ao biunivoca de um con junto E sobre elc mesmo, chama-se
perrautagao de E. A aplicagao identica e tambem uma permutacao.
Quando. entre dois conjuntos, ha uma correspondencia biunivoca, eles sao ditos equipotentes, isto e, tem a mesma potencia.
-Para que dois sistema sejam equi potentes e necessario e suficiente que tenham o mesmo numero de termos.
Um conjunto cquipotente ao conjunto dos numeros inteiros e chamado numeravel; seus elementos podem ser teoricamenfe numerados.
^ — Operagoes formats sobre uma familia de conjuntos.
Varias das propriedades que estudamos anteriormente sobre a intersecflo e a reuniao de dois conjuntos, aplicam-se tambem as mesmas opera?oes formais, sobre uma familia de conjuntos.
Consideremos de uma maneira geral uma familia nao vazia:
C !P (E).
A familia e assim uma familia de pavtes de E.
A intersecfao:
1= M McjF por defini^ao, o conjunto dos ele mentos de E que pertencem a todos os conjuntos Temos entao I C M. Se X e uma partc de E, que esta contida em todo o M ^9". temos X C I, conforme propriedade ja anteriormente estabelecida.
Da mesma forma para a xeuniao: M
que, por definigao, e o conjunto dos elementos de E que pertencem a, pelo menos, uma das partes M 6 9 , teremos M C R para todo o M € J •
Se Y e uma parte de E que contem todo o ]vi £ ; M C Y, contera tambem, como vimos, a reuniao P e R C Y. '
Se X e o conjunto dos X contidos em todo 0^69 c y o conjunto dos Y que contem todo o M 6 "?■ podemos escrever:
I=L^X e R=r~NY Xe X Ye y formulas que nos dao a intersecgao e a reuniao, respectivamente. em fun?ao da reuniao e da intersecgao de partes.
A demonstra^ao das formulas acima e imediata. Para mostrar que:
i=v_; X xe X basta observar que como X esta contido em todo M € ? estara contido tambem na intersecgao I:
X C I para todo X £ x e® consequencia a reuniao dos: X £ x estara tambem contida em I. logo:
UX c I Xfix por outro lado tambem, como para qualquer: jvj ^ 3: se verifica I C M podemos escrever:
ICV.
e a igualdade se impoe:
1= ^ X X e X demonstrando a primeira formula.
A demonstraqao da segunda e em tudo analoga.
Temos: RC/^ V Y 6 y e por outro lado:
Y C R
Ye y impondo-se a formula:
R = r^Y
Yg y
Se OS conjuntos M ^ ^ a dois disjuntos a reuniao toma o nome de soma e escrevemos:
R=
As partes M sao chamadas classes e 0 conjunto R diz-se decomposto em classes. Diz-se, tambem, que ha uma partigao do conjunto M em classes. Qualquer elemento de um conjunto em que se processa uma parti^ao pertence a uma e somente a uma classe.
9 — Projegao — Corte.
Como vimos, o conjunto ExF, cha mado conjunto produto de E por F, ^ o conjunto dos pares ordenados (x. y) nos quais:
X e E e y £ F.
Os conjuntos E e F sao chamados Conjuntos fatores.
Dois pares (x. y) e (x', y') so mente sao considerados como identiCos, quando x •= x' c y = y'-
Seja z ~ (x, y) um elemento qual quer de ExF.
O elemento x do par 2 pode set designado por uma das seguintes exprcssocs: «x e o primeiro elemento do par z»: «x 4 a primeira coordenada de 2» e. «x e a primeira projegao de z». Estas duas ultimas rela^oes, simfa6lica e respectivamente, sao cscritas:
X ss ci (z) e X = pci (z)
De forma analoga ao elemento y do par z. podemos atribuir as seguintes exprcssoes: «y e o segundo elemento do par z»: «y e a segunda coordenada de z»:
[y s= cj(z)l e; «y e a segunda projecao de z»:

(y = pp»(z)]
Por uma extensao natural, podemos cstender as no^oes acima aos conjuntos de partes, nao se fazendo uso porem das cxpressoes: primeira e segunda coordenadas. mas somente primeira e segunda proje?6es.
Vcjamos como podemos fazer essa extensao de forma rigorosa e elegante, partindo da nosao de corte e, para maior generalidade, nao mais do par:
(x, y)6 ExF, mas Sim de dois elementos:
E e y 6 F, ligados per uma rela?ao binaria qual quer R.
Ao conjunto R(x) dos y 6 p que vcrificam a relaeao binSria xRy denominamos corte de R segundo x.
Ao conjunto R-i(y) dos x £ E que vcrificam a relagao binaria xRy chamamos corte de R segundo y.
Seja agora X ^ E parte nao vazia qualquer de E, a X podemos associar duas especies de cortes: o corte de 1.® especie R{X) e o corte de 2.® especie R[X], que definimos;
R(X)=L^ R(x)
R[XJ=^ R(x) X
Para os cortes de I.® e de 2.® espe cies, podemos estabeiecer varias propriedades, entre as quais destacamos:
que tamb^m sao precisa ser demonstado,
4.®) R(Xi n Xs) C RCXi) U R(X,)
A primeira propriedade nos permite
cscrever:
R{X,) u R(Xa)= R(Xi U XO
Se fizcrmos:
X, n X,« A e Xi U Xj=B temos evidentemente A C B o que nos permite escrever (3.®) a:
1.®) R{X,U XO = R(X.)U R(X,) R(X, n x,) C R{X, w XO
A prdpria defini^ao do corte de 1.® especie nos permite escrever:
R(X, \J XO = W R(x)
I e (X. u X.)
ou:
R(X, n XO C R(XO U R(XO c.q.d.
5.®) R(X. ri XO 3 RlXO'n R[XO
Como vimos (2.® propriedade):
10 — Relagoes de equivatencia. Ignaldade.
Damos o nome de relagao de equivalencia, a toda relaqao binaria R que ao mesmo tempo, reflexiva. sim6trica e transitiva.
A igualdade, por ser uma relagao binaria que goza das propriedades acima, e tambem uma relagao de equivalencia. Seu conjunto representative e denominado diagonal:
S= = I(x, x)Ug E
A relagao de igualdade e como sabemos representada pelo slnal =•
A negagao desta relagao e •
A toda decomposigao ou partigao de um conjunto E em classes X. corresponde uma relagao de equivalencia R.
ou
R[XO n R(XO = R[X, U XO
R{X, R(x)u R(x)
€X| X £ X|
OU finalmente:
R(X, XO=RCXO U R(XO c.q.d.
2.®) R[Xi \J Xj] = RIX,] n R[XO
Da definigao de corte de 2.® especie tiramos:
R(X, U XO » R(x) X e (x.v^x,)
ou:
R(Xi xo= s, R(x)n R(x)
s £ Xi X 6 Xs
OU finalmente:
RIX.^ XO = R[X0 n R[X0 c.q.d.
3.®) Sejam A e B duas partes do conjunto E. Se A C B teremos: 3-°) a — R{A)C R(B) evidente por si, c
3.®) b —R[A] D R[B1
E fazendo:
A = Xi n X, e X, U X, teremos pela propriedade 3.®) b:
R(X,n XO D R[X,] n R[XO C.q.m Vejamos, agora, a partir da nogao de corte, a extensao aos conjuntos de partes das fun^oes, que denominamos primeira e segunda proje^ao.
Ao conjunto X dos x £ E para OS quais existe, pelo menos, de um y £ F, tal que a rela^ao binaria X R y seja verdadeira, chamamos projegao sobrfe E ou primeira proje^ao de R.
Ao conjunto Y dos y € F para OS quais existe, pelo menos, um x 6 E tal que tenhamos x R y, denominamos projegao de R sobre F ou segunda proje^ao de R.
Seja;
E = 2'X x€ E
Uma partigao do conjunto E.
Sejam x e y dois elementos geneticos
X. A relagao R: x R y traduzida por:
"x e X e y e X"
902a das propriedades;
a) reflexiva — uma vez que
"x e X e X e X",
e. em conscquencia
R X e verdadeira para qualquer
X £ X.
simetrica — as relagoes x R y ® y R X sao equivalentes uma vez que
"x e X e ye X"
4 equivalente a
"y€ X e X e X"
c) se tivermos tambem z ^ X, observamos a transitividade de R atraves das relagSes:
«x R y e y R z» e «x R z> que jjodcm ser ttaduzidas. Se x e y pertcnccm a X e se y c z pertencem a X necessariamente x e z pertencem a X ou ainda x. y e 2 pertencem 3 classe X (chamada classe de equiva lencia) de partigao de E.
Rcdprocamente a toda relagao de equivalencia R, definida em E, corresponde uma decomposigao de E em classes, a classe X contendo um elemento x e o corte R(x).
Tomemos um elemento qualquer de E, XI ^ E, a parte X. de E contera o elemento e todos os outros elementos de R(xi), isto e. todos os elementos de E para os quais a relagao de equivalencia com x. fosse verdadeira. Os elementos de sao ditos equivalentes a para a relagao R ou ainda equivalentes a xi modulo R.

Se y, e equivalente a x., modulo R, escrevemos;
- y. (R)
Tomando, em seguida. um outro elemento xg, formariamos um outro subconjunto X2 corn os elementos de R (X2). ^ assim, sucessivamente. teriamos as partes X$, X4. .Xa3deE. Essas partes, em sua totalidade, sao disjuntos, pois se tivessem elementos comuns, seriam pelas propriedades da relagao de equivalencia R, estariam em um mesmo subconjunto. Assim scndo. ha uma partigao de E em classes
de equivalencia, modulo R, o que nos permite escrever:
CO E=2;xi i-l
Xi seado a. classe de equivalencia md.dulo R.
Ao conjunto dos elementos
Xl» X2»* • •2'eo que escolhemos para representar ou scrvir de base a cada classe chamamos conjunto representative da particao. Acs elementos desse conjunto, denominamos elementos canonicos ou reduzidos. Ao conjunto dos elementos reduzidos chamamos tambem, no caso de serem os elementos canonicos um niimero finite, sistema de reprcsentantes das classes.
Ao conjuto das classes de equiva lencia Xi,X2,...Xo5 dcnominamos conjunto quocientc de E por R que e lepresentado por E/R.
A nogao de paitigao de conjunto e de conjunto quociente, leva-nos a duas cquivalencias triviais que sao:
a) A igualdade. cujo conjunto quociente e o proprio E: e
b) A relagao de equivalencia total, que decompoe o conjunto em uma unica classe e implica em que os ele mentos do conjunto gozem dois a dois da relacao de equivalencia, isto e, todos os elementos sao equivalentes a um deles, modulo R. O conjunto quo ciente neste caso so tern um elemcnto.
— Re/afoes de ordem. Conjuntos ordenados.
Scja o complexo^ de(^(E). De acdrdo com certas propciedades, alguns
elementos da familia ^ tomam nomes especiais que convem citi-los:
Maximal — — e o elemento da familia ^ nao que admite nenhum outro elemento como sobreconjunto, isto e, e o elemento de <o que nao e subconjunto de nenhum outro ele mento. Assim, se estiver contido em X, isto implicara na igualdade
M.=X.
Minimal — jvit — ® o elemento da familia ^ que nao admite nenhum outro elemento como subconjunto. Assim se X estiver contido em Ml} isto implicara na igualdade X-=Mi.
Maximum — — tambem denominado ultimo, e o elemento da familia (o que e sobreconjunto de todos os elementos da familia, isto e. temos
sempre:
X C para qualquer Xd^
Minimum — p. — tambem denominado primeiro. e o elemento da fa milia que e subconjunto de todos OS elementos da familia, isto e, temos
.sempre:
Pi
c X para qualquer X^^
Se no trato de um problema desejamos fazer referencia a elementos maximal e minimal, sem fazer distingao entre os dois, dizemos elemento extre mal. Assim tanto um Ma como umMi e um extremal.
Analogamente, tanto a um p^ como a um p. podemos designar pelo nome extrcraum.
Dessas definicoes, concluiraos imediatamente que:
-"I.") Em um complexo <o de ^ (E), contendo um numero finito de elementos, existe, pelo menos, um ele mento maximal e um elemento mini mal.
2.®) Quando um complexo ^ cen tum um elemento extremum, este e um elemento extremal. Em um complexo ^ s6 pode haver um elemento extre mum.
Vamos admitir, por absurdo, que pudesse haver em ^ dois elementos minimum pj e P;. Neste caso, por_defini^ao, deveriamos ter:
Pj ^ Pi e tambem p| C p. o que determina a unicidade dccorrente da '9ua!dade Pi = Pj ,

3.®) Um elemcnto extremal ou ex tremum em um complexo S e tambem, ^cspectivamente, extremal ou extremum Cm todo subcomplexo ^ de que o contem.
Chamamos relacao de ordem a rela^ao binaria que e, ao mesmo tempo, 'eflexiva,.antissimetrica e transitiva.
Se R 6 uma relacao de ordem e x, y ® 2 elementos de um conjunto E Podemos escrever:
* R X para todo o x ^ E
«x R y e y p x» implica x = y
R y e y R implica x R z
^ relagao R de ordem 6, em geral, ®ubstituida per um dos seguintes sim«olos:
^ (contido em).
^ (menor do que) e
d (anterior a) ou por um de seu3 simetricos:
^ (contem), iv Xmaior do que) e y?(posterior a).
fisses simbolos e seus simetricos. podem set conjugados com o sinal de igualdade, dando origem aos seguintes simbolos de significado obvio:
C ,^ ^ ou 2. S e
Denominamos rclagao de prcordem a reiagao binsria que goza, ao mesmo tempo, das propriedades refiexiva c transitiva.
Dentro dessa definicao, as relacoes de equivalencia e as rela?5es de ordem sao relagoes de pieordem.
Um conjunto E que possua, pelo menos, dois elementos e dito ordenado quando nek pode scr definida uma relacao de ordem.
Quando a relagao de ordem so pode set verificada para certos pares de elementos, o conjunto e dito parcialmente ordenado.
Um conjunto e totalmente ordenado quando dois quaisquer de seus ele mentos sao comparaveis, isto e, quando podemos definir uma mesma rela^ao de ordem entre dois quaisquer de seus elementos.
Em um conjunto totalmente orde nado, 6bviamente, todo elemento ex tremal e necessariamente extremum.
Em um complexo <o dc (E), chamamos cadeia de composiqao ou, simplesmente, cadeia ascendente (ou descendente). um sistema numerado
'de elementos de ^ (partes de E, pertencendo ao complexo ^ , em numero finito), tais que cada tim deles esteja contido (,ou contenha) o seguinte.
Ai ^ As C ...Ai ^ ... ^ An
onde i varia de 1 a n e A|€ ^ e para qualquer A;, i<n iemos Aj ^ A{+i.
g uma cadeia ascendente.
Bi ^ Ba ^ Bi ^ Bi
e uma cadeia descendente.
Chamamos elemento majorante, que representamos pot s, de um subconjunto F de um conjunto ordenado E, segundo a relacao de ordem —,a um elemento que, nao pertencendo necessariamentc a F, verifica a relacao
No case em que o elemento t pettence a F, o minorante se confunde com o minimum.
Quando um subconjunto possui um elemento minorante t, dizemos que ele esta minocado por t.
Um subconjunto F, tendo, ao menos. um majorante e um minorante, e dito limitado.
Nota importante; cabe nao confundir subconjunto limitado com subcon junto que tern um numero finito de termos. Embora todo o conjunto que tem um numero finito de termos seja um conjunto limitado, nem todo o con junto limitado tem um numero finito de termos.
Meia-grade e um conjunto ordena do no qual dois elementos genericos quaisquer x e y, tem um majorante comum, que e o menor de todos os outros majorantes comuns a esses dois elementos.
Nova apolice-padrao para o seguro-inc6ndio
Com a Portaria n'' 27 do Sr. Diretor Geral do D.N.S.P.C., baixada no dia 2 de julho deste ano. passou a ter novo texto a apolice-padrao do mercado brasileiro de seguro-in•cendio.
Tratando-se de acontecimento de evidente importancia, sobretudo pela
ProjeQao do ramo incendio no conjun to das Carteiras exploradas no pats, a «Revista do I.R.B.» entrevistou a ^espeito o Sr. Cdio Olimpio Nascentes, Chefe da Divisao Incendio e Lu<^ros Cessantes do I.R.B.
Trabalho c/e equipe
As novas «Condj?oes Gcrais» sao
cional da Industrie, da Confedera^ao Nacional do Comercio, da Federacao Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalizacao e do I.R.B.), antes de ser submetida a consideragao do Conselho Tecnico do I.R.B. e ao D.N.S.P.C.
Contando com a valiosa colaboragao de todos esses orgaos para a sua confeccao, e de se esperar que as novas condicSes gerais das apolices de seguro incendio atendcrao, de forma satisfatoria. a todos os interessados no assunto».
Revisao e Adaptafao
No caso em que s pertence a F, o majorante confunde-se com o ma ximum.
Quando um subconjunto possui um elemento majorante s, dizemos que ele estS majorado por s.
Denominamos elemento minorante — que representamos por t — de um subconjunto F de um conjunto orde nado E pela relagao de ordem — a um elemento que, nao pertencendo necessariamente a F, verifica a relacao t ~ X para todo y 6 F.

A esse menor majorante comum que pode pertencer ou nao ao conjunto denominamos uniao e representamos por xKJ y.
Grade ou conjunto reticulado e a meia grade em que dois elementos ge nericos quaisquer x e y, possuem um minorante comum que e o maior de todos OS minorantes comuns a esses dois elementos.
A esse maior minorante comum, que pode pertencer ou nao ao conjunto, denominamos intersecgao e represen tamos por X y.
fruto de um paciente e meticuloso tra balho de equipe. Ponde em destaque ,essa circunstancia, disse o entrcvistado;
«0 estudo das novas condicoes se Prolongou per varies anos, tendo a ^ateria sido debatida nas Comissoes
"^ecnicas dos orgaos de classe das so^'edades de seguros, na Comissao ^ermanente de Seguros Incendio e Lu-
^ros Cessantes (constituida por tecnido I.R.B. e das sociedades de ^^guros), na Comissao Centra! de Ta-
'•'ras (constituida por representantes
D.N.S.P.C., do Servi^o Atuarial
M.T.I.C., da Confederagao Na-
Prcsseguindo em suas dcclaracces. acentuQU o Sr. Cctio Nascentes que a padronizagao' agora efetuada nao constitui cm si uma inovacao. E esclareceui D-N-S.P.C., em certa altura, uniformizou as Condigoes Ge rais, passando a enquadrar nesse tex to as apolices das sociedades que dai em diante iniciaram operacoes. O objetivo era, evidentemente. o da implantacao gradual de Condi^oes padronizadas. caminho entao preferido ao da subita transformagao das prMicas correntes».
fisse processo atingiu um ritmo bem superior ao da expcctativa geral. «Ein
1949 — disse o entrevistado — o I.R.B. efetuou um levantamento geral das condi^oes que vinham sendo adotadas pelo mercado segurador. tendo apurado que somente 13 sociedades, entre as 125 que operavam na epoca, ■ainda nao utilizavam o modclo aprovado pcio D.N.S.P.C.».

Mas a economia brasileira. em rapido crescimento, cedo experimentou transformagoes que iriam influir, sub;-
das condigoes que vinham sendo adotadas pelo mercado, aos principios gerais do seguro-incendio em que se baseava a estruturagao da tarifa I'lnica para todo o Brasil.
Como nao foi viavel o estudo simultaneo de novas condigoes gerais da apolice e de novas condigoes tarifarias, foi julgado preferivel desdobra-lo em duas etapas, sendo dada preferencia ao assunto considerado de maior
ponsabilidade; 103 — Reintegragao ou canceiamento do contrato: 104 — Explosao; 105 — Canceiamento: 106
Seguro do valor material intrinseco:
^07 — Renovagao; 108 — Queda de raio em aparelhos cletricos; 109 — In cendio resultante de queimadas; 110 Objetos de arte e 111 — Seguro •nais especifico.
Como as condigoes previstas per esclausulas foram incorporadas as novas condigoes gerais da apolice nao sera mais necessario inclui-las nas ^polices que forem emitidas ja de acor1,. % as novas condigoes geraiss.
Alteragoes principals
Solicitado a indicar quais as princil^nis alteragoes resultantcs da revisao P^ocessada na apolice-padrao, di.sse 6
'Entrevistado;
"^Como alteragoes mais importantcs
'ntroduzidas nas novas condigoes gcda apolice, podemos salientar:
c) a cspccificagao, pela clausula IV, dos prejuizos indcnizaveis, em liigar da referenda «e suas conseqvcncias» das antigas condigoes que definiam o ambito da cobertura, com a expressao «. incendio, raio e suas conseqiicncias. »;
d) a indicagao da mancira de apuragao do valor em risco c prejulzo, pela clausula VI, possibilitando ao se gurado um entendimento perfeito'das condigoes que prevalecem para a dcterminagao dos valores que serao conr siderados para o calculo da indenizagao devida em caso de sinistro».
Conclusao
Respondendo a pergunta que Ihe formulamos a respeito, esclareceu o en trevistado:
tancialmente, na fisionomia tecnica dos riscos. Dai a frequencia com que se reclamava, para a solugao de problemas que se sucediam, condigoes e clausulas especiais, versando aspectos novos que a cobertura do risco incendio assumia.
A isso referindo-se, disse o Senhor Celio Nasccntcs :
«Ao ser estudada a T.S.I.B. foi sentida a necessidadc de adaptagao
urgencia, ou seja, a uniformizagao das 11 tarifas que vigorarara ate l-2-53.'>. E logo em seguida acrescentou: «Para contornar alguns problemas decorrentes dcssa situagao foi necessario prcver na T.S.I.B. clausulas gerais obrigatorias em todo e qualquer seguro incendio, conforme se verifica pela alinea a, do seu art. 26.
Estas clausulas sao as de numeros 101 — Rate.o: 102 — Limite de res-
nogao perfeita que o segurado P^dera ter das regras basicas e Eina'■^ndes do seguro, pela simples leituda clausula I — Objeto do seguro limite de responsabilidadc;
3 definigao clara e precisa dos ®cos cobertos, constante da clau-sula
'^^Produrindo o que a respeito estabel--o art. 2' da T.S.I.B.:
cQuanto ao novo modelo de proposta, temos a sal.entar que o segu rado doravante tera que responder a pcrguntas especialmente formuladas, parn possibilitar ao segurador um conhccimento de detalhes que nem sempre sao facilmentc obtidoss.
E numa obscrvagao final, disse: ?No nosso entender a obrigatoricdade das novas condigoes ,d:.-: respei to somente quanto ao texto.
A forma de aprescntagao dos niorielos. se em folhas simples, se em folhas duplas ou longas, deve ficar a criterio de cada sociedadc de seguros».
Teoria da Causa
David Campisfa Filho Do Conselbo\ III
Causa proxima, primeira.
OU CAUSANS
O conceito da respojisabilidade pela reparacao do dano que se cristalizava na Lei Aquilia. admitindo o etc ilicito coi io gerador de obriga^oes e baseadu na culpa, constitui a base de todas kgisiagoes modernas. CuJpa aquiliana significa violagao do princip.o gelal do direito qae ordena o respeito a pessoa OU bens albeios, porem, "e dcdva dum contrato na violagao do dcver preexistente, tem-ce, entao, a cul pa contratcal. fiste, o cspidto do aiSgo 159 do Codigo Civil que desi .aaior amplitude a inteligencia do prn;cipio aquiliar.o.
Ale o meado do seculo passado, prevalccia' a concepgao classica da aesponsabilidadc civil, quando a acc.'era^ao do progrcsso, atraves da industria e da tecnica. acarretou mojifica^oes extraordinarias, instituindo o tesponsabilidade indcpendente de cul pa.

Desde entao, a relagao de causa e efeito assumiu tamanha importanciu que se chegou a classif.car de causal a nova forma de responsabilidade.
Tornou-se complex© o problema causal no caso de sucessao e de concorrencia de causas, tanto na hipotese do acontecimento segurado tcr dado
origem a acontecimento cxcluido, ou o contrario, seja resultado de combinagao de riscos segurados e excluidos necessarios a produgao do dano.
A incognita do problema de causalidade encontra-se no distinguir as condigoes produtoras do dano, lemontando no tempo ao acontecido, penetrando na intimidade das diferentfs condigoes, a fim de destacar a parce maior ou menor de cada uma na produgao do resultado, fixando-se n.ssim o grau das possibilidades respectivas. Esta disciplina de investigagao no sistema de reparagao csta, antes, em lungao do principio de rcsponsabilidade civil que se apresenta de contornos menos precisos e em generalidade no dire.to comum. Enquanto que no seguro, pela particularidade do direito contratual — condigao da apolice c mais facilmente aplicavcl como elemento de esclarecimento e de solugao de divergencias, portanto em carater supletivo, complementar.
iiva. Dai, o recurso ao principio preconirado por Bacon de que o julgador deveria se satisfazer com a causa imediata, apoiado na maxima — causa proxima non remota spectatur. de rcconheccr, escreve Gougler. que e relativamcnte facil julgar da ^xistencia dum vinculo de causalidade entre dois fenomenos que se succdem em instantes aproximados, do que quando acontecimentos intermediarios se multiplicam e quo a duragao ^utre OS dois fenomenos se prolonga. O afastamento da causa rcmcta no ^entido de que somcnte y.c Icvc em consideragao a causa proxima, imediaiorna-se capaz de acarretar granconseqiiencias como a de negar
'^^ssponsabilidade ao verdadeiro culpa-
'•o. fi o que se ilumina na hipotese
° Snarquista que envia a lim homem E.stado, ccrto envolucro contendo
''Uta maquina infernal a que ele, ao
^bri-lo, provoca a explosao que o
U'ata, A causa imediata, proxima. c diivida, O ato da vitima c, portano. negar qualidade de causa ao ato ° verdadeiro matador pela simples
^"^250 de que se trata de condigao reredunda cm absolver o culpa- do (1)
falha nao passou, todavia, desa-
^^rcebida a doutrina e jurisprudencia.
^C'dindo-se, entao, que a causa prddo dano nao seria naturalmente quela proxima no tempo, porem a
Na investigagao da relagao de causalidade, remontando elo por elo a cadeia das causas a fim de atingir a causa das causas, sera projetar-se no infinito, ao problema imprimindo con digao propriamente filosofica do que •uridica, em que o espirito subjetivo seria o animador da realizagao obje-
^^3usa proxima cficaz», dominante s6o acontecimento. predominantc na ^slizagao do dano e eficacia no resdesfecho.
Ai. a previsao, como elemento sub jetivo, dirige a determinagao da cau sa e o principio de culpa revela-sc.
Na hipotese do anarquista, a cau sa determinante estaria no ato de preparacao do engenho mortifero, na eficacia de seu efeito, revelando-se en tao a responsabilidadc do causador do aano.
Tal processo de investigagao. se tern aplicagao franca no dominio da res ponsabilidadc civil, ja com relagao ao seguro e menos freqiiente, em virtude das limitagoes contratuais a responsabiiidade do segurador.
A responsabilidade do segurador es-tabelece-se estritamente nos limites dos riscos assumidos, consistindo. por isso, o problema que se impoc no dis tinguir OS riscos «segurados» e riscos <;excluidos^. E assim, na base desta distingao, tern lugar a aplicagao da teoria da causa proxima.
No direito ingles pelo privilegio adquirido no seguro maritimo, semeIhante causa exprime-se incisiva na Marine Insurance Act. de 1906 oue o segurador responde por todo ciano ocasionado por acontecimento se gurado resultante de causa aproximada — proximately caused — porem nao responde quando a causa do acon tecimento e distante.
Entretanto, os ingleses libertaram o conceit© de causa proxima duma inlerpretagao por demais estrita. e prevenindo-se contra a presenga simultanea de muitas causas, chegaram ao sistema de ajustamento da causa pro xima a causa predominantc, ou seja.
a causa causans. A este respeito, conbidera Danjon desde que se pretenda caracterizar uma situaqao juridica, coiisoante sua causa, sobretudo uma lesponsabilidade scgundo sua causa, portanto segundo sua origem, e soberanemente ilogico determos-nos a primclra causa.aparecida que se sabe ser ~"uma pura aparencia; a razao e eqiiidade exigem imperativamente que se penetre no fundo das coisas. remontando duma causa a outra, ate a cau sa causante, isto e, a causa primeira que imprimiu seu carater a todos os fatos decorrentes (2)
Seria, pois, a situa^ao de duas cau-sas de riscos operando sucessivaraente, sendo uma ocasionada por outra.
Na situa?ao avcntada por LyonCaen e Renault, sente-se a quao importante e graves dificuldadcs, acarreta a exclusao de riscos de guerra, quando se trata de distinguir riscos ainda mesmo resultantes de acontecimento da natureza.
Suponha-se, disse o eminentc autor. que um navio amea^ado de captura ou de destruigao por fogo inimigo, acelera sua marcha. for^ado mesmo a mudar de rota, mas que ai, e colhido por forte tempestade, vindo perecer.
Os seguradores tendo excluido o risco de guerra, a este atribuiriam a perda do navio, pois que a mudanqa de rota e naufragio tiveram origem no fato de guerra que a apolice cxclui.
Enquanto que do lado dos segurados, replicariam eles que a mudanqa de rota foi forgada e que o naufragio
44 representa, claramente, risco coberto pelo seguro (3).
A rcgra que cntao se impoe sera de que nao devem ser considerados como resultantes de riscos de guerra, senao danos e perdas que tiverem causa dileta em fato de guerra, e o naufragio distinguindo-se nitidamente como determinado por acontecimento da natu reza — a tempestade — evidentemente nao podera ser atribuido a fato de guerra.
A tempestade, causa direta, foi exclusiva no ocasionar o naufragio, tal como elemento em fiiria da natureza e jamais por qualquer fato de guerra que nao se apresenta como condigao sine qua non. ' -
Acontece. entretanto, que o sinistro venha resultar de acontecimentos concorrentes e simultaneos e que, por isso, a causa proxima ou direta, por dividirse, obnubila-se, e entao, sera de recorrer-se ao duplo criterio do sistema de Danjon.
Era presenga dum sinistro, que se tenha como originado de risco cober to c de risco excluido, impoe-se dis tinguir escrupulosamente duas hipote-
ses:
— se as causas operaram simultaneamente;
— se as causas tendo operado sucessivamente. uma teria ocasionado a outra.
A primeira hipotese, nao apresentando dificuldade de dircito, pode to-
davia ocasiona-la de fato. A responsabilidade do segurador tem por medida no quanta cada uma das causas contribuiram para o sinistro, e como a determinaqao dessa medida e questao de fato. ao juiz compete soberanamente aprecia-la.
Seria o caso do capitao que deixando de fechar as escotiihas de seu na vio. deu enscjo a que a agua do mar, agitado por tempestade, penetrasse nos poroes, destru.ndo . e deteriorando tudo cm que Ihe estivessc ao al*^ance. A negligcncia do capitao ag:avou o sinistro, reprcsentando assim parte do dano total, e por esta parte, deveria o segurador ser responsavel.
Ainda o exemplo de mercadorias <?ue se deterioram por fermenta^ao na tural, porem que por penetragao imPrevista de agua do mar, agrava e stiva a fermentaqao, estimando-se, 'Pois, que semelhante circunstancia tetia rcdobrado o efeito do vicio proprio *13 mercadoria. Tal fato acarretaria a responsabilidade do segurador pela reparagao de metade do dano.
O fato de penetra^ao da agua do mar deu «ocasiao» a eclosao da causa fermentagao.
S preciso nao confundir, salienta ^snjon. como causa primeira, os fatos que deram ocasiao a causa de desenvol''tr-se e de agir. E assim. remontase ao principio de culpa, atribuindo-se ato do capitao que por omissao ou "^gligencia nao diligenciou no sentido de evitar a agao perniciosa da ®9ua do mar.

Sem diivida, na culpa depara-se uma t'ausa primeira que adquire prioridade hierarquia das causas succssivas
produtoras do sinistro. cada uma se gundo o grau de sua nocividade.
Imp6e-se a distingao entre as causas operando simultaneamente das que operam sucessivamente. quando uma e ocasionada por outra.
Na hipotese da fermentagao, esta ja havia comegado antes da aqao da agua do mar, portanto, opera simultanea mente, como causas concomitantes; c cada uma das causas, produziu certa parte do dano suscetivel de estimagao.
Com adogao da causa proxima. o problema da causalidadc encontra «solugao "simplista». porem com o recurso da causa primeira torna-se mats complexo por ter de penetrar ate^ o «fundo das coisas», a fim de descobrir a causa causante que imprime seu ca^ rater a todos os fatos decorrentes.
A relagao de causalidade deve pro- porcionar o meio de apreciar o vinculo estreito que tem de existir entre uma causa e seu efeito, c nas causas sucessivas o grau de influencia de uma sobre outras. deste modo, assinalandose o respective teor de nocividade.
No dominio do-seguro por sua peculiaridade de direito estrito, nao se justifica a prefcrencia da causa pri meira sobre a causa proxima.
A causa imediata ao dano e relativamente de facil detcrminagao. consoante o stricto sensu das estipulagoes contratuais.
O problema dc causalidade ganha em complexidade, deduzido a luz da teoria da causa adequada e na apuragao da eqiiivalencia das condlgoes. condutivcl a solugao ajustavel aos objetivos do seguro.
(Continua)
A higiene industrial como fator de seguranga na indiistria
COJ<iF£ReNCIA PRONUNCIADA NO loss ^MARIA TAVEIRA. ASSESSOR
T^ARA mantermos a industria funcionando com sucesso em bases econdmicas, e necessario mantermos os operarios trabalhando com eficiencia. Para mantermos esta eficiencia sera necessario satisfazermos certas condi?6es de trabaiho para que os operarios possam ter saude e sentirem-se com conforto.
O operario doente nao pode produ^ zir tanto quanto o operario sao. O numero de homens-horas de trabaiho por tonelada de produQao aumenta quando OS operarios nao estao bem de sau de, isto e, necessitamos mais tempo ou major numero de operarios para executarmos uma dada tarefa. Se os ope rarios ficam doentes, faltam ao traba iho prejudicando a produgao e aumentando 0 custo. Se em uma fabrica as doengas tornam-se freqiientes, as taJfas de seguros serao, naturalmente, mais elevadas do que em uma outra industria onde esta frequencia e menor.
Diversos sao os custos indiretos afetados peias doengas profissionais, tais como; substitui^ao constante de pessoal; a escritura^ao e registro necessa-
rios a boa dire^ao dos negocios tornam-sc complexes; o moral dos opera rios torna-se, as vezes. fortemente abalado; e o descontentamento ocasiona muitas vezes grcves ou contendas judiciais. Todos estes pontos influem na produ?ao, tornando-a mais cara.
Como o futuro das na^oes dcpende da jndustria. sera um dos primeiros deveres do governo fiscalizar e ajudar a industria a manter ambienfes salubres e seguros nas fabricas. Atualmente, podemos considerar que o objetivo fundamental da higiene industrial e garantir a saiide e a produtividade dos homens e mulheres que trabalham na industria, por meio de um ambientc saudavel no trabaiho e na comunidade. A higiene industrial nao estuda somente o trabalhador na industria. mas tambem, o lavrador, o comerciario e todos aqueles que trabalham em outras atividades que possam frazer riscos ocupacionais.
O reconhecimento da necessidade de estudar o ambiente de trabaiho, data de pouco tempo, sendo que o maior desenvolvimento da higiene in-
dustrial ocorreu durante e apos a ulti ma grande guerra.
Encontramos na literatura referencias sobre escritores antigos que se preocuparam com o problema. Ass.ui Hipocrates, quatro seculos antes de Cristo, se refere a doengas ocupac.onais existentes entre os trabalhadores das minas c os fundidores. Plin:o, o Velho, pouco antes de Cristo descreveu doenqas existentes entre os que trabalhavom nas minas e envenenamentos entre os que trabalhavam com e.uxofre e seus compostos. Galeno,-no segundo seculo, escreveu alguma coisa sobre doen(;as ocupacionais entre os trabalhadores das ilhas do Mediter.aneo.
Mais tarde, ncs scculbs 15 e 1<5. Agricola e Paracelsus fazcm referencias a doengas existentes entre os tra balhadores. Mas Ramazini, em 1700 foi 0 primeiro a escrever um trabaiho Sobre doeni;as ocupacionais e por i--to e considerado o pai da higiene indus trial. Neste livro encontramos mais de difercntcs ocupa^oes e riscos re lacionados.

Muitos livros e trabalhos foram
^scritos ncs ultimos cinqucnta anos. Eatre nos ja existem algumas obras
^scritas em portugues. Infelizmente sao
Poucas e desconhecidas pela maioria das pessoas interessadas em higiene industrial.
Antigamente a industria era manual ® a produ^ao baixa. O patrao, geral
mente. trabalhava junto com os ope rarios ou escravos, de maneira que eles eram mais ou menos protegidos, pois suas relagoes eram mais estreitas.
Com o passar dos anos a mdustria progrediii e passou a necessitar de maior pzcduqao e conseqiientemente emprcgou maior numero de operarios. As relasoes entre o operario e o patrao diminuiram, comegando a surgir os problemas de ambientes de trabaiho. Os ambientes de trabaiho tornaram-se piores^e os rIscos de acidentes c doen^as profissionais surgitam em consequencia desta situa^ao .
Com o advento da mecanizagao da industria agravou-se completamente 6 pxoblema. As condi^oes fisicas foram desprezadas e as maquinas nao possuiam a devida proteqao. A iluminagao e a ventilagao dos ambientes de trabaiho eram deficicntes. Os opera rios ficavam expostos longas horas a condiqoes adversas, sofrendo os efeitos de temperaturas elevadas ou baixas falta de luz. exposiijoes a gases, poeiras, fumos, etc. Na Inglaterra.
Franqa e Alemanha a mecanizaqao in dustrial foi acompanhada por verdadeiro massacre de operarios. A mecanizagao no seculo 18 trouxe o aumento do numero de acidentes e doen^as ocupa cionais em todos OS paises industrializados.
Aqui entre nos a higiene industrial esta no principle, existindo poucos tecnicos e apenas um laboratorio go-
vernamental apto a proceder a exames e estudos de ambientes de trabaIho. Aigumas indiistrias ja possuem em seus quadros engenheiros e me dicos especializados em higiene indus trial, mas infelizmente a maior partc \ dos operarios no Brasil ainda nao foi ^^ingida por um programa eficiente, No passado. a indiistria se preocupava apenas em melhorar os pro cesses industrials mas com o passar do tempo, o custo'na, manutengao de acidentados e doentes" ocupacionais aumentou e hoje os industriais ja se preocupam em melhorar os ambientes de trabalho para reduzir ao minimo esta despesa. O progresso da tecnologia industrial trouxe novos problemas de higiene industrial que poem em risco a populagao opcraria aumentando 0 custo da produ^ao. Em alguns casos os problemas sao tao serios que podem sec a causa do fracasso do novo processo.
A higiene industrial tern por fim preservar a saude dos trabalhadores. Para este objetivo. a higiene indus trial nos seus estudos dos ambientes de trabalho se confunde com a prevengao de acidentes visando a seguran?a nas industrias. A higiene indus trial estuda problemas tais como ilu«ninacao, ruido. radiances conforto termico, polui^ao atmosferica por ga ses, fumos e poeiras. Determina as mas condi^oes dos ambientes de tra balho e estuda os meios de remedia-
las. O engenheiro de higiene indus trial deveria comegar a estudar uma fabrica pelo projeto, para poder eliminar OS pontos de poluigao ou de condigoes adversas, antes da fabrica estar montada. fi mais economico alterar o proje to do que modificar a fabrica depois de esta estar em funcionamento. Naturalmente. as fabricas ja montadas necessitam um estudo para se verificarem as condigoes atuais e projetar as modificagoes adequadas da maneira mais economica. O engenheiro de seguranga. especializado em higiene industrial, devera obter meios de descobrir as quantidades de substancias, toxicas existentes no ar c projetar as mcdidas adequadas para controla-las.
Para a pesquisa das quantidades de toxicos no ar, o engenheiro usa cquipamento especial e tecnicas de amostragem rigorosamente controladas para diminuic ao maximo os erros. Os aparelhos empregados sao baseados na precipitagao termica ou eletrostatica, no impacto, na dissolugao de gases em liquido, nas reagoes instantaneas e quantitativas, reagoes colorimetricas, no calor gerado na combustao. etc.
Cada aparelho tern sua indicagao quanto a eficiencia, assim, por exemplo, empregamos para captar poeiras o impacto e a precipitagao eletrostatica, pois estes metodos apresentam mais ou menos 100% de eficiencia na retengao destas partlculas, )a para os fumos so podemos usar o precipitador
eletrostatico ou 0 termico, pois estes eparelhos dio uma eficiencia de aproximadamente 100% de rctengao das particulas na captagao. No impinger. cujo processo de captagao c o impacto, a eficiencia de retengao das particulas e baixa. pois particulas muito peque-
como sao as dos fumos, passam atraves do aparelho nao ficando retidas; e para gases usamos as reagoes coradas, a absorgao em liquidos npropriados ou a medida de calor da com bustao. etc.
Muita gente pensa que e facil vcr quando o ambiente tern poeira. por exemplo, em suspensao no ar. determinagao visual, muito comum. c muitas vezes falha, pois conforme a diregao dos raios de luz o ar pode iiOj
Parecer exccssivamente poluido on compktamente limpo. Se de uma _diregao vemos muita poeira, basta n.udarmos da posigao para que esta pociparega-nos diminuir ou aumcntar. quantidades dos toxicos nas amostras c em geral pequcna. Por exemPlo, a poeira so apresenta pcrigo cntre 'Ou e 0,5 u de diametro. As maiores Sao facilmentc retidas pelos condutos da respiragao e as menorcs entram saem sem afetar o organismo. As particulas de poeiras cujo diameesta entre 10 e 0,5 micra entrain ® Sao depositadas nos pulmocs v.ciu-
sando as pneumoconioses. Nao sao todas as poeiras que causam pneumo conioses. Prccisam satisfazer certas condigoes como concentragao das par ticulas no ar, concentragao de silica livre na poeira. etc. Por exemplo, se tivermos uma poeira com concentragao de silica livre igual ou superior a 30% o limite maximo pcrmissivel sera de 5 mppc; se a concentragao de silica li vre for entre 5 e 50% o limite maximo sera de 20 mppc; e se inferior a 5%, o limite maximo permissivel sera de 50 mppc. Outras poeiras poderao ter outros limites dependendo da periculosidadc delas.

Existem limites determinados por es tudos toxicologicos e pela experiencia para grande numero de toxicos. que sao adotados ofidalmentc por muitos paiscs. fistes limites indicam as concentragoes maximas que podem ser rcspiradas durante um certo tempo, em geral oito horas diarias. Aqui no Brasil apenas alguns destes limites sao adotados oficialmente. -
Vamos tomar o chumbo por exem plo; o limite atual e de 0,2 mg/m^ de ar. Para avaliarmos o quanto e dificil tomarmos e analisarmos uma amostra com tal quantidadc de chumbo, bastara dizer que um metro cubico de ac pesa cerca de 1,2 kg e que o peso deste metro cubico de ar em relagao ao peso de chumbo nele existente e de 1 para 6 milhQes .
Em geral as amostras sao mais ou menos 0,01 e por isto os metodos empregados em higienc industrial, pa ra anallsar tal quantidade de substancia dcvera ter predsao suficientc para indicar 1 ou 2 microgramas de chum••bo, no case do excmplo adma citado. Para isto empregaijios metodos analiticos espedais e aparelhos e instrumentos fisico-quimicos.
As medidas de cgntrole dos ambientes de trabalho sao bSsGadas. em ge ral, num dos seguintes conccitos: prevenir a liberta^ao de materiais toxicos no ar do ambiente de trabalho; re mover as substancias toxicas da atmosfera antes que elas alcancem a zona de respira^io dos operarios: proteger o trabalhador contra os materiais toxi cos existentes na atmosfera, Para cada caso o engenheiro devera escolher o metodo de controle adequado. Por excmplo, no primeiio caso podemos controlar pelo enclausuramento do processo, no segundo caso por ventilagao exaustora local, e no terceiro caso pelo uso de mascaras adequadas.
O engenheiro de seguranga especializado em higiene industrial devera. estar apto para projetar sistemas de ventilagao, iluminagao, controle de ruido, radiagoes ionizantes., etc.
Em higiene industrial, o engenheiro devera manter urn contato intimo com OS medicos industriais e os quimicos. Os primeiros ajudam o engenheiro fornecendo dados sobre suas observagSes
e diagnosticos das doengas profissio-, nais e os segundos ajudando a analisar o ambiente. fornecendo metodos quimicos precises. Mas e ao engenhei ro que cabe examinar o local de tra balho, tomar amostras representativus e interpreta-Ias para indicar ou proje tar as medidas que virao melhorar o ambiente de trabalho. E isto pdrqiie e o engenheiro que conhccc os pro cesses industriais e mclhor pode ccmpreender o problema e elimina-lo.
Se urn eficiente programa de higie ne industrial for desenvolvido podcrcoms beneficiar o trabalhad6r~ aliviando-o dos sofrimentos, afligoes e inseguranga economica que em geral acompanham as doengas ocupacionais; e beneficiar a indiistria com a diminuigao das indenizagoes pagas aos empregados incapacitados, com o aumento da eficiencia dos operarios trabalhando contentes em ambientes claros, limpos e livres de substancias to xicas ou nocivas.
Aqui no Brasil, onde a produtividade dos operArlos e baixa, entre m va ries fatores responsaveis por esta situagao podemos citar o baixo nivel ;'.anitario dos ambientes de trabalho e suas residencias e a completa ignorancia da maneira mais eficiente de operar uma maquina ou um processo, evitando desperdicios que poderao poluir a atmosfera.
EXECUTIVO PARA A APLICAQAOCONSELHO DO DESENVOLVIMENTO
Nesta ocasiao em
que se instala o novo Grupo Executive do Conselho do Desenvolvimento. com a presenga de tantas e tao destacadas personalidades. sinto-me honrado em ter a oportunldade de pronunciar algumas palavras de esperanga e de confianga, a respeito das atividades que era se •niciam oficialmente.
Sob certos aspectos, nao e o geace Um pioneiro. Segue ele a trilha de fainosos e competentes irmaos, os Grupos Executives para as Industrias Automobilisticas e de Construgao Na^al. OS conceituados geia e geicon, cujos trabalhos sao motive de orguIho para nossa gente e que abriram novos horizontes para as reiagoes en're a indiistria particular e a atividade governamental. De modo eficiente e ^apido conseguiram eliminar cntraves burocraticos e estimular atividades cujos resultados ja aparcccm clara ? indiscutivelmente nas estatisticas brasileiras.
Agora surge o geace, composto de 'iestacados membros natos o que, por so, e indice de garantia para o sucssso de empreendimento. £ste emPreendimento que nao e pioneiro como ^Eupo Executive, cuida entretanto de ®ssunto novo cercado de fantasia peios artigos populares de divulgtigao sob alguns aspectos, desfiguram ® solidez e as reais possibilidades dos uiaravilhosos aparelhos cuja aplicagao o Governo do Brasil esta procurando
As possibilidades de uso de computadores eletronicos sao imensas: Em 1954 esperava-se nos Estados Unidos que umas 50 organizagoes viessem a usa-los mas, ja em 1958, havia nada menos que 1.700 unidades em ativi dade em todo o pais, esperando-se que dentro dc uns oito a dez anos ha-a cerca.de 10.000 computadores em uso. Se atentarmos ao desenvolvimento por que esta passando o Brasil. pode mos nutrir fundadas esperangas de que a reccptividade em nosso pais seja grandemente satisfatoria. Imimerds atividades estao sentindo a falta de recursos modernos para calculos c controles, uma vez que o volume dos elementos a processar esta crescendo dc modo prodigioso. Ja ncstes liltimos dias foi publicada noticia accrca da aquisigao pela Pontificia Universidade Catohca de um computador cletronico que, aos que se saiba. e o primeiro de • portc medio a ser adquirido por organizagao brasilcira.

Mas, que sao os computadores? Que fazem eles ? Sao elcs maquinas pensantes. cerebros eletronicos, como se diz popularmente ?
As caracteristicas basicas dos com putadores denominadas digitais ainda sao as mesmas das invcngoes originais de Pascal e Leibnitz. Os problemas de alta matematica sao reduzidos a aritmetica e, depois, a contagcm. Grande aperfeigoamento e a substituigao de engrenagcns por valvulas eletronicas
0 iiso de compntadores clctronieos no Brasil DISCURSO PRONUNCIADO SR. COMTE ^JJrfo'^S^GRtZPO
• DIA 18 DE JUNHO DE 1959. POR OCASIAO DA jNSTALA^^^^ ^
i^termedio do GEACE. ou transitores que fazem
operagoes, mas de modo muito mals rapido.
A comparagao entre as atividades dos computadores com atividades puramente humanas e a analogia obvia entre certas dessas atividades, fez \, criar uma nomenclatura desconcertan"^te para indicar as agoes, das maquinas, tais como «meiTi6ria», «decisao». e outras.
Na realidade as maquinas nao fazem mais do que- cumprir instrucoes que Ihes sao dadas pelos seus operadores mas, verdadeiramente, tem elas capacidade de realizar decisoes surpreendentes e, executar calculos com fantastica rapidez, Uma opera^ao sim ples e feita em poucos milionesimos de segundo!
Podem, por exempio, caicular a trajetoria de am projetil de artilharia em menos tempo do que o projetil leva para atingir o seu alvo. Podem elas, em poucas horas, realizar opera^oes para previsao de tempo que normalmente exigiriam uma semana de calculo por calculistas experimentados.
Os computadores permifem que sejam feitos calculos que de outro modo seria reaimente impossivel tentar, pelo seu vulto.
Contudo, nao somente a rapidez dp calculo caracteriza os computadores eletronicos. Provalmente a caracteristica mais marcante dos modernos computadores e a capacidade que tern de tomarem decisoes mediante o estudo de resultados que elcs prpprios produzem. Desse modo. podem seguir diferentes caminhos sem interferencia externa, pelo exame dos elemenccs obtidos em operapoes anteriores cujos
resultados parciais foram sendo metodicamente armazenados em sua memcr;a, para posterior utilizapao em fases mais adiantadas da operapao em curso.
Os computadores podem, recebendo as necessarias ordens. dividir os p'oblemas em diferentes estagios. Podem transferir imediatamente tais resulta dos a proxima operapao ou guardalos para uso futuro e podem usar pro cesses de aproximapoes sucessivas. E, como se disse, guiados por suas pioprias respostas, podem fazer c-scolhas, tomar decisoes e fazer comparacoes
Usando palavras alheias, e o computador menos parecido com um homem do que uma amoeba; contudo, e mais parecido com o cerebro humano do que qualquer maquina conhecida e, assim, chega ao ponto de fazer com os homens tenham arrepios de medo. Mas com ou sem medo, os homens tem sabido reconhecer os excepcionais meritos dos computadores e tem dado a eles grandes aplicaqoes. Notandose que o seu uso e ainda muito recente, ja ha um campo apreciavel dc aplicagoes, apesar dc cxigirem um pre pare especial para as informagoes que Ihes sao transmitidas.
Nao e somente a instalagao de computadores ou Centres de Processamento de Dados que garantira o exito de utilizagao desses recursos. necessario que, de certo modo, haja uma reorganizagao das atividades supridoras de elementos de modo que estes sejam colhidos de tal maneira que se permita ao novo equipamento uso reai mente eficaz. Tal adaptagao nao e facil e exige, naturalmente, um certo tempo para ser conseguida, alem de uma certa maturidade a respeito de
computadores eletronicos, para cuja consecugao nao ha atalhos faceis a serem triihados.
Ha iniimeras pesquisas em andamen'o a respeito de computadores e eu gostaria de ilustrar tal fato com um exempio curioso:
Foi inventada uma maquina eletronica que se adapta por si propria a tiovo meio e a novas circunstancias, atingindo no novo habitat um equilibrio interno tal que Ihe permitira continuar a fazer o que estava fazendo anteriormente. As possibilidades de ^ais aparelhos sao de certo modo aterradoras e e pena que um cscritor como George Owell, autor do famoso hvro «1984», tivesse desaparecido ando seu advento, privando-nos assim de brilhante especulagao sobre o gue, numa ditadura perfeita, poderia com eles realizado no sentido de "^^duzir a liberdade individual e ocula verdade.
Ao contrario d.sso, porem. precisaque essas maquinas nos sirvam Para ajudar a conhecer a verdade, porelas nos tornam livres e ajudam a ^'gnificar o homem.

As maquinas eletronicas pcrmitirao ^njpliaj- 0 nosso conhecimento e coope■^srao para tornar possivel a rcpresen^3gao numerica de fenomenos que, s6"^cnte assim segundo a sintese admi"■avel de Lord Kelvin, tornar-se-ao "^^almente conhecidos.
A confianga depositada nos compu tadores eletronicos e tal que algumas P^ssoas chegaram a considerar seu ®dvento tao marcante, por seus efeineste seculo, como a. utiiizagao da ®P®'gia nuclear.
Grande e .assim, a responsabilidade do GEACE em fazer o nosso pais aproveitar-se de tais recursos que podem ser usados para resolugao de problcmas ligados ao planejamento de recur sos para todas as metas governamentais. para assuntos de energia eletrica. energia nuclear, petroleo, ferrovias. portos e dragagem. navegagao mercante, transportes aereos, construgao naval, companhias de seguros, org?.mcnto de cambio. previsao orgamentaria, problemas estrategicos das tres forgas - armadas, mobillzagao indus trial. etc.
Compete ao geace estimular a instalagao de Centros de Processamento de Dapos e a inidar montagem e fabricagao de computadores e suas par ies componentes no Brasil.
Para tal fim espera o Governo concedcr incentives semelhantes aos que tem sido dados a outras atividades. no sent.do de conseguir resultados po sitives
Tambem compete ao geace onentar a instalagao de um Centre de Pro cessamento de Dados do Governo que alem de servir as atividades go- vernamentais, atue como centro de estudos e de formagao de pessoa., as sim como de divulgagao das possibili dades dos computadores.
Para a realizagao desse programs conta o GEACE com a cooperagao das entidades oficiais e particulares interessadas, a fim de que suas atividades sejam coroadas de sucesso, que .sera reaimente o sucesso de todos os que participarao em mais este degrau do desenvolvimento de nosso pais.
pessoais
ENTREVISTA ESPECIAL DO SENHOR WEBER JOSE FERREIRA. CHEPE DA DIVISAO VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. DO I.R.B.
■--QELA PORTARIA n." 25, publicada no Diario Ofidal, de 7 de julho ultimo, 0 Senhor Diretor Geral do D.N.S.P.C. aprovou «Condig6es para o Seguro de Acidentes Pessoais com majora?ao, em casos especiais, das percentagens de indenizagao na garantia de Invalidez Permanente».
Tratando-se de piano novo, sem diivida alguma destinado a alcangar grande rcpercussao na Carteira de Seguros de Acidentes Pessoais, cntendeu a Revista do I.R.B. que seria de toda conveniencia abordar em suas colunas OS aspectos gerais da medida tomada pelo Senhor Diretor Geral do D.N.S.P.C., para a qual colaborara o I.R.B. participando dos estudos preliminares efetuados conjuntamente com OS represcntantes da classe seguradora.

Tal divulgagao a respeito da materia tera o objetivo de fornecer ao mercado novos subsidios para melhor compreensao em torno da ampliagao de garantia agora ofertada aos segurados que nisso possam interessar-se. Paia esse fim. a Revista do I.R.B. entrcvistou o Senhor \Veber Jose Ferreira, Chefe da Divisao Vida e Acidentes Pessoais.
Razoes e objetivos da cobertara
«0 principal objetivo da nova cobertura —• disse inicialmente o entrevistado — e o de propiciar garantias adequadas e raais compativeis com o dano economico realmente sofrido, a todo profissional que, por motivo de acidente, seja afetado em sua capacidade de trabalho.
Coino e sabido, o seguro classico cle acidentes pessoais possui um esqucma indenitario em que nao ha viiicnlagao estreita entre a natureza da lesao e as caracteristicas da profissao do acidentado. Dai ter resultado na pratica, nao rare, um certo desajuste entre a indenizagao assegurada pela apolice e o dano real sofrido pelo segurado, fator que contribuiu para que gradativamente se avolumasse a procura demodalidades mais atentas a na tureza dos interesses a proteger, o que cxplica a proliferagao, na Carteira de Riscos Diversos, de seguros encerrando formulas consentaneas com o problema em causa».
Prosseguindo em seus esclarecimentos, disse o Senhor Weber Jose Fer reira:
«Ocorria que o enquadramento. em Riscos Diversos, era baseado nas pro-
prias condigoes de acidentes pessoai.s. eliminando-se apenas as clausulas que liniilavam. em determinados valores. as percentagens cabiveis.
Alem disso, verificou-se que essa cobertura estava sempre na dependencin da realizagao de um seguro A. P. nojmal; e somente apos o pagamento da indenizagao deste. poderia ser efetuada
Em consequencia dos fatores acima focalizados, foi que o I -R.B. inidou os estudos da concessao dessa cobertura no ramo acidentes pessoais».
Estcutaracao das garantias
Passando a um exame mais detalhado das Condigoes aprovadas. o Senhor Weber Jose Ferreira esclareceu que o ® ^omplementagao da cobertura adicioJial.
Por outro lado, no pr6prio ramo Aci^'intes Pessoais, havia reclamagoes por P®rte dos segurados pela falsa idda que, na hipotese de ser incapacitado Para o exercicio da profissao, as pc^"
^^ntagens de indenizagoes deveriam ser
''^a'otes ou mesmo atingir a 1009^' da ^®iportancia segurada.
piano elaborado visa ^garantir a elevagao. ate mfo. das percentagens de indenizagao por invalidez permanente. quando decorrer esta de les5es objetivamente constataveis».
Explicando melhor como podem ser configuradas tais lesoes, disse ser necessario que as mesmas.
a) decorram de acidentes cobertos pela apolice:
A reparagao do dano profissional, no seguro de acidentes
b) tenham sido previamente mencionadas na mcsma;
c) estejam Wnculadas a atividade profissional do segurado.
Condifocs basicas
Respondendo pergunta relativa a forina pela qual deve a cobertura ser concedida, disse o Senhor W^eber Jose
Ferreira:
«A exigencia fundamental e a de que a garantia seja sempre suplementar a cobertura normal e basica da apolice acidentes pessoais, tendo por limite a diferen^a entre: I) importancia total segurada para invalidez permanente e
2) indcnizagao calculada conforme tabela da clausula 5^ item 2 da ap6lice.»
Sobre as variagoes que a nova modalidade de garntia pode apresentar, enumerou o entrevistado as seguintes hipoteses:
a) majora?ao de uma ou mais das percentagens cspecificadas na Tabela de percentagens de indeniza^ao em caso de invalidez permanente parcial, constante da apolice;
b) majoragao das percentagens que forem fixadas, dentro do crit6rio das Condigoes Gerais da Ap6lice, para lesoes nao cspecificadas na Tabela acima aludida; e
c) fixa^ao da importancia Segurada em invalidez permanente, qualquer que seja a Icsao que fnvalide o segurado para o exercicio da profissao.
Mecanismo da contratagao
Chamando a atengao para o fato de que e indispensave] a inclusao de clau sula especial na ap6lice (com o conseqiiente pagamento de premio adicional), 0 entrevistado salientou ainda que. para a obtengao da cobertura, «e necessaria, nao so a apresenta^ao" da ptoposta de seguro a Sociedade do ramo, mas tambem a apresenta^ao de resultados satisfatorios numa selegao que considerc OS aspectos fisico (inclusive medico), moral e financeiro O candidate podera ser submetido a exame medico, quando a boa sele?ao assim aconselhar.
Precedentes
Solicitado a fornecer exemplo de seguro ja efetuado no pais, mesmo antes da Portaria n.'^ 25, o Senlior Weber Jose Ferreira aludiu ao caso da selegao nacional, na partida recentemente disputada com o «English Team».
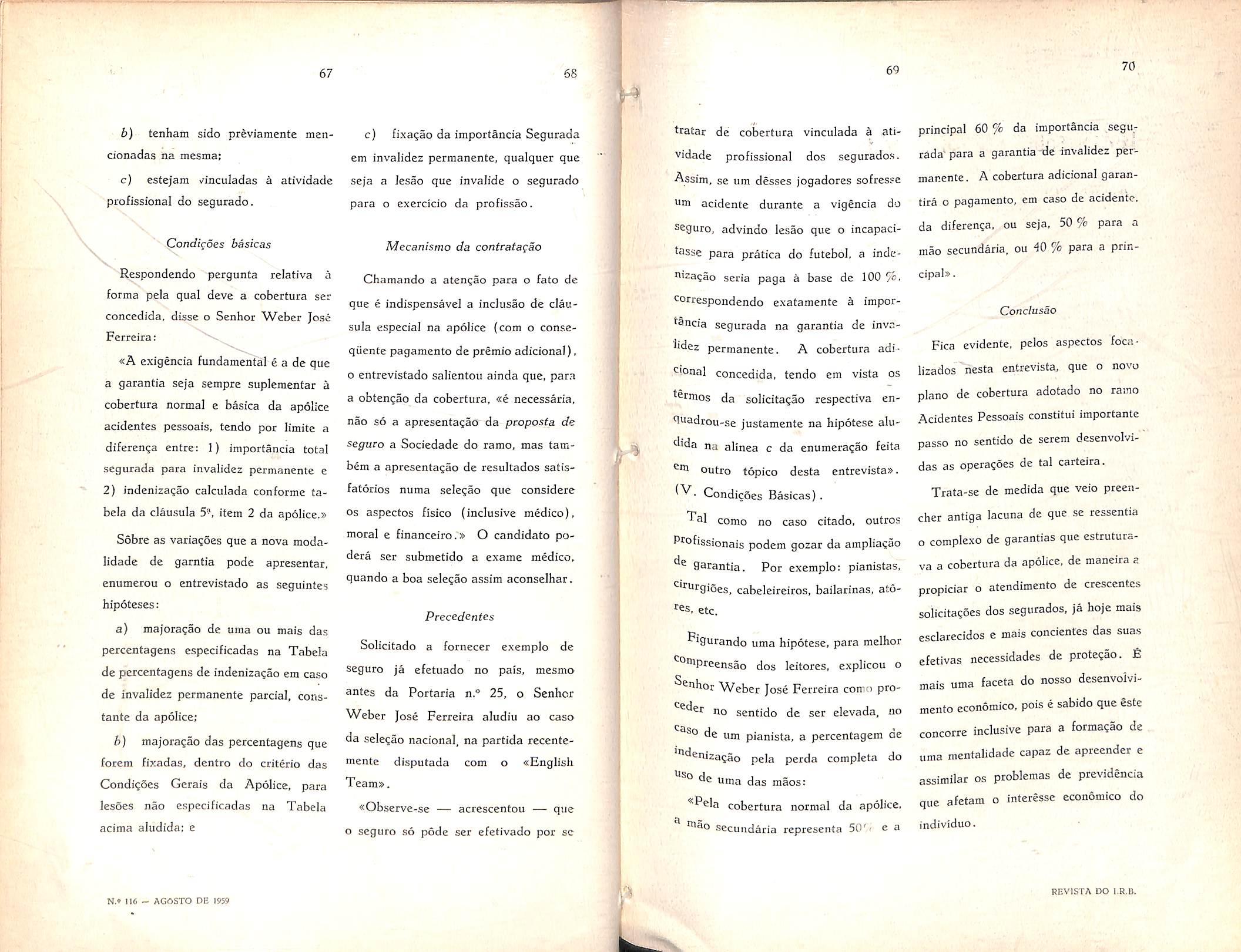
«Observe-se — acrescentou — que o seguro so pode ser efetivado por sc
tratar de cobertura vinculada a ati vidade profissional dos segurados. Assim, se um desses jogadores sofresse um acidente durante a vigencia do seguro, advindo lesao que o incapacitasse para pratica do futebol, a inde'^iza^ao seria paga a base de 100 /o. <^orrespondendo exatamente a impor^ancia segurada na garantia de inva lidez permanente. A cobertura adi cional concedida, tendo em vista os termos da solicitagao respectiva en9uadrou-se justamente na hipotese aludida na alinea c da enumeragao feita Cm outro topico desta entrevista». Condicoes Basicas).
como no caso citado, outros Pi^ofissionais podem gozar da ampliasjao de garantia. For exemplo: pianistas. ^^urgioes, cabeleireiros, bailarinas, atoetc.
^igurando uma hip6tese, para melhor '-ompreensio dos leitores, explicou o ^cnhox Weber Jose Ferreira como pro^cder no sentido de ser elevada, no de um pianista, a percentagem de ''denizagao pela perda completa do de uma das macs:
cobertura normal da apolice. secundaria representa 50'( e a
principal 60 % da importancia .segu rada" para a garantia -de invalidez perimanente. A cobertura adicional garantira o pagamento, em caso de acidente. da diferen^a, ou seja, 50 % para a mac secundaria, ou ^0% para a prin cipals.
Pica evidente, pelos aspectos focalizados " nesta entrevista, que o novo piano de cobertura adotado no ramo Acidentes Pessoais constitui importante passo no sentido de screm desenvolvidas as opera^oes de tal carteira.
Trata-se de medida que veio preencher antiga lacuna de que se ressentia o complexo de garantias que cstruturava a cobertura da apolice, de maneira a propiciar o atendimento de crescentcs solidtagees dos segurados, ja hoje mais esclarecidos e mais condenfes das suas efetivas necessidades de prote^ao. fi mais uma faceta do nosso desenvoivimento economico. pois e sabido que este concorre inclusive para a forma?ao de uma mentalidade capaz de apreender e assimilar os problemas de previdencia que afetam o interesse economico do individuo.
Notas sobre seguro de vida em grupo
HIST6RICO — DEFINIQAO — CLASSIFICAC^AO — O SECURO EM GRUPO NO BRASIL: SEU DESENVOLVIMENTO E SITUAQAO ATUAL — EXPOSirAO COMENTADA DAS ■xNORMAS O SEGURO DE ViUA TEMPORARIO
EM GRUPOi>porario por urn ano, nao seria praticave! a carencia propriamente dita, isto e, estar o componente inciuido na ap6lice- mediante o pagamento de premio diferido e sem cobertura por determinado prazo.
Nos seguros dc empregados tais numcros se reduzem a 20 e 18, respectivamente.
«2.02.04 — Indice Minimo de Adesio
Adyr Pecego MessinaO estagio. exigido para o segurado na propria associagao. atenua a procura ao seguro dos riscos que poderia•nos chamar de «iminentes».
2.02.04.01 — Nos grupos nao contributarios nao podera ser inferior a 100%, exceto no primeiro ano durante o qual se admitira o indice minimo de 90%.
{Continuafio)
VAMOS agora encetar o estudo da parte refergnte aos seguros em grupo de associagoes.
As explicagoes basicas acerca de cada subitem seriam, em linhas gerais, as ja apresentadas para os seguros em grupo de empregados. Nossos comentarios se constituirao, portanto. ern comparar e ressaltar as diferengas com a parte ja estudada.
De modo geral. devemos lembrar que OS seguros de associa^oes sao, em principio. seietivamente inferiores aos seguros de empregados. Nos seguros de associa^oes a sele^ao e do seg-irador, enquanto nos seguro.s de empre gados tal mister c, em primeira mao. feito pelo proprio estipulante .Por essa razao o seguro de associagoes e repudiado por certos seguradores e. como veremos nos itens seguintes, dcve ser operado em condi^es mais rigorosas do que o seguro de empre gados.
«2,02 — Seguros de grupos enquadrados na definigao do item 1.04-B dos Elementos Gerais, 2.02.01 — Estipulante — do se guro sera a associa^ao legalmente constituida que. por disposigao esta-
tutaria expressa: a) ou congregue, exclusivamente associados da mcsma profissao ou atividade profissional; b) ou que, pela sua finalidade social, exija para admissao de qualquer associado. condi^oes de saiide consideradas satisfatorias sob o aspecto do seguro. constatadas por e.xame medico obrigat6rio».
Nem toda associagao pode estipular seguio em grupo. Somente poderao faze-Io aquelas que. constituidas legal mente. satisfa(;am estatutariamente aos requisites a ou b acima.
«2.02,02 — Grupo Seguravel e constituido. exclusivamente. por todos OS associados de uma ou mais categorias de uma associagao, que tenham, pelo menos, seis ineses de efetividade a contar da sua admissao ou ultima readmissao. Tais categorias deverao apresentar, na forma dos estatutos dessa associa^ao. carater de absoluta efetividade, exc!uindo-se, por tanto, OS seus dependentes que nao sejam associados».
O prazo minimo de seis meses, exigido para que um associado fa^a par te do grupo seguravel, pode ser tido como uma especie de carencia. Seiido o premio pago na base de seguro tem-
O impedimento dos dependentes que nao sejam associados e necessario tendo em vista as condi?6es estabelecidas nas alineas a e fe do item anterior.
«2.02.C3 — Numero Minimo dc ^^gurados — Nunca podera ser infe rior a 50 vidas, para fins de aceitaqao. ® 40 vidas, para fins de manuten?ao».
!\Jota — Nao serao considerados como pcrtencentes ao grupo seguravel OS componentes que, comprovadamente. nao -desejarem participar do se guro.
2.02.04.02 — Nos grupos contributarios nao podera ser inferior as percentagens da tabela seguinte:

Ate 59 componentes a adesio deve''3 ser total, ou seja de 100%. Nas ^'asses seguintes o indice e 10% mais
®'®vado do que nos seguros de cmpre9®dos. parando. porem, no nivel de ^5% para grupos superiores a 249
^oinponentes. O seguro de associaeoes portanto. como indice minimo de ^ceita<jao a percentagem historica e "^lassica de 75%.
A variagao entre os indices de accie manutenqao e a mesma dos ®®9tiros de empregados. isto e, 10% rela^ao ao indice de aceita^ao.
«.Notas:
j I^os seguros contributarios em que o grupo seguravel for suscetivel de divisao em setores cxpressamente determinados. cuja definigao conste da respectiva apolice, sera permitida a realizagao do seguro separadamente para cada setor. desde que cada urn compreenda no minimo 200 vidas e que. em cada urn deles, seja observado o respective indice minimo de adesao e demais condiqoes de aceitaQao. O limite minimo do numero de vidas acima estabelecido podera ser reduzi-
do, no caso de diversidade de IdcaJiza^ao geogcafica, ao niimero de componentes do grupo seguravel domiciliado,s na raesma cidade. A reaiizagao escalonada do seguro devera constar da apolice e o inicio do seguro de cada setor devera constituir um aditivo a mesma.
2 Para os grupos com mais de 500 componentes, em que. alem da selegao para a entrada seja mantida assistencia medica permanente. e permitida a redugao do indice minimo de adesao para 65% na aceitagao e 60% na raanutengao».
A nota 1 e exatamente a mesma ja comentada no item 2.01.04.02.

A Nota 2 tambem se contem no.s termos daquele item, corrigidas.. necessariamente, as percentagens mencionadas.
«2.02.05 — Capital Segucado do Componente
2.02.05.01 Escala de quantias seguradas — Quando os capitals nao forem iguais para todos os componen tes, a escala sera determinada em fungao de fatores objetivoa comprovaveis que nao i mpliquem em anti-selegao, tais como categoria do associado. salario. estado civil, numero de dependentes, idade ou sexo».
O.S seguros de associagoes sao. em geral. de capitals uniformes. porquanto salario, estado civil, numero de dependentes e outros argumentos nao sao, geralmente, atributos que caracterizem ou diferenciem a posigao do associado em relagao a associagao. Contudo, como nao e impossivel a Iiipotese. as Normas regulamencaram o assunto.
«2.02.05.02 — Capital segurado maxima do componente — Nao podera exceder ao menor dos dois limites consignados neste item, exceto nos grupos de menos de 100 componentes. para os quais se aplicara somente o primeiro limite.
2.02.05,02.01 — O primeiro limi te e representado pelos valores da tabela abaixo, determinados em hingao da soma dos capitals do grupo, obtendo-se por interpolagao proporcional os valores intermediarios;
Nora — Os valores desta tabela serao revistos pelo D.N.S.P.C.. sempre que este achar conveniente.
2.02,05.02.02 — O segundo li mite corresponde a duas vezes e meia o menor capital dentre os quarenta seguros mais elevados do grupo.
2.02.05.02.02 — Q segundo liconsignados nos subitens anteriores se rao estabelecidos com base no grupo seguravel, na emissao do seguro, e com base no grupo segurado, em qualquer modificagao posterior da es cala de quantias seguradas».
77
Sobre esses itens s6 nos cabe. ago ra, comparar as tabelas que determinam o primeiro limite para a quantia maxima seguravel.
Para capitais totais ate 10.000 S o capital maximo do componente e igual ao do seguro de emprcgados. Dal em diante, para as mesmas classes de capilais totais do grupo, enquanto nos seguros de empregados os capitais maximos do componente crescem de 20 S em 20 S, nos seguros de associa?oes crescem de 10 S efn 10 S. A quantia maxima de 140 S representa 70% da quantia maxima nos seguros de empregados.
«2.02.06 — Cobertura Maxima Pecmissivel no Mesmo Grupo — A soma dos capitais maximos dos com ponentes em diversas apolices emitidas sobre um mesmo grupo segura vel nao podera ultrapassar:
A — o capital maximo estabelecido ultima classe da tabela do item 2.02.05.02.01, nas apolices da mes ma sociedade.
B — O dobco do limite acima. nas apolices dc todas as sociedades.
2.02.06.01 — Para os efeitos deste item, consideram-se como de um utesmo grupo todos os seguros emitidos em nome do mesmo estipulante que tenham componentes comuns.
2.02.06.02 — A emissao, por Parte de uma sociedade, de diversas ^polices para um mesmo grupo so se''a permitida quando tal pluralidade se justificar face ao criterio de formagao do grupo, seu custeio e argumento d.a Escala de quantias seguradas.
2.02.06.03 — Nao poderao ser cmitidas apolices que elevem a som.T
dos maximos de todas as escalas a um total superior a qualquer um dos limi tes deste item.
2.02.06.04 — O excesso de co bertura sera nulo, incidindo a nulidade sobre os seguros mais recentes. e aplicando-se o criterio de redu^ao pro porcional nos seguros da mesma data, sem devolugao de premios.
Elota — As disposi?6es deste item deverao figurar como clausula da apo lice mestra e serao transcritas nos certificados ou comunicagoes individuals, especificando-se as pr6prias quantias correspondentes aos limites estabele cidos®.
A materia foi regulamentada. de modo inteiramcnte analogo ao item 2.01.06.
«2.02.07 — Cobertura Suplementar de Dupla Indeniza^ao — So podera ser concedida para a totalidade dos componentes do grupo se gurado, ate o limite de idade fixado na rcspectiva clausula®. fiste item e uma rcproduqao fiel do item 2.01.07.
«2.02.08 — Cobertura Adicional de Invalidez — So podera ser dada a grupos em que possa se comprovar que os associados do grupo inicial ou das inclusoes exerciam ativamente a sua profissao na ocasiao de entrarem para o grupo. Outrossim. so podera ser aplicada a totalidade dos compo nentes do grupo segurado e sera limitada a ocorrencia da invalidez por doen^a ou acidente antes de o compo nente completar 60 anos. podendo ser concedida sob duas formas, a saber:
2.02.08.01 — Pagamento em vida do componente — Esta clausula so podera ser dada aos grupos segu-
raveis que satisfa?am simultaneamente as seguintes condi?6es:
a) tenham pelo menos 80% de seus componentes dassificaveis nas classes 1 a 3 da Tarifa Padrao de Acidentes Pessoais;
b) tenham pelo menos 80% de seus componentes com idades inferiores a 50 anos.
A indeniza^io por invalidez sera de 50% do seguro. sendo o restante pagavel por ocasiao do falecimento do componente.
A liquidagao do Beneficio concedido por essa clausula so podera ser feita em presta^oes, ressalvados os casos de invalidez permanente total considerados irrecuperaveis e especificados na respectiva clausula.
2.02.08.02 — Manutengao do Seguro com isengao de premios ~~ Podera ser concedida a todos os grupos».
Cumpre ressaltar a condi^ao prelimmarmente indispensavel para a concessao desta garantia : a da possibihdade de comprovagao de que os associados, ao serem incluidos no segu ro, exerciam ativamente a sua profissao.
Evidentemeote seguro € assungao de responsabilidades aleatorias e Ihe s"ria desconexa a cobertura de invalidez para um individuo ja invalido.
Poder-se-ia alegar que num seguro de associagoes a definigao do grupo seguravel e o vinculo desse grupo con, o estipulante podem perfeitamente nao cogitar do exercicio de uma atividade.
Por isso mesmo, se o exercicio de uma atividade nao constitui argumento na emissao do seguro. a supressao da capacidade desse exercicio nao de-
ve tambem estar garantida por esse seguro.
Quanto aos demais a.spectos, a regulamentagao e inteiramente analoga a dos seguros de empregados.
«2.02.09 — Aceitagao de S^gura-
— Serao seguraveis os associados que tenham pelo menos seis meses de efetividade a contar da sua admissao ou ultima readmissao.
2.02.09.01 — Aceitagao no gru po inicial — Poderao ser aceitos, sen, prova de saude (declaragao pessoal de saude ou exame medico), todos os associados seguraveis. inscritos no se guro antes da emissao da apolice.
Nota — A sociedade podera abdr mao no todo ou em parte, da prqva de. saude (declaragao de saude ou exame medico) desde que, mediante campanha de reagenciamento em suas apolices em vigor, satisfaga, simulta neamente, as seguintes condigoes:
1") consiga a adesao de pelo me nos 10% dos componentes nao segurados do grupo seguravel;
2^) atinja o indice minimo de ade sao estabelecido para aceitagao do grupo em questao.
2.02.09,02 — Aceifafao por inclusoes — Poderao ser aceitos:
3) sem prova de saude: os associa dos seguraveis por ocasiao do inicio do seguro. inscritos ate 30 dias apos essa data, e os inscritos ate 30 dias apos se tornarem seguraveis: desde que a inscrigao haja sido feita antes de atingir a idade de 60 (sessenta) anos.

b) somente com exame medico satisfatorio para a sociedade: os asso ciados que se inscreverem fora das condigoes supra».
Em iinhas gerais podemos sintetizar dizendo que, ultrapassado o perlodo do «estagio» (elemento ja comentado), podem ser aceitos sem prova de saiide:
1") OS associados inscritos antes da emissao da apolice.
2^) OS que, com idade inferior .t 60 anos, se inscrevam nos 30 dias se guintes ao inicio da apolice ou nos 30 dias apos se tornarem seguraveis.
Nao ha. portanto, limitagao de ida de para os associados que ja pertenciam a associagao pelo menos seis meses antes do seguro, e que se inscrevcram antes da emissao da apolice. Eoca disso, qualqucr candidato com idade superior a 60 anos so podera ser aceito mediante exame medico.
Tambem sera exigido exame me dico para qualqucr candidato que se inscreva fore do prazo de 30 dias contados da data em que se tornou se guravel.
A Nota parece-nos ter sido equivocadamente colocada apos o item ....
2.02.09.01. Sua posigao correta se^ ria a subscqiicnte ao item 2.02.09.02.
Tal Nota. que confere ao reagen ciamento prerrogativas de um agenciamento, ja foi por nos comentada.
«2.02.09.03 — '& facultado a sociedade excluir do grupo, reduzir o capital segurado constante da escala de quantias seguradas ou exigir prova de saiide. na ocasiao da aceitagao ou inclusao de qualquer componente que ja estiver segurado em outro grupo ou grupos, em vigor na mesma sociedade, desde que a soma dos capitals segurados, inclusive o novo seguro, ultraPasse o maximo estabelecido na ultifta classe da tabela constante do item 2.02.05.02.01».
Analogo ao do seguro de empre gados.
«2.02.10 — Alteragao de Quan tias Seguradas — Sera feita obrigatoriamente de acordo com a escala de quantias seguradas. scmpre que o associado passar de uma categoria para outra».
Preceito identico ao do seguro de empregados. excluida, obviamente, a questao de estar em servigo ativo.
«2.02.11 — Conuersao — O associado que deixar a associagao e que por esse motive tiver sido excluido do seguro em grupo desde que nao tenha idade superior a 60 anos c tenha permanecido nessc seguro per um perlodo nao inferior a dois anos. tera o direito a conversao do scu certificado numa" apblice de seguro individual, sem exa me medico, desde que faga solicitagao dentro de 30 dias contados da data de sua exclusao do seguro em grupo. obedecidas as seguintes condigoes :
a) Capital segurado — igua! ou inferior ao do certificado, limitado. em qualquer hipotese, a 50% do maximo. estabelecido na ultima classe da tabe la. constante do item 2.02.05.02.01.
b) Piano do seguro — qualquer piano adotado pela sociedade. exceto o seguro temporario e os pianos em que a Importancia exigivel per morte do segurado possa superar o valor no minal da apolice, e sem direito a clausulas adicionais.
Pcenxio do seguro — calculado de conformidade com o piano adota do, a base da idade do componente no momento da conversao;
d) Inicio do seguro — Nao po dera ser anterior a data da cessagao do seguro em grupo.
2.02.11.01 — O componente que tiver feito uso do direito de conversao somente podera ser readmitido no mesmo grupo com desconto da quantia segurada ja convertida».
Inteiramente analogo ao seguro de empregados.
«2.02.12 — Comissoes — Serao cbncedidas na forma abaixo:
2.02.12.01 — Comissao do agen-
— Sera fixada em determinadas percentagens do premio. dentro dos limites da Nota Tecnica, nao podendo. em hipotese algum'a, ser abatida da taxa media ou concedida ao estipulante do seguro.
2.02.12.02 — Comissao de cobranga — Podera ser concedida ate o maximo de 10% do premio, se tal despesa constar, para este fim, da Nota Tecnica».
Subordinada a sua previsao na Nota Tecnica. a comissao de cobranga nao podera exccder a 10% do premio.
Nos seguros de empregados a co missao de cobranga foi limitada a 5% do premio. Tal majora?ao sc justifica pela maior dificuldade da cobran^a nos-seguros de associa^oes.
Para terminar a exposi^ao das Normas passamos a transcrever as Disposi^oes Transitorias que, embora superadas, devem ser do conhecimento dos estudiosos da materia. Ei-ias;
«3 — Disposigdes transitorias
3.01 — Estas Normas entrarao em vigor a 1'' de janeiro de 1958,
3.02 — Estas Normas nao sc aplicarao as apolices emitidas anteriormente a sua publica^ao no Diirio Oflcial.
3.03 — As apolices emitidas no periodo compreendido entre a publicagaq destas Normas no Dlario Oficial e a data em que as mesmas cntrarem em vigor, deverao adaptar-se as suas condi(;oes no primeiro aniversario do incio do seguro, devendo constar da apolice esta condiqao».
O item 3.03 foi revogado pela Porr taria n^ 48/57 do D.N.S.P.C.. o que tornou inteiramente inocuo o item 3,02.
Desse modo. o unico efeito desse Capitulo 3 e que as Normas entrarani em vigor em l'-' de Janeiro de 1958.
Concluida a exposi^ao das Normas que integram a Portaria n'-' 41/57 do D,N.S.P.C.. devemos reitefar ' o que. dissemos anteriormente.

Sem embargo de nossa pequena contribuigao aos estudos que precederam a referida Portaria, devemos externar a oportunidade com que a mesma foi baixada pelo orgao competente.
Embora tenhamos feito reparo a um ou outro ponto, nao temos duvida em afirmar que, de um modo geral, as Normas encerram preceitos altamente equilibrados, isto e. nao se confinaram a conceitos ja superados. nem se lan9aram ao inconvencionalismo nao compativel com o seguro de vida em grupo.
Ainda que a dinamica das opera?des no ramo venha a exigir altera?oes, nem por isso deixara ela de ser um instrumento de alta relevancia pa ra o desenvolvimento intenso e harmonico do seguro em grupo no Bra.sil.
Normas Incendio
Jorge do Marco PassosAssessor Tecm'co da DiuisSo Incendio e Lucres Cessantes, do I.R.B, (Continuagao)
COMO vimos, a regra ditada pelo melhor entendimcnto vejamos
item 2.1 modificou, inteiramen te, 0 principio ate entao vigente. o seguinte exemplo:
Ap6lice emitida em 20 de junho de 1958
Prazo do seguro — 5 de julho de 1958 a 1959
Tabela em vigor de 1-7-57 a 1-7-58 FR — 10
Tabela em vigor de 1-7-58 a 1-7-59 FR — 12
Adotando a sociedade, nas duas -tabelas, retenqoes maximas, o resseguro a fazei seria de, no caso da imporInip. Segurada Retengao
800.0
tancia segurada de Cr$ 800.000,00 e
LOG do risco 122: Imp. ressegurada"
200.0
600.0
A retengao sera, pois, a constante da tabela em vigor na data da emissao da apolice. nao sendo levado em considerasao o prazo de vigencia do se guro.
6 oportuno salientar que nos se guros que permanecem em Garantia Provisoria. o criterio e o mesmo. tabela de retengao a apiicar sera a em vigor na data da emissao da apolice que substituiu a Garantia Provisoria.
O item 2.2 da clausula em comcntario refcre-se as apdlices plurianuais. esclarecendo que nos aniversarios do
Resseguro feito:
seguro a retengao podera ser modificada, enquadrando-se na tabela em vigor nessas datas. Imaginemos : Importancia segurada: Cr$ 800.000,00 Prazo do seguro —
LOG do risco — 122
a
Tabelas de retengao na base dos maximos (Fr x Tabela Padrao de Li mites).
Entrando em vigor em 1-7-58 nova tabela de retengoes, podera a socie- caoeia ae retengoes, poueia a
600.0: todavia. so podera faze-lo a partir da entrega do novo formulario k-— — - o dade aumentar a sua retengao para de resseguro, porque sendo tacuitati-
vo esse enquadramento devera o ressegurador prev/amente ser notificado da intengao da sociedade.
Aplica-se. no caso. a regra das retensoes especiais. quando as seguradoras so podem adota-Jas a partir da entrega do ou nas novas apolices-risco emitidas para o mesmo risco da primeira apolice de reten^ao especial, evidente que se o MRI for entregue antes de 1-7-58. o enquadramento devera ser feito a partir dessa data.
Os itens 3 a 5 regulanj a altera?ao da classifica^ao inicialmente adotada pela seguradora.
Imp. segurada £OC
600.0 j^2
Venfica-se logo que o erro cometido pela sociedade foi no LOG para resseguro. A alteragao do resseguro, solicitada pelo IRB ou de iniciativa da seguradora, devera ser feita desde o inido do resseguro. uma vez que a classificagao da apolice nao coincide com a adotada, isto e, nao foi observado o disposto no item 5 — Classi-
Resseguro feito:
Imp. segurada LOC
600.0 J22 R
Embora os dizeres da apolice justifiquem perfeitamente a classifica^ao adotada, e evidente o erro face a ru brica da TSIB constante da apolice. Quando existir a divergencia acima
Imp. segurada LOC
600.0 J32
Quando a taxa ou dizeres da apo lice forem alterados por meio de endosso. a classificagao ditada pelo en-
Para as varias hipoteses cxiste uma regra propria como veremos a seguir.
Dados perais
Importanda segurada: Cr$ 600.000.00
Localizaqao — Distrito Federal Ocupagao — Padaria com forno eietrico
Construqao — Solida
Fator de retengao — 10
Limite Legal — 600.0
Tabela de maximos
LOC aplicavel da TSIB — 4.04.2

Rubrica 420.11.
I- caso — A sociedade fez guinte resseguro:
o se-
Retengao [mportancia ressegurada
230.0 370:0~ -
ficagao de ocupaqao do Manual Ircendio que aponta a classe 2 de res seguro para os riscos enquadrados na classe 04 da Tarifa.
l"! caso — Per hipotese a sociedade indicou na apolice o LOC tarifario
1.06.2. com base na rubrica 420.12, ou seja, padana com forno a fogo direto.
etengao 500.0 Importanda ressegurada
100.0
apontada. o resseguro devera ser reclassificado desde o inicio de vigciicia de acordo com o LOC tarifario. No exemplo dado o resseguro correto seria : Retengao Importanda ressegurada
260.0
dosso s6 prevalece a partir da entrega do formulario de resseguro.
Vejambs, por exemplo. o caso de infraqao tarifaria que e observada apos a ocorrencia de sinistro.
A sociedade, inicialmente. cobrou taxa inferior a indicada pela T.SII.B. Fez 0 seu resseguro de acordo com a ap6lice. Ocorrendo o sinistro, o inspetor aponta a infraqao. A sociedade nesse momento, corrigc o erro mediante endosso pelo qua! e cobrada a diferenga de premio. O resseguro, todavia, so podera ser alterado. cm qualquer dos seus detalhes. LOC. taxa, premio, retenqao ou importancia resse gurada, a partir da data da entrega do novo MRI.
fisse principio, introduzido nas Normas Incendio pela Circular 1-01/59, . visou, tio somente. a uma melhor orientaqao no caso das reclassifica?6es. protegendo. por outro lado. o mercado segurador atraves da proteqao dada ao Excedente Cinico Incendio.
A possibilidade da cobranga de premio na base de taxas inferiores as fixadas pela Tarifa de Seguro Incendio do Brasil constitui arma poderosa na concorrencia entre as seguradoras.
Aquela que. ferindo as disposiqoes vigentes. proponha taxas inferiores le va nitida vantagem com as suas congeneres na grande concorrencia da angariaqao do seguro.
Ocorrido o sinistro no risco mal taxado, a sociedade emitia endosso de correqao, alterando, conseqiientemente a classificaqao. com reduqao da retenqao inicialmente fixada. Com isso. nao se prejudicava tecnicamente. Todavia. todo o mercado segurador recebia, pelo Excedente tlnico. responsabilidades e premio apos a concretizaqao do-risco. Nao ocorrendo sinistro, o premio dado ao mercado nao reprcsentava real periculosidade do risco. Como se pode facilmente entendcr. o disposto no item 6 da clausula 5" das Normas Incendio veio pelo menos reduzir grandemente os inconvenientes da anterior situaqao, que era bastante prejudicial aos interesses de todos os seguradores do pais.
Pelo exemplo abaixo poder-se-a, «dc visu» analisar a questao.
Imp. segurada — Cr$ 1.000.000,00 Sociedade - Fr =: 10 LL — 800.000,00 LOC tarifario adotado na ap6lice 1.05.2 — Rubrica 470.11.
Resseguro efetuado Imp. segurada Retenfao Imp. ressegurada
Ocorrido o sinistro veritica-se que o LOC correto era 1.07.2. Rubrica 470.12 da TSIB.
A soc.edade emitia o endosso, reclassificava o risco, alterando o seu resseguro para:
Pela diferenqa de Cr$ 3.060,00, o respondente a diferenqa de retenqao, e mercado recebia um acrescimo de res- 1® sinistrada. ponsabilidade de Cr$ 90.000,00, cor- (Continua)
Objetivo emétodosda prevenção deincêndio
CONDENSADO DA GRAVAÇÃO DE PALESTRAS FEITAS PELO ENGENHEIRO MAR.IO TRINDADE, CONSULTOR DE ENGENHARIA E SEGURANÇA. DO I.R.8.. EM 17 DE JUNHO, NO AUD!TóRIO DO INSTITUTO
Dentrodocampodaaplicaçãoe.la engenhariadesegurança,temosvárias especialidades;édecertoumcampoque abrange,pràticamente,tôdasasatividadeshumanas,comoobjetivo,queo seunomeindica,depreservarosmeios deprodução,entendidoscomotais,em primeirolugar,naturalmente,oelementohumanoe,emsegundolugar,os produtos,osequipamentos,asfacilidadesenfimquesãonecessáriasaoprocessodeprodução.
Osseguradoressabemqueoseguro <1penastransferedeumgrupoeconômicoparticularparaumacoletividade osdanos,osprejuízosmateriaisoufinanceirosdecorrentesdaverificaçãode sinistros.Umoutroaspectomuitoimportante,équeêssesbens,umavidc1 humana,quesejamdestruídosdestaou daquelaforma,sãoirrecuperáveis;daí apreocupaçãohodiernadesepreservar todosêsseselementos;quandomaisnão seja,asimplesinterrupçãodoprocesso deproduçãojáacarretaprejuízos muitasvêzesdemontaparaumpaís, parnumestado,paraumacidade,de maneiraque,dentrodessaordemde idéias,desenvolveram-seváriastécnicas.
Onossocampoparticular,sôbreo qualversaanossapalestra,éexata-
menteaparterelativaàprevençãode incêndios.Êstetalveztenhasidoum ciosprimeirosasedesenvolveremface dodesenvolvimentotecnológico,darevoluçãoindustrialocorridanoséculo passado,masantesmesmodisso.jáo homemsentiaanecessidadedese defendercontra,especialmente,osgrandesincêndios,asgrandesconflagrações. quedestruíramcidades,comoade 1667,emLondres,quedeuorigem, pràticamente,naInglaterra,aodesenvolvimentodoseguroincêndio,como nósoconhecemosnosnossosdias.
Poressarazão , aprevençãodeiilcêndiojáatingiuumdesenvolvimento relativamentegrande,masnãotão grandequantonecessário,eatéhoje tudoqueencontramosemmatériade estudos,pesquisas,recomendações, ncrmas,apresenta-sedeummodogeral s�munidade,semumaorganicidadeque permitaapreenderdesdelogoumasistc:matizaçãoefazeroquenóschamamos asedimentação,acristalizaçãodêsses conhecimentoseasuatransformação numaciênciaounumatécnica,como seentendeciênciaetécnica,istoé. baseadaemexperiência,baseadaem medida
Durantemuitotempoobservamosque asprescriçõesrelativasàprevençãode
incêndiosselimitavamadeterminados aspectos-«nãosedevemcolocax juntostaisetaiselementos»-«devesefazeraseparaçãoderiscos»-mas faltava,efaltaainda,emgrandeparle, umconhecimentoreal.umconhecimento científicodecorrentedaexperimentaçf.o edatransformaçãodeconhecimentcs empíricos,deumconjuntoderegra-; purnmentequalitativasnumcorpode ciência,numcorpodedou�rinaPor êssemotivoeuprocurarei,paramenão alongardemasiadamente,darapenas umaidéiageraldecomosepodeentenderorgânicamenteaprevençãode incêndioedentrodêssequadro,os
Mas,romonósveremosadiante,nem sempreépossívelprevenir,eentão,um segundoobjetivo,umsegundoestágio daprevençãodeincêndiosé,eclodindo .-d10limitaraomáximoos umincen danosdaidecorrentes.Finalmenteteremosatécnicaespecializadaqueprovê bteaextinçãodeincênàio.;:, 0 comae -ob1·etoeafunçãodecorpos quesaoo debombeirospúblicosouprivadosede: . ·-suas
senhoresporsimesmostiraraoas conclusões.Estareiprontoadebatê-las naturalmenteeprocurareiafinal,iiustrarcomalgumasobservações,com algumasprojeçõesd'!fotografiasilustrativas.

OBJETIVOS
Evidentemente,oidealseriaquenão houvesseincêndios,quenãohouvess'! aperdadebens,devidas,decorrentes dêssessinistros,dessadestruiçãoindevida,pelofogo,demateriaisaêlenão destinados,oumesmodevidas;mas, umavezqueêlesocorremecontinuam aocorreradespeitodetôdasasmedidasénecessárioquenósestabeleçamosmétodosparaevitá-los;êste objetivoentãoseráoobjetivodaprevençãoeleincêndios-evitarqueêles ocorramdetôdaamaneira-'
.tsdemétodos,demateriai::. eqmpameno, _ d,;;extinçãoautomáticosounaoauto. Todosêlesvisamemúltima maticos., análiseapreveniraeclosãoe,emsegundaetapareduzirapropagaç�o,reduzirosdanos.Expostoassimem . 0 obJ.etivo,nósveremos linhasgerais 05métodos.
MÉTODOS
Nãohápossibilidadedeseconstituirqualquerprograma,desepôrem .daticarqualquerprograma vigor,esepr -deincêndios,semocedeprevençao
. t ba'sicodateoriadacoronhec1meno
• .maisdoqueasimples bustao,quee ._dqueummaferialtalé er.unc1açaoe
b.1umoutronãoécombuscomust1ve.
.l êsseconceitodecombustive.porque _

·b·1·dd.umconceitorelativo.Nao t, 1 1 aee absoluto;assim.pr,r éumconceito
1demoscitaroferroquecm exempo,Pº
d._normaiséummaterialincomcon1çoes
•1.excelência.Noentanto. bust1vepor sabemosperfeitamentequeoferro, dedeterminadatemperatura, acima
queimaematmosferadeoxigênio,
DO 1.n.s
transfomando-se totalmente em oxido de,ferro; por conseguintc, vemos que o conceito de combustibilidade e incombustibilidade e um conceito rela tive, e como tal deve ser encarado na sistematizagao do nosso trabaiho.
Alem do estudo da combustao nos precisamos tambem conhecer. e conhecer profundamente, o calor, o que se chama calor. que nada mais e do que ja se chamou ha muito tempo o floglstico, o fluido, o fogo. Mas todas essas coisas se resumiram modernamente em u'a maior ou menor agita^ao de molecuias em um corpo; por conseguinte, o calor e um fenomeno que se observa simultaneamente com maior agitagao das moieculas em um corpo. Se nos perguntarem: «Mas o que tern isso com a prevengao de incendios ?» diremos que nao ha uma rela^ao imediata e aparente, mas em fun^ao dessa no^ao de calor podemos explicar outros fenomenos: como se propaga. como se transmite, enfim, para que nos possanios adotar as medidas necessarias ao sen controle e a prevenqao de incendios, que c o nosso objetivo. A propaga^ao do calor se faz de tres luaneiras diferentes: por condu^ao, isto e. por transmissao de molecula a molecula, num corpo solido, dessa ag,tagao. Nos gases observa-se um fenomeno um pouco diferente que e a convecgao. isto e. a transmissao do calor pela condu^ao dessc calor com deslocamento da mo lecula; no primeiro caso, na condu^ao, nao ha deslocamento da molecula; ja nos gases ha o deslocamento das mo ieculas, porque as que se aquecem pri meiro tendem a subir e ser substituldas na parte inferior do recipiente por mo ieculas frias que descem da superflcie.
Pinalmente, um terceiro mode de propagagao, nao menos importante, talvez' uma das mais importantes maneiras de transmissao do calor — a radia^ao que e a condu?ao por meio da emissao de uma onda eletromagnetica; nao ha necessidade de uma interposigao, de um meio transmissor, porque a propaga^ao ai nao se faz sob a forma de contato ou de transmissao de molecula a mo lecula, ou de deslocamento de mo ieculas, e sim sob forma de radia?ao, sob forma de uma onda eletromagne tica, que tern como tal determinadas propriedades que nos interessam pro fundamente.
Mas nao e aqui o momento em quo dcvemos discutir esse aspecto; apenas precisamos dar uma ideia geral, para que possamos ver como podemos realizar, e quais os metodos da prevengao de incendio que se utilizam desses elementos.
A realiza^ao de qualquer programa de preven^ao de incendio pode ser dividida em duas partes principais: uma, a prevengao ligada dirctamente a construcao, isto e, a construgao dos edificios e a instala^ao das plantas e equipamentos, de modo a, tanto quanto possivel, separar ou evitar a reuniao dos elementos necessarios a eclosao e a manuten^ao de um incendio. Isso se faz — e hoje ja se esta fazendo bastante no Brasil — mediante o estudo dos projetos. mediante o estudo antes mcsmo que um risco passe a ter existencia fisica, enquanto ele ainda esta na pranchcta de um arquitcto ou de um engenheiro. fi nessa fase que se conseguem evitar riscos que rauitas vezes passam completamente desper-
cebidos, que podem tornar um empreendimento mais economico ou que podcni torna-lo ate mesmo anti-ecoconomico. Citarei apenas um pequeno detalhe com relagao a esse aspecto e 0 estou mencionando, porque nos vamos ^•er. nas nossas projegoes aqui, iins exemplos fotograficos, em que a falta de uma orienta^ao condizente com a cvoluqao da tecnica, com a evolucao dos materials de construqao, causou um dos maiores incendios em instalaSoes indu.striais de que se tern noticia.
Isso porque a empresa proprietaria estava certa de que o sen risco se ^piesentava com caracteristicas excepcionais. havia preocupaqao de se fazer P'even^ao de incendio. havia mesmo normas e regulamentos dentro da orQunizagao, uma das maiores do mundo. ^ que no entanto foram completamente ^ornadas e demonstradas praticamenie uomo absolutamente ineficazes, por dois i^^quenos detalhes. Mencionando este fato eu tenho por objetivo somente saI'entar que, como qualquer outra cienem estado incipiente, a preven?ao de incendios apresenta sempre uma pe9"ena faixa, um pequeno campo onde ® experimenta^ao, a experiencia e o ^fro servem para construir a propria ^'ancia: esse e um dos cases.
I^utao, nos vimos que a preven^ao '^umega na fase do projeto; come?a na do projeto, prevenimos grandes
'^''tensoes, prevenimos sim a reuniao dos ^Icmentos necessarios a combustao material combustivel, um combu'"ante e pelo menos uma fonte de tempc'atura. Na fase de projeto ainda. e Possivel obter-sc uma melhoria sub.stancial de risco, pela simples analise do

fluxo industrial e a inter-rela^ao entrc cssas fases do fluxo industrial e sua situa^ao no tempo e no espa^o. Eu procurarei dar uma ideia mais objetiva. Assim. por exemplo. seja um estabelecimento de revisao de motores muito bem planejado, muito bem projetado sob todos OS pontos de vista tecnicos do lecondicionamento de motores. Mas, na pratica, quando se analisou o prccesso industrial, verificou-se estarem os tanques de limpeza de pe?as usando solventes inflamaveis adjacentc? a areas de soldagem e a areas de tratamento termico de metais. Unidos sob um mesmo teto. juntavam-se nesse processo industrial todos os elementos necessarios para fazer uma boa fogueira. £ste e um exemplo no qual a ausencia de um tecnico, a ausencia de uma orienta^ao na fase do projeto pode acarretar, na fase de operagao a qua! nos nos referiremos mais adiante, problcmas insoluveis. Quantas vezes nos temos observado fatos como este no Brasil e mesmo no exterior — de maneira que esse pequeno exemplo serve apenas para mostrar que ha ne cessidade c e imprescindivel, para a boa realizagao de qualquer programa de prevengao de incendio, o estudo e a analise desse risco desde a fase de pro jeto.
Passada a fase do projeto, nos temos o que chamamos a preuengao de incendios operadonal em que ja analisamos o risco fisico em si, ja estudamo.s a concorrencia dos elementos geradores de incendios, e podemos entao, pela supressao de pelo menos um deles. evitar a eclosao de um incendio. Mas. ncm sempre e possivel evitar a concor-
rencia desses tres elementos: o combustivel, 0 comburente e a temperatiira, face mesiDO a propria natureza dos pro cesses de produgao. Assim, per exemp!o, numa fabrica de produtos quiraicos, uma se?ao que produza acctona ou qiie utilize j acetona como solvente. A acetona e um material altamente infla■mavel, de baixo ponto de ebuligao e grande volatilidade a baixas temperaturas, e que forma misturas explosivas facilmente no ar. Para evitar que haja um incendio nesse_ recinto, nessa segao, podettios utilizac tres-ujetodos.
O primeiro. suprimir o ar, o que nem sempre e possivel.
Restam, entao, dois outros elemenlos a controlar para evitar a eclosao de incendios: evitar-se a formagao de uma mistura inflamavel com o ar — este esta sempre presente —e o afastamento de toda e qualquer fonte de calor. Essa ultima hipotese nem sempre e realizavel a dcspeito de todos os cuidados, pois que bastara uma simples faguiha para dar origem a um incendio, desde que haja uma mistura inflamavel.
Abrimos aqui um parentesis para estabelecer, com um exemplo bastante simples de mistura de inflamaveis, que feremos oportunidade de estudar posteriormenfe: Sabemos que os motores a gasolina funcionam a base de um carburador que faz mistura da gaso lina pulverizada com o ar. em determinadas proporgoes, abaixo e acima das quais o motor nao funciona. No primeiro caso, quando a mistura e extremamente pobre nao ha possibilidadc de, uma vez admitida nos cilindros, de ai entrar em ignigao, por falta de combustivel suficiente e. no caso oposto, quando dizemos que o motor esta afo-
gado, ha uma mistura rica demais para a combustao se processar. Entre esses doii limites extremes o motor funcionara, porquanto havera condigoes adequadas da mistura de gasolina e ar, que faz com que esta possa ser queimada.
Volfando ao caso da fabrica de ace tona, deveriamos eliminar progressivamente os vapores de acetona para evitar a formagao de misturas inflamaveis ou realizar o processo em recipiente fechado onde pudesse ser eliminado o oxigenio do ar ou simplesmente pudesse ser admitido um gas inerte que imped's.s? cm qualquer hipotese a formagao de mistura inflamavel. Teriamos entao evilado a formagao de.mistura infla mavel, e a outra hipotese que mencionamos, a eliminagao de quaisquer fontes ignigenas.

Vemos deste modo que a protegao operacional pode ser feita com um conhecimento completo das condigoes era que se opera o processo de produgao, e resta-nos mencionar apenas uma pequena observagao: nao sendo possivel. dadas as condigoes do processo indus trial. evitar-se em qualquer caso a eclo sao de incendios. passamos a um segundo estagio da prevengao de incen dios que e o da limitagao dos danos. Isto sc faz do mesmo modo com medidas relativas a construgao e a operagao. As medidas relativas a cons trugao consistem na delimitagao, na redugao de areas, no confinamento de processes perigosos, na sua segregagao e ate mesmo na cscolha de processes alternafivos menos perigosos.
fi interessante notar que muitas vezes a adogao de um processo, utilizando
niateriais menos perigosos do ponto de vista incendio, pode acarretar a meIhoria do rendimento ecooomico final do prccesso, quando. a primeira vista, a sua utilizagao pode parecer menos economica. Esta e uma observagao rouito importante pois salienta a necessidade da cooperagao da engenharia de seguranga ate mesmo na escolha do processo industrial. Medidas rela tives a protegao operacional com o obletivQ de limitar os danos, se faz do mesmo mode, mas introduzindo-sc Um novo concetto que e o conceito de incendio que sera objeto de uma da.<5 nossas proximas palestras.
Como vimos, os elementos basicos ^ssenciais para a cclosao e a manutcnQao de um incendio, sao a concorrencia dos tres elementos ja mencionados.
—videntemente, a existencia de quantidude maior ou menor de material com'^ustivel por unidade de area fara
^otn que o incendio, uma vez iniciado, tenha maior ou menor ducagao e oca-
®'one maior ou menor elevagao de temPeratura. Para se poder avaliar coin
t^lativa seguranga a extensao e a intensidade de um incendio. bastara sa'^tmos: primeiro, a quantidade de ma'*^rial combustivel, seu poder calorifico. e a quantidade de calor que dele desprendera quando entrar em coniustao; segundo, a velocidadc com que processa a combustao desse material estado e na forma em que se en-
"-^ntra. Uma vez conhecidos esses
t^^^mentos e possivel determinar-se o
'^mpo de duragao e a intensidade pro- ^veis de um incendio nessa area.
^sse modo, c com esses dados, pode o
^"9enheiro de seguranga em colabotfgao com os responsaveis pelos esta-
beledmentos procurar solugoes e adotar medidas que visem reduzir o que acabamos de mencionar como carga-incendio, tornando deste modo menores OS danos provaveis, nao so aos materials c aos equipamentos, como tambem ao proprio recinto onde se encontra instalado 0 processo de produgao. Para finalizar esta nossa primeira conversa, resumiremos o que acabamos de ver, exibindo uma serie de fotografias e alguns exemplos praticos relatives a necessidade de um estudo completo, dc.sde a fase de projeto, conforme preconizamos acima.
Com rclagao a necessidade de expcrimentagao, foram apresentadas foto grafias relativas a diversos ensaios de materiais. realizados em estabelecimentos especializados. Foram apresenta das, da mesma maneira, fotografias e desenhos relatives a incendios de grante porte e, analisando o comportamento dos materiais. bem como estudada a maneira de propagagao e extensao desses incendios. Finalmente. foram apresentadas fotografias obtidas em laboratories especializados, de experiencias realizadas com diversos tlpos de misturas inflamaveis em diversas condigoes, utilizando-se maquinas cspeciais destinadas a observagao. em fragoes infimas de tempo, das con digoes em que se processa uma com bustao e a sua transformagao em cxplosao, face as condigoes da expericncia. Nao nos seria possivel reproduzir, na Revista do I.R.B., as foto grafias. diagramas e desenhos apcesentados, muitos dos quais protegidos pop direitos autorais.
CConffnua)
O novo piano de resseguro incendio
Ceiio Olimpio Nascentes
C/ie/e da Dioisao Incendio c £ucro4 Cessantes, do LR.B.
— Razoes tecnicas e administrativas de sua implantacao
I — Razoes tecnicas
O resseguro elassico de excedente de responsabilidade 'fto-jnesmo risco isolado. por se bascar na distribuigao proporcjonal das respcnsabilidades entre segurador e ressegurador t aquele que melbor atende aos interesses das duas partes.
O segurador transferindo o excesso de sua retengao para o ressegurador, na mesma base da taxa cobrada do segurado, transfere igualmente para aquele, parte da responsabilidade a.ssumida para com o segurado,
O excedente de responsabilidade e normalmente determinado em fun?ao do conceito basico de risco isolado.
JSto e. bens moveis e imoveis suscetiveis de serem destruidos por uin mesrao incendio,
Baseando-se o conceito de n^co iso lado na maior ou menor probabilldade da extensao do sinistro, a sua delermina?ao cinge-se a regras estabelecidas com base na experiencia observada em sinistros anteriores.
A rigor, somente o fator distancia pode ser considerado como elemento
fundamental para uma perfeita separacao dos riscos.
Assim mesmo nao e qualquer distan cia que separa efetivamente os riscos.
A natureza da constru^ao dos predios, bem como dos fespectivos conteudos_ influi consideravelmente para a dosagem da distancia que podera impedir a propaga^ao do incendio.
Alem destes dois fatores — constru^ao e ocupa^ao dos riscos — ainda temos a considerar a proteqao contra a possibilidade de eclosao de ir.cendios. meios de combate-Ios uma vez iniciados, condi?6es atniosfericas e outras condi^oes proprias de cada risco ou conj'unto de riscos.
Dependendo. portanto, a exata determina^ao do risco isolado. mesmo por distancia. de tantos fatores; muito dificil se torna assegurar «a prioria se o incendio uma vez declarado vai se limitar ao risco delimitado com base em cnterios em que a subjetividade do julgamento prepondera.
Se a separa^ao por distancia ja constitui urn problema que desafia a
experiencia e a capacidade tecnica do segurador ou ressegurador, a separa?ao por paredes e portas corta fogo agrava ainda mais esse problema, cuja soluqao, por mais estudada, sera semPre uma solugao teorica e aparentemente aceitavel.
A experiencia tern demonstrado que t'scos identicos, separados por distancia ou por paredes e portas corta fo90. coiiforme as circunstancias do niomento, desfavoraveis ou favoraveis (ventos, transito. etc.) sao ou nao atingidos peio mesmo evento.

O segurador que desejasse cercar 3s suas operacoes do maximo de prudencia. nao poderia deixar de adotar conceitos rigidos para a determina^ao de suas reten^oes, em todos os riscos ^ssumidos.
Essa rigidez do conceito de risco 'Solado teria que, for^osamente. levar o segurador ao extreme de considerar diversos riscos teoricamente isolados, eomo sujeitos as consequencias de urn •^esmo sinistro.
Desta forma, para atingir o objetivo ^isado, teria que estabelecer controles ^Specials para a apuraqao das rcsponsabilidades assumidas nao so em cada risco teoricamente isolado. como tam^em nos que Ihe [ossem uizinhos.
Como nem scmpre os elementos disPoniveis sao suficientes para o conhe*^'inento exato das caracteristicas dos
riscos assumidos, em alguns casos seria adotado um criterio por demais otimista e em outros per demais pessimista.
A impossibilidade pratica de manutengao de um criterio uniforme para a dosagem da retengao em todos os ris cos em carteira, deixaria o segurador sujeito as leis do acaso e a maior ou mcnor incidencia de sinistros nos ris cos classificados com otimismo detcrminaria o mau ou bom resultado tecnico de suas opera?oes.
O case inverso, isto e. do segurador que nao adotasse conceitos rigidos pa ra a determinagao de suas retenpoes, porem inantivesse raroavel uniformldade na conccitua?ao dos riscos iso lados, face OS elementos disponivei.s. teria maiores probabilidades de equilibrio nos resultados tecnicos de suas opera^oes, porquanto ficaria sujeito somente a maior ou menor incidencia de sinistros na sua carteira.
Como se verifica, o resseguro de ex cedente de responsabilidade no ramo incendio nao resguarda o segurador e ressegurador contra prejuizos de valor superior ao estipulado para as diversns classes de risco. pelo simples fate dos conceitos basicos para a divisao em riscos isolados apoiarera-sc. em sua maior parte, em aspectos e condi?6es em que o julgamento subjetivo prevalece.
2 — Razoes administiatwas
Para a determina<;Io do excesso a ressegurar em um mesmo risco isolado e indispensavel ao segurador e resseguiador totalizar as responoabilidades assumidas no mesmo risco.
Para isso nao pode prescindir de controles por meio.de fichas de risco ou de bloco onde sao registradas todas as responsabilidades assumidas. bem como todas as altera?6es sofridas pelos elementos basicos do seguro.
Grande e o numero de casos em que no mesmo risco isolado nao e assu^'da mais de uma responsabilidade e quando assumida mais de uma, 0 yaloj: total nao atinge o limite de
^adoT" ou ressegu-
Desta forma e evidence que quando isso acontece todo o trabalho preparatono para apurar o excesso de responsabihdade no risco isolado fica per dido.
a cargo de um so sociedade a perda de trabalho e tempo somente a ela atinge.
No caso de cosseguro. porem. todas as soc.edades participantes do seguro serao atingidas em maior ou menor es- • cala. conforme a percentagem de partic.pasao e limites de reten^ao de cada uma.
O incremento da distribui^ao dos negocios em cosseguro, ocorrido nos ilitimos anos no pais ,e a reduzida per centagem de participa<;ao de grande numero de cosseguradoras, determina-
da pela necessidade de atender as. normas de reciprocidade na cessao de negocios, fez com que elevado nume ro de sociedades participasse em gran de numero de risco;> com diminutas percentagens de participa^ao, aumentando, em conseqiiencia, de forma extraordinaria a perda de trabalho e tempo do mercado segurador brasileiro com anota^oes e registros sem finalidades praticas.
O I.R.B. como ressegurador unico do mercado brasileiro, adotando igualmente o piano de excedente de responsabilidade para a retrocessao dos seus excesses de retengao ficava, por sua vez, obrigado, tambem, a efetuar controles para a determina^ao do total ressegurado pelas diversas socie dades em cada risco isolado.
Todo trabalho efetuado pelas so ciedades para a pulveriza^ao das res ponsabilidades e apuragao dos seus excesses de retengao era feito de for ma inversa pelo I.R.B. para apurar o total ressegurado no risco e retroceder o excesso de sua retengao.
O aumento constante do numero de riscos segurados, a dificuldade em conseguir pessoal especializado para a cxecu^ao dos controles e estudos indispensaveis a confecgao do resseguro c o aumento das despesas administrativas com pessoal e material, aconseIhavam a adogao de um piano de res seguro incendio que contornasse essas dificuldades, bastante onerosas para o mercado segurador e para o I.R.B,
{C'-'ntinua)
Introdugao do seguro de valor de novo na Suiga
Wiliy KoenigPtofessoc da Universidade de Berna
Apartir de 1.° de junho de 1958, as companhias de seguros que opetam na Sui^a, ampliaram, notavelmente, seus services, com a.introdu^ao do seguro de valor de novo. Esta extensao de garantia, aplica-se aos se guros de fogo e aos seguros de roubg e danos causados pela agua, quer combinada com o seguro de fogo ou estipulada em apolice cspecifica. No campo dos seguros de danos. esta inovai;ao constitui materia interessanle, seja pela sua importancia economica. scja em rela^ao aos problemas juridicos que Ihe sao ligados. Portanto, tratatemos, inicialmente. da evolu?ao do se guro de valor de novo, na Sui^a, especiaimente, em rela^ao a sua posi^ao juridica inicial e, sucessivamente. a sua cstruturaqao, com base nas novas condiqoes de seguro.

A sua fixa?ao e, de mode geral, objelo de convengao entre as partce contratantes. •
A prestagao assecuratoria nao e. de forma alguma. um simples ressarcimento do dano, nos termos do direito das obriga?oes.
Em base ao seu fundamento juridico, ela nao e a consequenda do inadimplemento de obriga^oes, nao possui natureza secundaria, mas e o conteudo primario do contrato de seguros para esse fim destinado.
Tambem o «quantum» da presta^ao assecuratoria nao se avalia, portanto, com base nas normas do direito das obdgaqoes relativas ao ressarcimento dos danos. Sao as condigdes contratuais que o deteiminam, embora integradas e influenciadas pelas disposigoes legais sobre o contrato de seguros.
Quando se fala de seguro, para a cobertura de valor de novo, contrapoese esse seguro ao seguro de danos, trndicional, que indeniza somente o Valor no momento do sinistro. Tratase, portanto, de um problema de valor da indeniza?ao paga pelo segurador.
Desta base se deve partir, tambem, para os seguros contra os danos. Todavia, surge logo o problema de se indagar se neste ultimo, o objeto do seguro desenvolve, ou nao, qualquer fun?ao. isto e, em substanda, o evento
danoso. No seguro contra os danos pode convencionar-se, em harmonia a sua fun?ao economica. de ressarcir ac segurado, somente a perda decorrenCe da destruigao, danificagao ou desaparecimento das coisas seguradas. A prestagao do- segurador encontra, conseguintemente, o seu limite maximo no valor das coisas seguradas, isto e. no scu valor real.
No caso de sinistro. este chamado valor de ressarcimento reprcsenta o raaximo da presta?ao "assecuratoria. Dcsta forma, ficam restringidas. tambem, as possibilidades das convengoes contratuais. Pode ser, perfeitameiite. convencionado como prestagao assecuratona. uma indenizagao inferior ao valor real — como ocorre no caso de participagao do segurado ou fixagao de uma franquia deduzive] embora nao seja possivel fixar uma indenizagao maior.

Em conformidade com a sua natureza, realmente o seguro contra os da nos pode ressarcir ao maximo o valor total das coisas seguradas. Disto resulta que a fixagao da prestagao asseucratoria. mediante esfabelecimento de uma importSncia segurada, encontra. no se- • guro contra os danos, o seu limite no valor de ressarcimento das coisas se guradas. A livre estipulagao do valor segurado, como e praticada no seguro de pessoas, nao pode ser praticada no seguro contra os danos.
fistes principios serviram de inspiraCao, tambem, ao legislador suigo.
Assim, ele nao proibiu que se estipur lasse uma importancia segurada. supe rior ao valor real. Nem o seguro insuficiente foi declarado nulo. Mas. no caso de sinistro. o ressarcimento do segurador fica Jimitado ao dano sofrido, ainda que o segurado tenha pago o premio para uma importancia segurada niais elevada.
Se o excesso da importancia segu rada resultar de uma diminuigao do valor das coisas seguradas ocorrida durante a vigencia do seguro, tanto o segurador como o segurado. podem pedir a redugao proportional da impor tancia segurada.
Somente quando o excesso dessa im portancia tivcr sido declarado pelo se gurado. com intengao fraudulenta. o segurador nao fica mais vinculado ao contrato (arts. 50 e 51 VVG). Identica e a disciplina para a duplicidade de seguro (arts. 53 e 71 VVG).
Foi, ainda, estabelecido que o valor de ressarcimento sera deterrainado no memento em que ocorrer o evento temido (art. 62 VVG). Todavia. esta norma gera! nao resolve o problema do valor das coisas seguradas, isto e, ate que ponto pode chegar a prestagao ressarcitiva do segurador.
£ste ponto importante foi discipliiiado por uma norma especial para o seguro incendio c, exatamcnte, pelo nrt. 63 VVG. Alem disso, foram consideradas. distintamente, duas categor)2s de coisas; de um lado as merca-
dorias, como coisas destinadas a compra e venda, e do outro os objetos de use.
No que diz rcspeito as mercadorias. a lei prescreve que o seu valor sera fixado pelo prego do mercado (art. 63, n.'^' 1 VVG). file corresponde ao valor venal, ou ao «vaIor comum» da coisa, que correspondera ao valor de compra de uma mercadoria da mesma especie. Com o ressarcimento do prego do mer cado o segurado recebe, portanto. a importancia de que necessita se quiser comprar, novamente, as mercadorias perdidas.
Os mesmos principios sac aplicados aos produtos naturais; tambem, neste caso. com o ressarcimento do prego do mercado. o segurado recebe uma im portancia que Ihe permite abasteccr-se. novamente, dos produtos destruidos pelo fogo.
Fica evidenciado que nao se pode falar de seguro de valor de novo para 3s mercadorias e os produtos naturais. file nao se torna neccssario porque com o prego do mercado e paga, ao segu rado. uma indenizagao que Ihe permite a reaquisigao das coisas perdidas.
Para os objetos de uso a situagao e diferente, porquanto o valor venal dos objetos usados e quasc sempre modesto. Em qualquer hipotese ele nao e suHciente para a compra de novos objetos Cm substituigao.
Portanto, de acordo com a lei, deve ser tornado cm consideragao, para tais Coisas, o valor de reaquisigao, obser-
vando-se, todavia, a diminuigao do valor pela idade e uso. Esta disciplina vale em primeiro lugar para os predios, porquanto eles sac classificaveis como coisas destinadas ao uso.
Para eles. o valor de ressarcimento e igual ao valor local de construgao. com a dedugao da diminuigao do valor do predio ocorrida depois da constru gao. Se o predio nao e reconstruido, o valor do ressarcimento nao deve exceder o,valor venal (art. 63, n.'^ 2 VVG).
Sao incluidos nesta categoria os moveis. os objetos usuais. os instrumentos de trabalho e as maquinas, der-de que nao sejam usados pelo segu rado como objetos comerciais. ma.s como objetos de uso.
Neste caso, a lei considera determinante para a indenizagao, a importancia necessaria para sua reaquisigao, tomando. todavia, em justa consideragao na avaliagao do valor de ressarcimento da diminuigao de valor que os objetos tcnham sofrido pelo uso ou outros motivos (art. 63, n." 3 VVG).
Enquanto para as mercadorias e considerado o scu valor venal, a lei, pois, toma cm consideragao para os objetos dc uso, o valor de reaquisigao. Cora isto, considera-se a circuntsancia dc que, com o valor venal, o segurado. dificilmente, poderia obter um objeto a substituir de valor igual. ainda que, aproximadamente.
Todavia, a solu^ao dada pela lei ficou incompleta. A diminui^ao dc valor ocorrida em consequencia do uso, fica a cargo do segurado. A disciplina foi um pouco diferente, soinente porque, enquanto para os predios a diminuiijao foi, expressamente, declarada, para os moveis e os outros objetos de uso comum usou-se a formula elastica, de acordo com a qual a diminuigao de valor «deve see tomada na devida consideragao».
Mas. de forma gera!. a dedugao do valor de reaquisigao flca.,determinada par todos os objetos de uso. Esta dedugao do valor menor deveria impedir um «enriquecimento» do segurado.
Argumentava-se que. em caso dife rente. ele teria melhorado a propria situagao. Se ao segurado fosse pago o valor total da reaquisi^ao, ele teria ficado com um objeto novo. em substituigao ao velho e usado. o que Ihe teria permitido fazer um uso maior oii rnelhor. A dedugao, portanto, era ju.stificada e necessaria.
Todavia, os seguradores tem-se manifcstado. constantemente, contraries a aplica^ao da dedu^ao. files desejam ressarcir o valor de novo. Especialmente, nos casos em que, se niio houvesse o evento danoso, o objeto poderfa ser usado pelo segurado, ainda per muitos anos, talvez para toda a vida: os segurados verificam que. em consequencia da dedu^ao do menor valor, nao Ihes e possivel. com a fnclenizacao recebida, reconstituir a situa^ao anterior.
Desta maneira, eles se encontram em condi?6es piores dos possuidores de mercadorias ou produtos naturals, que,
com o ressarcimento do prego do mer-, cado, podem, imediatamente, comprar a mesma mercadoria.
Contrariamente, o predio destruido, deduzindo-se do valor de construgao a diminui^ao de valor, nao pode ser reconstruido com a indenizagao do scguro.
Tambem, os moveis, as maquinas e semelhantes, desde que tenham sido usados durante alguns anos. de forma geral nao podem ser adquiridos novos com a dedu^ao de sua amortizacao. O segurado, que e obrigado a comprar objetos novos em lugar daqueles usados. verifica, portanto, que a indenizagao que Ihe foi paga pelo segurador, nao e bastante para sua necessidade.
Esta situagao tern produzido, muitas vezes, mal-entendidos e disputas. Tambem, as empresas de seguros, a dedu^ao da amortizagao tern, freqiientemente, produzido efeitos desagradaveis e acarretado dificuldades na liquida^iao dos danos.
Tais experiencias induziram as companhias desse ramo de seguros, que operam na Sulga, a desistir da sua anterior oposi^ao a um ressarcimento superior ao valor no momento do sinistro. Com a aprova^ao do Departamento Federal de Seguros, elas acabam de rever suas condigoes gerais de seguro e decidiram introduzir o seguro de valor de novo.
Sobre a forma juridica de sua realizagao, exerceu notavei influencia a legislagao suiga: no que diz respeito as disposigoes do art. 63 VVG sobre o valor de ressarcimento no seguro inc^ndio, foi dado carater imperativo. Elas nao podem ser • modificadas per acordo contratual (art. 97 WG).
Portanto, na literatura suiga do direito de seguros foi debatido o problema se, tendo em vista o carater impe rative do art. 63 WG,e permitido, em •geral, convencionar um ressarcimento do valor de novo.

Foi, justaraente, reconhecido que uma extensao do seguro de danos, como a •de valor de novo, e excluida pelo art. 63 VVG. O valor de novo nao e um valor intrinseco da coisa, nao e um valor tCcil. O valor da coisa se limita, sempre, ao seu valor no momento do sinistro.
De outra parte foi afirmado que o ^tt. 63, nao pode e nao quer impedir gue, paraleiamente, ao seguro de danos, scja estipulado um seguro suplementar 'iJtegrativo que, cm caso de sinistro, t^ubra, possivelmente. uma perda patritJonial de valor superior ao ressarci mento do valor real.
Esta opiniao, que, recentemente, ob*®ve na Suiga, crescentes adesoes, foi tobustecida per outros seguros suplementares, que se conheciam desenvol"^'dos, simultaneamente, com os seguros de danos.
Como exemplos, podem ser citados praxe dos seguros de incendio, o ®eguro, que vigora ja ha muitos anos, despesas de remogao e seguro da P^tda dos alugueis; outrossim, o segvxo dos danos da interrupga^o do '^^gocio, que se produzem quando a atividade do negocio do segurado nao Pode ser contiiiuada durante um certo Periodo de tempo.
Alem disso, podem ser segurados, Jttntamcnte, com o seguro incendio iimitado ao valor real, outros danos pa-
trimoniais que o segurado podera so fter cm consequencia do mesmo evento danoso.
O mesmo pode ser dito no seguro dcs danos da agua para a cobertura. agora comum, das despesas de demoligao ou de construgao e para as perdas de alugueis sofridas pelo proprietario do predio.
Finalmente, deve ser lembrada a inclusao, conceiiida no seguro de automovcis. das despesas de direitos alfandegarios que o segurado deve desembolsar no caso dc incendio ou de furto do veiculo.
A despeito da natureza imperativa do art. 63 VVG. ainda hoje, ninguem .. duvida mais da admissibilidade de tais seguros complementares. No inicio deste seculo, nao faltaram vozes que criticavam os «seguros dos lucros» tachando-os dc imorais.
Tambem. em rclagao aos seguros de interrupgao do neg6cio, foram feitas criticas. Afirmava-se que eles produziriam um «enriquecimento» ao segu rado e passariam a constituir um estimulo maior a provocagao de incendios fraiidulcntos. Deve ser admitido que cada seguro comporta o risco de seu abu.so.
Mas a experiencia tem demonstrado que este nao deve ser superestimado. A lei suiga sobre o contrato de seguro autorizou, portanto, expressamente, tambem o seguro de lucres futures (art. 64, n."^ 3 e 4 VVG). Somcnte a avaliagao do valor de ressarcimento foi considcrada invalida pelo art. 65, n." 2 WG,quando o lucro future seja segurado contra os incendios.
- Todos estes seguros, tendo por objeto outros danos patrimoniais que excedem o valor real, devem ser classificados como seguros de patrimonio. files sao. agora, geralniente, considerados como uma particular sub-especie dos seguros contra os danos e contrapostos aos seguros de coisas.
A eles pertencem. seja os seguros de lucros ou proventos cessantes. coirio OS seguros de despesas necessarias e obrigatorias. que oneram o patrimonio do segurado.
Todavia. e de suma importancia que tais seguros complementares nao estcjam abrangidos pela prescrigao especial do art. 63 VVG. sobre o valor de ressarcimento no seguro incendio, porqiianto se rcfere somente ao seguro de coisas.
Com isto. foi lan^ada a base para reconhecer. tambem. o seguro de valor de novo. O Departamento Federal de Seguros, ao qual foram submetidas as condi?6es do seguro e as disposisocs tardarias. antes de sua introdu^ao. conccdeu. portanto, tambem, sua aprova?ao. de mode que o seguro de valor de novo obteve. na Sui„, a aprovagao o/icial.
II
O seguro de valor de novo, conforme vem sendo praticado, a partir da me tade do ano de 1958. pelas empresas que operam na Suiga. representa uma combinacao entrc o seguro de coisas e o seguro de patrimonio. Como seu fundamento permanece o seguro norm-il de incendio, para cobertura do valor
real, em conformidade com o art. 63. VVG (valor no momento do sinistro) , A ele se aduz um seguro integrativo do patrimonio destinado a cobrir a diferenga entre o valor no momento do sinistro e a importancia necessaria a reaquisigao.

Esta soiugao e prevista, claramenfe, nas novas «condigoes gerais para o seguro incendio» (AVB). aprovada.s pelo Departamento de Seguros, Com base nas mesmas. os danos patrimoniais sao. geralmente. cobcrtos somente com especial convengao. Na sua enumeraqao, O art. 4,". n," 1. AVB, indica. juntamente, com o seguro das despesas de remogao, perda de alugueis e danos resultantes da interrupgacr do -negocio. tambem o seguro de valor de novo excedendo o valor no momento do si nistro.
Assim, tambem o art. 16 AVB. que estabelece os criterios deterininantes para o calculo da indenizagao no se guro de despesas ou custos, incluiu neste case o seguro de valor de novo.
Com isto. as AVB consideraram a cobertura do valor de novo sem qualquer possibilidadc de engano, como um seguro complementar e integrativo do seguro das coisas.
Analogamente, ocorre em relagao aos formularios de proposta. Bles preveem a separagao entre o seguro sobre o valor, no momento do sinistro, e o que se refere ao valor de novo. com a especificagao das importancias seguradas de forma separada.
Isto oferece a vantagem de permitir ao .segurado, reconhecer a cobertura de valor de novo como seguro comple-
mentar, no ato da conclusao do contrato. Alem disso ele pode. em lal forma, decidir. livremente. se deseia somente um seguro incendio limitado ao valor no momento do sinistro. ou tambem um seguro de valor de novo. Nesta ultima hipotese. ele deve fixcU' Uma importancia scgurada suplemcntar.
h delimitagao fundamental do se guro de valor de novo acha-se no art. 16. n." 3 AVB. De acordo com esse aitigo. o seguro cobre a diferenga entre o valor, no momento do sinistro, e a importancia necessaria a sua re aquisigao ou reconstrugao. A adigao do valor de novo constitui, portanto, Um seguro de patrimonio. juridicamence. distinto do seguro de coisas. mas. «per dcfinitionem», ele cobre uma importan cia diferencial. isto e, a diferenga ent>-e
0 valor no momento do sinistro e o Valor de novo. que e complementar :io -eguro do valor, no momento do si nistro.
O limitc entre os dels seguros se desioca assim. continuamente, mcsmo durante a vigencia do contrato, porque. enquanto com o aumento da idade dos objetos segurados o seu valor no moniento do sinistro diminui, de outra Parte a diferenga com o valor de novo aumenta em proporgao correspondente.
O que acabamos de expor, e importante para atender a pergunta, quando Crn caso de sinistro se deve proceder 3 uma redugao da indenizagao por insuficiencia do seguro. As condigoes do seguro nao dao a esse respeito qualquer resposta explicita. Bias se limitam a leproduzir a norms geral, de acordo com a qual, em caso de insuficiencia.
se deve proceder a uma redugao da indenizagao com base na regra proporcion.al (art, 17. AVB).
Mas, visto que o seguro complemen tar de valor de novo refere-se a uma importancia diferencial, deve ser tomada em consideragao esta circunstancia em caso de sinistro. As disposigoes .sobre a redugao da indenizagao, podcm ser, conseguintcmente, aplicadas so mente quando as importancias scgiiradas. conjuntnmcnte, para o valor no momento do sinistro e o aumento do valor de novo, sejam inferiores ao valor de novo.
Se a sua soma for suficiente, um.i redugao da prcstagao assecuratoria scr:a injustificada e nao entendida pelo se gurado ,
De outra forma ocorreria. quando a coisa segurada pelo valor de no\-o tenha alcangado no transcurso da vi gencia do contrato, por exemplo, cm seguida a aquisigoes de objetos novos, um valor superior as importancias (ixadas. conjuntamente, no momento da conclusao do contrato para o valor no momento do sinistro e o valor de novo acrescentado; nesse caso, e justificada uma redugao da indenizagao com base na regra proporcional.
Por prindpio, o seguro de valor dc novo deve ser tornado em consideragao para todos os objetos destinados ao use, seja que se trate de bens moveis ou de predios.
Todavia, foi fcita uma distingao digna de nota. No seguro de moveis. objetos de use, instrumentos de trabalho e maquinas. a diferenga com o valor de novo e paga ainda que nao tenha havido nenhuma compra de objetos novos.
Para os predios, entretanto, a indeniza^ao do valor de novo e realizada somente se os predios forem reconstruidos dentro de dois anos no mesmo lugar e nas mesmas proporgoes; em caso contrario. e ressarcido somente o valor no momento do sinistro (clausula de reconstrugao).
Esta limitagao foi adotada pelas mesmas consideragoes que induziram o legislador a conceder o ressarcimento do valor de construgao dos predios, somente em caso de reconstrugao, enquanto no caso de nao ter havido re construgao. a indenizagao e igual ao valor venal (art. 63. n° 2 WG)
Tambem o ressarcimento do valor de novo e realizado para os predios so mente quando a reconstrugao tenha sido. realmente. efetuada. A solugao do probicma, quando e possivel falar de uma reconstrugao «no mesmo lugar» e «nas mesmas proporg6es», deve ser procurada em base aos principios desenvolvidos na praxe ate agora observada.
De acordo com as condigoes de ieguro suigas, a obrigagao de ressarcir 0 valor de novo nao vigora para as coxsas que nao sao mais utilizadas. Para tais coisas fora de uso. que podem ser. ainda. conservadas cm algum lugar (per exempio, nos poroes ou adegas), mas que nao sao mais utilizadas, a falta dc ressarcimento do valor de novo e ju.stificada e mesmo para o segurado ela nao representa ncnhum rigor; neste caso. deve ser aceito o ressarcimento do valor no momento do sinistro.
No quadro das condigSes gerais, a concessao do seguro complementar de valor de novo fica. obviamente, reser-
vada, caso per caso, ao juizo das com-, panhias de seguros. Elas nao aceitarao riscos desfavoraveis, isto e, bens imoveis e OS predios que estejam em mau estado e pertengam a negocios que se encontrem em mas condigoes financeiras.
Tambem, os veiculos a motor de qualquer especie. incluidos os aquaticos e aereos, modelos, amostras e formas sao excluidos da cobertura dc valor de novo.
Finalmente, foi fixado um ulterior limite de grande significagao pratica, estabelecendo-se que o seguro comple mentar de valor de novo deve ser permitido somente ate 50% do valor segu rado no momento do sinistro.
Se 0 objeto segurado tiver sido, completamente. destruido, a indenizagao corresponde a importancia total necessaria para a compra de um novo objeto ou para a reconstrugao (nos prediosj. Determinante, e. ainda, o momento da ocorrencia do sinistro, e nao aquele em que ocorrer a nova compra, ou, respectivamentc, do termino da reconstrugao.
Em conseqiiencia. deve ser comprovado o prego de compra dos objetos da mesma especie e da mesma qualioade. Se tais objetos nao estivere/n mais a venda no mercado, entao. se devera partir do prego daqueles objetos q"c, em base a sua especie, mais se aproximem do objeto destruido: alem disso, se deve ter em conta as diferengas e construgao, efeito litil ou estado dos materials.
Em caso de dano parcial, que pode ser eliminado com um conserto, o se gurado nao pode. obviamente, pretender a integral indenizagao do valor de novo. De acordo com as condigoes
gerais, neste caso serao, somente ressarcidas as despesas de conserto. Frequentemente, o conserto produz um aumento de valor.
O segurador do valor, no momento do sinistro, deve deduzir esta valorizagao das despesas dc conserto. No caso de cobertura do valor de novo. esta dedugao, entretanto, nao sera feita, isto e, as despesas de conserto sao reembolsadas, integralmente. Se. a despeito do conserto, ocorrer uma diminul5ao de valor, neste caso. alem das des pesas de conserto, sera ressarcida, tam bem, a diminuigao do valor.
O seguro de valor de novo garante, portanto, ao segurado, tambem. no caso dc coisas velhas e utilizadas duranCe muito tempo, a obtengao, em caso dc sinistro, com a indenizagao do seguro de uma coisa nova da mesma especie, Ou o conserto dos danos sofridos. Nao pode ser feita qualquer dedugao, em conseqiiencia de uma diminuigao do Valor ocorrida ou pcla idade do objeto (novo por velho), ou per seu uso, cu por outros motives.
Isto facilita, no ato da conclusao do contrato, a fixagao da importancia cegurada, porquanto o prego de reposigao dos objetos a serem segurados, pode ser acordado quase sempre sem grandcs djficuldades.
Mas, com o seguro de valor de novo, bca simplificada, tambem, a liquidagao dos danos. O calculo das depreciagoes por uso, muitas vezes ligado a complicadas combinagoes, e as controversias que dele decorrcm em relaglo a respectiva quota de amortizagao. ficam eliminados.
Tais simplificagoes sao agradaveis para os segurados c para as companhias. Elas poderiam ser usadas para promover o desenvolvimento dos diversos lamos dos seguros de coisas.
Resta verificar qual a influencia que excrcera a inovagao, no andamento dos sinistros. Tendo-se em conta a mentalidade seria e sa do povo sulgo, as empresas esperam que os abuses fiquem contidos em limites modestos. Todavia, um certo aumento do risco subjetivo parece evidente.
file, pbrem, foi ponderado, no sentido de que na cobertura de valor de novo a tarifa de premios, para os bens moveis (equipamentos, objetos domesticos, maquinas, etc.) e para os predios. " e, levemente. aumentada. O aumento e graduado de acordo com o volume do premio base.
Para todas as tarifas de premios ate 0,70 por mil, o aumento e dc 0.05 por mil: para tarifas superiores e de 0,10 por mil. No que diz respeito, em par ticular, aos riscos industriais, a graduagao e feita de forma decrescente.
Finalmente, a introdugao do valor dc novo pode ser saudada de qualquer modo, como uma inovagao ousada, mas bcm meditada, que atende a uma cxigeucia economica. devidamente. solicitada pelos segurados. Com a conces sao da protegao assecuratoria ate ao valor de novo, os seguradores privados dcsenvolvem. portanto, uma fungao importante. apreciada. inclusive, pela economia nacional.
(Traduzido, por Luiz Viola, da Revista «Assicurazionis — Maio/Agosto de 1958).

129
Prote^ao e prevencao
Prtoios a abnegacao
AO ha duvida que a atividade seguradora e das mais simpaticas a sociedade quando exerce a finalidade de reparac danos conseqiientes n sinistros, Todavia, essa atividade. nos dias que correm, vem seiido ampliada consideravelmente. para abranger uni ainda talvez mais importante aspecio social: o da prevencao c protegao dc acidentcs.
Nao pretendemos. nesta oportiinidade, discorrer sobre o conceito, o ob;cto e finalidades da prevengao. Alias, segundo os tecnicos, a mera preven cao de incendio ja evoluiu para a engenharia de protecao {ver, p. ex,, o artigo da Revista do I.R,B. n'^ IH intitulado: «0 Setor de Engenharia de Seguianca no I.R.B.»), Sobre o assunto o leitor podera encontrar em outros numeros desta Revista varies artigos (Rev. 85, 110, 111 e outras).
Para ilustrar ate que ponto. era ou tros paises, a materia e merecedora da maior atencao, basta citar o fato de que ate mesmo concursos de apareihos de incendio sao promovidos por organismos especializados com a ajuda de
em segurosWaldemar Leite de Rezende
Te^nico do I.R.B. entidades direta ou indiretamente interessadas na preservagao de bens c vidas, como e o caso daquele de que nos di noticia a Revista L'Assurance Francaise, de junho do corrente ano, isto e, de que o Centre National de Prevention et de Protection (C. N, P. P.), de Franca, realiza com a colaboragao de diveisos orgaos ou enti dades, tais como: Ministerios, Corpos de Bombeiros, Sociedades de Seguros. Federacoes de Sindicatos Agricolas, de Automobilistas e de Petroleo. etc.
No Brasil. cuidados especiais vem sendo dispcnsados a esse campo de atividade. tao social quanto humana. Existe mesmo um orgao especializado: a Comissao Permanente de Prevencao e Prote^ao contra Incendios, integrada por representantes das Confederacoes da Industria e do Comercio, Corpo de Bombeiros. Associacao Brasileira de Normas Tecnicas. Instituto de Resseguros do Brasil e seguradoras.
O que nos leva, porem. a fazer estas ligeirissimas consideracoes e, me-
nos OS aspectos citados, do que outro, de grande importancia tambem, e que se prende mais a atos isolados do individuo do que ao grupo social mas 9ue, nem por isso, merece menos aten?ao. Para fins de propaganda da instituicao do seguro. entretanto, acrcditamos scr tao relevante quanto outros ineios.
Trata-se da concessao de premios a pessoas que, em situacoes de perigo, realizara atos de solidarledade huma na. que. muitas vezes. sao classificados de atos de heroismo.
Exemplo que mereceu registro es pecial. entrc nos. foi aquele a que se refere a Revista do I.R.B. n*" 85 (junho de 1954) consistente na outorga, por parte de seguradoras e ressegurador, de consideravel premio em dinheiro e outras vantagens, a um digno brasileiro, entao Cabo do Exercito, servindo na 9' Regiao Militar, Cm Campo Grande, envolvido em serio desastre de aviacao. O aparelho, de que tambem era passageiro o heroi de 20 anos, quando tentava pousar. sob violento temporal, caiu na mata vizinha do aeroporto. Gracas a bravura e desprendimento do militar, inumeras vidas foram salvas, inclusive o Coraandante da acronave e duas criancas, enquanto o aviao era consumido pelas chamas.

Gestos como esse. — felizmente. dessa vez, em parte recompensado, nao somente moral mas tambem materialjnente, — e que devem, mesmo quan do de valor muito mais insignificante e de menor alcance. provocar, sistematicamente, atos de reconhecimento por parte das seguradoras. a exem plo do que vem sendo feito alhures, como testcmunha o artigo, sob o titulo «Los Premios Substanciales a la Abnegaci6n», publicada pela revista argentina «Franco-Vida» e transcrito em «Seguros y Fianzass (Havana) ntimero 45, de marco de 1959, artigo que passamos a traduzir; cDesde tempos imemoriais, a humanidade vem prestando culto aqueles que, por esta ou aquela razao. e em suas mais diversas formes, realizam atos de sacrificio nos altares do pro ximo, posto em pcrigo. O instinto de conscrvacao da especie tern, nesses gestos altruisticos, uma de suas mais perfeitas definicoes.
Infelizmente, entretanto, muitos desses benfeitores, humildes uns, ilustres outros, nunca scntiram em sua vida o sabor inefavel do agradecimento. Ja representado pelo espontanco reconhecimento de seus coetaneos. ja expressado sob a forma de qualquer simbolo material ou de carater economico.
Para remedial, na medida do possivel, essa penosa circunstancia, ha no mundo diversas associa^oes que tratam de suprir, por meios mais ou menos modestos, mas de positive e alto valor social, essas omissoes, em que a coletividade incorre freqiientemente.
"Tal por exemplo, o cCentro Nacional de Preven^ao e Protegao (C.N.P.P.), de Franqa, instituto a que nao sao alhcios OS profissionais do Seguro.
fiste ano, o referidq^ centro concedeu, aiem de medaJhas e outras pro ves de reconhecimento publico, as seguintes substanciais recompensas por atos de heroismo, abnegaqSo e civilidade:
O Premio de Seguros (50.000 fran cos) a urn operario ferroviario e chefe-substituto de um Corpo de Bombeiros Distrital. por haver conseguido evitar, gramas a pericia e arrojo pessoais sem se preocupar com o perigo a que sua a^ao o expunha, que as chamas de um vagao de carga incendiado se propagassem a outtos que continham depositos de propano e combustiveis.
Duas apolices gratuitas de piano dotal, de 100.000 francos de capital cada uma, a um menino e uma menina de onze e treze anos de idade, respectivainente, os quais com uma seriedade e decisao incomuns a sua condiqao infantil, e conquanto nao houvesse nenhum adulto no iugar do acontecimento, extinguiram um foco de incendio
provocado pela descarga de um raio. Caso nao fossem prontamente sufocadas as chamas, estas se teriam propagado imediatamente a um quadro de distribuiqao de corrente eletrica, que, nao obstante ser de baixa tensao, cstava ligado a tres fases de 220volts.
Cinqiienta mil francos a um afixador de cartazes, que, reagindo com grande rapidez ao observar que um caminhao sem freios descia velozmcnte uma ladeira, subiu ao seu carro e manobrou de tal forma que logrou dete-lo fazendo-o colidir com seu proprio veiculo. Se essa intervengao nao ocorrera, o caminhao desgovernado teria irrompido por uma via de pedestrcs, exatamente em hora em que o movimento era dos mais intensos.
Cinquenta mil francos a um ferro viario que, recreando-se as margens do Sevre, no Loire do Atlantico percebeu que sua cachorrinha queria atrailo ate a beira dcsse importante curso fluvial. Seguindo o animal, pode vec que o corpo de um menino flutuava na superficie das aguas. Lanqou-se, de imediato, ao rio, conseguiu salvar o naufrago e, uma vez transportado a terra, reanimou-o e Ihe devolveu a vida, mercc de movimentos recomendados para efetuar a respiraqao artifi cial.
Um dos presentes a ceriinonia de entrega desses louvaveis premios manifestou o pensamento de «que o pa-
133
pel das Companhias de Seguros nao devia consistir iinicamente em pagar indenizagoes, mas tambcm em propaflar e ajudar as companhias de prevenqao que permitem reduzir as perdas de vidas humanas e de bens».
O fato de que no citado ato figutasse um Premio de Seguros diz elo9hentemente da maneira como as eniPresas seguradoras entendem qual deser sua missao nesse setor.
E a circunstancia de que a maioria das associagoes dedicadas a preven^ao
® 3 proteqao de acidentes de toda esPecie tenham surgido da iniciativa pri^ada (ainda que, mais tarde, as techamado a si n poder publico)
Ptova que o segurador tern sido semmuito sensivel a essa ciasse de Problemas.
Como um tratadista o definiu, o ristecnico e um risco cuja extensao de perigo tern sido reduzida ao maxipor meio de sistemas e instrumen'os preventives adequados.
Naturalmente, um esforqo assim, ^^nca sera altamente proveitoso se, ® par da agao que as companhias emPreendem, nao houver correlata parlicipa^ao dos segurados.
^ai a importancia que organismos
^Omo o mencionado tem para levar
®vante essa utilissima e filantiopica
^srefa. A publicidade que concedem
® todas as suas manifestagoes, assim
*^Omo OS conselhos que, atraves da
imprensa, cartazes murais. radio, TV",tribunas de cooferencias e congressos,ou reunibes. sao difundidos continua-mente, terminam por orientar a influir" as pessoas, adextrando-as e educan-do-as nos mistercs de ajudar-se a si' mesmas e aos demais.
Ha. ainda, muito que fazer, e certo, quanto a alguns aspectos da vida citadina, particularmente os que concernem a disciplina do trafego nas ruas. Essa afirmagao, contudo, em lugar de separar-nos do assunto, nos identifica ainda mais com o criterio indicado.
Materialmente considerados, lembrando o valor aquisitivo que atualmente tem as moedas. 50.000 fran cos nao representam muito. Espiritualmente interpretados, porem, repre sentam um valor apreciavel, ja que ca da um dos centavos dessa importan cia tem nele impressa a marca de uma dor poupada, de uma vida salva ou de uma destruigao evitada.
Para aquelc que os recebe, significa 0 recolhimento de uma atitude de indiscutivel altruismo. Para aquele que 0 contempla, um conv.te a tornar-se meritorio. E, em todos os casos, um exemplo palpavel daquilo que a humanidadc pode fazer constantemcnte. contribuindo. sem maiores complicag5es, para o bcm-estar coletivo».
Parece-nos que tais exemplos merecem atengoes mais detidas da parte dos seguradores brasileiros.

Os campos da administragao cientifica
Hermtnio Augusio Faria
«0s habitantes de um pals civilizado se tornam duas vezes mais ricos, quando chegam a dobrar sua produ^ao. porque eies tern entao, cada um, em media, duas ve zes mais, coisas liteis ou agradaveis para coiisumir».
Taylor
iNTRODUgAO
Remonta aos primordios da e.xistencia da humanidade neste nosso planeta, o interesse do homem no sentido de idear e desenvolver gradualmente melhores utilidades e maquinas. bem como processes mais perfeitos no sentido de conseguir que seu esforqo tenha maior eficacia com menor dispendio de energia.
Assim, desde os tempos da Idade da Pedra, vemos o homem improvisando melhores meios de trabalho. E hoje, apesar de dispormos de maquinaria de grande qualidade, a ideia de que a aqao do operario pudesse ser substituida pela maquina, nao psssou de fantasia de certos inventores .Alein do mais, a mao do homem se faz sentir e se faz mesmo necessaria e imprescindivcl na sua construgao e utiliza^So. Neste nosso seculo. se bem que seja licito reconhecer o incomensuravel valor dos servi^os prestados
Assessor Tecnico do Gabinete de Estudos e Pcsquisas, do I.R.B. peJas maquinas. nao se pode esperar que elas fagam sozinhas o trabalho todo, sendo mesmo verdade que, ape sar de todo o aperfeigoamento das maquinas modernas, e onde o equipamento parece ser o determinante unico da produgao, -as. condigoes de bom rendimento resultam da conduta dos empregados. Alem disso, milhoes de pessoas espalhadas pelos quatro cantos da Terra, realizam uma grande quantidade de trabalho manual pois sao numerosas as- atribuigoes nos escritorios, laboratories, hospitals, empresas comerciais. industrias manufatureiras de varies tlpos, lavoura. etc., em que o homem utiliza pouco maquinario, ou mesmo nenhum, para realizagao de certas tarefas. Ate mesmo nas industrias mais bem aparelhadas, com maquinas super-modernas, ainda al encontramos o trabalho manual exercendo uma grande parte dos servigos. O elemento pessoal domina, portanto, como objeto de interesse e preocupagao. Ha que compreende-lo bem e orienta-lo devidamente, para conseguir das organizagoes os resultados que elas podem dar.
Sob outro aspecto e, pois, evidentc, que se muita gente realiza per si mcsma um trabalho fisico, e posto que o corpo humane e uma especie de mecanismo muito complicado, tem sido preocupagao constante da humanidade 3 busca de maneiras melhores e mais faceis de executar o trabalho, seja pela descoberta de novas maquinas. seja pela adogao de principios e tec"icas para a preparagao de metodos mais adequados. De tal forma evolu'u m^s ultimos cinqiienta anos, tal ideio. que hoje em dia quase todas as e,ri-presas dispoem de um gnipo de pes soas dedicando-se exclusivamente ao trabalho de pesquisar, estudar c de' senvolver melhores metodos para c ^xecugao dos servigos.
A ADMINISTRAgAO CIENTIFICA
DO TRABALHO
A administragao cientifica do tra'^alho, se prende essencialmente a vida um homem, Frederic Winslow "^sylor. o qual estabeleceu uma serie de principios e regras que aplicados a qualquer atividade humana, tornavam ®5sa atividade mais eficiente, mais Produtiva, sem aumento proporcional esforgo humano, rcalizando, assim, ® finalidade do menor esforgo para o uiaximo de resultado.
No decurso de uma vida laboriosa ® fecunda. as conclusoes das expe'icncias de Taylor, feitas para escla'"ecer problemas resultantes do seu Proprio trabalho, foram tao notaveis.
que o taylorismo como ficou entao conhecido o seu sistema, deu origem ao aparecimento de inumeros discipulos que procuraram conseguir em aperfeigoamentos constantes, a aplicagao das ideias iniciais em campos cada vez mais amplos.
O criador do «scientific managemcnt» nasceu em German-Town (Pensylvania) nos Estados Unidos da America. Aos 14 anos de idade entrou como aprendiz, em uma oficina de fundi^o em Philapelphia, trabaIhando depois numa tabrica de maqui nas de William Sellers S Co., aprendendo os oficios de modelador e de mecanico. Em 1878 entrou como sim ples operario, para a «Midvale Steel Co.» galgando, pelo seu proprlo va lor, OS cargos de contra-mestre, de diretor do escritorio de estudos e de engenheiro chcfe das fabricas. Em 1890 foi nomeado diretor geral da «Manufacturing Investment Co.» donde se desligou em 1893, passando a ser uma especie de Consultor Tecnico, introduzindo as suas ideias sobre organizagao cientifica do trabalho cm varias industrias e expondo-as em trabalhos que foram posteriormente traduzidos em varios idiomas. Seus principals livros foram: «A Piece Rate System^ (1895); «Shop Managements (1903);
c «Principles of Scientific Manage ments (1909). Ainda de sua aiitoria temos: «Notas sobre as correias» (1893) e «The art of cutting metals» (1906).

No livro «PrindpIes of Scientific Manageinent», Taylor expoe as suas ideias de forma simples e com a clare2a e prccisao que so a sua forn-.a^iio profissional coadjuvada com a enorme experiencia adquirida no trabalho e. principalmente, acrescida do desejo ardente. profundo e sincero de apreender e aprender novas iddas e novas mane;ras de ver coisas que ate entao so sc concebia poderem ser vis tas de uma determinada forma.
Para mefhoc consubstanciarmos o que acima dissemos vejamos algumas Iinhas daqueJa obra: «... se um operario americano joga base-ball ou um mgles o cricket, esse operario' emprega todas as suas capacidades c esfoiCos para garantir. ao seu campo ou dub. o maior niimero possivel de ponfos. fisse sentimento geral e tao for te, que um homem que se poupasse, em uma tal emergencia, seria Jogo desclassificado e desprezado por todo.s que o cercassem. Quando, no entanto, esse mesmo operario, sportman correto. voita a fabrica, no dia seguinte, ionge de se esfor?ar por trabalhar da melhor maneira e o mais possivel, procura. as mais das vezes, fazer consdentemente, a menor quantidade de trabalho, que as circunstancias Iho permitirem. Em muitos casos, este trabalho representa. apenas, o tergo ou a metade da tarefa razoavel, para um dia conscientemente ocupado. Assim precede esse operario, porque se se esforgasse, em reaJizar a maior
quantidade de bom trabalho que Ihe fosse possivel, esse mesmo operario seria censurado ou perseguido, por seus companheiros de fabrica, e, mais ainda do que no caso citado acima, no qual se houvesse poupado, no exercic.o de um sport. Semelhante vadiagao, caracterizada pe'a iimitagao ,sistematica da produgao, e mais ou menos geral, em todas as fabricas, .»
«... Ver-se-a, adiante, que se pode chegar a duphcar o rendimento do tra balho de cada homem. e de cada maquina, repelindo e afastando essa vadiagao, sob todas as suas formas, e, regulamentando as relagoes entre patroes e empregados, de tal sorte que cada operarios trabalhe do ihelhor modo e o mais rapidamente possivel, sob indicagoes precisas da diregao e com o apoio das mcsmas. .»
«0 desaparecimento dessa vadiagao, ou protelagao provocaria uma tal diminuigao do prego do custo, que os mercados interiores e extcriores sc alargariam consideravelmente, e, assim desapareceria uma das causas princi pals do paupcrismo. £sse infortiinio seria aliviado de modo mais eficar e menos incompleto, do que pelos remedios, ate agora, contra ele geralmente, ap!icados».
«E desse modo, se poderia garan tir, ao operario. salaries mais elevados, um tempo mais curto de trabalho diario. condigoes melhores para esse trabalho. inclusive, no que se refere a habitagao e ao lar operario. Se e evidente, se e verdade, que a prosperidade nao pode existir senao como um corolario do esforgo consciente de ca-
da trabalhador, para produzir uma ta refa litil diaria, a maior possivel, como compreender que a grande maioria dos homens faga, propositadamente, o contrario c que seja, praticamente imposbivel mesmo a um homem de boa vontade, atingir, diariamente, o seu rendimento maximo ?»
«Ha para isso tres causas princi pals que assim se podem resumir:
l" O erro existente dcsde tempos imemoriais, entre os operarios, de que o aumento de rendimento do trabalho de cada homem ou de cada maquina, tera, como consequencia, fazer despedir Um certo numero de opcjrios:
2" Os sistemas defeituosos de orS^nizaqac, que sao comumente empre gados e que levam, por assim dizer, o trabalhador a vadiar ou protelar o trabalho. para salvaguardar os seus 'mediatos interesses:
3- Os processes e metodos empif'cos .geralmente empregados e em fazao dos quais o esforgo do operario ^ mal utilizado».
Ora, as ligeiras apreciagoes que viuios de fazer sobre Taylor nao pre^cndem esgotar o assunto mas, tao s6uientc, tentar despertar no leitor uma ^^rta cuiiosidade para um nome que se tornou, praticamente, um .siinhok para aqueles que tern esperangas na humanidade face a certeza de que apesar de qualquer aparencia em contra rio, o homem se ira dcscnvoivendo e Progredindo para o bem geral. O.s sequidores de Taylor sao inumeros. Por ^xeraplo: Frank B. Gilbreth, que se especializou no estudo dos movimen-
tos: Carl G. Barth que, matemMico que era, foi um grande auxiliar de Taylor no cakulo das formulas, tragados de abacos, etc.: H. L. Gantt. que se especializou na parte dos sala ries e controle do trabalho; Henri Le Chafelier, grande cicntista frances, que foi 0 divulgador das ideias de Taylor na Franga, etc.

A partir de entao. a administragao como ciencia se cspalhou e progrediu com grande rapidez, sendo de notar que, naturalmente, esse processo foi mais efetivo nos paises adiantados. enquanto que nas nagoes subdcsenvolvidas a adogao da administragao cientifica se faz, ainda hoje, com relativa kntidao, seja pelo fato de dada a pequenez da produgao nao se fazerem. sentir a necessidade de grandes estudos. seja pela mao-de-obra relativamente mais barata. seja. finalmentc. pela falta de desenvolvimento cultural, fator que permite ao individuo reconhecer ou nao a existencia de um problema para poder equaciona-lo e resolve-lo.
As teorias primeiras que surgirani. observando e analisando o trabalho aumentaram com tal intensidade que. ate mesmo as subdivisoes' que geraram ja foram divididas e subdivididas para uma mais profunda percepgao do rendimento do trabalhador. Assim. hoje, quando se fala em Administra gao ocorre-nos: Organizagao e Meto dos; Administragao Geral: Adminis tragao de Pessoal: Administragao Piiblica- Administragao de Empresas Privadas- Administragao Orgamentaria; Administragao de material; Adminis tragao internacional; Administragao bancaria: Administragao da Prcviden-
cia Social; Administragao de Portos e Alfandegas; Administragao de Trans poses; Administragao Escolar; Admi nistragao de Seguros; etc.
Se nos reportarmos apenas a urn dos campos acima referidos, como. por exempio, o da ^Organizagao c Metodos», teremos que extender o estudo aos seguintes topicos: Modalidades de Organizagao; Principios classicos para a analise da estrutura organizaciona); DeJegagao de deveres; P]anejamentb;.Re]at6rios de Execugao: Padroes de pVbdugao; Inspe?ao: Controle da qualidade; Sistemas de sugestoes; Analise da distribuigao do trabalho; Analise dos Processamentos; Desenho e Controle de Formularios: Programagao do TrabalhoDistribuigao do Espago; Estudo dos tempos e movimenfos; manipuiagao de materials; Comunicagoes; Correspondencia: Arquivo; SerWgos de esteno-datilografia; Reprodugao de Documentos; conservagao c manutenCao de Predios: Aparencia do escri torio. oficina ou loja; problemas de ilummagao. ofuscamento e ruido- De coragao e Uso de Cores; Estandardizagao de Suprimentos e Equipamentos de Escritorio; etc. etc
A mesma infinidade de assuntos seria o resultado se nos propusessemos a detalhar qualquer dos outros cam pos a que nos refcrimos antes. Mais ainda. dentro das inumeras subdivisoes que mencionamos para o campo da -rOrganizagao e Metodos» teremos novamente que proceder a novas subdivisoes para urn estudo mais minucioso, mais tecnicamcnte bem feito. Assim. se tivessemos que estudar os
tempos e os movimentos. dcveriamos nos defrontar com topicos tais como; Historia do estudo dos tempos e mo vimentos: Ate que limite e lucrativo, em cada tipo de trabalho o estudo dos tempos e movimentos; Analises de procedimentos e de operagoes: O estudo do micro-movimento; Os dez principios fundamentals da economia dos movimentos; O cquipamento para o estudo dos movimentos e dos micromovimentos; O uso de filmcs; A psicofisiologia do trabalho: Vantagens no estabelecimento dos tempos; o uso de dados e formulas para a determinaCao dos tempos; os instrumentos Je medida dos tempos e seu emprego; Corregao da velocidade de atua?ao .etc., etc.
Ainda na relagao acima novas subdivisoes teriam que ser feitas para ca da um dos assuntos. tal a relevancia com que cada um deles se apresenta no sentido da perfeigao.
Queremos, assim. deixar bem clara a tremcnda responsabilidade que pesa sobre todos os que dirigem ou executam um trabalho no sentido de que, para o bem geral, comecem a se preocupar com o fazer «o melhor possivel» OS seus servigos. E mais ainda. chamamos a atengao para o fato dt que e preciso querer aprender e aceitar o fato de que as complexidades do mundo de hoje nao nos podem permitir ao luxo de nos aventurarmos a azer qualquer coisa somente com u nossa hmitada capacidade e o nosso infmitamente pequeno conhecimento. dado o contraste que se nos afigura entre a extensao tao grande do conhe cimento humano e a nossa impossibilidade de aprender tudo.
Acaba de completar seu 25' aniversario o Tribunal Maritimo. importante orgao auxiliar da Justiga que tao meritorios e transcendentais servigos tem prestado. durante toda a sua existencia, no delicado e complexo setor de sua especializagao.
O I.R.B. que tao de perto tem acompanhado a agao do Tribunal Ma ritimo, em virtude de causas vinculadas a eventos da navegagao, pode traseu testemunho sobre o trabalho desse orgao. de tanta valia tecnica pa rs a solugao de problemas originar;os da fortuna do mar.
No ensejo do 25' aniversario do Tri bunal, 0 Ministro Godoy Ilha concedeu brilhantc entrevista ao «Corrcio da Manha», cujo texto nao nos furtaa transcrever.
«Falando a reportagem do «Corrpio da Manha» a proposito das comemora?oes do 25' aniversario do Tribunal Maritimo, o Ministro Godoy Ilha, que foi o relator da Lei institucional do T. M. na Camara dos Deputados, declarou que aquela instituigao, coniPletava um quarto de seculo com um ^cervQ de realizagoes de valor indisputavel para o pais.
Corte «sui generis»

«C6rte sai generis, posto que. como observou Temistocles Cavalcante, tem fungoes arbitrais da maior relevancia
25 anos k atividades
nas questSes maritimas. o Tribunal Maritimo — frisou o Ministro Godoy Ilha — cmfaora tenha atribuigoes tipicamente administrativas. incontestavelmente exerce fungoes judiciais que oenfileira entre os chamados tribunals quase judiciais. tal como observou oMinistro Orozimbo Nonato».
Sent objetivos
«Com a missao de aliviar os tribu nals judiciais da apuragao de dados tecnicos indispensaveis a solugao de controversia juridica. o Tribunal Ma ritimo, embora ainda nao tenha autoridade de res judicata. as suas decisoes tem valor probatorio e se presumem certas. so sendo suscctiveis de revisao pelo Poder Judiciario quando forem contrarios ao texto expresso de lei ou lesarem direito individual certo.. O seu funcionamento e de um tribu nal judicial.
Sua evolugao
Aludindo a legislagao que reguloa a competencia e o funcionamento do Tribunal, recordou o Ministro Godoy Ilha o Decreto n' 20.829. de 21-12-31, que dispondo sobre a criagao da Comissao de Marinha Mercante, criou OS Tribunals Marltimos Administrativos sob a jurisdigao do Ministerio da Marinha. Teriam a organizagao e as
•atribuigoes que seriam determinadas no Regulamento a ser expedido para a Diretoria de Marinha Mercante, prescrevendo, porem, que, enquanto as necessidades do servigo e os interesses da navegagao nao demonstrassem a conveniencia da divisao do territorio nacipnal em circonscrigoes maritimas. o Tribunal Maritimo Administrative do Distrito Federal funcionasse com jurisdigao sobre a,costa, mares intcriores e rios navegaveis'da Republica.
Investiduca femporaria
«0 Tribunal, cuja presidencia caberia ao diretor-geral da Marinha Mer cante, compor-se-ia de cinco membros. de investidura temporaria, a saber :
a) um capitao dos portos do Dis trito Federal e do Estado do Rio de Janeiro:
b) um professor de Direito Mari timo e Institute Oficial de Ensino da Republica ou Bacharel em Direito reconhecidamente especializados nessa materia;
c) um delegado das sociedades de oficiais da Marinha Mercante. com personalidade juridica;
d) um delegado de armadores na•cionais, com sede ou agencia no Dis trito Federal e
e) um delegado das Companhias •de Seguro Nacionais tanibem com se-de e agencia no Distrito Federals.
«0 Decreto n'' 22.900. de 6-7-33, concedeu autonoraia aos Tribunals Maritimos Administrativos criados pelo citado Decreto n'' 20.829. deixandoos apenas sob a jurisdigao direta do Ministro da Marinha. Determinou que Os seus servigos fossem desincorporados da Diretoria de Marinha Mercan te e que o Ministro da Marinha cxpedisse, no prazo de trinta dias, o Regu lamento para o Tribunal Maritimo Administrative do Distrito Federal que, ate ulterior deliberagao, exerceria as suas atribuigoes sobre- toda a costa. mares interiores e rios navegaveis da Republican.
Evolugao
«Por fim. o Decreto n' 24.585, de 5-7-1934, aprovou e mandou executar o Regulamento do Tribunal Maritimo Administrative, mantendo a composi?ao que Ihe dera o art. 5'' do referido Decreto n' 20.829 e definindo-lhe as atribuigoes precipuas. O Decreto-Iei n- 1.680, de 13-10-1939, acresceu-lhc inais um juiz, um capitao de mar e guerra do Corpo de Oficiais da Ar mada, da ativa ou da reserva, e conferiu ao presidente do Tribunal o voto de qualidade.
Esta a primeira fase da legislagao que regulou a competencia e o funcionamento do Tribunal Maritimos.
Reorganizado mais tarde
«Pelo Decreto-lei n" 7.675, de 26 de junho de 1945, foi o Tribunal reorga nizado e, como orgao integrante do Ministerio da Marinha, passou a denominar-se simplcsmente Tribunal Ma ritime, com a competencia especifica de definir a natureza, a extensao e a causa determinante dos acidentes e fates da navcgagao. fixar as responsabilidades e punir administrativamente OS responsavei.s, aplicar as pcnalidades estabelecidas em lei e manter o Registro Geral da Propriedade Maritima, da Hipoteca Naval e de outros onus previstos em lei sobre embarcagoes brasileiras, O mencionado diploma legal nlterou a composigao do Tribunal, cabendo ainda a Presidencia ao diretorgeral da Marinha Mercante».
AmpUando suas atribuigoes
«Algum tempo depois, o Decreto-lei n'> 8.930, de 26-1-1946, restabeleceu para o Tribunal Maritimo o regime de ferias coletivas e o Decreto-lei niimero 9.137, de 5-4-1946, alterou mais uma vez a composigao do Tribunal, substituindo o diretor-geral da Mari nha Mercante por um oficial general da ativa do Corpo da Armada, ao qual atribuiu a Presidencia. determinando, ainda. que a investidura de seus membros seria em , carater efetivo».

Cumprindo a constituigao
Acentuou o Ministro Godoy Ilha que. dispondo o art. 17 do Ato das Disposigoes Constitucionais Transitorias da Carta dc 1946, que o Tribunal Maritimo continuaria com a organizagao e competencia que Ihe atribuiu a legislagao vigente. ate que a lei federal dispuzesse a respeito, cuidou a Comissao Mista dc Leis Complementares de dar cumprimento aquele dispositivo constitucional. elaborando, entao, o rcspectivo anteprojeto, que passou pelo crivo do relator da 13'> Sub-comissao, o entao Senador Artur Santos.
Auxiliar do Poder Judiciario
Remetido ao Scnado, o projeto da Comissao Mista mcrcceu longo e cuidadoso estudo da Comissao de Consti tuigao e Justiga daquela Casa do Congresso. onde cerca de cem emendas Ihe foram oferecidas, tcndentes a aperfeigo3-lo e suprir omissoes. Com os doutos suplementos dos relatores observou o Ministro Godoy Ilha — a prindpio 0 Senador Ferreira de Souza. por ultimo, o Senador Joao Villas Boas, foi o projeto aprovado pelo Senado e enviado a revisao da Camera, onde, na Comissao de Constituigao tive a honra de rclata-lo, vindo a f.:.n?formar-se na Lei n'-' 2.180, de 5 de fevereiro dc 1954, que e a sua lei institucional. Em fevereiro do conente ano. a Lei n" 3.543 transforraava o Tribunal Maritime cm orgao auxiliar da Justiga, outorgando-lhe plena autonomia».
DADOS ESTATISTICOS
ContribuifSo da Divisao Esfatfstica e Mecanizacao do l.R.B.
BALANCO DAS SOCIEDADES DE SEGUROS
A situagao economica do mercado segurador nacional ate~>l--de dezembro de 1958 esta representada nos quadros que se scguem.

Muito embora encerre-se em 5 de abril o prazo para remessa dos questionarios de balance sSo ainda muitas as sociedades retardatarias. o que vcm alrasando sistematicamente as divul-
gagoes globais dos dados relatives ao mercado segurador.
O inau preenchimento dos questionarios II e 12 vem prejudicando algumas sociedades, visto serem destes questionarios extraidos os elementos para determinaqao dos atiyos liquidos, de calculo. e. consequentemente, os fatores de retencao das sociedades.
£2 o ©— -r © h-" (X OB «"<2 ©e©ert«''22 -r' a> r, e © o e ffg » f' U<r«<^^©©©© ^ ^ ^ M © e4
o e ©' 3 e © ? ) «
o ee © y a ^ eg 9» © 0_e A 1^—'rt'e© g ^©©oci giiisii .a' o ifi e « e 5 gS"554
A ©' © O s © -r © efO/ionewiv©^© © o w © ©"^'2 ® ^ e e
X 93 UJ L«.«NA-w ••. o —*cj — e e o © gssssssss -.".vjCi- la .ra « 2 S eitcTOo;? 2SS5r ^ ^ ^ ^ o-- A lA eg 9 ^9 I -j. " t- c> CM 0 65 —• a <a fo'
o 'C
S g'3|cii : ;g » U'C B ail'5>« |.£ © W.ej a SouecuJ
225S2SS - s s s K g PI. o«s rt © «' © — «*• to © ^ t' ■■ f,. ^ ^ CC o A £3 W ^ O t- ''d ^ ^ ^ © a*i S22 Z,' ti Pi ^ m iS 2 8 1 ■8|l8 ,3 & I i| I ^ Qh&2SCJ O
:|SS1 :0,9o «i iSg REVISTA DO I.R.B.
ATIVO E PASSIVO DAS SOCIEDADES OPERANBO EM SEGUROS PRIVADOS, NO BRASIL, DE 1954 A 1958
nota;!) Eicluj dados do 1 Sociedade em Ramos Elemeatares e 3 cm Ac. do Trabalho.
2) Esclui dados de 3 Sooiedadcs cm Ramos Elcmentana
3) Ejclui dodos de 2 Sociedadra cm Ac. do Ttabalho
4) Eaclui dados do I Eocicdade cm Ramos Elementares o I em Acidcates do Trabalho
Aino E FASSRO DAS SCCIPDADES OFEBANEO EM RAMOS EIFMENTAEES, EXCLUSIVAMFNTF, NO BRASIL, DE 1954 A 1958 -


E
DAS SOCIEDADES OPERANDO EM RAMOS^ELEZVIENTARES, VIDA E ACIDENTES DO TRABALHO, NO BRASIL

PARECERES E DECISOES
Supremo Tribunal Federal
RECURSO EXTRAORDINaRIO
N^' 23.641 — DISTRITO FEDERAL
(embargos)
Acidente no trabalho. Indenirafao pleiteada na via comum, art. 31 da lei de acidentes. i?e;cicao de embargos.
R^lator — O Excelentissimo Senhor Ministro Orosimbo Nonato. Einbargante — Cia. Cantareira e ^ia^ao Fliiminense. Binbargados — Jaito Machado da Costa e outra.
ACORDAO
Vistos, relatados e discutidos estes ^iJtos de Embargos no Recurso Extraordinario n" 23.641. do Distrito Rederal, embargante Cia. Cantareira ® Via^ao Fluminense e embargados lairo Machado da Costa e outro.
Acorda o Supremo Tribunal Fe deral. integrando neste o rclatorio re^■^0 e na conformidade das notas taItiigraficas precedentes, rejeitados os embargos.
Custas da lei.
Rio. 30 de junho de 1958 (data do jtilgamento) — Orosimbo Nonato. Rresidente e Relator.

Relatorio
O Exmo. Sr. Ministro Orosimbo Nonato — O eminente Senhor Minis tro Nelson Hungria expos o caso dos autos nestes termos a Egregia Primeira Turma;
«Quando do acidente ocorrido com a lancha «Duarte Martins*, de propriedade da Cia. Cantareira e Via?ao Fluminense, a qual, na noite de 30 de Janeiro de 1949. da bala de Guanabara, colidiu com os rochedos denominados «Tres Reis», veio a falecer, por afogamento, o respective foguista Joaquim Teixcira da Costa.
Seus filhos Jairo Machado da Costa, -que e invalido, e Cenira Machado da Costa, solteira, ao inves de pleitearem indenizagao no Juizo de Acidentes do Trabalho, preferiram recorrer as vias ordinarias, reclamando indeniza?Io pelo direito comum. Em ultima instaocia, foi a re condenada a pagar aos autores, alem de dcspesas de fu neral e luto. juros da more a partir da inicial e honorarios advocaticios de 15%, presta?6es alimenticias mcnsais de Cr$ 533,35 (garantidas com o deposito de 272 apolices de 1.000,00) durante 12 anos. que seiiam os de provavel sobrevivencia da vitima.
Desatendeu o acordao as razoes de apelagao expedidas pela re, no sentido de que, nao tendo havido dolo de sua parte ou de seus propostos, nao podiam os autores eJeger a via ordinaria, pleiteando indcniza^ao outra quc nao a reguJada pela lei de acidentes do trabalho. Tambem nao teve acoihimento a argumentagao de que o autor )airo passou a recebcr a «manutcn«ao de &alario» de Cr$ 1.453.80 mensais. a converter-sc ulteriormente em pensao, por parte do Institute de Aposentadorfa e PensoBs -dos Maritimos, como beneficiario do seguro deixado pop seu pai e para o qual, no pagamento de premios contribui n rc ex-vi legis, — mensaiidade essa, assim elevada. precisamente porque a morte do segurado resultou de acidente do trabalho, de modo que a condenagao da re equivaleria a urn bis in idem.
Por ultimo, foi repelida a pretensao da re quanto a subordina^ao da pen sao a autora Cenira a condigao de sua menoridade ou continuidade do •seu estado de solteira.
Inconformada. veio a re com o presente recurso extraordinario. gue pretende fundado na letra d do prcceito constitucional, pois o acordao recorrido teria entrado em dissidio com arestos de outros Tribunais, Foi o re curso arrazoado e contra-arrazoado, opioando o Doutor Procurador Gerai da Republica pelo seu conhccimento e desprovimento.
& o relatorio.
E o voto de Sua Excelencia, aceito ■a unanimidade, loi no sentido do co-
nhecimento e provimento, em parte, do recurso, verbis:
Se a recorrente nao cuidou de depositar no Juizo Privative de Aci dentes do Trabalho a indenizaqao devida segundo o Decreto-lei n° 7.036, de 10 de novembro de 1944. nada tendo alegado. alias, na contestaqao, quanto a cxclusividade de tai indenizagao. concordando com o ajuizamento da agao na Vara Civel comum, -sem recorrer do despacho saneador, naturalmente na esperanga de ser reconhecido o caso fortuito e eximir-se a responsabilidade de direito comum. nao pode, ja agora, invocar o dissidio jurisprudencial, em torjio^ a interpretagao do art, 31 do referido decreto-lei.
Por outro lado, no tocante ao pretendido entrosamento entre a lei de acidentes e o Decreto-lei n° 22,872 de 33, que criou o I.A,P,M., sobre nao assistir razao a recorrente, e de se notar que esta nao invocou, na petigao do recurso, a letra a do permis sive constitucional. e a respeito nao ha divergencia de julgados. Somente deve ser atendida a recorrente quan to a restrigao que pretende relativamente as prestagoes alimenticias a recorrida Cenira as quais devem cessar, segundo jurisprudencia deste Su premo Tribunal, desde que ela venha a convolar nupcias. Neste ponto. apenas neste ponto. conhego do recurso e Ihe dou provimento, nao admitindo 9ue a maioria dessa recorrida, que, segundo foi reconhecido em face das provas, era alimentada por seu pai, exclua a pensao pelo tempo determinado. ponto sobre o qual inexiste dis-
sidio jurisprudencial ou, pelo menos, nao foi demonstrado».
Tomou-se, em conseqiiencia, o acor dao de fls. 160:

«Indenizagao de acidente do traba lho. pleiteada no juizo comum. Ausencia de recurso quanto ao despacho sa neador. Nao se entrosam a Lei de Acidentes e o Decreto-lei n" 22.877, de 1933. Limitc de duragao das pres tagoes alimenticias, quando se trata de muther solteira, pois o ulterior casamcnto desta fara cessar a obrigagao referente aquelas*.
r
«Vistos. relatados e discutidos estes autos de Recurso Extraordinario niitnero 23.641 em que e recorrente a Cia. Cantarcira e Viagao Fluminense e recorridos Jairo Machado da Costa e outros. acorda a Primeira Turnia do Supremo Tribunal Federal, ttnanimemente, conhecer do dito recur so e dar-lhe provimento em parte, na conformidade das precedentcs noias taquigraficas. integrantes da presente decisao. Custas ex lege. Distrito Fe deral, 3 de setembro de 1957. Barros Barreto. Prcsidcnte. — Nel son Hungria, ReIator».
Dai, OS presentes cmbargos, articulados a fls. 162: (ler).
Impugnagao a fls. 176: (ler)
O parecer do Excelcntissimo Senhor Doutor Plinio Travassos, D.D. Chcfe do Ministerio Publico Federal, foi no sentido da rejeigao dos embargos «pelos doutos fundamentos do Vincrando Acordao embargado».
A revisao».
VOTO
O acidente de que tratam os autos foi discutido na via ordinaria, pleiteando-sc a indenizagao comum, e nao a regulada na lei especifica.
Na versao da embargante, a eleigao da via ordinaria se torna inadmissivel no caso, uma vez que nao ocorreu dolo, assim de sua parte, como da dos seus prepostos.
Ha rcalmente, dissidio era volta da interpretagao do art. 31 da citada lei, verbis:
«0 pagamento da indenizagao estabelecida pela presente lei exonera o empregador de qualquer outra indeni zagao de direito comum. relatlva ao mesmo acidente a menos que este resuite de dolo seu ou de seus prepostos».
A meu entender, o quc neste preceito se encontra e a aplicagao de celecta una via non datur regressur ad alte- ram». uma vez que se verifique o pa gamento da indenizagao estabelecido no ius specials salvo a hipotese de dolo do empregador ou de seus pre postos.
Se a parte pleiteia a indenizagao em face do ius speciale baseado na teoria de risco profissional e recebe. nos termos desse direito, a indenizagao. extingue-se o vinculo pelo pagamento salvo a hipotese de haver o infortunio do empregado side provocado pelo dolo do empregador ou de sens pre postos.
Ora. no caso, e desde o inicio foi eleita a vide do direito comum.
De resto, no caso, a questao era versavel no despacho saneador que se proferiu. considerado o processo absterso de quaisquer defeitos e irregularidades. E uma de duas: ou a re^concordou com o ajuizamento da asao na vara civel comum e a ques tao nao podia figurar no temario do apelo extreme ou armou a necessaria Pugna?ao e neste caso foi ela alcan9ada no despacho saneador irrecorrido.
E assirn, e posto se atenda as ponderagoes da embargante quanto a falta de^ deposito argiiida no venerando acordao de fls., os em&argos nao merecem recebidos e e nesse sentido o meu voto.
Decisao
Como consta da ata a decisao fd a seguinte: Rejeitaram os embargos em decisao unanime.
Presidencia do Excelentissimo Senhor Ministxo Oiosimbo Nonato.
Ausentes por se encontrar em gozo de hcenga para tratamento de saudc o Excelentissimo Senhor Ministro Barros Barreto e por motive justificado 0 Excelentissimo Senhor Minis tro Lafayette de Andrada.
Votaram com o Relator, Excelentis simo Senhor Ministro Orosimbo No nato — OS Excelentissimos Senhores
Ministros: Vilas Boas, Candido Motta. Ary Franco. Luiz Gallotti, Hahne-' mann Gui^maraes Ribeiro da Costa Afranio Costa e Henrique D'Avila sendo OS dois ultimos substitutes respectivamente dos Excelentissimos Se nhores Ministros Rocha Lagoa e Nel son Hungria que se acham em exercicio no Tribunal Superior Eleitoral.
{D. Justifa de 12-1-59)

RECURSO EXTRAORDINARIO N- 24.487 — SANTA CATARINA
Acidente de trabalho: a imposigao de multa de 25% por excesso de prazo previsto no artigo
102 da Lei de Acidentes e sdJTiente aplicavel ao empregador; conforme o art. 100, paragcafo unico, nao e possivel estender tal sangao a companhia seguradota.
Relator — O Sr. Ministro Afranio da Costa.
R^corrente — «Meridional». Cia. de Seguros de Acidentes do Trabalho.
Recorrido — Clernente So^ka.'
Acordao
Vistos, etc.
Acordam os Juizes da 2» Turma do Supremo Tribunal Federal, a unanimidade. conhccer do recurso e dar-lhe provimento. conforme o relatorio e notas taquigrafadas. Custas pelo recor rido.
Rio, 6 de maio de 1958, — Lafayette de Andrada, Presidente. — Afra"'o A. da Costa, Relator.
Relatorio
o Si. Ministro Afranio A. da Costa
O acordao est;i assim fundamentado :
que manda pagar as indenizagoes por acidente do trabalho com o acrescirao de 25%, scmpre que por agao ou omissao do empregador, for excedido o prazo estabelecido no art. 52.
Alcga a agravante — baseada no venerando acordao do Supremo Tri bunal Federal, proferido no Recurso Extraordinario n° 16.303 de que foi relator o eminente Ministro Nelson Hungria (fls. 32), que o referido ar tigo 102 atinge somentc o empregador, 9te porque no paragrafo unico do ar tigo 100, ficou estabelecido que; «Naopoderao ser motivo de seguro as san9oes decorrentes da inobservancia das disposi^oes desta lei».
Com esta argumenta^ao sustenta a agravante que a multa de 25% nao pode ser imposta as entidades seguradoras.
Essa questao ja foi debatida nesta Camara, quando do julgamcnto do Agravo de Peti^ao n" 2,074 da comarca desta Capital, sendo agravante Protetora Cia. de Seguros Gerais e agraVado Paulino Ribeiro. Rejeitando a tese sustentada pelo agravante, o ac6rdao lavrado pelo eminente Desembargador Flavio Tavares, diz o se guinte:
empregador, a orienta?ao desta Came ra e no sentido de que a seguradora responde, perante o acidentado, por esse pagamento, em que pese a autoridade do julgado do Supremo Tribu nal Federal, em sentido contrar.o invocado pela agravante.
!
«Efetivamentc, na contioversia jurisprudcncial a respeito da transmissibilidade. a seguradora, da obriga^ao de pagar a multa prevista no art. 102 do Decreto-lei n° 7.036 quando a infra^ao resultar de a^ao ou o'missao do
Como bem accntua a senten^a agravada, «o fato de os arts. 52 e 102 da Lei de Acidentes se referirem a «a5ao ou omissao do empregador» nao exclui de modo algum a responsabilidade da seguradora, uma vez que face ao disposto no art, 100, do referido diplo ma legal; «0 empregador, ao transferir as responsabihdades que Ihe resultam desta lei, para entidades seguradoras, nelas realizando o seguro, fica desonerado daquclas responsabih dades. ressalvado o dircito regresivo das entidades seguradoras contra ele, na hipotesc de infragao, por sua parte. do contrato de scguro». Ora, se a seguradora se substitui ao empre gador no que se refere as respon.sabilidades resultantcs da Lei, parece evidente que a expressao empregador. apos o contrato de seguro. ficara substituida, para os efeitos juridicos, pe la de seguradora. De outro modo, a maioria dos artigos da leferida lei ficaria sem sentido, pois que consigna apenas o termo empregador». (Jurisprudencia de 1953. pags. 124-125).
REVISTA DO I.R.B.
Jnou o n" 23.032 e foi distribuido ao Exmo. Sr. Ministro Ribeiro da Costa.
O Procurador Geral da Republic-i. ■opinando pelo nao proyimento do recurso, assim se manifestou:
«Trata-se de saber a quem cabe o pagamento .da multa de 25% prevista ■no art. 102 da Lei de Acideiites, se ao segurador ou ao empregador. O eminente Ministro Nelson Hungria ao relatar o Recurso Extraordinario numero 16.303 c interpretando os arti•80S 52 e 102 da Lei de Acidcntes afirmou que «nao padece duvida que a multa ou o acrescimo de 25% e obri9a?So. que, ^ao se transmite ao seguradors.
Data venia. nao estamos de acordo. pois parece-nos que uma vez que o empregador avisou a autoridade po!.cml competente e s seguradora, do acidente sofrido po, „„ ■do, compete a segaradora , Uqpidacao do acidente „„ Se nao o fee dentro daqnele p,azo, a e nao ao empregador cabe o pagameoto da multa prevista no artigo 102^. {Diacio da Jastica, ed. de 25 de julho de 1953).
E na ata da vigesima quinta sessao da Pnmeira Turma do Supremo Tri bunal Federal, realirada em 23 de iuJho de 1953, consta:
«Recurso Extraordinario n" 23,032 — Santa Catarina — Relatoc: O Senhor Ministro Ribeiro da Costa
Recorrente: Protetora. Cia. de Seguros Gerais e Acidentes do TrabaIho — Recorrido; Paulino Ribeiro Conheceram do recurso c the negaram proaimento». {Diario da Justiga, ed. de 24-7-953, pag. 8.658)

Como se ve, a agravante trouxe aos autos uma decisao isolada, que nao chegou a firmar jurisprudencia no Su premo Tribunal Federal.
O fato de nao ser permitido o seguro das san^oes decorrentes da inobservancia das disposi?6es da lei de aci dentes, nao outorga as entidades seguradoras o direito de violar a mesma lei, de descumprir os pra'zos ^nela estabelecidos para a liquida^ao do aci dente. Tai seguro, com efeito seria uma burla ao cumprimento das normas legais. As entidades seguradoras, desde que Ihes forem transferidas as responsabiJidades do empregador, ficam sujeitas as san^oes a este cominadas por qualquer infra^ao da lei de aci dentes.
No caso dos autos, o acidente ocorreu em 18 de dezembro de 1951 e o acidentado ingressou em Juizo, por intermedio do Curador de Acidentes no dia 27 de novembro de 1952, isto c, quase urn ano depois. Nao se tern noticia de qualquer providencia da agra vante, para liquidar o acidente, no prazo legal. Nem foi justificado o motivo de tamanha demora.
O argumento que poderia favorecer a agravante, seria a falta de comu-
nicagao. Nao a simples alega^ao, mas a prova de que nao teve comunicagao do acidente, Na ausencia dessa pro va,' a presungao e contra ela, porque nas agoes de acidente do trabalho incumbe ao reu a prova dos fatos que cxcluem a sua respcnsabilidade.
■sfi da jurisprudencia dos nossos tribuais, que nos casos de duvida ou quando for insuficiente a prova produzida pelo empregador ou seguxadora, os fatos devem ser interpretados a favor do operario.
Convem salientar, ainda, que o agravado sofreu urn acidente que nao podia dar margem a diiv.da {fotografias de fls. e fis.). nao se concebendo por isso, tivesse deixado de procurar a agravante para receber a indenizagao devida. antes de recorrer aos bons oficios do Curador de Acidentes».
Veio o extraordinario pclas letrns A e D, dando por contrariado o artigo^ 102 da Lei de Acidentes e por divergido o acordao do Supremo Tri bunal no Recurso Extraordinario nvmero 16.303. Relator, Sr. Ministro Nelson Hungria.
Admitido o arrozado subiram os autos.
VOTO PRELiMINAR
Conhego do recurso para dar-lhe provlmento. O apelo esta restrito a impcsigao da multa de 25% a Cia. seguradora recorrente, por haver retardado muito alem de 60 dias a li<quidagao.
Ora, o art. 102 da Lei de Aciden tes dispoe: «sempre que por agao ou omissao do empregador for excedido o prazo estabelecido no art. 52, serao pagas as indenizagoes com um acres cimo de 25% sem prejuizo dos juros da mora».
Ora, a lei impoe o pagamento da multa ao empregador. Mas, alem disto, no paragrafo linico do art. 100 e explicitai «Nao poderao ser motivo de seguro as sangoes decorrentes da inobservancia das disposigoes desta lei»..
Ante a clareza dos textos nao ha como transferir para a Companhia a multa que dcve recair sobre o empregador. Contra este deve ser dirigida a agao. O acordao nao so traiisferiu panalidade cuja imposigao deve recair sobre o empregador, como ainda mais, fe-lo contra proibigao da lei.
Decisao
Como consta da ata, a decisao foi a seguinte: A unanimidade conheceu-se do recurso e se Ihe deu provimento. Tomaram parte no julghmento os Exmos Srs. Ministros Afranio Costa (Relator). Sampaio Costa (substitutos respectivamcnte dos Exmos. Senhores Ministros Rocha Lagoa. que se encontra em excrcicio no Tr.bunal Su perior Eleitoral e Ribeiro da Costa que se acha em g6zo de licenga), Vilas Boas Hahnemann Giiimacaes e La fayette de Andrada — Presidente da Turma.
RECURSO DE MANDADO DE SEGURANÇA N.0
6.061
DISTRITO FEDERAL
Relator - O Senhor Ministro Barros Barreto.
Recorrente
-JoséWillemsensJúnior.
Recorrida -União Federal.
EMENTA
Companhias de seguros. Ações no minativas e ao portador.-...� exigência de ações nominativas para as emprê sas de seguros e bancos de depósito tinha por base o Artigo145, ela Car ta tigode1937quefoiderrogadopeloAr
i49, da Constituição de 1941,. Direitolíquido e certo do proprietário de ações nominativas de Co1npanhia de segurosaobtera conversão dessas ações em <<ao portador» - Provi mento do recurso para conceder a se gurança.
RELATÓRIO
O Senhor Ministro Barros Barreto (Relator) - No julgamento, perante o Tribunal Federal de Recursos, cio recurso ex-officío e do agravo inter
WiJlemsens Júnior, o ilustre Ministro Henrique d'Avila, apresentou o rela tór'.o de fõlhas 105 verbis: «José
Willernsens Junior impetrou seguran ça . em que visa o seguinte «José Willemsens Júníor , brasileiro, casado, corretor de fundos públicos . residente e domiciliado nesta cidade com ,�.; critório na Rua da Alfândega 11? 4!
sétimo, expõe e requer a Vossa Excelência o seguinte:
Primeiro -o suplicante é proprie tário de 28 ações nominativas e inte gralizadas de hum mil cruzeiros cada uma, da Sul América Terrestres. Ma� rítirnos e Acidentes. Companhia de Seguros, com sede na Rua Buenos. Aires, 29-37, nesta Capital.
Em 14 do corrente mês tendo soli-. citado transformação daquelas suas ações nominativas em ao portador nos. têrmos da lei e dos Estatutos da referida emprêsa seguradora. esta lhe de clarou, em data de dezessete, também docorrentemês , estarimpedidade fa zê-lo. porque o Senhor Doutor Amílcar Santos, D1retor do Departàfoento, Naci.onal de Seguros Privados e Ca p;talização, impugna e desaprova a aludida transformação, fundadonoartigo 1O do Decreto-lei n.0 2.063, de 7 de março de 1940 (documentos números um e dois)
Suced(:; que o referido artigo 1O. t>: corolário e a substância de preceitos sôbre a nacionalização das emprêsas. deseguros, em que selimitava a aqui s:ção ou subscrição dêsses títulos a pe�soas físicas de nacionalidade brasi leira; mas. tal nacionalização foi de cla:ada inconstitucional·pelo Egrégio, Tribunal Federal, e assim, o ato do SenhorDiretor Geraldo Departamen to Nacional de Seguros Privados e Capitalização v:o!a direito líquido e certodosuplicante, amplamentegaran tidopelalei, pelos Estatutos da Socie dade e pela Constituição Federal, corno a seguir será demonstrado.
Demonstração .do direito de o su plicante possuir ações ao portador em.
185 . d O A transforma- companhia e segur . ção de ações nominativas rnteg_ral'.zadas em ao portador é direito liquido, •. 1· t na con- e incontestável do supicane formidade do Decreto-lei n9 2.627' de 26desetembro de 1940. regulador das Sociedades por ações, que declara: Artigo 23 - «As ações terão sempre a forma nominativa ou ao portado�. Parágra[o primeiro - As ações serao nominativas até o seu integral pagamento. Parágrafo segundo - As ações, cujas entradas não consisti�·em em dinheiro, só depois de integralizadas poderão ser emitidas». Artigo 24
- «Aos estatutos compete determinar a forma das ações e a conversão de umaformaemoutra». E.osEstatutos da Sociedade são peremptórios. no a�� tigo quinto e seus parágrafos: :Para- Aes serao no- grafo primeiro - s aço minativas atéo seu integral·pagamento e poderão transformar-se em ações ao portador, mediante simples �eque rimento do acionista à Diretoria, de acôrdocomalegislaçãoqueestiveremvigor . Parágrafo segundo -�s ações ao portador poderão, outrossim, con. t· uma verter-se em ações nommaivas, vez que o acionista também o regueira».
Os referidos Estatutos estão aprovados em sua íntegra, por vários decretos anteriores , e ultimamente pelo de número 40.180, de 30 de outubro de 1956 (documentos números três e quatro).
Por outro lado, os preceitos do Decreto-lei nº 2.063. de 7 de março de 1940, sôbre a nacionalização das e1w prêsas de seguros e proibição dos estrangeiros possuírem ações.dessas entidades, gerando a exigência da nomi-

186
nalidade das ações, ficaram automàticamente revogadas pelo advento da Constituição de 1946
1· tas daquele di- Os textos nacionais - entre outros, seguintes: ploma sao,
O Capital das socie- «Art1go nono· em sua dades anônimas pertencera. . totalidade, a pessoas físicas de n�c1�l.dade brasileira. Parágrafo pnme1- na ias N- poderão possuir açoes ro - ao . . das com estrangeiros bras1le1ras casa d b elo regime de comunhão e _ en:. �e o regime fõr o da separa?ªº• nao d . omaridoestrangeiro,arndaque po �r� -� d dos bens da mulher, admm1stra or _ tos de administraçao no to exercer aes Parágrafo segundo - canteas aço ·
1as ações que perte:içam Com reaçao d enores brasileirossob pátrio,!'º er a m . s sua administraçao se- de estrangeiro • rá obrigatõriamente cometida a bra:1A . 10 _ As ações serao lel·ro rttgo
1 · . 12 _ Será nua nominativas. Artigod I direito a subscrição, cessao, e peno f • de ações, efetuada ou transerenc1a com inobservância do artigo 9º , co�o 1 de pleno direito serao tambem nuos
1 omissos ou decara- quaisquer compr "b _ . portem em direito so r� çoes que im 'b'd ações por parte de pessoas_ �r�i i as • p ·grafo umco - de adquiri-las. ara _ . ,.. de transmissao causa mu Nos casos d · - h do o cônjuge her e1ros tis na-o aven ' f '1 ta·rios brasileiros a que se aça ou egaf • . ou seos estatutos nao atranserenc1a, or outraforma a trans- assegurarem P f • . a pessoas capazes, serao as erenc1a
- didas em bõlsa». açoes ven
O conteudo do artigo 1O, sô- ra. o nominativas as açoes, era bre serem · .1. . • _ mente inerentemente u1�1<J1• intrmseca. • , . d estrangeiros que estavam p101- oaos . 1 bidos de adquirí.-las ou possm-as.
Nao e cabivel a apiicagao de uma norma de direito senao a ordem de coisas para que foi criada.
A proibi^ao de serem os estrangeiros e pessoas juridicas acionistas de empresas de seguros e a obrigatorie^dade da forma nominativa das a^o's tiabam, exciusivamente, por fim asscgurar eficientemente a nacionalira^-ao das referidas empresas. Essa nadonalizaqao foi abandonada pela Coastitui^ao vigenfe, e dedarada inconstifjcional pelo Egregio Supremo Tribunal Federal.
A cessagao do motive da lei acarreta, de pleno direito, a sua revogaqao. Quando a lei se torna incompativel com um novo sistema legal deixa de existir. A incompatibilidade entre certos mandamcntos do Decreto-Iei niimero 2.063. e a Constituigao em vi gor e tal que, seguindo-se naquele, esta seria desrespeitada. A proibigao as pessoas juridicas de serem acionis tas de companhias de seguros e a for ma nominativa imposta as a^oes foram criadas tendo-se em vista o proposito de tirar aos estrangeiros toda possibilidade de adquiri-Ias.
Ha. inequivocamente, manifesta dependencia, um nexo necessario entre a proibigao de a^oes ao portador e o preceito, hoje extiiito, da nacionaliza- , gao das empresas de seguro: Desaparecida esta, ja nao subsiste aquela.
Assim, a legi.slagao nacionalista dccorrente do regime da Constituigao de 1937, inclusive quanto a proibigao de agoes ao portador, esta, desde o advento da atual Constituigao, e da decisao do Supremo Tribunal Federal inteiramcnte revogada.
Jurisprudencia — O Egregio Tribu nal Federal de Recursos e o Egregio Supremo Tribunal Federal confirmaram, por uiianimidade, a douta sentenga prolatada pelo ilustrado Juiz Doutor Oswaldo Goulart Pires, entao em exercicio na Quarta Vara da Fazenda Piiblica, declarando inconstitucionais e ilegais os dispositivos do Decreto-lei n" 2.063, de 1940, referentes a nacionalizagao de seguros e a proibigao de estrangeiros adquirirem agoes dessas empresas.
O «writ» fora concedido contra o Diretor do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao pa ra garantir a Alberto Marques Correa. de nacionalidade portuguesa, o direito de transferir para o seu nome agoes de uma companhia de seguros, sem restri(;6es de qualquer natureza.
Essa decisao foi confirmada pelo Egregio Tribunal Federal de Recur sos (pleno) em 19 de junho de 1953, no agravo n." 2.426, cujo acordao considcrou inconstitucional e ilegal a Portaria de entao Diretor do Depar tamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizacao. a qua] estabelecia «que OS estatutos sociais das em presas de seguros conterao clausula expressa que proiba a transferencia de agoes a estrangeiros, ou a pessoas juridicas de direito privado» (voto do Relator Ministro Cunha Vasconcelos).
Interposto, pela autoridade coatora, recurso para o Egregio Supremo Tri bunal Federal, este por unanimidade Ihe negou provimento e confirmou a respeitavel decisao, tendo o Ministro Nelson Hungria (Relator), assim se nianifestado: «0 legislador ordinario.
naciolalista, por isso mesmo que a nao impoe a Constituigao de 1946 c, assim tera de prevalecer, iia especie, o principio igualitario consagrado no artigo HI. dessa mesma Constituigao.
E o raciocinio a fazer-se c justaniente o oposto ao que foi formulado pela recorrcnte: se a lei ordinaria, na atualidade, nao poderia estabelecer o regime de nacionalizagao integral, e logico que o artigo 9- do Decreto-lei n' 2.063, nao pode subsistir.
fi de notar-se que na propria esfera administrativa isso foi reconhecido (documentos numeros 6 e 7)
A violagao do direito do suplicante.
A autoridade fiscalizadora fcriu di reito llquido e certo do suplicante, impondo-lhe a proibigao de possuir agoes ao portador de empresas de seguros. escudado no Decreto-lei n" 2.063, de 1940 que exigia a nominalidadc das agoes para os efeitos da nacionaliza gao, isto e, porque os estrangeiros estavam proibidos de adquiri-las. re.strigao essa que nao mais subsiste.
Efetivamente a Carta vigente declara: «Artigo 141 — A Constituigao asscgura aos brasileiros c aos estran geiros residentes no pais. a inviolabilidade dos direitos concernentes a vida, a liberdade, a seguranga individual e a propriedade. nos termos seguintes; Paragrafo primeiro — Todos sao iguais perante a Lei — Paragrafo segundo — Ninguem pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de lei».
Portanto, em materia de direito civil ou patrimonial, a igualdade somente sofre as expressamente.
A carta outorgada em 10 de novembro de 1937 determinava; cArtigo 145 — So poderao funcionar no Brasil os bancos de depositos e as empresas de seguros quando brasileiros os seusacionistas*. Decorrente direto desse texto, veio o citado Decreto-lei numero 2.063, de 1940. dispondo «que o capital das sociedades anonimas, pertencera em sua totalidade a pessoas fisicas brasileiras: que as agoes seraonominatives; que ficam proibidas a cessao. transferencia e vcnda de agoes se inobservada essa condigao de nacio nalidade "incluindc-se nessa proibigao mesmo a mulher brasileira, se casada com estrangeiro, sob o regime comum->, (artigos 9, 10 e 12 supra transcritos).

Eis ai o motive linico por que as agoes •• necessariamente tinham de tomar a forma nominativa.
A Constituigao de 18 de setembro de 1956, no artigo 149: «A Lei dispora sofre o regime dos Bancos de Deposito nas Empresas de Seguros de Capitalizagao e de [ins analogos^.
Como se ve, repeliu a condigao exigida na Carta anterior, de serem bra sileiros OS acionistas das empresas seguradoras. Admitindo-se que o ato do Senhor Diretor Geral do Departamen to Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao encontrasse alguma base no Decreto-lei n' 2.063. esse amparo ruiu totalmcnte com o advento da Constituigao vigente, que revogou as chamadas disposigoes nacionalistasquanto a bancos, seguros e mincraqao. Assim, gritantemente ilegal seria pre tender aplicar ao suplicante a sangaode leis revogadas e caducas. que visavam aquela nacionalizagao.
Em face do principic constitucional, Tiao e mais possivel retirar aos estran■geiros que procuram o nosso pals o •direito de empregarem aqui, na aquisi?ao de asoes de sociedades de seguros. cconomias que nos tenham tra2ido ou aqui foram realizadas com o seu trabaiho. Nao tinha justificaciva esse rigor nacionalista, que restringia a movimenta^ao da moeda o vulto dos negocios. Foram essas consideragoes •que inspiraram os constituintes de 1946. quando, referindo-se ao regime dos bancos de deposito, das empresas •de seguro, de capitalizagao, e de tins -analogos, esqueceram as odiosas e injustificaveis restrigSes nacionalistas da Carta de 37, e do Decreto-lei n- 2.063, <le 1940. impondo a forma nominativa •das agSes. Limitou-se a Carta de 46. a •dizer que «A lei dispora sobre o regi me desses entendimentos». extinguindo-se, automaticamente disposigoes sem objeto e sem alcance economico.
O Poder Executive, antes mesmo da -decisao do Egregio Supremo Tribunal Federal, por uma serie de atos e de•cretos, ja vinha respeitando a salutar Jiberalidade conferida pela Constituiqao vigente, no que entende com a presenga de estrangeiros e de pessoas Jurldicas de direito privado na composigao de companhias de seguros e ban■cos, aprovando o aiimento de capit-j] dessas empresas. de que nao se ex■cluem estrangeiros nem pessoas futidicas. e autorizando a instalagao! no pais, de bancos e companhias de seguros de nacionaiidade estrangeira
Ora, se a pessoa juridica, constituida com agoes ao portador. pode ser acionista de empresa de seguros. com
mais forte razao isso e permitido pessoa fisica de nacionaiidade brasileira ou estrangeira.
O Gouerno proclama a revogagao das leis nacionalistas fundadas no Artigo cento e quarenta e cinco da carta ds trinta e s^te — O Poder Executive proclamou a revogagao desse preceito nacionalista em diversos atos, pareccres e decretos. Ei-los:
a) Decreto n' 27.432, de 16 de novembro de 1949, concedendo autorizagao a Legal & General Assurance Society, companhia estrangeira para estender suas operagoes de seguros a todos OS ramos elementares no Brasii:
b) Decreto n' 2.569, de- .18 .de abril de 1938, em pleno regime da Constituigao de 37, aprovando alteracoes introduzidas nos Estatutos da mesma sociedade seguradora Legal & Genera/ .Assurance Society Limited («Diario Oficial» de 5 de janeiro de 1950). onde estao publicados esses dois decretos:

o Senhor Presidente Getulio Vargas admitiu um Banco do Rio Grande do Sul, participar do aumento do capital da Companhia de Seguros Previdencia do Sul, pela incorporagao de reservas. tambem em pleno regime ditatorial;
d) o Decreto n^ 29.372, de 19 de nargo de 1951. tambem do Governo do Presidente Getulio Vargas, apro vando o aumento de capital da Com panhia Fidelidade de Seguros Gerais, com sede nesta cidade, tendo sido a totalidade do aumento subscrita por uma s6 pessoa de nacionaiidade es trangeira {«Diario Oficial». de 11 de abril de 1951, paginas 5.402, a 5.405):
e) Decreto n" 29.814. de 26 de julho de 1951, do mesmo Governo Vargas, aprovando aumento de capi tal da Compagnie d'Assurance Generales contre I'lncendie et les Explo sions, com sede em Paris composta de scionistas estrangeiros:
[) Decreto n" 32.781, de 14 de maio de 1953, aprovando aumento de capital da «Brasil» Companhia de Se guros Gerais, com sede em Sao Pau lo, com maioria absoluta de acionistas estrangeiros, e de pessoas juridicas estrangeiras — («Diario Oficial», de 2l de maio de 1953, primeira pagina):
g) Decreto n'> 25.294, de 2 de 3g6sto de 1948 (Governo General Dutra), concedendo autorizagao a Fire"tien's Insurance Company of New ark. empresa estrangeira de seguros, com sede em Newark. Estado de New Jersey, Estados Unidos da America do Norte, para funcionar na Republica, operando em seguros (cDiario Oficial» de 14 de agosto de 1948):
h) Decretos ns. 24.327 de 10 de Janeiro de 1949, e 28.997, de 19 de dezembro de 1950 (Governo General Dutra), aprovando o aumento de capi tal da «Sul America» Companhia Nacional de Seguros de Vida, pela in corporagao de reservas, recebendo os scionistas agoes em proporgao as que possuiam, havcndo entrc eles estran geiros e pessoas juridicas de direito privado — esfas com agoes ao portador («Diarios Oficiais» de 12 de janeiro de 1948, e 22 de dezembro de 1950):
i) Decreto n- 33.910. de 25 de setembro de 1953. aprovando aumen to do capital da Companhia de Segu ros «Comercial do Paras, com sede na
capital do Estado do Para, recebendo OS acionistas. em grande numero de nacionaiidade portuguesa, residentes tanto no Brasii como no estrangeiro. agoes proporcionais ao numero das que ja possuiam («Diario Oficial» de 6 de outubro de 1953);
;) Decreto n- 33.618, de 20 de agosto de 1953 .aprovando alteragocs introduzidas nos estatutos do «The London and Lancashire Insurance Company Limited». companhia estran geira com sede em Londres e sucursal no Brasii, -inclusive aumentar o capital pela criagao de novas agoes («Diario Oficiab de 28 de setembro de 1953). Diversos outros decretos posteriores foram expedidos, aprovando subscrigao de agoes dos scguradores por estran geiros e pessoas juridicas constituidas com agoes ao portador.
Quanto aos Bancos de deposito:
/c)Decreto n^ 20.251, de 20 de de zembro de 1945 (Governo Linhares). concedendo autorizagao ao The First National Bank of Boston, instituigao estrangeira. com sede na America do Norte, para funcionar no Brasii como banco de deposito. Primeiro — No ul timo Governo do excelentissimo Se nhor Presidente Vargas foi autorizada a instalagao de banco estrangeiro (Chasse National Bank), e o aumen to de capital da Sucursal do «The Na tional City Bank of New York», no Brasii. para ccm milhoes de cruzeiros:
m) Diversos outros bancos tiveram aprovagao de reformas de estatutos e aumento de capital com a participagao de acionistas estrangeiros. entre os quais: a) «Nationai Paulistas («Diario Oficiab de 12 de julho de 1947):
b) cHolandez Unido» («Diario Oficia!» de 2 de abril de 1948): c) «Metropole de Sao Paulos («Diario Oficial» de 24 de maio de 1948) e
d) «Banco Frances e Brasileiro» Sociedade Anonima («Diario Oficia]» de 18 de abril de 1952, paginas 6.350 a 6.354):

n) Decreto n' 31.789, de 14 de novembro de 1952, aprovando aumento de capital social da «Sul America Capitalizagaoa sendo as a?oes nominativas c ao portador distribuidas entre acionistas sem distingao de nacionalidade, «tendo em vista a decisao do Tribunal Federal de Recursos, proferida em Mandado de Seguranga niimero 1.659, do Distrito Federab. («Diario Oficiab, de 19 de novembro de 1952, pagina 17.617).
A referida sociedade havia sido equiparada aos bancos de deposito, para os efeitos da nacionalizagao, e aquela decisao judicial foi tambem confirmada pelo Egregio Pretorio Supre mo (Acordao no Recurso ExtraorJinario niimero 21.616).
Sobre mineragio e energia hidraulica.
o) Decreto n" 22.990, de 23 de abril de 1947, concedendo autorizagao
Mineragio Gurupi Sociedade Ano- ,— rtno nima, para funcionar como empresa de mineragao, contendo, entre os seus acionistas. grande niimero de estrangeiros («Diario Oficial» de 25 de ab-il de 1947):
p) o entao ministro da Agricultura, em 1947. apoiado pcio Presidenfe da Repiiblica, aprovou parecer do Consuitor Juridico nestes termos; «Com a
196
promulgagao da Constituigao em 18 de setembro de 1946, desde essa data, ficaram revogadas todas as disposigoes de leis ordinarias que contrariavam a franquia constitucional extensiva aos estrangeiros, nao mais proib;dos de participar como s6cios ou acio nistas de sociedades que se destinem ao aproveitamento industrial dos re cursos minerais e de energia hidraulica, inclusive de fazerem parte de seus orgaos dirigentcs, sem restrigao de nii mero, mesmo que o objeto da socie dade seja a exploragao de servigo.s pubIicos» («Diario Oficiab de 5 dc agosto de 1947, pagina 10.480):
q) o Ministro da Fazenda, em despacho e instrugoes de 3 de outubro-de 1946, dirigidas a Diretor Executive da Superintendencia da Moeda e do Credito, declarou:
«A Nova Carta Magna da Repiibli ca, promulgada em 18 de setembro cm curso, prescrevendo no art. 149, que «A lei dispora sobre o regime dos bancos de depositor, aboliu o principio da nacionalizagao contido no art. 145, da Constituigao de 1937. Autorizo a Superintendencia da Moeda e do Cre dito a que prossiga no cxame dos documentos como propoe em seu parecer de folhas 201» («Diario Oficial», de 7 de outubro de 1946, pagina 13.830):
f") em 1947 o Governo enviou ao Congresso mensagem com o anteprojeto do Ministro da Fazenda para Reorganizagao do Sistema Bancario Nacional, cujo texto declara: «Artigo
— Os bancos estrangeiros, salvo disposigoes restritivas da presentc lei, gozarao dos mesmos direitos e privildgios concedidos aos bancos nacion^'is
de igual categoria, ficarao sujeitos as mesmas leis e se regerao pelos mesmos Regu]amentos». O art. 53 esta assim redigido: «Consideram-se bancos es trangeiros para os efeitos da presente as empresas bancarias que tenham obtido de Governo estrangeiro direitos ^^gais de existencia» («Diario do Con gresso Naciona]», de 25 de junho de '547, pagina 2.981):
s) Projeto niimero 104, de auto'■'a do Deputado Horacio Lafer, sobre ° sistema bancario nacional, adotou o tiesmo pensamento do anteprojeto do Governo e reproduziu sem qualquer ^Iteragao os artigos supra («Diario do Congresso Nacionab de 13 de abril de 1950);
t) o ilustre Doutor Amilcar San tos, Diretor do Departamento Nacio nal de Seguros Privados e Capitaliza?ao, assim ja se havia manifestado s6'^re a nacionalizagao: «Mais uma vez. ®P6s acurado estudo, chegamos a mesma conclusao anterior: os preceitos ^ontidos no Decreto-Iei n' 2.063, cal?ados na Constituigao de 1937, e que colidiram com a Constituigao de '546. estao tacitamente revogados.
'^ao fosse assim e veriamos o absurd© de continuar ainda em vigor o artigo do Decreto-lei n^ 2.063, que proibe as brasileiras casadas com estrangeiros Pelo regime da comunhao de bens, a Posse de agoes de sociedades de .se guros.
No momento em que se assegura ao Proprio estrangeiro residente no pais (artigo 141 da Constituigao) igualdade de direitos perante a lei, estariam cerceados, contra dispositive express©
de nossa Carta Magna, esses-mesmos direitos, cuja inv.'olabilidade c sagrada, justamente para a nulher brasi.leira.
Nao ha necessidade de maiores co-mentarios para mostrar a iniquidade de tal procedimento, fosse ele passive! de ser verdadeiro»;
u) Pelo entao Ministro do TrabaIho, Doutor Morvan de Figueiredo, em exposigao de motivos, foi salientado «que o Governo ja tern declarado a revogagao do principio de nacionali zagao contido no artigo 145. da Car"ta de 37» e, «considerando a conveniencia e mesmo a necessidade de ser mantida uniformidade de ohentagao nos atos de administragao, e, ainda, a reciprocidade de tratamcnto dado as companhias brasileiras pclas leis do Estado de Ne-w Jersey, tenho a honra de submeter o assunto a superior deliberagao de Vossa Excelencia, opinando pelo deferimento do pedido»;
" v) ouvido 0 ilustre jurista Doutor Adroaldo Mesquita da, Costa, entaO' Ministro da Justiga, disse Sua Exce lencia:
«Em que pesem os ponderaveis argu*— mcntos da maior reJevancia juridica, dos que julgam vigente o sistema nacionalista do Decreto-lei n'-' 2.063, de 1940, estamos em que a Constituigao derrogou-os por nao aceitar os prJncipios que os inspiraram, contidos no artigo 145 da Constituigao de 1937.
Ora, repelidc, que foi, o principio pela Constituigao atual —e na materia fui vencido, como constituinte, de vez, que nao foi aprovada emcnda que apresentei em sentido diverse, inegavel
e.que derrogado ficou o sistema consiitucional. Cabe, aqui. a considera^ao ja-feita no processo, de que o acessojio segue a sorte do principal,
Per outre lado, da maior rclevancia e d fato de o Governo haver reconhecido, em hipoteses identicas, fundado na interpretagao do mesmo artigo 149, da Constituiqao, a derrogagao de dispositivos nacionaiizadores dos bancos de depositos e cmpresas de minera^ao.
Por tudo isso. tenho a honra de matiifestar-rae de inteiro acordo com as condusoes do Senhor Ministro do Trabalho. Industria e Comercio, por JulgMas em perfeita consonancia com OS dispositivos constitucionais que rcgeni a especie».
Esclarecido com minuciosidade o asGunfo. o Senhor Presidente da Republica exarou o sen «Aprovado» e teve lugar a expedicao do citado decreto de autoriza^ao a ^Firemen's In surance Company of Newarlc» para operar em seguros.
Constam os pareceres e decisoes no processo M.T,I.C. n' 516,430-5?!
Em face de tantos e tao expressivos pronunciamentos, e ilogico exigir a nominalidade das agoes de vez que essa nominalidade tinha por objetivo efetivar a nacionaliragao que hoje e letrn morta.
Em sinte.se, o que se da e o
te;
seguin-
De um lado o diploma fabricado no silencio de um gabinete do governo de um regime totalitario, em que a figura do governante acumula o Poder
Legislative, executando leis que ele mesmo engendrou; de outro, uma verdadeira Constituigao democratica, elaborada pelo concurso de varias inteligencias e consciencias de homnes livres, delegados do povo, e amplamente discutida para o bem da Nagao.
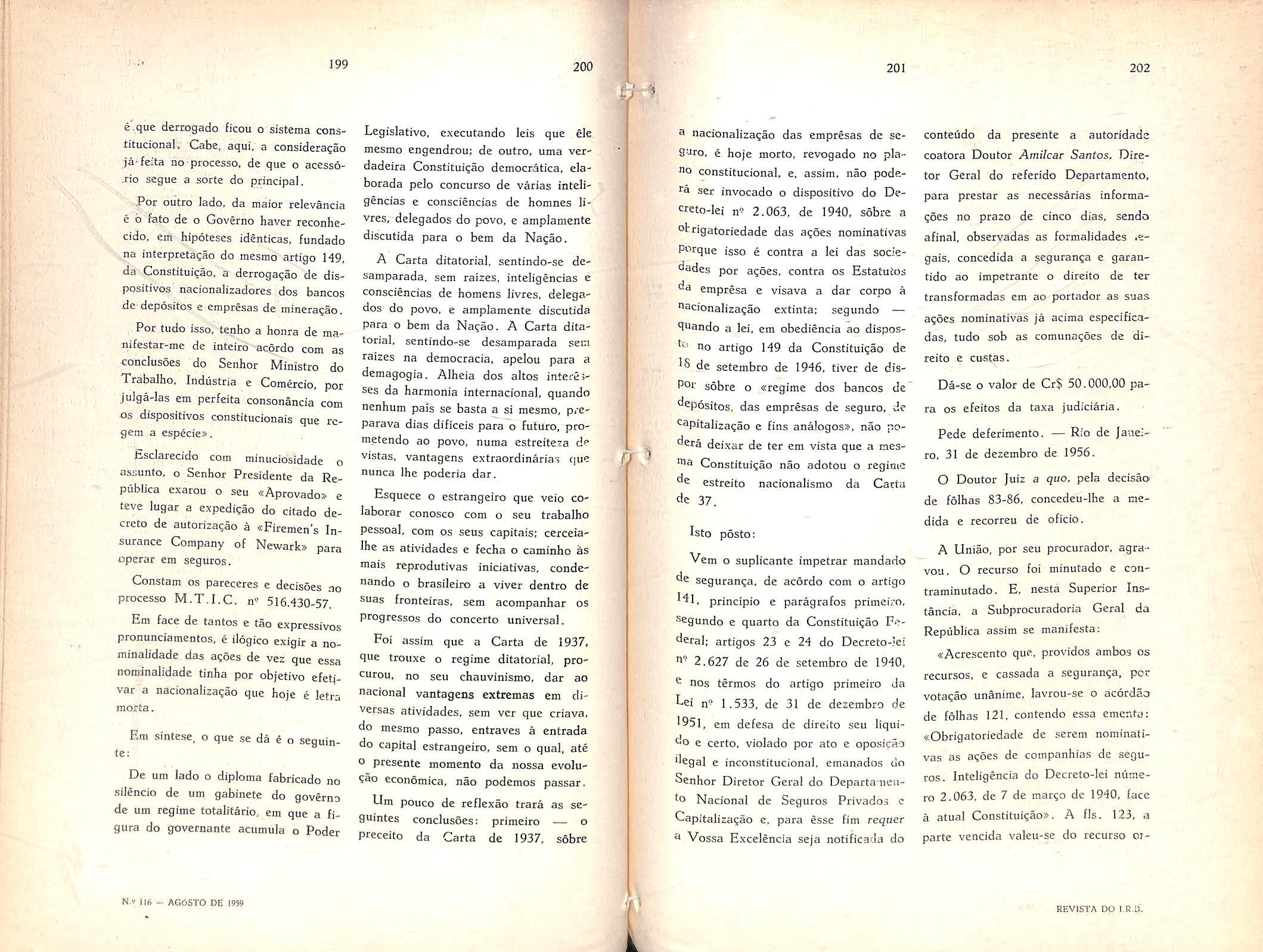
A Carta ditatorial, sentindo-se desamparada, sem raizes, inteligencias e consciencias de homens livres, delega dos do povo. e amplamente discutida para o bem da Nagao. A Carta dita torial. sentindo-se desamparada sen raizes na democracia, apelou para a demagogia. Alhcia dos altos interesses da harmcnia internacicnal. quando nenhum pais se basta a si mesmo, preparava dias dificeis para o future, prometendo ao povo. numa estreiteza d? vistas, vantagens extraordinarias t|uc nunca Ihe poderia dar,
Esquece o estrangeiro que veio colaborar conosco com o seu trabalho pessoal, com os seus capitais; cerceiaIhe as atividades e fecha o caminho as mais reprodutivas iniciativas. condenando o brasileiro a viver dentro de suas fronteiras, sem acompanhar os progresses do concetto universal.
Foi assim que a Carta de 1937, que trouxe o regime ditatorial. procurou, no seu chauvinismo, dar ao nacional vantagens extremas em diversas atividades, sem ver que criava, do mesmo passo, entraves a entrada do capital estrangeiro. sem o qual, ate o presente momento da nossa evolu?ao economica. nao podemos passar.
Um pouco de reflexao trara as seguintes condusoes: primeiro — o preceito da Carta de 1937. sobre
3 nacionalizagao das empresas de se9uro, e hoje morto. revogado no plauo constitucional. e, assim, nao pode^■3 ser invocado o dispositive do Decreto-lei n'' 2.063, de 1940, sobre a obrigatoriedade das agoes nominativas purque isso e contra a lei das socie^ades por agoes, contra os Estatutos
*^3 empresa e visava a dar corpo a U3cionalizagao extinta; segundo
Luanda a lei, em obediencia ao disposf'-' no artigo 149 da Constituigao de 'S de sctembro de 1946, tiver de dissobre o «regime dos bancos de ^spdsitos, das empresas de seguro, de "-spitalizagao e fins analogos», nao podera deixar de ter em vista que a mesConstituigao nao adotou o, regime de estreito nacionalismo da Carta de 37.
Isto posto:
Vem o suplicante impetrar mandado de seguranga, de acordo com o artigo
'^1. princlpio e paragrafos primeiro, Segundo e quarto da Constituigao F-'?deral; artigos 23 e 24 do Decrcto-lei
2.627 de 26 de setembro de 1940, ® nos termos do artigo primeiro da Lei n'' 1.533. de 31 de dezembro de '951. cm defesa de direito seu liquido e certo, violado por ato e oposigSo
'legal e inconstitucional, emanados do Senhor Diretor Geral do Departa-neiifo Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao e, para esse fim requer 3 Vossa Excelencia seja notificada do
conteudo da presente a autoridade coatora Doutor Amilcac Santos. Diretor Geral do referido Departamento, para preslar as necessarias informagoes no prazo de cinco dias, sendo afinal, observadas as formalidades .egais, concedida a seguranga e garantido ao impetrante o direito de ter transformadas em ao portador as suas agoes nominativas ja acima especificadas, tudo sob as comunagoes de di reito e custas.
Da-se 0 valor de Cr$ 50.000,00 pa ra OS efeitos da taxa judiciaria. Pede deferimento. — Rio de Janei ro. 31 de dezembro de 1956.
O Doutor Juiz a quo, pela decisac de folhas 83-86, concedeu-lhe a medida e recorreu de oficio.
A Uniao, por seu procurador, agravou. O recurso foi minutado e contraminutado. E, nesta Superior Instancia, a Subprocuradoria Geral da Rcpiiblica assim se manifesta: sAcrescento que, provides ambos os recursos, e cassada a seguranga, por votagao unanime, lavrou-se o acordao de folhas 121, contendo essa einenfa: «Obrigatoriedade de screm nominati vas as agoes de companhias de segu ros. Inteligencia do Dccreto-lei numero 2.063, de 7 de margo de 1940, face a atual Constituigao». A fls. 123, a parte vencida valeu-se do recurso oi-
■dinario, estribado no artigo 101, .';egundo, letra A. da Lei Maior.
Contra-arrazoado o rccurso pe'a llniao Federal (folhas 131). emitiu este parecer a douta Procuradona Geral ■da Rcpiiblica: «A decisao recorrida {foihas 121), profedda. por vota^ao un§nime, pelo Tribunal Federal de Re-cursos, tern a seguinte ementa; «Obrigatoriedade de serem nominativas as a?6es de companhias de seguros, inteligencia do Decreto-Iei ntimero 2.063, de 7 de marso de 1940, face a atual Constituigao^.
O Senhor Ministro Henrique d'Avila Rdator do feito, assim justificou o seu voto:
<;0 artigo 10, do Decreto-lei numcio
2.063, de 7 de margo de 1940 estabeleceu que as a^oes das companhias de seguros seriam nominativas, acorde <om a odentarao nacionalista da Carta de 1937. A Constitui?ao de 1946, nao raanteve de modo expresso. a referida cxigencia. Nenhum dispositive da atual Constituigao, todavia, quer expressa. quer implicitamente. conspira, no sentido da ab-rogagao ou tirada de curso do que ficou preceituado na Icgislagao ordinaria. Assim sendo ate que dita lei venha a ser modificada por outra, nao e licito alterar o criterio de nacionalizagao das companhias de seguros ou seja, o carater nomina tive de suas agoes.
O que pretende o impetrante e pr«cisamente que se converta suas agoes nominativas em agoes ao portador.
Ora, a lei em vigor o impede, sem chocar-se frontalmente com qualquer dispositive da vigente Constituigao. Nao vejo, por isso, direito liquido e certo na pretensao do impetrante,
Sobre a materia em debate five oportunidade de emitir parecer quando no exercicio da Consultoria Geral da R'ipiiblica, do qual destaco os seguiuies trechos, que tern pertinencia coin a controversia suscitada nestes autos;
«£ste argumento, de que a sorte da legislagao impugnada estava ligada a vigencia da Constituigao de 1937. data venia, nao tem base, ou apoio, .lem nos fatos nem nos principios que regem a hermeneutica juridica, como passaremos a demonstrar.

O principio «nacionalista» nao constituiu uma inovagao da Constituigao de 1937; tem origens mais remotas e encontrou eco na Constituigao de 1934. Foi a eclosao da primeira cjuerra mundial que provocou em todo o mundo o recrudescimento da ideia n.icional que passou a operar em estreita ligagao com o intervencionismo do Estado na ordem economica, a protegao alfandegaria, as restrigoes ao livrc transito. a estada de estrangeiros c de seus bens nos territorios nacionais e imimeras outras medidas de defesa e protegao nao so das economias nacio
nais como do proprio cidadao {Ludwig V. Mises. Le Gouvernement Om nipotent, 1947, paginas 120 e seguintes e 396 e seguintes)
Os motives de restrigao a atividadc de estrangeiros no pais foram sempre ditados entre nos com a preocupagao de defender o pais de elementos nocivos a ordem piiblica e aos bons costu mes bem como de evitar o desemprego e proteger a nossa economia.
Foi, certamente, com este pensamento que os constituintes de 1534 inscreveram varias destas restrigoes, no capitulo da Constituigao relativo a «Ordem Economica e Sociab. entre OS quais o referente a nacionalizagao de bancos de deposito e empresas de seguros.
No proprio artigo 117 a materia vem entrelagada com o «fomento da economica popuIar», o «desenvolvimento do credito» e a «proibigao da usura» (paragrafo linico) in verbis: «.Artigo 117 — A lei promovera o fomento da economia popular, o desenvolvimento do credito e a nacionaiizaglo progressive dos bancos de depo sito. Igualmente providenciara sobre a nacionalizagao das empresas de segu ros em todas as suas modalidades, devendo constituir-se em sociedade brasileira os estrangeiros que atualmente opcram no pais.
Paragra[o unr'co — fi proibida a usura, que sera punida na forma da lei». — As raizes da legislagao vigen te sobre a materia, nao ser arrimavam.
exclusivamente. como se ve na Cons tituigao de 1937, quando foi promuigada a de 1894. Aquela, apenas, desenvolveu o pensamento ja dominante anteriormente e que o momento internacional reclamava se tornasse mais explicito e atuante. Mas, ainda, que estivesse a legislagao em exame, liga da unicamente aos principios nacionalistas incorporados a Constituigao de 1937, ainda assim, ela nao teria caducado automaticamente.
A revogagao se da pela contradigao existenfe^ entre o novo texto constitucional e a disposigao da lei ordinaria anterior. Mas, nao havendo conflito a legislagao antiga subsiste.
Disse Rui Barbosa que se considera subtendida em toda a Constituigao a regra de que nao repudia «as leis e instituigoes anteriores. com ela compativeis ou dela complementares» (Comentarios coligidos por H. Pires, vo lume 6, pagina 406. Ainda que o dis positive legal tenha correspondencia direta com algum texto da Constitui gao banida, c precise que haja incompatibilidade entre aquele e o da Cons tituigao vigente para que se conclua pela sua revogagao. Caso contrario, ele subsiste mesmo com a caducidade de que foi a sua matriz princi pal.
Entre nos sao inumeros os exemplos desta sobrevivencia. A Constituigao de 1934, no artigo 72 mantevc o juri e no artigo 176, a representagao diplomatica junto a Santa Se; no artigo 127 previa legislagao especial de protegao
das renovagoes de loca?6es comerciais. Tais dispositivos nao foram reproduzi'dos na de 1937, mas se entendeu que a despeito do amparo constitudonal direto, as kis e atos relatives ao assunto nao haviam caducado porque nao estavam em oposigao ao novo texto Na carta de 1937, no artigo 67 fo'i determinada a criagao do Departamento Administrativo. disposi^ao nao repetida na de 1946; o DASP todavia, nao foi considerado extinto pela omissao do texto do novo quanto a sua existenda.
A correspondenc/a „„ co„for„idade ■Je totoa nao baa,a para ae ajuizar da sobrevivancia da „„ apos a ravoaapao do ontro. O ,„e a indagapao dava focahzar a a Incompatibilidade em si n.as„a en.ra aqaele cuja atnajao se pretaada admitir a o Cairo promalgado posteriormante. Na hipdlase se veriftca qua a abolisao do artigo ld5 da Ccnstiluipao de 1937. a a inclasao no texto da de 1946, do ar.igo ,49, „ao criou para o decreto-Iei n' 2.063. de '940. a suspeita da incompatibilidade e's que neste ultimo o poder constituinte entendeu de deixar a op.ao do leg>slador ordinario e adogao quer do pr.ncipio «nacionalista». quer do «cosmopolita».
Para se aferir a impossibilidade de coexistencia entre uma lei anterior a Constituigao e os principios nela esfabelecidos existe uma maneira pratica. Consiste em indagar se o legislador atual poderia baixar texto novo reproduzindo o que o artigo se contem.
Se 0 legislador de hoje for admitido kgislar com o mesmo proposito que inspirou o seu antecessor, e porque nao ha incompatibilidade entre a regra maior e a menor, seja esta anterior ou posterior aquela.
Pelo que se le no artigo 149, da Constituigao vigente, nao ha obstaculo a adogao do princlpio «naciona]istn». em relagao as companhias de seguro,. O texto do artigo 149, nao tem conteudo proprio; e apenas uma convocagao Pura e simples do legi.slador ordinano para que defina, como melhor parecer, a politica a seguir. Entendeu o poder constituinte de dar enfase ao assunto mas nao quis limitar nem constranger o futuro legislador. impondc Jhe esta ou aquela diretriz. Mas se o Decreto-lei n' 2.063. nao fere o artigo 149. da Constituigao, ja que os principios que editou poderiam ser reproduzidos por kis novas, havera, todavia, contradigao entre ele c qualquer outro dispositive constitucional ?
A questao foi ventilada nos pareceres emitidos a proposito, e a regra que se pretende seja cerceadora da pohtica nacionalista se encontra no ar tigo 141, §§ 19 e 2'.' da Constituigao, onde se assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade dos direitos concernentes a vida. a liberdade, a seguranga indivi dual e a propriedade em termos de igualdade.
A outorga de iguais direitos a brasikiros e estrangeiros residentes no Brasil. nao existia na Constituigao do
Imperio (artigo 179). Foi a de I89I. gue a estabekceu, no artigo 72, nos mesmos termos da de 1946. A fonte daquela foi a Ementa decima quarta 3 Constituigao norte-americana, votada em 1863.
Mas nem aqui, nem la se estendeu gue a regra tinha carater absoluto, ^dmitindo, portanto. certas excegoe.;.
Joao Barbalho, o autorizado coincntador da Constituigao de 1891 enlendia que havia restrigoes a estabekcer. ^Pesar de nao expressamentc mencio"adas no texto. Assim os paragrafos O'tavo, nono e decimo segundo do artigo 72, disse ele, «devem. com rela gao a estrangeiros, entender-se com Carta restrigaos. E dcpois de justifia diferenciagao do tratamento, acentuou que a Constituigao garante ° Sstrangeiro, «mas em primeiro lugar c sobretudo, garante-se a si, ao cstado, ® sociedade, ao povo brasileiros (Co®entarios 1902), pagina 299 e seguintes).

Rui Barbosa, em defesa de um exPulsado, sustentou a tese da completa 'gualdade de direitos entre brasileiros c estrangeiros residentes, procurando cefutar Joao Barbalho e a jurisprudenC'a do Supremo Tribunal Federal, contfaria ao interesse de seu defendido: ^aconheceu e proclamou entretanto, os 'Hconvenientes praticos da equipara?ao; isto e o que esta na Constituigao. Rode ser inconveniente, pode ser incoinpativel, com as exigencias de scguranga politica ou policial. Nao o ^c:garemos» (Comentarios— observi?ao citada, volume cinco, pagina 191).
No mesmo sentido da admissao de restrigoes a regra geral, por lei ordinaria, decidiu o Supremo Tribunal Fe deral em varios arestos (acordao de 29 de julho de 1908, Relator Ministro Amaro Cavalcanti, in «Direito Administrativos de Viveiros de Castro, paginas setecentos e onze-oitocentos c dezenove (711-819): Acordao de 19 de novembro de 1919, Relator Minis tro Muniz Barreto, in «Rcvista do Su premo Tribunal Federals, volume 23, paginas 220 e opinaram Lacerda de Almeida, «Parecer» de 9 de julho de 1918 in «Rcvista de Direitos. volume 52 pagina 306: Pontes de Miranda. •sComentarios a Constituigao de 1946, volume 3, pagina 150».
Nos Estados Unidos tem a jurisprudencia como constitucionais kis que estabekcem diferenciagao entre nacionais e estrangeiros, para o gozo de di reitos de ordem privada, conforme o testemunho de Roger Pinto em minucioso e recente trabalho intitulado «La . fin du gouvcrnement des juges», inserido no fasciculo de outubro-dezcmbro de 1950, da «Revue de Droit Public et de la Science Politique, pag. 952). Focaliza o conhecido especialista em assuntos constitucionais ncfte-americanos uma decisao da Corte Suprema, concluindo pela validade, em face da emenda decima quarta, de uma ki do Estado da California, proibindo a estrangeiros a propriedade. a posse e a locagao de terras agricolas. A de cisao, tomada com reservas, foi, en tretanto, no sentido da constitucionah • dade. No repertorio publicado oficialmente em 1938, sobre a Constitui gao norte-americana, suas emenclas e jurisprudencia complementar. no volu-
me segundo, pagina 416, da edi?ao argentina, se encontram outros julgados no mesmo sentido.
A evolu^ao de ideias operadas entre a promulgagao da Constitui^ao de 1891 e a de 1946, ha de Jevar necessariamente o interprete atual a encarar com maiores restri^oes o preceito da igualdade entre nacionais e estrangeiros. E a lei que no intuito de regular preceito contido no capitulo da «Ordem Economica e Socia]» entendesse de estabelecer dijcriminaqacs entre nacionais e est-rangeiros haveria de ter hoje mais facil acolhida de que em epocas remotas.
tambem, principio corrente que a mconstitucionalidade intoleravel deve ser manifestada: havendo duvida a conclusao e em favor da coexistencia dos textos (Pedro Lessa. «Do Poder Judiciario., 1915. pag. 139; Castro Nunes. «Teoria e Pratica do Poder Tuciaric. 1943. pag. 590; CooUy «Constituciona] Limitations^, pags 239 241 Seria manifestamente inconstitucional a lei nova que regulamentando urn preceito incolor como o artigo 149 instj^tuisse restrigoes aos estrangeiros residentes quanto a posse de agoes de companhias de seguro? Penso que nao. (Parecern' 30-T).de 11 de ju-

I exceientis- siino Senhor Presidente da Republica e pubiicado no Diario Ofkial de 2 de agosto de 1951. pagina 11.46,-idem «Pareceres da Cons. Geral da Repu blica, volume primeiro, margo a de zembro de 1951. pagina 147 e seguinfe idem, «Revista Forense^ volume 138, pagina 69 e seguintes. idem, «Revjsta de Direito Administrativo» volu me 26 paginas 348 e seguintes.
Os argumentos que entao expendi e ora sao reproduzidos. sac condizentes com a conclusao do aresto recorrido. Nao me convenceram, data venia, os votos emitidos em contrario, no Pretorio Excelso, no julgamento do Recurso Extracrdinario n'-' 24.276 (certidoes a folhas 62 e 68).
Opino. pois, pela manutengao do acordao recorrido e, em conseqiiencia, pelo desprovimcnto do recurso.
Rio de Janeiro. 6 de novembro de ^958. — Carlos Medeiros Silua, Procurador Geral da Republica».
£ o relatorio.
VOTO
O Senhor Ministro Barros Barreto (Relator) — Todas as sociedatles per agoes podem ter titulos nominativos e ao portador, nao havendo, ja agora, como prevalecer a restrigao ou proibiSao, no tocante as sociedades de seguros para fixar-se, apenas, o caratcr nominativo de suas agoes. O principio de nacionalizagao de tais empresas de seguros e bancos de deposito, ex-ui do artigo 145, da Carta Constitucional de 1937, desapareceu, desenganadamente. face ao artigo 149, da Constituigao Federal de 1946.
Derrogadas, quedaram, entao, por incompativeis as normas respectivas da legislagao ordinaria. E, nesse sentido, pronunciou-se a Suprema Corte, ut acordao unanime, trazido a colagao e prolatado pelo Eminente Ministro Nelson Hiingria. no julgamento do Re curso Extraordinario n' 24.276, (inateria constitucional) a 11 de junho de 1954.
Afigura-se-me pois, liquido e certo o direito do recorrente obter da Sul America, Companhia de Seguros, a transferencia de agoes nominativas em ao portador. Dai o meu voto, provcndo o recurso, a fim de cassar o aresto de folhas e restabelecer a sentenga de folhas concessiva da seguranga impetrada.
Vista
O Senhor Ministro Luiz Galloti Senhor Presidente, pego vista dos autos.
Decisao
Como consta da ata, a decisao foi a seguinte; Impedido o Excelentissimo
Senhor Ministro Candido Lobo
Pediu vista o Senhor Ministro Luiz Gallotti, depois dos votos dos Senhores Ministros Relator, Candida Mota Filho, Ary Franco, Nelson Hungria, pelo Provimento do Recurso.
Relator — Excelentissimo Senhor Ministro Barros Barreto.
Presidencia do Excelentissimo Se nhor Ministro Orosimbo Nonato.
VoTO
O Senhor Ministro Luiz Gallotti
Estou de acordo com o eminente mi nistro Relator, pois a exigencia. no caso, de serem nominativas as agoes, loi estatuida pela lei como corolario do preceito, que ja nao vigora, relativo a nacionalizagao das empresas de segu ros. Tambem dou provimento ao re curso para restabelecer a sente.nga que concedeu a seguranga.
Decisao
Como consta da ata, a decisao foi a seguinte: Deram provimento sem divergencia de votos para a concessao da seguranga.
PresidSncla do Excelentissimo Se nhor Ministro Orosimbo Nonato. ■— Ausentcs, justificadamente, os Excelentissimos Senhores Ministros Ary Franco, Candida Mota.
Tomaram parte no julgamento os exceleaUssimos Senhores Ministros Barros Barreto. Relator, Candida Lo bo. Relator (substitute do Excelentis simo Senhor Ministro Rocha Lagoa. que se encontra cm exercicio no Trir bunal Superior Eleitoral), Villas Boas. Nelson Hungria^ Luiz Gallotti. Hahnemann Guimaraes. Ribeiro da Costa e Lafayette de Andrada.
Acordao
Vistos, examinados e discutidos estes autos de Recurso de Mandado de Seguranga n' 6.061 do Distrito Fe deral, sendo recorrente, ]ose Willemsens Junior e recorrida, Uniao Federal.
Acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal, em Tribunal Pleno, dar provimento ao recurso sem divergencia de votos. O relatbrio do feito e as razoes de decidir constam das notas dactilograficas que precedem.
Custas na forma da lei.
Rio. abril de 1959. — Orozimbo Nonato. Presidente. Barros Barreto. Relator.
217
Boletjm Informativo da D.L.S.
VISTORIAS JUDICIAIS
fi assaz freqiiente verificar-se a inanidade de vistorias ad perpetuam rei memoriam requeridas por indicagoes de liquidadores de sinistro-incendio.
Dai, algumas recomendagoes e indicagoes a respeito.
Conceito
A vistoria e um dos processos acessorios pelo qua] se podem fixar e comprovar fatos transitorios.
No caso de sinistro-incendio, essa transitoriedade dos fatos pode decorrer de ser possivel e conveniente ao segurado modifica-los em seu benefido — o que o liquidador tentara evitar — ou da propria natureza dos fatos (evaporagao de liquidos. alleragao pela chuva ou sol. apodrecimento, etc.).
O processamento da vistoria se faz iudicando as partes os seus peritos e formulando quesitos e o juiz designando um desempatador no caso de di- ' vergenda entre os peritos das partes. O laudo dos peritos. mesmo homologado pelo juiz. nao constitui coi.sa julgada. No curso da ag§o que venha a ser proposta, em geral, a vistoria pode ser renovada. reexaminando-se entao as conclusdes dos peritos,
Quando se recomenda
A vistoria ad perpetuam rei memo riam, salvo em casos excepcionais, s6 se recomenda :
a) em relagao a fatos transitorios comprovaveis por exame direto;
b) quando nao seja possivel a fixagao e comprovagao desses fatos por outros meios, como por exemplo, a assistencia aos peritos do inquerito policia] que. mesmo oficiosa, os podera levar a registrar os fatos que ~nos interessam, a obtengao de declaragSes escritas do segurado ou de seus empregados. ou mesmo. de testemunhas idoneas. Num caso de cubagem meio de prova que so tern cabimentoquando os bens sinistrados sejam homogeneos ou nao seja possivel seu levantamento direto, ao inves da visto ria deve 0 liquidador procurar obter do segurado, arquitetos ou prefeitura local as dimensoes das pegas que continham as mercadorias homogeneas cuja existencia no local ja esteja comprovada. Lembre-se o liquidador de que quase sempre e possivel comprovar OS fatos por meio de fotocopias;
c) quando se disponha de peritoidoneo e conhecedor da materia e nos: casos mais graves, quando se conhega o perito de que o juiz. em geral, se vaiha como desempatador. O liquida-
dor devera lembrar-se, especialmente nos casos de sinistro-incendio fraudulento que se a vistoria nao for bem feita. redundara ela em beneficio do segurado que assim faz nelas as provas de que necessita;
d) quando o liquidador a ela se possa dedicar com afinco e atengao especial como adiante se vera, sem esqueccr alias, que, salvo casos excep cionais. nao se justificam despcsas muito grandes na vistoria dada a precariedade da prova.
Condicoes para o exito
O exito da vistoria depende em grande parte do proprio liquidador, sua experiencia e habilidade, sua capacidade de discernimento e de influencia, pois,
а) Se e ao advogado que compete dar a redagao aos quesitos. ao liquida dor, como mais experimentado no tra-to de sinistros incendio, e que cabera chamar a atengao do advogado para OS pontos que Ihe parecem mais importantes, e mesmo, minutar os que sitos que tenha a sugerir;
б) ainda no referente aos quesi tos, recomenda-se ao liquidador submete-los com um esbogo de resposta de cada quesito, ao advogado, que os aprovara ou nao, considerando o caso e a possibilidade de quesitos contrarios virem trazer duvidas sobre fatos ate entao tidos como comprovados:
c) a indicagao do perito e materia de grande relevo e devera ser feita
pelo liquidador de comum acordo com o advogado. £ muito conveniente que seja verificado o bom nome dos peri tos, sua firmeza de carater, antecedentes, relagoes com o segurado, seus credores, parentes, etc. Durante o trabalho dos peritos o liquidador devera prestar-lhes a cooperagao ao seu alcance, encarregando-se de esclarecer OS peritos nas sues duvidas aceitando, de boa vontade, os trabalhos de que seja cncarregado mesmo quando diflceis ou fastidiosos. Devera ele apontar ao advogado as duvidas existente.s nos laudos para que o advogado verifique a conveniencia de serem pedido.s esclarccimentos, levando em conta a.s caracteristicas do caso e nao constituir coisa julgada o laudo pericial.
Com essas providencias e esses cuidados, as vistorias requeridas pelos seguradores deixarao de ser como as vezes tern ocorrido. expressoes de fatos extremamcnte afastadas da realidade, ou medidas inuteis que so representam despesas c trabalho improficuos. * * *
VENDAS DE MERCADORIAS ~ CORREQAO DE SONEGAgAG
Em relatorio de sinistro incendio, recentemente aprcsentado a DLS figura uma apuragao do estoque de mer cadorias baseada nos livros fiscais do segurado: Registro de Compras e Registro de Vendas a Vista, unices que o mesmo possuia.
Q liquidador, estudando os valores registrados nos referidos livros, con-

riores as realmente efetuadas, natural- r\ i i. i mente, em virtude de senega,ao. per guStes
Come se ye em tres anos e quatro ?77^Q09 compras foi de CrS J/7 998,90 para urn total de vendas de Cr$ 379.539.00, havendo uma pequena diferen,a de receita para cobrir todas as despesas industrials e comerciais. retiradas pro-labore. etc. com a cjrcunstancia de que o capital da firma era de Cr$ 50.000,00.
Verificando que o lucre medic aufe130% Jh ' S"™ ""<= 28 e 30/c sobre as vendas e observando .. que o lucre razoavel para o rame de f ° segurade (padarm) era da ordem de 40% s6bre as vendas, procurou, o iiquidador urn fator de corre,ao para a soneea
Sa 5" referen^e'ao do sinistro da seguinte maneira :
a) Determina,ae do fator d» cor
Estoque em 31-12-55'.'."!.'.';.";
Cusfo das mercadorias vendidas 188.955 sq
Estoque
31-12-55
b) Determinagao do estoque referente ao dia
Apesar da corre,ao das vendas ado'®das, nao sofreu o estoque encontrade Cr$ 108.114.60 qualquer inlluencia consequente da referida cor^^Cao, pois, se fosse feito 0 calculo porQteio de apura,ao normal, sem qualluer corre,ao, scria encontrado o mesestoque, conforme a seguinte de™onstra,ao:
a) Determinaqao da percentagem lucro bruto referente aos cxerclcios 1954 e 1955; Compras de 1954/5 248.646.80
tstoque de 31-12-55 59.691.00
Custo das mercado rias vendidas 188.955,80 ^endas registradas - em 1954/5

Eucro bruto verifificado 76.773.20
Percentagem de lucro em relagao as vendas; 76.773,20 X 100 = 28.8915%
265.729.00
b) Determinaqao do estoque refe'^ente ao dia do sinistro;
Estoque em 31-12-55 59-691.00
^mpras em 1956/7 129.352,10
Vendas em 1956/7 113.810,00
Lucro bruto:
28.8915 s/113.810,00 32.881,50
Estoque 118.114,60
221.924,60 221.924,60
Isto demonstra que corrigir a sonegaqao das vendas partindo, apenas, da elevaqao da percentagem de lucre, calculando a percentagem de corregao de um lado, e clevando a percentagem de lucro, de outro, nao influi no esto que que se quer determinar. Pica sem finalidade, para a determinaqao do valor em risco de mercadorias. portanto. o processo de correqao demonstrado. Chamamos a aten^ao dos liquidadores para o fato, a fim de nao se deixarem trail pelo jogo dos niimeros em - casos identicos futures.
Reconhecemos as dificuldades existentes para a correqao da sonega?ao das vendas e consequente corre^ao do estoque acusado pela escrita na maioria dos casos de liquidaqao, principalmente quando se trata de segurado que nao possui os livros comerciais. Entretanto, mesmo assim, e indispensavel o estudo do melhor processo, em cada caso, para corrigir a referida ncgaqao, seja com base nos proprios livros e documentos cont.ibeis do segurado, seja com base em outros elementos indiretos de que possa lan^ar mac.
{TeanscrigSo do Boletim n.' 9. de 15-8-57)
'
NOTICIARIO DO PAiS
ENGENHARIA DE SEGURANgA
Solicitado pdo Diretor do Cnrso Basico de Seguro-s, o Engenheiro Mcrio Trindade organizou uma serie de palestras sobre Engenharia de Seg.iransa em geral, coritando com a preciosa colaborasao dos demais membros da Comissao de Engenharia de Seguranga, que e um orgao eminenteinente tecnico que congrega os especiahstas dessa materia em nosso pais, tendo se prontificado a coiabora; ns Senhores Engenheiros Antonio Carlos Barbosa Teixeira, Chefe do Setor de Seguranga Industrial da Petrobras; o Dr. Jose Maria Taveira. Engenheiro de Higiene Industrial do Servigo E.special de Saiide Publica; o Dr. Ma^ rio Rocco Simoes. Engenheiro da Refinaria de Manguinhos; o Cel. Enge nheiro Armindo Vilaga, Chefe de &eguranga Industrial da Cia. Siderurgica Nacional; o Engenheiro Hugo Vieira da Silva, engenheiro de seguranga das obras da Refinaria Duque de Caxias; o Engenheiro Sergio Santana, engenheiro de seguranga da Refina ria Presidente Bernardes; o Engenhei
ro Loris de Souza, das Empresas Eletricas Brasileiras; o Major-Engenheiro Newton M. Rangel, engenheiro do Institute Militar de Tecnologia; c En genheiro Oldano Borges da Fonseca, Engenheiro da Refinaria de Mangui nhos; o Engenheiro Henrique Brandao Cavalcanti, engenheiro das Empresas Eletricas Brasileiras; fodos niembros da Comissao de Engenharia de Seguranga. Os temas foram escoIhidos dentro de um criterio de oportunidade, face a epoca de desenvolvimento industrial pela qual estamos passando, visando divulgar os princi pals aspectos e os principals problemas encontrados no campo da Enge nharia de Seguranga, visando .a preservagao dos processes de produgao, desde o elemento humano ate os equipamentos, maquinas e instalagoes, cuja destruigao pode prejudicar esse desenvolvimento acelerado que todos nos sentimos necessario para o pais.
Neste niimero, «Revista do I.R.B.s publica algumas das conferencias proferidas.

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL
SEDE — RIO DE JANEIRO.
AVENIDA MARECHAL cAmaRA, 171
SUCURSAL EM SAO PAULO
AVENIDA SAO JOAO, 313 — 11." ANDAR
SUCURSAL EM PORTO ALEGRE
AVENIDA BORGKS MEDEIROS, 410 — IS." ANDAR
SUCURSAL NA CIDADE DE SALVADOR
RUA DA ORECCA, 6 — 8.° ANDAR
SUCURSAL EM BELO HORIZONTE
A\-ENIDA AMAZONAS, 491 A 507 — 8.° ANDAB
SUCURSAL NA CIDADE DE RECIFE
AVENIDA CUARARAPES, 120 — 7.° ANDAR
SUCURSAL NA CIDADE DE CURITIBA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 551 A 558 — 16." ANDAR
SUCURSAL NA CIDADE DE BELEM
AVENIDA QUINZE DE AodsTO, S3 — SALAS 228 A 230
SUCURSAL NA CIDADE DE MANAUS
AVENIDA EDUAHDO RIBEIFO, 423 — ALTOS

