

S U M A R I O
Intcodugao a tcoria matematica do scguro: J. ]. de Souza Mendcs, col. 3 — Teoria da Causa; David Carnpista
FHho, col. 17 — Brasilia e a instituicao do seguro. col. 31 — Notas sobre seguro dc vida em grupo; Adyr Pecego

Messina, col. 35 — Normas Incendio: Jorge do Marco Passes, col. 45•— Descentralizagao contabil no setor de inversoes de uma sociedade de seguros; Americo Matheus Florentino, col. 51
— Imunidade tributaria das autarquias. col. 65 — Molestias profissionais: An tonio Cosfa Correa. col. 81 — Prescri^ao: Joao Carlos Gomes de Matos. col. 115 — A administra^ao cientifica
das empresas de seguros: Tese; Herminio Augusto Faria, col. 127 — Dados
Estatisticos: Analise do mercado segurador brasileiro. col. 137 — Parcceres
c Decisoes, col. 163 — Consuh6rio
ITecnico, col. 175 — Boletim da D.L.S.. col. 179 — Boletim do I.R.B.. col. 187
— NoticiSrio do Exterior, col. 199
Noticiario do Pais, col. 203.
A pedra de toque de todo sistema economico baseado na troca e, sent ducida alguma, o equilibrio entre a oferta e a procura. Sem esse equilibrio — para o qual fende, no moderno cnunciado da lei celebre, toda a atividade humana no dorninio da economia — instala-se a dcsordem no processo economico. de conseqiiencias imprevisiveis.
OJerfa e procura, todavia. representam fases e.vfremas, pois entre produgao e consumo outras intercorrem, estendendo a gama dos [enomcnos inerentes ao processo. mas todas elas indispensaveis, certamcntc, para qiie se complete o ciclo economico.
O mecanismo. portanto, ja de si complexo e delicado. agrava-se pela nudtiplicidade das pcfas que nele se entrosam, tornando-o acentuadamente suscctivcl a pressao de fatores que Ihe perturbem o equilibrio.
A InstituifSo do Seguro, cumprindo sua Jungao basica de ceparar danos inateriais e patrimoniais, preserva esse equilibrio necessan'o a vida economica da sociedade. Mas alem dessa, outras e importantes [iincdes desempenha o Seguro, dai se originando o relevo que assume tal Instituigao. Promovendo a seguranga economica do individuo e de sua [amilia, o Seguro ao mesmo tempo e fator de bem-estac social e de protecao a propria economia coletira.
No momenta atual, em que o pais passa 'por 'uma profunda transfiguragao economica. maiores alturas ganha a missao que toca a Jnstituigao do Seguro. Eis por que, procurando aparelhar-se adequadamente, se^uradores e ressegutadores. num esforgo conjunto. colocam em piano tao elevado o trabalho de preparagao tecnico-profissional dos seus quadfos dc pessoal.
Desse trabalho, parccla apreciavel e executada pelc C.B.S., entidade a que nos referimos em oufro local desta edigao, noticiando as festividades comemorafiuas do seu decimo aniuersario. Mas nao obstante o muito que se tern [eito, e certo que ainda nao estamos em condigoes de atender as necessidades do mercado. Impoe-se, assim, dar maior expansao a obra hoje realizada, nela chamando-se a colaborar todas as entidades que possam faze-lo. O ensino do seguro, alias, exige essa diversificagao e divisao de tarefas, dentro de um planejamento adequado que, estamos cerfos, nao tardarao as partes
j'nferessadas a elaborac. - «EV1TOC-Bb
InfroduQao a teoria matemalica do seguro
J. J. d© Souza Mendes, M.I. B.A. Diietot do Dcpartamento Ticnico do l.R.B.propriedades que vao permitir decidir se um ser qualquer pertence ou nao ao conjunto.
rela$ao entre os variaveis y e z que para um sistema de valores atribuidos a essas variaveis e verdadeira para todo o valor de x.
I — Elementos da Teoria DOS CONJUNTOS
1 — Nogoes preliminares.
Damos o nome de conjunto h uma cole^ao de seres quc tem, em comuio. uma ou mais propriedades.
Consideramos definido um conjunto quando dado um determinado ser podemos decidir sc este pertence ou nao ao conjunto.
Para exprimirmos que o ser x per tence ao conjunto £ escrevemos x « E que se le «x pertence a E>.
Os seres x que gozam da propriedade acima sao chamados elementos do conjunto E.
Para exprimirmos que os varios seres a, b, c, sao os elementos do conjunto E, escrevemos;
E =|a,b,e ] que alem de representar:
a«E, b«E, ctE indica, tambem, que o conjunto E i composto dos elementos a, b, c, ...
Come estamos vendo. tanto os conjuntos como seus elementos podem ser representados, nos raciocinios, por letras, Em gcral para os conjuntos Usamos letras maiusculas e para os elementos letras minusculas.
Uma letra minuscula tanto pode re presentar um elemento determinado do conjunto como um elemento generico sobrc o qual nada supomos a nao ser a sua pertinencia ao conjunto.
fissc elemento generico, via de regra, expresso por uma das ultimas letras do alfabeto x, y ou 2 representa, pois, qualquer dos elementos do con junto. Por esse motivo ao elemento generico damos tambem os nomes de variavel ou argumento.
Se X « A, A e chamado «dominia de varia^ao de x» ou «dominio da va riavel x». - Se considerarmos um de terminado elemento b de A, elc e cha mado «vaIor da variavcl».
Usando uma linguagem geometrica podemos ainda dizer que a variavel x descreve ou percorre o conjunto A.
Particularihente, um conjunto com um numero finito de elementos {con junto finite), pode ser chamado de <sistema» e ncste case seus elementos sao dcnominados «termos».
Logicamente, um conjunto e sempre uma entidadc de natureza diferente da dos elementos que o constituem.
O simbolo de pertinencia « pressupoe a existencia de uma ou mais
Escrever x « A e o mesmo que dizer que x possui as propriedades acima, quc designarcmos pelo nome geral de propriedade de pertinencia ou rcla^ao de pertinencia.
Quando x nao possui a propriedade de pertinencia do conjunto A, isto e, quando x nao pertence a A, escre vemos; X 4 A
A nega?ao da rela^ao de pertinencia xtA€ pois x^A.
Seja R uma rela^ao qualquer na qual intervenham tres elementos x, y e z. Se nao desejamos, ou nao po demos, escrever explicitamente a rela^ao podemos user a notaqao: Rx,y,. para representa-la.
Dizemos, que uma relagao ou uma propriedade, na qual intervenham ele mentos arbitrarios, e uma identidade quando ela torna verdadeira uma proposigao, quaisquer que sejam os valores que possamos dar aos elementos genericos. Se R e S sao duas relagoes ou propriedades, dizemos quc R implica S quando S e verdadeira para os valores dos elementos arbitrarios que tornam R verdadeira; muito embora possamos admitir valores para os variaveis que tornem S verdadeira sem que R o seja.
Quando R implica S e S implica R as rela^oes ou propriedades sac ditas equivalentes.
Seja agora R,.y,. uma relacao entre as variaveis x, y e 2.
A frase «para todo x (ou qualquer seja X). R,,, ^ indict
A frase «existe x tal que R,, y. »>■ e tambem uma rela^ao entre as duas variaveis y e 2 que para um sistema de valores atribuidos a elas e verdadeira para, pelo mcnos, um valor que possa ser dado a x.
Teriamos defini(;oes analogas para um numero qualquer de variaveis.

Se R represerrta a nega^ao de R, a nega^ao de «qualqu_er que seja x, R» e «existe x tal que R:ii a nega^ao de «existe x tal que R» e evidentemente «qualquer que seja x, R».
Sejam R, S duas rela^oes. Quando dizemos R e S estamos falando de uma linica rela^ao que e verdadeira quando R e S sao ambas verdadeiras.
R ou S — e tambem uma linica rela^ao que e verdadeira quando pelo menos uma das duos R ou S e ver dadeira. Teremos assim R ou S ver dadeira quando;
a) R for verdadeira
b) S for verdadeira
c) R e S for verdadeira
Se R e a ncga^ao de R e S e a nega^ao de S tcmos evidentemente que a nega^ao deReSeRouSe que a ncgagao de R ou S e R e S.
Se todo elemento de um conjunto A pertence ao conjunto E, A e chamado subconjunto ou partc de E. Da mesma forma se tivermos um conjunto E e uma das propriedades do elemento generico do E, os elementos de E que possuem essa propriedade formam um
novo conjunto chamado subconjunto ou parte de E. Se a propriedade considerada dc E e Pa e se a proprie dade de E e p^. temos evidentemente que Pa implica Pe. Se Pa e Pc, por exempio, sac equivalentes, A e C sao a mesma parte de E.
Seja A ura subconjunto de E, o conjunto dos elementos de E que nao pertencem a A e urn outro subconjunto de E chamado conjunto complementar de A e e representado por "" A. A pro priedade P~A e a nega?ao de Pa.

O conjunto complementar dc E em E e chamado conjunto vazio (nao tern nenhum clemento). fi representado por <j}. Podemos entao escrcver:
~JL = if> e ~(t> = E
Por extensao podemos considerar um conjunto formado por um so clemento quando um clemento determinado a de E goza de uma certa propriedade
Pa- Entao A =| a i
Chamamos conjunto das partcs de E ou dos subconjuntos de E e designamos por IP (E) o conjunto cujos elementos sao os subconjuntos de E. De acordo com essa delini^ao temos
0(P(E), E (PCE) e para todo
Sejam Xj, Xj, X3 Xi partes ou subconjuntos do conjunto E; ao conjunto dessas partes de E (que representamos por (Xi) ij, sendo 1 o conjunto de indices) denominamos familia de partes de E. f(E) e uma
familia particular de parte de E que verifica a condi?ao de abrigac a todos OS subconjuntos de E inclusive a parte vazia <P i 0 proprio E.
Chamamos complexo a uma parte nao vazia de um conjunto E. A fa milia de todos OS complexes do con junto E e representada por *X^(E)
Desta forma iP(E) e *P (E) diferem somente pela inclusao no primeiro do conjunto 0.
Por extensao podemos dcfinir um complexo S de P(E) como uma parte nao vazia do conjunto 1|P(E).
S vera a ser entao. tambem, uma familia de partes dc E.
Ao complexo £ de (E) podemos a.ssociar o complexo £' das partes complementares. Convcm nao confundir
£> com S Se
^ =(Xi)iEi & =(""Xi)iei e
Sejam X e Y duas partes do conjunto E se todo elemento x de X e elemento de Y, isto e, se xeX implica xeY, dizemos que X esta contido cm Y ou que X e parte de Y. Esta relagao entre X e Y e chamada rela^ao de inclusao usando-se para ela os seguintes simboios: C (esta contido em) ou U (contem). Assira no case acima poderiamos escrever indiferentemente: XCY ouYDXa negagao da relaqao de inclusao e representada por (j: oulj)
A relagao "XC Y e YC X" e equivalente a relagao X = Y, isto 6, dois conjuntos X e Y sao iguais (ou coincidem) quando todo elemento x de X pertence a Y e todo elemento y de Y pertence a X.
Quaisquer que sejam as partes X, Y e Z de E temos: 0C X e X C E, ou ainda:
XC X — propriedade reflexiva da rela^ao de inclusao: XCY e YC X implica X = Y — propriedade antisimetrica: XCYe YCZ implica XC Z propriedade transitiva da inclusao.
^ Operafdes formats sobre os conjuntos
Se X e Y sao duas partes quaisquer de E, intersec?ao de X e Y, e o con junto dos elementos x que gozam da propriedade: "xtX e x«Y" isto e ^ conjunto dos elementos comuns a ® Y. Se I e a intersecqao escre-
vemos:
~ ^^Y sendo O portanto o simbolo da operasao intersecgao.
Se X c Y nao possucm elemento comum 1=0 e Qg conjuntos XeY sao chamados disjuntos.
definigao de intersecgao estabelecemos as seguintes proprieda-
a) XnV = YHX comutativi dade aa intersecgao, = (xriY)nz = XoYoZ associatividade da ope2 sendo como X e Y tambem parte de E.
Alem das duas propriedades acima vcrificamos mais que:
«) A relagao "ZCX e ZCY" implica ZCXr\Y.
Com efeito a intersecgao I = X Y 902a da propriedade "IC X e IC Y" ecorrente de sua propria definigao; em wnsequencia todo o conjunto Z que
gozar da propriedade"ZC X e ZC Y"estara contido em I (Note-se que a relagao de inclusao nao exclui a igualdade 0 que permite dizer tambem que todo o conjunto Z que gozar da pro priedade acima sera ou igual a I ou subconjunto de I).
b) As relagoes XnX=X; Xr>E=X e X^^ 0 =0 sao evideptes por si.
c) A relagao XO Y = X implica X C Y ou o-que e a mesma coisa -X 3 -Y
Com efeito para que XO Y seja igual a X e necessario e suficiente que XCY pela propria definigao de intersecgao. Basta entao mostrar que as relagoes X C Y e X D Y sao equi valentes. Como XeY sao subcon juntos de um mcsmo conjunto E todo elemento de ~Y sera elemento de -X uma vez que todo elemento de X esta em Y. O que nao podemos afirmar e que todo elemento -de "X esta em -Y o que somente se verificara no case tic X := Y e portanto no case em que a relagao «XC Y e Y C X» for verdadeira.
d) A relagao X C ~Y implica YC ~X. Qiialquer uma das duas im plica X/^ Y ■= 0
Essas propriedades sao conseqiiencia imediata das que vimos na aiinea c) acima. Com efeito mostramos em c) que a relagao XC Y implicava a re lagao ""YC -X. Se na primeira re lagao ao inves de Y tomarmos ~Y teremos: (osinal significa: implica) XC -Y ^-(-Y)C -X e como "{"Y) = Y
podemos dizer que XC -Y Implica YC "X.
Os conjuntos X e Y sao neste caso vislvclmcnte disjuntos uma vez que todo elemento de X esta em -Y (XC -Y) e em conseqiiencia nenhum elemento de X e elemento de Y.
F.ntao XnY=^i.
Note-se que a reiaqao de inclusao nao exclui a igualdade o que permite dizer tambem que todo 0 conjunto Z que gozar da propriedade acima sera ou igual a R ou contera R (sobreconjunto de R).
b) As rela?oes
Xw X=X; X^-'-X =E; Xu <J.=X e Xu E = E sao evidentes por si-
c) A relaqao X u Y — Y implica
XC Y que c equivalente a ~X D "Y
xeAo(B*jC). Tcremos entao da propria defini^ao de intersec^aoxtA e xe(BuC). Esta ultima relaqao implica as alternativas:
xtB. xfC ou xeBoC. Ora x«B H C implica por sua vez: xtB e xeC. Assim sendo a hipotese xeAo(BuC) implica as relaqoes;
1° XtA e xtB*— xeAoB
2." XtA e xtC"-- xtAoC
3® XtA e xtBi^C xtAoBoC
Sc X e Y sao duas partes quaisquer de E, rcuniao de X c Y. c o conjunto dos elcmentos x que gozam da propriedade: "xtX ou xeY", isto e. e o conjunto formado pelos elementos que pcxtencem pelo menos a um dos conjuntos X e Y.
A reuniao e representada pelo simbolo U . Se R e a reuniao podemos cscrever
R = X U Y
Da propria defingao de reuniao estabelecemos as seguintes propriedades:
3) XL/Y = YCX comutatividade
b) X U (Y U Z) = (X U Y)
CZ=:XwYoZ associatividade.
Alem das duas propriedades acima verificamos mais que:
a) A rela^ao «XC Z e YC Z» implica XU YC Z.
Com efeito a reuniao R <= X C Y goza da propriedade «XC R e YC R» decorrente de sua propria defini^ao: em conseqiiencia todo o conjunto Z que gozar da propriedade «X C Z c VC Z» contera R.
d) A rela^ao -XC Y. que e equi valente a - YC X,implica X Y = E
Vejamos agora as propriedades mais importantes que se podem estabelecer quando consideramos era conjunto as duas opera^oes: intersecgao e reuniao:
a) -(XuY)=-Xn-Y c
-(X r. Y)=-Y^ -Y
Com efeito ambos os membros da primeira igualdade rcpresentam. vislvelmente. o conjunto dos elcmentos de E que nao estao nem em X nem em Y. Os membros da segunda igualdade rc presentam o conjunto dos elementos de E que nao sao comuns a X e a Y.
b} Distributividade:
b.l) A intersecgao e distributiva em rela^ao a reuniao. isto e, AO(Bu C) = (AO B)«j(AO C).
A demonstraQao desta propriedade 6 imediata. Para provarmos a igual dade acima mostremos que 0 primeiro conjunto esta contido no segundo e que este por sua vez esta contido no primeiro.
Com efeito seja x um elemento generico do primeiro conjunto. isto e.
Essas re!a?6es permitem escrever:
*t(AoB)vj(AoC) e coma por hipotese x e elemento generico de A O (B u C) podemos escrever:
Ao(Bvw^C)c (Ar\B)u(AoC)
De forma analoga se fizermos x elemento generico de (Ao B)u (A/-\ C) ^eremos
1°) XtA e xfB
2-®) XtA c XfC
3-") XtA e xtB e x«C
justificam dizer:
xtAr^(B w C). Em consequencia (A
^ando demtfnstrada a distributividade ® 'ntersec^ao em rela^ao a reuniao.
^•2) A reuniao 6 distributiva em '®'a?ao a intersec^ao.
3 — Produto e soma de conjuntos. Sejam dois coniuntos E e F que podem ser disjuntos ou nao, coincidentes ou com vanos elementos co muns.
Consideremos defmido um outro con)unco P formado dos pares ordenados (x. y) cujo primeiro elemento x e um elemento qualquer de E e 0 se gundo y e um elemento qualquer de F. P e chamado coniunlo produto ou simplesmente produto de E por Fee representado por E x F. No caso de E = F. P =
E e F sao chamados de conjuntos fatores
Da mesma maneira podemos defimr o conjunto E x F X G como o con junto do sistema (x, y. t) onde xtE, ytF e (tC
Adquindas essas nogoes e facil imagmar o sigmficado do produto de um numero qualquer de conjuntos fatores.
A reuniao- dc' dbis ou mais con juntos disjuntos denominamos soma e cm lugar do smalC/ usamos + assim sendo se A t: subconjunto de E pode mos escrever: A -f- "A = E
^ — Tra(o de um conjunto sobre outro.
. ^ ^«monstra^ao desta propriedade 6 ^diata, Segue-se raciocinio absolu"^cnte analogo ao usado para a de•nonstragao deb.l).
Quando a nota<;ao -A, para indicar o conjunto complementar de A,sc pode prestar a alguma confusao ou quando aquela notac,ao nao e suficientcmente cxplicita e comum substitui-la pela seguinte. CeA que signifies 0 conjunto complementar de A em relaqao a E. Desta forma
CeE =0 e Cei#'= E

(BnC)=(Av^B)rv(A^ C)
Seja A uma parte determinada do conjunto E e scja X uma outra parCe arbitraria de E. Chamamos trago de X sobre A, que rcpresentamos por Xa I ao conjunto A O X. Nesse case sempre consideramos Xa como parte de A.
Quaisquer quc sejam as partes X c Y de E temos:

(Xw Y)a = XaU Ya e
{Xr^Y)A = XAnYA e ainda
Ca Xa =(CeX)a
Demonstremos esta ultima relagao substituindo Xa pelo seu valor A X.
Temos entao.
CA(AnX)=CAA Ca X de acordo com propriedade ja vista anteriormente. Como
Ca A =0 podcmos escrever;
CaXa=Ca X Ora
(CEX)A = Ar^CEX =CA<^./^(CAXwCEA) ou
(CeX)a = = (CA0r\ CaX) (Ca^^n Cf,A)= = CAX>^(AnCEA)=CAX 4 e
CCeX;a=CaX e CaXa ={CeX)a c.q.d.
Se 6 e urn complexo de partes de E chamamos da mesma maneira tra^o de S sobre A.0 conjunto iS ^ dos tragos dos conjuntos de 6 sobre A.
5 — Relagdes binarias.
A uma rela?ao R, y entre as variaveis x e y denominamos rela^ao binaria. Desta forma se uma proprie dade R e verdadeira para o par (x. y). temos caracterizada uma rela^ao binarfa que mais comumente e representada por x R y.
Muitas vezes a propriedade R tem urn sinal proprio: nestes casos em lugar de R usa-sc evidentemente o sinal par ticular. Se. por exemplo. x e menor que y usa-se ao inves do simbolo de relaqao R o sinal que representa a relaqao ou propriedade «menor do que» e se escreveria x y, Chama-se conjunto, representativo de uma rela^ao binaria o subconjunto de E X F formado pelos pares
(x, v), x«E, yeF para OS quais R e verdadeira, S R e o simbolo usado para designer o conjunto representativo de R, Podemos escrever
5 R CExF c se xeE e yiF
"R yr:SRC ExF isto e, se a propriedade R e verdadeira para os pares (x, y), ha em E x F um subconjunto definido pela propriedade de pertinencia R. E reciprocamente. Se ha um subconjunto em E x F a propriedade R que 0 caracteriza e uma rela^ao binaria que liga os pares (x, y) do subconjunto.
(Continua)
Teoria da Causa
David CampistaO verdadeiro valor da ciencia nao se depara tanto nos sens resultados singulares, porem deve sec procurado no espidto que a anima.
Nenhuma lei natural e absoluta em concrete, escreveu Pekelis, pois absoluto nao e senao o principio no qual toda atividade uniformiza-se no seu desenvolver, numa conformidade de ordem. de harmonia, de interdependencia causal, de uma lei.
O direito surge em seguida a ativi dade volitiva do homcm. mas nem toda ■voligao para tanto e suficiente, sendo occessario que seja uma vontade de ordem, uma vontade de lei. (1)
A vontade para agir e mister que promane duma razao suficiente, duma causa.
Ensina a teoria da razao suliciente no universe nada acontece por si proprio — causa sui, isto e, que todo scontecimenlo e o resultado de modificagao anterior, necessaria portanto a sua existencia.
fiste postulado da razao confirmado P^fa experiencia, e segundo Ihering, o ^undamento daquilo que se denoniina ® 'ai da causalidade.
Nao se conccbe manifesta^ao de vontade sem razao suficiente, como sem esta se conceberia o movimento da materia. (2)
Se a vontade age em virtude duma razao suficiente, obedece por isso a uma lei universal que na ordem material e mecanica — causa efficicns, e na ordem moral e psicologica, visando a um fim — causa finalis.
Considera Josserand que Ihering foi rigoroso na oposi^ao entre o mundo material c o mundo moral, ao afirmar quc este ultimo e cxclusivamente regido pela lei da finalidade. Sem diivida, as a^oes do homein conclucm-se visando atingir a deterniinado fim, no que consiste a parte de finalidade num sentido de futuro que encerra o motive pratico da vontade; entretanto, freqiientes sac as a?6cs resultantcs de fates e circunstancias de fenomenos anteriores, por meio dos quais elas se prendem ao passado — no que consiste a parte de causalidade.
O eminente jurista ilumina a compreensao de seu dizer no exemplo do individuo que adquire um automovel, prop6e-se evidentemente a um fim, fora do qual seu ato seria incompreensivcl, e que desempenha o papel de causa
I'mal; porem de outro lado, ele obedeceu a considera^oes ou acontecimentos que desempenham a fungao de causa eficiente; — um carro usado exigindo reforma que mal atendia a sua necessidade e que substituia por outro moderno, operaqao essa que concluia por Ihe sobrarem recursos, tornaodo sua aquisi^ao litil e indispensavel. E o ato foi assim realizado nao somente a fim de que mas, tambem — poc-que.
O ato que tern raizes no passado penetra por suas virtualidades no futuro, e portanto as duas leis de finalidade e causalidade se penetram e constantemente se conjugam uma com outra. (3)
Verifica-se que objeto singular e fatos singulares apresentam certa interdependencia ou uma concatena^ao. O valor da constatagao de dois fatos singulares ligados pela relagao de causa e efeito, e no que consiste o nexo causal.
Os elementos de ordcm psicologica que envolvem um ato juridico e que por isso se encontram no contrato, cristalizam-se na nogao de causa.
Surge a causa das profundidades do ser pensante, porem nao e bastante enxergar ai o valor psicologico, fazendo-se mister sentir a rcalidade e analisar o alcance de inlluencia desse valor no dominio do direito.
Ora, o direito e feito «para o homem* e 0 homem para o qual foi ele feito e uma «pess6a» dotada de todos atributos morais da personalidade humana, e o respeito a esta constitui a razao de set do direito. cujo sentido e essencialmente espiritualista.
Na realidade juridica, observa-se que o fato vem prevalecendo a expensas do direito.
Sobre o materialismo do fato paira o idealismo do direito, e os romanos que proclamaram ex [acto jus otitur, sentiram que justitia est constans et perpetua voluntas.
Da conjun?ao do fato material objetivo e da vontade espiritual subjetiva no entrela^amento da causa efficiens e causa finalis, estabeleceu-se a teoria da causa.
A necessidade de seguranga nas transagSes, de denuncia dos disfarces do ilicito, como de servir de critcrio as promessas sem forma suprindo-lhes deficiencias, e de corrigir os excessos do formaiismo, foi a forga animadora da teoria da causa.
Muitas vezes a imoralidade nao se patenteia logo, escreve Ripert pois a convengao e aparentemente «irreprochab!e». e o fim cuidadosamente escondido, somente aparcce, quando o imora! se torna conhecido. (4)
A teoria da causa significa para Saleilles a um tempo, atentado e garantia ao principio da autonomia da vontade, pois enquanto Ihe traga limitcs. levanta tambem fronteiras a investigagao do Juiz. Impoe limites a ideia de liberdade ampla, porquanto em face de um ato pelo qual alguem se obriga, permite ao juiz investigar do fim direto a que visa a obrigagao, fim esse que se integra no conteudo do ato.

Seria o caso duma «.obciga(ao sem causa», a que viria revelar a finalidade do ato.
Nao permite, portanto, a parte que se obriga, de scparar sua promessa, isto e, a vontade de se obrigar do fim imediato a que visa essa promessa e que Ihe serve de causa juridica.
Assim sendo, o conteudo do ato juridico apresenta seus limites e contornos fixados pela lei, nao sendo as partes permissivel retirar elementos que por seu carater e fungao compoem a integragao do ato cuja unidade e preservada.
A delimitagao do conteudo de um ato fica a merce da apreciagao soberana das partes que, se formulam confoime entendem essa ou aquela clausula Participando do conteudo juridico da Vontade, entretanto, nao Ihes e dado pretender que tais clausulas se excluam da integridade do ato.
Seria a hipotese de uma compra e venda em que as partes pretendessem separar suas declaragoes reciprocas, a fim de apresenta-las como atos isolados, bastando por elas proprias. O com prador, embora se reconhecesse dcve'^or de determinada quantia, poderia
*^®ixar de indicar que se tratasse do Prego de venda; ai, entao, o Juiz teria ° direito de procurar restabelecer a bipotesc ou unidade do ato, como o •cria o vendedor de provar que a pro"icssa acobertava a obrigagao resultante de uma venda, e se a promessa ^osse nula, conseqiienteraente nula seria
® Venda.
Assim, toda a teoria da causa, se9undo Saleilles, cristaliza-se na ideia
de que «a delimitagao de um ato juri dico escapa a autonomia da vontade privada». (5)
Os poderes de apreciagao restringemse ao que constitui o conteudo juridico do ato, sendo que tudo aquilo que Ihe ultrapassa, cai no dominio no qual se impoe a distingao importante entre a causa e os motiuos.
0 sentido de equivalencia e simili tude dos termos, produz nogao difusa que suscita confusao ate na jurisprudencia, porem,-a ideia se precise como se remove a dificuldade, logo que se constata que o mofiuo e estranho ao conteudo do ato.
A respeito esclarece H. Capitant demonstrando que a causa e o fim do contrato que «far parte integrante da manifestagao da vontade criadora da obrigagao» enquanto o motivo e «a razao contingente, subjetiva e, por isso. variavel com o individuo.»
Alguem necessitando de certa quan tia com que 'preteridc saldar compromisso, aplicar em negocio, ou dotar a filha, vende um imovel de sua propriedade. Verifica-se ai, a causa da obri gagao identificando-se com o fim, fenomeno inerente aos contratos sinalagmaticos em que o «compromisso de um 6 o fundamento do compromisso do outro». A fim de embolsar a quantia pactuada, o vendedor transfere o imo vel, consoante a regra de que na venda e 0 pagamento do prego que dctermina a replica da entrega da coisa.
Confirma-se. assim, que a causa final e a unica razao psicologica da vontade de contratar.
Encontra-se ai a causa do ato que se Integra no seu conteiido. enquanto o motivo permanece estranho a operagao, como razao contingente e subjefiva no dizer de Capitant.
O motivo instigador do ato e anterior a manifestagao da vontade de vender 0 imovel e para validade do ato a declara^ao do motivo e perfeitamente prescindivel.
O motivo e anterior ao acordo das vontades, e permanece no foro intimo do individuo, enquanto o fim visado esta no future, sendo que foi para atingi-lo que o contrato foi concluido. Tres coisas nao se devem confundir, anotavam os comentadores do Codigo Civil frances perante os arts. 1 . 108 e 1.131 onde hauria procedencia a teoria da causa: — objeto, causa e motivo.
Objeto da obrigaqao consiste no beneficio que o devedor deve levar ao credor que tern o direito de exigir o que Ihe e devido, como o devedor no ser a isso coagido.
Causa e o porque de alguem que se obriga, isto e, o [im imediato que se propoe atingir em se obrigando.
Motive e o fim mediato que se pro poe a parte que se obriga, fim geralmente secreto a que se nao refere no contrato. (6)
No ato de voligao e que se tern de procurar a causa, parte integrante do
(6) Mourlon — Rep, sur le Cod. Civ, 11 nM-IOl,
ato, esclarece Ripert, porquanto os mo tives apresentam-se exteriores, contingentes proprios de cada pessoa.
Quaisquer que sejam as circunstancias dentro das quais a compra e venda se conclua, as obrigagoes do vendedor encontram sempre a respectiva causa' nas do comprador on vice-versa,
O que de nebuloso envolver venha causa e motivo, sente-se dissipar a luz do que escreveu Josserand: — «A causa no sentido classic© do termo e um valor consfanfe, portanto um valor abstrato pois que de mode algum e influenciada pela personalidade do ato. pela raentalidade das partes: ela e o que e, vale o que vale, encarada nela propria em tanto como elemento constitutivo dum ato juridico; por isso, poucosubjetiva quanto possivel, porem essencialmente impessoal: escapa a toda tentativa de individualiza^ao para permanecer puramente especifica c organica.» (7)
standards fundamentals que, embora representem a armadura de todas as legislagoes, em todas as epocas, em todos OS paises, sujeitam-se, todavia, a contestagoes a regressao, a negagao, condigoes essas em que veio se inspirar a teoria da relatividade e do abuso dos direifos que constitui uma das pegas mestras dos sistemas juridicos das civilizagoes modernas.
Ato abusivo seria o ato malicioso no cstado atual do direito positive, se transformou no ato antifuncional eontrario ao espirito de determinado direito.
O problema que se arma portanto, semelhante conjuntura, encontra, no estado atual do direito positivo, resolugao e desfecho adequado na 'eoria da causa erigida em face do Principio de que — a obrigagao fund^da em causa ilicita e incapaz de produzir qualquer efeito, — e que «a causa ® 'licita quando e contraria aos bons Costumes ou a ordem publica.»
Per disposigao de ordem piiblica, entendem-se aquelas compreendidas nas leis de direito publico quais as obrigagoes ou direitos dos particulares em materia politica, no concernente as relagoes com os diferentes poderes e seus agentes.
Quando, porem, se diz que no di reito privado prevalece um principio de ordem piiblica, assim se o entende exigindo em considcragao a interesse geral que estaria comprometido se as partes fossem livres no impedir a aplicaglo da lei. (8)
Para Colin e Capitant, dificil seria definir em rigor, ordem piiblica, mas quanto a bons costumes, nenhuma incerteza se depara, pois em definitive cfes bonnes moeurs c'esf la morales.
Constitui principio universal de di reito positive que toda obriga?ao resultante de convenqao das partes deve repousar sobre causa licita, condicionando-se a tanto a validade dos contratos.
Ha de assentar a convengao das partes em justa causa, porquanto nenhum efeito podera produzir a obrigagao sem causa ou falsa causa, uma fundamentalmente nula. e outra anulavel.
Significa no conceito de Josserand, verdadcs eternas, 'deias [orgas, ou
Abre-se ai uma atmosfera difusa em ^■rtude de que, bons costumes e ordem Pubiica, sao conceitos que se nao pre^'sam em definigoes, consoante opinioes S^neralizadas que os consideram como "^"ogQes variadas no tempo e no esP3go».
Ac proclamar-se na epoca atual, rigorosa separagao entre a moral e o di reito, Ripert da a publicidade, obra das mais notaveis pelo fulgor da forma e riqucza de .substancia — La Regie Mo rale dans les Obligations Ciuiles cm que demonstra que em questoes de direito, verifica-se que a parte mais tecnica e sempre dominada pela lei moral.
E a obra de Ripert que perante a jurisprudencia frui do prestigio dum evangelho de sabedoria, traz a claridade que entre a regra moral e a regra juridica, nenhuma diferenga de dominio, natureza e fim, se interpoe, pois que o direito deve realizar a justiga, e a ideia do juste e uma ideia moral.

do lei
A que sinais distinguir bons ou mam; ^Pstumes, indaga Mourlon nas suas ReP^ligoes sobre o Codigo Civil frances Pois sao coisas que se sentem mais lue se definem, razao pela qual a abstem de dar regras a respeito, l^^'^ferindo remete-las a sabedoria dos
Sustentam outros, que bons costumes nao se determinam em virtude de ideal
religiose ou filosofico, porem, segundo OS fatos e a opiniao comum, o que vale dizer que o ato e valido quando a opiniao publica nao o condena.
Bons costumes e opiniao publica representam, pois, ideia que resulta afinal em fator diretivo na interpretagao de um ato juridico, com poder de focalirar o ilidto que se disfarce na finalidade do contrato ainda mesmo de aparencia perfeita.
Ao concluir-se um emprestimo, a causa da obriga^ao verifica-se na entrega da quantia ao mutuario. Negocio inatacavel na conclusao apresenta,' todavia, na sua ambiencia uma finalidade ilicita — a operagao destina-se a fi nancial um estabelecimento de jogo ou casa de prostitui^ao.
Ai, entao, os moveis do ato penetram na interpreta^ao por seu aspccto psicologico, predominandc, portanto, o intcresse coletivo e dos bons costumes, capazes de desvendar o ilicito. e assim, precipitar-se o contrato na nulidade.
Salienta Saleilles em sua notavel obra «Da Declaiagao da Vontade» que «o contrato nao e um ato de predominio duma vontade criadora de direito, porem o processo de adaptagao de vontades privadas a utilizagao de esforgos comuns. para satisfagao de interesses individuais reciprocos.» Portanto, e segundo o fim social dum procedimento de sabedoria juridica e nao, segundo a fantasia individual de cada uma das partes que o contrato deve ser interpretado e aplicado.
O Juiz no caso de divergencia na intengao das partes devera seguir uma
interpretagao mediana que seja aquela que a boa-fe, os usos e a lealdade comercial devessem impor, como sendo a vontade comum, a qual cada um dos contratantes tenha direito. (9)
Formaria, assim, continua Saleilles, um ideal de carater objetivo segundo o qual apreciaria consoante as circunstancias pessoais das partes, o que deveria ser o contrato, no sentido de responder ao fim social do direito.
Inclinando-se, pois, perante este ideal, capacita-se o Juiz para dissipar diividas e incertezas que se deparem na vontade dos contratantes.
Desta sorte, nos contratos, nenhuma das duas vontades deve-se interpreter isoladamente e unilateralmentc, porquanto, so podera haver uma vontade comum a fim de rcsponder aquilo a que cada uma das partes tenha pretendido atingir. Resultaria conseqiientemente dai, uma vontade contratual que nao seria cxatamente nem a do outorgante nem do outorgado, porem de certo modo ficticia e artificial, como von tade puramentc juridica em vez de von tade real e que melhor condissesse com a finalidade do ato.
6 assim que cumprindo decidir, a jurisprudencia inclina-se a investigagao de ordem puramentc psicologica, atenta a que a fungao judiciaria e de secundar e completar a fungao legislativa, quan do se trata, observa Saleilles, de suprir em materia de atos privados, a inexperiencia dos individuos, complctando em tais hipoteses suas vontades, isto e, in-
(9) Saleilles — Op. cit. ns, 86-88 art. 133. C. Civ. AlemSo.

terpretando os atos pelos mesmos convencionados, conforme o fim economico que tiveram em vista.
Porquanto o Juiz, continua o eminente autor e jurista, «nao 6 somente o auxiliar das partes, no que conceme a garantia de seus interesses particula r's. £le Q antes de tudo, o guardiao dos interesses gerais, no que toca a manutengao da moralidade publica.»
Imp6e-se, desta sorte, como irretorquivel verdade que e a diregao da von tade seguida pelos contratantes que resulta decisiva, porquanto, no mesmo passado na mesma ambiencia, proPosito da mesma situagao, e valido ou, contrario nulo, segundo o fim a que t'nde em determinado caso.
E OS atos sao validos ou nulos seQundo vem discernindo a jurisprudenescreve Josserand, consoante as Preocupagoes de que procedem os fins
^ que tendem, os moveis que os inspi^3tam — «i]icitos cm rcgra gcral, eles P°dem ser imunizados e como que puri"^^dos pgiag razoes que os fizeram ®^tabelecer».
distingao de tais opostos dclineia^r'te a projegao luminosa das hipo'eses:
as liberalidades feitas a concubina ^ulminadas de nulidade quando tern objetivo instituir ou manter relafora jg sociedade conjugal, entreseriam declaradas corretas se j ^'^rminadas para fazer cessar tais refio objetivo de por termo a uma '^P^gao irregular ilicita:
o emprestimo feito ao jogador sera se destinado a manter a continua-
gao da partida empenhada, alimentando deste modo o jogo, tornar-se-ia, entrctanto, licito se efetuado com o fim de permitir ao jogador infeliz de liquidar uma situagao desastrosa, quitando-se de compromissos assumidos;
— a clausula de viuvez imposta pelo testador, sera nula se for produto de sentimentos de rancor ou de infundados ciumes postumos inspirada, enfim, por motives reprcensivos, cuja prova incumbiria a parte que promovesse a anulagao; se o testador foi todavia inspirado pelo .desejo de assegurar a unidade e coesao da familia prevenindo-se contra dissentimentos, ou na sua sociedade comeicial como precaugao e defesa de interesses economicos e financeiros procurando evitar que o controle e diregao dos negocios fossem parar em macs de estranhos, a clausula de viuvez e perfeitamente legitima.
Tudo assim conduz, escreve Josse rand. a utiiizagao da operagao para um fim licito ou ilicito'e a distingao entre o excrcicio normal e o exercicio abusivo do direito de contratar.
Foi assim que a jurisprudencia «eprise d'equite et de progress fez da nogao de causa a pcdra de toque na vasta teoria do abuso dos direitos, pois que abusa da liberdade contratual, aquele que falscando um ato juridico, fa-lo assentar sobre moveis ilegitimos e, assim o utiliza visando a fim ilicito con trario as preffsoes e ao desejo do /egislador. (10)
Brasilia e a instituicao 7 do seguro
■gNTRE AS CEia^oes do engenho hu
mane, no campo economico, a Instituigao do Seguro ocupa, sem margem a contesta^ao digna de aprc?o, uma posicao das raais destacadas.
Sua infiuencia, altamente benefica. se faz sentir a cada passo na vida economica, e de tal mode se espraia e estende, que praticamente nenhuma atividade deixa de auferir-]he as vantangens e proveitos que proporciona.
Nao e preciso recorrer. para ilustragao de tais conceitos, a exemplos numerosos, detalhistas ou complexos. Basta citar um fato que, em nosso pais, agora mesmo esta ocorrendo.
Resultantc de antiga aspiragao nacional, e por isso mesmo uma exigenda historica que se nao mais podia postergar, a iniciativa governamental da constru^ao de Brasilia sera, decerto, importante fator de um novo e consideravel impulse em nosso desenvolvimento economico, Pols bem, em obra de tal magnitude, e sem duvida de alta valia a cooperagao que vem sendo pres-
tada pela Instituigao do S eguro, prestando assistencia economica contra todos OS riscos enfrentados, na constru^ao ciclopica, por todos os empreendimentos e atividades — e sobem a miihares — que se associaram no histo rica cometimento, Mas ai nao se detem a colaboragao do Seguro.
O Instituto de Resseguros do Brasil, compreendendo a necessidade de se multiplicarem as edificagoes capazes de enriquecer o patrimonio imobiliario e iirbanistico da nova capital, tomou a iniciativa de empreender a construgao de um predio no qua], condignamente, possam vir a instalarem-se os servigos das empresas seguradoras. Estas, que podcriam participar da obra em condominio, prontamente acorreram com seu apoio e solidariedade, com isso prestando ao Governo Federal, em seu patriotico emprcendimento, mais uma valiosa colaboragao.
(Transcrito de «0 Globes, de 19 de Janeiro de 1959).

Notas sobre seguro de vida em grupo
HISTORJCO — DEFINIQAO ~ CLASSIPICAQAO — O SEGURO EM GRUPO NO BRASIL: SEU DESENVOLVIMENTO E SITUA(;A0 ATUAL — EXPOSIQAO COMENTADA DAS <iNORMAS PARA O SEGURO DE VIDA TEMPORARIO EM GRUPOi
A atualidade do assunfo permitiu, nao obstante a carencia de merifo do professor, que o curso ministrado, no ano passado, peJo autor, despertasse mteresse, afe mesmo no exterior, daqueles que dele tiveram conhecimento.
A mesma razao, isto e, o atrativo que 0 assunto encerra, encorajou-nos a, atraves da Revista do divulgar, nestas Notas, a raateria tratada naquele curso.
I — H1ST6RICO
Nao se pode apontar com precisao o come?o das operagoes do seguro de vida em grupo. Sofrendo, atraves dos tempos, muta9oes profundas, veremos que quanto mais nos reportamos ao passado, mais ele se assemelha a outros tipos de seguros.
Nos meados do seculo XIX, na epoca do trafico de escravos. eram suas vidas seguradas por urn so contrato. O se guro, por determinada quantia para cada vida, se obrigava a pagar ao proprietario tanfos escravos quantos perecessem durante o transporte por mar. Sabendo-se que os escravos eram simplesmente bens economicos, de valor venal, tais contratos eram praticamenfe seguro de transportes de cargas de vidas humanas.
Adyr Pecego MessinaChcte da Divisao Aeronauticos e Automaveis. do I.R.B.
Em fins do seculo passado, quando da abertura do canal do Panama, se guro scmelhante foi emitido por uma seguradora norte-americana. O con trato cobria as vidas de cerca de 700 «coolies» transportados pelo navio «S. S. Seawitch» da China para o Pana ma. Cada «coolie» era segurado por 15 dolares e o beneficiario era o embarcador.
Ainda nos fins do seculo passado, antes de serem introduzidas nos Estados Unidos as leis de prote(;ao aos trabalhadores, os cmpregadoces estipulavam, em favor de seus cmpregados, o que se denominava «sc9uro coletivo de trabalhadores». Tais seguros ja possuiam algumas caracteristicas do seguro de vida em grupo: o contrato de seguro se fazia entre empregador e seguradora, os emprcgados eram os segurados e todos os empregados de uma entidade eram abrangidos pelo seguro. Contudo, o risco principal era o de acidente ou mcrte ocupacional, sendo o de morte prematura apenas inciden tal, 0 que vinha dar ao contrato um caratec de seguro de acidentes do trabalho.
Em 1905 foi assinado um piano que cobria os empregados de uma cadeia
de varejistas. As apolices eram individuais e eram exigidos exames me dicos. Contudo OS seguros eram renovaveis anualmente e os premios das apolices eram coletados e pagos a se guradora pelo empregador.
Por essa epoca condigoes mais li berals eram concedidas para seguros individuals de emprcgados de organizagoes que tivessem no minimo 100 componentes, desde que os premios fossem recolhidos em bloco pelo organizagao.
Em principios deste seculo, uma grande firma norte-americana, a Mont gomery Ward and Company, contratara um atuario para estudar a possibilidade de serem assegurados beneficios, em caso de morte, a todos os seus empregados. Tendo aquela firma afastado a hipotese de um auto-seguro, propos, em 1910, que companhias de seguros de vida Ihe aprcsentassem pianos para segurar a vida de seus empregados.
As condigoes solicitadas foram as de que todos OS empregados, independentemente de idade ou condigao fisica. recebessem a cobertura e de que um baixo custo permitisse a concessao de Um beneficio razoavclmente amplo a ser dado a cada empregado. A apolice foi finalmente subscrita pcla Equitable
Life Assurance e entrou em vigor em
1-° de julho de 1912 com um grupo segurado de 2.912 empregados e com o capital total segurado proximo de 6 milhoes de dolares, Dispensaram-se OS exames medicos, fixou-se a quantia segurada para cada empregado em um salario anual, limitada a 3.000 dolares por pessoa, e os premios eram intciramente pagos pelo empregador.

Contudo, nao foi esta a primeita apdlice emitida com as caracteristicas do atual seguro em grupo. A mesma Equitable Life em 1911 emitira uma apolice para a firma Pantasote Leather Company de propriedade de um dos diretores da seguradora.
A apolice aprovada pelo Departamento de Nova York apresentava con digoes usuais atualmente: cobria a vida dos empregados da companhia constantes dos registros, o seguro era na base de termo renovavel anualmente, os premios eram pagos adiantadamente pelo empregador com o privilegio de participagao nos lucros, foi concedido o prazo de graga de 30 dias, o seguro era efetivo com o vinculo do emprego, a conversao cm apolice individual so era concedida apos a pessoa ter sido segurada durante cinco anos continues.
Apos esse inicio auspicioso o seguro de vida em grupo passou a receber restrigoes, tanto juridicas como tecnicas, que, sem diivida, retardaram o seu desenvolvimento.
As autoridades fiscalizadoras de diversos estados eram de opiniao que as leis nao permitiam seguros de vida sem exame medico, nem a emisslo de apo lices a taxas mais baixas do que aquelas a disposigao das pessoas nao integrantes de um grupo. Nao somente aquelas autoridades, mas fambem acatados atuarios qucstionavam sobre a solidez tecnica do novo piano.
Em 1913 a Convengao Americana de Seguro de Vida resolveu «que a emissao de seguros em grupo, sem exame medico individual, e uma ameaga ao seguro de vida de reserva legal, uma discriminagao contra os segurados regularmente examinados, e desleal em
seus pnncipios, e perigosa em sua pratica.»
Tambem antagonicas ao seguro em grupo foram as organizagoes sindicais. Eram elas de opiniao que tal seguro restringia a liberdade dos trabalhadores porquanto tenderia a fixa-los aos empregadores que concedessem a cobertura. Outrossim poderia comprometer a ligagao entre o trabalhador e o seu sindicato transferindo-a para o empregador. Temiam, tambem, que a amea^a do cancclamento da cobertura pudesse ser usada como meio de impedir greves.
Nio obstante toda essa oposifao, o seguro em grupo se desenvolveu. Em 1912 operavam duas sociedades e o capital segurado total era de 13 miIhoes de dolares. Em 1918, aumentou para 16 o niimero de sociedades operando e o capital segurado total subiu para 630 milhSes de dolares.
No decorrer desse desenvolvimento, apolices foram emitidas em condi^ocs nao condizentes com a instituigao.
Em 1917 a Convengao Nacional de Fiscais de Seguros aprovou um estudo elaborado por fiscais de seguros e atuarios designados pela «Actuarial So ciety of America® visando a regulamenta^ao c a elabora^ao de certas condicoes padrao.

Desse trabalho constou uma definicao que e um verdadeiro conjunto de regras. Ei-la: «o seguro de vida em grupo e aquela forma de seguro de vida que cobre nao menos de 50 empregados, com ou sem exame medico, aceito por uma apolice emitida em favor do empregador cujo premio e de ser pago pelo empregador ou pelo empregador e empregados conjuntamente, e scguran-
40
do apenas todos os seus empregados, ou todos de uma ciasse qualquer ou classes caracterizadas por condicoes pertinentes ao emprego, por montantes segurados baseados sobre algum piano que impega a livre escolha individual e em beneficio de pessoas outras que o empregador: desde que, porem, quando o premio e pago conjuntamente pelo empregador e pelos empregados os beneficios da apolice sejam oferecidos a todos os empregados elegiveis e que nao menos de 75 % de tais empregados venham a ser segurados.®
Esta definigao foi tornada lei pelo Estado de Nova York em 1918 e em 1945 havia sido adotada na mesma forma, ou em forma muito seraelhante, por 16 outros estados.
Por volta de 1941 surgiu o «seguro permanente em grupo.® Tal seguro difere do seguro em grupo convencional porquanto t ele, total ou parcialmente, aceito numa base de premio nivelado contrasfando com a base temporaria renovavel anualmente.
Em 1946 foram introduzidas modificagoes na defini^ao adotada em 1917.
Encerramos aqui o esbogo hist6rico do seguro em grupo no seu pais de origem e onde fortemente se desen volveu: OS Estados Unidos da Ame rica.
No Canada, foi proibido por lei ate 1917 mas desde entao vem se desenvolvendo razoavelmente.
Na Inglaterra foi introduzido em 1914, sendo seu crescimento nao comparavel ao dos Estados Unidos.
Em 1931, foi introduzido na Alemanha sem encontrar grande aceita?ao.
41
Alias, em 1920 uma grande companhia americana estendeu suas operaCoes a Europa, principalmente, a In glaterra, mas retirou-se apos alguns anos.
IT — DEFINigAO
Como diferenciacao fundamental entre o seguro em grupo c os outros tipos de seguro de vida, deve ser tida a substituicao da sele^ao do risco indi vidual pela selegao do grupo.
Assim sendo, uma definicao ampla pode ser adotada nos seguintes termos:
«Seguro de vida em grupo e um piano para segurar grupos de pessoas sem sclegao individual de suas vidas.»
A maneira pela qual pode ser fcita tal selecao grupal sera detidamente abordada quando comentarmos as «Normas» recentemente instituidas pelo D.N.S.P.C.
Ill — CLASSIFICAgAO
Sob o ponto de vista tecnico-matematico, os seguros em grupo podem ser: temporarios ou permanentes. Tempo raries sao aqueles cujo premio e calculado numa base anual, ou seja a «premio de risco®. Permanentes sao os que comportam premio nivelado tais como vida inteira, pagamentos limitados. dotais, etc.
Outra classificagao pode ser feita consideiando a natureza do grupo sujeito ao seguro. Desse modo teremos:
Seguros de empregados (employer group life insurance) ■— emitido em nome de um empregador, segurando seus empregados, em beneficio de pessoas outras que nao o empregador.
Segiiroa de sindicatos (labor union group life insurance) — (no Brasil,
seguros de associagoes profissionais) em que a apolice e emitida pela entidade de ciasse, para segurar as vidas de seus membros, em beneficio de pes soas outras que nao a entidade.
Se^ros de associagoes (association group life insurance) •—• seguros emitidos nas mesmas condi^oes da ciasse anterior por associagoes nao profissio nais.
Seg'uros de deuedores (creditor group life insurance) — em que a ap6lice, segurando as vidas dos devedores de um credor, e emitida no nome do credor e em seu beneficio ate o saldo de cada devedor.
IV — O SEGURO EM GRUPO NO BRASIL
Seu desenvolvimento c situa(;ao atual
Em 1929 era emitido pela Sul Ame rica o primeiro seguro em grupo no Brasil. Tal fate foi profeticamente saudado pelo entao Atuario-Chefe da Inspetoria de Seguros, cuja raemoria u I.R.B..,-viria cultuar dando a sua biblioteca o nome de «Albernaz».
Pouco depois, em 1931, era a ItaloBrasileira, (atual Seguradora Brasileira), autorizada a operar na modalidade, o que, cntretanto, s6 veio a fazer em 1934, quando eraitiu suas primeiras apolices.
A Sociedade Previdencia do Sul colocou seu primeiro seguro cm grupo era 1937.
Era 1941, a Equitativa, hoje detentora de grande carteira, emitia sua primeira apolice de seguro em grupo.
Na atual dccada, isto e, a partir de" 1950 e que decididamente se ampliou
o mercado segurador. estando operando no momento 15 sociedades, ou seja. todas as que operam no ramo Vida.
Em seus primordios no Brasil, o seguro em grupo foi operado na conformidade da doutrina e da tecnica do seu pais de origem. Condi^oes intrinsecas e extrinsecas Ihe asseguraram, principalmente nos ultimos anos, tal desenvolvimento que, necessariamente, vem provocando certas modificaijoes nos padroes dc origem.
Em se tratando de um seguro cujo premio e «niveIado», nao atraves do tempo, mas atraves das idades dos componentes de um grupo, aceito sem exame medico e sem as formalidades da selegao individual, seu pre^o e evidentemente taixo, o que ihe enseja uma penetragao em todos os niveis economicos da popula^ao. £ portanto um seguro de alto conteudo social.
Per outro lado nao esta ele contingenciado ao mats forte fator contrario ao seguro de vida: a dcsvalociza^ao monetaria. Os capitals segurados podem sem maior dificuldade, ser reajustados ano a ano.
O seguro em grupo nao se limita, poren. a ser atraente aos segurados. Sabido e que os seguros individuals, nos maldes classicos em que sao operados, apresentam elevadas despesas de aquisigao. Os premios dos primeiros anos de uma apolice individual sao deficitarios, demandando dos seguradores um financiamento cujo prazo de amortiza^iio nao e inferior a cinco anos.
O seguro cm grupo, de maior simplicidade tecnica e administrativa, com despesas praticamente constantes, tornou-se, portanto, de alto interesse para OS seguradores.
As sociedades vem estimulando e incrementando suas produgoes, sendo que as tres ultimas a encetarem operagoes no ramo Vida, praticamente so emitem seguros em grupo.
Em 1957 OS premios auferidos por todo o mcrcado estiveram em torno de 1 bilhao e. 53 milhoes de cruzeiros centra 1 bilhao e 542 milhoes de cru zeiros nos seguros individuals. Con•iiderandO'SC o tempo de operagoes de cada um, denota-se a importancia crescente dos seguros em grupo.
Contudo, 0 ccescimento dos premios e do niimero de sociedades operando ensejou forte luta competitiva.
A exemplo do que ocorrera nos Estados Unidos, seguros foram emitidos em condigdes nao condizcntes com a instituigao. A liberalidadc exagerada nas condigdes de aceitagao acabou por preocupar os prdprios seguradores nadonais, o I.R.B, e o D.N.S.P.C.
Em fins de 1954 o I.R.B. constituiu uma comissao integrada por atuarios, tecnicos de seguros, elementos de diregao, elementos de produgao e inspelor dc seguros. para que procedesse a um estudo visando a set proposto ao D.N.S.P.C. 0 estabelecimento de ceilas normas que disciplinassem as cpcragdes dc seguros em grupo.

Tal estudo, submetido a aprovaglo de diversos drgaos do I.R.B. e da.s sociedades de seguros. foi finalmente ievado a considcragao do Senhor Diictor Geral do D.N.S.P.C. que. em 30 de setembro de 1957, baixou a Por:a;ia n." 41 que aprovou as «Normas para o Seguro de Vida Temporario era Grupo».
Tais «!No-rnas» scrao por nos comentadas a partir do proximo Capitulo.
(Continua)
Normas Incendio
I — A retengao das sociedades sera a que constar da sua tabela efetiva de retengoes, acordada entre o I.R.B. e a sociedade, devendo os valores constantes de cada uma ser:
a) No maximo. igual ao produto do fator de retengao respectivo. pelo limite correspondente da ta bela padrao (anexo I) limitado, porem, ao valor fixado como limite legal;
b) No minimo, igual a 30 % (trinta pot cento) do produto do fator dt reteng.^o respective, pelo limite corlespondentc da tabela padrao (anexo 1), nao podendo, porem, em hipotese alguma, ser inferior a Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), cxcetuados o.: casos em que 10% (dez por cento) do limit® legal resuitar importancia menor, hipotese em que prevalecera esta ultima importancia.
1.1 — As sociedades deverao indicar nas respectivas tabelas de re tengao, 0 ciiterio a scguir nos casos de I'Uiitcs multiplos estabelecidos peb I.R.B.
1.2 — A partir da entrega do formulario de resseguro definitivo ao I.R.B. as sociedades poderao:
a) Adotar retengoes diferentes dos valores constantes de suas ta belas efetiva.s.
b) Efetuar cessoes integrals de apolice-risco quando ja tiverem to rnado uma retengao no mesmo risco isolado.
1.21 ■— Quando as socie dades adotarem retengoes diferentes de suas tabelas efetivas, estas prevalecerao ate a dala normal de entrega dos formularios de resseguro das novas apolices-risco.
1.22 — Quando ocorrer alteragao na classificagao de riscos em que forem adotadas retengoes especiais, estas ainda prevalecerao, desdc que estejam comprecndidas entre os novos limites maximos e ininimos. Em caso contrario, prevalecerao, ate manifestagao diversa, os limites da nova classificagao que mais se aproximarem das retengbes especiais anteriormente adotada.s.
1.23 — Respeitado o disposto no item 2.1 desta clausula, quando forem acordadas novas tabelas, as retengoes espedais. ja acotadas, vigorarao ate manifestagao em contrario, desde que compreendidas entre os novos limites, Em case contrario, prevalecerao, afe nova manifesta^ao, os limites das novas tabelas que mais se aproximarem das retcn^oes espedais anteriormente adotadas.
2 — As tabelas de retengao efetiva somente poderao ser alteradas quandc forem alterados os fatoies de retenfao ou limites legais, ou no inicio de cada exercido, devendo, para isso. as sodedades se entenderem antecipadamente com o I.R.B.
2.1 — As novas tabelas de reten^ao deverao vigorar, apenas, para as apolices emitidas apos a data dcterminada pelo I.R.B. para o inicio de vigencia das mesmas e para as responsabilidades cujo reajustamento de cessao se tornar necessario. a partir dessa mesma data, por aumento ou reducao da importancia segurada ou por qualquer outro motivo de altera^ao do risco ressegurado.
2.2 '— No caso de apolices plurianuais, a alteratao do resseguro, para adaptacao a nova tabela, podera ser feita a partir do mais proximo nniversario de vigencia da apolice.
3 — O I.R.B. reserva-.se o direito de modificar a reten^ao e a cessao da sociedade, desde o meio da responsabilidade, caso a classifica^ao adotada nao corresponda aos dizeres da ap6lice.
4 — No caso de, durante a vigen cia de uma apolice, a sociedade retificar a classifica^ao de um risco que constatou ser crronea, devera ser observado o seguinte:
a) quando, em face dos zeres da apolice, puder ser considerada aceitavel a classificagao que vinha sendo adotada, a retificagao so podeva prevalecer a partir da data em que os formularies de corre^ao forem enticgues ao I,R,B.
b) quando, em face dos di zeres da apolice, for evidente o erro de classificagao adotada. a retificasao devera prevalecer desde o inicio do scguro.
5 — No ca.so de a descri^ao do riscc no texto da apolice nao coincidir com a rubrica aplicada, devera esta ultima prevalecer para efeito da aplicagao dos itens 3 e 4 acima.
6 — No caso de a sociedade alterar a taxa ou dizeres da apolice, por meio de endosso, a reclassificagao do resseguro inicial so podera ser efetuada a partir da data da emissao do endosso. * * *
A retengao das socicdades e a indicada nas respectivas tabelas de retenqao, que sao calculadas em funqao do faCor de reten?ao de cada uma.
O Fr multiplicado pelo indice da Tabela-Padrao de Limites de Rcten^ao (N.I. — pag. 28) resulta no maximo da retengao em cada LOG. fi claro que tal valor nao podera ser superior ao limite legal (LL). O minimo de retengao corresponde a 30 % do produto Fr vezes o indice da mencionada tabela, nao podendo este minimo, no entanto ser inferior a CrJ 30,000,00,
salvo no caso em que o limite legal for inferior a Cr$ 300.000,00. quando o minimo sera igual a 10 % desse limite legal.
Sobre a tabela de retengao, sua forma, requisites indispensaveis a sua vigencia, devem os interessados con-
sultar 0 artigo do tecnico Maria Theophanes Monteiro Lopes, publicado no numero 107 desta Revista.
Para melhor entendimento analisemos o seguinte exemplo:
Sociedade com Fr = 10 e LL = = 650.0
O minimo de 30 % nao c calculado sobre a retengao maxima e sim, sobre o ja mencionado produto Fr vezes o indice da tabela padrao.
Nas tabelas enviadas pelas socic dades devera constar apenas um valor em cada LOG. o que constitui a reten gao efetiva. Tal valor podera ser o maxima ou o minimo de retengao, ou qualquer valor situado entre esses li mites.
Da tabela devera constar. ainda, os criterios que a sociedade ira adotar, ou sejam:
а) Adogao ou nao de limites multiplos nos casos de seguros fhituantes ou sobre edificios de construgao su perior.
б) Gonceito de raesmo risco isolado ou nao quando os edificios de
classe 1 se comunicarem com outros predios.
c) Griterio de retengao, se por apolice-risco ou se por risco iso lado. -
As tabelas vigoram a partir de uma data fixa para as apolices emitidas apos essa data. 6 forgoso esclarecer o detalhc, uma vez que c novidade, introduzida pela Gircular 1-14/58.
Uma apolice, por exemplo. de prazoanual, e pcriodo de vigencia de 15 de junho de 1958 a 1959, foi emrtida em 4 de julho de 1958. Pelas anteriores disposigoes a tabela que iria indicar a retengao era a em vigor no dia 15 de junho de 1958; pelos novos dispositivos a tabela aplicavel sera a que estiver cm vigor no dia da emissao da apolice, ou seja, 4 de julho. (Continua)

Descentraliza^ao contabil do setor de inversoes de uma sociedade de seguros
Americo Maiheus Florenlino
Processor Caledrafico da Organizagoo e Contabilidade da Segiicos da Unincrsidade do Brasil
I — FUNDAMENTOS DA DESCENTRALIZAgAO CONTABIL
A ideia de que os services de contabilidade devem constituir um setor unico, com uma centraliza?ao absoluta. •esta devidamente superada em nossos tempos. Necessidades de analises de operagoes parciais. descongestionamento de retinas em consequencia do aumento de volume de opera^oes, c rli/iculdades oriundas das distancias geograficas onde operam as diversas xamifica^oes da empresa, transformaram a contabilidade moderna em um conjunto de metodos essencialmente descentralizados.
Uma sociedade de seguros de grande porte ou de medio porte, se depara com problemas basicos de descentraliza?ao contabil, uns puramente geograficos como sejam os relatives aos registros cconomico-financeiros das suas sucursais e agencias: outros de descongestionamento de retinas como, por exemplo, OS ligados as tarefas de emissao de apolices, opera^oes tecnicas de resseguros, etc.: e, finalraente alguns pro blemas de descentralizagao ligados a necessidade de analises de operagoes parciais.
Desprezaremos os outros aspectos para nos concentrarmos na descentralizagao contabil por analise de operagoes
Tecnico do I.R.B. parciais, e nos fixaremos na analise da evolugao e do rendimento das in versoes de uma sociedade de seguros.
O problema das inversoes, em uma sociedade de seguros, nao esta restrito, como muitos supoem, as sociedades que operam com seguros do ramo Vida. Pode se afirmar que estas, em virtude das necessidades atuariais de manter uma taxa de rendimento minima para a capitalizagao dos valorcs das suas rcservas matematicas, tem a obrigagao de possuir mais acurados os controles das suas inversoes.
Mas, as sociedades que exploram seguros de ramos elementares, devem tambem manter em seu Ativo valorcs altos correspondentes a parcela dos premios ainda nao vencidos. Seria uma negligencia administrativa e legal, imperdoavel, a diregao da sociedade desconhecer ou conhecer desatualizadamente a situagao das inversoes dessas reservas e dos seus respectivos rendimentos.
Os proprios acionistas das sociedades de seguros, tratando-se de pessoas esclarecidas nas lides financeiras, serao OS primeiros a defender a obtengao de boas taxas de rentabilidade quer das
reservas tecnicas, quer das reservas patrimoniais, pois essa renda extra-operacional servira para amenizar os custos tecnicos do seguro (inclusive taxa de capitalizagao de reservas matematicas para os seguros de vida) e podera ainda proporcionar maior volume de dividendos a distribuir.
Como aspectos cssenciais da necessi dade de descentralizar o setor de in versoes de uma sociedade de seguros, alinharemos os seguintes:
a) eliminagao do atrazo das apuragoes da contabilidade geral, mediante a apresentagao de balancetcs imediatos do setor de inversSes:
b) apuragao imediata dos saldos devedores dos mutuarios (por compra de imoveis a prazo, ou por qualquer tipo de emprestimo permitido as socie dades de seguros), nao somente para calculos de juros de mora, como para liquidagoes antccipadas de debitos, amortizagoes extras e consequentes reajustamcntos de prazos ou de prestagoes como tambem paar operagoes de composigoes de dividas ou cessoes a outros mutuarios:
c) apuragoes corretas e imediatas de rentabilidade patrimonial:
d) analise da marcha evolutiva das inversoes, permitindo ao administrador tomar as medidas necessanas para reinverter ou desinverter, de acordo com as contingencias financeiras ou legais do momento;
e) exame permanente das exigencias legais de cobertura dos valores referentes a metade do capital social e ao total das reservas tecnicas (Dec^to n,° 2.063, de 7 de margo de 1940: Regulamento de Seguros).

Os que lidam no ramo de seguros sabem, de experiencia propria, que os balancetes gerais de contabilidade sao entregues com bastante atrazo. O proprio Departamento Nacional de Se guros Privados e Capitalizagao con cede as sociedades de seguros um prazo de sessenta dias (depois de vencido o mes) para a confecgao dos balancetes trimestrais. Dificilmente se encontra, entre nos, uma sociedade de seguros que trinta dias ap6s encerrado o mes esteja em condigoes de apresentar seus balancetes relatives ao mes vencido.
. As razoes desses atrasos cronicos se prcndem, como e obvio, aos dcfeitos de organizagao interna contabil c adminis trativa. Uma boa organizagao (que seria naturalmente onerosa para os cofres da sociedade de seguros) poderia colocar as sociedades de seguros cm pe de igualdade com os estabelecimcntos bancarios, no sentido de apresentar diariamente os resultados das operagoes realizadas no dia anterior.
Entretanto, os processes de emissao sao lentos e propositalmente complicados, e as sociedades valendo-sc da facilidade em recolher os impostos que gravam a emissao, apenas uma vez por mes, passam a fornecer os informes de emissao a contabilidade mensalmente, e ainda com um atrazo de quarenta e cinco dias, que e o prazo conccdido pelo imposto do selo para a apresentagao das guias de recolhimento desse tribute.
As operagoes de resseguro tambem sao comunicadas mensalmente, com todas as suas derivadas de recuperagoes de indenizagoes, retrocessoes. reservas retidas pelo rcssegurador, etc.
Por outro lado, os agentes (com raras exce^oes) nao tem o menor senso de responsabilidade administrative, e, por esse motivo remetem suas prestaCoes de contas tambem mensalmentc, e assim mesmo somente depois de rauita insistencia da parte da Contabilidade.
Tais sac os motives que transformaram a contabilidade de uma sociedade de seguros por partidas mensais. com resultados entregues sessenta dias apos o vencimento do mes. quando o logico, o razoavel, seria a obten^ao cliaria dessas apura?6es.
Uma das maneiras de procurar amenizar esses inconvenientes e a desceiitraiizagao contabil por setores. Os setores que podem permanecer atualizados (como e o caso das raovimentagoes diarias por Caixa e Bancos, e o caso era focado das operaijoes ligadas ao setor de inversoes) se descentralizam, fogem da massa inerte atrazada, c se vitalizam com a atualidade do registro de suas opera^oes.
A seguir, procuraremos, em linhas gerais, dado o carater amplo com que estamos abordando o problema, apresentar alguns aspectos tecnicos da implanta^ao de um sistema descentralirado.
11 — BASES PARA A DESCENTRALIZACAO CONTABIL
Para uma perfeita desccntralizagao contabil ha que se observar os seguintes metodos:
1) equipamento autonomo.
2) pessoal autonomo.
3) diario autonomo e fichas de razao analitico exclusivas do setor.
4] operagoes cspecializadas registradas em ura Caixa proprio, (o que requer uma Caixa a parte so para o setor de inversoes, perfeitamente admissivel na sede de uma sociedade de seguros de grande porte) ou entao apresentadas no proprio Caixa gera!, porem em formulario e em comprovantes separados.
5) tecnicas especiais de liga?ao dos saMos das contas do sistema desccntralizado para com os saldos das contas gerais da contabilidade geral.
Naturalmente que as operagdes li gadas ao setor de inversoes executadas nas sucursais e nas agendas da sociedade de seguros serao originarias de um Caixa linico existente nessas su cursais e nessas agencias, pois nao se admitiria (exceto para as sucursais de grande movimento) criar nesses locais Caixas autonomos para lidar somente com o setor citado.
Nos casos de Caixa tinico, o Boletim de Caixa seria desdobrado em parte (A) e parte (B) A parte (B) conteria somente as opera^oes ligadas ao setor de inversoes, cujos totais (totais de recebimentos do dia, e totais de pagamentos do dia) seriam transportados (.scm qualquer discriminagao ou analise) para a parte (A) com o intuito evidente de permitir a tirada de saldo do Caixa unico.
Chegados os Boletins de Caixa a Sede da sociedade, as partes (B) seriam destacada e encaminhadas imediatamente ao setor descentralizado de contabilizagao de inversoes.
A parte analitica dos Razoes (contas correntes ou contas individuals) seria exclusiva do setor descentralizado.

No final do mes, somente os totais a debito e a credito de cada conta geral e que seriam obtidos do Diario des centralizado e encaminbados para contabiliza^ao de jungao no Diario Geral.
A tecnica de ligagao se baseia no principio de contas transplantadas de um setor para o geral, e no principio de contas de controle de jungao cujos saldos se anulam no sistema contabil geral e se acumulam no sistema con tabil descentralizado.
Daremos alguns exemplos praticos:
a) No caso de Caixas patrimoniais autonomos.
I) J.anc;amentos no Caixa patrimo nial autonomo:
Contas de Ativo ou Passive PattimO' nial ou Contas de Despesa Patrimonial a Caixa — Setor patrimonial (Pelos pagamentos)
CaiAra — Setor patrimonial a Nume rario Remetido pela Sede
(Pela remessa de numerario para o Caixa-Patrimonial)
11) Lan^amentos na Contabilidade Geral
Caixa — Sede a Numerario em Trans'to para a Sede
(Pela remessa de numerario para a Sede) Numerario Remetido pela Sede a Caixa — Sede
(Pela remessa de numerario para o Caixa-Patrimonial)
Diversas Contas a Diversas Contas
Caixa — Setor patrimonial a Contas de At'vo ou Passivo Patrimonial ou Contas de Receita Patrimonial (Pelos recebimentos)
Numerario em Transito para a Sede
a Caixa — Setor patrimonial
(Pela remessa de numerario para a Sede)
(Debitos e creditos feitos no mes em contas autonomas do Setor Patrimonial, comunicados pelo Setor Patrimonial a Contabilidade Geral) Conforme, se verifica pelo ultimo lan^amcnto, os debitos ou creditos fei tos nas contas de Ativo e Passivo pa trimonial e de Despesa e Receita patri monial sao transplantados no fim de cada mes para a contabilidade geral.
As contas de controle de jun^ao €Numerario em Transito para a 5e<ie» e «Numerario Remetido pela Sedey> que permaneciam em aberto na contabilidade geral, encerram-se quando o setor descentralizado remeter, no fim do mes, OS debitos e creditos feitos a essas mesmas contas pelo setor, porem em posigoes inversas.
No sistema descentralizado, as contas de controle de jungao permanecerao, entretanto, em aberto, ate o final do exercicio, quando seus saldos scrao eliminados traosferindo-se para uma conta gecal de ^Patrimonio Des centralizado do Setor Inuers6es», conta essa que tera como utilidade apenas o fecho dos balancetes descentralizados do setor de inversoes.
Para essa conta de aPatrimonio Des centralizado do Setor de !nversdes» serao transferidos tambem os saldos das contas de Receita e Despesa de inversoes, os quais deverao ser encerrados no final de cada exercicio.
b) no caso de Caixas linicos
1) Lan^amentos no setor de inver soes
Contas de Ativo oa Passive Patrimo nial ou Contas de Despesa Patrimonial a Controle Patrimonial
(Pelos pagamentos transcritos na parte (B) do Caixa linico)
II) Lan?amentos na Contabilidade Geral
Controle Patrimonial a Caixa — Sucursal.
(Pelos pagamentos transcritos na parte (B) do Caixa unico)
Caixa — Sucursal a Controle Patri monial
(Pelos recebimentos transcritos na parte (B) do Caixa unico)
Diversas Contas a Diversas Contas
(Debitos e creditos feitos no mes em contas autonomas do setor patrimonial, comunicados pelo Setor patrimonial a Contabilidade Geral).
tera como utilidade apenas o fecho dos balancetes descentralizados do setor de inversoes.
Para essa conta de «Patr/mdnio Des centralizado do Setor de Invers6es» serao transferidos tambem os saldos das contas de Receita e Despesa de inversoes, os quais deverao ser encerrados no final de cada exercicio.
Titulos de Paises Estrangeiros
A^oes e Debentures
Agoes do I.R.B.
Outros Titulos
Imoveis sob Promessa de Venda
Emprestimos Hipotecarios
Emprestimos sob Caugao de Titulos
Controle Patrimonial a Contas de Ativo oil Passive Patrimonial ou Con tas de Receita Patrimonial
(Pelos recebimentos transcritos na parte (B) do Caixa unico)
Conforme se verifica pelo ultimo langamento, os debitos ou creditos feitos nas contas de Ativo c Passivo patrimonial e de Despesa e Receita patrimonial sao transplantados no fim de cada mes para a Contabilidade geral.
A conta de controle de jun^ao «Controle Patrimoniah que permanecia em aberto na contabilidade geral. encerrase quando o setor descentralizado remeter. no fim do mes, os debitos e creditos feitos a essa mcsma conta pelo setor, porem em posigoes inversas, No sistema descentralizado, a conta de controle de jungao permanecera, entretanto, em aberto, ate o final do exercicio, quando seu saldo sera eliminado transferindo-se para uma conta geral de ^Patrimonio Descentralizado do Setor de Inversoes», conta essa que
Convem nao esquecer que o setor de inversoes efetuara de iniciativa propria uma serie de langamentos cxtraCaixa, tais como juros de emprestimos ou juros de mora debitados aos mutuarios, alugueis vencidos a receber. etc. fisses langamentos desse tipo sao escriturados integralmente no setor de inversoes, sem a interferencia de qualquer conta de controle de jun^ao, e os seus valores com as respectivas contas somente scrao conhecidos da contabi lidade geral, no final do mes.
Ill — AS CONTAS PRIVATIVAS DO SETOR DE INVERSOES
De acordo com o piano de contas padronizado pelo Departamcnto Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao para as socicdades de seguros, sao as seguintes as contas que passarao a ser privativas de setor de inver soes, isto e, que somente poderao softer debitos ou creditos no setor descentra lizado de inversoes:
ATIVO
Imoveis
De uso proprio
Para renda
Titnlos da Divida Publica Interna
Titulos da Divida Publica Externa
Emprestimos sob Apolices de Segu ros de Vida
I.R.B. — c/ Reterigao de Reserves e Fundos

Juros, Alugueis e Dividendos a Re ceber
Devedoces d Imoveis
Depositos Bancarios
Dep6sitos bancarios a prazo fixo
Dep6sitos bancarios vinculados ao D.N.S.P.C.
Depositos no Banco Nacional de Desenvolvimento Economico
PASSIVO
Capital
Reserve para Integridade do Capital
Reserva para Oscilagao de Titulos (Todas as contas de reservas tecnicas, ou reservas ligadas as operacoesde seguros)
Credores Hipotecarios
Credores por Emprestimos sob Can-gao de Titulos
Compromissos Imobiliarios
RECEITA
Juros e Dividendos de Titulos
Alugueis dc Imoveis
Lucros s/ Operagoes Imobiliarias
Juros de Emprestimos
Juros de emprestimos hipotecarios
Juros de emprestimos sob cau^ao de titulos
JuEOS de emprestimos sob ap6lices de seguros de vida
Juros s/ Reseruas Depositadas nos Resseguradores
Juros Bancarios
De depositos a prazo fixo
De depositos vinculados ao D.N.S.P.C.
De depositos no Banco Natio nal de Desenvolvimento Economico
Juros s/ Operafoes Imobiliarias
Participagao em Lucros
Receitas de Inversoes Diuersas
DESPESAS
Despesas com Titulos
Despesas com Imoveis
Despesas com Operafoes Imobiliarias
Despesas com Emprestimos
Juros s/ Depositos de i?eseryas de Resseguradores
Juros Passiuos
Despesas de Inversoes Diversas
Convem observar que as altera^oes nos valores das reservas tecnicas, reservas ligadas as operagoes de seguros.
reserva para integridade do capital, e reserva para oscila^ao de titulos sao fornecidos pela Contabilidade Geral ao setor de inversoes, cabendo a este setor apenas as alteracoes de valores nos novos balancetes, cujas diferen^as serao levadas (no setor de inversoes) a conta de ^Patrimonio Descentralizado do Setor de Invers6es».
fisses dehitos e creditos ligados a movimentagao dessas reservas nao sao comunicados no fim do mes pelo setor de inversoes a Contabilidade Geral, uma vez que nesse caso, 5oi a Conta bilidade Geral a fornecedora dessas cifras.
Identico procedimento se fara com as contas de —■ c/ Retengao de Reservas e Fundos» e ^Agoes do I.R.B.*.
A conta de Imoveis deve ser desdobrada em «Im6veis de use pr6prio» e «Im6veis para renda», uma ver que s6mente esta ultima e que proporcionara reccita (Ver conta de «Alugueis de Im6veis» na parte da Receita)
Em dep6sitos bancarios somente interessarao os detalhados no piano de contas citado.
As contas de <iJuros de Emprestimos* e de «.Despesas com Emprestimos* sofrerao desdobramentos identificadores de cada tipo de emprestimo relacionado no Ativo.
Imunidade tributaria das autarquias
OSr. Consultor Geral da Republica, opinando sobre consulta do M.T.I.C., proferiu o seguinte parecer, publicado no Diario Oficial (I6dejunhode 1958) como«Aprovo» do Excelentissimo Senhor Presidente da Republica;
Quando a Constitui^ao veda a tribufa^ao de bens, rendas e services da LIniao, Estados e Municipios, nestes bens, rendas e scrvi(;os, se incluem os das entidades autarquicas.
Na verdade, como discursa D'Alessio. o entc autarquico se caracteriza pela criacao e pela funcjao; e cria^ao do Estado (somente a lei pode criar itnia autarquia) para exercer fungoes proprias do Estado.
Na vigencia da Constituigao de 1937, era que havia, como nas Constituigoes prccedenles, a imunidade dos bens, rendas e servigos dos varies entes da Fecleracao. loi expedido o Decreto-lei n." 6.016, de 22 de novembro de 1943, declarando, para dissipar duvidas, que «a imunidade tributaria, a que se refcre o art. 32 letra c da Constituigao. compreendc nao so os orgaos centralizados da Uniao. Estados e Munici pios, como as suas autarquias, e alcanca os bens, rendas c servigos de uns e outross (art. 1.") .

fisse a'o legislativo foi baixado em face de rotavel exposigao de uma Comissao, da qual foi relator o saudoso Lucio Bittencourt.
pags. 434 e
«0 Excelentissimo Senhor Ministro do Trabalho, Indiistria e Comercio, atendendo a sugestao do Ministerio Public© do Trabalho, propoe ao Exce lentissimo Senhor Presidente da Re publica 0 pronunciamento desta Consultoria Geral sobre a imunidade tributariii das autarquias e. mais precisanienle, sobre a isen^ao do imposto de selo nos contratos de seguro aven^ad-js com particulares pelos varies Insti■tatos federais. estes como seguradores. que diz respcito a imunidade fiscal das autarquias 0 Ministerio da Fazenda e o Tribunal Federal de Recursos tem decidido pela sua inexistencia (acordaos do T.F.R, na i?e(/ista de Direito Administrativo, vol. 45, pags. 75, 77. 79. 80, 85; vol. 46. pags. 34 e 159; decisoes do Ministerio da Fazenda, vol. 45. pag. 537 429 e 445; vol. 48, pag. 466; vol. 49. pag. 38 m sentido contrario porem, o Conselho dos Contribuintes: 'Revista Dire'to Administrativo, vol. 16, pag. 216: vol. 31, pag. 442. 33 pags. 413 e 414; vol. 35, 435, 436 e 438)
nos parece que seja esta a ,aelhar interpreta^ao da Constitui^ao Federal e da legislagao ordinaria,
Sao do relatorio estes lances: ftTera-se discutido, ultimamcnte, se a imunidade tributaria compreende. tciinbem, os orgaos descentralizados da Administragao Publica ou .se restringe, tao so, aos orgaos e servigos da chanada administragao direta do Estado. E a questao cresce de vulto quando se estuda a situagao dos entes autac-
quiccs ou paraestaCais, que dispoem de autonomia e personalidade.
«A chave do problema reside, porem, em verificar se a personalidade dessas cntidades. torna-as inconfundiveis com 0 Estado, equiparando-as, portanto, a qualque- organiza^ao privada, a cujas rcndas, bens e services nenhum priviiegj'o ou isen^ao se reconhe?a.
«A doutrina nao agasalha. todavia, nenhuma hesita?ao a respeito, entendendo que a descentraliza?ao administrativa constitui uma forma ou modalidade de organizagao, que nao altera a natureza eminentemente estatal desses crgaos».
E perpassava o saudoso constitucionalista as opinioes de autoridades de escol, Bielsa, Cino Vitta, Demichelli, Seabra Fagundes e Francisco Campos, todas no sentido de «a personaliza^ao nao muda ou altera a natureza das fun^oes. da competencia. ou dos ser vices delegados ao ente autonomos.
E assim terminava a douta explanarao: «Acresce notar que o preceito em aprego permite se defira isen^ao fiscal aos «servicos concedidos» e omitindo referencia as autarquids, o fez cbviamentc, por considera-las incluidas no proprio Estado ao qua! ja se atribuiia o privilegio. A admitir interpretacao diversa, chegar-se-ia a conclusao. ildcjica e vitanda, de ser possivel facultar ao concessionario de servigo piiblico, por meio de lei ordinaria, a vantagem da isengao negando-se tai possibilidade no tocante as autarquias». (Rci'isfa de Direito Administrativo, vol. 2." pag. 916).
Antes mesmo da vigencia desse Decreto-lei, ja o Supremo Tribunal Fe deral. interprete maximo da ConstiN" 113 — FEVEREIRO DE 19?^
tuicao e das leis federais, se pronunciara pela imunidade das autarquias fag. n.° 10.878. relator Ministro Cas tro Nunes, no Diario da Justi^a de 6 de fevereiro de 1945. pag. 688, Revista de Direito Administrativo, vol. 2°, pagina 231; ag. n." 10.908. Direito, vo lume 24. pags. 203-222; Arquivo Judiciario, vol. 68, pag. 74).
Nesta Consultoria Geral no mesmo sentido se manifestaram Carlos Medeiros Silva e Themistocles Brandao Cavalcanti. (Pareccres, vol. V, pagina 343; Diario Oficial, de 1.° de outubro de 1955, pag. 18.456).

Na verdade, ninguem cobrara das autarquias federais. sem ofensa a Con-stituigao. o imposto predial, terri torial, de renda, de consume ou quaisqucr impostos federais. estaduais ou municipaiEina verdade, as autarquias cstao isentas de qualqucr imposto.
II
A dificuldade reside no imposto dc selo. Dispoe. com efeito. a Constitui930, que cabe a Uniao decretar impos tos sobre «neg6cios de sua economia, atos e instrumentos regulados por lei federal® {art. 15, n. VI). mas, abre excegao: «Nao se compreendem nas disposigoes do n.° VI os atos juridicos ou seus instrumentos. quando forem partes .a Uniio. os Estados ou os Municipios...». (art, 15, § 5.°) ,
Surge entao a questao: nos atos juri'jicos em que sejam partes as autar quias ha a isengao ?
A resposta e esta: em todos os atos juridicos em que sejam partes a Uniao, OS E-stados. OS Municipios, e as autar quias ha a isengao de selo se este pelas
leis ordlnarias, e devido pela pessoa juridica dc direito publico.
E, na verdade. a lei que estabelece c onus do selo. de sorte que se a lei o impoe, se e despesa da entidade de direito publico, Uniao, Estados, Muni cipios e autarquias, ha a isengao.
No caso a que se refere a consulta. a lei do selo impoe o onus ao scguradoi. Na verdade, o art. 109, n." 1, do Decreto-lei n,° 4,655, de 3 dc setcmbro de 1942, declara que «o im posto e devido no momento da aceitagao da ap6licc e sera arrecadado pelo scgurador®.
O Codigo Civil, por outro lado, dis poe que o contrato de seguro «considcra-se perfeito desde que o segurador remclc a apolice ao segurado, ou faz nos livras o langamcnto usual da operngno®.
Ora, no momento em que o segu rador lemelc a apolice. a operagao presumc-se realizada. razao porque a lei f.scal diz que o imposto «sera arreca dado pelo segurador® (art. 109, n." 1). Quer dizer, c o segurador o responsavel pelo pagamento do imposto. E a le, ainda dispoe que o signatario do p:;pe! e o responsavel pelo selo (art. 2.°). Ora. as apoliccs de seguro via de regra .sao apenas assinadas pelo segurador. do que decorre a sua resjionsabilidade pelo pagamento do selo (Jaime Fericles e Tito Rezende, Lei do Selo. 2." edigao, pags. 181-182).
Em lelagao ao pagamento de selo nas ypdlices de seguro, foi tambem estn a conclusao a que chegou Carlos Medeiros Silva, cm parecer emitido nesta Consultoria Geral ('Pareccres do Consultor Geral da Repiiblica, vol. II, pag. 289).
O Tribunal Federal de Recursos, no Mandado de Seguranga n." 7.264, julgado em 25 de outubro de 1956, rclatcr Ministro Candido Lobo, decidiu, por unanimidade de votos, que os contratos de obras avengados com o Departamento Nacional de Estradas de Rcdagem cstavam isentos do imposto cie selo, por se tratar dc autarquia. por tanto, amparada pelo art. 15, § 4.°, da Constituigao.
Ac. parecer desta Consultoria Geral, sempre que o selo, nos atos regulados por lei federal, esteja, pela lei ordinaria. como no caso das apolices de seguro, a caigo das autarquias, ha a isengao fiscal, o selo nao e devido.
Salvo mclhor juizo.
Rio de Janeiro, 8 dc abril de 1958.
— A. Gongalves de Oliueira. Consultor Geral da Repiiblica.®
Nao sc conformando com a tcse do Consultor Geral da Repiiblica, nem com as suas respectivas conseqiiencias, as empre.sas seguradoras impetraram mandado de seguranga, diretamente ao Supremo Tribunal Federal, cm vista do despachc presidcncial. Eis, na In tegra, a pcligao das seguradoras:
«1 — Pelo art. 109 da tabela anexa ao Decrcto-!ei n.° 4.655, de 3 de setenibro dc 1942, dispondo sobre o im posto do .selo, consolidado na Consolidagao das Leis do mesmo tributo, apiovada pelo decreto executive federal n ■■ .32,392. de 9 de marge de 1953, os segujos ficaram sujeitos aquele imposto, constando das Notas Gerais do mesmo artigo o seguinte:
1-° •— O imposto e devido no mo mento d,-! aceitagao da apolice e sera arrecadado pelo segurador.
2." — O recolhimento do imposto, inclusive o que for devido posteriormente, de acordo com as notas aos numcros de incidencia deste artigo. sera feito ende o segurador tiver sede, niedinnte guia com o visto da Fiscalizaqao do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitaliazgao (redaeao dada pela lei n." 1 .747, de 28 de novenibro de 1952).
' 3." — O recolhimento do imposto devera scr feito ate o ultimo dia litil do segundo raes subseqiiente ao em que tiver sido aceita a apolice.
2 — Dispos, ainda, nas Normas Gerais o mesmo decreto-Iei, o que esta repioduzido na citada Consolida(;ao:
Art. 67. A falta ou insuficiencia do imposto quanto aos papeis a que se referem os arts, 30 das Normas Gerais e 109 da Tabela. sujeita o e.stabc]eciir.ento arrecadador a multa de tres vezes o valor do selo devido, a qual nao sera inferior a Cr$ 200,00, alem da indeniza^ao do imposto simples pelo contribuinte.
§ I." O f.stabelecimento arrecadador que iccolhcr fora do prazo a importancia do imposto sujeitar-se-a ao aciescimo de- 10 % sobre a dita importa.icia. calcuiado e pago na propria guia de recolhimento.
3 — Pelo despacho de 12 de junho uhiiro. cstampado no Diario 0[icial de 16 seguinte. Segao I, pags. 13.615/ 16, e que constitui o ato contra o qua! pedem as impetrantes a seguranga, o Excelenti.ssimo Senhor Presidente da Repiiblica aprovou o parecer do Consulcor Geral da Repiiblica, Dr. A. Go-iCiih'es de Oliveira, publicado junlamente com o despacho.
Ora, no mesmo parecer o Senhor Co.nsiiltcr afirma que. em face do disposto no transcrito art. 109, nota 1.". o onus do tributo, nos contratos de seguro.ficou imposto ao segurador, e que f.-tie e o responsavel pelo pagamento dele.
4 — Portanto, aprovando o mesmo parecer, decidiu o Senhor Presidente da Repiiblica que as impetrantes toca pagar o iinposto do selo dos contrato.s de segurr; que celebrarcm.
5 — Ora, nao cabendo, pela letra mesma dos citados dispositivos Icgais, as impetrantes solver dito imposto, que por elas nao e devido. sim pelos segurados, sofrem as impetrantes. violenciaao sen dire'to liquido e certo, pois se hti direito liquido. certo e incontestavel para o particular e o de nao Ihe poder impor a autoridade paguc tributo a que, per lei, nao estiver sujeito.
£ — Resta evidenciar a ilegalidade do despacho impugnado.
Dc tal tarefa ja se desincumbiu, com saber e brilho habituais, o Dr. Carlos Medciros SUva, ex-Consultor Geral da Rcpiibiica, seu atual Procurador Geral.
Realmente.
No p.irecer de 9 de junho de 1952. publicado no vol. II dos Pareceres pags. 289/293, aprovado pelo Excelentissimo Senhor Ministro do Trabalho, segundo nota final ao mesmo. tendo em vista os citados dispositivos legais, conciniu o Dr. Carlos Medeiros SUva que o imposto do selo. nos contratos de seguro, lecai sobre o segurado, nao sobre o segurador. e aquele, nao este o devedor do imposto, que e onus do segurado, nao do segurador, aquele ca bendo paga-lo e a este arrecadar.

Conclusao diametralmente oposta a do Dr. A. Gongalves de Oliveira, nao podendo; por isso mesmo, deixar de surpreender o seguinte trecho do pa recer aprovado pelo ato impugnado; xEm rela?ao ao pagamento do selo nas apolices de seguros foi tambem esta a conclusiio a que chegou Carlos Me deiros SUva. em parecer emitido nesta Consukoria Geral (Pareceres do Consuitor Geral da Repiiblica, vol. II, pagina 289).
O Dr. Gongalves de Oliveira, no seu mencionadc parecer, depois de transcrever o ait, 109, nota 1.", acima rcpuoduzido. acrescenta:
O Codigo Civil, por outro iado, ' di.spoe que o contrato de seguro «considera-se perfeito desde que o segu rador remcte. a apolice ao segurado ou laz nos hvros o lan^amento usual da opciavaos.
0:a, no memento em que o segura dor remete a apolice. a opera^ao prcsuiiie-se rcalizada. razao porque a lei fiscal diz que o imposto sera arrecadado pelo .segurador (art. 109 nota 1."). Quer dizer. e o segurador o respon-•^avel pclc pagamento do imp6sto».
Cora o devido respeito, incidiu o iliistrc jurista em mais de um equivoco dando a lei uma interpretagao que a viola inclusive em sua letra.
O adv.igado abaixo assinado esta certo de que um recxame do assunto levaria o Dr. Gongalves de Oliveira a leformar o sen pronunciamento. pois logo, e com facilidade, se certificaria dc.s equiviicos em que incorreu.
De fato.
Esta escritc na lei, na citada nota 1." do art. 109. que o imposto e devido no niomcnto da aceitagao da apolice e sera arrecadado pelo segurador.
O Dr. A.. Gongalves, como se ve, leu em lei ccisa diversa, leu que o im posto e devido no momento da emissao da apolice e sera pago pelo segurador.
Assim equivocado, nao poude ver que dentro da lei fiscal o momento da incidencia e o da aceitagao da apolice pelo segurado, vendc apenas, — o que nao psla em causa no diploma tributano — que no direito civil o contrato de seguio se considera perfeito com a remessa da apolice pelo segurador ao segurado ou quando em seus livros fez o langaincnlo usual da operagao (Co digo Civil, art. 1.433).
Nao atentou que nos termos da lei fisca.l c a aceitagao da apolice, ja formalizada, que sc pode denominar como fato geradcr Jo imposot.
Se livesse atcntado, teria de concluir como Car/os Medeiros SUva no referido parecer:
9 — «0 imposto e devido no mo mento da aceitagao da ap6lice e sera arrecadado pelo segurador,» diz o citado art. 109, nota 1.", do Decreto-Iei n." 4.655. fiste e o momento critico par a lei fi-scal. Para lei civil, entretantn, o conirato de seguro «considerase perfeito desde que o segurador remetc a apolice ao segurado, ou faz nos livros o langamento usual da operagao» (Codigo Civil, art. 1.433).
10 — O momento da incidencia, se gundo a lei fiscal, coincidindo com o da aceitagao da apolice: antes desta Qcorrencia o imposto nao e devido. apesar de concluido o contrato, com a
emissao de seu instrumento ou o langamento usual da opera^ao. A aceitagao dc I'iulo ja devidamentc formalizado c que 5e pode denominar como «fato gerador do impostox-.
Em verdade, segundo G. Jeze: «Pc-.r essa cxpressao (fate gerador do imposto) entende-se o fato ou o conjunto de fatos que permitem aos agcntcs do fisco exercerem sua corapetencia legal de criar um credito de tal importancia. a titulo de tal imposto, contra (a) contribuinte».
(«0 Fato Gerador do Imposto, in i?ct'.5fa de Direito Adm'nistrativo, vo'ume 2.' pag. 50).
I! — A lei fiscal elegeu a «aceita^ao da ap6lice», como o momento do nascimento do imposto. Neste mo mento. a apolicc ja esta emitida, o contcalo cle seguro concluido com a remessa do litulo ou o langamento da opera^ao. Satisfaz o segurador todas as formalidadcs que Ihe incumbem, mas 0 imi^ostc ainda nao e devido. Resta, para a .sua exigibilidade, ate do segurado, a aceita^ao da apolice.
12 — A lei fiscal, ao declarar o im posto devido, com a declara^ao de uma das partes, diz que a outra cabe arrecada-lo. Esta dupla referenda — a aceifa^ao pelo scgurado e a arrecadaCao pelo segurador traz a mente a ideia de cjue o primeiro e o devedor e o segundo o representante do credor.
13 — Arrecadar, na linguagem fiscal, significa «cobrar», «receber»: quern airecada nao e devedor, mas credor ou representante deste. Sao, alias, iniimeros os casos em que o fisco atribui a entidades privadas a obriga^ao de
represeiifa-lo no momento em que o imposto e cxigivel de terceiros.
A outia e derradeira alega^ao do Dr. Goncaluc.^ de Oliveica e esta:
E a lei, ainda, dispoe que o signatario do papel e o responsavel pelo selo (art. 2."). Ora, as apolices de seguro via de regra sao apenas assinadas pelo segurado do que decorre a sua responsabilidade pelo pagamento do selo.
Outro equivoco, produto, sem diivida, de leitura apressada da lei.
Bern acentuou o Dr. Carlos Medeiros Silva no pareccr referido:
H — Tenho, pois, que a lei do selo, atribuindo ao segurador a fun^ao de arrecada-lo, «no momento da aceita^ao da ap6licc». quis que o tribute recaisse -sobre o segurado. A assinatura da apolice. ato do segurador. nao da vida ao imposto: o fato gerador do imposto c a sua aceita^ao, o que justifica a infracao a regra de que o subscritor do papel e sempre o devedor do im posto. No case, e incumbido da arrecada?ao do imposto o subscritor da apolice, quando o outro contratante Ihe da aceita;ao, isto e, no momento em que 0 selo passa a ser devido.
A leitura nao apressada da lei do selo convence que o imposto do selo, nos contratos de seguros, e onus do seguiado, que e o devedor do imposto, que e quern deve paga-lo, cabendo ao segurador cobra-lo e recolhe-lo.
Se fosse onus do segurador, se este fosse o devedor do imposto, se Ihe competisse paga-!o, nenhum sentido teriam OS textos iegais transcritos.
Rcalmente.
Em vez de dizer, como diz, que o imposto e devido no momento da aceita;ao da apolice e sera arrecadado pelo segurador (nota acima transcrita) e que o segurador fara o recolhimento ate o ultimo dia do segundo mes subseqiiente ao em que tiver sido aceita a apolice (nota 3." acima transcrita), a lei do selo diria que o imposto e devido pelo scgurado quando da emissao da apolice c sera por ele recolhido ate o ultimo dia do segundo mes subseqiiente .'o cm que tiver sido emitido a apo'■ce.
Ninguem pode arrecadar o que deve. e ate de t'lom senso.
Se ja iiuo bastasse, vejam-se os trans critos arts. 67 e paragrafos das Normas Gerais da mesma lei do selo.

No artigo se diz que a falta ou insuficiencia do imposto, nos papeis rcferidos no art. 109 da tabela, isto e, as apolices, sujcita o estabelecimento arrecadador a multa de tres vezes o valor dj selo, devido, alem da indenizapao do imposto simples pelo contribuinte.
Eis al clarissimo: o segurador, esta belecimento arrecadador paga a multa cabendo a indenizagao do imposto ao contribuinte.
Se o onus do imposto fosse do se gurador, se a este tocasse paga-la, a rcdagao do texto seria esta: a falta ou insuficiencia do imposto sujcita o segurador ao pagamento da multa de tres vezes o valor do imposto. aiem da indenizagao do imposto simples.
7 o que, excelentemente, em outras palavras e mais concisamente, observou o Dr. Carlos Medeiros Siha, mostra do que a lei fiscal se pos em consonancia com a legislagao sobre as
operagoes de seguros e com a tecnica das mesmas:
«A soma correspondentc aos impostos e parte integrante do premio», diz 0 Doutor Assistente Juridico do Dcpartamento. O segurado, devedor do premio, e, portanto, devedor do imposto. O segurador, ao receber o premio (brute), recebe uma parte que ihe cabe exclusivamente e outra (sobrecarga), que toca tambem ao fisco. Por isto. a lei Ihe confere a fungio de arrecadador. Outra seria a linguagem do legislador fiscal se tivesse em inente atribuir o imposto a responsabi lidade do segurador, como signatario da apolice. O principio firmado no art. 2." do Decreto-lei n.° 4.655 cede a propria discriminagao por ele feita no art. 109, n." 1. Nao e licito admitir-se que houvesse ignorancia quanto a pessoa do contratante que devia subscrever a apolice. o segurador (Codigo Civil, art. 1.433). Se a lei o considerasse como devedor do imposto, nao Ihe teria conferido fungao de arrecada-lo.
8 Ficou. pois, evidenciado, a mais nao poder, ser ilegal o despacho impugnado. violando direito liquido, certo e incontestavel das impetrantes.
^ Nao e o fato de estar o despacho impugnado apoiado em parecer de jurista que mercceu a honrosa investidura das fungoes elevadas de Consultor Geral, bastante para fornar liquido, incerto e contestavel o direito das impetrantes.
Nao se controvertem fatos, nem se pesquisam ou pesam provas.
Isto sim afastaria. como meio idoneo, o presente mandado.
Aqui OS fatos sac conhecidos, indiscutidos, aceitos.
E em que pese a autoridade do seu subscritor, a improcedencia das alega9oes do parecer, aprovado pelo despacho impugnado, pode com facilidade ser percebida desde que a lei, seja lida sem pressa.
Ora. se meras alega^oes, sc qualquer controversia ou divergencia. em torno do mandamento legal, excluissem o USD do mandado de seguranga, entao teria ele de ser abolido.
Em nenhum terreno se conseguiu a unanimidade de opinioes; o direito nao haveria de querer o impossivel e, acaso quisesse, nao o conseguiria.
A jurisprudencia dos nossos tribu nals ja se firmou, alias, ao proposto;
«0 que nao se admite no mandado de seguran(;a e a alta indagagao de fatos intrincados, complexes ou duvidosos. O direito tern de ser certo, esta na lei. Mas o criterio da certeza como o da clareza e questac de aprecia^ao individual. Concluir o contrario, isto e. que a controversia — qualquer con troversia exclui a certeza — seria tornar destituido de qualquer alcance pratico o mandado de .segiiran?a, pois apenas havera te.se ou proposigao que retina o sufragio unanime dos juristas {acordao do Supremo Tribunal Federal, relator o Excelentissimo Senhor Ministro Orozimbo Nonato. in Casfro Nunes. Do mandado de Seguran^a. 5.^ ed., pags. "170 e seguintes).
O tratadista emerito salientou no texto;

A questao controvertida que de modo absoluto pode excluir o mandado de
segurariqa c a questao de fato. Sao essas. «as questoes duvidosas nos fatos», as que ja no antigo direito portugues se entendiam como de «alta indagagao». nao porem as de direito, por mais complexas que sejam «e sim aquelas cuja solu^ao exige exame demorado de provas e o debate elucida tive dos interessados» (Correia Teles. Digesto Portugues, II, arts. 1 ,029 e 1,030: Almeida e Souza. Acordaos Sumum, § 239; Clovis, Comentarios. vol. VI, art. 1.770).
Na realidade as questoes que se apresentam na tela judiciaria sao sempre mais ou menos controvertidas, A adrainistragao nao viola direitos sem terpara isso uma razao, ao menos especiosa com que se justifique. A apreciagao desses motivos, em que se traduz a contestagao do direito ajuizado, de fine a controversia sobre a qual tera de sentenciar o juiz.
10 — Em face do exposto, esperam as impetrantes Ihes seja concedida a seguranga para, anulado o despacho impugnado, celebrem os contratos de seguro sem que delas possa ser exigido o pagamento do Imposto do Selo, cabendo-lhes tao somente arrecada-lo do segurado dele devedor e recolhe-lo na forma e prazo estabelecidos na lei.
Requerem que autuada esta com os inclusos documentos se prossiga na forma da lei.
Esperam defenmento».
Em audiencia de julgamento, realizada no dia 12 de Janeiro de 1959, o Tribunal Pleno concedeu, a unanimi dade, a seguranga requerida,
Molestias profissionais
F.N.E.S.P.C.I — A tuberculose doenca social e a tuberculose doenga profissional
O problema das doengas profissionais e, em particular o problema da tuber culose pulmonar, em face da vigente legi.slagao de acidentes do trabalho, em nosso pais, ha muito vem transcendendo dos limites de urn problema juridico.
Trata-se de um problema social e politico, cuja solugao nao pode ficar apenas na dependencia da boa ou ma aplicagao da lei, pelo Poder Judiciario, do acerto ou desacerto juridico da sua interpretagao, fazendo-se mister a intervengao dos demais Poderes do Estado, atraves de medidas legislativas c administrativas adequadas, fi fato inconteste que a populagao brasileira apresenta um indicc sanitario baixo. O aparelhamento de assistencia sanitario mantido pelo Poder Ptiblico, ate mesmo nos lugares mais bem dotados de recursos, esta muito aquem das neccssidades sociais. As instituigoes de previdencia social, por sua vez, nao tern capacidade para assumir OS encargos da assistencia sanitaria a todos OS seus associados.
Em face dessa precariedade da assis tencia e da previdencia social, um grande ntimero de trabalhadores doentes procura resolver os seus problemas atraves da lei de acidentes do trabalho, Os dispositivos da lei vigente, falhos e imprecisos, permitiram uma jurispru dencia animada do proposito humani-
tario de corrigir ou suprir falhas no nosso sistema sanitario c previdenciario, dando a mais larga amplitude ao conceito de doenga do trabalho. A fa cilidade com que sao acolhidos os pedidos mais absurdos, sob o aspecto juridico, em face da lei de infortunistica, o processamento rapido e pouco trabalhoso das agSes de acidentes do trabalho e as condenagoes dos empregadores e seguradoras ao pagamento de substanciosos honorarios de advogado, tem provocado intenso aliciamento de causas, por partc de numerosos advogados, entre empregados doentes.
Em Sao Paulo, no Rio de Janeiro e outras grandes cidades sao montadas verdadciras organizagoes de tipo comercial. no sentido de coletar clientes nos dispcnsarios. sanatorios, ambulatorios e outras organizagoes assistenciais, com publicidade organizada e agentes especializados no encaminhamcnto de clientes para os chamados «escrit6rios de advocacia especializada em acidentes do trabalho». Enfermeiros c medicos de sanatorios e dispen saries se associam a advogados, no encaminhamento de doentes e obtengao de procuragoes. Os honorarios ajustados entre o advogado e o empregado doente pretendente a uma indenizagao variam de 20 a 50 % da indenizagao que for obtida, afinal.
Agora, com o advento dos novos niveis de indenizagao, fixados pela Lei n.° 2,873. de 20 de setembro de 1956,
redobrou o interesse em torno das agoes de acidentes do trabalho, dado o vulto dos honorarios que proporcionam aos seus patrocinadores. Os peritos me dicos, que em regra sao os que decidem as questoes. uma vez que o juiz, geraimente se limita a referendar as conclusoes do laudo periciai, passam a ser assediadas pelas partes interessadas, e ja tem surgido indicios de corrupgao, em alguns casos.
Outras modalidades de fraude ja foram constatadas, como por exemplo, de empregado que, tendo recebido indenizagao por tuberculose doenga profissional, emprega-se posteriormeilte, em outra empresa, ja doente, e intenta nova a?ao para receber uma segunda indeniza^ao, ou entao casos de empregados doentes que intencionalmente relardam a cura. aguardando o desfecho de uma agao ajuizada por doen^a profissional.
Numerosos casos tem ocorrido em que 0 empregado doente, alvorogado pela ideia de uma indeniza^ao substancial em dinheiro e estimuiado por seu advogado, recusa o tratamento oferecido pelo empregador ou pela seguradora, preferindo arriscar-se a nao obter a cura. atraves de tratamento gratuito precario, feito em quaiquer orgao de assistencia sanitaria, em lugar de cuidar da recuperagao de sua capacidade laborativa.
Da parfe das empresas seguradoras, a enorme quantidade de agoes ajuizadas e a grande porcentagem das a?bes que obtem exito, tem criado tais acrescimos de cncargos para as carteiras de aci dentes do trabalho que diversas dessas empresas ja se dispoem a fechar ditas carteiras.
As seguradoras que permanecerem operando em acidentes do trabalho serao compelidas a selecionar de ta! forma os riscos assumidos que muitos empregadores nao mais conseguirao realizar seus seguros, nem mesmo em institui^oes de previdencia social, tal o temor acarretado pelos encargos decorrentes dos casos de doen^a do tra balho de sucesso judicial provavel em determinadas atividades.
O problema das doengas do trabalho, em face da lei de acidentes e, pois, eminentemente social e politico.
A enorme sobrecarga dos drgaos judiciaries, assoberbados com milhares de casos de doen^as do trabalho, os . gravames sofridos pelos empregadores e seguradoras, inclusive os Institutes e Caixas de Aposentadorias, contribuindo para a elevagao dos custos de produgao, e, conseqiientemente, para o processo inflacionario, o estimulo que resulta do ganho facil de indcnizagoes para os empregados permanecerem em inatividade e prolongarem sua incapacidade, onerando a coletividade que trabalha e outros males decorrentes da situagao atual, estao a exigir, sem duvida alguma, solugoes urgentes.
Feitas estas considera^oes preliminares passamos a analisar o conceito de doenga do trabalho na lei atual.
fi regra universalmente aceita que a responsabilidade — do empregador, pela indeniza^ao do empregado que sofre perda ou redugao de sua capaci dade laborativa, ou indenizagao de seus beneficiaries, no caso de morte, em conseqiiencia do trabalho, decorre de um risco profissional inerente a atividade economica de que cle, empregador, se beneficia.
Da atividade exercida pelo emprega do, sob responsabilidade do emprega dor, que e quern dirige o empreendimento e por ele responde, resulta um risco para a integridade fisica deste empregado e pelo ressarcimento dos danos consequentes a consuma?ao desse risco deve responder o empregador.
A responsabilidade de indenizar o empregado ou sua familia existe, portanto, sempre que o evento tem como causa um risco espec'al, gerado pelo trabalho, de forma que se possa estabelecer que se essa causa nao estivesse prcsente nao se verificaria aquele evento. Nao se faz necessario que o tra balho seja a causa linica e exclusiva do evento lesivo ao empregado, mas. de quaiquer forma, ha de ser causa. isto e, 0 fator determinante sem cuja ocorrencia nao se verificaria aquele evento.
Na defini^ao legal das docngas profissionais, em nosso pais, tais conceitos genericos, universalmente adotados em todas as legislagoes de acidentes do trabalho, tem sido cxpressos em termos imprecisos, que ensejaram interpretagoes por tal forma «liberais» que chcgam a total negagao dos conceitos basicos da prdpria infortunistica.
Na lei de 1934, as doengas profissionais, foram classificadas cm duas especies;
a) Doengas profissionais tipicas ou sejam, as inerentes ou peculiarcs a deterrainados ramos de atividade;
b) Doengas causadas excluslvamente pelas condigoes em que o tra balho for realizado.
As primeiras, as doengas tipicas do trabalho, que sao catalogadas em por-
tarias revistas periodicamente pelo Ministerio do Trabalho. sao aquelas em que ha uma presungao plena da relagao causal entre o trabalho e a enfermidade. As segundas, as doengas cau sadas «exclusivamente» pelo trabalho. seriam aquelas em que ha necessidade de prova da relagao causal exclusiva entre a enfermidade e o trabalho.
Entretanto, logo se comegou a formar uma jurisprudencia de fundo humanitario e caritativo que entendeu nao se referir o «exclusivamente» do texto legal a exclusividade de causa. E com isso, a tuberculose e outras doengas. as mais diversas, comegaram a ingressar no rol das doengas do trabalho.
Em 1944, quando se cogitou da redacao da nova lei, procurou-se corrigir a imperfeigao do texto da lei de 1934, que ensejava muitas controversias, no tocante a doengas profissionais. Mas a emenda foi pior que o soneto... O texto do art. 2.° da vigente Lei n." 7.036, de 1944, saiu mais falho c impreciso do que o art. 2.° da Lei n." 24.637, de 1934.

Da mesma forma que a lei anterior, a lei atual orientou-se no sentido de conceituar a incidencia de um risco especifico, gerado pelo trabalho. sobre a atividade do empregado, como determi nante da responsabilidade do empre gador. Da mesma forma que na Ici anterior, as doengas profissionais foram divididas em duas categorias;
a) Doengas profissionais tipicas. ou sejam, as inerentes ou peculiarcs a determinados ramos de atividades;
b) Doengas profissionais por assim dizer atipicas ou sejam, as «resultantes de condigoes especiais ou excepcionais cm que o trabalho for realizado».
As primeiras, as doen^as profissionais tipicas, sao aquelas em que ha presun^ao de relagao .causal, A responsabilidade do empregador, em tais casos, nao depende de prova do emprega.'lo. Basta-lhe provar que se encontra acometido de tal enfermidade e que cxtrce deferminada atividade, para que se aprcscnfe conexo causal indiscutlvel. ja previamente fixado em portaria ministerial. As segundas seriam aquelas em que o nexo causal deve set provado pelo empregado, demonstrando este que a doenga foi causadu por um risco especial, gerado pelo trabalho, de forma tal que, nao fosse ,a presen^a desse risco especial nao ocorreria aqucle evento danoso a sua integridade lisica.
Procurou c legislador caracterizar a incidencia do risco especial, de natureza prcfissional, pelas expressoes «condi?6es especiais ou excepcionais de trabalho» constituindo causa (embora nao a cati.^a unica e exclusiva) da doen?a.
Essa definic;ao, adofada pelo legis lador, entrctanto, foi bastante infeliz ate hoje. decorridos mais de catorre anos de viqcncia da lei, nem os comentaristas nern a jurisprudencia chegaram a precisar ou mesmo conceituar o que querem .lignificar as expressoes da lei tcondiqoes especiais ou excepcionais». Os adjetivos «especial» e «excepcional» representam diferenciagao numa situa?ao generica.
Que e=pecie de diferencia^ao ?
Qual a situa^ao generica em relacao a qual se faz a distin^ao ?
Proviiveimente nem mesmo quem redigiu o lexto, talvez decalcado em
texto seneihante de lei estrangeira sabera responcier a tais questoes.
Tomemos, por exemplo, a indiistria de tece'agem de algodao, O que e normal, genecico. nesta atividade e o que e esoccial ou excepcional ? Ou entao, toda a indiistria de tecelagem de algodao, comp especie. deve ser considcrada a'go de «especial» ou «excepcionalv em iclagao a um genero padrao idea! de industria ?
O resultado dessa imprecisao do texto legal e que a interpretacao deste se toincu a mais flutuante e controvertida possivel, baseada exclusivamente em pendores subjetivos. scm nenhum criterio juridico, sem qualquerfimdamcntci^ao tecnica. Ha peritos, por exemplo, one entendem, sistematicamente, que trabalhar o empregado ao ar livre, sujeito ao sol e a eventuais ventos ou chuvas, e uma condigao es pecial de tjaballiC5>.
Entao. todo trabalhador em constru?ao ou qualquer outra atividade executada ao ar livre que vcnha a adquinr Uiberculose, sera considerado portador de doenga do trabalho.
Outros tantos peritos tem opiniao diamctralmente oposta, entendem que o trabalho ao ar livre e salubre e normal em dctcrmiradas atividades (construcao. por exemplo) e assim nao ha que cogilur de doenca do trabalho, nos termos do art. 2.' da lei de acidentes.
Peiilos ha, por exemplo, que en tendem ser 0 trabalho de fundidor ou outros semelliantes que obriguem o em pregado a firar sujeito a agao de elevada temperatura constituem semprc «condii.:ao especial ou excepcional de trabalhos.
Assim, qualquer case de tuberculose entre empregados dessa ocupa^ao e considerado case de doenga do tra balho. Vale dizer, a tuberculose passa a ser uma enfermidade peculiar ou 'nerenfe ao trabalho de fundidor ou do cald^ireiro.
Mas isso seria um absurdo, porque as doen^as peculiares ou inerentes a determinados ramos de atividade sao aquelas ja previamente catalogadas c entre elas nao figura a tuberculose.
C iato e que o texto do art. 2.° da lei. que define as doen^as do trabalho necessita prementemente de ser modificado, a fim de serem eliminadas as imnrccisoes que nele se contem. A nosso ver a incidencia do risco espedficn. de perda da capacidade laborativa. na atividade prcfissional do em pregado, que e o fundamento do direito deste a repara?lio, devera ser dcfinida de lorma diverse, no tocantc as doenqas do trabalho que nao sejam tipicas.

A lei deveria, por exemplo, confer nornias claras para definir o que scja trabalho normal, que, conio condi^ao humana a que fica sujeito qualquer individuo habitante de meio civilizado. nao pode ser considerado um risco cspccifico, de natureza prcfissional, c o que seja trabalho anormal. sob o aspecto higienico. aquele de que resiilta um desgaste excepcional de energias fisicas ou psiquicas ou um risco maior do que o comum no tocante a determinadas cnfermidades.
Os dispositivos legais refcrentes a hiqiene e scguran^a do trabalho, consfantes da Consolida^ao das Leis do Trabalho, por exemplo. poderao fornecer bons subsidies, no tocante a de-
finicao da normalidade do trabalho. sob 0 aspecto medico-higienico,
O texto legal deveria ser complementado, possivelmente. por normas padronizadas para classifica^ao de condidoes normais e anormais de trabalho. cm cada tipo de atividade, de modo que peritos e juizes pudessem situar cada case particular, com objetividade e precisao satisfatorias, no ambito das doengas profissionais, se fosse o caso.
Outro dispositive que deve ser revisto, dada a sua imprecisao, causadora de iniimeras contendas, no tocante as doendas do trabalho, e o art. 3.® da lei atual, que diz respeito a causalidade entre a incapacidade e o trabalho.
O fate de dizer o texto, simplesmente. que nao e necessario seja o trabalho causa unica e exclusiva da morte ou da incapacidade para que haja «acidentc» indcnizavel. tem dado motive a muita confusao.
Dai e que surgiu a malsinada teoria das «causas,.adjuvantes» que tem justificado a condenadao dos empregadores e das seguradoras, nos casos mais disparatados, como sejam casos de cancer, aitrites infecciosas, tuberculose e outros.
Como, cm rcgra, sempre c possivel deraonstrar que o trabalho, como des gaste dc energias fisicas ou psiquicas sempre constitui fator depauperante e, dessa forma «influi» no aparecimento das mais diversas cnfermidades, peritos e juizes, freqiientemente. dai tiram a conchisao de que o trabalho deve ser responsabilizado pela doenca, como fator concausal, de conformidade com o art, 3." da lei.
O Professor Flaminio Favero. apresentando-se com a autoridade de um dos membros da comissao que redigiu o projeto de que surgiu a vigente Lei n." 7.036 de 1944, contribuiu em muito para firmer a erronea conceituacao que tern side adotada, em inumeros casos, sob a chamada «teoria das concausas».

Entende aquele eminente professor que desde que o trabalho «concorre com certo contingente» para o efeito nocivo, deve o empregador ser sempre responsabilizado.
Ora, 0 que seja «certo contingente» e muito elastico e flutuante e serve pafa justificar a generaliza^ao total de quaisquer doengas como doen^as do trabalho, pois sempre sera possivel demonstrar que o trabalho, como desgaste de energias, tem «um contingentes, per menor que seja, de participa?ao na eclosao do mal. A nosso ver, cssa imprecisao de conceitos pode ser evitada, mesmo com a redacao defeituosa da lei vigente, se sc quiser interpreter 0 texto a luz dos fundamentos juridico.s que a informam, ou seja, do fundamento da responsabiiidade do empre gador,
6 evidentc que quando o legislador redigiu o art. 3." da lei teve em mente apenas a situagao decorrente do acidente tipico, o traumatismo subido, violento e imprcvisto.
Nestes casos de traumatismo, este e sempre o /afor determinants do mal sofrido e porisso e que responde o empregador, ainda que a esta causa se somem outras corcausas pcrsonalissimas ou estranhas ao trabalho do acidentado. Mas nao atentou o legislador para as situagoes decorrentes das en-
fermidades, cuja evolugao, cm regra, e Icnta e insidiosa, dependendo de multiplos fatores, entre os quais o tra balho, como desgastes de energias que representa.
Dai a imprecisao do texto, que fala em «acidente». Entretanto, mesmo que se pretenda aplicar o art. 3.°, em toda a sua expressao literal, aos casos de doenga do trabalho, nao e possive! fugir, como fazem muitos, a investigagao da causa determinants, relacionada ao trabalho, em cada caso.
Assim, nos casos em que o trabalho for simples fator concausa], uma das miiltiplas causas coadjuvantes da enfermidade, nao havera de cogitar de responsabiiidade do empregador, pela simples razao de que o trabalho, como componente normal da vida humana, nao pode, por si so, representar um risco especial e uma causa determinante de doenga.
Em nossa opiniao, o conceito emitido no art. 3.° tambem deve ser precisado melhor, no tocante a sua aplicagao aos casos de doengas do tra balho. A definigao legal deve partir sempre do conceito de risco especifico gerado pelo trabalho.
Assim, havera, re.sponsabilidade do empregador sempre que se demonstrar que o trabalho foi a causa determinants da morte ou perda da capacidade laborativa do empregado, embora nao a causa linica e exclusiva, Demonstrado que sem a intervengao daquela determinada espccie de trabalho nao se verificaria o dano a integridade fisica do empregado, entao ocorre a responsabiii dade do empregador. Em caso contrario, nao.
Feitas cstas observagoes, passaraos a apreciar, mais particularmente, o problema da
Tuberciilose-doenga do trabalho
Os casos de tuberculose pulmonar, como e sabido, constituem o grosso do volume dos processos ajuizados por doenga profissional.
Isso porque, evidentemcnte, e facil levar a efeito o aliciamento de clientcla nos sanatorios e dispensaries de tuberculose. Sao, tambem. casos faceis Oe ganhar, por parte dos empregados doentes uma vez que os pcritos, em 'cgra, nao sao tisiologos e os juizes ainda se encontiain impregnados dos efeitos emotivos da antiga ideia de que a tuberculose, a «tcriivel peste branca» uma das mais dramaticas enferraidadcs do ser humano.
Soma-se a isso, ainda, o fato de as indenizagoes. em casos de tuberculose serem eievadas, proporcionando ganhos altos de honorarios aos advogados pafrocinadores de tais causas. Com isso, o numero de agoes de acidente do tra balho ajuizadas cresce constantemente.
Em Sao Paulo, rccentemente, esse numero se elevava a cerca de duzentas ^goes de tubcrculose-docnga do tra balho, ajuizadas mensalmente.
Dai a importancia de se analisar mais detidamente esta enfcrmidade, em face da lei de acidentes.
A tuberculose e uma doenga infecciosa. Nao existe a doenga sem o bacilo de Koch, cuja fonte de propagagao £ sempre uma pessoa doente.
Segundo nossos escassos conhecimcntos, colhidos na disciissao com
tisiologos, a tuberculose pulmonar manifesta-se, como enfermidade caracteristica, atravcs do seguinte processo:
1) O individuo e portador de uma primo-infecgao, em regra contraida na infancia. especialmente nos grandes centros urbanos. achando-se o sen organismo cm estado de imunidade relativa, com bacilos mantidos em nodulos calcificados nao virulentos; em virtude de uma nova invasao maciga de bacilos no campo pulmonar (reinfecgao exogena), o estado de equilibrio organico se rompe e os bacilos da primo-infecgao latente adquirem virulencia, iniciandosc, entao, o processo infeccioso; ou entao, o equilibrio organico e rompido por uma queda acentuada e violenta da resistencia do individuo, o que permite aos bacilos da primo-infecgao readquirirem virulencia (re-infecgao endogena), manifestando-se. da mesma forma, o processo infeccioso;
2) O individuo nao e portador de primo-infecgao. aprescntando o campo pulmonar virgera de bacilos de Koch. Entrando em contacto com pessoas doentes, recebe bacilos, que poderao deflagar a doenga, de conformidade com a maior ou menor resistencia organica, condicionada por varios fatores, entre os quais preponderam a alimentagao, os habitos higienicos e outros relacionadoj 6s cliamadas «idades criticas» (puberdade, menopausa, etc.).
Se, ao receber uma invasao de bacilos em seus pulmoes, o individuo adulto e pessoa de boa constituigao e resistencia crganica, o fato nao tem conseqiiencia, processando-se a primo-infecgao. que pode passar desapercebida ou ser confunclida com uma indisposigao passageiia. Se o individuo nao tem resis-
tencia, a invasao de bacilos pode assumir desde logo o aspecto de doen^a infecdosa tipica, con. todo o seu cortejo de sintomas.
Essa e a razao pela qua] se nota grande incidencia de tuberculose pulmonar entre trabalhadores que saem do meio rural e vao para os grandcs centres urbanos, Em Sao Paulo, por exemplo. embora nao tenhamos dados estatisticos a respeito {e isso seria um bom subsidio para o esfudo do problema), acreditamos que de setenta a citeiita por cento dos casos de tuber culose sao contraidos por nordestinos que abandonam o seu meio rural,'prociirando o trabalho na industria.
Essas pessoas, saindo de um meio nao contaminado, com os pulmoes em regra virgens de bacilos de Koch, com sua preesistencia organica extremamente debilitada, em fun(;ao da ma alimenta?ao, caem num meio urbano densan.ente povoado. onde pululam os indivlduo;. tuberculoses, como e Sao Paulo, contraem a tuberculose pulmonar com extrema facilidadc.
Pela simples constatagao desse mecanismo de eclosao da tuberculose pul monar se evidencia a enorme dificuldade de se distinguir entre a tuberculose-doen^a -social e a tuberculosedocnga do trabalho.
A causa determinante da docnga e* sempre uma infecgao bacilar.
Como distinguir. assim os fatores relacionados ao trabalho dos multiplos outros fatores ligados a vida do individuo num grande centro urbano c que possam causar ou pelo menos contribu'r, de forma preponderante, para que aquela infecgao se manifeste ?
Como distinguir o que deve preponderar em determinado caso que se presuma ser de reinfecgao endogena, como lator de queda violenta e acentuada da resistencia do individuo, se o tra balho. se as condigoes de alimentagao. OS habitos de vida. as doengas intercorrentes e multiplos outros fatores ?
Em reccnte debate realizado na Associagao Paulista de Medicina. de que participarari figuras exponenciais da tisioiogia era Sao Paulo, os medicos participantes chcgaram com unanimidade. a conclusao de que a ciencia medica so pode admitir, a rigor, dois casos de lubreculose-doenga do trabalho:
1) Os casos de medicos, enfermeiros e denials empregados de sanatorios e disperisarios de tuberculose, onde tais empregados ficam sujeitos, em fungao do trabalho, a um risco especial continuado de contrair a enfermidade;

2) Os casos de silicose que se associam a uma infecgao tuberculosa. devido a agao lesiva das poeiras de silica, em dcterminada concentragao e tamanho de particulas sobre o tecido pul monar,
Sem o rigor medico-cientifico de tais conclusoes, poderiamos admitir que a tuberculose exccpc^onalmente possa constituir uma doenga do trabalho quando provado que teve causa de terminante um risco especifico, gerado pela atividade profissiona) do empregado. de conformidade com o art. 2." da lei e os fundamentos juridicos do sistema de reparagao em infortunistica. Mas tais casos serao muito reduzidos, sem duvida.
Para chegar a conclusao de que o trabalho atuou como causa da defla-
gragao de uma primo-infecgao de que era portador o empregado, teria o perito de prpceder a um estudo meticuloso da vida pregressa do individuo, seus habitos de vida, seus antecedentes morbidos, sua alimentagao, o meio social em que viveu. etc.
Chcgando a convicgao de que o em pregado ja era portador de uma primoinfecgao anterior,- que os fatores relacionados a vida familiar e social desse empregado nao atuaram como fator depauperante e que o trabalho. ao contrario, representou um fator de queda acentuada c violenta da resistencia organica, entao podera o perito concluir que o caso se enquadra na Ictra e no espirito do art. 2." da lei de acidentes, para efeito de ser classificado como doenga do trabalho.
Mas o que se tem verificado, em regra, e precisamente o contrario. O perito nao procede a invcstigagao alguma sobre a vida pregressa do empre gado doente, ou nao tem meios de faze-la. Contenha-se com o exame das condigoes de trabalho. Se estas Ihe parecem um tanto agres.sivas (e o conceito de agressividade e inteiramente subjetivo, variando de Perito para pe rito) e como nao tenha prescnte outca causa, aparente de debilitamento do organismo do empregado, conclui. sumariamente. por exclusao, que o tra balho deve ser responsabilizado.
O juiz, por sua vez, limita-se a referendar as conclusoes do laudo pericial, quando favoravel ao empregado, uma vez que contrariar um pronunciamento do perito, para desfavorecer o •empregado doente, constituiria, sem duvida, autentica violencia afetiva.
Juizes ha que entendem mesmo haver sempre «presungao» de que a tuber culose foi contraida em virtude do traba'ho, cabendo ao emprcgador provar que a causa foi outra que nao o tra balho. E, com isso. chegamos a absurda situagao atual, em que centenas e centenas de casos de tuberculose ajuizados sao decididos ao arrepio de quaisquer principios medico-cientificos ou juridicos.
Nao e diftcil encontrar casos identicos apreciados por peritos diversos de forma diainetralmeute oposta, um entendendo que se trata de doenga do trabalho, outro que nao. E. como as sentengas arompanham invariavelmente o laudo pericial. surgem os casos identicos julgados de forma diferente.
Para por cobro a essa situagao tumultuaria seriam necessarias, alem de medidas legislativas. no tocantc a reforma da lei precisando melhor os seus termos, no que diz respeito as doengas do trabalho, e, piincipaimente, no que diz respeito as nomeagoes de peritos, medidas de ordem administrativa, no sentido de fornecer, na medida do possivel, elementos objetivos de confronto quanto aquilo que se possa considerar como condigoes anormais de trabalho e condigoes normais. em cada tipo de atividade.
Por exemplo, cada tipo de indiistria teria uma padronizagao minima, no tocante a higiene e seguranga do tra balho e tudo que estivesse dentro dessa padronizagao seria considerado tra balho normal, de forma a nao se poder cogitar de um risco especial de doenga gerado pelo trabalho.
Com isso, peritos e juizes ja teriam. pelo menos de cingir-se a algum criterio objetivo, nos seus pareceres e senfen^as em Iiigar de flutuarem. de coiiformidadc com as suas disposi^oes afetivas, preconceitos. desejos ou interesses.
A Consolidacao das Leis do Trabalho. em seus dispositivos relatives a higiene e seguranga do trabalho fornece ja alguns elementos nesse sentido, mas sao, cvidentemente, insuficientes.
Finalmente, ha a considerar um outro aspecto da profunda distorgao que vem sofrendo a aplica^ao dai. Lei de acidentes, no tocante as doen(;as profissionais e em particular a tuberculose pulmonar. fi o que diz respcito a faha de cuidados e aparelhamento no tccante a preven^ao e a recupera^ao da capacidade laborativa do empregado.
Tern sc generalizado a nogao erronea c anti-social de que a finalidade principal da lei e garantir indenizaqoes a eraprcgados acidentados e doentes. Fala-sc em sentido humanitario da lei, mas. qiiando se procuram solu?6es de cunho humanitario autentico, no fornecimento de tratamento intensive e adequado ao empregado doente, quando este se apresenta em Juizo, reclamando indeniza?ao, nao se da aten^ao a oferta dessa natureza.
No problema das docngas profissio nais ha que considerar duas questoes importantes, nesse particular.
I) O sistema atual de seguro obrigatorio, pelo qua! se transfere totaljnente a responsabilidade ao segurador, suprimindo o interesse economico do empregador, no que diz respeito a me-
100
didas preventivas e profilaticas de dctcnninadas doenqas e em particular da tuberculose, acarreta series inconveluentes;
2} Sendo o interesse social prcponcierante na lei de acidentes, cuja finaiidade precipua e o restabelccimento da capacidade laborativa do empregado, o texto atual da lei e falho, no tocante ii obrigatoriedade do tratamento do empregado doente, no caso de oferta dcssc tratamento, per parte do empre gador ou da seguradora, quando tern conhecimento da doen^a.
Na primeira destas questoes. a pratica nos tern demonstrado que o seguro obrigatorio de acidentes do trabalho freqiientemente funciona como elemento anti-social, sob certos aspectos.
O empregador, nao..sentindo recair sobre si o risco decorrente de mas condicocs higienicas de trabalho, para a saiide de stus emprcgados, uma vez que csse risco recai iinicamente sobre o .se gurador, nao scnte estimulo algum para as mcdidas preventivas e profilaticas ou mesmo de observancia de preceitos de higiene industrial.
For?oso e. portanto, rever esse si.sfcma, no sciitido de fazer recair sobre o empregador uma parte da responsabiliri.idc, nos cases de doengas do tra balho, cspecialmente nos casos em que se evidenria haver sido o empregador segurado negligcnte na observancia de medida.s p-reventivas recomendadas pela legislagao trabalhista ou sanitaria local, no tocante a higiene e seguranga in dustrial
Na segunda destas questoes, ha que salientar o absurdo de situagoes que ja se observaram em Sao Paulo. Ci-
tada a seguradora, em determinado caso de tuberculose ou outra doenga profi.ssionai, resolve cla oferecer ao em pregado reclamante tratamento adequado, com o respectivo pngamento de diarias. O empregado, confiando na possibilidade de receber uma indenizagao, estimuiado por seu advogado, este intercssado nos honorarios da causa, prefere continuar um tratamento gratuito precario que faz no Institute ou Caixa de Aposentadoria ou em qualquer dispensario do bairro.
Ante a rccusa do empregado, o juiz prossegue no feito, para condenar, afinal, a seguradora ao pagamentp de uma indenizagao, por uma doenga que poderia ser eliminada, se houvesse tra tamento adequado e oportuno. Isso representa, sem duvida, uma aplicagao anti-social da lei, fazendo prevalecer o interesse particular pecuniario do em pregado contra o interesse da sociedade, de que o individuo doente, que onera os servigos assistenciais mantidos pelo Poder Publico, recupere sua saiide o mais dcpressa possivel, retornando a uma atividade produtiva qualquer.
Entendemos, pois, que sera necessario deixar claro, no texto legal que se o empregador ou seguradora, citados para uma agao relativa a doenga do trabalho, comparecer a Juizo e ofe recer tratamento ao empregado, com o respectivo pagamento de diarias. ficara o empregado obrigado a aceitar a oferta, sob pena de exoneragao total da responsabilidade do empregador e da seguradora. de conformidade com o disposto no art. 13 da lei vigente.
Cumpre-nos, finalmente, abordar ligeiramente o problema da estimativa
da incapacidade resultante de tuber culose pulmonar.
Trata-se de um problema que esta exigindo urgente regulamentagao, talvez depcndente apenas de providencias do Servigo Atuarial do Ministerio do Trabalho.
Os peritos que habitualmente servem nas Varas de acidentes do trabalho, pelo menos em SSo Paulo, nao sao tisiologos. Nao dispoem de conhecimentos atualizados em questoes de tu berculose. Entio, no tocante a classificagao da incapacidade, limitam-se a scguir a retina estabelecida ha vinte ou trinta anos, quando a tuberculose era chamada de «peste branca» e olhada com paver.
O criterio e; tuberculose ativa = in capacidade total e permanente. Tuber culose clinicamente curada = incapaci dade correspondente a 50 %.
fisse criterio, entretanto, hoje nao tern apoio cientifico algum. A questao foi amplamente debatida. na recente mesa redonda de tisiologos eminentes, patrocinada pela Associagao Paulista de Mcdicina. a que nos referimos acima.
De conformidade com as conclusoes dos referidos especialistas,, os progres ses do tratamento da tuberculose atraves dos antibioticos e quiniioterapicos aumentou enormemcnte os casos de cura total e reduziu bastante o tempo de cura.
Segundo dados cstatisticos reportados naquele debate, somente entre os doentes internados em sanatorios, que sao os casos mais graves, os obitos foram reduzidos, entre 1943 e 1957, de

64.79 % para 10,08 % c as curas foram televadas de 12,22 % para 74,13 %.
0 tempo de cura, que ha tempos se prolongava em regra, per varies anos, foi reduzido consideravelmente. variando hoje de tres meses a dois anos, salvo cases diagnosticados tardiamente ou determinadas formas de tuberculose rebeldes ao tratamento por antibioticos e quimioterapicos.
Por ai se evidencia que nao e mais possivel generalizar-se a classificagao da incapacidade, come se tem feito.
Casos ha em que a tuberculose, mesmo ativa, nao causa incapacidade alguma, recomendando-se mesmo que o paciente continue a trabalhar, como meio psicoterapeutico auxiliar de cura.
Outros casos ha em que a incapacidade e total, pois dada a modalidade do trabalho, exigindo grande desgastes de cnergias, dcve este ser suspense.
Em grande niimero de casos de tu berculose ajuizados com a?6es de acidentes do trabalho, antes que o proccsso termine o empregado j'a se encontra curado, ensejando o processo revisional, se a sentenga ja foi dada, com base na existencia de incapacidade total e permanente.
O art. 20 da lei, que fixou a regra de se considerar permanente a incapa cidade temporaria que durar mais de um ano, e extremamente defeituoso. •Sua finalidade foi limitar a responsa-
104'
bilidade do empregador, no tocante a prestagao de assistencia medica. farmaceutica e hospitalar, ao prazo de um ano. Objetivou apenas a situa^ao decorrentc do acidente tipico.
A questao da duragao da incapaci dade temporaria, nos casos de doen(;as profissionais, ficou totalmente omissa na lei. Dai as imimeras controversias que tem surgido, em torno da aplica(;ao do citado art, 20, da lei vigente.
Nos casos de doenqa. em que. tanto a manifestagao da doen^a, como a recupera^ao da capacidade laborativa do empregado, sao processes lentos. faz-se imperativa uma regulamentaqao especial.
Nos casos de tuberculose, forcoso e exigir do perito (e para isso a nomca(;ao devera recair sempre em tisiologista especializado) que determine o tipo de tuberculose (infiltrativa, cxsudativa. caseosa, ulcerosa, fibrosa, etc.) e estabeleija a probabilidade de cura e o respective tempo de dura^ao, uma vez que isso hoje e perfeitamente pos sivel, a um especialista, de conformidade com o tipo c o grau de evolu^ao da enfermidade.
Conforme revelou um dos tisiologos participantes do debate realirado na Associagao Paulista de Medicina, ja cxiste, em Sao Paulo, um excelentc trabalho do Dr. Carlos Ary Machado, tisiblogo do I.A.P.C,, fornecendo cri-
terios objetivos para o calculo da diminui^ao de capacidade laborativa resultante de uma tuberculose pulmonar c tempo provavel de cura.
Parece-nos, pois, que a questao nao oferece grandes dificuldades, sob o aspecto tccnico-cientifico, para que o Governo Federal, atraves de um decreto regulamentador, ou o proprio Serviqo Atuarial do Ministerio do Trabalho, atraves de portarias, que sao de sua atribuiqao, disciplinem a materia relativa ao grau de incapacidade e respcctiva dura^ao, nos casos de tuberculose pulmonar.
As senten^as judiciais normalmente, sao uma simples homologagao das conclusoes do laudo. Poderiam ser reduzidas a um carimbo ou a um impresso. para simples preenchimento dos claros com OS nomes das partes.
O art. 83, do Decrefo-lei n." 7,036, de 1944 foi redigido em epoca em que vigorava, em nosso sistema processual comum, a regra do perito linico, de nomca?ao do juiz, com indica^ao de assistentes pelas partes.

Posteriormente, o Codigo do Pro cesso Civil foi alterado, adotando-se o sistema de louva^ao de peritos pelas partes e nomea^ao de terceiro desempatador pelo juiz.
II — Exatnes peciciais e prouas testernunha's
Nestc ponto, que nos foi atribuido, no temario dos debates programados, as observagoes que temos a fazer ligamse aos que dissemos acima.
A prova pericial, no processo de aci dente do trabalho e a prova funda mental, decisiva.
Em regra e o perito quern decide as questoes, ele 6 absolute, de suas opinioes depende serem ou nao o empre gador ou a seguradora condenados ao pagamento de indeniza?oes que. com os nivcis da atual Lei n," 2.873, atingem algumas centenas de milhares de cru zeiros ,
Mas a lei de acidentes ficou no sis tema do perito linico. porque nao se cuidou da sua altera^ao, simultaneamente com a modifica^ao feita no Co digo do Processo Civil.
Assim, as partes hoje nem sequer podem invocar o Codigo do Processo, como lei subsidiaria, de conformidade com o disposto no art. 71 do Decretolei n," 7.036, para o efeito de indicarem assistentes tecnicos que acompanhcm as pericias, nos processos de acidentes do trabalho.
6 claro esse sistema legal aprescnta serios inconvenientes, E a forma pelo qual tem sido ele aplicado oferece maiores inconvenientes ainda,
A nomea^ao do perito e livre, sujeita apenas a restri<;ao de recair em legista.
onde houver. Vale dizer, fica ao sabor das preferencias pessoais e pendores subjetivos do juiz, ficando este. por sua vez. sujeito as influencias mais diversas, na escolha, como sejam, pedidos de aniigos e parentes, indicagoes dc escreventes e terceiros que eventualmentc podem estar interessados em firmer determinada orientagao, etc.
O resultado e que. atraves da pencia medica, se decidem inumeras questoes as vezes de forma absurda, praticando-se injustisas flagrantes.
Para ilustrar tais fatos ocorre-gps lembrar doas casos recentes, de nossa experiencia pessoal: Urn caso em que um empregado se queixava de haver sofrido doenga nas maos, resultantes de queimaduras generalizadas, por hdar com substancias irritantes. Um perito. nomeado pelo juiz. concluiu que o paciente era portador de grande incapacidade, por limitagao acentuada dos movimentos dos dedos de ambas as maos, importando em 100 % de incapacidade. Quando estava para ser decidido 0 caso, descobriu-se que o em pregado fora internado em hospital de hansenlanos, portador de lepra em gran avangado.
Num outre caso, o perito, aceitando a queixa do empregado, concluiu que ele apresentava tuberculose pulmonar clinicamente curada. em virtude de uma intervengao cirurgica de toracoplastia.
Apos a sentenga condenatoria da seguradora, com base nesse laudo. ve-
rificou-se, pela resposta de um oficio dirigido ao hospital onde o empregado se tratara, que se tratava de interven gao cirurgica para extirpagao de tumor pulmonar. Casos como esses devem ocorrer as centenas. Alguns. apenas. sao descobertos, a tempo de evitar injustigas ou tardiamentc...
Como em muitos dos seus outros dispositivos, a lei de acidentes, quando cogitou do problema do perito, teve em mira unica e exclusivamente a situaglo decorrente do acidente tipico, que, normalmente, acarreta lesoes anatomicas. Para esse tipo de lesoes e a respectiva classificagao nas tabelas legais, o medico legista e, naturalmentc, o tecnico indicado, pois presume-se que tenha ele conhecimento especializado na materia.
Mas a verdade e que a quase totalidade das controversias que exigem nomeagao de perito medico nao se rcfere a casos de acidentes tipicos e siin de doengas do trabalho. E. em tais cases. e.specialmente nos cases de tu berculose, o sistema do medico-iegista unico, de nomeagao do juiz, tern se mostrado uma autentica aberragao.
Como no caso acima referido, por exemplo. Se a nomeagao recaisse em um tisiologo, teria esle distinguido logo uma cicafriz dc toracoplastia de uma, de outra intervengao cirurgica. Mas o medico-iegista nomeado, nao familiarirado com a e.specialidade, nao distinguiu, e incidiu um erro flagrante.
Forgoso e, pois, adotar um sistema de pericias que elimine as falhas atuais. Para isso. .sera necessario modificar a lei . Mas, mesmo com o texto da lei vigentc, cuja modificagao talvcz dcmandc estiidos demorados, ha providencias que sao urgentes, no sentido de climinar os fatores subjetivos e as interferencias corruptoras, nas nomeagoes de peritos em processes de acidentes do trabalho, especialmente nos grandes centres como Sao Paulo c Rio de Ja neiro.
Em Sao Paulo, por exemplo, o corpo <ie medico-legistas compoe-se de mais dc cem medicos, cntre eles existindo profissionais de diversas especialidades. Mas os juizes. sistematicamente.
nao nomeiam os medicos legistas e sim OS do Institute de Medicina Legal da Universidade de Sao Paulo. Uns porque ja firmaram suas preferencias pes-soais nesse sentido. Outros por questoes de rotina, porque ja se formou habito nesse sentido. Outros, atendcndo a pedidos de terceiros.
O interesse objetivo e real, de apulagao da verdade c dc realizar a justlga, pela cxata aplicagao da ici aos fatos realnicnte ocorridos, esse fica em piano secundario. fi uma situagao absurda que deve .ser corrigida,
A nosso ver. a intervengao do especialista. em cada caso controvertido, e indispensavel, especialmente nos casos de tuberculose, considerando-.se a necessidade de rever os criterios dc clas sificagao das incapacidades, como acima se evidenciou.
A intervengao do medico especialista em higiene e seguranga do trabalho ou dos servigos especializados do Ministerio do Trabalho. mantidos nos gran des centres urbanos, nesse ramo de atividade, parece-nos tambem imprescindivel.
Em Sao Paulo esses servigos estao bem aparclhados e contam com medicos cspecialistas da mais abalizada competencia.
A Associagao Paulista de Medicina, que congrega a quase totalidade dos medicos de Sao Paulo, o Conselho Re gional de Medicina, orgao criado por in federal, recentemente instalado em Sao Paulo, com atribuigoes de disciplmar questoes de etica profissiona! medica, poderao organizar, com criterio cbjetivo, listas dos mais abalizados espccialistas em cada tipo de doenga. Por outro lado, e necessario adotar uormas que elimincm as preferencias pessoais d.os juizes c outros fatores subjetivos que possam infiuir nas no meagoes de peritos. Per exemplo, poder-se-ia estabelecer, atraves de decreto regularnentador, que nas cidades cndc aja corpo organizado de medicosiegi.stas, as nomeagQes deverao ser feitus cm rodirio obrigatorio e atendendo as especialidadcs de cada profissional, de coiifonnidade com as listas ciganizadas pelo respective diretor do sei vigo.
Com base no art, 78 da lei atual, poder-se-ia determinav que sejam ou-

vidos, em cada caso, os services de higiene e seguran?a do Ministerio do Irabalho. Poder-se-ia determinar, ainda, quc. nao havendo especialistas para determ:nadc tipo de caso controvertido, entre os medicos-Iegistas locais. a nomea^ao recaia em especialista designado pelo ConseJho Regional de Medicina ou pela Associa?ao Medica local.
Enfim, a revisao do sistema atual de pericas. especialmente nos grandes centres urbanos, nos processes de acidenies do trabaiho, parece-nos nec«ssaria e urgente. devendo ser objeto de rreticuloso estudo.
Quanto a prova testemunhal, nada ha quc observar, a nosso ver.
A prova testemunhal e praticamente iniitil, no processo de acidente do tra baiho em que se discute questao relativa a doen^a profissional. Em tais processes, em regra, o empregado apresenta tres companheiros de trabaiho. previamente instruidos pelo advogado. que se limitara a repetir o que foi dito na petigao in-cial. Se a prova teste munhal ja e precaria, em nosso pais. no processo de acidente do trabaiho, muito influenciado que e por fatores subjetivos e pendores humanitarios, ela 0 e muito mais.
Sobre questoes de higiene no local de trabaiho, presenga de fatores de insaJubridade, por excmplo, de nada vale o depoimento de testemunhas.
Muito mais importante do que este seria urn parecer requisitado ao Servigo de Higiene e Seguran^a do Ministerio do Trabaliho, de qiie nunca se cogitou no proce.sso de acidente do trabaiho.
— O seguvo-doenga na institaicao de previdincia social e o art. 30 da Lei de Acidentes
Cabe-nos, finalmente, relatar estc ponto do programa dos debates, que nos foi atribuido.
A observagao que nos ocorre, neste particular, e que o sistema vigente deve ser revisto, em face das altera^oes na legislagao de acidentes do trabaiho traduzidas pela Lei n.° 2.873, de 18 de setembro de 1956.

Realmente, este diploma dispos que. nos casos de incapacidadc temporariii o empregado recebera diaria cquivalcnte ao salario integral, respeitado apenas o limite de uma vez e meia o maior sa lario minimo vigente no pais, de acordo com o art. -14 da lei. Trata-se de urn absurdo, pois uma das regras elementares, em infortunistica, e a de que o empregado afa.stado do trabaiho nao deve receber, durante esse afastamento, o mesmo que recebe durante o trabaiho efetivo, a fim de que nao haja estimulo para a inatividade remunerada, que sobrecarrega a coletividade.
Mas, se a essa remuneragao se acrescerem os pagamcntos de auxilio-enfer-
midade, assegurados pela legisla^ao de previdencia social, como permite o art. 30, do decreto-lei n." 7.036, entao teremons um absurdo maior.
O empregado afastado do trabaiho, por motive de acidente ou doen^a do trabaiho, e evidente que tudo fara para retardar a sua cura e conseqiicnte recuperagao da capacidade laborativa, uma vez que durante esse afastamento recebera remuncraqao substancialmente mais elevada do quc durante a sua permanencia em trabaiho efetivo.
E claro que nura pais de reduzida capacidade produtiva, como e o nosso, essa po.ssibilidade de remunera^ao exagerada da inatividade. constitui um grave inconveniente social, um entrave ao progresso.
Urge, portanto, a nosso ver. o restabelecimento do sistema de diarias calculadas na base de setenta centesimos do salario diario, nos termos da redaijao vigente anteriormente a Lei n." 2.873, e a modificagao do art. 30 do Decreto-lei n." 7.036, a fim de se deixar claro que o empregado afastado do trabaiho, por motive de acidente ou doen^a profissional. nao tera direito ao recebimento cumulative dos beneficios de previdencia social, durante o afasta mento .
Conclusdes
Do que ficou exposto acima, concluimos, como sugestao para o pro-
blema premente das doen^as profissionais:
]) Dcve-se proccder a um estudo acurado para revisao da lei de aci dentes do trabaiho vigente, especial mente no sentido de melhor definigao de doenga do trabaiho, questao da causalidade c duragao da incapacidade temporaria, nos casos de doenga (arts. 2S. 3.° e 20). Deve-se estabelecer, na lei, a obrigatoriedade de aceitagao do tJ-atamento oferecido pelo empregador, em qualquer tempo, noscasos de dcengas.
2) A questao da classificagao das incapacidades decorrentcs de doengas do traoalho, especialmente a tuberculose pulmonar, deve ser objeto de regulamentagao adequada, atraves de dccreto ou portaria do Servigo Atuarial do Mini.^Ierio do Trabaiho.
3) A questao das noraeagocs de pcritos nos processos de acidentes do trabaiho, enquanto nao se estabelecer .sistema raais adequado as necessidades aluais, devcra ser objeto de mcdidas disciplina:e=, atraves de decreto, no sentido de tornar obrigatoria a intervengao de especialistas e fixar criterios objctivos dc nomcagao.
4) Deve ser restabelecido o sistema de redugiio da diaria a setenta centesimos do salario diario e suprimida a possibilidadf. de cumulagao do recebi mento de diarias com os beneficios de previdencia social.
117
rescricao
TRABALHO lyD DR. )OAO CARLOS CO MES BE MATOS. APROVADO PELA
MESA REDONDA DE ADVOGADOS BE ACIDENTES DO TRABALHO. PROMOVIDA PELA P.N.E.S.P.C.
— Art. 66, alineas «b» e «c» da Lei de Acidentes do Trabalho.
— Prazo para redamagao,[rente ao art. 83 da mesma Lei e aos principios gerais do instituto da prescrigao.
s\
1. Indiscutivelmente. dentre os assuntos convencionados para serem examinados c estudados na presence mesa-redonda de advogados, desfacase, pelos efeitos que gcra. o instituto da prescri(;ao no campo da infortunistica. Cabendo-nos a honra de relatar sobre tao oalpitoso tema, procuraremos aborda-lo de forma objetiva e pratica. visando^ rssim, evitar que a questao uUrapassc os limites da infortunistica.
Conscquentemente, partindo da verdade ipso'ismavel de que a prescrigao nada mais e do que o perecimento da a^ao peln decurso do tempo, chegase a coneiusao de que todo direito torna-se inoperante quando o seu ti tular deixa de exerce-lo dentro do prazo que for assinalado por lei.
O decurso do tempo tern forte influencia sobre o direito, pois cbega ate mesmo a criar os costumes, fonte supletiva para aplica^ao da norma legal.
E e natural, normal e ate mesmo necessario que assim se verifique, pois o direito nao pode ficar indiferente as modificagoes que o tempo impoe aos sere.9 animados e inanimados.
As.sim, se o titular de um direito deixa de o exercitar, durante um determinado tempo, embora tivesse capacidade para tanto, perde a garantia desse direito, que e a agao. O direito nao se extingue, mas estara ele desamparado de qualquer poder coercitivo. Se o violador do direito quiser se valer do insti tuto da prescrigao, nada podera fazer o seu titular,
A primeira vista, seria de se considerar o instituto da prescrigao um instrumento odioso que serve para provocar situagoes jurldicas perfeitas, mas injustas.
Porem, se atentarmos que a seguranga do dia de hoje c do dia de amanha repousa sobre a definigao absoluta dos fatos passados, pois tanto e mais tranqiiila a situagao quanto menor for o numero de fatos que podem ser susceptiveis de modificagao, conclui-se que evitar uma situagao de diivida que permanega indefinidamente e um imperativo de ordem publica.
Adotamos, pois, sem entrar em comentarios sobre a opiniao de outros juristas, p entendimento de Giorgi, Teorie delle Obligazione, Vol. V!I, pag. 212; Salvat, Obligaziones numero
2.045; Laurent. Traite de Droit Civil, Vol. XIV, pag. 21; c muitos outros, entre os quais os patrios; Espinola e Espinoln Filho, Tratado de Direito Civil Brasileiro, 1." Vol., pag. 501, que a.ssini sc expressa;
5''a prescrigao e instituida pela ordem juridica para evitar que se prolongue •ou perpetue a inccrteza das situagoes juridicasa.
E de Camara Leal, Da Prescrigao e Da Decadencia, pag, 19. que afirma: Nao e, pois, contra a inercia do direito mas contra a inercia da agao, que a prescrigao age, a fim de restabelecer a •^stabilidade do direito, fazendo dcsaparecer o estado de incerteza resultante da perturbagao, nao removida pelo seu titular.
2. No que conccrne ao instituto da prescrigao das agoes fundadas na Lei de Acidentes do Trabalho, Decreto-lei r\P 7.036, de 10 de novembro de 1944, verifica-se pela redagao do art. 66 que o legislador se preocupa nao so em delerminar o prazo para que esta se verifique, como tambem assinalar de maneira clara e expressa; a epoca em •oue o prazo comegara a fluir e quais os .atos que a poderao interroraper.

Assim, na lei atual determinou o le gislador que o prazo bienal comegara a ser contado;
a) da data do acidente quando dele resultar a niorte ou uma incapacidade temporaria:
b) da data em que o empregador teve conhecimento do aparecimento dos primeiros sintomas da doenca profissional. ou de qualquer outra originada do trabalho;
c) do dia cm que ficar comprovada a incapacidade permanente, nos demais casos.
Quanto a hipdtese a que se refcrc a alinea «a» jamais existiu qualquer dii vida na sua aplicagao.
Todavia, no que diz respeito ao contido nas alineas «b» e «c» ja nao existe uma universalidade de interpretagao.
Conquanto a redagao destes dispositivos seja bastante clara, ao arrepio de sua literalidade", encontra-se com freqiiencia julgados dos nossos Tri bunals, inclusive do Excelso Pretorio que OS modificam completamente, cheqando mesmo a dar interpretagao que scndo aceita jamais permitira que se concretize o instituto da prescrigao.
Realmente, ao decidirem casos em que o empregado reclama indenizagao por se encontrar vitimado de molestia profissional ou originada de condigoes especiais ou excepcionais de trabalho. OS julgadores patrios negam a aplicagao do disposto na alinea «b», procurando
apreciar o cajo sob o prisma do articulado na alinea «c». ou seja. de que o inicio dc. prazo coraegara a fluir do dia em que ficar comprovada a incapacidade permanente.
Assim, nao basta que o empregador tenha o conhecimenfo dos primeiros sintomas da inolestia contraida pclo empregado, o que e indiscutivelmente provado em quase todas as agoes, pois na grande maioria sao os erapregado.s doentes encaminhados ao Institute de Previdencia por guia devidamcnte preenchida pelo mesmo; e precise, segiindo se ve desses juigados, que a incapacidade permanente fique defidamente comprovada para que se inicie a contagem do prazc prescricional.
E, esta comprovagao da incapacidade permanente, no entender dos juigados somentc podera ser feita em pericia medica judicial.
Ora, como e bem de ver, estabelecer o principio de que um direito somente podera ser exercitado depois de ter o seu titular ingres.sado em Juizo I o mesmo que dizer que as agoes propostas sob 0 fundament© de ter o empregado contraido molestia em razao das condigoes de trabalho sao imprcscritincis.
Mesmo que «ad argumentandums venha a se alegar que as indenizagoes acidentarias teriam o carater de alimentos, ainda assim, dada a expressa disposigao legal nao pode o julgador deixar de aplicar a aprescrigao. quando esta ocorrer.
Alias, OS salaries demandados por empregados contra-patroes melhor podem ser considerados como alimentos e, no entanto, sao prescritiveis con-
forme disposigoes da Consolidagao das Leis do Trabalho.
Se a Lei de Acidentes do Trabalho dispoe sobre prescrigao, e evidente que as agoes nao podem ser imprescritiveis.
Do entendimento que a comprovagao da incapacidade permanente somente podera ser feita atraves de exame pencial judicial nao encontra amparo em qunlquer dispositive da lei.
Ao inves, a comprovagao da incacidadc permanente, .segundo as dispo sigoes da lei acidentaria podera decorrer ate mesmo quando inexistir exame medico para a sua constatagao.
Realmente, dispoe o art. 20 da .Lei de Acidentes do trabalho:

«Permanecendo por mais de um ano, a incapacidade temporaria sera automaticamcnte considerada permanente, total ou parcial, c como tal indenizada. cessando. desde logo para o emprega dor a obrigagao de pagamento da indenizagao correspondente a incapaci dade temporaria, bem como da prestagao da assistencia medica. farmaceutica e hospitalar,»
Assim, a propria lei cria uma presungao «jure et jure» de que a incapa cidade e permanente desde que o em pregado permancga em tratamento per cspago de tempo superior a um ano: nao ha, pois, necessidade de exame me dico para comprovar a existencia daincapacidade permanente.
Poder-se-ia objetar, mas se o empre gador nao esta fornecendo o tratamentoao empregado que se tornou portador de uma doenga originada do trabalho. como podera ele se prevalecer dessa presungao «jure et jures ?
Ainda e a propria lei que rcsponde a essa objegao, ao afirmar no § 1° do art. 12 que; «Nos cases de molestia profissional ou qualquer outra originaria do trabalho. torna-se efetiva a responsabilidade do empregador, com relagao a prestagao da refcr.da assis tencia, desde o instantc em que tenha conhecimcnto dos primeiros sintomas da doenga».
Ora. se o empregador preenchc a guia de encaminhamento do empregado ao Institute de Previdencia em que este c associado, e, recebe a comunicagao daquele orgao de que foi concedido auxilio doenga ao empregado afastado, fica devidamentc patenteado ter o empregador conhccimento cos pri meiros sintomas da doenga,
Se teve conhccimento da doen,a e nao deu a assistencia de que fala § 1° do art. 12 acima apontado, permitiu ja nessa oportunidade, que o em pregado diretamente ou por intcrmedio de um seu representante reclamasse^a autoridade judiciaria contra a violagao de um seu direito, conforme dispoe o § 2° do mesmo dispositive legal.
Nada reclamando dentro do prazo bienal perdeu a oportunidade de de fender o seu direito. uma vez que a agao tornou-se prescrita de conformidade com o que expressamentte reza a a nea «b» do art. 66 da Lei Acidentaria.
3 Invocar o disposto na alinea do art, 66 da Lei de Acidentes do Trabalho para estabelecer o imc.o da contagem do prazo prescricional para as agoes fundadas na eclosao de mo lestia originada do trabalho lestia profissional, e revogar o d.spost na alinea «b» do mesmo artigo de le .
Com efeito, como foi exprcssamente determinado pelo legislador. o disposto na alinea «c» somente podera ser aplicado, supletivamente, ou seja, quando o fato nao encontrar guarida nas a!ineas «a» e «b», Nao obstante, estar inteiramentc vedada a aplicagao do disposto na ali nea «c» nos casos para os quais o legislador dedicou outros dispositivos expresses, verdade e que, como dissemos anteriormente, os Tribunals do pais vem reiteradamente afirmando que a prescrigao somente podera ser contad_a da data do exame pericial feito em Juizo.
Para os que assim afirmam o que se vislumbra e a preocupagao de esta belecer como principio «sine qua non» que o direito a indenizagao acidentaria somente surge quando for feita a verificagao da incapacidade por medico legista oficial, nomeado pelo Juir.
Em verdade, a verificagao da incacidade de que fala o art. 83 apenas serve para impedir que o empregador ao proper acSrdb para liquidagao de suas obrigagocs nao venha apresentar como atestado de incapcidade um do cument© firmado por medico de sua exclusiva confianga — o que tambem e perniitido quando na localidade em que ocorrer o cvento nao cxistir medico legista oficial.
Alias seria um absurd© se admitir 0 contrario. uma vez que adotando-se outra interpretagao, chegar-se-ia a conclusao de que ocorrido o acidente ou verificado o fato que originou o direito do acidentado a receber a assistencia medica, farmaceutica e hospitalar, bem como diarias. seria necessario que fosse
ele encaniinhado a um iriedico Jegista oficial, a fim de que este atestasse a incapacidade temporaria, ja que a lei nao faJa se a incapacidade a ser ateslada so seria a permanente.
Igualmente, o empregado que em razao de um acidente viesse a perdcr a totalidade de visao, ambas as pernas, etc.. somente poderia exercitar o seu direito a receber os beneficios da lei. depojs de ter side examinado per me dico legista oficial.
Nao resta duvida. portanto. que a interpreta^ao do disposto no art, 83 da Lei Acidentaria, devera se restringir a aferi^ao do grau de incapacidade. qiiando a lesao, por si, nao seja a prova viva da sua existencia on, ainda, quando, pelo decurso do prazo de um ano de incapacidade temporaria nao venha a ser considerada como perma nente.
Mesmo admitindo-.se. por absurdo. que a incapacidade para o trabalho de um empregado so Ihe garanta o direito a indenizagao e outros beneficios da lei quando tiver sido verificada por medico legista oficial, nem por esse argumento poder-se-ia dizer que o prazo prescricional comeqara a fluir deste.
Isto porque, a reclamaqao do direito violado nasce do momento em que o empregado perde partial ou totalmente a sua capacidade laborativa. Nesta cportunidade nasce para ele o direito dc reclamar os beneficios da lei. se nao 0 faz por negligencia ou ignorancia dentro do prazo bienal, perde a aqao que Jhe garantiria a realizaqao desse direito,
Muito embora seja da obrigaqao do cmpregador dar. de imediato. ao em
pregado vitimado por doenqa originada do trabalho ou acidentado no trabalho, OS beneficios. da lei, o inadimplemento da obrigaqao pcrmitira ao empregado titular do direito ofendido por em movimento a maquina judiciaria do Estado, exigindo, nao so a obtenqao desses beneficios, como tambem, a aplicaqao da sanqao estabelecida pelo artigo 102 da Lei de Acidentes, combinada com o art. 52 do mesmo diploma legal.
Assim. se o titular do direito violado nao o exercc dentro do prazo assinaJado pela lei, perde a cportunidade de obrigar o inadimplente a concretiza-Io.
4. Estando analisando o tema'cin discussao tao somente quanto as responsabilidades do empregador, resta examinar, antes de dar por encerrada nossa missao. as conseqiiencias que advem diretamente as entidades seguradoras da nao aplicaqao dos dispositivos da Lei de Acidentes do Trabalho que regulam o institute da prescriqao.
O Decreto-lei n.° 18.809, de 5 de junho de 1945, que regulamenta a Lei de Acidentes do Trabalho, em sens arts. 25^a 37 determina que as sociedades sao obrigadas a constituir «reservas tecnicas», para garantia das operaqoes de. seguros de acidentes do tra balho, que assim sao discriminadas:

a) de riscos nao expirados (correspondentes ao prazo restante de vigencia da apolice);
b) de acidentes nao liquidados fou seja, ocorridos na vigencia da apolice e ainda nao liquidado);
c) de previdencia e catastrofe.
Como se ve, se as entidades seguradoras forem obrigadas a efetuar pagamento. de indenizaqoes acidentarias decorrente de aqbes ajuizadas muito tempo depois de findo o contrato de seguro, inexistiria qualquer reserva tecnica e nem sera possivel estabelecer qual o indice que possa servir de elemento para prcver qual o inontante dc despesas que ainda suportara.
Ficariam, assim, inteiramente postergadas as normas que iinpedem que as seguradoras nao possain suportar os riscos assumidos.
Igualmente podera ocorrer que, se se accitar a tese de que somente da comprovaqao da incapacidade permanente e que comeqa a fluir o prazo prescricional, a seguradora podera ser compelida a arcar com um pagamento de indenizaqao em bases bem superiorcs a que estava prevista na lei por ocasiao de vigencia do contrato de seguro.
Com efeito. digamos que um e""' pregado de uma ficma segurada contra OS riscos de acidentes do trabalho ti vesse se afastado, em 1948, do sermqo por se encontrar vitimado de molestia profissional ou originada do trabalho, vindo em Janeiro do corrcnte ano. tentar obter. judicialmente, os beneficios que Ihe garante a lei.
Adotando-se a exdruxula tese dc que o seu direito nao esta prcscrito, pois ele so surgiu no dia em que ficou com provada a sua incapacidade permanente, por perito judicial, conclui-sc que o seu
direito nasceu sob o iniperio da lei atual.
Se o sen direito nasceu sob o imperio da atual lei de acidentes do trabalho, devera o seu titular gozar dc todos os beneficios que Ihe garante o diploma legal vigente, o que vale dizer, a segu radora que assumiu determinado risco, devidamente tarifado, teria que arcar com uma indenizaqao que jamais po deria ter previsto quando firmou o con trato de seguro.
Isto e tao arrematado absurdo que, a jurisprudencia dc nossos Tribunals, embora afirmando que o direito de aqao nao esta prcscrito porque o titular do direito nao poderia exercita-lo sem que ficasse comprovada a incapacidade per manente, o que so se dcu em luizo, tern mandado calcular a indenizaqao nas bases fixadas pela lei vigente ao tempo em que ocorreu o afastamento do tra balho.
Enfim, dos julgados judiciais se conclui que o'fato' que deu origem ao di reito serve para determinar qual a lei que 0 regula, mas nao serve para esta belecer 0 inicio do prazo prescricional.
Ora, se existe o direito necessariamente existira a aqao de seu titular, uma vez que a todo direito corresponde uma aqao que o protege.
Dcst'artc, fica, mais uma vez, demonstrado que. embora existindo jul gados que se distanciam do texto da norma legal, o direito nao podera ficat maculado pelas, data venia, injustiqas cometidas.
A administragao cientifica das empresas de seguros
TESE APRESENTADA A VII CONFERENCIA HEMISFERICA DE SEGUROS CARACAS — VENEZUELA
129 pouco, porem, foi-sc modificando a estnitura basica da unidade de produgao, primeiramente, com a introdu?ao do trabalho cscravo e, mais tarde, com a saida dos tipos mais inquietos ou espccializados que se desprendiam da famiiia e saiam pelo mundo ofereccndo os sens services a outras familias, rompendo, assim. o isolamcnto social em que viviam.
«Its amazing what ordinary people can do if they set out Without preconceived notions».
Charles F. KetteringiNTRODUgAO
Ja bastante Jonge se encontra o tempo em que uma empresa nao oferecia maiores problemas para ser administrada. pois o homem de negocios era por si so bastante para enfeixar nas proprias maos todos os poderes tecnicos e adrainistrativos. A vida em si mesma era simples e rudimentar; as leis trabalhistas e socials ou nao existiam ou ainda se encontravam em estado embrionario; as aspira?6es humanas eram menores pois menorcs eram as suas possibilidades; freqiientar a escola elementar era privilegio de poucos; nao havia maquinas, nem avioes. nem ci nema, nem televisao, nem boraba atomica, nem satelites artificiais...
Depois... Apareceu o cinema mudo, o cinema com miisica, o cinema falado, o cinema em 3-D, o cinemascope, o ci nerama (ainda desconhecido em rauitos paises). Apareceu o balao, o balao dirigivel, o voo do mais pesado que o •ar, OS avioes de longo alcance, os avioes mais velozes do que o som, os avioes
a jato, OS super-jatos, os teleguiados. OS satelites artificiais.
E com o progresso, lento nos primordios da civiliza^ao mas rapido nos dias em que vivemos, e que verificamos a quantidade de problemas que nos cercam e que desafiam a nossa perspicacia, capacidade e inteligencia.
A VlDA ECONOMICA E AS ATIVIDADES
DAS EMPRESAS
A vida economica encarada a luz do conhecimento de hoje, mostra-nos o seu desenvolvimento a partir do patriarca ate o presidente das modernas corpora^oes internacionais. A empre sa, no inicio confundia-se com o senhor patriarca], com o patrao, com o chefe da famiiia. A unidade produtiva que era constituida pela famiiia, composta do seu chefe, esposa, filhos e colaterais. bastava-se a si propria tao simples eram as suas necessidades. Pouco a
Posteriormentc, ja em plena Idade Media, a constituigao do artesanato tornava necessaria a institui^ao de pequenas oficinas, com a rcuniao de diversas pessoas espccializadas: aprendizes, operarios e mestres, provocando o surgimento de uma hierarquia interna na prodii^ao bera como uma certa organizagao nos servi^os.
Com a descoberta, porem, da maquina a vapor, da fiandeira mecanica, da maquina de tecer e de uma infinidade de engenhos modcrnos, as possi bilidades de u'a maior produgao come9aram a influir na constituisao das em presas. E hoje, a grande empresa in dustrial ou comercial, a capitalista ou a socializada, a particular ou a publica, apresenta-se com tal complexidade que nao mais se pode admitir a faita da assistencia tecnica e administrativa. Assim, no nosso seculo, ao lado dos detentores do capital alinham-se os tecnicos de toda ordem, especializados nao somente na produgao ou na realiza^ao das tarefas substantivas da empresa, como tambem os especializados em todos OS fatores adjetivos que regulam a vida e a sobrevivencia das organizagoes sejam piiblicas ou privadas.
As empresas que conhecemos, engolfadas em terrivel concorrencia indus-
trial e comercial, neste mundo de mutagoes tao rapidas, torna-se imprescindivel produzir muito e bem, afastando de si o maior numero possivel de fatores negatives para a sua continuidade e prosperidade. Faz-se mister uma analise interna, um exame introspective da propria unidade empresaria. Muita vez 0 mal nao vcm de fora, reside nas proprias entranhas do organism© co mercial ou industrial, como os vermes que consomem o organismo biologico humano.
Restringindo o nosso estudo as em presas de seguros, podemos nelas distinguir dois tipos de fungoes. Primei ramente, vemos que ha fungoes que traduzem a propria razao de ser da sociedade, Assim, todos os assuntos pertinentes aos ramos de seguro em que a organizagao opera, traduzem as suas atividades primciras ou principals. Mas, para a consecugao dos seus objetivos necessifa a empresa de uma estrutura cicntificamente escolhida para melhor se. desincumbir. Assim. pode ser organizada .scgundo as suas finalidades ou objetivos, segundo a area geografica, segundo a clientcla, etc. preciso que se encare problemas de especial relevancia no rendimento do trabalho, tais como:
a) no setor de organizagao cienti fica c administragao do material: A localizagao da matriz e das sucursais; as caracteristicas dos predios onde irao funcionar; os meios de se evitar a pocira, OS ruidos e a sujcira; as fontes de ar e de luz: a decoragao das salas e a utilizagao de cores principalmente com relagao aos cfeitos psicologicos que deverao proporcionar; a estandardizagao dos suprimentos e o equipamento

da empresa; as vantagens ou desvantagens da centraliza?ao das compras: a simplificagao e a padronizagao dos materials: a distribuigao do espa^o e a distribui^ao dos escritorios; a analise de organogramas: os tipos de comunica?6es: telefone, telegrama, tubos de ar comprimido, mensageiros, televisao, radiofonia, telipo, ditafone, etc.

b) no setor de pessoal; o orgao do pessoal; a classificagao dos cargos ou fungoes; o valor do trabalho; a retribuigao do trabalho e a lei da oferta e da procura; a avalia^ao do merecimento; OS sistemas de promoglo; os pianos de incentivos: o recrutamento e a sele^ao: a movimentagao voluntaria, involuntaria e disciplinar do pessoal; pianos de treinamento; condi?6es fisicas de trabalho: programas de prevengao de acidentes e de seguran^a no trabalho: atividades de assistenda e bem-estar social; as relagoes humanas no trabalho: a chefia e suas consequencias; motiva^ao e moral do grupo de trabalho: etc.
c) no setor de administragao geral: levantamentos administrativos: analise do processamento e a simplilica^ao do trabalho: a divisao do trabalho: as flutua?6es no trabalho: a correspondencia: o arquivo: a reprodu^ao de documentos; utilizagao de raaquinas; rela^oes publicas: esfudo dos tempos e dos movimentos; etc.
Convem salientar que os problemas acima enumerados nao esgotara a relagao dos assuntos que atormentam a vida das sociedades de seguros. Muito ao contrario, nao so a serie de pro blemas e muito maior, como tambem,
a vastidao de cada urn dos problemas nao pode ser convenientemente avaliada mas, nao deve, de forma alguma, ser subestimada.
A PROFISSAO DE ADMINISTRADOR
desse conjunto emaranhado e complexo de fungoes especializadas que surge uma nova profissao: a de Administrador ou, como e raais conhecida no Brasil, a de Tecnico em Administragao.
Pelas observagoes que acima tragamos no que se refere a evolugao da vida economica, bem como pelo exame que se nos oferecc a cena mundial contemporanea, facil se torna a verificagao de que a especializagao intensiva e multiforme vem aumentando muito a lista das profissoes, dcsdobrando os oficios, seccionando as ocupagoes e estreitando os tipos de atividade indivi dual. No entanto, nas empresas, mister se faz o desenvolvimcnto de uma agao grupal no sentido de reunir os trabaIhadores para a realizagao dos seus propositos.
«A divisao do trabalho, assim, extremada pela especializagao, e a concentragao dos trabalhadores, imposta pela necessidade de fundir e coordenar o esforgo, sCm o que a maioria dos designios humanos jamais poderia ser realizada, tornaram indispensavel um ,sistema adequado de administragao, dando ensejo ao aparecimento do administrador profissional*.
Mas, embora Administrar seja a um so tempo, arte, tecnica e ciencia, em muitos paises a Administragao ainda nao e reconhecida como uma profissao. Ora, o que caracteriza fundamcntalmente uma profissao e a exigencia de
uma tecnica adquirida per treinamento especial. Como vimos no inicio deste trabalho, sac tao complexes e transcendentes os problemas decorrentes das necessidades adjetivas de uma empresa que seria impossivel a algucm se capacitar a rcsolver os problemas admi nistrativos com eficiencia, scm uma prcparagao anterior especializada. Nao ha negar que o assunto se sujeita a algumas controversias pois muitos sao aqueles que a testa das suas organizagoes nao alcangaram, ainda, a importancia do especialista cm ciencia administrativa.
6 fato publico e notorio que neste nosso mundo, nem sempre se reconheceu a necessidade de profissionalizar o engcnheiro, o medico, o advogado, o contador, o economista, o atuario, etc. Houve tempo em que qualqucr pessoa podia, por exemplo, construir, medicar ou arrazoar no foro. Aos poucos, porem, aqueles mesmo que construiam. medicavani, ou arrazoavam foram crian- • do uma tecnica sua, e se insurgindo contra os adventicios que, sem a mesma tecnica, pretendiam construir. medicar, ou arrazoar. Quando as casas se transformaram cm edificics de 102 andarcs. nao raais se tornava possivel ao curioso nem ao «pratico» construir, Contudo, ainda ha quem construa sem engenharia, como tambem ha quem quem de reraedio sem ser medico. Mas, o que acontece e que quem constroi sem engenharia, esta copiando o que viu fazer: quem receita sem mcdicina esta receitando por analogia, pelo que jk viu ou ja soube da eficacia de certa droga, da razao de certos sintomas.
«Mas quando os casos nao se ajustam, isto e, quando a construgao co-
piada nao se adapta ao material disponivcl, nem ao terreno escolhido: quando o segundo doente nao tem o mesmo grau de morbidez, ou nao e um organismo igualmentc sensivel, quando, em suma, aparece a necessidade de aplicar a ciencia ao caso concrete, la se vai por terra o empirismo do amador, e sobrcvem prcjuizo certo, as vezes mesmo. irremediavel.
Conseqiientemente, so o engenheiro dcve construir; so o medico deve dar remedios».
E resolver os problemas administra tivos a quem cabe ? Ao Engenheiro ? Ao Advogado ? Ou a quem recebeu a formagao devida ? As vezes a confusao e causada por falta de conhecimcnto total do assunto; em outras vezes e gerada face a um conhecimento apenas parcial da materia. Se tomarmos, por exemplo, a profissao de en genheiro no Brasil, vamos verificar pela seriagao do curso na Universidadc. que um Engenheiro Civil estuda entrc os assuntos tipicamente de engenharia. cadelras tais como: Economia Politica e Finangas, Estatistica, Higiene e Saneamcnto, Organizagao do Tra balho e Administragao. Tais cadeiras servirao como lastro de conhecimentos para que o futuro engenheiro possa melhor se dcsincumbir na sua profissao.
A cadeira de Economia Politica c Fi nangas nao o torna um Economista ou um Financista: para ser um Economista ou Financista outros estudos teria que ter realizado. Da mesma forma, ao es~ tudar Organizagao do Trablho e Ad ministragao, o estudante de engenharia nao se torna um «expert» em Adminis tragao pois para isso teria que ter
estudado assuntos bem diferentes daqueles que escolheu, tais como: Psicologia, Sociologia, Direito Administrativo, Rela^oes POblicas, Administra^ao do Pessoal, Organizagao e Mefodos. Administragao OxQamcntaria, Administra^ao do Material, Chefia Administrativa, etc. Ora estas materias integram o programa da Escola Brasileira de Administragao Publica e no seu conjunto se destinam a formar Administradores. No entanto, como vimos, nesta Escola e lecionada a cadeira de Direito Administrative e nem por isso, um Licenciado em Administragao pode exercer a profissao de Advogado.
Os exemplos que vimos de salientar servem apenas para demonstrar que so depois de muito estudo, muito trcinamento especializado, e que alguem estara apto para exercer esta ou aquela profissao. Alem disso, a super-divisao do trabalho vem gerando uma enorme sub-divisao nas proprias profissoes. Assim e que quando tivemos oportunidade de proceder a um estagio nos Estados Unidos da America, no setor da Administragao Publica, verificamos, por exemplo, que so na profi.ssao de Engenheiros, o -Governo Federal daquela nagao tern trinta campos de especializa^ao devidamente classificados tais como: Aeronautico, de Automoveis, de Pontes, de Quimica, Civil, de Construgao, de Eletricidade, de Eietronica, de Estradas, Mecanicos, etc. Mais ainda, verificamos que o cargo de Engenheiro de Minas, por exemplo, como e logico e viavel, so pode ser exercido por Engenheiro formado naquela especialidade.
Outro exemplo que nos ocorre e que se nos afigura mais oportuno por ser pertinente ao Seguro. e o caso dos Atuarios. Ha alguns nnos atras nao havia nas Sociedades de Seguros o cargo de Atuario. Posteriormente, foram-se delincando ccrtos tipos especiais de trabalho que viriam a constituir, mais tarde, a profissao de Atuario. Sua.s responsabilidades, no seio de uma companhia de seguros, sac perfeitamente caracterizadas, conforme se pode ver na tese «Atuarios de Seguros de Vida» apresentada pelo senhor Milton J. Goldberg, da Equitable Life Assu rance Society of the United States, a V Conferencia Hemisferica de Segu ros.
CONCLUSAO
Os Presidentes, Diretores ou Supervisores das Sociedades de Seguros sabem quanto vale o auxilio de um Atuario. de um Economista, de um Contador, de um Medico, de um En genheiro, de um Tecnico em Seguros, etc. E. embora reconhe^amos, com prazer que muitos dos responsaveis pelos destines das empresas de seguros ja utilizam em maior ou incnor grau o auxilio do especialista cm Administra?ao, estendcmo.s a nossa esperanga de que num dia, nao muito remoto, todos possam compreender o verdadeiro significado da palavra Administrador e que vejara nesta nova profissao mais um auxiliar de valor inestimavel para o progress© das empresas de seguros e, ate mesmo, para o desenvolvimento racional e clentifico da propria institui^ao do seguro.
DADOS ESTATISTICOS
Contribuif&o da Divisao Estatistica e Mccanizagao do l.R.B.
ANALISE DO MERCADO
SEGURADOR BRASILEIRO
As principals tendencias do mercado segurador brasileiro durante o trienio encertodo em 1957, na sua totalidade e para cada uma das modalidades exploradas podem ser observadas nos quadros a seguir.

Destacam-se ai as principais verbas com os respectivos valores absolutos e/ou percentagens, permitindo ao leitor interessado conhecer o atual comportamento cconomico-financeiro do merca.do segurador.
Os responsaveis pelo dcstino das so ciedades podem ainda obter elementos para definir com seguranga sua politica em rela?ao a selegao. as comissoes c as clespesas, possibilitando a instituigao salvaguardar-se de possiveis cspccularoes de grupos pouco escrupulosos ou inocentes, que is vezes levam as. so ciedades a situates dificcis.
O trabalho ora aprcsentado foi elalorado com a mesma tecnica descrita a col. H5 da Revista do I.R.B, n," 109.



ANALISE DO MERCADD SEGURADOR BRASILEIRQ



PARECERES E DECISOES
Supremo Tribunal Federal
RECURSO EXTRAORDINARIO
N.'^ 32.581 — DISTRITO FEDERAL
Relatoc — G Senhor Ministro Luiz Gallotti,
Recorrentes: 1.° — Institute de Resseguros do Brasil.
2-° — Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia e outros. i?ecorrjc/a; Zuleika Mendcs.
Ementa
Seguro maritimo.
Abandono pelc segisrado do objeto seguro e conseqiiente direito de pedir ao segarador indenizagao de perda total.
Caso em que tsso ocorre, por importar o consirto em tres quartos ou mais do valor pot que o navio foi segarado.
Para esse efeito, incluem-se as despesas de salvamento.
Arts. 753, n." 2 e 756 do Codigo Comercial.
A interpretagao literal, tarnbem chamada judaica. e considerada por Mes' tres do porte de Ferrara como aquela de cafeo^ria mais baixa.
— Instituto de Resseguros.
Litisconsorcio necessario.
— Recurso extraordinirio nao conhe~ cldo.
Acordao
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso extraordinario, numero 32.581, do Distrito Federal, em que sao recorrentes — 1." — Instituto de Resseguros do Brasil e 2.°'^ Assicura zioni Generali di Trieste e Venezia e outros. e recorrida Zuleika Mendes, de cide 0 Sup. Trib. Federal, em primeira turma, nao conhecer dos recursos, unanimemente, de acordo com as notas juntas. Distrito Federal, 6 de junho de 1957, — Barros Barreto, Presidente.
— Luiz Gallotti, Relator.
RELATORIO
O Senhor Ministro Luiz Gallotti Zuleika Mendes moveu na Terceira Vara da Fazenda desta Capital a?ao ordinaria contra a Assicurazioni Ge nerali di Trieste e Venezia e outros, alegando: Segurou junto a primeira re por Cr$ 2.000.000,00 o seu hiate «Almoura». contra os riscos de «perda total, avaria grossa, despesas de socorro e salvamento», inclusive 4/4 de responsabilidade para com terceiros no ca.so de colisao. Tudo de conformidade com a dausula F,P.A., absolutely dos Seguradores Maritimos de Londres.
A 11 de novembro de 1952 irrompeu incendio a bordo do hiate, que se achava atracado no Cais do Porto, no costado do hiate «Triunfo», a espera de lugar para descarga. O «Alinoura» teve de ser rebocado ate a linha de Pombeba. onde foi encalhado c acabou submer-
gindo com sua carga. Houve protesto, devidamente ratificado.
Foi procurada pela primeira re, que Ihe exibiu proposta de salvamento. da Brasilian Coal, por Cr$ 200.000,00. Fez-lhe ver a autora que considerava o hiate perdido. E condicionou seu assentimento medidas de salvamento aos seguintes termos, que as res declararam aceitas: correriam as despesas por conta das res ressalvados expressamente os direitos cobertos pelo seguro, devendo a cmbarca^ao ser entregue nas condi?6es anteriores ao sinistro ou ser efetuado o pagamento do seguro.
Ficou logo patente que as res queriam fugir as suas obriga^Qes tentando escapar ao combinado, como se ve da carta em que Ihe diziam estarem de acordo somente em antecipar as des pesas de salvamento, as quais serao posteriormente, como de costume, repartidas na regula^ao de avaria grossa, A autora logo protestou manifestando cancelar a autoriza^ao dada, a qual ficou dcpendente da obriga^ao das res de suportarem todas as despesas correlativas, sem prejuizo do direito da autoria do abandono. A csta carta, responderam as res dizendo ter havido incompreensao e que o adiantamento seria feito por conta do sinistro.
Diante das explicacoes, a autora deu por nao escrita a carta anterior, mas manteve a que a esta precedera.
Querendo as res entregar-lhe o hiate avariado e em estado de nao poder navegar ,fe-las citar de protesto de abandono. Nada replicaram as res, apenas entregaram o hiate sem qualquer explica^ao. Para nao aumcntar o pre juizo, a Autora fez, e continua a fazer, todas as despesas conservatorias da
embarc^ao, apesar do abandono, admitido implicitamente pelos seguradores, a vista do seu silencio, em quase dez meses. Requereii vistoria para avalia^ao dos consertos necessaries para fazer o «Almoura» navegar.
O perito da autora os avaliou em Cr$ 1 .773.365,90, o perito das res em Cr$ 1,554.565,60, quantia superior a ^ do seguro, Portanto, nao coubesse o abandono por inavegabilidade, caberia pelo vulto dos consertos (arts. 753, n.° 2 c 756 do Codigo Comercial). Esquivaram-se as res, com o arguemento de que a importancia avaliada para os con sertos nao atinge % do valor do seguro porque os peritos computaram as des pesas de salvamento. Deduzidas estas, teriamos Cr$ 1.354.564,90, portanto. menos de ^ de Cr$ 2.000.000,00.
Ainda que fosse de direito tal deduqao (e se mostrara que nao e), tendo as res assumido, nas condi^oes dactilografadas da apolice, os riscos de despesas de socorro e salvamento, e certo que as res respondem por elas.
Na verdade alguns autores, entre os quais Silva"'Costa, ensinam que. no compute dos ^ para efeito do aban dono, so se influem as despesas de conserto. nao as de salvamento. Essa doutrina, repelida pela jurisprudencia, e combatida por Rippert e por todos OS Mestres do moderno direito nautico (V. Valroger, que cita o maximo maritimista britanico — Arnould).
Mesmo que, porem, nao fosse assim, nao haveria na especie como deduzir as despesas, porque o seguro, em dau sula dactilografada, sujeita o contrato ao regimento das clausulas F.P,A. absolutely dos Seguradores Maritimos de Londres, vale dizer, ks regras do

seguro ingles, quc sc havera defcdmitir em tudo quanto hao contrariarem a lei brasileira, porque os seguros no Brasil se regem pelas disposigoes da apolice que nao contrariarem disposigoes legais (Codigo Civil, art. 1 .435). Ora. nossa lei nao proibe a jungao das despesas com o conserto do navio, em que aquelas se integram logicamente. Pelas normas do seguro P.P.A. absolutely as despesas de salvamento somam-se a dos consertos. Ociosa, porem, qualquer discussao, eis que, conforrae demonstram os peritos (documentos jun tos)). o custo dos consertos, da data da vistoria ate a propositura da agao, aumentou de 30% ou mais. E nao existe divergencia na doutrina e na jurisprudencia, quanto a se deverem computer as despesas com os consertos pelo seu valor na data em que sao realizados e nao na data em que sao estimados (Rippert). Alem disso, a autora pode fazer o abandono, apoiando-o no naufragio (art. 753, n.° 2, do Codigo Comercial)
Prossegue em sua explanagao e conclui pediqdo que as res sejam condenadas a pagar os consertos necessaries a repor o navio nas condigoes de perfeita navegabilidade que tinha antes do sinistro, ou a pagar Cr$ 2.000.000,00, aceitando o abandono, e que seja reconhecido a autora o direito a perdas c danos, que se apurarem na execugao, juros, custas e honorarios de advogado.
O Institute de Resseguros do Brasil ofereceu excegao de incompetencia (fls. 269).
A autora concordou (fls. 275).

O Juiz julgou-se incompetente. E a agao foi distribulda a Decima Quinta Vara Civel.
168
Contestou o Institute, dizendo que a agao nao devcra ter sido movida contra ele, como co-reu, pois nao figura na apolice, devendo ser assistente do rcu (litisconsorte necessario).
Contestaram as Companhias seguradoras (fls. 303 e 318).
Sustentam que nao houve perda total, 0 navio esta salvo. .
E 0 seguro foi feito contra os riscos de perda total e nvaria grossa, cobrindo ainda as despesas de socorro e salva mento. Logo, desde que sc pudesse salvar o navio, nao haveria como falar cm perda total. Por isso, a clausula XX das «Condig6es Gerais» da apolice estipulou que «o segurado nao tera direito a abandono nos termos do art. 753 do Codigo Comercial por prcsumida perda total real em virtude de submersao da coisa segurada por ocasiao do sinistro cnquanto nao terminarem as medidas de salvamento.
Citam OS arts. 753, n." 2 e 756 do Codigo Comercial e argumentam as despesas para repor o navio em con digoes de navegabilidade nao atingem aos ^ do valor segurado, a que se refere a lei, Nao tern razao a autora ao pretender que se aplique, em parte a lei brasileira, e em parte o direito ingles, pois, se este permite a soma das despesas de salvamento as de conserto, so permite o abandono por perda total construtiva, quando as despesas se elevam alem do valor total da nave. O valor real das avarias nao e o mencionado na inicial.
Nao e certo devam as despesas de reparagao ser sempre consideradas na cpoca em que se realizam. Se o aban dono se fez antes dos consertos, deve-se ter em vista a epoca do abandono.
Estabelecendo a citada clausula XX a alteinativa — indenizagao pela perda total ou salvamento, a escolha cabe ao devedor (art. 884 do Codigo Civil).
Foi proferido o dcspacho saneador, repelindo o que sustentara o Institute de Resseguros na sua contcstagao fls352/353).
O Institute agravou no auto do proccsso fls. (354)
A sentenga de fls. 361 a 368, do ilustre Juiz Clovis Rodrigues, julgou improcedente a agao, dizendo: Nao tern razao a Autora quando sustenta que as res nao podem discutir o aban dono nem as condigoes de salvamento, porque um c outra foram aceitas. O naufragio, que da direito a abandono, e aquele da que rcsulte nao poder o navio navegar (arts. 753, n." 2 e 756 do Codigo Comercial). Ora, se apesar do naufragio, o navio e posto em con digoes de navegar, nao se admite o abandono, exceto na hipotcse de screm superiores as despesas ao valor do se guro.
O navio foi salvo, pode navegar, tanto que uma das pretensoes da Autora e obter o valor dos consertos, neces saries apos 0 salvamento. A clausula XX citada afasta qualqucr duvida. Quanto a perda total ficticia (art. 752, n," 2 citado), por importar o conserto em mais de do valor segurado, tudo dcpendera de saber se o pfcgo o salvamento se inclui no calculo. A invocada clausula inglesa nao deve prevalecer e sim a nossa lei. O art. 756 do Codigo Comercial, como o art, 75o. fala em despesas de conserto, Ha dois mementos distintos: a) O salvamento, b) OS consertos. Antes daquelc, nao haveria possibilidade de avaliagao
destes. Nao e possivel, assim. soraar as duas parcelas. £ a opiniao de Silva Costa.
Per oiitro lado, manifestando o aban dono em determinada epoca, nao era possivel proceder-se ao calculo com base em avaliagao posterior.
Apelou a autora.
E o ac6rdao unanime de fls. 434/435, transferindo para apreciagao de merito a materia do agravo deu provimento a apelagao, para julgar procedente a agao.
Disse o acordao: O agravantc responde, evidentementc, como ressegurador, inclusive para com o segurado, pois pcla lei o Institute de Resseguros e litisconsorte necessario. vale dizer. e parte no feito. Quanto ao merito, a apolice nao cobre a avaria particular, pois da mesma consta a clausula P.P.A. absolutely (livre absolutamente de avaria particular). Nao se trata, porem, de avaria particular e sim de perda total.
Nao e de acolher-se a tese dc que o valor das despesas aumentou, pois ha que atender aos pregos vigente.s ao tempo do abandono. No case, igualmente, nao se pode falar em inavegabilidade real, como pretendeu a apelante. O que ha e inavegabilidade relativa, porque a soma da importancia necessaria aos consertos com a que foi despendida com o salvamento ultrapassa do valor do .seguro. Silva Costa e contrario a essa soma. Mas o Visconde de Cayru a admite, assim como os doutrinadores cstrangeiros e os Tribunals franceses e italianos (v. Luzzati, Valroger, Rippert, Pardessus, Lyon-Caen e Renault). E Vivante opina no mesmo sentido, porque se nao se faz boiar, ou
nio se reboca o navio, impossivel sera conserta-lo.
Recorreu o Instituto, invocando a alinea a do art. 101, III, da Constitui(jao (fls. 437).
E recorreram as Companhias, com igual Fundaroento (fls. 441).
As partes arrazoaram, E 0 eminente Procurador Geral Plinio Travassos opinou (fls. 496/498):
«Trata-se dc agao ordinaria rclativa a seguro por incendio de embarcagao.
A respeitavel senten^a de fls, 361/ 368, que ccncluira pela improcedeii'cia da a^ao, sofreu reforma pelo venerando acordao de fls. 434/436. da Segunda Camara Civil do Egregio Tribunal de Justi^a do Distrito Federal.
Inconformados, recorrem extraordinariamente os reus. com base na alinea a do art. 101, III da Constituigao Federal.
O primeiro recurso. manifestado pelo Instituto de Resseguros do BraisI, visa a exclusao de sua condenagao solidaria ou a improcedencia da a^ao.
O segundo apelo, das seguradoras, cbjetiva a decretagao desta ultima alternativa. Examinando o primeiro re curso, estaremos.pois esgotando a confrov^rsia sub-judice.
Cabivel sc nos afigura. em toda linha, o apelo.
fi que o venerando acordao recorxido, estabelecendo solidariedade passiva, sera texto legal que a autorizasse, colidiu de modo, data venia, flagrante com o art. 896 do Codigo Civil bem como demonstram as doutas raz5es de fls. 437/441.
172
Na materia de fundo, afigura-se-nos, por igual, suscept'vel o julgado, de corregao por via extraordinaria.
A conclusao do venerando acordao rccorrido esta, com efeito, clara e iniludivelmente ligada (e nao o ncga a recorrida) a tese de direito cquacionada pelos rccorrentes; isto e a de saber se as despesas com o salvamento do navio se podem adicionar as de consertos para caracterizar o abandono nos termos do art. 753, II do Codigo Comercial.
Trata-se de tese relevante, sobre a qual nao se tem noticia de pronunciamento do Egregio Supremo Tribunal Federal da Republica. Silva Costa, citado a fls. 470/471 indica apenas urn " pronunciamento do Supremo Tribunal de Justi^a, em 1865, no sentido da exclusao das despesas do salvamento, tratando-se no entanto, infelizmente, de mera referencia, sem transcrigao do aresto.
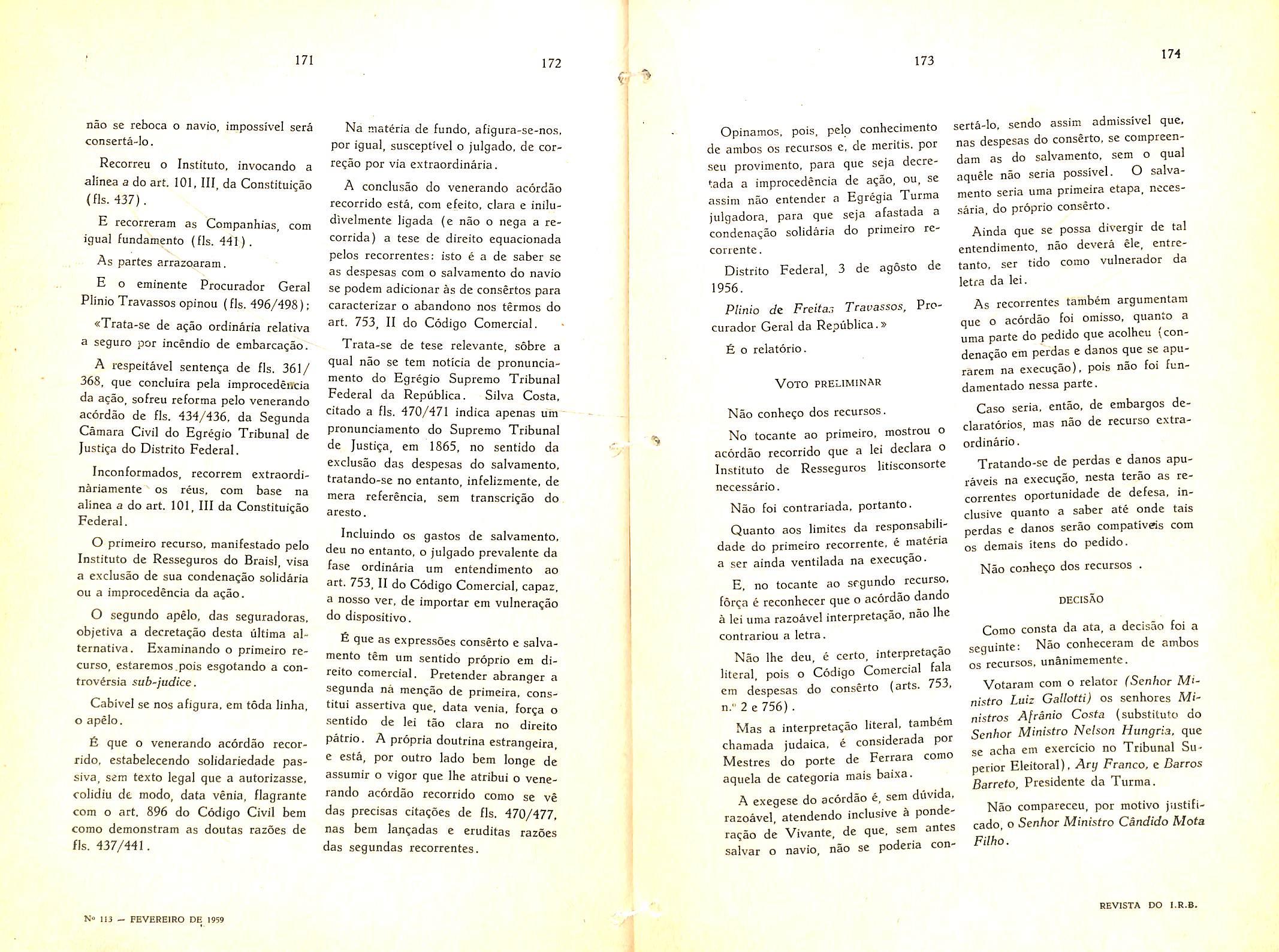
Incluindo os gastos de salvamento, deu no entanto, o julgado prevalente da fase ordinaria um entendimento ao art. 753, II do Codigo Comercial, capaz, a nosso ver, de importar em vulneragao do dispositive.
que as expressoes conserto e salva mento tem um sentido proprio em di reito comercial. Pretender abranger a segunda na mcn?ao de primeira, constitui assertiva que, data venia. forga o sentido de lei tao clara no direito patrio. A prbpria doutrina estrangeira, c esta, por outro lado bem longe de assumir o vigor que Ihe atribui o vene rando acordao recorrido como se ve das precisas cita?6es de fls. 470/477, nas bem lan^adas e eruditas razoes das segundas recorrentes.
Opinamos, pois, pelo conhecimento de ambos os rccursos e, de meritis. por seu provimento, para que seja decretada a improcedencia de a?ao, ou, se assim nao entender a Egregia Turma juigadora, para que seja afastada a condena?ao solidaria do primeiro recorrente.
Distrito Federal, 3 de agosto de 1956.
Plinio de Freitar, Travassos, Pro curador Geral da Republica.® £ o rclatorio.
serta-lo, sendo assim admissivel que, nas despesas do conserto, se compreendam as do salvamento. sem o qual aquele nao seria possivel. O salva mento scria uma primeira ctapa, necessaria, do prbprio conserto.
Ainda que se possa divcrgir de tal entendimento, nao devera ele. entretanto. ser tido como vulnerador da letra da lei.
As recorrentes tambem argumentam que o ac6rdao foi omisso. quanto a uma parte do pedido que acolheu (condenacao em perdas e danos que se apurarem na execugao). pois nao foi fundamcntado nessa parte.
Nao conhe^o dos recursos, No tocante ao primeiro, mostrou o ac6rdao recorrido que a lei declara o Instituto de Resseguros litisconsorte necessario.
Nao foi contrariada. portanto, Quanto aos limitcs da rcsponsabilidade do primeiro rccorrente, e matena a ser ainda ventilada na execuqao.
E. no tocante ao srgundo recurso, f6r(;a e reconhecer que o acordao dando a lei uma razoavel interprctagao. nao Ihe contrariou a letra.
Nao Ihe deu, e ccrto, interpreta?ao literal, pois o Codigo Comercial fala em despesas do conserto (arts. 753, n."2e 756).
Mas a interpreta^ao literal, tambem chamada judaica, 6 considerada por Mestres do porte de Ferrara como aquela de categoria mais baixa.
A exegese do acordao e, sem duvida, razoavel, atendendo inclusive k ponderaqao de Vivante, de que, sem antes salvar o navio, nao se podena con-
Caso seria, entao, de embargos declaratbrios, mas nao de recurso extraordinario,
Tratando-se de perdas e danos apuraveis na execuqao, nesta terao as re correntes oportunidade de defesa, in clusive quanto a saber ate onde tais perdas e danos serao compativeis com OS demais itens do pedido.
Nao conhe?o dos recursos
DECISAO
Como consta da ata, a decisao foi a seguintc: Nao conheceram dc ambos OS recursos, unanimemcnte.
Votaram com o relator fSenfior M'nistro Luiz Gallotti) os senhores Ministros A[ranio Costa (substitute do Senhor Ministro Nelson Hungria, que se acha em exercicio no Tribunal Su perior Eleitoral). Ary Franco, e Barros Barrefo, Presidente da Turma.
Nao compareceu, por motive justificado, o Senhor Ministro Candida Mota Filho.
17&
Consultório Técnico
. A finalidade desta seç,io é atender às consultas súbre assuntos referentes no .�cg11ro• cm gl·r;;/ Para responder li cada pcrgt1nta s1io co,widaclos técnicos espcciali=ados no llssun:o, ni:,'J só do Instituto de Resseg11ros do Brasil, mas também estranhos aos seus q1mdros
A.; soluções aqui apresentadas rcprescnt;:im ;:ipcn;:is ;:i opinião pessoal de seus expositores, por isso que os casos concretos submetidos à apreciaç,io do l.R.B. süo cncn111i11h:iclos aos,sc1Is órgãos compctc11tcs, cabendo ressaltar o Conselho Técnico, cujas dccis6cs s,io tomadas por maioria de votos Est,1s colmws ficam ainda à dispu�iç,ío cios icicores quepoderão, no caso de discordarem da resposta, expor sua opiniiío sôbrc a maférin A corrcspomlência deverá ser endcrcpda n RE\'!STA oo r.ll.D., APcnicfa !Warccltn!
C{wllJra n.• 171 - Rio de Janeiro, podendo o consulente indicar ps.:udônimo para a rc.sposta.
..3ENEF!C!AI?IO - (Rio) - «Quais as diferenças, e o porquê dessas difcr:nças, entre as disposiÇôcs do Decreto-lei 11• 5.381, de 8 de abril de 1943 e :is disposições que regem o mesmo assunto nos seguros de Acidentes do Traba/,o;r,?
Consultado sõbre o assunto , o Dr. Luis Felippe fndio da Costa , Pro curador do I.R.B., assim se manifes tou:
«Dispõe o mencionado Decreto-lei n.º 5.384, de 8 de abril de 19'13, que «na falta de beneficiário nomeado, o seguro de vida será pago metade à mulher e metade aos herdeiros do se gurado (art. J.v) »
E no parágrafo único do mesmo art 1.º determina que «na falta das pessoas acima indicadas, serão benefi ciários os que dentro de seis meses re clamarem o pagamento do seguro e provarem que a morte do segurndo os privou de meios para proverem sua subsistência»
Fora dêsses casos, é a própria lei que o esclarece expressamente, a bene ficiária será a União
Se estas são as disposições legais sôbre os beneficiários do seguro de c•idti, outrns são entretanto , as deter minações clo Decreto-lei n.º 7.036, de 1O de novembro de l911, ao regular a Lei de Acidentes do Trabalho.
O mencionado Decreto-lei trata cm um capítulo sôbre a questão dos bene ficiários, capitulo êsse que dispõe da. seguinte forma
«CAPÍTULO III Dos Beneficiários
Art. 11. São considerados benefi ciários doacidentado , naordem em que vãoenumerados:
a) a espôsa, mesmo desquitada ou separada desde que não o seja por vontade ou culpa sua, ou o espôso inválido em concorrência com os filhos de qualquer condição, se menores de 18 anos ou inválidos, e as filhas sol teiras de qualquer condição ou idade;
b) a mãe e o pai inválido, quando viverem sob a dependência econômica dn vítima, na falta de filhos e de es pôsa
e) qualquer pessoa que viva sob a dependência econômica do acidentado. no caso de não existirem beneficiários especificados na alínea .1, desde que. se fôr do sexo masculino. seja menor de 18 anos ou inválido, e. qualquer que seja o sexo tenha sido indicada, ex� pressamente. em vida do acidentado. na carteira profissional, no livro de registro do empregador, ou por qual quer outro ato solene de v:rntnde
Parágrafo único. Para t�rem direito � indenização, as filhas ma,or:s ?evem b dependência economrca do viver so a acidentado.»

Creio que a simples transcrição. acima feita, das leis que regulam a matéria satisfaz e responde à pnme1rn
1 f •t ·sto é mostri'l parte da consu ta ei ª· 1 • . _ s quais as diferenças entre as d1spos1çoe legais sôbre os beneficiários do scf!11ro de rJÍda e as determinações d.i le_1 sobre . d ro de acidentes os beneficranos o segu do trablho
Se assim fácil foi mostrar as _ dife' enos d1f1cd se renças, nem por isso m
1· . -de'sas e1ve1� torna indicar o porque 5 d gências visto tratar-se, no fund l o. . a · · - ega1s, razão mesma das determrnaçoes_ razão essa que, infelizmente . n�o vem
1 SCLIS efeitos' expressa na e1 como os . a principal Tenho para mim que
1 razão que levou o Legislador a regu�1 essas duas matérias assemelha d das t e formn tão divergente, é o fun amen o '
1 t· esente sempre humano-sacia que es ª pr h na Lei de Acidentes do Trabal o.
1 que sei·a beneficiária qual- meus1ve, d · quer pessoa que viva soba depen enc1a econômica do acidentado desde que 1 'do •·ndicada expressamente, em tenrns1 vida doacidentado
Esta humanização. que informa t?da 1 d acr·dentes do trabalho, for, a a e1 e • l d c1·r meu ver. a razão princ1pa as i crençasapontadas.
ÉO meu entender,s•m i·
* * "
O ruus _ (Rio) _ «Solicir.w10s H!ER N • ão frente ,10 lmp,...isto ele csdnrcccrem _ .�d P�:'�_.0 • de seguro nas b,,scs Rendn ele 111 em.,-ip, abaixoClcscritas:
O lo. •cg11r11do. mediante a wclusao -l - !la ji d.: Nouo�. é siynific:rfh•a- da c/lwsula �\aor •alor cont.-,bili:ado nos . •upc-,or ao , ment< · · d parn os bens cobertos. livros cio ,cgura o, ' - •cesso do t·nfor A indem:nç.io cm c.i 2que também podem ser t I <h maqr:11111, . I d ,. ,1utt �1 1 livros. é vutcun tr t1 •or •0 u,1or eos s11p': s r 1 '.\io<da m,lqui11a equivalente, nova c1qu, ·'-
Pcclimos informnrrm: rcsso dn i11dcni:1lfli0 sobre o ) Se o e.>1. ,., I a • b'/'· do mesmo que np1c,1.,o o1r1- 1•;ilor C..>nlil 1d'�ª, ' <'tll<' i, comprt, da máq11i11,1 t• · e ,me 1anm . (! 1 ga or,n # , odo conro rcc:ctfa ucro cq11ii,.1/c11lc.econ�wcr dosegurado
1 • exC USIVc tativo, isto é existe em razao ·
Enquanto o seguro de vida é ]fac_ul_-
5 0 do acôrdo de vontade das parte ' pagamento da indenização nos c�s?s de acidentes do trabalho é obngator t1�� o como garan i. entrando, aí, o segur . _ s do pagamento dessas rndemzaçoe .
l npregador Eis porque imçõea e,aoe1 .a- a obrigação de segura� se:��d::re:egdo dos contra os riscos e b fa-er trabalho mas não O O nga ª ,. seguro de vida
f .. io do seguro Assim como bene rc1ar . d . .. a ausencia a facultativo a lei 1mpos, 11 do � d do segura , " declarnção da vonta e d .- 1ulhcr e obrigação de pagar metad� ªs;�urado. metade aos herdeiros
Seguiu princípios rijos
t atar do aet· Mas humanizou-se ªº. I� �do bcne- dente de trabalho, . co7s1de�aa espôsa, ficiária em primeiro uga1 d na ' d ou separa a, ' mesmo desquita ª ermitindo. forma por que espec1f1ca, p
1· 1 o dis- E nso ,ilirmativo, np.rcar-s�-, ' bJ m :, .0· i re,,v,iliüçliodentwo p0S!0 COm r, ªr'.l ' ,
O Dr. Eduardo Carlos M. de Barros
A Sessor do Departamento Ju- Roxo s I d -6 , , lo I R.B., consu ta o so re o nd1co e d �]arou que tanto o Regu),1 assunto b . � do com o Decreto número menta a1xa
1 956 702 de 31 de dezembro ee � 4o· · t l79 quanto o art. 23 do em seu a1 . , d 1 " 40 384 de 19 e novem)ro Decreto n. · o· - d l 1956. atribuem a '.v1sao o "'.· d: d Renda competcnc1n para dr posto e · d I , d · . . d. 'das e respon er consu tas os rtmlr UVI contribuintes
A o consulente deverá dirigir a ss11n I o· .sua -:onsulta àquea iv1sao.
Ao I.R.B. e à sua «Revista>\ _ não t opiuar sôbre matcna fiscal cornpee d h , - f' 1 principalmente qunn o á orgao isca t nte Para responder a consultas cornpe e ' ' sôbre O nssunto
Boletim Informativo da D.LS.
SINISTROS OCORRIDOS NO INICIO DO ANO
Nos sinistros ocorridos no primeiro trimestre de cada ano. em estabelecimentos comerciais e industrials, e comum enccntrarem-se os iivros contabeis do segurado escriturados ate o mes de dezembro do ano anterior, alguns com o balance daquele ano ja lan^ado, outros nao. „
Os inspetores encarregados da liquidagao desses sinistros, em alguns casos, principalmente nos ocorirdos nos primeiros dias de janeiro. limitam-sc a aceitar o inventario levantado em 31 de dezembro e tomar como certos Os estoques por eles acusados.
fi provavel que em muitos casos os estoques acusados nos referidos inventarios sejam reais e representem aproximadamente os existentes no dia do sinistro, feitas as adi?6es e subtraqoes relativas as compras e vendas efetuadas nos primeiros dias do ano. £ possivel, porem, que em alguns casos tais inventarios sejam forjados e preparados apos o sinistro. atendendo aos interesses do segurado. Como e do conhecimento geral, os livros contabeis nem sempre se encontram em dia, E isto quase que e regra quando se trata do inicio do ano, quando sao ultimados os levantamentos referentes ao balanqo, o qua!, de mode geral, somente chega a ser escriturado em fins de janeiro, em fevcreiro ou ate depois disso.
Ora, quando da ocorrencia de um sinistro em meados de janeiro, a escrita do segurado possivelmente, para nao dizer, certamentc, estara com os seus lan^amentos de dezembro ainda por encerrar. Isso facilita o trabalho do segurado desonesto que prepara o inventario, levanta o balango, faz os lanqamentos (pois o tempo que decorre entre a data do sinistro e a da chegada do liquidador ao local e suficiente para isso, principalmente quando se trata de sinistro no interior) e apresenta na sua contabilidade o estoque irreal que Ihe permitira receber uma indeniza^ao maior do que teria direito. Se o liquidador aceita esse balance sem maiores exames, colaborara para que 6 segurado desonesto usufrua beneficios com o sinistro, prejudicando os seguradores e a instituiqao do seguro,
Por esses motivos e outros imprevisiveis, devem os inspetores proceder sempre a indispensavel analise da con tabilidade do segurado, farendo, entre outras coisas, o seguinte:
fi) verificar se os estoques anteriores estao proximos ou se, pela sua evolu^ao, tendem para o levantado em 31 de dezembro, pouco antes do si nistro;
b) partindo dos elementos dos exercicios anteriores, determinar o es toque do dia 31 de dezembro referido, como se tivesse o sinistro ocorrido naquela data;
c) pesquisar outras irregularidades. possivelmente e.xistentes na contabili dade, tal como faria se estivese apurando 0 valor em risco do dia 31 de dezembro,
Se encontrar divergencias entre os resultados apurados e o apresentado no inventario escriturado em 31 de de zembro, ou apresentado como tendo sido levantado naquela data, devca procurer razoes para tais divergencias nao so na contabilidade como fora dela, inclusive pedindo explicagoes que se fizerem necessarias, ao proprio se gurado, Nao encontrando justificativas para essas divergencias, tcra qiv negar fe ao inventario feito pelo se gurado, escriturado ou nao. calculando, entao, o estoque mais proximo da realidade com os elementos que julgar aceitaveis.
Os levantamentos feitos, bem comu •as observaqoes e conclusoes do inspetor deverao set apresentadas no relatorio para que a D.L.S. possa apreciar o •case c dar-lhe a dcvida soluqao.
(Transcrito do Boletim n," 8, de 15 <ie junho de 1957).

de Apolices das sociedades que operam no ramo, tern havido diversas interpretaqoes no que diz respeito diretamente a liquidaqao de sinistros.
Varios sao os casos em que as seguradoras recusam o pagamento de si nistros com base neste dispositivo, que. como foi dito. faz parte integrante das Condiqoes Gerais, no Capitulo referente a riscos excluidos.
Nas liquidaqoes em que o I.R.B. tem tornado parte. entcndemos que nao estao cobertos os danos ou perdas causados diretamentc ao veiculo segurado devido ao mau estado dos caminlios, buracos no calqamento, atoleiros ou areias movediqas; entretanto, consideramos perfeitamente cobertos quaisquer danos ou perdas sofridos pelo veiculo segurado em conseqiiencia do mau estado dos caminhos, buracos no calqa mento, etc.
RAMO AUTOMdVEIS
i?/sco excluido — Dano ou pcrria resultante de mau estado dos carainhos, buracos no calqamento, atoleiros ou arcias movediqas (Item 3, pagina 3, da Tarifa para OS Seguros de Automoveis. e-i vigor).
Sobre a exclusao acima, que tambcm aparece em todas as Condiqoes Gerais
Exemplificando, formulamos a se guinte hipdtese-; um veiculo segurado contra colisao, trafegando normalmente em estrada pavimentada ou nao, cai com uma das rodas dianteiras num buraco qucbrando a barra de direqao e a manga do eixo: em consequencia, perdendo a direqao colide com um poste, ofendendo toda a frente {parachoques, grade, radiador e capot).
Os danos dirctamente causados pela queda do veiculo no buraco, isto 6, a barra de direqao e a manga de eixo, nao estarao cobertos. porem, os danos decorrentes da colisao com o poste, parachoques, grade, etc., sao perfeita mente indenizaveis, de acordo, alias.
com a interpretagao dada pela C.P. R.D. (Comissao Permanence de Ramos Diversos) e constante da Ata n-'' 75, que diz: «nas liqiiidagoes de sinistro. exclui-se da indenizagao o dano diretamente causado pelo buraco, pela pedra, atoleiro, etc., considerando, porem, cobertos os danos conseqiieates de colisao, derrapagem, capotagem, etc. que porventura viessem a ocorrer posteriormente.

Assim, se um veiculo passando per urn buraco quebra um feixe de moJas. este dano nao estara coberto. Se, porem, em consequencia perde a" dire?ao e colide com um barranco os danos decorrcntes desta colisao estaiao cobertos pelo seguro.»
(Transcrito do Boietim n." 8, de 15 de j.unho de 1957).
Na recente explosao verificada numa fabrica de polvora localizada em Caxias, sofreu danos um predio dc moradia, segurado normalmente em nossa Coinpanhia contra incendio, raiO' e suas conseqiiencias, que se situava na vizinhani;a da referida fabrica.
2 — A clausula obrigatoria 104 (Explosao), reza:
sados pelas seguintes conseqiiencias de incendio, raio ou explosao, conforme referido no item 1.
RAMO INCSNDIO
Risco de Explosao — Danos causadas
ii propriedade de terceiros
Foi apresentada por uma sociedadc de seguros a scguinte consulta:
«A fim de ouvir o parecer de Vo.ssa Senhoria, o qual servira de orientacao oficial para fixar a nossa responsabilidade, no caso em foco, e de qualqucr outra congenere em casos identicos, expomos a seguir uma situagao que sc nos apresenta, e para qua!, a luz da Tarifa e das Condicoes Gerais da Apolice Incendio, temos tirado diversas solugoes:
Tendo em vista siispeitar-se ter sidoa causa do sinistro a queda de um raio, sobre o que, e claro, esperaremos as conclu.soes oficiais. e constar do texto da Clausula I. das Condigbes Gerais da Apolice: «A Companhia segura contra riscos de incendio, raio e suas conseqiiencias, os bens moveis e imoveis nela designados, obrigando-sc a indenizar as perdas e danos materials proveniences, direta ou indiretamente. de tais eventos», e a Tarifa ser pouco' clara nesfe ponto, e ainda em se tratando de um caso «sui generis», aguardaremos o mais abalizado parecer de Vossa Senhoria, a fim de melhor decidirmos sobre o assunto. »
Sobre o assunto opinou o Assessor Tecnico Incendio, nos seguintes ter-
mos:
— A sociedade informa que urn predio de. moradia, por ela segurado, foi danificado em consequencia de ex plosao verificada em uma fabrica de polvora, situada nas suas imedia?6e.s. Suspeita-se que a causa do sinistrotenha sido a queda de um raio, e coiiio a apolice cobre os riscos de «incendio. raio e suas conseqiienciass, deseja a sociedade saber se sao indenizavei.? o3 danos no predio de moradia.
«Fica entcndido e concordado que o presence seguro nao cobre perdas ou danos caiisados, direta ou indireta mente. por explosao de qualquer natureza, salvo se conseqiiente de incendio € raio ou causada per gas empregado na ilumina^ao ou use domestico, contanto que o gas nao tenha sido gerado no predio segurado e que este nao fa<,"a parte de qualquer fabrica de gas c desde que, cm qualquer hipotese a ex plosao haja ocorrido dentro da area do estabelechnento segurado ou dentro do edificio onde o estabelecimento csfiVer localizado.»
3 — Parece-me, assim, que nao ha cobertura para o predio dc moradia. posto que a explosao nao se veribcou «dentro da area do estabelecimento segurado», Nao obstante, sugiro scja o processo encaminhado ao Scnhor C. D. I. Lc-, para ouvir, se necessario. a
C. P. I. Lc.»
Submetida a materia a aprccia^ao ca
C. F. I. Lc., foi emitido pelo relator o scguinte parecer, aprovado unanimemente por aqucla Comissao:
«0 artigo 2.° da T. S. I. B. esclarece que os riscos, cobertos se refcreni as perdas e danos materiais causados diretamente por incendio e raio, apontando, ainda as conseqiiencias dcsses fenomenos abrangidos pelo seguro in cendio. Diz o item 1.1 do art. 2.° da T. S. I. B,;
].1 — Considerando-se, outrossim, cobertos perdas e danos materiais cau
a) explosoes desde que ocorridas dentro da area do estabelecimento se gurado ou dentro do edificio onde o estabelecimento estivcr localizado.
A clausula 104, mencionada pelo Assessor Tecnico Horacio Maccdo, traduz os principios constantes do art. 2." da T. S. I. B., excluindo cxprcssamente da cobertura da apolice
OS danos dc explosao de qualquer .natureza, salvo a decorrente de incendio ou a ocasionada por gas empregado na ilumina^ao ou uso domesticos. Quanto a explosao coberta, a clausula subordina qualqucr rbponsabilidade ao fato da explosao ocorrer dentro da area do estabelecimento segurado.
Verifica-se. pois, que a linica hipo tese da sociedade ser responsabilizada pelos prejuizos sofridos pelo segurado esta completamente" afastada, ja quo a explosao occrreu numa fabrica de pol vora isto e, fora da area do estabeleci mento segurado pela sociedade.
Face ao exposto, Voto — que se responda a sociedade informando-a de que. mnito embora a explosao tenha sido consequencia de raio, nao occrreu na area do estabele cimento por ela segurado, razao por que o segurado nao tern direito a qualquer indenizacao pclos prejuizos sofridos.
(Transcrito do Boietim n.° 8, de 15 de junho de 1957).
Boletim do I. /?. B.
No inhtito de cstreitar einda mais as rda^oes entre o Instituto de Rcsscguros do Brasil t as Sociedades de scguros, atcaves de urn amplo noticiario pcriodico sobre assuntos do intcrisse do mercado segurador, e que a Revista do I.R.B. manfem esfa segao.
A [inalidade principal, e a divulgagao de dccisoes do Consellio Tecnico e dos orgiios intecnos que possam [acilitar e oricnfar a resolugao de problemas futures do ordem fecnica e juridica, recomendagocs, conselhos e expiicagoes que nuo deem origem a circularest hem coma indicagSo das novas portarias e circulares. com a emcnta de cada uma, e outras noticias dc carater geral.
RAMO INCENDIO
Condigdes Gerais da Apolice e Mo'delo de Proposta e Apolice de Seguro Incendio
O assunto, de grande interesse para o mercado segurador brasileiro, continua na dependencia do pronunciaraento do D.N.S.P.C.. uma vez que as duvidas levantadas quanto a identidade de algumas clausulas com dispositivos legais ja foram esclarecidas.
Apolice Ajustavel Especial
O crescente interesse do mercado segurador pelo. nova modalidade de cobertura tern demonstrado a oportunidade da sugestao submetida ao D.N. S.P.C. para modifica?ao do art. 18 da T.S.l.B.
Estuda o D.N.S.P.C. a proposta dos orgaos tecnicos do I.R.B. e das seguradoras, esperando-se que, em breve, aquele orgao ofere^a sua decisao final sobre a questao.
CIassi[icagao para [ins de resseguro
Os estudos para o integral entrosamento entre as classifica^oes de seguro. e resseguro continuam a ser realizados em ritmo acelerado, sendo de se esperar que ja para abril do corrente ano possam ser adotados novos criterios que, por certo, virao facilitar os trabalhos administrativos das sociedades, possibilitando, tambem, maior rela^ao proporcional entre a periculosidade dos riscos e as respectivas responsabilidades retidas.
Circulares
Circular 1-19/58^ de 28 de novembro de 1958 — Comunicando as sociedades que o Conselho Tecnico do I.R.B. em sessao de 2 de outubro de 1958 resolveu alterar, no Manual Incendio, em seu Capitulo I, a redagao dos subitens 7.15, 7.152 e 7,153, referentes a Edificios de construgao classe 1, devendo ser incluidos, em consequencia dessa altera^ao, os subitens 7.188,
7.189 e 7.190, conforme reda^ao que menciona.
Circular 1-01/59, de 6 de janeiro de 1959 — Dando conhecimcnto as socie dades das alteragoes, que menciona, nas Clausulas 5." e 9." das Normas incendio, aprovadas pelo Conselho Tecnico do I.R.B. em sessao de 6 de dezembro de 1958.

Circular 1-02/59, de 6 de janeiro de 1959 — Comunicando as sociedades que o Conselho Tecnico do I.R.B,, em sessao de 18 de dezembro de 1958, resolveu alterar o item 1 da clausula 6." das Normas Incendio, conforme redagao que menciona.
Carta-circular n.° 2.036, de 10 de dezembro de 1958 — Comunicando as sociedades que o enquadramento das apolices plurianuais no novo piano de resseguro incendio, bem como as cessoes de resseguro relativas aos endossos emitidos para as apolices abrangidas pelo antigo piano de resseguro incendio, devera ser providenciado obrigatoriaraente ate a ultima rcmessa do mes de mar^o de 1959.
Em consequencia dessa providencia que devera ser tomada. a partir de l." de abril de 1959, o I.R.B. nao concedera cobertura para as responsa bilidades nao enquadradas no novo piano de resseguro incendio.
Circulares referentes a alteragoes da Tarifa-Incindio
T.S.l.B. 13/58. de 2-1 de novembro de 1958 — Altera;ao, de 03 para 01, da classe de ocupa?ao da sub-rubrica 30. da rubrica 525 — Telefones e Telegrafos.
T.S.l.B. 1-1/58, de 3 de dezembro 7955 _ Nova reda^ao da Clausula 152 — Seguros sobre fracoes autonomas de edificios cm condom'mio.
'T.S.l-B. 15/58. de 29 de dezembro de 1958 — Altera?ao da redagao da rubrica 377 — Moinhos.
T.S-I-B. 01/59, de 8 de Janeiro 7959 — Altera?ao da reda?ao da rubrica 018 — Armazens de Deposito.
ramo acidentes pessoais
Seguros com majoragao, em casos especiais. das percentagens de indenizagao na garantia de invalidez pernianentc
Face a procura de seguros, na forma acima, por parte de certos profissionais {medicos, cantores, pianistas, etc.), realizou o I.R.B. os necessarios es tudos de reguiamentaqao da cobertura, espcrando, dentro em breve, baixar as respectivas instru^oes.
■Seguros coletivos de passageiros de estradas de fecro e embarcagoes
cm geral
Para efeito de cobertura dc resseguro de excedente de responsabilidade e de catastrofe, os seguros novos e as renovagoes de seguros sobre passagei ros de estradas de ferro e embarcagoes em geral deverao ser submetidos previamente ao I.R.B., considerando criterios tecnicos que vem sendo adotados. em cada caso concreto. para acautelar interesses das seguradoras diretas. do I.R.B. e das retrocessibnarias, em face do «Cons6rcio Ressegurador de Catastrofes.
Riscos de udos em planadores
O I.R.B,. apos ter sido ouvida a F.N.E.S.P.C., resolveu considerar, para efeito de cobertura de resseguro de excedente de responsabilidade e de catastrofe, que os riscos de voos em planadores encontram cobertura normal nas condigoes gerais das apolices.
A cobertura desses riscos enquadrase nas disposigoes'da Circular AP-01/ 59, quando for conhecida a acumulagao de responsabilidades por ocasiao da aceitagao do seguro,
Assunfos pendentes
Acham-se pendentes de solugoes os seguinte.s assuntos:
Seguro Acidentes Pessoais de menores de 14 anos — Cobertura integral
(24 horas) — Aguardando pronunciamento da F.N.E.S.P.C.;
Cobertura dos riscos de para-quedismo:
Agravagao dos riscos de Acidentes Pessoais por molestias e defeitos fisicos
— Aguardando a elaboragao de um «C6digo de Agravagao® por parte da Consultoria Medica de Seguros do I.R.B.;
Seguros coletivos indiscriminados;
Seguros de Acidentes do Trafego: Propostas de resseguro — Informagoes sobre os aspectos fisico, moral e economico-financeiro;
Risco de aviagao — Medidas sugeridas pela F.N.E.S.P.C. a propos:to da Portaria n." 8, de 26 de margo de 1958, do D.N.S.P.C, — Aguar dando resolugao final do D.N.S.P.C.;
Tarifagao individual — Art. 3.°, subitem 1.2.4, da T.S.A.P.B, — A revogagao desse dispositive, objeto de noticiario no numero anterior desta Revista, aguarda a resolugao final do D.N.S.P.C. e
Normas e Instrugoes para Gessoes e Retrocessoes Acidentes Pessoais.
Circulares
Circular AP-01/59, de 5 de Janeiro de 1959 — Riscos de acumulagao previamcnte conhecida ~ Remetendo as sociedades, em anexo, as Normas para o resseguro referente aos seguros co letivos ou conjuntos de seguros individuais acidentes pessoais abrangendo
viagens coletivas em avioes, trens, em barcagoes, bondes, onibus, micro-onibus e outros veiculos, quando conhecida a acumulagao de responsabilidade na ocasiao da aceitagao do seguro, aprovadas pelo Conselho Tecnico do I.R.B. em sessao de 18 de dezembro de 1958, que fixou a data de 1 de Janeiro de 1959 para o inicio da vigencia das raesmas.
Circular AP-02/59, de 7 de Janeiro de 1959 — Comunicando as sociedades que, cm virtude de os Seguros Cole tivos Acidentes Pessoais de pessoas que tenham de viajar a servigo do estipulante apresentarem caracteristicas especiais, que demandam estudos e o adequado estabelccimento de normas de regulamentagao, para efeito de co bertura de resseguro de excedente de responsabilidade e de catastrofe, a aceitagao de qualquer desses seguros csta sujeita a consulta previa ao I. R. B,

Circular T.S.A.P.B. 01/59, de 6 de Janeiro de 1959 — Dando conhecimento as sociedades da Portaria n,® 57, de 16 de dezembro de 1958, do D.N.S.P.C., publicada no Diario Oficial, de 20 de dezembro de 1958 (pag, 26.911), que inclui, no art. 9.", da Tarifa Acidentes Pessoais, o novo subitem 3,4, e substitui o atual subitem 3.4, que passara a 3.5, conforme redagao que menciona.
RAMO VIDA
Alteragoes nas ^.Instrugoes sobre Gessoes Vida»
Em sessao de 30 de dezembro de 1958, o Conselho Tecnico do I.R.B., homologando decisao da Comissao
Permanente Vida, alterou diversos itens das antigas «Instrug6es sobre Gessoes Vida», beni como incluiu novos itens a fim de atcnderem as disposigoes das Circulares V-07/58 (Normas para o resseguro do risco de Dupla Indenizagao) e V-09/58 (Resseguro do risco de aviagao em apblice vida) .
Dessa forma, foi modificado o titulo das I.e.v., para «Instrug6es sobre Gessoes Vida e Dupla Indenizagao®, pelas quais terao as Sociedades, que opcram no Ramo Vida, elementos em apcnas uma «Instrug6es», para proceder ao resseguro dos riscos principal e Dupla Indenizagaa. -
Sera expedida Circular ao mercado segurador encaminhando as alteragoes aprovadas, estando a Carteira Vida providenciando uma' revisao geral das Normas e Instrugoes citadas, o que devera se concretizar nos primeiros meses do corrente ano,
Riscos Femininos
Os estudos referentes ao estabelcci mento dc uma regulamentagao especial para aceitagao de resseguros de riscos femininos, ja foram concluidos pelos
orgaos tecnicos do estando a sua aprova^ao na dependencia do Conseiho Tecnico deste Institute.
Limite da cobertura automatica de que dispoe 0
Estao quase concluidos os e.studos relatives a ampliagao dos limites da cobertura automatica do I.R.B. visando permitir as sociedades aceitarem impcrtancias elevadas, quer nos riscos basicos, como nos de dupla indeniza?ao.
Circiilares
Circular V-09/58, de 10 de dezembro de 1958 — Risco de aviagao em apolice vida — Dando conhecimento as Socie dades das alteraqoes, que menciona, aprovadas pelo Conselho Tecnico do I.R.B., em sessao de 4 de dezembro de 1958, nas Clausulas 1.", 2.", 4." e 5." das Normas para Gessoes e Retrocessoes Vida, e dando outras informagoes sobre o assunto em referencia.

Clausulas Especiais para os Seguros do Tifulo I das ApoUces de Linhas Regulates de Navegagao Aerea
Atendendo a necessidade do merca do, este Instituto divulgou o texto das Clausulas Especiais para os Seguros do Titulo I das Apolices de Linhas Regulares de Navega^ao Aerea, que vieram possibilitar a garantia de indeniza^ao em moeda estrangeira, assim como regulamentar a cobertura do seguro em beneficio de credor hipotecario, bem como, ainda, firmar criterios de previa avaliagao de aeronaves em fungao da cota?ao internacional e da taxa de reequipamento da SUMOC.
Assuntos Pendentes
Prosseguiram os estudos dos orgaos tecnicos deste Instituto quanto aos assuntos abaixo indicados;
— Projeto de Tarifa de Seguros Aeronauticos do Brasil; — Modifica?ao no Seguro de Tiquetes Aeronau ticos; — Nova redagao para a apolice de seguros aeronauticos de Tripulantes;
— Atualiza^ao das «Normas para Ges soes e Retrocessoes Aeronauticoss.
seguro automoveis cujos elementos essenciais sao esquematizados na Circular At.-01/59.
O novo piano, rbolindo o resseguro de excesso de danos, mantem o de excedentes de rcsponsabilidades com limites de detengoes variaveis para «6nibus» e «outros veIculos», a escolha das sociedades, retengao tomada sobre a importancia segurada por veiculo.
Introduz unia franquia simples ms recuperagoes, variavel de Gr$ 2.000,00 a Gr$ 10.000,00, e como fcmpensagao as sociedades, pela perda dessas recuperagoes, um desconto no.s premios de resseguro.
A cobertura automatica ficou lim:taJa a Gr$ 4.000.000.00 em «6hibus> e a Gr$ 5.000.000,00 em «outros veiculos».
cendios em garage e os proprios acideiites do trafego que podem comprometer varies veicubs segurados num so smtsfrc.
ESTATISTIGA E MEGANIZAQAO
Boletim Estatistico
Foi distribuido o ce n." 65 com aj estatisticas do ramo aeronauticos. Em fuse de distribuigao se encontra o n.''66 relative ao ramo au:om6veis.
Quadros Estatisticos
Neste numero estao sendo divulgados OS principais indices industriais do mer cado segurador brasileiro .
Apuragoc.- Mecanizadas
RAMO AERONAUTICOS
«Poo/» Aeronauticos
Considerando o encerramento do primeiro excrcicio do «Pool», em 31 de dezembro ultimo, foi feita consuita ao mercado solicitando a indica^ao da percentagem de participacao desejada para o excrcicio de 1959.
RAMO AUTOMOVEIS
Novo piano de resseguro automoveis
Para inicio de vigencia em 1." de Janeiro de 1959, apiovou o Gonselho Tecnico do I.R.B. novo piano de res-
O i.R.B, tern fixadas suas retengdcs por veiculo e retrocede automaticamente as rcsponsabilidades exccdenves, ate o limite de seis plcnos.
Foi in.siituido o Gonsorcio Ressegurador de Gatastrofe nos moldes oos ja existertes em Aridentes Pessoais, Aeronauticcs e Vila em Grupo, com a finalidade de prcvenir-se contra ocorrencias de vulto, tais como os in-
Foram entregues a Divisao de Gontabilidadc o Movimento Industrial Geral c o Resume dos Saldos das So ciedades de Segu-os e as Divisoes de Opcragoes os Resumes de Langamentos dos meses de novcmbro e dezembro proximo passado.
A Divisao 'I'lansportcs e Gascos icram entregues as apuragoes dos MRT dos meses de novembro c dezeinbro e os RSM dos meses de julho, agosto c setembro.
A Divisao Incendio e Lucres Gessanles foram entregues os movimentos de DDHSI, RIDSI e FRLc.
202
noticiArio
DO exterior
VII CONFERfiNCIA HEMISFfiRICA DE SEGUROS
Durante doze anos, com absoluta regularidade, os si guradores dos paises americanos tem-se encontrado em cpnclaves de ambito hemisferico, a inter vales bienais, no proposito sempre renovado de fixarem as diretrizes de uma agao conjunta destinada a solugao de problemas comuns.
Objetiva-se com isso a aplicagao contreta e efetiva dos ideais de cocpera^ao interamericana, tao caros aos povos deste hemisferio. E e pacifico e corrcnte que dai tem resultado, incontestavelmente, pjoveitos gerais, pelo eririquecimento da experiencia de cada meicado naciona! com a incorporagao, em seu cabedal proprio, de li^oes exIraidas da experiencia dos demais.
De la] forma se arraigou a convicgao de que e a)solutamente imprescindivel p. unidade continental dos seguradores,
que, eu; 1954, quando se realizava no Rio de Janeiro a V Conferencia Hemisferica de Seguros, foi afinal aprovado o Regulainento definitivo desses certames, nedida que, atendendo aspira?ao manifestada e reiterada em anos anlericres, veio cristalizar a ideia de imprimir caiater permanente a cooperacjao interamericana, com a implanta?ao de urn instrumento para isso adequado.
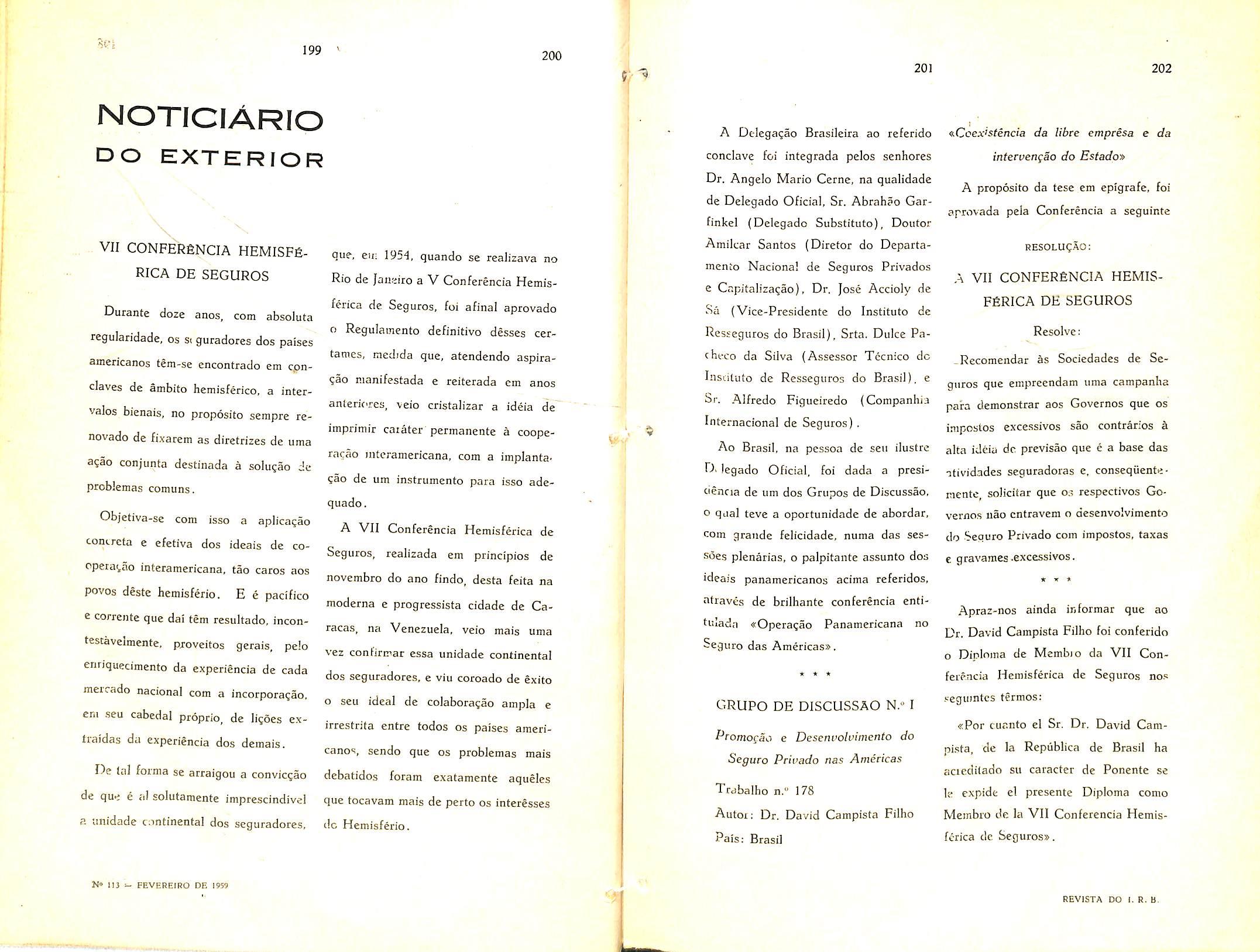
Sr-..
A Delega^ao Brasileira ao referido conclave foi integrada pelos senhores
Dr. Angelo Mario Cerne, na qualidade de Delegado Oficial, Sr. Abrahao Garfinkel (Delegado Substitute), Doutor Amilcar Santos (Diretor do Departamcnco Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao), Dr, Jose Accioly de Sa (Vice-Presidente do Institute de Resseguros do Brasil), Srta. Dulce Pacheco da Silva (Assessor Tccnico dc Insdtuto de Resseguros do Brasil), e Sr. .Alfredo Figueiredo (Companhia Internacional de Seguros).
Ao Brasil, na pessoa de seu iiustre D. legado Oficial, foi dada a presidenria de um dos Grupos de Discussao, 0 qual teve a oportunidade de abordar, com graiide felicidade, numa das sessoes plenarias, o palpitante assunto dos ideais panamericanos acima referidos, afraves de brilhante conferencia entitulada «Opera5ao Panamericana no Seguro das Americas». * * *
GRUPO DE DISCUSSAO N." I
Promofao e Deseni'oloiniento do Seguro Pn'uado nas Americas
Trabalho n." 178
Autoi; Dr. David Campista Filho
1
«.Ccex'stencia da libre empresa e da interuenfso do Estadq»
A proposito da tese em epigrafe, foi aprovada pela Conferencia a seguinte
RESOLUgAO:
A VII CONFERBNCIA HEMIS FERICA DE SEGUROS
Resolve:
-Recomendar as Sociedades de Se guros que empreendam uma campanha para demonstrar aos Governos que os impostos cxcessivos sao contraries k alta ideia dc previsao que e a base das Ttividades seguradores e. conseqiientementc, solicitar que os respectivos Go vernos uao cntravem o desenvolvimento do Sequro Privado com impostos, taxas c gravames.excessivos.
* * «
Apraz-nos ainda informar que ao Dr. David Campista Filho foi conferido o Diploma de Membio da VII Con ferencia Hemisferica de Seguros nos segumtcs termos:
REVISTA DO I. R. B.
NOTICIARIO DO PAiS
DECIMO ANIVERSARIO DO C.B.S.
Em comcmoragao ao transcuiDo do decimo aniversano do Curse Basico de Seguros, foi realizada no auditorio do no dia 22 de janeiro ultimo, uma sessao solene que contou com numeroso comparecimento de seguradores e irbiarios.
Tal sessao foi presidida por uma mesa integrada pelo Dr. Xavier de Lima (Presidente do I.R.B,), Dr. /Nnqelo
Mario Cerne (Presidente da Fedeia?ao Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitaliza^ao). Dr. Jose Accioly de Sa, (Vice-Presidente do I.R.B.), D, Conchita Cid (Represcntante do Diretor Gera! do D.N.S.P.C.), J. J. de Souza Mendes (Diretor do Departamento Tecnico do I.R.B.), Sr. Francisco Camara Neto (Presi dente da Companhia Nacional de Seguro Agricola) e o Pior»=«or Thales Melo Carvalho.
MOVIMENTO GERAL DOS CURSOS
PROMOVIDOS PELO CBS
Na ocasiao foi feita a entrega de diplomas aos primeiros alunos dos dois ultimos cursos (Vida em grupo c Liquida(;ao de Sinistros) bem como a diversos professores que. desde a funda^ao do C. B. S., tern integrado nzu corpo docente.
Em nome de todos os colaboradores do C. B. S., discursou o Profes.sor Thales Melo Carvalho, que ao fim de sua oragao ofertou ao Dr. Xavier de Lima uma Jembran^a de todos aqueles que o tern auxiliado durante sun presidencia na entidade. Essa lembran^a consistiu numa replica, em euro, do emblema do C. B. S.
O discurso do professor Thales foi, na Integra, o seguinte;
«Recebemo.s, com satisfa^ao, o amavcl convite para, em nomc dos cola boradores do Curso Basico de Seguros. trazer a palavra de louvor a cssa vitoriosa instifui^ao, na .solenidade em que se comemora seu piimeiro decenio de proveitosa atividade.
Desvanece-no.s a honra da incumbencia, embora — sem falsa modestho
— nao no.s consideremos o mais indicado para desempenha-Ia. Volvendo, todavia, os olhos ao passado. encontramo-nos entre os pioneiros dessa gloriosa jornada. O pouco de nossa contribuigao em trabalho, aliado, porem.
CURSOS REALIZADOS PELO C. B. S.
1949/50 — Cur.50 Basico de Seguros (por correspondencia)
1951 — Idem e Regular na Sede.
1952 — Idem.
Protecao e Preven?ao — Incendio.
Aplica(;So Nova Tarifa — Incendio.
1953 — Inspccao de Risco — Incendio.
1954 — Seleqao para Bolsistas (p/ os E:tados Unidos).
Resseguro Incendio — Resseguro Trans porter.
Inspegao de Sinistro — Incendio (S§o Paulo)
1955 — Liquida^So de Sinistro. lnterpreta?ao e Aplicacao da Nova Tanfa — Acidcntes Pcssoais.
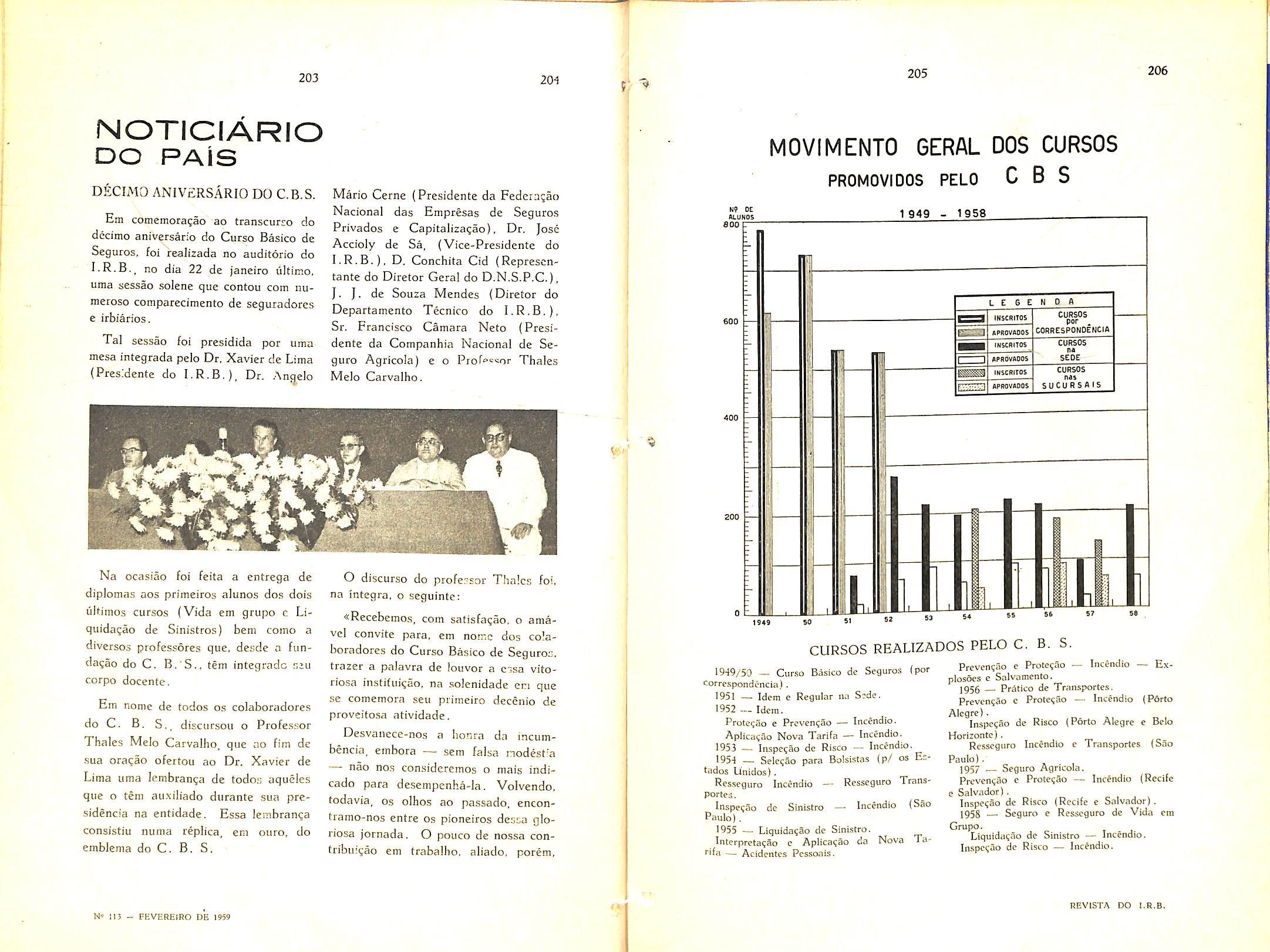
Prevencao e Prote^iio — Incendio — Explosoes e Salvamento.
1955 Pratico de Transportes.
Prevengao c ProtecSo — Inclndio (Pfirto Alegre).
Inspegao de Risco (PSrto Alegre e Belo Horizonte).
Resseguro IncSndio e Transportes (Sao Paulo).
1957 — Seguro Agricola.
Prevengao e Protcg3o — Incendio (Recife e Salvador).
Inspegao de Risco (Recife e Salvador).
1958 — Seguro c Resseguro de Vida cm Grupo.
Liquidagao de Sinistro — Incendio. Inspegao de Risco — Inc&ndio.
ao muito de nosso entusiasmo e dedica^ao. embora nao seja suficiente credencia! para a missao de hoje, da-nos, pelo menos, uma razao sentimental para cumpri-la com o mesmo jubilo dos verdadeiros artifices dessa vitoria.
•fisse triunfo, porem, nao e apenas dos poucos qne o construiram nesses dois lustres de atividades escolares.
adequada protegao contra os riscos aleatorios, proporciona a certeza ao individuo estribada na certcza da multidao.
Seguro, entretantg, significa complexa organizagao tecnico-cientifica, sustentada necessariamente por uni corpo de especialistas de elevado nivel. a cujo labor e competencia se deve o funcio-
sintetizada na famosa maxima conteana: prefer a fim de prover.
Se seu progresso e, de modo inequivoco. indice do desenvolvimento economico de uma nagao, cuidar do aprimoramento de siias condigoes tccnicas e contribiiir valiosamente para aquele objetivo.
Essa colaboragao eficiente e bem orientada prestou o Curso Basico de Seguros as empresas seguradoras em seu vitorioso decenio de existencia.
Iniciou seus trabalhos em 1949 com um curso por correspondencia, atraves do qua! foram distribuidos nesse ano a quase oitocentos alunos inscritos de todo o Brasil mais de 75.000 sumulas relativas a cinco disciplinas.
curou Gontribuir para a redugao da escala de sinistros ao promover os cursos de «prevengao, prote?ao e salvamento contra incendios e explos6es» minis trados em difercntes capitals do Brasil.
pois pertence igualmente a grande classe dos seguradores e securitarios.
A instituigao do seguro cabe consideravel parcela de responsabilidade no progresso de uma na?ao. Ela e a grande propulsora do florescimento da iniciativa privada, pois, atraves de
namento harmonioso da instituicao. Nele falha a improvisa?ao, falece o despreparo, malogra-se a desidia. Planejamento meticuloso, forma^ao tecnica aprimorada e zelo inexcedivel sao requisites indispensaveis a instituigao, cuja finalidade social poderia ser bem
Posteriormente, em 1951, quando se pode harmonizar as disponibilidades horarias dos funcionarios das difercntes companhias, iniciaram-sc as atividades escolares na sede do Curso. Foram. entao, ministrados cursos especializados de seguro e resseguro em diferentes ramos, inspecao de risco incendio, liquidagao de sinistro incendio, seguro agricola e interpreta?ao e aplicagao da nova tarifa nos ramos incendio e acidentes pessoais.

Seria enfadonho aiinhar dados estatisticos relativos a freqtiencia e ao aproveitamento dos alunos regulares e ouvintes. Diremos, apenas, quc seus resultados constituiram valiosa contribui?ao ao aperfeigoamento tecnico de ele vado numero de securitarios.
Nao se limitou. porem, o campo de a?ao do Curso Basico de Seguros a essa tarefa de aprimoramento de pcs■soal. Teve objetivos mais largos. Pro-
Seria dificil traduzir em palavras os beneficios sociais decorrentes da difusao de ensinamentos tecnicos promovida pelo Curso Basico de Seguros. Os resultados dessc decenio de tra balhos nao podem ser aferidos em padroes atuais. pois representam notavel investimento de que muito se valera no porvir a instituigao do seguro no Brasil, Como toda organizaqao e fruto do •labor humano, nela se cunham indelevelmente a f6r?a e o idealismo de seus construtores, e de suas gl6rias nao se dissociam aqueles que por ela deram o melhor de seu entusiasmo e dedicaqao.
Seja-me. entao, perniitido, finalizar estas palavras com duas referencias pes soais •
A primeira e uma evocaqao de saudade a dois professores pioneiros desse curso; Arcilio Papini e Ariosto Espinheira. Por aquela inexoravel fatalidade humana, deixaram-nos em meio da jornada, quando ainda muito podeciam dar de sua cultura a juventude estudiosa brasileira. Nao nos cabe aqui tecer o panegirico desses queridos mestres, vivos ainda em nossa lembran^a. Desejamos, apenas. render hs suas memoi'ias sentida homenagem de rcspeito c gratidao.
A segunda — last but not least e a mcngao de agradecimento c louvor ao Dr. Augusto Xavier de Lima, D.D.
Diretor-Presidente do Curso Basico de Seguros desde a sua funda^ao. Seu prestigio pessoal no drculo de seguradores atuou como fator decisivo na aceitagao do curso e seu idealisrno sobrepujou os obstaculos que. via de regra. se opoem as ideias renovadoras.
ja disse bem certo pensador que «o otimista ve uma oportunidade en cada dificuldade. enquanto o pessimista ve uma dificuldade em cada oportuni dade.»

Prezado Dr. Xavicr de Lima. As dificuldades surgidas na implantagao e no desenvolvimento do Curso Basico de Seguros foram para vosso espirito otimista felizes oportunidades de luta pela consecu^ao de uma obra de inegavel valor social. Nao vos desalentou a incompreensao, nao vos demoveu a inercia. Vossa seguran;a de propositos. aliada a finura de trato que vos e peculiar, removeu suavemente as barreiras da descrenga e propiciou o triunfo hoje comemorado.
ENSINO DO SEGURO EM MINAS
Sob a supervisao do Curso Basico de Seguros, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Seguros Privados c Capitalizagao de Minas Gerais patrocinou a realiza<;ao de um «Curso Pratico de Seguross, iniciativa que. segundo nos consta, e o marco inicial do ensino do seguro em Belo Horizontc.
O enceriamento desse curso foi feito em sessao solene presidida pelo Doutor Augusto Xavier de Lima. Discursalam, na ocasiao. o Dr. Aggeo Pio Sobrinho (presidente do Sindicato de Seguradorcs), o Sr. Flober Barbosa dos Santos (presidente do Sindicato de Sccuritarios), um dos professorcs do Curso (em nome dos coipos docente e discente) c, por ultimo, encerrando a solenidade, o Dr. Augusto Xavier de Lima.
Discurso do Dr. Aggco Pio Sohrtnho
«Nao poderia o Sindicato das Empiesas de Seguros Privados e Capitaliza^ao em Minas Gerais estar ausente a cerimonia da entrega dc certificados.
pelas maos honradas de Xavier de Lima, aos alunos que concluiram o Curso Pr^ico de Incendio. sob o patrocinio do Sindicato dos Empregados.
E que reconhecemos prestar o Curso Basico de Seguros extraordinarios serviqos a todos os que labutam nos meios seguradores. em varios cantos do Pals.
Em Belo Horizonte, e angustioso o problema da aquisiqao de material humano especializado. Centro industrial e comercial ainda em plena evolugao e reFativamente proximo a dois outros de maior poderio cconomico, como Rio e Sao Paulo, sofrc nosso mercado de trabalho a 'inevitavel concorrencia daqueias capitals.
Estudos recentes deinonstram que a curva de salaries da regiao, mais ou menos normal ate um certo nivel, desvia-se acentuadamente nos valores mais altos, correspondentes aos grupos de trabalho especializado. Em conseqiiencia, para mantcr scus tecnicos, tern a nossa Capital que remunera-los a pregos mais elevados.
Como testemunho de reconhecimcnto Seauro?
administra?ao ne.sse decenio, dcsejam
OS colaboradores do Curso Basico de
cyuros ole.ecer-vos essa pequena lempor vossa esclarecida e compreensiva bran?a, a fim de que possais ter sempre diante dos olhos aquilo que guardais com paternal carinho no cora?ao: o cmblema desse vitorioso curso.»
Isso, que e verdade para as empresas em geral, assume caratcr grave no ramo de seguros. Vivemos em constante carencia de tecnicos. sendo comunissimos, na imprensa diaria de Belo Horizontc, anuncios a procura de securitanos. o que nao acontece com a mesma freqiiencia, para outros ramos do comerdo e da indiistria.
O fato gera. nao raro, clima de acentuado mal-estar entre as proprias seguradoras pela adrrada disputa de elementos categorizados. a peso de ouro.
Dai a importancia que para nos assu me o Curso Basico de Seguros" que Vossa Excelencia vem orientando, ha tantos anos, com dedicagao e carinho, e prestigia ponderavelmente hoje, como Presidente do Institute de Resseguros do Brasil.
Nossos Orgaos de Classe tem, pois, o dever de estimular e fomentar a realiza^ao de tais cursos entre nos. Assim e que, em nome do Sindicato a que presido, venho solidtar de Vossa Ex celencia a abertura, em Belo Horizonte, de urn Curso Permanente de Seguros, a ser iniciado no prdximo ano.
Senhor Doutor Xavier de Lima
Nossa presenga aqui hoje tambem se justifica por outro motivo de especial relevancia. g que desejamos, como homenagem a Vossa Excelencia, relembrar algumss realiza^oes de sua proficua administrasao, a frente do que tao justamente a caracterizam como a que raelhor vem servindo a rnstitui<;ao dc Seguro Privado no Brasil.
Em primeiro Jugar, coloca-se o novo piano de resseguro incendio, baseado num sistema misto de excedente de responsabilidade e excedente de dano. Sua aplicagao pratica veio simplificar extraordinariamente os services das Companhias de Seguro, possibiiitandoIhes ainda maiores reten^oes. Esta cm vigor, desde 1957 com aceitagao entusiastica por paite da.s seguradoras, grandemente benpficiadas pela redugao de despcsas de pessoal c material.
Outro feito de real aicance foi a instalagao da Bdlsa de Seguros no Brasil. Cerca de 100 miihoes de premios eram canalizados, anualmente, para o exte rior, por nao encontrarem certos riscos cobertura no Pais.
Para diminuir a evasao, organizon o I.R.B. a Carteira de Opera^oes Diversas, com o fim especial de estudar o.s riscos que o mercado brasileiro nao estava preparado para aceitar. como terremotos, furacoes, quedas de aeronaves, perda de ponto, etc.
O resultado da sabia providencia nao
-■36 fez esperar: — grande numero dc Companhias passaram a operar em tais rjscos, principaimente depois que o I.R.B. adotou coberturas automaticas de resseguro ,o que veio abrir novas possibilidades ao comercic segurador. Em conseqiiencia, ampliou-se. de tal niodo, o mercado nacional, que lesolveu o I.R.B. criar a Bolsa de Seguros, nos moldes do Lloyd's de Londres. Ficou, assim, o Seguro Brasileiro habilitado a cobrir quaisquer responsabilidades internas ou externas, em cond'?6es de perfeita seguranga.
Somente no seu primeiro ano de vi' gencia, foram licitados, na Bolsa de Seguros, premios num total de quase 200 miihoes, o que vem mostrar a cxtraordinaria importancia do novo Orgao que o cspirito atilado de Xavier de Lima houve por bem criar, em boa hora.
Fato prcponderante para o desenvolvimento e prestigio do Seguro Nacional, e, sem diivida, esse ambiente de entusiasmo que a prcsen^a de Vossa Exce lencia, no comando do I.R.B. veio galvanizar. Cada membro da Familia Irbiaria, hoje cm dia, e um ardoroso defensor do Seguro.

6 natural que tal aconteca: — Vossa Excelencia tem side, em toda a sua cxistencia, um homem de seguro, intciramente dedicado a sua causa.
Quern se aproxima de sua pessoa, quem o sente viver os problcmas do Seguro, com tanta fe e devotamento, ten), for(;osamente, que se contagiar desse entusiasmo sadio e construtivo.
Natural tambem que tal contagio tainbem se alastre a todo o mcio segu rador, como hoje se verifica.
Nunca a Instituigao do Seguro adnuinu tanta forqa e prestigio entre nos. Nunca foi maior sua cnergia criadora: — ha miituo entendimento entre as Companhias: — ha um clima solido de confian^a entre Segurados e Seguradores; — ha solidariedade da classe na defesa do bem comum: ha a certeza de que o mal causado a um encontra o jcpudio certo de todos; — ha am biente tranqiiilo propicio ao trabalho: ha enfim, dcsperta c vigilante, uma
consciencia coletiva que se rejubila diante do triunfo alcan?ado e enfrenta, zom destemor, as continuas amea^as de novos reveses.
g.sse, em tra?os largos, o panorama atual, o retrato sincero do Seguro Pri vado no Brasil: — grandioso e sdlido cm seu patrimonio: disciplinado e honc:5to perante a lei: litil e produtivo ei;i seus investimentos: cficiente e pronto no cumprimento de compromisscs: elevado e nobre em sua finalidade: mas preocupado e apreensivo. com sua sorte futura, em face das repctidas tentativas de aviltamcnto com que sc tenta aniquila-lo
Ha poucos dias, em programa de radio, que tive a felicidadc de ouvir, destinado a orientar o grande piiblico sobre problcmas da economia nacional, Xavier de Lima falou a linguagcm seleua e franca de quem conhece a realidadc do Seguro Brasileiro.
Disse da falsa impressao que alguns demagogos procuram incutir no espirito piiblico de que as Companhias de Se guro conseguem lucres faceis e fabulosos. Mostrou que, longe disso, vivem elas, em grande parte, da aplicagao de suas reservas, sendo insignificante ou negative, em muitos casos, o lucro in dustrial.
Disse mais que a decantada estatizagao nao viria senao piorar o negocio de seguro, pelo inevitavel aumento de despcsas, sabido que a administra^ao da coisa piiblica, em geral, e onerosa e pouco produtiva.
Salientou ainda que o comercic de seguros e inuito delicado, feito a base
unica de confian?a: que nccessita viver em ambiente de paz e serenidade, fora de agitagoes estereis, scndo, por isso mesmo, altamente impatriotica, alem de injusta, a campanha de descredito doSeguro Privado.
Deu-nos, em primeira mac, a notida de urn piano de operagao pan-amerkana dc seguro. elaborado no I.R.B. c aprovado pelo Ministro da Fazenda, vi£ando a um maior intercambio, entre OS paiscs da America, de seus excedentes de premios.
Afirmou. linalmente, acreditar no futuro do Seguro Nacional e ter fe na redengao economica do Brasil. "
Homens da envergadura moral de Xavier de Lima, que falam com franqueza e desassombro para esclarecer, devidamente. essa vitima habitual de niistificagoes que se chama opiniao publica. metecem, por certo, a gratidao c o aprego de seus compatricios.
Meus senhores !
Nada mais precisarei dizer, senao Jogar a Deus pela conservagao, por
niuitos anos ainda, da preciosa vida de Xavier de Lima, tao litil a causa do Seguro Privado e a nossa gente.»
Discurso do Sr. Floher Barbosa dos Santos
•sPoucas tern sido, para mim, as datas festivas como esta. Acostumado a trilhar pelo arduo caminho das atividades sindicais, alegra-nie o coragao quando. vez por oritra, se me depara a mais leve clemonstragao de reconhecimento da iraportancia do que o meu Sindicato tern feito cm pro) da instituigao de seguros. Acalenta-me, se nhores, c verdade, o consolo de vir dando a cjasse o que esta a meu alcance; a dcsambigao, a pureza, a sinceridadc. o excesso de atividade incansavel.
E com a comemoragao jubilar da diplomagao dos alunos do Curso Pratico de Seguros promovido pelo Sindicato do? Securitarios, entrelaga-se a demonstragao eloqiiente de que cumprimos 0 dever de dirigente sindical, qua! seja, procurer o aperreigonmento profissional da classe.
O curse- que realizamos, senhores, e apenas a semente. e semente que esperamos venha germinar. Pois e quase certo que a nossa iniciativa merega, agora, atengao especial do mui digno Presidente do Curso Basico de Se guros, Dr. Augusto Xavier de Lima.
Antes de por termo a esta breve elocugao, quero agradecer ao Dr. Pedro Alvim, digno gerente do I.R.B, nesta Capital, a valiosa colaboragao com que muito nos honrou; dcvo agradecer tambem, de modo espe-ial. aos prezados colegas Francisco Gomes, Carlos Parenzi, lose Marinho. Joaquiin Correa
Vilela, Oscar L, Filho e Benedito Alvim, EOS quais se deve, em grande parte, o exito do curso, pela maneira capaz com que rainistraram as aulas.
Voto agradecimento especial as Companhias Alianga de Minas Gerais e Alianca da Bahia pela oferta espontanea dos premios que se destinaram aos alunos classificados em 1." e 2." lugares das provas finals.»
Discurso do Dr. Augusto Xavier de Lima
Falando de improviso, o Presidente do I.R.B. ressaltou as qualidades do povo mineiro, sua cultura e seu trabalho pela grandcza da patria, nao escondendo sua satisfagao por se encontrar novamente entre seguradores e amigos daquele Estado. Fez depois ob.servagoes sobre sua vida de segurador. profissao a que se tern dedicado por amor e entusiasmo desde a mocidade, dando-se por compensado de todos cs esforgos dispendidos. Adiantou julgar-se honrado em dirigir o I.R.B., onde tern procurado corresponder a confianga do governo e das seguradoras, renovando os metodos de trabalho da casa c incutindo no espirito de seus colaboradores orientagao mais adequada as finalidades da instituigao. Afirmou, em seguida, sua disposigao de atender aos reclames do meio segurr.dor mineiro, no scntido de serem criados e mantidos novos Cursos des-

tinados a prepara?ao tecnico-profissional dos securitarios. Tal iniciativa de-vera concretizar-se atraves da utilizaqao da experiencia do Curso Basico
NATAL DO
No dia 24 de dezembro ultimo, foi reahzada a tradicional festa de «Natal do Irbiario».

Do programa de festividades constou a encenagao de uma pega sobre tema natalino, levada a efeito per integrantes do «TeatrodoI.R.B.., bem como a costumeira distribuigao de brinquedos
de Seguros, que vem prestando assinalados servigos na obra da divulgagao de conhecimentos tecnicos especializados.
IRBIARIQ a filhos "de funcionarios do Institute.
As gravuras que ilustram esta noticia mostram: 1) o Presidente do quando ia iniciar-se a distri buigao de brinquedos: 2) aspecto da assistencia que lotou o auditorio do I.R.B., na representagao da pega natalina.
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL .
SEDE — RIO DE JANEIRO
AVENIDA MARECHAL CAMARA, 171
SUCURSAL EM SAO PAULO
AVENIDA SAO JOAO, 313 — 11.° ANDAR
SUCURSAL EM P6RT0 ALEGRE
AVENIDA BORGES MEDEIROS, 410 — 15.° ANDAB
SUCURSAL NA CIDADE DE SALVADOR
RUA DA GRicIA, 6 8.° ANDAR
SUCURSAL EM BELO HORIZONTE
A\-ENIDA AMAZONAS, 491 A 507 — 8.° ANDAR
SUCURSAL NA CIDADE DE RECIFE
AVENIDA GUARARAPES, 120 ~ 7.°'ANDAR
SUCURSAL NA CIDADE DE CURITIBA
RUA QUINZE DE NQVEMBRO, 551 A 558 — 16.° ANDAB
SUCURSAL NA CIDADE DE BELEM
AVENIDA QUINZE DE AGOSTO, 53 — SAIAS 228 A 230
SUCURSAL NA CIDADE DE MANAUS
AVENIDA EDUARDO RIBEIRO, 423 ALTOS

