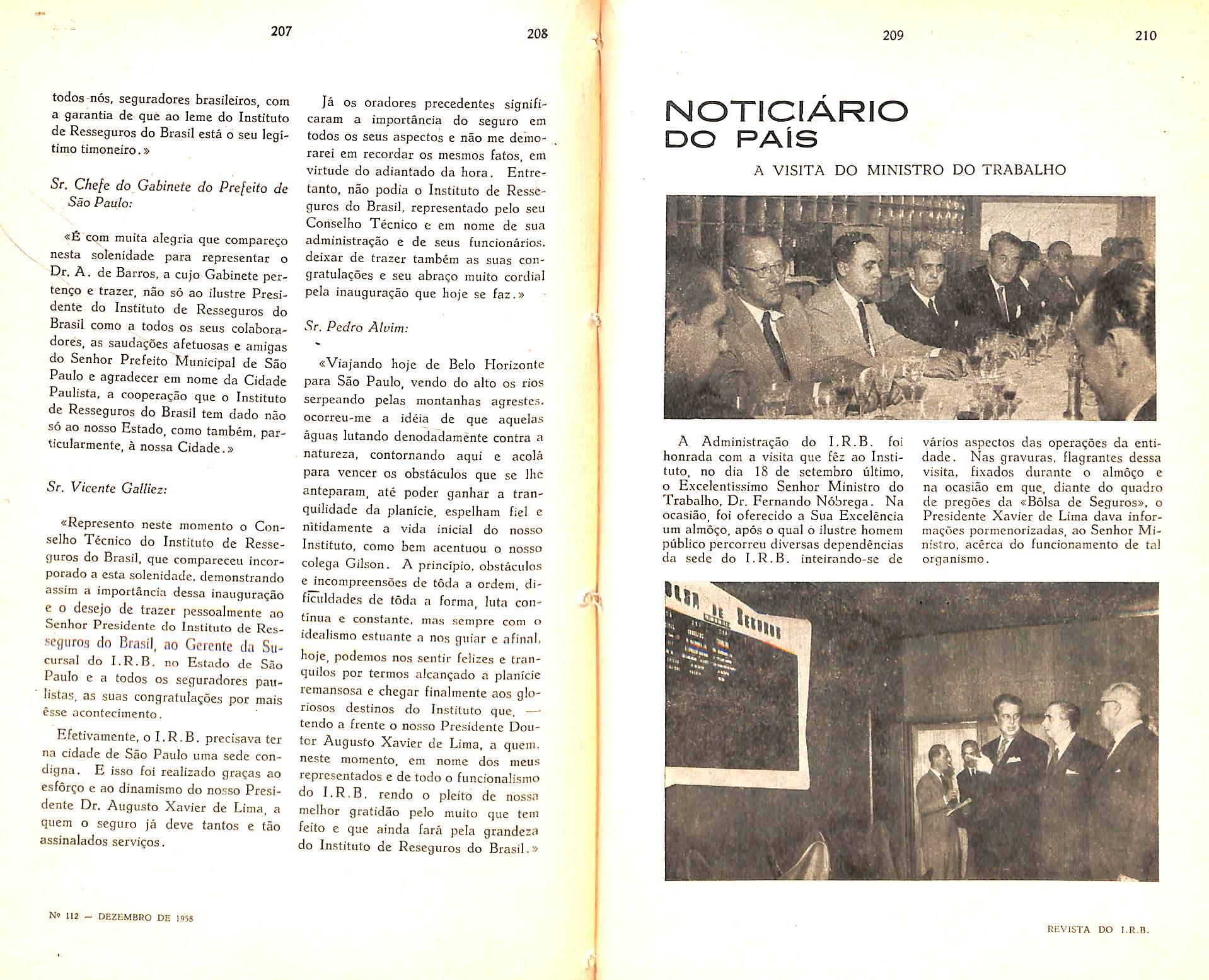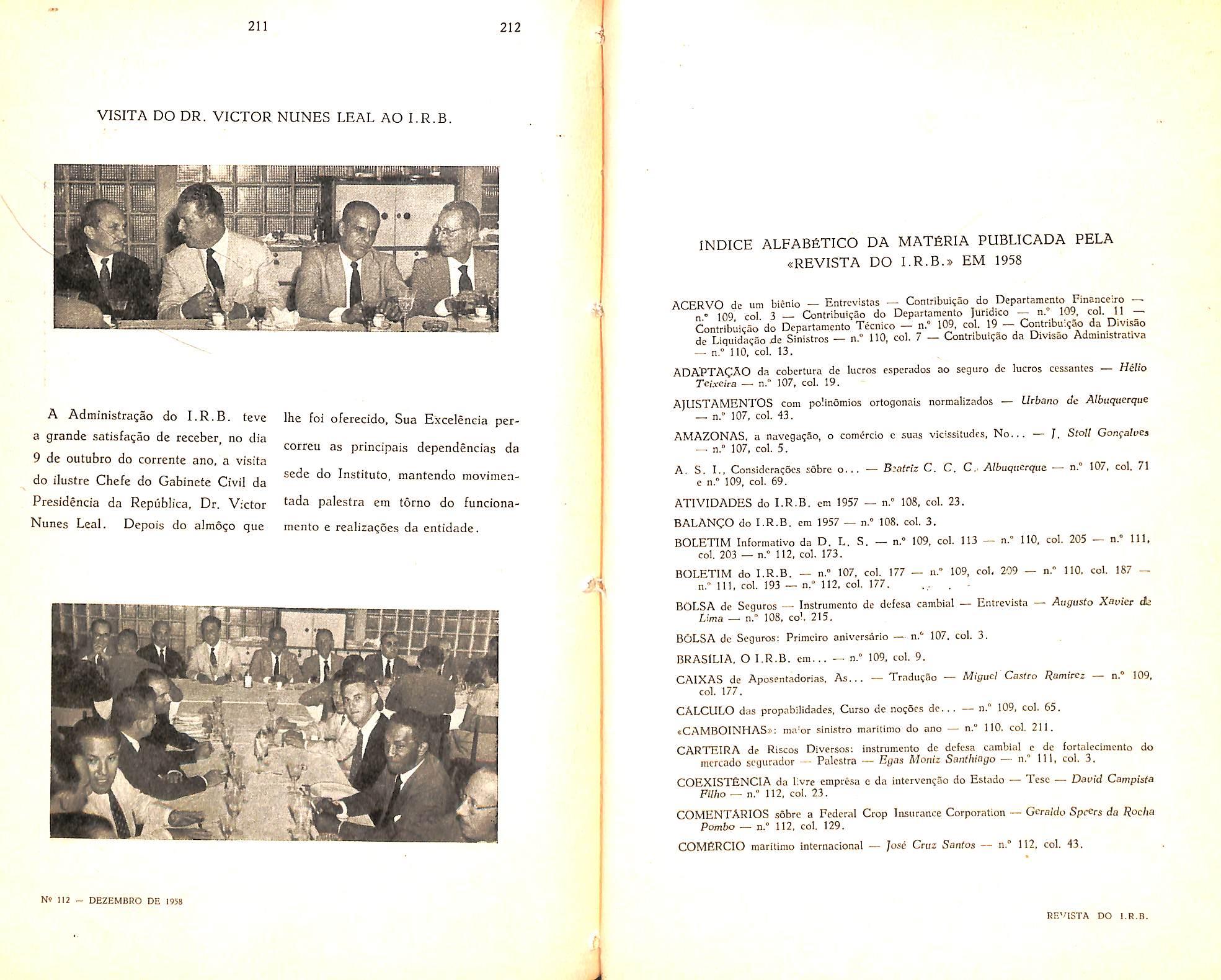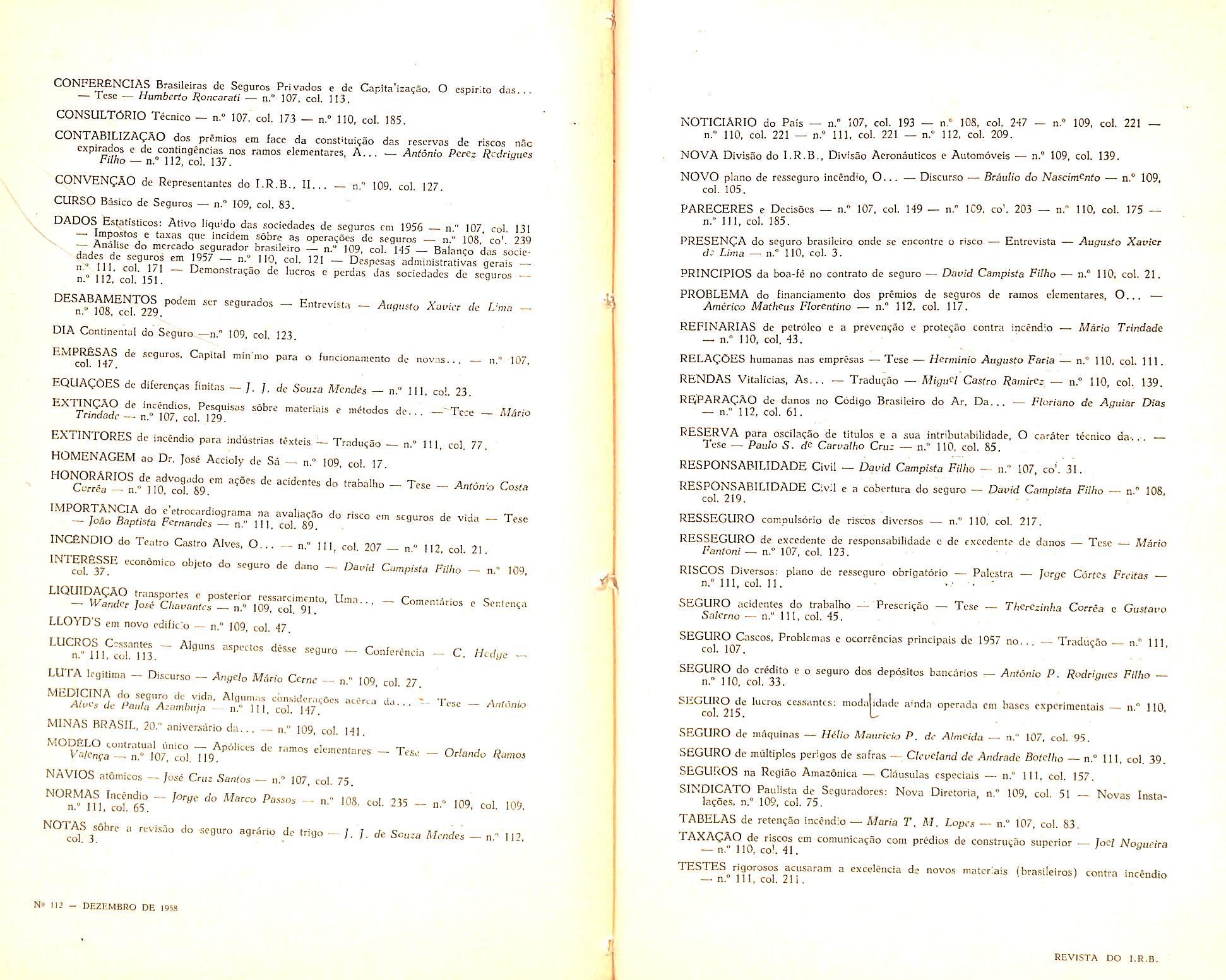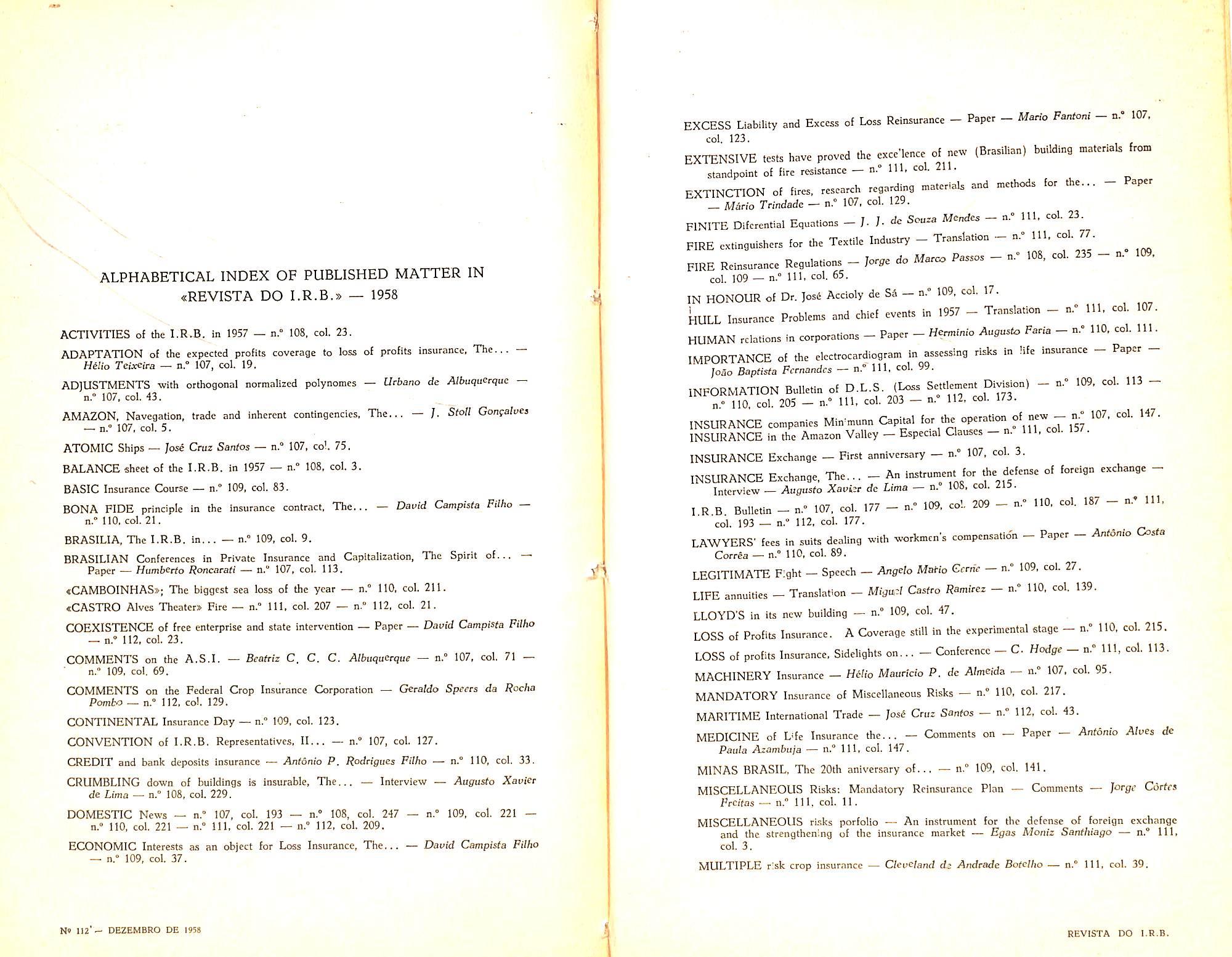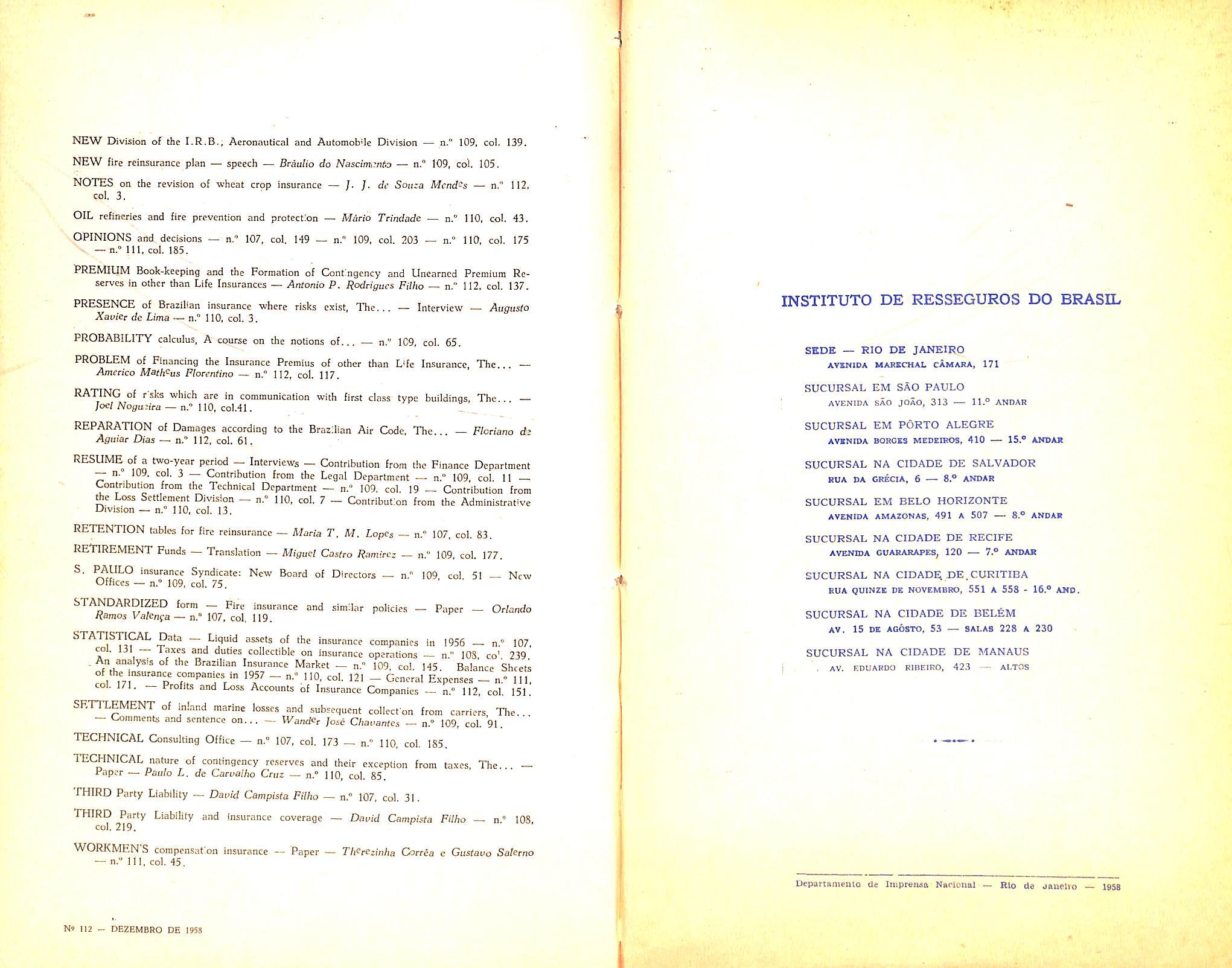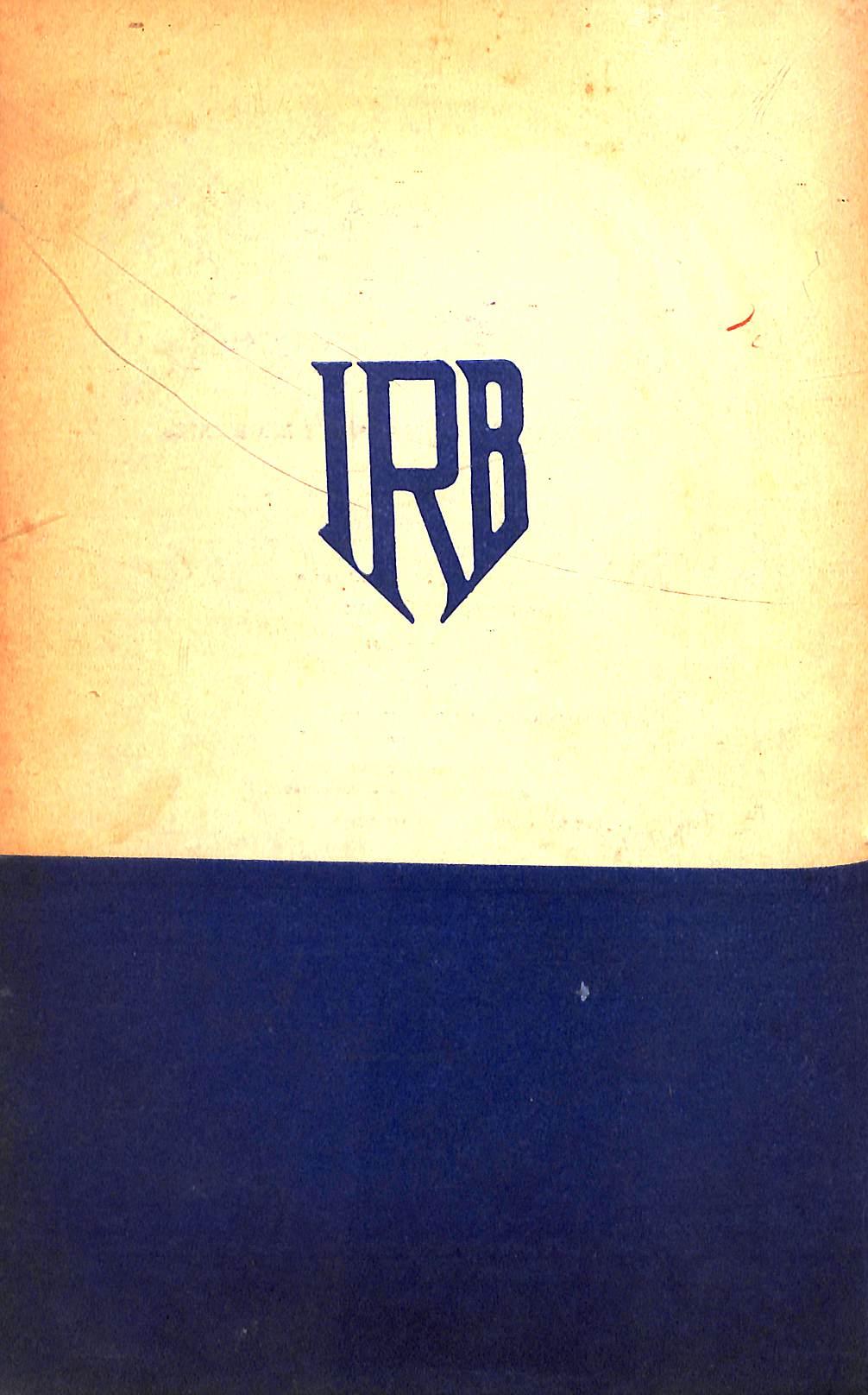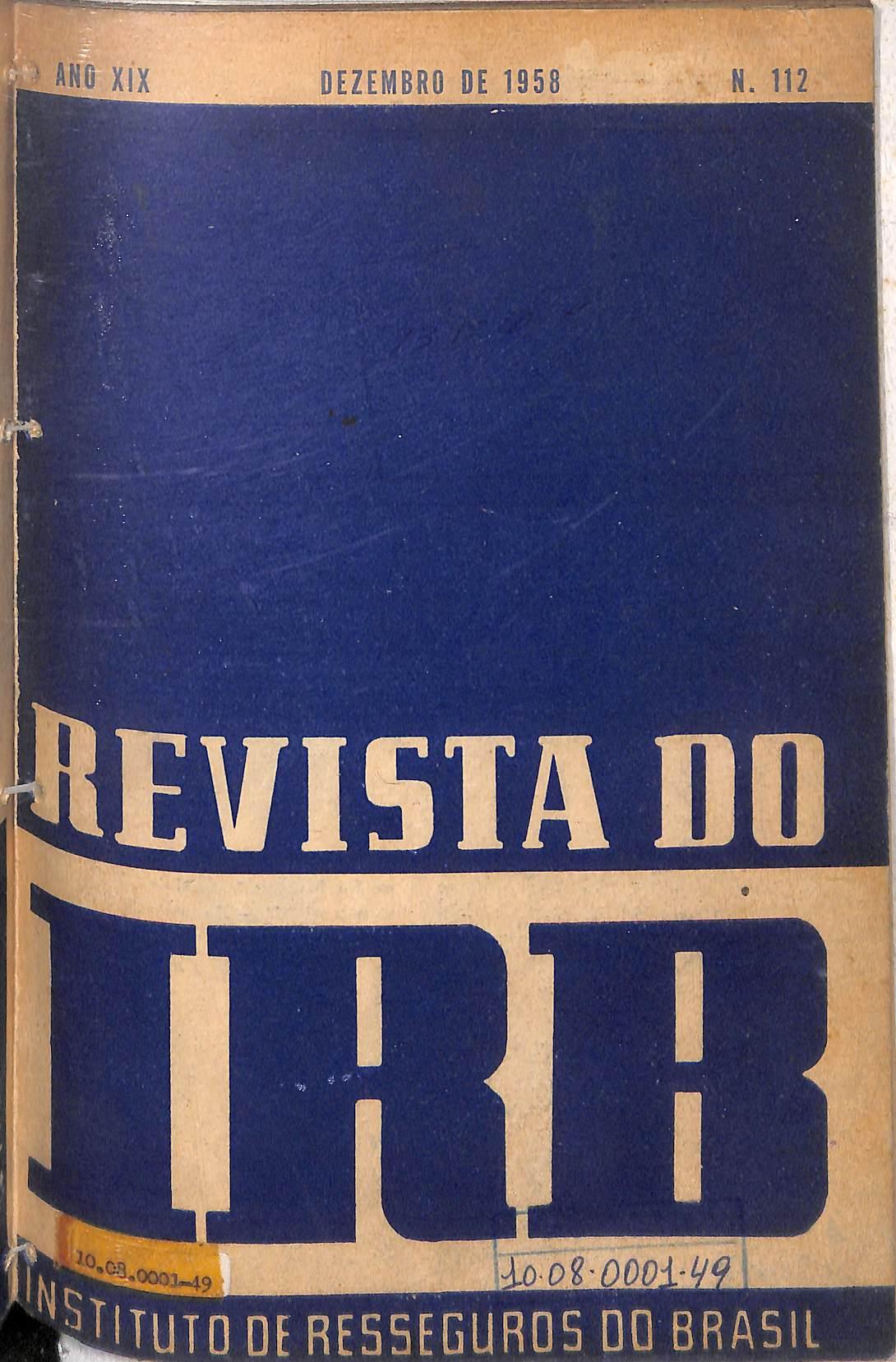
XIX DEZEMBRO DE 1958 ■ H. 112 0003-49 ioot'DODM9 RE5SEGURDS DQ BRASIL
Notas sobrc a revisao do seguro agraric dc trigo: /. /. dc Soi'2& Mendes, col. 3 — Incendio do Teatro Castro Alves. col. 21 — Cocxistencia da livre empre.sa c da intervengao do Estado: tese; David Campists Fid'O, col. 23 — CoiTiercio maritimo internacional: Jose Cruz Santos, col. 43 repara^ao de danos no Codigo Brasiieiro do Ar; Floriano de Agtiiar Di'as. col, 61 — O problcma do finaticiamento dos premios de scguros de rainos elementares; Amer'co Matheiis Floren' fino, col. 117 — Comentarios sobre a Federal Crop Insurance Corporation' GcraWo S. da Rdcha Pombo, col- 129
— A contabilizagao dos premios c" face da constituigao das rescrvas riscos nao expirados e de contingencif nos ramos elementares: Antonio PRodrigues Filho. col. 137 — Dados Estatisticos: Demonstragao dc lucres c perdas, das sociedades de scguros. col. 151 — Boletim Informative D. L. S., col. 173 — Boletim do col, 177 — Novas instala?3es, em Sao Paulo, da Sucursal do I-R-®" noticia. col. 199 — Noticiario do Pa'®' col, 209 — Indice da materia publi', cada pela Rcvista do I.R.B. em 1958' col, 213.
Pode-se considerat transcendental, sem 0 mais leve recelo de com isso perpetrar-se urn exagero, o papel que a aviagao comercial desentr penha no desenvolvimento economico e social do pais.
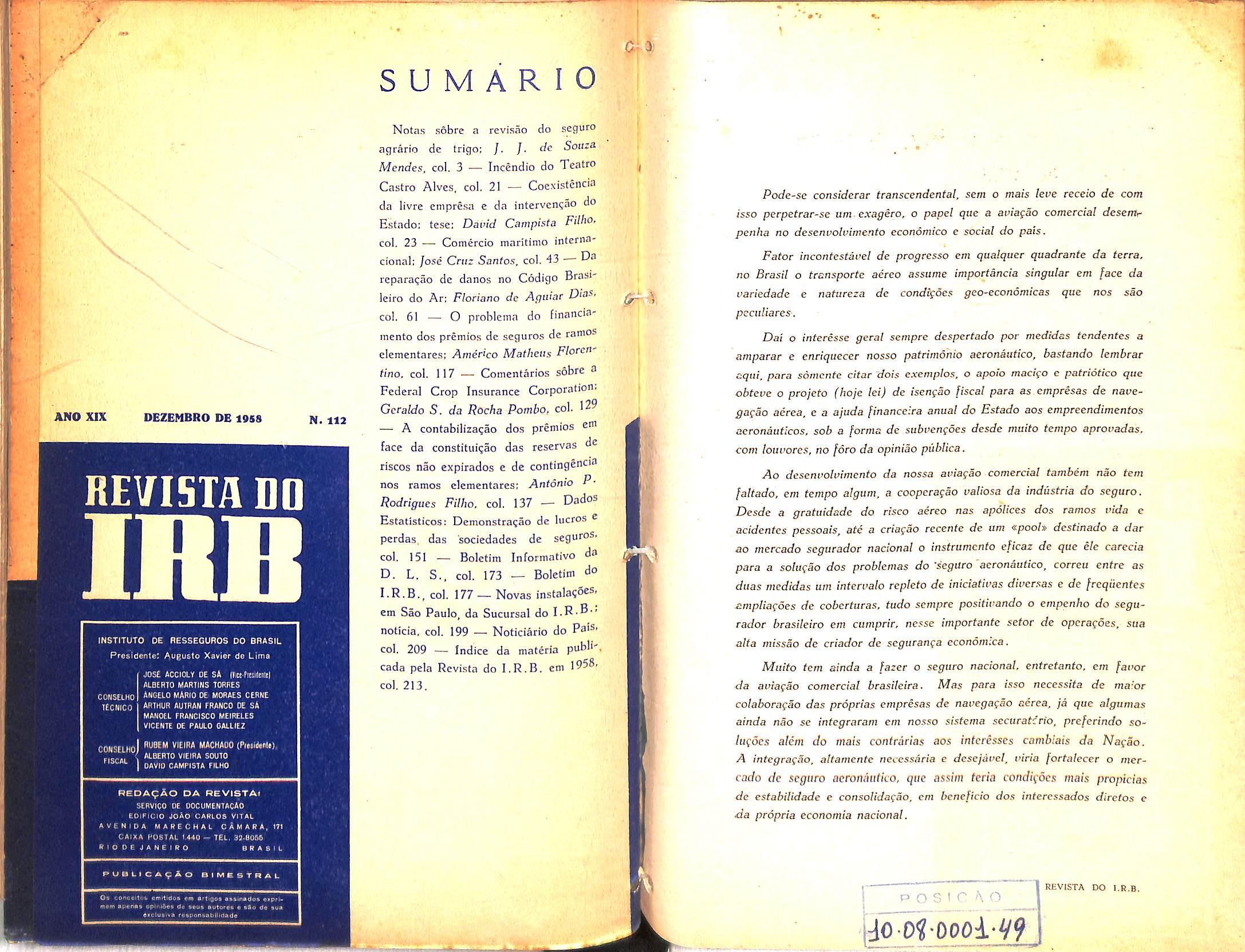
Fator incontestavel de progresso em qualquer quadrante da terra, no Brasil o transporte aereo assume importancia singular em face da variedade e natureza de condi^oes geo-economicas que nos sao pccitliares.
Dai o inferesse geral sempre despertado por medidas tendentes a amparar e enriquecer nosso patrirnonio aeronautico, bastando lembrar aqiii. para somente citar dois exemplos, o apoio macigo e patriotico que obteve o projeto (hoje lei) de isengao fiscal para as empresas de navegagao aerea. e a ajuda financeira anual do Estado aos empreendimentos aeronautlcos, sob a forma de subvengoes desde muito tempo aprovadas. com louvores, no foro da opiniao publica.
Ao desenvolvimento da nossa aviagao comercial tamhem nao tern faltado, em tempo algum. a coopcrafao valiosa da industria do seguro. Desde a gcatuidade do risco aereo nas apolices dos ramos vida e acidentes pessoais. ate a criagao recente de um «poo/» destinado a dac ao mercado segurador nacional o instrumcnto eficaz de que He carecia para a solugao dos problemas do -seguro'aeronautico. correu entre as duas medidas um intervalo repleto de iniciativas diuersas e de freqiientes ampliagoes de coberturas, tudo sempre positivando o empenho do segu rador brasileiro em cumprir, nesse importante setor de operafoes, sua alia missao de criador de seguranga econom.ca.
Muito fem ainda a fazer o seguro nacional, entretanto, em favor da aviagao comercial brasileira. Mas para isso necessita de mar'or colaboragao das proprias empresas de navegagao aerea, ja quo algumas ainda nao se integraram eni nosso sisferna securatcno, preferindo solugdes a/em do mat's contrarias aos intcresses cambiais da Nagao. A integragao, altamente necessdria e desejdvel, viria fortalecer o mer cado dc seguro aeronautico, que assiin teria condigocs rnais propicias de estabilidade e conso/tdafao, cm beneficio dos interessados diretos e da propria economia nacional.
» k S U M A R I 0 r»ANO XIX DEZEMBRO DE 19S8 RE7ISTA N. 112
PUBLICA9A0
REDA9A0 DA
SERVICO
eOlFlcIO
CAIXA kOSTAL 1.440 ~ TEL. Sa-SO&B
I
eiMESTRAU
REVISTAi
DE DOCUMENTACAO
JOAO CARLOS VITAL
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL
Presidents: Auguslo Xavier de Lima
JOSE ACCIOLY DE SA IlKe ritslleitel ALBERTO MARTINS TORRES
COHSELHO ANGELO MARIO OE MORAES CERNE
TECNICO ARTHUR AUIRAN FRANCO OE SA
MANOEL FRANCISCO MEIRELES VICENTE OE PAULO GALLIEZ
RUBEM VIEfRA MACHADO (PiailAenIa)
ALBERTO VIEIRA SOUTO OAVIO CAMPISTA FILHO
rz> O r b o 'S otbooi-f9 REViSTA DO I.R.B.
Notas sobre a revisao do seguro agrario de trigo
J. J. de Souza Mendes, M.I.B.A. Diretor do Departamento Tecnicct do I-R-B'
AREVISAO do.seguro agrario de
trigo se caracterizou principalmente por uma mudan^a pronunciada no criterio de taxa?ao de risco. As taxas, que antes eram deterrainadas exclusivamente para ds-varios municipios do pais, pelo novo piano sao estabelecidas conforme a regiao fisiografica em que esta localizado o risco, levandose em conta ainda certos elementos da expcriencia da propria fazenda a ser segurada, A entrada da expcriencia do risco nas taxas e feita por intermedio de um fator A resultante da propria expcriencia da propriedade triticola. fisse fator A tern por fim modificar a cobertura basica da regiao mantendo, no entanto, a taxa inalterada que desta forma incide sobre lodas as propricdades da regiao fisiografica. Se a ex pcriencia da fazenda for ruim o fator A sera pequeno, diminuindo a cobertura a ser concedida. Se a expcriencia for boa A sera grande e a cobertura cresce.
Para os fins praticos do seguro e tendo em vista ser a primeira vez que se introduziu a expcriencia do risco segurado na taxa convencionou-se que A devia variar entre os limites de 0,5 e 1. Desta forma a garantia menor qualquer aue fosse a expcriencia de uma propriedade triticola seria a metade da garantia basica da regiao e a maior cobertura que se forneceria e igual a.propria cobertura basica para
aquelas fazendas que apresentam bons resultados.
A expressao que permite calcular A e a seguirle:
2^Xi -|- 2nXm — ",2*
X =
dr
4nG (1 — 0,7t) nna qua] ® ^ produ?ao total
1
da propriedade nas tres safras anteriores a segurada;.no caso de o triticultor nao possuir experiencia, os anos em que nao haja produgao serao considerados como tendo produzido O.SGou seja 80 % da producao basica da regiao,
n — e o numero de anos da expe* liencia, que sera semprc igual a 3.
Xm — e a menor produgao verificada na experiencia.
n Z di e a soma dos valores abso' 1 ' lutos dos desvios havidos entre os dado5 da experiencia e a sua media aritm^tica. E
t — a taxa basica da rtgiao, qu® sera adotada para todos os triticultores nela existentes.
A dedu?ao da formula anterior teve em vista o seguinte;
Para a cobertura C a ser concedida.
C = xG, teriamos, em termos puros, a igualdadc
t.n. C = S sendo S o montante de sinistro? pagos em virtude da concessao de C.
No caso de C = M, M a media aritmetica dos dados de cxj-eriencia. teriamos eviden'.cmente:
S = Izldil id, - M-X,
No caso gtial de C<M,Steria Um valor complexo, observadas as premissas:
a) n C — 2Xi = 2 1 1 sendo 2 — S -b 2' I m+1 correspondendo Zsi in+I a soma dos desvios negativos.
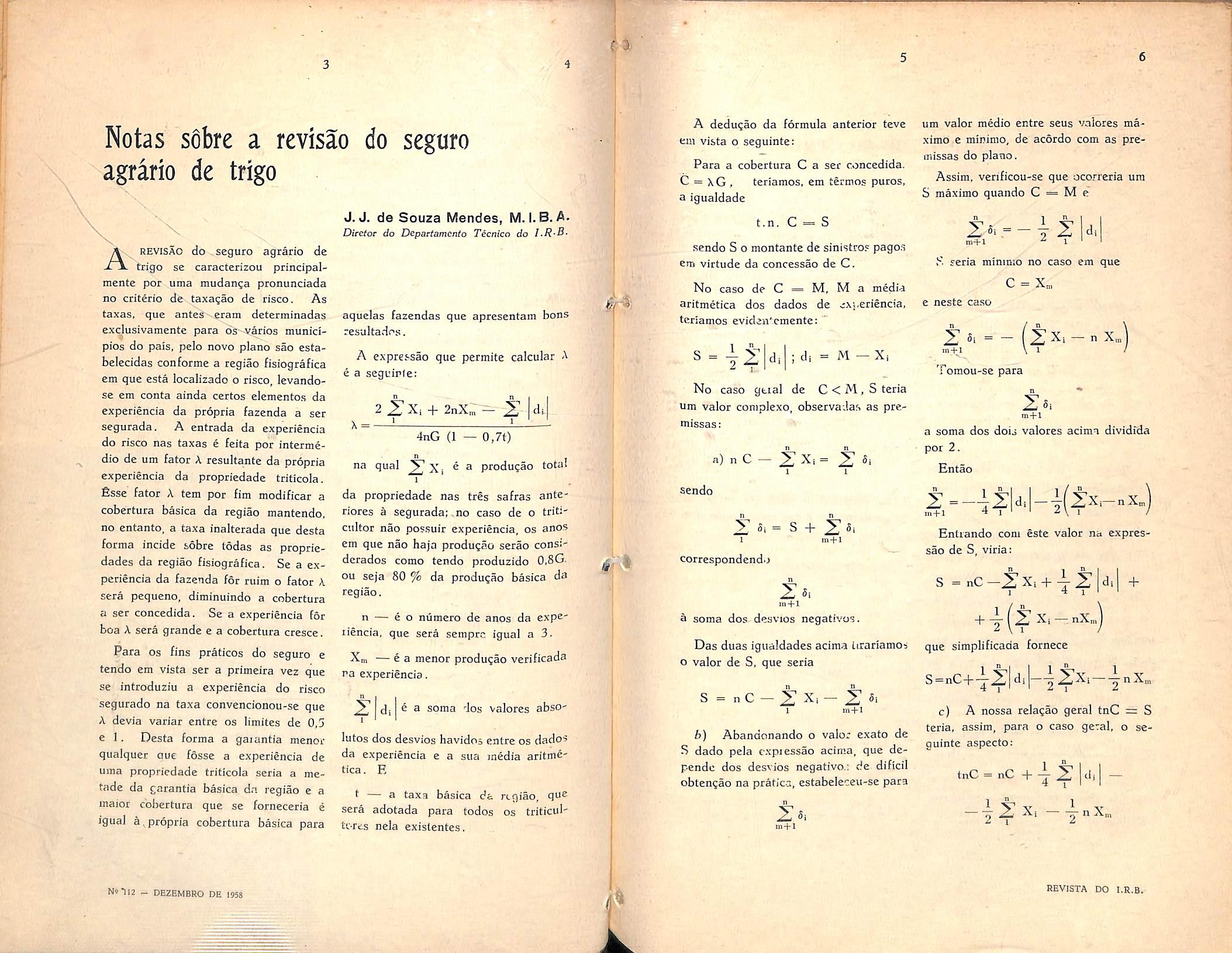
Das duas igualdades acima tirariamos o valor de S, que seria
S = nC-2Xi-2 5i 1 in+l
b) Abandonando o valor exato de S dado pcla expiessao acima, que dependc dos desvios negativo.; de dificil obtengao na pratica, estabeleceu-se para n Zai m+l
um valor medio entre scus valores maximo e minimo, de acordo com as preinissas do piano.
Assim, verificou-se que ocorreria ura S maximo quando C = M e n 1 rv ! a, m+l I '
b". seria minimo no caso em que C = X.
e neste caso
2«^ =m+l
Tomou-se para
2Xi — n X„ ZSi m+l
a soma dos dois valores acimn dividfda por 2.
Entao
n T n_ 1 / n_
2 di -j2Xi-nX„
m+l 4 1 1
Entiando com este valor na cxprcssao de S, viria:
S = nC —2"Xi "i—— 2* 1 "b 1 4 1 '
+^(2Xi-nX.:
que simplificada fornece
S=nC-|--72 —irZXi r-nXm 4 1 + 1 ^
c) A nossa relacao geral tnC = S teria, assim, para o caso geral, o se guinte aspecto:
1 " I tnC = nC "b -J 2< I d|
-iZ Xi -4nX„
N'-llZ - DEZEMBRO DE 1958
J REVISTA DO I.R.B.-
Dando-se o carregamentcf previsto de 30 fc sobre os premios comeiciais, teriamos:
n C 1 tnc = — + yid 0,7 ^ 2,8
"Hi ~ " x„ que, simplificada, conduz a
«Quanto a formula da coberturaajustamento. tive tempo de rev^-la., agora. Parece-me que seria raais facil seguir se
Zsi m + l fosse definido como a,soma dos desvios dos rendimentos reais acima de cobertura, teriamos
o termo entre chaves sendo a media de (2) e (3). Esta formula e a que V. tern. A linica diferen^a e que eu definiria 6j mais tarde como sendo um excesso de Xi sobre C. A derivagao precede de la, usando C= XG.
22;Xi + 2nx,„-i; d.
2^ Xi + 2aXn, — di C = 4n (1 — 0,71) ou a X =
4n G {1—0,70
O nosso colega e amigo Dr. Cleve land de Andrade Botelho teve a oportunidade em sua ultima visita aos Estados Unidos de faz^r otimas relagoes entre pessoas interessadas no seguro agricola de colheita. Entre outras vem o nosso colcga mantendo correspondencia com o Sr. Ralph R. Bolts, Economista Agricola, Encarregado de Uni. dade de Seguro e Riscos Agricola do Departamento de Agricuitura dos'Estados Unidos.
Mr. Botts tomando conhecimento da nossa formula acima teve a oportunidade na sua correspondencia com o Dr. Cleveland de fazer os seguintes cornentarios;
tnC = nC~ +
1 m-t-l (1)
o ultimo termo sendo uma media de n jdj quando C=M (2) n Z quando C=Xm (3)
A minha justificativa em favor de um sinal positivo e que apos a subtra^ao da soma de todos os rendimentos
Z Xi voce adiciona aqueles que estao acima da Cobcrtura C. files nao envolvem nenhuma indenizacao. Estarei certo pensando desta forma ? Se estiver, o meu preferido processo de derivagao e o seguinte:
Substituindo em {1)
tnC = nC — 2;Xi + + 0-5ZXi-0.5nX„,+0.25_^di j
a
Eu nao pensei ainda quanto a isto, mas se voce tomar uma sucessao de rendimento, no tempo, e dele calcular a media M, entao a cobertura C no meio entre M e X„ produz um custo de prejuizo anual medio um pouco mais baixo, como percentagem da cobertura, que se pode deduzir,
t =l— 20 (iM 4- X„.)
Nos estamos muito interessados em seu programa, e se nos pudermos ser de algum modo litil a Voce, e favor avisar, que nos, desejamos fazer o que pudermos. Eu farei com que voce tenha copia do «Uso de Teoria da Curva Normal no Calculo da Taxa do Seguro de Safra», quando aparecer no Jornal de Economia Rural, em agosto de I958».
0.5 Z di n
o que pode ser deduzido de (4), desde que
Z Xi = nM . 1 Rode, tambem, ser expresso como z t di ^ Q— desde que
2C (M -H X„) = 1 (5)
1) A formula (4) de Mr. Botts e exataraente igual a nossa.
A unica diferenga consiste em que Mr. Botts acha que deve definir 5; como desvio positivo e nao negativo. Como a soma de ambos e a mesma, friatetaaficamente teremos em qualquer caso o mesmo resultado. (*)
2) Em continua^ao Mr. Botts ensaia um novo sistema para calcular C partindo de t e que fern por base fazer C (cobertura a ser concedida) se situar no meio entre a media M dos rendi mentos e o rendimento minimo observado Xm.
Porque O «t» calculado de um exemplo a nossa formula porem ^ ligeiramente
real (ver anexo) e mais baixo do que *"2'® quo a formula (4) de Mr. Botts. «t» calculado da formula (5) ? ° imporfanc'a cnormc.
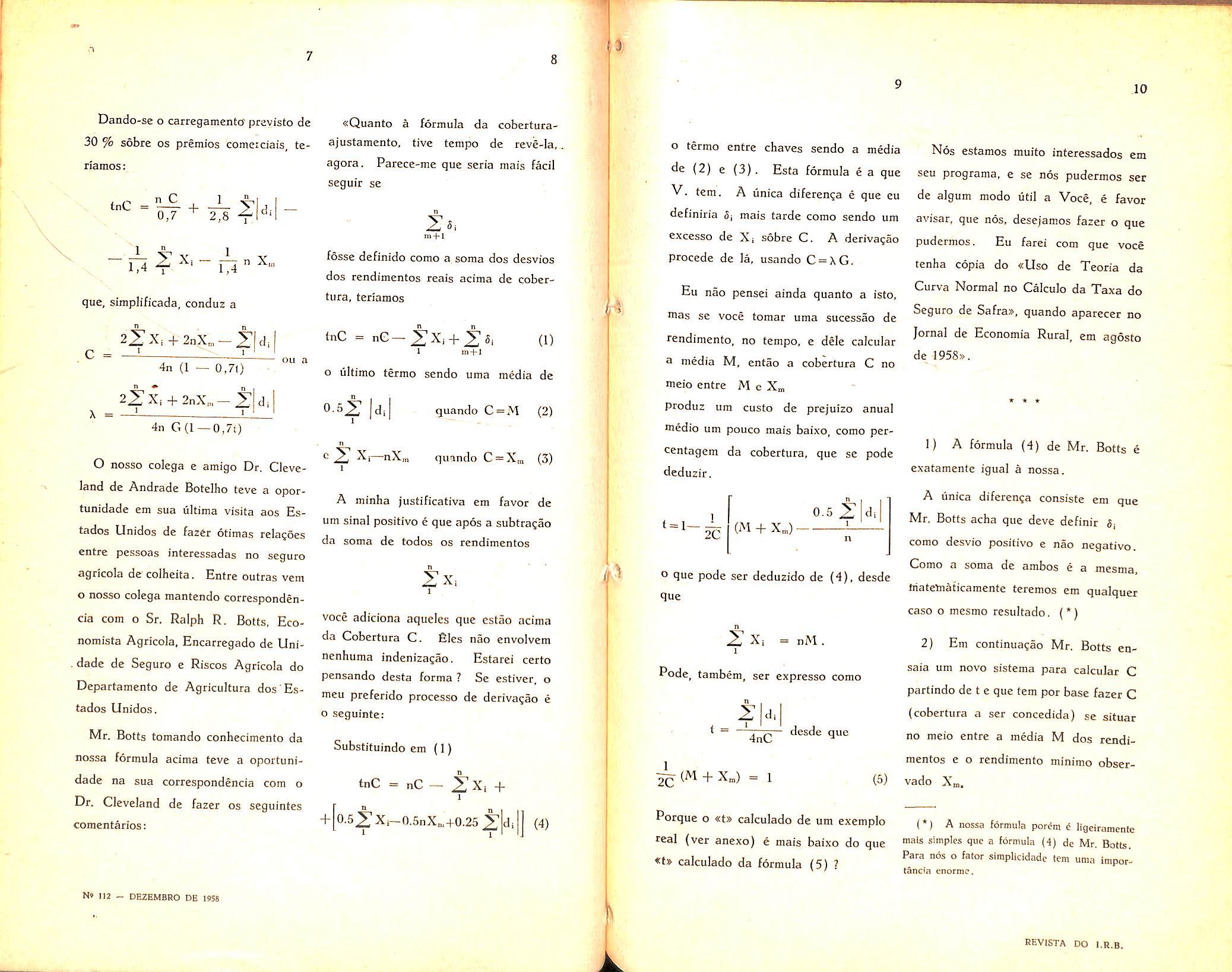
N« 112 - DEZEMBRO DE 1958
1 1
.10
(4)
REVISTA DO I.H.B.
o signatario faz uma aplica^ao em caso concrete e nota que a taxa tirada diretamente da experiencia e menor que a taxa calculada pela formula resultante de sua hipotese.
Pergunta o porque desta varia^ao.
De passagem e antes de respondermos a esta pergunta observemos que a nossa formula aproximada, conduziria, no exemplo focalizado por Mr. Botts. a uma taxa evidentemente igual a taxa diretamente calculada pela formula de Mr. Botts e assim acontecera sempre, pois a cobertura e fixada em
M + X.
Custo de Prejuizo Anual, como percentagem de Cobertura:
1/6.5 = 15.-1 %
chega Mr. Botts a uma formula para a taxa bastante simpltficada
Fazendo em nossa formula ou em sua formula (4)
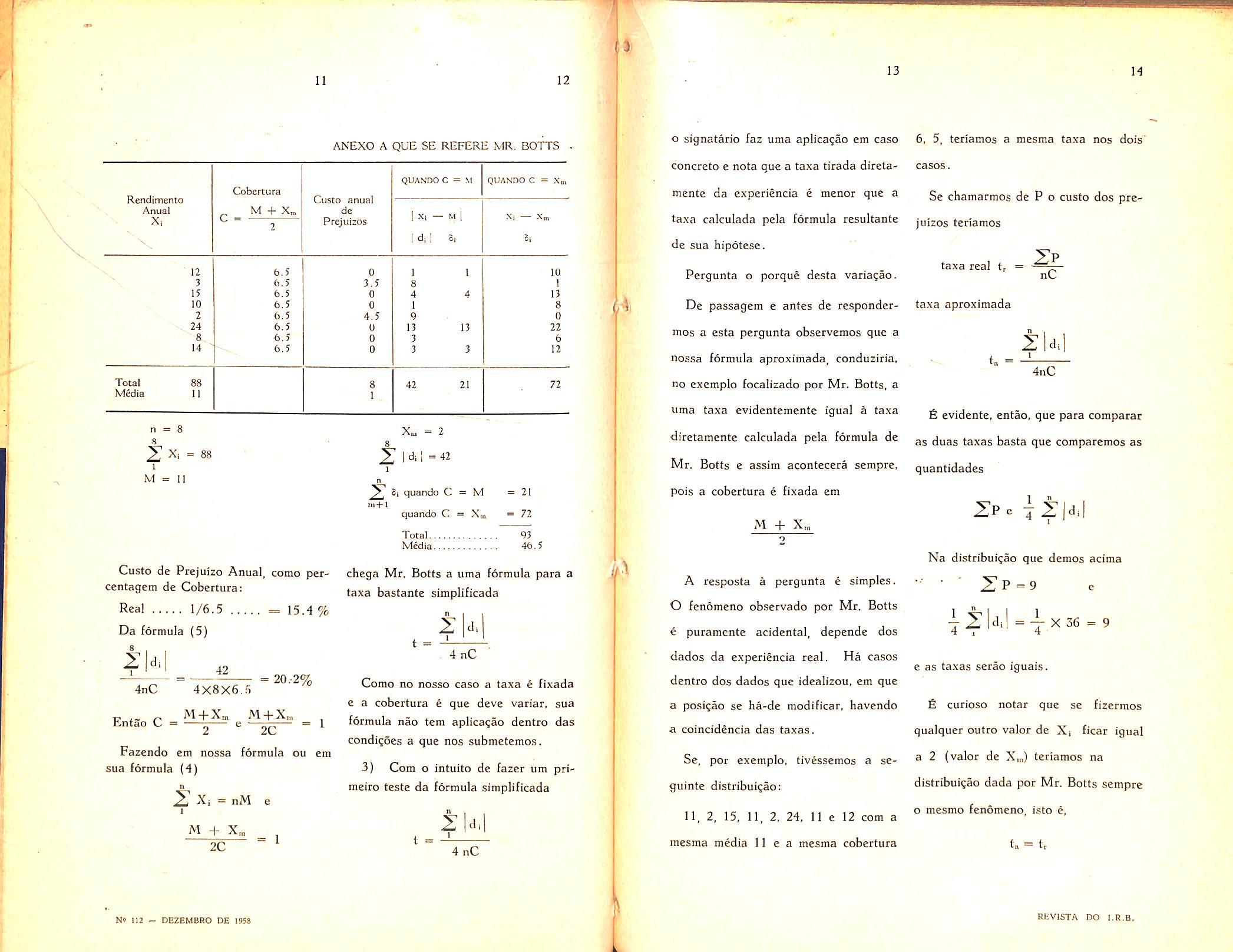
Como no nosso caso a taxa e fixada e a cobertura e que deve variar, sua formula nao tem aplica^ao dentro das condi^ocs a que nos submetemos.
3) Com o intuito de fazer urn primeiro teste da formula simplificada M + X„
A resposta a pergunta e simples. O fenomeno observado por Mr, Botts e puramcnte acidental, depende dos dados da experiencia real. Ha casos dentro dos dados que idealizou, em que a posi^ao se ha-de modificar, havendo a coincidencia das taxas.
Se, por exemplo, tivcssemos a seguinte distribui^ao:
11. 2, 15. 11, 2. 24, 11 e 12 com a
mesma media 11 e a mesma cobertura
6, 5. teriamos a mesma taxa nos dois' casos.
Se chamarmos de P o custo dos prejuizos teriamos
Zp taxa real tr = nC taxa aproximada M Zldi t„ = 4nC
fi evidente, entao, que para comparar as duas taxas basta que comparemos as quantidades
1 ZPe 7 Zldi
Na distribuigao que demos acima ' Zp =9 e e as taxas serao iguais.
fi curioso notar que se fizermos qualquer outro valor de Xj ficar igual
a 2 (valor de X.J teriamos na distribuigao dada por Mr. Botts sempre 0 mesmo fenomeno, isto e.
ta = tr
II 12 ANEXO A QUE S£ REFERE MR. BOTTS Rendimento /^ual Xi Cobertura ^ ^ M + X. 2 Custo anual de PrejuizOs QUANDO C = M QUANDO C = Xni 1 Xi — M Idi 8i Xi — X„ Si 12 3 15 10 2 24 8 146.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0 3.5 0 0 4.5 0 0 0 1 1 8 4 4 1 9 13 13 3 3 3 ID 1 ij 8 0 22 6 12 Total 88 Media 11 8 1 42 21 72 n = 8 Xra = 2 Z = 88 Z 1 = « M = 1! r. ni+l quando C = X„ = 72 Total.. Media. 93 46.5
Real
Da
8 ,
42 4 4
formula (5)
= 20.-2%
n
t = di . 4 nC nC X8X6.5 Ent3o
2
z
C = e = 1
" 2C
— aM e
U
Z
2C = 1 t
4
N9 112 - DEZEMBRO DE 1958 1' i mm ■4i 13
di
=
nC
14
REVISTA DO I.R.B,
Isto porque, quando fazemos mais qualquer outro valor (alem dos dois valqres de Xi que, supossemos igual a 2) tamhpTTi V i^al a 2, aumentaremos a soma de di de 18 unidades e a soma de P de 4, 5 unidades o que cpmo X 18 = 45 £ata cpm que as taxas sejam- iguais. Se por absurdo tivessemos todos os rendimentos iguais a 2 menos o tiltimo que seria igual a 74 ainda assim as taxas seriam iguais.
fiste fenomeno se analisado matematicamente conduz a conclusoes verdadeiramente interessantes.
A primeira delas e a seguinte: Se considerarmos a cobertura
C = M + X„
a soma dos prejuizos sera igual a
A demonstca^ao desta propriedada 6' imediata. Consideremos a soma dos desvios da variavel Xi em relacao a cobertura, teremos entao:
serao sempre positives ou nulos terenios.
n i i n 2 x.-c >4-2 Xi—X.
A diferen^a entre estes dois valores sera evidentemente o dobro dos desvios negatives ou, em outras palavras, o dobro de entao
2Zp=.Z|Xi-c|-4--^ Xi-X„
1 ° --z 4 -f Xi-X„
= (Xi-M) +
+Ti'(Xi-X.)
e como ^(Xi—M) = 0 vlra
Se tomarmos os valores absolutos a igualdade se altera e tendo em vista que OS desvios de Xi-X.
uma vez que
Xi —X.1 = (Xi —X^)
e
= 2(C-X„) podemos escrever:
ZiXi-cl-nCC-XJ.... (2)
c. q. d. t. = 2nC
A segunda conclusao que decorre desta propriedade que estabelecemos permite a analisc completa do fenomeno a'pontado por Mr. Botts: "
£ a seguinte:
No caso de C = M + X„
teremos a seguinte taxa real
Xi—C 1 n jZ|
Seria ocioso salientar o grande interesse pratico que apresentam as for mulas (I) e (2) que podem ser deduzidas em conseqliencia de se fazer fixar a cobertura dos seguros de colheita em
^ M + X,.. 2
A formula (1) permite fazer imediatamente a compara^ao entre tr e t» x—x-„ nC
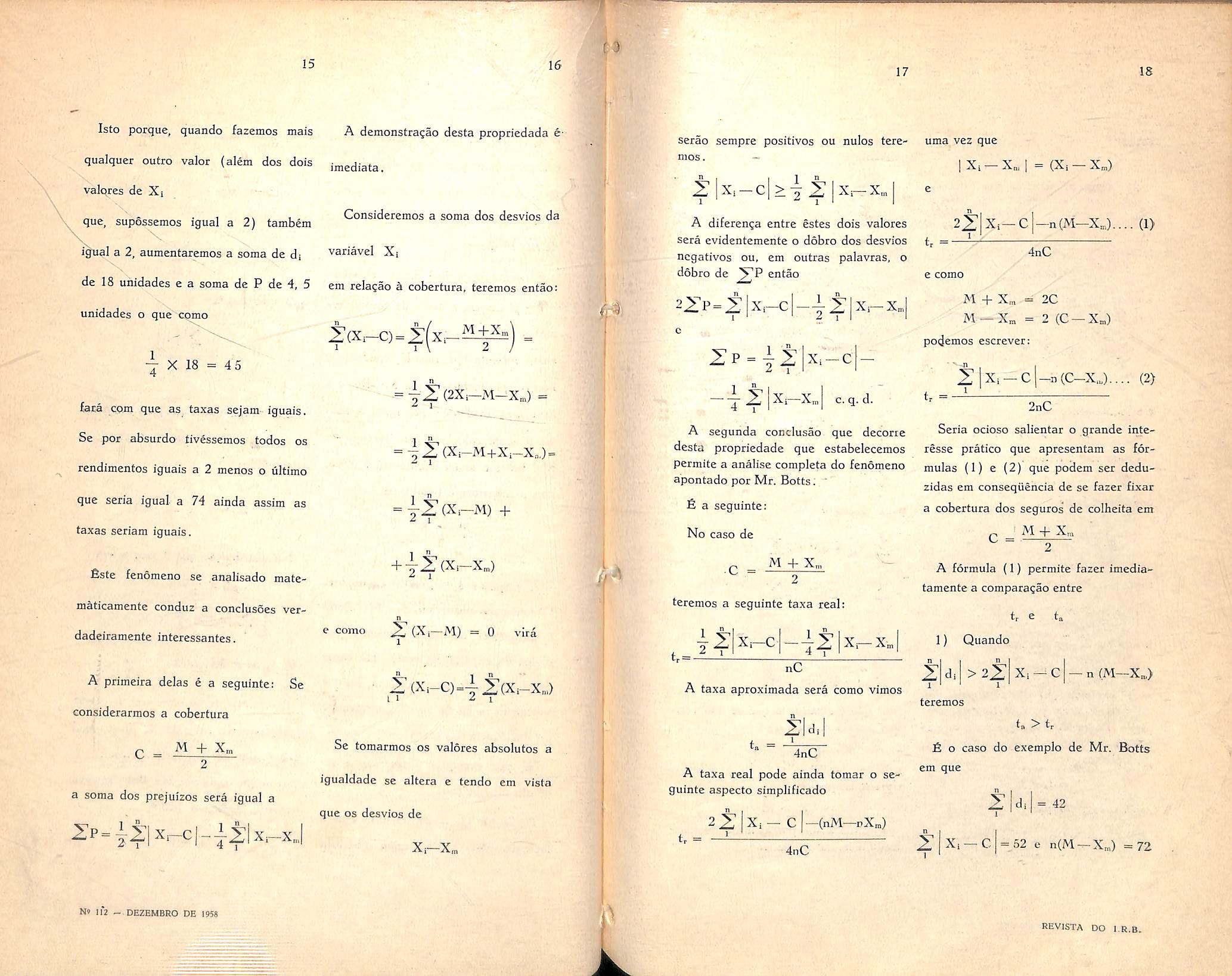
A taxa aproxiraada sera como vimos I zid,
1) Quando
n n Zdi >2Z Xi-^C n (M—Xn,)
teremos
ta > tr
A taxa real pode ainda tomar o se guinte aspecto simplificado
ta = 4nC
Xi — c
ZIdil = 42 -(nM—dX„)
Z Xi-c = 52 e n(M-X„) =72
fi o caso do exemplo de Mr. Botts em que 2Z t, =
4nC
15 16 17 18
2 1
-|Z(Xi-M+Xi-X„.}=
2 1
1
x,-c|-|i;|x.-x„|
1 1 Z I
N« 112 -.DEZBHBRO DE 1954
1 ' 2 1 tr = 2Z 1 Xi—C —I1(M—XJ....(1) 1 'n 2p = 42 2 1 Xi —C 4nC e como M + X„ = 2C M —X,.
REVISTA DO l.R.B.
entao
Ora como a parcela negativa da desigualdade e
42 > 2 X 52 — 72
{1 ^ Xi — X,n 0 Xi —X n n j
2) Quando \ t^remos
=2^ Xi —Cj—n(M —X,„) e sempre positiva, o maior valor para 0 segundo membro da desigualdade sera obtido quando
1 t. = t, € neste caso esta o exemplo que demos que apresenta os seguintes valores
1 di =56Z Xi>e- = 54
n{M-X„) =72 € evidentemente
36 = 2 X 54 — 72 Como vimos fixados
n. M e Xm poderemos farer n se tornar constante e em consequencia tambem
Xi —C o que nos leva a afirmar que
3) A taxa tu nunca e inferior a t,.
A demonstra^ao desta propriedade, de uma maneira geral. e tambem sim ples. Basta observar que para termos a hipdtese contraria a afirmativa, isto e, para termos
Incendio do "Teatro Castro Alves
■O ACONTECIMENTO PROPORCIONOU. ENTRE OUTROS ENSINAMENTOS. UMA «ALTA DEM0NSTRA(;A0 DO VALOR DA PREVlDhNClA^ (GOVERNADOR ANTONIO BALBINO)
Z Xi - X.
tenha o valor minimo. & o menor valor que pode tomar esta soma, dentro de nossas hipoteses, sera quando
E nesse caso precisariamos ter iUil<2XlXi-c|-^fXi-0t e J ' 1 ' 1 ' '
p j n .2 di < 2^" Xi—C —nM e como , 1 , ;
para Xm = 0 C = M vira
t \ ^Idi +nM<22' X-^ 2
Z|dil+nM<2±|?2^rf
1 I 2
P n 2-Uil +nM<2'i2Xi —M ou
.2^1 di + nM < nM , O que e absurdo e que se nao verifica mesmo no caso de t«< fr
eOVCRNO DO ESTACO GABINETE do GOVERNADOR
Em^...de. Ptttubtft dc IBSJi
Senbor Froaldeute:
Apras-ae felicltar V. S. pela a?3o pronta e eficlente dcsse inotituto, cuja orgwiizacao nodelar peraltiu, no tocante ao inoondio do "Teatro Caetro.Alves", no procesoanento rapldo da llquldackO dos vultoeoB prejufeos havidos, A arte teatral 4 ua laportante fator de cultura. Hao floresoe, nao se expands, tofiavia, quandc se reseentr de adsquadas caaae de eopetaculoe. Destao necesr-ita, tanto quando o progresso clentifico, que carece de laboratorio, ?rocurou o mcu Governo, oob a construqao do "Teatro Castro Alves", dotar o Ertado da Babla oon a aals modema e aeIhor oqulpada oasa de espetaoulos da Aaerlca do Sul, vlBaodo Jus tamente a um oaior lopulso da atlvldade teatral, 3uae infltalatoee, porem, em decorrencta do Inceudlo que traunatiaou a.opinl3o p4tlica de todo o pafs. ficaram grands mente danlfloadas. Hao fora a Inetltulsao do Seffuro mvado.ouja aGao reparadora male uma ver, velo dar alta demonstra?-o do. valor da prevldlacia, e hoje eatarfamoP todos a laiaentar a prrda Irreparavel de um grande patrlaonlo nSo so looblllarlo e^ arquitetonloo, mas, sobretuSo, soeial, pelo papel que Ihe eeta reservado na evolusao cultural do noeso povo.
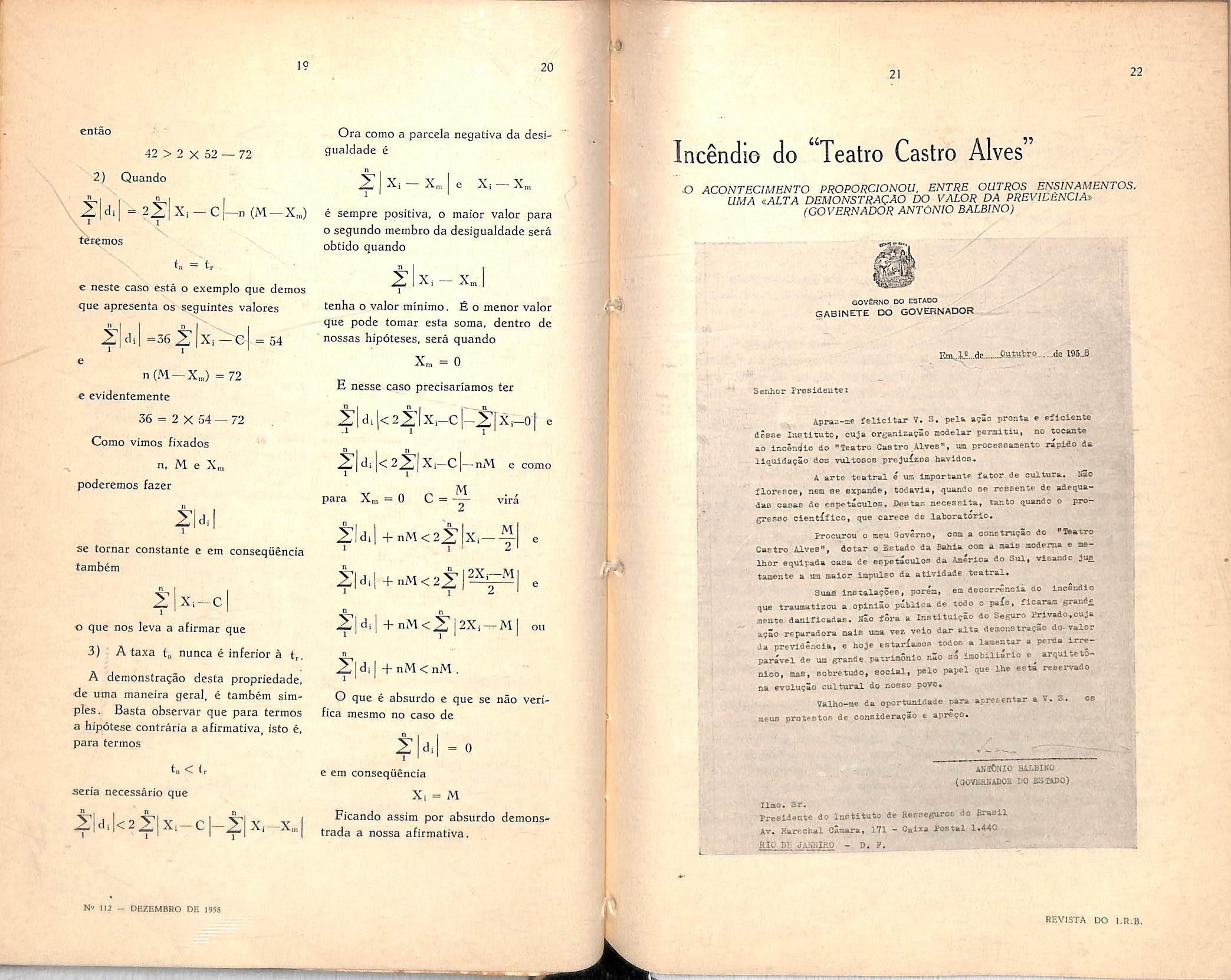
7alho-ae da oportunldade para apresentar a V. S. oq aeua protfotoo de oonoideraqao e apreqo.
d J<2Zl Xi- C 1-2^1 Xi-X„
I ^ 1 I ' 1
e em consequencia
n 2: 1 di = 0 scria necessario que
Xi = M
Picando assim por absurdo demonstrada a nossa afirmativa.
Ilao. Sr.
AKT&NIO BAISXNO (aOVEfii.iAEOB DO SSOSO)
Preeldente do Instituto de Reesegurce do Brasil
Av. Rareohal Caaara, 171 - Oal*« Postal l.UO
LRic- B?; Janeiro - i>. p.
1? 20
K' 112 ~ DEZEMBRO DE 1958 •M 21 22
%'I •f. .'I 1 REVISTA DO I.R.B, iii-i'nifar.iwir
Coexistencia da livre empresa da intervengao do Estado
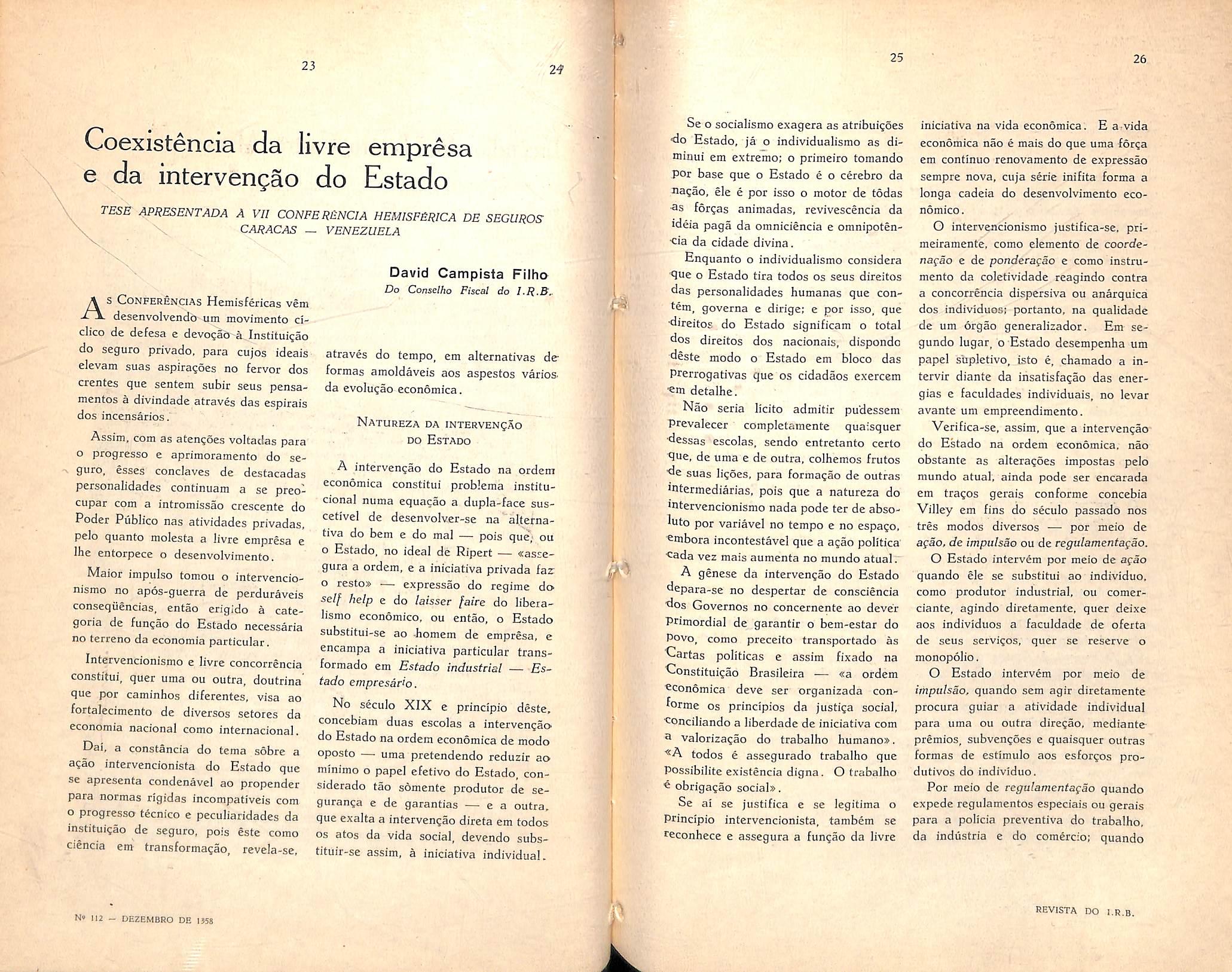
APRESENTADA A VII CONPERENCIA HEMISFARICA DE SEGUROS CARACAS —
AS CoNFERENClAs
Hemisfericas vem
desenvolvendo um movimento ciclico de defesa e devo^ab a.Instituigao do seguro privado, para cujos ideais elevam suas aspira?6es no fervor dos crentes que sentem subir sens pensainentos a divindade atraves das espirais dos incensarios.
Assim. com as aten?6es voltacias para o progresso e aprimoramento do se- guro. esses conclaves de destacadas personalidades continuam a se preocupar com a intromissao crescente do Poder Publico nas atividades privadas. pelo quanto molesta a livre empresa e Ihe entorpecc o desenvolvimento.
Maior impulso tomou o intervencionismo no apos-guerra de perduraveis conseqiiencias. entao crigido a categoria de fun^ao do Estado necessaria no terreno da economia particular.
Intervencionismo e livre concorrencia constitui, quer uma ou outra, doutrina que por caminhos diferentes, visa ao fortalecimento de diversos sefores da economia nacional como internacional.
Dai, a constancia do tema sobre a a?ao intervencionista do Estado que se apresenta condenavel ao propender para normas rigidas incompativeis com o progresso tecnico e peculiaridades da institui?ao de seguro. pois este como ciencia em transforma^ao, revela-se,
David Campisia Filho
Do Conselho Fiscal do I.R.B..
atraves do tempo, em alternativas de formas amoldaveis aos aspestos varios. da evolu?ao economica.
NatuREZA da INTERVENgAO
DO Estado
, A intervengao do Estado na ordem economica constitui problema institucional numa equacao a dupla-face suscetivel de desenvolver-se na alternativa do bem e do mal — pois que'; ou o Estado, no idea! de Ripert — «assegura a ordem, e a iniciativa privada far o resto» — expressao do regime do self help e do laisser faire do liberalismo economico, ou entao, o Estado substitui-se ao -homem de empresa, e encampa a iniciativa particular transformado em Estado industrial — Es tado empresario.
No seculo XIX e principio deste, concebiam duas escolas a intervengao do Estado na ordem economica de modo oposto — uma pretendendo reduzir ao minimo o papel efetivo do Estado, considerado tao sdmente produtor de seguran^a e de garantias — e a outra, que exalta a intervengao direta em todos OS atos da vida social, devendo substituir-se assim, a iniciativa individual.
Se o socialismo exagera as atribuigoes <lo Estado, I'a o individualismo as diminui em extremo: o primeiro tomando por base que o Estado e o cerebro da Jiagao, ele e por isso o motor de todas -as forgas animadas, revivescencia da ideia paga da omniciencia e omnipoten<ia da cidade divina.
Enquanto o individualismo considera ■que 0 Estado lira todos os seus direitos das personalidades humanas que contem, governa e dirige: e por isso, que ■direitos do Estado significam o total dos direitos dos nacionais, dispondc deste modo o Estado em bloco das Prerrogativas que os cidadaos exercem ■em detalhe.
Nao seria licito admitir pu'dessem Prevalecer completamente quaisquer 'dessas escolas, sendo entretanto certo que, de uma e de outra, colhcmos frutos ■de suas ligoes, para forma?ao de outras 'ntermediarias, pois que a natureza do intervencionismo nada pode ter de abso^uto por variavel no tempo e no espago, embora incontestavel que a agao politica' eada vez mais aumenta no mundo atual."
A genese da intervengao do Estado depara-se no despertar de consciencia ■dos Governos no concernente ao dever Primordial de garantir o bem-estar do Povo, como preceito transportado as ■Cartas politicas e assim fixado na 'Constituigao Brasileira ■— «a ordem economica deve see organizada conforme OS principios da justiga social, eonciliando a liberdade de iniciativa com u valorizagao do trabalho humano», ■eA todos e assegurado trabalho que Possibiiite existencia digna. O trabalho e obrigagao social».
Se ai se justifica e se legitima o Ptincipio intervencionista, tambem se reconhece e assegura a fungao da livre
iniciativa na vida economica. E a vida economica nao e mais do que uma forga em continuo renovamento de expressao sempre nova, cuja serie inifita forma a longa cadeia do desenvolvimento eco nomico.
O intervencionismo justifica-se. primeiramente. como elemento de coordena^ao e de ponderagao e como instrumento da coletividade reagindo contra a concorrencia dispersiva ou anarquica dos individuos; portanto, na qualidade de um orgao generalizador. Em segundo lugar, o Estado desempenha um papel slipletivo, isto e, chamado a intervir diante da insatisfagao das energias e faculdades individuals, no levar avante um empreendimento.
Verifica-se, assim, que a intervengao do Estado na ordem economica, nao obstante as alteragoes impostas pelo mundo atual, ainda pode ser cncarada em tragos gerais conforme concebia Villey em fins do seculo passado nos tres modos diversos — por meio de afao, de impulsao ou de regulamentagao.
O Estado intervem por meio de agio quando ele se substitui ao individuo, como produtor industrial, ou comerciante, agindo diretamente, quer deixe aos individuos a faculdad.e de oferta de seus servigos, quer se reserve o monopolio,
O Estado intervem por meio de impulsao, quando sem agir diretamente procura guiar a atividade individual para uma ou outra diregao, mediantepremios, subvengoes e quaisquer outras formas de estimulo aos esforgos produtivos do individuo,
Por meio de regulamentagao quando expede regiilamentos especiais ou gerais para a policia preventiva do trabalho, da industria e do comercio; quando
23 2^
nncf r-).rti » TESE
'PCir
VENEZUELA
N* 112 _ DEZEMBRO DE 1«8 25 26
REVISTA DO l.R.B, -L.
determina formalidades previas: quando impoe condigoes ao exercicio de uma atividade: quando, enfim, coordena um sistema preventive.
A realidade contemporanea ainda ressentida da influencia do Estado ^ totalitado, traz a evidencia que as tres ^formas de intervencionismo tendem a se absorver naquela que englobara o conjunto das atividades economicas, fenomeno cujo inicio manifesta-se na descentralizagao administrativa mediante as autarquias e nas nacionalizagoes, processo sumario de estadizagao da iniciativa particular.
Nesta conjuntura delineia-se o quanto de complexo significa a intervengao do Estado nas ativiaddes do seguro privado, que pela extrema mobilidade das concepgoes politicas do mundo moderno, constitui motive de permanente inquietude dos Seguradores.
O SENTIDO DA INTERVEN5AO NO
CONCERNENTE AO SEGURO
A magnitude da Instituigao do se guro resulta de sua condigao de cobertura da economia de uma nagao e de defesa de todos os valorcs, apta que esta a combater por metodos tecnicos a inseguridade economica: por isso, o principal objeto do seguro e a protegao, seja no seguro de coisas protegendo bens e valores contra eventualidades danosas, seja no seguro de pessoas, resguardando o individuo contra eventuais necessidades de dinheiro.
O seguro constitui um eleraento estabilizador na economia, pois que prevendo uma eventual necessidade de ca pital, fornece-o em ocasiao adequada.
Desta sorte, o Estado tern interesse maximo na plenitude do funcionamento do seguro, razao ponderavcl para atrair
a agao intervencionista a que, na atuali-. dade, nao escapam homens e instituigoes.
E nao escaparia ainda mais, pelofato de ser a instituigao que oferece mais do que qualquer outra, elemento de capitalizagao de um pais, porquanto as empresas de seguros acumulam grandes capitais de inversoes, condigao essa que acaba por despectar a cobiga da administragao publica no propositode dispor de tais recursos.
Os capitais acumulados pelas em presas e por estas aplicados com <?• objetivo de cabalmente responderem elas por suas obrigagoes, resultam no manter o ritmo da economia nacional, circunstancia de considerayel alcance, principalmente nos paises economicamente subdesenvolvidos.
Forgoso de concluir-se, portanto, que o fator ponderavel da intervengao do Estado deriva do dever a que se atribuem os Governos de garantir opleno funcionamento do seguro como no de estimular-lhe expansao, pois que significa ampliar defesa ao patrimonio publico.
Exprime, assim, a aplicagao pura e simples do axioma de Bluntschli de que — «o governo tern o direito de conhecer tudo que interessa a coisa publica e o dever de agir utiimente».
Este elevado preceito costuma, todavia, deturpar-se na pratxa, convertido na arma bigumea que destinada a estabelecer a ordem pode criar a desordem, provocada na maioria das vezes per compreensao deficiente e inabilidadc de procedimento.
Da mais remota idade do seguro, desde que Ihc repontaram os primeiros
sinais de utilidade, como elemento de protegao e de equilibrio na economia, sentiram-se os soberanos no dever de organizar suas regras e principios em corpos de lei.
Assim surgiram as Ordenangas em varias cidades de Espanha, os Estatutos de outras pragas de comercio como de Genova, Hamburgo, o Guidon de la mer, as Ordenangas da Marinha de Franga, Decretais e tantas outras corapilagoes de normas e preceitos.
Ja ai o Estado manifestava grande interesse pelo desenvolvimento e aperfeigoamento do seguro, intervindo entao no sentido de estabelecer ordem no empirismo em que se baseavam as opera96es.
Entretanto, o exercicio da atividade seguradora permanecia inidividual e livre numa realizagao pratica do principio de cooperagao e de mutuaiidade, pois que se limitava o Estado em dar forma legal aos usos e costumes das pragas de comercio.
O seguro, contudo, evoluia aceleradamente para tornar-se a grande institui gao dos nossos dias, porem sua condigao de aleatorio incutia-lhe carater de aventura; o seguro maritimo derivou do emprestimo a grande aventara.
Esta conjuntura fez a razao historica que demonstra o interesse do Es tado pelo seguro e de sobejo justifica sua intervengao junto as empresas.
A primeira vez que assim aconteceu foi na Inglaterra, em meados do seculo passado quando foi reclamada a inter vengao do Poder Publico a fim de que pusesse cobro a desregramentos nas atividades de muitas empresas em flagrante descredito de uma instituigao florescente.
Gragas ao favor publico, encorajadas por perspcctivas promissoras e no torvelinho dos negocios felizes, nao tardaram muitas sociedades a enveredar por especulagoes perigosas, notadamente as de seguro de vida, que as conduziram a inevitaveis ruinas. As falencias sucederam-se durante trinta anos, afirma George Pannier, e as sociedades que tiveram esse destino eram apelidadas de «Bubble Societiess, isto e, organizagoes criadas para o logro.
Havia ao lado do verdadeiro seguro, um falso seguro, estabelecendo-se tumulto na previdencia do pais e dai, haver-se «demonstrado ao legislador que uma industria que tern por objeto fornecer seguranga a sua clientela nio pode ficar abandonada a ela propria sem OS graves inconvenientes».
Essa circunstancia releva em importancia por ter-se passado na epoca a que ilustres autores chamaram de «idade de oiro» do seguro, em plcno dominio do liberalismo economico. na patria da livre empresa, durante a «revolugao industrial®, quando prevaleciam as ideias de Adam Smith e havia certo repudio filosofico ao Estado.
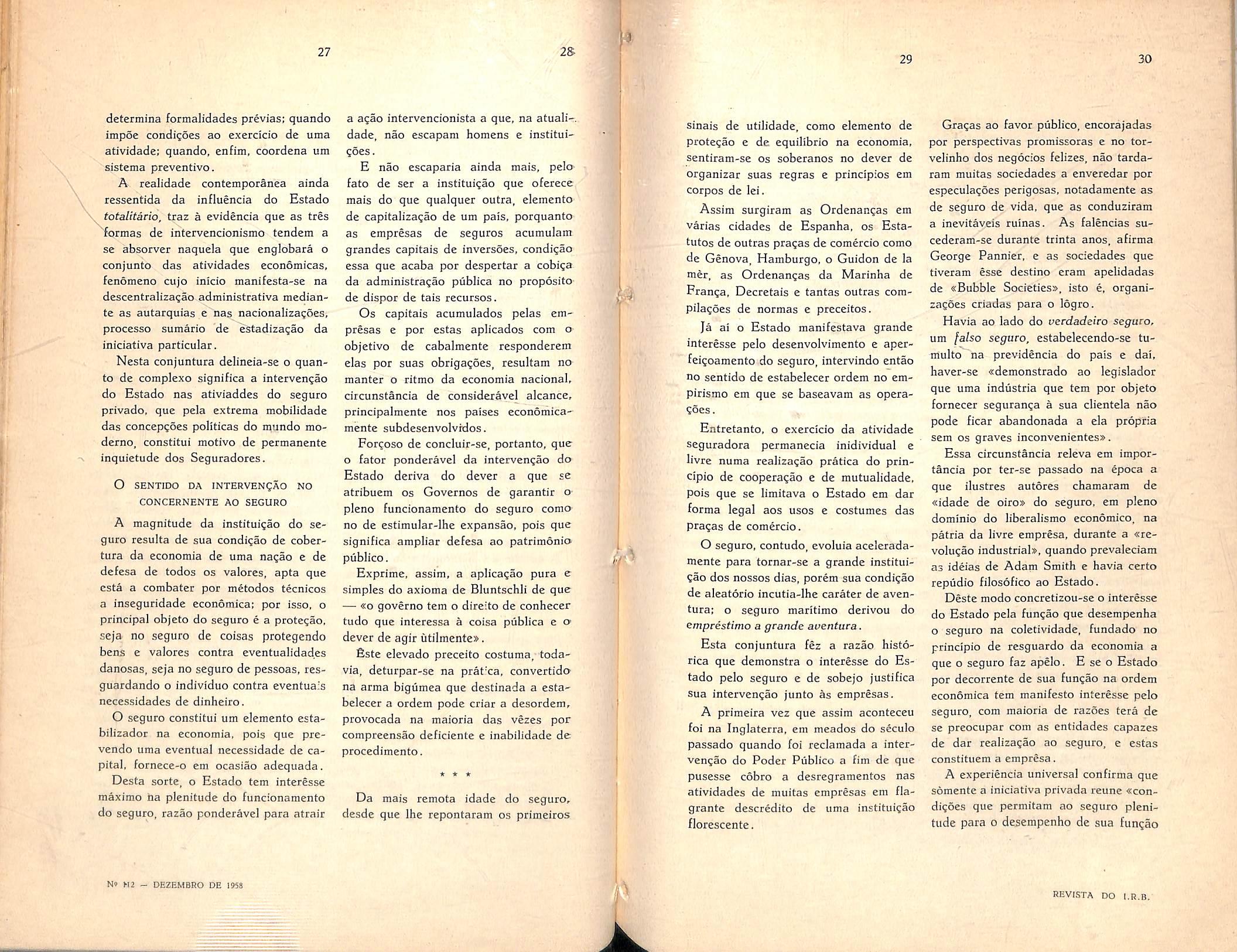
Deste modo concretizou-se o interesse do Estado pela fungao que desempenha o seguro na coletividade, fundado no principio de resguardo da economia a que o seguro faz apelo. E se o Estado por decorrente de sua fungao na ordem economica tern manifesto interesse pelo seguro, com maioria de razoes tera de se preocupar com as entidades capazes de dar realizagao ao seguro, e estas constituem a empresa.
A experiencia universal confirma que somente a iniciativa privada reune «condigoes que permitam ao seguro pleni tude para o de^empenho de sua fungao
27
NO H2 - DEZEMBRO DE 1958 2S
* * *
1 'I 4 k 29
i\ 30
REVISTA DO l.R.B.
na vida economica dos povos, dotada de surpreendente for^a capaz de enfrentar graves conjunturas, conforme atestam as nasoes nos seus esfor^os de recuperagao.»
Interv^m, portanto, o Estado como ^eio de assegurar seu constante interesse pelo aperfeigoamento e progresso da instituigao do seguro que per repousar sobre a livre empres'a, e o seu pleno exercido que constitui o objetivo principal da intervengao estatal.
Garantir a atividade da livre empresa converte-se no evitar a estadizagao eco nomica.
A prosperidade e desenvolvimento do seguro nao seriam atos a depender do estatismo politico, porem da livre empresa a qual protege a onipotencia do Estado.
A intervengao consiste no direito de vigilancia que se distingue do elemento que comanda, ordena, protege, e onde o carater governamental nao se mostra senao indiretamente, secundariamente.
A vigilancia, segundo ilustre publicista, e uma faculdade receptiva, uma «connaissance pr!se», de agao por isso limitada e jamais constrangedora.
Assim, todas as vezes que se" levantam clamores contra o Estado para condenar o controie das operagoes do se guro, ate se pugnar por sua aboligao. sao sempre provocadas pela incompre-' ensao e completo desvirtuamento da agao estatal.
No concernente ao seguro privado, a complexidadc do intervencionismo resulta do tato c da habilidade que o controie requer, por forga de ser o seguro instituigao em plena evolugao e expansao do «eternel devenit» a que
seriam inaplicaveis normas imutaveis e regras definitivas.
A agao do controie imp6e-se pelo sentido relevante e utilidade objetiva entre os dois pontos em que se desenvolve — defesa dos interesses dos segurados, isto e, direito da coletividade, e a soivabilidade das empresas, ou seu poder de liberagao.
Desempenha o controie, portanto, agao preventiva e agao de colaboragao com finalidade da realizagao do seguro mediante adequado mecanismo — a em presa privada.
Relativamente a agao preventiva, passaram-se fatos no Brasil que trariam projegao luminosa sobre-sua importancia e necessidade.
Como verdadeiro surto epidemico por volta dos anos de 1912 a 1916, proliferaram sociedades destinadas a operar era seguros de vida e dotais. Baseadas na mais primitiva das mutualidades, tais sociedades alastraram-se por todo o pais, mesmo nas menores cidades destituidas de quaisquer possibilidades, e propagaram-se como uma praga pois nenhuma delas conseguiu pagar urn peciilio integral, e muitas duraram apenas alguns meses.
Alegou-se que aquele tempo a lei, por omissa, ensejava a que um simples requerimento apoiado em nome de um politico, acompanhado de piano sumario das operagoes. assentado em mutualidade primaria, seria o bastante para obter a autorizagao governamental.
E foi assim que cerca de 200 sociedades. obtiveram autorizagao para funcionar no pais.
Era boa compreensao de vigilancia do Estado, mesmo diante da imprevisao da lei, tais sociedades nao poderiam obter
autorizagao pelo primarismo dos pianos spresentados, de patente inviabilidadc, conforme boje acontece em todos os paises que consideram como condigao fundamental, para o funcionamento da empresa, a capacidade de solvencia resultante da organizagao tecnica dos pianos das operagoes.
E assim aconteceu o inevitavel, todas ^quelas sociedades ruirara uma apos outra, fenomeno esse que certos autores chamam de molestia do seguro que. entretanto, deixa apos a irtupgao um estado de enfraquecimento da institui gao; conforme deixou uma aura de des^oralizagao, dificil de veneer.
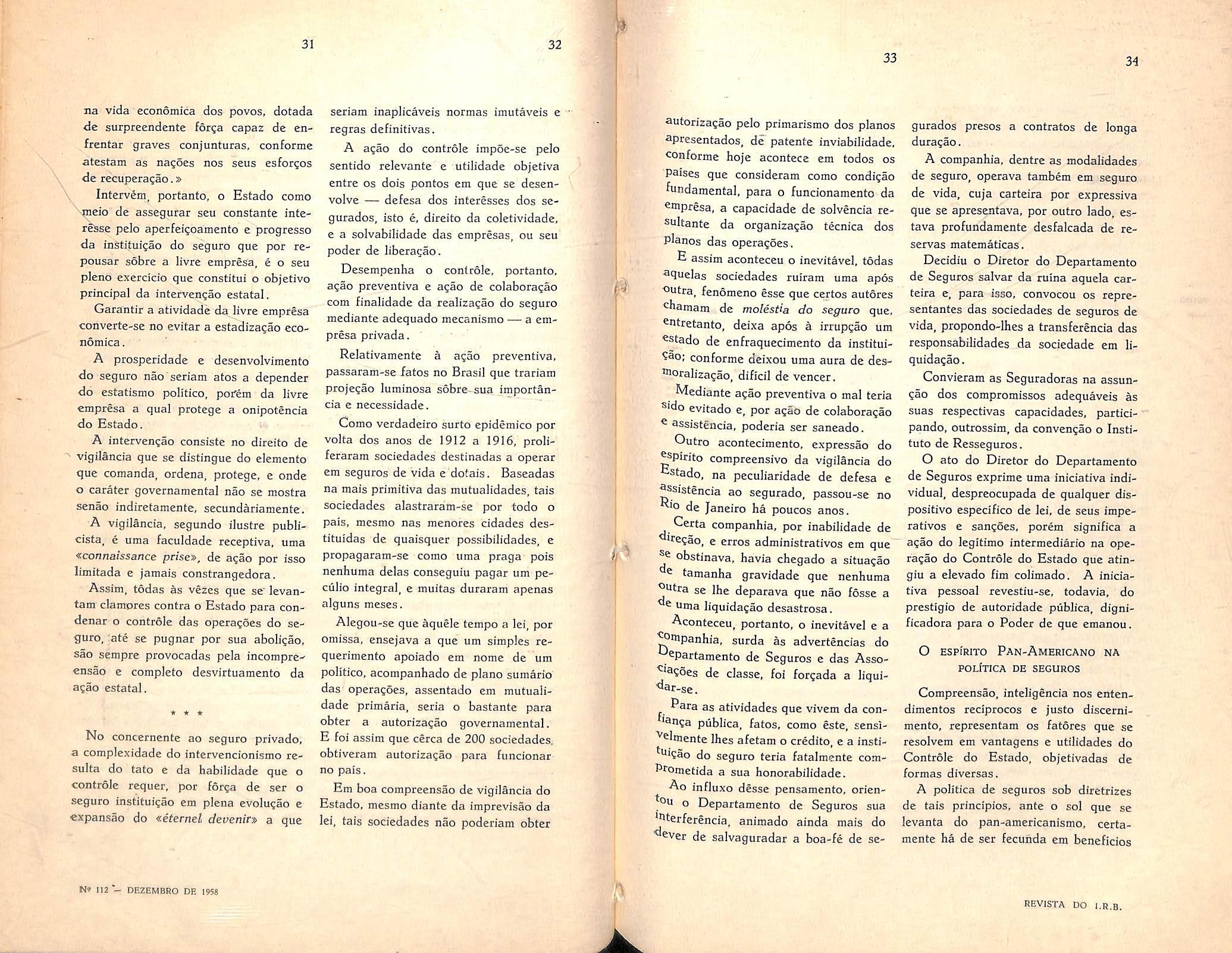
Mediante agao preventiva o mal teria sido evitado e, per agao de colaboragao ^ ussistencia, poderia ser saneado.
Outro acontecimento, expressao do ®spirito comprcensivo da vigilancia do stado. na peculiaridade de defesa e sssistencia ao segurado, passou-se no 'o de Janeiro ha poucos anos.
Certa companhia, per inabilidade de iregao, e erros administrativos em que " obstinava, havia chegado a situagao ® tamanha gravidade que nenhuma ^utra se Ihe deparava que nao fosse a ® Uma liquidagao desastrosa. Aconteceu, portanto. o inevitavel e a ^mpanhia, surda as advcrtencias do ^partamento de Seguros e das Asso^'agoes de classe, foi forgada a liqui<far-se.
f^ara as atividades que vivem da con■anga piiblica, fatos, como este, sensl^almente Ihes afetam o credito, e a insti tuigao do seguro teria fatalmente comPrometida a sua honorabilidade. Ao infiuxo desse pensamento. orientou o Departamento de Seguros sua
P^terferencia, animado ainda mais do ®'ver de salvaguradar a boa-fe de se-
gurados presos a contratos de longa duragao.
A companhia, dentre as modalidadcs de seguro, operava tambem em seguro de vida, cuja carteira por expressiva que se apresentava, por outro lado, estava profundamente desfalcada de reservas matematicas.
Decidiu o Diretor do Departamento de Seguros salvar da ruina aquela car teira e, para isso, convocou os representantes das sociedades de seguros de vida, propondo-lhes a transferencia das responsabtlidades da sociedade em li quidagao.
Convieram as Seguradoras na assungao dos compromissos adequaveis as suas respectivas capacidades, partidpando, outrossim, da convengao o Insti tute de Resseguros.
O ato do Diretor do Departamento de Seguros exprime uma iniciativa indi vidual, despreocupada de qualquer dispositivo especifico de lei, de seus impe ratives e sangoes, porem significa a agao do legitimo fntermediario na operagao do Controie do Estado que atingiu a elevado fim colimado. A inicia tiva pessoal revestiu-se, todavia, do prestigio de autoridade publica, dignificadora para o Poder de que emanou.
O ESPiRiro Pan-Americano na POUTICA DE SEGUROS
Compreensao, inteligencia nos entendimentos reciprocos e justo discernimcnto, representam os fatores que se resolvem em vantagens e utilidades do Controie do Estado, objetivadas de formas diversas.
A politica de seguros sob diretrizes de tais principios, ante o sol que se levanta do pan-americanismo, certamente ha de ser fecunda em beneficios
31 32
33 34 '-'A
N' 112 - DEZEMBRO DE 1958 REVISTA DO l.n.B.
para a instltui^ao de previdencia, tanto em amplitude como no fortalecimento estrutural.
O proposito dccidido de coopera;ao representa o trago marcante do panamericanismo cujo fim principal inspirou-se na manuten^ao da paz e da fratcrnidade. Seu sistema politico teve instrumento de execugao na Orcjanizaqao dos Estados Americanos e atualmente se transporta e evolui para piano mais elevado comportavel na a?ao direta dos Governos, ganhando assim em estimulo e realiza^oes imediatas.
Visando a que na unidade conti nental se realizem as aspiraqoes de solidariedade hemisferica das nagoes americanas. toda a imensa tarefa cquacio- • na-se na «operagao pan-amecicana:».
Desvenda-se ai panorama de largas perspectivas em que as nagoes se solidarizam nos programas econdmicos como nas reivindica^oes de suas possibilidades numa unificagao de esfor^os a fim de eliminar a <igrande chaga do subdesenvolvimento».
«Soou a hora, proclamou o Presidente Kubitschek, de revermos fundamentalmente a politica de entendimento deste hemisferio... em favor de uma nobre tarefa no sentido de criarmos algo de mais profundo e duradouro em prol de nosso destino comum».
A elimina?ao do subdesenvolvimentoexige certamente esfor^os ciclopicos que na logica da lei de causalidade resulta da coopera^ao. principio que aliado ao de seguranqa coletiva constitui um dos pilares do sistema interamericano.
O grande sentido da coopera^ao advem da extraordinaria potencialidade que- ela adquire por dominar todo o campo da atividade humana.
Desde o realismo da maior produtividade e intercambio de valores, ate ao cultural, a aIfabetiza?ao, saiide piiblica, alimenta?ao, habita^ao, sempre o principio de cooperagao desempenhara papel decisive, ensejando a que os povos do Continente vivam de forma digna e respeitavel dentro da paz e da liberdade.
A «opcra9ao pan-americana» transcende em significa?ao como simbolo dc auspicios dos Deuses, ao volver para as realizagoes do vale do Amazonas.
Os rios, nao ha negar, conservam o misterio de divindade para fecundia das terras que banham, segundo aconteceu com o Nilo.-iazendo a prosperidade do Egito, que a histdria comcmora com impressionante apoteose.
A regiao amazonica, tocada desse prestigio, compreende a Venezuelasede da VII Conferencia Hemisferica. circunstancia feliz a imprimir-lhe gran de projcgao na- politica pan-americana e de sugcstiva atualidade.
Expressando o pan-americanismo. cooperagao, entendimentos mais estreitos, equilibrio e comunidade de interesses, unidade de orientagao politicoeconomica, significa a reanimagao do objetivo ja delineado pelo Chanceler Macedo Soares em discursos pronunciados nos paises Amazonicos.
O objetivo principal — Brasil'Vens' zuela — consiste no criar vinculos mais estreitos e efetivos atraves da «Hilei® Amaz6nica», com ligagao entre as duas bacias — a do Orenoco e do Amazo nas.
Essa ideia que revive um pensamento antigo, tornou-se uma diretriz permanente para a futura politica com os paises sul-americanos reafirmada hoj® em irredutivel proposito de que em
37 grande partc depende o exito da «operagao pan-americana».
Com a criagao de vinculos atraves d'a «Hileia Amazonica®, Brasil e Ve nezuela, aproximar-se-iam um beneficiando o outro, dentro de suas possibilidades cconomicas. O incremento das relagoes entre brasileiros e venezuelanos, os contatos maiores entre dois povos, nao se fazem hoje apenas mediante troca de representantes diplomaticos mas, tambem, de elementos re presentatives das nacionalidades interessadas.
Nao se pode hoje falar em politica, sem ao mesmo tempo levar-se cm conta OS fatores eminentemente geograficos e economicos — um decorrente de outros.
Todo esse panorama que se abre a Politica economica das nagoes latinoamericanas, e tambem o do imenso apelo ao seguro privado, ao fortaleciDiento de suas energias e a politica de garantia ao desenvolvimento de sua aiagna fungao na economia das nagoes, A execugao do pan-americanismo ha de produzir sensivel melhoria nas re lagoes interamericanas, abrindo, assim, Uma era de intensificagao do progresso economico equiparavel nos efeitos, a revolugao industrial do scculo passado que foi um continue desdobrar de espectativas ao engenho humano e de Possibiiidades c confianga aos esforgos de empreender.
Naquela epoca, o seguro atingindo a extraordinaria expansao, constituia-se em ciencia, e na atualidade, por sua conexao com a economia, sera a instituigao, sobre a qua! hao de se refletir as auspiciosas alterag5es das relagoes economicas.
No organismo economico de um povo, o seguro integra-se como ele-
mento de protegao e. assim, respira e palpita na vida nacional.
Portanto, sera de interesse primada! do Estado o fortalecimento do seguro privado e plena efidencia de seu poder de seguridade, pels que assegurar o espirito de previdencia e assegurar o bem-estar economico e social.
Ante 0 irretorquivel dessa contingencia, a politica de seguros absorve-se no pan-americanismo, devendo fazer, desse ponto principal, sua maxima preocupagao, pois que e o sentido de sua razao de ser.
O SEGURO PRIVADO E A LIVRE EMPRESA
Promover o seguro a maiores reali zagoes e obra da livre empresa que exprime ao maximo o principio de co operagao, como o exercicio profissional de uma atividade economica organizada.
T) seguro e estruturalmente produtoda iniciativa particular e, se tal aconteceu nas suas forraas rudimentares, tambem assim evoluiu e hoje e absolutamente atribuivel a livre empresa. A previsao que se incorpou a tecnica do seguro como elcmento cientifico e um produto hist6rico da iniciativa privada e nao do Estado, pois que resultou das primitives associagoes de mutualidade e assistencia, como as Glides e outras.
O seguro fez-se ciencia porque revestiu a preuisao de condigao cientifica com elementos da estatistica. podendo desta sorte determinar a [reqiiincia que Ihe incutiu fixidez na mobilidade do terreoo do aleatorio; e, portanto, o sen tido de iniciativa particular foi dominante em toda a evolugao do segura privado.
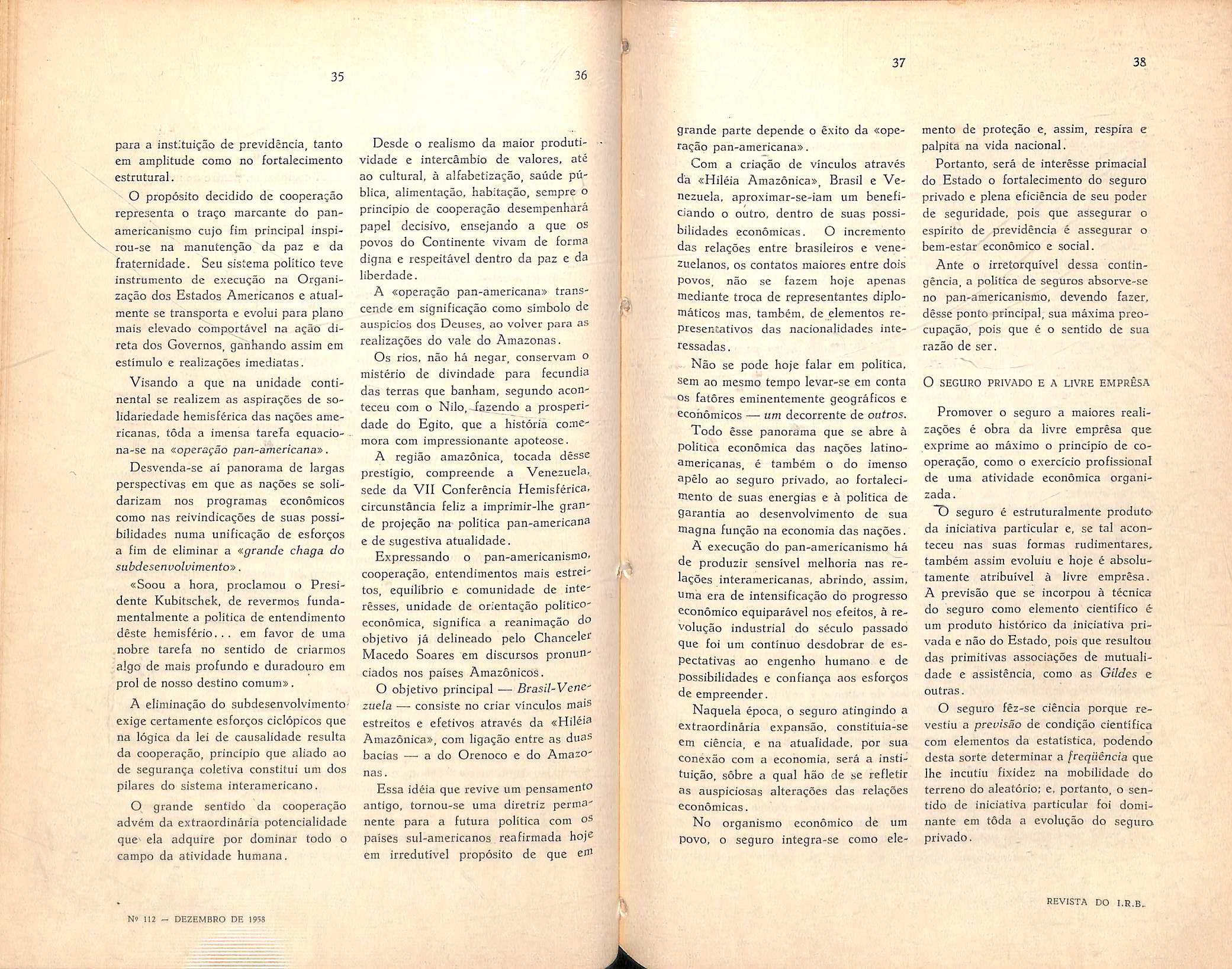
35
36
38
N» 112 - DEZEMBRO DE 1958 REVISTA DO I.R.B.
Atesta a hisforia que para o progresso do seguro concorreu o fato de liaver liberdade de experiencia, liberdade de pesquisa e, conseqiientemente. a fim de que atinja a seus objetivos faz-se mister que continue a repousar na liberdade de iniciativa.
Assim sendo, a a?ao do Controle do Estado nao pode ser outra com rela^ao a livre empresa, scnao a de garantir a que sua atividade se desenvolva sem obstaculos. Ademais, muitas das regras do seguro tern carater de ordem pubJica e, por isso. sua normalidade e de interesse coletivo. motivo para atrair a vigilancia do Estado.
Imp6em-se, dai, que a agao do con trole do Estado ha de ser de alta compreensao, penetrada do espirito de colaboragao, de entendimento dos interesscs reciprocos em pcrfeita identifica^ao da magnitude do poder dirigente com as atividades que Ihe sao subordinadas e. deste modo, sera entao de respeito e estimulo a livre empresa.
E, desta sorte, a politica de seguros, impregnada do espirito pan-americano. conduzira a instituigao do seguro privado a grandes destines, fortalecida pcla colaboragao em magnifica afinidade de vistas com as na^oes conti nentals.
Abre-se assim promissora espectativa ■de aceleragao do progresso do seguro privado, tanto sob o aspecto de aperfei?oamento do seu mecanismo, como na propagagao de suas vantagens.
O Institute de Resseguros do Brasil representa um valioso elemento na propulsao desse notavel empreendimento. bastando, para tanto, dar apenas maior amplitude a obra que ja fem realizado.
O I.R.B, constitui uma sociedade paraestatal, porem jamais invocou nem
se valeu de tais prerrogativas que resultassem em constrangimento ou melindre para a livre empresa, pautando o exercicio de sua atividade no sentido e no ritmo das entidades privadas. Sua atuagao concilia-se, portanto, com o objetivo que sustentamos do controle do Estado — incrementar o seguro e estimular a livre empresa. * * *
Permanece, entretanto, um ponto capaz de retardar a expansao do se guro dificultando-lhe o desenvolvimento a que abordamos antes para prevenir do que para reformat.
O imposto sobre opera^oes de seguro foi a principio criado para custeio dos servigos de fiscalizagao do Poder Piiblico. Cresceram naturalmente consentaneo o progresso do seguro, tornandose, assim, apreciavel fonte da receita publica.
Nao se deve perder de vista no estabelecimento de impostos a complexidade dos interesses em presenga. Como primeira condigao, o imposto nao deve entravar a produgao, nem estancar uma fonte de renda — isto e. que seja facilmente suportavel pela atividade sobre a qual recai, e jamais causador de sacrificios.
O produto da industria de seguros consiste na confianga e seguridade; conbanga na persistencia no trabalho criador de valores, e seguranga na premiinigao contra acontecimentos danosos.
Embora de alcance elevado, e coisa abstrata significando a previdencia humana no rcsguardo de riquezas. Nao se pode, por isso, equiparar o seguro a mercadorias de consumo por sua con digao preventiva de defesa economica.
Tributar o seguro, evidentemente, c faxar o espirito de previdencia cuja
propagagao, com facilidade de aplicagao, representa supremo interesse do Estado.
Segundo a ligao de Jeze e Boucart todo imposto implica com efeito um mmimo de injustiga; a melhor tributagao contem sempre uma parte de erro. Desde que nao corresponda exatamentc as verdadeiras faculdades do contribuinte, o imposto e iniquo.
O imposto deve ser condizente com o interesse do Estado que sendo pelo desenvolvimento do seguro. como reflexo do desenvolvimento economico
Cm geral sera, portanto, pelo comedimento no langamento de impostos.
O poder Piiblico nao poderia ser tao flagrantemente contraditorio, per con*^uzir a frustragao elemento a que se Propoe de aniniar.
Ao langamento de impostos sobre •'Cguros devera presidir certa razoabiI'dade, a fim de que sua contribiiigSo Para os cofres piiblicos mantenha-se como obrigagao normal de todas as stividades no concorrer para a despcsa publica.
E precise nao se perder de vista a capacidade contributiva do seguro que "ao representa fonte de riqueza. c nesse isccrnimento conciliam-se os interesses Reciprocos do Estado e da instituigao
Cio seguro privndo.
CONCLUSAO
* ^ politica de seguros animada de espirito pan-americanista conduzira. certamente a instituigao do seguro pri vado a maior expansao e aprimoramento tecnologico.
2 — Porquanto, visando a «Opera?ao pan-amencana» eliminar o subdesenvoivimento, resulta no desvenJar
novos horizontes ao domlnio do se guro, pois que combater o pauperismo c possibilitar a prosperidade, o melhor dos climas para o seguro.
3 — Assim, a intervenglo do Estado, atraves do orgao de controle das operagoes de seguros, sob arejamento de ideais Mtalizantes seria, portanto de compreensao, de cooperagao com as en tidades scguradoras e de incentive ao progresso do seguro.
4 — 6 precise compreender que o Estado deve ter o maximo interesse pelo fortalecimcnto do seguro, como fator de equilibrio economico e de protegao a bens patrimoniais e, logicamente, tera identico interesse pela capacidade de solvencia da empresa que por forga de peculiaridade tecnica, poem era funcionamento o seguro.
5 — A elevada significagao do Con trole do Estado no sentido de velar pelo incremento e diviilgagao do seguro cm virtude do irretorquivel principio de causali.dade, e tambem o de zelar pela affvidade das empresas dentro das formas legais de suas respectivas organiragoes.
6 — For conscguintc, o legislador devera ter maior moderagao no tributar as operagoes de seguro. pois que sobrecarrega-las de onus fiscais e entravar 0 espirito de previdencia e dificultar uma fungao de defesa na economia do pais.
7 — Na inteligencia dessa compreensao em que se harmonizem devet do Estado e direitos da livre iniciativa a coexistencia do Controle vigilante e da empresa rcalizadora sera de flagrantc atualidade a luz fecunda e renovadora do pan-americanismo.
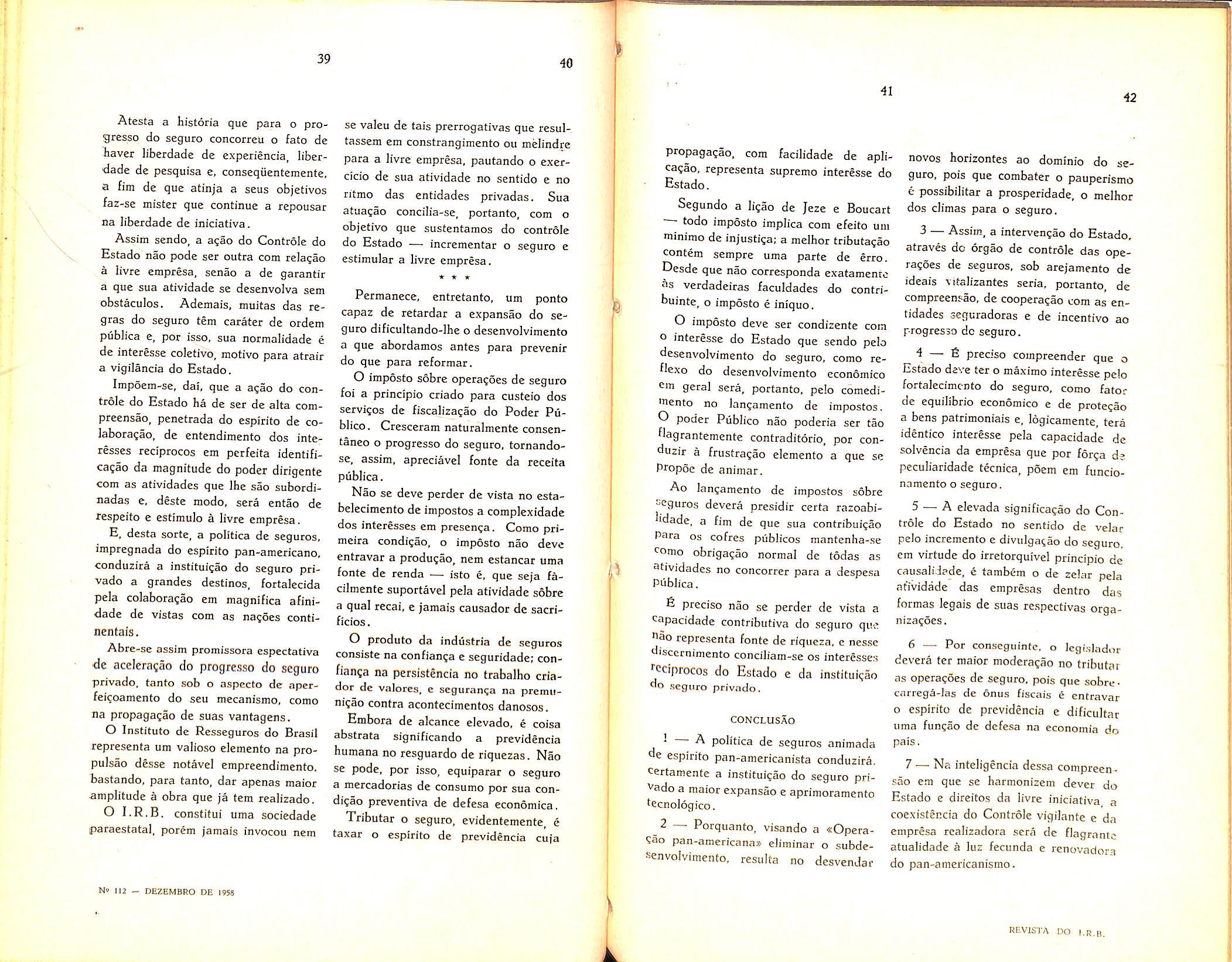
39 40 I
N® 112 — DEZEMBRO DE 1958
41 42
REVISTA DO l.R.B.
Comercio maritimo internacional
Jose Cruz Santos CapitSo de Mar e Gucrra Engenheico Naval
OCOMERCIO
maritimo internacional e realizado por dois grupos distintos de navies, um deles composto pelos que operam em linhas regulares com viagens predeterminadas. e o outro, formado pelos q ue nao obedecem a percursos <3U programas preestabelecidos e que sao, com muita propriedade, denominados tramps.
Essa denominacao, que significa literalmente «vagabundo», e um modo muito expressive de indicar alguns •desses errantes do mar, que freqiientam todos OS portos do mundo, onde quer •que haja carga a transportar ou frete a receber. Contudo, nos dias de hoje, a complexidade das exigencias do co mercio internacional tern causado alteragoes no molde tradicional da flexibilidade dos tramps e, em muitos casos, a designa^ao nao e mais tao propria quanto costumava sec.
Geralmente falando, os navios de linhas regulares (liners) transportam •carga geral, em oposi^ao aos tramps. que carregam cargas a granel, Entretanto, tal distin^ao, ainda que basicamente correta, aceita muitas exce^es e nao e tao rigida como poderia parecer a primeira vista. Ha casos, a que nos referiremos adiante, em que suas esferas •de a^ao coincidem e a caracteriza^ao do tipo de opera^ao por esse indice perde bastante de seu valor. Melhor definigao do tramp decorre do fate de
que ele e afretado e que a sua operagao decorre de um cqntrato especial, a «carta de afretamento», e que ele nao e mantido numa linha regular com horarios predeterminados.
A maneira com6~os dois grupos de navios operam e bastante diferente, aparecendo lado a lado extremes de bem regulados carteis internacionais, como e 0 caso das «conferencias» formadas pelos liners, e a mais livre concorrencia que se poderia esperar no mundo complexo atual, no caso dos framps.
Os armadores cujos navios operam em linhas regulares sao geralmente associados. formando o que se denomina «conferencias de fretes», entendendo-se que os fretes uniformes estipulados pelas conferencias sao cobrados por todos os membros que freqiientam a mesma rota, sem «rebates» ou favores aos cmbarcadores que possam representar redu?ao no valor do frete. Tal dispositivo impede variagoes descontrc ladas das taxas de fretes quando variam as condigoes do comercio mundial e. conseqiientemente, a demanda da «pra9a» nos navios.
Tambem estabelecem as conferencias, em muitos casos, que os armadores
concedam abatimento no valor do frete aos embarcadores que se comprometem a usar exclusivamente os navios mem bros. Assim, OS embarcadores que nao tern contrato de exclusividade pagam frete superior ao cobrado aos outros embarcadores, assim protegendo-se a conferencia contra os outsiders, isto e, OS navios que, nao pertencendo a con ferencia, fazem reguiarmente a mesma linha, compctindo com os navios da -onferencia.
Ao contrario do que sucede com os liners, nao dispocm os tramps, gcralwente, de qualqucr protegao ou dispo sitive para garantir fretes satisfatorios ou prevenir flutuagoes cxtremas de reeeita, estando sujeitos a lei da oferta e procura, de um modo pouco comum no regulado mundo moderno de carteis, excedentes, retenqoes, cotas, subven?6es, interesse nacional, etc.
Os tramps sao contratados por meio de «carta de afretamento» para viagem Ou viagens, ou periodo determinado de tempo e, uma vez terminado o contrato, Precisa o armador achar outro trabalho Para seu navio. Geralmente falando, em epoca de maus negocios, os arma dores de tramps so come^am a retirar seus navios do trafego quando as reoeitas de frete nao sao suficientes para fazer frente aos gastos da operagao do navio, sem consideragao as despesas indiretas fixas de sua organizagao.
Ate esse ponto, mesmo com acentuada queda de rcceita, continua a oferta quase integral de praga no mercado de afretamento, ainda que com evidente declinio na demanda. Nao e de admirar, pois, que em varias ocasioes. OS armadores de tramps tenham pro-
curado processo de estabilizar sua receita quando o mcrcado se apresenta desfavoravel..
A primeira tentative nesse sentido no seculo atual foi patrocinada pela Franga. em torno de 1905, fixando fretes minimos para veleiros em viagem de volta a Europe, usando como base valor tal que resultasse em lucro nulo, sem entretanto permitir prejuizo para os armadores. Mais ou menos na mesma ocasiao, os armadores engajados no transporte de madeira do Baltico para a Europa ocidental, que e feito por tramps, estabeleceram fretes minimos para seu transporte e criaram entre eles um tipo padronizado de carta de afretamento. fixando tambem regras uniformes para a medida da madeira",' sua carga e descarga e seu seguro. Novamente, durante a grande depressao economica entre 1930 e 1939. houve um forte movimento, desta feita com o auxilio do Governo Britanico, para estabilizar as taxas de fretes dos tramps, tendo sido criada uma «comissao administrativa», que conseguiu efctivamente elevar os fretes em alguns percursos. notadamente no transporte de trigo do Rio da Prata para a Europa, conquanto tenha havido forte reagao por parte dos embarcadores.
Nao obstante esses resultados. ha grandes duvidas sobrc se foram obtidos pela aplicagao do sistema estabelecido ou se foram devidos a outras causas, uma vez que, logo a seguir, com o agravamcnto das relagoes internacio nais. crises diarias acontecendo em sucessao impressionante, houve elevagao geral do movimento maritimo, que se acentuou ainda mais com o inicio da guerra, em setcmbro de 1939. Com o
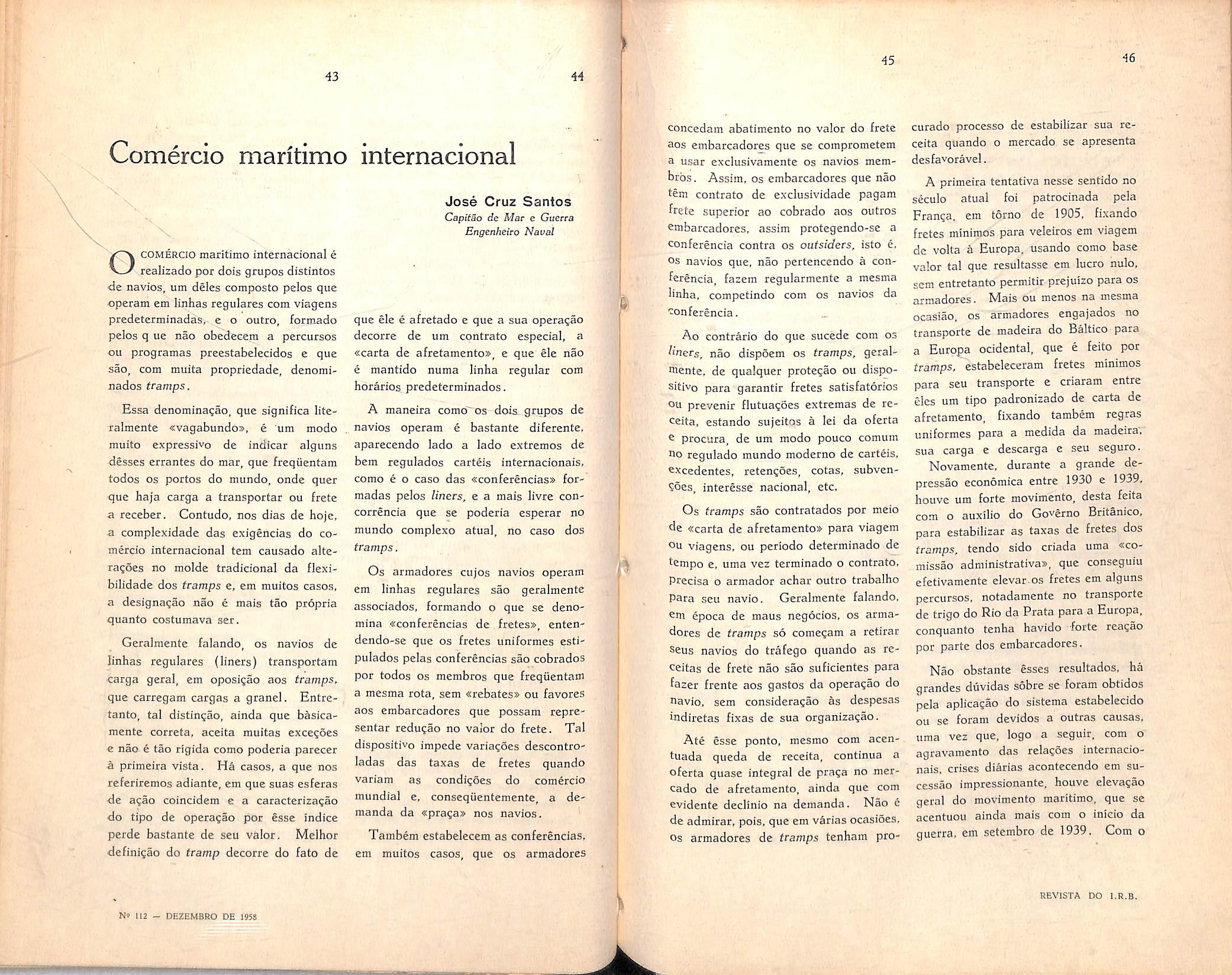
43 44 45 46
\
N» 112 - DEZEMBRO DE 195S REVISTA DO l.R.B.
movimento ascendente dos fretes e a preocupagao imediata com assuntos outros de vital interesse, cessaram todas as providencias que se haviam esbogado para a «racionalira?ao» dos fretes dos tramps naquela epoca.
interessante observar que, naquele •- periodo, OS armadores de liners cooperaram ostensfvamente com os armadores de tramps nos pontos que sua atividade coincide, que e o transporte de cargas a grand pelos liners. Como estas cargas sao transportadas em poroes que, de outro modo, viajariam vazios, e^como em muitos casos, a confereocia nao estipula taxa de frete para tais cargas, a falta de cooperagao dos arma dores dos liners poderia arruinar completamente a tentativa de «racionalizaqao» dos fretes dos tramps.
Os pontos de contato entre as atividades dos tramps e dos liners sao freqiientes mas, de urn modo geral, nem OS tramps se adaptam com propriedade ao transporte de carga geral. nem os liners servem especiairaente bem ao transporte de cargas a grand, salvo em condigoes especiais.
A carga geral, sendo normalmentc de alto valor unitario, exige transporte rapido e cuidados especiais; alem disso, o volume total transportado de cada vez raramente completa o carregamento integral de um navio, o que dificulta apreciavdmente a possibilidade de ser afretado um tramp para seu transporte. O tramp, naturalmente, adapta-se mdhor a cargas a granel, que nao exigem raarcagao ou contagem, e que sao oferecidas em quantidade tal que toda a-8praca» do navio e tomada. Mas, como em tudo o mais, ha casos
limitrofes em que navios de linhas regulares transportam cargas que normalmente seriam destinadas a tramps e vice-versa, conforme a situa^ao do mercado de fretes e as condi^oes especiais em que a carga e oferecida.
Outro processo imaginado pelos armadores de tramps para sua prote?ao contra oscilagoes indesejaveis do mercado sao as subven^oes diretas dadas pelo governo. Ha anos lutam os arma dores de tramps dos Estados Unidos. ate agora sem sucesso, para conseguir subvengoes do tipo das que sao concedidas aos armadores de liners cujos navios sao empenhados em linhas consideradas pelo Governo como sendo de «interesse nacional». ~ "
Os armadores de tramps rorte-americanos gozam, entretanto, de privilegios especiais, em face dos programas de «excedentes» e «ajuda», uma vez que as leis estabelecem que, no rainimo metade, sejam embarcados em cascos de bandeira dos Estados Unidos. Isso Ihes permite cobrar fretes que sao de duas a tres vezes maiores que os fretes correspondentes em navios de outras bandeiras.
As vantagens todas concedidas aos armadores dos Estados Unidos decorrem da aceitagao pacifica do postulado de que os custos de construgao e operagao sao muito mais eievados naquele pais do que no resto do mundo. Tal-principio, que, alias, tudo indica ser verdadeiro, serve de base as amplas subvengoes que sao pagas aos arma dores dos navios que fazem as linhas regulares consideradas como sendo «essenciais» ao interesse nacional, assim como justificam o liberal auxilio e as
vantagens concedidas aos armadores que constroem.seus navios em estaleiros dos Estados Unidos.
Contudo, as vantagens referidas sao, quase exclusivamente, concedidas aos navios de linhas regulares e, salvo algumas facilidades referentes a garantia de financiamento, nao gozam, os armadores de tramps, de privilegios especiais de subvengao direta. Indiretamente recebem os beneficios das chauiadas leis 50/50 sobrc cargas «de auxilio» e excedentes de agricultura. Cabe tambem direr que ha dispositivos identicos abrangendo as cargas gerais financiadas por estabelecimentos de credito do Governo dos Estados Unidos. dos quais se aproveitam os navio.s de linhas regulares.
As leis 50/50 retiram do mercado mternacional de afretamento uma quan tidade apreciavel de carga, causando forte reagao dos paises maritiraos, cuja receita de fretes e importante parcela da renda nacional. Tais leis, naturaluiente, so aproveitam a navios de ban deira norte-americana, criando dois uiercados distintos: o internacional e o de bandeira dos Estados Unidos. Neste ultimo, como se disse, os niveis de fretes sao sensivelmente mais eleVados.
Ainda outra tentativa de ambito internacional para «racionali2ar» fretes de tramps surgiu recentemente com grande destaque, quando foi apresentada proposta de armadores gregos. famosos operadores de tramps, no sentido de que certo niimero de navios fosse retirado do comercio maritimo, Cm base voluntaria. Tanto quanto seja Conhecido, os resultados dessa proposta
foram nulos e ela jamais chegou a ser aplicada seriamente.
Talvez as extremas rivalidades, criadas em anos de acirrada concorrencia, tenham sido uma das razoes do insucesso mas, evidentemente, ha serias duvidas sobre se seria possivel obter elevagao de fretes adequada para indenizar de algum modo os armadorescujos navios fossem retirados do trafego.
Assim, pode dizer-se com bastante seguranga que, saWo os tramps nortearaericanos, que sao protegidos pelas leis 50/50, o mercado de fretes detramps e o mais livre possivel, havendo, contudo, limite minimo, abaixo do qual os armadores deixam de operar seus navios. Naturalmente, esse nivel mi nimo varia de armador para armador e de navio para navio, de acordo com as qualidades intrinsecas de economia ou o rendimento com que a organizagao o opera. Assim e que os navios mais incficientes sao retirados do trafego em primeiro lugar, tornando a situagao mais favoravel para os navios de maior rendimento e que podem, portanto, resistir, melhor as condigoes desfavoraveis do mercado.
Ate agora os navios denominados Liberty, construidos em grandes quantidades pelos Estados Unidos durante a guerra, tern servido de referencia para a analise das condigoes do mercado de tramps. Contudo, tern surgido recen temente tendencia para usar outro termo de comparagao, uma vez que. nao somente estao ficando antigos, como tambem seus padroes de economia ja deixam algo a desejar face aos modcrnos navios empregados no comercio mundial.
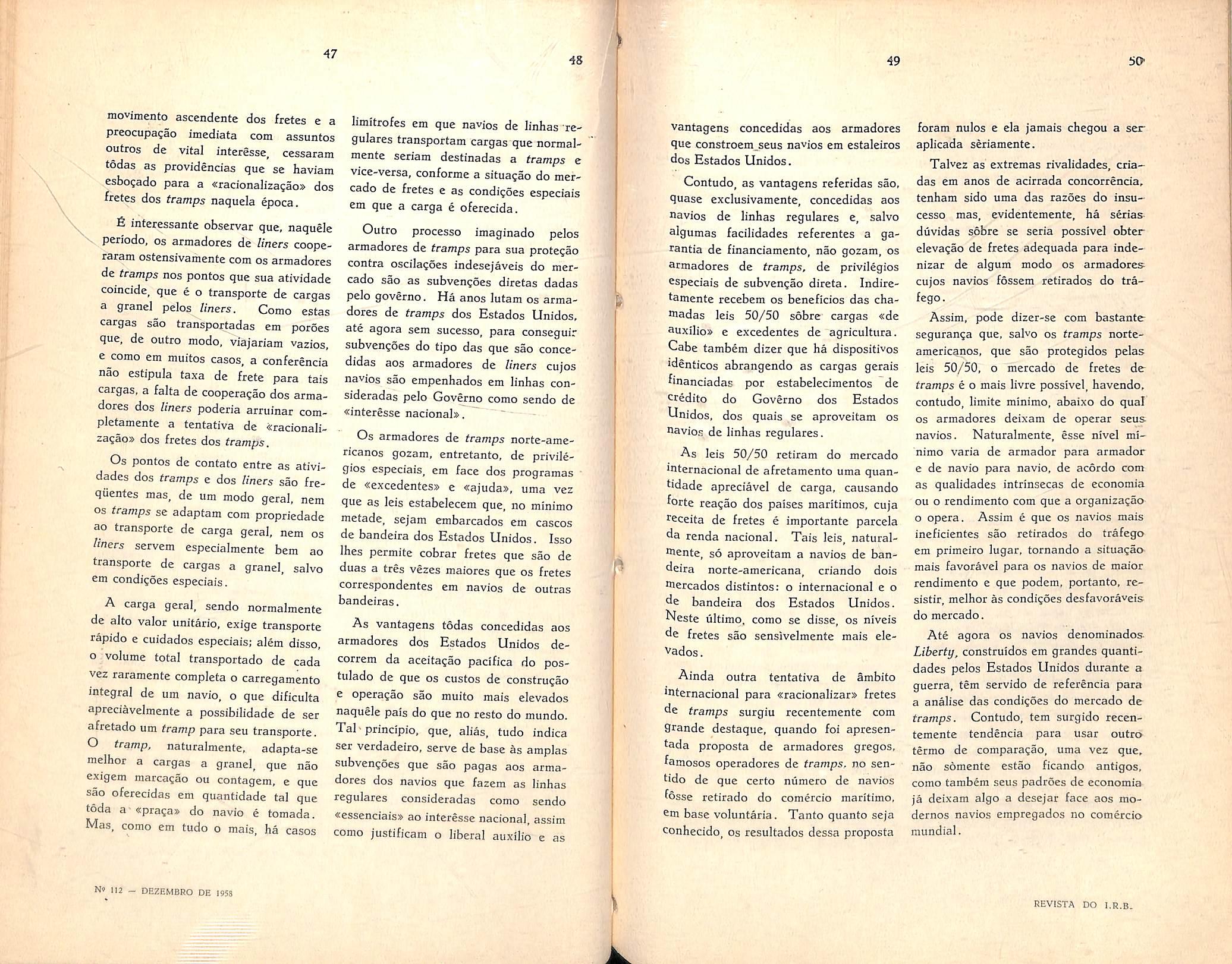
47 48
N» 112 - DEZEHBRO DE 1958 49 59
REVISTA DO l.R.B.
O navio (ramp era, quase que por defini?ao, um na^io sem refinamentos. sujo e liialtratado, um vagabundo do mar, pronto a seguir para qualquer destine imprevisivel. Entretanto, a tendencia moderna para navios maiores, em busca de maior economia cspedfica, "~^<em alterado profundamente essa ideia tradipional. havendo hoje tramps modemos e eficientes, que facilmente vencem a concorrencia dos navios menores ou antiquados. De fato, os maiores navios cargueiros do mundo sac tramps, isto e, destinam-se a transportar cargas a granel, sao contratados por meio de carta de afretamento e nao estao estritamente sujeitos a linhas regulares predetreminadas por periodos iiimitados.
Em vista de suas caracteristicas proprias, nenhum indicc mclhor reflete o estado de atividade do comercio maritimo internacional do que o mercado de afretamento. Ao mesmo tempo pode servir de rcferencia para todas as atividades correlatas, tais como pre^os de navios. novos e de segunda mao, industria de reparos de navios, etc.
Os fretes pagos em afretamento por viagem refletem imediatamente as condi^oes do mercado. ao passo que os niveis obtidos no afretamento por tempo determinado sofrem tambem a influencia das previsoes dos contratantes quanto as tendencias do mercado, ficando, portanto. as taxas ajustadas alem ou aquem das taxas obtidas no afretamento por viagem, quando muda a disposi^ao do mercado. Os efeitos das varia^oes do mercado fazem sentirse, portanto, de modo retardado nas taxas de time charter.
52
Os pregos dos navios prontos ofcrecidos a venda acompanham tambem os pre?os de afretamento, uma vez que, ao reduzir-se a fonte de receita, desa-' parecc o estimulo para o emprego de capital na compra de navios, assim como o contrario se da quando ha aumento de fretes, causando a eleva^ao dos prc^os de navios. As oscilagoes destes nao sao tao elasticas quanto as dos fretes e as oscila?6es percentuais nao sao tao violentas como o sao as dos valores dos fretes.
Mais rigidos ainda do que os pregos de navios de segunda mao sao os pre^os de constru^oes novas, porque maior periodo de tempo decorre entre o aparecimento das causas de modifica^ao do mercado mundial e a ocasiao em que seus efeitos sao sentidos nesse setor,
Ha muitos outros fatores que afetam OS pre^os de constru^ao de navios, alem do efeito imediato de maior ou menor demands de praga. O custo das partes componentes. especialmente o do a^o, assim como o valor dos salaries e cxigcncias das leis sociais, tern necessariamente efeito importante sobre os pre^os pelos quais um estaleiro pode comproraeter-se a entregar um navio.
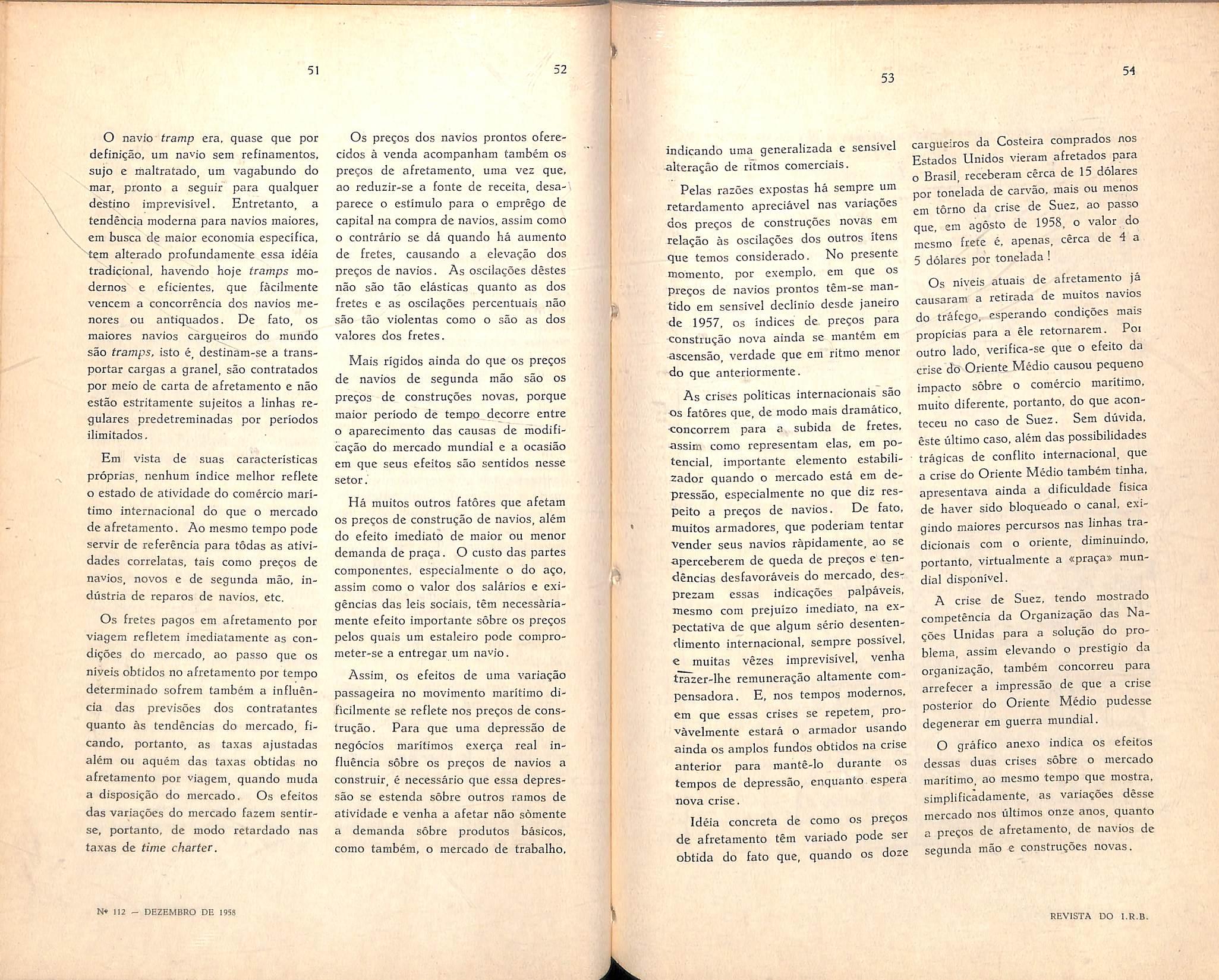
Assim, OS efeitos de uma varia^ao passageira no movimento maritimo dificilmente se reflete nos prc^os de constru?ao. Para que uma depressao de negocios maritimos exerga real influencia sobre os pregos de navios a construir. e necessario que essa depres sao se estenda sobre outros ramos de atividade e venha a afetar nao somente a demanda sobre produtos basicos, como tambem, o mercado de trabalho,
indicando uma generalizada e sensivel .alteragao de ritmos comerciais.
Pelas razbes expostas ha sempre um retardamento apreciavel nas variagoes dos pregos de construgoes novas em relagao as oscilagbes dos outros itens que temos considerado. No presente momcnto, por exemplo, em que os pregos de navios prontos tem-se mantido em sensivel declinio dcsde janeiro de 1957, OS indices de pregos para construgao nova ainda se mantem em ascensao, verdade que em ritmo menor do que anteriormente.
As crises politicas internacionais sao OS fatores que, de modo mais dramatico, ■concorrem para a subida de fretes, assim como representam clas, em potencial, importante elcmento estabilizador quando o mercado esta em de pressao, especialmente no que diz respeito a pregos de navios. De fato, muitos armadores, que poderiam tentar Vender seus navios rapidamente, ao se •aperceberem de qucda de pregos e ten dencias desfavoraveis do mercado, desprezam essas indicagoes palpaveis, mesmo com prejuizo imediato, na expectativa de que algum serio desentendimento internacional, sempre possivel, e rauitas vezes imprevisivel, venha trazer-ihe remuneragao altamente compensadora. E, nos tempos modernos, em que essas crises se repetem, provavelmente estara o armador usando ainda os amplos fundos obtidos na crise anterior para mante-lo durante os tempos de depressao, enquanto. espera
crise.
Ideia concreta de como os pregos de afretamento tem variado pode ser obtida do fato que, quando os doze
cargueiros da Costeira comprados nos Estados Unidos vieram afretados para o Brasil, receberam cerca de 15 dolares por tonelada de carvao, mais ou menos em torno da crise de Suez, ao passo que, em agosto de 1958, o valor do mesmo frete e, apenas, cerca de 4 a 5 dolares por tonelada !
Os niveis atuais de afretamento ja causaram a retirada de muitos navios do trafcgo, esperando condigoes mais propicias para a ele rctornarera. Poi outro lado, verifica-se que o efeito da crise db Oriente Mcdio causou pequeno impacto sobre o comercio maritimo, mui'to difercnte, portanto, do que aconteceu no caso de Suez. Sem diivida, cste ultimo caso, alem das possibilidades - tragicas de conflito internacional, que a crise do Oriente Medio tambem tinha. apresentava ainda a dificuldade fisica de haver sido bloqueado o canal, exigindo maiores percursos nas linhas tradicionais com o oriente, diminuindo, portanto, virtualmente a «praga» mun dial disponivel.
A crise de Suez, tendo mostrado competencia da Organizagao das Nagocs Unidas para a solugao do problema, assim elevando o prestigio da organizagao, tambem concorreu para arrefecer a impressao de que a crise posterior do Oriente Mbdio pudesse dcgenerar em guerra mundial.
O grafico anexo indica os efeitos dessas duas crises sobre o mercado maritimo, ao mesmo tempo que mostra, simplificadamente, as variagocs dessc mercado nos liltimos onze anos, quanto a pregos de afretamento, de navios de segunda mao e construgoes novas.
51
N* 112 DEZEMBRO DE I9S8 53 5-1
□ova
REViSTA DO l.R.B.
Os maiores centres de afretamento ■^e navios sao.Londres e New York, sendo o primeiio o ponto tradicional de negocios maritimos, ao passo que o segundo vem se avolumando em importancia, acompanhando a tendencia de ■OS Estados Unidos predominarem no <omercio mundial. O afretamento nio € geralmente feito em uma «b6lsa» mas por intermedio de corretores que se
-Ciantem informados dos navios dispo■niveis e sao consultados pclos afretadores, coordenando as transa^oes. Ha, no Brasil, representantes de alguns dos ■Corretores internacionais, assim como ^Igumas companhias brasileiras sao ■®ssociadas a corretores de nomeada.
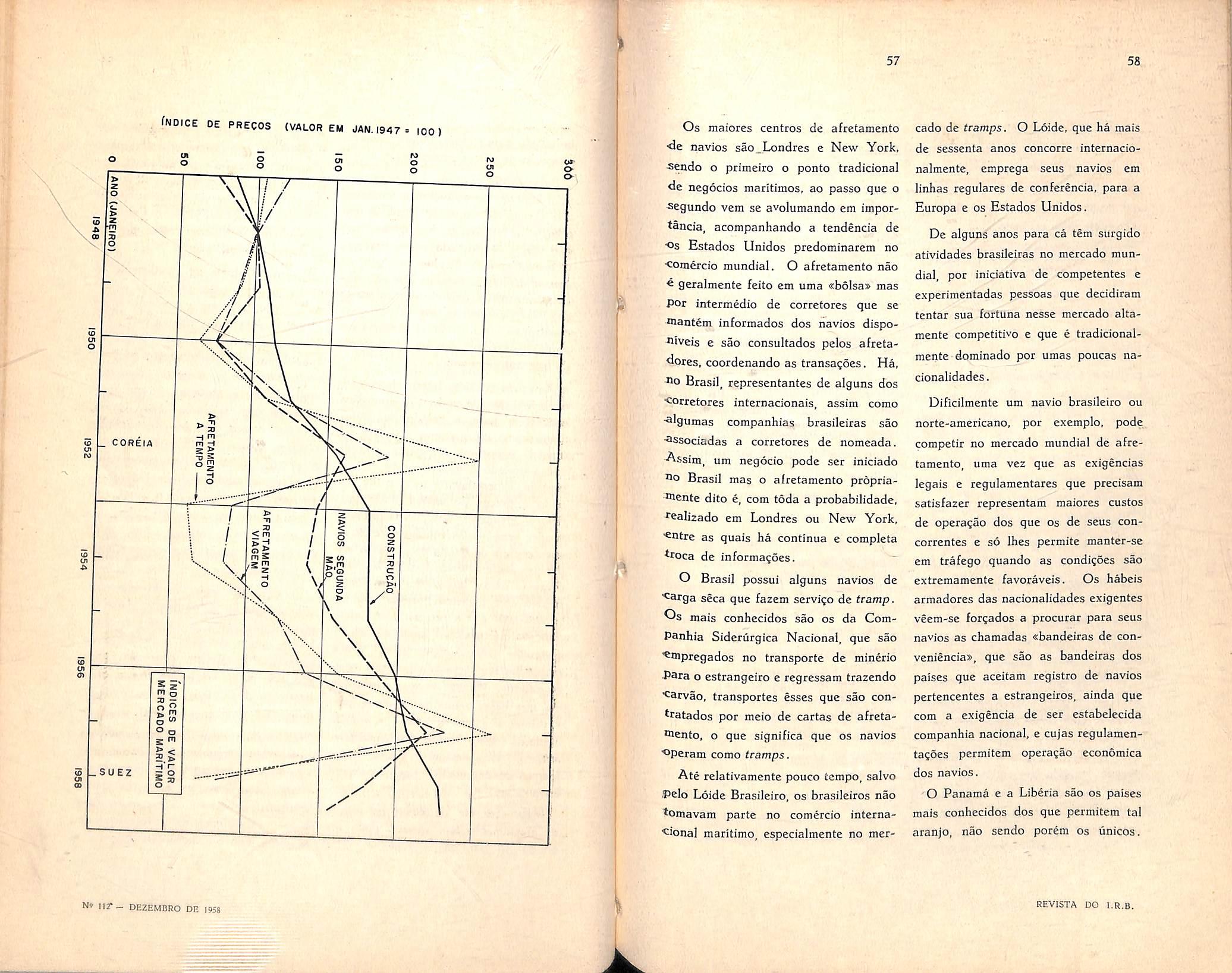
-Assim, um negocio pode set iniciado no Brasil mas o afretamento proprianiente dito e, com toda a probabilidade, realizado em Londres ou New York, ■cntre as quais ha continua e completa *roca de informagoes.
O Brasil possui alguns navios de "Carga seca que fazem service de tramp. Os mais conhecidos sao os da ComPanhia Sideriirgica Nacional. que sao ^mpregados no transporte de minerio J'ara o estrangeiro e regressam trazendo ■oarvao, transportes esses que sao contratados por meio de cartas de afreta mento, o que significa que os navios operam como tramps.
Ate rclativamente pouco tempo, salvo Pelo Loide Brasileiro, os brasileiros nao tonjavam parte no comercio intcrna*^ional marltimo, especialmentc no mer-
cado de tramps. O Loide, que ha mais de sessenta anos concorre internacionalmente, emprega seus navios em linhas regulares de conferencia, para a Europa e os Estados Unidos.
De alguns anos para ca tem surgido atividades brasileiras no mercado mun dial, por iniciativa de competentes e experimentadas pessoas que decidiram tentar sua fortuna nesse mercado altamcnte competitivo e que e tradicionalmente dominado por umas poucas nacionalidades.
Dificilmente um navio brasileiro ou norte-americano, por exemplo, pode competir no mercado mundial de afre tamento, uma vez que as exigencias legais e regulamentares que precisam satisfazer representam maiores custos de operagao dos que os de seus concorrentes e so Ihes permite manter-se em trafego quando as condicoes sao extremamente favoraveis. Os habeis armadores das nacionalidades exigentes veem-se forgados a procurar para seus navios as chamadas «bandeiras de conveniencia», que sao as bandeiras dos palses que aceitam registro de navios pertencentes a estrangeiros, ainda que com a exigencia de ser estabelecida companhia nacional, e cujas regulamentagoes permitem operagao economica dos navios.
Q Panama e a Liberia sao os paises mais conhecidos dos que permitem tal aranjo, nao sendo porem os unices.
fNDICE DE
-SUEZ N» |ir~ DEZEMBRO DE 1958 57
PREQOS (VALOR EM JAN. 1947 » 100) COREIA
58
REVISTA DO l.R.D.
Obtem gles apreciavel receita com o emprestimo de suas cores, ao mesmo tempo que oferecem aos armadores de outros paises urn recurso aceitavel para que possam entrar na competigao mundiai nesse^duro mercado.
xA ado^ao de.bandeiras de convcniencia nao e feita sehi alguma oposi^ao, nao somente por parte de grupos organizados da nacip^nalidade do armador, como tambem das maritimas tradicionais, cujas leis e regulamentos permitem a seus nacionais concorrerem economicamente. Acham estes ultimos que o artificio do «emprestimo» de bandeira causa aumento de concorrencia iujusto e que os navies tramps devem ter efetivamente a bandeira da nacionalidade do armador.
No caso especial dos Estados Unidos, ha grande oposi^ao por parte dos sindicatos operarios a transferencia de urn navio da bandeira dos Estados Unidos para a de outro pais, sob o pretexto, alias verdadeiro. de que isso tende a reduzir o numero de empregados marltimos do pais. Resta saber se seria possivel manter no trafego todos os navios que transferem suas bandeiras, o que so e permitido com a autoriza?ao do Governo e certas exigencies. A influencia das leis 50/50 e muito sensivel porque, quando aumentam as cargas assim marcadas, ha a tendencia de voltarem os navios k bandeira norteamericana.
A questao de adotar ou nao uma bandeira de conveniencia e um verda deiro dilema para o armador. Por um lado e inutil querer competir usando a sua propria bandeira: por outro lado, registrar seu navio com outra bandeira e um obvio artificio que pode nao ser muito agradavcl.
Parece que os homens de negocio do Brasil terao que optar pela segunda hipotese, se quiserem, como sera inevitavel que queiram, penetrar nos meandros do comercio maritimo internacional. Nao poderao-eles„ dentro de pouco tempo, permanecer inermes, aceitando como fronteira de suas atividades OS limites politicos do pais. inibidos pela mentalidade adquirida atraves iraportagoes GIF e exportagoes FAS, considerando a atividade maritima como terreno proibido para seus esforgos.
Sem duvida ja ha varies exemplos de brasileiros que expadiram seus horizontes alem de nossas praias, obtendo receita apreciavel no comercio maritimo, tendo vencido as barreiras psicologicas que se opunham a esse esforgo. Tal atividade, em paralelo com a expansao economica do Brasil, permitira o descortinio de novas fronteiras, em linha com o esforgo nacional de eliminar o que o Presidente da Repiiblica denominou. com sucesso internacional. «doenga do subdesenvolvimentof.
Da reparagao de danos no Codigo
Brasileiro do Ar
Embcra dedique seu Capitulo V a responsabilidade civil do transportador aereo, dividindo-a cm respon sabilidade contratual e responsabilidade para com tcrceiros. o Codigo Brasileiro do Ar tambem cogita da reparagao de danos em outras passagens: na regulamentagao do direito de sobrevoo da propricdade privada, do arresto e outros processos preventives, da assistencia e salvamento, do abalroamento aereo e das avarias, da vizinhanga dos aeroportos e aerodromos, do pessoal navegante.
A divisao do Codigo, porem, nao merece aplauso, porque se se justifica a rcgulamentagao dos fenomenos nos locais proprios, o mesmo nao se podera dizer do abalroamento, que melhor seria tratado como subdivisao do Capitulo, tal como ocorreu a responsabilidade civil para com terceiros, e nao em capi tulo peculiar, Dos diversos aspectos da reparagao de danos, tratados no Codigo do Ar, alguns carecem de importansia e, em vinte anos de aplicagao, nao ofereceram um unico exemplo pratico. Embora isso nao signifique a desneccssidade da rcgulamentagao, dispensa, entretanto, maiores consideragocs.
Nesse estudo, focalizaremos apenas OS angulos mais relevantes do problema, aqueies que se revelaram pelos coloridos diferentes e criaram novos problemas, encarados de maneira diversa e merecedores de solugoes tambem diversas.
Floriano de Aguiar Dias
Assessor cic Diccito Actonautico doMembto da Socicdadc Brasileka dc Diceito Actonautico
I A.RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
1. Transporfe de passageiros
Seguindo a orientagao da Convengao de Varsovia, mas desta divergindo quando limita a responsabilidade ..a causa do acidcnte, o C6digo Brasileiro do Ar perfilhou a teoria da culpa presumida.
A invcrsao do onus da prova. antes atribuido ao passageiro, foi adotada na Convengao como correspectivo da Iimitagao da reparagao. Assim, enquanto o passageiro era dispensado dc provar a culpa do transportador, cste obteve a limitagao das indenizagoes, permitindo-lhe conhecer,' antedpadamente, a extensao de sua responsabilidade.
Nesse sistema da culpa presumida, o transportador responde per qualqffcr dano resultante de mortc ou lesao cor poral do viajante, nos acidentes ocorridos a bordo de aeronaves em voo ou nas operagoes de embarque e desembarque quando decorrentes de defeito da aeronavc ou de culpa da tripulagao.
Resulta desse dispositivo do Codigo — art. 83 — que:
a) a reparagao abrangc quaisquer danos:
b) que esses danos tanto podem ocorrer a bordo da aeronavc operagoes de embarque c desembarque.
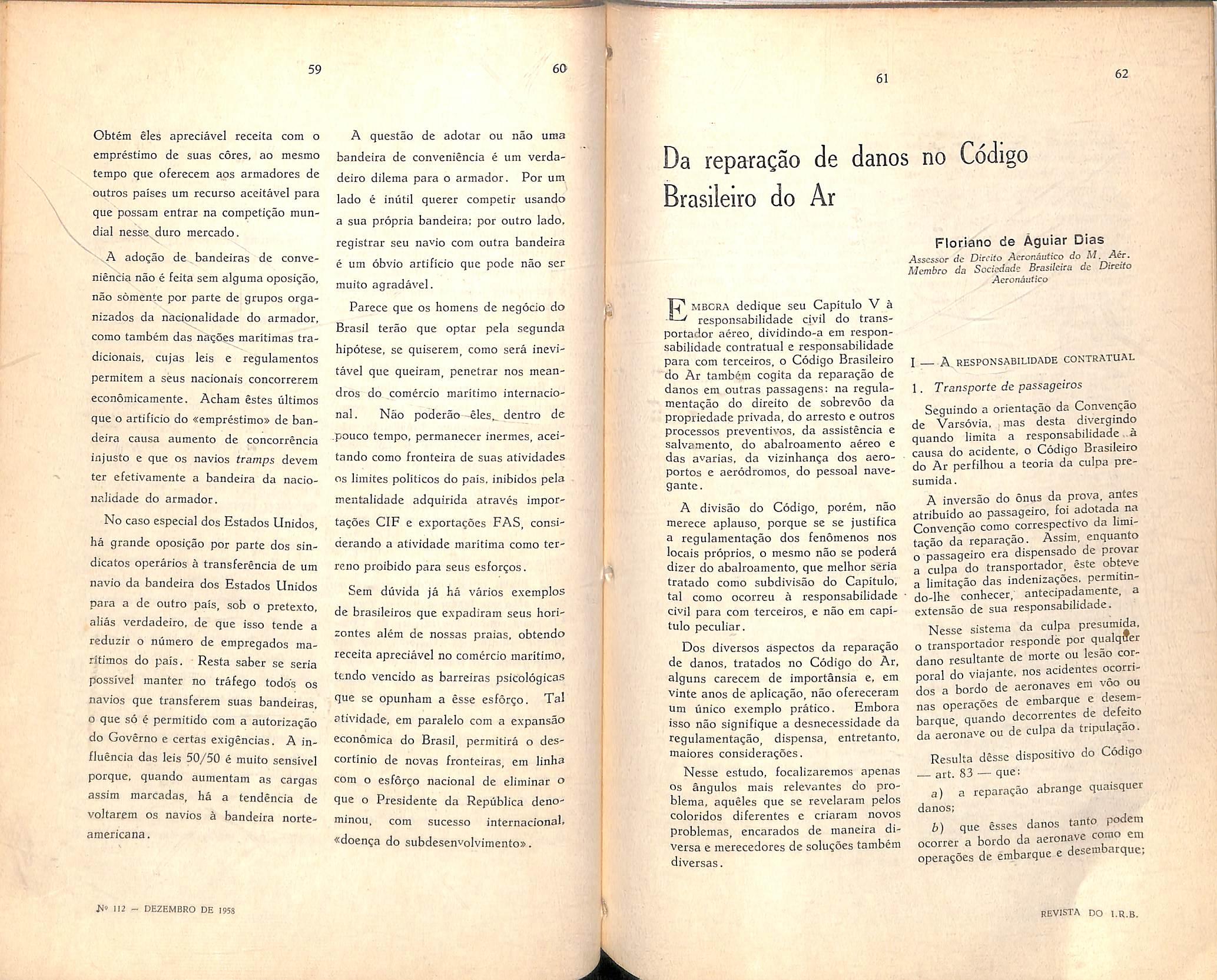
T 59
60
61 62
112 - DE2EMBR0 DE 1958 revista do I.R.B.
c) que OS mesmos danos devem <lecorrer de defeito na aeronave ou de <uipa da tripula^ao.
fisses dois fatores de responsabili•oade do transportador devem ser entendidos sempre em harmonia com a reqra , do art. 88 do Codigo, segundo a qua! . -o transportador fica exonerado de responsabilidades de provar que, por si •ou por seus prepostos, foram tomadas. de maneira satisfatoda, as medidas nexessarjas para que se nao produzisse o •dano, ou de que se tornou impossivel faze-lo.
Aparentemente, existe uma contradi?ao entre os dois principios, de vez ■que se a responsabilidade e gerada em fungao daqueles dois fatores apenas •culpa da tripuJagao e defeito na aero nave — e a prova de que foram. tomadas as providencias exonera o transporta- ■dor e inegavel que a referida prova .anula aqueles fatores.
Dado que a prova a cargo do trans^ exonera-lo, nao e dificil de fazer. antes c facil em demasia, o Codjgo restabeJeceu o equi- libno que seria rompido entre os dois pnncipjos — o gerador e o exonerador de responsabiiidade - acrescentando
•aquela prova o seu carater satisfatorio
Portanto. na extensao desse carater satisfatorio reside, efetivamente, a causa ■eaoneratoria do transportador.
Ate onde Ihe e possivel, pois fazer
•a prova de modo satisfatorio e que ■comega a ter efeito a causa exoneratoria de maneira que as dificuldades praticas de conjugar o carater satisfatorio de medidas tomadas no solo, antes e durante o v6o, com os fatores estranhos :Pecu]iares a navegatao aerea quase Ihe
faSuadT'^"^^'^^' exonerar-se na forma
Talyez contribua para isso o sistema do Lodigo, que jamais permitiu na pratica, a situa?ao, uma vez que obriga -OS transportadores ao oferecimento de •garantia de reparagao e dai decorrer
certo comodismo, preferivel aos azares de uma prova jit de si dificil.
Onde o Codigo Brasileiro do Ar, tanto quanto a Convengao de Varsovia. foi censurado peios comentadores e quando estende a responsabilidade do transportador tambem as operaqoes de embarque e desembarque. porque adu°P"aCdes nao tem extensao conhecida, nao se sabendo quando se iniciam e quando terminam.
Goedhuis («La Convention de Varsoviet, pag. H8, spud Montella) fdrmula quatro hipoteses a respeito:
a) a operatic de embarque come?a no momento em que o passageiro ocupa seu Jugar no veiculo que o conduz ao aeroporto de partida; a de desembarque acaba quando o passageiro desce daquele veiculo no ponto de destino:
b) o embarque comega no momento em que o passageiro entra no aeroporto de partida e o desembarque termina quando deixa o aeroporto;
c) o embarque come^a no momento em que o passageiro se translada da estagao do aeroporto para a aeronave, atraves da pista, e o desembarque termma quando deixa a pista e penetra no aeroporto de destino (ha aqui uma Iigeira diferen?a. pois a pista inteqra tambem o aeroporto, de modo que deixando a pista de acesso a aeronave o passageiro penetra na estagao e nao 'no aeroporto);
d) o embarque comega no momento em que o passageiro p6e o pe na escada da aeronave e o desembarque termina quando, concluido o v6o, o passageiro poe o pe no solo do aeroporto.
1947 pag, 539) afasta a primeira'e a qua^rta hipoteses, fundado em que a especial de responsa bilidade. perf.lhado pela Convengao de Varsovia, e a atividade que o justifica residem simplesmente no risco inerente a explora^ao aerea e ao transporte aereomesmo.
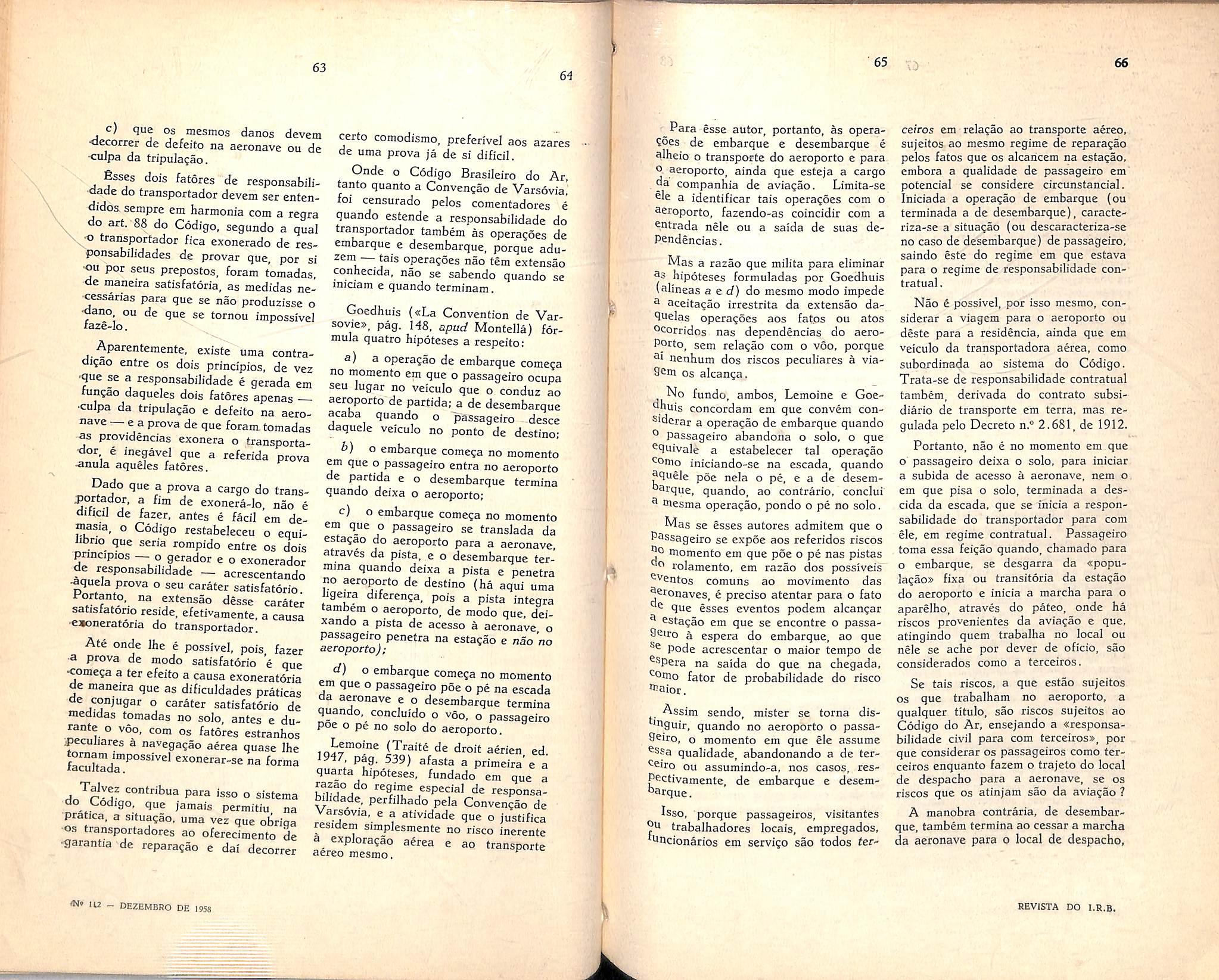
_Para esse autor, portanto, operaSoes de embarque e desembarque e aiheio o transporte do aeroporto e para o aeroporto, ainda que esteja a cargo da companhia de aviaqao. Limita-se a identificar tais operaqoes com o seroporto, fazendo-as coincidir com a entrada nele ou a saida de suas dePsndencias.
Mas a razao que milita para eliminar 2s hipoteses formuladas por Goedhuis (alineas a e d) do mesmo modo impede 2 aceitaqao irrestrita da extensao daguelas operaqoes aos fatps ou atos °corridos nas dependencias do aero porto, sem relaqao com o voo, porque 21 nenhum dos riscos peculiares a via9cm OS alcanqa.
No fundo, ambos, Lemoine e Goe dhuis concordam cm que convem considcrar a operaqao de embarque quando ° passageiro abandona o solo, o que 2quivale a estabelecer tal operaqao ^Omo iniciando-se na escada, quando 2quelc poe nela o pe, e a de desem barque, quando, ao contrario, conclui ® niesma operaqao, pondo o pe no solo.
Mas se esses autores admitem que o Passageiro se expoe aos referidos riscos momento em que poe o pe nas pistas rolamento, em razao dos possiveis ^^cntos comuns ao movimento das 2eronavcs, e precise atentar para o fato 2 que esses eventos podem alcanqar b cstaqao em que se encontre o passagciro a espera do embarque, ao que pode acrescentar o maior tempo de 2spera na saida do que na chegada, 2omo fator de probabilidade do risco maior.
Assim sendo, mister se torna dis'2guir, quando no aeroporto o passa9ciro, o momento em que ele assume 2ssa qualidade, abandonando a de ter2eiro ou assumindo-a, nos casos, resPcctivamente, de embarque e desem barque.
Isso, porque passageiros, visitantes trabalhadores locals, empregados, '"ncionarios em serviqo sao todos ter-
ceiros em relaqao ao transporte a^eo, sujeitos ao mesmo regime de reparaqao pelos fatos que os alcancem na estaqao, embora a qualidade de passageiro em potencial se considere circunstancial. Iniciada a operaqao de embarque (ou terminada a de desembarque), caracteriza-se a situaqao (ou descaracteriza-se no caso de desembarque) de passageiro, saindo este do regime em que estava para o regime de responsabilidade contratual.
Nao 6 possivel, por isso mesmo, considerar a viagcm para o aeroporto ou deste para a residencia, ainda que em veiculo da transportadora aerea, como subordmada ao sistema do C6digo. Trata-se de responsabilidade contratual tambem, derivada do contrato subsidiario de transporte em terra, mas regulada pelo Decreto n.° 2.681, de 1912.
Portanto, nao c no momento em que 0 passageiro deixa o solo, para iniciar a subida de acesso a aeronave, nem o em que pisa o solo, terminada a descida da escada, que se inicia a respon sabilidade do transportador para com ele, em regime contratual. Passageiro toma essa feiqao quando, chamado para o embarque, se dcsgarra da «popu!aqao» fixa ou transitoria da estaqao do aeroporto e inicia a marcha para o aparelho, atraves do pateo, onde ha riscos provenientes da aviaqao e que. atingindo quern trabalha no local ou nele se ache por dever de oficio, sao considerados como a terceiros.
Se tais riscos, a que estao sujeitos os que trabalham no aeroporto, a qualquer titulo, sao riscos sujeitos ao Codigo do Ar, ensejando a «responsabilidade civil para com terceiros», por que considerar os passageiros como ter ceiros enquanto fazem o trajeto do local de despacho para a aeronave, se os riscos que os atinjam sao da aviaqao ?
A manobra contraria, de desembar que, tambem termina ao cessar a marcha da aeronave para o local de despacho,
63 6-i
65
66
lU - DEZEHBRO DE 1558 REVISTA DO I.R.B,
ou de controls ou de acesso a estagao, porque entao e que deixa a situa^ao de passageiro.
Em nossa opiniao, portanto, e mere arbitrio identificar a posi^ao de passa geiro com o inicio de sua subida na escada de acesso a aeronave, considerando-o terceiro em relagao ao seu transportador enquanto a subida nao tem comedo. Admitido para embarque na fila respectiva, deve ser considerado passageiro, porque os riscos especiais que existem nos pateos e pistas de taxiamento ou rolamentos o alcangam porque estao no local em virtude de um contrato de transports.
Consequentemente, sendo a sua presenga no local originada pela condigao de viajante, nao pode ser considerado «terceiro» para efeito de estabelecimento do correspondente regime de responsabilidade, tanto mais que a transportadora o admitiu ao embarque antes.
Operagoes de embarque, pois, compreendem a marcha do local de despacho ate a penetragao no bojo da aeronave, do mesmo modo que as operagoes de desembarque compreendem a saida da aeronave ate a penetragao nas estagoes de passageiros, onde a assimilagao pela massa do local os sujeita a riscos comuns a todos. Nessa ocasiao, perdem a condigao de viajantes e se identificam com os que estao na estagao a qualquer titulo, sujeitos aos mesmos riscos, em piano de igualdade, porque sc trata de local em que tanto podem freqiientar por dever de oficio como a titulo de visita ou de curiosidade ou outra qualquer.
Sem a extensao das operagoes de cmbarque ou desembarque, algumas situagoes que, em nossa opiniao acima expendida, nao ofereceriam dificuldades passam a provocar solugoes esdriixulas, bastando citar, para exemplo, a baldeagao efetuada no aeroporto, no interesse ou necessidade da transportadora.
Contratado o transports direto, o pouso forgado de que decorresse a troca de aeronave originaria, por sua vez, novas operagoes de embarque e desembarque. Mas como estas se iniciam ou terminam na escada, a situagao criada para os passageiros pela transportadora estaria sujeita ao regime do direito comum, cabendo-lhe provar a culpa daquela...
Ao argumento que pode ser oposto a essa extensao, no sentido de que na hipotese nao se caracteriza um risco do ar, vale dizer, nao se configura a situagao de um risco que precede da aeronave ou de sua utilizagao, conforme seu destino (em funcionamento, preparada para a partida, com os motores em movimento ou, no caso de chegada, as mesmas operagoes ao inverso) poderse-a contrapor o de que tampouco existe o risco aeronautico nas operagoes de embarque ou desembarque, porque estas se fazera com a aeronave em posigao estatica.
Logo, se mesmo nessa posigao sc admite a existencia do risco, de modo a abranger na responsabilidade contratual as operagoes mencionadas, admiti-los em maior latitude, a partir do ■ despacho do passageiro, nao altera a situagao nem a descaracteriza, certo como e que, em ambos os casos, a aero nave nao assume a posigao na qual se identifica o risco aeronautico. Sendo excegao a regra da produgao do risco a situagao de embarque ou desembar que. a maior latitude nestas nao chega a mudar a feigao da referida excegao, 6 como que seu prolongamento.
2. Transporte Gratu'to
Estabelcce o Codigo Brasileiro do Ar, no paragrafo linico do art. 83, que nos casos de transporte gratuito ou a titulo gracioso, a responsabilidade se limita apenas aos prejuizos resultantes de dolo ou de culpa grave, abrindo, pois, excegao S regra do artigo.
Da redagao desse paragrafo parecc defluir a ideia de que o legislador pre-
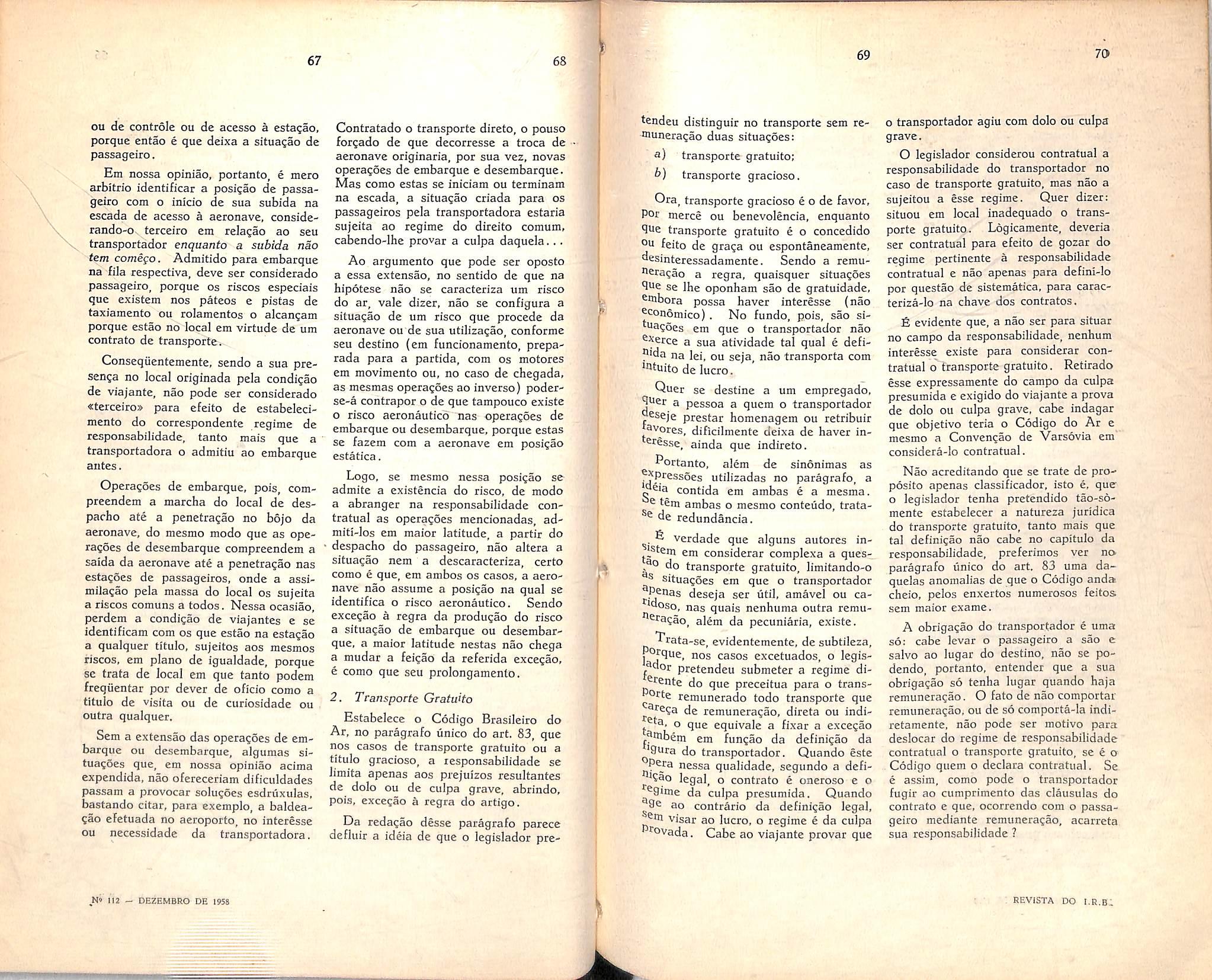
tendeu distinguir no transporte sem reJnuneragao duas situagoes:
2) transporte gratuito:
b) transporte gracioso.
Ora, transporte gracioso e o de favor, por merce ou benevolencia, enquanto 9Ue transporte gratuito e 0 concedido feito de graga ou espontaneamente, ■^esinteressadamente. Sendo a remu"Wagao a regra, quaisquer situagoes 9ue se Ihe oponham sao de gratuidade, ^nibora possa haver interesse (nao ^conomico). No fundo, pois, sao si^Sgoes em que o transportador nao ®^erce a sua atividade tal qual e defi^'da na lei. ou seja, nao transports com "ttuito de lucro.
Quer se destine a um empregado, 9uer a pessoa a quern o transportador eseje prestar homenagem ou retribuir ^vores, diflcilmente deixa de haver in^^es.se, ainda que indireto.
Portanto. alem de sinonimas as ??P''ossoes utilizadas no paragrafo, a contida em ambas e a mesma. ® tem ambas o mesmo conteudo, tratade redundancia.
6 verdade que alguns autores in'stem em considerar complexa a ques- ^0 do transporte gratuito. limitando-o s situagoes em que o transportador Penas deseja ser litil. amavel ou ca'uoso, nas quais nenhuma outra remuP^ragao, alem da pecuniaria, existe.
Trata-se, evidentementc, de subtileza. POrque, nos casos cxcetuados. 0 legis- £ dor pretendeu submeter a regime di^rente do que preceitua para o transorte remunerado todo transporte que 3rega de remuneragao, direta ou indi®ta. o que equivale a fixar a excegao ^^mbem em fungao da definigao da '9ura do transportador. Quando este Pera nessa qualidade. segundo a defiSao legal, 0 contrato e oneroso e o ^9ime da culpa presumida. Quando 9® ao contrario da definigao legal, em visar ao lucro, o regime e da culpa tovada. Cabe ao viajante provar que
o transportador agiu com dolo ou culpa grave.
O legislador considerou contratual a responsabilidade do transportador no caso de transporte gratuito. mas nao a sujeitou a esse regime. Quer dizer: situou em local inadequado 0 trans porte gratuito. Logicamente, deveria ser contratual para efeito de gozar do regime pertinente a responsabilidade contratual e nao apenas para defini-lo por questao de sistematica, para caracteriza-lo na chave dos contratos. evidente que. a nao ser para situar no campo da responsabilidade, nenhum interesse existe para considerar con tratual o transporte gratuito. Retirado esse expressamente do campo da culpa presumida e exigido do viajante a prova de dolo ou culpa grave, cabe indagar que objetivo teria o Codigo do Ar e mesmo a Convengao de Vars6via era considera-lo contratual.
Nao acreditando que se trate de proposito apenas classificador, isto e, que o legislador tenha pretendido tao-s6mentc estabelecer a natureza juridica do transporte gratuito, tanto mais que tal definigao nao cabe no capitulo da responsabilidade. preferimos ver no paragrafo unico do art. 83 uma daquelas anomalias de que o Codigo anda cheio, pelos enxertos numerosos feitos sem maior exame.
A obrigagao do transportador e uma so: cabe levar o passageiro a sao e salvo ao lugar do destine, nao se podendo, portanto. entender que a sua obrigagao so tenha lugar quando haja remuneragao. O fato de nao comportai remuneragao, ou de so comporta-la indiretamente, nao pode ser motivo para deslocar do regime de responsabilidade contratual o transporte gratuito. se e o Codigo quern o declara contratual. Se e assim. como pode o transportador fugir ao cumprimento das clausulas do contrato e que. ocorrendo com o passa geiro mediante remuneragao, acarreta sua responsabilidade ?
67 68
69
79
Hi nz - DEZEMBRO DE 1958 REVISTA DO I.R.B:
Entretanto, a questao so tem interesse doutrinario cntre nos, embora a atribui?ao do onus da prova ao viajante, no transporte gratuito, viesse a dificultar a repara^ao, certo como e que, do mesmo modo que o transportador pode provar causa de exoneraqao no regime de culpa presumida, tambem o viajante a titulo gratuito raramente lograria provar a culpa do transportador no regime de responsabilidade que os sujeita.
0 que existe na pratica e o reconhecimento dos viajantes no mesmo piano, para efeito de repara?ao, porque, obrigado a garantir a repara^ao, na forma e limites estabelecidos no Codigo. quer o transportador opte pelo seguro, quer por outra modalidade de garantia. esta abrange o niimero de pessoas a bordo, sem cogitagao quanto a sua situagao perante aquele, do ponto de vista de remuneragao.
Segurando indistintamente os que estao a bordo, pelo que paga os preinios correspondentes, nenhum interesse teria em levantar diivida quanto a qualidade do passageiro a titulo gratuito, cuja reparagao ja transmitira ao segurador.
Em que pese a essas consideragoes, afastada a ideia da total ausencia de remuneragao no case de caridade ou filantropia, porque mesmo essas se exercem atraves de um jogo de inte resse que viria traduzir na pretensa remuneragao indireta, o passageiro a titulo gratuito ou gracioso. como pretende o Codigo do Ar, tem com o trans portador um contrato, nao devendo infiuir no sistema de responsabilidade, principalmente como o nosso, que perfilha a Convengao de Varsovia, em equilibrio de reconhecimento de culpa e limitagao da reparagao, a ausencia de remuneragao.
3. Transporte de coisas
O transporte de coisas compreende a bagagem. acompanhada ou nao, os pequenos objetos que o viajante conserva sob sua guarda c as mercadorias.
Estas compreendem tres categorias: a) expresso; b) encomendas; c) carga para efeito de tarifagao, mas na verdade sao apenas, duas. tecnicamente falando: encomenda e carga. aquela correspondendo ao despacho de 25 quilos ou 25.000 cm", a ultima o des pacho acima desse peso ou dessa cubagcm.
a) Transporte de bagagens e pe quenos objetos.
O Codigo Brasileiro do Ar. seguindo Os principios da Convengao de Var sovia. distingue entre mercadorias despachadas mediante conhecimento e objetos que constituem a bagagem do viajante ou que este transporta sob sua propria guarda.
Embora seja despachada como qualquer mercadoria, a bagagem nao e objeto de contrato em separado, porque Integra o contrato de transporte de passageiro. Ao contratar seu trans porte, na convengao esta pressuposto o transporte de sua bagagem, seja nos limites da franquia, seja alem desse limite. no ultimo caso mediante pagamento do excesso de peso, na base da tarifa aprovada.
Conquanto compreendida no trans porte do viajante, a bagagem deve ser objeto de uma nota, expedida pelo transportador. com os elementos seguintes: lugar e data de emissao; pontos de partida e de destino, niimero do biIhete de passagem a cujo contrato e inerente: quantidade e peso: valor declarado, se tiver cabimento.
Nem a Convengao de Varsovia. nem o Codigo Brasileiro do Ar definem o que seja bagagem do passageiro. omissao essa que carece de importancia. Gay de Monteila (Principios de derecho aeronautico, 1950, pag. 431) considera-a os volumes que. presumivelmente, contem objetos de uso do viajante, como sejam: roupas, sapatos, artigos de higiene, livros, documcntos pessoal. oficial ou comercial, coisas de uso naviagem. para alimentagao, abrigo
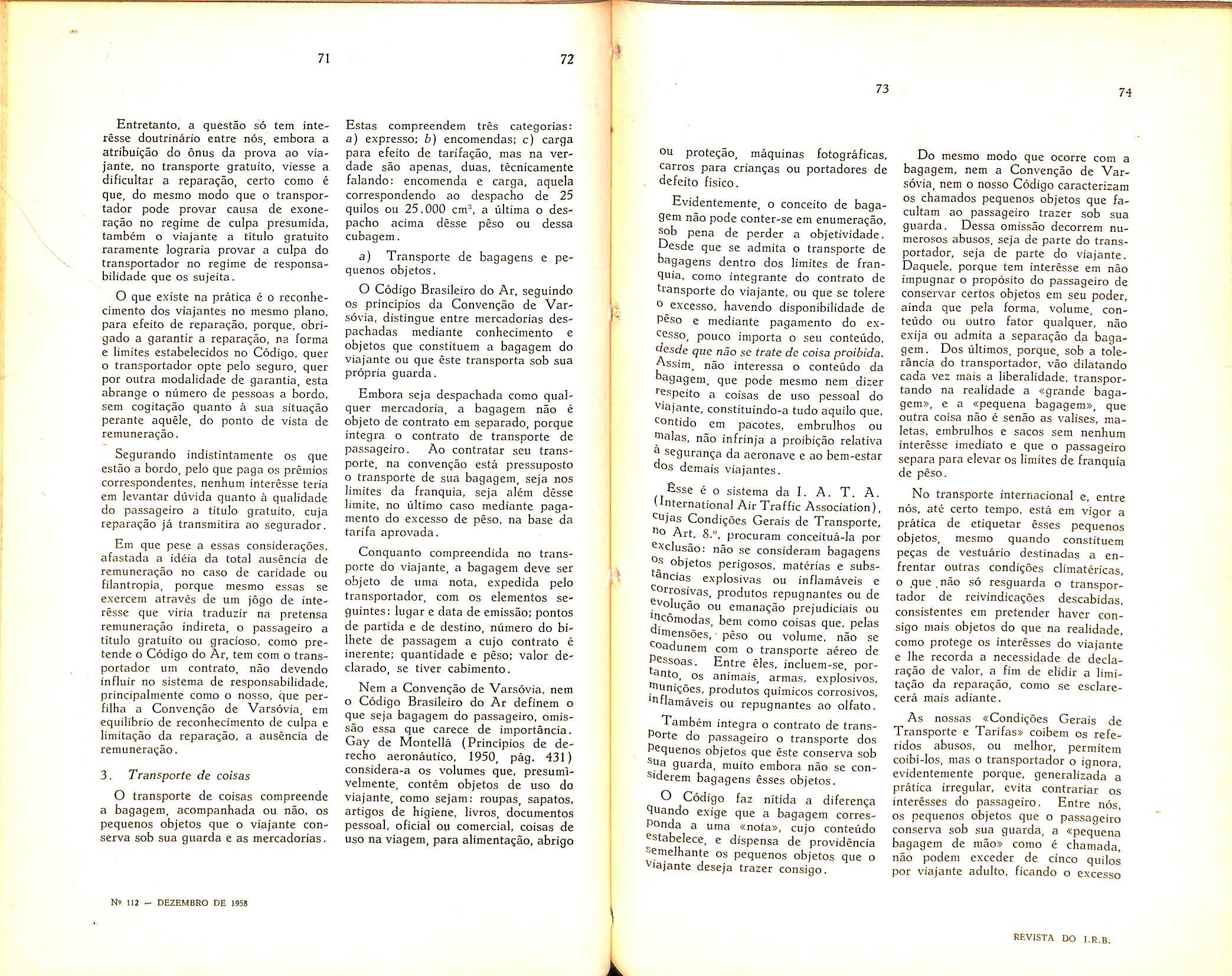
ou protegao, maquinas fotograficas, carros para criangas ou portadores de defeito fisico.
Evidentemente, o conceito de baga90m nao pode conter-se em enumeragao, sob pena de perder a objetividadc. Desde que se admita o transporte de tiugagens dentro dos limites de fran quia. como integrante do contrato de transporte do viajante, ou que se tolere 0 excesso. havendo disponibiiidade de peso e mediante pagamento do ex cesso, pouco importa o seu conteiido, desde que nao se trate de coisa proibida. Assim, nao interessa o conteiido da ^gagem, que pode mesmo nem dizer ■"o.speito a coisas de uso pessoal do viajante. constituindo-a tudo aquilo que, contido em pacotes, embrulhos ou ^alas, nao infrinja a proibigao relativa ® seguranga da aeronave e ao bem-estar demais viajantes.
Esse e o sistema da I. A. T. A, ( nternationa] Air Traffic Association),
\
Do mesmo modo que ocorre com a bagagem, nem a Convengao de Var sovia, nem 0 nosso Codigo caracterizam OS chamados pequenos objetos que facultam ao passageiro trazer sob sua guarda. Dessa omissao decorrem numerosos abuses, seja de parte do trans portador, seja de parte do viajante. Daquele. porque tem interesse em nao impugnar o proposito do passageiro de conservar certos objetos em seu poder. ainda que pela forma, volume, con teiido ou outre fator qualquer. nao exija ou admita a separagao da baga gem. Dos liltimos, porque, sob a tolerancia do transportador, vao dilatando cada vez mais a liberalidade, transportando na realidade a «grande baga gem*. e a «pequena bagagem*, que outra coisa nao e senao as valises, maletas, embrulhos e sacos sem nenhum interesse imediato e que o passageiro separa para elevar os limites de franquia de peso.
■^"jas Condigoes Gerais de Transporte. Po Art. 8.". procuram conceitua-la por cxclusao: nao se consideram bagagens objetos perigosos, materias e subs^ncias explosivas ou inflamaveis e orrosivas, produtos repugnances ou de ^Volugao ou emanagao prejudiciais ou ^comodas, bem como coisas que. pelas 'mensoes, peso ou volume, nao se oadunem com o transporte aereo de ^cssoas. Entre ele.s, incluem-sc. por- ^nto, OS animals, armas, explosivos, I^Unigoes, produtos quiniicos corrosivos. "tflamaveis ou repugnances ao olfato.
Tambem Integra o contrato de transPorte do passageiro o transporte dos Pcquenos objetos que este conserva sob guarda, muito embora nao se conS'derem bagagens esses objetos.
O Codigo faz nitida a diferenga quando exige que a bagagem corresPonda a uma «nota», cujo conteiido cstabelece, e dispensa de providencia semelhante os pequenos objetos que o lajante deseja trazer consigo.
No transporte internacional e, entre nos, ate certo tempo, esta em vigor a pratica de etiquetar esses pequenos objetos, mesmo quando constituem pegas de vestuario destinadas a enfrentar outras condigoes climatericas, o .que,nao so resguarda o transpor tador de reivindicagoes descabidas, consistcntcs em pretender haver con sigo mais objetos do que na realidade. como protege os interesses do viajante e Ihe records a necessidade de declaragao de valor, a fim de elidir a limi tagao da reparagao. como se esclarecera mais adiante.
As nossas «Condig6es Gerais de Transporte e Tarifas* coibem os referidos abuses, ou melhor, permitem coibi-los, mas o transportador o ignora, evidentemente porque, generalizada a pratica irregular, evita contrariar os interesses do passageiro. Entre nos, OS pequenos objetos que o passageiro conserva sob sua guarda, a «pequena bagagem de mao* como e chamada. nao podem exceder de cinco quilos por viajante adulto, ficando o excesso
71
N» 112 — DEZEMBRO DE 1958 72
73 74
I
REVISTA DO l.R.B.
sobre esse limite, bem como o excesso de peso da bagagem sobre a franquia, sujeito a tarifagao de 1 % da tarifa de passagem, para cada quilo.
Como foi dito, o transporte de bagagem. ainda que acima do limite de franquia, faz parte do contrato de transporte e, conseqiientemente, su jeito as suas regras. Efetivamente, sendo um direito do viajante, que contratou 0 transporte, levar consigo, sem outro pagamento e, portanto, ainda sob o efeito do prego pago. a bagagem no limite franqueado, nao e possivel admitir para ela regime diferente, isto e, como se fosse objeto de outro contiato.
Ntio tem razno, assim, o Codigo do Ar quando estabelece no art. 89 causa de cxoneragao que nao admitc no transporte de pessoas. Podc-sc dizer que o cuidado com a vida tem, necessariaincnte. de ser niaior do que com a bagagem {o que esta desinentido no maior cuidado com a reparagao de bens de terceiro no solo) mas e que o contrato e unico, sendo licito que OS limites de reparagao defiram em cada caso, mas nao que o sistema de responsabilidade do Codigo seja encarado de maneira diversa quanto a uma unica convcngao.
Se a limitagao da reparagao e corrcspectivo do reconhecimento da culpa, atraves de sua presungao juris tantuin e so passivel de ser elidida no caso de medidas satisfatorias tomadas de mode a evitar o dano, a admissao para a bagagem de causa de exoneragao nao admitida para o passageiro rompe o equilibrio obtido. porque o indice elcvado do fator pessoal nos acidentes quase sempre se identifies com erro de niiotaaem e dai decorrera, pois. a exoneragao em maiores propcrgoes.
b) Transporte de mercadoria.
Mercadoria compieende a encomenda e a carga, assim entendidos os despachos no mesmo conhecimento ate 25 quilos ou 25.000 cm^ e acima desses I'.mites. respectivamente.
Excetuam-se dessa regra. para efeito de tarifagao. os jornais e revistas embarcados pelos editores, que nao sofrem as limitagoes referidas. Contenham-se ou nao naqueles limites 05 despachos, para efeito de tarifagao tais artigos sac «carga».
A rcgulamentagao, porem, do trans porte de mcrcadorias, contida na Portaria n.° 170, de 31 de agosto de 1948, do Ministerio da Aeronautica, exorbita o poder de rcgulamentar. Com efeito, definindo a encomenda e a carga, esta belece sem nenhum proposito que ambos nao tem data para embarque.
Ora, ocorre que o transporte aereo tem como principal caracteristica a rapidez. Quando. pois, nao constitua, pela contingencia, quase o unico mcio de transporte da regiao, concorre com oulros veiciilos, sendo prcferido, por tanto. exatanientc por aqiiela caracte ristica. Injiistificavel, pois, que a regulamentagao isente o transportador precisamentc da vantagem que leva o expedidor a preferir seus servigos.
Mas ainda que nao ocorrcssc essc argumento de ordem racional. como cnlender a faculdade de embarcaf quando quiser com a responsabilidade pelc atrazo, coirtida no art. 87 ? Nao haveria nunca tal responsabilidade se fo-'^se licito ao transportador embarcaf quando quisesse a carga que Ihe foi confiada.
fi possivel que, entre o expedidor o o transportador, se estabelega convengao para entregar a carga em data indeterminada, abrindo mao o primeiro, mediante correspectivo ou nao, da preferencia correspondente ao seu despacho. Mas ai existiria convengao, acordo das partes e nao regulamentagao que dispensasse o transportador de uma obrigagao normal, a revelia da outra parte no contrato.
Decorre dai que o embarque rapido, na medida em que o transporte preferencial de passageiros (preferencial em razao do tipo de concessao), e a regra,
que so outra convengao pode modificar.
Assim sendo, para que se admita a regra do art. 87 do Codigo do Ar, relativa a responsabilidade pelo atraso no transporte de mercadoria, nao e necessario que haja dia convencionado para embarque. A regra sera sempre a maior rapidez e se o transportador nao pode proporciona-la. devera cesguardar-se mediante declaragao de que levara quando puder ou dentro do prazo que a sua conveniencia impuser, caso em que a aceitagao da condigao elide aquela regra.
A repulsa da culpa «in eligendo» e «in vigiJando» no transporte de merca doria, porcm, atraves da regra do art. 89, quando desobriga o transpor tador, se provar que o dano proveio de erro de pilotagem, de erro na condiigao da aeronave ou de navegagao, rompe igunlmentc aquele equilibrio entre o estabelecimento da presungao de culpa e a limitagao de reputagao, alem de ampliar a regra do art. 88 — aplicavel tambem ao transporte de mei'cadorias, porque fala «em qualquer dos casos acima previstos», e a mercadoria e tratada no art. 84 — o que origina confusao.
Estabclecido que «nos casos acima». entre eles o tran.sporte de pessoas, bagagens e mercadorias, o transportador podera exonerar-se se provar que, per si ou seus prcpostos, foram tomadas, de maneira satisfatoria, as medidas necessarias para que se nao produzisse o dano, ou de que se tornara impossivel faze-lo. nao havia lugar para estabelecer no art. 89 nova regra. especialmente dedicada a mercadoria (tratada no art, 84 e no art. 88), na qual estende a exoneragao aos casos de erro na pilo tagem, na condiigao ou na navegagao. exatamente a propogao mais ponderavel de causas de acidente.
Nesse conflito de duas disposigoes relativas a causas de exoneragao do transportador de mercadorias, c evidente que se ajusta melhor a sistema-
tica do Codigo a regra do art. 88, que abrange todo o transporte e que considera contratual a responsabilidade. . Mais consentaneo a responsabilidade contratual e o art. 88 do que o art. 89, porque nenhuma razao existe para ampliar as vantagens do transportador de mercadorias, encarando de maneira diversa o contrato de transporte de passageiro c o de coisas, de vez que ambos estao sujeitos ao mesmo principio de que se originou a presungao de culpa e a limitagao da reparagao.
Ja dissemos antes que o Codigo nao e precise ao estabelecer os limites das operagoes de embarque e desembarque comprendidos na execugao de contrato de transporte.
Essa omissao dava margem a iniimeras intcrpretagoes. entre as quais mostranios a que nos parecc razoavcl em face do sistema de embarque ou desem barque.
No transporte de coisas, entretanto, eic e expre.sso no estcnder o transporte aereo tambem ao periodo durante o qual a bagagem ou mercadoria se acha sob a guarda do transportador, seja no aeroporto ou fora deste, no caso de pouso fora de aeroporto, e a bordo.
•' Ha que distinguir, porem, a situagao das mercadorias nos armazens do trans portador, porque, embora nos parega procedente a conclusao de Hugo Simas (192), quando assinala que a respon sabilidade do transportador coraega do recebimento das coisas a transportar e termina com a entrega, nao e data a redagao do art. 85, porque se refere a guarda das mercadorias, mas acrescenta em continuagao restritiva «seja no aero porto, a bordo da aeronave, ou em qual quer outro lugar, em caso de pouso fora do aeroporto®.
Mas a nossa concordancia decorre de que, considerado transporte aereo o pe riodo em que a mercadoria se acha .sob guarda do transportador no aeroporto. e evidente que neste periodo esta abrangido aquele em que ocorre armazena-
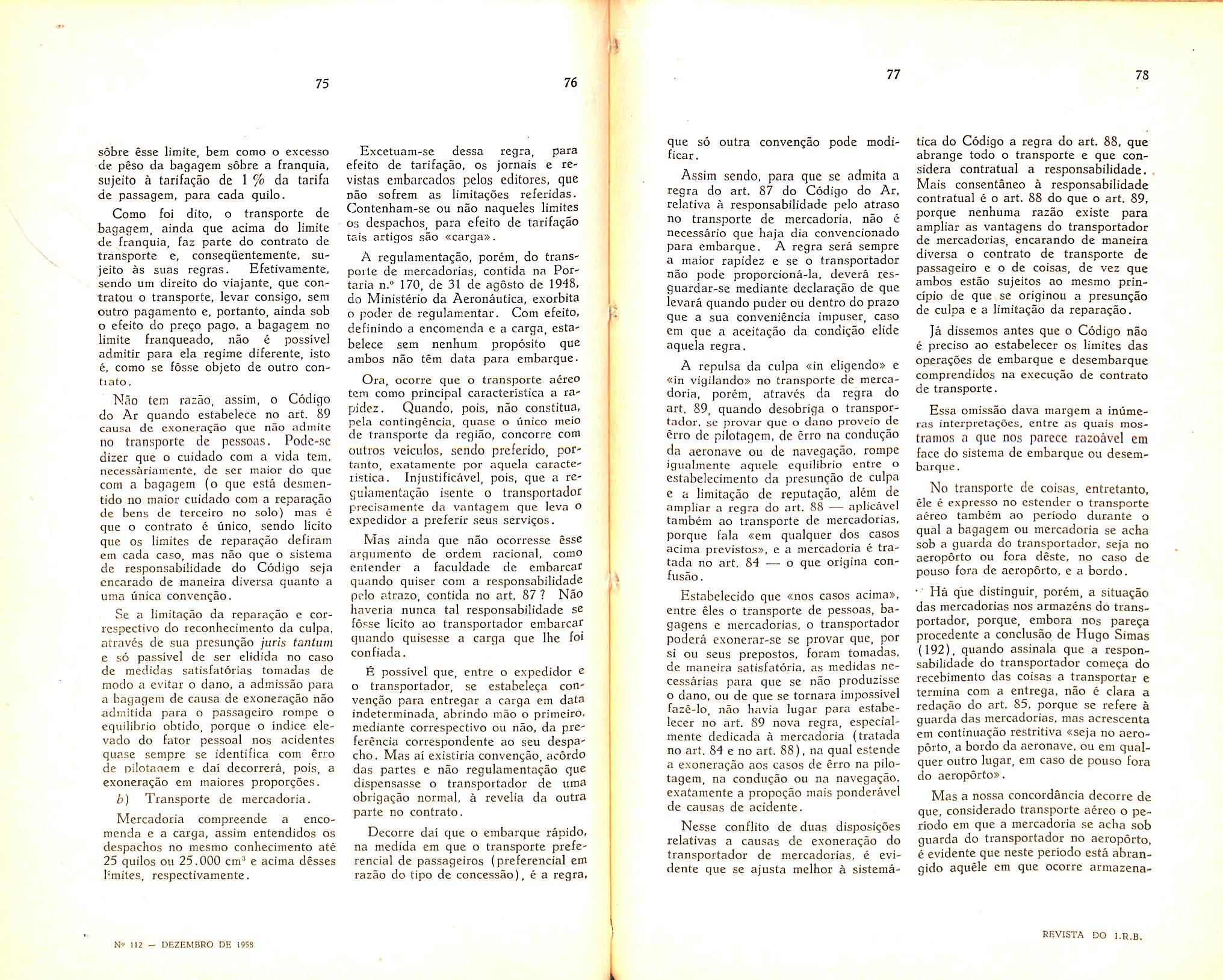
75 76
N» 112 - DEZEMBRO DE 1958
77 78
REVJSTA DO l.R.B.
mento de carga no aeroporto. Logo, o amazenamento fora do aeroporto nao merece tratamento diferente, pois. do contrario, so quando o armazem estivesse no aeroporto e que a guarda estaria compreendida no transporte aereo, bastando deixar de faze-lo para elidir a rcgra do Codigo.
fi bem verdade que o art. 86 do Co digo excetua do transporte aereo o transporte efetuado fora do aeroporto. seja terrestre, maritimo ou fluvial, donde se poderia deduzir que situado o armazem fora do aeroporto, o trans porte dele para o embarque..sob guarda do transportador, nao estaria abrangido peio transporte aereo. Mas o prdprio paragrafo linico do citado dispositivo afasta essa conclusao, quando distingue entre o transporte terrestre, fluvial ou maritimo efetuado fora do aeroporto para execugao do contrato de trans porte nas mesmas condigoes realizadd, sem 0 ser para execugao do contrato de transporte aereo. Dito paragrafo estabelece a presungao de complementarem esses transportes o contrato prin cipal. o que admite, portanto, prova em contrario.
Assim, quando se realiza o transporte terrestre, maritimo ou fluvial de mercadorias, colocando-as ou retirando-as do aeroporto, sem relagao com o contrato de transporte delas, nao se compreende o periodo respective no contrato de transporte. Mas se e o transportador quern os efetua, para colocar a bordo ou dele retirar as mercadorias recebidas, ou destinadas ao consignatario, trata-se de complementagao e recai .sob'o sistema do Codigo da responsabilidade contratual.
A responsabilidade do transportador pode ser excluida ou atenuada, se prova que 0 dano foi causado por culpa da pessoa lesada ou que esta contribuiu para o evento,
Enquanto que a prova de que foram tomadas as medidas para evitar o dano ou de que se tornou impossivel toma-las exonera o transportador de responsa-
bilidade, a culpa da vitima ou sua contribuigao pode exonera-lo de responsa bilidade ou atenua-la. Assim, alem de ter de provar que a culpa foi da vitima, ou de que esta contribuiu para o fato, pode nao ficar exonerado de responsa bilidade ou te-la apenas atenuada, dependendo da cficacia daquela prova:
Portanto, principio de dircito que atinge todo transporte e alterado no transporte aereo, atribuindo-lhe situagao especial em que a vitima culpada ainda pode vir a ser indenizada|
£sse tratamento especial, que integra o sistema de equilibrio estabelecido no transporte aereo, de vantagens e obrigagoes reciprocas, nao se coadunam, como fizemos ver, com o tratamento dispensado ao transporte de bagagens e mercadorias, onde o Codigo isenta o preponente pelas faltas do preposto. Se mesmo a culpa da vitima pode nao isenta-lo de responsabilidade, quando e universal a regra de que ela exonera o transportador de responsabilidade, como admitir que o erro de pilotagem, identificado profundamcnte com a culpa «in eligendo» ou o erro de navcgagao, tambem com ela identificado, ou a adogao de medidas satisfatorias, caracterizadora da atitude do «bonus paterfamilias» e cuja omissao pode identificar a culpa «in vigilando», tenham essa virtude ?
Nesses casos de exoneragao, admitidos como sobrepostos aos casos gerais de exoneragao do art. 88, e verdade que cabe ao transportador o onus da prova, mas, feita esta, e taxativa a rcgra no sentido de que nao responde eles pelos prepostos. E estes, poderao responder, se nao tem capacidade economica, nem com que solver compromissos decorrentes da condenagao na reparagao de danos ?
Isso nos mostra que, complacente ora com o viajante e suas bagagens, ora com o transportador e seus prepostos, equilibrando aqui e ali as situagoes, a fim de evitar o rompimento do sistema, nao e coerente o Codigo no art. 89,
quando afasta a hipbtese da culpa «in eligendo» ou «in vigilando», e no art. 90, quando admite que a culpa da vitima possa exonerar o transportador de responsabilidade ou atenuar esta. subvertendo nas duas ocasioes dois principios tradicionais.
£ mister salientar que, alem da res ponsabilidade pela perda ou extravio da bagagem ou mcrcadoria, o Codigo estabelece que o transportador respon de tambem pelo dano prcveniente de atraso no transporte, o que prova a ilegalidade da Portaria do Ministerio da Aeronautica que define o expresso e a carga como o despacho sem data determinada para embarque, dispensando, desse mode, o transportador da obrigagao de transporta-lo com a rapidez que a natureza do meio de comunicagao impoe.
Se, per definigao regulamentar. nem o expresso, nem a carga tern data de terminada para embarque, facultado ao tran.sportador efetuar o transporte quando quiser. o despacho em que o consignante pretender o que e normal, vale dizer, que seja entregue com rapidez, pode ser submefido a regime especial, a arbitrio do transportador. E se o consignante ignora essa disposigao, ficara inibido de pleitear do transportador a indenizagao do prejuizo pelo atraso, uma vez que para a citada Portaria nao pode haver atraso, se nao ha data para embarque.
II — Responsabilidade EXTRA-CONTRATUAL
I. Danos a terceiros.
Embora a segao primeira do Capitulo V do Codigo seja relative a res ponsabilidade contratual, a segunda como era logico — nao e dedicada a responsabilidade extra-contratual. nem esta se acha compreendida toda no mesmo capitulo, como foi assinalado no inicio deste trabalho.
A mencionada segao segunda so cogita, pois, dos danos a terceiros na
superficie, oriundos de aeronave em voo, de manobras de partida ou chegada, inclusive os danos causados pela queda de objeto ou substancia, ainda que atraves de alijamento regulamentar ou por motivo de fbrga raaior.
Entretanto, nem fodos os casos de responsabilidade para com terceiros estao regulados no Cbdigo do Ar, podendo-se mesmo afirmar que, dentro da raridade dc casos, sobressaem os casos omissos nele. Os poucos casos de danos a terceiros na superficie sao dc caracteristicas e feigoes que destoam das hipoteses fcrmuladas no referido Codigo.
Estabelecendo o principio da respon sabilidade pelos danos causados a pessoas c coisas no solo, o Codigo nao distingue entre aeronaves brasileiras e estrangeiras, nem entre aeronaves piiblicas e privadas, as quais, na medida em que a pessoa lesada couber culpa, poderao exonerar-se da responsabili dade ou te-la atenuada.
fisse principio da responsabilidade objetiva. consagrado na Convengao de Roma de 1933, da qual so diverge quando inclui as aeronaves militares, aduaneiras e de policia no mesmo re gime- das aeronaves privadas. permite que tenha lugar a reclamagao da repa ragao pela so existencia do dano, isto e, basta que se prove a sua existencia para que se origine a obrigagao do transportador, cxploradcr ou proprietario, de reparar o dano causado por sua aeronave.
Embora se considerem hoje os risco.s da navegagao aerea em relagao ao solo quase no mesmo piano dos que sao pertinentes a eletricidadc, como que fruto exatamente da vida moderna, uma exigcncia sua, o principio continua de pe, porqiie os terceiros no solo sao alheios aos fenomenos da aviagao. Nada tendo com elas, mesmo que se considere fenomeno comum, originado do piogresso e que deve ser suportado por todos, e mister nao perdcr de vista que se trata de uma exploragao indus-
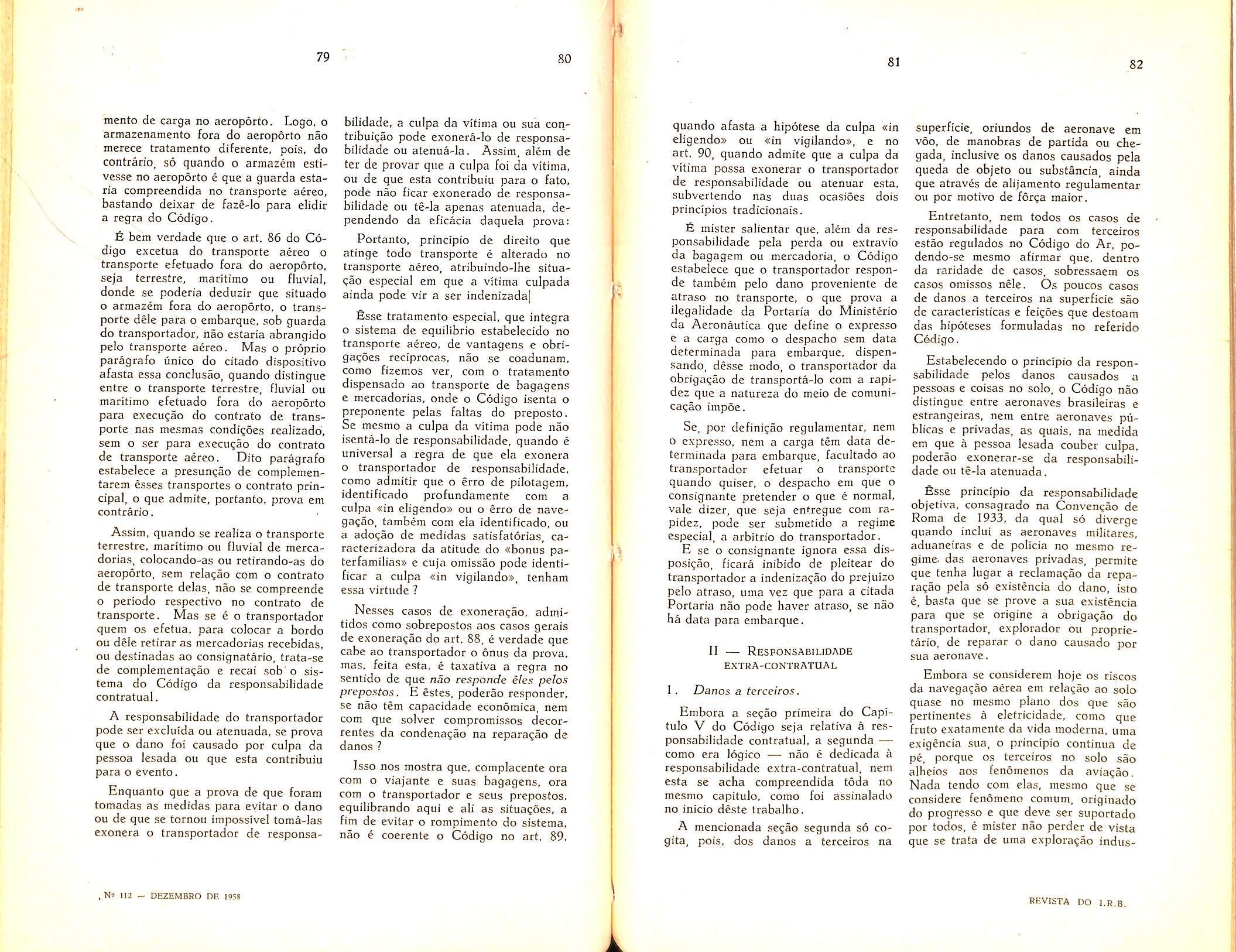
79 80
, N" 112 - DEZEHBRO DE 1958
81 82
REVISTA DO l.R.B. A
trial, um negocio. cujos riscos atingem tanto quem se utiliza do veiculo como quern o suporta por cima de sua propriedade.
E nessa qualidade, seria profundamente injusto que tal cxplora^ao viesse a lesar a propriedade ou raesmo a vida de quem Ihe esta alheio e ainda a vitima coubesse provar a culpa do transportador.
Havendo um dano injusto, cabe a repara^ao. E sendo uma imposi^ao da vida moderna. mas que Ihe pode acarretar prejuizos, deve quem aufere a vantagem da explora^ao reparar o dano que desta decorra, podendo, como e obvio exonerar-se ou ter a responsabilidade atenuada, se prova que a vitima cabe total ou parcialmente, culpa pelo evento.
Assumindo, como dissemos, feigoes variadas, os danos a terceiros no solo devem ser encarados nos diversos aspectos,, porque nem todos se resolvem da mesma maneira e nem todos foram suficientemente estudados de modo a dirimir as duvidas que possam oferecer.
Os danos causados pela aeronave em voo a pessoas ou bens no solo sao a modalidade classica de danos a tercei ros; danos produzidos no solo pela aeronave em voo. Ha que observar, porem, que o Codigo do Ar nao esclarece em que limites se encontra a aero nave em voo.
Por outro lado, alem do voo estende a responsabilidade tambem as manobras de partida e chegada, o que tern entendimento variado e discutido, nao permitindo exatamente conhecer quando se iniciam ou terminam tais manobras.
Evidentemcnte, estando examinando aqui a hipotese de «v6o», sem preocupa^ao quanto as manobras que o completam, antes ou depois da viagcm, nao haveria lugar para a analise dessas manobras, mas exatamente nelas esta a excegao da regra de que a repara?ao decorre do voo.
Portanto, teremos de examinar tam bem essas manobras, pesquisar em que extensao se ligam ao voo, que se compreende, pois, por manobras de partida ou de chegada.
Assim sendo, distinguimos duas nitidas situaijoes da aeronave. que permitem entender o alcancc da expressao «manobras», com desprezo de defini(joes nem sempre satisfatorias e quase sempre deficientes.
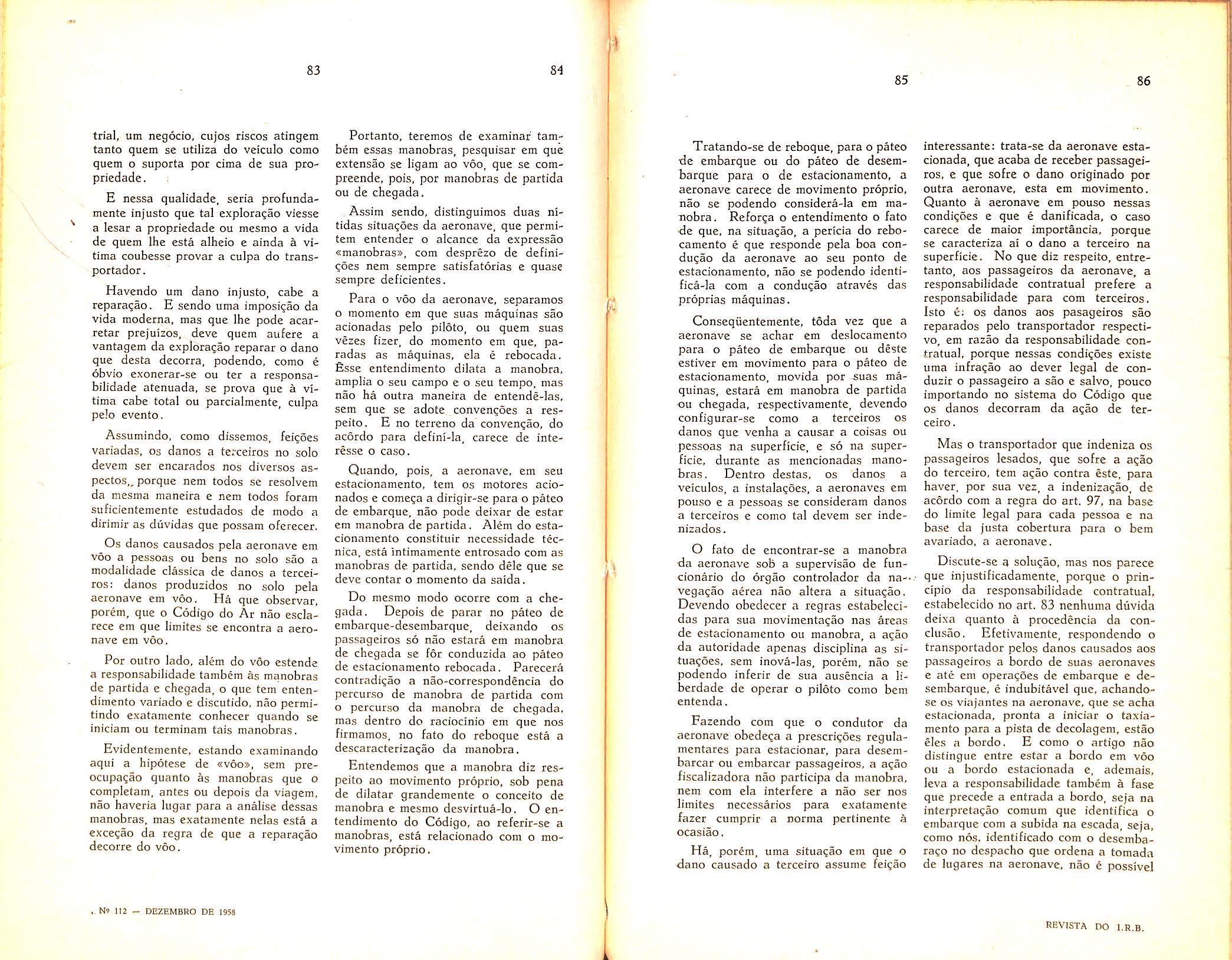
Para o voo da aeronave, separamos o momento em que suas maquinas sao acionadas pelo piloto, ou quem suas vezes fizer. do momento em que, paradas as maquinas, ela e rebocada. £sse entendimento dilata a manobra, amplia o seu campo e o seu tempo, mas nao ha outra maneira de entende-las. sem que se adote conven^oes a respeito. E no terreno da convengao, do acordo para defini-la, carece de interesse o caso.
Quando, pois. a aeronave. em seu estacionamento, tern os motores acionados e comega a dirigir-se para o pateo de embarque, nao pode deixar de estar em manobra de partida. Alem do esta cionamento constituir nccessidade tecnica. esta intimamente entrosado com as manobras de partida. sendo dele que se deve contar o momento da saida.
Do mesmo modo ocorre com a che gada. Depois de parar no pateo de embarque-deserabarquc, deixando os passageiros so nao estara em manobra de chegada se for conduzida ao pateo de estacionamento rebocada. Parecera contradigao a nao-correspondencia do percur.so de manobra de partida com o percurso da manobra de chegada, mas dentro do raciocinio em que nos firmamos, no fate do reboque esta a descaracterizagao da manobra.
Entendemos que a manobra diz respeito ao movimento proprio. sob pena de dilatar grandemente o conceito de manobra e mesmo desvirtua-lo. O en tendimento do Codigo, ao referir-se a manobras, esta relacionado com o mo vimento proprio.
Tratando-se de reboque. para o pateo tie embarque ou do pateo de desembarque para o de estacionamento, a aeronave carece de movimento proprio, nao se podendo considera-la cm ma nobra. Reforga o entendimento o fato de que, na situagao. a pericia do rebocamento e que responde pela boa condugao da aeronave ao seu ponto de estacionamento, nao se podendo identifica-la com a condugao atraves das proprias maquinas.
Conseqiientemente, toda vez que a aeronave se achar em deslocamento para o pateo de embarque ou deste estiver em movimento para o pateo de estacionamento, raovida por suas ma quinas. estara em manobra de partida ■ou chegada, respectivamente, devendo configurar-se como a terceiros os danos que venha a causar a coisas ou pessoas na superficie, e so na superficie, durante as mencionadas mano bras. Dentro destas, os danos a veiculos, a instalagdes, a aeronaves em pouso e a pessoas se consideram danos a terceiros e como tal devem ser indenizados.
O fato de encontrar-se a manobra da aeronave sob a supervisao de funcionario do orgao controlador da na-vegagao aerea nao altera a situagao. Devendo obedecer a regras estabelccidas para sua movimentagao nas areas de estacionamento ou manobra. a agao da autoridade apenas disciplina as situagoes. sem inova-las. porem, nao se podendo inferir de sua ausencia a liberdade de operar o piloto como bem entenda.
Fazendo com que o condutor da aeronave obedega a prescrigoes regulamentares para estacionar, para desembarcar ou embarcar passageiros, a agao fiscalizadora nao participa da manobra, nem com ela interfere a nao ser nos limites necessarios para exatamente fazer cumprir a norma pertinente a ocasiao.
Ha, porem, uma situagao em que o dano causado a terceiro assume feigao
interessante: trata-se da aeronave estacionada, que acaba de receber passagei ros. e que sofre o dano originado por outra aeronave. esta em movimento. Quanto a aeronave em pouso nessas condigoes e que e danificada, o caso carece de maior importaucia. porque se caracteriza ai o dano a terceiro na superficie. No que diz respeito. entretanto, aos passageiros da aeronave, a responsabilidade contratual prefere a responsabilidade para com terceiros. Isto e; OS danos aos pasageiros sao reparados pelo transportador respectivo, em razao da responsabilidade con tratual, porque nessas condigoes existe uma infragao ao dever legal de conduzir o passageiro a sao e salvo, pouco importando no sistema do Codigo que OS danos decorram da agao de ter ceiro.
Mas o transportador que indeniza os passageiros lesados, que sofre a agao do terceiro, tern agao contra este. para haver, por sua vez, a indenizagao, de acordo com a regra do art. 97, na base do limite legal para cada pessoa e na base da justa cobertura para o bem avariado, a aeronave.
Discute-se a solugao, mas nos parece que injustificadamente, porque o principio da responsabilidade contratual, estabelccido no art. 83 nenhuma duvida deixa quanto a procedencia da conclusao. Efetivamente. respondendo o transportador pelos danos causados aos passageiros a bordo de suas aeronaves e ate em operagoes de embarque e desembarque. e indubitavel que, achandose OS viajantes na aeronave, que se acha estacionada, pronta a iniciar o taxiamento para a pista de decolagem, estao eles a bordo. E como o artigo nao distingue entre estar a bordo em voo ou a bordo estacionada e, ademais, leva a responsabilidade tambem a fase que precede a entrada a bordo. seja na interpretagao comum que identifica o embarque com a subida na escada, seja, como nos. identificado com o desembarago no despacho que ordena a tomada de lugares na aeronave, nao e possiveJ
83
8d
N« 112 DEZEMBRO DE 1958 85 86
REVfSTA DO I.R.B,
disassociar do pen'odo de responsabiiidade aquele que corresponde a permanencia a bordo do veiculo estacionado.
Essa responsabilidade em rela^ao a terceiros no solo so pode ser excluida ou atenuada, como se disse, na medida em que a vitima haja contribuido para a produ^ao do dano. Assim, sc se trata de dano causado a bens moveis ou a semoventes. a repara^ao nao tern lugar se o proprietario respectivo, scu empregado ou preposto, agiram de maneira que, sem a sua a?ao, o dano nao ocorreria. Do mesmo modo acontecc com a reparagao de danos causados a pessoas, pelo fato de desobedecer a prescrigoes legais ou regulamentares relativas a seguran^a, ou de ter agido com imprudencia ou negligencia na observancia das regras de circulagao na area do aeroporto.
Entre tais ocorrencias sao freqiientes as entradas irregulares naquela area, a travessia de pistas, a aproximagao demasiada dos aparelhos cujas maquinas estejam em movimento, sem que o fagam em razao de oficio, e outras situagoes equivalentes,
Com rclagao a imoveis. porem, dificilraente se configura a culpa concorrente ou exclusiva do seu proprietario, embora nao seja impossivel, como pode ocorrcr no caso de omissao de providencia atinente a sinalizagao de obstaculo ou a construgao dessc imovel em area vizinha ao aeroporto. sem a obser vancia do gabarito fixado.
• Como criterio geral para entendimento da exclusao do dever de reparar, ou a sua atcnuagao, lembramos que ela e admitida sempre que se imponha a concliisao de que nao teria ocorrido o dano ou este nao assumiria as proporgoes que atingiu, se a imprudencia, a negligencia ou a impericia nao tivesse contribuido de parte da vitima para que ele se concretizasse ou assumisse aquela feigao,
Sao exemplos de situagoes dessa natureza a desobediencia a regras de circulagao, de permanencia ou de estacio-
88
namento no aeroporto; as atitudes estranhas ou alheias as atividades que nele devem reinar; as incursoes imprudentes em rccinto vedado ou em area de seguranga; a negligencia quanto aos avisos; a imprudencia ou impericia na condugao de veiculos; a falta de cuidado no seu estacionamento, mesmo em local para tanto destinado; o abastecimento sem cuidado: a utilizagao de objetos proibidos e outras mais que seria ocioso relacionar.
2. AUjsmentos e qaedas de coisas ou substancias
Segundo a regra do art. 51 do Codigo do Ar, nenhuma aeronave alijara, a titulo de lastro, senao agua ou areia fina, nao sendo permitido langar de bordo da aeronave em voo quaisquer objetos, ressalvados a correspondencia postal, anuncios e boletins cm papel solto, mediante autorizagao especial.
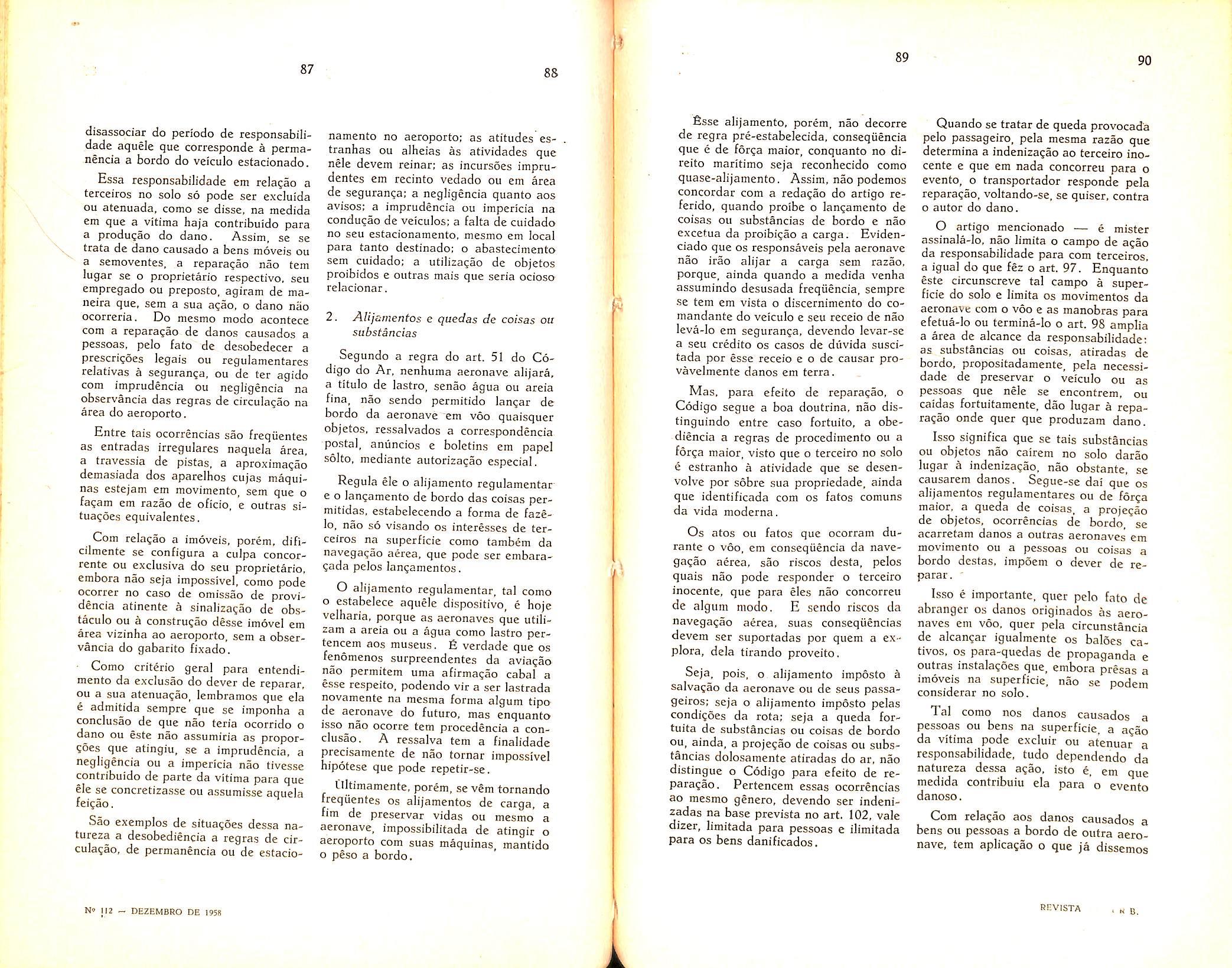
Regula ele o alijamento regulamentar e 0 langamento de bordo das coisas permitidas, estabelecendo a forma de fazelo, nao so visando os interesses de ter ceiros na superficie como tambem da navegagao aerea, que pode ser embaragada pclos iangamentos.
O alijamento regulamentar. tal como o estabelece aquele dispositivo, e hoje velharia, porque as aeronaves que utilizam a areia ou a agua como lastro pertencem aos museus, fi verdade que os fenomenos surpreendentes da aviagao nao permitem uma afirmagao cabal a esse respeito. podendo vir a ser lastrada novamente na mesma forma algum tipo de aeronave do futuro, mas enquanto isso nao ocorre tem procedencia a conclusao. A ressalva tem a finalidade precisamente de nao tornar impossivel hipotese que pode repetir-se.
Ultimamente, porem. se vim tornando frequentes os alijamentos de carga, a fim de preservar vidas ou mesmo a aeronave, impossibilitada de atingir o aeroporto com suas maquinas, mantido o peso a bordo.
fisse alijamento, porem, nao decorre de regra pre-estabelecida, conseqiiencia que e de forga maior, conquanto no direito maritime seja reconhecido como quase-alijamento. Assim, nao podemos concordar com a redagao do artigo referido, quando proibe o langamento de coisas ou substancias de bordo e nao excetua da proibigao a carga. Evidenciado que os responsavcis pela aeronave nao irao alijar a carga sem razao, porque, ainda quando a medida venha assumindo desusada frequencia, sempre se tem em vista o discernimento do comandante do veiculo e seu receio de nao leva-lo em seguranga, devendo levar-se a seu credito os casos de diivida suscitada por esse receio e o de causar provavelmente danos em terra.
Mas. para efeito de reparagao, o Codigo segue a boa doutrina, nao distinguindo entre caso fortuito, a obediencia a regras de procedimento ou a forga maior, visto que o terceiro no solo e estranho a atividade que se desenvolve por sobre sua propriedade. ainda que identificada com os fatos comuns da vida moderna,
Os atos ou fatos que ocorram durante o voo, em conseqiiencia da nave gagao aerea, sao riscos desta, pelos quais nao pode responder o terceiro inocente, que para eles nao concorreu de algum modo. E sendo riscos da navegagao aerea, suas conseqiiencias devem ser .suportadas por quern a explora, dela tirando proveito,
Seja. pois, o alijamento imposto a salvagao da aeronave ou de seus passageiros; seja o alijamento imposto pelas condigoes da rota; seja a queda fortuita de substancias ou coisas de bordo ou. ainda, a projegao de coisas ou subs tancias dolosamente atiradas do ar, nao distingue o Codigo para efeito de re paragao. Pertencem essas ocorrencias ao mesmo genero, devendo ser indeni2adas na base prevista no art. 102, vale dizer, limitada para pessoas e ilimitada para os bens danificados.
Quando se tratar de queda provocad'a pelo passageiro, pela mesma razao que determina a indenizagao ao terceiro inocente e que em nada concorreu para o evento, o transportador responde pela reparagao, voltando-se, se quiser, contra o autor do dano.
O artigo mencionado — e mister assinala-lo, nao limita o campo de agao da responsabilidade para com terceiros, a igual do que fez o art. 97. Enquanto este circunscreve tal campo a super ficie do solo e limita os movimcntos da aeronave com o voo e as manobras para efetua-lo ou termina-Io o art. 98 amplia a area de alcance da responsabilidade: as substancias ou coisas, atiradas de bordo, propositadamente, pela necessidade de preservar o veiculo ou as pessoas que nele se encontrem, ou caidas fortuitamente, dao lugar a repa ragao onde quer que produzam dano.
Isso significa que se tais substancias ou objetos nao cairera no solo darao lugar a indenizagao, nao obstantc, se causarem danos. Segue-se dai que os alijamentos regulamentares ou de forga maior, a queda de coisas. a projegao de objetos. ocorrencias de bordo se acarretam danos a outras acronavcs em movimento ou a pessoas ou coisas a bordo destas, impoem o dever de re parar. ■
Isso e importante. quer pelo fato de abranger os danos originados as aero naves em voo, quer pela circunstancia de alcangar iguaimente os baloes cativos, OS para-quedas de propaganda e outras instalagoes que. embora presas a imoveis na superficie. nao se podem considerar no solo.
Tal como nos danos causados a pessoas ou bens na superficie. a agao da vitima pode excluir ou atenuar a responsabilidade, tudo dependendo da natureza dessa agao. isto e, em que medida contribuiu ela para'o evento danoso.
Com relagao aos danos causados a bens ou pessoas a bordo de outra aero nave, tem aplicagao o que ja dissemos
87
N' jI2 - DEZEMBRO DE 1958 89 90
RCVISTA • H B.
quanto aos danos a terceiros na superficie, vale dizer, que a indenizagao se faz com base na responsabilidade contratual, cabendo ao transportador ou proprietario promover a reparasao pelo tcansportador ou proprietario da aeronave causadora do dano ou de cujo bordo este se produziu.
Para finalizar, desejamos mencionar a ideia que vimos desenvolvida algures, no sentido de que o art. 98 reitera. quanto ao alijamento ou queda de objetos^e substancias, o que dispoe o art. 97; estio abrangidos pela reparagao apenas OS danos causados a pessoas ou bens na superficie, donde a utilizagao das expressoes.inidais do artigo «Nas mesmas condiq6es». Devemos entender. porem, essas expressoes como relativas as categor.as de aeronaves responsabi'. ^ l.f. o" atenuasao da xesponsabdidade, nunca. entretanto safaiM 7"""T" ^«Pon- sab.bdade. sob pena de abrir-se urn hmto na area de reparagao. Porque quanto aos danos a aeronaves e bens'
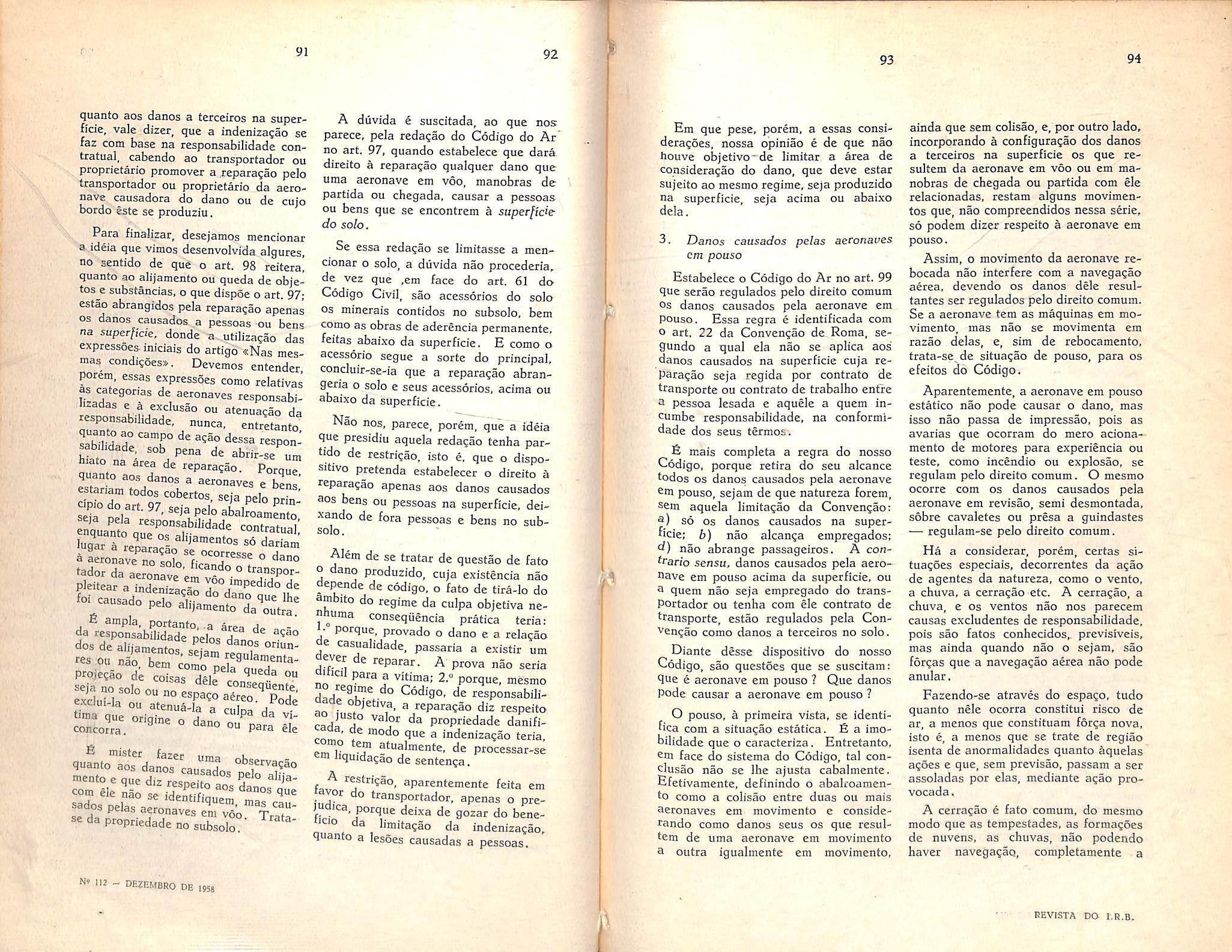
A duvida e suscitada, ao que nos parece, pela redagao do Codigo do Ar no art. 97, quando estabelcce que dara direito a repara^ao qualquer dano que uma aeronave em voo, raanobras de partida ou chegada, causar a pessoas ou bens que se encontrem a superficie do solo.
Se essa redagao se limitasse a men cionar o solo, a duvida nao procederia, de vez que ,em face do art. 61 do Codigo Civil, sao acessorios do solo OS minerais contidos no subsolo, bem como as obras de aderencia permanente, feitas abaixo da superficie. E como o acessorio segue a sorte do principal, concluir-se-ia que a reparagao abrangeria o solo e seus acessorios, acima ou abaixo da superficie.
Nao nos, parece, porem. que a ideia que presidiu aquela reda^ao tenha partido de restrigao. isto e, que o dispo sitive pretenda estabelecer o direito a reparagao apenas aos danos causados aos bens ou pessoas na superficie, deixando de fora pessoas e bens no subsolo.
Alem de se tratar de questao de fate
E ampla, portanto,.a area Ha da responsabilidade pelos
projegao de coisas HaI
sados pelas aeronave em vfio TrS"* 3-dapropriedadenosubLr"
0 dano produzido, cuja existencia nao aepende de codigo, o fato de tira-lo do ambrto do regime da culpa objetiva nenhuma consequencia pratica teria: X- porque, provado o dano e a relacao e casualidadc, passaria a existir um
71-7 ^^Paxar. A prova nao seria no'rL^^'^^ j vjtima; 2." porque, mesmo riaHA ° Codigo, de responsabilian ° a reparaqao diz respeito mhI propriedade danificom^' » ^ indenizagao teria, cm \iJ,7 de processar-se quidagao de sentenga.
A restri^ao, aparentemente feita em lavor do transportador, apenas o preP°xque deixa de gozar do bene- cio da limitagao da indenizagao, quanto a lesoes causadas a pessoas.
Em que pese, porem, a essas consideragoes, nossa opiniao e de que nao houve objetivo'de limitar a area de consideraQao do dano, que deve ester sujeito ao mesmo regime, seja produzido na superficie, seja acima ou abaixo dela.
3. Danos causacfos pelas aeronaves em pouso
Estabelcce o Codigo do Ar no art. 99 que serao regulados pelo direito comum OS danos causados pela aeronave em pouso. Essa regra e identificada com o art. 22 da Conven^ao de Roma, segundo a qual ela nao se aplica aos danos causados na superficie cuja reparagao seja regida por contrato de transporte ou contrato de trabalho entfe u pessoa lesada e aquele a quern incumbe responsabilidade, na conformidade dos seus termos.
E mais completa a regra do nosso Codigo, porque retire do seu alcance todos OS danos causados pela aeronave em pouso, sejam de que natureza forem, sem aquela limitaqao da Convenqao: s) so OS danos causados na super ficie; b) nao alcanqa empregados; d) nao abrange passageiros. A contfario sensu, danos causados pela aero nave em pouso acima da superficie, ou n quern nao seja empregado do trans portador ou tenha com ele contrato de Iransporte, estao regulados pela Con^en^ao como danos a terceiros no solo.
Diante desse dispositive do nosso Codigo, sao qucstoes que se suscitam: que e aeronave em pouso ? Que danos Pode causar a aeronave em pouso ?
O pouso, a primeira vista, se identifica com a situaqao estatica. £ a imobilidade que o caracteriza. Entretanto, 6m face do sistema do Codigo, tal conclusao nao se Ihe ajusta cabalmente. Efetivamente, definindo o abalroamenfo como a colisao entre duas ou mais aeronaves em movimento e considexando como danos seus os que resultem de uma aeronave em movimento a outra igualmente em movimento.
ainda que sem colisao, e, por outro lado, incorporando a configura^ao dos danos a terceiros na superficie os que resultem da aeronave em voo ou em manobras de chegada ou partida com ele relacionadas, restam alguns movimentos que, nao compreendidos nessa serie, so podem dizer respeito a aeronave em pouso.
Assim, o movimento da aeronave rebocada nao interfere com a navegagao aerea. devendo os danos dele resultantes ser regulados pelo direito comum. Se a aeronave tcm as maquinas em mo vimento, mas nao se movimenta em razao delas, e, sim de rebocamento. trata-se. de situagao de pouso, para os efeitos do Codigo.
Aparentemente, a aeronave em pouso estatico nao pode causar o dano, mas isso nao passa de impressao, pois as avarias que occrram do mero acionamento de motores para experiencia ou t'este, como incendio ou explosao, se regulam pelo direito comum. O mesmo ocorre com os danos causados pela aeronave em revisao, semi desmontada, sobre cavaletes ou presa a guindastes — regulam-se pelo direito comum.
Ha a considerar, porem, certas situaqoes especiais, decorrentes da aqao de agentes da natureza, como o vento, a chuva, a cerraqao etc. A cerraqao, a chuva, e os ventos nao nos parecem causas excludentes de responsabilidade, pois sao fatos conhecidos,. previsiveis, mas ainda quando nao o sejam, sao forqas que a navegaqao aerea nao pode anulac.
Fazendo-se atraves do espaqo, tudo quanto nNe ocorra constitui risco de ar, a menos que constituam forqa nova, isto e, a menos que se trate de regiao isenta de anormalidades quanto aquelas aqoes e que, sem previsao, passara a ser assoladas por elas, mediante aqao provocada.
A cerraqao c fate comum, do mesmo mode que as tempestades, as formaqSes de nuvens, as chuvas, nao podendo haver navegaqaq, corapletamente a
91 92
;»r.S:SSizri:r
pSiSii
° - pa« £
N' 112 ~ DE2BM8RO DE I»S i 93
94
PEVISTA DO l.R.B.
salvo da agao desses agentes. Nao se podendo ignora-jos, e impossivel abstrai-Ios. fi preciso, porem, nao confundir condi?6es normals de rota re gional com condi?oes anormais de certas regioes. Queremos dizer: a entrada da aeronave em regioes de condi^oes anormais e que constitui a anormalidade. e nao a navegaqao em rotas de condigoes normais, mesmo tormentosas, ja conhecidas. Em suma: o desconhecido e que classi/ica a excludente. Se e conhecido, nao exclui; se e desconhecido. inesperado, exclui.
Podera acontecer que agente dessa natureza, subito e fraigpeiro, traindo a previsao, venha a constituir fatoc de avarias e danos, mas pode acontecer tambem que as condigoes da ocorrencia anulem a excludente.
Assim, achando-se a aeronave em pouso em local comum. a ela atribuido. acautelada contra a agao comum, conhecida. prcvisivel, ps danos que ela seja forgada a produzir por forga desse agente nao devem constituir excegao a regra da reparagao.
Se vento mais forte do que o normalmente predominante provoca os danos, atirando uma aeronave contra outra estando a pnmeira em pouso, nao deve tratar-se de avaria regulavel pelo direito comum, exceto se as condigoes de estacionamento forem anormais. A taita de calgo, a diregao em que se encontre a localizagao em relagao ao ataque do agente da natureza nao constituem omissao de precaugoes a caracterizar a negligencia. imprudeiicia
b) danos sujeitos a reparagao em virtude de responsabilidade para com terceiros, quando ela foi levantada no ar, mantida por pequeno espago de tempo em razac do piano de sustentagao, e impelida contra outra, a que causa avaria. Sem estar com as maquinas em funcionamento, voou e produziu danos (seria a reciproca da situagao da aero nave imobilizada estatica, cujos raotores funcionam, e que causa dano):
c) danos de abalroamento, quando a aeronave e impelida pelo vento contra outra igualmcnte impelida pelo vento, estando ambas em movimento, pois. fi a situagao caracteristica do abalroa mento.
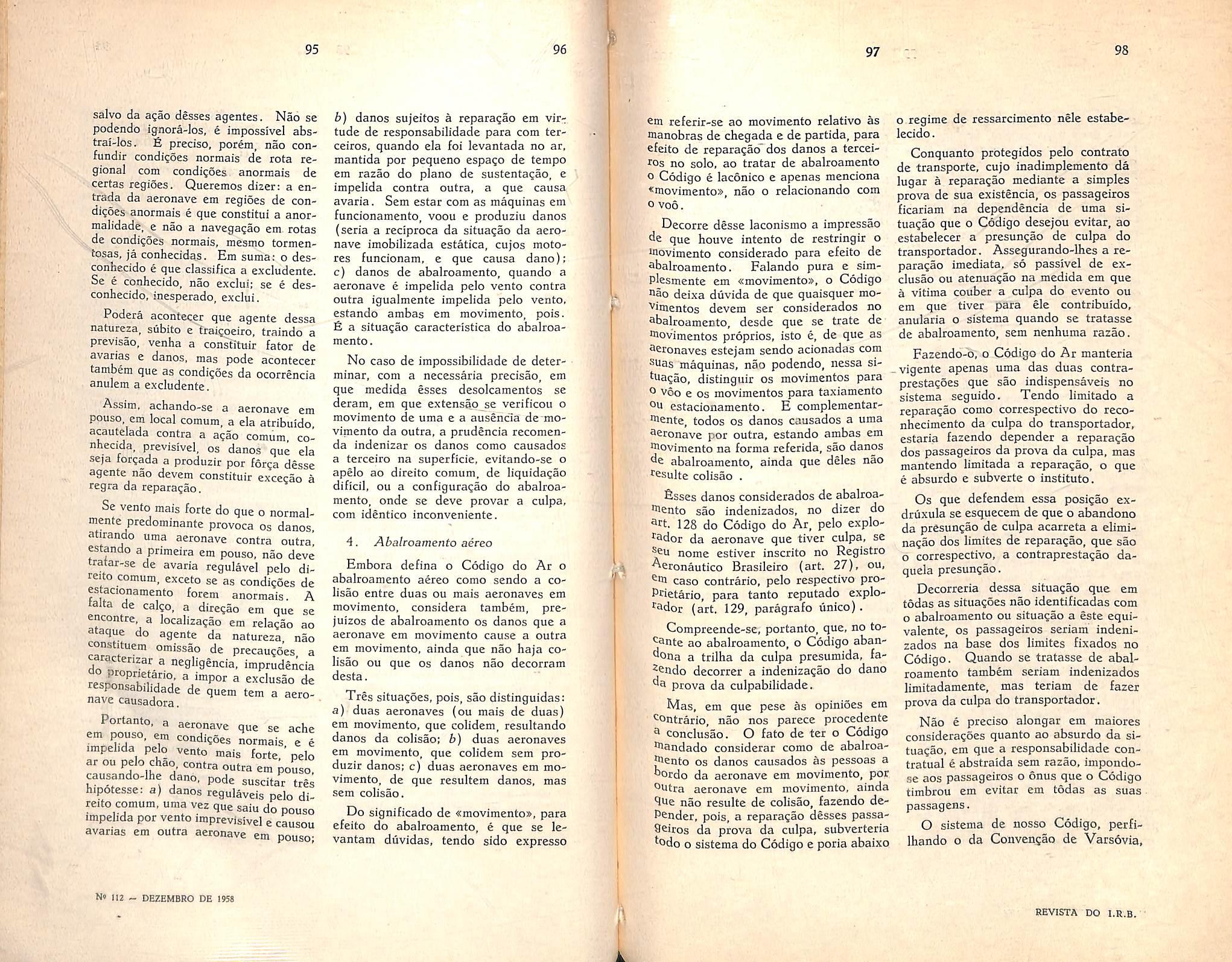
No caso de impossibilidade de determinar, com a necessaria precisao, em que medida esses desolcamentos se deram. em que extensao se verificou o movimento de uma e a ausencla de-movimento da outra, a prudencia recomenda indenizar os danos como causados a terceiro na supcrficie, evitando-se o apelo ao dlreito comum, de liquidagao dificil, ou a configuragao do abalroa mento, onde se deve provar a culpa, com identico inconveniente.
4. Abalroamento aereo
Embora define o Codigo do Ar o abalroamento aereo como sendo a colisao entre duas ou mais aeronaves em movimento, considera tambem, prejuizos de abalroamento os danos que a aeronave cm movimento cause a outra em movimento, ainda que nao haja colisao ou que os danos nao decorram desta.
Cm referir-se ao movimento relative as Dianobras de chegada e de partida, para efeito de reparagao' dos danos a terceiros no solo, ao tratar de abalroamento D Codigo e laconico e apenas menclona *movimento», nao o relacionando com 0 vo6.
Decorre desse laconismo a impressao de que houve intento de restringir o 'novimento considcrado para efeito de abalroamento. Falando pura e simPlesmente em «moviracnto», o Codigo "ao deixa diivida de que quaisqucr mo^imentos devem ser considerados no abalroamento, desde que se trate de "lov'imentos proprios, isto e, de que as Aeronaves estejam sendo acionadas com ®Uas maquinas, nao podendo, nessa si'uagao, distinguir os movimentos para o v6o e OS movimentos para taxiamento Ou estacionamento. E complementar"lente, todos os danos causados a uma "eronave por outra, estando ambas cm "lovimento na forma referida, sao danos abalroamento, ainda que deles nao 'esulte colisao
o regime de ressarcimento nele estabelecido.
Conquanto protegidos pelo contrato de transporte, cujo inadimplemento da lugar a reparagao mediante a simples prova de sua existencia, os passageiros ficariam na dependencia de uma si tuagao que 0 Codigo desejou evitar, ao estabelecer a presungao de culpa do transportador. Assegurando-lhes a re paragao imediata, so passivel de ex clusao ou atenuagao na medida em que a vitima couber a culpa do evento ou em que tiver para ele contribuldo, anularia o sistema quando se tratasse de abalroamento, sem nenhuma razao.
Fazendo-o, o Codigo do Ar manteria . vigente apenas uma das duas contraprestagoes que sao indispensaveis no sistema seguido. Tendo limitado a reparagao como correspectivo do reconhecimento da culpa do transportador, estaria fazendo depender a reparagao dos passageiros da prova da culpa. mas mantendo limitada a reparagao, o que e absurdo e subverte o instituto.
Os que defendem essa posigao exdruxula se esquecem de que o abandono da presungao de culpa acarreta a eliminagao dos limites de reparagao, que sao 6 correspectivo, a contraprestagao daquela presungao.
resDonf
^ ^ exclusao de .rstdta'
Portanto. a aeronave que se ache em pouso, em condigoes normais e I .mpehda pelo vento mais forte, pelo ar ou pelo chao. contra outra em poSso, causando-lhe dano, pode suscitar tres hipotesse: a) danos regulaveis pelo direito comum. uma vez que saiu do pouso impehda por vento imprevisivel e causou avanas em outra aeronave em pouso:
Tres situagoes, pois, sao distinguidas: a) duas aeronaves (ou mais de duas) em movimento, que colidem, resultando danos da colisao; b) duas aeronaves cm movimento, que colidem sem pro duzir danos; c) duas aeronaves em mo vimento, de que resultem danos, mas sem colisao.
Do significado de «movimcnto», para efeito do abalroamento, e que se levantam duvidas, tendo sido expresso
fisses danos considerados de abalroa'"ento sao indenizados, no dizer do 128 do Codigo do Ar, pelo explo^"dor da aeronave que tiver culpa, se nome estiver inscrito no Registro ■^eronautico Brasileiro (art. 27), ou, caso contrario, pelo respectivo proPrietario, para tanto reputado explo^ador (art, 129, paragrafo unico) Compreende-sc, portanto, que, no to^ante ao abalroamento, o Codigo abanuona a trilha da culpa presumida, fa^^ndo decorrer a indenizagao do dano prove da culpabilidade.
Mas, em que pese as opinioes em Contrario, nao nos parecc procedente ® conclusao. O fato de ter o Codigo '"andado considerar como de abalroaJ"ento os danos causados as pessoas a uordo da aeronave em movimento, per °utra aeronave em movimento, ainda lue nao resulte de colisao, fazendo dePender, pois, a reparagao desses passa9eiros da prove da culpa, subverteria ^odo 0 sistema do Codigo e poria abaixo
Decorreria dessa situagao que em todas as situagoes nao identificadas com o abalroamento ou situagao a este equivalente, os passageiros seriam indeni zados na base dos limites fixados no Codigo. Quando se tratasse de abal roamento tambem seriam indenizados limitadamentc, mas teriam de fazer prova da culpa do transportador.
Nao e preciso alongar em maiores consideragoes quanto ao absurdo da si tuagao. em que a responsabilidade contratual e abstralda sem razao, impoado.se aos passageiros o onus que o C6digo timbrou em evitar em todas as suas passagens.
O sistema de nosso Codigo. perfiIhando o da Convcnsao de Vars6via,
95
N« 112 - DEZEMBRO DE 1958 96
97 - 98
REVISTA DO I.R.B.
consiste precisamenfe em aliviar daquele onus o passageiro, fazendo presumir a culpa do transportador, assegurando-]he. porem, a repara^ao em limites estabelecidos ho intcressc comum. Se um dos lados dessa balance 6 movido,_ para dma ou para baixo, a manuten^ao do outro na situasao ante rior impiica desequillbrio, desajuste.
Conscquentemcnte, a indeniragao dos pasMgeiros, bagagens e mercadorias a bordo da aeronave que colide com outra ou que. nao colidindo com eia, vem a sofrer danos em consequencia de sua a?ao, e limitada, independendo da prova de culpa. '
Essa prova tem lugar para a repara?ao dos danos sofridos pela aeronave, que e igualmente injusto, mas nao frauda a natureza da repara«ao, como ocorreria com o ressardmento aos passageiros.
festes sao indcnizados em razao da responsabilidade contratual, nos limites
"bendo a o!,.. situagoes que 0 Codigo menciona: culpa da vitima ou contribuigao para a verificagao
feraT ^^^0. a recGsa tera de ser d.scutida, a fim de comprovar em que extensao a culpa contribuiu para o evento.
fe£ deve ser
rd?c5ei das reiacoes dele como o outro envolvido
£sses danos sofridos pelo transnor-
geiros, bagagens e mercadorias e igualaeronave e a t?ipu- lacao dependem da prova de culpa pLa que o transportador inocente seia ressarcido pelo que tem culpa.
(repara?ao dos danos originados a aeronave), devendo, porem, para tanto, provar a culpa do outro transportador.
Se essa culpa for comum,a repara?ao guardara relagao com a gravidade da falta ou, se nao se puder estabelecer proporgao, dividida igualmente entre os transportadores. Vale dizer; somamse as indenizagoes pagas no case de responsabilidade contratual com as indenizagoes devidas em cada caso pelos danos materiais e divide-se o total por ambos. j
Havcra um caso em que, recebida do respectivo transportador a indenizagao em fungao do contrato de transporte, podera o passageiro pleitear a reparagao acima dos limites estabele cidos no Codigo: e quando aquele nao faz a comunicagao do abalroamento as autoridades do aerodromo mais proxi mo, porque ai a lei condiciona a limit'agao aquela providencia. Se o trans portador nao a faz, nao pode prevaiecer-se dos limites.
Ha que considerar, entretanto, um aspecto que, geralmente, e astraido no estudo do abalroamento. fi o que diz respeito ao transportador que paga a indenizagao nos limites do Codigo, ressarcindo os danos causados aos passa geiros mediante seguro destes, e, depois, pleiteia o reconhecimento da culpa do outro transportador, para haver maior indenizagao.
Nessc caso, nao nos parece legitima a pretensao, porque implicaria locupletamento ilicito, nao se admitindo que invoque a culpa para receber indenizagao maior do que pagou, nera sendo admissivel que aja em nome dos passa geiros, sem delegagao destes. CabeIhes pleitear, invocando a culpa, outra reparagao do transportador culpado, aquele que nao se beneficia da limitagao da reparagao.
senao a culpa da vitima, porque a culpa do transportador e presumida e para suprir sua responsabilidade e que existe 0 seguro, (e devido em fungao da inexecugao das clausulas respectivas) ele pode nao pagar o seguro do casco da aeronave, fundado em que se trata de reparagao a cargo do opcrador que tem culpa, a menos que prefira pagMo e agir regressivamente contra o ultimo.
Alias, em grande parte as dificuldades que o problema do abalroamento oferece sao aparentes quanto a repa ragao, dado o sistema de garantia obrigatoria adotado pelo Codigo. Se nao se deixa fraudar csse sistema de ga rantia, se e!a e eficaz como quando reveste a forma do seguro, o problema se dilui, tal como se agrava quando inexiste seguro, porque. fora deste. a garantia so e garantia na medida em que o transportador nao discute.
11 — A LIMITAgAO DA REPARACAO
No sistema de responsabilidade da Convengao de Varsovia, perfilhado pelo nosso Codigo do Ar, a limitagao da reparagao e correspectivo do reco nhecimento. ou melhor, da presungao de culpa do transportador. Estabelccendo presungao juris tantum de culpa, invertendo o onus da prova que, do contrario, exigiria uma demanda em que a vitima, ou seus herdeiros ou sucessores, teria de provar dlficilmente aquela culpa, limitou a indenizagao a cargo do transportador, permitindo-lhe conhecer em que extensao teria de responder.
Salvo, portanto, convengao em con trario, o transportador so responde no transporte contratual pelos scguintes limites de reparagao:
a) Cr$ 100.000,00 por pessoa:
d) 10 % do prejuizo comprovado, resultante de atraso no transporte de passageiro, e 10 % sobre o valor da mercadoria.
Significa isso que, no caso de con,vengao em contrario, nao prevalecenr aqueles limites, devendo-se, porem, entender tal convengao como a que diga respeito a limites superiores e nao inferiores. Sendo de ordem publica internacional as normas que vedam, no con trato de transporte aereo, clausulas que cstabelecem limites de reparagao inferiores aos fixados no Codigo (art. 9,°), e nula toda e qualquer convengao atraves da qual se altere para menos o limite estabelecido. Mas a nulidade da clausula que estabelega limite inferior ao do Codigo nao impiica a nulidade do contrato de transporte respectivo, que continua valido, como se ela nao existisse. Donde a conclusao de licitude das clausulas que alterem para mais OS limites de reparagao fixados no Codigo do Ar.
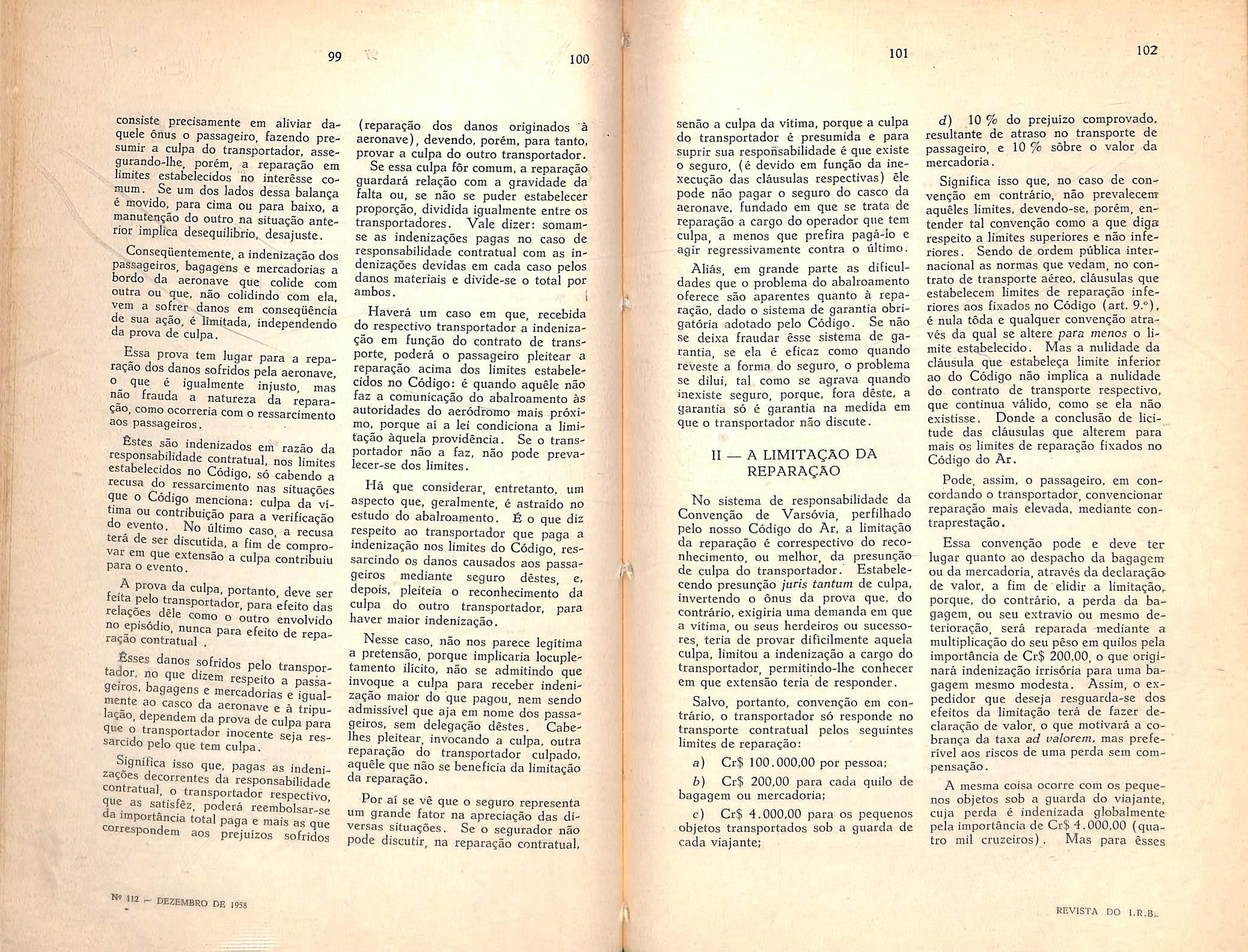
Pode, assim. o passageiro, em concordando o transportador, convencionar reparagao mais elevada, mediante contraprestagao.
Essa convengao pode e deve ter lugar quanto ao despacho da bagagem ou da mercadoria, atraves da declaragao de valor, a fim de'elidir a limitagao, porque, do contrario, a perda da ba gagem, ou seu extravio ou mesmo deterioragao, sera reparada mediante a multiplicagao do seu peso em quilos pela importancia de Cr$ 200,00, o que originara indenizagao irrisoria para uma ba gagem mesmo modesta. Assim, o expedidor que deseja resguarda-se dos efeitos da limitagao tera de fazer de claragao de valor, o que motivara a cobranga da taxa ad valorem, mas preferlvel aos riscos de uma perda sera compensagao,
contratual, o transportador respectivo
responsabilidade
9ue as satisfez. podera reembffsar-se
Ua importancia total paga e mais as que correspondem aos prejuizos sofrido!
Por ai se ve que o seguro represcnta um grande fator na apreciagao das diversas situagocs. Se o segurador nao pode discutir, na reparagao contratual.
b) Cr$ 200,00 para cada quilo de bagagem ou mercadoria;
c) Cr$ 4,000,00 para os pequenos objetos transportados sob a guarda de cada viajante;
A mesma coisa ocorre com os peque nos objetos sob a guarda do viajante, cuja perda e indenizada globalmente pela importancia de Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros). Mas para esses
99 100
0 N' 112 raZBMBRO DE 1958 101
102
REVISTA DO i.R.B,.
105
o�jetosadeclaraçãodevalornãopermiteacobrançadenenhumadicional. Sequantoaopassageiroeàsmercadoriasoubagagens,oCódigoéexpress�_emreferir-sea convenção em contrarzo, oqueexigeacôrdodevontad,:sparaelevároslimitesderepa-
J�açao, comrelaçãoaospequenosobjetos issoédispensável,contentando-seêle emqueameradeclaraçãodevalorelidiráolimite.-.
1::eita,portanto,peloviajanteadeclaraçaode�ueospequenosobjetosque c�nservarasobsuaguardatêmdetermmadovalor,afal�deimpugnaçãoda partedotransportadoi"-0}zriga-oaoin�egralressarcimento.Éêfaroquetal impugnaçãonãopodeserarbitráriada mesma�ormaquenãoopoderás�ra declaraçaodoviajante.Feitanoentantoadeclaração,impugnadapelo 1ªdsportador,e�posteriormente,fixaª.eco�umacordonoslimites.razoàve1s,porestesresponderáoúltimo.
-A_impu�naçãotemporfinalidade, �aoimpedirqueaimportânciaatribuída �ustamenteaospequenosobjetosseja impugnadapelotransportadoreassim anuladaporatoseu ,mas,sim'.evita; queselhesatribuavalorexagerado.
Afa�ul?adedeimpugnaçãosecontém �?�limite:dasuperestimação.Seo �aJant b enaosuperestimaseusobjetos naocaeaimpugnação.
H·a,entretantocasosemque1·. taçãon - ' a1m1tratl· ao ) prevalecenotransportecong �a. a notransportegratuitoou rac1osoemqu l.ta 'e ª responsabilidadese 1m1aosp·· 1reiuizosresultantesdedolo oucu l pagravedotransportador·b)no ecupadavít· d' excluída ima ,quanopoderáser ade·) ouh�tenuadaaresponsabilid cnaipótesededolodotrans portaoroud nenhu. e1:repostoseu,quando clue mef�1t?teraoosartigosqueexam.ou_limitamsuaresponsabilidade; d ace1taçaodeviajantesemobilhete e hp�ssagem,demercadoriasemoco necimentooudebaa petent g gemsemacomnã edno_taquandootransportador opoeraprevalecer-sedasdisposi-
çõesquelheexcluemoulimitamares.-· ponsabilidade.
Aindanaresponsabilidadecontratual,umahipótesedegrandeinterêsse écontempladapeloCódigodemaneira injustificável.Trata-sedaregracontidanoart.19daConvençãodeVar,. sóvia , noqualseachainscritooprincípiodaresponsabilidadedotransportadorpelosprejuízosdecorrentesdo atrasonotransportedoviajante,de suasbagagensedemercadorias.
Levadopelaidéiadalimitação,o legisladorbrasileiroseexcedeuquando ampliouaregradaConvenção,nosentidodelimitarareparaçãoporatraso a10 % sôbreoprejuízoprovadopelo passageiroousôbreovalordasmerca,. dorias-art.87.
Nãoéfelizadisposição,_p5>rque: l.0 nãomencionaabagagemrêgistrada,nemabagagemdemão,podendo entender-sesuacompreensãonaex,. pressão«mercadorias»,tantocomoé possívelrepeti-la,porque,vindofalandosistemàticamentenastrêscoisas comodiferentesnadaautorizaampliar oconceitodemercadoriaabagagens.
2.0 tratando-sederesponsabilidade contratualondeadotouainversãodo ônusdaprovacontraotransportador, concedendo-lhealimitação,desequilib:ouosistema,exigindoumaprovaque s��eefetivaemjuízo.Obriga,pois,o v1a1ante,expedidorouconsignanteda mercadoriaademandarotransportador.
3:ºcometeflagranteinjustiça,porque, venf1cadooprejuízo,decorrentede atrasodoviajante,dabagagemouda mercadoria,hipótesesmuitomaisfreqüentesdoquedáaentenderosilêncio dosautores,autorizaaindenizaçãona basede1/1O(umdécimo)domontante,quandoasoluçãoracionalseria pelomenos,atribuiraotransportador metadedo«quantum»apurado.
4.ºalémdisso,incluindoseutexto umaregrasimbólicadereparação,porqueoutrocaráternãotemoartigo,
depoisdeacentuaremdiversasoportunidadesanecesstdadedareparação,só eli�idaemcasosexpressos.
DaínossadiscordânciaaocomentáriodeHugoSimas(CódigoBrasileiro doAr,1939,pág.194),quandofriza anaturezainjustificáveldalacunana ConvençãodeVarsóvia ,apoiadona abalizadaopiniãodeFiladelfodeAzevedoelouvaosuprimentofeitopelo legisladorbrasileiro.
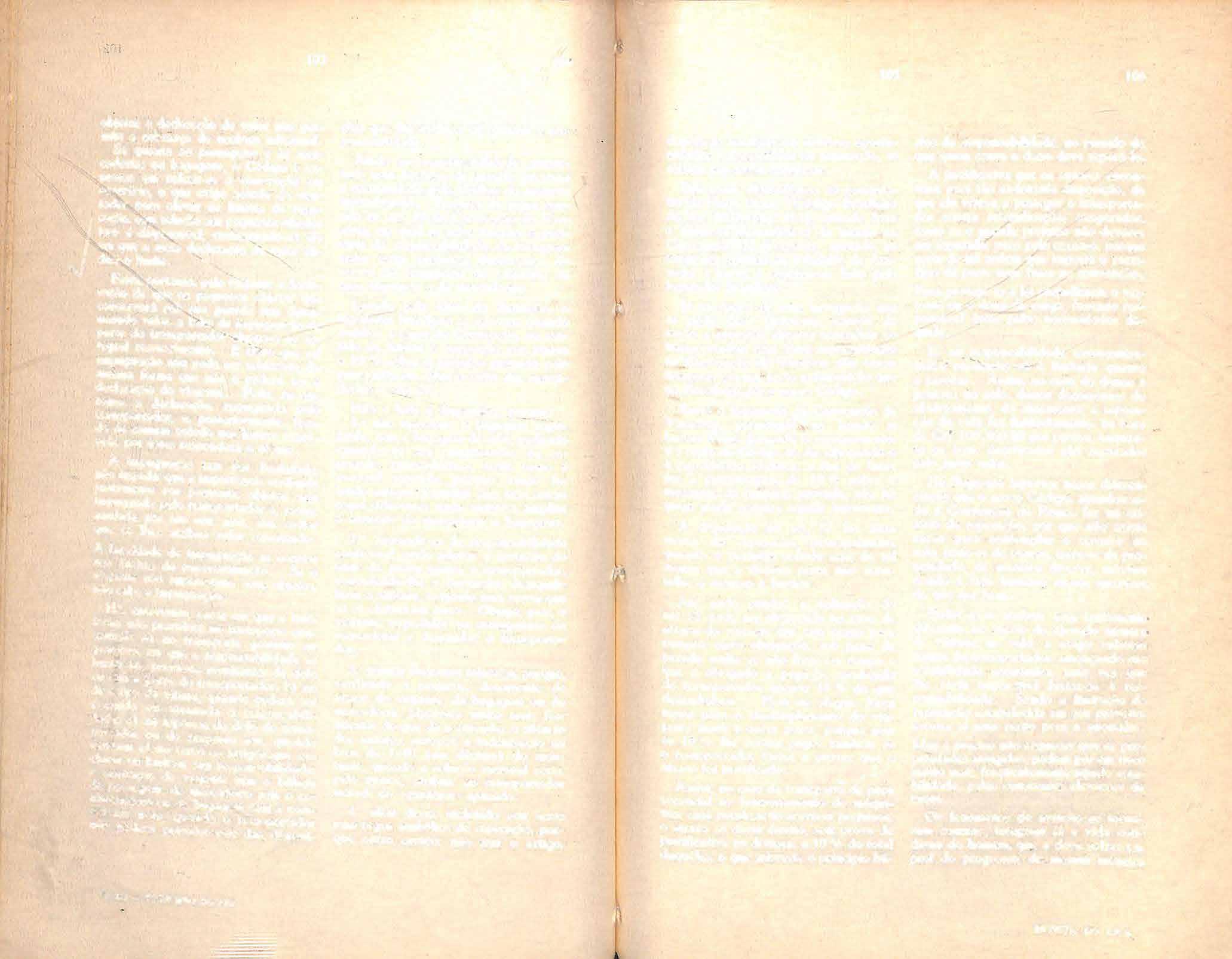
Jánaépocadeumanavegaçãoque sepodedizerincipiente,·careciade razãoaproteçãoabusivaconcedidaao transportador,cujaforterepresentação naConvençãodeVarsóvianãoousou inscreveremseutextoadisposiçãoque. noBrasilintegraonossoCódigo.
EntreolaconismodaConvençãode Varsóvia,permitindoaolesadoir buscarnumademandaoressarcimento, earegradoCódigodoAr,obrigando-o aprovidênciaidêntica,afimdefazer jus à percentagemde1O % sôbreo montantedoprejuízoprovado,nãohá quemaindacensureaquêlelaconismo.
Adisposiçãodoart.87fazletra mortadareparação,principalmente quandooprejuí20sofridosejadetal l'llontaqueadécimapartenãoaconselheorecursoàJustiça.
Atéondeconduzaaplicaçãodo art.87podeserobservadonocasode atrasodoviajantequetemprazopara cumprircertaobrigação,sobpenade Pesadamultasenãofizeremtempoe queéobrigadoapagá-la,recebendo dotransportadorapenas10 % doque desembolsou.Nemsealeguefôrça maiorparaoinadimplementodoviajantejunto à outraparte,porquenem os10 % lheseriampagostambémse otransportadorviesseaprovarqueo atrasofoijustificado.
Assim,nocasodetransportedepeça essencialaofuncionamentodemáquinas,.cujaparalizaçãoacarretaprejuízos, ? atrasosódariadireito , semprovade Justificativanademora,a10 % dototal daquêles,oquesubverteoprincipiobá-
sicodaresponsabilidade,nosentidode quequemcausaodanodeverepará-lo
Ajustificativaqueosautoresencontramparatãoexdrúxuladisposição,de queelavisavaaprotegerotransportadorcontrareivindicaçõesexageradas, comoseograndeprejuízonãodevesse serreparado,pecapeloexcesso,porque seriadetalordemqueimporiaosacrifíciodapartemaisfracanaconvenção.
Paraprotegê-loaleiprejudicariaoviajanteouodonodacarga,fazendoresponsávelêstespelasnecessidadesdaquele.
Jánaresponsabilidadeextracontratual;areparaçãosóélimitadaquanto apessoas.Assim,nocasodedanosa pessoasnosolo,danosdecorrentesdo abalroamento,doalijamento,areparaçãodavidafazlimitadamente,nab3se deCr$100.000,00porpessoa,enquanto osbensdanificadossãoreparados pelojustovalor.
HáflagranteinjustiçanessadiferenciaçãoqueonossoCódigo,abandonan<loaConvençãodeRoma,faznocritériodereparação,porquenãoexiste razãoparacontemplaroterceirono _solo,trate-sedepessoa,trate-sedepropriedade,demaneiradiversamáxime dandoàvidahumanamenor'interêsse. doqueaosbens.
Poder-se-iaatribuirêssetratamento diferenteaoreceiodeelevadonúmero devítimasnosolo,aexigirvultosas somasdotransportador,ameaçandosua estabilidadeeconômica,umavezque lheseriaimpossívelfurtar-se à responsabilidade.Sendoalimitaçãoda reparaçãoestabelecidaemseuproveito, estariaaíumarazãoparaaanomalia.
Maséprecisonãoesquecerqueaspropriedadesatingidas,podempôremrisco muitomaisfreqüentementeaquelaestabilidade,pelasconstanteselevaçõesde custo.
Osfenômenosdaaviaçãosetornaramcomuns ,integramjáavidacotidianadohomem,queadevesofrerem proldoprogresso,damesmamaneira
103
N9 112 - DEZEMBRO DE 1958 !Of
106
REVISTA DO I.R.B.
que sofre os demais fenomenos: eletricidade, transporte ferroviario, rodoviario, etc. Por isso, aceitamos como regra a limita^ao, que deve estender-se tambfem aos bens materiais, cuja prote?ao pode set tomada atraves do seguro. Nenhuma razao existe hoje — se e que existia em 1938 — para conservar em pianos diferentes a,propriedade e a vida bumana, principalmente atribuindo maior iraportancia aquela.
No caso, portanto, de danos a pessoas. originados de aeronave em voo, ou de danos a viajantes, originados de outra aeronave, por abblroamento ou aiijamento. a reparagao e sempre limitada. porque, ainda quando o sistema de responsabilidade aplicavel exija a prova da culpa, como no abalroamento. prevalece prima [ade a limita^ao decorrcnte da responsabilidade contratual, suplementando-se a indeniza^ao no caso de culpa atraves .da responsabili dade do transportador culpado.
Assim, nao procede a afirmativa de que, cabendo a responsabilidade no abalroamento a aeronave que tlver culpa, a repara^ao e ilimitada. Ja assinalamos que, ainda nao justificasse o Codigo o ponto de vista contrario, quando exige para prevalecer a limita?ao que o transportador fa?a comunica?ao do acidente as autoridades do aeroporto mais proximo, nao haveria razao para preterir a responsabilidade contratual.
Lesados os viajantes em abalroa mento, nenhuma razao haveria para que a repara^ao respectiva ficasse na dependencia de uraa demanda, em que se faria ou nao a prova da culpa de uma das aeronaves, fazendo tabula rasa de todo um sistema em que houve a preocupa^ao de assegurar a indenizaqao. Por isso, no caso de responsabili dade contratual, os viajantes lesados devem ser indenizados limitadamente, Cm fun^ao do contrato de transporte, pelo transportador correspondente, promovendo ele, ou os viajantes. a prova de culpa do propvietario, explorador ou
108
transportador da outra aeronave, a fim de obter a repara?ao.
No abalroamento, portanto, a repara?ao e limitada quanto a pcssoas, mas_a !imita?ao nao prevalecera se se nao fizer a comunicagao do acidente as autoridades do aeroporto mais pro ximo.
Os danos causados pela aeronave cm pouso regulam-se pelo direito comum, dispoe 0 art. 99 do Codigo do Ar.
Significa isso que tern aplicagao a regra do art. 159 do Codigo Civil, segundo a qua! quem, por omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, violar direito ou causar prejuizo a outrem. fica obrigado a reparar o dano, verificando a culpa e _ava!iando-se a responsabilidade na forma disposta nos arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553 do mesmo Codigo.
«Da culpa, caracterizada no art. 159 do Codigo Civil como negligencia ou imprudencia, decorrem outras a^oes, que demandam exame. Nesse titulo estao, com efeito, compreendidas a ne gligencia, a imprudencia e a impericia, que sao todas as formas desse elemento essencial: a falta de diligencia, falta de prcven^ao, falta de cuidado. Negli gencia e a omissao daquilo que razoavclmente se faz, ajustadas as condi?6es emergentcs as considera<;6es que regem a conduta normal dos negocios humanos. £ a inobservancia das normas que nos ordenam operar com aten^ao, capacidade, solicitude e discernimento.
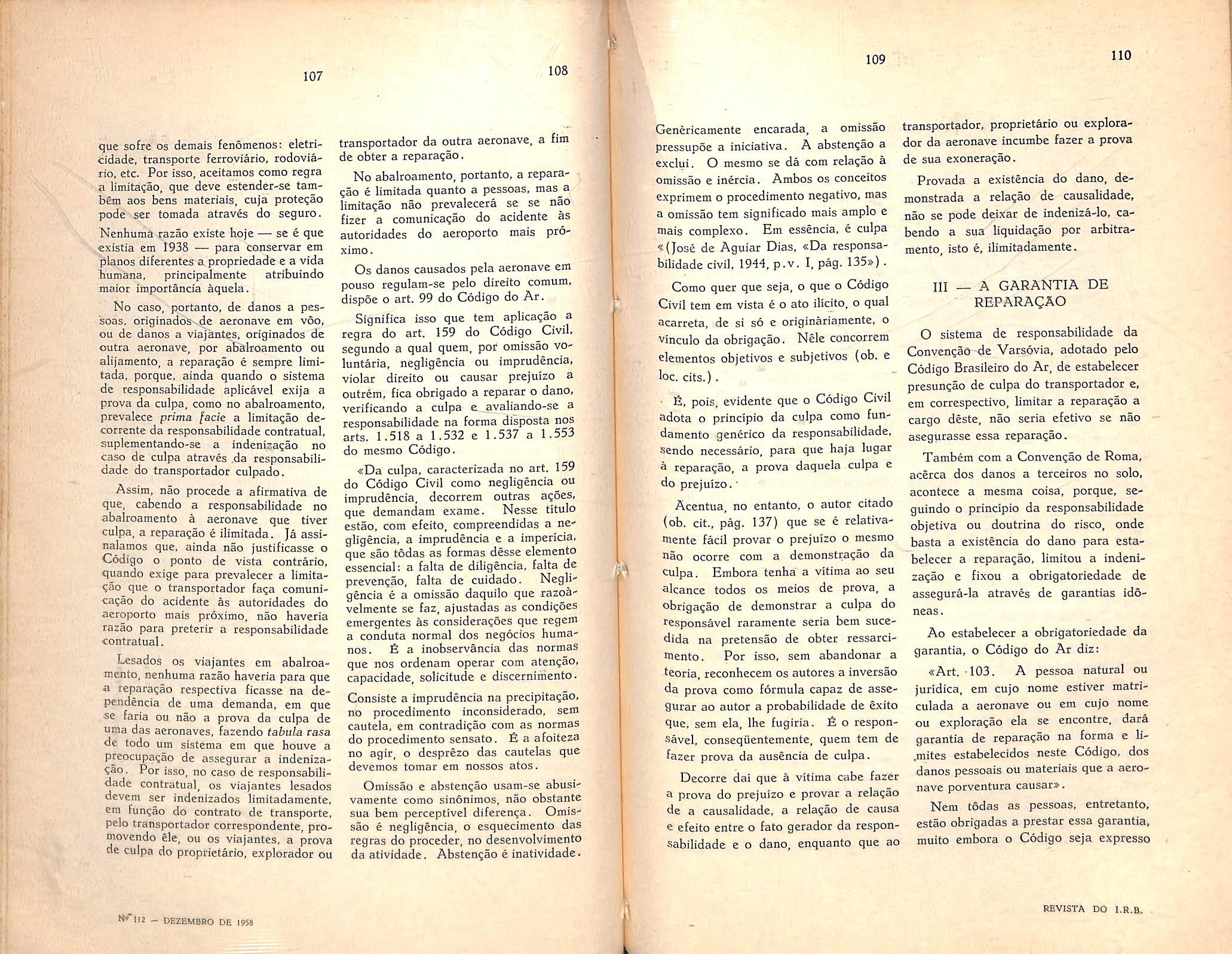
Consistc a imprudencia na precipita^ao, no procedimento inconsiderado, sem cautcla, em contradigao com as normas do procedimento sensato. 6 a afoiteza no agir, o dcsprezo das cautelas que devemos tomar em nossos atos.
Omissao e abstengao usam-se abusivamente como sinonimos, nao obstante sua bem perceptivel diferen^a. Omis sao e negligencia, o esquecimento das regras do proceder, no desenvolvimento da atividade. Abstengao e inatividade.
Genericamente encarada, a omissao pressupoe a iniciativa. A abstengao a exclui. O mesmo se da com relagao a Omissao e inercia. Ambos os conceitos exprimem o procedimento negativo, mas a omissao tern significado mais amplo e mais complexo. Em essencia, e culpa «(Iose de Aguiar Dias, «Da responsa bilidade civil, 1944, p.v. I, pag. I35»).
Como quer que seja, o que o Codigo Civil tem em vista e o ato ilicito, o qua! acarreta, de si so e originariamente, o vinculo da obriga^ao. Nele concorrem elementos objetivos e subjetivos (ob. e loc. cits.).
• fi, pois, evidente que o Codigo Civil adota o principio da culpa como fundamento generico da responsabilidade, sendo necessarlo, para que haja lugar ^ repara^ao, a prova daquela culpa e do prejuizo.'
Acentua, no entanto, o autor citado (ob. cit., pag. 137) que se e relativamente facil provar o prejuizo o mesmo nao ocorre com a demonstracao da culpa, Embora tenha a vitima ao seu alcance todos os meios de prova, a obriga?ao de dcmonstrar a culpa do fesponsavel raramente seria bem sucedida na pretensao de obter ressarcimento. Por isso, sem abandonar a teoria, reconhecem os autores a inversao da prova como formula capaz de asse gurar ao autor a probabilidade de exito que, sem ela, Ihe fugiria. 6 o responsavel, consequentemente, quem tem de fazer prova da ausencia de culpa.
Decorre dai que a vitima cabe fazer a prova do prejuizo e provar a rela^ao de a causalidade, a relagao de causa e efeito entre o fato gerador da respon sabilidade e o dano, enquanto que ao
transportador, proprietario ou explora dor da aeronave incumbe fazer a prova de sua exonerasao.
Provada a existencia do dano, demonstrada a relaqao de causalidade, nao se pode deixar de indeniza-lo, ca bendo a sua liquidagao por arbitramento, isto e, ilimitadamente.
HI _ A GARANTIA DE REPARAgAO
O sistema de responsabilidade da Convensao de Varsovia, adotado pelo Codigo Brasileiro do Ar, de estabelecer prcsungao de culpa do transportador e, em correspectivo, limitar a repara^ao a cargo deste, nao seria efetivo se nao • asegurasse essa repara^ao.
Tambem com a Conven^ao de Roma, acerca dos danos a terceiros no solo, acontece a mesma coisa, porque, seguindo o principio da responsabilidade objetiva ou doutrina do risco, onde basta a existencia do dano para esta belecer a repara^ao, limitou a indeniza^ao e fixou a obrigatoriedade de assegura-la atraves de garantias idoneas.
Ao estabelecer a obrigatoriedade da garantia, o Codigo do Ar diz:
«Art. 103. A pessoa natural ou juridica, em cujo nome estiver matriculada a aeronave ou em cujo nome ou explora?ao ela se encontre, dara garantia de reparasao na forma e 11.mites estabelecidos neste C6digo, dos danos pessoais ou materials que a aero nave porventura causar».
Nem todas as pessoas, entretanto, estao obrigadas a prestar essa garantia, muito embora o Codigo seja expresso ,
107
0 109
no
N#"|i2 _ DEZEMBRO DE 195S REVISTA DO I.R.B.
-— quando nao distingue entre aeronaves publicas ou privadas, nacionais e estrangeiras, no tocante aos danos a terceiros.
Conquanto o regime de responsabilidade abranja fambem as aeroaaves pu blicas, o que corresponde a incluir nele tambem as pessoas juridicas de direito pubiico interno, nao nos parece que a Unilo, o Estado ou o Municipio estejam obrigados a dar garantia de repara^ao. na forma e limites do Codigo.
Nao nos aventuraiftos a essa conclusao pelo fato, ja sustentado alhures, de que o art. 96 do Codigo do Ar. que estabelece a responsabilidade das aeronaves publicas pelos danos a terceiros no solo, fala em transportador, o que afasta a ideia da pessoa juridica de di reito pubiico interno.
fisse dispositive, lido em harmonia com 0 art. 19, nao permite a conclusao, Porque a aeronave do Estado, piiblica pela sua categoria. se assemelha a aero nave privada quanto utilizada no trafego comercia] ou postal, sob comando de civis. Deslocando-se da categoria publ.ca em razao de sua utilizagao. perde. momentaneamente, essa qualida-
! ^^"do propo- sito do Codigo inclu5-las naquele re gime de responsabilidade, nao poderia raenciona-Ias.
Assim sendo, esfao as aeronaves pubhcas sujeitas ao regime de responsa bilidade objetiva que abrange as demais aeronaves, mas as garantias de reparagao nao sao exigidas do seu proprietario. ^
Nossa opiniao se arrima em que n^huma razao exists para exigir do a o a prestagao de garantia, certo
como e que ela visa a tornar certa a reparagao, o que nao pode ser posto em duvida em se tratando do poder pubiico. Basta com relagao a este torna-Io responsavel pelos danos.
Desse modo, excluidas as aeronaves publicas, OS proprietarios, transportadores ou exploradores das demais aero naves estao no dever de prestar a ga rantia de repara^ao, na forma e limites estabelecidos no Codigo do Ar, trate-se de aeronaves nacionais ou estrangeiras, de transportadores ou particulares.
Nao existe razao para excluir as ulti mas daquela obrigatoriedade, porque o fator que milita pela exigencia num caso e noutro e linico; assegurar-a.reparasao ao terceiro alheio ao fenomeno. E para torna-la efetiva, imp6e-se a garantia. Se esta so e prestada pelo transpor tador, o risco oferecido pela navega?ao aerea nao-comercial nao se inclui no quadro geral dos.riscos do ar, o que £ contrasenso.
£ claro que, no caso de aeronave nao engajada no trafego comercial, so ha lugar para a garantia daqueles riscos eventuais aos terceiros no solo, nao sendo de exigir quanto aos passageiros transportados a convite do proprietario, sem 0 carater de transportador.
Ha na exigencia de garantia de reparagao um aspecto interessante, que o sistema mesmo do Codigo nao permite atcnder cabalmente. fi o que se relaciona com os danos a propriedade no solo, que o Codigo manda reparar pelo seu justo valor integral, independenteraente de limita^ao.
Ora, sendo assim, se a indenizagao se faz ilimitadamente, em que medida podera o transportador ofereecr garan-
tia de repara^ao, maxime «na forma e limites» da lei-? Tal garantia podera ficar aquem dos danos efetivamente causados ou alem deles, sendo impossivel qualquer previsao. E sem previsao, nunca podera revestir a forma cabal que o Codigo pretende que ela tenha.
Assim, enquanto nao se limlta a reparagao tambem para os bens no solo, essa garantia conservar-se-a no terreno aleatorio. do arbitrio, partindo-se sempre do fato de que poucas vezes tais danos serao elevados, o que nada significa, pois um unico acidente grave desmentira a prcmissa.
Preocupa-se o Codigo do Ar em assegurar, atraves de exigencia de garantia, a repara^ao que rcgula, seja ela limitada, seja ilimitada, oferecendo quatro alternativas ao transportador, proprie tario ou explorador da aeronave:
a) seguro;
b) cau^ao:
c) fian?a:
d) deposito de dinheiro ou' valores.
Nao existe. como poderia dar entender a ordem de enumera^ao, nenhuma grada?ao entre essas modalidades, sendo de livre escolha do interessado a que melhor atenda a suas conveniencias.
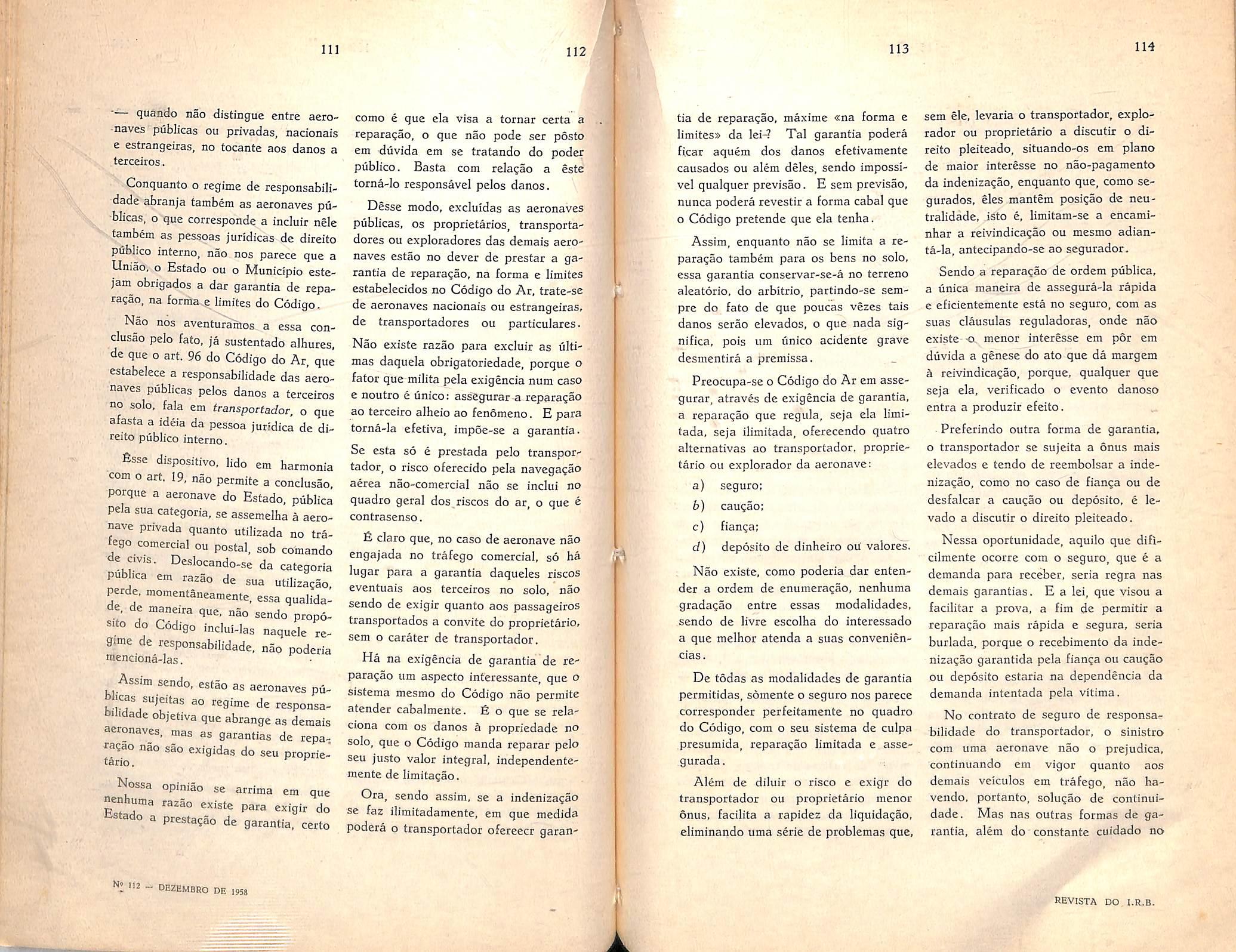
De todas as modalidades de garantia permitidas, somente o seguro nos parece corresponder perfeitamente no quadro do Codigo. com o seu sistema de culpa presumida, repara^ao limitada e assegurada.
Alem de diluir o risco e exigr do transportador ou proprietario menor 6nus, facilita a rapidez da liquidacao, eliminando uma serie de problemas que,
sem elc, levaria o transportador, explo rador ou proprietario a discutir o di reito pleitcado, situando-os em piano de maior interesse no nao-pagamento da indenizaqao, enquanto que, como segurados, eles mantem posiqao de neutralidade, isto e, limitam-se a encaminhar a reivindicaqao ou mesmo adianta-la, antecipando-se ao segurador.
Sendo a reparagao de ordem publica, a unica maneira de assegura-la rapida e eficientemente esta no seguro, com as suas clausulas reguladoras, onde nao existe -o. menor interesse em pot em duvida a genese do ato que da margem a reivindicaqao, porque, qualquer que seja ela, verificado o evento danoso entra a produzir efeito.
• Preferindo outra forma de garantia, o transportador se sujeita a onus mais elevados e tendo de reembolsar a indenizagao, como no caso de fian^a ou de desfalcar a cau?ao ou deposito, e levado a discutir o direito pleiteado.
Nessa oportunidadc, aquilo que dificilmentc ocorre com o seguro, que e a demands para receber, seria regra nas demais garantias. E a lei, que visou a facilitar a prova, a fim de permitir a reparagao mais rapida e segura, seria burlada, porque o recebimento da indenizagao garantida pela fianga ou caucao ou deposito estaria na dependencia da demands intentada pela vitima.
No contrato de seguro de responsa bilidade do transportador, o sinistro com uma aeronave nao o prejudica. continuando em vigor quanto aos demais veiculos em trafego, nao havendo, portanto, solui;ao de continuidade. Mas nas outras formas de ga rantia, alem do constante cuidado no
111
!'
112
N« 112 OEZEMBRO DE 1958 113
114
REVISTA DO i.ItB.
■«quantum» garantido, a fim de que urn sinistro nao comprove insuficiencia, essa solu^ao de continuidade e inevitavel. Produzidos os seus efeitos era rela^ao k importancia garantida, sera mister nova garantia (fianga) ou a reconstitui^ao da que se exauriu (caugao), e ■da! decorrera um interregno cntre liquida?ao e a presta^ao de nova.
Por outro lado, ha assinalar o aspecto simulado de muitas dessas garantias, que, no fundo, nao passam de depositos feitos em home^do transportador, vinculados ao pagarnento de inniza^ao em case de sinistro. Verificado este, aqueles depositos, que sao fundos da empresa, ocorrem aos pagamentos devidos. desfalcando a econoraia do transportador, cuja solvabilidade nem sempre e a que a natureza da reparagao exige.
Por esses motivos. sem embargo da comprovada idoneidade do fiador ou da suficiencia do deposit© ou da caugao, parece-nos que a conveniencia dessa modalidade de garantia deve ser exammada critcriosamente em cada ca.so, rejeitada sempre que traduza simula?ao. ou seja, nos casos em que fique evidenciado que o transportador esta assummdo eie proprio os riscos que a lei qu.s acobertar de maneira satisfatoria e mdubitavel.

Essas consideracoes mais se valorizam quando se atenta para as precau«oes que 0 Codigo do Ar tomou para que a garantia nao fosse fraudada: subordinagao do certificado de navegabi- "dade a apresentagao da garantia e o seu cancelamento ou suspensao nos casos de inadimplemento de obrigacao segurado o que, verdadeiramente. corresponde a impedir o v6o da aero-
nave cujos danos eventuais nao estejam garantidos.
Exigida a garantia, prestada numa das modalidades que nao seja o seguro, esse controle necessario e iludido, porque no caso de fian^a, em que e cos tume a subordinagao a condiqoes so conhecidas do fiador e afiangado, estabelecidas em outro instrumento adicional, o curso das obrigaqoes reciprocas nao e acompanhado, nao permitindo efetivar as medidas coercitivas do Co digo.
Em pro] do seguro concorre outro fator de relevancia, que e pertinente aos danos a tcrceiros no solo. Enquanto o seguro abrange todas as aeronayes simuitaneamente, as outras modalidades de garantia nao cobrem senao os danos ocorridos em razao de uma so. E isso e facil de explicar.
Nenhuma razao ha mais para a subsistencia das garantias so permitidas em ocasiao que os premios de seguro ainda o tornavam demasiado oneroso, for^ando a fuga do transportador para a garantia mais economica. Hoje, diante da manifesta inconveniencia e inseguran^a da fian^a ou cau^ao, da impraticabilidade dos depositos vinculados c que imobilizam vultosas importancias, nao deveria haver opgao e, sim, modalidade unica, traduzida no seguro.
A propor^ao que a massa segutada cresce, descem os premios. ampliando seu raio de a^ao nos transportes aereos. E dia a dia mais se acentua o crescimento do volume de trafego, das probabilidades de acidentes, nao sendo possivel ao transportador arcar com os onus da fianga, cau^ao ou deposit©, sem diminuir a garantia ou enfraquece-la.
1 — Pagarnento dos premios de ramos elementares
Contingencias economicas e adminisirativas tem alterado os pri'ncipios con•tratuais que estabeleciam o pagarnento do premio de seguros de ramos elemen tares, contra a entrega da apolice.
Atualmente, admite-se para esses tipos de seguros:
a) ou 0 pagamento fracionado do premio, em prestagoes;
b) ou uma certa tolerancia no prazo •do recolhimento integral do premio.
A tarifa de seguros de acidentes pessoais brasileira permite o fracionamento do premio de seguros individuals «m duas prestagoes, e dos seguros coletivos em ate doze presta?6es, sendo tjue essa concessao nao se estende para OS seguros plurianuais, os quais devem ser pagos antecipadamente.
Ja a tarifa de seguros incendio brasi-leira, nao permite o fracionamento, exigindo o pagamento antecipadamente c de uma so vez.
No ramo transportes, dadas as suas caracteristicas proprias, os premios sac liquidados parceladamente, h medida gue 0 embarcador comunica ao segurador os valores entregues ao transpor tador.
Para os casos de nao permissibilidade de fracionamento, nao obstante as regulamentagoes sucessivas que tem sido
Americo Matheus Florenlino Professor catcdrMico de Orpantrapao de Segittos da Univcrsidadc do BrasH impostas pelos orgaos fiscalizadores, concede-se alguma tolerancia ao segurador na dilatagao do prazo de cobranqa, "haja vista o pr6prio texto do Decreto-lei n.® 2.063, de 7 de mar?o de 1940, que inclui no grupo das reservas a constituir aquela de premios em cobranga na data do encerramentodo- Balanqo.
II Problemas financeiros do nao recebimento antecipado do pre mio
Admitindo-se que o pagamento daS indeniza?6es se distribui equitativamente pelo tempo de vigencia anual dos contratos, temos que o segurador necessita coletar os fundos da massa mutual antes da incidencia dos sinistros.
Observando-se o problema sob um ponto de vista estritamentc financeiro, c admitindo-se teoricamentc a rela?ao Zp-Zi
onde, «p» representa o premio pure estatistico, ou a taxa real de sinistralidade, exclusive os carregamentos de indole administrativa, e «I» representa o valor da sinistralidade, temos que admitir a seguinte formula:
_2p[l+(i. 12-n)l=Z'l[l+ai2-n)]
115 116
N» 112 REZEMBRO de 1958 117 118
0 problema do finandamento dos premios de seguros de ramos elementares
REVISTA DO !. R.<B.
Pela formula supra, o segurador usufrui lucro finaaceiro se o tempo «ii» (em meses) da capitalizagao dos premios for maior que o tempo «n» (em meses) da capitalizasao das indeniza?6es.
Vejamos exemplos praticos admitmdo o valor 100 para 'e para
^a) coieta dos premios no primeiro mes e pagamento dos sinistros no decimo segundo mes^,
ll'7lOO={+)1>% (derendi- mento financeiro para o segurador).
b) coieta dos premios no decimo segundo mes. e pagamento dos sinistros DO primeiro mes (hipotese possivel uma vez que estamos nos referindo ^ massa total de segurados):
100 — in = (_) n /uizo financeiro para o segurador).
c) coieta dos premios no quarto •nes e pagamento dos sinistros no se gundo mes:
— 110 ( ) 2% iA„ iDlro financeiro para o segurador)
A vantagem financeira de que gozam OS seguradores no manejo dos premios. 'nclus.ve em ramos elementares (nao obstante as tarifas exduirem qualquer vestigio de capitalizagao, exceto quanto ao premios plurianuais que gozam de tit.1 f ■ .063, de 7 de mar?o de 1940) ^ sinistro"' ^ distribui,ao dos smis^ros se localize nos ultimos meses
aos . <^ODtratos, permitindo aoyeguradores uma reten^ao tempo"ria da massade premios.
A vantagem financeira tambem existira sempre que os premios sejam cole-
tados antecipadamente e os sinistros sedistribuirem equitativamente pelo tempode vigencia dos contratos.
Mas, todos esses resultados financeiros desapacecerao, e se transformarao em deficit financeiro, se os seguradores sofrerem uma incidencia de si nistros nos primeiros meses do tempo de vigencia,. agravado esse fato pela nao arrecadagao dos premios «a priori®. Nesse case, a taxa de capitaliza^ao se deslocara para o montante dos sinistros, em virtude dos emprestimos financeiros que o segurador devera langar mao para curaprir o pagamento pontual das indeniza?6es, e a desigualdade da formula sera favoravel aos segurados e desfavoravel aos seguradores.
Ora. OS compromissos do segurador nao sao somente os de ordem indenitaria. file age tambem como agents arrecadador de terceiros, no case dos impostos que gravam os contratos de seguros; e age como distribuidor de rendas quando descarrega o resseguro e quando remunera os encargos administrativos da empresa.
Assim, alem do pagamento de sinis tros, o segurador deve cumprir ainda "com as seguintes exigencias:
a) pagamento, em cada trinta dias, de um doze avos do carregamento do premio, na forma de despesas administrativas;
b) pagamento do imposto do selo dentro de sessenta dias;
c) pagamento do imposto de fiscaliza?ao dentro de noventa dias;
'^) pagamento do resseguro dentro de cento e vinte dias (cita-se o exemplo do resseguro incendio que estabelece o
prazo de 90 dias, acrescido normalmente de mais 30 dias pela remessa da conta <orrente).
Ill — composigao do premio em cobranga
Para se ter uma ideia exata dos «ncargos financeiros do segurador, temos que examinar de que forma se compoe o premio em cobranga. Para tanto temos que considerar, em dois lances, primeiramente a composigao do premio de tarifa, e finalmente a com posigao do premio acrescido dos im postos.
Pelos dados da carteira Incendio do Diercado brasileiro em 1956, publicados D pags. 7 e 8 do Boletim Estatistico do I.R.B, n.® 61 de janeiro de 1958, verifica-se que a distribuigao media do Premio de tarifa e a seguinte:
*} sinistros e despesas, liquidos de recuperagSes de resseguro ao I.R.B 13%
despesas administrativas (Ver Nota) ; 23%
resseguro no I.R.B. Ilquido de comlssSes, e liquido de resul tados de retrocessSes 12%
crescimento vcgetativo de reservas tecnicas 7%
*) despesas de angariagSo de aefloc'os 33%
f) resultado industrial, n«le incluido o resultado das operagSes entre conglneres . 12%
Total joo%
bJota — Dados obtidos compulsando-se os resultados de ramos elementares para o ano De 1956 publicados na Revista do I.R.B. onde se incluiam os resultados de despesas administrativas.
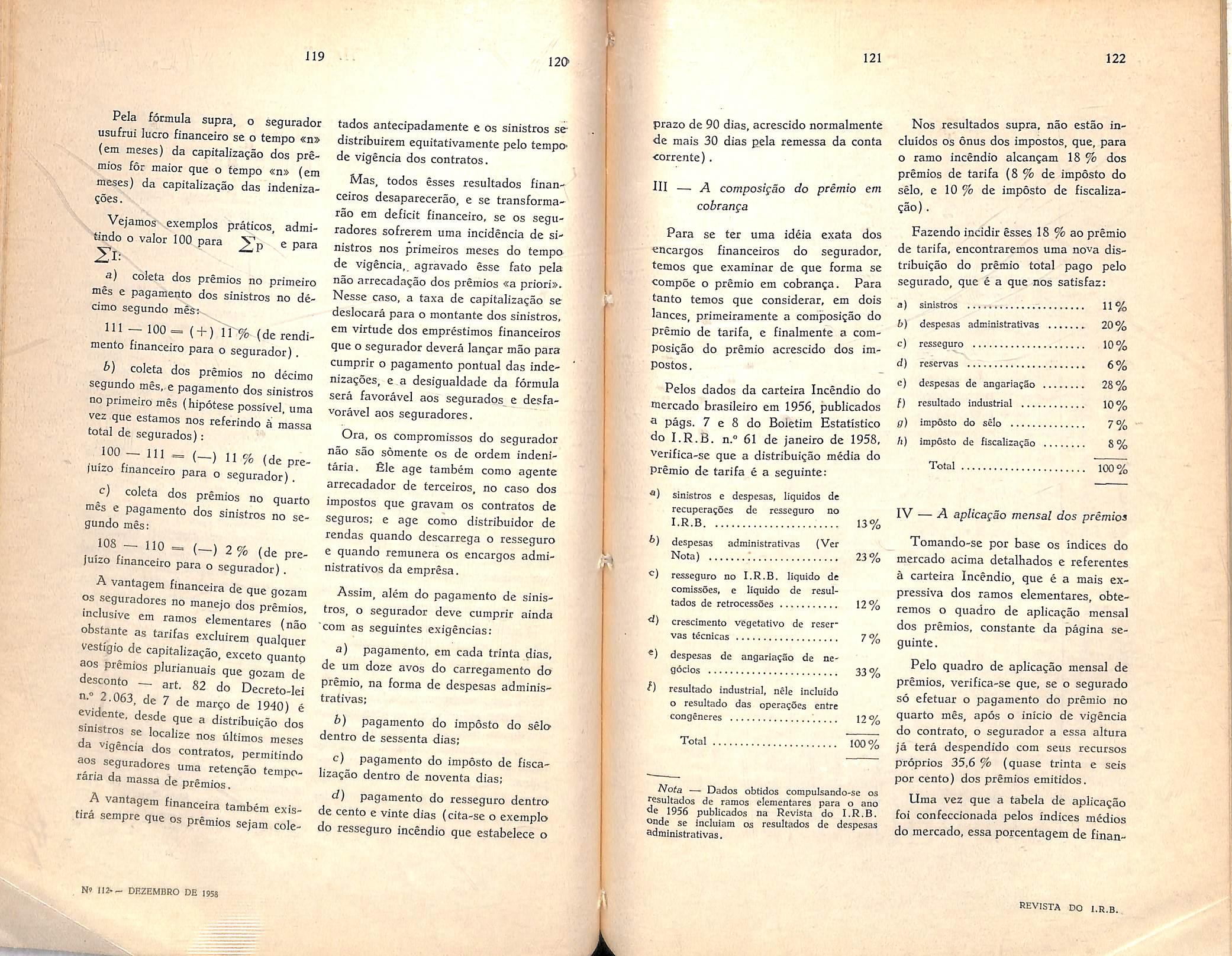
Nos resultados supra, nao estao incluidos OS onus dos impostos, que, para 0 ramo incendio alcangam 18 % dos premios de tarifa (8 % de imposto do selo, e 10 % de imposto de fiscalizagao).
Fazendo incidir esses 18 % ao premio de tarifa, encontraremos uma nova dis tribuigao do premio total pago pelo segurado, que e a que nos satisfaz:
a) sinistros 11%
b) despesas administraUvas 20%
c) resseguro 10%
d) reserves 6%
c) despesas de angariagao 28%
f) resultado industrial 10%
g) impflsto do selo 7%
h) impSsto de fiscalizagSo 8%
Total 100%
IV — A aplicagao mensal dos premios
Tomando-se por base os indices do mercado acima detalhados e referentes a carteira Incendio, que e a mais ex pressive dos ramos elementares, obtcremos o quadro de aplicagao mensal dos premios, constante da pagina se guinte.
Pelo quadro de aplicagao mensal de premios, verifica-se que, se o segurado so efetuar o pagamento do premio no quarto mes, apos o inicio de vigencia do contrato, o segurador a essa altura ja tera despendido com seus recursos proprios 35,6 % (quase trinta e seis por cento) dos prSmics emitidos.
Uma vez que a tabela de aplicagao foi confeccionada pelos indices medios do mercado, essa porcentagem de finan-
119 120 121 122
N» iI2— DKZEMBRO DE 19SS
REVlSTA DO I.R.B,
ciamento por parte do segurador podera se elevar, desde que:
a) a incidenda dc sinistros se con centre nos primeiros meses, e nao equitativamente pelos meses;
6) a porcentagem de sinistralidade de urn segurador, em particular, for superior a 11 %, liquida de recupera?6es de resseguro no I.R.B.;
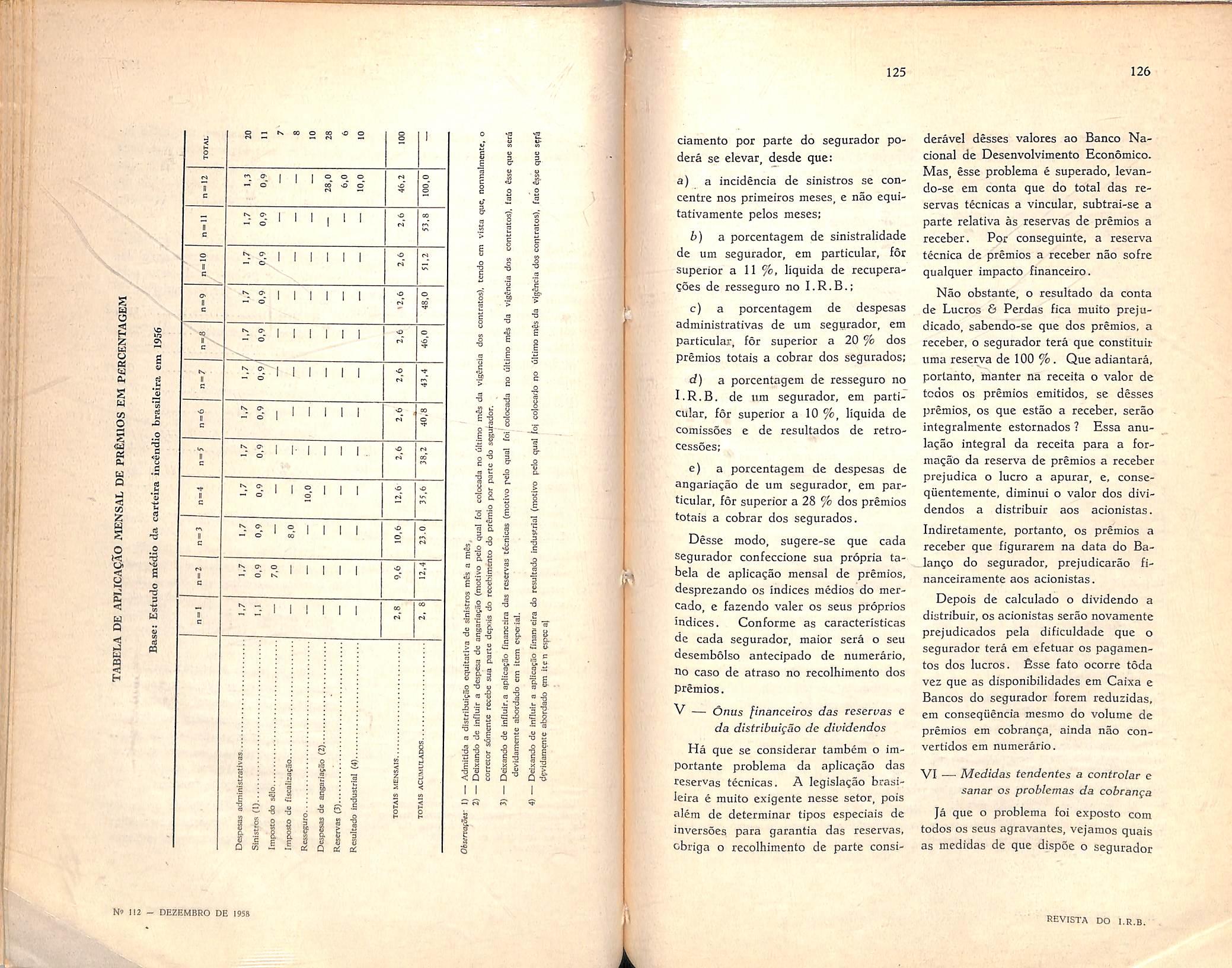
c) a porcentagem de despesas administrativas de urn segurador, em particular, for superior a 20 % dos premios totals a cobrar dos segurados;
d) a porcentagem de resseguro no I.R.B. de iim segurador, em parti cular, for superior a 10 %, liquida de comissoes e de resultados de retrocessoes;
e) a porcentagem de despesas de angaria?ao de um segurador, em par ticular, for superior a 28 % dos premios totals a cobrar dos segurados.
Desse modo, sugere-sc que cada segurador confeccione sua pr6pria tabela de aplicagao mensal de premios, desprezando os indices medios do mercado, e fazendo valer os seus pr6prios indices. Conforme as caracteristicas de cada segurador, maior sera o seu aesembolso antecipado dc numerario, no caso de atraso no recolhimento dos premios.
V — Onus financehos das reservas e da distribuigao de dividendos
Ha que se considerar tambem o importante problema da aplicagao das reservas tecnicas. A legisla?ao brasileira e muito exigente nesse setor, pois alem de determinar tipos especiais de inversoes para garantia das reservas, obriga o recolhimento de parte consi-
deravel desses valorcs ao Banco Nacional de Desenvolvimento Economico. Mas, esse problema e superado, levando-se em conta que do total das re servas tecnicas a vincular, subtrai-se a parte relativa as reservas de premios a receber. Por conseguinte, a reserva tecnica de premios a receber nao sofre qualquer impacto financeiro.
Nao obstante, o resultado da conta de Lucros 6 Perdas fica muito prejudicado, sabendo-se que dos premios, a receber, o segurador tera que constituiiuma reserva de 100 %. Que adiantara, porlanto, manter na receita o valor de todos OS premios emitidos, se desses premios, os que estao a receber, serao integralmente estornados ? Essa anulacao integral da receita para a formacao da reserva de premios a receber prejudica o lucro a apurar, e. conseqiientemente, diminui o valor dos divi dendos a distribuir aos acionistas.
Indiretamentc, portanto, os premios a receber que figurarem na data do BaIan?o do segurador, prejudicarao financeiramentc aos acionistas.
Depois de calculado o dividendo a distribuir, os acionistas serao novamente prejudicados pela dificuldade que o segurador tera em efetuar os pagamentos dos lucros. £sse fato ocorre toda vez que as disponibilidades em Caixa e Bancos do segurador forem reduzidas, em conseqiiencia mesmo do volume de premios em cobran^a, ainda nao convertidos em numerario.
VI Medidas tendentes a conttolar e sanac os pcoblemas da cobranga
Ja que o problema foi exposto com todos OS seus agravantes, vejamos quais as medidas de que dispoe o segurador
;V I'll: s a O < bJ O ? A< s u w o I g § ij < w Z o o < S § 2 9^ a .2 c ^8 c V <9 (e 0 a o 9 Ui o 7 c 9 s c CO r K e S S K CO O 2 a m C —' c' o o o » »o o —" ©* C> 9 ::■ S I i -•5^1 1 N. O' — O K 0^ o' I- 1 I -■ S S 1 rv O* O © €0 K 9 e ^ O K I I ! E : "9: ^ 2 « S? .3 & I 0 I £ E a: Q a: cc N« 112 - DE2EMBR0 DE 1958 ■o ■§ & 3 8 ■o 14 ■§ O "n 11 a n u o "S a 21 ■5 •£ .S o 2 1 t ca a - c. Ell E S *6 S e 8 c o 0 V a s-S B S ■S 2>§ ■n ? w n : XI ^ 3 s a & a g V e H ©•Do eg w 5-5 3 = ■= .| no® Xi "D L. S € P S I I t & X a S *3 •D § !§ ^ c I & •3 S1 » IQ 2 J 'la .S o» «« - £ 8 •" 1& i "S V = u:> ^ g S 5 •g S SI 1 ■' =p| |k<>
125 126
i' I
REVISTA DO I.R.B.
para controlar e sanar a situagao ou situa^oes de desequilibrio financeiro.
Em primeiro lugar, ha que se proceder a urn controle rigoroso do grau de financiamento que esta suportando o segurador. Para esse fim devem set tomadas as seguintes medidas:
a) determinar aos servigos de contabilidade que desdobrem mensalmente, nos balancetes, o total da conta de «Ap6lices em Cobranga» por mes de emissao. (para esse fim a contahilidade usaria contas de compensagao revertidas e constituidas mensalmente, a fim de nao prejudicar o mecanismo contabil da conta de «Ap6llces em Cobrangas; ou poderia mesmo apresentar esses dados em forma de relatorio, isto e, extra-contabilmente).
b) determinar aos seus orgaos tecnicos competentes a confecgao sistematica de tabelas de aplicagao mensal de premies (Ver item IV) usando para esse fim os seus indices proprios de sinistralidade, resseguro, despesas administrativas, despesas de angariagao e reservas.
c) aplicar os valores obtidos nas tabelas, s6bre os valores de cobranga fornecidos pela contabilidade, mes a mes, da seguinte forma:
Seguros com um mes dc emissao (em co branga) vezes 2,8% (indice de n=I)
Seguros com dois meses dc emissao (em co branga) X 12,4% (indice de n=2)
Seguros com tres meses de emissao (em co branga) X 23% (indice de n=3)
Seguros com quafro meses de emissao (em co branga) X 35,6% (indice de n=:4)
e, assim, por diante, dividindo-se o total obtido nesses calculos pelo total
geral da conta de «Ap6lices em ,Cobranga» a fim de obter a porcentagemfinal de financiamento de premies, por parte do segurador. Na demonstragao acima utilizamos, como exemplo, os indices medios do mercado, relativos a carteira Incendio. evidcnte, que o segurador, alem de substituir esses in dices pelos seus, confeccionara tabelas e calculos isoladamente para cada modalidade de seguros dos ramos elementares.
Finalmente, conhecido o grau de fi nanciamento do segurador, este podera estudar uma nova politica de aceitagao de negocios que Ihe evite a existencia de grandes somas em cobranga.
O que nao se pode admitir e que o segurador administre a sua empresa sem ter a menor ideia do grau de deficit financeiro a que esta se submetendo pelas contingencias ligadas a cobranga de premies.
Outra medida que os seguradores poderiam estudar, em conjunto, obtendo dos orgaos governamentais a competente autorizagao, seria a de cobrar dos segurados juros de mora pelo atraso na liquidagao dos premios de seguros. Trata-se de medida estendida a todos OS tipos de operagoes comerciais, que bem poderia ser adotada tambem no campo do seguro, alias como ja se adota na cobranga de premios de seguros de vida. Essa medida, entretanto, simples paliativo para diminuir o deficit finan ceiro, nao devera passar a se adotar como regra, e sim como excegao para aqueles segurados que, por medidas varias, nao pudessem cumprir antecipadamente com o pagamento do premio.
Comentarios sobre a Federal Crop Insurance Corporation
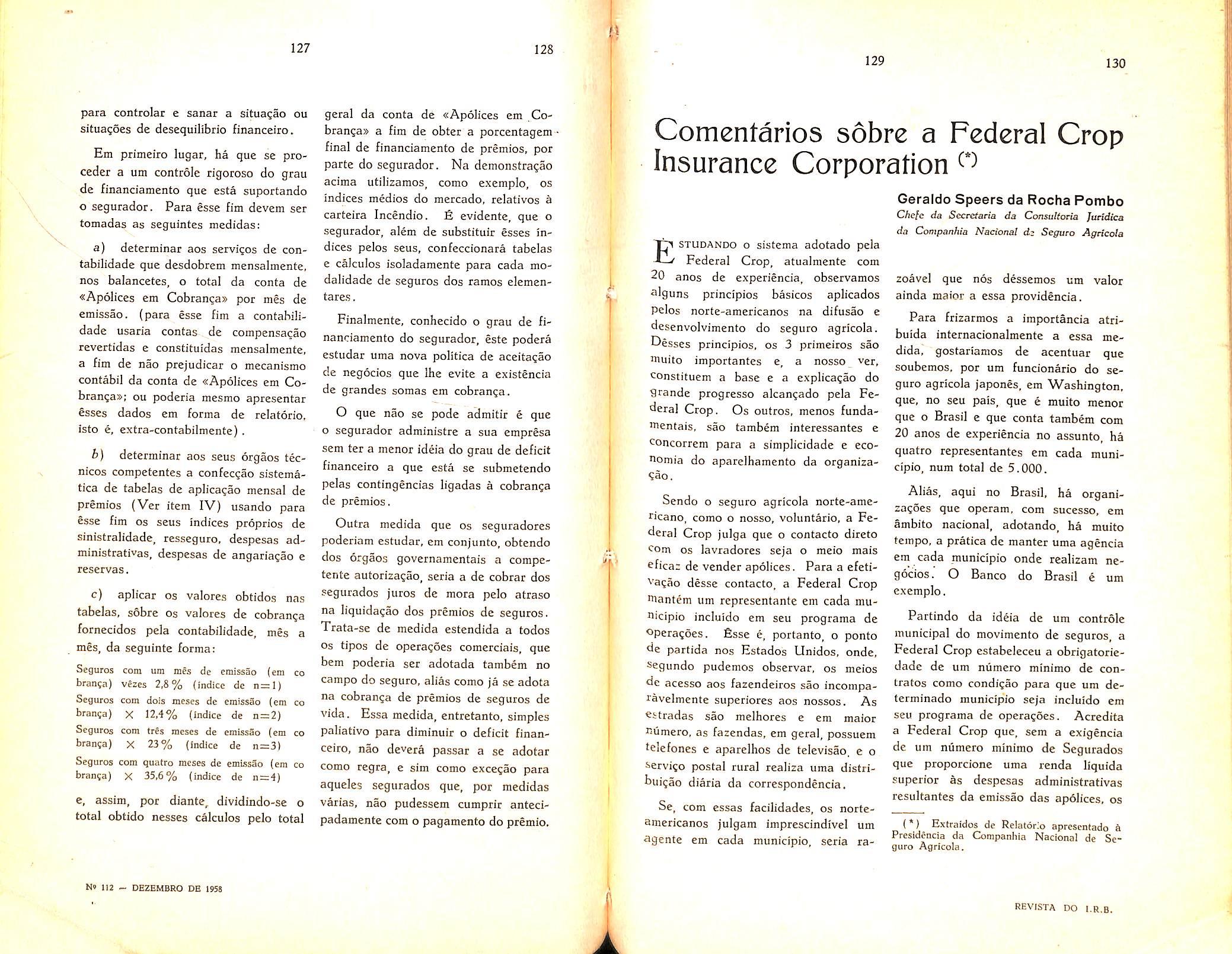
Geraldo Speers da Rocha Pombo
Chefe da Secrcfan'a da Consultoria Jaridica da Companhia Nacional d; Se^ro Agricola
Estudando o sistema adotado pela
Federal Crop, atualmente com 20 anos de experiencia, observamos slguns principios basicos aplicados pelos norte-americanos na difusao e desenvolvimento do seguro agricola. loesses principios. os 3 primeiros sao rnuito importantes e, a nosso ver, constituem a base e a explicagao do grande progresso alcangado pela Fe deral Crop, Os outros, menos fundaiTientais, sao tambem interessantes e concorrem para a siniplicidade e economia do aparelhamento da organiza^ao.
Sendo o seguro agricola norte-americano, como o nosso, voluntario, a Fe deral Crop julga que o contacto direto com OS iavradores seja o meio mais eficaz de vender apolices. Para a efetivagao desse contacto. a Federal Crop rnantem um representante em cada municlpio incluido em seu programa de Operagoes. £sse e, portanto, o ponto de partida nos Estados Unidos, onde, segundo pudemos observer, os meios de acesso aos fazendeiros sao incoraparaveimente superiores aos nossos. As ettradas sao melhores e em maior ntimero, as fazendas, em geral, possuem telefones e aparelhos de televisao, e o 5>ervigo postal rural realize uma distribiiigao diaria da correspondencia.
Se, com essas facilidades, os norteamericanos julgam imprescindivel um ^gente em cada municipio, seria ra-
zoavel que nos dessemos um valor ainda maior a essa providencia.
Para frizarmos a importancia atribuida internacionalmente a essa me dida, gostariamos de acentuar que soubemos, por um funcionario do se guro agricola japones. em Washington, que, no seu pais, que e muito menor que o Brasil e que conta tambem com 20 anos de experiencia no assunto. ha quatro representantes em cada muni cipio, num total de 5.000.
Alias, aqui no Brasil, ha organizagoes que operam, com sucesso, em ambito nacional, adotando, ha muito tempo, a pratica de manter uma agencia em cada municipio onde realizam ne gocios. O Banco do Brasil e um exemplo.
Partindo da ideia de um controle municipal do movimento de seguros, a Federal Crop estabeleceu a obrigatoriedade de um numero minimo de contratos como condigao para que um determinado municipio seja incluido em seu programa de operagoes. Acredita a Federal Crop que, sem a exigencia de um numero minimo de Segurados que proporcione uma renda liquida superior as despesas administrativas resultantes da emissao das apolices. os
127
112 — DHZEMBRO DE 1958 128
i 129 130
REVISTA DO l.R.B.
( ) Extraidos de Relatorio apresentado & Presideacia da Companhia Nacional dc Se guro Agricola.
seguros serao setnpre deficitarios para o segurador. Ainda que nao haja sinistros, se as despesas administrativas forem superiores a receita, nao havera justificativa para a aceita?ao de se guros. Assim sendo, a Federal Crop so opera em municipios onde conte com, pelo menos, 200 segurados.
A Federal Crop, ao iniclar suas operagoes em urn Estado, scleciona um pequeno niimero de municipios onde ira oferecer seguro. sendo essc niimero, em geral, inferior a cinco. Em cada municipio. a Federal Crop proporciona apenas o seguro das colheitas que tenham real exprcssao para a economia local, procurando garantir, dcssa forma, as lavouras realmente importantes.
Com essas 3 providencias, a Federal Crop mantem uma impecavel assistencia aos segurados, um perfeito controle dos contratos e um sistema que Ihc permite aumentar ou diminuir. de acordo com as necessidades tecnicas, o seu volume de negocios.
A nosso ver. esses sao os principios fundamentals que, conseguidos a custa de uma experiencia de 20 anos, devcriam servir de exemplo para nos no estabelecimenfo de um programa racional de implantagao do seguro agricola no Brasil.
6 claro que a adogao de ,lais medidas seria grandemente facilitada pela a^ao do Banco do Brasil, principal acionista da Companhia. Lsso porque. se a Companhia comeqar a exigir 200 propostas, como condigao para o oferccimento de seguro cm um determinado municipio, havera, cvidentemente, grande dificuldade inicial. visto que poucos municipios tern, no memento, mais de 100 contratos em vigor.
No entanto, ha uma solugao para esse problema. Quando a CompanTiia foi criada, em 1954, o Banco do Brasil desejou exigir o seguro agricola como garantia de financiamento a lavoura. Nessa ocasiao, a Diretoria da Com panhia nao concordou com tal piano porque a sua aceitagao significaria um volume de servigo que a Companhia, em sua fase inicial, nao poderia controlar. por falta de pessoal e de organizacao. Nao obstante, se o seguro for oferecido apenas em municipios selecionados previamente, o niimero de contratos podera ser aumentado ou diminuido, na medida das possibilidades tecnicas da Companhia. A Companhia selccionaria os municipios em que pretenderia operar e o Banco do Brasil poderia exigir, como uma das garantias dos financiamentos, a apolicc de seguro agricola.
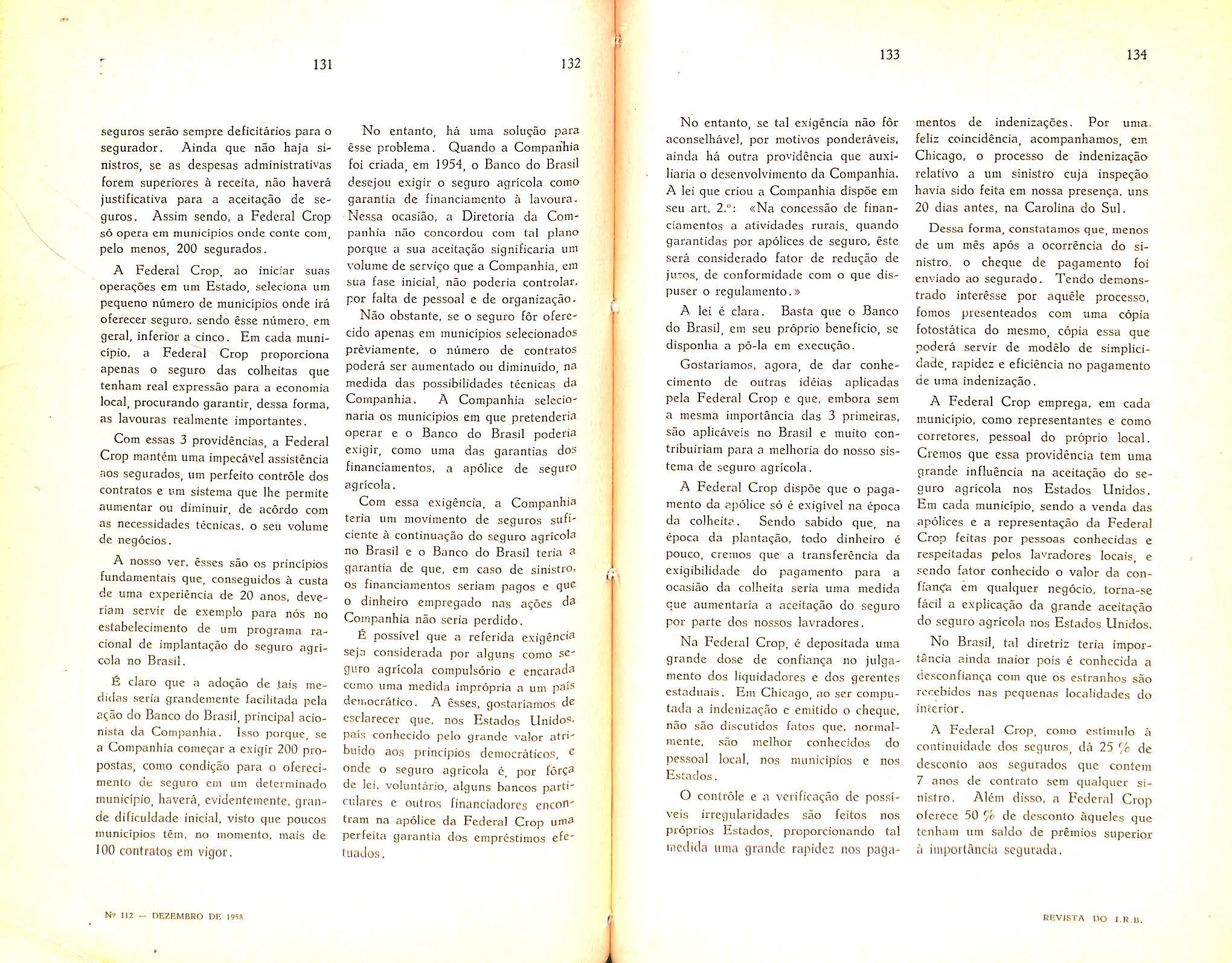
Com essa exigencia, a Companhia teria um movimento de seguros suficiente a continuagao do seguro agricola no Brasil e o Banco do Brasil teria a garantia de que, em caso de sinistro, OS financiamentos seriam pagos c qiii^ o dinheiro cmpregado nas agocs da Companhia nao seria perdido. possivel que a referida exigencia seja considerada por alguns como se' guro agricola compulsorio e encarada como uma medida impropria a um pais deiiiocratico. A esses, gostariamos de esclarecer que, nos E.stados Unidos. pais conhecido pelo grandc valor atribuido ao.s principles dcmocraticos, ^ onde o seguro agricola c, por forca de lei. voluntario, alguns bancos parti' ciilares e outros financiadorcs eJicoO' tram na apolice da Federal Crop uni3 perfeita garantia dos emprestimos efeluaJos.
No entanto, se tal exigencia nao for aconselhavel, por motives ponderaveis, ainda ha outra providcncia que auxiliaria a descnvolvimento da Companhia.
A lei que criou a Companhia dispde em seu art. 2": «Na concessao de finan ciamentos a atividades rurais, quando garantidas por apolices de seguro, este sera considcrado fator de redugao de juros, de conformidade com o que dispuser o regulamento.»
A lei e clara. Basta que o Banco do Brasil, em seu proprio beneficio, se disponha a p6-la em execu^ao.
Gostariamos, agora, de dar conhecimento de oiitras ideias aplicadas pela Federal Crop c que, cmbora sem a mesma importancia das 3 primeiras, sao aplicaveis no Brasil e muito contribuiriam para a melhoria do nosso sis tema de seguro agricola.
A Federal Crop dispoe que o pagamento da apolicc so e exigivel na epoca da colheita. Sendo sabido que, na epoca da plantaqao, todo dinheiro e pouco, cremos que a tiansferencia da cxigibilidade do pagamento para a ocasiao da collieita seria uma medida cue aumentaria a aceitagao do seguro por parte dos nossos lavradores.
Na Federal Crop, c depositada uma grande dose de confianga no julgamento dos liquidadores e dos gerentes estadiiais. Em Chicago, ao ser computada a indenizaciio c emitido o cheque, nao sao discutidos fotos que, normalmente, sao melhor conhecidos do pessoal local, nos municipios e nos Estados.
O controle e a vcrificagao de possiveis irregularidadcs sao feitos nos proprios Estados. proporcionando tal medida uma grandc rapidez nos paga-
mentos de indeniza^ces. Por uma. feiiz coincidencia, acompanhamos, em Chicago, o processo de indenizagao relativo a um sinistro cuja inspegao havia sido feita em nossa presenga, uns 20 dias antes, na Carolina do Sul.
Dessa forma, constatamos que, menos de um mes apos a ocorrencia do si nistro, o cheque de pagamento foi enviado ao segurado. Tendo demonstrado intcresse per aquele processo, fomos presenteados com uma copia fotostatica do mesmo, copia essa que podera servir de modelo de simpliciciade, rapidcz e eficiencia no pagamento de uma indcniza^ao.
A Federal Crop emprega, em cada municipio, como representantes e como corretores, pessoal do proprio local. Cremos que essa providencia tern uma grande influencia na aceitagao do se guro agricola nos Estados Unidos. Em cada municipio, sendo a venda das apolices e a representacao da Federal Crop feitas por pessoas conhecidas e respeitadas pelos lavradores locals, e sendo fator conhecido o valor da confianfa em qualquer negocio, lorna-se fad! a explica^ao da grande aceitagao do seguro agricola nos Estados Unidos. No Brasil, tal diretriz teria impor tancia ainda maior pois e conhecida a ciesconfianga coin que os e.stranhos sao rcccbidos nas pcquenas localidades do interior.
A Federal Crop, como estimulo a continuidade dos seguros, da 25 ^/c de desconto aos segurados que contem 7 anos de contrato sem qualquer si nistro. Alein di.sso, a Federal Crop ofcrece 50 % de desconto aqueles que tenham um saldo de premios superior a Importancia segurada.
131 132
133 134
N» 112 — DEZEMBRO DE I95B
U
1 REVISTA DO I.R.u,
O objetivo de tais medidas e procurar conservar, atraves dos anos, os bons segurados.
A Federal Crop, ao inesmo tempo que procura manter os bons contratos, evita aceitar segurados que, sistematicamente, apresentem prejuizos em suas lavouras. Tal controle e efetuado atraves de uma ficha pessoal que acompanha o processo de sinistro, sendo devolvida ao arquivo apos a emissao do cheque.
A Federal Crop, como norma geral, procura pagar quaisquer sinistros que nao tenham corao causa a culpa ou a negligenda dos segurados. Julgando que o espirito do seguro agricola e a garantia de que o lavrador estara amparado em caso de desastre. a Federal Crop evita. na medida do possivel que a interpretagao rigida do texto da apolice constitua um meio de fugir ao pagamento de uma indenizaqao.
A proposito, gostariamos de traduzir uma passagem de um relatorio sdbre seguro agricola, apresentado em 1922, mas representative do atual pensamento da Federal Crop:
«0 que 0 segurado no ramo Vida deseja e a verdadeira garantia de que, no caso de sua morte prematura, o prejuizo economico sofrido pelos seus dependentes seja, em maior ou menor grau, contrabalan^ado pelo .seguro. Do mesmo modo, o que o lavrador necessita e a garantia de que, se as lavouras deixarem de produzir uma colheita razoavel, seja qual for a causa, desde que ele tenha cumprido a sua parte no contrato, ele seja indenizado pelo prejuizo sofrido.
6 desnecessario acentuar que, em nenhuma hipotese, o seguro garanta o
fazendeiro contra a sua propria negligencia ou falta de cuidado (U.S.D.A. — Bulletin n." 1 .043 — 23 de janeiro de 1922 — Relatorio apresentado por Mr. Valgren)->.
As apolices da Federal Crop sao muito simples e uniformes. A diferencingao entre as varias modalidades e feita atraves de endossos, assinados pelos representantes da Federal Crop, fisse sistema apresenta, sobre o nosso, a vantagem da economia de material e de trabalho.
A Federal Crop fixa um premio minimo de 10 dolarcs para cada apolice. Abaixo dessa quantia, o seguro e considerado desinteressante, tendo em visla que, em tais casos as despesas administrativas seriam sempre superiores ao premio recebido.
As apolices da Federal Crop sao continuas. A menos que a propria Fe deral Crop ou o segurado decidam cancelar o contrato, continuam em vigor atraves dos anos.
A Federal Crop utiliza um sistema tao simples de controle e pagamento dos sinistros que o processo completo nunca atinge mais de duas ou tres folhas. Em contraposigao, os nossos processes de sinistros, sempre volumosissimos, representam um desperdicio de material, tempo e dinheiro.
Essas sao as principals ideias que poderiamos aproveitar do estudo da experiencia norte-americana. Elas estao apenas delineadas; se aprovadas no Brasil, no seu todo ou separadamente, poderao ser planejadas e executadas com o auxiiio do copioso ma terial que nos foi fornecido e com a experiencia que adquirimos junto a Fe deral Crop.
A NTES de mais nada e para efeito -Cx do calciilo das reservas tecnicas. devcmos ter presente que o premio iiquido e a importancia que o segurado ou ressegurado paga a seguradora ou ao ressegurador, pelo risco assumido no contrato, deduzida apenas a parte correspondente ao resseguro ou retrocessao, no Pais, e as anulagoes e restitui^oes.
Isso c o que nos ensina o paragrafo linico do art. 58, do Decreto-lei numero 2.063, de 7 de mar^o de 1940.
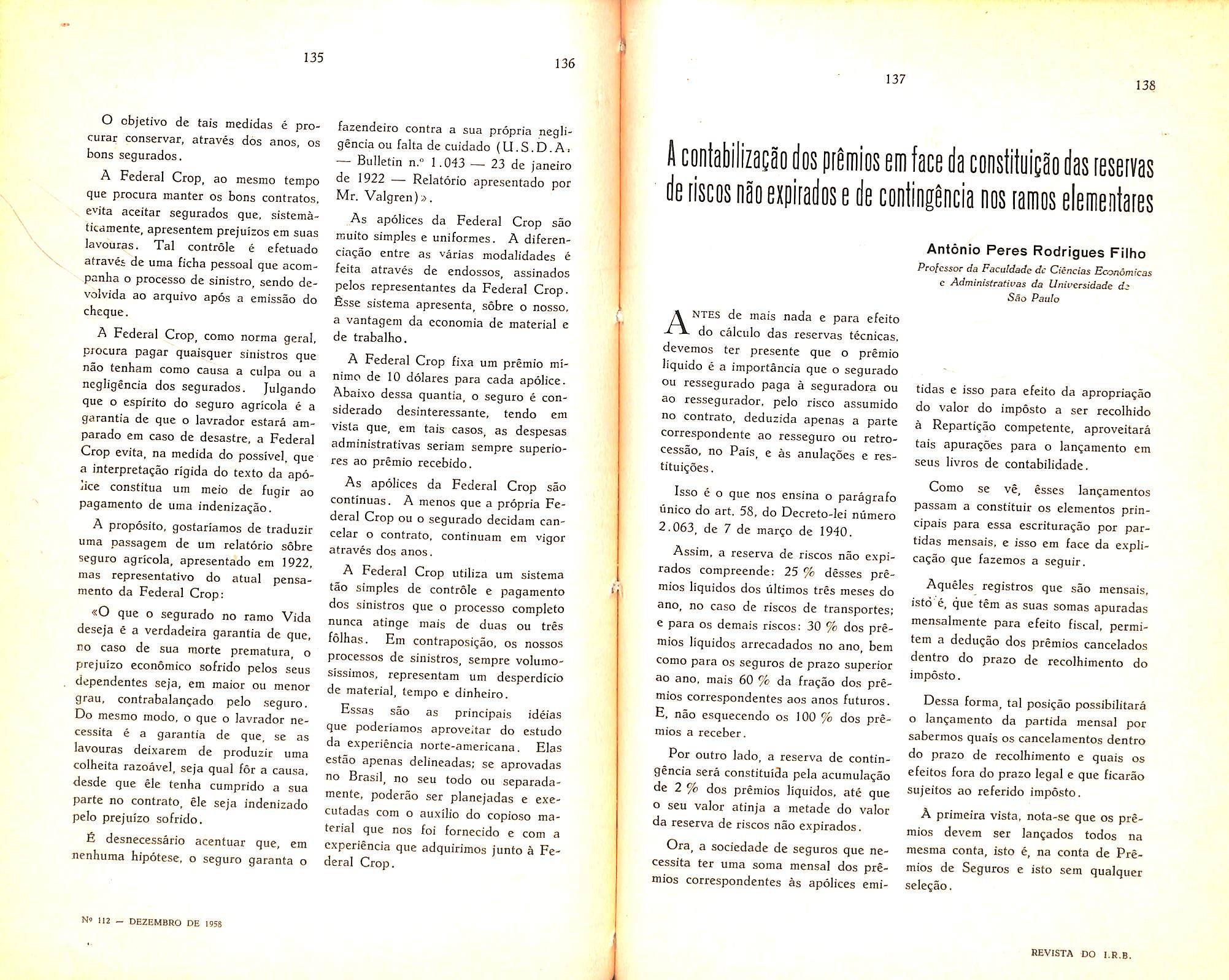
Assim, a reserva de riscos nao expirados compreende: 25 % desses premios liquidos dos ultimos tres mescs do ano, no caso de riscos de transportes; e para os demais riscos: 30 % dos premios liquidos arrecadados no ano, bem como para os seguros de prazo superior ao ano, mais 60 % da fragao dos premios correspondentes aos anos futures. E, nao esquecendo os 100 % dos premios a receber.
Por outro lado, a reserva de contingencia sera constituida pela acumulagao de 2% dos premios liquidos. ate que o seu valor atinja a metade do valor da reserva de riscos nao expirados.
Ora, a sociedade de seguros que necessita ter uma soma mensal dos pre mios correspondentes as apolices emi-
Antonio Peres Rodrigues Fllho Professor da Faculdadedc Ciencias Economicas
tidas e isso para efeito da apropria^ao do valor do imposto a ser recolhido a Repartigao competente, aproveitara tais apura^oes para o lan^amento em seus livros de contabilidade.
Como se ve, esses lan^amentos passam a constituir os elementos prin cipals para essa escrituragao por partidas mensais, e isso em face da explicagao que fazemos a seguir.
Aqueles registros que sao mensais. istd e, que tern as suas somas apuradas mensalmente para efeito fiscal, permitem a dedugao dos premios cancelados dentro do prazo de recolhimento do imposto.
Dessa forma, tal posi$ao possibilitara o lan^amento da partida mensal per sabermos quais os cancelamentos dentro do prazo de recolhimento e quais os efeitos fora do prazo legal e que ficarao sujeitos ao referido imposto.
A primeira vista, nota-se que os pre mios devem ser lan^ados todos na raesma conta, isto e, na conta de Pre mios de Seguros e isto sem qualquer selegao.
135 136 137 138
A contaliilizacao dos pieiriios em face da coosliluicao das leseivas de [iscos oao expiiados e de cooliogeocia oos fames elemeotaies
c Administrativas da Univcrsidade ds Sao Pau!o
N« 112 _ DEZEMBRO DE 1958 HEVISTA DO I.R.B,
Todavia, para atender exigencia legal de ordem tecnica, a sociedade podera manter em seus livros uma sele^ao daqueles premios, e seni alterar o piano oficial, a fim de saber, por ramo, o seguinte;
a) qual o montante dos premios do exercicio emitidos (Pelo credito da conta Premios de Seguros);
b) qual o total dos premios plurianuais do exercicio, (Mediante contas de compensacjao);
c) qual a soma dos premios cancelados (Debitos da conta «Premios Cancelados»):
d) qual o total dos premios de resseguros (Pelas respectivas contas das Congeneres e do I.R.B.);
e) qual o total dos premios plurianuais correspondente a exercicios futuros (Tambem mediante conta de compensagao);
[) premios emitidos no exercicio e cm exercicios antcriores e relatives a exercicios futuros; e isso por ano (Me diante conta de compensagao):
g) total dos premios a receber (Saldo da Conta Apolices em Cobran-
h) total de premios de resseguros aceitos (Pela conta «Premios de Res seguros Aceitos»):
() total de premios de retrocessoes por ano, bem como por excedente (Cre dito da Conta «Prcmios de Retrocessdes»)
Enquanto alguns desses totais sao fornecidos diretamente pela conta glo bal de premios, tais como o total emitido, OS demais dependem dos detalhes que a contabilidade devera fornecer.
Numa sociedade de pouco movimento, podemos fazer levantamentos extracontabeis, cujo uso entre nos, tem side grande e isso devido aos servi^os estatisticos que permitem tal orientagao.
Os proprios premios de retrocessoes so podem ser langados mcnsalmente depois que tenhamos recebido do Instituto de Resseguros do Brasil a informagao do valor que foi atribuido ao mcrcado e sobre o qual aplicaremos as percentagens que previamente nos in' formou o referido Institute.
Isso tem a sua explicagao, pois o I.R.B. faz a retrocessao por totais gerais, estabelecendo as percentagens que cabem a cada- seguradora participante.
O Institute de Resseguros do Brasi! informara o montante e as percenta gens correspondentes a cada segura dora que participou dos riscos das re trocessoes atraves de convenio.
Ja o total de resseguros aceitos sera obtido na escrituragao da propria so ciedade pois, sao opcragoes por ela realizadas.
Todavia devemos lembrar que a con tabilidade podera fornecer toda e qualquer informagao a respeito das operagoes registradas desde que saibamos aproveitar os seus recursos, pois o dcsdobramento das contas podem fornecer detalhes preciosos.
Para isso elas podem ser desdobradas em 1.° grau. 2.°, 3.°, 4.° e mais graus conforme a necessidade.
A fim de registrarmos os premios diferidos, podemos manter contas de compensagao que nos digara quais oS vencimentos, como: Premios de Exer cicio Future — 1959, Premios de Excr-
cicio Future — 1960, etc. e isto sem alterar o piano oficial. Case contrario, poder-sc-iam separar na receita, os pre mios anuais e os premios plurianuais.
Para exemplificagao do tema proposto, admitamos a escrituragao de uma sociedade no ano de 1958. Dentre outras operagoes, emitimos apolices com premios no valor de Cr$ 1.815.000,00, sendo que Cr$ 1.215.000,00 foram recebidos no exercicio em curso; CrS 95.000.00 correspondem ao ano de 1958 e CrS 95.000,00 ao ano de 1959, Cr? 75.000,00 ao ano de 1960,
Apolices cm Cobranga
Cr$ 75.000,00 ao ano de 1961 c
Cr$ 75.000,00 ao ano de 1962 e ....
Cr5 600.000.00 ficaram a receber. Os
Premios Plurianuais acumulados de diversos exercicios somam
CrS 7.000.000,00. dos quais
Cr$ 2.000.000.00 se referem a 1958;
CrS 2.000.000,00 a 1959:
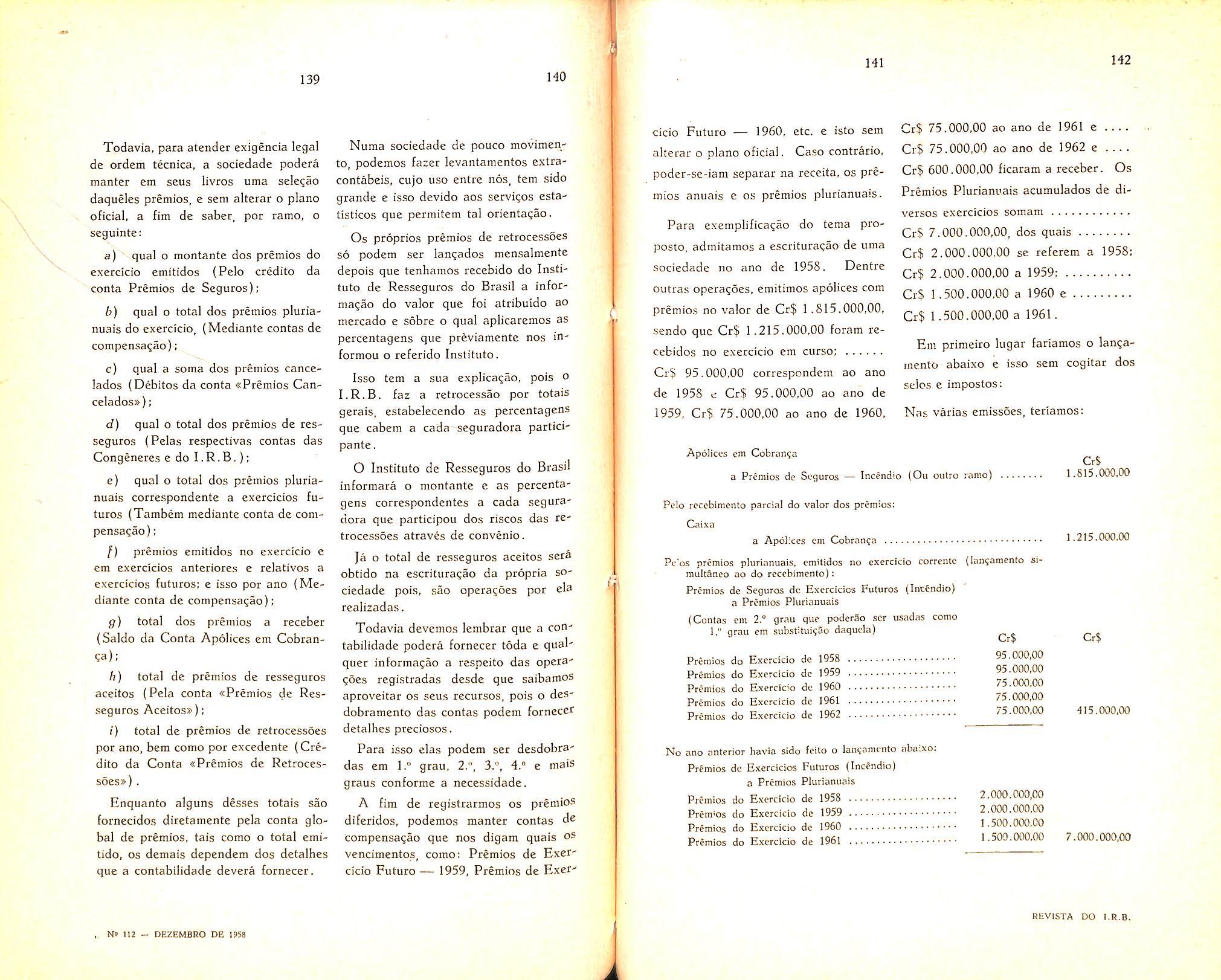
Cr$ 1.500.000,00 a 1960 e
Cr$ 1.500.000.00 a 1961.
Em primeiro lugar fariamos o langainento abaixo e isso sem cogitar dos selcs e impostos:
Nas varias emissoes, teriamos:
a PrSmios de Seguros — Incendio (On outro ramo)
Pelo recebimento parcia! do valor dos premios;
Qiixa
a Apolices cm Cobranga
Pelos premios plurianuais, emitidos no exercicio corrente (langamento simultanco ao do recebimento);
Premios de Seguros de Exercicios Futuros (Incendio)
a Premios Plurianuais
(Contas em 2° grnu que poderao ser usadas como 1," grau cm substituigao daqucla)
No ano anterior havia sido feito o langamcnto aba;xo; Premios dc Exercicios Futuros (Incendio)
a Premios Plurianuais Premios
139 HO
N' lU - DEZEMBRO DE 1958
141 142
95,000,00
Exercicio
95.000,00
do Exercicio
75.000,00 Premios do Exercicio de
75.0W.00 premios do Exercicio de 1962 75.0 0,00
Premios do Exercicio dc 1958
Premios do
de 1959
Premios
dc 1960
1961
do Exercicio
2.000.000,00 Premios do Exercicio
1959 2.000.000,00 Premios do Exercicio de 1960 1.500.000.00 Premios do Exercicio de 1961 1.500.000.00 CrS 1.815.000,00 1.215.000,00 Cr$ 415.000,00 7.000.000,00 REVISTA DO I.R.B.
dc 1958
dc
No fim do exercicio corrente, tanto para o premio nelc craitido como para o premio cmitido em cxercicio anterior, faremos o langamento pela baixa, a saber:
c) soma dos premios a receber: d) premios de resseguros aceitos: e e) premios de Retrocessoes.
Como se verifica, essa posi^ao devera ser estabelecida para cada urn dos sub-ramos dos ramos eicmentares, pois no Balance Patrimonial figurara no grupo das reservas tecnicas, unicamentc, o valor daquclas reservas, sem cogitar da sua origem.
A fim de ilustrar o nosso trabalho, passamos a comentar o pensamento dc Lasheras-Sanz que as pags. 126 do seu «Tratado de Contabilidade de Seguros», adianta quc podemos considerar varias situa^oes referentes aos premios e cita:
а) a veneer no exercicio:
б) emitidos no exercicio:
a Direitos Emitidos
a Impostos
Para as postas em circulagao:
C/Correntes
a Recibos
Na cobranga:
Premios Emitidos
a Premios Cobiados
Podendo ser tambem:
Premios de Apolices Emitidas
a Seguros
Para as anuladas, item d):
Premios Anulados a Premios a Veneer
Acompanhanclo-se a posi^ao dessas contas. pelo Razao, vemos quc as contas de compensagao referentes aos exerci cios futures ficam em aberto e isso porque os premios nao estao vencidos.
Com tal procedimento. podemos reunir, entre outros dados, os valores para as reservas, pels teremos: o total de premios arrecadados obtidos atraves da conta «Premios de Seguross; o saldo a receber, expresso na conta «Ap6lices em Cobran^aa; o valor dos premios diferidos transferido de exercicios anteriores e dos premios plurianuais emitidos no exercicio, demonstrados pelas contas de compensat^Io.
Para melhor compreensao devemos considerar que os premios eraitidos se constituem de duas parcelas, ou sejam: uma do valor a receber; outra dos va
lores recebidos incluindo tanto os premios anuais, como os plurianuais.
Examinando a lei a respeito das re servas tecnicas, vemos que o Decretolei n." 2.063, de 1940, determina que as Reservas de Riscos nao Expirados e as de Contingencia sejam constituidas de percentagens sobre;
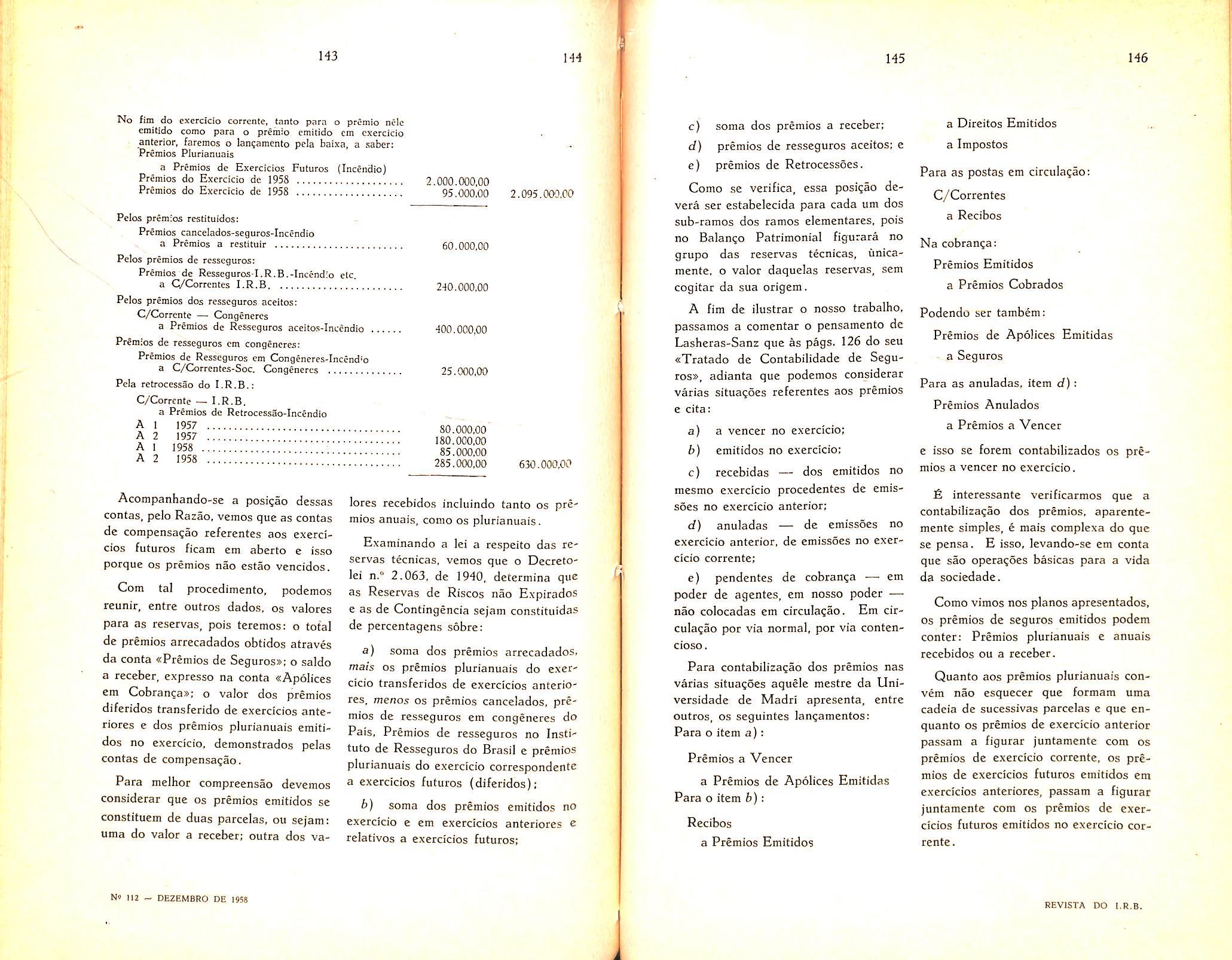
а) soma dos premios arrecadados. mais OS premios plurianuais do exer cicio transferidos de exercicios antcriores, menos os premios cancelados, pre mios de resseguros em congencres do Pais, Premios de resseguros no Insti tute de Resseguros do Brasil e premios plurianuais do exercicio correspondente a exercicios futures (diferidos):
б) soma dos premios emitidos no exercicio e em exercicios anteriorcs e reiativos a exercicios futures;
c) recebidas — dos emitidos no mesmo exercicio procedentes de emissoes no exercicio anterior:
d) anuladas — de emissoes no exercicio anterior, de emissoes no cxer cicio corrente:
e) pendentcs de cobran^a — em poder de agentes, cm nosso poder nao colocadas em circulacao. Em circulagao por via normal, por via contencioso.
Para contabilizagao dos premios nas varias situa^oes aquele mestre da Universidade de Madri apresenfa, entre outros, OS seguintes lan^amcntos:
Para o item a):
Premios a Veneer
a Premios de Apolices Emitidas
Para o item 6):
Recibos
a Premios Emitidos
e isso se forem contabilizados os pre mios a veneer no exercicio.
fi interessante verificarmos que a contabilizaslo dos premios, aparentemente simples, e mais complexa do quc se pensa. E isso, levando-se em conta que sao opera?6es basicas para a vida da sociedade.
Como vimos nos pianos apresentados, OS premios de seguros emitidos podem conter: Premios plurianuais e anuais recebidos ou a receber.
Quanto aos premios plurianuais convem nao esquecer que formam uma cadcia de succssivas parcelas e que enquanto os premios de exercicio anterior passam a figurar juntamente com os premios de exercicio corrente, os pre mios de exercicios futures emitidos em exercicios anteriores, passam a figurar juntamente com os premios de exer cicios futures emitidos no exercicio cor rente.
143 144 145 146 2.095.0OD,CO
Premios Plurianuais a Premios do Exercicios
(Incendio) Premios do Exercicio de 1958 2.000.000,00 Premios do Exercicio de 1958 95.00o!oO Pelos premios restituidos; Premios cancelados-seguros-Incendio a Premios a restituir 60.000,00 Pelos premios de resseguros: Premios de Resseguros-I.R.B.-Incendio etc, a C/Corrcntes I.R,B ' 240,000,00 Pelos premios dos resseguros aceitos: C/Corrcnte — Congencres a Premios de Resseguros aceitos-inc6ndio 400,000,00 Premios de resseguros cm congencres: Premios de Resseguros em Congencres-Incend'o a C/Correntes-Soc. Congenercs 25,000,00 Pela retrocessao do I.R.B.; C/Corrcnte — I.R.B, a Premios de Retrocessao-Incendlo t y Iw 80.000,00 A r lOs/ 180.000,00 A 9 ,o« 85.000,00 ^ •' 285.000,00 630.000,00
Futures
N« 112 ~ DEZEMBRO DE 1958 i.
REVISTA DO t.R.B.
Esclarecendo, podemos formular Podemos adiantar que esse proccdium exempJo, a saber: mento tem grande significagao para a formaqao das reservas tecnicas. roram emitidos premios para os anos:
Em 1957 para 1957, 1958, 1959, valores nao forem apurados iggg pela Contabilidade, a dificuldade sera grande, a nao ser que sejam organiEm 1958 para 1958 1959, 1960, j j ... .. . ^ ■ ■ zados quadros estatisticos-contabeis. 1961.
Ainda para ilustragao do tema que Em 1959 para 1959 1960 1961 u j ^ abordamos, apresentamos a seguir, re1962, etc. sumidamente, lanQamentos indicados
(~i„ j irtco . . por Paret (Victor L.) em seu «Tra- CJra, no ano de ,1958 os premios ...j ,„_n , tado de Contabilidade de Empresas» emitidos para 1958. 1959 e 1960 devem , , e que muito podera ajudar aqueles que ser somados com os valores emitidos pretenderem seguir um piano para a para esses exercicios em 1957. . , contabiliza^ao dos premios de seguros.
Nos anos de 1959 somaremos, igual- Diz o autor que para um contrato mente. os premios emitidos para esse de 10 anos, com premio anual de .... ano em 1957, 1958 e 1959. E assim, Cr$ 10.000.00 faria os seguintes lan^asucessivamente.
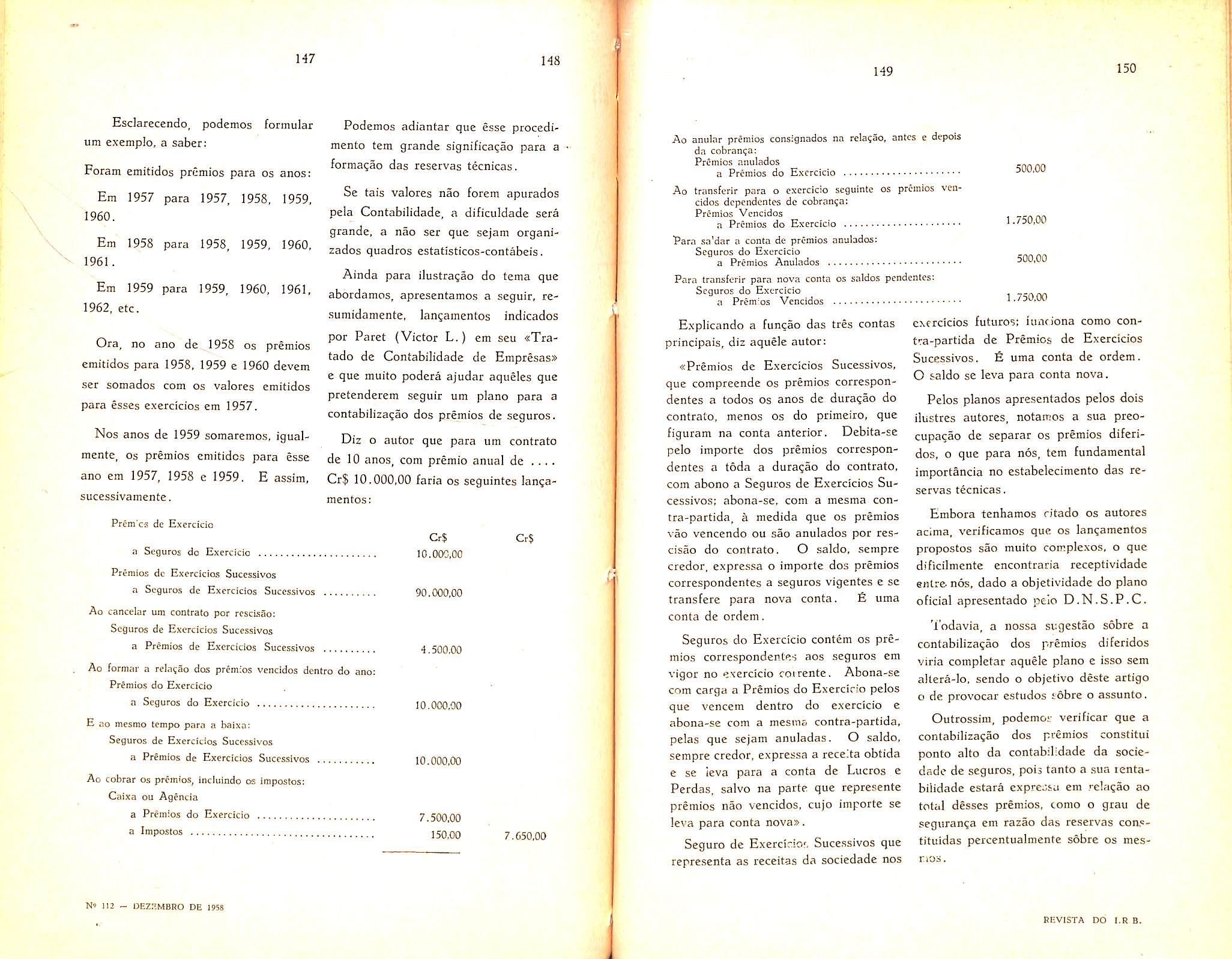
Prem'cs dc Exerdcio
mentos:
Cr$ Cr$
a Seguros do Exercicic lO.OOC.OO
Premios dc Exercicios Sucessivos
a Seguros de Exercicios Sucessivos 90.000.00
Ao cancelar um contrato por rcscisao; Seguros de Exercicios Sucessivos a Premios de Exercicios Sucessivos 4.500,00
Ac formal- a rela^ao dos premios vencidos dentro do ano:
Premios do Exercicio
a Seguros do Exercicio jO 00000
E ao mesmo tempo para a faaixa; Seguros de Exercicios Sucessivos a Premios de Exercicios Sucessivos 10.000,00
Ac cobrar os prSmfos, incluindo os impostos;
Caixa ou Agencia
Ao anular premios consignados na rela^ao, antes e depots da cobran?a: Premios nnulados rivinn a Premios do Exercicio 5W.0U
Ao transferir para o exercicio seguinte os premios ven cidos dcpendentes de cobran^a: Premios Vencidos -rcnnn n Premios do Exercicio 1.750,00
Para sa'dar a conta de premios anubdos; Seguros do Exercicio cnooa a Premios Anubdos 500,00
Para transferir para nova conta os saldos pendentes: Seguros do Exercicio a Prem-os Vencidos J./50,U0
Explicnndo a fun?ao das ties contas exercicios futures; iunciona como conprincipais, diz aquele autor: tra-partida de Premios de Exercicios ... , T- . . c • Sucessivos. £ uma conta de ordem. «Premios de Exercicios oiicessivos. O saldo se leva para conta nova, que compreendc os premios correspondentes a todos os anos de duragao do Pelos pianos apresentados pelos dois contrato, menos os do primeiro, que ilustres autores, notamos a sua preofiguram na conta anterior. Debita-se cupa(;ao de separar os premios diferipelo importe dos premios correspon- ^ tern fundamental dentes a toda a duragao do contrato, i^poj-tancia no estabelecimcnto das recom abono a Seguros de Exercicios Sucessivos; abona-se. com a mesraa contra-partida, a medida que os premios Embora tcnhamos ritado os autores vao vencendo ou sao anulados por res- acima. verificamos que os langamentos cisao do contrato. O saldo. sempre propostos sao muito complexes, o que credor, expressa o importe dos premios dificilmcnte encontraria receptividade correspondentes a seguros vigentes e se entrc-nos, dado a objetividade do piano transfeie para nova conta. 6 uma oficial apresentado pelo D.N.S.P.C. conta de ordem.
lodavia, a nossa sugestao sobre a Seguros do Exercicio contem os pre- contabiliza?ao dos premios diferidos mios correspondentes aos seguros em completar aquele piano e isso sem vigor no exercicio cot rente, Abona-se ^ objetivo deste artigo com carga a Premios do Exercicio pelos ^ p^ovocar estudos iobre o assunto. que vencem dentro do exercicio e abona-se com a mesma contra-partida. Outrossira, podemor vcrificar que a pelas que sejam anuladas. O saldo, contabiliza^ao dos premios constitui sempre credor, expressa a receita obtida ponto alto da contabilidade da sociee se leva para a conta de Lucros e dade de seguros, pois tanto a sua lentaPerdas, salvo na parte que represente bilidade estara expressa em rela?ao ao premios nao vencidos, cujo importe se total desses premios, como o gtau de leva para conta novas. segiiran^a em razao das reservas con,®Seguro de Exercirior, Sucessivos que tituidas percentualmente sobre os mesrepresenta as receitas da sociedade nos nos.
H7 H8 149 150
a Premios do Exercicio
a Impostos 150,00 7.050,00 112 - OEZltMBRO DE 1958 i
7.500,00
REVISTA DO I.R B.
DADOS ESTATISTICOS
ConMbuigSo da Divisao Estatfstica c Mccaniza^ao do I.R.B.
DEMONSTRAgAO DE LUCROS E perdas das sociedades de seguros
A seguir sao apresentados os resultados industriais das operagoes de se guros durante o ultimo trienio. apresentado urn quadro para todo o mercado, um para cada grupamento e um para cada um dos principals ramos do seguro.
Os excedentes industrials e os respectivos indices' dos ramos estao resumidos no quadro abaixo.
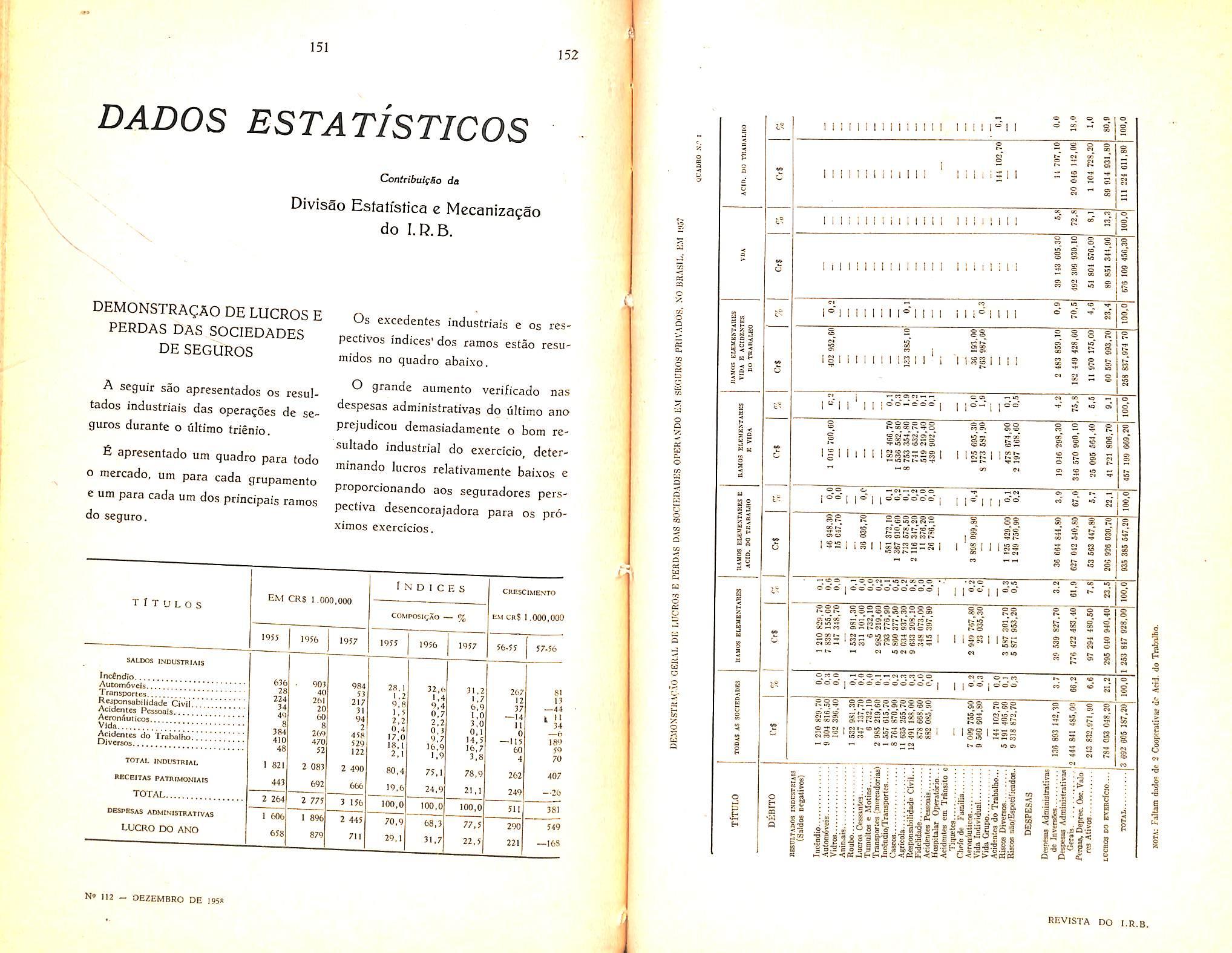
CR$
©
©okif3(0"40©
n
<o
rt © ©*o'©' — O o^—— <N « p? o © ©©©©©©©©cT© o — « ©'©'o*
0»
T I REVISTA DO LR.B.
151 152
f T u L o , EM
SALDOS INDUSTRIAtS Incfndio AutomOveis Transportes Rejponwbilidade Civii.'.V' f^identes Pcssoois,, Aeronfluticos Vidfl Acldentes do'Trabaiho!i' Diversos TOTAL INDL'SreiAL RBCE/TAS PATRIMONIAIS TOTAL DBSPESAS ADMINISTRATIVAS LUCRO DO ANO 2 400 2 775 Indices CHESCIXIENTO composiqao- % EM CF$ 1.000,000 1955 1956 1957 56-55 57-56 31,2 267 81 1,7 12 13 6,9 37 —44 1,0 —14 i 11 3,0 n * 34 0,1 0 —6 14,5 — 115 189 16,7 60 59 3,8 4 70 78,9 262 407 21,1 249 —26 100,0 511 381 77,5 290 549 22,5 221 —163 N» 112 - OEZEMBRO DE :95« '.-•I 1 Qt a o v. o a c O o X u o a o o o x g o a: o 2 X u o o Q a u, 2 S. es w < H o » £ Si o ^ X aa £ U fa 3il N H S is° I I I I 1 I I 1 I M ° I I I [ M I I I I I I i I 1 i ? I I 1 I I i I I I I [ I I I 1 I I 1 1 ! I i [ ] i I I I I I i I : i I ® 1 1 i 1 I I I ® M 1 i ■=" 1 i M ?!" rt O Pi ^ o — e* e' o' Q ISI <a M p* o VCO lA — O ^ rfS « « Pi CS en «ic M A c CO fO m — kC I- kO ^ o o o'o' o ©'©eT©©© ee M* f Ok © r» CP w j2£: (13 •—© ©
M © CO IC = ® © © © Ot W3 OS »rt f CC CO O oo o©©o©©Oo©©
•
cs
« PS © ©
©'
© © © © ^ ^
©
SS
©
O t: ffi •« Q S a eiS ii III•sl-e So a p — CJ o (>• p* c» © S e PS S © PI «i> S S 3 12'I; sfsiti 5
il
S'i?-3-g
O grande aumento verificado nas despesas administrativas do ultimo ano prejudicou demasiadamente o bom resultado industrial do exercicio, determinando lucres relativamente baixos e proporcionando aos seguradores perspectiva desencorajadora para os proximos exercicios. S ® < S-5 Q
1.000,000
^©©pj-"»oo^oo©© CO© © ©©'©'©'o'o'©'©'©
h«eoQP4©r9 .PC"' cca©eop?^'" ©CO cBP«sp3©©r<cv
© © n © (£© 1|S3 Igp: u? «
© -p Pi •— © © pi ©©©©©©©©oo 9 © eC >-• « ' pi Pi © © ?! I, © g
»'
^ ^
t a *©<-©'«•© go
SSR ^ CO
issIssa
"5 J U -
g y 1 gg
Sg6-i t-2-21.
DEMONSTRAQAO
S
«<i oi ca « c. © 2 ® ® ^ "■' ^ ® ^ © C ©
=:S® oc©©© ©o© © ©c© CO © © o 0»rt— ©-t«f«rtOO QO?JCO © PIC"- c»© o c Iks iSgs-S .glS i Sis =s - .f | g
SsS lg|s5= iSgl glisH gg s S i
S'' - g- ® = "= -zn ■— 2 ■- s
© c* © © © © iO
'X "■.®. —«©'*•tJ^^ ©©(NO 9^ Sj — C« O «w'©' o"©'o'rtO*©* -c'c-s©' o'ooo orto' in ci c © © o
I®
C; ff s E P ? — ® ©o©© ©ooo ©c© o c © rjg SiSg'ii i=Si gigs |S| 1 g- g
aaco— [©©-^■M-rov r. — ?io ^ ® <-«— CCM-«©M<0 e2-.0«« Its « p?
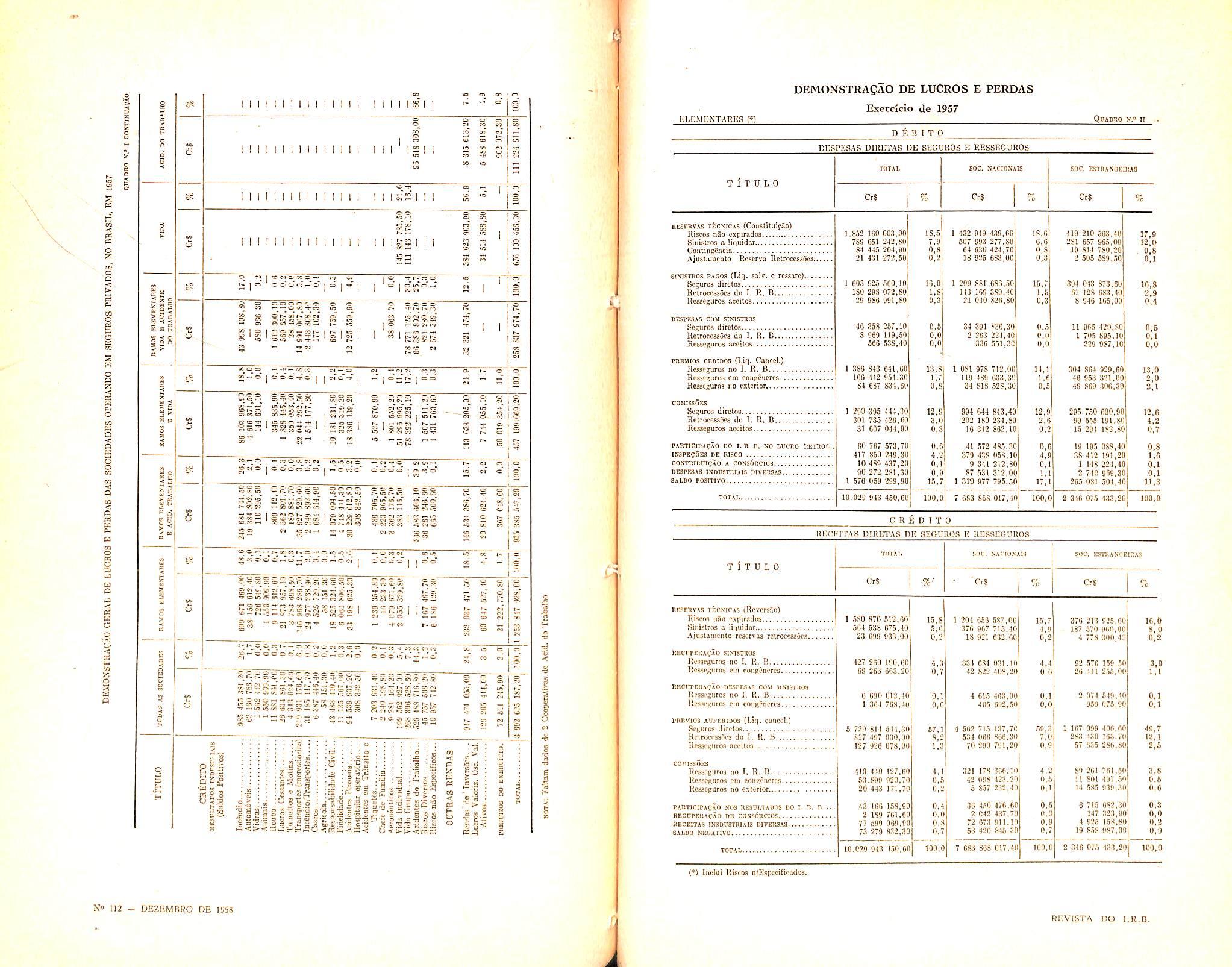
2f> -TM-o pj« i-ta ©o S- -rt ©CO 2°
<® o ~ — 1- * «-5 I. © T O-rt »ft © — 0«M O sc f-
5nc.oc-ti£cr= = _"c>i'1 ccc-s o© X -■©
S 5 « — o e © © occ© cc Co© § 21! £ ? J;;*3C s ?f-*r £ •"* -'* ^ »- » —* i-," ©■
•*©*o©©©©pipii..l2«Si^ — ui I' SSi5§=?^ggg"Si2i rss' ;£2 S 5 ll - -rt. J, o_ O e^ Oc
© i2 *o © ©
o © t« CO
1°. = «■ - rc-. ^T« MC^ cc L-> © 1©
oa^1. O «.- « so 5 3^ t" t/. ««8 o S S ?» * § o © ?SRSigs's2=§s=ggg sSiggfzgS S 5 s
©-© = so© ©a ©o_-J,-©- ©"©©•„,-i;^-_-©- _• ^ -; ©■ fj © •e o
o lo
a ca o 'JZ o a © & o o 7; -< u © u; Q < O b: O O < Q •< © aU 0a o s o OS u a •< OS o .< p ill 9 c tt H a h B •< O Ir s M 5 W t£ < 2 S5 S S 3 © &-• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I § = 001 0, C o a o ® p» « rt g d 2 u 1 M 1 1 i 1 1 M 1 I ' = 1 = S g «fl rt •»< ci ta CO m © CO © ?! 15 O I' O — 'o i I 1 1 i 1 1 1 1 S21 1 S " ' 18 M c!; O 9 g CO n en i 1 I 1 1 [ 1 1 M 1 1 1 1 S 3 ' JC «9 lA ♦ i2 •-< CO fo e*s © « © iT O © o c-^ ^ 1 <c ffl Cj*Q f-3 ^ o C- s 1 o 1 ,-| ^ o ©' O S ® eoooc_« © o o «© = = © ®® ^9 ©al-reo o » fS O r- cr cc pr © er « oj'«<?»* cv t®©irt«o«oo >'? »o *® ticcc-* I--.
0a
8'g
□ CO
c<4 c-> •r ^ — f, eo e4 © t« H. © eo CO 04 * o —-r
— © c-©-T'©e/>— », lo tO^ecpiM -r |
|9|o)c.js—;^t»i r«|iAi 'cO *'©—•• — '
'Sg'-'gTD'g 1 S "'sggSs S
eo©
—^o: p? M -^ ©
Crt
© © © so 5i| «sa tj <1= EJ!2 !3 ■S £<>• ®.5 B lii ° V - ■il'HSlS gj ss-g 8^ I'S g.s <2;-jf-P£o-<<2tZ-< = < H & 1 5^ 2 25' TS-U'i >>•t p •y u cs ra < as f-i D O ''4 o « ^ u u B po H K e ri 1 U ,1 ^ S 0 < *•31 e p i> 2 a a > B Is <S3 1 L I H N« 112 _ DEZEMBRO DE 1.958
DE LUCROS E PERDAS Exercicio cle 1957 ELRMENTAnKS f-) Qt'ADTio N.° n D E B I T 0 miSPESAS DIRETAS RE SEGUROS V. ItESSKGUROS lOTAL EOC. S,4CinXAlS sue. ESTn.eXOEIBAS T T n T n i i 1 U Ij vy Cr$ % Cr$ Tu CrJ re nBSritVAi! TECXICAS (Conslituifuo) Riscoa niio OAptrados 1.S52 160 006,00 18,5 1 432 949 439,66 18,0 419 210 563,40 17,9 Rtiiisiros a !ii{iii8ar. 769 651 212,8" 7,9 507 993 277,80 6,6 2Sl 657 965,00 12,0 Coiitinglncia 64 445 204,90 0,8 64 639 424,70 ",8 19 814 7SO,20 0.8 Ajuslainctito Rescrra RctroccasOcs 21 i:il 272,50 0,2 18 925 683,00 0.3 2 505 589,50 0,1 livisTTtos PACOs (Liq. salv. c rcssarc) Seg'^f^ dirclag I 603 925 560,10 10,0 1 299 881 680,50 15,7 .194 013 873,60 16,3 HMr»c05s6cs do I. H. B ISO 29S 072,80 1,8 113 169 380,46 1.5 67 72S 683,40 2.9 Rosacgutos accitoa 29 986 991,80 0,3 21 010 526,80 0,3 S 040 165,00 0,4 DEEpEiAS CUM SmiSTTIOa ikguroa diretns 40 353 257,10 0,5 34 391 536,30 0.5 11 966 429,80 0.5 Ilctroccssuca do !. R. B 3 969 119,50 0,0 2 203 224,40 0,0 I 705 895,10 0.1 Resscgufos accilos 566 538,10 0,0 336 5.51,30 0,0 229 987,10 0,0 PREMios CEoruoa (Lu|. Cancel.) RessPguroa no ]. R. B 1 350 813 611,60 13,8 1 081 978 712,00 14,1 304 804 929,60 13,0 RcAseguroA oin congC-'icrcs 166-112 951,30 1,7 119 489 633,39 1,0 46 953 321,00 2,0 Resscgnros )io exterior 51 687 831,60 0,8 34 SIS 528,30 0,5 49 869 306,30 3.1 couissusa ScRuros dirctng I 290 395 144,30 12,9 994 644 813,40 12,9 295 750 690,90 12,6 RetrocessOea do I, R, B 301 735 426,60 3,( 202 180 234,80 2,0 99 555 191,80 4.2 Resseguros accltos 31 607 041.90 0,3 16 312 862,10 0,2 15 291 182,80 0,7 PARTiCiPACAO DO I. tt. n. NO tocno ketboc. 60 767 573,70 0,6 41 572 48.5,30 0,C 19 195 OS.8,40 0,3 inspecOes DE niaco 417 550 249,31 4,2 370 435 058,10 4,< 38 412 191,20 1.6 coNTOiuritAO A coKsAacias 10 459 437,20 0,1 0 341 212,80 0, 1 148 224,40 O.I DESPClAa IXDttSTHIAIS DIVEPJaS 90 272 251,30 0,! 87 531 312,0(1 1, 5 740 969,30 0,1 SADDO POSITIVO 1 570 059 299,00 15,7 1 310 977 795,50 17, 263 081 301,46 11,3 TOIaD 10.029 913 450,60 100,0 7 683 868 017,41 100, 2 340 07.5 433,26 100,0 C H E R T 0 DEcriTAS DlliKTAS RE SEGUliOS K HESSEGUROR T T U L 0 TUT.el, sue. NAfTjyelS Sue. K-STllANUEtn.lS Cr$ 9-0 ■• • "C'rS Tc CrJ re UESEUYAs TEexiCAs (Rcvrrsl"! lllscM Ilia rj|iirados 1 .580 S70 512,60 15,8 1 204 6.56 5«7.0l) 15.7 376 213 925,6" 16,0 SitiisTrns a iiijuidar 501 538 675,40 5,6 376 967 715.4" •1,9 187 570 960,00 8.0 Ajustaiiicnto reservas rclroceasOes 23 699 933,00 0,2 18 921 033,60 0,2 4 77s 30",49 0,2 RECFPniAeAO SIKISTBOS llepseRurus nn I. H. B 427 260 100,6(1 4,3 33t GSl 031.in 4.4 92 ,576 1.59,5" 3,9 Rosseguros en; eungcneres 69 263 663,20 0,7 42 822 41)3,20 0,6 26 411 255,00 I.l PECi'PEiueAU iiesrrsvs com sixiprnos Re.ssegiiros no I. R. li 6 690 012,40 0,1 4 61.5 463,00 0,1 2 071 ,549,10 0.1 lii'SiL'gijros eiu coiiRenerca 1 361 768,40 ",o 495 692,.5" 0,0 959 rj75,90 0,1 pitEMioa AUFERiDos (l.iq, cancol.) Segisros diretoe 5 729 814 514,30 57,1 4 562 715 137,70 59,:i 1 167 099 .106,60 49,7 ReirucessScs do I. R. B 817 497 030,00 8,2 531 "6(1 866,3" 7,0 2.53 430 163,70 18,1 Reaseguroa aee;(us 127 926 078,00 1,3 70 290 791,20 0,9 57 635 286,80 2,5 COMISSUES Rfssegiiroa no I, R. B 110 440 127,6" 4,1 321 178 366,10 4,2 69 201 761,50 3,3 Resseguros en; eongencres 53 899 920,7(1 0,5 42 098 42:1,2" 0,5 11 801 407,59 O.fi Reasegurus no esterior 20 443 171,70 0,2 5 857 2:12,40 0,1 M 585 039,3" 0,6 p.ARiieiPAg.eo Nta resui.taws do i- b. b 43.166 158,00 0,4 36 4.50 476,69 0,5 6 71.5 082,30 0,3 BECTTpEnAeAO DE coxs6;ic;os 2 189 701,0" 0," 2 942 437,70 9.0 147 3-23,90 0,0 AECKITAS INSOrSTBIAIS DIVERSA5 77 590 069,9" o.s 72 073 911.1" 0,9 4 925 159.80 0,2 &ADDO KRGATIVO 73 279 8.32,30 ",7 63 420 845.30 0,7 10 858 987,00 0,9 TOTAC 10.029 043 450,00 100.0 7 683 808 017,19 100,(1 2 340 075 433,20 100,0
Inelui Rbcos
3isl^5gs;ig-S3|§ mMUli'i 5 ® = |S"-=S-^=©° 2=S g § s REVISTA DO I.R.B.
1*)
nlEspcgifiridos,
DEMONSTRACAO DE LUCROS E PERDAS
AOTOM6vEI8
DEMONSTRACAO DE LUCROS E PERDAS
RfSEKVAS itCKlCAS (CoOSliiUifSo)
Hbcoa n5o expirados
Siiii£tro3 a liquidar CoottQgeacia AjusUmcnto reserva relrcxvssdes.
6isiSTno3 VAC,os (Liq. Sa!v. c Kcssarc.)
Sesuros dirc(08
Rclrocessdcs do I. R. B lUsscguros occitos
£GSPB5A3 COM StNlSTBOa
Soguroa ijirelos
Relroccas{i^ do I. R. B.
Reaaeguroa accilcs
psttfros CEDID09 (I.iq, canc«l.1
Htsscguroa do I. R. B Rcssegtiros cm conglneKa..
SHEU»*3 TccsiCiS (ConslituifSo).
niKM nSo eipinwlM
Binistroa a lic^uidar
Contiog^nciQ
AjustamcDio rcscrva rcUpceBBAe.....
BIKTSTH03 P*no3 (Liq. Salv, e Ressarc.)
ScRuroa diretoa
RctroccaaOcs do I. R. B
Kcsa?£Liroa accitoa
PES7R513 COU 5IN1STn03
Hcgara dirctos
Rolrocc^AcB do 1. R. 13
Roasoguroa acoitce
PHSuirta CEDiDOa (Liq. carted.)
Kcaacguroa no I. R. li
Ucascguroa era congenerea
Rcsacguros no exterior.
couiaauita
Soguroa diretos
RolroccaaAoa do I. R. B
Reaaeguroa accitoa
Paniicipaf.in i>o l.R.ii. no ldcbo bitroc
lit: nisco
KCSBAVAS Tr.CNiCAS (Reversio)
Riscoa JVAO cxpinidog
Sitiisiroa a iuioidar
AjusUiDcato reserva retrocexsOes
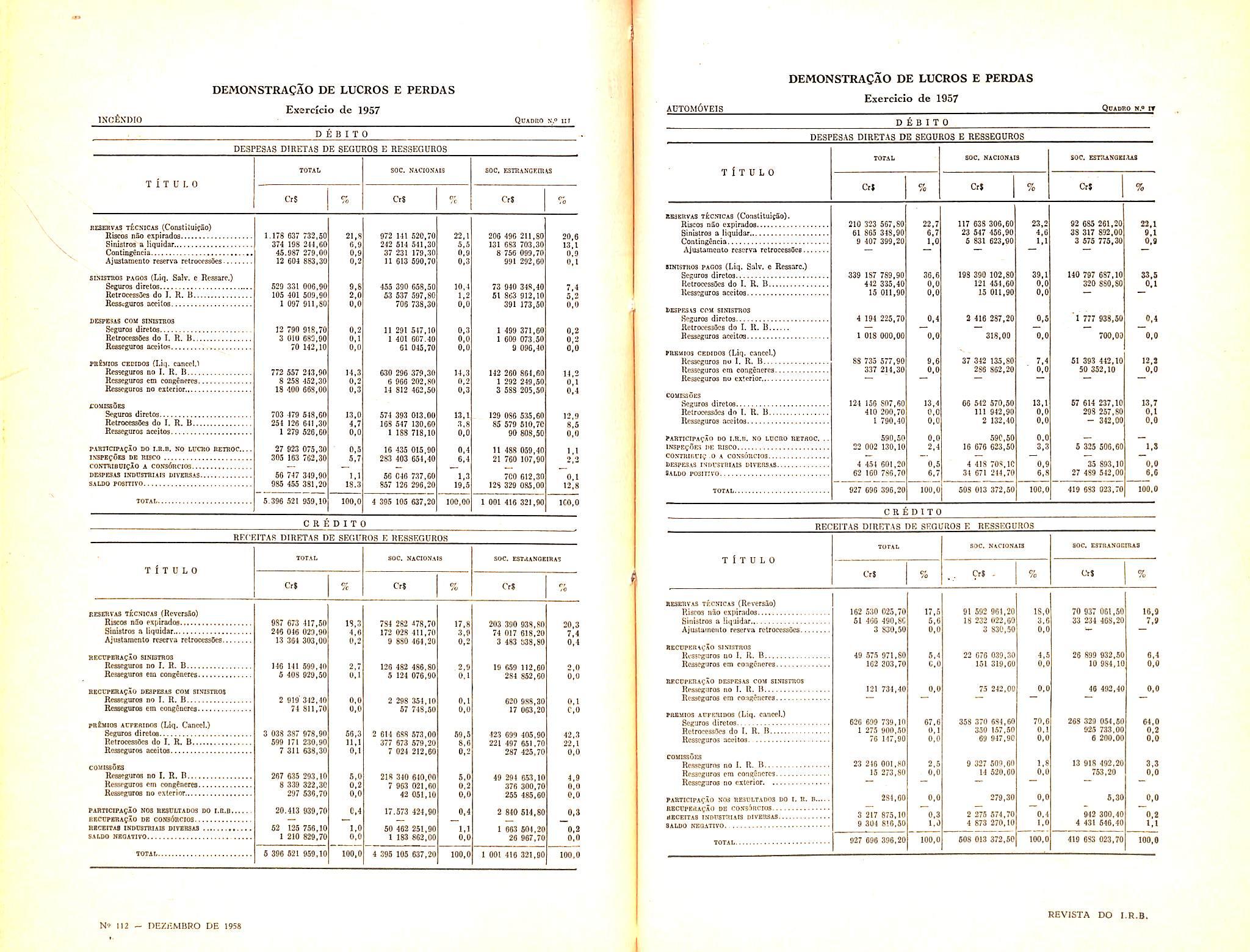
EBCUPEKSCXO SISTllTROS
Rvsic'guros DO ]. R. B Itcsscg'Jros CCD corigcncres
SACPPERAQaO DDSPCSAS COtf SINISmOX Rf&rfguros no I. U. H lic'soguros em eo igenereg
p&Buios AUPEHiDos (LIq. cancel.) Scguros direios RctroccssBcs do I. R. B Rcsscguroa aocitos
couissOes Rr^seguros no I. R. B Resacgiiroa cm congSncrca Rcsscguros no exterior.
XOS RE3CLT.\D08 DO I. R. B. agCUPBrtAfAO DB COX^'^RCIOS
I.SOV5T:U.4fS
INCfiS'lMO
de 1957 QmntiO s.» iii D li B I T 0 DESPESAS DIRETAS DE 8EGDR0S E RESSEGUROS TOTAL see. NACIOSAia BOC, ESTn.ANCi:niA3 T i T U I. 0 Cr$ % Cr$ % CrJ To
Exsrcjcio
Kesacguroa oo exterior Seguros dirpteg RetrocessSa do
R. B... Refiaeguros aceitog pABTTCrPAfXo 00 I.B.B, KO LUCTIO AETBOC.. IK8fE($E3 DE RL8C0 CONTAIOOICAO A COjrsdRClOS DBSPESAS IKDUETftUta DIVEESA8 SALDo posmvo tOTAL.. 1.178 037 732,50 21,8 972 111 520,70 22,1 200 496 211,80 20,6 211,60 6.9 212 514 511,30 5,5 131 683 703.30 13,1 279.00 0.9 37 231 179,30 0,0 8 756 099,70 0,9 883.30 0.2 11 013 690,70 0,3 991 292,60 0,1 006,90 9.8 455 390 658,50 10,4 73 010 318,40 7,4 509.96 2,0 53 537 597,80 1,2 51 863 912,10 5,2 911,80 0.0 708 738,30 0,0 391 173,50 0,0 018,70 0,2 11 291 517,10 0,3 1 499 371,60 0,2 680,90 0,1 1 401 607.-10 0,0 1 609 073.50 0,2 112,10 0,0 01 015,70 0,0 9 096,40 0.0 213,90 11,3 630 296 379,30 11,3 112 260 861,60 11.2 452.30 0,2 6 966 202,80 0,2 1 292 219,50 0,1 668,00 0,3 11 812 402,50 0,3 3 583 205,50 0.4 618,60 13,0 571 393 013.00 13,1 129 086 535,60 12,9 611,30 4,7 108 317 130.60 .3,8 85 579 510,70 8,5 526,60 0,0 1 188 718,10 0,0 90 808,50 0,0 075,30 0,5 16 435 015,00 0,4 11 488 059,40 1.1 752,30 5,7 283 403 651,40 6,1 21 760 107,90 2,2 319,90 1,1 56 016 737,60 1,3 700 612,30 0,1 381,20 18.3 857 125 295.20 19,5 128 329 085,00 12,8 959,10 100,0 4 305 105 637,20 100,00 1 001 416 321,90 1C0,0 C II E D I T 0 RFrRfTAS DIRRTAS DE SEOUROS E HESSEGUROS TOTAL SOO. KACI0N.M8 aoc. zatAANOEinAa T f T U L 0 Cr» 7c Cr8 % CrJ f .0 msERVAB t£c<<ica9 (ReveraJo) Rtacos nSo pxpiradoa 987 673 417,50 18,3 784 282 478,70 17.8 203 300 938,80 20,3 Siniatroa a liquidar 216 016 029,90 4.0 172 028 411,70 3.0 74 017 018,20 7,4 AjuataiDcnto reaerva rclrocesaSca 13 364 303,00 0,2 0 880 461.20 0,2 3 483 338,80 0.4 BECUTBBA^AO aiKIBTROa Reaaeguroa no I. R. B lie 141 599,40 2," 120 482 486,80 2,9 19 659 112,60 2,0 Reaaeguroa em coiigOnetes 5 403 929,50 0,1 5 121 070,90 0,1 284 852,60 0,0 BECUPERAPAO DEaPEaaS COB SINlBTROa Reaaeguroa no I. R, B 2 919 312,40 0,0 2 298 .351,10 0,1 620 988,30 0,1 Reaaeguroa cm cougOaerca 71 811,70 0,0 57 718,50 0,0 17 063,20 C,0 paEmos ACPERiooa (Liq. CanwI.) Seguros dlrctoe 3 038 38" 978,90 50,3 2 Oil 688 573,00 69,6 123 009 105,90 42,3 BelroceaaOee do I. R. D 599 171 230,90 11.1 377 073 679.20 8,6 221 497 651.70 22,1 Reaaeguroa accitoa 7 311 638,30 0,1 7 021 212,60 0,2 287 425,70 0,0 couissSes Reaaeguroa no I. R, B 267 835 293,10 6,0 218 310 610,00 5,0 49 291 05.3,10 4,9 Reaseguroe etrt congOneres 8 339 322,30 0,2 7 903 021,60 0,2 375 300,70 0,0 Reaaeguroa no exterior 297 530,70 0.0 42 051,10 0,0 255 485,60 0,0 PABTICIPACAO NOS BESlll/rADOa DO l.B.D 20.413 930,70 0,4 17.573 424,90 0,4 2 840 514,80 0,3 BBCopiRAtAO DB comOscioa BlCEtTAB IHDDaiBIAlB DlTBBSia 62 123 750,10 1,0 50 432 251,96 1.1 I 863 501,20 0,2 SALDO ME5ATIV0 I 210 829.70 0,0 1 183 862,00 0,0 20 907.70 0,0 TOTAL 5 396 621 059.10 100,0 4 396 105 637,20 100.0 I 00! 416 321,90 100,0 N» 112 - DEZilMBP.O DE 1958
I.
Exercicio de 1957 Quapbo w° t? D £ B I T 0 DESPES.AS DIRETAS DE 8EGUR0S E RE88EQUR0S T f T U L 0 CtJ % BOC. tt.CIOHAIS C:l % SOC, 2STUNaU.\.l CrJ %
tKSpBgflBa
CONTIlIltfl^
lESPEaaa larte-STRiaia niVEuaaS lALDO posiirvo TOTAL 210 323 557,80 61 865 318,90 9 107 399,20 339 187 789,90 412 335,40 IS 011,90 4 191 225,70 1 018 OCO.OO ; 735 577,90 337 214.30 124 150 807,60 410 200,70 1 790,10 5911,50 22 002 130,10 4 4.51 601,20 62 160 786,70 827 090 390,20 22,7 6.7 1.0 30.6 0,0 0,0 0,4 0,0 9.6 0,0 13.4 0.0 0,0 0,0 2.4 0.5 100,0 117 638 306,50 23 547 456,90 6 831 623,90 198 390 102,80 121 451.60 15 011,90 3 lie 287,20 318,00 37 312 133,80 286 862,20 66 512 570,60 III 912,90 2 132,40 590,50 10 670 623,50 4 418 708,iC 31 671 214,70 503 013 372,50 23,2 4.6 1.1 39,1 0,0 0,0 0,5 0.0 7,4 0,0. 13,1 0,0 0,0 0,0 3,3 6,8 100,0 92 eS5 261.20 38 317 892,00 3 575 775,30 140 797 687,10 320 880.30 1 777 938,50 700,00 SI 393 412,10 SO 352.10 57 614 237,10 298 257.80 - 342,00 5 325 506,e 23 893.10 27 489 512,00 419 683 023,70 22.1 9.1 0.9 33.5 0.1 0,4 0,0 12.2 0.0 13,7 0,1 0.0 1.5 0.0 6.6 100,0 C R £ D IT 0 RECEfTAS DIRETAS l)R SRGV'ROS E RESSEGIIR03 T i T U L 0 ryJAL SOC. HACIONAIS aoc, ESTnAKOEIBAa CrJ 0' /o • 9'* • % CrJ %
.0 e CONSOBCIOa
PARTIClP.4f.A0
aSCEITAS
ntVEASAa 8&LD0 TOTAL .130 025,70 466 490,86 3 830,50 17,5 5,6 0,0 91 592 901,20 18 233 022,60 3 830,50 18,0 3,6 0,0 70 937 081,50 33 231 468,20 16.9 7,9 .575 971.60 162 303,70 5.4 0.0 22 076 0.39,30 151 319,60 4,5 0.0 26 899 932.50 10 984,10 6,4 0,0 121 734,40 0,0 75 242,00 0.0 46 492,40 0.0 699 739,10 275 900,.50 76 117,90 67,6 0,1 0,0 358 370 684,50 330 157,50 09 917,90 70,6 0,1 0,0 268 329 054,50 923 733,00 6 200,00 64,0 0,2 0.0 213 061,80 15 273,80 2,5 0,0 9 327 509,00 14 520,60 1,8 0,0 13 918 492,20 753,20 3.3 0,0 281,60 0,0 279,30 0,0 5,30 0,0 217 875,10 301 616,50 0,3 1.0 2 276 574,70 4 873 270,10 0,4 I.O 942 390,40 4 431 546,40 0,2 1.1 696 396,20 100,0 608 013 372.60 100,0 419 683 023,70 100,0 REVJSTA DO I.R.B,
nmSTAS tIchicas (Coiiatitiji;ao)
Ribcos nSo explrados
S^□ist^3a a liquidar
ContiagcLcia
AjuBtamsnto rtxerva rstroccssdcs
B1N1STS03 PAGOs (Liq. sal?, e reagaic.)
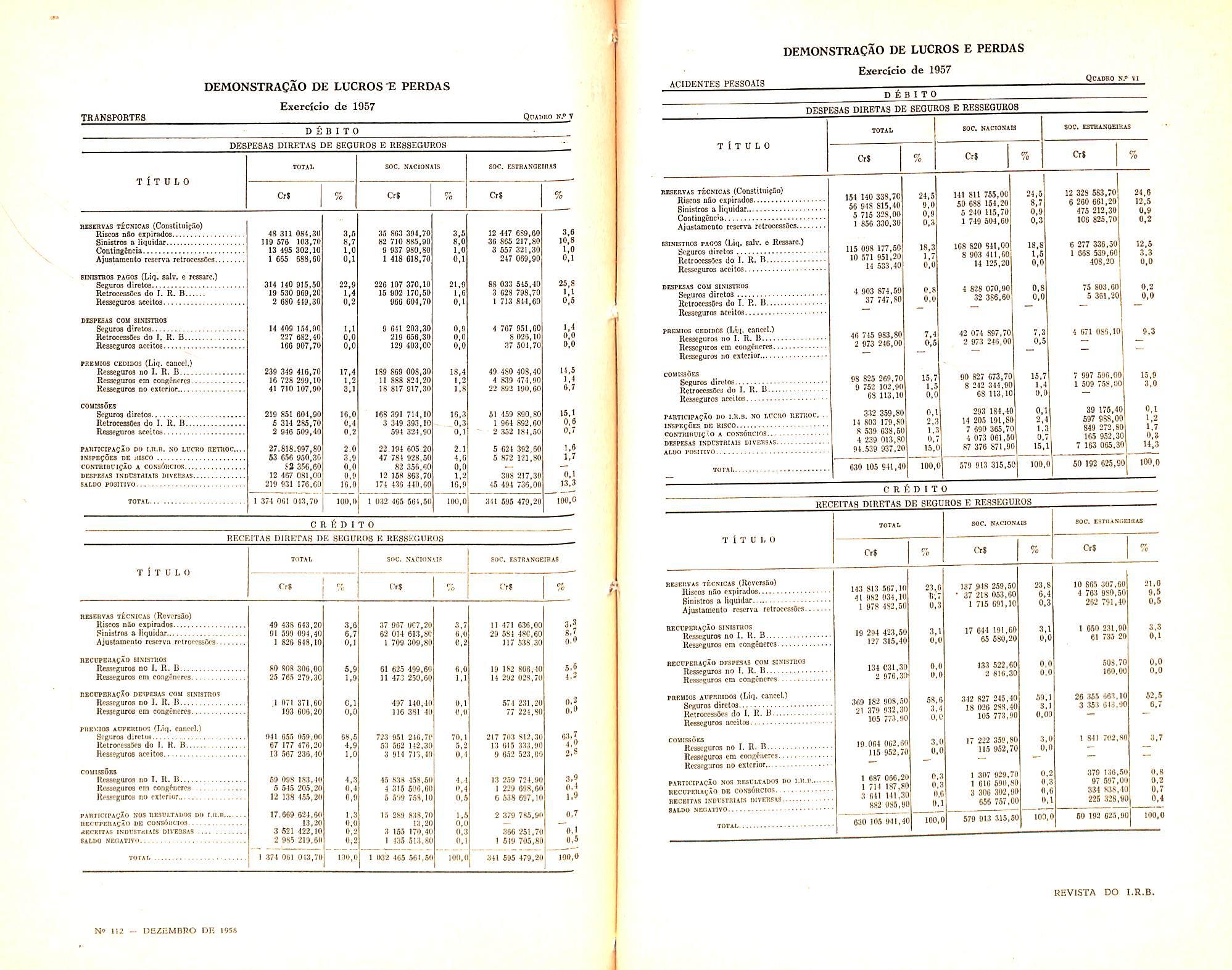
Scguras diretoa
RotrocpssOoa do h R. B
Resscgojos aceitoa
BISPESAS con SI.-nsTTIOS
Seguros direlos
RolroccssSes do I, R. B
Rcsseguros accitoe
PREUIOS CED1D05 (Liq. cauccl.)
RABsegiiros no I. R. B
DEMONSTRACAO DE LUCROS E PERDAS
DE8PE8A8 DIRETAS DE SEQUROS E RESSEQPROS
EISEETAS ifeCRlCAS (CODAlituifSo)
Riscos d5o cxpiradoa
Binistros a liquidar Contiugcncla
AjualamcQto reaerra relxoceasScs...
BSiNiaTitos PAGOS (Liq. aalv. & Ressaw.)
Seguroa direlos
Rclrocessdcs do 1. R. R Ressegiiros aceitos.
DBSPESAa cou siNismoa Seguros dirctos lletrocessOea do I. P.. B. Resaegurca aceilw
pfisnios CBDiDGS (Liq. e-nncel.) Rcsaeguroa no I. R. B Hessegiiroa em coiigeiicres. Rcsseguroa no tslerior
COUISS0ES Seguros direlos Retroocffidea do I. R- B. Resseguros areitos
PAnTlCIPACAO DO I.R.H. NO LCCHO IlETllOC. INSPEgCES DE RISCO coNTimiuiclo A coNsdncios.. DEBPESAS ISDCSTRMIS DITEHS.IS
951,20
533,40
903 874,50
BESEUTAS TECNICAS (ReveTSAo) Risecs ii5o espiradoa Biiiistroa a liquidar AjualameDla reserva retrocessSes.
BECCPEBACAO siNisraos RessegUTM no I. K. B Resaegutos cm cnng9oercs
BEccpEnACAO DrspESAS cou siNisinos Rtsseguros no I. R. B RcssrgurcK cm conguncrrs
pnp.uios AUPEHiDOa (Li<i. cancel.) Seguroa direlos RetroccsjJe.a do I. R. B K«scgiiros iwjcitos
Rcascguros no I. B. R Reaseguros em congOncres Rceseguros no exterior
PABIICIPACAO DOS ItESOLTADOS DO I.Ii.D..
BECCPEiiAgAO DE cumsObcios RECBITAS IXDVSTBIAIS nivEB$A3
LUCROS-E
de 1957 TRAK8P0BTES Qfadro h," y D B I T 0 DESPE8AS DIRETA3 DE SEGUROS E RESSEGUROa T I T U L 0 TOTAL SOC. KACIONAIS SOC. csmANcemiS Crt % CrJ /o CrJ %
DEMONSTRAQAO DE
PERDAS Exercicio
no calerior conissoEs Seguna diretos Retroccssdea do I. R. B Rosseguros aceitoe pATiiiciPASAO no i.n.n. KO Lccno nETiioc—. inbpbcSes de niseo COKTOIDCIfAO A consdncioR UESPESA5 IXDCSTAIAIS DIVEIiSAS 5AI.D0 P03IT1HI TOTAL 48 311 084,30 3,6 35 863 394,70 3,6 12 447 6S9,60 119 576 103,70 8,7 82 710 885,90 8,0 36 865 217,80 13 496 302,10 1,0 9 937 980,80 1.0 3 557 321,30 1 665 688,60 0.1 1 418 618,70 0,1 247 069,90 314 HO 915,50 22,9 226 107 370.10 21.9 88 033 545,10 19 530 960,20 1.4 18 902 170,50 1.6 3 628 798.70 2 680 449,30 0,2 966 604,70 0,1 1 713 844,60 14 409 154.90 1,1 9 641 203,30 0,9 4 787 951,60 227 682,40 0.0 219 656,36 0,(1 8 023,16 160 907,70 0,0 120 403,00 0,0 37 501,70 239 349 416.70 17,4 189 869 008,30 13,4 40 480 408,40 16 723 299,10 1.2 11 888 824,20 1.2 4 819 474,96 41 710 107,90 3.1 18 817 917,30 1,8 22 892 190,00 219 851 601,00 16,0 168 391 714,10 16,3 51 459 890,80 5 314 285,70 0,4 3 349 393,10 0,3 I 964 892,6C 3 946 509,40 0,2 591 321,90 0,1 2 352 184.50 27.818.097,80 2.0 22 194 605 20 2.1 5 62) 392.60 53 656 950,36 3,0 47 781 928,50 4,6 5 872 121,80 .'J 356,00 0,0 82 350,60 0,f 12 467 nsi.OC 0,9 12 158 863,70 1.2 308 217,30 219 931 176,00 16,0 174 410 440,60 16,9 45 494 736,00 1 374 001 013,70 100,0 1 0.12 465 561,50 100,0 311 595 479,20 3.0 10,8 1,0 0.1 25,9 1,1 0,5 1,< 0,0 0.0 11,5 1.1 0.7 15,1 0,5 0,7 1.6 1.7 0,1 13,3 100,0 C R E D I T 0 RECE!T,VB DIRETAS DE SEGUROS E RESSEGUROS TOTAL SOC. XACIOXMS SOC. r.STRANGEniAa T i T U I. 0 CrJ % CrJ % Crt % REsenvAS TECNICAS (RcvcraSo) Kiscoa nao esplradoa 49 438 643,20 3,6 37 067 007,20 3,7 11 471 636,00 Siaistrns a liquidar 91 599 094,40 8,7 62 014 613,80 0,0 29 681 480,00 Ajualamento reserva reiroceEaOes 1 826 848,10 0,1 1 709 309,80 0,2 117 538,30 RECOPERACAO SJMSTROS Resseguros no 1, R. B SO SOS 306,00 6,9 61 625 499,60 6,0 19 182 806,40 Resaeguros em congencrea 25 76.5 279,30 1,0 11 473 250,60 1,1 14 292 028,70 IlBCCPEnACAO DESPESAS COM gINISmO! Resseguros no I. R. 11 .1 071 371,60 0,1 407 140,41) 0,1 571 231,20 Resaeguros cm congeiieres 193 606,20 0,0 116 381 40 0,0 77 224,80 PKEAiios AUPERIDOS (Liq, Cancel.) Segnros diretee nil 655 039,00 08,6 723 951 216,70 70,1 217 703 812,30 RetroressOoa do 1. H. B 67 177 476,20 4,9 53 562 142.30 5,2 13 015 3.19,90 Reaseguros aeeitos 13 567 236,40 1,0 3 914 713,40 0,1 9 652 523,00 COUIESOES Reaseguros no I. R. B 69 098 183,40 4,3 40 838 458.60 4,4 13 259 724.90 Resseguros em cong6nerea 6 645 205,20 0,4 4 315 605,00 0,4 1 229 698,00 Resaeguros no eilerior 12 138 155,20 0,0 5 6:i9 7.58,10 0,6 0 538 1)07,10 PAHTICieAlAO KOS HE3CI,T.An05 no i.it.n 17.069 624,60 1,3 15 289 838,70 1.5 2 379 785,90 nE'TPETlACAO DE CONsdltCIOS 13,20 O.O 13,20 0,0 ABCEITAS INDU8TA1AIS DIVESSAS 3 521 422,10 0,2 3 155 170,40 0,3 306 251,70 SALUO NEOATIVO 2 9S5 219,60 0,2 1 435 513.80 0,1 1 519 705,80 TOTAL 374 091 013,70 190,0 1 032 465 561.50 100,0 341 695 479,20 8.7 0,0 0,2 0,0 3,0 0.1 1,0 0,7 0,1 0,5 100,0 N» 112 — DEZilMBRO DF. I95S
Resseguros em congSoerea Rcascguroo
Excrcicio de 1957 ACIDENTES PESSDAIS QOADRO S.P TI D B 1 T 0
T i T U L 0 TOTAL SOC. NACIONAQ aoc. ESTEANQErRAS CrJ % CrJ % CrJ 7e
ALUO posinvo TOTAL. 154 HO
56
5
1
115
10
14
4
37 747,50 40 745 983,80 2 973 216,00 98 S25 269,70 0 752 102,90 CS 113,10 3.12 359,80 14 803 179,80 8 539 033,50 4 239 013,80 91.639 937.20 030 105 911,40 24,5 0,0 0,9 0,3 18,3 1,7 0,0 0.8 0.0 7.4 0,5 15,7 1.5 0,0 0,1 2,3 1,3 0, 15,0 100,0 HI 811 765,00 50 688 154,20 5 240 115,70 1 749 604,60 108 820 641,00 8 903 411,60 14 125,20 4 828 070.90 32 386,60 42 074 897,70 2 973 245,00 90 827 673,70 8 212 314,90 08 113,10 293 184,40 14 205 191,80 7 690 365,70 4 073 061,50 87 370 871.90 24,5 8.7 0,9 0,3 18,8 1,5 0,0 0,8 0,0 12 328 683,70 6 260 661,20 475 212.30 106 825,70 6 277 336,50 1 G6S 539,60 408,20 7,3 0,5 15,7 1.4 0,0 0,1 2,4 1,3 0,7 15,1 579 013 315,50 100,0 75 803,60 6 361.20 4 671 055,10 7 997 590,00 1 509 758,00 39 175,40 597 988,00 840 272,60 165 952.30 7 163 065,30 50 192 625,90 24,6 12,5 0,9 0,2 12,5 3,3 0,0 0,2 0.0 9.3 15,9 3.0 0,1 1,2 1.7 0,8 H,3 100,0 C R D I T 0 RECEITAB DIRETAS DE BF.GDROS E RESSEGUROS T i T U I. 0 CrI aoc. nacionais Ct$ % SOC. ESTa.ANGEldAS CrJ
339,70
948 615,40
715 328,00
856 330.30
098 177,60
571
issues
cou
aAUlO 143 813 567,10 41 982 034,10 1 978 482,80 19 294 423,50 127 315,40 134 031,30 2 976,318 309 182 909,50 21 379 9.12,30 105 773.90 19.064 062,00 115 952,70 1 887 060,20 I 714 187,80 3 nil 141,30 882 085,90 030 105 041,40 23.0 6-, 7 0,3 3,1 0,0 0.0 0,0 58,6 3,4 0,0 3,0 0,0 0,3 0,3 II,(1 0,1 100,0 137 548 259,50 37 218 053,60 1 715 691,10 23,8 6,4 0,3 10 895 307,60 4 753 980,50 292 791,40 21,0 9.5 0,6 17 644 191,60 05 580,20 3,1 0,0 1 650 231,90 61 735 20 3.3 0,1 133 522,60 2 816,30 0,0 O.O 503,70 160,00 0,0 0,0 342 827 245,40 18 026 288,40 105 773,90 .59,1 3,1 0,00 26 .355 663,10 3 353 013,00 52,5 6," 17 222 359,80 115 952,70 .3,0 0,0 1 841 762,80 8,7 ! 307 039,70 1 010 590,80 3 306 302,00 656 757,00 0,2 0,3 0,6 0,1 379 130,50 97 697,01 334 83.8,40 226 826,00 0,8 0,2 0.7 0,4 570 913 315,60 109,0 60 192 625,90 100,0 REVISTA DO l.R.B.
Bind TO)i Ondividtul e Gnjpo)
D EMONSTRAQAO DE LUCROS E PERDAS
Exercicio de 1957
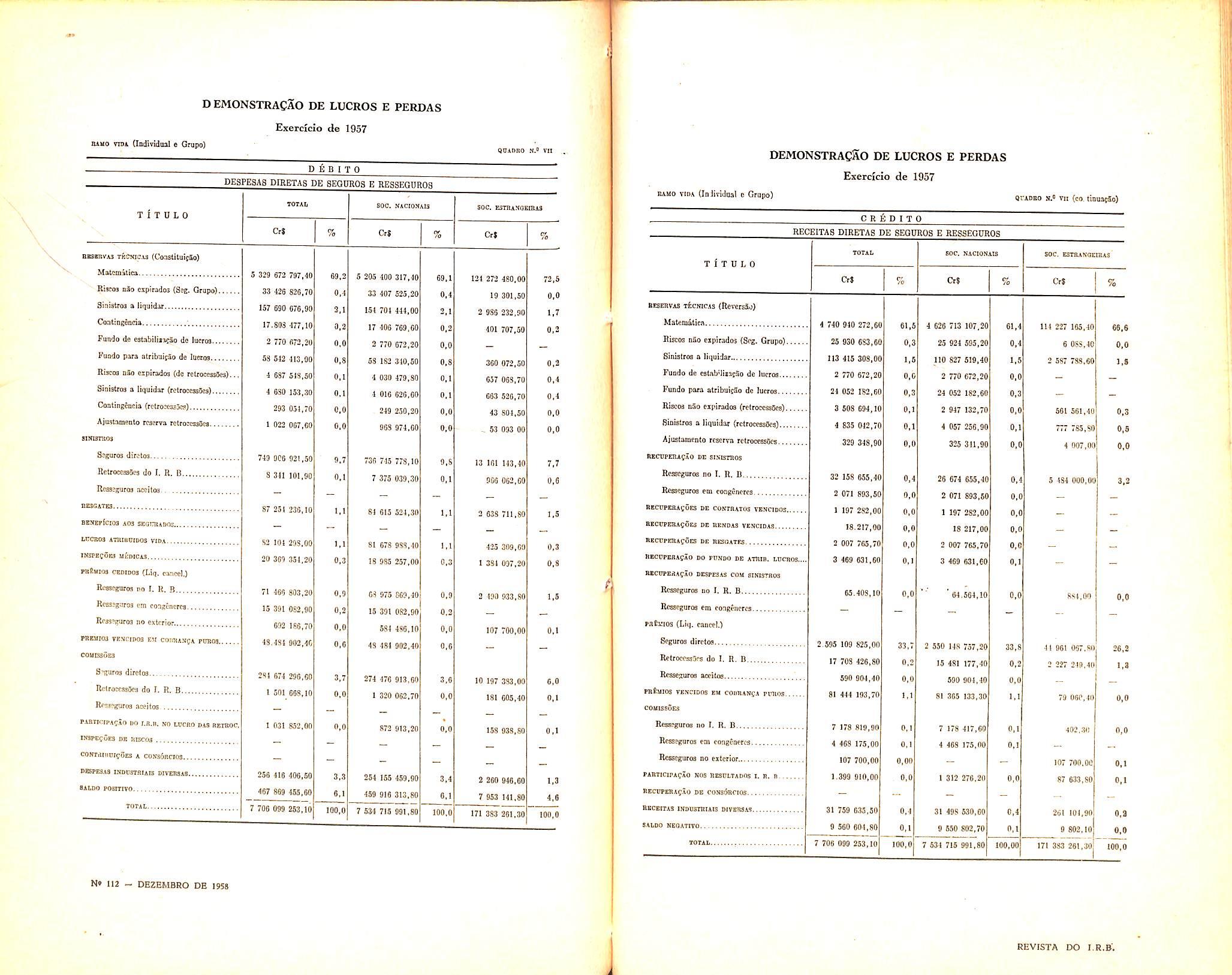
DEMONSTRACSO DE LUCROS E PERDAS
BKBnvAS TKCsic.is (CoaaUtuifSo)
MatcmiUca
Rifcos Dio cspiraild3 (Seg. Grupo)
Siniatroa a liiiiiidar
Coatingdaria
Fundo da catabiliaacaa do lucres
Funds pira atribuijio de luetos
RIacce Bio expirados (do relroccssSea)...
Sinislros a liquidar CrctrocoasSea)
ContingSncia (rclroeeasJea)
Ajuatameato rcaerva rctrocosodea
aiKiTnioe
Sogufuo dirctca
HclroccaBdos do I, R. D
Hcaaeguroa neeitce
IlE3GiTE3
atxepicioa aos sr-omADos
LtrCRos ATnieoiDos vipa
inxfecCbs UKPIOAB
FSSUIOJ CEDID03 CLiiJ. cancel.)
Rcsscguros no I. R. B
Rcsa-gnros em conjcncrcj
Rcssnguroa no exterior
PBEII03 TE-rnnoa e« coiraxNca ptmoi
COUtSSUEO
S-surna
E B I 'J' 0
DIRETAS DE 8EGUR08
RESSEGOROS
f T U L 0
QfJidno VII D
DE9PE3A8
E
T
dirctcs RciroecasSea do I. R, B Rcsacgufoa aceitcs
rapugCEa de iuscos coifTRiiinifOts A
DEBPE3A8 INDDETRIAB OIVZRSAa flALDO POBTTIVO TOTAL TOTAL BOC. KACIOHAla SOC. BSTRAUOSISAE Cr» % CrJ % CrJ % 5 329 672 797,40 69.2 5 205 490 317,10 69.1 121 272 480,00 72.5 33 426 826,70 0,1 33 407 525,20 0,4 19 301,50 0,0 157 590 676,90 3,1 154 704 444,00 2,1 2 986 232,90 1.7 17.803 477,10 3,3 17 406 769,60 0,2 401 707,50 0,2 2 770 672,20 0.0 2 770 672,20 0,0 68 542 413,00 0,8 53 182 340,59 0,8 360 072,50 0,2 4 687 519,50 0,1 4 030 479,30 0,1 057 063,70 0,4 4 630 153,30 0.1 4 016 620,60 0,1 063 520,70 0,4 293 054,70 0.0 249 250,20 0,0 43 804.50 0,0 I 022 057,60 0,0 90S 974,60 0,0 53 093 DO O.O 749 906 921,50 9.7 735 745 778,10 0,8 13 161 143,40 7,7 8 311 101,90 0.1 7 375 039,30 0,1 956 062,00 0,6 87 25! 230,10 1.1 84 615 524,30 1.1 2 033 711,80 1,8 32 101 293,00 1.1 81 678 938,40 1,1 425 309,60 0,3 20 389 354,20 0,3 18 985 257.00 0.3 1 334 097,20 0,8 71 460 803,20 0,9 6.8 975 869,10 0,9 3 490 933,80 1.6 15 391 082,90 0,2 15 391 082,90 0,2 092 185,70 0,0 684 486,10 0,0 107 71)0.00 0,1 48.481 002,10 0,6 43 434 902,40 0,6281 674 290,60 3,7 274 176 913,60 3.6 10 197 383,00 6,0 4 501 668,10 0,0 1 320 062,70 0,0 181 605.40 0.1 1 031 852,00 0,0 873 913,20 0,0 158 938.80 0.1 256 413 106,50 3.3 254 166 459,90 3,4 2 260 946.60 1.3 467 869 453,80 6,1 459 916 313,80 0,1 7 953 141,80 4,8 7 703 099 253,10 100,0 7 534 715 991,80 100,0 171 383 201,30 150,0 N» 112 - DEZEMBRO DE 1958 i
P.tRTIt.'IPxgxO 00 r.R.R. KO tucito DiS azTROC.
cojrsdacios
Exercicio de 1957 IlAUO viDA Goliridual o Grnpo) arADBO s.= Tii (co tinuacSo) C R 6 D I T 0 RECE1TA9 DIRETAS DE SEGUROS E RES3EOUROS T f T U I- 0 TOTAL £0C. NAClONAla SOC. ESTRANOElSAa Ct$ 7e Cit % Cr» % BE8ERVAS TicKicAS (Rcversio) Mateoiticn 4 740 940 272,60 61,5 4 626 713 107,20 61,4 Riacoa cSo oipiradoa (Scg. Gtupo) 25 930 683,60 0,3 25 924 595,20 0,4 Binialroa a liiiuidar..., 113 415 303,00 1,5 no 827 619,40 1,5 Fuodo de eatabdisac^o de lucres 2 770 672,20 0,6 2 770 672,20 0,0 Fundo para atribuicSo de lucroa 24 052 IB2,60 0,3 24 052 182.60 0,3 Riscca l5o expirados (relroeeaaSes) 3 508 694,10 0,1 2 947 132,70 0,0 fiiaistroa a liquidar (relroccssSca) 4 835 042,70 0,1 4 057 256,90 0,1 Ajuslameato rcaerva relrooesaOcs 329 348,90 0,0 325 311,90 0,0 aSCrPERAOZO DE SISIETROS Resseguros no I, R. B 32 158 655,40 0,4 26 674 655,40 0.4 Reescgurea ecu coogcnotca 2 071 893,50 0,0 2 071 893,60 0,0 BBCDPERApUB DE COKTAATOS TENClDOa 1 197 282,00 0,0 1 197 282,00 0,0 BECtrPERACOES DE AENDAa VENCIDAS 18.217,00 0,0 18 217,00 0,0 BtCTDPEBAfOBS DE nSSOATES 2 007 765,70 0,0 2 007 765,70 0,0 BBCDPEBAffiO DO PUNDO DE ATRIB. LDCSOS.... 3 469 631,60 0,1 3 469 631.60 0,1 BtCDPEAtCAU DEapESAS COM SINISTROS Resseguros no I, R. B 65.408,10 0,0 '64.664,10 0,0 Resseguros em congZnerca PRtEioa (Liij. caucel.) Seguros dirclos 2 595 109 825,00 33,7 2 550 148 757,20 33,8 RelroocasSes do I. R. B 17 70S 426,80 0,2 15 481 177,40 0,2 Reasegures accilos 590 904,40 0,0 590 904,40 0,0 PBtillOS VENCIDOS EH COIIBANSA PUROS 81 444 103,70 1,1 81 365 133,30 l.I couissOes Resseguros no 1. R. B 7 178 819,90 0,1 7 178 417,60 0.1 Resseguros em congloercs,. 4 468 175,00 0,1 4 469 175,00 0,1 Resseguros no exterior 107 700,00 0,00 PAATiciFAfAO Hos BEaBLTAnos I, a, a 1.399 910,00 0,0 1 312 276,21) 0,0 aecbveaabao de consohciosAaCEITAS IHDUSTRIAIS OIVSHBaS 31 759 635,50 0,4 31 498 630,00 0,4 6.ALD0 MtOAlTTO 0 560 601,80 0,1 9 650 802,70 0,1 TOTAL 7 703 099 253,10 100,0 7 631 716 991,80 100,00 111 227 165,« 6 083,40 2 587 7S8.60 561 561,40 777 785,80 4 007,00 5 484 000,00 884,00 4! 961 067.80 2 227 219,40 79 060,40 402,30 107 700,00 87 633,80 66.6 0,0 1,1 0,3 0.6 0,0 3,2 0,0 26,2 1,2 0,0 0,0 0.1 0,1 261 101,90 0,2 9 802,Io{ 0,9 171 3S3 261,30] 100,0 REVISTA DO I.R.B',
Boletim Informativo da D.L.S.
LIQUIDAgAO DE SINISTROS «LUCROS CESSANTES»
(Transcrito do Boletim n," 7, de 15 de abril de 1957)
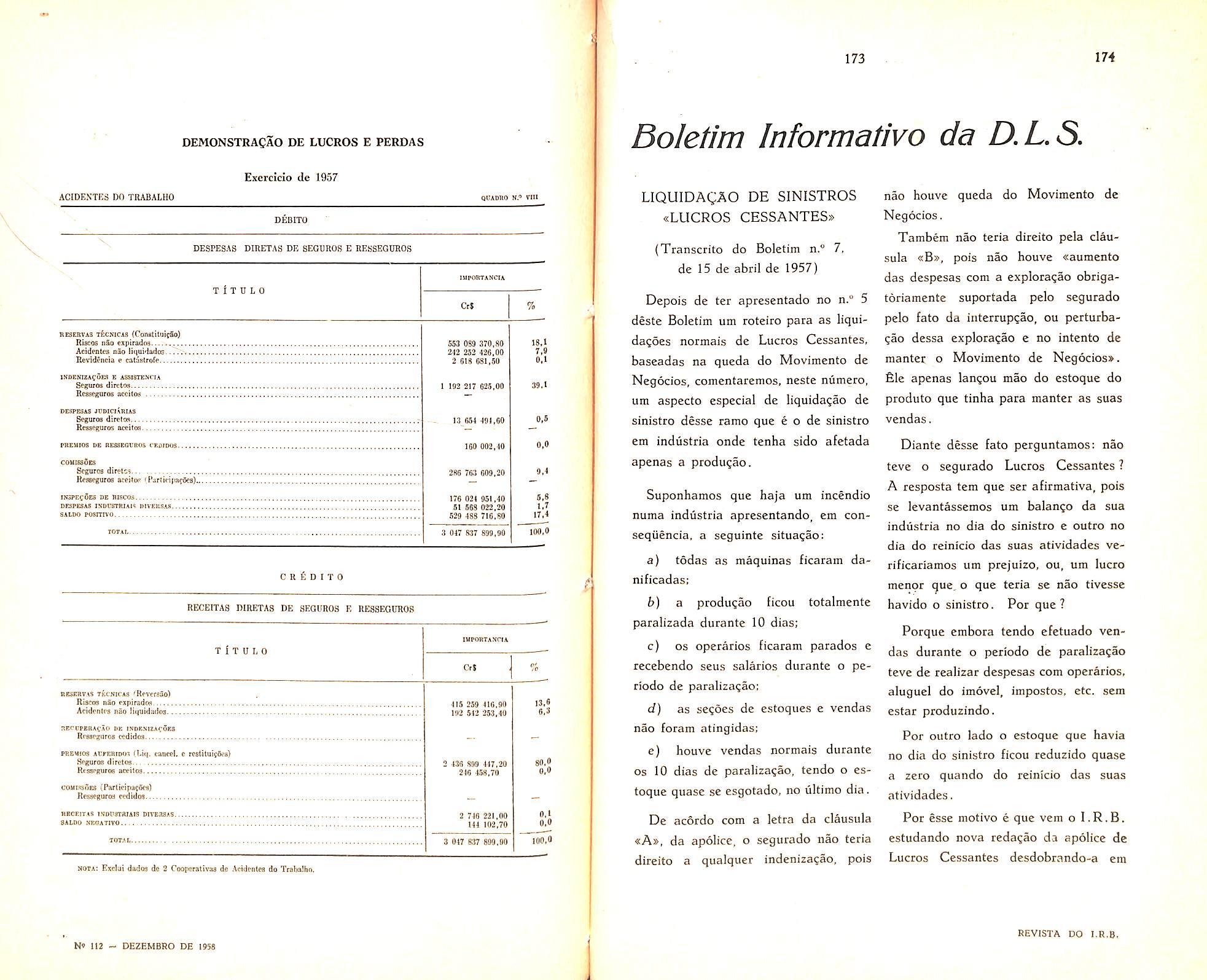
Depois de ter apresentado no n." 5 deste Boletim um roteiro para as liquida?6es normais de Lucres Cessantes, baseadas na queda do Movimento de Negocios, comentaremos, neste numero, um aspecto especial de liquidaqao de sinistro desse ramo que e o de sinistro em indiistria onde tenha side afetada apenas a produgao.
Suponhamos que haja um incendio numa indiistria apresentando, em conseqiiencia, a seguinte situagao:
a) todas as maquinas ficaram danificadas:
b) a produgao ficou totalmente paraiizada durante 10 dias;
c) OS operarios ficaram parados e recebendo seus salaries durante o periodo de paralizaqao;
d) as se^des de estoques e vendas nao foram atingidas:
e) houve vendas normais durante OS 10 dias de paraliza^ao, tendo o estoque quase sc esgotado, no ultimo dia.
De acordo com a letra da clausula «A», da apolice, o segurado nao tecia direito a qualquer indeniza^ao, pois
nao houve queda do Movimento de Negocios.
Tambem nao teria direito pela clau sula «B», pois nao houve «aumento das despesas com a explora^ao obrigatoriamcnte suportada pelo segurado pelo fato da interrup?ao, ou perturbagao dessa explora?ao e no intento de mantec o Movimento de Negocios*. file apenas lan^ou mac do estoque do produto que tinha para manter as suas vendas.
Diante desse fato pcrguntamos: nao teve o segurado Lucres Cessantes ? A resposta tem que ser afirmativa, pois se ievantassemos um balance da sua indiistria no dia do sinistro e outre no dia do reinicio das suas atividades verificariamos um prejuizo, ou, um iucro menor que. o que teria se nao tivesse havido o sinistro. For que?
Porque cmbora tendo efetuado ven das durante o periodo de paraliza^ao teve de realizar despesas com operarios, aluguel do imovel, impostos, etc. sem estar produzindo.
For outro lado a estoque que havia no dia do sinistro ficou reduzido quase a zero quando do reinicio das suas atividades.
For esse motive e que vem o I.R.B, estudando nova reda?ao da apolice de Lucres Cessantes desdobrando-a em
DEMONSTRACAO DE LUCROS E PERDAS Exctcicio de 1957 AC[DF,NTES DO TRABALHO QUAtlllO v." VI'I DEDITO X DESPESAS DIRETAS DE SEGDROS E REHSEGUROS T i T U L 0 lUPORTANCIA Ccl % BESCRVIS TKCXICAS (ConBlitui^) Riscos nSa eipirados 553 0S9 370,80 Acidentea nio litiuWados. 242 252 426,00 Revidfncb e cataslrofe 2 618 081,50 INBENIAAvOfa E ASSOTTATIA Seguroa cliretos 1 192 217 523,00 RessEguroi ocoiios PEgPESAS JPPICIVRIA3 Bcguros diroloA r .. 13 654 491,00 RcsAEguros acclfo9 EREUIOS DE RESSEOUROa CEDID03 IgO fl02 40 cokissSes Scgurea dime-, 280 763 609.20 KESBeguroR aoeiloA rPirlicijiR^Ooa). iti3PEc3ta DE niscos 176 021 951,40 DESPESAE IliDtSTRIAH DIVEllSAS .01 568 022 20 SAIPO posmvo 529 433 716i80 TOIAI 3 017 837 890,90 C R £ D I T 0 RECEITAS DIRETAS DE 8EGIIR09 E UESaEGlTROS T 1 T U L 0 IMPOHTAXCIA CrJ beservas TkCNicAs 'Hpvctslo) Riacoa nio Egpiradoa Acidrnlra n3o )ii|uidacloa RECDEERAt'AO DE IPDERIZA^OeE RrBSPgDroa Dcdidoa pREBioa APEERtDt'A (I-itj. crticdI, c rcatitui(6EB) Hpguros dlrcloa RtSBPguros aceiloa cdmirsOes (ParticipacOcfll RosscgLiroa ccdidoa HECFITAS l-WIyraiAIS DI7ERSAS ,... RADDD .\RDATIVO TOTAL I40TA: ExcIji dadoa de 2 Cooperativoa dc .^eidentea do Tr&t>B)No. 415 259 416,00 192 512 253,40 2 436 899 417,20 240 458,70 2 740 221,00 144 102,70 3 047 837 899.00 18,1 7.8 0,1 39.1 0,5 0,0 9,4 5,8 1,7 17.4 100,0 13,8 6,3 80,0 0,0 0,1 0,0 loo.o 173 174
112 - DEZEMBRO DE 1958 REVISTA DO I.R.B,
duas: uma para Queda do Movimento de Negocios, outra para Queda da Produ^ao.
Como algumas companhias ja estao usando novos modelos. embora a titulo provisorio, e nao havendo diferen^a de taxas consequente do use de urn e outro; considerando que as atuais Condi?6cs Gerais, no art. 5.® permitem que sejam «toinadas em conta, equitativamente, todas as flutua^oes do regime de explora^ao da empresa segurada® e mais tendo em vista o espiriio do seguro, tern a D.L.S. aceito hquida^oes com a adapta?ao da queda de produ^ao as Condi^oes da ApoJice que prevem apenas a queda do Movunento de Negocios, sendo necessario, em cada caso, examinar se reaimente a empresa teve Lucros Cessantes.
Pode haver casos em que a industria mantem grande quantidade de estoque encalhado a espera de oportunidade futura e incerta dc coloca?ao a melhores pre^os, estoque que representa capital empatado o qual e liberado com a sua venda em conseqiiencia da paralizagao da produgao.
Nesta situagao pode ser ate vantajosa para a industria a paralizagao, principalmente se ainda receber indenizagao de Lucros Cessantes. .. Portanto, este e, tambem. urn aspecto a examinar.
Voitando ao exemplo figufado, linhas atras, os Lucros Cessantes poderao ser apurados por dois processos diferentes:
1.®) considerando-se a queda de produgao como queda de vendas, transformando-se, naturaimente, o prego dc custo da produgao em prego de venda, e fazendo-se o calculo pelo process© determinado na apolice para a Queda do Movimento de Negocios: ou
2.") calculando-se as despesas fixas especificadas que nao cessaram durante 0 period© de paralizagao mais o respectivo lucro liquid© que deixou de ser auferido, aplicando-se o rateio quando a importancia segurada for insuficiente.
A rigor, o resultado dos calculos do primeiro processo deve coincidir com o do segundo, pois a percentagem determinada aplicada sobre a queda do Mo vimento de Negocios nada mais e que a parcela correspondente as despesas fixas especificadas mais o lucro liquid© da empresa.
O liquidador, ao aplicar esse tipo de apuragao deve estar atento para o espirito do seguro de Lucros Cessantes examinando todos os angulos e conseqiiencias trazidas pelos sinistros a in dustria, esclarecendo todo o encaminhamento do seu raciocinio.
Miron Amorim, Contabilista da D.L.S.
Boletim do I. Q. B.
No intuifo dc cstreitac ainda mais as relofoes cntre o Instituto de Resseffuros do Brasil t as Socicdades de seguros. etraves de um amplo noticiario pcriodico sobre assnrrfos do inlecesse do mercado scgarador, 6 que a Rcvista do I.R.B. mantem esta scgao.
A linatidade principal c ta divulgafao de dccisocs do Consclho Tccnico e dos orgiios internes que possam facilitar e oricntar a resolugao de problemas fufuros de ordem ticnica e juridica, recomcndagoes, conselhos e expHicafoes quo nao deem origcm a circulares. bem como indicagao das novas portarias e circu/arcs, com a emcnfa de cada uma, e oufres noficias dc carafer geial.
RAMO INCfiNDIO
Condigoes Gerais da Apolice e Modelo de Proposta e Apolice de Seguro Incendio
O D.N.S.P.C. fez um primeiro estudo do projeto a ele submetido, tendo OS orgaos juridicos daquele Departamento argiiido que algumas clausulas das Condigoes Gerais contrariam disposigoes legais.
O Departamenfo Juridico do I.R.B. ja ofereceu parecer sobre os pontos levantados, voitando o assunto a depender exclusivamente do D.N.S.P.C. Contornadas estao as dificuldades para a solugao definitiva da importante questao.
Apolice ajustave! especial
Procurando semprc a i.ielhcr.'a dos tipos de cobertura existentcs, projetaram os orgaos tecnicos do I.R.B. uma nova modalidade dc cobertura ajustavel para os seguros complexes, visando. tambem, maior simplificagao dos trabalhos tecnico-administrativos. O pro jeto mereceu aprovagao dos orgaos tecnicos das seguradoras, e o Conselho Tecnico do I.R.B., reconhecendo. tambem, a oportunidade da inovagao.
resolveu, aprovando-o, submete-Io ao D.N.S.P.C., de cuja decisao depende. agora, sua incorporagao a Tarifa de Seguro Incendio do Brasil.
A nova cobertura tern dcspertado interesse no mercado segurador, tendo este Instituto recebido consulfas sobre a possibilidade de sua adocao imediata, embora a titulo precario.
Classificagao para fins de ressegurd
Os estudos procedidos pela D.I.Lc. para a unificagao total dos criterios de classificagao LOC ditados pela T.S.I.B. e..apljcaveis ao resseguro estao em franco progresso, tendo sido delineadas as dirclrizes gerais para o sen prosseguimento.
Espera a D.I.Lc. que, cm breve, possa o assunto ser sub.rielido au.s orgaos superiores.
Circulares
Circular 1-16/58, de 16 de oiituhro de 1958 — Comunicando as .socicdades que 0 Conselho Tecnico do I.R.B., em scssao de 2 de outubro de 1958, re solveu suprimir os itens 8.10, 8.101 e 8.102 do Capitulo I do Manual In cendio, alterando os itens 8.7, 8.71 e
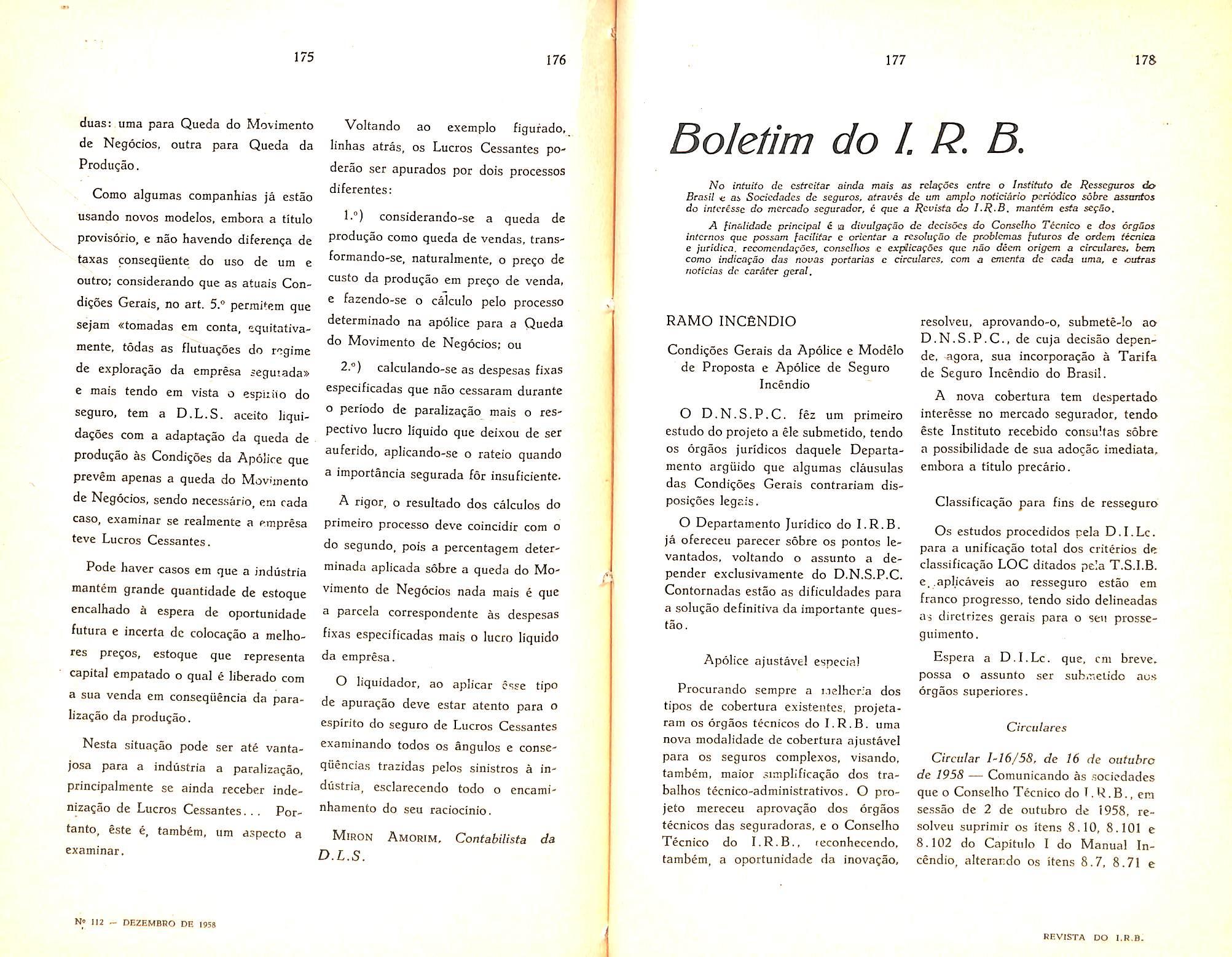
175 176
N» 112 — DEZEMBRO DE 1958
177 17S ^4
REVISTA DO r.R.B.
8.72, do mesmo Capitulo, conforme rcdagao que menciona.
Circular 1-17/58, de 16 de outabro de 1958 — Dando conhedmento as sooiedades das altera^oes. que menciona, aprovadas pelo Conselho Tecnico do I.R.B. em sessao de 2 de outubro de 1958. e que modificam a redagao, no Capitulo II do Manual Incendio, do item 5.1, referente a honorarios de liquida^ao de sinistros. bem como a Tabela constante do Anexo 8 do mesmo Capitulo.
Mencionando, tanibem, a nova reda^ao do item 2. da clausula 20.", das Normas Incendio, aprovadas pelo Con selho Tecnico. na mesiria sessao.
Circular 1-18/58. de 16 de outubro de 1958 — Comunicando as scciedades que o Conselho Tecnico, em sessao de 9 de outubro de 1958, aprovou as alteratoes nos liens 2.1, 2.2, 2.21, 2.22, 2.23, 2.3 e 10 da Claii.sula 2*}." das Normas Incendio, e nos itens 8.8, 8.81, 8.9, 8.91 e Anexo 10 do Capitulo I do Manual Incendio, conforme redaqao que menciona.

Circulares referentes a aiteragoes da Tarila-Incendio
T. S. I. B. 07/58, de 4 de agosto de 1958 — Altera^ao, no ^ndice de Ocupa^ao, da rubrica referente- a ocupagao Malharias, c moditicagao da cias.se de ocupa^ao da rubricr 237 Fitas, Rendis e Bordados.
T. S. I. B. 08/58. de 21 de agosto de 1958 — Altera^ao dos arts. 3.°, -4,", 9,®, 10, 17 c 28, e do Indice, em consequencia da exclusao, na Tarifa, da cobertura para os danos de incendio e explosao decorrentes de motins.
180
T.S.I.B. 09/58. de 1." de setembro de 1958 — Altera<jao da reda^ao da rubrica 292 — Inflamaveis.
T. S. I. B. 10/58, de 1.° de se tembro de 1958 — Nova reda^ao para a alinea k. do art. 19 — ApoUces.
T, S. I. B. 11/58, de 27 de outubro de 1958 — Altera^ao de 03 para 02, da classc de ocupa^ao da sub-rubrica 10, da rubrica 471 —Radio e Teleuisao.
T. S. I. B. 12/58, de 30 de outubro de 1958 — Inclusao, no art. 29 Cliusulas Particulares, da Clausula 310
— Danos Eletricos e da Clausula Es pecial — Cobertura para os Danos Eletficos.
RAMO LUCROS CESSANTES
Cobertura para Lucros Cessantes conscqiienfes de quebra de maquinas e outros euentos
Os orgaos tecnicos do I.R.B., depois de terem estudado a cobertura que podera ser concedida para diversos eventos atraves do Ramo Lucros Ces santes, concluiram que, tratando-se de responsabilidades que garantirem perda de lucros em conteqiiencia cie quebia de maquinas e de qualquer outro evcnto, excluldos OS de incendio c e.<r.lo,«ao. OS respectivos resseguros deverao set feitos na Divisao de Operagoe.s Especializadas, por estar essa Divi.sao mais aparelhada para estabelecer as correspondentes clausulas, taxas c condigoes, uma vez que recebe e estuda os resse guros das responsabilidades sobre os danos materials desses mesmos eventos.
Submetido o assunto a apreciagao do Conselho Tecnico do I.R.B., resolveu esse Orgao, em sessao de II de se tembro do corrente ano, aprovar a conclusao acima, determinando a expedigao
ao Mercado Segurador da Circular LC04/58, que, revogando a de n.® LC02/57, de 15 de outubro de 1957, esclareceu que somente o resseguro da.n coberturas refeientes a Incendio e Explosao continuaria a ser encaminhado a Carteira de Lucros Cessantes da Divisao Incendio, e acrescentou que tambem deveriam ser encaminhadas essa Carteira quaisquer cessoes ou aite ragoes conseqiientes de endosso emitido para os resseguros ja efetuados que, embora fossem das coberturas entao transferidas para a Divisao de Operagoes Especializadas, permaneceriam na Divisao Incendio e Lucros Cessantes ate os respectivos vencimentos. Desse mode, a cobertura de Lucros Ce.ssantes em conseqiiencia de Incendio, Raio ou Explosao devera ser concedula cm separado, ou seja, por apolice que apenas contciiha essa cobertura, pecmitindo, assim, para facilidade do .servigo, o encamiahamento dos resseguiocom as lespCvtivas apolices as Divisocs de Incendio e de Operagoes Especializadas. * * *
RAMO TRANSPORTES
Clausulas LAP. LAPA e PT
Desde algum tempo, o mercado segu rador nacional, vem julgando conveniente efetuar, algumas modificagoes nas garantias determinadas pelas siglas LAP, LAPA e FT.
Essas modificagoes, ora aprovadas pelo D.N.S.P.C., por Portaria n.® 46, de 4 de novembro de 1958 consistem na definigao, para efeito do seguro, do que se dcve entender como «Pcrda Totab e, ainda. o acrescimo do risco de «colisao» entre os casos cobertos pela «clausula LAP».
Acrescentou-se, tambem, a perda total por «queda de lingada» nos casos de garantias LAP, LAPA e PT. Note-se que a garantia CAP compreende tambem as perdas parciais por «queda de lingadas.
A fixagao, nas apolices, do conceito de PT resultou da variagao de interpretagoes. para efeito de seguro, resultantes das redagoes diferentes encontradas nas Tarifas Maritimas e Fluviais e Lacustres e, ainda, das interpretagoes que poderiam ser dadas aos arts. 753, 755 e 781 do Codigo Comercial Brasileiro. Para evitar, portanto, quaisquer duvidas sobre o assunto, tornando o contrato de seguro mais claro, foi dada a redagao ora comentada.
No que tange a «coIisao» na ga rantia LAP, o objetivo foi de tornar essa clausula identica as do mercado internacional que, como e sabido, a compreendc. Assim, alem dos casos classicos de naufragio, incendio, encalhe e abalroagao, da apolice brasileira, na garantia LAP foi introduzida q .«colisao».
A clausula em questao devera ser aplicada a todas as apdlices de seguros transportes maritimos de cabotagem, fluviais e lacustres, mediante a insergao nas condigoes particulares de declaragao, como por exemplo: «a cobertura obedece as normas referentes a garantia LAPA anexada a presente apolices . it -k *
RAMO ACIDENTES PESSOAIS
Tarifagao individual — Art. 3", subitem 1.2.4., da T.S.A.P.B. (Tarifa de Seguro Acidentes Pesoa's do Brasil)
O C.T, do I.R.B., homologando resolugao da C.C.T., que aprovou a
179
*
* *
N«,.1I2 - DEZEMBRO DE 1958 181 182
REVISTA DO I.R.B.
proposta da F.N.E.S.P.C. no sentido de ser revogado o subitem 1.2.4 do art. 3.° da T.S.A.P.B,, encaminhou o assunto a aprovagao do D N S.p.c.
Reexame do subitem 3.4 do art. 9." da T.S.A.P.B.
As altera^oes decorrentes do reexame do dispositivo acima, depois de aprovadas pela C.C.T. e pelo C.T. do foram submetidas a aprovacao doD.N.S.P.C.
Propostas de resseguro — Informagoes sobre os aspectos [isico, moral e financeiro
As informagoes suplementares exigidas para a aceitagao das propostas de resseguro estao sendo revistas, esperando o I.R.B., baixar. dentro em breve, as respectivas instrugoes.
Assuntos pendcnfes
Continuam pendentes de solu^ao os assuntos relacionados no niimero ante rior e que dizem respeito a:
- Seguros Acidentes Pessoais de menores de 14 anos - Cobertura in tegral (24 horas) — Aguardando pronundamento da F.N.E.S P C
Cobertura dos riscos de paraquedjsmo e de planadores ~ Aguardando pronunciamento da F.N.E.S.P C __ Agrava^ao dos riscos de Aciden tes Pessoais para molestias e defeitos ftsicos preexistentes — Aguardando a elabora^ao de um «C6digo de Agravasao» por parte da Consultoria Medica de Seguros do I,R.B.
Seguros coletivos indiscriminados.
— Seguros de Acidentes do Trafego.
— Seguros coletivos — riscos de acumulagao previamente conhecida.
— Risco de aviagao — Medidas sugeridas pela F.N.E.S.P.C. a proposito da Portaria n." 8, de 26 de mar^o de 1958, do D.N.S.P.C.
Normas e Instrugoes para Cessoes e Retrocessoes Acidentes Pessoais.
RAMO VIDA
Alteragao das Normas para o resseguro do Risco de Dupla Indenizagao
O Conselho Tecnico do I.R.B. aprovou novas Normas para resseguro do risco de Dupla Indenizagao, para vigorarem a partir de l," de Janeiro de 1959, passando a constituir esses riscos uma carteira especial e sendo o resseguro transferido da Carteira Aci dentes Pesoais para a de Vida.
Procede-se no momento o estudo das «Instrug6es para a Cessao do Risco de Dupla Indenizagaos.
Risco de Auiagao nas Apolices Vida
O Conselho Tecnico do I.R.B., em virtude dos despachos do Senhor Diretor Geral do D.N.S.P.C., exarados nos processes MTIC 153.700/57 e MTIC 103.866/58. de que as seguradoras nao podem cobrar extra-premios para aceitagao do risco aereo nas apo lices de seguro de vida. /ace a Lei n.° 2.866, de 13 de setembro de 1956,. determinou:
a) que os resseguros cedidos a Carteira Vida deste Instituto, com inicio^a partir de I." de novembro, cobrirao, sem extra-premio, a mortc do segurado por acidente de aviagao, quer
se trate de passageiro ou de tripulante: e
b) que as Sociedades poderao adotar, nos casos em que o segurado esteja sujeito ao risco de aviagao, uma retengao reduzida, limitada a 50 % da retengao normal — a qual, depois de aprovada pelo I.R.B., sera de uso obrigatorio.
Limite da Cobertura Automatica de que dispoe o I.R.B.
Estao sendo estudadas as medidas mais aconselhaveis para dar pronta solugao aos pedidos de cobertura, cada vez maiores, para resseguros de vida.
Visa tal estudo atender mais rapidamente aos pedidos vultosos de proposta de resseguro feitos pelas seguradoras.
Riscos Femininos
A ocorrencia de varios sinistros de riscos femininos em que se verificou terem sido sonegadas informagdes que influiriam na classificagao desses riscos. podendo ate mesmo recusa-los, bem como circunstancias e.stranhas que envolveram a morte de algumas dessas seguradas, obrigaram os orgaos tecnicos a darem inlcio ao estudo de uma regulamentagao especial para aceitagao de resseguros de riscos femininos.
Circulares
Circular V-OS/SS, de 26 de setembro de 1958 — Dando conhccimento as sociedades de que o Senhor Diretor Geral do D.N.S.P.C, exarou des pachos nos processes M.T.I.C. niime ro 153.700/57 e M.T.I.C. niimero 103.866/58, determinando que as se guradoras nao podem cobrar extrapremios para a aceitagao do risco aereo
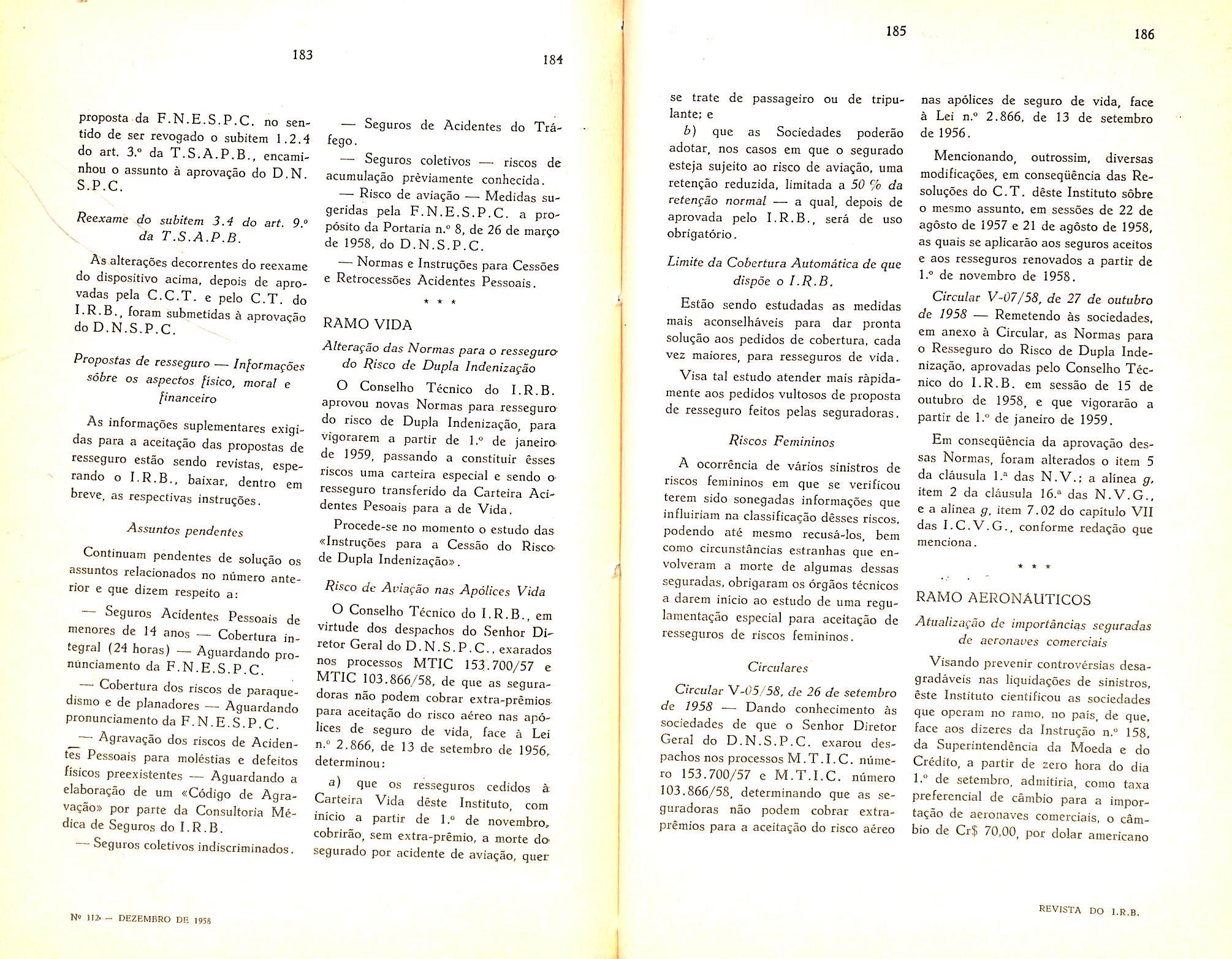
nas apolices de seguro de vida, face a Lei n.° 2.866, de 13 de setembro del956.
Mencionando, outrossim, diversas modificagoes, em conseqiiencia das Resolugoes do C.T. deste Instituto sobre o mesmo assunto, em sessoes de 22 de agosto de 1957 e 21 de agosto de 1958, as quais se aplicarao aos seguros aceitos e aos resseguros renovados a partir de 1.° de novembro de 1958.
Circular V~07/58, de 27 de outubto de 1958 — Remetendo as sociedades, em anexo a Circular, as Normas para o Resseguro do Risco de Dupla Inde nizagao, aprovadas pelo Conselho Tec nico do I.R.B. em sessao de 15 de outubro de 1958, e que vigorarac a partir de 1." de Janeiro de 1959.
Em conseqiiencia da aprovagao des sas Normas, foram alterados o item 5 da clausula 1." das N.V.; a alinea g. item 2 da clausula 16." das N.V.G., e a alinea g, item 7.02 do capitulo VII das I.C.V.G., conforme redagao que menciona.
RAMO AERONAUTICOS
Atualizagao de importancias seguradas de aeronaves comerciais
Visando prevenir controversias desagradaveis nas liquidagoes de sinistros, estc Instituto cientificou as sociedades que opcram no ramo, no pais, de que, face aos dizeres da Instrugao n." 158, da Superintendencia da Moeda e do Credito, a partir de zero hora do dia 1. de setembro, admitiria, como taxa prefercncial de cambio para a importagao de aeronaves comerciais, o cam bio de Cr$ 70,00, por dolar americano
183 184
* * *
N« 112. - DEZEMBRO DE 1958 185 186
REVISTA DO I.R.B,
para o fim da fixa?ao dos valorcs em risco.
Sobie a materia elaborou tambem o I.R.B. nova comunicagao ao mercado, face a modificagao no valor da taxa preferencial de cambio de Cr$ 70.00 para Cr$ 80,00, por dolar americano, que vem de ser fixada pela SUMOC e que se encontra em vigor, dcsde 16 de outubro prdximo passado.
Danos pessoais de passageiros — ApUcagao da Portaria n-" 2, de 24 de fevereiro de 1958, do D.N.S-P.C.
Esclareccndo duvidas quanto a aplicagao das novas condi?5es gerais aplicaveis ao Titulo III das apolices de Linhas Regulares de Navega^ao Aerea, este Institute informou ao mercado que, de acordo com o pronunciamento da Comissao Permanente Aeronauticos, de 13 de junho de 1958, essas novas condi^oes nao sao aplicaveis aos seguros de passageiros de acronaves de taxis aereos, bem como que as taxas e premios para capitals superiores a Cr?f 100.000.00 so serao aplicadas, uma vez majorado o montante, por pessoa, constante do Codigo Brasileiro do Ar, no momento limitado aquela importancia.
Limites de cobertuca aufomatica
Aditando a Circular RA-3/58, de H de fevereiro de 1958, que criou o «Pool» de Linhas Regulares de Navega^ao
Aerea, o I.R.B, informou as socicdades que operam no ramo:
a) da constitui(;ao de um contrato de excesso de danos, para, em um mesmo sinistro, cobrir a soma de Cr$ 10.000.000,00 no que exceder de Cr$ 7.500.000,00 iniciais:
b) que o primeiro exercicio do «Pool», abrangera 7 (sete) movimentps mensais compreendendo todas as apo lices emitidas ou renovadas entre I." de fevereiro de 1958 e 31 de outubro de 1958, bem como que este primeiro exercicio do «Poo!» sera encerrado a 31 de dezembro de 1958;
c) da retcngao das reservas de «Sinistros a liquidars e de «Riscos nao expirados», que a partir de agosto, seriam revertidas e atualizadas pela Carteira Aeronauticos.
Estabeleccu, ainda, o I.R.B. que;
a) devcriam ser submetidas a sua aprecia^ao previa todas as propostas de novos seguros ou de renova?6es de quaisquer negocios de Linhas Regulares de Navega?ao Aerea;
b) tratando-se de seguros novos, ao fornecer as taxas e condigoes, determinaria a data de efetivo inicio de responsabilidade;
c) no caso de renovagoes as sociedades deveriam solicitar taxas c condigoes com antecedencia minima de 30 dias da data do vencimento do seguro.
Tendo em vista o que dispoc a Por taria n." 8 do D.N.S.P.C. o I.R.B. esclarece que o disposto no item c) acima, nao se aplicaria aos seguros ja efetivados e cujos contratos tenham sido emitidos com «Clausula de Renovagao» automatica, recomendando que, em casos futures, nao conste a mesma dos respectivos contratos.
A.ssiintos pendentes
Os 6rgaos tecnicos do I.R.B. continuam estudando os assuntos abaixo indicados;
— Projeto de Tarifa de Seguros Aeronauticos do Brasil;
— Modificagao no Seguro de Tiquetes Aeronauticos;
—■ Nova redagao para a ap6lice de seguros aeronauticos de Tripulantes.
— Atualizagao das «Norma$ para Gessoes e Retrocessoes Aeronauticos®.
Circular
Circular RA-12/58. de 13 de outu bro de 1958 — Atualizagao de importancias seguradas de aeronaues comerciais — Comunicando as sociedades que, tendo em vista os dizeres da 1nstrugao n." 166 da Superintendencia da Moeda e do Credito este Instituto admite, a partir de zero hora de 16 de outubro proximo passado, como taxa preferencial de cambio para importagao de aeronaves comerciais, a de Cr$ 80,00 por dolar americano ou equivalente em outras moedas, ficando a partir daquela data, revogada a Cir cular RA-09/58, de 27 de agosto ultimo.
Da, ainda, outros esclarecimentos sobre o assunto em referencia. « «
RAMO AUT0M6VE1S
Circulates
Circular At-05/58, de 29 de julho de 1958 — Comunicando a alteragao do item 6, clausula 12." das N.At. que passou a ter a seguinte redagao;
— Para serem creditadas pela recuperagao da importancia total devida pelo resseguro, as sociedades deverao entregar ao I.R.B.. dentro de 60 dias contados da data do pagamento da indenizagao, a segunda via do recibo de quitagao, devidamente selada, datada e firmada, ou fotocopia do recibo original, ou ainda dos docuraentos com-
probatdrios da quitagao e das dcspesas de liquidagao, feitas diretamente pelas mesmas.»
Carta Circular n.° 1.618, de 7 de outubro de 1958 — Encaminhando as sociedades, em anexo, copia da Por taria n." 37, de 23 de setembro de 1958, do D.N.S.P.C.. que aprova a Tarifa para os Seguros de Responsabilidade Civil de Veiculos Terrestres Motorizados, a ser aplicada em todo o territorio nacional.
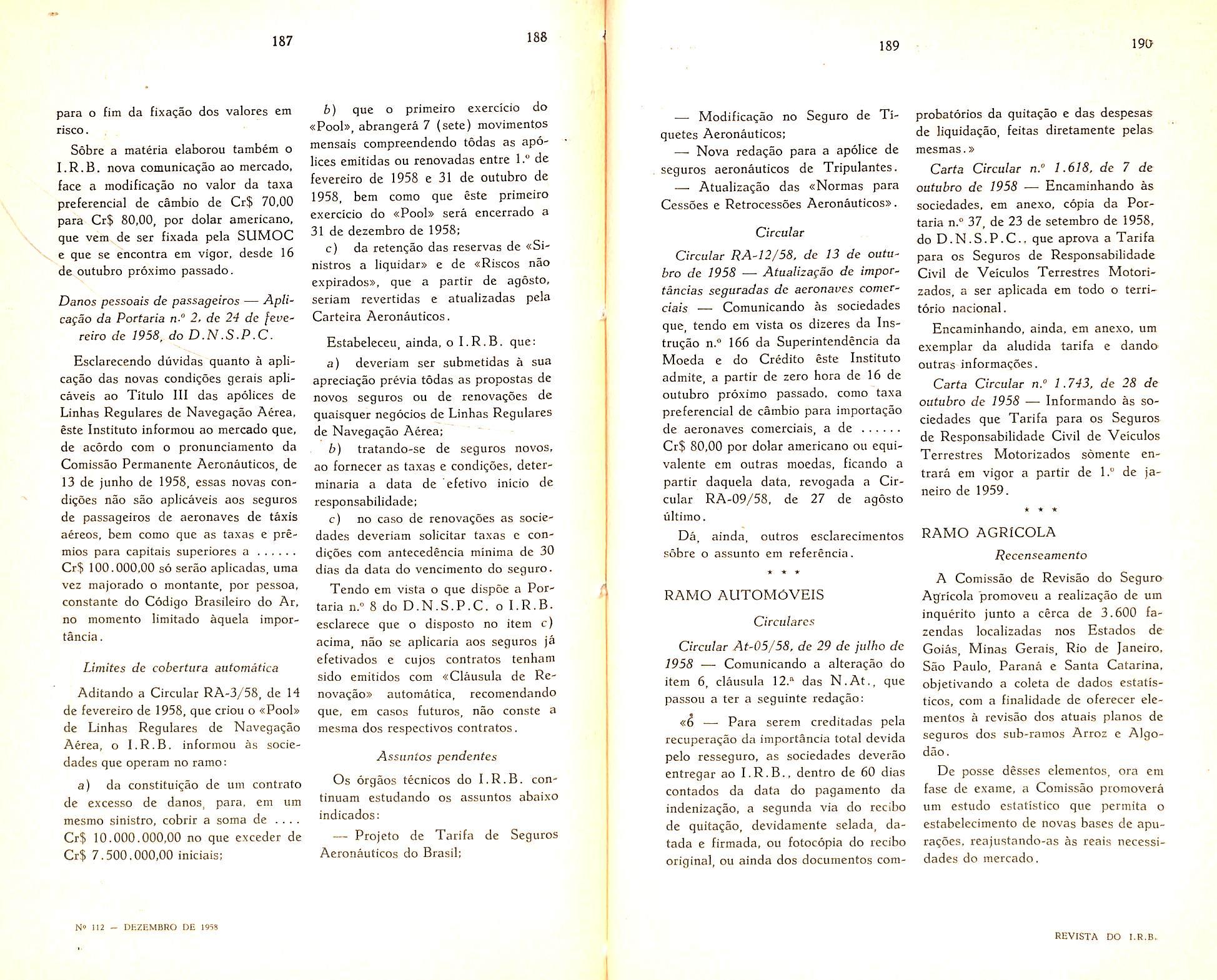
Encaminhando, ainda, em anexo, um exemplar da aludida tarifa e dando outras informagoes.
Carta Circular n." 1.743, de 28 de outubro de 1958 — Informando as so ciedades que Tarifa para os Seguros de Responsabilidade Civil de Veiculos Terrestres Motorizados somente entrara em vigor a partir de 1.'' de janeiro de 1959. « * «
RAMO AGRICOLA Recenseamenfo
A Comissao de Revisao do Seguro Ag'ricola promovcu a realizagao de um inquerito junto a cerca de 3.600 fazendas localizadas nos Estados de Goias, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana e Santa Catarina, objetivando a coleta de dados cstatisticos, com a finalidade de oferecer elementos a revisao dos atuais pianos de seguros dos sub-ramos Arroz e Algodao.
De posse desses elementos, ora em fase de exame, a Comissao promovera um estudo estatistico que permita o estabelecimento de novas bases de apuragocs, reajustando-as as reais neccssidades do mercado.
187
188
N» 112 — DEZEMBRO DE 1955 189 190
REVISTA DO I.R.B.
Liquidagao de Sinistros do Sub-ramo Videira
Com a finalidade de aperfeigoar e apressar as liquidagoes de sinistros-vi<leira, o I.R.B. assumiu o encargo de realiza-las no Estado de Sao Paulo. Ja no corrente ano. 80 sinistros estao em fase de liquidagao por entermedio <3a Sucursal do I.R.B. em Sao Paulo.
Novas Reten(des
A Companhia Nacional de Seguro Agricola solicitou, e o Conselho Tecnico do I.R.B. aprovou, as novas retengoes daquela Companhia. aplicaveis aos seguros dos sub-ramos Trigo e Videira.
Em fase de estudo, por parte da Comissao Consultiva Agricola e dos drgaos tecnicos do I.R.B., encontra-se identico pedido, relativo ao sub-ramo Pequena Lavoura de Culturas Mtiltiplas.
RISCOS DIVERSOS E RAMOS DIVERSOS
Em conseqiiencia de resolugao do C.T, do I.R,B,, foi facultado as Sociedades que operam em Riscos Diversos, que adiassem o inicio de vigencia do resseguro compulsorio, de 1." de setembro para 1.° de outubro.
Das 95 Companhias que operam, apenas 3 manifestaram o desejo de permanecer com o inicio de vigencia em 1." de setembro, tendo havido, portanto, o adiamento para as 92 restantes.
Foram expedidas circulares as Sociedades visando a revisao dos excedentcs das reti'ocessoes, tanto no que se refere aos Ramos Diversos (Circular RD16/58, de 3 de novembro de 1958),
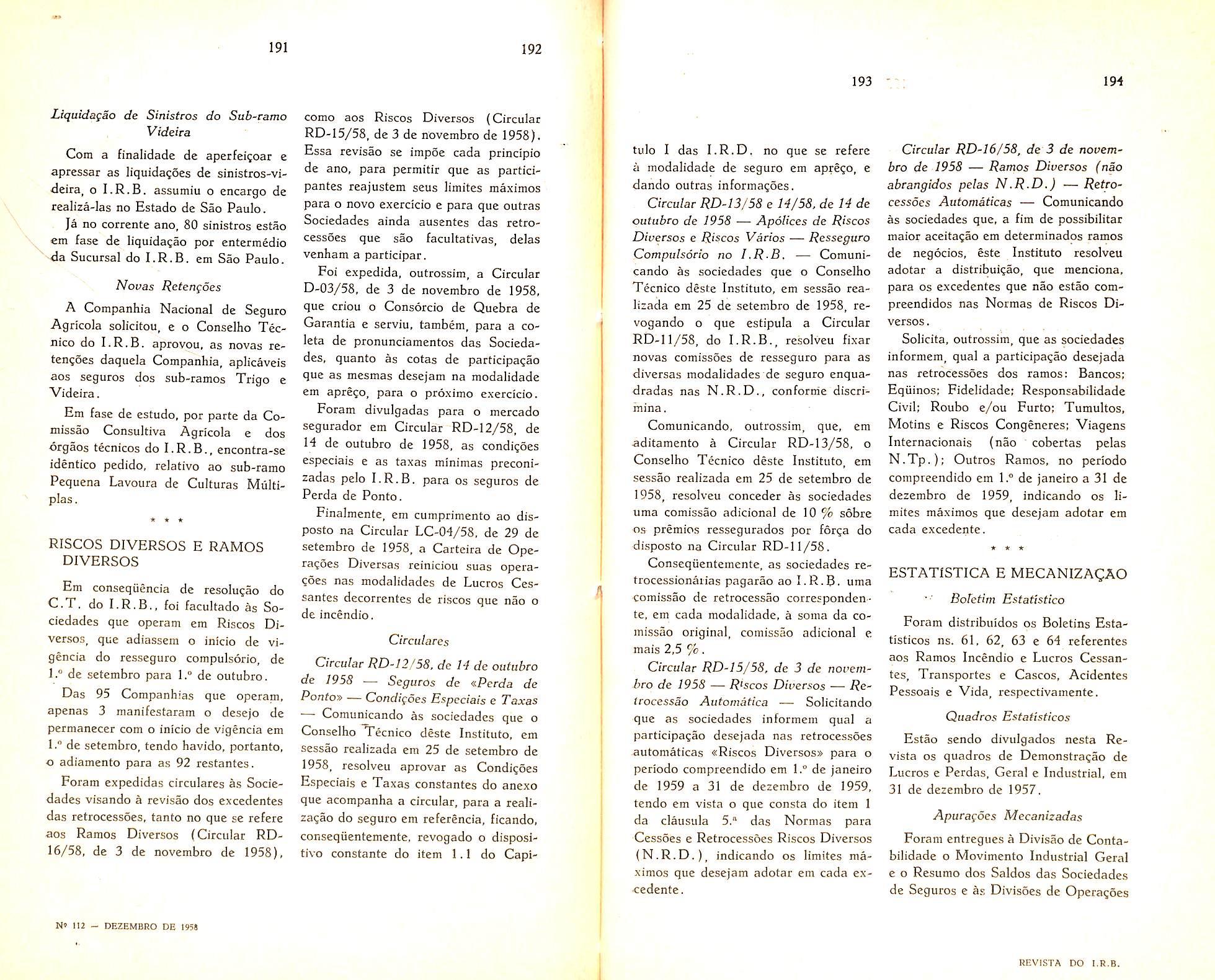
como aos Riscos Diversos (Circular RD-I5/58, de 3 de novembro de 1958). Essa revisao se impoe cada principio de ano, para permitir que as participantes reajustem seus limites maximos para o novo exercicio e para que outras Sociedades ainda ausentes das retrocessoes que sao facultativas, delas venham a participar, Foi expedida, outrossim, a Circular D-03/58, de 3 de novembro de 1958, que criou o Consorcio de Quebra de Garantia e serviu, tambem, para a coleta de pronunciamentos das Socieda des, quanto as cotas de participagao que as mesmas desejam na modalidade em aprego, para o proximo exercicio.
Foram divulgadas para o mercado segurador em Circular RD-12/58, de H de outubro de 1958, as condigoes especiais e as taxas minimas preconizadas pelo I.R.B. para os seguros de Perda de Ponto.
Finalmente, em cumprimento ao disposto na Circular LC-0V58, de 29 de setembro de 1958, a Carteira de Operagoes Diversas reiniciou suas operagoes nas modalidades de Lucros Cessantes decorrentes de riscos que nao o de incendio.
Circulares
Circular RD-12/58, de 14 de outubro de 1958 — Seguros de «.Perda de Ponto» — Condigoes Especiais e Taxas Comumcando as sociedades que o Conselho Tecnico deste Instituto, cm sessao realizada em 25 de setembro de 1958, resolveu aprovar as Condigoes Especiais e Taxas constantes do anexo que acompanha a circular, para a realizagao do seguro em referencia, ficando, conseqiientemente, revogado o dispositivo constante do item 1.1 do Capi-
tulo I das I.R.D, no que se refere a modalidade de seguro em aprego, e dando outras informagoes.
Circular RD-13/58 e 14/58. de 14 de outubro de 1958 — Apolices de Riscos Diversos e Riscos Varies — Resseguro Compulsorio no I.R.B. — Comunicando as sociedades que o Conselho Tecnico deste Instituto, em sessao rea lizada cm 25 de setembro de 1958, revogando o que estipula a Circular RD-11/58, do I.R.B., resolveu fixar novas comissoes de resseguro para as diversas modalidades de seguro enquadradas nas N.R.D., confornie discriinina.
Comunicando, outrossim, que, em aditamento a Circular RD-13/58, o Conselho Tecnico deste Instituto, em sessao realizada em 25 de setembro de 1958, resolveu conceder as sociedades uma comissao adicional de 10 % sobre OS premios ressegurados por forga do di.sposto na Circular RD-lI/58.
Conseqiientemente, as sociedades retrocessionaiias pagarao ao I.R.B. uma comissao de retroccssao correspondente, em cada modalidade, a soina da co missao original, comissao adicional e mais 2,5 % ■
Circular RD-I5/58, de 3 de novem bro de 1958 — R'scos Diver.-ios — Re troccssao Automatica — Solicitando que as sociedades informem qual a participagao desejada nas retrocessoes automaticas «Riscos Diversos» para o periodo compreendido em 1.° de Janeiro de 1959 a 31 de dezembro de 1959, tendo em vista o que consta do item 1 da clausula 5." das Normas para Gessoes e Retrocessoes Riscos Diversos (N.R.D.), indicando os limites ma ximos que desejam adotar em cada excedentc.
Circular RD-16/58, de 3 de novem bro de 1958 — Ramos Diversos (nao abrangidos pelas N.R.D.) — i?efrocessoes Automaticas — Comunicando as sociedades que, a fim de possibilitar maior accitagao cm determinados ramos de negocios, este Instituto resolveu adotar a distribuigao, que menciona, para os excedentcs que nao estao compreendidos nas Normas de Riscos Di versos
Solicita, outro.s.sim, que as sociedades informem, qual a participagao desejada nas retrocessoes dos ramos: Bancos: Eqiiinos: Fidelidade; Responsabiiidade Civil; Roubo e/ou Furto; Tumultos, Motins e Riscos Congeneres; Viagens Internacionais (nao " cobertas pelas N.Tp.); Outros Ramos, no periodo compreendido em 1.° de Janeiro a 31 de dezembro de 1959, indicando os li mites maximos que desejam adotar em cada excedente.
ESTATISTICA E MECANIZAgAO
BoTetim Estatistico
Foram distribuidos os Boletins Estatisticos ns. 61, 62, 63 e 64 referentes aos Ramos Incendio e Lucros Cessantes, Transportes e Cascos, Acidentes Pessoais e Vida, respcctivamente.
Quadros Estatisticos
Estao sendo divulgados nesta Revista OS quadros de Demonstragao de Lucros e Perdas, Geral e Industrial, em 31 de dezembro de 1957,
Apuragoes Mecanizadas
Foram entregues a Divisao de Contabilidade o Movimento Industrial Geral e o Resume dos Saldos das Sociedades de Seguros e as Divisoes de Operagoes
191
192
112 - DEZEMBRO DE 195J 193 I9i
REVISTA DO I.R.B.
OS Resumes de Lan^amentos dos meses de setembro e outubro proximo passado.
A Divisao Transpcrtes e Cascos foram eotregues as apura^oes dos M.R.T. dos meses de agosto e se tembro e OS R.S.M. dos meses de junho e julho de 1958.
A Divisao Incendio e Lucres Cessantes foram entrcgues os movimentos de D. D. H. S. I., R. 1. D. S. I. e F. R. Lc.
DOCUMENTAgAO
Entre outras publica^Ses, a Biblioteca do I.R.B. («Biblioteca Albernaz») recebeu os seguintes volumes que se acham a disposigao dos leitorcs desta Revista:
neiro, Distribuidora Record Editora —• 1957).
Nova Consolidagao das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas — An tonio Campos (Rio de Janeiro, A. Coelho Branco Editora— 1958).-
O Brasil e o Servigo Social nas Americas — C.B.C.I.S.S. (Rio de Janeiro, C.B.C.I.S.S, -- 1958).
Relatorio de 1957 — Banco do Brasil S.A. (Rio de Janeiro, B.B. —■ 1958).
L'Assurance et les Risques Atomiques — M. W. Belser (Louvain, Universite Catholique de Louvain —' 1957).
Report of the Advisory Committee
— British Insurance (Atomic Energy) Committee (Londres, BIAEC, 1957).
Analcs de la VI Conferencia Hemisferica de Seguros — Buenos Aires, 19-26 de noviembre 1956 — Asociaci6n Argentina de Companias de Se guros (Buenos Aires, Talleres Grafica Index — 1957).
Mundhra Inquiry — The Full Story (Bombay, Chagla Commission, 1958).
Pratica Cambial no Brasil — Ha rold R. Levy (Sao Paulo, Max Limonand — 1956).
The Underwriting of Sub-Standard Accident 6 Health Insurance — Roy A. MacDonald (Ohio, The National Underwriter Co. — 1951).
Underwriting's Medical Guide for Accident and Sikness Insurance
Joseph Altman (Ohio, The National Underwriter Co. — 1957).
A Nova Lei de Tarifa das Alfandegas — Yara Muller (Rio de Ja-
Report of Conference of Represen tatives of the B.I. (A.E.)C. and Continental Insurance Associations —■ British Insurance (Atomic Energy) Committee (Londres, B.I.A.E.G. 1957).
Report of Conference of Represen tatives of the B.I. (A.E.)C. and of Continental and U.K. Professional Reinsurance Companies —■ British In surance (Atomic Energy Committee (Londres, B.I.A.E.C. — 1957).
Tarifa das Alfandegas (Lei niimern 3.244, de 14-8-57) — Brasil (Rio de Janeiro — D.I.N. — 1957).
As Caixas Economicas — Sua Organizagao e sua Contabilidade — An tonio Peres Rodrigues Filho (Sao Pau lo, Oficinas Impressoras do ServigO' Social da Agao Social — 1957)
Estrutura de Balango em Face da Teoria Patrimonial — Antonio Peres Rodrigues Filho (Sao Paulo, Oficinas
Impressoras do Servigo Social da Agao Social — 1950).
Os Coeficientes de Seguranga em Relagao as Rendas (Tese a X Reuniao Congressual das Caixas Economicas Federals) — Antonio Peres Rodrigues Filho (Sao Paulo, Oficinas Impresso ras do Servigo Social da Agao So cial — 1956).
Capital Insuficiente das Cias. de Seguros — Antonio Peres Rodrigues Filho (Sao Paulo, Oficinas Impresso ras do Servigo Social da Agao Social — 1957).
Dicionario Contemporaneo da Lin gua Portuguesa — vols. I-III — Caldas Aulete (Rio de Janeiro, Editora Delta S.A. — 1958).
Manual de Instituciones de Seguridad Social en America Latina (Me xico, C,I.S.S. — 1956).
PERIODICOS
Nacionats;
Anuario Militar do Brasil — 1957.
Bancos — n.° 58 de 1957, ns. 59/61 de 1958.
Boletim da Comissao de Marinha Mercante — n."' 235 de 1957, ns. 236/7 de 1958.
Boletim do Departamento de Estatistica do Estado de Sao Paulo •— n.° 1 — 1957.
Boletim Estatistico do I.R.B. n.° 57 — 1957.
Boletim Geografico — ns. 131/2 1956.
Boletim Semanal do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitalizagao do Rio de Janeiro — numeros 87/94 — 1958.
Direito — vols. XCIX/CV ~ 1956/ 57.
Engenharia — ns. 176/180 —,1957.
Jus-Documentagao — ns. 6/11 1957.
A Lavoura — maio/dezembro 1957.
Estrangciros; Alemanha
Versicherungs Wirtscheft — ns. 16/ 24 — 1957 — ns. 1/2 — 1958.
Argentina
Anales de! Institute Actuarial Argentiho — vol. II — n.° 3 — 1953/57.
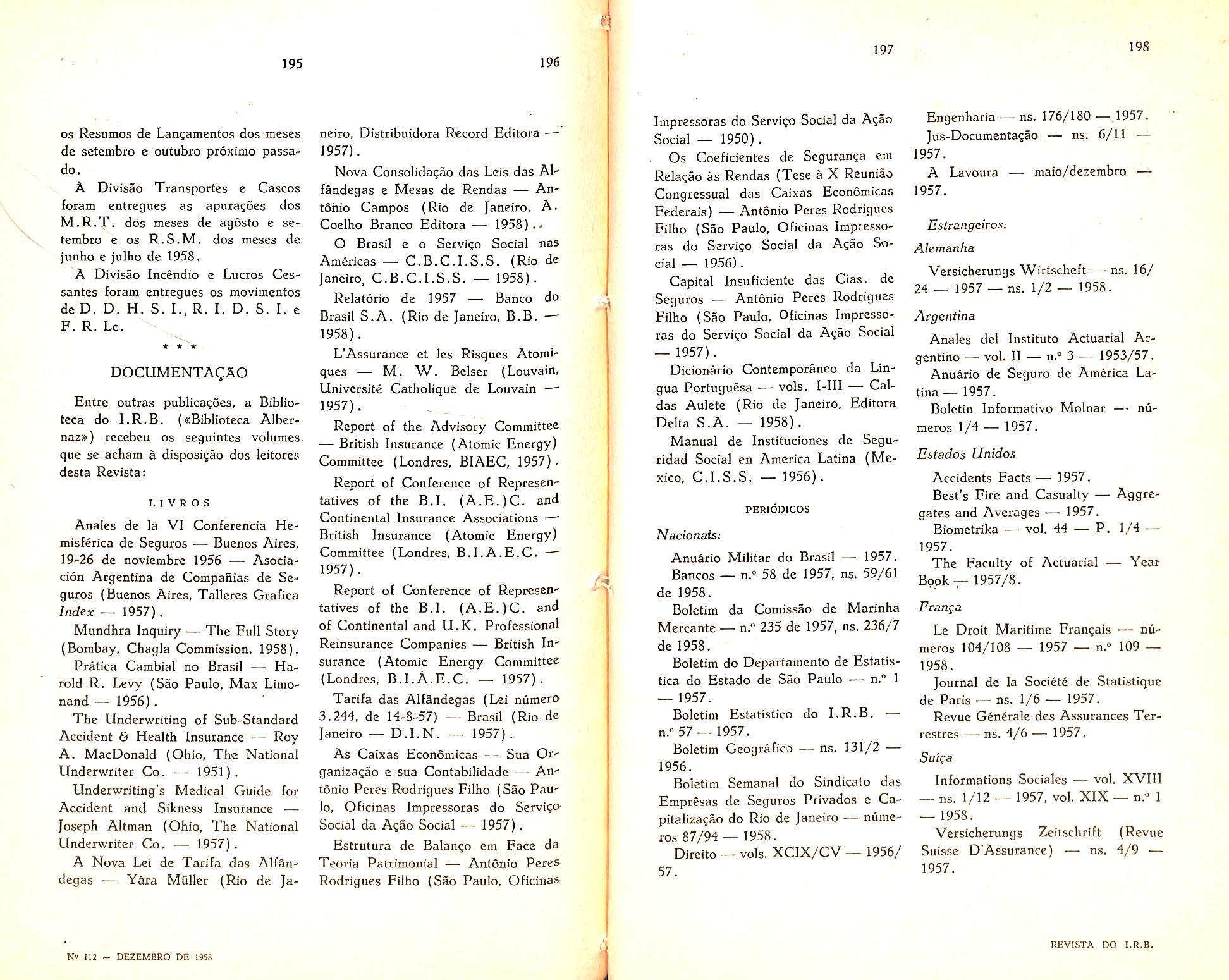
Anuario de Seguro de America La tina — 1957.
Boletin Informative Molnar — niimeros 1/4 — 1957.
Estados Unidos
Accidents Facts— 1957, Best's Fire and Casualty — Aggre gates and Averages — 1957. Biometrika — vol. 44 — P. 1/4 1957.
The Faculty of Actuarial — Year Book — 1957/8.
Franga
Le Droit Maritime Frangais — niimeros 104/108 — 1957 — n.° 109 1958.
Journal de la Society de Statistique de Paris — ns. 1/6 — 1957.
Revue Generale des Assurances Terrestres — ns. 4/6 — 1957.
Suiga
Informations Sociales — vol. XVIII — ns. 1/12 — 1957, vol. XIX — n.« 1 — 1958.
Versicherungs Zeitschrift (Revue Suisse D'Assurance) — ns. 4/9 1957.
195
L I V R O S
196
N« 112 - DEZEMBRO DE 1958 1 197
198
REVISTA DO I.R.B.
Novas instalagoes (em Sao Paulo) da Sucursal do i.R.B.
/^OM A presenga do Presidente, VicePresidente. membros do Conselho Tecnico e altos funcionarios do I.R.B.. bem como do Presidente da Federagao Nadonal das Empresas de Seguros Privados e Capitalizagao, Dr. Angelo Mario Cerne, Presidente do Sindicato local de Seguradores, Sr. Vicente de Paula Silvado Alvarenga. e figiiras das mais represcntativas do seguro nacional. foram inauguradas, no dia 17 de outu-
de Barros), Dr. Vicente Galliez e Dr. Pedro Alvim.
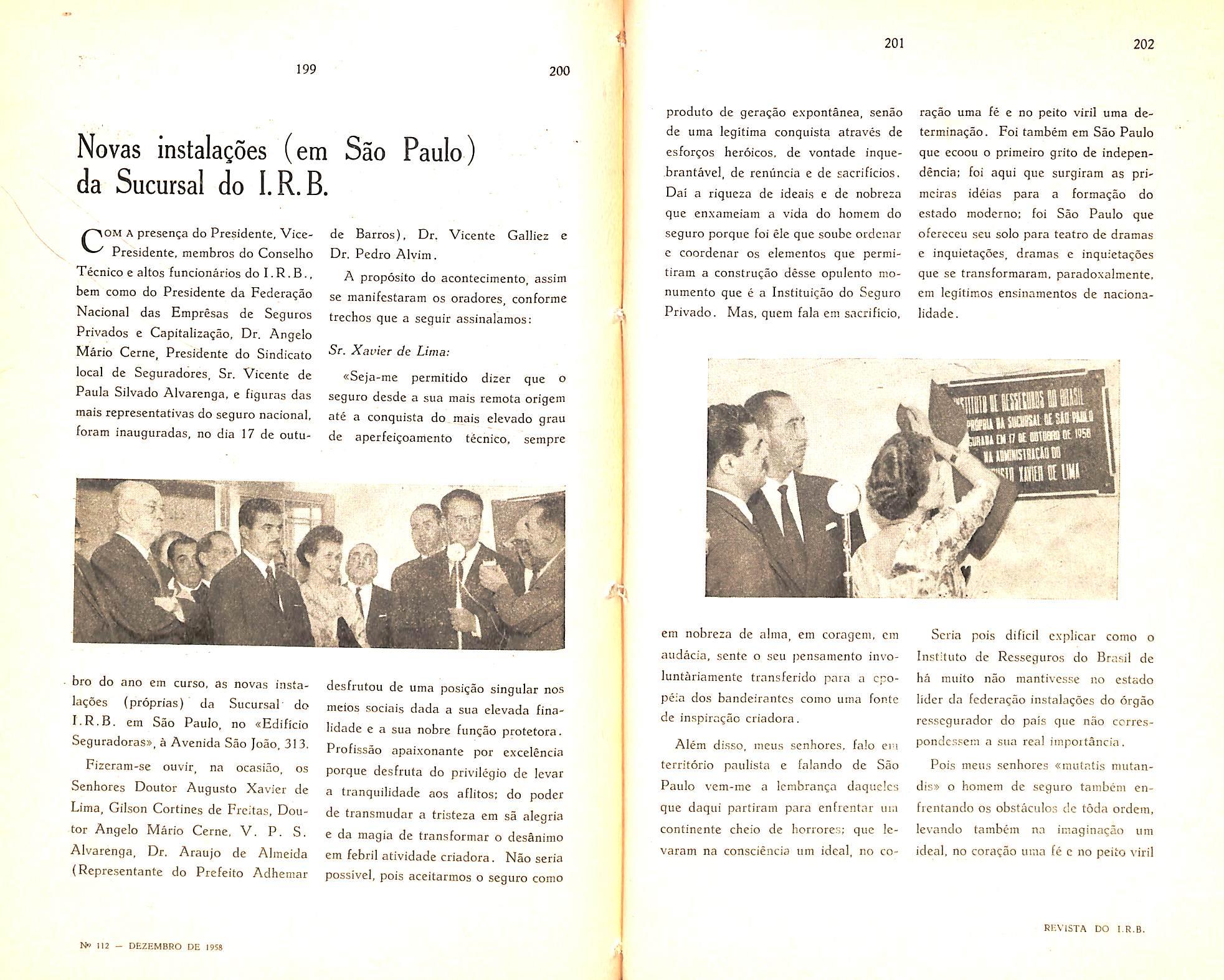
A proposito do acontecimento, assim se manifestaram os oradores, conforme trechos que a seguir assinalamos:
Sc. Xavier de Lima:
«Seja-me permitido dizer que o seguro desde a sua mais remota origem ate a conquista do,mais elevado grau de aperfeigoaniento tecnico, sempre
produto de geragao expontanea, senao de uma legltima conquista atraves de esforgos heroicos. de vontade inquebrantavel, de renuncia e de sacrificios. Dai a riqueza de ideais e de nobreza que enxameiam a vida do homem do seguro porque foi ele que soubc ordcnar e coordenar os elementos que permitiram a construgao dessc opulento monumento que e a Instituigao do Seguro Privado. Mas, quem fala em sacrificio,
ragao uma fe e no peito viril uma determinagao. Foi tambem em Sao Paulo que ecoou o primeiro grito de independencia; foi aqui que surgiram as primciras idcias para a formagao do estado moderno; foi Sao Paulo que ofercceu seu solo para teatro de dramas e inquietagoes. dramas c inquietagocs que sc transformaram, paradoxalraente, em legitimos ensinamentos de nacionalidade.
bro do ano em curso, as novas insta lagoes (proprias) da Sucursal' do r.R.B, em Sao Paulo, no «Edificio Seguradoras», a Avenida Sao Joao. 313.
Fircram-se ouvir, na ocasiao. os Senhores Doutor Augusto Xavier de Lima, Giison Cortines de Frcitas, Dou tor Angelo Mario Cerne, V. P. S. Alvarenga, Dr. Araujo de Almeida (Representante do Prefeito Adhemar
desfrutou de uma posigao singular nos meios sociais dada a sua elevada finalidade e a sua nobre fungao protetora. Profissao apaixonante por excelencia porque desfruta do privilegio de levar a tranquilidade aos afiitos: do poder de transmudar a tristeza em sa alegria e da magia de transformar o desanimo em febril atividade criadora. Nao seria possivel, pois aceitarmos o seguro como
em nobreza de alma, em coragem, cm audacia, sentc o seu i)ensamento involuntariamente transferido para a cpopeia dos bandeirantcs como uma fonte de inspiragao criadora.
Alem disso, meus senhores, falo en territorio paulista e falando de Sao Paulo vem-me a Icmbranga daquelcs que daqui partiram para enfrentar u:;i confinente cheio de horrores; que Icvaram na consciencia um ideal, no co-
Sciia pois diflcil explicar como o Instituto de Resseguros do Brasil de ha inuito nao mantivcsse no estado lider da federagao instalagoes do orgao re.sscgurador do pais que nao ccrrespondc.s.sem a sua real impoitancin.
Pois meus senhores «mutntis mutan dis* o homem de seguro tambem enfrentando os obstaculos dc toda ordem, levando tambem na imaginagao um ideal, no coragao uma fe c no peito viril
199 200
t*" 112 - DEZEMBRO DE 1958 /• i 201 202
RUVISTA DO i.R.B,
uma determinagao, teve a sua epopeia consagrada por uma realizagao eterna e a Ventura de ve-la consagrada entre OS povos como uma conquista de perene fecundidade.
Agora de maos dadas per esta equipe admiravel de trabaiho de que e constituido o Instituto de Resseguros do Brasil, a obra iniciada pelos seguradores, a institui^ao do seguro corporificou-se ostentando ja, se pode dizer, o cetro da vitoria.
E e assim que rendendo a eles neste momento as minhas homenagens ao inaugurar esta casa, fa?o-o com sin gular alegria porque de minha parte sinto o prazer confortador do dever cumprido.»
Sr. Gilson Cortines de Freitas:
«Todos OS organismos economicos quando envelhecem, tendem para a estagna^ao. Tal, entretanto, nao aconteceu com o I.R.B. na Administra^ao de Xavier de Lima.
204
Fluidos misteriosos o mantem scmpre jovem. Sua evoIu?ao e constarite. Seus metodos de trabalhos sistematicamente aprimoram-se, a tecnica de suas operagoes esta sempre a procura de um degrau superior. 6 uma entidade cuja organiza^ao, a medida que os anos decorrem se aproxima da perfeigao. Eis o retrato atual do I.R.B., cuja criagao tanto agitou, em 1939, os meios seguradores do pais. Mas, para que se tornasse o que hoje e, seria imperdoavel omitir-se a ampla, permanente e lea! cooperagao recebida dos seguradores de todos OS rincoes da nossa patria que, desde seus primordios colpcaram a disposigao dos Adrainistradores do I.R.B., todos os recursos tecnicos de que dispunham, concorrendo para seu desenvolvimento com elevagao de propositos e facilitando a realizagao dos seus objctivos. O sucesso do I.R.B, pertence, pois, tambem aos seguradores brasileiros, que tecnica e financeiramente o apoiaram quando foi criado e continuam a empresfar colaboragao decidida quando ela se fax necessaria.®
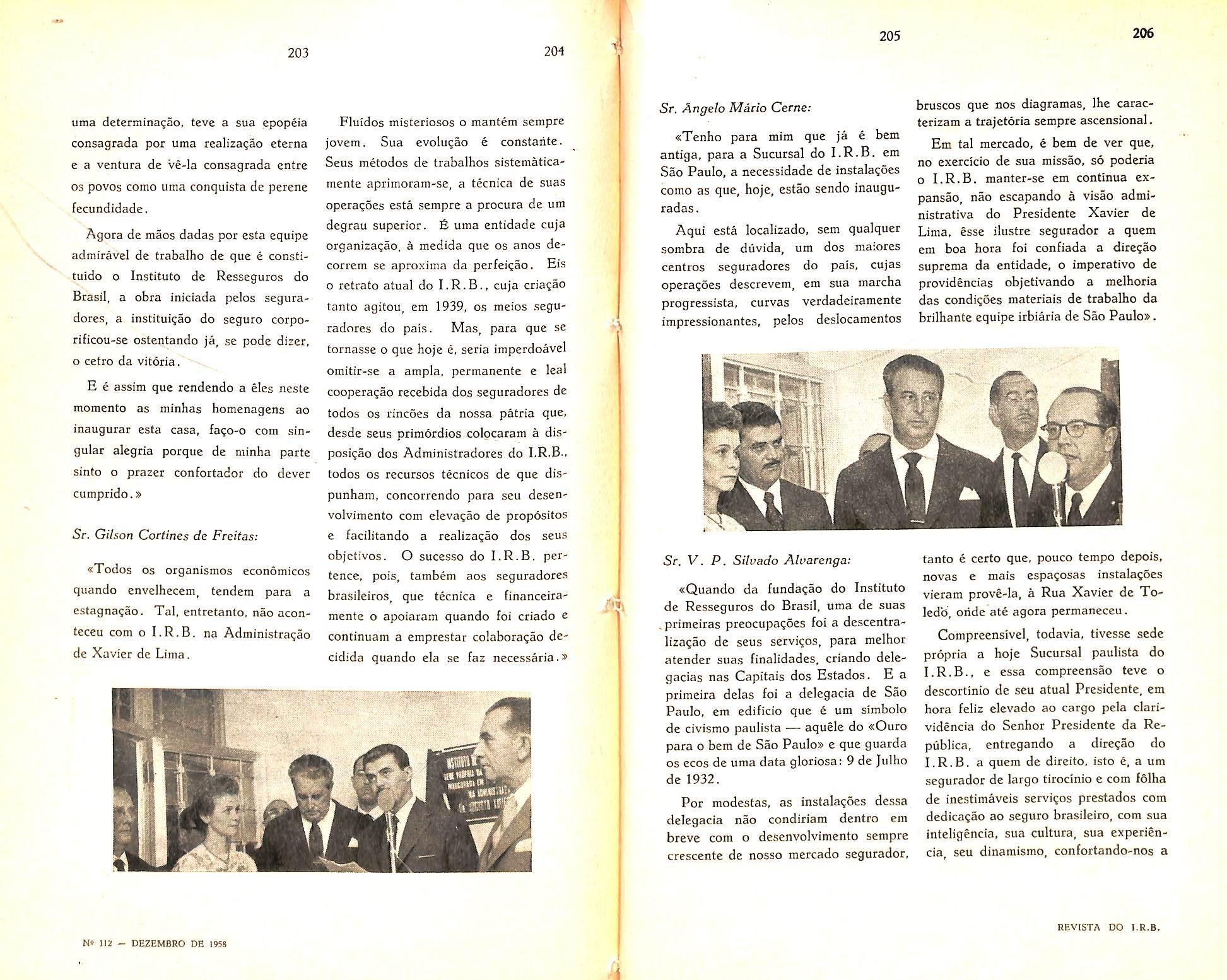 Sr. Angela Mario Cerne:
Sr. Angela Mario Cerne:
«Tenho para mim que ja e bem antiga, para a Sucursal do I.R.B. em Sao Paulo, a necessidade de instalagbes como as que, hoje, cstao sendo inauguradas.
Aqui esta locaiizado, sem qualquer sombra de duvida, um dos maiores centres seguradores do pais, cujas operagoes descrevem, em sua marcha progressista, curvas verdadeiramente impressionantes, pelos deslocamentos
bruscos que nos diagramas, Ihe caracterizam a trajetoria sempre ascensional.
Em tal mercado, e bem de ver que, no exercicio de sua missao, so poderia 0 I.R.B. manter-se em continua expansao, nao escapando a visao administrativa do Presidente Xavier de Lima, esse ilustre segurador a quem em boa hora foi confiada a diregao suprema da entidade, o imperative de providencias objetivando a melhoria das condigoes materials de trabaiho da brilhante equipe irbiaria de Sao Paulo».
«Quando da fundagao do Instituto de Resseguros do Brasil, uma de suas .primeiras preocupagoes foi a descentralizagao de seus servigos, para melhor atender sua.s finalidades, criando delegacias nas Capitals dos Estados. E a primeira delas foi a delegacia de Sao Paulo, em edificio que e um simbolo de civismo paulista — aquele do «Ouro para o bem de Sao PauIo» e que guarda OS ecos de uma data gloriosa: 9 de Julho de 1932.
Por modestas, as instalagoes dessa delegacia nao condiriam dentro em breve com o desenvolvimento sempre crescente de nosso mercado segurador.
tanto e certo que, pouco tempo depois, novas e mais espagosas instalagSes vieram prove-la, a Rua Xavier de To ledo, oride at6 agora permaneceu.
Compreensivel, todavia, tivesse sede propria a hoje Sucursal paulista do I.R.B., e essa compreensao teve o descortinio de seu atual Presidente, em hora feliz elevado ao cargo pela clarividencia do Senhor Presidente da Republica, entregando a diregao do I.R.B. a quem de direito, isto d, a um segurador de largo tirocinio e com fdiha de incstimaveis servigos prestados com dedicagao ao seguro brasileiro, com sua inteligencia, sua cultura, sua expetiencia, seu dinamismo, confortando-nos a
203
i A N« 112 — DEZEMBRO DE 1958 205
206
5r. V. P. Silvado Alvarenga:
REVISTA DO I.R.B.
todos-nos, seguradores brasileiros, com a garantia de que ao leme do Instituto de Resseguros do Brasil esta o seu legitimo timoneiro.»
Sr. Che[e do Gabinete do Pre[eito de Sao Paulo:
co^m muita alegria que compare^o nesta solenidade para representar o Dr. A. de Barros, a cujo Gabinete pertcngo e trazer. nao so ao ilustre Presidente do Instituto de Resseguros do Brasii como a todos os seus cclaboradores, as saudagoes afetuosas e amigas do Senhor Prefeito Municipal de Sao Paulo e agradecer em nome da Cidade Paulista. a cooperagao que o Instituto de Resseguros do Brasil tern dado nao so ao nosso Estado, como tambem, particularmente. a nossa Cidade.»
Sr. Vicente GalUez:
«Rcpresento neste momenfo o Conselho Tecnico do Instituto de Resse guros do Brasil, que compareccu incorporado a esta solenidade, demonstrando assim a impoxtancia dessa inauguragao e 0 desejo de trazer pcssoalmente ao Senhor Presidentc do Instituto de Ressegiiroa do Brnsil, no Gcientc da Sucursal do I.R.B. no Estado dc Sao Paulo e a todos os seguradores paulistas, as suas congratulagoes por mais esse acontecimento.
Efetivamente, o I.R.B. precisava ter na cidade de Sao Paulo uma sede condigna. E isso foi realizado gragas ao esforgo e ao dinamismo do nosso Presidente Dr. Augusto Xavier de Lima, a quern o seguro ja deve tantos e tao assinalados servigos,
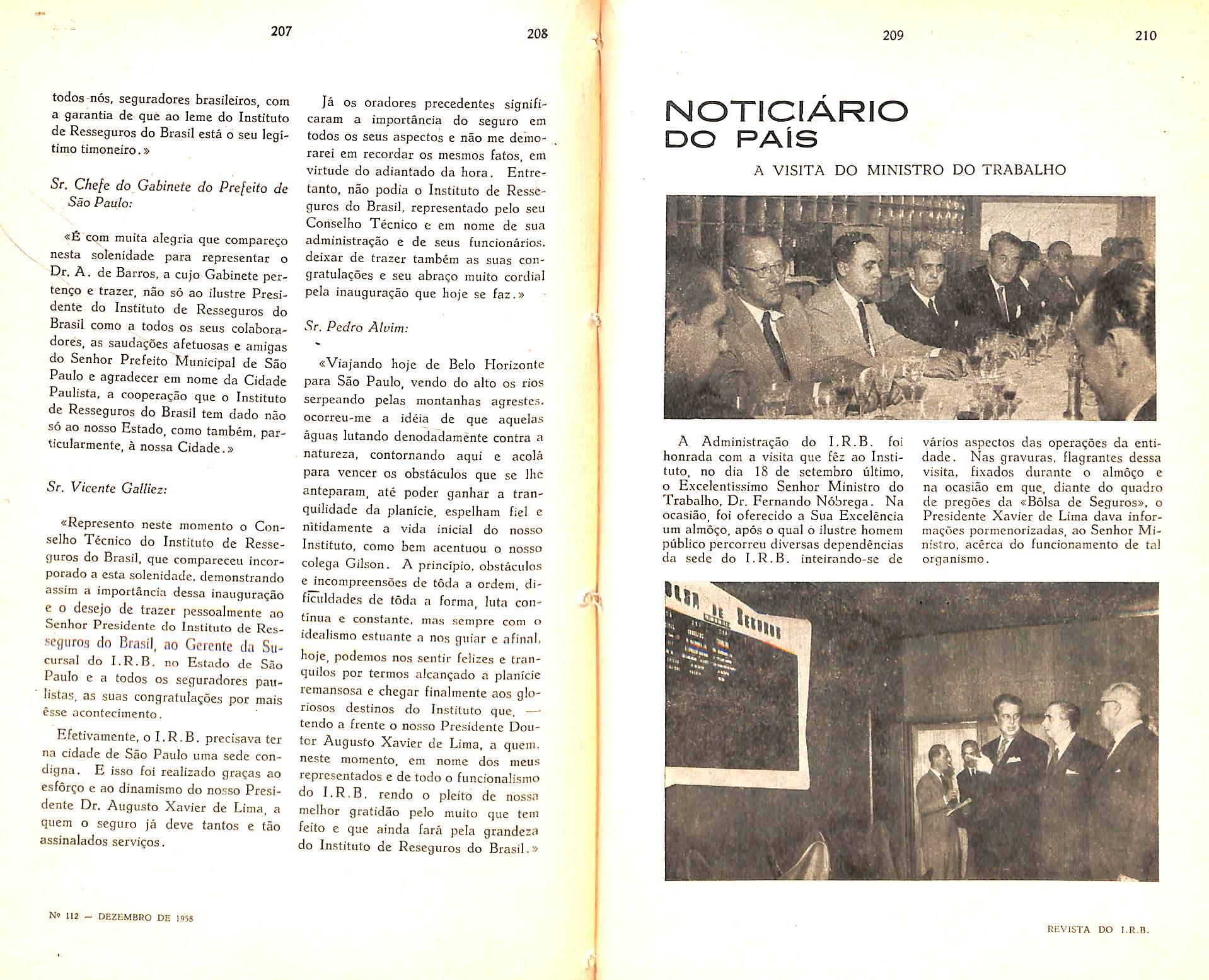
Ja OS oradores precedentes significaram a importancia do seguro em todos OS seus aspectos e nao me demorarei em recordar os mesmos fatos, cm virtude do adiantado da hora. Entretanto, nao podia o Instituto de Resse guros do Brasil, representado pelo seu Cori'selho Tecnico e em nome de sua administragao e de seus funcionarios. deixar de trazer tambem as suas congratulagoes e seu abrago muito cordial pela inauguragao que hoje se faz.»
Sr. Pedro Alvim:
«Viajando hoje de Belo Horizonte para Sao Paulo, vendo do alto os rios serpeando pelas montanhas agrestes. ocorreu-me a ideia de que aquelas aguas lutando denodadamente contra a natureza, contornando aqui e acola para veneer os obstaculos que se Ihc anteparam, ate poder ganhar a tranquilidade da planicie, espelham fiel c nltidamente a vida inicial do nosso Instituto, como bem acentuou o nosso colega Gilson. A principio, obstaculo.s ejncompreensoes de toda a ordem, dificuldades de toda a forma, luta continua e constante, mas sempre com o idealismo estuante a nos guiar e afinal. boje, podemos nos sentir felizes e tranquiios por termos akangado a planicie remansosa e chegar finalmente aos gloriosos destines do Instituto que, tendo a fxente o nosso Presidente Doutcr Augusto Xavier de Lima, a quern, neste momento, em nome dos meus representados e de todo o funcionalismo do I.R.B, rendo o pleito de nossa melhor gratidao pelo muito que tern feito e que ainda fara pela grandeza do Instituto de Reseguros do Brasil.»
A Administragao do I.R.B. foi honrada com a visita que fez ao Insti tuto. no dia 18 de setembro ultimo, o Excelentissimo Senhor Ministro do Trabalho, Dr. Fernando Nobrega, Na ocasiao, foi oferecido a Sua Excelencia um almogo. apos o qual o ilustre homem piiblico percorreu diversas dependencias da sede do I.R.B. inteirando-se de
varies aspectos das operagoes da entidade. Nas gravuras. flagrantes dessa visita. fixados durante o almogo e na ocasiao em que, diante do quadro de pregoes da «B6lsa de Seguros», o Presidente Xavier de Lima dava informagoes pormenorizadas, ao Senhor Mi nistro, acerca do funcionamento de tal organismo.
207 208 209 210
N» 112 - DEZEMBRO DE 1958
A VISITA DO MINISTRO DO TRABALHO
NOTICIARIO DO PAIS
■'.Ibin A REVISTA DO I.R.B. I
VISITA DO DR. VICTOR NUNES LEAL AO I.R.B,
INDICE ALFABfiTICO DA MATfiRIA PUBLICADA PELA «REV1STA DO I.R.B.» EM 1958
ACERVO de urn bienio — Entrcvistas — Comribui<;ao do Departameato Financeiro n® 109 col 3 Contribui^ao do Departamento Jurldico — n. 109, col. 11 Contrib^i^ao'do Departamento Tecnico - n.° m col. 19- Cwtribuicao da Divisio de Liquidacao de Sinistros — n." 110, col. 7 — Contribui?ao da Divisao Admimstrativa — n.° j 10, col. 13.
ADAPTACAO da cobertura de lucros esperados ao seguro dc lucres cessantes — Helio Tdxcira — n." 107, col. 19.
A Administragao do I.R.B. teve a grande satisfa^ao de receber, no dia 9 dc outubro do corrente ano, a visita do ilustre Chcfe do Gabinete Civil da Presidencia da Republica, Dr, Victor Nunes Leal. Depois do almo^o que
Ihe foi oferecido. Sua Excelencia percorreu as principals dependencias da sede do Instituto, mantcndo movimentada palestra em torno do funcionamento e realizagoes da entidade.
A]USTAMENTOS com poUnomios orfogonais normalizados — Urbano de Albuquerque — n." 107. col. 43.
AMAZONAS. a navcgagao, o comercio e suas vicissitudes, No... — J. StoU Confahes — n." 107, col. 5.
A. S. I., ConsidcracSes sobre o... — B;alriz C. C. C.. Albuquerque — n." 107, col. 71 e n." 109. col. 69.
ATIVIDADES do I.R.B. em 1957 — n.° 108, col. 23.
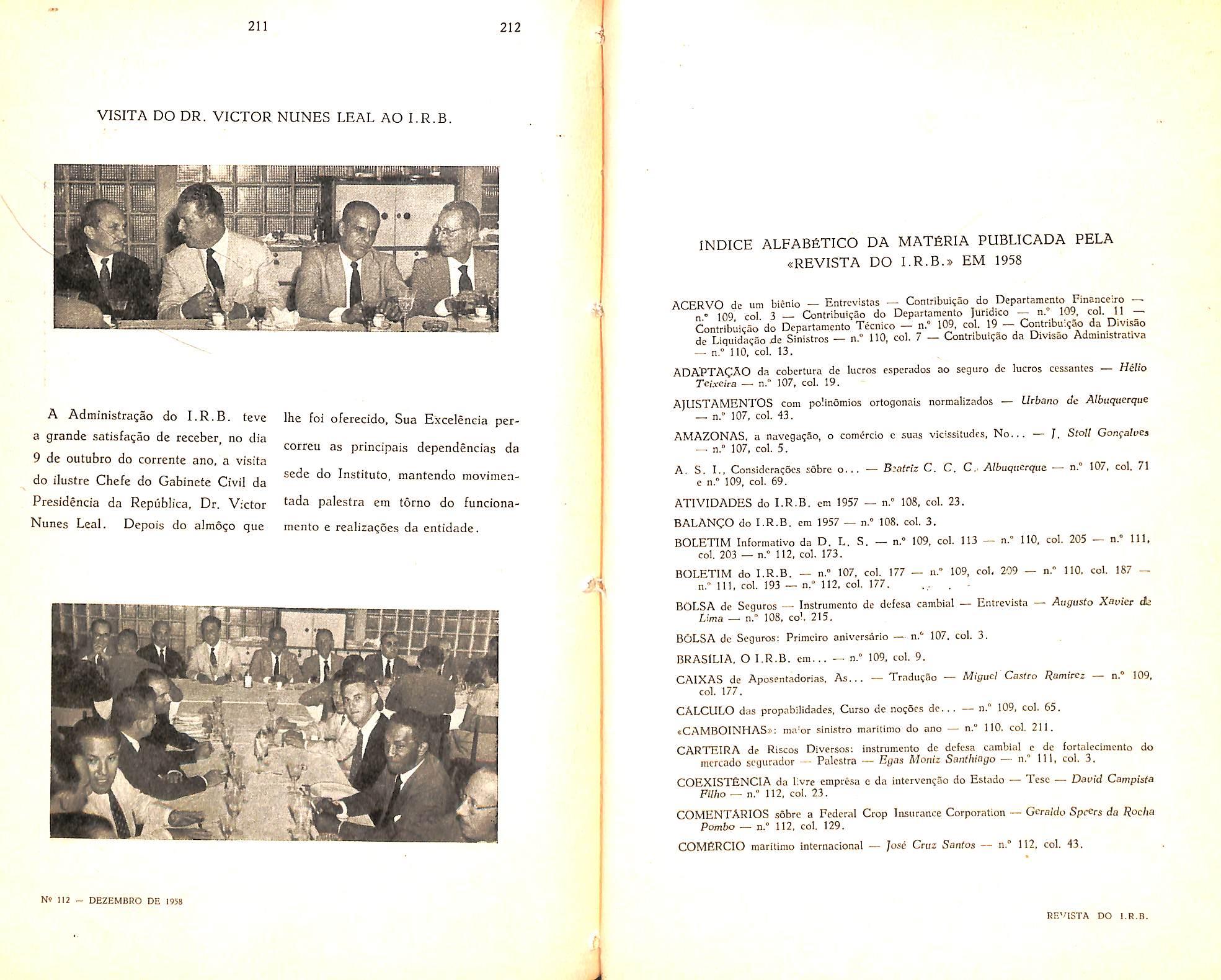
BALANCO do I.R.B. em 1957 — n." 108, col, 3.
BOLETIM Informativo da D. L. S. ~ n." 109, col. 113 — n." 110, col. 205 — n.' 111. col. 203 — n." 112. col. 173.
BOLETIM do I.R.B. — n." 107, col. 177 — n.° 109, col. 209 — n.° 110, col. 187 n." Ill, col. 193 — n.M12, col. 177. -
BOLSA de Seguros — Instrumcnto dc defcsa cambial — Entrevista — Augusfo Xavier Lima —■ n.° 108, co'. 215.
BOLSA de Seguros; Primeiro aniversarlo — n.'' 107, col. 3.
BRASILIA, O I.R.B. cm... — n." 109. col. 9.
CAIXAS de Aposentadorias, As. — Tradugao — Miguel Castro Ramirez — n.'' 109, col. 177.
CALCULO das propabilidades, Curso de no9oes de. — n." 109, col. 65.
«CAMBOINHAS»: ma'or sinisfro maritimo do ano — n." 110. col. 211.
CARTEIRA de Riscos Diversos; instrumento de defesa cambial c dc fortalecimcnto do mtrcado segurador — Palestra — Egas Motuz Santbiago — n." 111. col. 3.
COEXlSTfiNCIA da Lvre empresa e da intcrven^ao do Estado — Tesc — Dauid Camplsta PUho — n." 112, col, 23.
COMENTARIOS sobrc a Federal Crop Insurance Corporation ~ Geraldo Spcers da Roeha Pombo — n.° 112, col. 129.
COMERCIO maritimo internacional — Jose Cruz Santos — n." 112, col. 43.
211 212
N« 112 - DEZEMBRO DE 1958
REVISTA DO I.R.B.
CONFE^NCI^ Brasileiras de Seguros Privados e de CapIta'izagSo, O cspir:to das .
— Icse — Humbcrto Roncarati — n.° ]07, col. 113,
CONSULTORIO Tecnico — n-° 107. col. 173 — n." UO, col. 185.
CONTABILIZAgAO dos premies era face da constitui?3o das reservas de risco.s nSc expir^dos ^de conpngenciaji^nos ramos elcmentares, A... — Antonio Pcrcz Rcdrigues
CONVENgAO de Reprcsentantes do II,, , _ n." 109. col, 127.
CURSO Basico dc Seguros — n." 109, col, 83.
DADOS Estatisticos; Ativo liquido das .sociedades de seguros cm 1956 — ii.' 107 col. 131 a j 'ta.tas que incidem sobre as operagoc^ dc seguros — n," 108'co' 239 — Anahsc do mcrcado scgurador brasileiro — n.» 109, col. H5 — Balance das sociedades de s^eguros em I9o7 - n." 110, col. 121 - Despesas administrativas geraisn." 112 co! 151 <= P"das das sociedndcs de seguros -
- Entrcvista - Angusto Xaoicr dc L:,r,a -
OTA Continental do Seguro —n." 109, col. 123.
EMP^SAS de seguros. Capital min'mo para o funcionamento dc nov.is,,, — n." 107.
EQUAgOES dc difercncas finitns -j. J. dc Souza Mcndcs — n,° 111, col. 23.
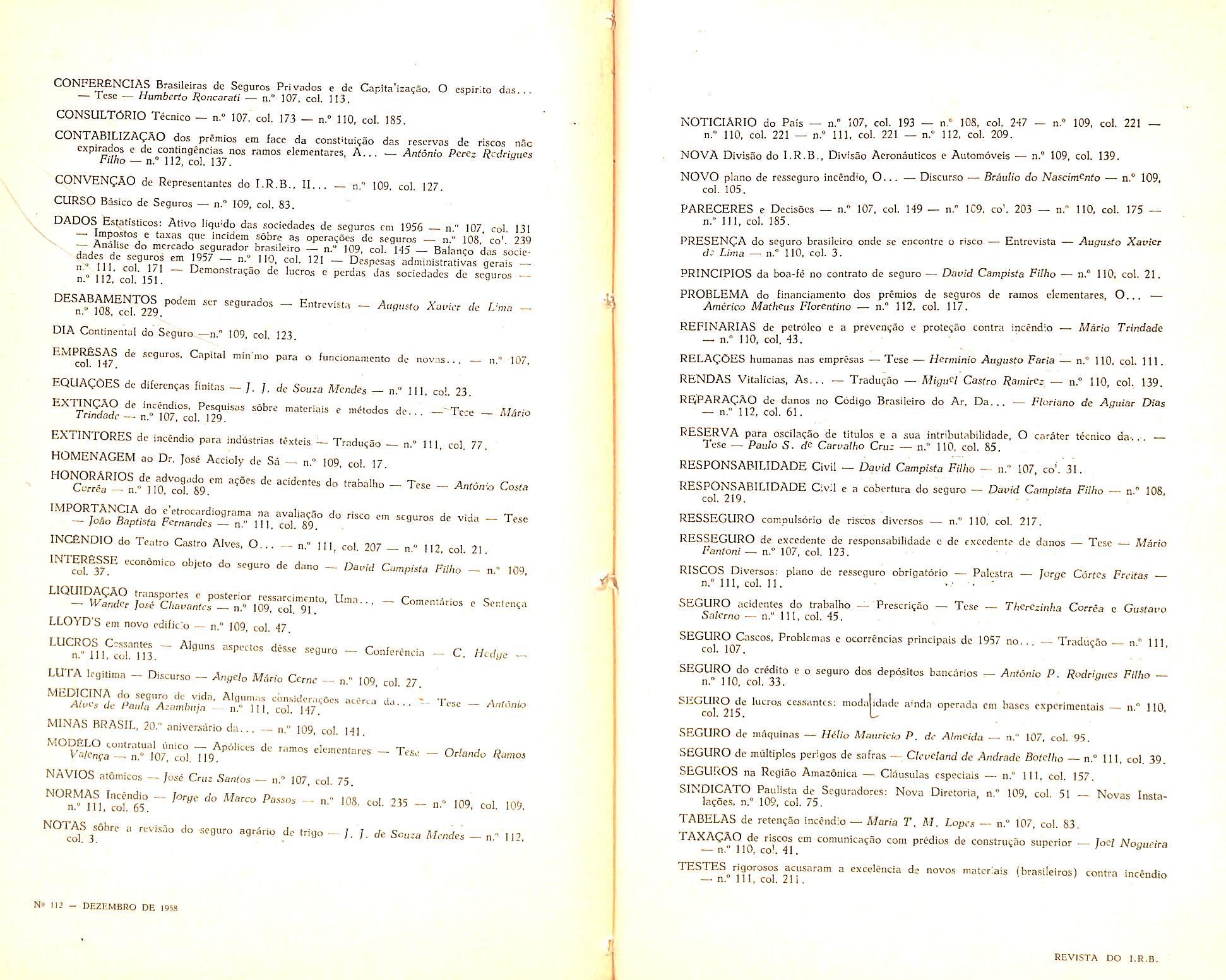
EXTINTORES dc incendio para industrias texteis — Tradugao — n," 111, col. 77.
HOMENAGEM ao Dr. Jose Accioly de Sa — n," 109, col. 17.
iz:ndt°^7'^r^,7:ht
INCENOIO do Tcatro Castro Alves, O... — n." Ill, col. 207 — n," 112, col. 21 .
INTERESSE economico objcto do seguro de dano Da.id Camp,Va Filho - n." 109.
LLOYD'S ein novo edified — n.° 109, col. 47
- Conferencia - C. Hedge ^
LUTA icgitimn - Discurso - Angela Mario Ccrnc - n." 109, col. 27.
MllDIClNA do .seguro de vidn, Algumas cbii.sicler,u.Sc.s accV,.a d i - "IV, A >■ Aii".s dc Paula Azomhujn — n." Ill, col, 147 "" ~ An/onio
MINAS BRASIL, 20." aniversarlo da... — n." 109, col, 141
MODELO comralual linico — Apolices de ramos elcmentares — Tec. o / j o Va/cnga — n." 107, col. 119. cicmcntarcs — ics.; — Orlando Ramoi
NAVIOS atomkos — Jose Cruz Santos — n." 107, col. 75.
235 - n.^ 109, col, 109.
- !■ ^ de Souza Mcndes - n." 112,
NOTICIARIO do Pais — n." 107, col. 193 — n." 108, col. 247 — n." 109, col. 221 n." 110, col. 221 — n.° 111, col. 221 — n.° 112, col. 209.
NOVA Divisao do I.R.B., Divisao Acronauticos e Automoveis — n.° 109, col. 139.
NOVO plane de resscguro incendio, O... — Discurso — Braullo do Nascimdnfo — n.° 109, col. 105.
PARECERES e Dccisocs — n." 107, col. 149 — n.° 1C9. co'. 203 — n.'"' 110, col. 175 n.° 111, col. 185.
PRESENgA do seguro brasileiro ondc se encontrc o risco — Entrcvista — Aupusfo Xaoier d: Lima — n." 110, col. 3.
PRINCIPIOS da boa-fe no contrato de seguro — Dauld Campista Filho — n." 110, col. 21, PROBLEMA do financiamento dos prSmios de seguros de raraos eleinentares, O... Americo Mathcus Florentino — n." 112, col. 117.
REFINARIAS dc petrblco e a preven^So c protegao contra incendio — Maria Trindade — n.MIO, col, 43.
RELAgOES humanas nas erapresas — Tcse — Herminio Augusta Faria — n.° 110, col. Ill.
RENDAS Vitalicias, As. — Tradugao — MigtFl Castro Ramirez — n." 110, col. 139.
REPARACAO de demos no Codigo Brasileiro do Ar, Da, — Floriano dc Aouiar Dias — n." 112, col. 61.
RESERVA para oscila^ao de titulos e a sua intributabilidade, O carater tecnico da^ Tese — Paulo S. de Carvalho Cruz — n," 110, col, 85.
RESPONSABILIDADE Civil — David Campista Filho — ii." 107, co'. 31,
RESPONSABILIDADE Civil e a cobcrtura do seguro — David Campista Filho n" 108 col 219,
RESSEGURO compulsorio de riscos divcrsos — n." 110, col. 217.
RESSEGURO de excedente de rcsponsabilidadc c de cxccdentc dc danos — Tcsc Mario Fantoni — n° 107, col, 123.
RISCOS Divcrsos: piano de resscguro obrigatorio — Palestra — Jorpc Corfcs Freifas n," 111, col. II, ••• - -
SEGURO acidcntes do trabalho — PrescrigSo — Tese — ThCrCzinha Correa e Gusfauo Salerno — n." Ill, col, 45,
SEGURO Cascos, Problcmas e ocorrencias principals de 1957 no. — Traducao — n" 111 col. 107.
SEGURO do credito e o seguro dos depqsitos bancarios — Antonio P. Rodrigues Filho n.° 110, col, 33.
SEGURO de lucro.s ccssantcs: inoda|^adc nmda opernda cm bases cxperiracntais — n," HO.
SEGURO de mSquinas — Helio Maiim-b P. dc AtmHda — n." 107, col, 95,
SEGURO de multiplos perigos de safras — Cleveland de Andradc Bofellio — n,° 111. col, 39.
SEGUROS na Regilo Amazonica — Cl.iusulas cspcciais — n.° 111, col 157,
SINDICATO P^lista de Seguradorcs: Nova Diretoria, n." 109, col. 51 - Novas InstalagSes, n," 105', col. 75.
TABELAS de rctengao incendio — Maria T. M. Lopcs — n." 107, col. 83.
TAJ^gAO^de riscos cm comunicagao com predios de construgao superior — Joel Nogucira
TESTCS^ngoro^sos acusaram a excelcncia de novos materials (bra.sileiros) contra incendio
N» 112 - DEZEMBRO DE 1958
REVISTA DO I.R.B.
ALPHABETICAL INDEX OF PUBLISHED MATTER IN «REVISTA DO I.R.B.» — 1958
ACTIVITIES of the I.R.B. in 1957 — n." 108, col. 23.
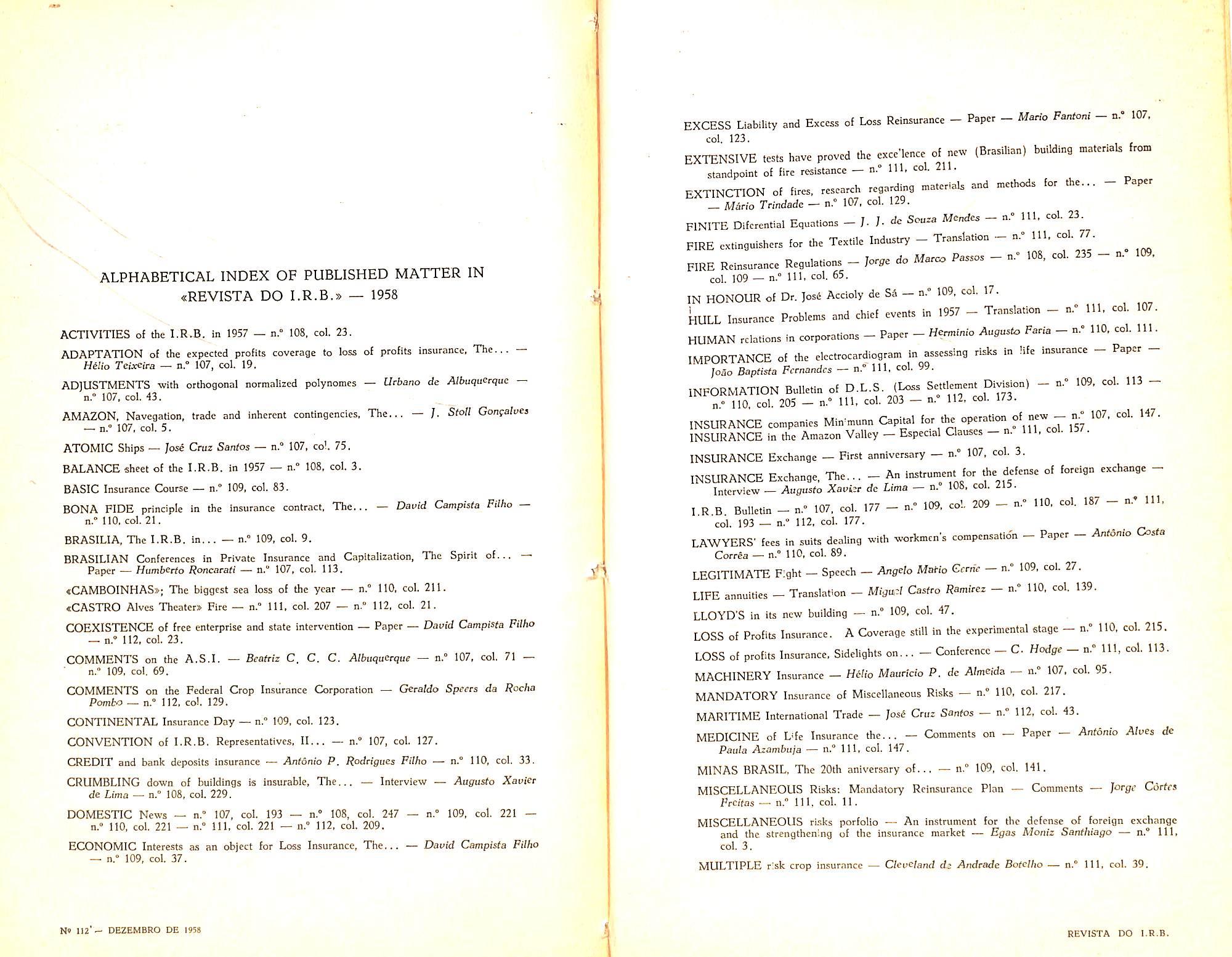
ADAPTATION of the expected profits coverage to loss of profits insurance. The... Helio Teixcira —■ n.° 107, col. 19.
ADJUSTMENTS -with orthogonal normalized polynomcs — Urbano de Albuquerque n.° 107, col. 43.
AMAZON. Navegation, trade and inherent contingencies, The.. — /, Stall Confalves — n.° 107, col. 5.
ATOMIC Ships — ]as6 Cruz Santos — n.° 107, col. 75.
BALANCE sheet of the I.R.B. in 1957 — n.° 108. col. 3.
BASIC Insurance Course — n." 109, col. 83.
BONA FIDE principle in the insurance contract. The. — David Camptsla Pilho n.° 110, col. 21.
BRASILIA, The I.R.B. in... — n." 109. col. 9.
BRASILIAN Conferences in Private Insurance and Capitalization, The Spirit of. .. Paper — Humberto Roncacati — n." 107. col. 113.
«CAMBOINHAS>; The biggest sea loss of the year — n." 110. col. 211. eCASTRO Alves Theaters Fire — n." HI. col. 207 — n.° 112, col. 21.
COEXISTENCE of free enterprise and state intervention — Paper — David Csmpi'sta Pilho — n.° 112. col. 23.
COMMENTS on the A.S.I. — Beatriz C. C. C. Albuquerque — n.° 107, col. 71 n." 109, col. 69.
COMMENTS on the Federal Crop Insurance Corporation — Gerafdo Speets da Rocba Pombo ~ n.° 112, coh 129.
CONTINENTAL Insurance Day — n.° 109, col. 123.
CONVENTION of I.R.B. Representatives, II... — n.° 107, col. 127.
CREDIT and bank deposits insurance — Anfoni'o P. Rodrigucs Pilho — n.° 110, col. 33.
CRUMBLING dov/n of buildings is insurable, The... — Interview — Augusta Xavier de Lima — n." 108, col. 229.
DOMESTIC News — n.° 107, col. 193 — n." 108, col. 247 — n." 109, col. 221 a." 110, col. 221 — n." ill. col. 221 — n." 112, col. 209.
ECONOMIC Interests as an object for Loss Insurance. The... — David Campista Pilho — n." 109, col. 37.
EXCESS Liability and Excess of Loss Reinsurance Paper Mario Fanfoni n. 107, col. 123. ,
EXTENSIVE ..=.s have proved .he exe.'lence of new (Braelhaa) boMIn, ...eri.U from Standpoint of fire resistance — n," 111, col. 211.
EXTINCTION of fires, research regarding materiaU and methods for the... - Paper — Mario Trindade — a." 107, col. 129.
FINITE Difcrcntial Equations -]. ].dc Sauza Mcndes - n.° 111. col. 23.
FIRE extinguishers for the Textile Industry — Translation n. 1 ^
FIRE Reinsurance Regulations - lorge do Marco Passos - n.» 108, col. n. col. 109 — n." HI, col. 65.
IN HONOUR of Dr. Jose Accioly de Sa — n.° 109, col. 17.
HULL Insurance Problems and chief events in 1957 - Translation - n.° 111. col. 107.
HUMAN relations in corporations - Paper - Herminio Augusto Far,"a - n.' 110. col. Ill.
IMPORTANCE of the electrocardiogram in assessing risks in life insurance - Paper Joiio Baptista Fcrnandcs — n.° 111, col. 99.
INFORMATION Bulletin of D.L.S. Settlement DMsion) - n.° 109, col. 113 ~ n.° 110. col. 205 - n.° 111. col. 203 - n.» 112. col. 173.
INSURANCE companies Min^munn Capital for the 7157
INSURANCE in the Amazon Valley - Especial Clauses - n. HI, col.
INSURANCE Exchange — First anniversary — n." 107, col. 3.
INSURANCE Exchange, The. . - An instrum^ent for the defense of foreign exchangeInterview — Augusto Xavier dc Lima — n. 108. col. 215.
, R.B. BvlROn ^ n.- 107, col. 177 - n.' 109, coh 209 - n.- 110. col. 187 - n.' Ill, col. 193 — n.M12. col. 177.
LAWYERS- fees in suits dealing with workmen's compensation - Paper - Antonio Costa Correa — n.° HO, col. 89.
LEGITIMATE Fight — Speech — Angelo Mai-io Cerne — n." 109, col. 27.
LIFE annuities - Translation ^ Migu-l Casfro Ramirez - n." HO, col. 139.
LLOYD'S in its new building — n." 109, col. 47.
LOSS of Profits Insurance. A Coverage still in the experimental stage - n.° 110, col. 215.
LOSS of profits Insurance, Sidelights on.. - Conference - C. Hodge — n." Ill, col. 113.
MACHINERY Insurance — Helio Meuricio P. de Almeida — n." 107. col. 95.
MANDATORY Insurance of Miscellaneous Risks — n." 110, col. 217.
MARITIME International Trade — Jose Cruz Santos — n.° 112. col. 43.
MEDICINE of Life Insurance the. — Comments on — Paper — Anfonio Aiues de Paula Azambuja — n.° HI. col. 147.
MINAS BRASIL, The 20th adversary of.. — n.° 109, col. 141.
MISCELLANEOUS Risks: Mandatory Reinsurance Plan — Comments — Jorge Cortes Prcitas — n." Ill, col. 11.
MISCELLANEOUS ri.sks porfolio — An instrument for the defense of foreign exchange and the strengthening of the insurance market — Egas Moniz Santhiago — a." Ill, col. 3,
MULTIPLE risk crop insurance — Cleveland di Andrade Botelho — n.° IH, col. 39.
N' 112 DEZEMBRO DE 1958
REVISTA DO I.R.B.
NEW Division of the Aeronautical and Automob'le Division — n." 109, col. 139.
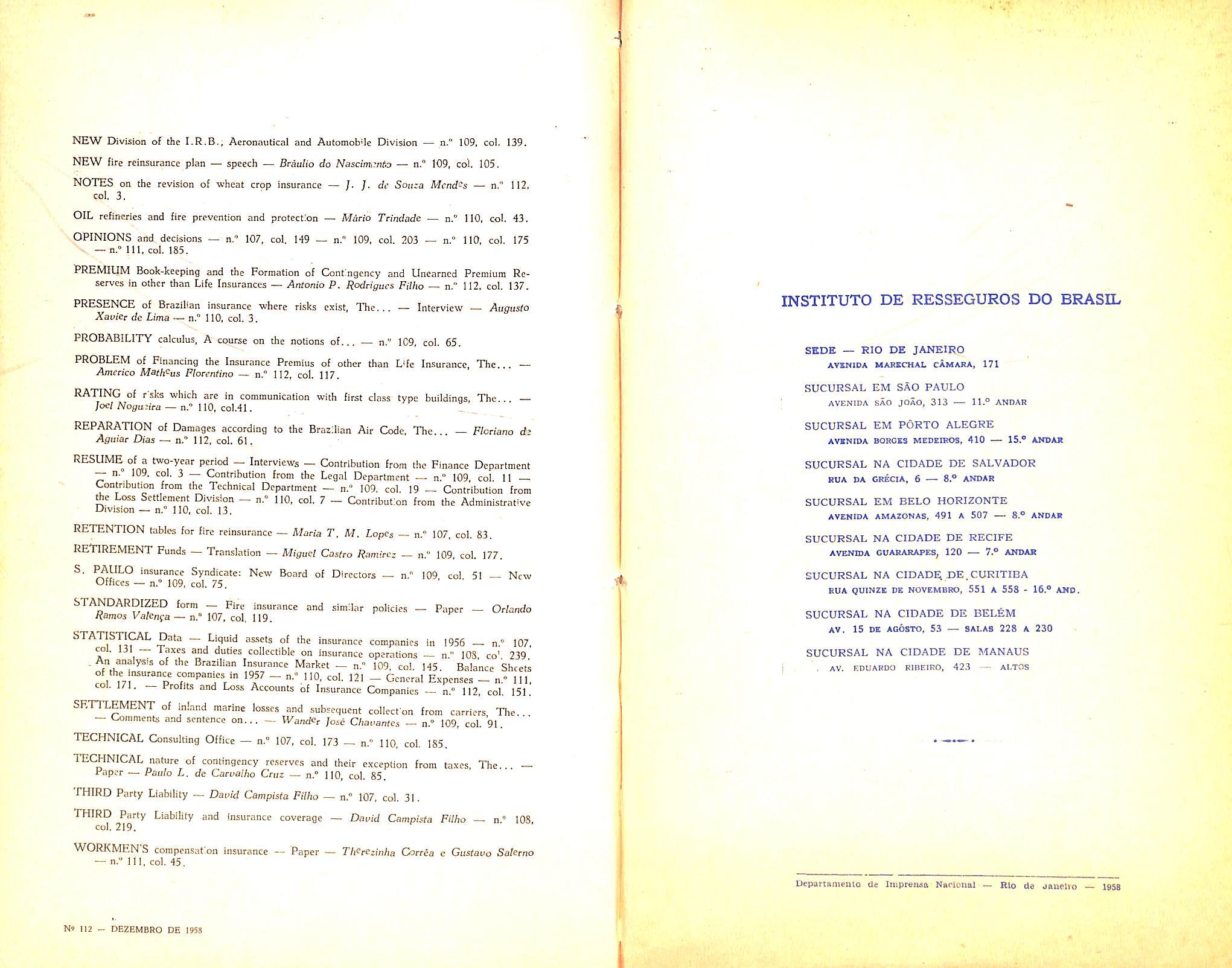
NEW fire rein£urance plan — speech — Braulio do Nasc!m:nto — n." 109, col. 105.
NOTES on the revision of wheat crop insurance — J. ]. dc Souza Mcnd-s col, 3, n," 112.
OIL refineries and fire prevention and protection — Mario Tcindade — n.° 110, cpl. 43.
OPINIONS and decisions — n." 107, col 149 ~ n,° 111. col, 185. n," 109, col. 203 ~ n." 110, col. 175
Premium Book-keeping and the Formation of Contingency and Unearned Premium Re serves in other than Life Insurances — Antonio P. Podrigucs Filho — n," 112, col, 137.
PRESENCE of Brazilian insurance where risks exist. The,.. — Interview Augasfo Xaviee de Lima — n," 110, col. 3,
PROBABILITY calculus, A course on the notions of... — n," 1C9, col, 65.
PROBLEM of Financing the Insurance Premius of other than L'fe Insurance The America Math^us Plorcntino — n." 112, col. 117.
RATING of rsks which are in communication with first class type buildings, The,, , Joel NoguUra — n." 110, col.41.
REPARATION of Damages according to the Brazilian Air Code, The... — F/cr/ano d' Agaiar Dias — n." 112, col. 61.
RESUME of a two-year period — Interviews — Contribution from the Finance Department — n, 109. col, 3 — Contribution from the Legal Department ~ n." 109. col, 11 Contribution from the Technical Department — n," 109, col, 19 — Contribution from ^e Loss Settlement Division - n.° 110, col. 7- Contribution from the Administrative Division — n." 110, col. 13,
RETENTION tables for fire reinsurance — Maria T. M. LopCs n." 107, col. 83.
RETIREMENT Funds — Translation — Miguel Castro Ramirez — n." 109, col, 177.
insurance Syndicate: New Board of Directors — n." 109 col 51 New Offices — n." 109, col, 75,
STANDARDIZED form — Fire insurance and similar policies — Paper — Orlando Ramos Valenfa — n," 107, col, 119.
ATISTICAL Data — Liquid assets of the insurance companies in 1955 — n." 107, CO. 131 Taxes and duties collectible on insurance operations — n." 108, co' 239 .An analysis of the Brazilian Insurance Market — n." 109. col, 145. Balance Sheets of the insurance companies in 1957- n.= IIO, col. 121 - General Expenses - n." ill, col. 171. — Profit.s and Loss Accounts of Insurance Companies — n." 112 col 151
SETTLEMENT of inland marine losses and subsequent collccfon from carriers The... ~ Comments and sentence on,.. — Wander Jose Chaoantes — n." 109, col. 91.
TECHNICAL Consulting Office — n." 107, col, 173 — n.° 110, col. 185
TECHNICAL nature of contingency reserves and their exception from taxes, The... Paper — Paulo L. de Cacvalho Cruz — n.® 110, col. 85
miRD Party Liability — Dauld Campista Filho — n," 107, col. 31.
THIRD Party Liability and insurance coverage — Dauid Campista Filho n" 108 col, 219.
WORKMEN'S compensafon insurance — Paper — TMrezinha Correa e Gustavo SaUrno — n." Ill, col. 45,
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO ERASE.
SEDE — RIO DE JANEIRO
AVXMIDA MAKXCHAL cAmABA, 171
SUCURSAL EM SAO PAULO
AVENIDA SAO JOAO, 313 — 11." ANDAR
SUCURSAL EM PORTO ALEGRE
AVBNIDA BORCBS MEDgrPOS, 410 — 15." ANSAK
SUCURSAL NA CIDADE DE SALVADOR
KUA DA CRECIA, 6 — 8." ANDAR
SUCURSAL EM BELO HORI20NTE
AVENIDA AMAZONAS, 491 A 507 — 8.® ANDAR
SUCURSAL NA CIDADE DE RECIFE
AVENDJA GUARARAPES, 120 — 7." ANDAR
SUCURSAL NA CIDADE.DE,CURITIBA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 551 A 558 - 16." AND.
SUCURSAL NA CIDADE DE BELEM
AV. IS DE AGOSTO, 53 — SALAS 228 A 230
SUCURSAL NA CIDADE DE MANAUS
AV. EDUAHIK) FinEIItO, 423 — Al.TOS
Departnmeuto de Imprensa Ndclcnal ~ Bio da dauctvo 19SS
N' 112 — DEZEMBRO DE 1958 if' \ d -.X 'T '.l M •I
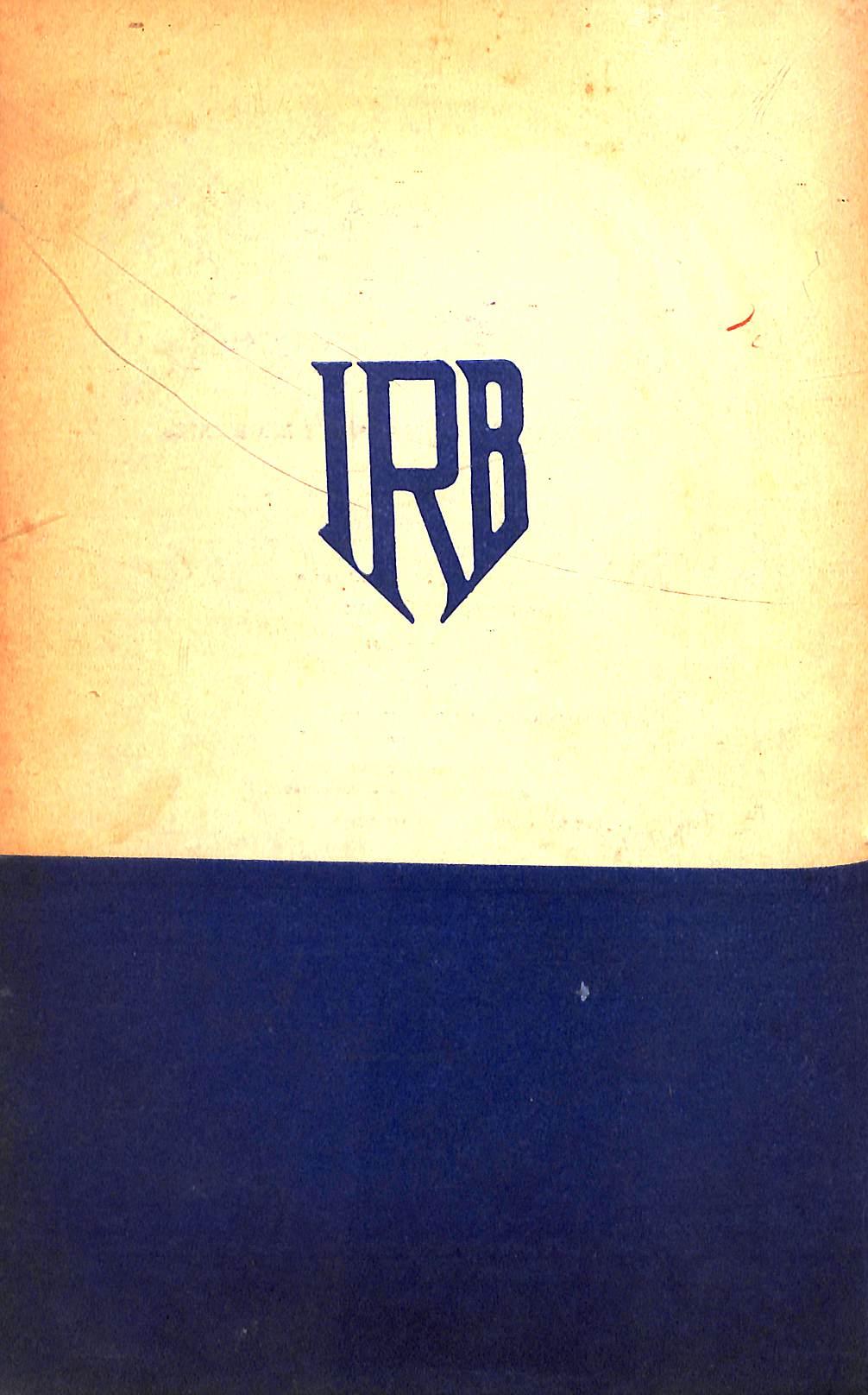
• • \ ' iV ,, !lf' • ".■*J VJ .'>'11 '."♦V •'i'J 'va ■ii vy„ ."V .H/' • i .'_ 'V>
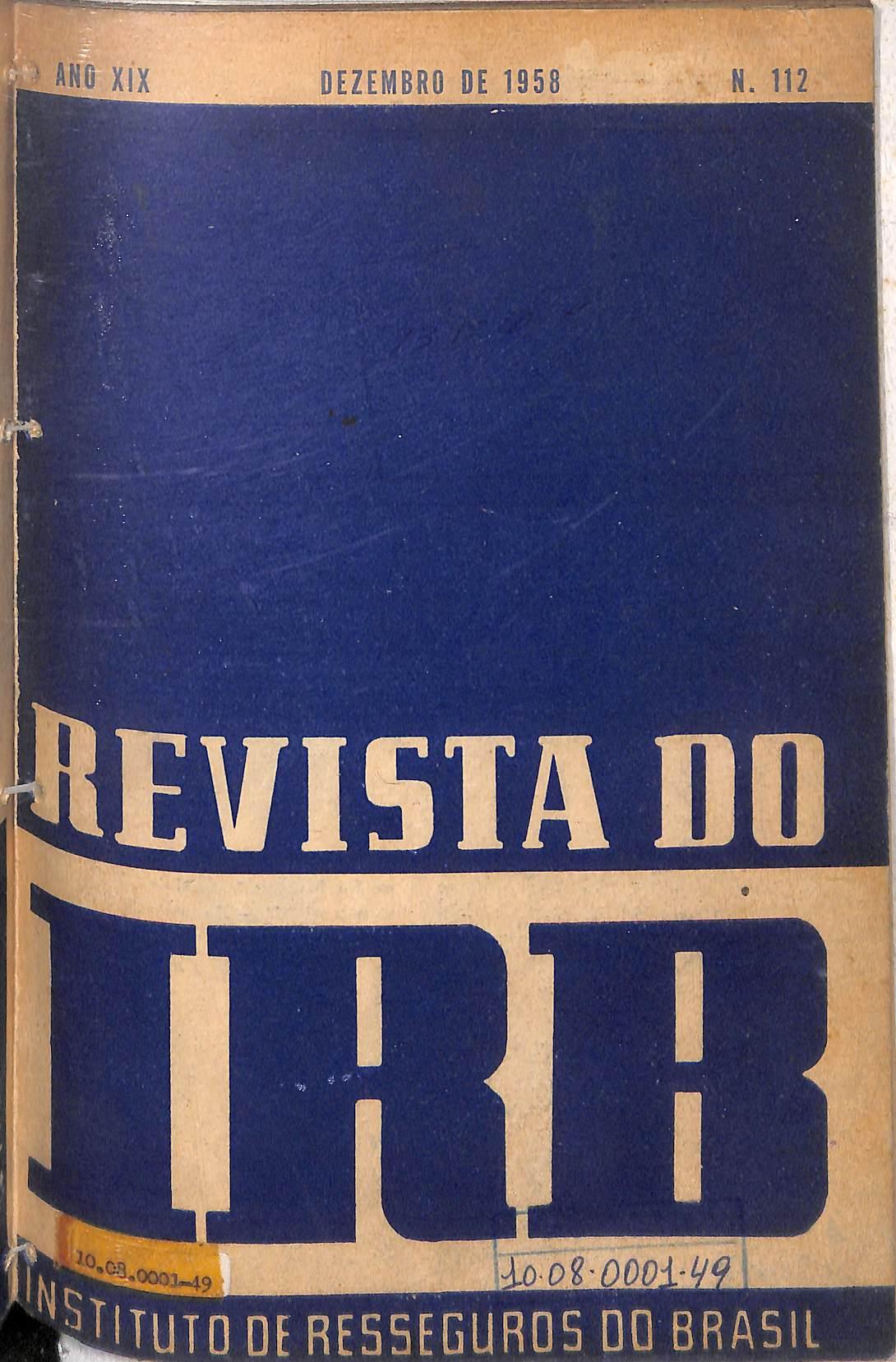
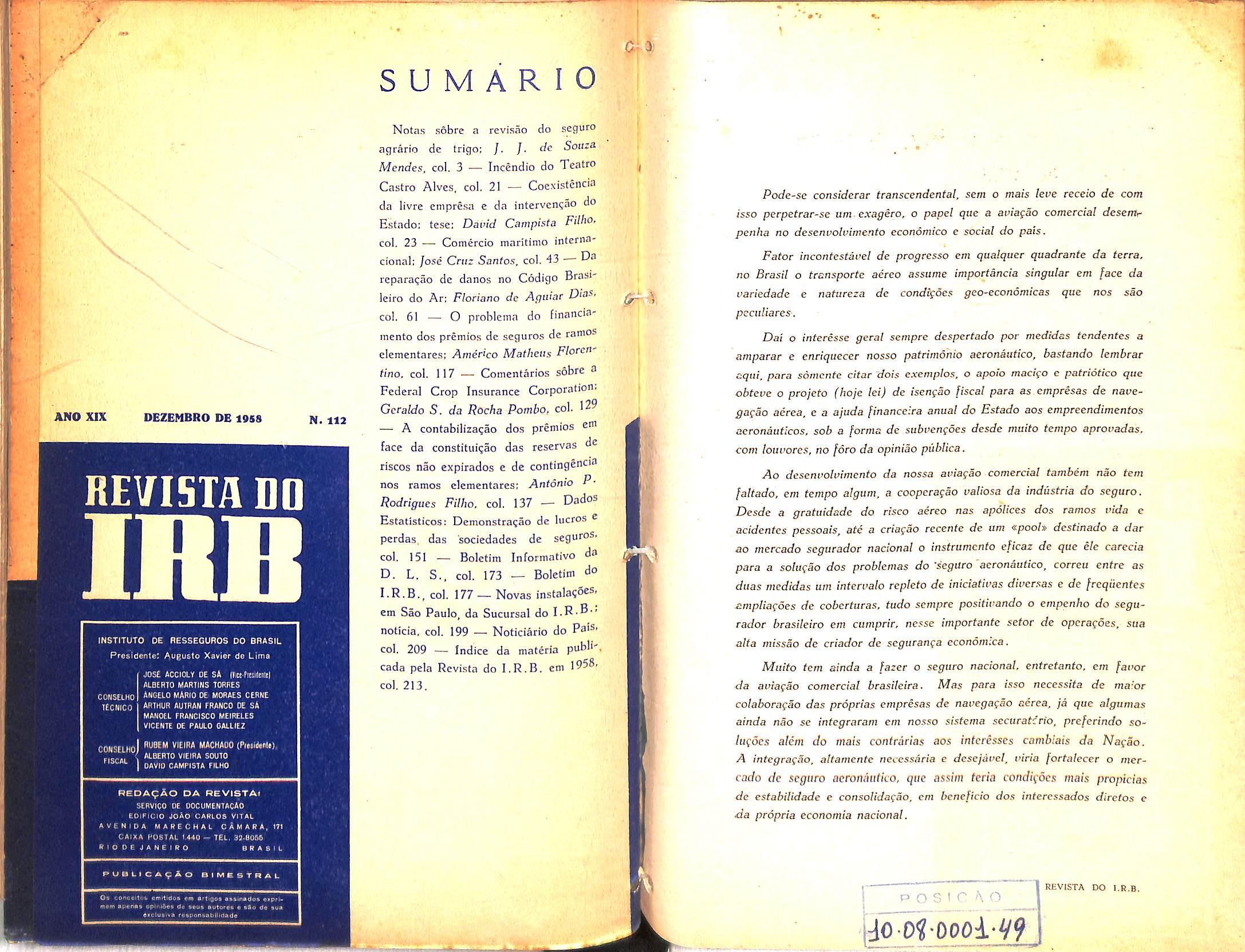

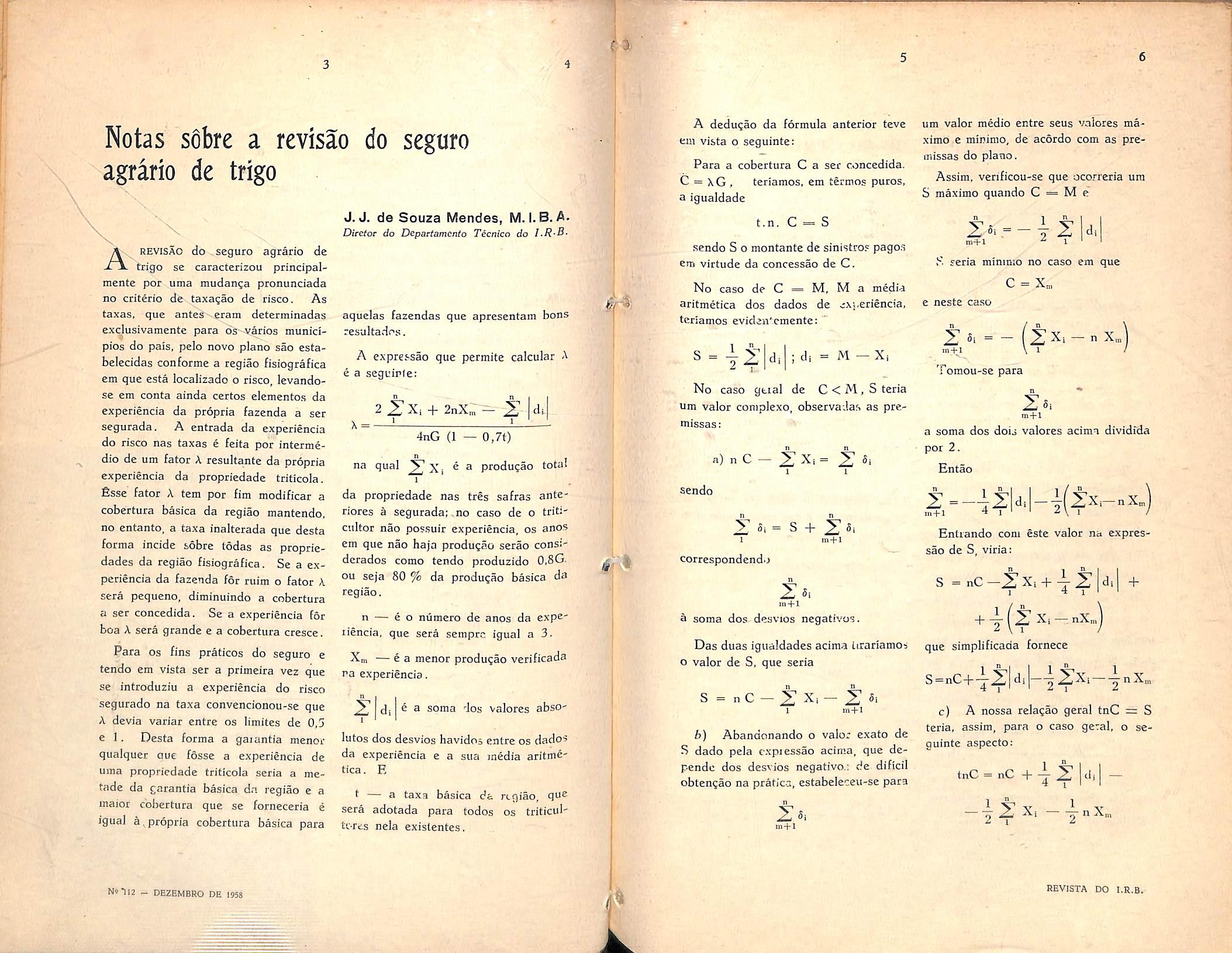
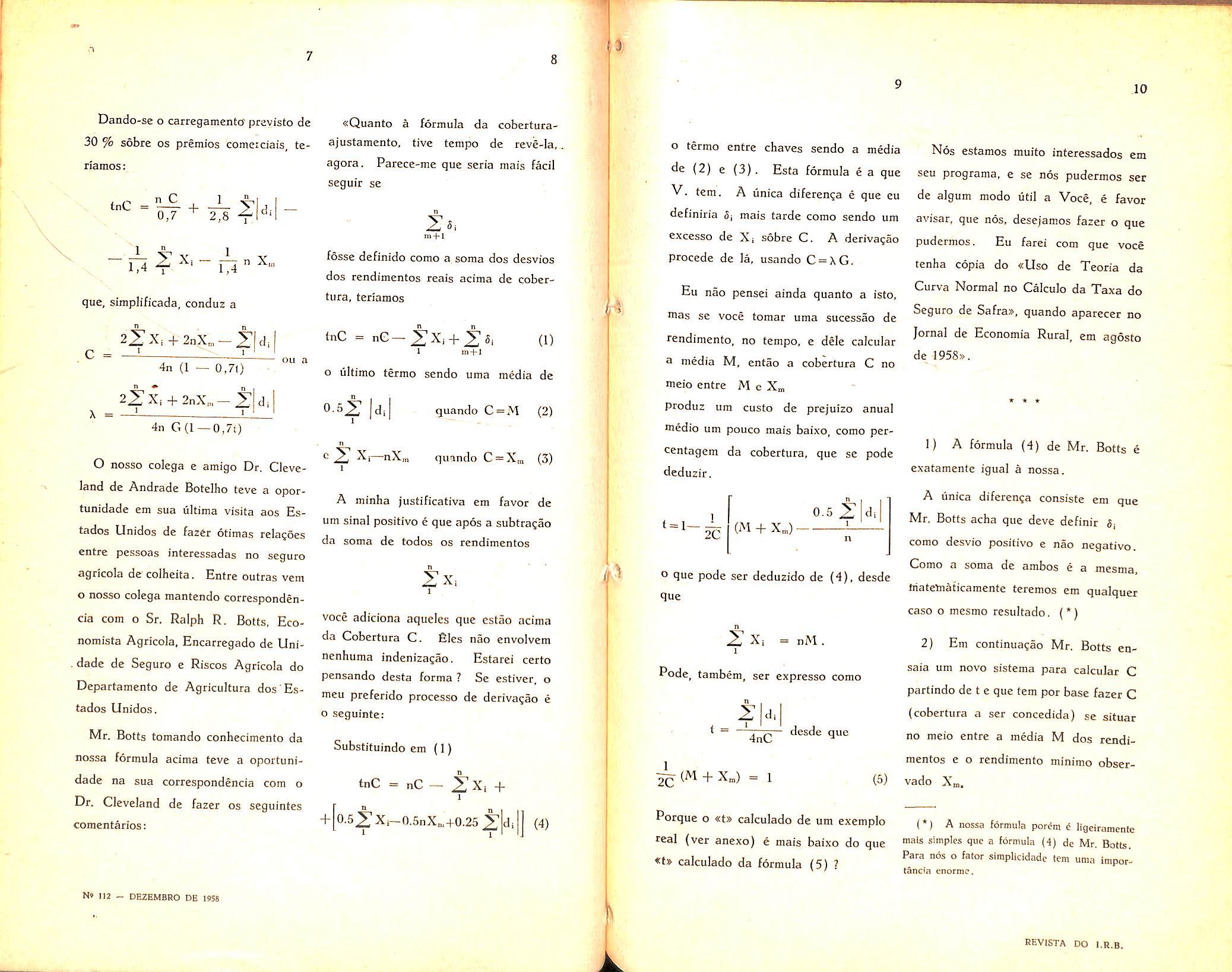
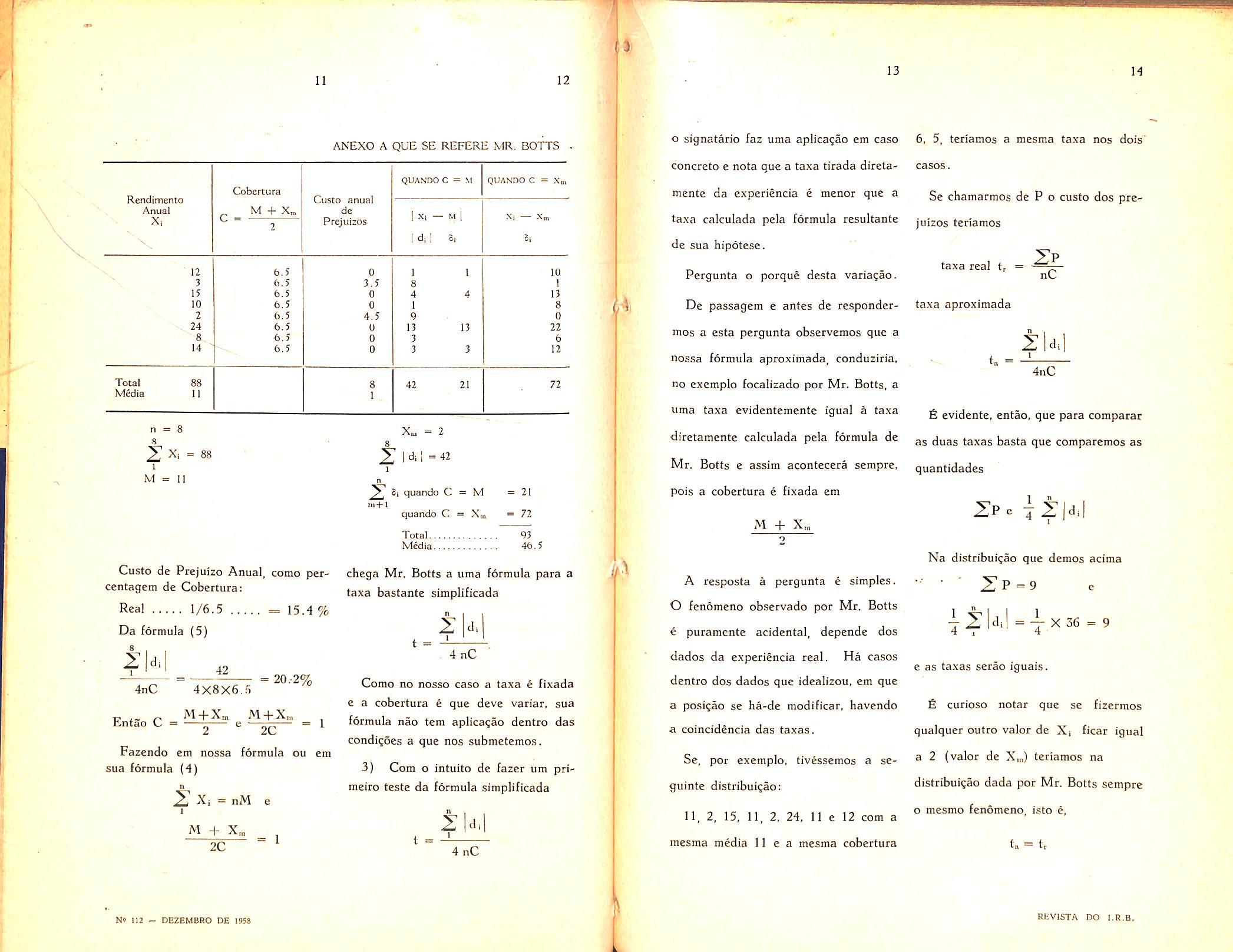
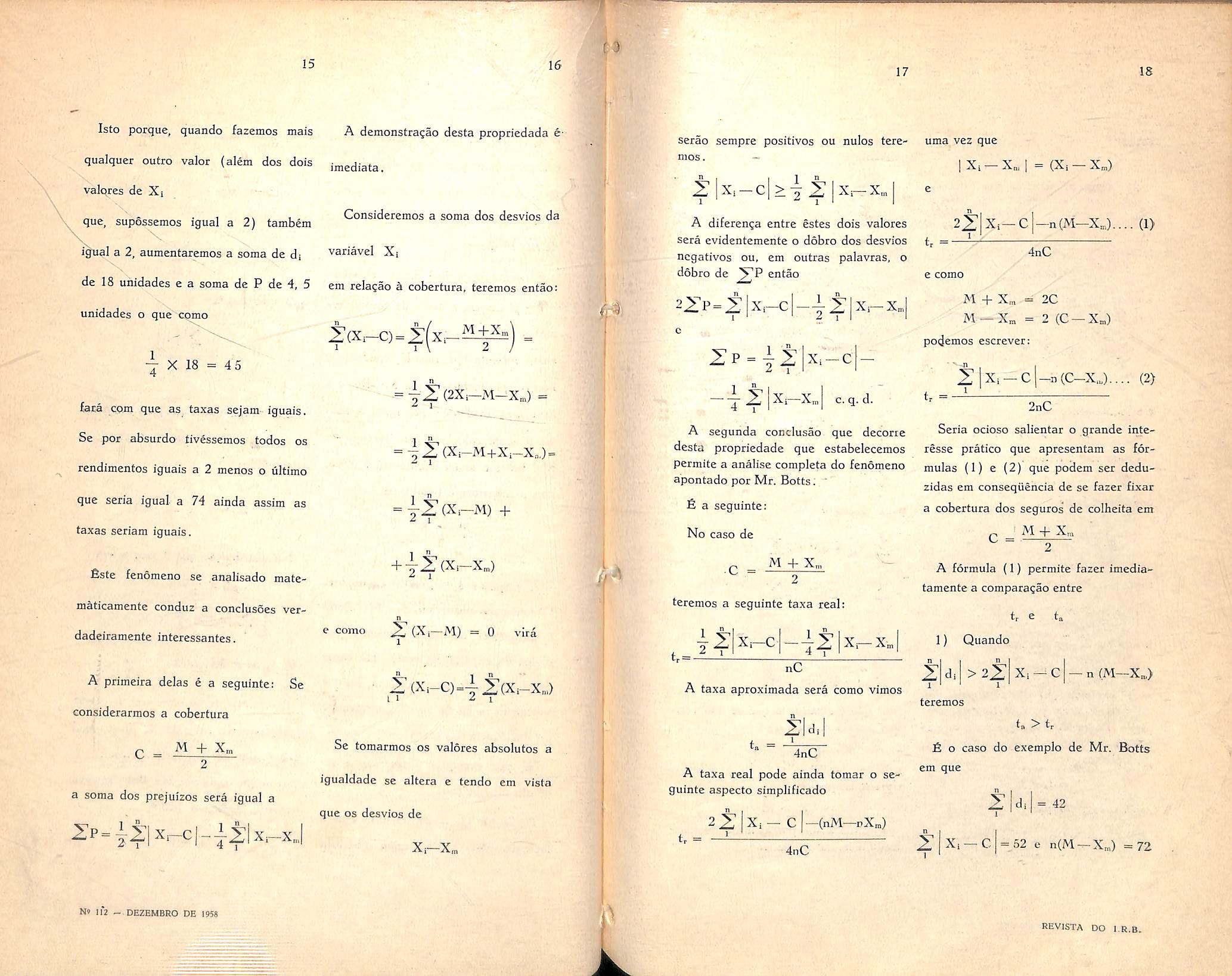
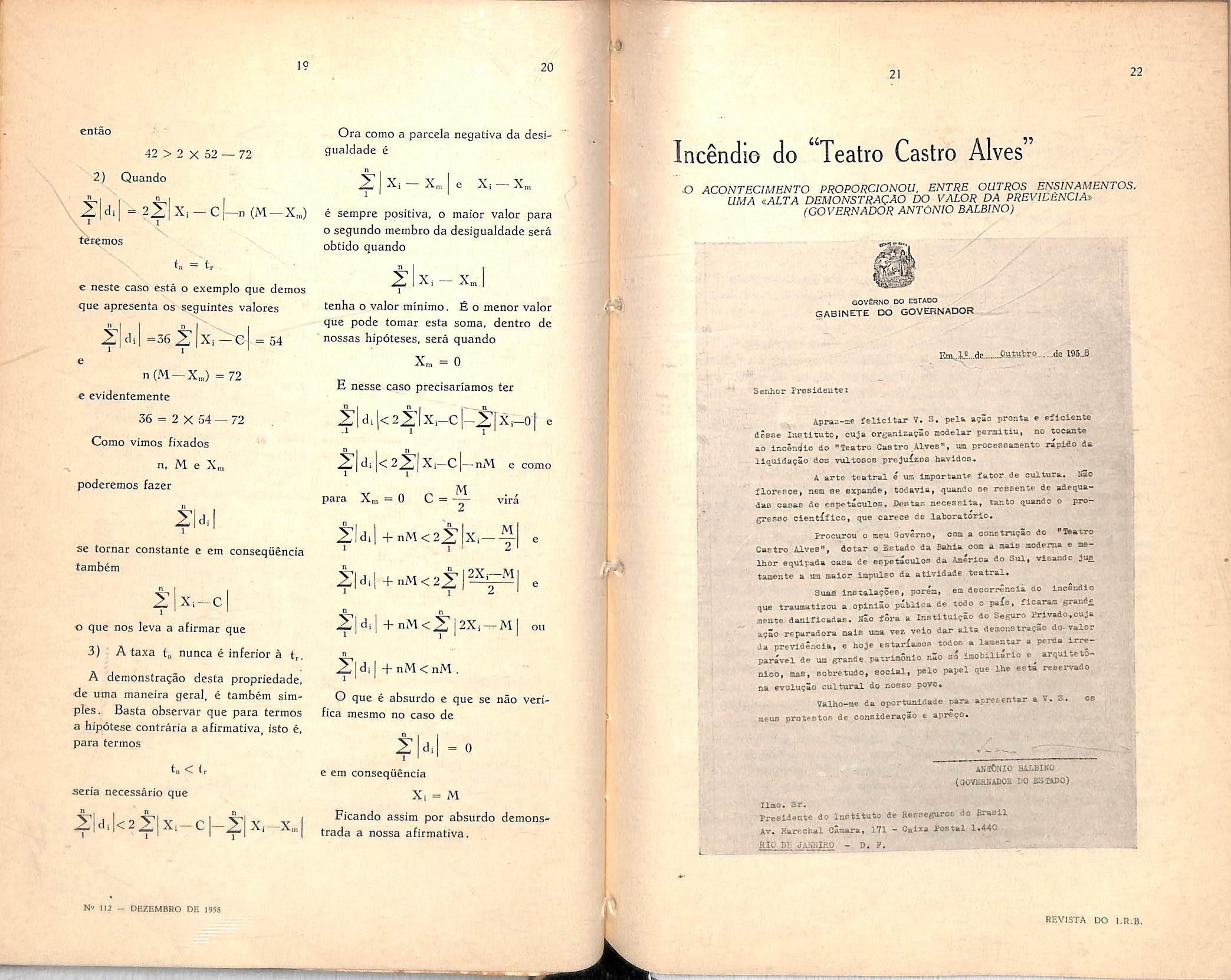
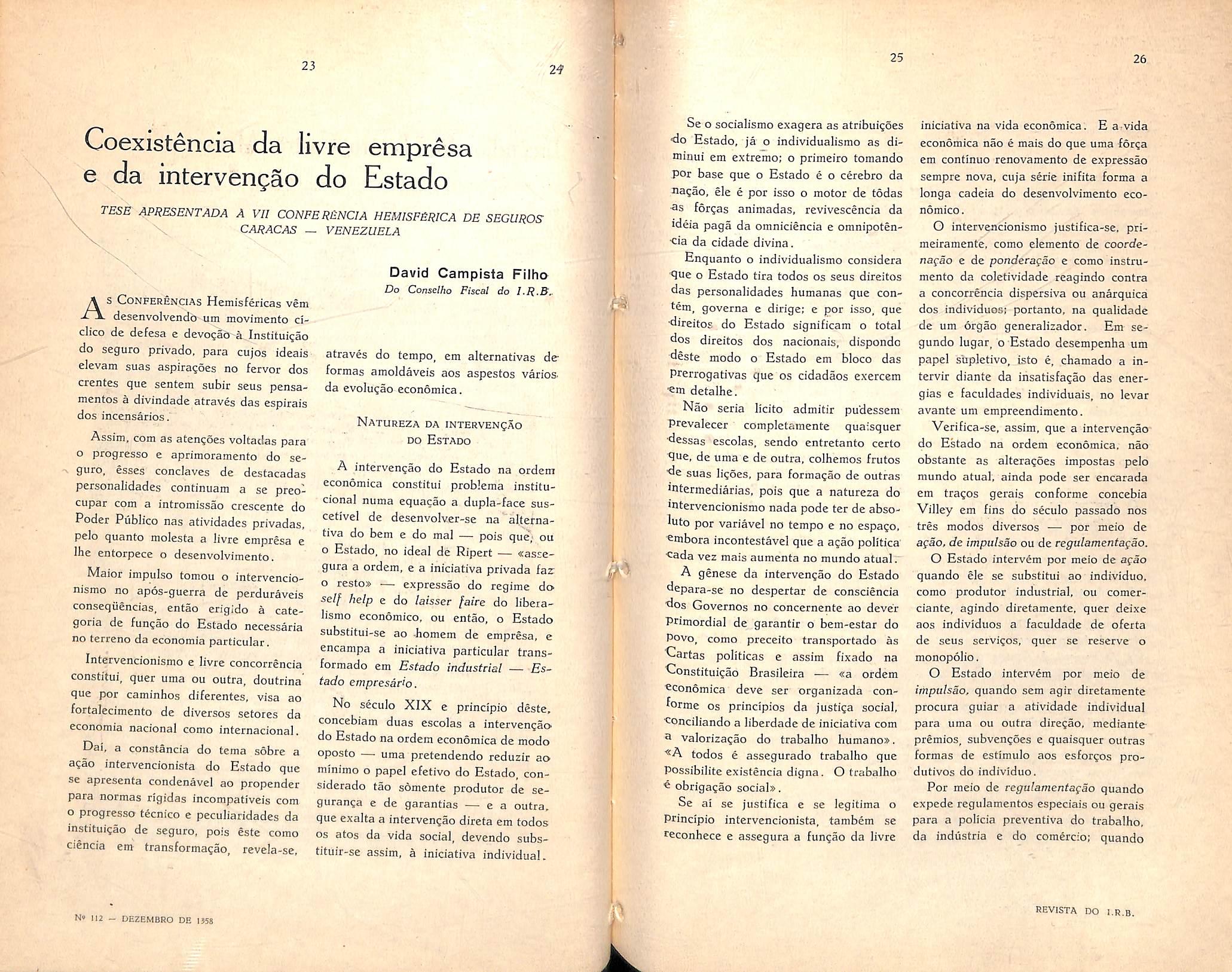
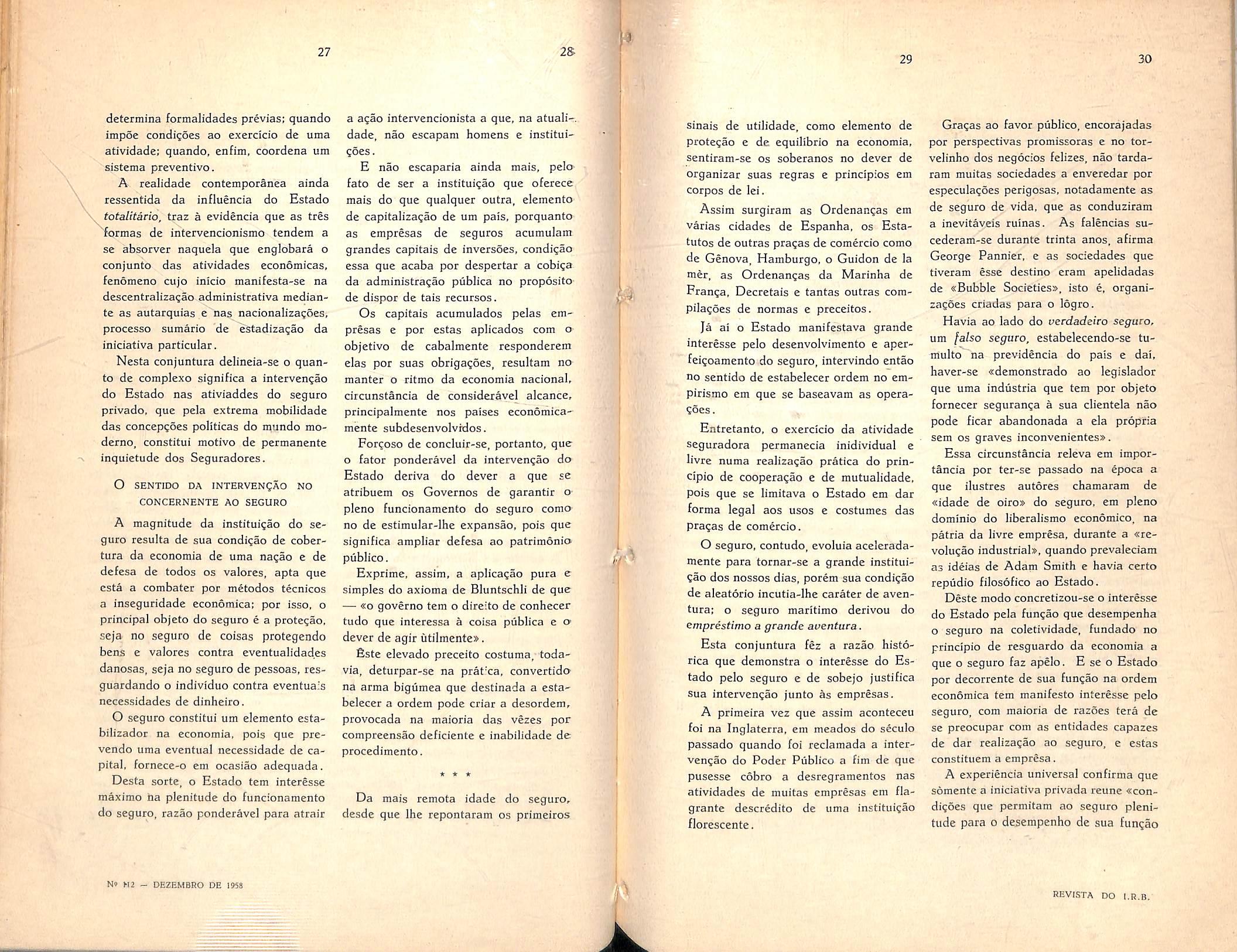
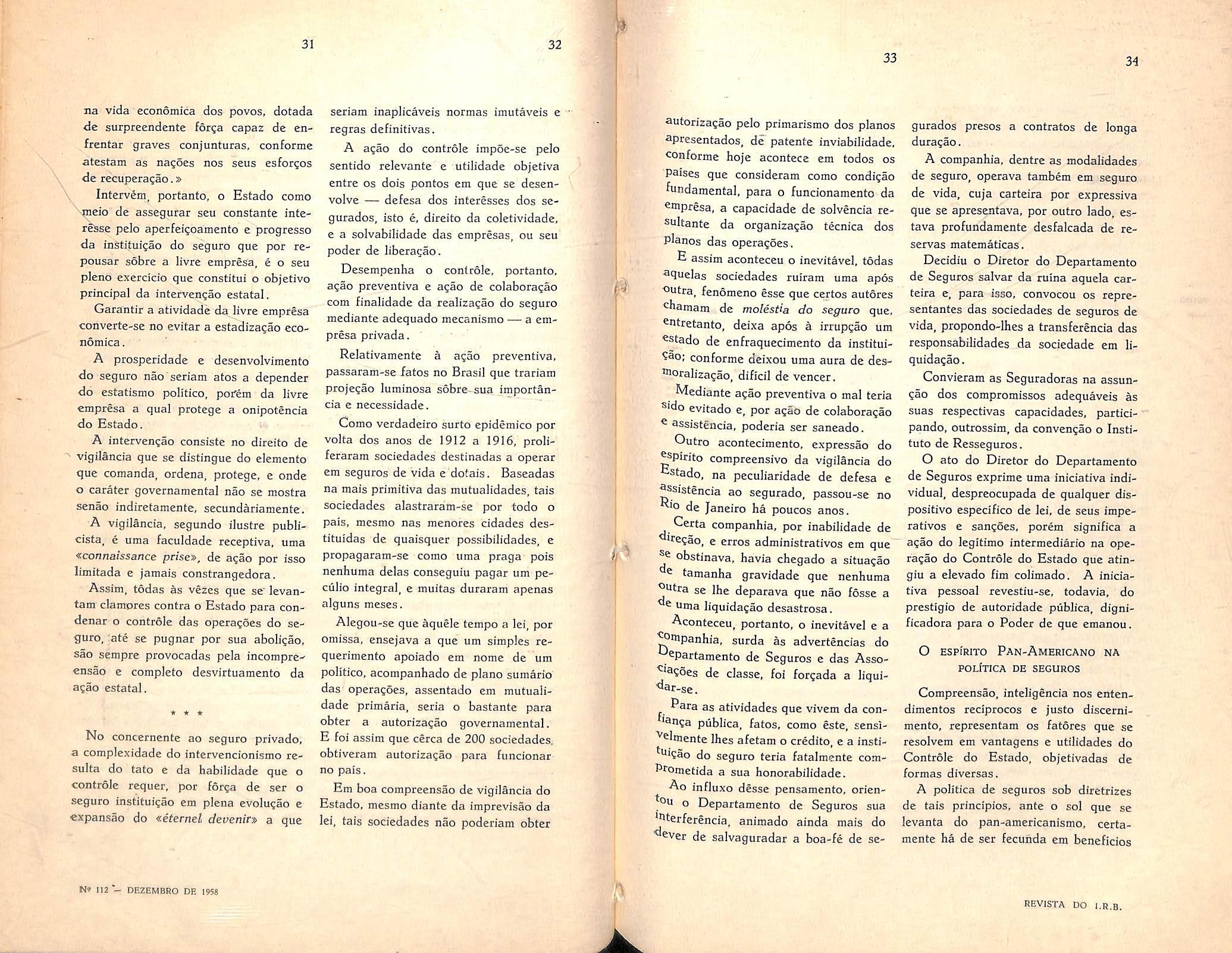
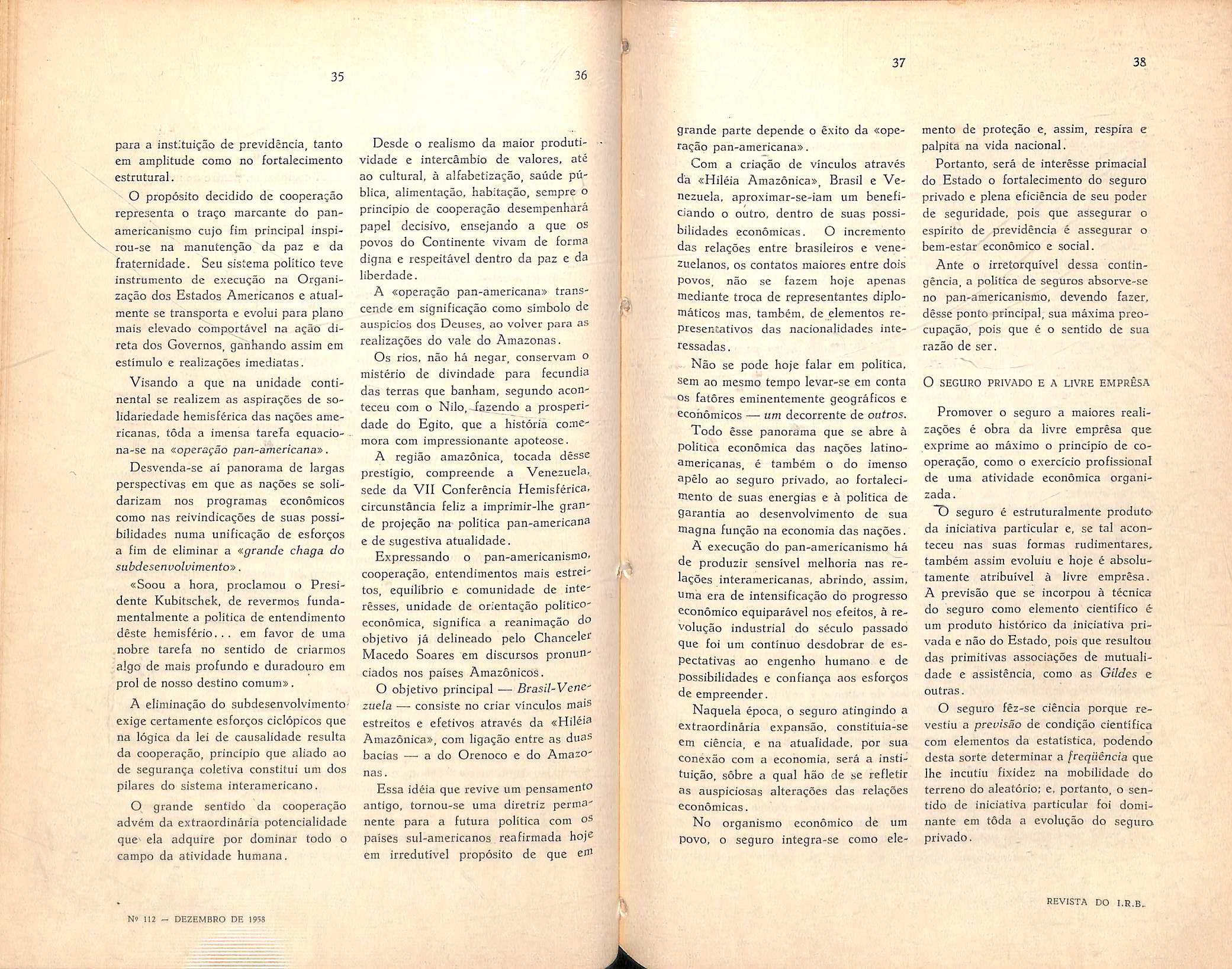
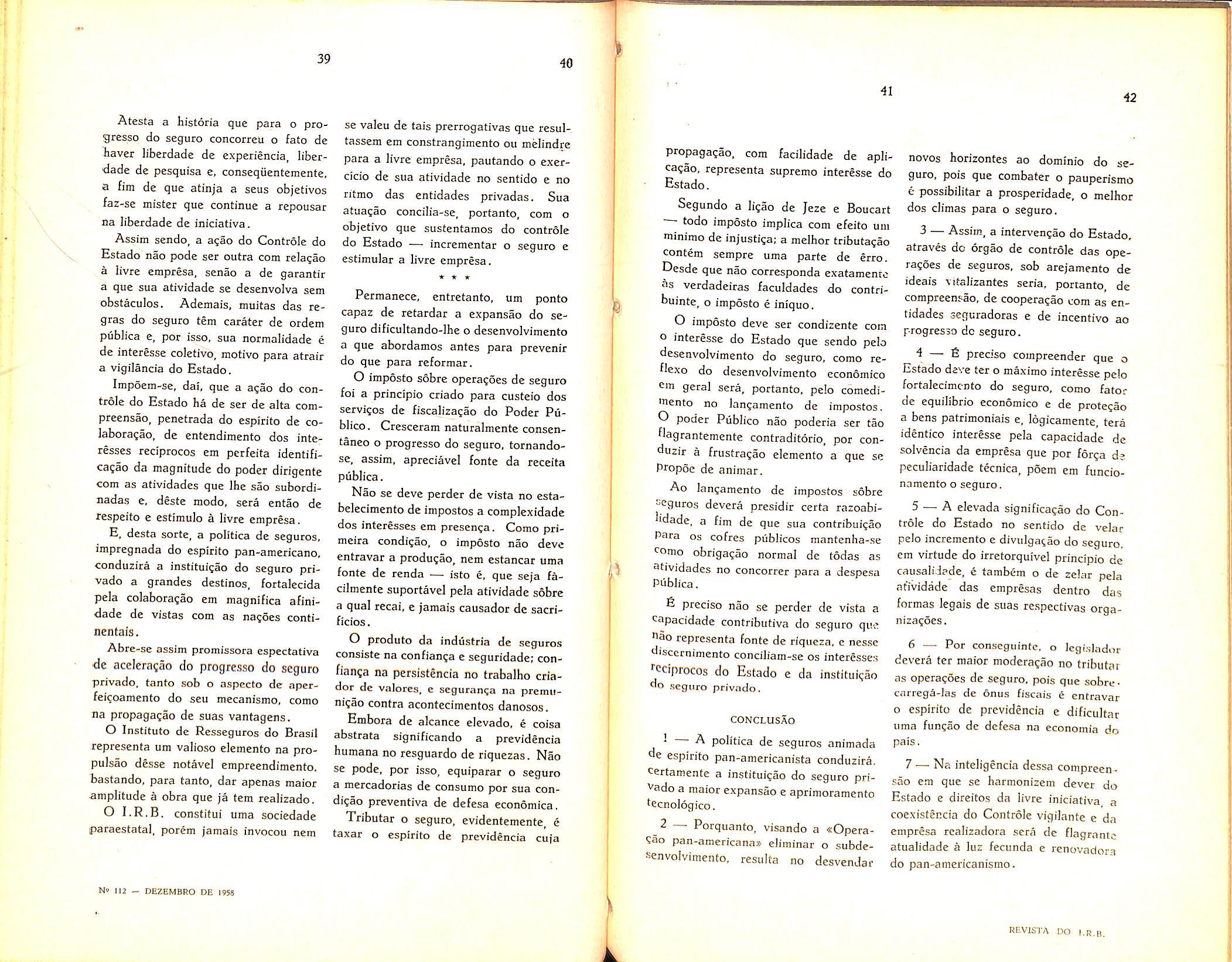
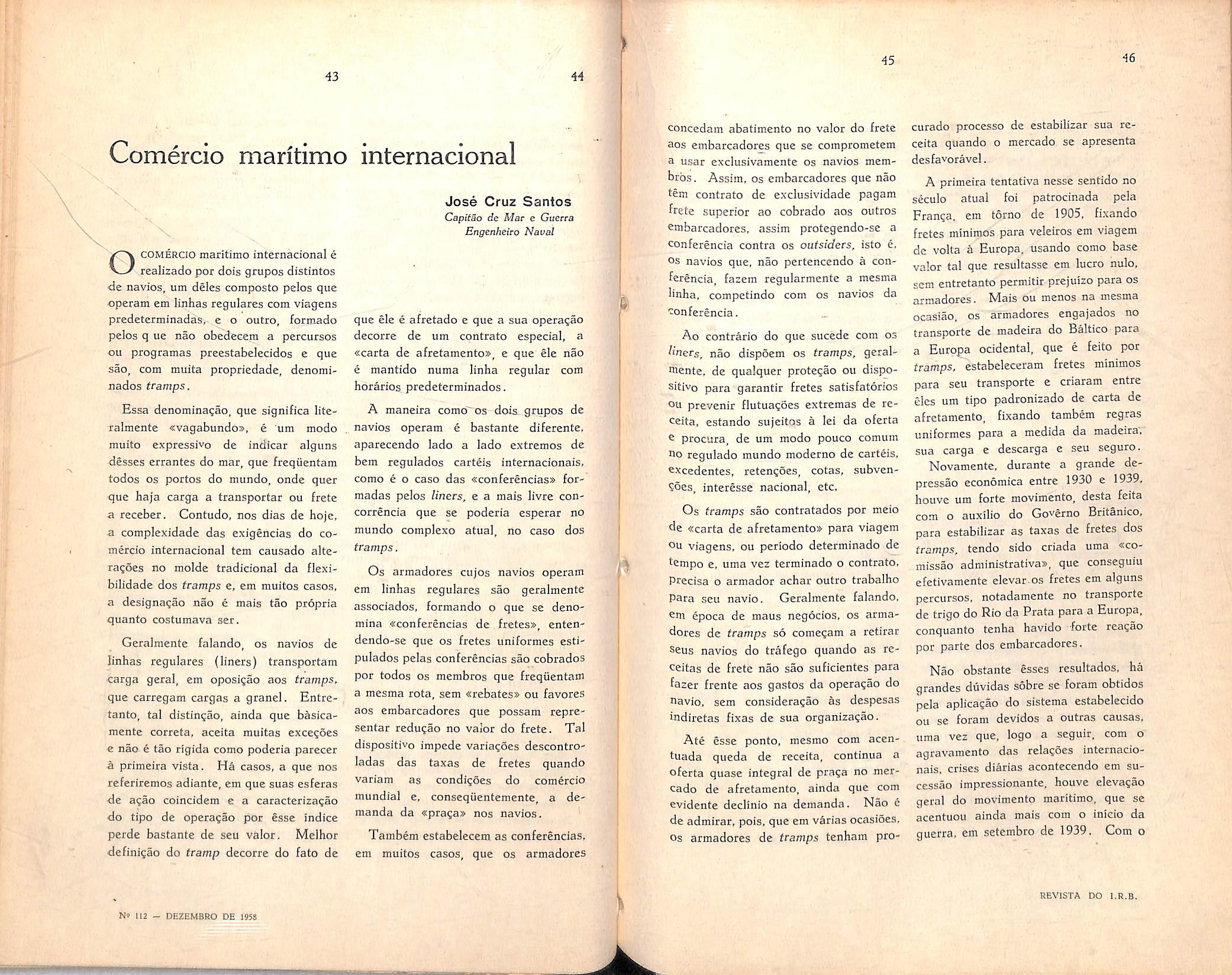
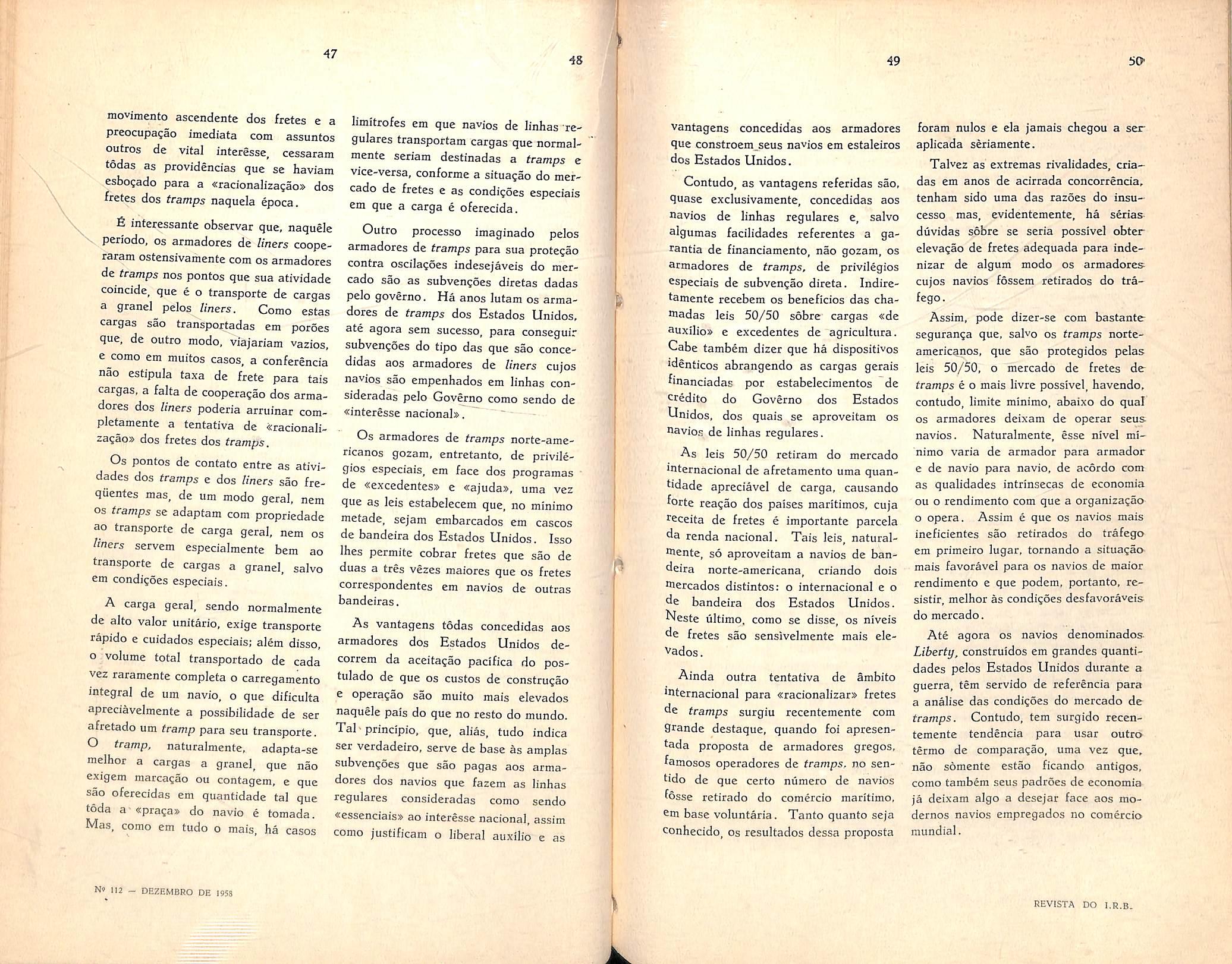
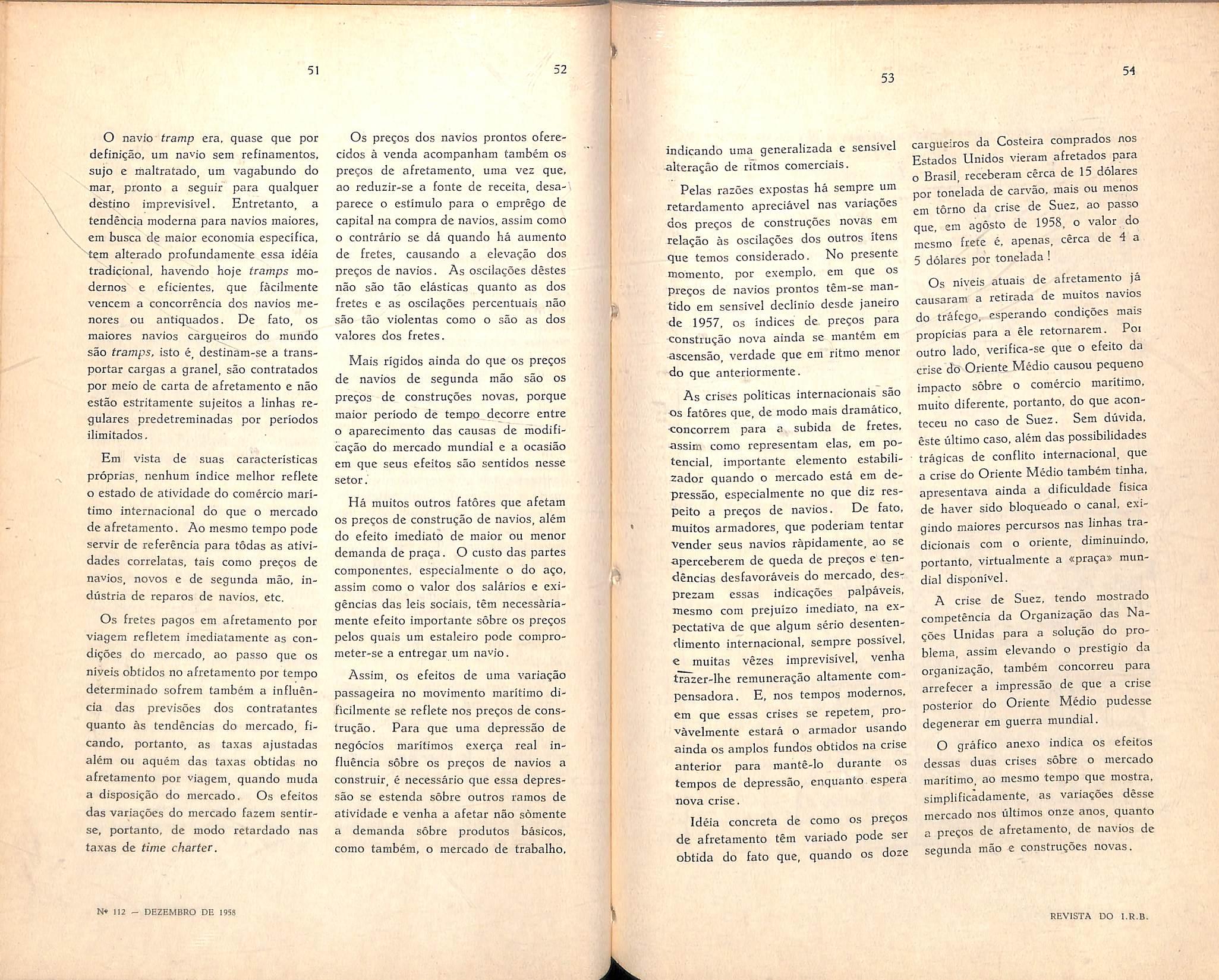
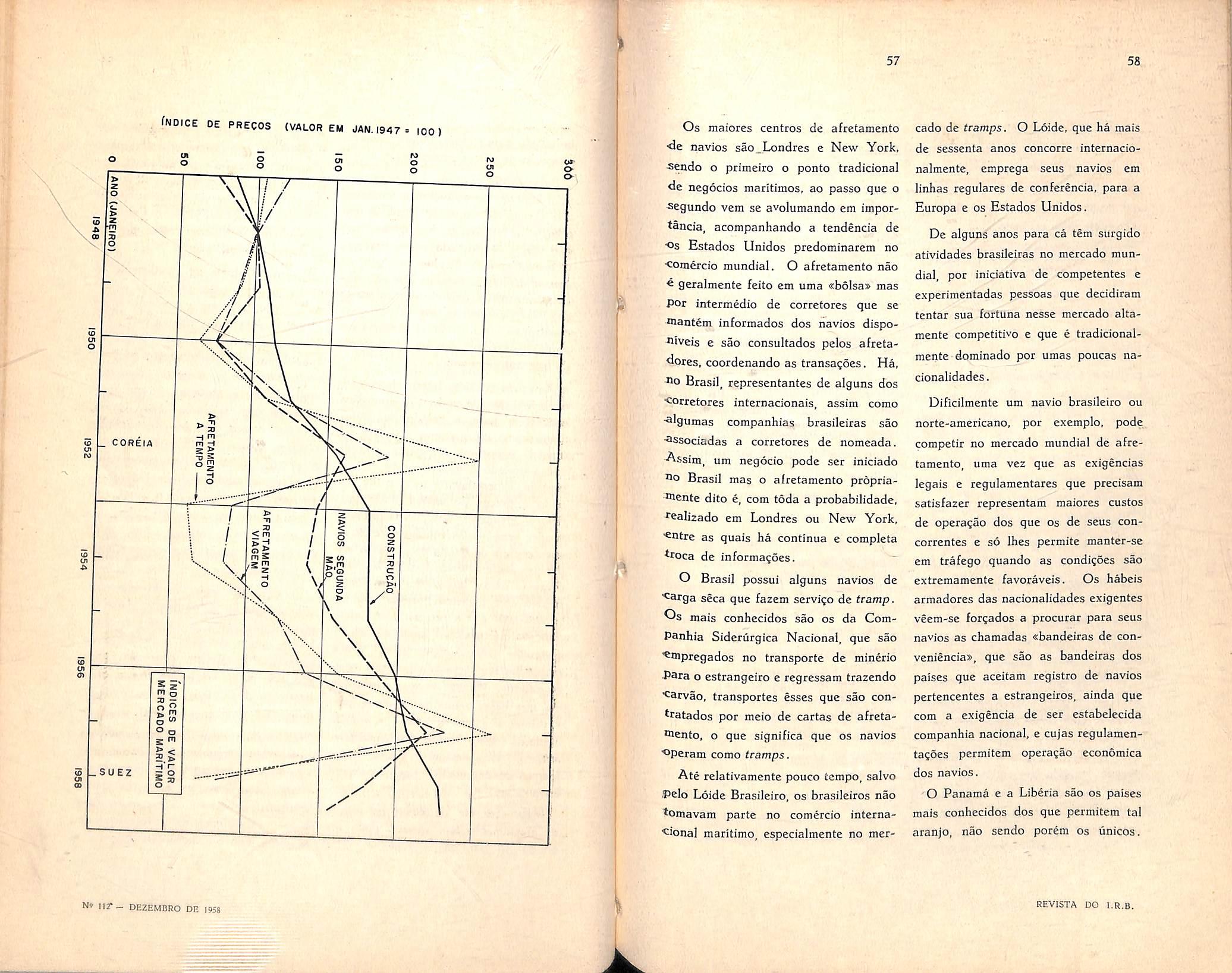
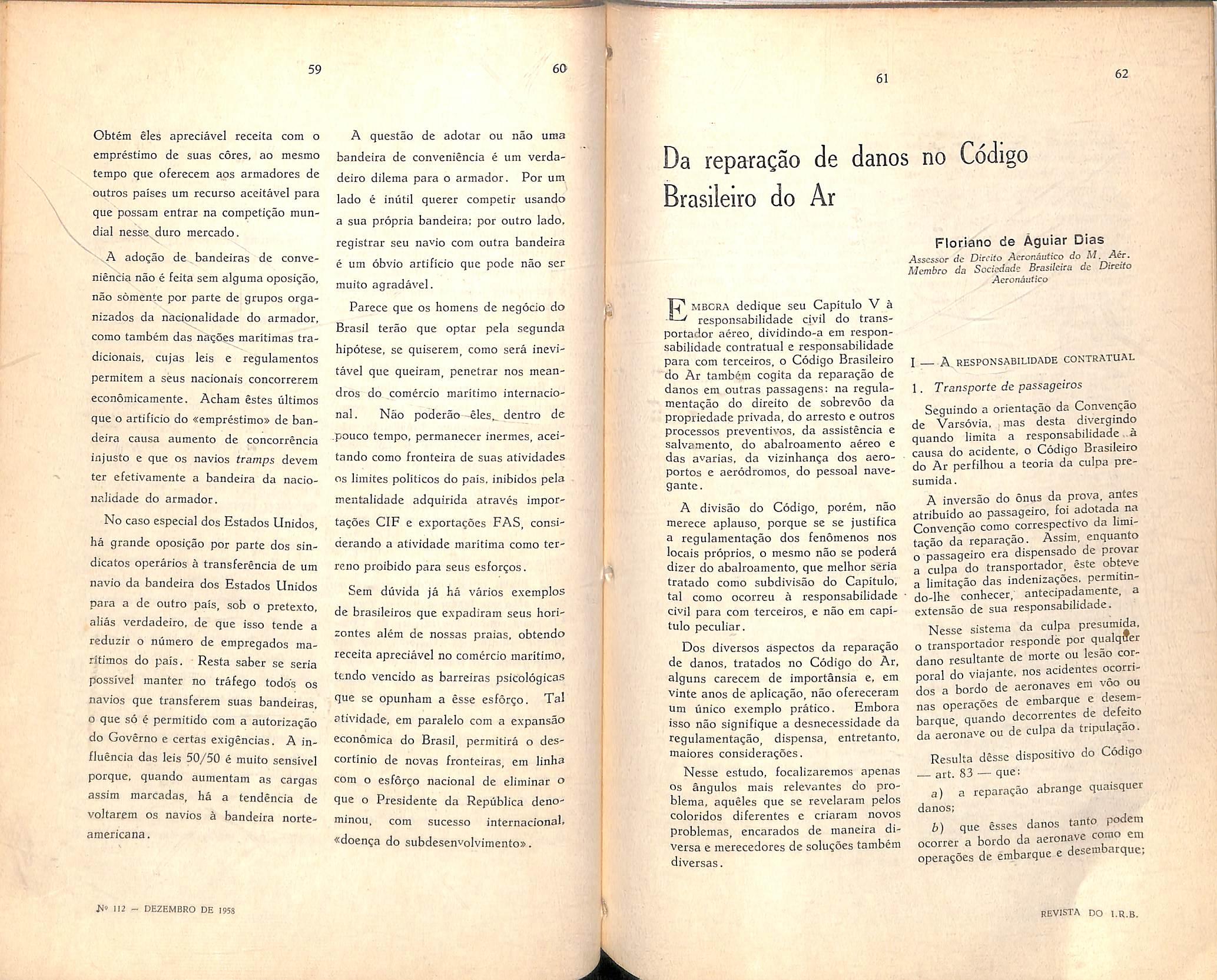
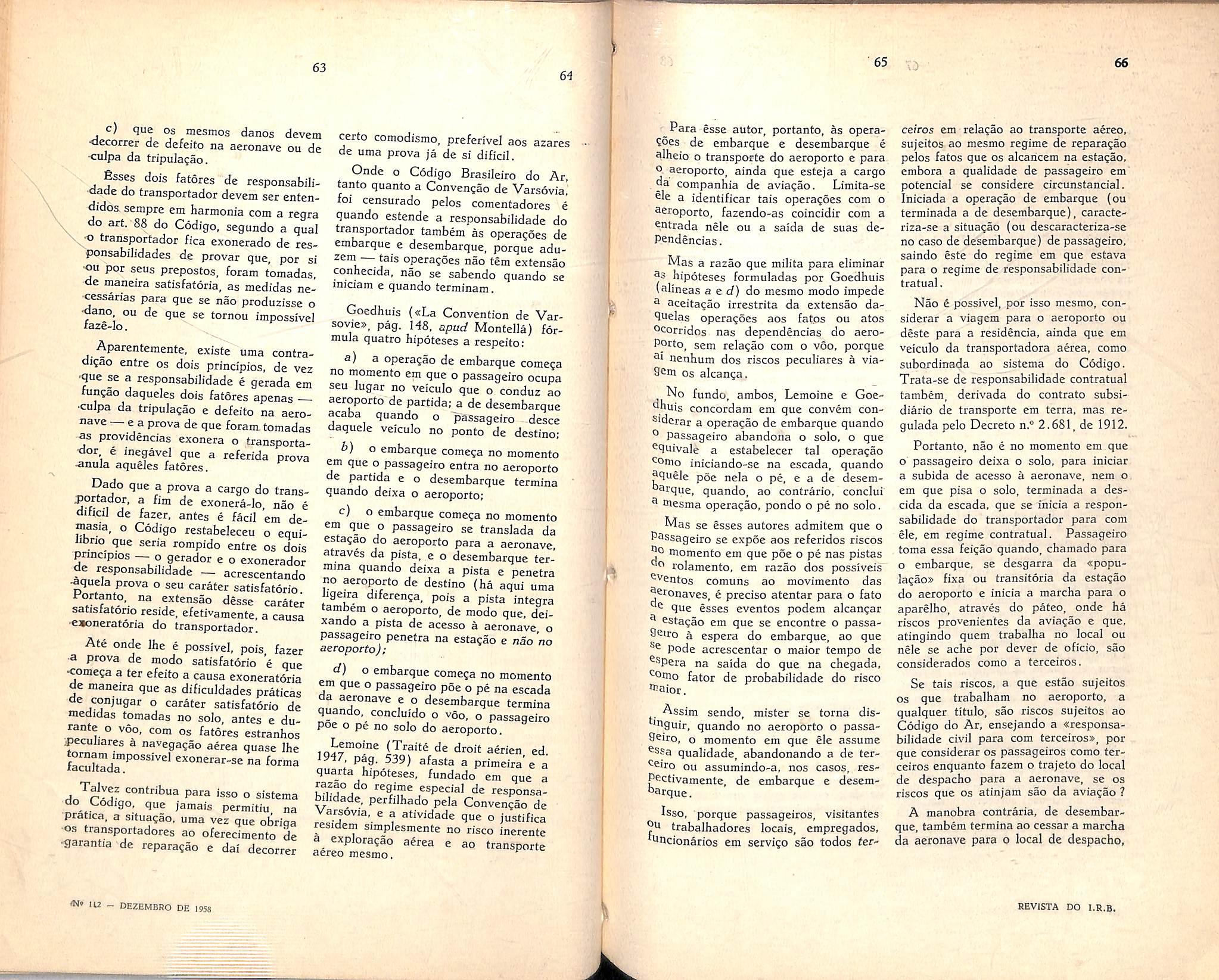
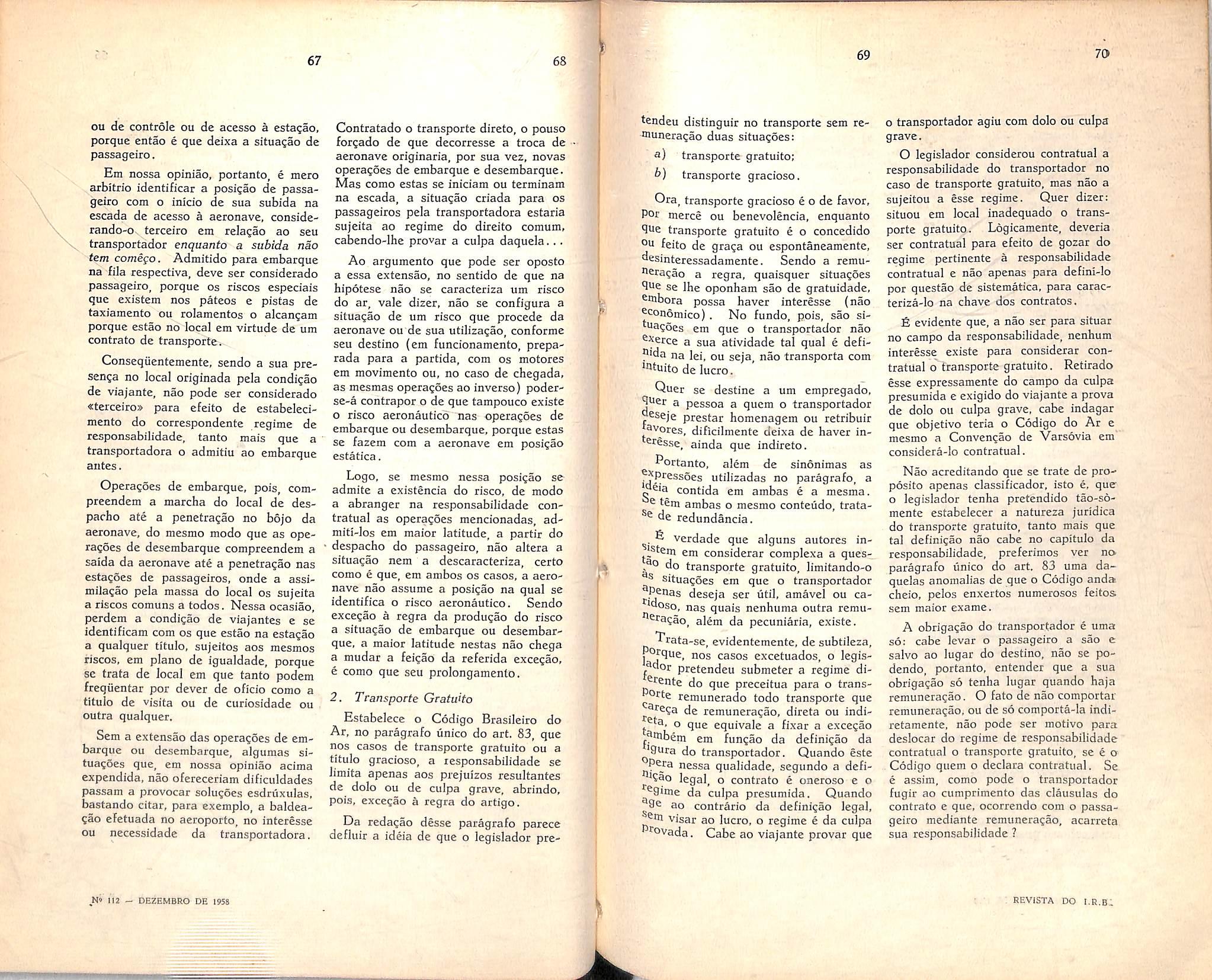
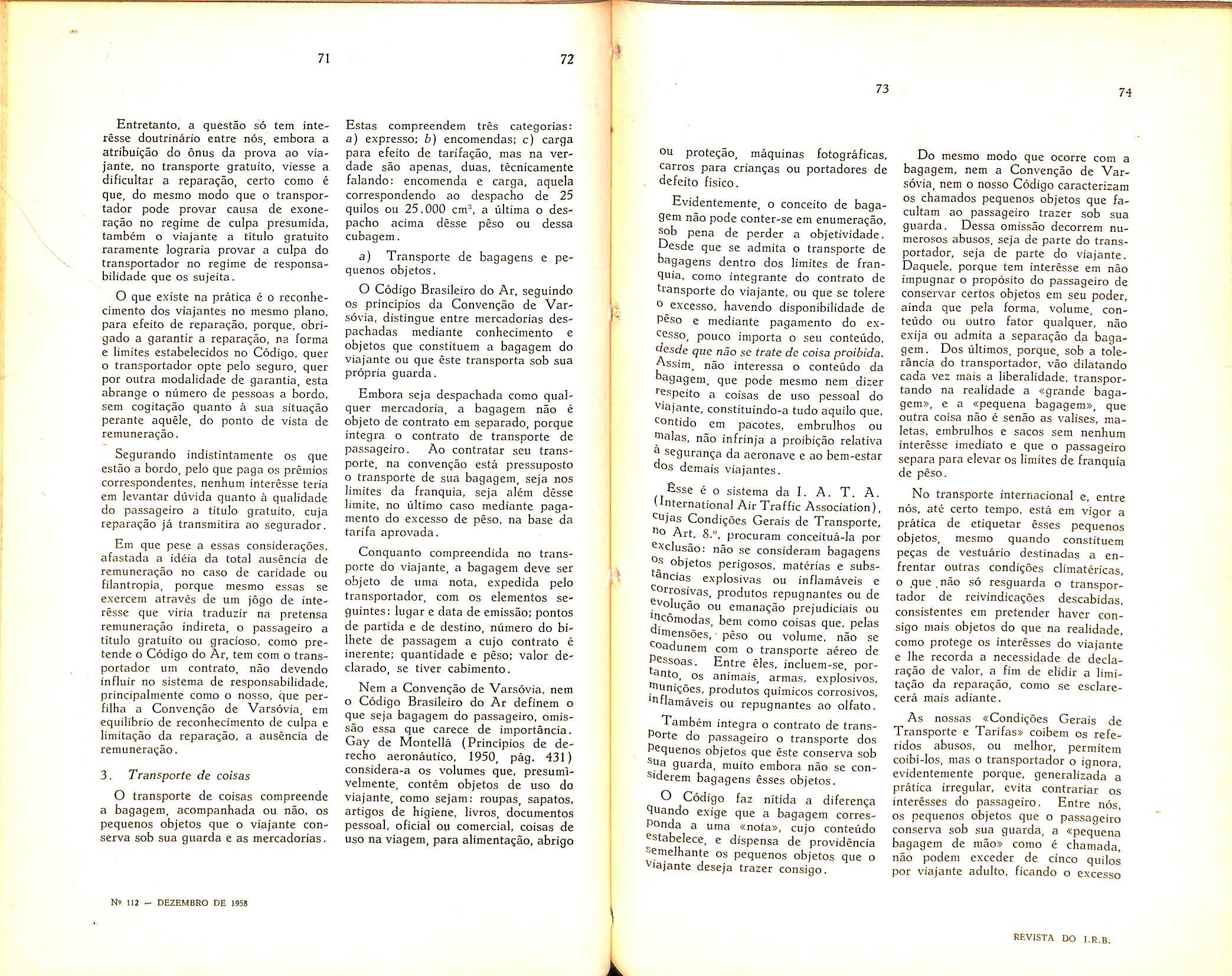
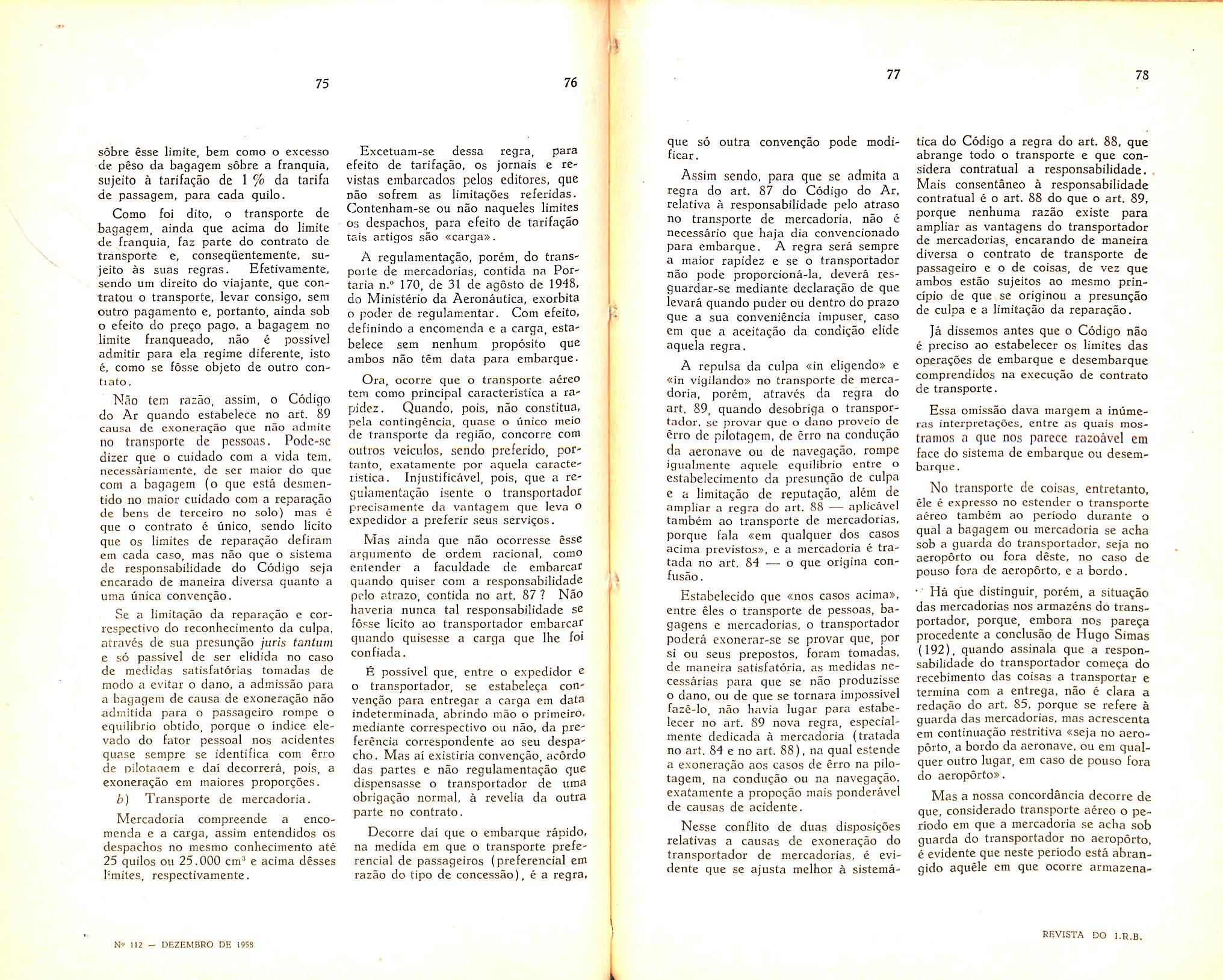
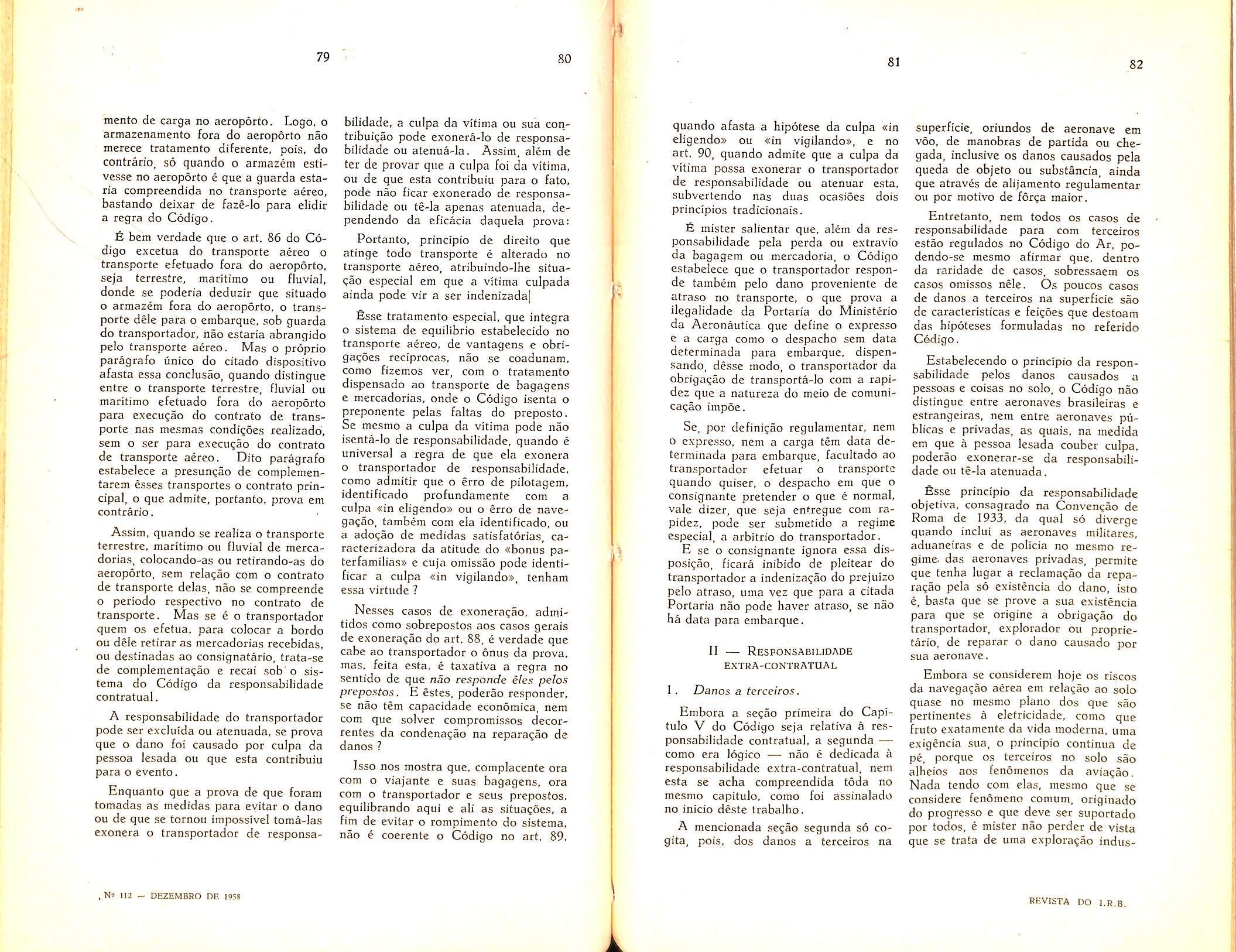
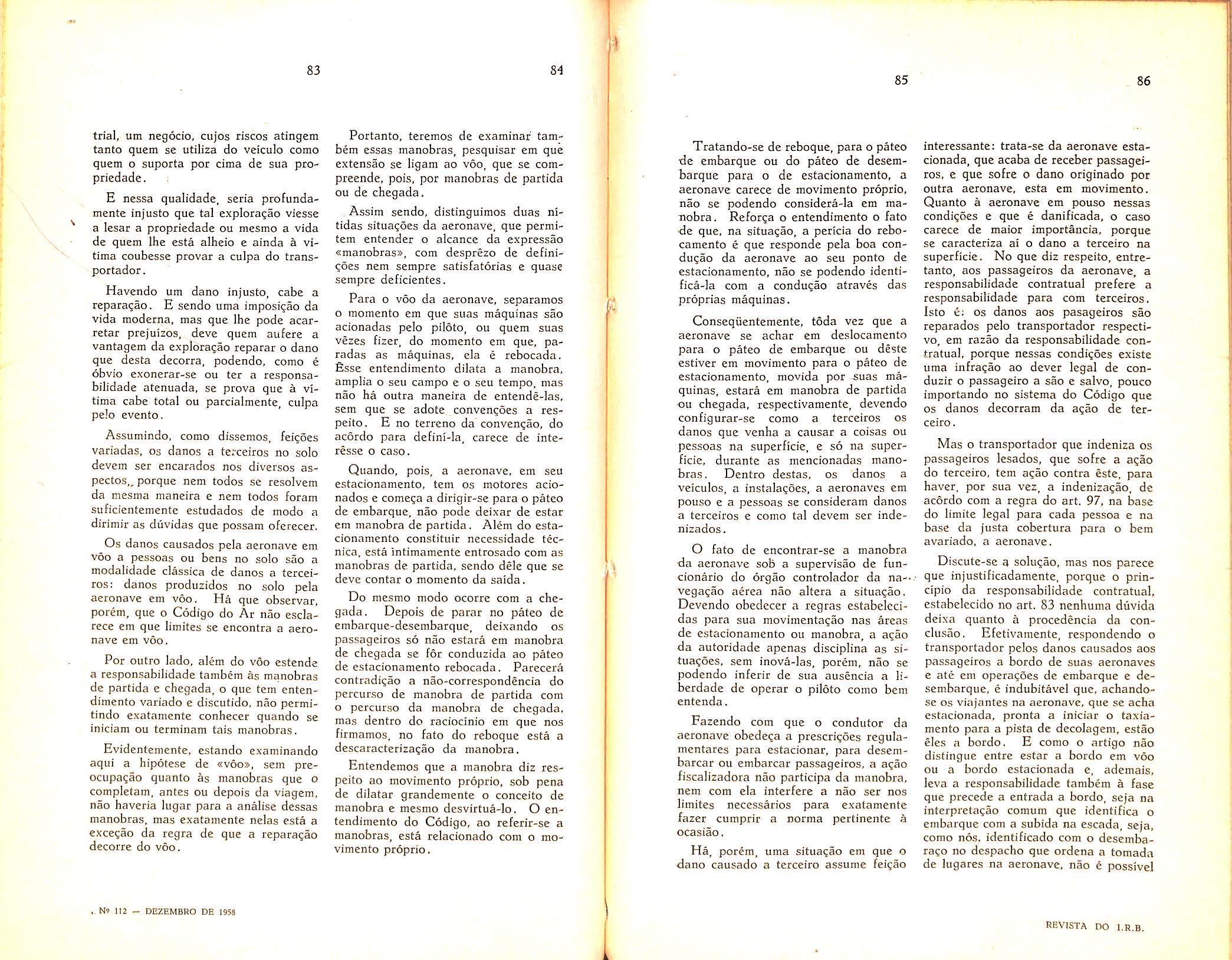
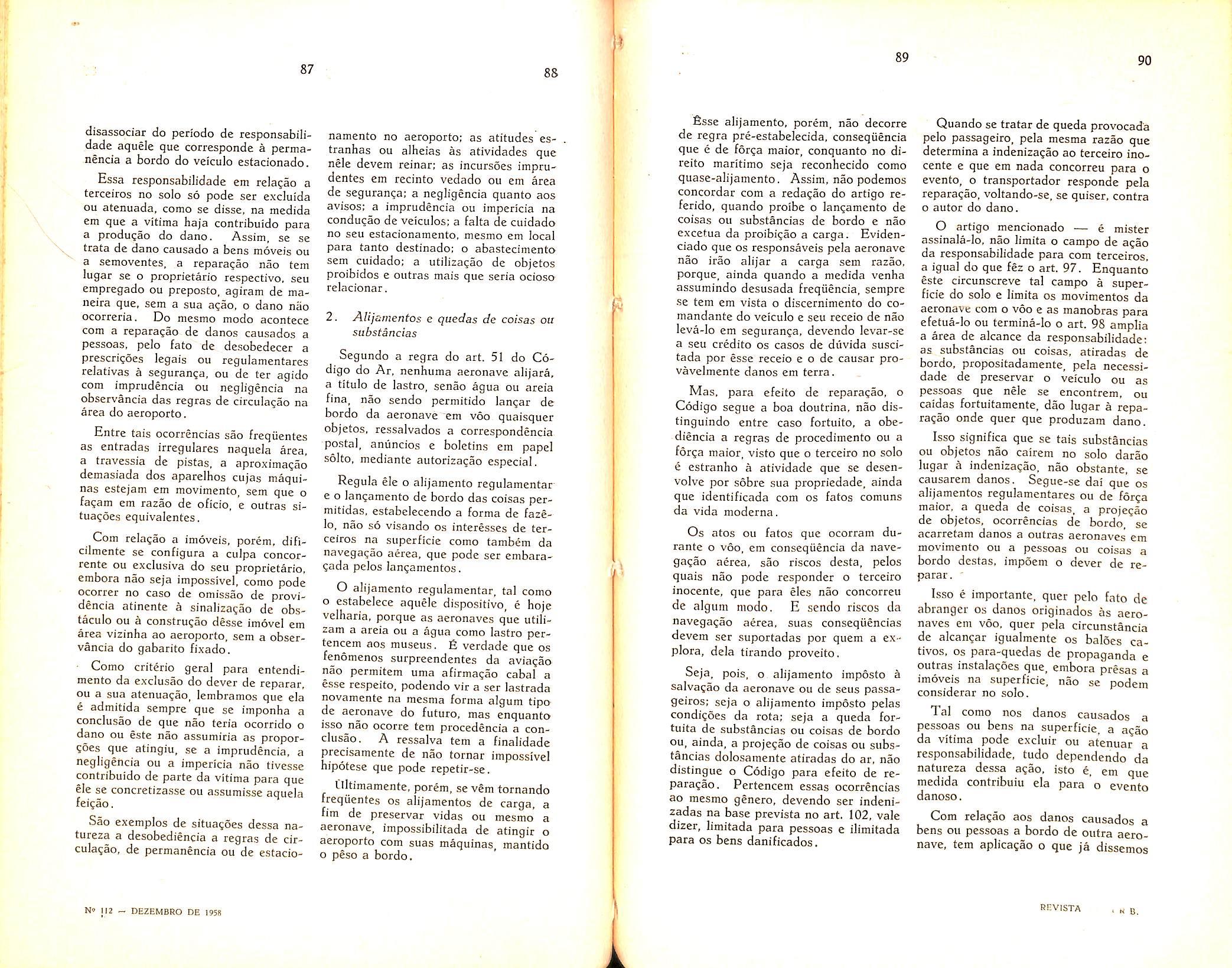
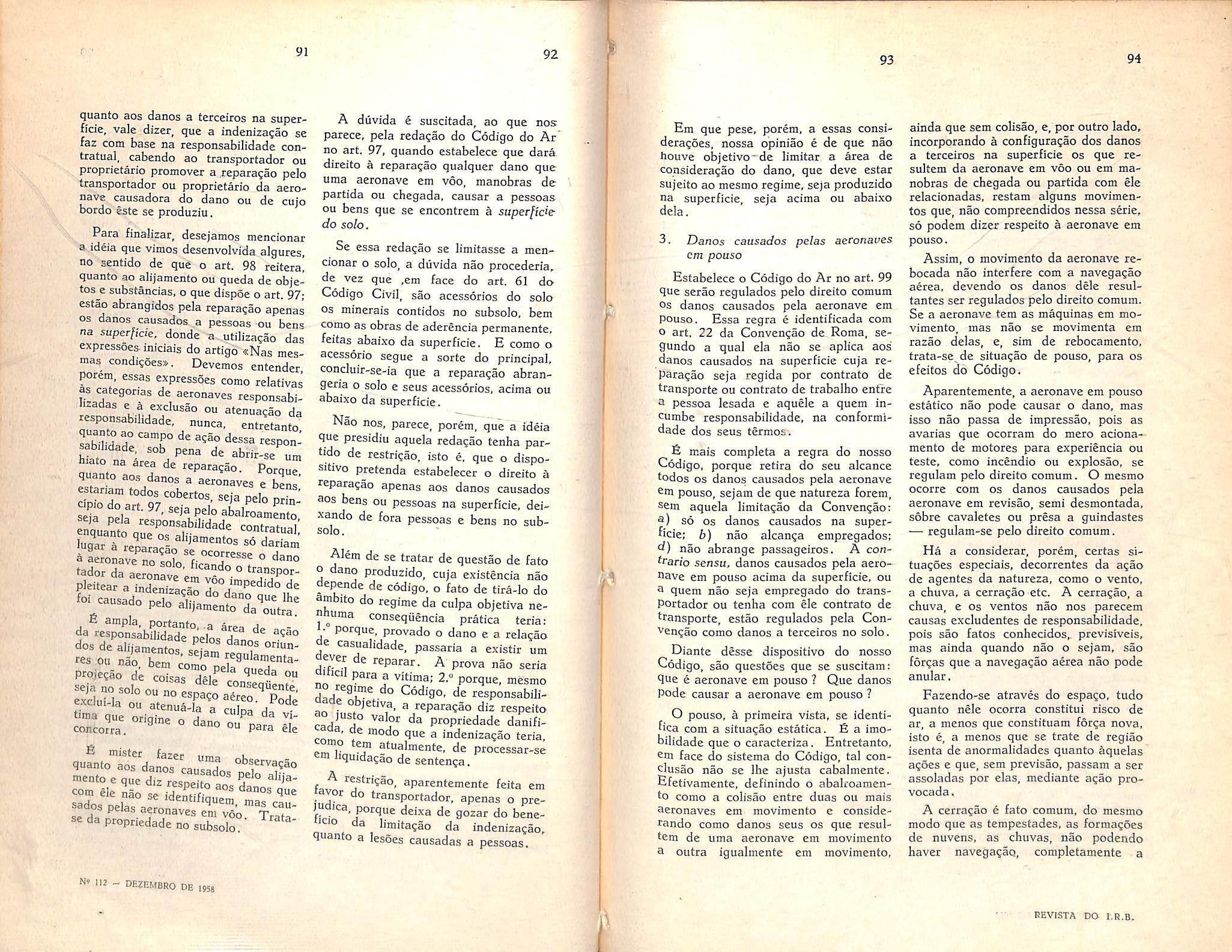
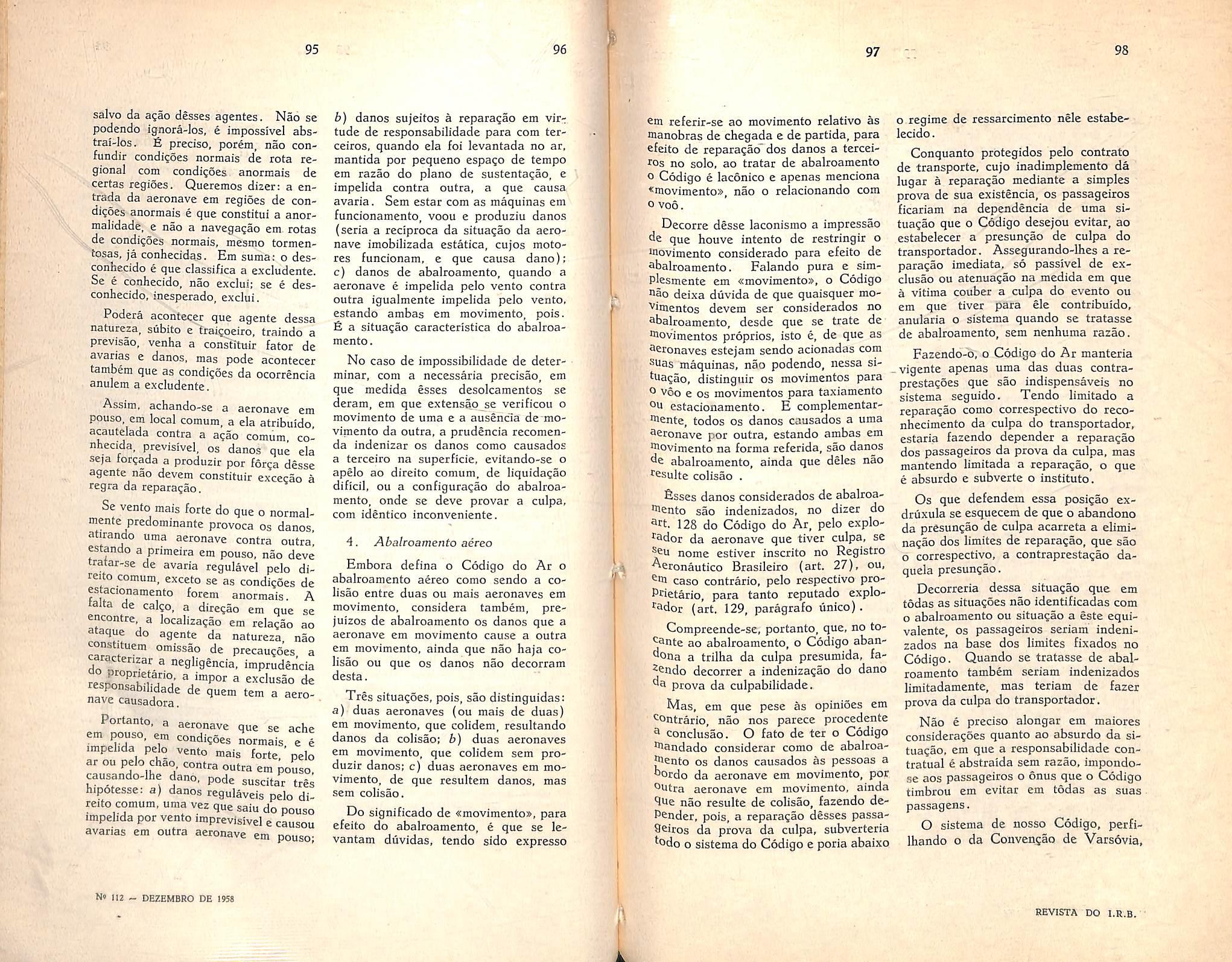
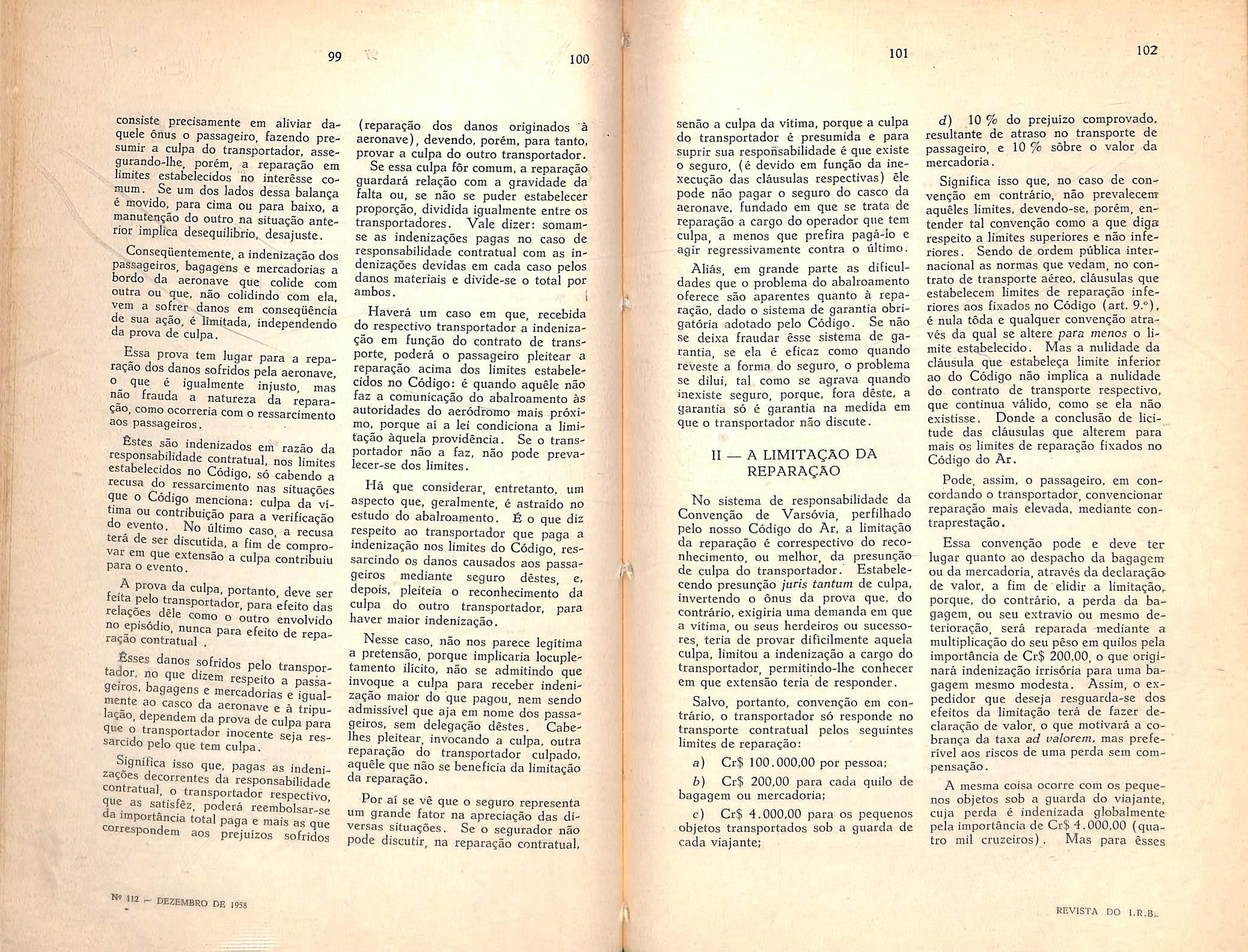
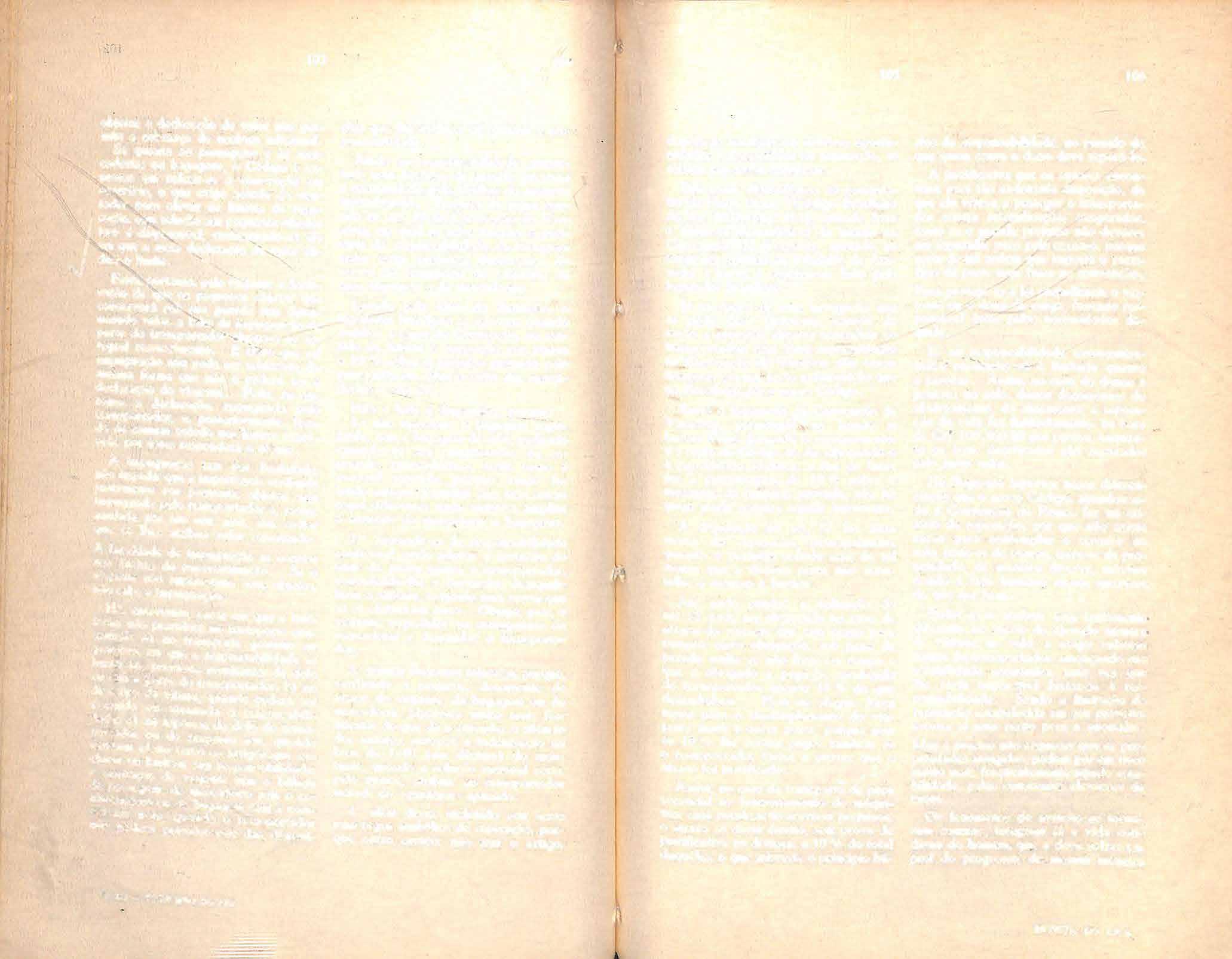
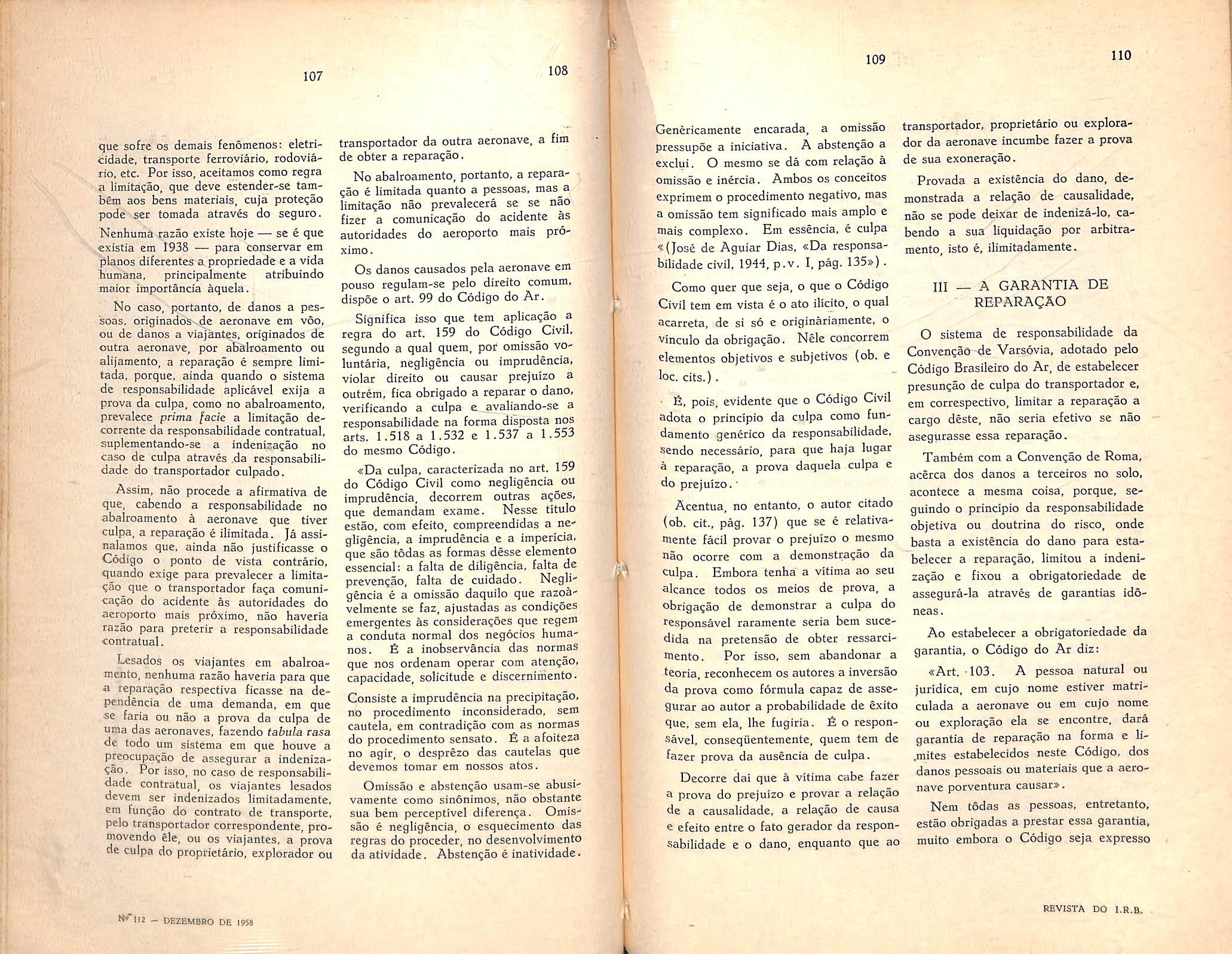
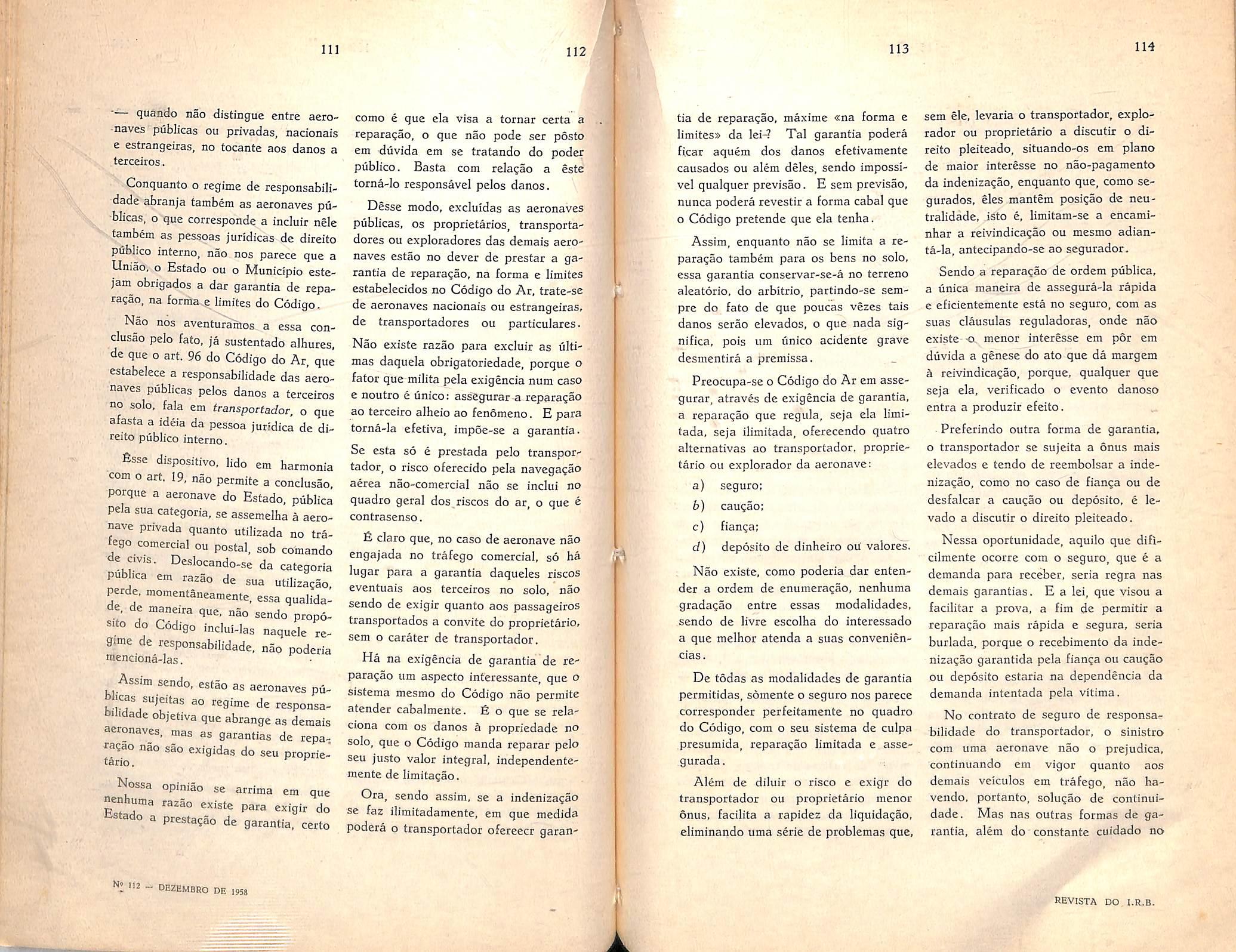

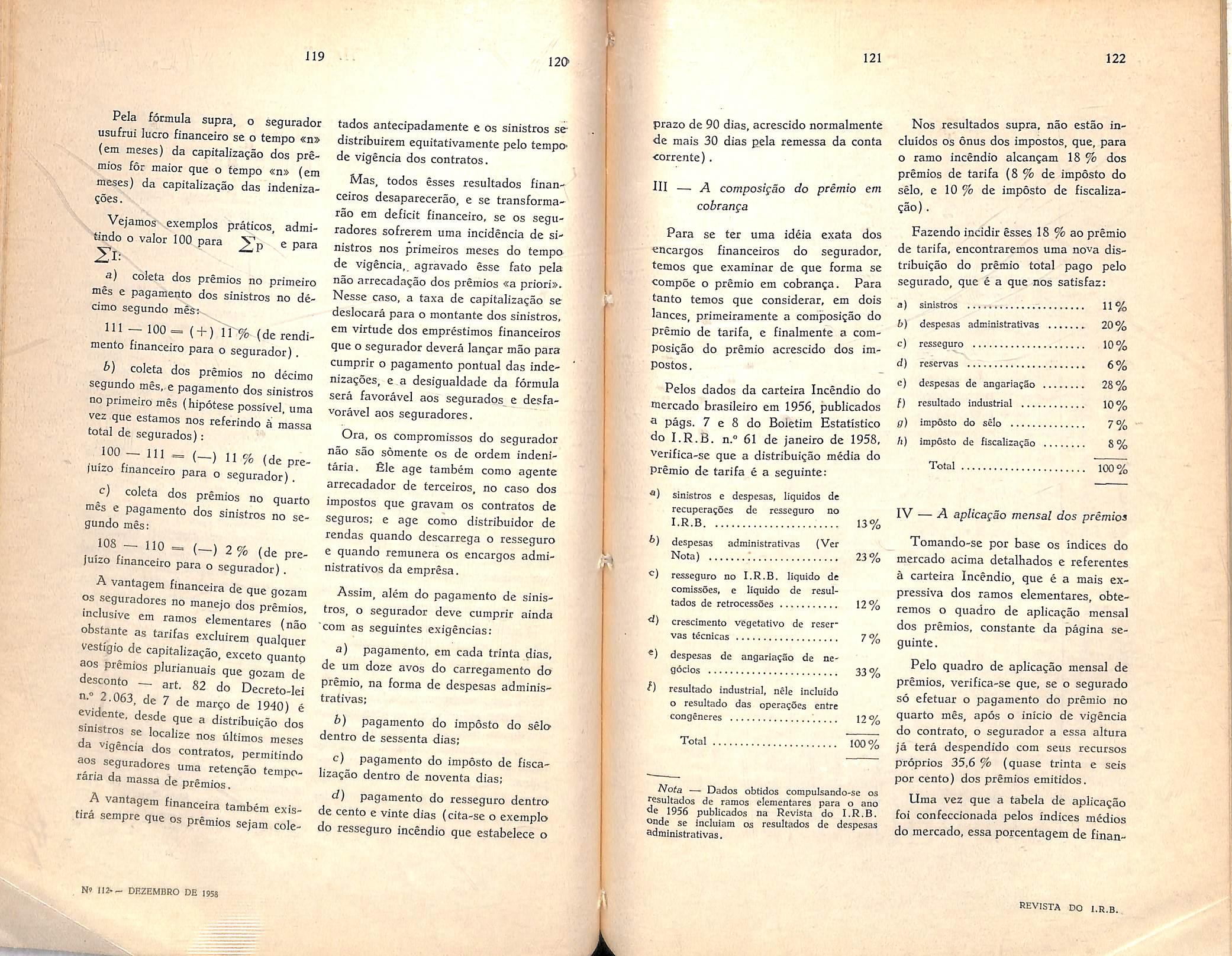
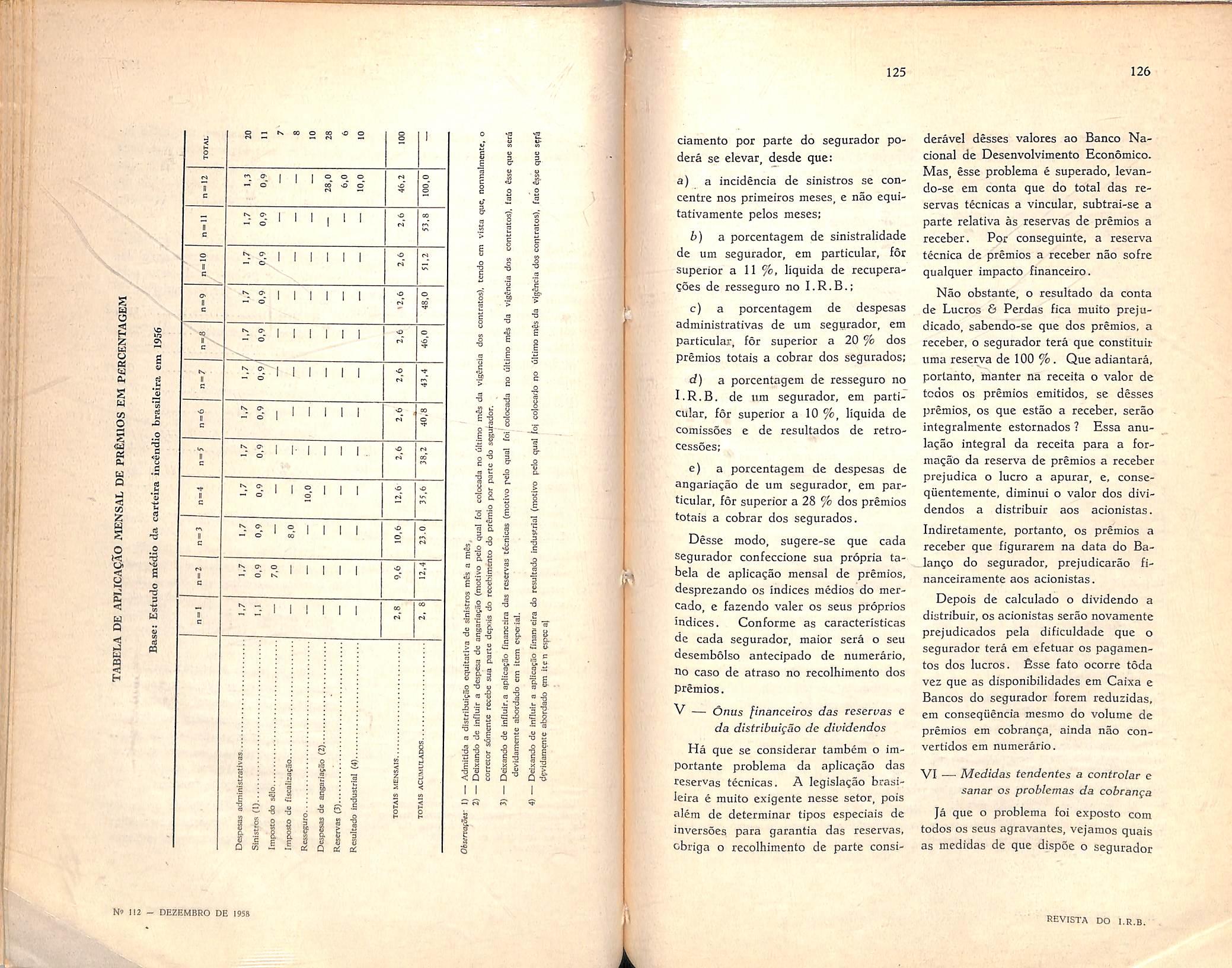
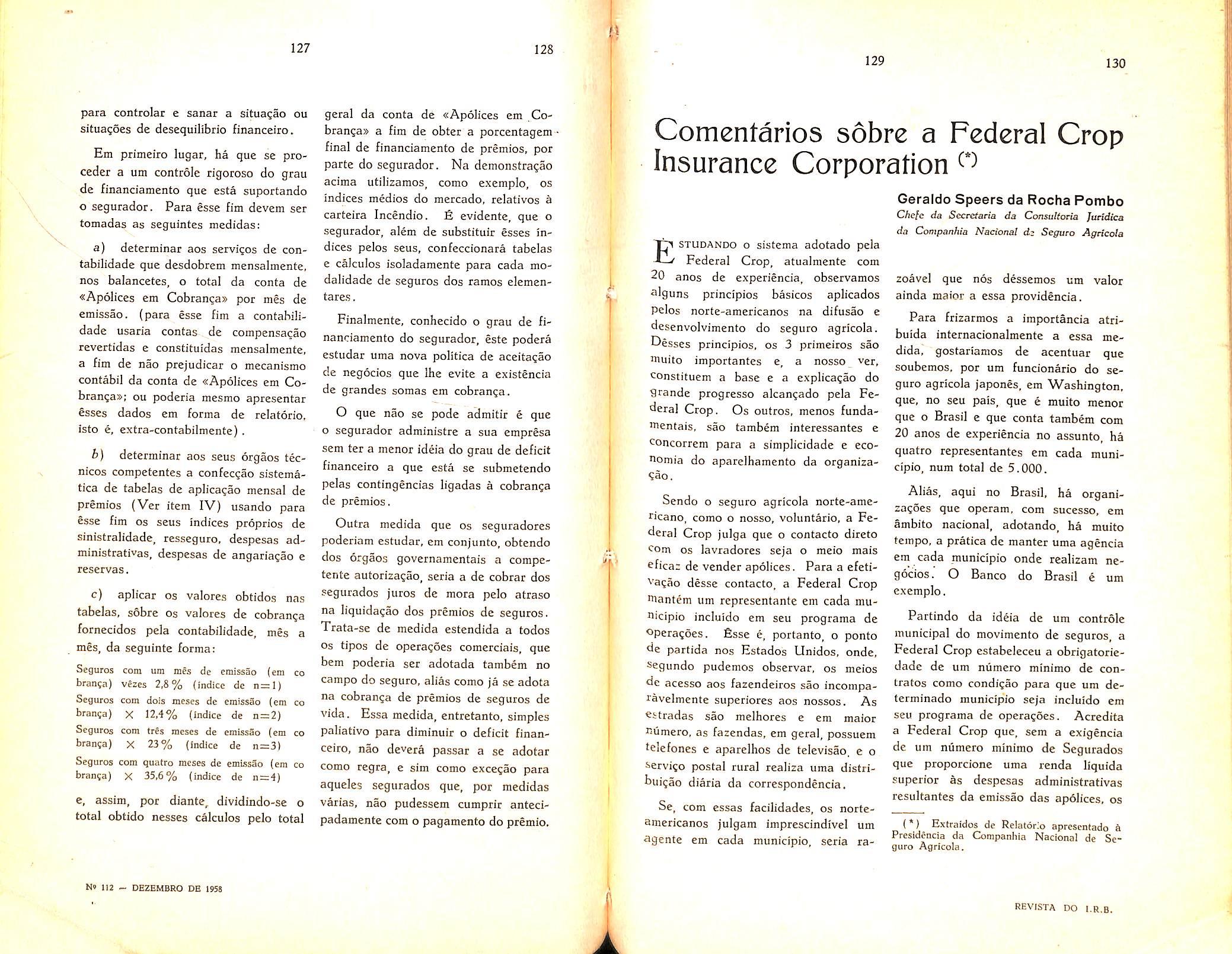
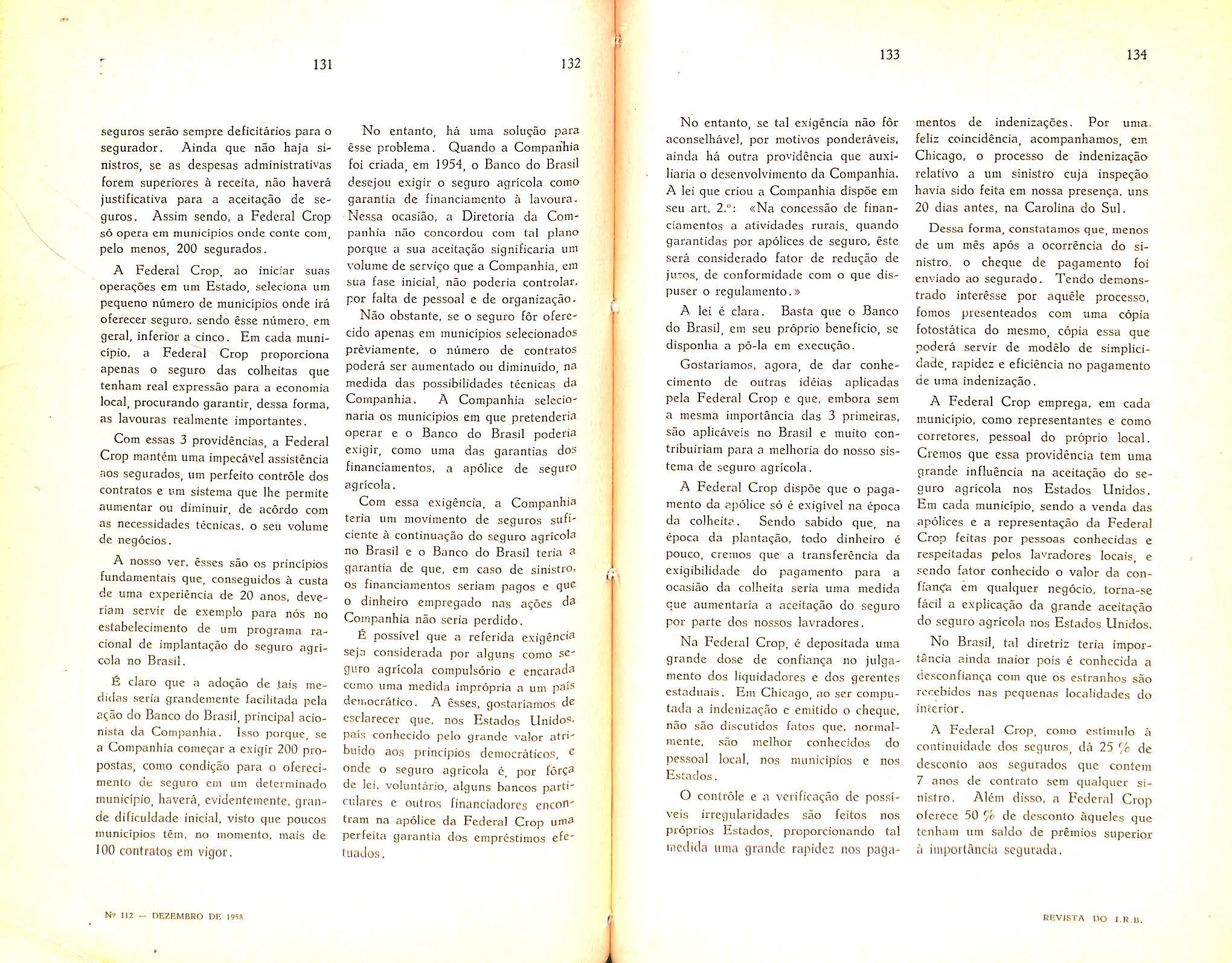
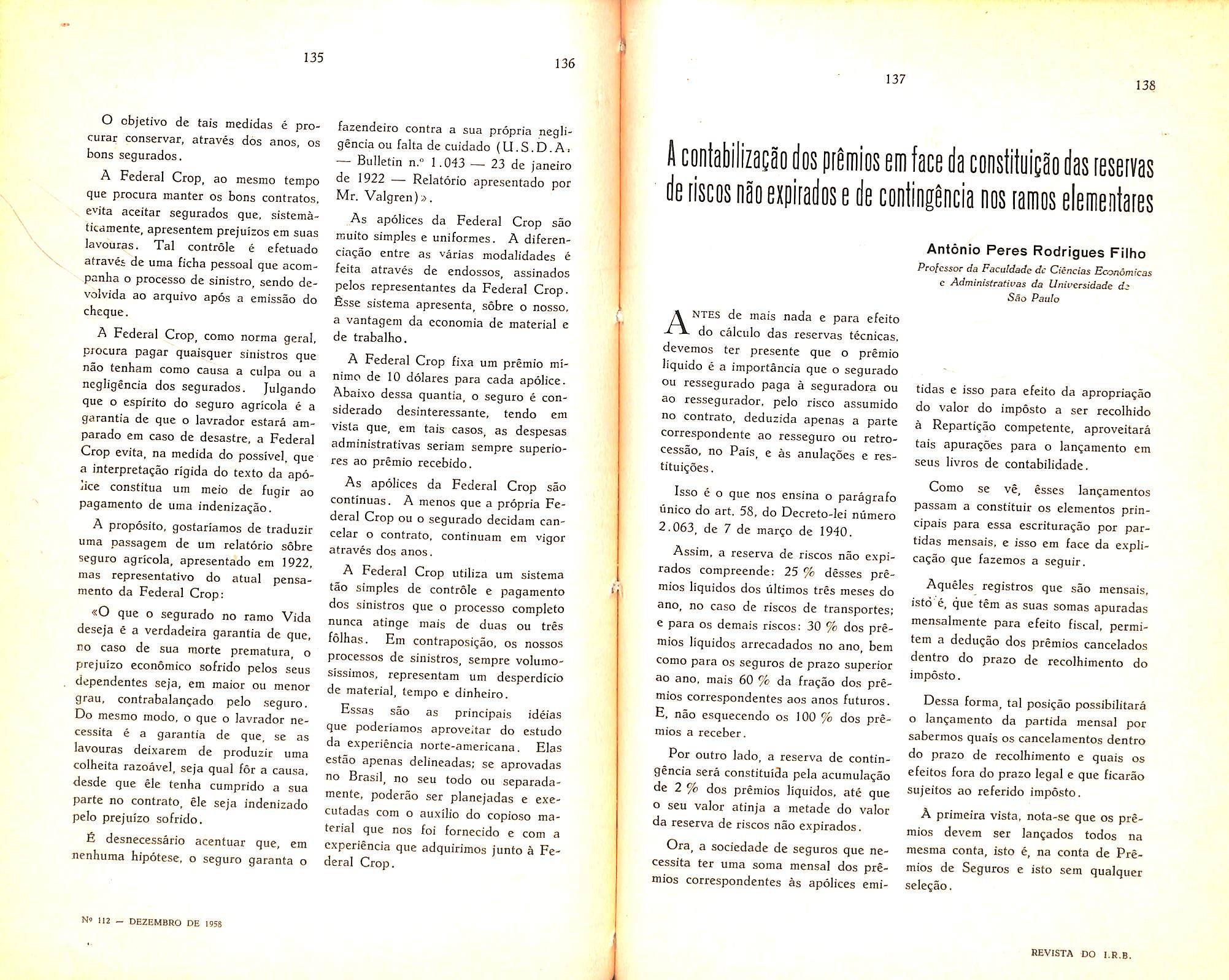
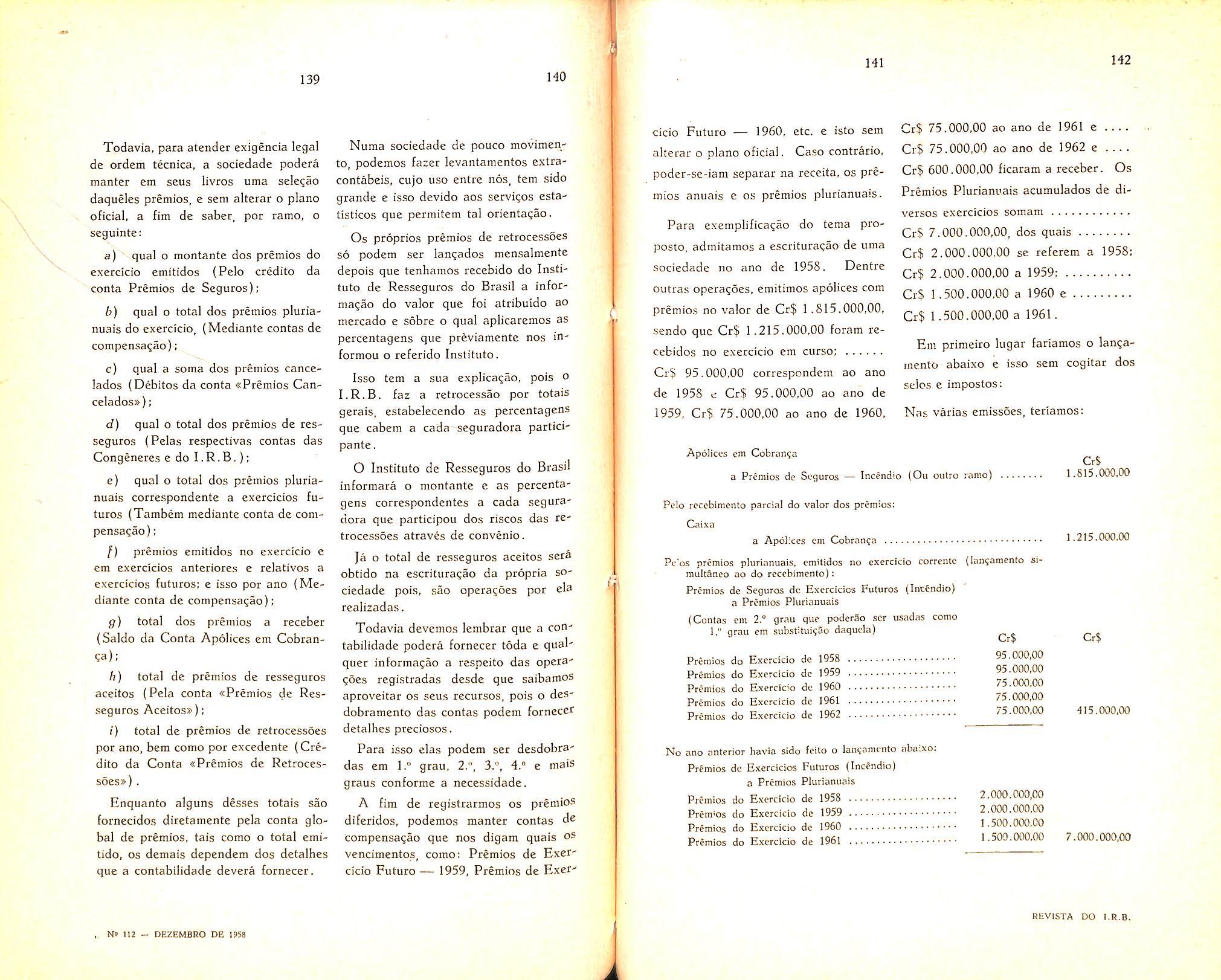
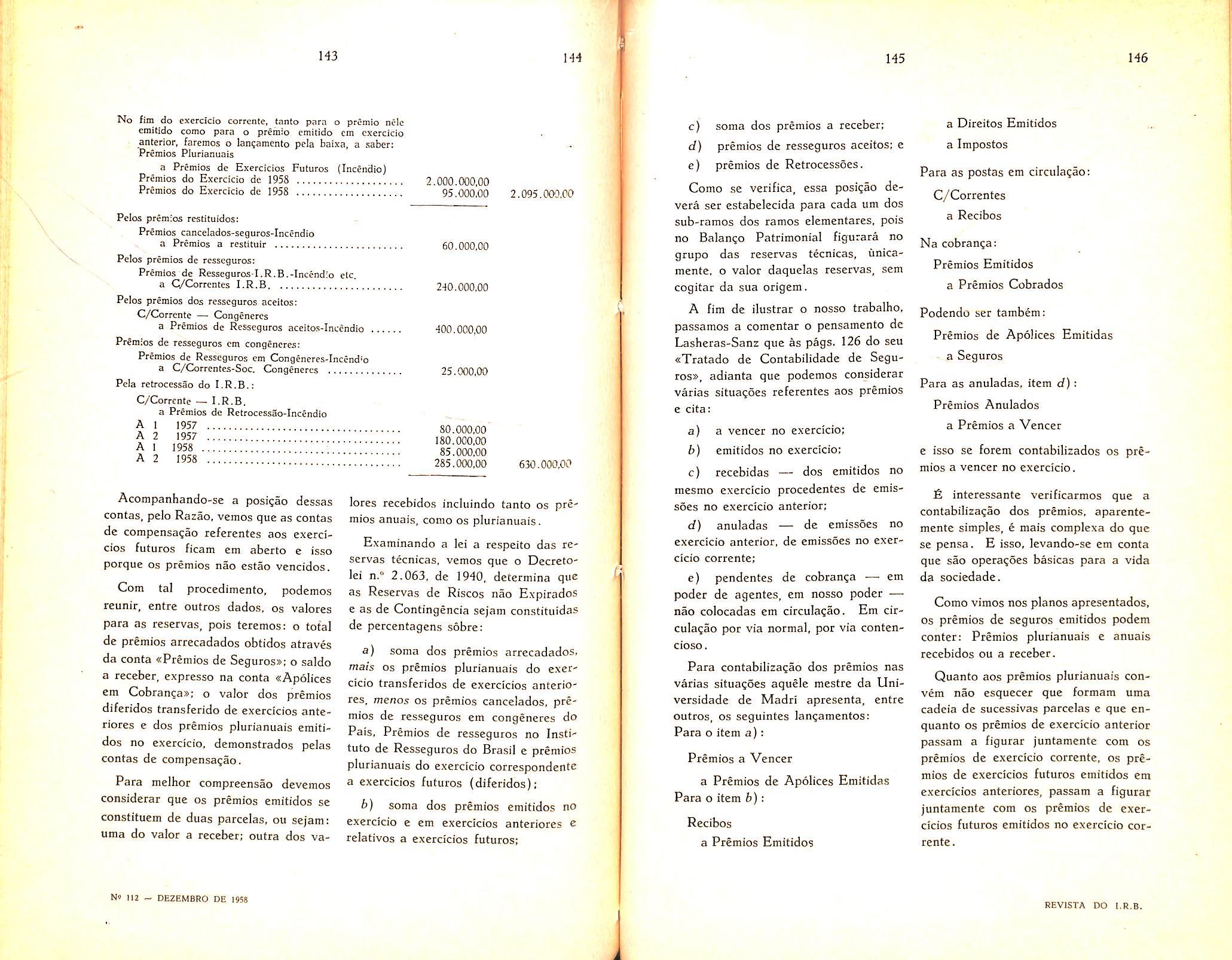
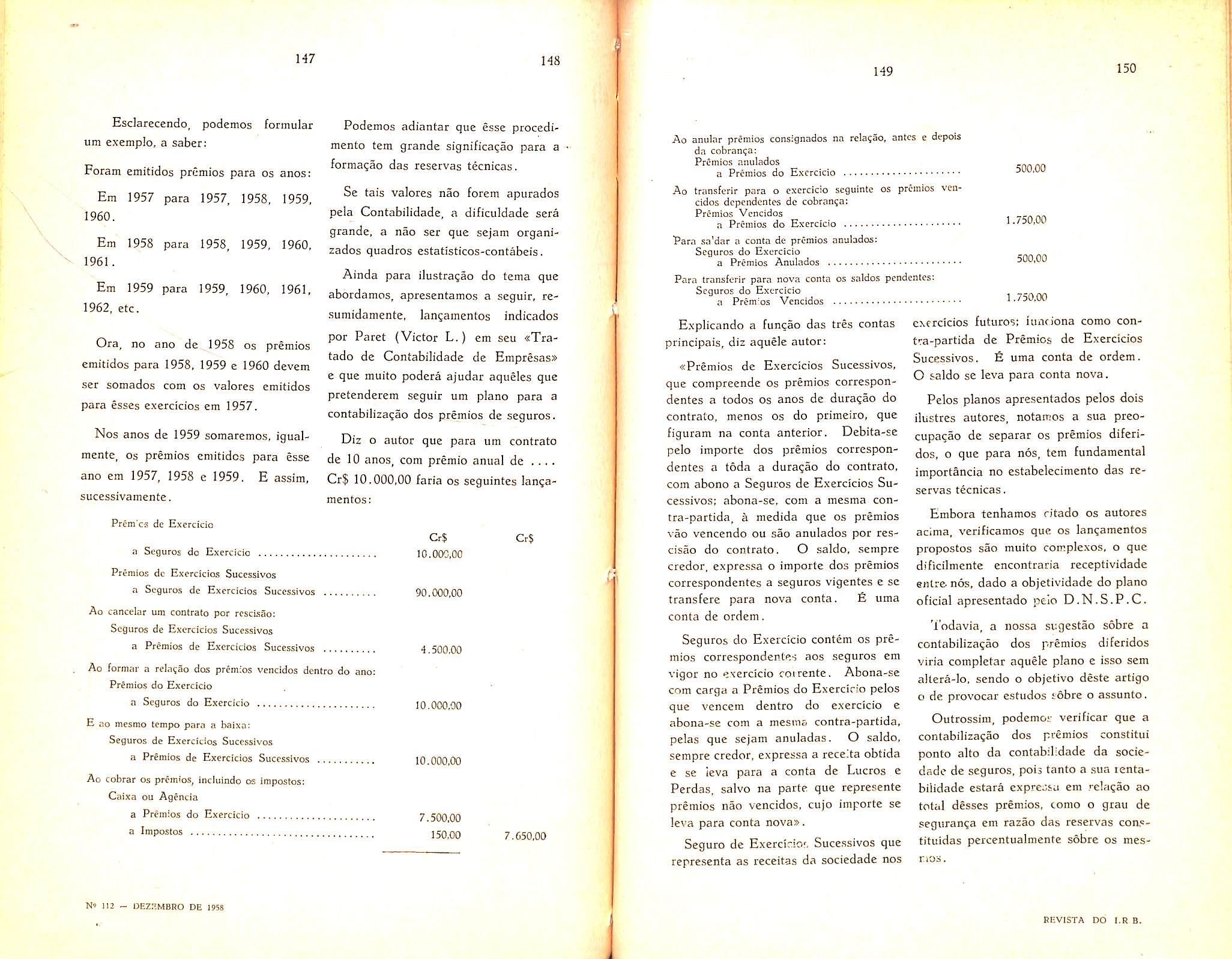
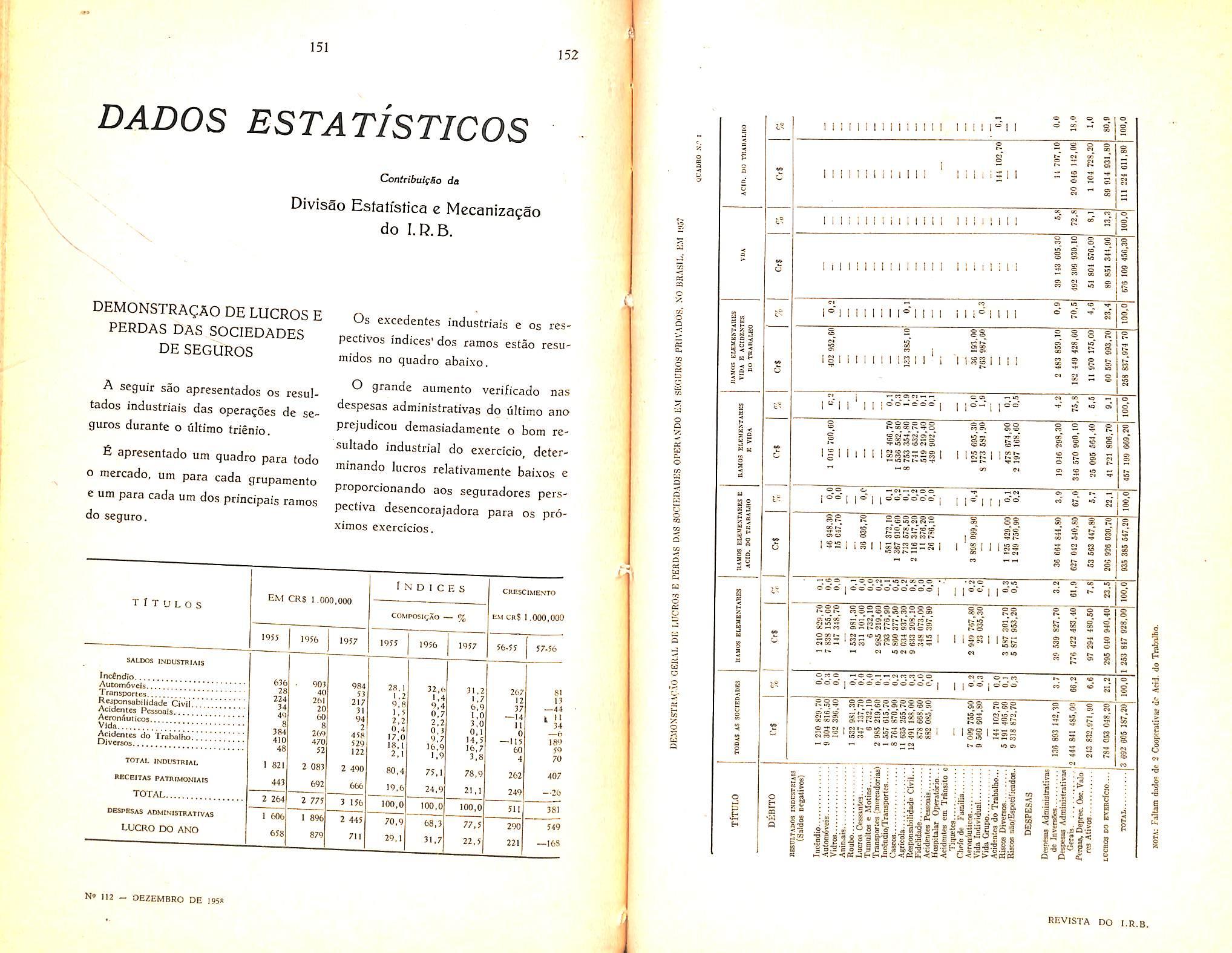
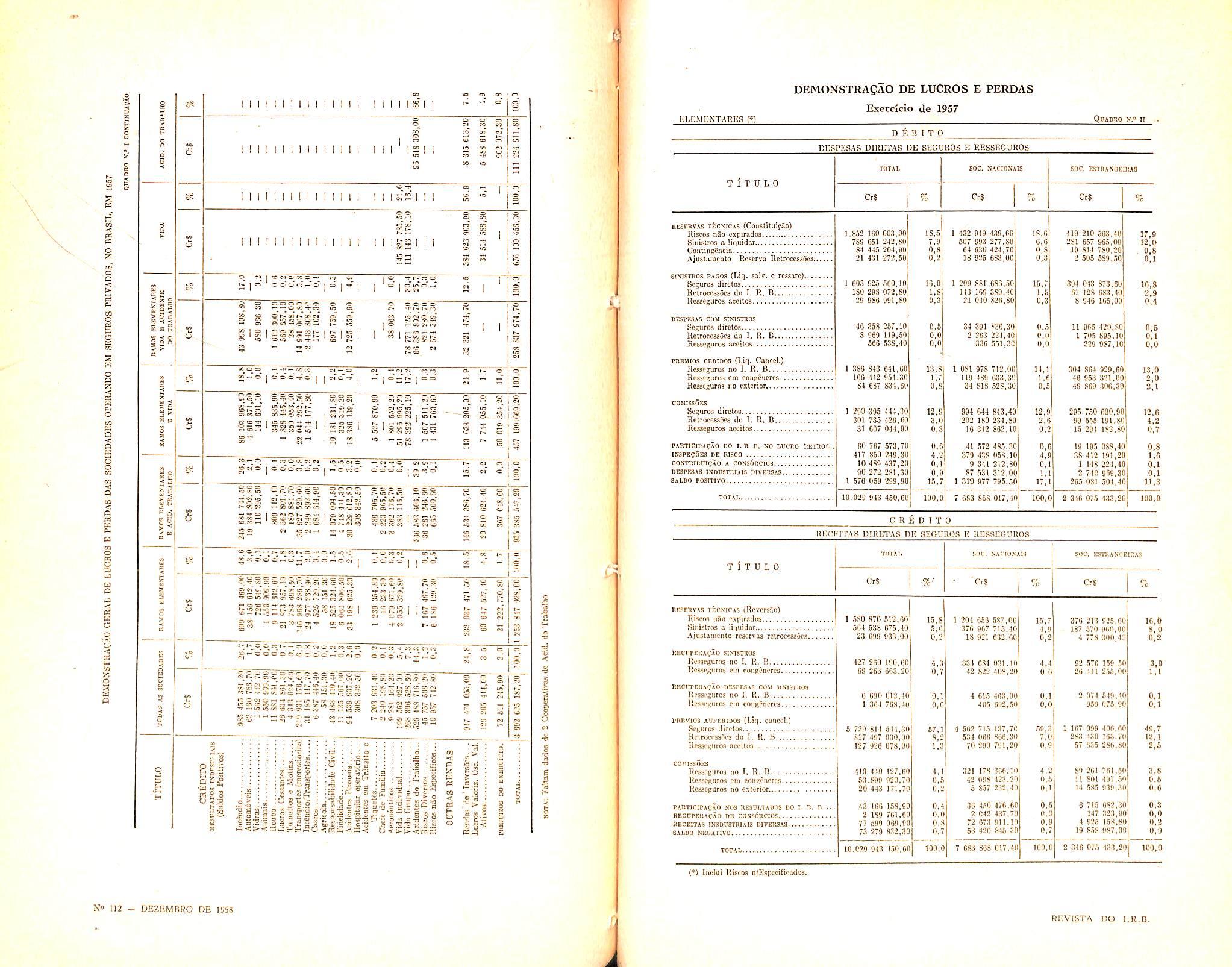
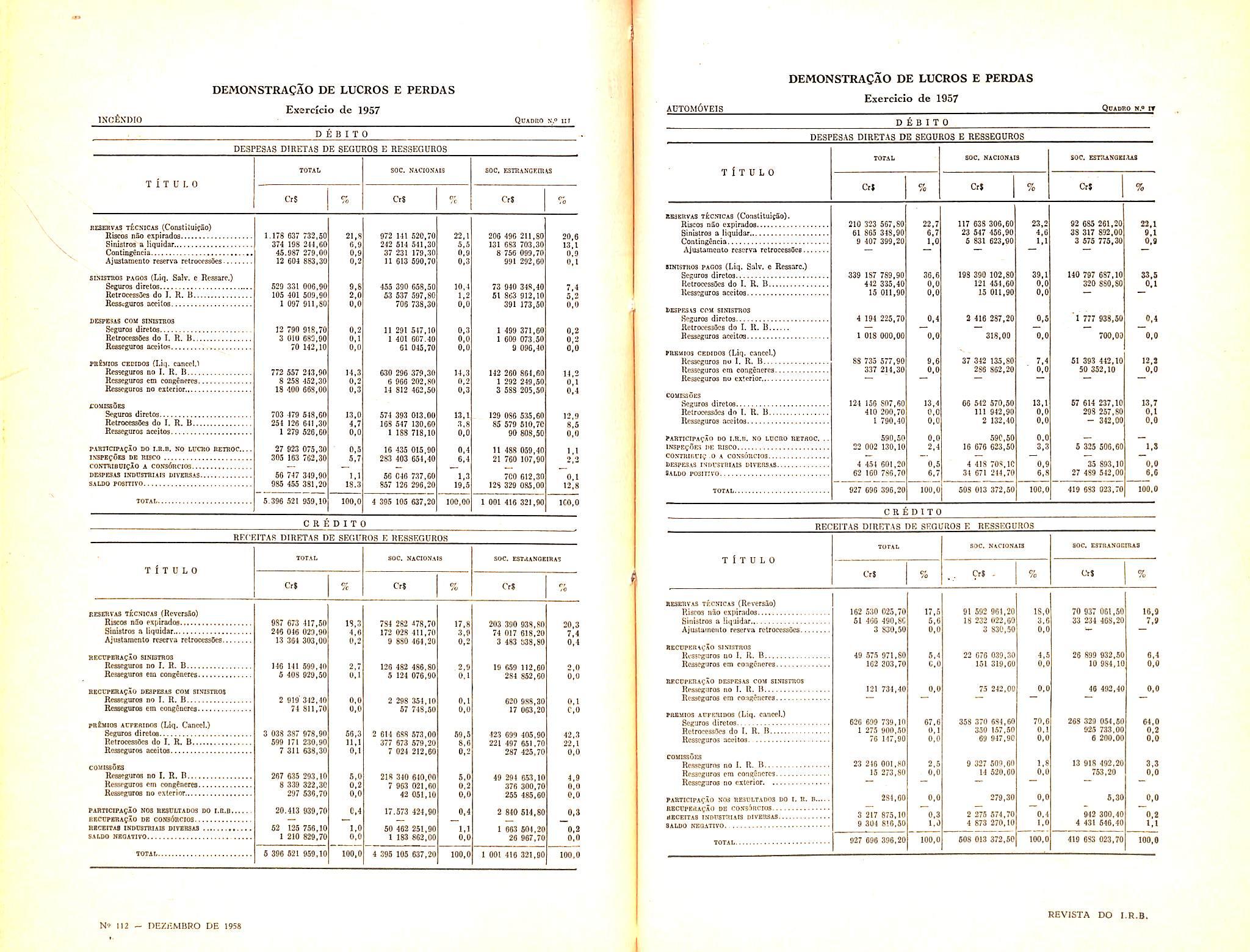
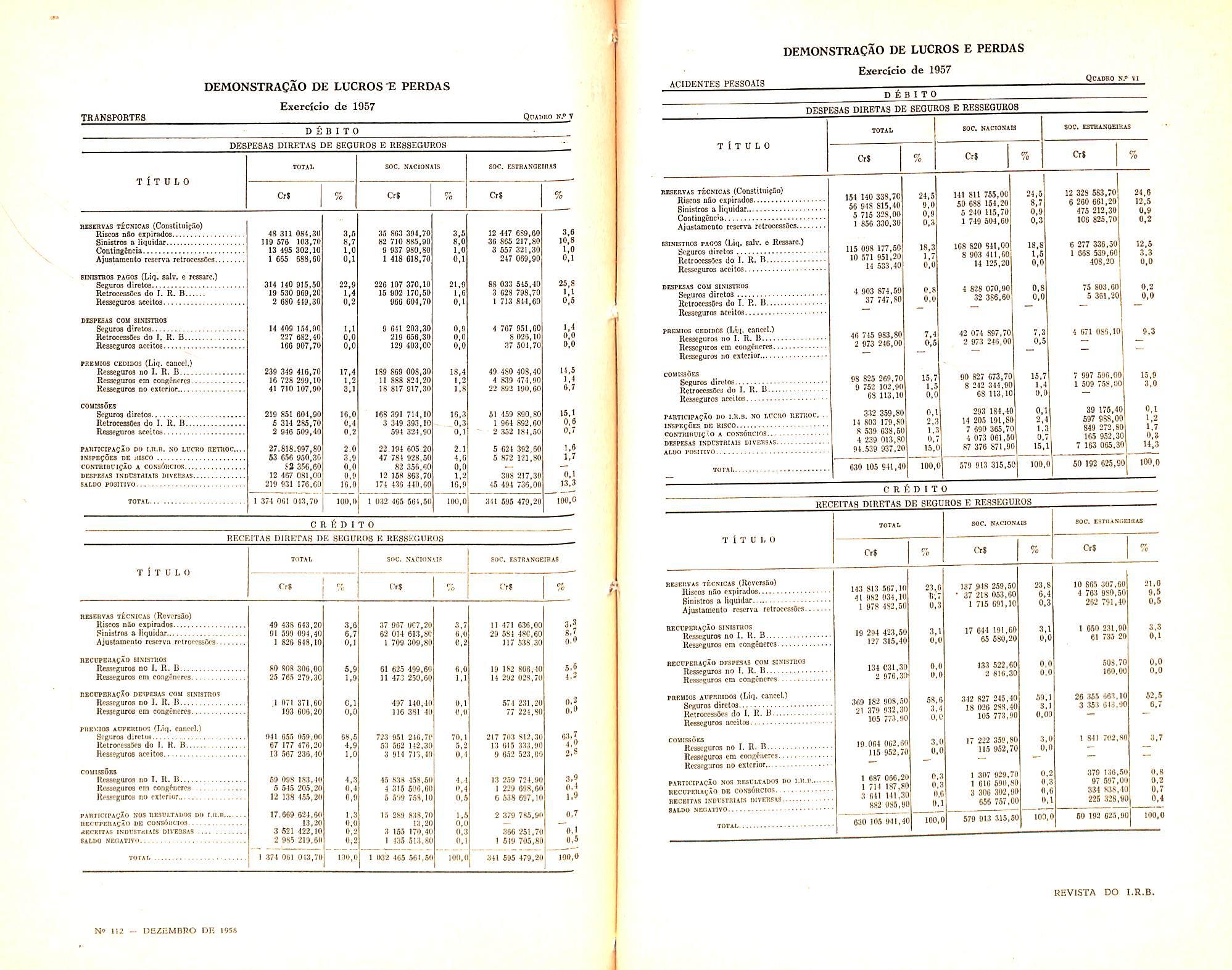
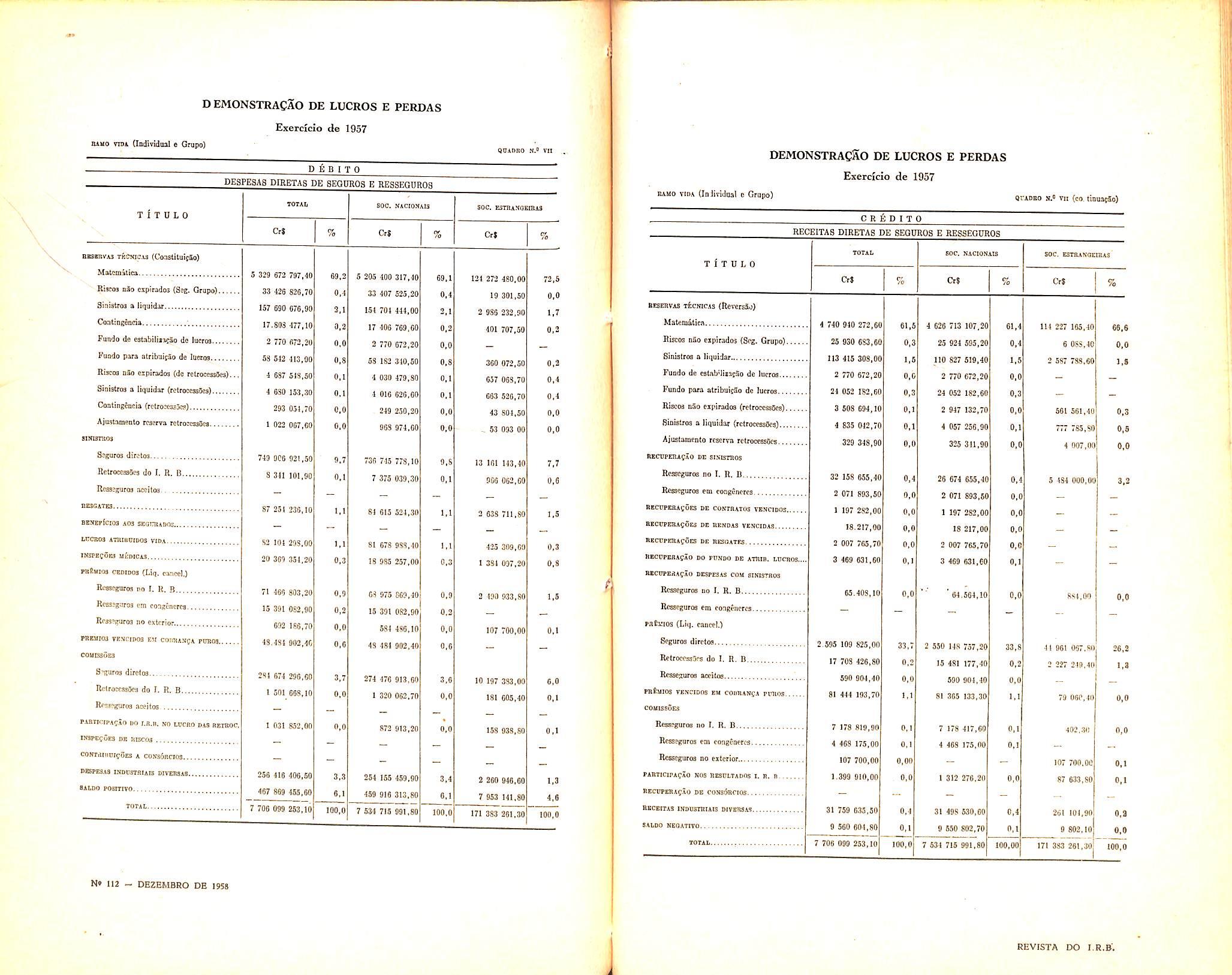
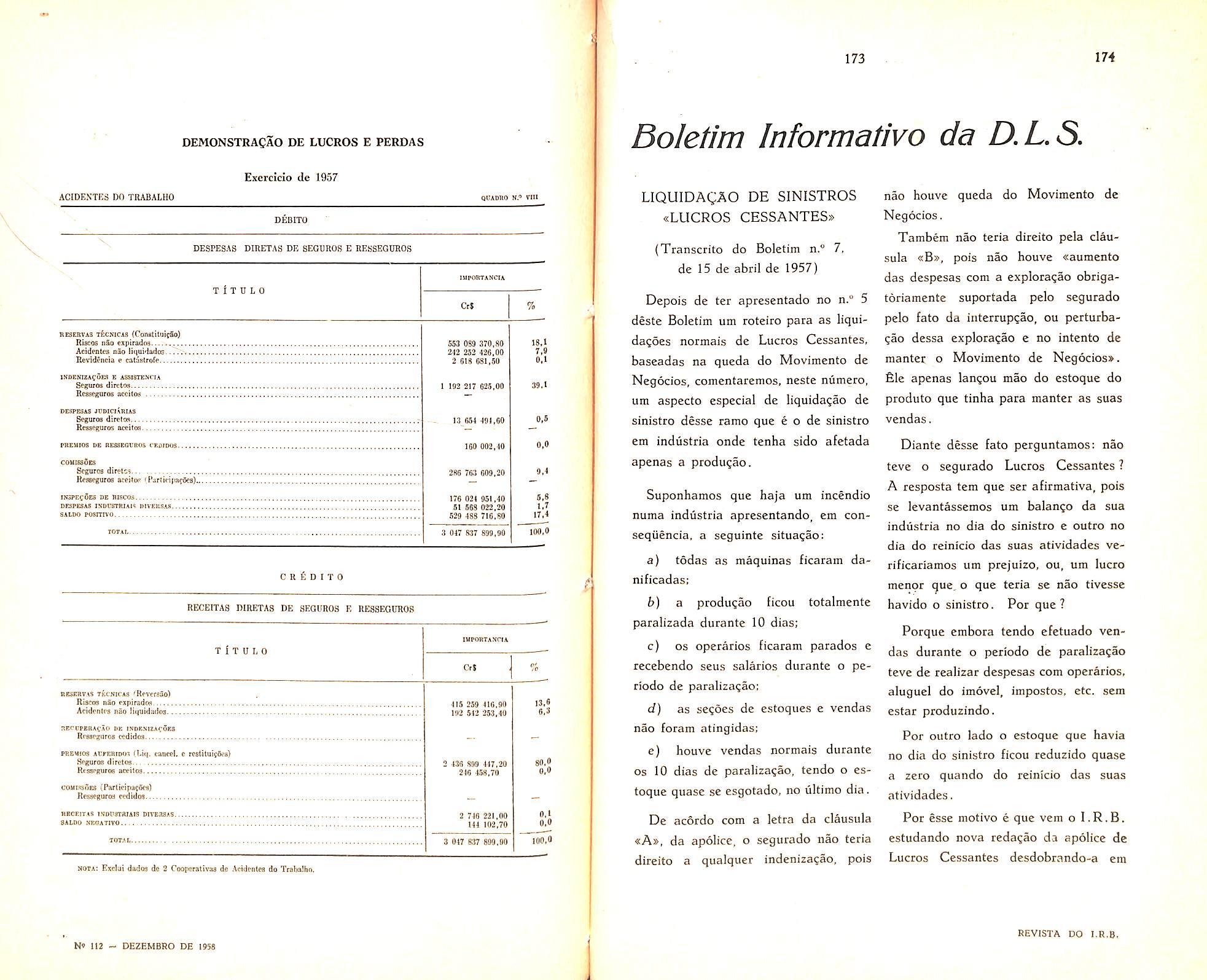
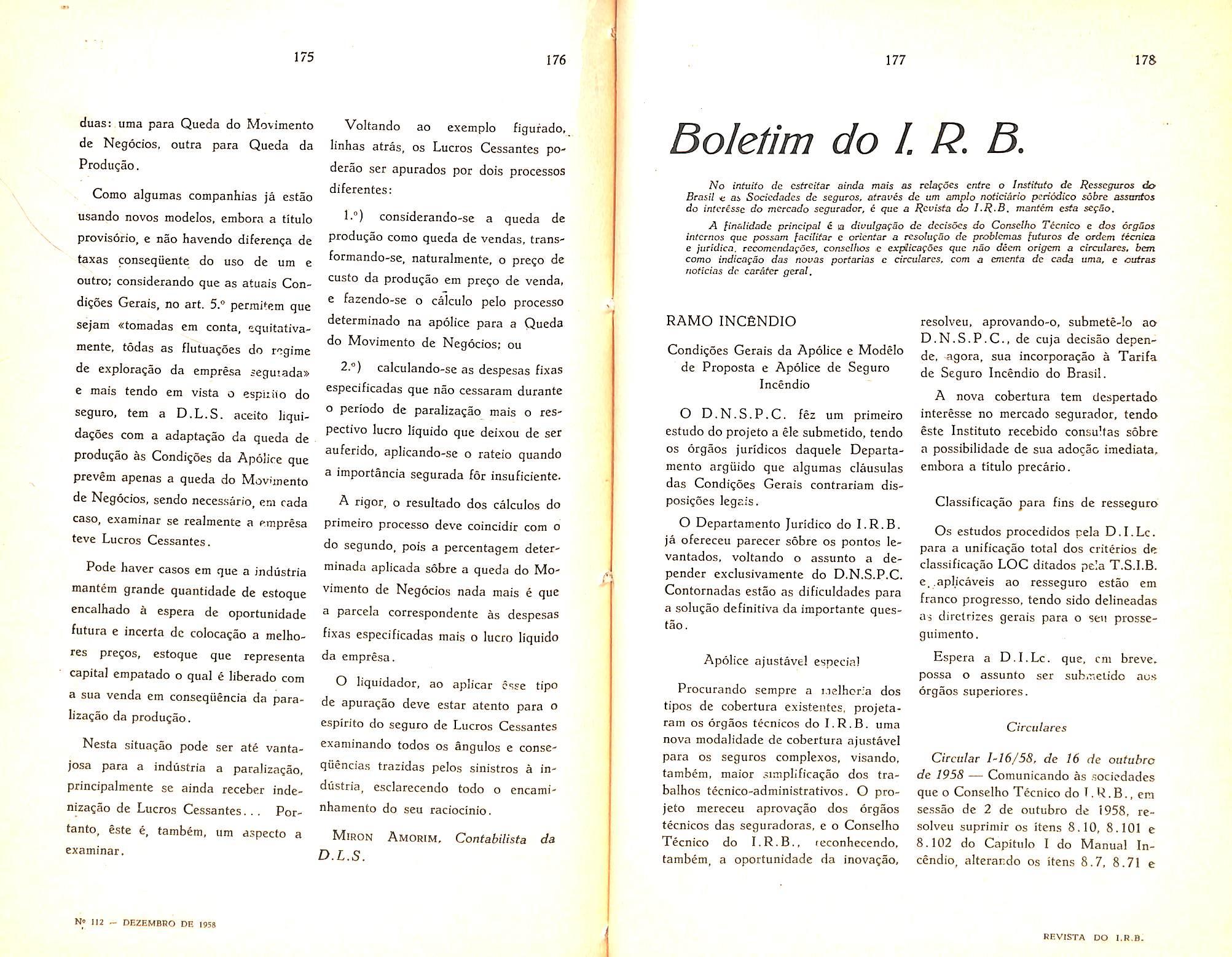

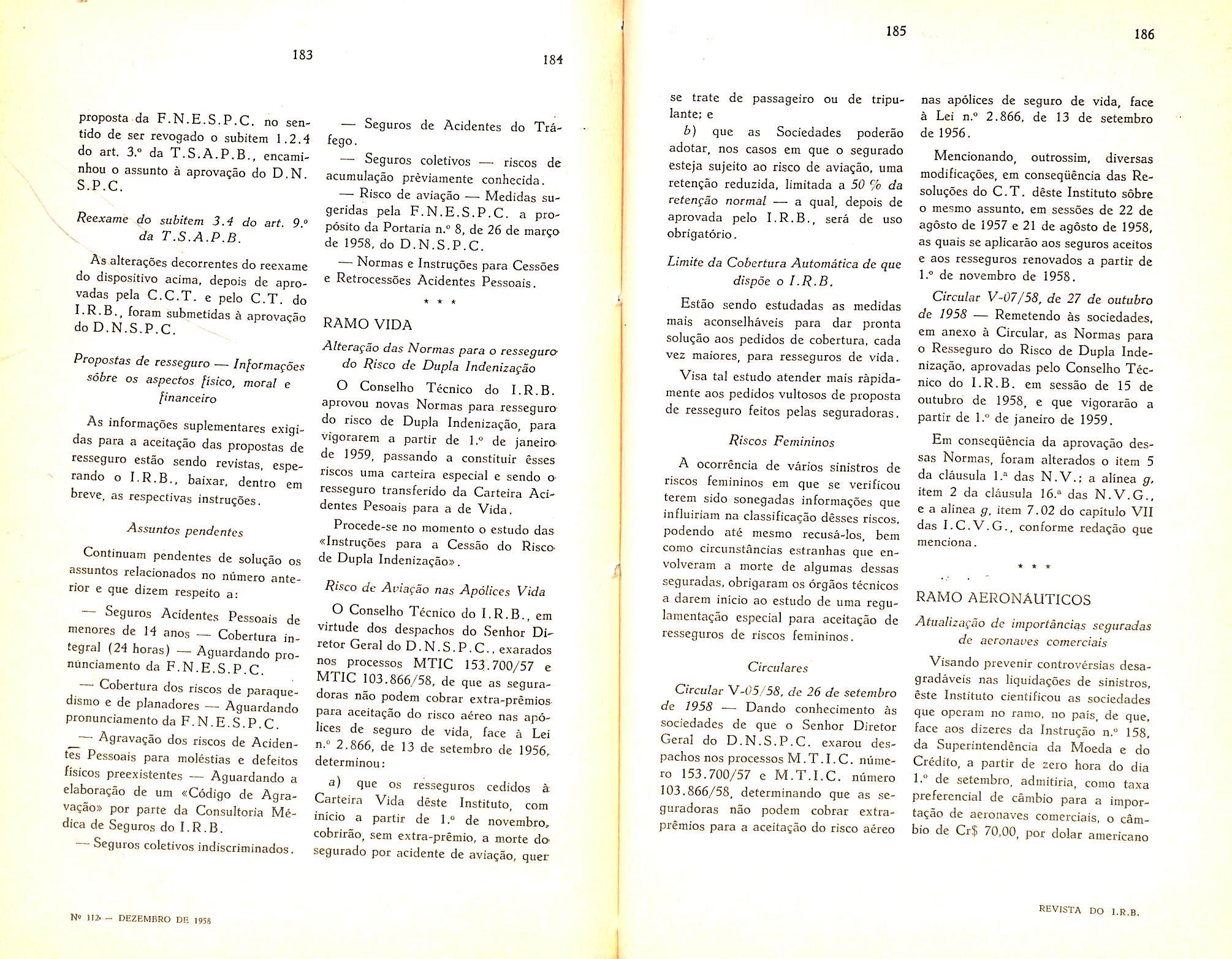
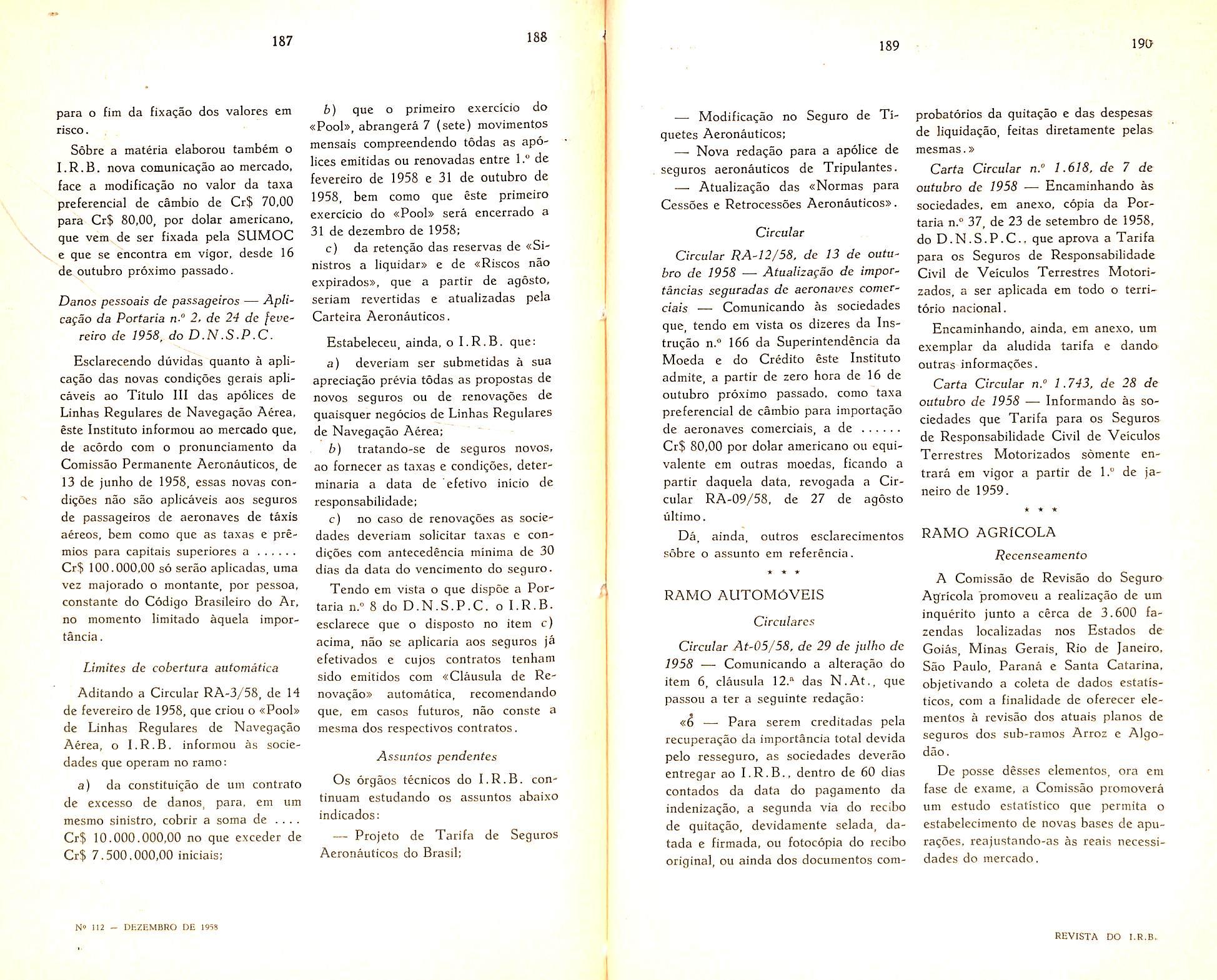
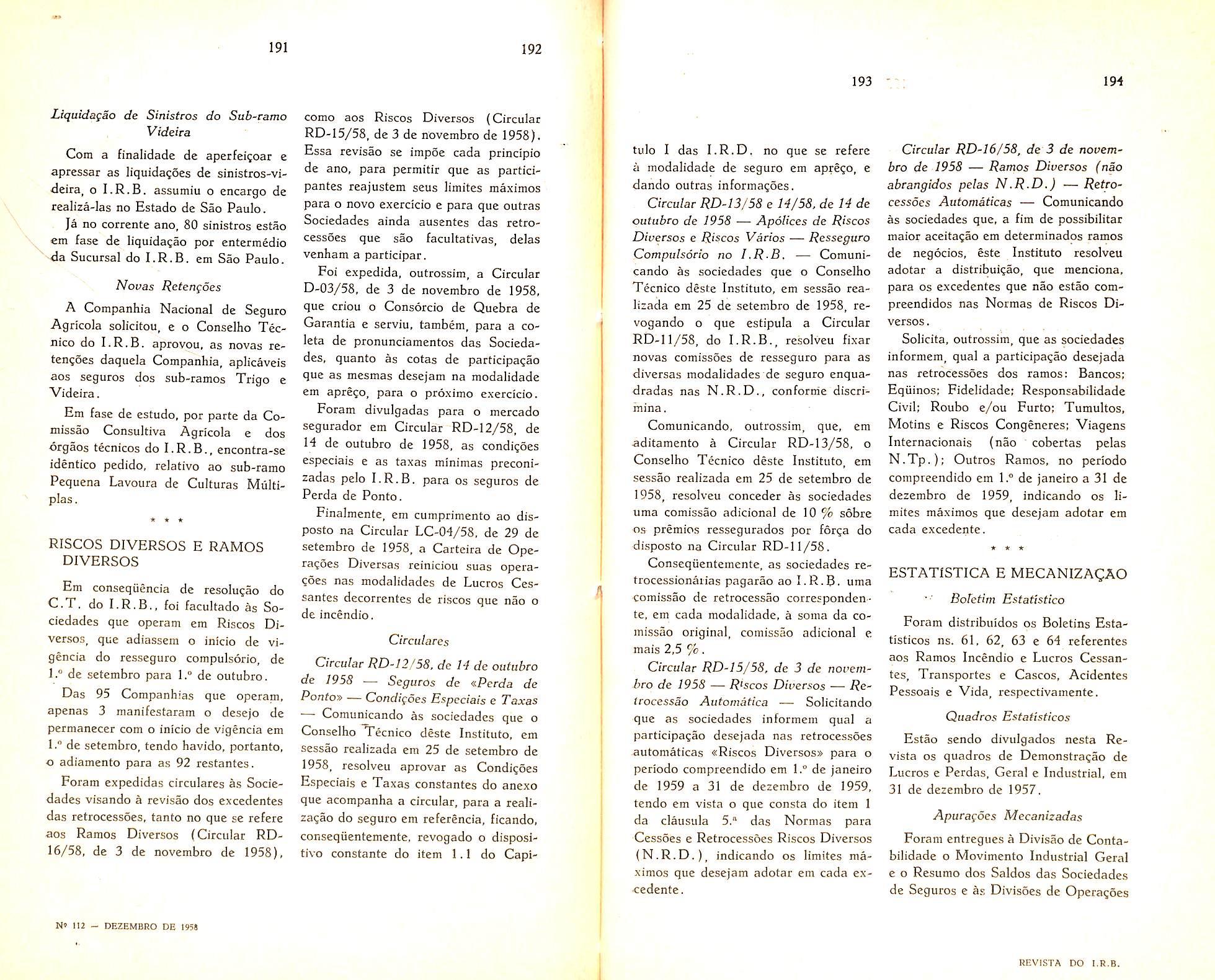
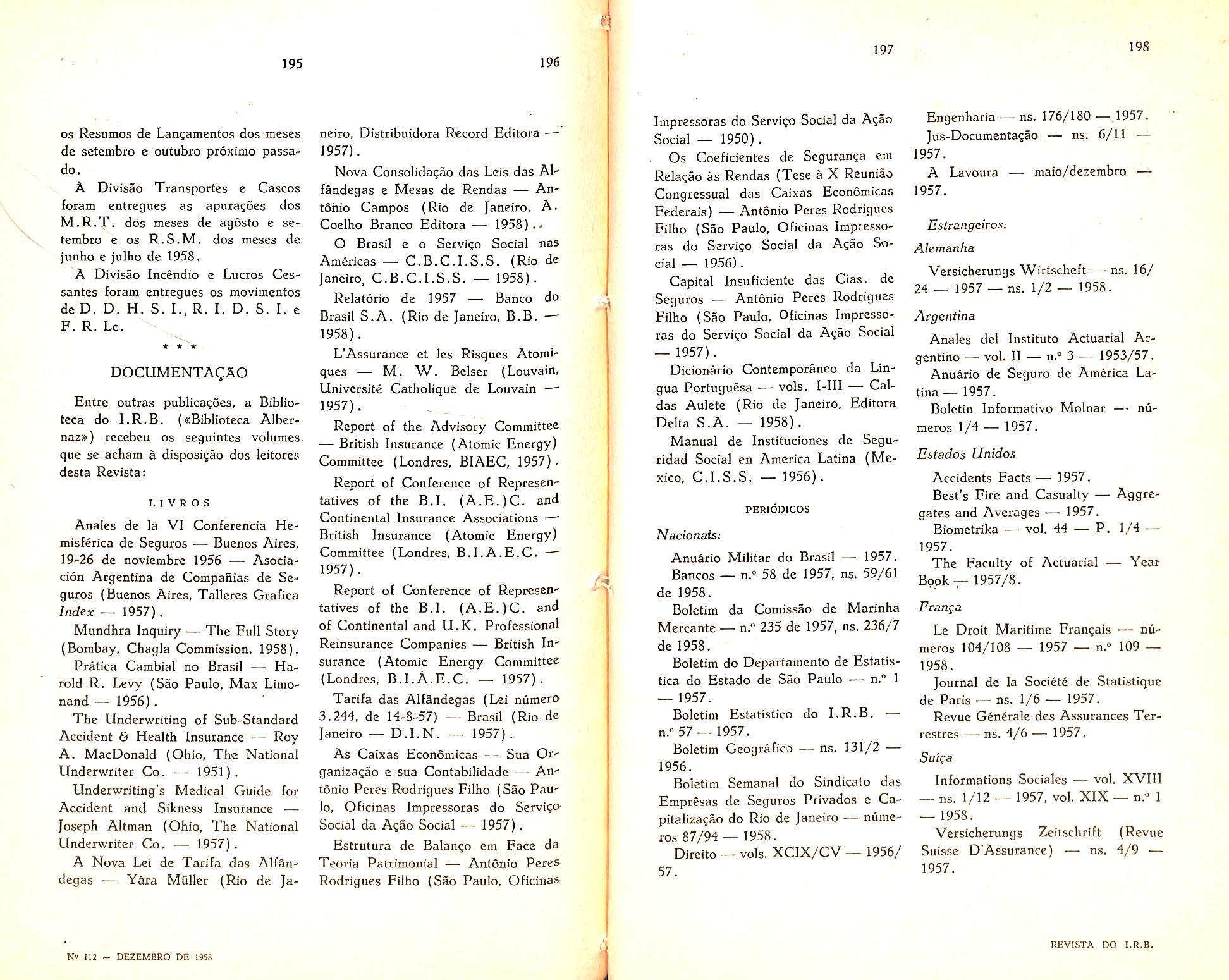
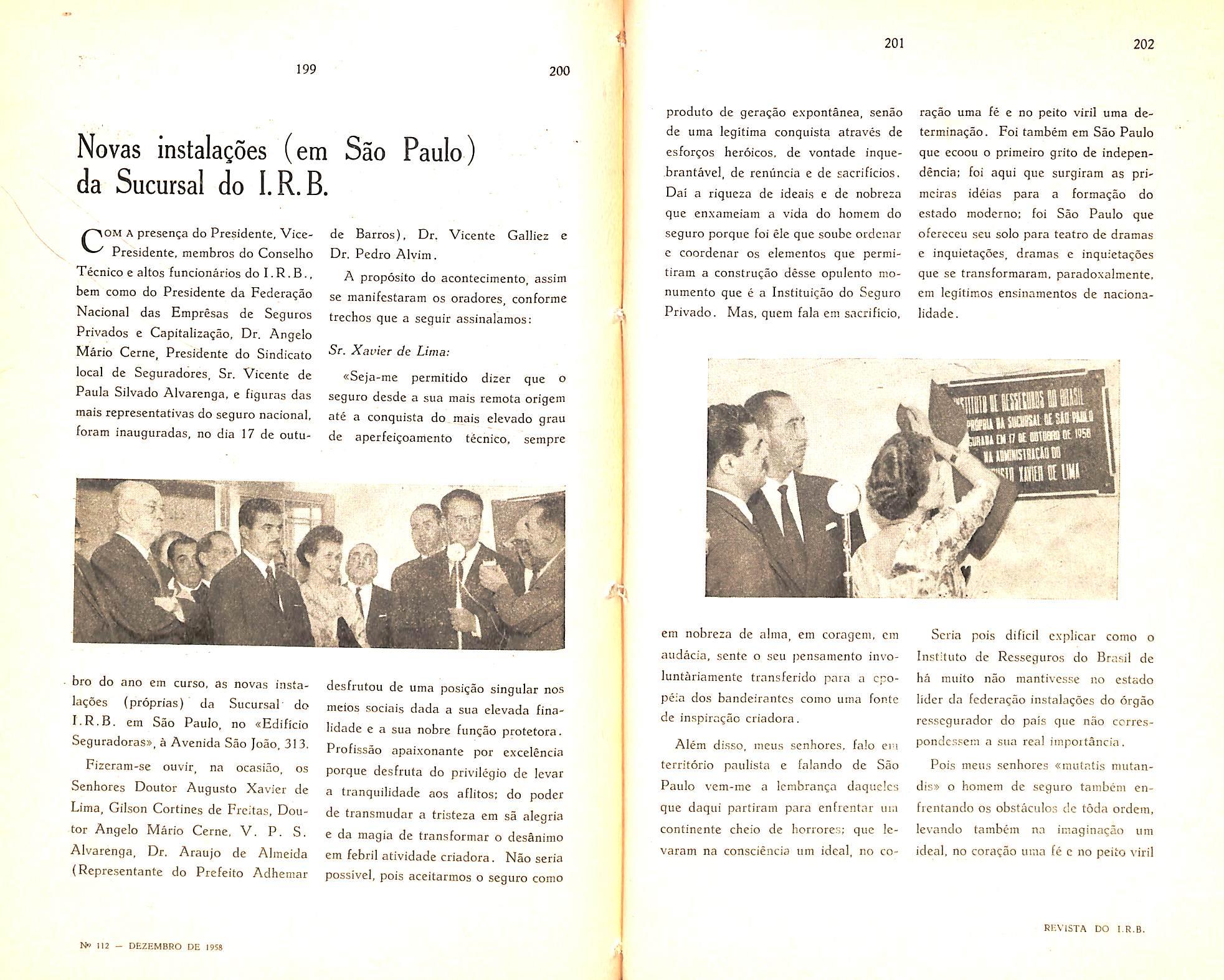
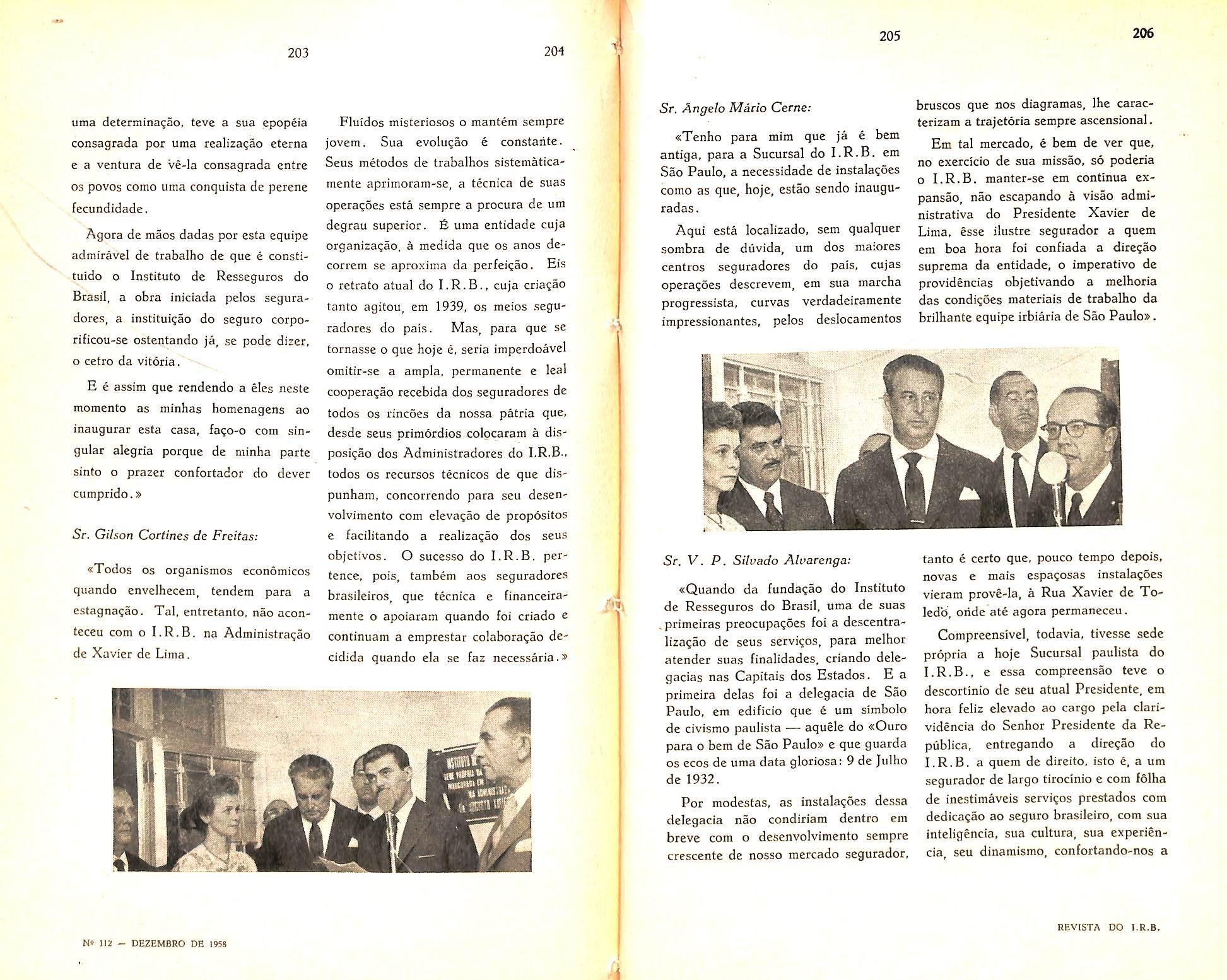 Sr. Angela Mario Cerne:
Sr. Angela Mario Cerne: