

REVISTA I

S U M A R I O
Estrutura da populagao sob o aspecto da idade; Antonio Lasheras-Sanz. coi. 3 — A nova apolice ajustavel: Liiiz Mendonga, col. 39 — Padrao ininimo para o caiculo das reservas mate-' maticas das companhias de segiiros de vida; Ediiardo Olifiecs. col. 43 — Reflexoes sobre o resseguro dos riscos de granizo: i?o^er Collon. col. 57
As vistorias previas no ramo Cascos: Paulo Motta Lima Sobrinho, col. 63
— Consideragoes sobre tarifa oficial: Adyr PecSgo Messina, col. 71 — Vistoria dos navies: Jose Cruz 5anfos, col. 77 — Considera^oes sobre as fungoes do capital nas companhias de seguros de vida: Walter Neumann, coi, 85 — O Seguro Global de Bancos e 0 crime continuado: Vanor Moura Neves, col. 91 — A tarifagao progressiva no ramo Incendio — Tese; Ar mando Varroni Junior, col. 95 O seguro incendio das refinarias petroliferas — Tese; L. C. Derrick, col. 105
— Dados Estatisticos, col. 119 — Tradugoes e Transcrigoes; Sobre o seguro de transportes, coi. 135 — Liquidagao de sinistros lucros cessantes: Walter Boston, col. 147 — Pareceres e Decisoes, col. 153 — Consultorio Tecnico. col. 167 — Boletim do I.R.B.. coi. 173
— O I.R.B. nos relatorios das sociedades, col. 189 — Noticiario do Pais, col. 195.
Pe/a Poifaria n." 13. de 14 de rnarco de 1956. o Direfor Gcral do Departamcnto Nacional de Seguros Privados e Capitalizacao aprovou a Tarifa para os Seguros dc Transportes Tcrrcstres de Mercadorias.
Convem r,csta cportunidade. dada a relevancia da materia. apresentar. ainda que^ sucintamentc. o histonco do trabalho ora aprovado pelo D.N.S.P.C.
Ha circa de 10 anos foram adotadas no pats as tanfas de seguros ferroviarios e rodouiarios. Desse tempo a esfa parte muitas corvecoes. cmendas e acrescimos. nao so das condigoes tarifacias c dc cobcrtura como das propnas t^as. se Jt^eram notL. tornando. de ccrta forma, obsdeto aquele trabalho mtaal c imprescindivel uma rccompilagao daquelas tarqas.
Inicioa-se entao. em separado. o cstudo da tarija ferroviarja c da rodovia'ria. para v.m cxame mais acurado das condtgoes peSliares a cada sistcrr^a dc transportes. face aos elementos ja disponiveis.
rnnromifanfemente era considerada a possibilidadc de fusao das ^ Para isso foram considcradas. inicialmente. as condtcocs comms ^s duas series de riscos, passando-se posfenormenfe aquelcs TrinfipTos cue poderiam oferecer divergenaas Nestc aspccto, prtncipios Lf.-L p t' nn sentido de tornarem-se iguais foram fcitos^ os melhores p,g,ticamente foi conscguido, as cobertmas, o q -rnnacao de ampUar a cobertura ate sempre. todavia. com a preocupacao P cnfao conccdida.
EMorado o mtcprojCo. foi aprecugao da Comissao Permanene „ • (C C R ) e' /c. P:T. c.l Comtssoes^^^^^^ C. a Comi5.s5o Central de membros, mediante examc magnificn colaborageo dos respectivos menwrvs, detalhado de todos cs seus aspectos. , „
n . . a fr,r!fa Ota aprovada o trabalho hngo Reprcsenfa, povtantn, a . ' , tecnicos qne represenfaram e ardtio dc uma numerosa equtpe de tecmcos 9 P araiio ac uma r-
- a Fadcrapuo das Emptisa, dc Scgaros Pcvados e Cap,-: talizacao:
— a ConfederagSo Nacional da Industna:
— a Confcderagao Nacional do Comerao;
— o Sermfo Atuarial do Ministerio do Trabalho, Industna, e Co^ema de Seguros Privados e. Capita-
zagao, e o Instituto de Resscguros do Brasil. aos quals eonstgnamos aqul urn voto de louvoc.
Estrutura da popula9ao sob o aspecto da idade
Antonio Lasheras-SanzCaCcdcdtico da ScfUo Atuarial da Paculdadc do Ciincias Polificas, Econdmicas c Comccciaii C Pccsidcntc do Instituto dc Atuarios Espanhois
\ o ESTUDAR, sob a forma expressa pelo titulo desta dissertagao, o coletivo constituido pelo resultado de urn censo, a primeira considera^ao que nos ocorre e a da distribui^ao do mesmo per idades e sua natural classifica^ao por sexos. Para exemplificar, tomemos o censo da populagao espanhola que teve como ponto de referenda as 24 horas do dia 31 de dezembro de 1940, o ultimo que utilizamos em varies trabalhos demograficos iniciados antes do termino da elaboragao do censo de 1950 pelos servi^os oficiais a cargo do Instituto Nacional de Estatistica. No quadro I, na coluna encabe^ada por Lx, figuram OS niimeros de homens e as respectivas idade arroladas pelo censo. E no quadro II, temos os mesmos niimeros referentes as mulhc res.
A estrutura da expressao grafica destas duas sucessoes de habitantes espanhois (homens e mulheres) segue paralelamente com as correspondentes aos censos anteriores dos anos de 1930. 1920 e 1910, que nao acompanhamos tambem para evitar repeti^oes desnecessarias.

Com o fira, pois, de obter uma es trutura censitaria modelo, resolvemos operar substituindo as series censitarias diretamente obscrvadas por sens equivalentes resultantes da divisao de cada um dos termos daqueles, Lx, em geral, pela soma de tais termos
100 p=Zl.
s=0 de modo que foram obtidas duas series de coeficientes analogos, uma para homens e outra para mulheres, da forma:
Lx : P = W. que afctadas, em sua notagao, por um r, como indice para os homens, ou por um h, para as mulheres, figuram tam bem, respectivamente, nos quadros numericos I e II, anexos.
£stes coeficientes foram retirados da memoria ou tese apresentada regulamentarmente para a colagao do grau dc atuario de seguros por nosso distinto aluno Sr. Carlos Primo Medina, redi-
gida sob nossa oiientacao, como um criterio dc Buchanan, extcnsao do de dos trabalhos para o periodo 1953-54 King e Hardy citado ao caso desta lei da Se^ao de Biometria e Estatistica de Lazarus, nao tendo fclizmente sc Atuarial do Departamento de Estatis- apresentado raizes imaginarias. tica do Conselho Superior de Investi- numcricos .obtidos para gagoes Cientificas. os paramctros de ambas as formulas e As representacoes qraticas destas ^ , , . I f- • » fv,ii,-arr, P'd-'d coda scxo, sepaiadamente, saoduas secies de coeficientes riguiam, ^ respectivamente, nos graficos I (ho- Formula de Makeham: mens) e II (mulheres), tambem anexos. e correspondem as linhas quebradas dc Elcmcmos Homens " 'crcs trago fino que neles figuram.
Embora, para nossos fins, as fungOes emprcgadas para o ajustamcnto ofe- censo de homens, o ajustamento regam apenas interesse secundario, di- Lazarus coincide plenamente, na remos que o referido ajustamento foi com'o valor obtido para a efetuado (pelo nosso citado colabora- ' Makeham. Ao contrario. dor) mediante a chamada primeira lei , j^y]Lere.s, a coincidencia de Makeham: " j ^ ,q ocorre na idadc IV■''' " Ao tomar, pois, para as idades 9 a 17 desde a ordenada maxima da curva homens c 9 a 19 das mulheres, os ou tragado bruto ate o final (9,100), ygiores calculados por Lazarus, ao aplicando-se o criterio de King e Hardy j^ves dos de Makeham, tivemos de para o calculo dos parametros. As gfet^gr uma corcegao na totalidade dc primeiras idades, depois de varies curva, baseando-nos na comensaios, fcuram tratadas pela formula pgnsagao dc areas per meio de um de Lazarus: coeficientc geral de proporcionalidade, y:t = a saber:
BEVISTA DO 1, R- B.
o quc nos proporciona novos raios dc amplitude, para os quais:
cm cada um dos quais ocorre o mesmo numero de nascimentos. isto e, •ydo _ Y'l'-i-r _ _Y -> 0 ~ U -^0 — ••• — 0 1
Os valores calcuiados por ajustamento figuram nos quadros numericos. anexos III para as idade.s 0 a 17 ou 19. conforme se trate de homens ou muIheres. e IV para as idades 18 ou 20, respectivamente, ate o final 100.
As representagoes graficas dos ajustamentos figuram em tra^os grossos, nos ja citados graficos I e II, bem como as da consequente regularidade na sucessao de seus respectivos elemento.s, corrigindo o tra^ado bruto per cima de -si inesmo.
pode ter a corcova notada nas curvas de homens e mulheres do censo de 1940. E, para tanto, raciocinaremos dentro da orbita das ideias e dos principios gerais.
Ao e.xaminar visualniente tanto a.s series nuinericas como suas representagoe.s grafica.s, a prinieira coisa que ,se observa c c fenomeno segiindo o qua], no case real do censo de 1940, e tanto para os homens como para as mulheres, OS numcros de recenseados nas idades de 0 a 9, ambas inclusive, seguem iima trajetoria ascendentc. o que denota uma anormalidade. Em outro.s censos, as idades a que correspondcm as cifraa maximas de recenseados poderao scr as meshias que as relativas ao censo de 1940, ou diferentes, e iguais ou diferentes para os homens e mulheres de um mesmo censo. Todavia, e trivial o problema da idade a que corresponda o maxiino da curva, e por isso nao nos deteremos em considera-lo, uma vez que o importante e o fato de que se produzam e nao o pormenor da idade ou idade.s a que correspondam os maximos. Estudemos as significa^oes que

Se observarmos e registrarmos o niimero dos nascidos vivos, durante um ano. h, em um pais ideal, constituindo um coletivo fechado, isto e, onde nao se pode entrar por nenhuma razao nem de onde se pode sair por nenhuma outra que nao seja a morte, no final desse ano, a meia-noite do dia 31 de dezembro, sobrevivera desses nascidos um numero quc representaremos por L„ que compreendera todos OS sobreviventes nesse momento dentre os nascidos no ano, cujas idades cstao incluidas entre 0 e 1, cxcluida esta quando cxata.
A contagem, em igual data do ano seguinte, dos sobreviventes do grupo L„ (''), nos proporcionaro outre numero, que representaremo.s por L| que compreendera todos os que, nascidos no inesmo ano. tenham compietado a idade dc um ano, mas nao a de dois. Assim, iremos obtendo sucessivamente os numeros L; ("), L; Lx ..., respectivamente, aos tres, quatro, etc., anos, e em geral ao final do (x + I)" ano dc exislencia da geraqao.
Se, ao inves de limitar-nos aos Ny C") nascidos em um so ano, h, estendermos nossa observa^ao a uma sucessao de anos consecutivos, /i, ft 4- 1, A + 2
rcgidos rigorosamente pela mesmn lei de mortaiidade, teremos passado a considerar uma populacjao acrescida em cada ano por igual numero dc nasci mentos, cm que nao se pode entrar por nenhuma outra causa, c reduzida pelos falecimentos correspondcntcs, mas tambcm por nenhum outro motivo, isto c. onde nao .se admitem ds fenomenos migratorios, Ncstas condigoes, o censo recem-realizado. transcorridos os primeircs rt' t 1 anos (sendo tv a idade maxima acusada pela observagao para a vida dos componentes de tal popula^ao), nos proporcionara um coletivo que, distribuido por idade.s, formara a serie;
4-
Dadas as condiQoes inicialmentc estabelecidas, tcrcmos, para uma e outra serie, como resultado;
1 (li u— x) ^ r
0 que significa que a segunda serie estara constltuida por um termo dc cada uma de outras tantas series como a primcira, Esta, como dissemos, corresponde a uma linica gera^ao, mas a segunda represcnta o conjiinto das quc, procedentcs de varias gcra^ocs .succssivas, coexi.stem num mesmo momento (o cm relagao ao qual se fnz a con tagem ccnsitaria); c uma serie de coetaneos.
De qualquer mode: e
Per representar Lx o numero de pessoas que tein a idade -v, mas nao a idade x 1, e ele constituido por uma soma de numeros de pessoas que tern, respectivamente, as idades x, jI m
2 t m m m-I
X -] cuja expressao geral reprem t sentaremos por lx + —• m
Quando as idades sao inteiras, a serie )„, Ii. 1. , lx , , e 3 dos numeros de pessoas que tern exatamente as idades indicadas pelos subind:ces, e dai li. ]-, lx. significarem os nume ros dc pessoas que procedem das L nascidas todas vivas no mesmo mo mento (ou supostas como tal), e que vao alcanc:ando as sucessivas idades de 1. 2, X. anos. Esta e a serie conhccida comumcntc por tabua dc sohrccii'cncia. As series dc elementos.L constituem o quc se denomina series ou tabuas de popula^a'o.
Da tabua ou serie de sobrevivencia sc deduz outra serie de numeros, que sao OS falecimentos ocorridos em cada idade, ou seja:
iL = l.s —L+i' que represcnta as pessoas falecida.s compreendidas cntrc as idades x, in clusive, e X -!• 1, exclusive Vejamos agora a rela^ao e.xistente entre Lx, lx e dx. Para isto. lembraremos que. como acabamos de dizer,
Advirtamos aqui quc podemos admi- Por conseguinte, e resumindo, temos: tir;
Is—.' — • •dx <■ 1 t :■ I.— ^
•'in 111 X II Jii como conseqiiencia da hipotese da distribuigao umformc dos [alecimcntos durante o ano.
Por isso, quando teremos: - Is+t 5t III —V 03 111 e tambem;
t lim — (l|,-l^+t) X ot= 5t Tn m III
Conseqiientcmente. podemos escrever:
1 I-x = - dx+lx-io) = 2
Todavia, sera isto valido tanto para a .serie
T '10 1 (ii) 7 (ll) 7 Ol) J-y , 1.-1 L.2 I-,| como para
I'D ,1-1 ..--Lx ■■■
Efetivamente, para a primeira serie a equivalencia e certa, bem como para OS termos da segunda, tambem em vir tude da equivalencia que estabelecemos anteriormente, a saber:
em vista de ser
-x-dO _ v(Il+w) rj — 0 e a mesma a lei que rege a sobrcvivencia. Porem, quando nao se realizar uma dessas circunstancias, tampouco se realizara a igualdade entre os termos L de uma e outra serie e, portanto, muito menos se realizarao as igualdades:
= 1, 1 dx em virtude de haver aplicado o teoreina da media a avaliagao da integral, o que constitui uma interpreta^ao analitica da referida hipotese da distribuigao uniforme dos falecimcnto.s.
Ora, se Ix Ix -j- 1 =- podemos es^rever: 1 - dx + l.v+l)
1 Lx — (lx+l.x+l) A
pois a serie de termos 1^,. h, .. . Ix. c da mesma natureza dos termos de 1^,1,.1,1. 1,4,.,1.^1., ,.., e, por conseguinte, da de seus equivalentes L^,, Lj. L2, Lx, Ambas sao series de termos quc supoem o.s niimeros de pessoas que, partindo dc um grupo inicial l,, ou L,,. vao sobrevivendo em cada um dos anos sucessivos. A linica diferen^a esta em que os lo. sao OS nascidos no me.smo momento.

praticamentc, no primeiro dia do ano, enquanto que os Lq sao os que vivem no final do ano, dentre os nascidos du rante o mcsmo, o quc equivale aos que cxatamentc na metade desse ano tern, cm media, meio ano de idade: li/_.. .Ao contrario, quando a serie c formada por termos hcterogeneos, isto e, por nascidos cm anos diversos e cstes nascimentos apresentam niiineros diferentcs, resulta uma hetcrogeneidade cspecifica, que torna invcrossimeis as refcridas equivalencias, principalmente se a ici de niortalidade tambem nao e a mesma.
Quando se elabora, na realidade, o ccnso de uma pcpulaqao corapletamente aberta, isto e, exposta tambem aos cfeitos dos fenomenos migratorios, sucede quc, embora admitindo a mesma lei de mortalidade, — 0 quc ja e admitir, nao obstantc seja a fungao da mesma forma, os valores dos parametrcs, salvo per casualidade, serao diferentes. cada um dos termos, da serie
.'^upoe desigualdade nos numeros dc nascimentos (seni prejutro de quc, cxcepcionalmenfe, possa ccorrer tal de sigualdade entre os nascimentos computaveis para dois ou mais anos consecutivos).
Voltando, pois, ao fenomeno observado, nos censos espanhois, do cresciracnto dos termos durante os primeiros
anos da infancia, se se deduz racionalmente do que foi dito que toda a serie deveria ser decrescente, o motivo de
quc assim nao seja deve-se, em principio, logicamente, a quc a natalidade computavcl va decrescendo, 0 que pode ccorrer pelo fato de quc decres?a efeti vamente a natalidade real, uma vez que OS fenomenos migratorios influiram com oscila^oes cuja tendencia nao deixaria de ser decrescente ou em virtude de erro no registro dos nascimentos, que se cordge com a realizarao dos censos, ou por ambas as causas.
Uma teorizagao da serie dos termos do ccnso, bastante aproximada c aceitavel, seria extrapolar os numeros que, por calculo, resultassem para as idades que vao de 0 a 8, ambas inclusive, (dado que o ponto maximo da curva corresponde a idade de nove anos), e a seguir fazcr coincidir as somas, no caso dc ser avaliavel a discrepancia, mediante a aplicarao de um coeficiente dc aumento ou de rcdurao, do modo como antes operamos.
Cumpre observar igualmentc que. quando o censo seguir a norma logica. podera ser interprctado com toda a precisao c em toda a sua amplitude pela primeira fungao dc Makeham, com a particularidade de quc, no tocante as idades da infancia, discrepara a interpretarao teorica do censo da tabua ou serie de sobrevivencia respccfiva.
Vimos que
mas. para os termos L de um ccnso de coetaaeos de uma popula?ao aberta e espedficamente heterogenea, nao e possivel estabelecer essa relagao, pois, embora seja ccrto que quando se tratar de uma popula?ao fechada aos movimentos migratorios, acrescida anualmente por igual numcro de nascimentos, a seguir submetidos rigorosamente a mesma lei de mortalidade, resultara, em virtude de fal-relagao:
2 ^ 1) _S_ ,\ - X i-1)
_ idi-r-w—x) + \ — ix '.\.(h "--x) e, portanto;
^•^,.+..-x) ^ C[IU+W) ^
X=0 ' (2
Tratando-sc de um censo real de uma popuIa<;ao classificada por subcoletivos de idades e.spcdficamente heterogeneas, as coisas nao se passam assim, pois
Analogamcnte. os falecimentos de idades x registrados durante o ano de observaqao p6s-censitario estao compostos per nascidos na segunda metade do ano (h -h w — x) e na primeira do (h + w — X + 1), ou seja, tambem heterogineo:

por ser, cm geral
+...=
— ^l,{hH-")) + O-J' '"" " ±^2,(1.-1-"-+ que nao c precisamente a serie do sobrevivenda que se deduz do censo de uma popula^ao dc coetaneos de todas as diferentes idades, pois, nao se podem deduzir os elenientos I nem. muito mcnos, os A
No case do censo dc uma populaeao espedficamente homogenea, como e a dos coetaneos de todas as idades. quando o numero anual de nascimento.s e constantcmente uniforme e a lei. de mortalidade que as rege, ate sua total extin^ao. e rigorosamente a mesma para todas as gera?6e.s e nao existe a menor influencia dos movimentos migratorios. deduz-sc das relagocs anteriores que
pclo que
* 'x
Por isto, quando nao existirem fodas as referidas condisoes de homogeneidade espccifica, nao se data esta jgualdade. e resultara
-- Ix-H
1 /,(ll+XV- I)
e scremos conduzidos a resiiltados que nao tern significa^ao ncnhiima para nosso objetivo.
Nada obstante. nao significa isto que .seja impossivel construir uma tabtia de .sobrevivenda sobrc a base dc um censo real de uma populaqao aberta e classi ficada em sub-coletivos per idades, espedficamente heterogeneas entre si.
Ja o afirmamos, ncste mesino lugar, cm outra ocasiao, e hoje o repetiremos ajuntando mais alguns pormcnores. Com a ajuda do esquema de Lexis, que nao desenvolvcremos aqui, sabemos perfeitamente que o niimero de falecimentos quo, tides por idadc x. se registram no mesmo ano de observa^ao, em rela^ao a cujo final .se realiza o censo. se compoe de falecidos nessa idade, nascidos no ano (h + w —•
— X — 1) e de falecidos tambem nessa idade, nascidos no ano (h !- w •— s); sao, pois, falecidos na mesma idade, mas hcterogineos:
constitui o numero de falecimentos hetcrocronos comparavel com os sobreviventes de idade exata x (ou tides como tais), nascidos no ano (h + w ~-x): x)
para obter o conseqiiente tipo ou -taxa anual de mortalidade na idade x, qx, para a fabua de mortalidade proporcionada pela geraqao dessc ano (h — + w x) '
A determina?ao dos falecimentos hetcrocronos pode obter-sc diretamente da observa?ao, sc, ao efetuar-.sc a contagem dos falecimentos de idade .v no ano de observagao. sc estabelecc a separa?ao em dois grupos, compreendendo OS falecidos no primeiro ou no segundo semestrc do ano de observa^ao, respectivamentc, Somados, poi.s. OS falecidos com a mesma idade no primeiro semestre do ano p6s-censitSrio, obteremo.s o numcro dcsejado de falecimentos. No caso em que nao sc
estabelega semelhante distingao nas estatisticas de que disponhamos, poderemos obter um valor aproximado para dito numero, tomando a semi-soma dos lalecimentos de idade x registrados no ano censifario e no pos-censitario, isto e:
anual de mortalidade qx. Com efeito, temos qx = tlx
L '
mas a observagao nos obrigci a cstabelecer:
qx~ dx"l" 1' J,+.s donde res poderao ser, cada um. posi tive ou negative.
com o que cometeremos um erro, tanto maior quanto maioc seja a diferen^a entre as valores rigorosos do segundo e terceiros membros da serie de tres igualdades acima.
Conhecido, mesmo com erro. o numero que se pode aceitar como sendo de falecimentos heferocronos, mesmo quando nao possamos obter diretamente pela observa^ao o numero dc pessoas de idade exata .r, poderemos obter um valor tambem aproximado para este numero, em virtude da rela?ao: 2 "
1 x t-1- 2
Os erros com que resultem dx e Ix. em termos absolutos. podem fer import lancia cada um de per si; todavia, essa importancia se redue ate desaparecer prMicamente. quando dx e Ix se relacionam por quociente para obter a taxa
A expressao do erro relative que resultara e:
= Jk+f
U+S ].x
donde:
f = dx+ I' dx fix—sd.
Ix l,(lx+e)
sdx—1x4-0
Ix(lx-|-s)
= .'—Oil 4. .A + S Ix
Observa-se aqui que r e s sao va lores de erros complcmcntarcs, pelo que sera relativamente pequena sua diferen^a, a qua! divididn, ainda, por
1:^ + s, torna-se praticamcnte dcsprezivel. E, analogamente. por maioc que .seja s, conforme sua naturc^a, ao dividi-la por Ix -f- $, o valor da rela^ao sera muito pequeno e ainda se tornara mais reduzido ao ser multiplicado por

U+i: Ix = Px< 1 .
tivo e praticamente dcsprezivel. Dai poderraos aceitar
"(IH-"—-s-l) + dx I'lllH-W—X*1 + [d^ + x) xtI)'1}
LL'(Ii+W— 1 j r —X—1>
fh-rw—-x) qx
t s> 21 22
donde jlb+w—X* j'lH-U- \) p'llT-W—xl* p'll+«' x"!
•n(ii+\v—X) ...Ix —1 Jth+U-X,(p.
As taxas anuais (Ii+W—xl (h+w— (Ii+W—Xl qj , q.> j -qx
correspondem aos elcmentos componentcs de uma mesma geraqao ou integrantes de um coletivo, que se considere como proccdente da mesma gera^ao, mas sc refcrem aos anos sucessivos vividos pelos sobreviventes dessa geraqao, pelo que sao influcnciados por duas categorias de fates:
I." Em cada ano saem do grupo ou sub-coletivo de pessoas da mesma idade clementos que diminucm o numero da-
queles era que se apresentam as mesmas circunstancias iniciais e sucessivas ate o momento da saida. como as que reunem os que subsistem do sub-cole tivo inicial, com o que se reduz a base dc homogeneidade, e advem ou iogressam novos elementos, cujas circuns tancias anteriores embora genericamente homogeneas, costumam ser especificamente heterogeneas, com que sc vai ampliando a base de heterogeneidade especifica.
2." O maior grau, nao o total dessa homogeneidade, cxiste entre as taxas anuais de mortalidade correspondcntes aos sucessivos anos da vida de uma gera^ao, mas nao as taxas correspon dcntes a cada idade obtidas para os clementos fornecidos por um mesmo censo e pela mortalidade real, comparada com ele, dos anos ccnsitario e pos-censitario.
O que acabamos de dizer nos dcmonstra o valor relative que. sob o aspecto qualitative, nos ha de merecer um censo em sua distribuigao por idades e a tahua dc sobrevivencia c mortalidade dele dcduzida. assim como as taxas anuai.s e o que mais nos ocorra. Nada obstante. a conjuga?ao de taxas. especifica e qualitativamente heterogeneas, nos proporcionara a obten?ao de coletivos ideais ou modelo como sera o censo teorizado sobre a base do real e da ta/'ua de sobrevivencia dai deduzida, bcm como esta mesma tabua. que, embora nao constitua um ngoroso
RF.VlSTA DO I- R. B.
e fiel rcfiexo da realidade, poderemos aceitar como os linicos possivel de obter e manejaveis no terrene pratico.
Aceito urn censo e a tabua de sobrevivencia dele dcrivada, com pleno conhecimento do grau aproximado de confian^a que nos possa merecer. passamos a considerar iima sccie de problemas que se apresentam. relacionadcs com as idades das pessoas recenseadas, para anabsar a significa^ao aparente que nos apresentam e a real ou essencial que possamos estimar.
Os primeiros problemas de que trataremos sao os originados do fato de multiplicarmos cada um dos ternios que 'ntegram a serie que constitui um censo por suas respectivas idades. Antes de tudo, e necessario ressaJtar que. conforme sabcmos, sendo
Lx-L
a idade pela qual se tera de multiplicar Lx nao sera precisamcnte x. porem
^ /i)• Assim, pois, formaremos a seguinte sucessao de ternios.
Como oi a aucessao, cujo lermo geral
I'' ^ /2), e crescente, e a dos Lx, decrescente a sucessao dos respectivos produtos adotara a estrutura de uma ■sene de distribuigao de frcqiiencia. com um termo que represcntara um maximo. A amportanc.a desse maximo esta em demonstrar que o sub-coletivo de recenseados a que corresponde e o que
refiete a vitalidade critica ou crucial da popula^ao recenseada.
Se efetuarmos a soma destes produtos c a dividirmos pelo total da populagao recenseada, o quocienfe nos indicara a idade media dessa popula-
V" x = u = o
Esta idade media, .v, tera um valor maior ou mcnor conforme o valor do niimero L que corresponda a cada idade, e nos indicara o maior ou menor grau de juventiide ou velhice medias, que a populagao recenseada acus.e, e tanto mais se desviara num ou noutro sentido da idade x, para a qual corre.sponde o maior valor do produto (x r Lx, quanto esta inai,s se afaste, numa ou noutra direeao, da idade que corres ponda ao termo central da serie, 011 conforme seja:
X=() --)l < 9 " > x + l
o ideal seria uma ampla zona para n qual fossem quasc iguais os produto-
Uma funeao biometrica bastantc conhecida. que c basica ou que enfra na expressao de outras e quo sugerc algunias aprccia(;6es, e a dcnominada csperan^a de vida. por uns, ou vida media, por outros, e que e diferente da idade media da popiilagao.
Sabemos que nos termos I de uma serie de censos realizados ano a ano com OS sobreviventes de uma geragan ou coletivo de nascidos em um deterTiinado ano, assim como na serie de distribui^ao por idades de uma popu-
lagao de coetaneos, alimentada por igual niimero anual de nascimentos submetidos durante toda a sua vida a mesma lei de inortalidade. os de todos OS anos estao integrados por uma soma de elementos ou niimeros de pessoas de idades exatas comprcendidas entre zero e a considcrada ultima da vida humana. Per isso, podemos representar a soma de um setor delimitado dessa populaqao entre os limitcs x c .v d- n da seguinte forma;
- "2 0.-+k+n) + + 0.X+I+1.X+2+.-- +1.X+11—1)
proveniente da aplicaqao do teorema da media a avalia^ao de /,t. (],.dt = ld|, donde dx+dxH-i+.-d-dx+n-i = (l.\—lx+l)+ 4- (U+t—I.X+2) +.--4- (Ix-)n-l—k+n) ~ k l.x+n •
Dividindo-se o resultado anterior por lx. obtem-se:
lx+l+lx4-24-...+lx4-n-t_
2^, 1, " lx
= (1 nPj + (p.x+2Px+•••+ n-lPx)
V (1— -Px) +
Se fizermos aqui n = 00, as expressoes serao:
0.x - + e.
Aqui, ex e a expressao notacional dii esperarifa ordinac'a de t'ida, e sua natureza e a do valor provavel do niimero de anos intciros a viver: Px+2pxd-3p,d-...; <^x,n—il e a analoga csperanga, nao vitalicia porem, rcfcrida a um niimero, n — 1. de anos.
Por sua vez, o c
CxCCxTol expressam anajogas esperan^as de vida, mas nao em anos inteiros, e .sao conhecidas por espcran^as comp/etas vitalicia e temporaria rcferida a n anos, respectivaraente.
Fazendo x = 0, teremos Co e Oolnl com identicos significados para a idade zero.
O que acabamos de expor nao tem^ significagao concreta com aplicagao aos termos do censo de uma populaqao teal e aberta, pois, como ja vimos, tais termos sac especificamente heterogeneos. Conseqiientemente. o conccito de esperanqa matematica de vida, em

sugs duas acepgoes, Jem seu verdadeiro sentido quando sao oriundos de uma tabua de sobrevivencia, mas nao de um censo real. Para poder dedusir tais fun^oes para um determinado ccnso de populagao, o que se devera fazer em primeiro lugar. pois, sera calcular a correspondente tabua de sobrevivencia, que se possa derivar daquele censo.
Acabamos de dizer que o conceito de esperanga de vida tcm natureza de valor provavel, por ser uma soma das probabilidades proprias, references a uma origcm comum, que fern uma pessoa de idade de ir vivendo uma serie de anos indeterminada. Todavia, nem por isso se deve confundir este conceito com o de vida provavel. Entende-se por estg o niimero de anos que deve transcorter para que a probabilidade de vive-ios tenha par valor isto e
dPx =^ doDde = Ij,.
O numero de anos de vida provavel e n. E, como se pode verificar, este conceito tambem nao tern sentido senao em fun?ao de uma tabua de sobrevi vencia, pelo que, para deduzir-se a vida provavel dos elementos que formam parte de um censo, a primeira coisa a fazer sera calcular tambem a correspondente tabua de sobrevivencia.
Do mesmo modo que calculamos a idade media de uma popuIa?ao recengeada, podemos calcular a analoga dos que fakcem no ano. Para tanto, bastara fomar:
x+n—1 V-rV 1 \ *+n-l
significa^ao dessa media. Temos, assim.
x+J!—1/ i\ 2:+n—1 1 x+n—1 ~ + —'x+r)+-"+
+ (l-c+n-l—I.-c+n)f+X ^ clx+ x+n—I
s+n—1 x+n—1 ^ dx+ ^ dx+-"+dx+n-l x+1 x+o
n Ox. Ix+n)+ x(ls—lx+n)+
+ 'x+n) +•■■+ C'i+n-1—Ix+n)
~ Ox 'x+n)+xOx—'x+n) +
x+n—I
+ ^ lx~(n—l)l x+1 x+n
1 5" Ox+lx+n)+x(lx—Ix+n) +
x+n—1
d" ^ 'x ^t'x+n
x+1
Conseqiientemente, x+^l/ , x+n—1

f 1 x+n—1
= j Ox4"lx+n)+X(Ix—l.x+n)+ ^ Ix—
* ^ x+1
J ^ Is — ii+n
'x Cy.x+ll — idx+n
'x l*+n
Se fazemos aqui
Vejamos, porem, qual a verdadeira
c-
esta ultima expressao se converte em: = "2 + ^ "t" C.-C = X + ex
cuja interpretagao e a de que a idade media de falecimento para qualquer pessoa de idade x e a resultante da adigao a esta idade do numero de anos que representa a esperanga completa de vida.
No caso de X = 0. a interpretagao e a mesma, apenas que com valor absoluto para toda a populagao, limitandose, porem, a tomar como tal idade media a esperanga completa de vida na idade
zero: Co.
Ora, para dcduzir esta idade media de falecimento, nao podemos tomar os falecimentos heterocronos resultantes, conforme ja dissemos, da semi-soma dos falecidos na mesma idade durante OS anos censitario e pos-censitario, nem mesmo da soma dos falecidos de idade X no segundo semestre do ano censi tario e no primeiro do pos-censitario, caso se tenha feito tal discriminagao, pois OS falecimentos heterocronos re sultantes carecem de homegeneidade especifica, uma vez que, como ja o vimos, OS deduzidos diretamente da observagao de um grupo de populagao aberta sao da forma:
J{h+w—N) I(h+w—s—1) ) Ux j...
enquanto que os precisos para satisfazer os requisitos necessaries a exi-
gencia de que a idade media dos falccidos coincida com a idade de faleci mento sao OS que respondem a forma:
i(li+vv—x) j(h+w— • ••C'x ) Qx+l !•••
Por conseguinte, com os falecimentos de um ano classificados por idades, on com a semi-soma dos de dois anos consecutivos, ou com seus equivalentc.s de valor mais aceitavel, apenas pode mos calcular a idade media dos fale cidos, mas nao a idade media de faleci mento, pois, para poder calcular a correspondente aos elementos componentes de um censo, deveremos cal cular antes a respectiva tabua de mortalidade, e depois utilizer no calculo OS falecimentos resultantes para dita tabua.
Poderiamos continuar estudando outros problemas concretos, mas chegariamos em todos a mesma conclusao. a saber, que um censo e a serie de falecidos confrontaveis, homoiogamente com as diferentes classes de recenseados separados por idades, nao nos permitirao obter senao medias relativas a fatos consumados, mas nao capazes de projetar-se sobre o futuro, para cuja obtengao devemos construir antes a tabua de sobrevivencia correspondente ao censo em consideragao.
nI.+nklx-lx+n)-|^^^t^+X+
QUADRO I
QUADRO II


A nova apolice ajustavel
-^y-AO SE instaurou pacificamente a ~ rcforma, ha pouco feita, das condigoes da apolice ajustavel. Entretanto. das arguigoes levantadas apeoas uma sc manteve per mais tempo era foco. Versa ela sobre a exigencia de que, na renovagao do seguro, o capital segurado corresponda ao raaior valor em risco declarado no periodo imediatamente anterior.
Tal impugnagao se baseia no argumento de que especialmente em riscos de certas peculiaridades, as oscilagoes de estoque podem ocasionar freqiientes e consideraveis excesses de importancia segurada.
Como cavalo-de-batalha, essa alegagao nao serve. O excess© ou a deficiencia de capital ocorre em virtude de fatos inelutaveis, cuja incidencia constitui, alias, a razao funda mental da concessao de cobertura ajus tavel. Esta, por isso, nao se destina a tarefa inviavel de remover as causas irresistiveis das oscilagSes de estoque e sim ao objetivo de atenuar a consequencia dai decorrente para o contrato de seguro; o desperdicio de premio.
fisse objetivo, no sistema antecedentc, nao era alcangado em sua pleni tude. Mas agora sera — sem duvida
Luiz MendonpaSecrctario-Tecnico da Fcdcra^So Nacional das EmprSsas de Seguros Privados c CapUalizacao
alguma — porque nao mais se estipula, na apolice ajustavel, qualquer limite a devolugao do deposito inicial. Ao termino do contrato, o segurado somcnte desembolsara o premio real.
Essa nova condigao, preservando "o segurado do desperdicio de premio, no mesmo passo e instrumento eficaz para evitar-lhe a hipotese adversa da insuficiencia de capital segurado na ocasiao do sinistro. A certeza da devolugao do premio excessive afasta quaisquer vacilagoes que se anteponham a contratagao do seguro na base de capitals suficientes cm todas as contingencias, Nisso ha benefkios evidentes e inegaveis para o integral cumprimento das finalidades cometidas ao seguro.
A reforma agora cmpreendida nao se deteve nas questoes de ordem puramente funcional do sistema implantado.
Cuidou, inclusive, de importantes aspectos economicos, e de tal maneira o fez que dai resultou a fixagao de um modico deposito inicial. Nada obstante a garantia de que, no termino do con trato, o segurado so tera desembolsado
o premio efetivo, a modicidade do de posito tornou-se uma medida necessaria. a fim de evitar-se ao segurado um avultado descmbolso inicial, que seria inevitavel em virtude de servir de base ao contrato o maximo declarado no periodo anterior.
Em desfavor do piano vigente, fora talvez creditavel certa procedencia ao receio de que o sistema cria um problema de ordem fiscal. Mas nao se pode afirmar, de piano, que os decrescimos de estoque ocorram sempre de forma a ocasionar substanciais devolugoes do deposito inicial. A perda fiscal, assim, e quando acaso existente talvez nao seja de molde a sobrepujar-se as corapensagoes de fato existentes na atual padronizagao:
a) economia resultante da abstengao quase total de apolices especificas, sujeitas a «tabela de prazo curto»:
b) dispensa de um controle rigoroso destinado a apurar deficiencias da apolice, para imediata aquisigao de coberturas complementares:
c) integridade da cobertura contratada, afastando-se a hipotese de aplicagao, em caso de sinistro, da clau.sula de rateio.
Essas sao vantagens apreciaveis que nao podem ser menosprezadas. As solugbes completas e absolutas nem sem
pre sao alcangaveis; quando faltam, surgem em seu lugar, necessariamente, as solugoes relativas mais adequadas ao fim visado.

Enfim, esta em vigor a nova apolice ajustavel. Resta agora a experiencia por em relevo os seus possiveis erros e acertos. O Senhor Diretor-Geral do D.N.S.P.C., proferindo despacho em requerimento que Ihe foi feito, decidiu que nao se deve modifica-la antes de transcorrido determinado periodo de experiencia.
Desde ja, todavia, um imperative ressalta: o de que nao se deve deixar ao inteiro arbitrio do segurado a fi xagao dos capitals de cobertura. Do contrario, estaria desmoronado todo o sistema. Se o estoque maximo de um determinado periodo nao e um valor tipico,'entao se estabelega um criterio — o que, por sinal, nao sera dificil capaz de permitir a apuragao de um outro valor que melhor exprima a tendencia das oscilagoes.
O que nao se faz aconselhavcl e a continuagao do regime das repetidas revisoes de capital durante o curso da apolice, atraves de endossos ou de apo lices especificas. Em seu conjunto a cobertura tem, nesses casos, carater menos propriamente ajustavel que especifico.
dc scffiiros do vida
TTa MAIS de 40 anos me foi dado descobrir per acaso um padrao mlnimo para o calculo das reservas matematicas das companhias dc seguros de vida operando no Brasil. que ate hoje consta dos sucessivos regulamentos de seguros decretados desde 1920. O acaso quis que eu tivesse de lidar nos mcus trabalhos atuariais com as mesmas percentagens de 50, 65, 75, 85 e 95 em dots hemisferios na aplica?ao desse mencionado padrao.
Com efcito, nos Estados Unidos live de aplica-las ao padrao chamado de «Select and Ultimate» na sec(;ao atuarial do seu autor. Miles M. Dawson, padrao constante da lei de Seguros de Nova York de 1906 resultante do «Armstrong Investigations.
Quando cheguei ao Brasil cm 1915 qual nao foi minha surpresa ao deparar essas mesmas percentagens na secqao atuarial da Companhia de seguros de Vida bul America apiicadas as reservas terminais dos cinco primeiros anos de seguro. Quern transplantou essas per centagens para assim desnaturaliza-las. ninguem pode me informar. Houve ai ma interpreta^ao quanto a essas per centagens constantes entao da lei de seguros de Nova York, Com efeito, enquanto essas percentagens foram ai usadas para determinar a relagao das taxas de mortalidade «Se]ected and LIltimate» da tahua «American Expe riences para achar o valor atual dos
Eduardo Olifiers M.l.B.A. A.I.A. F.S.A. F.C.A.S. Atuario Consuitorlucros de mortalidade destinados as despesas dc aquisi?ao estabelecidas na lei dc Nova York, essas percentagens perdiam todo sentido quando apiicadas as reservas terminais.
A sec^ao atuarial dessa Companhia achava entao as reservas medias tomando a media aritmetica do premio puro e das reservas terminais de dois anos de seguro sucessivos reduzidos pelas mencionadas percentagens de 50, 65, 75. 85 e 95 por cento as reservas terminais do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos de seguros para calcular as reservas matematicas do fim do ano financeiro que nesse tempo findava em Mar?o. Este proccsso nao permite de terminar nem a importancia das despe sas de aquisigao a serem amortizadas em cinco anos, nem as respectivas cotas de amortiza^ao a serem acrescentadas aos premios puros.
O acaso quis tambem que na sec^ao atuarial da mencionada companhia se procedcsse a uma investigagao da mor talidade observada desde o inicio de suas operagoes a fim de determinar as cotas de lucros acumulados a serem distribuido.s entre os segurados no fim dc 10, 15 e 20 anos, de modo que me foi
possivel verificar a inaplicabilidade no caso vertente, do metodo «Selected and Ultimate^. Alias na lei dc Nova York este metodo foi substituido pelo metodo chamado de «Illinois» em que as des pesas de aquisi^ao sao amortizadas, como no padrao usado no Brasil, por uma cota acrescida ao premio puro.
Lima descri^ao do metodo «Select and Ultimate» foi publicada no Jornal do Institute dos Atuarios (Vol. XLII p. 425) e no «Transactions do Quarto

Congresso Internacional dos Atuarios»
Vol. II p. 954. Ocorreu-me aplicar o metodo Zillmer restringindo o prazo de amortiza^ao a cinco anos em vez dum prazo variavel de acordo com a dura^ao do pagamento dos premios e adicionar aos premios puros as respectivas cotas de amortizagao. Assim procedendo verifiquei que as reservas terminais menos OS valores atuais das cotas de amortiza?ao sao aproximadamente: no fim do
P ano, zero cm vcz de 50% das reservas terminais inteiras
2' ano. 60% cm vez dc 65% das reservas terminais inteiras
3' ano, 80% em vcz de.75% das reservas terminais inteiras
no fim do
I >
4" ano, 90^'o em vez dc 85% das reservas terminais inteiras
5' ano, 96% era vcz dc 95% das rcscrvas terminais inteiras
Deve-se notar que estas percen tagens sao aplicaveis as reservas ter minais inteiras de todas as tabuas de mortalidade a qualquer taxa de juros. As reservas terminais assim calculadas permitem estabelecer uma rela^ao entre as reservas medias dos sucessivos anos financeiros pelos custos dc seguro que. destinados ao pagamento dos sinistros menos as respectivas reservas, permi tem determinar os lucros e perdas da mortalidade, alem de permitir verificar a exatidao das reservas matematicas de fim do ano financeiro.
Isto me levou a achar os lucros e per das por fontes do cxcrcicio financeiro de 1917/1918 da citada companhia como se procedia entao nos Estados Unidos e compara-los com os publicados no «Spectafor» para as compa nhias Amcricanas. A importancia da reserve tecnica montava a menos dc 36 mil contos de rcis incluidas as re serves das sucursais de Argentina, Chile, Equador e Peru sendo que desde entao as sucursais de Argentina e
Chile foram transformadas em com panhias nacionais de modo que eu nao podia deixar de levar em conta o efei to sobre os lucros e perdas das diferentes taxas de cambio usadas na avalia^ao do ativo e passive c a receita e desembolsos c chamar a aten?ao sobre a diferen^a entre o sistema de calcular as mcedas estrangeiras da citada com panhia -e das companhias Norte Amc ricanas notadamente a «Sun Life of Canada».
O «Spectator» publicava eritao per centagens sobre:
a) despesas em rela^ao a sobrccarga:
b) OS juros ganhos em relagao aos juros precises para as reserves de seguros:
c) custo da mortalidade cfetiva em relagao ao custo de mortalidade esperada:
d) as importancias empregadas nas apolices rcsgatada.s, saldadas,
Piidriio niiniDio para o ciileiilo das rcscrvas niatematicas das coiiijiaiiliias
prolongadas, reabilitadas e alte- interpreta^oes erroneas por faltarem radas em relagao as reservas em dados imprescindiveis para poder formao para fazer face a essas even- mar-se urn juizo acertado. tualidades. Por exeraplo as despesas em reiaqao
» ., _ a sobrecarga variam duma companhia a As interpreta?oes erroneas a que » j - j -i ■ j ^ outra de acordo com a tabua de mor- deram ongem essas percentagens acha-' . i-. j ^ . , J, J r- - c. T T- , , VT tahdade e a taxa de luros usadas no das do «Gain & Loss Exhibits Norte- -i i j a 1 , calcuJo da reserva matematica como e Americano levaram a modifica-Io sendo ^ j , , -u— j f. - , ° "^^so notadamente com a tabua de as ultimas modincagoes consignadas no f i j j c - » • i j tj -I.. j-i J * , r. mortaJidade Semi-tropical de Hunter ultimo modelo do «Annual Statements , i c i a • , 1QC1 ^ , usada pela Sul America no calculo de lypl. u acaso quis que, quando ter- j s • t-
1Q10 - , dessa reserva e a American Experience, minei em 1919 a apura?ao dessas per- a j - .
t- - - 1 . ^ receita de premios constante da centagens, o entao Atuano da Inspeto- j » - j . t n via Dr a c 1- AIL demonstragao da conta «Lucros e Per- ria, Ur. A. Felix Albernaz tivesse em . .. , , .

c...-, • J ^ r , companhias de seguros de vi- mente sugerir adotar para fim de fisca- j, j p- J /- • f T operando no Brasil. em que sao se- lizaqao o mencionado «Gam & Losss. . • , , .
13-,- , r , paradas as receitas dos premios de 1" roi nesse ano que se deu a falencia da j rnmnanV,:, A j • i a rcnovaqoes, permife comparar companhia de seguros de vida «A Ga- . . , , i-anHr. J- A - , , judiciosamente as despesas em rantia da Amazonias e que, a pedido i - • . , , J. . J , relaqao a receita de premios das com- da mencionada companhia, uma comis- a t - - l
1 J A , panhias do que em rela^ao a sobrecar- sao. de que o saudoso Atuario foi mem- g, ^
Despesas dc seguros;
Comissocs dos agentes
dizerem
d zJm 2 r ''T
da sua situagao economico-fi- Life Insurances orga-
«Spectators foi substituida pela
alZlia H" 11 f companhias Norte Ameri- garantia dos multiplos contratos de se- j j . canas dc seguros de vida. guro em vigors como consta do «Rela- r)r,ii • j t6rir. A Ral=„— A 1 J o, I ^ seguir urn quadro comparati- lono e Calanco Anuals de 31 de marco j j j , , , de lQ7n A . ° destmo da receita de um do ar ,de IViJU da citada companhia. . ^ dessas companhias como consta da pa- E claro^que esse «Gain & Loss gina 50 da publica^ao «Life Insurance llxhibit» nao pode fornecer criterio de Fact Book» de 1955 desse Institute so vabihdade duma companhia e quanto referente ao exercicio financeiro de as percentagens comparativas acima 1954 com o da receita da Sul Amemencionadas s6 podem dar cnsejo as rica.
RECEITAS DE: r- l v, L«mpanhias Norte Sul America Americanas
P.-«mios llquldos de resseguros , nvcstimentos menos
• (*) Neste item estao incluidos os dividendos. bonificagoes e gratificaqoes. Todos OS impostos sao pages pelas companhias Norte-Americanas enquanto no Brasil, os segurados pagam o imposto federal, selo proporcional, custo da apolice de modo que para comparar as despesas de seguros das companhias Norte-Americanas com as da Sul Ame rica deve-se acrescentar os impostos. etc. 1,9 constantes do quadro supra as despesas de seguros de 17,1, perfazendo um total de 19.0, enquanto, par-a a Sul America, estas despesas montam a 43,5 por cento das receitas de premios e investimentos e 23,4 per cento da receita das companhias Norte Ameri canas e 54,8 por cento da receita dc prem'os da Sul America ou seja mais do dobro das despesas de seguros das companhias Norte Americanas.
Deste quadro comparativo pode-se inferlr que. sendo a relaqao das des pesas de aquisiqao ou produqao 2.7 vezes maiores na Sul America do que as das companhias Norte Americanas c a das outras despesas 2.4 vezes, as des pesas de aquisiqao destas companhias devcm ser proporcionalmente bem menores que as da «Sul Americas.
Com efeito, pode-se vcr no relatorio e balanqo da Sul America de 1954 que as despesas dc produqao ultrapassam a receita de premio do H ano de mais que cinqiienta por cento.
Nio ha Estado da America do Nor te. em que a legislaqao de seguros limita as despesas de aquisiqao. que permita estas uUrapassarem a receita do premio do 1" ano. fislt financiamento das despesas de aquisiqao alem da re ceita de premio do 1." ano so pode provu dos fundos acumulados pelos antigos segurados ou do capital dos acionistas. quando nao houvcr estes fundos por ter a companhia iniciado recentemente as suas operaqoes, que dcverao tambem prover os fundos para a constituiqao das deficiendas das reservas tecnicas. deficiencias que podem ate estender-se sobre um prazo de cinco anos.
fiste financiamento infui na percentagem das outras despesas que deve variar em razao direta com a percentagem das'despesas de aquisiqao. Maior sera esta percentagem das despesas de aquisiqao. maior sera tambem a per centagem das outras despesas.
Os lucres a serem distribuidos ao.s segurados sao portanto diretamente afetados por esse financiamento e esta percentagem das outras despesas de modo que. pela limitaqao das despesas de aquisiqao. os legisladores Norte Americanos quiseram proteger os mteresses nao so dos segurados como dos acionistas.
Por esse motive me ocotreu sugerir que no Decreto H 593 de 21 dc
dezembro de 1920 fosse Inscrito o se- deste decreto consta apenas que «Das gumte paragrafo unico ao artigo 54: reservas matematicas poderao ser des-
«As companhias nao poderao ^o^f^das as parcelas ainda nao amortidispender com a aquisigao de se- ^adas das despesas de aquisigao nas guros novos isto e, para a comis- quais se compreenderao, pelo menos. a sao sobre os primeiros preraios, comissao de primeiro ano e o custo do reoiuneragao, bonifica^ao, gratifi- exame medicos; e o seguinte paragrafo cafao, etc. custo do exame medico 3- que me e ininteligivel; Artigo 96 e inspe^ao dos riscos, durante um «§ 3" — Em relagao aos contratos ceano financeiro, diretamente ou in- lebrados nos doze meses anteriores a iretamente, uma importancia avalia^ao da reserva, nao poderao ser aior o que o primeiro premio descontadas despesas superiorcs a 50'/c pago durante o mesmo ano finan- (cinqiienta por cento) dos premios li-
um ano ° ^ seguro por quidos do primeiro ano reaimente arre- um ano, calculado de acordo com ^ j . . , OS padtoos Indicados para o cal- f °° ° calo das reservas matematicas do avaliacao., constantes da tarifa aprovada pelo 'i °
Governo. paragrafo linico ao artigo 54, as despe sas de aquisiQao da «Siil Americas nao fiste paragrafo foi eJiminado do De- ultrapassavam a receita de premios do creto de 21 828 de 14 de setembro de D ano menos o custo do seguro por 1932 e do Decreto-lei n"? 2 063 de 7 de um ano, como se ve do relatorio e bamar^o de 1940 sendo que do artigo 96 Ian?o de 1917/18 dessa companhia:
Rcccita de premios novos
2 148 679S139
por agentes gerais que recebiam s6mente comissoes sobre a produqao dos subagentes apresentados por eles. Desde entao a angaria^ao se efetua por inspetores c instrutores que recebem ordenados, ajuda de custo, sendo que as comissoes constituem uma parte pcquena relativamente as que recebiam OS agentes gerais.
Os dois itens «Despesas com organizadores» c «Outras despesas» que constara do relatbrio e balango de 1954 nao podiam portanto constar do de" 1917/1918.
sas de seguros. Por serem as despesas de aquisi^ao tao elevadas no Brasil. torna-se tanto mais premente a limita^ao das importancias a serem despendidas para a produ^ao e cuidar mais da conserva^ao no intercsse dos segurados, agentes e seguradores.
espesas de agencias, Hon. medicos etc 230 436$316 ou scja 10.7% da receita i-omissoes e outro.s pagamentos a agentes ....
1 462 539$100 ou .scja 68,1% da receita
1 692 9755416 ou scja 78,8% da receita.
Do relatorio e balance de 1954 dessa prodm;ao montara a 154 por cento da companhia ve-se que as despesas de receita de premios do D ano no Brasil:

Receita de premios do 1? ano
,
91 616 687,80
Lie ■ "
oS H
c/produtores
77 076 300,00 ou sejn 84,1% da receita
5 298 824,40 ou seja S.si da receita
26 394 319,60 ou seja 28.8% da receita
32 525 850,20 ou seja 35,5% da receita
141 295 295,10 154.2%
E.sta percentagem seria ainda maior .sigao destes seguros bem inferiorcs as se a receita de premios dos seguros dos seguros individuais. temporarios em grupo tivesse sido se- Em 1917/1918 a angaria^ao de se>parada, por serem as despesas de aqui- guros se efetuavam na «Sul Amerlcia'^
As despesas de seguros montavam, nestc exercicio, a 3 588 078$288 e a receita de premios a 8 019 757$958 ou seja 44,7 por cento da receita de pre mios de modo que as despesas de se guros aumentaram de 1918 a 1954 de 44,7 para 54,8 por cento da receita de premios quando as percentagens dessas despesas para as companhias Norte Americanas, diminuiram de 18,1 para 17,1 como se ve na pagina 54 da rcferida publica^ao Norte Americana ou de 20,00 para 19,00, acrescentando 1,90 para os impostos etc.
A infia^ao cronica no Brasil deve ter influido no aumento das despesas de seguros pela repercussao que devem ter as despesas de aquisigao ou produ^ao sobre a percentagem dessas despesas, dado que quanto maior for a percenta gem das despesas de aquisi^ao, maior .sera tambem a percentagem das despe-
Ha tanto mais necessidadc de se proceder assim, quando se considera que as taxas de desistencia no Brasil sao mais que 0 dobro das Norte America nas, o que se reflete nas despesas administrativas incluidas sob «outras despesas» no quadro comparativo acima. Todas as companhias de seguros de vida operando no Brasil cstao atualmente infringindo os criterios eticos c tecnicos que devem reger a angariaqao de seguros de vida que prescrevem que as despesas de aquisi^ao ou produijao devem ser inferiores ao primeiro pre mio.
Nao ha legislaqao de seguros em nenhum Estado da America do Norte que permita limite as despesas dc produ^ao tao liberal, como as constantes do supramencionado paragrafo unico do artigo 54 do Decreto n^ H 593 de 1920.
A repercussao da elevada percenta gem das despesas de aquisicao sobre todas as «outras despesas» e patente nas companhias de seguros de vida recentemente organizadas tendo ate algumas absorvido todo o capital dos acionistas nessas despesas.
As despesas de angaria^ao dos seguros tempocario em grupo sendo menores do que as dos seguros individuais. ha quern pense ter resolvido o problema das despesas de angaria?ao dos seguros individuals pela angaria?ao desses seguros em grupo de associagoes de beneficenda e outras, em que nao ha a rela^ao de empregadores E empregados.
Ha uma diferen?a essencial entre estes seguros, como alias, tambem com OS seguros temporarios em grupo de empregadores e empregado.s. e os segu ros individuals tradicionais em que os segurados nos seguros femporarios em grupo nao acumulam uma reserva da qual eles poderao lan^ar mao quando atingir uma idade avangada ou quando uma circunstancia premente obriga a recorrer a essa reserva.
Da publicagao supracitada das companhias de seguros de vida Norte Americanas, ve-se que o seguro tempordrio em grupo de empregados data de 1911 e portanto depois dos seguros individuais. que sempre guardam a lideranga pelo motivo supramencionado.
Os seguros de vida pagaveis nao so por morte como tambem em vida pelos pianos dotais e os chamados ^Family income pian» tomaram a dianteira dos seguros pagaveis so por morte na Inglaterra, devido provavelmente aos se guros sociais terem sido introduzidos neste pais em 1911 bcm antes dos Es-
tados Unidos, embora a mesma tendencia se observe neste pais desde 1937, quando entrou em vigor o social security act.
Enquanto nestes dois paises a maioria das apolices participam dos lucres das companhias. no Brasil quase todas as apolices nao participam dos lucros, 0 que se atribui a elevada percentagem das despesas de seguros das compa nhias de seguros de vida, que e mais do dobro da das companhias inglesas e Norte Americanas.
Para conseguir reduzir esta percen tagem, as companhias de seguros de vida no Brasil devem tratar mais da conservagao da produgao do que se tern feito no passado, por ser do interesse dos segurados, agentes e das compa nhias que essa norma de conduta seja seguida.
Com efeito, pela desistencia dos seus seguros, os segurados tornam-se maus propagandistas da instituigao do segu ros de vida, os agentes perdem os meIhores candidates ao seguro que sao OS antigos segurados (nos Estados Unidos 237 milhoes de apolices estavam em vigor protegendo 94 milhoes de segurados, como consta da pag. 7 da citada pubiica^ao de 1955) e evidentemente tambem as companhias de seguros de vida tem interesse na conservagao dos seus seguros.
Reflexoes sobre o resseguro dos riscos de ^lanizo
(RELAT6RI0 APRESENTADO AO III CONGRESSO INTERNACIONAL DOS SEGURADORES CONTRA GRANIZO. ROMA, OUTUBRO DE 1955).

Roger Collon Dirctor-Pccsidcntc da Cie. Havraise dc Reassurances c da Cic. de Reassurance «La Sa/amandre»
Permiti-me, antes de tudo, fazer-me interprete dos resseguradores, cujo sentimento unanime estou certo de exprimir agradecendo-vos a gentileza de nos admitir no seio de vossa Associa;ao.
Falando no Congresso de BadenBaden, apos a e.xposi^ao do Sr. Magni sobre os metodos de resseguro dos riscos de granizo aplicados em diversos paises, desejastes. Sr. Presidente, ouvir posCeriormcnte a voz de um ressegurador sobre o assunto. Fizeste-me a honra de convidar-me para tanto, o que me deixou bastante sensibilizado. £ com a maior boa vontade que tomo aqui a palavra para atender ao vosso pedido.
Desejo esclarecer, entrctanto, que as reflexoes que seguem tem carater estritamente pcssoal e nao podem ser consideradas como dctcrminantes de um ponto de vista do conjunto dos resse guradores a respeito do seguro do gra nizo, podendo, ao contrario, cada um deles ter concepgoes diferentes das minhas, o que facilmente admito.
Necessidade do Resseguro no i?amo Granizo
Nao creio que esteja sujeita a contestagao a necessidade do resseguro dos
riscos de granizo. fi inegavel. de fato
, que esses riscos nao sac homogeneos: ademais, os rcsultados dos exercicios sucessivos apresentam desvios muito superiores aos verificados nos outros ramos de seguros, e cada ano levam a tcmer pesadissimas perdas.
Se, contrariamente ao meu pensamento, alguns dentre v6s naQ-estao convenci^os aesta necessidade. invocarei, para Ihes tirar as duvidas, a opiniao abalizada de um tecnico de competencia unanimemente reconhecida. o Dr. Fah, Diretor da Societe Suisse d'Assurance contre la Grele, Em sua excelente obra VAssurance Grele en Suisse autrefois et aajourd hui. escreve ele:
«Se se poe em duvida a neces sidade do resseguro. basta examinar os resultados do ano de 1950, o exercicio mais pcsado em danos na historia de nossa Sociedade. Sem o resseguro, nossa conta de lucros e perdas teria fechado com
um saldo deficitario de 9,16 miIhoes de francos. De acordo com OS estatutos, este montante nao teria podido ser inteiramente coberto pelas reservas; tcria side necessano recorrer a uma chamada de premios. Gramas ao resseguro. o prejuizo pode ser levado a 1,9 milhoes de francos, o que permitiu eyitar tanto uma utiJizagao de premios quanto um enfraquecimento excessivamente acentuado de nosso fundo de reserva.
O risco de granizo e inconstante e catastrdfico: os bons e maus anos se sucedem de maneira imprevisivel. AJem disso, a Suiga e relativamente pequena e quase nao permite uma compensagao gcogralica dos riscos, Para salvaguardar por longo prazo a capacidade financeira da Sociedade. e, pois. indjspensavel ressegurar-se suficientemente. O resseguro contribui para equilibrar a marcha dos sinistros e para atenuar as repercussoes financeiras dos anos de fortes prejuizos. For ties vezes
1931. 1942 e 1950. a utilizagao antecipada da reserva de premios feria sido Jnevitavci sem o rcsseguros-.

Nao creio trair o pensamento do Fah frisando, em vista de sua observagao sobre a relativa pequenez de seu pa.s, que mesrno uma compensagao geografica num territdrio mais vasto nao poderia gurantir o segurador con tra a eventualidade de prejuizos vulto.os. Bastar-me-a lembrar que a exten.^ao dos riscos numa superficie maior. a da Franga, por exemplo, nao evitou que o conjunto dos seguradores franceses registrassem em varias ocasides elevadas percentagens de sinistros em reJagao aos premios. sendo de notar;
118% em 1895
126% em 1908
141% em 1917
109% em 1927
116% em 1935
177% em 1950, ano que foi igualmente mau em outros paises.
Tais resultados podem sempre produzir-se, sem que hoje, mais do que ontem. seja possivel a previsao de seu ano de incidencia.
Uma vez que o resseguro dos riscos de granizo e uma necessidade evidente. examinemos agora as diversas solugdes que se apresentam para o probleraa.
Di[erentes Solugdes do Pcoblema do Resseguro
A fim de evitar quaiquer maientendido. declare que cada segurador deve ser o unico juiz do tipo de resseguro ou do modo dc cobertura que melhor convenha ao feliz desenvolvimento dc sua empresa. Apenas ele, com efeito, conhece o.s meios financeiros de que dispoe sua companhia, a distribuigao geografica dos riscos. cuja garantia assume, o custo dos contratos e as necessidades de sua clientela.
Dito isto. e.spero nao parecer exces sivamente presungoso acrescentando que, pela expcriencia adquirida em diversos paises, no manejo de contra tos de todos OS tipo.s. o ressegurador esta a aitura de prestar alguma ajuda ao segurador. dando-lhe indicagoes e conselhos, aceitando este o que melhor Ihe parega. mas que sao. em todo caso, adequados para facilitar sua escolha e. evcntualmente, para esclarece-los sobre a melhor elaboragao de um contrato.
que estabelega entre as partes a indispensavel comunhao de interesses. Esperando, depois disto, que fagais a gentileza de me dar licenga, tentarei, portanto, dar-vos sinceramente minha opiniao — exclusivamente pessoal, torno a dize-lo — sobre as diferentes modalidades de resseguro entre as quais o segurador granizo deve fazer sua escolha.
Resseguro de Excedente de Responsabilidade
O resseguro de excedente de respon sabilidade, pelo qual a cedente transfere ao ressegurador, sob as condigoes expressas no contrato, a parte do risco que ultrapasse o pleno de retengao, por ela propria fixado, apresenta antes dc tudo, a vantagem sedutora de permitir ao segurador uma certa selegao dos riscos, conforme sua constituigao, sua localizagao geografica, os perigos de acumulagao, que Ihes sao inerentes, e as vezes alguns elemcntos subjetivos,
Sabe-se que os seguradores se reservam o direito de fixar sua retengao .sobre os diversos riscos accitos. segundo a opiniao mais ou menos favoravel que fagam deles. Alias, o resseguro de excedente dc responsabilidade Ihes oferece um meio eficaz dc se cobrirem suficienteniente num detcrminado grupo de comunidades, ondc estejam parlicularmente sobrccarregados de respon sabilidade, ou mesmo em toda uma regiao. de vasta extensao. exposta a uma sucessao dc sinistros em cadeia. por se encontrar no mesmo raio de saraivada habitual.
fi necessario acrcsccntar que esta for ma de resseguro permite a aceitagao de negocios, que seria desaconselhavel recusar aos agentes, mas que necessitam dc importante ajuda dos resseguradores. Ocorre ai uma consideragao de ordem comercial, cuja Irapcrtancia nao e possivel menosprezar, a respeito da qual, ao contraric, compreendo perfei-
tamente o valor que Ihe atribuem. com toda a razao, muitos seguradores. Finalmente, ele comportara uma re tengao de premios maior que no resse guro de quota-parte.
As vantagens que acabo de assinalar sao reais, e sua importancia e inegavel, mas o sisteraa apresenta defeitos que nao sao menos verdadeiros e para OS quais creio dever chamac vossa atengao.
Primeiro, os seguradores percebem uma comissao sensivelmente inferior a que poderiam obter com um resseguro de quota-parte pura; e a esta perda de ganho junta-se a onerosidade de seu servigo de .resseguro, exigindo as cessoes de excedente, corao se sabe, um processamento bastante complicado. que o sistema simplissimo da quota evita. Esta dupla desvantagem ti'aduz-se em somas suficientemente elevadas que devem merecer a consideragao do se gurador, antes de decidir-se por uma forma de resseguro ou por outra. Alein disso, ha um ponto sobre o qual nao c precise insistir muito: e prcciso ter sempre em vista o caratcr excepcionalmente aleatorio, que e a caracteristica dos riscos de granizo. e que c de molde a dcsfazer completamente as previsoes que scrviram dc base para a determinagao' dos exccdentes. O pengo, sob essc aspecto, nao e de modo nenhum imaginario e alguns segura dores tiveram expericncia disso. Houve exercicios, em que as cedcntes, apesar de antigas e de dominar a fundo a tecnica especial de sua industria, tiveram de suportar por sua propria conta uma percentagem dc sinistros superior, em relagao aos premios, a de seus resscguradores dc excedente de responsabi lidade.
Tal situagao, que nao pode jamais ocorrer no resseguro de quota-parte pura, e sujeita a se reproduzir, e mesmo em varias ocasides, devendo as mesmas causas determinar o.s mcsmos efeitos. (continua)
As vistorias previas no Ramo Cascos
Paulo Motia Lima Sobrlnho C/ic/e da Cartcira Cascos do I.R.B.AO, iniciar o I.R.B. suas opera?6es no Ramo Cascos, em abril de 1950, nao era das mais expressivas a experiencia do mercado segurador brasiieiro nessa modalidade de seguros. Havia, evidentemente, entre as sociedades que entao operavam no ramo, tecnicos que dedicavam o melhor de seus esforfos no sentido !de desenvolverem essa carteira e alguns deies tiveram, mesmo, oportunidade de colaborar decisivamente com o I.R.B., na eiaboragao das normas e dos pianos de trabalho inicialmente adotados.
fi indiscutivel, porem, que, de um modo geral, o mercado nacional hesitava em dar expansao a um ramo de seguros considerado, com certa razao, como instavel e pouco compensador.
Dai a aceita;ao muito limitada desses seguros, com a ado?ao de reten^oes irnsonas- c a coloca^ao de vultosos excedentes no mercado estrangeiro. Isso quando nao era colocada toda a responsabilidade diretamente no exte rior, o que aconteda com muita freqiiencia,
Numa hipdtese ou na outra, a regulagao dos danos ficava, quase sempre, a cargo dos scguradores estrangeiros.
diretamente ou por intermedio de seus agentes locals, nao havendo, portanto, grandes oportunidades para que as seguradoras do pals pudessem desenvolver seus conhecimentos no ramo, adquirindo a experiencia decorrente do trato quotidiano com os problemas relacionados com a liquidagao de sinistros.
Iniciadas as atividades do I.R.B. no ramo e impedidas as colocagoes diretas de seguros no exterior, passaram, automaticamente, a ser efetuadas pelo orgao ressegurador as liquidagoes de sinistros. E a experiencia dos primeiros anos de operagoes veio demonstrar que, se a carteira cascos e, realmente, das mais instavcis, em qualquer parte do mundo, mais acentuada se tornava, entre nos, essa instabilidade, gramas ao estado pouco satisfatdrio • da frota mercante nacional e a existencia de um grande numcco de armadores sem condigoes para arcar com as pesadas responsabilidaides assumidas. E isso agravado pelo fate de existir, por parte desses mesmos arma-
dores, uma acentuada tendencia no sentido de economizar os premios de seguros, indicando valores segurados sensivelmente aquem da realidade.
Por outro lado, poucas sociedadcs, dentre as que entao operavam em se guros cascos, cstavam dcvidamente aparclliadas para tal, pois a maioria nao possuia um cadastro de armado res nem subinetia as embarcaqoes seguradas a vistorias previas.
Nao foi dificil, portanto, chegarem, o I.R.B. c algumas das sociedades que operam em maior escala no ramo cascos, a conclusao de que, sem a selegao previa dos riscos, seria praticamente impossivel obter resultados positives em tais cperagoes.
Ja em 1953 come^ou o I.R.B. a preparar-se para efetuar essa selegao, especialmente em relagao aos seguros fluviais efetuados na regiao amazonica.
Em 1954 realizaram-se diversas visto rias previas e um piano de trabalho foi cuidadosamente elaborado, para cntrar em vigor no inicio do ano sequinte. Nesse sentido foi expedida a Circular C-01/54, de 27-12-54, que estabelecia a obrigatoriedade das vis torias previas para os seguros cascos efetuados a partir de 01.03.55 e determinava cobranga de uma sobretaxa para fazer face as despesas decorrentes da realiza^ao dessas vistorias.

Simultaneamente, foi iniciada a selegao dos armadores, passando a ser recusada cobertura para aqueles cujos seguros apresentavam ma experiencia, sem possibilidade evidente de uma recupera^ao em future proximo. Posteriormente foi expedida a Circular C-OI/55 (16.05.55) que alterava a C-01/54, mantendo, porem, os principios basicos fixados nesta ultima.
As vistorias sao realizadas por peritos inscritos num Registro de Vistoliadores Cascos organizado pelo I.R.B., com a colabora^ao das seguradoras. Estao inscritos nesse Registro, atualmente, 32 peritos, assim distribuidos;
Manaus '
Bclera ^
S, Luiz '
Natal •
Recife ^ Salvador ^
Rio de Janeiro ^ Santos ^
Sao Paulo ^
Itajai '
Florianopolis '
Rio Grande ^
POrto Alegrc ^
TOTAL 32
Embora nao inscritos no Registro de Vistoriadores Cascos, por circunstancias diversas, tem prestado services
nesse setor mais 10 peritos. localizados nos seguintes portos:
Manaus
Macapa
Fortaleza
Natal
Vitoria
Rio dc Janeiro
Curitiba
Sao Francisco do Sul
Pelotas
TOTAL 10
Em 1955 foram efetuadas 832 vistorias previas. tendo sido encontrados em satisfatorias condigoes de navegabilidade 489 cascos. Dos 343 restantes, 41 nao chegaram a ser segurados. por desistencia dos amadores. 20 foram recuperados pelo l.R.B. e pelas seguradoras. por e.starem em precarissimo estado, 30 nao foram considerados em condjgoes de obterem cobertura senao depois de submetidos a reparos e 252 foram segurados com restrigoes. ficando OS armadores obrigados a efetuar os necessaries reparos dentro dos prazos fixados pelos peritos ou pelo I.R.B. (desses. 99 ja foram dcvidamente reparados). £ 0 quE sc verifica no quadro abaixo:
Lnudos sem exigenciis
Laudos com exigSncias:
Ji atendida.s gg
Ainda nao ntendidas 153
Cobertura condicionada a previa cxecu^ao dos reparos ..
Seguros rccusados
As vistorias previas sao efetuadas nao somente para verifica^ao das condi^oes de navegabilidade das embarca?6es como tambem para avalia^ao das mesmas. Essa segunda finalidade e de grande importancia para as seguradoras, porquanto nem sempre os capitais segurados correspondiam a realidade. conforme acentuamos no inicio deste trabalho. Desse fato rcsultava que. se OS armadores ficavam parcialmcnte descobertos nos casos, mais raros, de perda total, as seguradoras arcavam com a responsabilidade total decorrente de sinistros cobertos pelas demais garantias, especialmentc a de avaria parti cular, recebendo, apenas, parte dos premios correspondentes a essas coberturas.

As vistorias efetuadas em 1955 demonstraram que cerca de 50% das embarca^oes vistoriadas estavam seguradas por um justo valor, ao passo que 45% tinha um capital segurado infe rior ao real e as restantes (5%) haviam sido cobertas por mais do que realmente valiam. O aumento do capital segurado chegou a atingir a 800%. cm casos isolados. mas pode ser fixado. em media, em cerca de 50%. Per outro lado, a redugao dos valores alcanqoii. em determinado caso, a 500%. podendo ser estimada. cntretanto. uma percentagcm media de 20%. aproximadamente.
As avaliagoes feitas pelos peritos designados pelo I.R.B. nem sempre tem sido bem recebidas pelos arma dores, mas tem sido sempre posslvel contornar essas situaqoes, ate o presente memento. Convem acentuar que. em sua maioria, esses peritos sac engenheiros navais, tendo os demais apresentado credenciais que justificaram plcnamente sua inscri^ao no Registro de Vistoriadores Cascos. E muitos deles, como o engcnheiro Raul Rodrigues Pereira, em Belem, e os engenheiros navais Cmte. Ivan Gouvea Labourian e Paolo Pirani, nesta capital, ha muito vem colaborando com o I.R.B. na organizagao do servigo de vistorias cascos.
Acontece, porem, que nem sempre as avalia^es podem ser efetuadas em bases estritamente objetivas, alem do que o atual sistema cambial do pais dificulta a conversao, para a moeda nacional, do custo das embarca^oes no mercado internacional. Dal as divcrgencias acima apontadas. motivadas, muitas vezes, pela diversidade dos criterios adotados pelos peritos.
Tem havido. entretanto. por parte do I.R.B. uma preocupa^ao constantc no sentido de evitar essas controversias, com a ado^ao dc um criteria uniforme para fins de avalia^ao dos cascos vistoriados. Para nlcan^ar esse objetivo.
foi solicitada a colaboraqac de outro perito inscrito no Registro de Vistoria dores Cascos, o Cmte. Jose Cruz San tos, que tambem e engenheiro naval e cujo trabalho «Graficos para a dcterminaqao do valor dos navies normais de carga» vem servindo de base para a avaliagao da maioria das cmbarca^oes seguradas.
Nao somente no setor das avalia^oes vem sendo utilizados pelo I.R.B. OS prestiinos do Cmte. Cruz Santos, pois tambem o laudo padrao de vistoria e as respectivas instrugoes foram por ele elaborados. Ninguem estaria mais autorizado do que elc, portanto. a tecer comentarios c a prestar esclarecimentos sobre o preenchimento do laudo padrao e outros assuntos relacionados com as vistorias cascos. £ 0 que ele fara em artigos que scrao publicados por esta Revista, o primeiro dos quais aparece no presente numero sob o titulo «Vistoria dos navios ».
Nao podcriamos tcrminar esta exposigao sem acentuar que a institui?ao do service de vistorias previas para as cmbarcagoes seguradas ja vem apresentando resultados benefices, tendo melhorado sen.sivelmente a carteira cascos do pais. o que podera ser comprovado atravcs dos balan^os publica dos pelo I.R.B. e pelas seguradoras que operam ncs.se ramo de seguros.
74
Considerapoes sobre tarifa oficial
Adyr Pecego Messina
Atuario; Assessor Tecrtico do l.R.B.
I — Necessidade
1. Pode parecer surpreendente que a autoridade publica, intervindo na determina^ao do pre^o do seguro, o fa^a fixando o pre^o minirao.
Estamos acostumados ao tabelamento, isto e, a fixa^ao do pre^o teto, que protege o comprador, ou a massa de compradores, de artigos de primeira necessidade.
Sabemos por outro lado que, a certos produtos, o poder publico assegura pre^o minimo comprando a produ^ao caso nao logrem eles alcan^ar tais valores no mercado livre.
Nao discutiremos aqui o merito dessa interven^ao do Estado no encontro cconomico da oferta e da procura. Sao assuntos da seara do economista. Nosso objetivo e apenas expor e justificar a tarifa minima oficial.
2. A taxa de um seguro, que dctermina o prego pelo qual o segurador pode assumir a responsabilidadc aleatoria de um contrato, compreende tecnicaraente duas parcelas: a taxa pura e o carregamento. A taxa pura represcnta o «risco» daquele contrato ou seja a sesperanga matematica» da mdenizagao por parte do .segurador pela ocorrencia do sinistro. Sua determinagao assenta no calculo das probabilidades (e.statistica-matematica) e ni matematica financeira. O montante de premios puros deve, portanto, fazer face as indenizagoes.
O carregamento e a parcela destinada aos demais encargos, como sejam, comissoes, salarios, material, impostos, enfim as despesas nccessarias ao funcionamento da empresa seguradora, incluindo o lucro que ela deve auferir. Sua previsao deve-se bascar no estudo do custo de vida, mercado para colocagao do seguro e outros de natiireza economica que permitirao ao atuario a elaboragao final da tarifa de premios.
3. A explanagao sobre a taxa que acabamos de fazer e eminentemente tcorica. So e presentc aos especialistas c estudiosos do seguro. Os seguradorcs tern, na administragao de suas carteiras outros problemas que Ihes absorvem a atengao.

Taxa pura e premio puro sao conceitos que preocupam apenas ao atuario. cuja presenga nos Ramos Elcmentares tern sido, entre nos, considerada prescindivel pelos seguradores.
Na qualidade de atuario, o autor nao entrara no merito dessa orientagao, mas aponta o fato per considcra-lo essencial ao que focaliza no presente trabalho.
4. Emhora juridicamente o contra to de seguro seja iniciado pelo segurado mediante proposta, o certo e que 0 .seguro ha que ser vendido. Oferecendo um bem incorporeo, que e a
garantia de reparagao por dano que possa ocorrer, nao apresenta forte atrativo ao homem comum. £ste mais faclmente fara despesas superfluas que Ihe deem gozo imediato, do que dispender cm premio de seguro que so llie sera util por um azar no qual ele nao acredita.
A oferta do seguro so sc logra opor procura decorrentc de forte trabalho de persuasao do corretor c mui raramente, do espirito de previdencia dos individucs tanto assim que, entrc nos, seguros privados como incendio e transportes, foram tornados obrigatorios.
Constata-se portanto que para ser colocado, 0 seguro requer prego baixo e remuneragao satisfatoria ao corretor.
A elevagao de taxas visando proporcionar maiores lucros ao segurador seria obstada pela maior dificuldade de colocagao dos seguros c conseqiiente necessidade de aumento na remune ragao do corretor.
Tais fatos, por si mesmos intrinsecos ao proprio seguro, sao, na realidade. exacerbados pela compctigao entre as seguradoras.
Nos Ramos Elementares, onde se torna menos prcponderanfc o conceito desfrutado pelo segurador, a taxa mais baixa ou a comissao mais alta levara o seguro para esta ou aquela companhia.
Desnecessaria se torna, portanto, a intervengSo da autoridade publica para fixar a tarifa maxima. Conforme explanamos, o livre jogo de interesscs exerce pressao contraria a elevagao das taxas.
5. A tarifa, se estabclecida cientlficamente, represcnta uma aplicagao da
lei dos grandes numeros, isto e, encerra uma previsao calcada em grande niimero de observagoes e num razoavel decurso de tempo. Ainda que permanegam as mesinas condigoes tecnicas, sociais e economicas da epoca em que foi elaborada a tarifa, os resultados nao sao exatamerite os previstos. «Desvios» ocorrcm. Tais «desvios» deverao ser maiores em carteiras com baixa freqiiencia de seguros e cm exiguos periodos da observagao. Na realidade uma tarifa tem por objetivo pcrmitir ao segurador compensar riscos no espago c no tempo. Sc empirica, ela promete atingir seu objetivo; se matematica, ela se comprometc aquela compensagao. Desprovidos de atuarios na maioria dos casos, sobrepondo-se a eles em outros, prcmidos pcia compctigao, atigados por eventuais «desvios» favoraveis, como se poderia impedir que OS seguradores fossem ao aviltamento das taxas e conseqiiente auto-destrulgao ?
Dirao os adeptos do «laissez-lairc)» que tado se -corrige por si racsmo, Que a insolvencia de alguns segura dores seria o natural saneamcnto do proprio mercado segurador.
A esses lembraremos que o seguro c por base mutualista e que a fungao do segurador e, em ultima analise, arrecadnr de uma coletividade os recursos para reparar os eventos danosos que atingirem a alguns de scus componentes. Trata-se portanto de operagao eminentemente social, rcunindo contribuigoes de muitos e a scguranga da qual o Estado nao se pode alheiar. O mal sucesso de uma seguradora, prejudicando seus scgurados, tornii-los-ia descrentes e ate inimigos do seguro. Tnl
ir.sucesso acabaria por atingir a toda a institui^ao.
II — Inconvenientes
6. Nos itens anteriores procuramos demonstrar a necessidade e a razao de ser da tarifa mmima oficial. Convictos embora de tudo qiie afirmamos, vamos agora examinar os inconvenientes e aspectos contraries dela decorrentes.
7. Em nosso raeio ha um vicio primario do qua! derivam todos os males. A tarifa minima e tomada por zimca. Escrituralmentc, isto e, oficialmente, fodas as sociedades a aplicam inteirameftte. Na realidade ncnhuma seguradora cogita em caso algum de cobrar taxas mais clevadas. Concedem nos bons riscos super-comissoes que tcrrainam seiido rebates ou redu^ocs na taxa «minima».

evidente que se a taxa fosse realmente minima certos seguros poderiam cxigir taxas mais elevadas, mas, salvo a hipotese de tarifa?ao individual, ncnhum podcria comportar taxa mais suave.
8. Sob esse prisma deformador pressiona-se para que a Tarifa Oficial se louve nas sociedades que apresentam OS mais precarios resultados, sem indagasao mais demorada das causas desses resultados.
Ill Preceifos recOrnendai>eis
9. .A atividade securatoria nao e uraa aventura ou um salto no escuro. Ela exige a observancia de principios ja consagrados e de uma fecnica que se vem aprimorando permanentemente.
Se descurados forem a sele?ao fisica e moral dos riscos, a divisao, classificagao e pulverizagao desses riscos, a justeza na liquidagao de sinistros, a verifica?ao permanente da estabilidade de operacoes, os custos adininistrativos da cmpresa e muitos outros principios, dever-se-a buscar na majora^ao indiscriminada de tarifa o saneamento dos resultados financeiros ?
10. Se seguradores, pela racionaliza^ao dos seus servigos, pela seie^ao e orientagao tecnica de suas carteiras, podem realmente oferecer seus seguros a premios mais reduzidos porque nao Ihes permitir e ate mesmo nao estimulalos a isto ?
evidente que nao inclulmos como elemcnto de considera^ao as possibilidades patrimoniais da empresa porquanto nessa hipotese as maiores e mais antigas eliminariam as menores e mais novas.
Pensamos que se deva, cicntificamente, buscar o barateamcnto do seguro, possibi!itando-o a todas as camadas sociais, Jevando-o efetivamente ao desenvolvimento que ja ostenta era outros palses.
II. Longe estamos-dc condenar a cxistencia da tarifa minima oficial. Reiteramos as alega^oes iniciais destc trabalho. fi ela necessaria e indispensavel. Pretendemos apenas que ela seja realmente minima, e que sua elaboragao e suas altera^es sejam baseadas em acurados estudos.
Pugnamos, enfim, que ela nao sirva de instrumento ao aligciramento e ao superficialismo no trato com os problemas do seguro.
Vistoria dos navies
A VISTORIA obrigatoria estabelecida
pelo I.R.B. como condiqao indispensavcl a aceita?ao de seguros de navios, tem o proposito de verificar se eles apresentam risco satisfatorio, assim como dc oferecerem garantia adequada para passageiros e cargas neles embarcados. Ao mesmo tempo os peritos do I.R.B. determinam o valor maximo para fins dc seguro.
£ de observar que nao existe navio algum que seja intrinsccamente garantido contra sinistros e que o fato de estar ele em boas condi^oes sob todos OS aspectos nao impede que surjam problemas resultantes dos mais diversos fatores, inclusive pessoais. O pro posito das vistorias e eliminar ou reduzir ao minimo possivel as causas de sinistros dependentes do material de bordo.
Esse objetivo, apesar de rcalizado cm grande parte, nao pode ser completamente obtido em uma linica visto ria, como essa que precede a aceita?ao do seguro, mas a continuagao do processo e a coleta de dados e informaqoes, feita nas vistorias, tenderao a facilitar a tarefa do I.R.B., pois que a historia detalhada de cada navio mostraia bem a evolugao do seu estado.
Jose Cruz Santos Capitao de Mar e Guerra Engenheiro NavalPara melhor atingir o objetivo visado, sera intcrcssante proceder a gradativa -3roplia?ao do sistema, com a organiza^ao de uma Sociedade de Classifica^ao Brasileira que. como as congeneres estrangeiras, exigira a aprovaqao previa dos pianos de construqao. a fiscalizaqao da construqao em todas as suas fases e as vistorias regulates que tanto concorrem para manter os navios em bom estado.
Atualmente e realizada apenas uma vistoria antes da aceitaqao do seguro, na qual o perito examina detalhadamente o navio. Nessa vistoria sao essencialmentc considerados tres as pectos, a saber, o estado do navio, sua situaqao perante a Capitania dos Portos e a sua avaliaqao. Para metodirar o trabalho dos peritos foi organizado c adotado um Laudo Padrao, o qual e acompanhado de Instruqoes para a sua confecqao. 6sse Laudo e as Instruqoes cogitam cm dctalhe de todos os elementos que interessam a vistoria para a obtenqao dos resultados desejados.
No que se refere ao estado do navio, as instrugoes exigem exame detalhado dc nove pontos que sac considerados essenciais a sua seguranga. Tais pontos
sao :
1. Estanqueidgde e resistencia estrutural.
2^. Meios dc esgoto e de controle dc avarias.
3. Meios Diecanicos de propuJsao.
4. Equipamcnto eietrico.
5. Meios de governo.
6. Meios dc fundcio e reboquc.
7. Meios dc combatc a incendio e salvamcnto.
8. Meios de coraunicagao radio.
9. Meios dc oricntagao.
De fato, uma vez examinados esses pontos e achados em bom estado, e de esperar que a operagao do navio seja razoavelmente livre de acidentes, que tanto concorrem para destruir vidas e propriedade e, conscquentemente, para elevar os premios de seguros. Quando, sob algum desses aspectos, o navio nao se apresenta em bom estado, o perito introduz exigencias em seu Laudo. as quais deverao ser satisfeitas pelo Armador.

Tambcm. por ocasiao da vistoria, para efeito de registro e analise, sao anotados dados do navio e de suas instalagoes. a fim de ser verificado se eies satisfazem a padrSes adequados. Por exemplo, nao baste o perifo verificar se o navio possue bomba de esgo to de poroes. mas precisa elc avaliar se a sua capacidade e adequada. Para
comparagoes desse tipo sao usados o.s padroes das Sociedades de Ciassificagao conceituadas, cuja longa e vasta cxperiencia e altamente valiosa, em todos OS aspectos da construgao de navios mercantes.
Naturalmente a tarefa do perito e algo simplificada. no que se refere a esse problema, quando o armador mantem seu navio «em classes numa dessas Sociedades, cujo objetivo e exatamente o de assegurar que os navios apresentem riscos accitavels. apesar de nao se preocuparem elas por todos os aspectos que interessam ao
A verificagao da situagao do navio perante a Capitania dos Portos e interessante, uma vez que nao ha conveniencia em segurar um navio que nao esteja cperando legalmente. Nas vistorias e examinada a «Provisao de Registro» no Tribunal Maritimo Adminis trative, a qua! e efetivamente o tltulo de propriedade do navio; verifica-sc tambem se o navio tern side submetido as vistorias regulares da Capitania e se tem sua «Licenga de Trafego» em dia.
Sem diivida, o fato de estar o navio em situagao correta perante a Capitania dos Portos e um auxilio a determinagao do seu estado por parte do perito do I.R.B., uma vez que a Capitania o submete periodicamente a vistorias, exigindo, inclusive, a docagem regular, de dois em dois anos. Essas vistorias se-
guem um molde bem definido e muito concorrem para manter os navios em bom estado.
Preocupa-se o I.R.B. em nao sobrecarregar desnecessariamente o ar mador, obrigando-o a repetir inspegoes e provas que tenham sido feitas e certificadas pelas Capitanias ou pelas So ciedades de Classificagao. A vistoria do I.R.B., tendo o proposito de conhecer efetivamente o estado do navio, deve apoiar-se, em principio, em todos OS elemcntos fidedigncs que Icvem a esse conhecimento, inclusive pela exigencia de provas e inspegoes a serem realizadas c certificadas por pessoas ou organizagoes idoneas e legalmente capacitadas a concederem os referidos certificados, se por qualquer razao a fiscalizagao nao puder set pessoalmente realizada pelo perito. Podemos aqui citar, por exemplo, o certificado de compensagao da aguiha padrao, as etiquetas de carga dos extintores dc incen dio, as provas de caldeiras realizadas pelas Sociedades de Classificagao, o certificado de vistoria em seco da Ca pitania comprovando que o navio foi docado, o Certificado de Borda Livre, etc.
A avaliagao dos navios e um aspecto importante da vistoria porque o I.R.B. deseja ter base firme para o valor de seguro. A determinagao do custo de reposigao em case de perda total apre senta certas dificuldades pois que esta
depende em geral de importagao. Aiem disso as avaliagoes sao feitas por pcritos diferentes em varies locais do pais-
Como o valor dos navios acompanha as flutuagoes do mercado mundial, de pende do estado dc conservagio e manutengao dos navios e e influenciado pelas complicagoes resultantes das restrigoes cambiais, foram organizadas e adotadas tabelas padronizadas para uso dos peritos do I.R.B. para a avalia gao dos navios de carga normais, as quais tem sido aplicadas com sucesso.
Esse processo do I.R.B. nao s6mente leva em conta os dados intrinsccos do navio que influem no seu valor, como tambem refere a avaliagao a um indice de pregos do mercado mundial, que e semestralmente fornecido aos peritos. Desse modo ha grande flexibilidade no seu emprego. ficando a critcrio do perito. a parte que realmentc e de seu privilegio, isto e, a cstimativa do estado dc conservagao do navio, que vitalmente influe na aplicagao das cur ves de deprcciagao pela idade.
A convcrsao para moeda brasileira e um problema delicado porque. ainda que a categoria de agio para a compra de navios esteja definida, dificilmentc e concedido cambio para cssc fim, pois que as quantias em jogo sao, em geral, elevadas. Para resolver essa dificuldade, estabeleceu a Divisao de Transportcs e Cascos. o uso do cambio «li-
vre», como referencia, corrigido por um fator arbitrariamente fixado para adota-lo as condigoes locais.
Para outras embarca^oes. que nao OS cargueiros normais, o valor e obtido por comparagao com as ofertas dc navios semelhantes no mercado mundial. No caso porem de embarcaQao que seja normal e facilmcnte construfda no Brasil, e estimado o custo de reposi^ao no mercado local; tal e o caso, por exemplo, de pequenos rebocadores, cliatas, navies de madeira etc. Observa-se, entretanto, que a industria tem se dcsenvolvido, e que e de esperar que, com o tempo, outros tipos dc navios passem a pertencer a esse grupo.
Ha grande cuidado por parte do 1-R.B. na avalia^ao dos navios, promovendo a Divisao de Transportes e Cascos, sempre que necessario, o reestudo dos casos particulares em que ha duvidas dos armadores; como resultado desse estudo, ou e opontado remedio ou e o armador esclarecido acerca das ra2oes que justificam manter a avalia^ao.

Nem sempre e do agrado do armador aceifar uma avaliacao que ele reputa clevada demais para seu navio, a qual, cxigindo o pagamento de premies altos, so apresenta vantagem como garantia contra a perda total, que se sabe ser
muito rara. Por outro lado, a outros nao agrada uma avallagao julgada baixa que, por premios menores, satisfaz perfeitamente aos casos de avaria par ticular mas que nao gacante a perda to tal; alem disso, de um modo geral tambem cntra cm jogo fator psicologico. pois nao e agradavel ao dono aceitar oficialmente para sua propriedade um valor por ele considerado baixo demais.
Assim, e altamente desejavel a obten^ao de avalia^ao considerada justa pelas partes interessadas, .o que tem sido obtido cm todos os casos.
Ao determinar as vistorias atualmente em vigor, assumiu o I.R.B. a lidelan^a num dificil campo de atividade. colocando-se a vanguarda, em coopera?ao com os orgaos governamcntais e particulares inferessados na seguran^a da navegagao mercante.
As vistorias do I.R.B. sac cuidadosamente planejadas para nao causar inconveniencias indevidas aos armado res, alem daquelas exigencias necessarias e suficientes para melhor garantir a seguran^a dos navios. Os resultados ate agora obtidos tem sido animadores, esperando-se que o aperfei^oaraento constante das vistorias corresponda a melhor prote?ao a vida e a propriedade no
Consideiacoes sotiiG as funcoes do capital nas compaoliias de sepios de vida
V tAS sociedades anonimas em gcral. ^ ^ a principal fungao do capital e a aqiiisigao dos maqiiinismos e instaiacocs bem como a garantia do funcionamento da empresa durante o tempo em que ela ainda nio e auto-suficiente. Nessas empresas, uma vcz completada sua instalagao, o problema e de ordem comercial, consistindo na obten^ao de um mercado compensador que Ihe pcrmita trabalhar numa escala capaz de financiar scus custos fixos alem dos variaveis.
Nas sociedades de seguro e em es pecial nas de seguro de vida, as fun?6es do capital, pela propria natureza do empreendiraento e incidencia dos custos, sao bem mais complexas. como veremos a scgulr.
Inicialmentc, a lei ja preccitua, nos artigos 53 e 54 do Decreto-Iei numcro 2.063 que a metade do capital realizado seja aplicada em depositos bancarios, titulos, agoes, hipotecas c propriedades que, vinculadas ao Departamcnto Nacional dc Seguros Prlvados e Capitallza^ao, constituirao ga rantia suple-mentar permanente das rc-servas.
Pela natureza aleatdria do servigo
que p'"estam, as companhias de seguros cstao na situagao peculiar de vender um bem — a garantia da indenizagao em caso de sinistro — cujo custo real so se determina apos a decorrencia de determinado periodo. Assim, adotada uma taboa de sinistralidadc. a Companhia cobra o premie que corresponde a um promedio de sinistros esperados. mais um carregamento para atender as despcsas de aquisigao, administragao e cobranga do seguro.
Durante os execcicios financeiros, entretanto. OS sinistros ocorridos raramente correspondcrao exataracnte aos premios recebidos. Quando os sinis tros sao inferiores as previs5es. a Companhia aufere um lucro industrial c, no caso contrario, o prejuizo resultante, se nao puder ser absorvido per outra receita. e coberto pelo capital social.
No caso das companhias dc seguro de vida, cujo risco permitc um tratamento matematico mais complete c elaborado determina-sc antecipadamente. em cada exercicio, o limite provavcl do
desvio que pode ocorrer para mais da previsao. £s.se limite e geralmente fixado em uma importancia suficiente para que se tenha uma probabiiidade de 90 a 95% de que nao sera ultrapassada. O valor absolute desse desvio cresce diretaraenfe em fungao da carteira da companhia, e o capital e as reservas livres sempre devem ser suficientes para cobrir esse montante.
Nao se restringe, porem, a fungao do capital das socicdades de seguro de vida ao imperativo tecnico acima apontado: e, ainda, iraprescindivel no financiamento da produ?ao dos primeiros anos. pois o seguro de vida, ao contrario do que acontece nos ramos elementares, apresenta um prejuizo financeiro no ano de sua angaria^ao, mesmo
que uenhum sinistro ocorra. fissc fato nao deve causar estranheza se levarmos em considera?ao que o seguro de vida e um contrato plurianual, geralmente de longa duragao, cuja despesa dc aquisigao se concentra quase exclusivaraente no primeiro ano. E' verdadc que a lei permitc que as sociedades financiem uma parte dessas despesas mediante um emprestimo que a com panhia retira da rcserva matcmatica do primeiro ano de vigencia e que deve repor nos cinco exercicios subseqiientcs. Nao e menos verdade, entretanto, que essa faculdade amplamente insuficiente, de vez que as despesas de muito ultrapassam o valor de todo 0 primeiro premio, conforme poderemos ver do resumo excmplificativo abaixo:
Tipo do despesa comcrcial ComissSes dc ogentes cno/ /o iJespcsas com inspctorcs
Escritorios do produgao, inspcgoes midicas e outras despesas de produgio
20%
150/^
Reserva matematica 20%
Os valores dos divcrsos iteos varia- „ aaldo industrial dos seguros nos cino resuItadoT T "i"""® subseqiientes e, teoricamente. rior a t , I """■ aMoximadamente 15% do premio o o a acima apontado. anual o que equivale a afirmativa que Em vtrtude das anrortiraebes do em- o deficit da produeao de cada ano so presttmo rn.aal a reserva matematica, se anula no sexto ano. Tal entre-
tanto nem sempre e o caso em virtude 4e outros £at6rcs que intervem nesse mecanismo financeiro, como sejam:

Retardando a amortiza^ao, as dcsoesas administrativas nao consideradas nesscs calculos c que tambem devem incidir sobre os premios de todos esses anos. bem como as despesas de cobran^a, e. principalmente, a caducidade das apolices de seguro de vida no Brasil. Esta caducidade atinge a 30 e, as vezes, 35%, da produ^ao ate o fim do primeiro ano de vigencia e 5 a 10%durante o segundo, de modo que so 55 a 65% da produgao inicialmente eni vigor chegam a pagar o terceiro pre mio anual.
Do outio lado, temos o fator mortalidade, que tern sido significativamente mais baixo do que o preve a tabua American Experience, geralmente adofada em nosso mercado e a rentabilidade das reservas que, em consequencia da situagao financeira anomala que o pais atravessa, tern sido muito supe rior a taxa atuarial, principalmente nos investimentos cm propriedades.
Nas companhias novas, em que as despesas administrativas ultrapassam a receita patrimonial, e a caducidade e cievada em fun^ao da propria expansao da carteira, nao havendo ainda grandes capitais a investir, os deficits iniciais acumulados das produ^oes
crescentes dos primeiros anos dificilmente poderao ser compensados antes do sexto ano de opera?oes. Durante esse periodo, o deficit global flutuara de acordo com a politica de produ?ao adotada e as possibilidades de inversao da reserva acumulada.
Resumindo o exposto, parece-nos convcniente ressaltar os seguintes aspectos principais.
Alem de permitir a organira^ao e instalagao da companhia que, de acor do com 0 artigo 48 do Decrcto-lei numero 2.063, nao podera custear mais de 10% do capital realizado, os fundos sociais tern as seguintes finalldades:
1 Financiar as produ?oes dos primeiros anos, mediance a utlIiza?ao da renda patrimonial e de parcclas do proprio capital ate que a receita industrial, proveniente de carregamento, lucro dc mortalidade e rentabilidade das reservas, possa aguentar o custo da produgao nova e da administra^ao da sociedade.
2 ~ Garantir a cobertura dc desvios esporadicos de mortali dade que possam ocorrer em detcrminados exercicios.
O seguro global de bancos e o crime continuado
Vanor Moura Neves Ticnico do l.R.B,MOMENTO em que se estudam a apolice e a tarifa brasileiras de Seguro Global de Bancos, parece-nos oportuno lembrar a figura do crime continuado e a sua rela^ao com o quanto a indenizat.
O «delictum continuatum» costuma ser exemplificado nas escolas de Direito, com o caso daquela criada que subtraia a baixela da casa onde trabaIhava, retirando, dia apos dia, cada pega. O crime, assim cometido, e apenado como urn e nao como varies, isto e, em que se considerasse cada desfalque como um crime. O exemplo c bastante elucidative. Mostra bem que, no caso, houve «um furto», embora praticado em varias agoes.
Essa forma de ilicito penal encontra guarida em quase todos os codigos modernos, inclusive no nosso. no art. 52, ^ 2.". Vamos verificar suas origens entre os Praticos. que o conceberara com fins humanitarios, para livrarem da pcna de morte aqueles que cometiam furto pela terceira vez. Nao e 0 caso da reincidencia, mas daquelas infragoes que. na sua materialidade, para que possam via a ser completadas!
carecem de mais de uma agao. Assim! o gerente de banco, desonesto, que', se retirasse de uma so vez v'ultosa quantia, poderia vir a ser descoberto prcfere exercer sua agao criminosa paulatinamente, pelas subtragoes parceladas, mais facilmente dissimulaveis em artificiosas compensagoes contabeis.
Embora praticado .sob as mais variadas fonnas, e este o caso tipico do sinistro nos contratos dc seguro de Fidelidade e o que concorrc com 70 dos sinistros de Apolicc Global de Bancos. Temos noticia de um des
falque, descoberto recentemente, em que a agao criminosa remontava a 1948. Durante sete anos um gerente agiu sem que fosse notado, ate atingir a bela soma de cinco milhoes de cru zeiros. O pessimo controle bancario a tanto falicitava. E isto nao e excegao. a regra. A maioria dos" estabeleci- . mentos bancarios do pais conta com um deficientissimo controle. Dai, os atos de infidelidade se repetindo.

O Seguro Global de Bancos e feito no Brasi] por uma tradugao da apolice usada pelo Lloyd's conhecida por «HAN, form C», com ligeiras adaptagoes. A formula inglesa e semelhante a americana Kporm n.® 24», bastante difundida nos States. O Sr. Rodrigo de Andrade Medicis informa-nos a respeito, em comentarios publicados na Revista do l.R.B. n.° 59, fevereiro dc 1950, alias, no mesmo ano em que OS seguradores nacionais iniciavam suas operagoes no ramo. Apesar dos pessimos resultados iniciais, as garantias do tipo «surety» vem-se desenvolvendo e cxigindo maior adaptagao as nossas praxes bancarias e. sobretudo, a nossa legislagao.
Em sua condigao 11, leraos, na apo lice usada no Brasil: «A responsabilidade total da Companhia, relativamentc a qualqucr perda ou perdas causadas (a) por atos ou omissoes de qualquer uma pe.ssoa. .. ou (b) por qualqucr sinistro ou evento, fica limitada a importancia de CrS ,.. Apos a verificagao de qualqucr prejuizo coberto pelo
prescnte seguro, esta apolice sera considerada como reajustada em seu valor de modo a que sempre durante a sua vigencia a cobertura esteja em vigor pela importancia de Cr$ ... independente de qualquer perda anterior sobre a qual a Companhia tenha page ou seja obrigada subscqiientemente a pagar».
Ou, como sintetiza o Sr. Medicis: «A importancia scgurada e uma linica, aplicavel a uma e qualqucr perda.»
E esclarecc, quanto ao reajustamcnto: «... a importancia segurada inicial sc mantcm valida para qualquer niimero de reclamagoes distintas de sinistros que sejani aprescntados, quer verificados antes ou depois dc perda ou perdas prcviamentc pagas — seja no mesmo dia ou em dias difercntcs».
Pcrgunta-se: no caso de desfalque, cometido pela mesma pessoa, em varies atos. por exemplo, em varias adulteragoes de cheques, somam-se os varies prejuizos como constituindo um mesmo sinistro, ou cada prejuizo constitui um sinistro distinto ? Parece-nos que a apolice, ao limitar a perda a um determinado montante, pcnde para a unicidade, porque, se houver o parcelamento, pelo reajustamcnto da impor tancia segurada, a indenizagao chegaria a montantes imprcvisiveis. No caso exemplificado, se a importancia segu rada fosse limitada a dois milhoes, aceitando-se a unicidadc do fato, ficaria o segurado a descoberto em tres milhoes. Pelo parcelamento, haveria a indenizagao total, emergencia para a qual jamais estaria preparado o segurador, pois tendo limitado sua responsabilidade em um evento, nao poderia esperar que fosse ultrapassado aquele limite: entretanto, pela clausula de rcintegragao, veria anulada sua previsao.
Como vemos, a modificagao da clau sula se impoe, com o fim de tornar mais claras as obrigagocs das partcs contratantes.
E nao so pelas contradigocs cxpostas. mas por outras, concernentes a duragao do fato. Tendo o primeiro ato deli-
tuoso ocorrido, no caso examinado, em 1948, e o ultimo, em 1955, projetandose em serie ncsse lapse de tempo, c supondo-se que a apolice se inidasse no primeiro dia de 1955, como proceder ? A apolice nega cobertura a «... perdas sofridas anteriormente a vigencia da mesma». Se considerarmos o exemplo citado, pelo criterio da unicidade, isto e, como um mesmo sinistro. poderiamos inclui-lo na categoria dos riscos nao cobertos. Se pendermos para o criterio do parcelamento. pode riamos considerar como nao cobertos OS prejuizos ocorridos ate o ultimo dia de 1954 e indenirar os demais. Como vemos, o texto contratual mite uma ou outra interpretagao. Nao pende, explicitamente, para um ou outro criterio, ou melhor, passa por cima do problema. Mas o problems existe e urge resolve-lo, tornando mais claro o enunciado das clausulas, adotando^ o criterio que melhor convier ao objetivo do seguro.
Em nosso modesto entender, optamos pela adogao do criterio da unicidadc. Primeiro porque, pelo menos no tocantc aos atos desonestos cometidos por uma so ou mesmo grupo de pessoas. torna efetiva a limitagao da importancia se gurada. Segundo, porque. nos cases em que a fraude se inicia antes da vigencia da'apblice. ainda que completada c descoberta dentro do penodo indcnitario, permitc a sua exclusao per inteiro. A adogao do criterio proposto viria obrigar os bancos a porem em funcionamento metodos de controle mais cficientes. que, se nao cvitem as fraudes. pelo menos reduzam seus cfeitos sobre o patrimonio. Demais. noe um dique a prctensao de a gum avcnturciro que, ao tornar conheamento de que esta sendo vitiina dc desfalques. sc aprcssc a scgurar para que simulando a descoberta dentro do pcriodo indenitario, possa ate recuperar OS furtos anlcriorcs. A tanto sc presta 0 texto atual, que em boa hora esta sendo objcto dc estudos.
A tarifaQao progressiva no ramo incendio
TESE APRESENTADA AII CONFERBNCIA BRASILEIRA DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAQAO
passem de determinados limites em um «mesmo risco isoladoj>. — A finalidade precip.Oa dessa sobre-taxa e de estimular a sub-divisao de riscos, de mode a limitar as grandes concentra^oes de valores susceptiveis de serem destruidos por um mesmo cvento danoso.
preqo medio da arroba do mesmo algo dao tipo 5, no disponivel, subiu a cifra de Cr$ 304,50, eievando o valor global, em media, no mesmo armazem, a cerca de Cr$ 27.400.000.00, sujeitando o negociante a pagar uma sobre-taxa de seguro de 35 % sobre a taxa normal.
A situagao da conjuntura economica do pais, era que se verifica perceptive! ritmo inflacionaiio. tern levado as autoridades governaraentais a introduzir medidas tendentes a possibilitar uma visao mais equilibrada da aparente condi^ao de riqueza em que nos encontramos.
Em mensagem encaminhada ao Congresso, em mar^o do corrente ano, acompanhada de projeto de lei que institul imposto adicional de rcnda sobre os lucres das pessoas juridicas em relacao ao capital aplicado, o Presidcnte da Repiibllca preconiza a necessidade'da introdugao de um coeficiente dc corre<;ao monctaria, bascado nos indices de pregos, a fim de que a taxaqho nao incida s6bre lucros ilusorios.
Esta providencia deixa cntrever clararaente que nao tem escapade aos dirigentes da na^ao a apreciacao do fe-
nomeno causado pelo excesso do meio circulante.
Os reflexes desse fenomeno fazem-se scntir tambem no mercado segurador nacional, gradativamente, bastando um exame comparatlvo nas estatisticas dos capitais segurados nos ultimos anos, do qua! e licito se inferir que os aumentos de tais capitais nao representam exclusivamente a valorizagao natural dos produtos e ampliaqoes de empreendimentos de ordcm economica, mas devem-se em grande parte aos cfeitos da inflagao.
77 — In[luencia da inflagao no prego do seguro
O sistema tarifario brasilciro de scguros estabelece uma taxagao adicional progressiva sobre os estoques de mercadorias e materias primas que ultra-
£sse criterio de taxa^ao adicional, porem, incide sobre as importancias seguradas e nao sobre a quantidade do estoque. — Deixando de lado o aspecto polemico que estc problema comporte, nao podemos deixar de reconhecer. entretanto, que a sub-divisao de riscos deve ter uma limita^ao. Citemos como exemplo um armazem de algodao, cuja area util seja de 1.000 m2 e sua cubagem permita a armazenagem de cerca de 6.500 fardos prensados.
No ultimo decenio (19'!0/1949), o preqo medic da arroba de algodao tipo 5, no disponivel, foi de Cr$ 107,80, conduzindo assim a um valor global, em media, de cerca de Cr$ 9.700.000,00 em um mesmo armazem. A tarifagao Progressiva prevista nas Normas Tarifarias de Algodao, aplicaveis aos Estados de Sao Paulo e do Parana, admite uma isen^ao de taxa^ao adicional aos depositos de algodao em fardos, fora de usinas, cujo valor segurado seja igual ou inferior a Cr$ 10.000.000.00. Dessa forma, no precitado decenio, ao armazem mencionado foi aplicada a taxa normal da Tarifa. Entretanto, ja nos ultimos cinco anos (1950/1954), o

Os pre^os medios acima citados sao dados oficiais da Divisao de Estudos Economicos da Bolsa de Mercadorias dc Sao Paulo, nao sendo razoavel concluir-se que o aumento do pre?o do algodao tenha sido motivado exclusivamente pela sua valoriz.a^ao natural. Aventuramo-nos a afirmar que pelo menos 95 % desse aumento sao devidos aos efeitos da inflagao.
Para que o negociante enquadre o seu armazem de mode a que os seus seguros gozem de taxes normais da tarifa, necessario se faz que a sua area seja dividida por 3, resultando uma area litil de cerca de 330 m2 em cada compartimento. Esta area e irrisoria c na pratica constata-se que nenhum ou poucos armazens de algodao estao isentos dc sobre-taxa progressiva.
Os negociantes de algodao clamam por uma modifica^ao no atual criterio de limitagao de estoques. Parece-nos indispensaveis que as organizagoes seguradoras estimulem a sub-divisao de riscos, cujos cfeitos poderao refletir favoravelmente na sua propria estabilidadc financeira, em particular, e na economia nacional, na sua forma mais
ampla. Mas esse estimulo deve-se fazer acompanhar da verdadeira comreensao da situagao, nao sendo curial exigir-se desses negociantes que seccionem constantemente os seus armazens, quando eles nao teem diretamente influencia sobre essa mesma situagao.
Citamos o caso dos negociantes de algodao, porque somente sobre esse produto que obtivemos dados oficiais que nos permitissem apreciar a questao com mais seguranija. Mas e evidente que OS negociantes de cafe, arroz e outros produtos em geral, inclusive os importadores. por forga do atual re gime cambial, encontram-se em condi(;5es semelhantes no que tange a -:ubdivisao de riscos.
Urge que tomemos provideucias ppra atender aos justificados reclames desses negociantes.
Ill — Novos niveis de isengao
Aventuramo-nos a sugerir, embora de forma simpl'sta, que os atiiais limites de isengao do adicional progressivo, no caso de seguros sobre algodao, abrangidos pehs Normas Tarifarias de Algodao, sejam elevados ao triplo dos lim.tes atuais, estando esta elcva?ao dentro dos indices comparatives do prego do produto, conforme demonstrado no capitulo anterior. No caso dos outros produtos, abrangidos pela
Tarifa de Seguros Incendio do Brasil, o aumento seja elevado ao dobro dos niveis atualmente vigorantes.
Esta diferenciagao de tratamento justifica-se tendo em vista que desde o advento das Normas Tarifarias de Algodao, em 1944, nao foi introduzida qualquer modifica^ao no sistema de Tarifa^ao Progressiva. ao passo que a Tarifa Seguros Incendio do Brasil, posta em vigor em data mais recente, ja estabeleceu niveis mais favoraveis, embora igualmente insatisfatorios, nesta altura.

Move-nos ainda, ao fazermos esta proposi^ao, um sentido de equidade. Estabelecendo as Normas Tarifarias de Algodao jurisdi(;ao apenas sobre os Estados de Sao Paulo e Parana, verificase. a titulo de exemplo, que o seguro de algodao em fardos, fora de usinas, nesses Estados tern um limite de isen gao de sobre-taxa progressive de Cr$ 10.000.000,00, ao passo que nos demais Estados, cujas taxas sao reguladas pela Tarifa de Seguros Incendio do Brasil, o limitc de isengao e de Cr$ 20.000.000,00, em riscos de caracteristicas semelhantes, ressaltando ainda que a sobre-taxa, nesses Estados, incide sobre os seguros excedentes daquele limitc e nao sobre a totalidade segurada, coma acontece nos Estados de Sao Paulo e Parana.
IV — Incidincia do Adicional sobre o tou t segurado
No seguro de algodao nos Estados de Sao Paulo e Parana a sobre-taxa progressiva sobrevem ao total segurado.
uma vez constatado o excesso de seguro alem do limite de isengao. De forma diferentc e o criterio estipulado pela T.S.I.B., que determina a incidencia da sobre-taxa apenas sobre a diferenga entre a iraportancia segurada e o limite dispensado.
Acreditamos que o primeiro criterio, aquele adotado nos Estados de Sao Paulo e Parana, reveste-se dc maior sentido racional, posto que as grandes concentragocs de valores agravam o todo e nao apenas parte do objeto em. risco.
Imp6e-se uma alteragao na T.S.I.B. objetivando atender o principio de que a sobre-taxa progressiva dcve ser aplicada ao total segurado.
Esta alteragao traria em si o condao de compensar os novos niveis dc isen gao preconizados no Capitulo anterior. Mas nao e apenas com a finalidade de compensar que fazemos esta proposigao, mas tambem porque assim darlamos aos negociantes motive ponderavel para fracionar os riscos. em razao da acen— tuada elevagao do premio extra.
V
—
Jjmitagao do ambito do adicional progressivo
Sobrevir o adicional progressivo ape nas sobre os seguros de um mesmo segurado ou um mesmo proprietario em cada risco isolado e imperative de
ordem pratica. Esta medida, embora reconhegamos que altera fundamentalmente principles tecnicos consagrados em nosso meio, vira sanar os incontaveis casos de desrespeitos as determinagoes tarifarias, que se vcrificam exclusivamcnte pela impossibilidade pra tica de uma seguradcra conheccr de pronto 0 montante segurado nos estabelecimentos vizinhos sob mesmo risco, encontrando maior dificuldade ainda na manutengSo de um adequado controle desses mesmos seguros durante a vigencia do contrato.
Como corolario invocamos o preceito tarifario, que isenta os armazens portuarios da sobre-taxa progressiva. e acreditamos que esta providencia se deva em razao da impossibilidade de serem apreciadas as importancias scguradas nesse ramo de atividade, com exatidad e em"tempo habil.
Acresce ainda a circunstancia de que, scgundo determinagoes das tarifas, todos OS bens locaiizados em um «mesmo riscof estao sujcitos a mesma taxa, que sera detcrminada dentre aquelas que, individualmente c em fungao das classes dc ocupagao e construgao de cada segao, conduzir a taxa mais elevada. £ste criterio constitui, por si so, o tributo do Segurado por depositar suas mercadorias ou materias primas era comum
com outras mercadorias consideradas mais perigosas ou em Iccais que fomem «mesmo risco» com outros estabelecimentos cujos premies de seguro sao onerosos. O premio medio auferido pelas seguradoras, nessas condigSes, compensa os gravames decorrentes da promiscuidade, ocorrendo-nos a ideia de uma especie de dupla sobre-taxa se aquela taxa ja agravada sobrevir o adicional progressivo.
VI — Conclusao
Em rcsumo, submetemos a apreciagao dos Senhores Conferencistas as proposi?6es abaixo:
1.®) Elevar ao triplo os atuais limites de isengao do adicional progres sivo previsto nas Normas Tarifarias dc Algodao e ao dobro aqueles constantes da Tarifa de Seguros Incendio do Brasil:
2.^) Recair o adicional progressivo, nos seguros abrangidos pela Tarifa de Seguros Incendio do Brasil, sobre o total segurado, sempre que se verificar excesso de seguro alem dos limites de isen^ao.
3.) Sobrevir o adicional progressivo apenas sobre os seguros cobrindo materias primas e mercadorias de urn mesmo segurado ou um mesmo proptictario em cada risco isolado;
4."') Criacao de uma Comissao permanente com a incumbencia de efetuar revisoes periodicas nos niveis de isen?ao da sobre-taxa progressiva, sempre que o fenomeno inflacionario persistir na conjuntura economica do pais, a qual estaria afeta a introdugao de metodos tecnicos em condi^oes de determinarem a aplica^ao dessa sobre-taxa em ternios de equidade.
O seguro incendio das refinarias pelroliferas
TESE APRESENTADA A II CONFERENCIA BRASILEIRA DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAQAO
RESOLUgAO APROVADA
II Conletencia Brasileira de"Se guros Pnuados e de Capitalizagao resoheu recomendar:
«Que a Federagao Nacional das Emprisas de Seguros Priuados e Capitalizagao promova estudos para:
1° — atualizar os limites de isengao do adicional progressivo previstos nas Normas Tarifarias de Algodao:
2." — adogao de um criteria uniforme na aplicagao do adicional progressivo, examinada a possibilidade desse adiciO' nal recair sobre o total segurado sem pre que se verificar excesso sobre os limites de isengao, e
3." — efetuar reuisoes periodicas nos niveis de isengao da sobre-taxa progressiua enquanto o fenomeno inflacio nario persistir na conjuntura economica do pais^f.
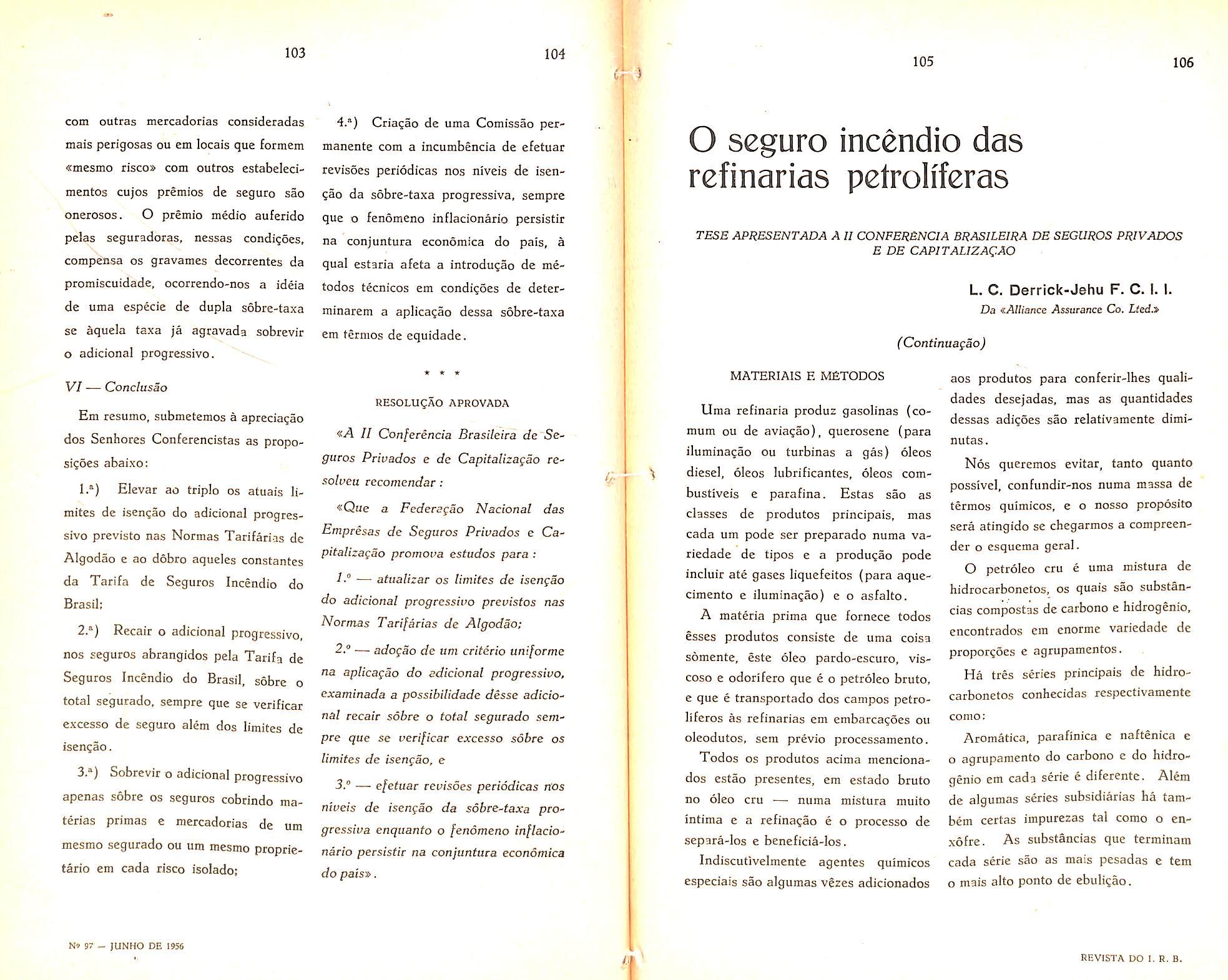
MATERIAIS E MfiTODOS
Uma refinaria produz gasolinas (comum ou de aviagao), qucrosene (para iluminagao ou turbinas a gas) oleos diesel, oleos lubrificantes, oleos combustiveis e parafina. Estas sao as classes de produtos principals, mas cada um pode ser preparado numa variedade de tipos e a produgao pode incluir ate gases liquefeitos (para aquecimento e iluminagao) e o asfalto.
A materia prima que fornece todos esses produtos consiste de uma coisa somente, este oleo pardo-escuro, vis cose e odorifero que e o petroleo bruto, e que e transportado dos campos petroliferos as refinarias em embarcagoes ou oleodutos. sem previo processamento.
Todos OS produtos acima mencionados estao presentes, em estado bruto no oleo cru — numa mistura muito intima e a refinagao e o processo de separa-los e beneficia-los.
Indiscutivelmente agentes quimicos especiais sao algumas vezes adicionados
aos produtos para conferir-lhes qualidades desejadas, mas as quantidades dessas adigoes sao relativamente diminutas.
Nos queremos evitar, tanto quanto possivel, confundir-nos numa massa de termos quimicos, e o nosso proposito sera atingido se chcgarmos a compreender o esquema geral.
O petroleo cru e uma mistura de hidrocarbonetos, os quais sao substancias compostas de carbono e hidrogenio, encontrados em enorme variedade de propor?oes e agrupamentos.
Ha tres series principais de hidro carbonetos conhccidas respectivamente como;
Aromatica, parafinica e naftenica e o agruparaento do carbono e do hidro genio em cada serie e difcrente. Alem de algumas series subsidiarias ha tambem certas impurezas tal como o enxofre. As substancias que terminam cada serie sao as mais pesadas e tem o mais alto ponto de ebuligao.
A densidade c o ponto de ebuligao decresce sucessivamente em cada raembro ate as mais ieves da scrie que sao gases a pressao normal.
Lima diferen^a primaria entre os demais produtos e a densidade, e como estes produtos sao todos raisturas de hidrocarbonetos, eles diferem tambem pelo ponto de ebuli^ao.
A separa^ao pela gravidade e urn proccsso demorado c inexato devido a natureza intima da mistura e a maneira pela qual seus varies componentes estao ligados na mesma.
A diferen^a nos pontos de ebuli^ao, contudo, oferece um meio exato e pratico de extrair da mistura, qualquer fra^ao desejada e e o metodo usado nas refinarias. De fate, se nos perguntarmos a um quimico de refinaqao uma defini^ao tecnica. de por exemplo, um tipo particular de querosene ele nos dira que e uma mistura de hidrocarbo netos com pontos de ebuli^ao compreendidos entre 150 c 250''C., e ele ainda nos poderia fornecer uma longa lista de hidrocarbonetos que compoem a mistura.
Se 0 petroleo bruto for aquecido gradativamente, cada componente ou fra?ao da mistura vaporiza-se (destila) sucessivamente de acordo com o seu ponto de ebuligao e se este vapor ou gas for imediatamente tetirado e resfriado ate sua condensagao. teriamos
efetuado a separa^ao desejada; este processo e chamado destilagao fracionada.
Inversamente se o petroleo bruto for aquecido ate destilagao total, a mistura de vapores resultante pode ser submetida a sucessivos graus de resfriamento, de modo que cada componente se con dense separadamente ao atingir a sua temperatura de condensagao. Uma combinagao de ambos os metodos e usado nas refinarias e passaremos a examinar a unidade de destilagao e os processes gerais.
PROCESSO DE ELABORACAO

DESTILAQAO BASICA EM DOIS ESTAGIOS
O petroleo e aquecido a uma tempe ratura da ordem de 320°C. numa retorta tubular ondc um feixe de tubos contendo 0 oleo e submetido ao fogo direto de queimadores de gas ou oleo. O oleo e bombeado continuamente atravcs os tubos e esta portanto sob pressao.
O oleo aquecido e entao introduzido •numa alta coiuna metalica (coluna de fracionamento) e uma grande quantidade do oleo imediatamente vaporizase pois a coiuna esta na pressao atmosferica e existe nela espago necessario para permitir a vaporizagao do oleo quente: esta operagao k. conhecida como «destiIagao por expansaos (flash distil lation). A parte que se vaporiza 6
naturalmente de ponto de ebuligao baixo, enquanto a parte restaote (de alto ponto de ebuligao) permanece no estado liquido e passa para a base da coiuna,
As fiagoes vaporizadas sobem na co iuna ajudadas por uma injegao de vapor de agua e resfriam-se gradualmente enquanto sobem.
Cada componente dos vapores de petroleo condensa a sua temperatura adequada (e portanto altura), e o li quido condensado c coletado em cada nivel cm bandejas dcnominadas «bandejas de borbu]hamento» as quais sao chicanas metalicas tendo pequenas valvulas mao-iinica, que permitem o vapor borbulhar atraves o liquido ja na bandeja; esta operagao tambem facilita a condensagao do gas no liquido que e retirado de cada bandeja sucessiva por um tube; Na parte mais baixa da co iuna acumula-se o liquido que condensa primeiro, isto e, o que tern o ponto de ebuligao mais alto. As fragoes de ponto de ebuligao mais baixo sao libcrtadas no topo.
As fragoes .separadas sao redestiladas para melhor separagao de seus compo nentes e OS produtos obtidos sao oleo diesel, querosene, nafta e gasolina, embora o numero e natureza dos pro dutos possa variar. Sobra-nos o liqui do pesado o qual nao vaporizou e que ficou na base da coiuna, e nos podemos
perguntar porque uma mais alta tempe ratura nao e usada na retorta tubular e desse modo todo o petroleo seria vaporizado na coiuna de fracionamento, possibilitando todas as fragoes do pe troleo serem separadas numa unica operagao.
A razao disto e que se o petroleo for aquecido ao grau necessario, a tempe ratura poderia ser tao alta que alguns dos hidrocarbonetos se decomporiam produzindo novas e indesejaveis substancias: a dificuldadc c contornada da seguinte maneira:
A fragao pesada, conhecida como petroleo reduzido e transferida para outra retorta onde e novamente aquecida e introduzida numa coiuna de fracionamento a qual esta a pressao inferior a atmosferica. Reduzindo a pressao abaixa mais o ponto de ebu ligao da liquids c portanto a mudanga do estado liquido para o vapor pode ser cfctuada a temperatura inferior e neste caso suficientemente baixa para assegurar a nao decomposigao dos hidro carbonetos.
A operagao na primeira coiuna e co nhecida como a de «cstagio atmosferico», e na segunda como a de «estagio sob vacuo», sendo o conjunto das duas denominada «destilagao em dois estagios:
A UNIDADE DE <CRAQUEAMENTO>
A separa^ao dos componentes do petroleo pelo metodo de destila^ao acima mencionado e uraa operagao fisica e nao uma operagao quimica e as proporgoes dos varies produtos depende da composigao original particular do cru selecionado. Os petroleos das diferentes partes do mundo variam sensivelmente na sua composigao.
A produgao de uma dada quantidade de, por exemplo, gasolina esta necessariamente ligada a produgao de quantidades correspondentes de querosene, oleos combustiveis e outros produtos comerciaveis.
Nos primordios da indiistria petroiifera esse estado de coisas tinha que ser aceito. e surgiam dificuldades de superprodugao porque o consume raundial dos varios produtos nao estava de acordo com a sua produgao. A procura para a gasoima era insaciavel enquanto que para as chamadas fragoes mais pesadas (oleos combustiveis), era in ferior a produgao.
Cerca de 1912, contudo, foi encontrado um proccsso pratico de variar a natureza dos produtos transformando OS oleos pesados cm essencias pela alteragao efetiva de sua composigao quimi ca. Neste processo conhecido conio «craqueamento» o oleo pesado € submetido a uma temperatura altissima, combinada com pressao e os grupos de

moleculas hidrocarbonetas se rompem transformando-se em novas substancias de series de hidrocarbonetos de natureza mais leve.
Em breve exposigao: se uni oleo lubrificantc leve e pingado sobre um tubo no qual circula agua quente. nos obtcremos vapor de oleo lubrificante (uma mudanga fisica) mas se nos pingamos 0 oleo em um tijolo aquecido ao rubro nos obteremos vapor de gasolina (uma mudanga quimica).
Naturalmente o atual metodo usado no «craqueamento termico», como e chamado, nao se assemelha ao procedimento rudimentar descrito.
O oleo e aquecido a cerca de 480°C. numa rctorta tubular e os vapores assim formados passam por uma camara de reagao onde se da a decomposigao ou 0 craqueamento; pressoes da ordem de 35 atm. sao usadas. Os vapores resultantes do decomposigao passam a seguir em uma camara de expansao (a mais baixa pressao) onde uma grande quantidade de gasolina e obtida juntamente com pequenas quantidades de residues pesados e alguns gases.
Nos liltimos anos, contudo, o pro cesso de craqueamento foi revolucionado pelo uso de certas substancias denominadas catalizadores que facilitam a reagao do craqueamento sem sofrerem elas qualquer mudanga; estas
113 substancias incluem compostos de aluminio, raagnesio silicio, etc.
Baixas pressoes ou pressao atmosferica podem ser usadas bem como temperaturas mais baixas. Alem disso, assegura um melhor controle da reagao, e um produto de melhor qualidade e obtido.
Nas raodcrnas refinarias vemos portanto que a instalagao de craqueamento catalitico e uma das de maior importancia.
Os detalhes da instalagao dependem do metodo empregado para introduzir o catalizador no oleo vaporizado: a principal dificuldade e que o cataliza dor fica coberto com carbono formado na reagao. c com isso, a sua eficiencia e sevcramente prejudicada.
Nas primitivas instaiagoes era necessario tcr-se dois leitos de catalizador, um sendo usado enquanto o outro era submetido a rcgcneragao pela queima do carbono em ar quente, mas as modernas instaiagoes asseguram um ciclo continue.
Na instalagao catalitica do tipo de «fluxo fluido», o catalizador em forma de p6 e arrastado para a camara de reagao por uma corrente de oleo vapo rizado tomando parte na reagao en quanto em suspensao e finalmente depositado no fundo de uma «camara de expansao» e regenerado antes de ser
novamente introduzido na corrente de oleo vaporizado.
No sistema «fluxo descendente» ocatalizador em p6 e misturado com o oleo liquido antes da vaporizagao no reator onde se forma uma camada atraves a qual o oleo vaporizado passa.
Uma parte do «p6» deposita-se e e retirado. o restante sendo separado do oleo vaporizado em uma centrifuga; as perdas sao compensadas com a regeneragao do catalizador.
Um outro metodo, o do «leito m6vel», consiste em deixar cair o catalizador granulado em contra-corrente no oleo vaporizado. o catalizador sendo subsequentemente regenerado pela sua qucda atraves uma corrente de ar quente; finalmente e elcvado novamente ao tope da «camara de reagIo» por meio de elcvadores ou canaliragoes de prcssao».
Qualquer que seja a forma de cra queamento usada, uma pequena parte dos produtos obtidos consiste de gases (a pressao normal), que sao iisados como combustivcl nas retortas da refinaria ou comprimidos e vcncidos; a sobra e consumida pela queima em ceu aberto no «f]ambeau» (Flare stack).
Alternativamente eles podem ser rcconvertidos em liquidos como descrito mais tarde
O REFORMADOR TERMICO
Passando agora uma breve revista nos tratamentos de beneficiamento nos volcamos primeiramente para a gasolina.
O criterio da gasoiina comum e sua «performance» no motor de combustao interna. e em particular a sua propriedade de evitar «batidas».

Em termos simples a «batida» ocorre quando parte do combustivel detona em vez de inflamar. A infJama^ao e uma forma de combustao 3 qual, embora rapida. e suficientemente lenta para permitir o eraprego da f6r?a de expansao para movimentar 0 pistao.
A detona^ao e uma combustao muito mais rapida e a potencia iibertada, por conseguinte, quase instantanea. nao pode fornecer um impulso continuo ao pistao, resultando cm uma pancada prejudicial com o barulho caracteristico da «batida».
Esta propriedade da gasoiina e acaliada pelo seu .indice de octano». o qual nao se refere ao octano cont'ido na gasoiina mas compara sua «perf6rmance. com 3 de um combusti^■el padrao de laboratorio. a qual contem uma propor^ao conhecida de iso-octanc.
A gasoiina, e simplesmente uma mistura de hidrocarbonetos, e cerfos componentes sac apontados como os responsaveis peias «batidas^ estes compo-
nentes indesejaveis devem ser reduridos e a maneira mais efetiva de faze-Io e num processo semelhantc ao craqueamento no qual os produtos indeseja veis sao recompostos: essa unidade e denominada o reformador termico.
Temos duas fontes de gasoiina; a retoi'ta e a instala^ao de craqucamcnto; 0 produto obtido por esta ultima (gaso iina craqueada) nao requer tratamento no reformador termico, ja esta reformada e seu indice de octano e satisfatorio. O produto da retorta (gaso iina dc destilagao priinaria) usualmente requer tratamento, particularmente a fra^ao pesada conhecida como nafta. No reformador termico essa nafta e aquecida a cerca de SdO^C. e os gases resultantes entram na camara de reaqao onde a transforma^ao tern lugar, o pro duto sendo entao bruscamente resfriado pelo borrifo de um oleo pesado do qual e posteriormente separado; pressoes de ate 70 atm. sao usadas neste processo.
OPERACOES SUBSEQUENTES
Tratamento da gasoiina — Toda a gasoiina requer algum tratamento fina\ para remover enxofre. ccrtas gomas, e outras impurezas que podem dar ma cor, ou mau cheiro. ou instabilidade em armazenagem. Banhos de acido sulfurico e soda caustica, agitados por pas ou por fluxo de ar atraves o produto sao operaQoes usualmente encontradas,
mas medidas adicionais podem'ser necessarias: litargirio e soda caustica sao usados no tratamento «doctor», sulfcto dc chumbo e cloreto cuprico em outros. A mistura de diferentes componenles cm tanques e a adiqao de produtos especiais, tal como chumbo tetra etila, tcrminam a prepara^ao das gasolinas.
Rcfina^ao do quecosene — Aqui o objctivo e analogo ao da gasoiina, e se destinados como iluminante. nao devem produzir fuma^a e a forma^ao de erastas nos pavios; tratamentos com acido sulfurico e soda caustica sao norma:s em tais casos.
% No processo Edeleanu, o anidridc sulfuroso liquido e usado para dissolver as impurezas: um sistema de circuito fechado permitc a recupera^ao do solvente. O anidrido sulfuroso nao e inflamavel.
Refinagao e remofao da paralina dos olcos iubrificantss — O acido sulfurico e usado para remover substancias oxidaveis: a filtra^ao com argila ativada em filtros-prensa com lonas clarificam o produto.
Certos outros processes de trata mento envolvem o uso de solvcntes de baixo ponto de fulgor, incluindo M.
E. K. (metil etil cctona) benzeno e tolueno OS quais sao usados para re mover paiafina; o propano liquido separa o oleo iubrificante dc seus compo-
nentes asfalticos; o furfural e um solvente de certos hidrocarbonetos indese javeis no oleo.
Todos esses solventes sao usados em sistcmas fechados mas sua presen^a dcve ser levada em conta por ser uma mistura com produtos que nao tern bai.xo ponto de fulgor.
As argilas filliantes e os panos dos filtros-prensas sao frequentemcnte lavados com nafta.
As grandes quantidades de parafina obtidas durante o processo de extragao (os quais algumas vezes envolvem o uso de refrigeragao) sao expremidas e embaladas.
Oleos combustweis — Os olcos combustiveis nao requerem tratamentos esmerados, mas algumas vezes a remogao de asfalto e dc parafina sao rcalizados 'de acordo com o descrito acima.
Transformacao de gases — Hidro carbonetos gasosos podem ser transformados cm produtos liquidos por alquila^ao, hidrogena^ao e polimerizagao.
Aitas temperaturas e pressoes sao usadas em combinaeao com acidos e outros materiais catalizadores; os gases transformados sao incorporados nas gasolinas.
DADOS ESTATIsTICOS
ConMbuigSo da Divisao Eslatfstica e Mecanizagao
ATIVO LIQUIDO DAS SOCIEDA
DES DE SEGURO EM 1954
A seguir sao apresentados alguns quadros relatives a situagio economica e aos ativos liquidos das sociedades de seguros desde 1950. files completam as estatisticas ja apresentadas na Revista do I.R.B., n' 90.

O qaadro 1 apresenta a situagac liquida em 31-12-54 pelas principais contas do ativo e passive das socieda des, sendo os valores apresentados. separadamente, para as sociedades nacionais e estrangeiras. fiste conjunto e completado com o numero de socieda des participantes e tambem com a percentagem de cada conta sobre o total Assim podemos verificar que. no ativo global de quase sete bilboes de cruzei ros, correspondente a 142 sociedades, 34,89 e -aphcado em imoveis, 21,15 em emprestimos hipotecarios, 18,70 em dcpositos bancarios etc.
Os 9"^'^ros2c3apre5entamo ativo liquido e 0 ativo liquido medio dos ultimos 5 anos por grupos de sociedades e no total para todas as sociedades, para as sociedades nacionais e para as socie dades estrangeiras. Nestes quadros podem ser observadas a evoIu?ao da
situagao do mercado em relagao ao ano base — 1950. No cotejo destes dados devem ser consideradas as sociedades que passaram a operar em maior niimero de ramos e, portanto, trocaram de grupamento. Nota-se ai acentuado crescimento do ativo das sociedades operando em todos os ramos e pequeno desenvolvimento dos ativos das que operam somente nos ramos elementares. quadros, 4. 5 c 6 apresentam a situa^ao das sociedades em forma identica a do quadro 1, porem, permitcm verificar o comportamento das aplica?oes do ativo durante o ultimo quinqiienio. Assim vemos que o ativo de todas as sociedades cresceu durante o qiiinquenio 92,47. Vemos ainda, com facilidade, a varia?ao anual da percentagem relativa a cada conta.
O quadro 7 identifica o numero de sociedades com e ate determinada classe de limite legal, com as respectivas percentagens em cada urn dos liltimos cinco anos. Verificamos assim que enquanto em 1950 somente 3 sociedades tinham ativo superior a um milhao de cruzeiros, em 1954, 13 sociedades possuiam identica situaqao. Evidentemente, a inflacao monetaria muito contribuiu para que isso ocorresse.
ATIVO LIQUIDO E ATIVO lIqUIDO MEDIO
Por
SOCIEDADBS

ATIVO LIQUIDO E ATIVO LIQUIDO
Por

DISTRIBUICSO DE FREQUfiNCIA FOR CLASSE DF LIMITF, LEGAL 1950/1954

TRADUgOES E TRANSCRigOES

SOBRE 0 SEGURO DE TRANSPORTES(*)
(Conclusao)
C — O SEGURO DE RISCOS POLiTICOS
VII — SEGURO DE GUERRA E DE CONFISCO DE EXIGfiNCIAS
Em conexao com o risco de confisco tem surgido, com freqiiencia, a questao de saber se e possivel scgurar simplesmente os danos patrimoniais que possam resultar de urn confisco. Esta questao torna-se concretg em negocios de cartas de credito e isto quando esltis sao emitidas, de forma irrevogaveis, antes de a mercadoria que ihc serve de lastro ter saido do territorio onde ocorre a amea?a de confisco. Desdc logo, devc ser dito que o seguro de uma carta de credito, como tal, nao e viavel.
Todo o campo da prote^ao de e\igencias monetarias contra riscos politicos esta, tanto na Alemanha, como na Inglaterra e em oufros paises. reservado aos seguradores de credito, os quais trabalham em estreita colaboragao com OS Estados. Um .seguro de confisco pode, realmente, proteger uma tal carta de credito amea?ada, porem apenas in-
(•) Moiiogrniia prcparada pdn Jauch 6 Huebener, Corrctorcs de seguros em Hambiirgo, Alemanha, para divuign^ao entre OS segur.idos e gentiimente cedida pnra publicnviio nesta Revista.
diretamente, protcgendo a carga. Na pratica, resulta dai que a mercadoria. no momento precise, ja seja uma realidadc concreta e que aquele que dcseja 0 seguro ja tenha sobre ela um intcresse legal, isto e, no caso normal, que a dita mercadoria ja Ihe pertenga.
Ate que ponto, no caso particular, .sc possa per estc recurso conseguir a protegao, desejada para a carta de cre dito contra confiscos, nao se pode explicnr em terinos gerais. Isto, alias, e.xcederia de niuito aos limites dcstas notas. Ter-se-a que, em cada caso particular, cxaminar-lhe suas particularidades e procurac quais as possibilidades de cobcrtura que ha.
Fodavia, vamos tratar ligeiramcntc da cobertura em geral das exigencias mercantis dos exportadores contra os riscos politicos, fi estc um campo de a?ao puramente governamental, nao obstante que, tanto na Alemanha, como na Inglaterra, interfira nele para tratar de sun execm;ao, um instrumento de economia privada. sob a forma de uma companhia de scgurcs de credito. Ein ambos os casos, porem, e.ssa companhia c apenas orgao executive, o risco e suportado pelo Estado.
Na Alemanha, a prote(;ao de tais exigencias contra dcvedores estrangeiI'os se faz por meio de gaiantias de exporta^ao ou de fianijas de exporta?ao. O portador da garantia ou da fianga e o Ministro das Finangas. Tanto a garantia, como a fianga, podem estender-se. tambem, aos riscos poli ticos. Abrangerao, nesse caso, os efeitos de «medidas estatais gerais do pais devedor» sobre o cumprimento ou a cobranga das exigencias. Como sc ve, o alcance da cobertura e muito amplo, pois abrange mesmo as medidas polilicas tomadas em tempo de paz e sem intuitos beiicos.
Interessante e que mcsmo esta co bertura, que visa especificamente a cxigencia financeira, nienciona cxpressamente os casos de confisco, danificagao ou destruigao da mercadoria. Ressurge aqui o paralelo de medidas gerais e individuals dirigidas contra um determinando objeto. Outro ponto importante e o de que a protegao concedida as exigencias visa, em princlpio, a.s medidas estatais gerais do pais devedor Parece, assim. que a cobertura nao abrange uma medida individual dirigida contra uma determinada e isolada e.xigencia, a nao ser que essa medida individual vise a piopria mercadoria.
VIII — DENONCIA
Toda e qualquer modalidade de se guro privado contra riscos politicos examinada ate aqui. preve, sempre. uma
possibilidade de denuncia. Os prazos de denuncia sac curtos: em regra, de 48 horas. Em geral, as deniincias so podem atingir os riscos ainda nao iniciados.
Essa possibilidade de denuncia e um dos pontos que, nas discussoes pro e contra dos seguros de riscos politicos, sempre ressurgcm. Parece, assim, oportuno dizer que a justificativa pra tica principal dessa faculdade de os seguradores denunciarem os contratos em vigor reside na necessidade de ajuste de premies ou, na irrupgao de uma guerra, da necessidade de ser providenciada a interferencia estatal para suportar o risco,
Nao obstante os prazos de denuncia tao breves, durantc toda a ultima guerra mundial o seguro de guerra teve continuidade. Nao se da, pois, o caso de que OS seguradores ficam recebendo preinios cnquanto a situagao e normal e que, tao logo ela fique critica, abandonam o segurado a sua sorte. A bem da verdadc, porem, deve ser admitido que lies tempos de alta tensao politica as possibiiidades de sinistros par se guros de riscos politicos podem adensar-se de tal maneira que a sua aceitagao inalterada acabaria pondo em perigo a propria estabilidade das seguradoras. Evidentcmente qualquer se guro so tem valor enquanto c segurador e capaz de responder por todas as suas obriga^oes.
fi, pois, fora de duvida. que, sem estas condi^oes rcstritivas, que facultam a deniincia, dificilmente estas opera?5es seriam possiveis. Resta-nos, agora, examinar quais os seus efeitoS e, sobretudo, como influendam contratos ja em vigor.
Neste particular, os mercados ingles e alemao, foram, sistematicamente por caminhos diferentes. As clausulaspadrao, alemas, para os seguros de guerra, de minas e de confisco, cont^m a clausula de cancelamento ou de de niincia em seu proprio texto, enquanto que, no mercado ingles, se desenvolveram, a par das clausulas de guerra, clausulas especiais de cancelamento {war cancellation clause). O sistema ingles tern a vantagem de uma adaptaqao mais facil; a clausula de guerra e sempre a mesma, enquanto que a de cancelamento varia conforme se trate de navio (casco). mercadoria ou risco de construgao.
Em oposigao. tern o sistema alemao a vantagem de ser mals claro; cm um so texto esta contido tudo que se tenha acordado em relagao no segiiro de guerra, de minas ou de confisco.
Nos seguros de mercadorias. a clausula-padrao alema determina que o seguro dos riscos de guerra e de minas pode ser cancelado a qualquer tempo, com antecedencla de dois dias, antes do seu inicio. Por inicio do seguro, como foi esclarecido antes, entende-se
o embarque, ou seja a chegada da mer cadoria a bordo do navio transportador.
No direito alemao, a deniincia e uma manifestagao de vontade, que se torna efetiva ao ser recebida pelo seu destinat^rio. Assim. o prazo de dois dias passa a correr no momento em que o segurado recebe a deniincia do contrato. Como a deniincia nao precisa da forma epistolar, pode ela ser participada verbalmente, por aniincio na imprensa, ou mcsmo, por comunicado pelo radio. A hora do recebimento nao importa: o prazo se estende por dois dias, isto sac os dois dias- seguintes aqueles cm que a deniincia tiver sido recebida. Resulta dai, na pratica, que a mercadoria que, no decorrer desses dois dias, ainda atingir o navio trans portador c que chegar a ser embarcada, estara ainda coberta inclusive contra os riscos de guerra. O que for cmbarcado depois, tera que ser segurado por um novo contrato contra riscos de guerra.
Queremos frizar mais uma vez que o que importa e o inicio do risco, isto e a chegada a bordo do navio transporta dor durante o prazo dos dois dias. Nao basta, assim, que a mercadoria tenha sido declarada nesse prazo, ou que tenha deixado a fabrica ou o armazem do interior e tenha sido de.spachada para o porto de embarque. Se nao chegar a bordo do navio trans portador antes de decorrido o prazo, caber^ escolher entre a conclusao de um novo seguro, ou o embarque sem
cobertura ou a sua retengao at6 ser resolvida a questao do seguro.
A faculdade de denunciar assiste a ambas as partes do contrato e pode ser cxercida a qualquer tempo, i. e. nao apenas por ocasiao da irnipgao de uma guerra.
A clausula inglesa de cancelamento dos seguros de mercadorias distingue entre seguros individuals e de averbagao. Tambem aqui vamos encontrar o prazo de dois dias, que tambem e contado pela mesma concepgao em que o fazein os seguradores alemaes: dois dias seguintes aquele em que a deniin cia tiver sido recebida. Empregamos de proposito «tiver sidos; o inicio do prazo nao e determinado, como no case alemao, pelo recebimento efetivo do aviso de deniincia, e sim pela emissao ou publicagao dessa decisao.
Se, pois. no dia «x» ficar decidido, em Londres, denunciar a cobertura do risco dc guerra, fica admitido que nesse mesmo dia o segurado a recebeu: o prazo concedido decorre nos dois dias seguintes. Como, no mercado ingles, praticamente todos os seguros estao a cargo de corretores, tal interpretagao gera uma grande responsabilidade para estes, pois terao que envidar toda a diligencia para que, de fato, todos o.s seus segurados sejam avisados no mesmo dia em que a decisao e tomada. A interpretagao quanto a quais as mer cadorias que sao atingidas pela deniin cia, e a mesma dos seguradores alemaes:
o que, no decorrer dos dois dias chegar a bordo do navio esta coberto, o resto nao.
Para as apolices de averbagao prevalece um criterio especial. Se determinada mercadoria for averbada, no prazo de dois dias, para ser transportada cm navio especialmente designado, o seguro prevalecera se tal navio inidar sua viagem dentro de quinze dias de pois do prazo de deniincia. O seguro contra riscos de guerra estara em vigor se o navio iniciar sua viagem nesse prazo e ficara suspense se, passados os 15 dias, o navio nao tiver iniciado sua viagem.
Esta regulamentagao, que, desde 1942, faz parte de uma clausula-padrao, sofreu uma ampliagao nos liltimos anos. Diante do fato de que a escala oficial dos premies de guerra contem a chamada «sailing warranty? de 7 dias um dispositive, segundo o qual, as coberturas de riscos de guerra nao podem ser canccladas no prazo de dois dias EC o risco se iniciar dentro de 7 dias passou-se a admitir, tambem nos se guros de averbagao, uma clausula de 7 dias. Isto, na pratica, correspondt a uma transforniagao, para as apolices cle averbagao, do prazo de dois dias em um de 7 dias.
Como 0 segurado pode ainda averbar mercadorias contra os riscos de guerra desde que a viagem tenha inicio dentro dc IS dias ap6s o decurso do prazo dos 7 dias, a margem para o segurado

sofreu uma consideravel ampliagao. Esta amplia^ao, todavia, em nenhum lugar foi consubstanciada em uma clausula-padrao; apenas resultou na pratica.
Evidentemerite,tal interpreta^ao facilita a conclusao de negocios em andaJi;ento, ja concretizados a ponto de poder ser indicado o navio transportador. Na Aiemanha nao existe esta amplia^ao.
Atendendo aos mesmos anscios pelos guais se deu ao portador de uma apobce de avcrbagao a possibilidade de embarcar ainda durante 15 dias apos o prazo dos dois dias. tornou-se usual procedimento semelhante para os tomadores de apolices individuals. Assim, ja e possivel tornar os seguros indivi duals incanceiaveis quanto aos riscos de guerra, desde que. por ocasilo de sua conclusao, ja sejam conhecidos o navio transportador e a data de sua partida e desde que essa data nao ultrapasse o prazo de 7 dias da data da conclusao do contrato. Especialmente por parte dos americanos tern sido tentado transformar gsse prazo de 7 dias em um de 30, porem o mercado de Londres tem-se aferrado no primitivo dc 7 dias.
Para os seguros de cascos de navios contra os riscos de guerra, que, como ja foi dito, nao sao praticados na Aie manha, nao esta prevista a demincia;
0 que ha e um cancelamento autoraatico do seguro apos a irrupgao de uma guerra em que uma das 4 grandes potencias participe (Gra-Bretanha, Franga, Russia e Estados Unidos). Se, no entanto, findo esse prazo de dois dias, um navio segurado encontrar-sc em alto mar, ou, se, no decurso desse prazo, abandonar um porto com o fim de cscapar ao risco segurado (inclusive, portanto, dos riscos de guerra), a cobertura dos riscos de guerra permanece em vigor ate o navio atingir o porto seguinte, perdurando por mais 24 horas apos a sua chegada.
Tainbem nos riscos de construgao prevalece c criterio da terminagao autom.atica do seguro em caso de guerra da qua] participar uma das 4 grandes potencies.
Na Aiemanha, a terminagao automatica da cobertura foi adotada para o seguro de cascos de navios contra minas, sendo o prazo o de dois dias apos a irrupgao da guerra. Fica, entretanto, claramente disposto que para tal devem participar da guerra duas das grandes potencias. Sein prejuizo do cancelamento automatico, o seguro de cascos maritimos contra o perigo de minas. pela clausula alema de minas, pode ser cancelado a qualquer tempo com antecedencia de dois dias. Tambem aqui prevalece o principio de que, em qualquer caso, o cancelamento so se
torna efetivo quando o navio estiver no porto. Se, pois, findo o prazo de dois dias, o navio se encontrar ainda em caminho, a cobertura contra o risco de minas prevalece ate que o navio tiver alcangado o porto seguinte.
OS pode cancelar com antecedencia de dois dias).
C"'
Ve-sc que as regulamentagoes ale ma dos riscos de minas e a inglesa dos riscos de guerra so coincidem quanto a irrupgao da guerra da qual devem participar grandes potencias. Divergem quer quanto ao caso de guerra entre outros que nao as grandes popotencias, quer quanto ao caso de nao haver guerra alguma. O segurador alemao do risco de minas pode cancelar a qualquer tempo com antecedencia de dois dias: o segurador ingles do risco de. guerra nao o pode: elc so se livrara da cobertura concedida se irromper guerra de grande potencia, fiste tratainento diferente das possibilidades de cancelamento reflete-se nas vigencias em que sao realizados os seguros contra OS riscos de minas c de guerra, na Aiemanha e na Inglaterra.

Os seguros de cascos contnj riscos de guerra, na Inglaterra, so sao concedidos para periodos dc ties meses (porque o segurador ingles nao os pode denunciar); na Aiemanha, tanto os se guros de cascos contra riscos de minas, como OS de cascos maritimos, sao reali zados, via de regra, per doze meses (porque o segurador, a qualquer tempo.
O seguro de confisco, de acordo com a clausula-padrao do D.T.V,, tambem pode. a qualquer tempo, ser cancelado / com antecedencia de 48 horas e antes de iniciado o risco. Para a contagem do prazo vale o mesmo que foi dito para o cancelamento do risco de guerra. Apenas ha que recordar que o «inicio do risco» e diferente no seguro de con fisco do que no caso do seguro de guerra de mercadorias. Enquanto que estc, de acordo com o principio «waterborne» so se inicia com a chegada da mercadoria a bordo do navio transpor tador, o seguro de confisco vigora dc «casa a casa». Bste se inicia, pois, quando a mercadoria, com a finalidade de transporte, e afastada dc onde estava ate entao (Vide, capitulo A: Se guro dc mercadorias, de casa a case, de acordo com as condi(;6cs inglesas). Dcssa forma o essencial e, pois. que esse inicio de risco ocorra no prazo dos dois dias.
O seguro ingles dc confisco de mer cadorias tambem e, usualmente, concluido com uma clausula dc cancela mento com prazo de 48 horas. Para a sua interpreta?ao e repercussao, na pra tica, basta reportar-se as considcraqoes feitas em relacao a clausula inglesa do seguro dos riscos de guerra, Traduzido por Frcderico Rossner.
LIQUIDAQAO DE SINISTROS LUCROS CESSANTES
(Co^^^^uafSo)
Walter Boston Liquidjxdor Execvtivo Gcrsl do General Adjustment Bureau. Inc. DallasSalaries Integrals na Folha de Pagamento
Apesar disso, no capitulo das comissoes, aquelas pagas como componentes de salaries sao consideradas nos dominios da folha de pagamento. fi pratica de muitos comerciantes pagar, ao pessoal de vendas, importancias basicas, mais comissoes de venda por individuo, cuja combina^ao representa o salario integral. Nao se deve confundi-Ias com as coinissSes concedidas a pessoas nao pertencentes a firma, as quais sao inteiramente contingentes nas vendas.
Frete comum ou especial de mercadorias ou materia prima e gastos com embalagens de vendas ou consumidas na produsao reprcsentam urn custo adicional daqueles elementos e como tal devem .ser tratados.
Os pianos de Trabalho da empresa podem servir de real ajuda para ser
realizado urn seguro de lucres cessantes, A media daqueles que se propoem faze-lo tem bons conhecimentos "das tendencias dos negocios ou outros fatores que influenciarao em suas atividades, comparando-as com a experiencia obtida. fisses pianos das atividades a desenvolver pela empresa tem dupla utilidade. O segurado esquematizou assim, antecipadamente, suas necessidades durante o periodo de vigencia da apolice.
•Urn cotejo deste com os resultados das apuracoes levadas a efeito pelo liquidador podem servir de auxilio para reconciliar diferencas de opiniao, atingindo-se o objetivo descjado que e uma adequada e satisfatoria regula^ao do sinistro.
Lidando com o fixturo Nao esquega que, apos um sinistro, nos trabalhamos com o futuro e que deveraos basear nossas conclusocs em fatos, na logica ou em qualquer outra premissa. Ha, de fato, somente duas alusoes ao passado, na apolice. A primeira e que deve considerar-se cuidadosamente a situagao dos negbcios antes da data do sinistro. A segunda se refere ao estoque em processamento em um risco industrial — estoque produzido antes de ocorrer o sinistro, e o tempo adicional se for o caso, para a produgao ate o ponto em que entao existia.
Tomemos um caso hipotetico. Um incendio danifica substancialmente um predio em que sc encontra o risco e seu conteudo. A primeira preocupagao do segurado e resolvcr o sinistro na parte referente a propriedade fisica. Nao obstante, o liquidador, que ja examinou a situagao, procurara a oportunidade para falar-lhe acerca da possibilidade de reiniciar as operagoes naquele mesmo local ou em outro de emergbncia.
Adimitamos que nenhuma destas duas hipbteses seja exeqiiivel. O liquidador esta pronto para por maos a obra.
Tomara entao as seguintes medidas gerais, em colaboragao com o segu rado;
1) Obter estimativas idbneas do tempo exigido para reconstruir o predio e para restaurar as instalagbes c equipamentos danificados, o que pode acarretar a necessidade de contratar arti fices desta ou daquela especialidade.
2) Familiarizar-se com a natureza e aspectos matcriais do risco.
3) Analisar os livros da firma. Se OS negocios Sao peribdicos, ele comcgara a fazer uma demonstra^ao das opcra^bes, detalhadamente, por meses ou semanas. conforme o caso justifique. Nessa demonstraqao sera feita a redisposiqao das contas relativas a de.spesas, sc nccessario. para atender as condisocs da apolice.
4) Pesquisar sobre as tendencias futuras, quer quanto aos lucros como as despesas. Isto e baseado nos fatos

PARECERES E DECISOES
e na logica, e nao em suposi?oes infundadas. O confronto ou contraste das atividades do negocio antes do sinistro, com OS mesmos meses ou periodos do ano precedente Jhe dara a solu?ao. Pode orientar-se por estatisticas. Podem obter-sc dados dignos de confian^a em uma serie de fontes, mas 6 preciso nao esquecer que sac de natureza geral e, por conseguinte, devem ser adaptados ao caso em observagao. Com efeito, programas de expansao ou cortes de despesas previamente planejados, condigoes economicas locais, secas, colheitas superabundantes. fabricas que se instalcm na comunidade ou deJa se mudem,~ podem constituir elementos de aferigao. Devem estudar-se e ponderar-se todos os fatores que possam ter influencia. para chegar a conclusoes acertadas.
5) Terminada a esquematizagao
das atividades da empresa pelo periodo de urn ano, esta entao o liquidador em condicoes de discutir valores e prejui zos. Com o auxilio do segurado ele calculara o montante das despesas que continuarao e o daqueias que serao
deduzidas. A esta altura, as estimativas de tempo ja foram obtidas de forma que o passo seguinte a ser dado e o do acbrdo sobre a extensao da interrup^ao.
Resolvido este ponto, e mera questao de detalhes o calculo dos prejuizos sofridos, utilizando-se dos mesmos ele mentos basicos constantes da demonstragao das atividades da empresa feita pelo liquidador.
Proposta de sociedade
Tenho dito, freqiientemente, que uma liquidaglo de sinistrcs lucres cessantes assemelha-se a uma proposta de sociedade. Trabalhando de maneira ordenada com o segurado, mantendo um espirito de compreensao, ponderando todos os elementos, cntrando em acordo, cm principio, gradativamente. chega-se a uma liquidagao hannoniosa e equitativa. O segurado aprendcu coino funciona a apolice, e o pretense misterio do seguro de lucres cessantes desaparece.
Traduzido por
W.L. RezendeTribunal Federal de Recursos
APELACAO CIVEL N." 3.518
Relator — O excelentissimo Senhor Ministro Henrique D'Avila. Apelantcs — Jose de Britto 6 Cia. e outros.
Apelados — Instituto de Resseguros do Brasil e outros.
EMENTA
Contcato dc seguro — Riscos que cobrc — Auaria decorrente de chuva.
RELATORIO
O Excelentissimo Senhor Ministro Henrique D'Avila — A controversia de que vai se ocupar esta Turma, foi cxposta e d^rimida pelo m. julgador a quo: da seguinte maneira:
«Iose dc Britto 6 Cia. e Cesar Ribeiro Irmao. individuados na initial de fls. 2, propuseram a presente a^ao ordinaria contra «Urbania» Companhia National de Scguros, «Borborema» Companhia de Seguros Gerais, Atlan tic;! Companhia Nacional de Seguros e 0 Instituto de Resseguros do Brasil, com a citaqao tanibem do Loide Brasileiro P. N. sob alegaqao de que;
I — Em abril de 1949 os suplicantes cntregaram ao Loide Brasileiro — Patrimonio Nacional, n fim de transportar para esta Capital, os seguintes lotcs dc algodao em phima Serido tipo 3, emitidos pela agencia de Joao Pessoa:

111 e 112 fardos (Lotes 415 e 414) marca «Britto», pertencentes a enibarcadora, primeira suplicante, segurados nas Companhias «Urbania» e «Borborema», 50 % cada uma, o primeiro lotc de 111 fardos: na Companhia Atlantiac o 2." lote de 112 fardos;
274 fardos {Lote 372) marca Nico Cntna, pertencentes a embarcadora I."" suplicante, segurados na referida Companhia Urbania; que a empresa transportadora recebeu essas mercadorias em perfeito estado. sem avarias, como se ve dos conhecimentos respectivos: que, depois de entregue diia mercadoria, ou seja, durante o respective transporte "(dentro do periodo do risco assumido pelas mcncionadas Compa nhias seguradoras) veio a mesma mercadoria a sofrer avaria por agua salgada, o que foi contcstado pelo cxame pericial procedido pelo Instituto Na cional de Tecnologia, conformc os autos de vistoria que instruem a initial; que a avaria foi de 42,5 nos sobreditos 497 fardos, segundo o laudo do perito das suplicantes e de 37 /O segundo o laudo do perito desempatador, confirmado pelo perito do Loide Brasileiro;
que a rcsponsabilidade das referidas companhias seguradoras e o Instituto de Resseguros do Brasil tern fundamento nas apoliccs emitidas e respectivas averbagoes, hem como nos artigos 666, 710 e 730 do C6digo Comercial;
que as suplicantes. apesar do proposito conciliatorio nao conseguiram liquidar a indenizagao da avaria na percentagem encontrada pelo perito desempatador, como base harmonizadora. sendo certo o Instituto de Resseguros do Brasil se manifestar contrario ao pagamento amigavel da indenizagao.
dai a presente agao, na qual as firmas suplicantes pedem:
a) a 1." suplicante, que sejam condenadas as L' e 2' suplicadas, compa-
nhias seguradoras Urbania e Borborema a Ihe pagar cada uma a quantia de Cr$ 70.058.30, da indenizagao pela avaria verificada no lote -115 de 11 fardos, nelas segurados, na proporgao de 50 % cada uma;
b) ainda a 1." suplicante, que seja a 3.'^ suplicada, companhia Atlantica, condenada a Ihes pagar a quantia de Cr$ MO.963,00, correspondente a indeniza?ao pela avaria verificada no sobredito lote 414 de 112 fardos, nao segurados:
c) a segunda suplicante pede que seja a primeira suplicada, Urbania Companhia Nacional de Seguros, con denada a ihe pagar a quantia de Cr$ 327.993,75 da indenizagao pela avaria sofrida no lote n." 372, de 274 fardos;
d) ambos os suplicantes pedem a condenagao solidaria do 'i." suplicado, Institute de Resseguros do Brasil, o pagamento, a primeira suplicante das mesmas quantias de Cr$ 70.058,30 e mais igual quantia e Cr$ 140.963 00 (na soma de Cr$ 281.079,60) e o pagamento a segunda suplicante da quantia de Cr$ 327.993,75, tudo na miportancia de Cr$ 609.073,35 alem de custas do processo e honorarios de advogado na base de 20 % sobre o valor dos pedidos principals.
II O Institute de Resseguros do Brasil contestou a agio (fls. 132-144), alegando, como materia preliminar a inexistencia de solidariedade, pela propria natureza do seguro, entre as companhias seguradoras e o Institute ressegurador, de vez que o contrato de seguro v.ncula apenas segurados e seguradores, de conformidade com a li?ao unanime na doutrina, que encontra apoio, de resto, no art 36 dn Decr^eta-Iei n.- 9.735, de 4 de setembro
que o art 64, dos Estatutos aprovados pelo Decreto-lei n." 21 ,810 de 4 de setembro de 1946, deterniina que o Instituto de Resseguros so responda
perantc o segurador e nao o segurado e, mesmo assim, como no caso dos autos, a sua responsabiiidade nao poderia ser superior a sua participa?ao como ressegurador.
No merito alega que as avarias sofridas pelas mercadorias o foram em conseqiiencia, nao de agua salgada do mar, como querem os AA. mas por aguas das chuvas, pois ditas merca dorias ficaram, antes do embarque, no porto de Cabedelo, dcpositadas no patio do Armazerp daquele Porto, ainda aos cuidados dos AA. de forma que, quando essas mercadorias foram embarcadas nos navios ja se achavam avariadas em consequencia das chuvas a que estiveram expostas;
que OS navios transportadores nao sofreram qualquer acidente na viagem, nem suportaram mau tempo c tanto isto e verdade, que as demais merca dorias que vieram transportadas nos mesmos poroes, tal como o algodao avariado, nao sofreram qualquer ava
ria:
que, pela propria natureza de con trato do seguro, a responsabiiidade do segurador e limitada aos riscos por ele expressamente assumidos na apolice.
Ora, continue o Instituto, as apoliccs discriminaram, taxativamente, os riscos assumidos e, dentre eles, nao se encontra a avaria por agua de chuva, alias, contrariamcnte a pretensao dos A.A. ditas companhias expressamente, se irresponsabilizaram por esse risco, como se verifica nas apolices (documentos fls. 109, 110 e 120),
As Companhias Res tambem contestaram a agao fls, 146-156, endossando a contestagao do Instituto de Ressegu ros do Brasil, alegando, ainda, em
resume:
a) que as apolices, em que os A.A. fundam sua pretensao, especificaram, taxativamente, os riscos assumidos pelos R.R. e nenhum dos riscos ali enumerados foi a causa direta ou indi-
c:
reta dos danos sobrevindos a mercadoria segurada;
b) que, nas mesmas apolices, foram e.vcluidos, expressamente, diversos ris cos pelos quais as R.R. nao responderiam, era hipotese alguma e, entre estes, 0 da agua da chuva o qual, como ficou comprovado, foi o causador dos danos:
c) que, ainda nas apolices R.R. c A.A., contratando seguro de cais a cais, convencionaram que os riscos assumidos comeqariam a correr a partir do inicio do embarque das mercadorias e. pelo que se verificou, as avarias tiveram lugar antes desse embarque, antes, pois, do inicio da responsabiii dade das R.R.:
d) que OS navios transportadores nenhum acidente maritimo sofreram, nenhum risco maritimo suportaram que pudessc ser a causa direta ou indireta dos referidos danos:
e) que, se as avarias fossem por agua do mar durante a viagem, outras mercadorias teriam sido daoificadas, pois OS fardos de algodao vieram estivados em poroes diferentes, juntamente com outras mercadorias. Assim, continuaram as R.R., de tudo quanto ficou exposto, ressalta a evidencia, o nenhum direito aos A,A. a indeoizagao que ora pretendem.
IV — O Loide Brasileiro — Patrimonio Nacional (fls. 161-162) pede sua exclusao do feito, sob a alega^ao de que o seu charaameiito a lide nao passa de mera formalidade pretensamente acauteladora dos supostos interesses das autoras, pois, como se veri fica na inicial e das contesta^es oferecidas pelo Instituto de Resseguros do Brasil, o pedido versa sobre «res inter alltos acta». que nao induz responsabi iidade alguma justificadora da intervenqao do transportador.
Foi proferido c despacho saneador de fls. 175, sem recurso. Foram ouvidas tres testemunbas perante o Juizo da 1." Vara da Fazenda
Publica do Estado da Paraiba, conforme precatoria requerida, fls. 181202.

VII — Realizou-se a audiencia de instrugao e julgamento, termo de fls. 209, na qual as partes refor^aram suas conclusocs.
VIII — O que tudo visto e bem exam'nado:
Considerando que nas aQoes de se guros sera o Instituto de Resseguros do Brasil considerado litisconsorte necessario, sempre que tiver responsabiii dade na importancia pedida na inicial (art. 36 do Decreto-lei n.® 9.735, de 4 de setembro de 1946);
Considerando que respondera o referido Instituto, perante o segurador proporcionalmente a responsabiiidade ressegurada. o que evidencia, no caso dos autos. que da importancia pedida, isto e, de Cr$ 609.073,30, apenas a quantia de Cr$ 232.642,40 esta a cargo do Instituto ressegurador.
Considerando que o perito do Juizo, fls. 81-89, respondendo ao quesito sobre a causa, natureza, estensao das mercadorias, conclui que os fardos de algodao, que se encontravam no patio do Porto de Cabedelo, antes de serem embarcados, estavam completamente encharcados pela a^ao das chuvas constantes que caem;
Considerando que a afirmaqao de terem as mercadorias em questao, sofrido avarias provenientes de agua de chuva durante o tempo em que estiverem depositadas nos patios do Porto de Cabedelo, antes do embarque nos navios sCariocas e «Jangadeiro» e comprovada de mancira inequivoca pelas certidoes de fls. 74-79:
Considerando que a hipotese aventada pelas A.A. de que ditas merca dorias tenham sofrido avarias prove nientes de agua do mar, em os navios transportadores, pelo fato da existencia do cloreto de sodio em algumas das amostras de algodao avariado, foi cabal e claramente explicada pelo perito descmpatador, face as declara?3es do
Diretor de Indiistrias Texteis, pelo fato de ser o proprio cloreto de s6dio encontrave! em pequenas quantidades em algodoes ditos bons;
Considerando que a prova testemunhal, fJs. 195-197, nao socorre a pretensao dos autores:

Considerando que as apdlices, fis. 109, no e 120 em que os A.A. fundam sua pretensao espedficam, taxativamente os riscos assumidos pelos R.R. e nem um dos riscos ali enumerados foi 3 causa direta ou indireta dos danos sobrevindos a mercadoria segurada:
Considerando que nas mesmas apolices foram exduidos diversos riscos, pelos quais as R.R. nao responderiani em hipotese alguma e, entre eles o da agua da chuva, o qual foi o causador do dano;
Considerando o raais que dos autos consta:
Julgo improccdentc a presentc agao e condeno os autores ao pagamento das custas (fis. 212-218).
Dessa decisao apehrani. teinpestivamente, os autores com as razoes que defluem de (fis. 220 e 229 — le).
fi contra-arrazoado de fis. 232 a 241 assimi (Je).
E, nesta Superior Instancia a douta Subprocuradoria Geral da Republica, of.aando a fis, 256, pronuncia-se pelo nao provimento do recurso.
fi 0 reiatorio, VOTO
O Senhor Ministro Henrique D'Avila (Relator). — As consideragoes prelirninares do nobre advogado que acabou de deixar a tribuna no tocante a sem razao do cliamamento a juizo do Insti tute de Resseguros do Brasil, tein toda procedcncia. Coino e sabido, luio s6
em face da doutrina, como da lei posi-* tiva, o ressegurador so responde perante o segurador: nao tern o que ver com 0 segurado. Em hip6tese algutria, poderia vir a ser coinpelido a pagar as indenizaqoes vindicadas. E, este Tri bunal seria ate mesmo incompetente, sc nao houvessc sido chamado e ingressado em juizo. o L6ide Brasilciro, Patriraonio Nacional.
Posta de lado essa questao incidente, a decisao recorrida esta a pedir confirma(;ao por seus proprios e acertados fundamentos. O contrato de seguro. evidentemente, nao previa, o risco decorrente de chuvas; e, nao ocorreu a boido, sob a vigencia do contrato: mas sim, em um armazem onde a merca doria aguardava embarque. Sob qualquer aspecto que se aprecie a controversia, nenhum e o direito dos autores.
A sentenga recorrida nao mcrece censuras. Nego provimento,
O Excclentissimo Senhor Ministro Alfredo Bernardes (Reviser) —Senhor Presidente, com relagao a preliminar, data, venia de Vossa Excelencia penso de modo diverse.
A intervengao do Institute de Res- . ■seguros do Brasil e obrigatoria. As Companhias de seguro chamadas indicam. desde logo, se o ressarcimento dos prejuizos a que se obiigaram, atribuem-se, cm parte, tambem ao Instifuto. Caso afirmativo, o Instituto e parte necessaria na agao — e tanto 6 assiin que dezenas de processes correm iieste Tribunal, em que o Ldide Brasi lciro nao e parte nem nenhuma autarquia, e, no entanto, o recurso e para este Tribunal porque o interessado e o Instituto de Resseguros.
Assim, com referenda a preliminar suscit ida pelo nobre Advogado que tao bom expos a causa perante este egregio Tribuna!, eu a afasto porque se consi-
derarmos procedente a preliminar, teriamos que nos julgar incompetentes cm todos OS processes em que o Insti tute e chamado a agao e onde nao ha aiitarquias interessadas. No merito, o direito das companhias de seguros e completo. A clausula de <oguro restringe a responsabilidade a certas e determinadas condigoes. Ora onire as condigoes excluidas da apdlice o.sta esta; a dos prejuizos pela chuva. As apolices s6 cobrein riscos de mar: "< da chuva sao exduidos expressamente.
Nego provimento ao recurso.
Decisao
Por unanimidade, negou-se provi mento ao recurso. O Senhor Ministro Candido Lobo votou de acordo com c •Senhor Ministro Relator. Presidiu o
juigamento o Excelentissimo Senhor Ministro Henrique D'Avila.
Acordao
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelagao Civel n.° 3.518. do Distrito Federal, em que sao apelantes Jose Britto & Cia. e outros e apeiados o Instituto de Resseguros do Brasil e outros:
Acorda a 2." Turina do Tribunal Federal de Recursos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, tudo de conformidade com as notas taquigraficas, que deste ficam fazendo parte intcgrante.
Custas ex-lcge. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1954. — Henrique D'Arila. Presidente e Relator.
Tribunal de Justipa do Distrito Federal
APELAgAO CfVEL N," 31.927
Apelanlc — Armando Luz & Cia. Apeiados — Companhia de Seguros Riachuelo e Instituto de Res.seguros do Brasil.
Ementa
Afao de Seguros. Inexistencia de prova dos prejuizos pela segu rada e impossibilidade de sua apurc^ao pela seguradora. Impi'Ocedincia da agao e confirmagao do julgado.
Acordao
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelagao civel numero trinta c um mil novecentos e vinte e setc
(31 .927), sendo apelante — Armando Luz 6 Cia.' e apeiados — Companhia de Seguro.s Riachuelo e Instituto de Resseguros do Brasil:
Acordam os Juizes da Quinta Camara Civel do Tribunal de Justiga, por unanimidade, cm negar provimento a apelagao de fis. 135-137 verso para confirmar, pelos seus fundamentos e pelos das contra-razoes de fis. 141-144. a scntenga apelada de fis. 130-133, que julgou iniproccdente a agao.
As razoes do apelante nao convencem da injustiga da decisao recorrida. A boa vontade da seguradora, ora primeira apelada, e acentuada cm suas contra-razoes (fis. 142, numeros 4 a 6).
Nao obstante, nao conseguiu apurar qualquer prejuizo da segurada. oja apelante, a quern incumbia, alias, o onus da prova.
Assim, negative seria tanibem o resultado da liquida^ao. se determinada Esta. Custas pela apelante.
Distrito Federal, 16 de agosto de mil novecentos e cinqiienta e cinco. Assinado — Mario Guimaraes Fernandcs Pinheiro. Presidente e relator Assinado — Eurico Portcla — Assi nado — Gastao Macedo.
Contra-arraioado o rccurso. opinou a douta Procuradoria pelo seu nao conhecimcnto.
£ c relatorio.
Piocesso n.^ 5.678-54.
ATao e empcegado o medico quc atende em seu consultorio parti cular segurados da empress, que ,Ihe sao encatninhados para a realizafio de exames de sua cspecialidade.
Acordao
Vistos e relatados estes antes em que sac partes, come Recorrente, «A Fortalezas — Companhia Nacional de Scguros e, come Recorrido, Geralde
Amando de Barros;
O Egregio Tribunal de Sao Paulo, poE maioria, cenfirmou a decisao da Junta, qne determinara a reintegragao do reclamante. considerando existente a relaqao de emprego per mais de 10 anos desde quando procedia ek. no exercido da sua profissao de me dico, ao exame radiologico dos acidentados que Ihe eram encaminhados pela reclamada, per interraedio do medico
do seu ambulatorio, mediante a remuneragae inensal de Cr$ 1.000,00. Foi vencido a douto relator do processo. que entendia ser o reclamante carecedor de a^ao, per nao se confirmar. na especie, a relaqao de emprego, visto que na qualidade de medico, atendia ele, com inteira autonomia, acidentados, segurados da reclamada que Ihe eram encaminhados para realizacao de exames radiologicos, percebendo por servigos executados e nao qualquer fixo, como consta da declaragap extrajudicial de fis. 97, destrulda pelo laudo de fis. (154-156).
Interpos a reclamada recurso de revista, com fundamento na letra b do art. 896 da Consolidacao, sustentando ter o V. acordao recorrido dcsatendido

ao disposto no art. 818, no que diz respeito a prova das alegagSes, e no art. 3.", daqucle diploma legal, por ter admitido existente a relaqao de emprego.
V o T 0
O reclamante atendia em seu con sultorio particular as pes.scas que Ihe cram encaminhada.s pelo encarregado do ambulatorio da reclamada. para a I'calizacao de exame.s radiologicos.
Pela so exposi^ao dos fatos, admitidos pelo V. ac6rdao recorrido, esta
u se ver que se tratava- de presta^ao de servicos eventuais, que eram solicitados ao reclamante quando o ambu latorio da reclamada, no tratamento dos acidentados, necessitava de exames da especialidade do reclamante.
Por outro lado, nao ha prova do pagamento de salario fixo ao recla mante, como o demonstra o vote ven cido, desde quando nao e possivel sobrepor-lhe a prova pericial, constante do laudo a fis. 102, a declaragac extrajudicial de fis. 97, que so Valeria como prova se produzida com observancia
do dispcsto no art. 245 do Codigo de Processo Civil.
Assim. tendo o Egregio Tribunal a quo admitido a rela^ao de emprego. a despeito da presta^ao eventual do .servi^o e da inexistencia do salario, conheso do recurso porque tenho como violado o art, 3." da Consolidaqao.
No merito, dou-lhe provimenfo para julgar o reclamante carecedor de a^ao, nos termos do voto vencido do emitente juiz Dr. Wilson Batalha.
Isto posto: -
Acordam os Juizes da Terceira Turma do Tribunal Superior do Tra baiho contra os votos dos Senhores Ministro.s Antonio Carvalhal, relator. e Julio Barata, conheccr do rccurso e dar-lhe provimento para absolver a re corrente da condena?ao imposta.
Rio dc Janeiro, 9 de agosto de 1955. — Julio Barata, Presi'dente. — Jonas
Melo Carvalho, Relator ad-hoc.
•Publicado no Diario da Justlga, de 24 de fevereiro de 1956, na pag. 307.
Consultorio Tecnico
A linalidndc desta scfuo i atender as consuUas sobre assuntos refcrentes ao scgura em geral. Para responder a cada pergunfa sao corividados tecnicos espccializados no assunto, nao so do Institido dc Resseguros do Bras/1, ma' tambem estranhos oos scus quadras.
As so/i/foes aqui aprcsenfadas representam api-nas a opiniao pessoal de scus cxpositorcs, par isso qiie os casos concrctos submetidos a eprecia^ao do I.R.B. sao cncaminhados aos scus orgaos compctcnte.-:, cabendo ressaltar o Conscllto Ticnico, ciijas dr.cuOcs sao tornados por maioria de votos. Estas colunas {icam ainda a di'sposrfno das Icitnrcs que poderao, no case de discordorcm da resposfa, expor sua opiniao sobre a matiria.
A correspondincia dcvcra scr enderegada a REVISTA DO I.r.b.. Avcnida Marccbal Camara n.' 171 — Rio dc Janeiro, podendo o consii/enfe indicar pscudonimo para a tesposta.
SICOSINO — (Rio) — nVn/ciido-nic do oporfunidadc cfcrccida par css.-i Rcvista. venho salicitar csclarccimcntos sobre a dii'crgcnci.i da praro para rcqucrimcnio dc I'istcria oo iron.sportadar. face ao disposto no net. 6hS do (Aidigo Comvrcicil c art. 7% do Codigo dc Pracesso Cifil.
Segundo o Codiyo Comcrcial. os eoiisi'plUitarios tcm o direito dc lazcr proccdcr :io oxamc jndiciiil nas mcrcadorias, no precise rcrmo dc 48 /loras dcpois da dcscarga, cnqiianfo i/iie, dc. acordo com o act. 756 do Codigo dc Processo Cwil. a c.v/pcnc/a da visloria Jo/ so/i-rfi/uida pclo protcsto feito dcntro do prazo dc 5 d/as. nicdianfc rcssaUm no proprio dociimenfa dc fransporfe.^5
Nao tendo, ate a piesentc data, nbtido resposta do Dr. Raymundo Correa Sobrinho. Procurador do ao qual enviaramos e.sta consulta, solicitamo.s a opiniao do Dr. Luiz B. de
Bcrrcdo. tambem Procurador do I.R.B.. qiie assim se expressou .sobre o assunto:
1 • O art. 618 como outros (v. g. art. 772 e seguintes) nao obstante constarem do C6digo Comercial, se referem a iiiatcria estritamente proces.sual.
2 —• O C6digo Comercial e de 1850 (Lei n." 556, de 25 de junho) e o de Proces.so Civil (e Comercial) c de 1939 (Decreto-lei n." 1.608. de 18 de setembro).

3 — Sendo lei posterior regulando o iiie.smo assunto. o Codigo de Processo inanteve determinados dispositivos prccessuais do Codigo Comercial. como. por exeniplo, o art. 772 (Codigo Co mercial) e transcrito no art. 762 do Co digo de Processo. Entretanto. revogou
outro.s quando omitiu ou dispos dc forma diferente. Assim a alegada incompatibilidadc do art. 618 do Codigo Comercial com o art. 756 do C6digo dc Proces.so e.stara dirimida com a prcvalencia do segundo di.spositivo. Nessc sentido, con.siibstanciando urn principio de hermeneiitica, diz o Codigo Civil no art. 3." de ,sua Lei de Introdu^ao (De creto-lei n." 4.657, dc 4 dc setembro dc 1942):
1." — A lei posterior revoga :i anterior quando expressamente o de clare. quando seja com ela incompativrl ou quando regule inteiramente a materia de quc tratava a lei anterior «
4 — Queixam-se os estudiosos dc nao ter sido feliz o Codigo de Proces.so ao tratar da partc do Direito Maritimo. cxatamente, por ter apenas transcrito muitos do.s artigo.s do Codigo Comer cial. Isso perniitlu quc em vez de uma forma simples dc vistoria («ad perpetuam») indic ida no art. 676, VI. como seria de dc.sejar, existc tambem a forma preterita referida no citado art. 762 com a impropricdade do titulo «Do avaria a cargo do segurador».
— E se nao se tratir dc avaria .i cargo do segurador ? Evidentemente, a forma devcra ser a da visloria «ad perpetuam rei memorlam» para todos os casos uma vez que nao da azo a qualquer duvida.
5 —■ Quanto a oportunid^dq da vi.storia, isto e, quando devera ser ela re-querida, c questao que mercce consideraqao. A vistoria e meio de prova c como tal deve ser considcrada. Merecera apre^o se rcqucrida quando a coisa ainda esteja susceptive] de exame para o fim a que se tern em vista, Nao se pode fixar um termo percmptorio. rigido. do prazo. Na a/jao prin cipal, por denimciatjao da parte intcressada. o juiz decidira, em cada caso, sobre o termo dessa razoabilidade. O art. 756, rcferido na consulta, trata do prote.sfo. por avaria da carga. Todo o titulo XVII, do Livro V, do Codigo do Processo. alias, so trata desse pro tcsto nao obstante .se referir tal titulo a «vi.storia de fazendas avariadas*. Conseqiientemente, tais prazos nao devem ser considerados para uistorias.
— Em c/onclusao, tendo o Codigo de Processo Civil revogado o Codigo Ccmercial. em materia proccssual, c nao fixando um termo rigido para a vistoria. parece-me, podera ela ser requerida dcntro de prazo razoavel para perpctuaqao do e.stado da c.oisa.
ARY DE SOLIZA (S«a Patdo)
«Coni rcjerivicin ac actiyo 22 - - i?escis.-iii c niodilica(,\io do confrato — -4/i;iea 3 -da TSIB solicifo dcssc orgao o patcccr
s&brc a Transiercncia dc iniportHncia scgurada sobrc cdiUcio. o qac Icm catisado dui'idas Jia siia ihtcrprctaino. porqiianio a TSIB rrJo dcixa dili'ida alyuma para u sua cfcticafao on nao. par nicio dc endosso.
Bascaadc-sc iia IC" cdifilo da TarifaFoyo, coma tambcm. ria Idgica dc interprctaiCio. comprccndo quc sc toriia impossivcl dila operas-ao. cm I'irfndc dc nao scr urn abjeto movcl, c sim i,m objcto inidi'cl'-.
G.Sr. Jorge do Marco Passes, Asses sor Tecnico da Divisao Incendio e L. Cessantes. do consultado a respeito da materia, externou a segi.in-
tc opiniao:
Nas antigas larifas regioirais a tao soscitada pdo Sr. Ary de Souza estava claramente rcsolv.da. As transferezicias dc apolices cram rcguladas pelo prmcipio de que o seguro poderi.a acompanhar a coisa segurr. Aquda.s tarilas dispanham; «A nao ser reiativo a bens moveis ou mercadorias, ncnhnm outro seguro podera .ser transfcrido de um risco para outros.
A TSIB. na alinea 3 do art. 22, ii,forma que e permitida a transferencia de qualquer seguro, nos seguinte.s
cases:
a) quando os bens a serem cobertos forem de propricdade do scgurado e
h) quando os bens deixarem de pertencer ao segurado,
A alinea b nao deixa mnrgem a qual quer duvida, Nada itiais representa do que a comum mudanga de segurado, Se um predio. pertencente a <s;X» c vendido a «Y», o ceguro do predio po dera scr transferido para o novo proprictario. O mesmo ciiterio sera aplicavel a.s coisas moveis,
A reda^ao da alinea a, parece-mc, ocrsicnou a pergunta do consulentc, principaimente porque a sua interpretagao literal contrnria o principio antcriormcnte con.sagrado.
Nao teinos duvida em afirmar que a TSIB derrogou a regra das tarifa.s regionris, uma vez quc a rcdagao do item 3 c categorica: «e permitida a transferencia de qualquer .seguro. , .«
Se o segurado X c tambem proprictario dc predio nao garaijtido por apolice incendio, podera transferir para o .segundo o rcguro do prinieiro. Tal procedimento em nada contraria o preceito da TSIB, pelo contrario o sati.sfaz, pois OS bens sao do mesmo proprictario.
Boletim do I. /?. B.
No infiiifo de esireitar ainda tnais lu relafCcs entre o Institato de Resseguros dc Brasil e as Sociedades de sepuros, afraoes de um amplo noticiario pcriodico sobre assunto) do inferesse do mcrcado segurador, e qiic a Revista do I. R. B. manfem esta scfSo.
A finalidade principal e a divulgafao dc dccisCcs do Consclho Tecnico e dos orgSoa infernos que possam lacilitar e on'entar a resoIufSo de problemas futures de ordcm tecnica e piridica. rccomendacoes, consclhos e explicacocs quc nao deem ori^cm a cinu/arcs. bem iomo indica^ao das noras pariarias e circularcs. corr a enmafa dc cada uma. e outres no t'cias dc carater geral.
ATIVIDADES DO I.R,B.
EM 1955
Reti^icacao na "Rerista do I.R.B-» rt.° 96 — A Divisao de Opera^oes Especializadas do I.R,B, solicita que seja feita a seguinte retificagao na materia que nos cnviou rclativa as «Opera0es com o Exterior*, constante das linhas quatro a vinte e quatro da coluna 171, da Revista n." 96:
«Para os negocios retrocedidos ao c.xtcrior seria aplicado o mesmo inetodo.
Rcsciv:i dc sinistro.s liquidiir cm 31 cic dezcmbro dc 1955 H9.001 ,525,80 (-fi

Sinwtros Paoo.s ^5,139,528,10 (-1-)
Rcscrva dc sini.stros a liqiiidar cm 31 dc dczcmbro dc 1953 132,035.627,10 ( )
52, 105,326.80
O cocficiente sin'stros/premios e portanto. de 60.85 ',f, que corresponde
ao montante acima dividido pela soma dos preinios retrocedidos ao exterior, no valor de CrS 85.624,086,50.»
RAMO INCENDIO
Rcocganiza^ao da Carteira Incendio da Dit'isao Incendio e Lucros Cessantes — Para acompanhar o dcsenvolvimento do ranio Incendio,, foram introduzida.s modificaijoes na estrutura da Carteira Incendio da DILc, visando uma melhor cocrdcna^ao dos servigos de rotina que Ihe sao afetos.
A nova organiza^ao administrativi da C.I., aprovada pela Administracao em Janeiro do corrente ano. somcnte em fins de marco e que foi posta em cxecugao, Em sintese, os serviqos dc rotina da C.I. estao di.stiibu5dos por tres Secvi(;:o.s e a sua organizacao geral e a seguinte:
Carte'ra Incendio (C.I.)
I — Servigo de controic de recebimento c de riscos comuns — SCRC, que comprecnde as seguintes seQoes;
a) Segao dc recebitnento c distribiiigao — SRD
h) Se^-ao dc rcs.sepuro dc rhcos comuns — SRC-1
r
c) SRC-2; d) SRC-3; e) SRC-I:
f) SRC-5
— Service de controle de riscos vultosos, fabelas e inspe^oes SCVTI, compreendendo;
a) Scgao de riscos cultosos SRV
b) 5cfao de Tabelas de resseguro
c) Scfao de inspe^-dcs de risco': SIR Servigo de controle dc riscos s.nistrados — SCRS, que conipreende:
a) 5ef.io de resseguro de riscos s'nistrados — SRS
c) Scfao de apura^oes de sinistros ~SAS
Para um melhor aproveitamento de espa?o e para que os riscos vultosos tenham o tratamento especial devido, a «Seqao de Riscos Vultosos» trabTlhn no regime de dois turnos, iniciando-s" o pnmeiro as 6.55 horas e termirando o segundo as 18 horas.
Nestas condi^aes. durante o periodr, de 12 horas por din, poderao .ser fornecdas i^orma^oes sobre ri.scos vuitosos. podendo as sociedades. para isso efeMiar iigagoes telefonicas, diretas' pelo telefone 32-8150 ate a.s 11 horas e a tarde, peio te'Iefone 32-8055 ramal 402.
Duas Segoes de resseguro de ri.scos comiin.s, frabalham igualmente em horario.s especiai.s, A SRC-1 incum^idu do estudo do.s riscos situados em: Acre. Alagoa.s. Amapa, Amazona.s, Ceara, Fernando de Noronha. Goias, Guapore' Maranhao, Mato Grosso, Para, Parai-
ba. Parana, Pernambuco, Piaui Ponta Pora, Rio Branco. Rio Grande do Norte. Santa Catarina e Sergipe, funciona de 6,55 hora.s a.s 13.10 horas c a SRC-5, incumbida do estudo do.s ri.scos .situados em; Bahia, Espirito Santo, Minas Gerai.s, Rio Grande do Sul c Rio de Janeiro, funciona dc 13,10 horn.' a.s 19,25 horns.
A acomodagao de todos os servigo." da Carteira Incendio. no 5." andar 'do Edificio Sede do I.R.B, nao pode sei feita sem a alteragao das instalagoc: e.sistente.s, estando, por i.sso, sendo realizada.s as necessarias obras de adaptagao,
Manual — Incendio — O M.I", em vigor a pirtir de 1." de Janeiro de 1956. divulgado pela circular 1-14/55, dentro em breve podera ser fornecido as socie dades e deinais interessados. impresso no tamanho padrao do I.R.B, As convengoes padrao para o de.senho de croquis e plantas. por nao estareni sujeitas a aiterigoes frcqiiente.s, serao impressas em separado e fornecidar Junto ou .separadamente do M.I.

Tacifa de Scguro —- Incendio Jo Hras'l --- O.s trnbalhos para uma nova edigao da T.S.I.B., com todas as alteragoes ja aprovadas pelo D.N.S.P.C.. estao em sun fa.se final, dcvendo brevcmenfc ser providencindn a su.i imprcsan.
Circular I-0I/56. de 23 dc abcil Jo 1956 — Comunicnndo as sociedade.'. que o Conselho Tecnico do I.R.B.. em sessao de 4 de abril de 1956, rcsolveu alterar a redagao dos Uens 2 da claiisula 15.'' — Liquidagao de Si-
ni.stros, 4.22 da clausuln 16." — Remessa dc Fornnilarios e Documentos. e S e 8.11 da clausuli 20.'' — Penalidades, conformc menciona.
Circular T.S.l.B.^10, 56. de 16 dc abrl de 1956 --- Dando conhecimento a.s sociedades. da Portarin n." 18. dc 21 dc marge de 1956, do Diretor Gerai do D.N.S.P.C., referente a.s alterngoes nos itens 4.3 e 9.1, do art. 18 da T.S.I.B., conforme redagao que menciona,
RAMO TRANSPORTES E CASCOS
Carteira Transporfc.s — Visando a uniformizagao dos trabalhos tecnicos e administrativos, no ramo Transportc. foi criada. a partir de 1.' de abril dc 1956, na Divi.sao Transportes e Cascos. a Carteira Transportes, composta pelos «Servigo de Controle e Sinistros>; c sServigo dc Apuragoes e Estiidoss.
Scgnro dc inostruario dc riajantes
t:
Circuiar T.3.1.B.-II 56. de 16 dc e.bril dc 1956 — Dando conhecimento as sociedades. da Portaria n." 14, do Diretor Geral do D.N.S.P.C., refe rente a inclu.sao da Clausula HI na T.S.I.B., conforme menciona, e esclarecendo, outrossim, que o Conselho Tecnico do I.R.B., em sessao de 26 de Janeiro dc 1956, estabeleceu o criterio para a distribuigao da cobertura proporc'onada pelo item IV do art. 22, da Tarifa em questao (cobertura no.s dois locai.s em caso de mudanga), que deve ser identico ao previsto para a cobertura flutuantc, conforme consta da clausula 219.
C.'rfa-C/rcu/ar ;i." 452, dc 22 dc dc 1956 — Chamando a atengao para o.s inconvenientes da pratica irre gular que algiimas sociedades vem adotando, dc emitirem apolices derrogando a clausula gcr li de reposigao — transformando cm obrigngan a simples faculdadc normalmente prcvista por aqucla clausula — e esclarcccndo que n I.R.B., cm casos de res.seguro, sc considera rsento das suns possiveis conseqiiencias.
Esta sendo concedida cobertura de res seguro, nos termos do item 1.1 d.i clausula 2." das N. Tp., para os scgiiros de mostruarios de vinjnntes, mediante inclusao, na apolicc. de clau sula especial prOvisdria.
Circular I. Tp.-03/56, dc 2 dc abril de 1956 — Dando conhecimento as so ciedades, da nprovagao pelo Conselho Tecnico do I.R.B., em sessao de 16 de niargo de 1956. da alteragao na letra h. do item 403.55 — Comprovante de perdas ou avarias dus I. Tp.. con forme redagao que menciona.
C'rc^ilar' d-OI/56, dc 10 de abril de 1956 — Coinunicando as .sociedades. que o Conselho Tecnico deste Instituto. em sessao de 4 de abril de 1956, resolvcu incluir no item 208,461, das Instrugoes sobre as operagocs de Sc guro e Resseguro no Ramo Cascos (I.e. ), uma alinea c. com a redagao gue menciona.
Carfa-circn/ar n." 607. dc 11 dc abril de 1956 -- Comunicando as sociedades. que e.ste Instituto esta sc dirigindo ao D.N.S.P.C.. no sentido dc .'cr fixado para os seguros aceitos a part'r dc 1." de julho de 1956, o inicio de vigencia da Tirifa para os Seguros dc
Transportes Terrestres de Mercadorias, aprovada pela Portaria n." 13. de H de margo de 1956. daquele Departamento.
Inforraando, outrossim, que esta sendo providenciada pelo I.R.B. a impressao da referida Tarifa, assitn como das «CIausulas especiais que fazem parte intcgrante desta ap6lice», a Krem adotadas obrigator'amente en todas as apolices que inciuam segiirox de transportes cerrestres.
Circular AP-09/56, dc 3 de inaio de 1956 — Levando ao conhecimento das sociedades, o.s termos do oficio SA-605. de 17 dc abril de 1956. do D.N.S.P.C. referente a aprovat;ao, pelo Diretor Geral daquele orgao. a titulo precario, das Condi^oes Especiais para Seguro.s Coletivos e Acidentes Pessoai.s de Estudinte.s e Professores.
D.N.S.P.C., que autoriza na accita^ao de seguros de pes.soas portadoras de dcfeito fisico (membros inferiorcs) .seja avaliada a redu^ao da capacidadc funcional, inediante pcritagcm medica cm cada case concreto.
Vida, OS itens 2 e 3 da clausula 2.^, e 4 da clausula 5.''. assim como incluir o sub-item 3.1 na clausula 2.-'', conforme redagao que inenciona.
ACIDENTES PESSOAIS
Seffuro de psssagciros — A fim de atender as neccssidades do mercado segurador nacional, o I.R.B. esta no nomento. procedendo a estudos para a regulamentagao dos seguros de passageiro.s de onibu.s, micro-onibu.s e auto■noveis em geral. bem como dos seguros de hospedes dc hotei.s e de acidente.s dc trafego.
Estados em and.-nicnto — O I.R.B, esta estudando, ainda, urn piano dc estadstica de dscos e sinistros cui. adosao permitira tcstar a tarifa en, vigor no pals, e um piano visando nao •so modificar o criterio dc estabelecas retenc6e.s d.,.s seguradoras como tambcm as do I.R.B. c retroce.ssionarias.
Circular AP^08, 56. de 30 d: abrd dc 1956— Comunicando as .sociedades que a Comi.ssao Pcrmanentc de Aci denies Pessoais, resolvcu firmar o prinap.o dc que nao e.stao abrangidos no d.sposto no item d. do art 7 ■■ A T-S.A.P.B.. OS seguros de pas^ gnro.s de avidcs de finh,.s rcgulare.s e dc ta.\i-aereo.
Circular AP-10/56^ de 3 de niaio dc 1956 — Dando conhec'mento as .sociedades, dos termos do oficio SA-604. de 17 de abril de 1956, do D. N, S.P. C., que diz respeito a aprova?ao. pelo Diretor Geral daquele orgao, da Circular AP-05/56, do I.R.B. referente a aceitagao de se guros de acidentes pessoais- de pessoas portadoras de doengas tidas como graves.
Circular AP-11/56. de 15 de maio dc 1956 - - Comunicando a.s socie dades. que o Conselho Tecnico do I.R.B., cm .ses.sao de 27 de abril dc 1956, re.solveu cncaminhar as segura doras, a titulo dc sugcstao, cop'a do.s parcceres quo con.substinciam o cri terio a seguir nos casos de seguros de pessoas portadoras de deficiencia.s de visao c de audigao.
Circular T.S.A.P.B.-01/56. de 10 de abril de 1956 — Dando conhecimento a.s .sociedades, do de.spacho de H de marqo dc 1956, do Diretor Gcral do D.N.S.P.C., referente a cobertura dos riscos decorrentes da pratica de esqui-aquatico, confornic rcd^icjao que mcnciona.
Circular T.5 .A .P .8.-02/56. de W dc abr I de 1956 - - Dando conhecimento as .sociedades, do despacho de 14 de tnar^o de 1956, do Diretor Geral do

Circular T.S.A.P.B.-03f56, dc 16 i/c abrd de 1956 — Dando conhecimento as sociedades, da Portaria n." 15, de 14 dc mar^o de 1956, que substitu' a Portari-i n." 3. de 20 de fevereiro de 1956, do Diretor Geral do D.N.S.P.C.. referente alteracao do agrupamcnto 25 — Saiide e Assistencia, da Tarifa de Seguro.s Acidentes Pessoais. co.alorme inenciona, RAMO VIDA
ScguTO-vida para .^crvidorcs Jo I.R.B. -- Objctivando aperfei^oar i assistencia prcstada nos scus servidores. a atual Administra^ao do Institute re .solveu instituir, cm favor dos me.smos, um segiiro de vida cm grupo, do qu.';! poderao participar todas as socicd idcs que opcram no ramo-vida.
Tendo cm vista tal resolucao. foram convocados para uma reuniao prelinunar — que .se realizou no dia 9 de maio — as socicd ides intere.ssadas qu:. clepo.'s dc disciitirctn algiins detalhes do contrato a scr firmado, elcgcram, em cscrutinio sccrcto, para lider do seguro a Sul America — Companh a Nacional dc Seguros de Vida.
Circular V-01/56. dc 2 de abril dc 1956 — Dando conhecimento as socied .dcH, de que o Conselho Tecnico do I.R.B. em ses.sao de 12 dc marc-, de 1956, resolvcu alterar nas Norma.i-
Circular V-02/56, de 30 de abril dc 1956 — Tecendo ccn.sideragoes cm torno da uceita^ao dos riscos fortemente agravados {rating superior a 200 pontos) e, em virtude do declinio no recebimento de propostas de resseguro desses riscos. reiterar a solicita^ao das sociedades submetcrem a este Institutn. naquclas propostas, a documentacao dos riscos cujas ugravaqoes nao justifiquem uma recusa iinediata, pois o I.R.B. esta aparclhado para estabelecer condigoes dc taxa^ao para os riscos aceitaveis.
OPERAgOES ESPECIALIZADAS
Horario dc trabalho da D.O.E. Consider indo o probleina de espa?o da Divisao dc Opera?6es E.specializadas e no intuito de melhor atender o interessc das .seguradoras. as Cartciras Automoveis e de Operagoes Diversas, a partir dc 5 de abril e 1." de maio ultimo, respectivamente, passaram a ter o horario de cxpcdiente dividido cm dois tiirnos. a saber; 1." turno — de 6,55 as 13,10 hora.s e 2." turno — de 13,10 as 19.25 horas. Verifica-se. assim, que essas Carteiras cslarao funcionando por um periodo ininterruptc, de doze horas e meia por din, Essa ampliagao de horario vira f^cilitar principaliiicnte a.s relagoes com as segura doras que mantein resseguros facultativos atraves da Carteira de Opera^ocs Diversas, que podera atender .nos interes.sados pelo telefonc; 42-5SC6.
RAMO AUTOMoVEIS
Circular At-OI/56, dc 23 dc fevcreirc dc 1956 — Transmitindo as Soc'edades, em itditamento a Circular At-4/55. instruqoes sobre a forma pela qual deverao fazer a comunicijgao ao I.R.B. nos casos de seguros em que a importanci'i segurada ultrapassa
Cr$ 1 ,000.000.00.
0>cu/ar At^02/.5b, dc 3 dc marco dc 1956 — Dando coiiheciinento as"Sociedadc.s da resohi<;ao do Conselho Tccnico do I.R.B. em 23 de fevereirde 1956, relativa a inclusao do item 2 1 a clausula 7," da.s Normas Automovei:; que dispoe sobre a forma de di.sfribir?ao de eventual lucre rc.sultante c!.a liquida?ao de sinistro.
Circular At-03,56. dc 22 dc marco
c J956 - - Dando conhecimento a.s Sociedades do liovo piano de resseguro automoveis, aprovado pe!o Conselho
Tecnico doI,R,B, em .scs.sao de 23 da fevereiro de 1956, para vigencia a de 1." de obri] de 1956 com ^^9u'nte.s altera^oes fund imcntaic.
') da faixa de retengao d- sm>stro, que pas.sa a variar entre o-limite.s de Cr$ 60,000 00 c 05 300.000,00; h, calculo anunrd;;
axas de resseguro de e.vcesso dc d-mo^
Icvando-.sc em conta a experiencia
cada soc.edade no.s u]timo,s c.nco exc>-cicios, e i ) fixagao da,s ret-n-6es rl 04 350.000.00 s CrS 550.000 00" re'
ptctiVMenlc 6„ib.,., r
vc,c„lo.r, „„ pl»„„ d,
RISCOS DIVERSOS
Seguro Giobi] de Bancos — A rcvisao das condi^oes vjgentes para o Seguro Global de Bancos era necessi'dade que se iinpunha ao mercado segiirador, Assim sendo. e com base na'; detcrmina^oes do Conselho Tecnico do I.R,B,, a Coniissao Permanente Ra mos Diver,so,s esta estudando as condiqoes de apoiice c tarifa para essa modalidade de .seguro. devcndo aprc.sentar um anteprojcto a ser .siibinetido ao.s orghos .superiores. A.s novas cond (;6e.s preveem, em principle, iima cohertura basica de fidelidadc, rcubo on furto de terceiios e valore.s cm transito.
ESTATfSTICA E MECANiZACAO
Solctiin Izstatistico — Dcvera ser di.strlbuido breveniente o Boletim n.° 45 reference ao Ramo Acidentcs Pcssoais. Esta em fase de impressao o de n." 46 rcferente ao R imo Vida,
Quadros Estatisticof: — E.stao sendo divulgados nesta Revista os quadros rclativos aos Ativos Liquidos e L'miteLegais das Sociedadcs em 31 dc do;embro de 1954.
Apifracoes Mccanizadas — Foram cntregucs a Divisao de Contabilidadc o movimento Industrial Gerai e o Resumo dos Saldos da.s Sociedadcs. e aDivi.soe.s de Operagoes, os Resumo:de Lan<;ajnento.s dcs mese.s de marc-' e abril do corrente ano. A Divisao Tran.sportes e Cascos foram entregucs as apuragoes references aos MRAT dcmargo e abril e os RAMA de janeirc c fevere'ro.
- DOCUMENTAgAO
Entre outras publicagoes, a Biblioleca do I.R.B. («Biblioteca Albernaz») recebeu os seguintes volumes que sc acham a di.sposigao dos leitores dcsta
Revista:
O Economista — n." 443 — Janeiro de 1956.
Engenharici — n."^ 158/161 — ja neiro/abril de 1956.
I.A.P.C. — ano V — n.'" 60/61 iiiaio/junho de 1954.
LIVROS
Movimento Bancario do Brasil Ministerio da Fazenda (Servigo de Estatistica Economica c FinnnccTa —Rio de Janeiro — 1955).
Estatisticis do Distrito Federal Departamcnto de Geografia e Estatis tica — Sccretaria Geral do Interior c Seguranga (Prefcitura do Distrito Fe deral — Rio de Janeiro — 1955).
Memoria — I. Congresso Interna tional de Tribunals de Cuentis Tomes 1 y II (Tribunal dc Cuentas - - Havana — 1953).
75 Years — Munchener Riickversicherungs-Gesellschaft (F. Brukmann K. G. — Miinchen — 1955).
1." Decenio — Companhia Tirrena di Capitalizzazioni e Assicurazioni 1945/1955 (Italia — 1955).
Os Seguro.s de Lucres Ccssantes Maua, Companhia de Seguros Gcrais (£tica Impressora Ltda. — Rio dc Ja neiro — 1955) .
PERIODICO.S
Nacionais
Atualidades da "Sao Paulo® — ano 28 — n."" 331/332 e 334. de janeiro/ fevereiro e abril de 1956.
Conjuntura Economica — ano X 0.'"= 1/4 — janeiro/abril de 1956.

Mensario Estatistico (I.B.G.E.) — n."' 55/57 — janeiro/margo de 1956.
Mensario Estatistico-Atuarial (I.A. P.I.) — ano IV — n.'"' 37/39 janeiro/margo de 1956.
Orientador Fiscal do Imposto de Consume e Rcnda — n.'"' 127/131 jmeiro/maio de 1956.
Piratininga — n."" 128/130 — ja neiro/margo de 1956.
A Prcvidencia Ano XII •n."' 147 — 149/150 — janciro/margo/ abril de 1956.
E^trangeira.<
Alemanhii
Versicherungs Wirtschaft — n."" I ^8 — janeiro.^abril de 1956.
Argentina
El Asegurador — Ano XXV n."" 295/296 — j mciro/fevereiro de 1954.
Canada
Assurances — Ano 23 -- n." 4 - • janeiro de 1956.
Chile
Economia y Finanzas — n." 231'233 — janeiro/margo de 1956.
Co/dm6ia
Ecbnomia y Estadistica — IV Epoca — n."' 79/80 — 1954,
respo„.,.,bil:dade, inclepe„de„,e„e,„:. d.™ retensoes de staistro c.scelhldas
Ouba
Seguros, Banca y Bolsa — 'Ano n-"' 2/3 — fevereiro/mar?o del956.
Espsnka
Revista EsQanoIa de Seguros Ano. XI — n.''' 121/122 — janeiro/ fevereiro de 1956.
Revista Financiera — Ano L n."' 51/56-58 — de fevereiro/abr'l de 1956.
Revista del. Sindicato Vertical del Seguro — Ano XIII — n.'"' H5/H6
— Janeiro/fevereiro de 1956.
Estados Unidos
The Anals.of Mathematical Statistics
— vol. 26 _ n.® 4 — dezembro de 1955.
Best's Insurance News-Liie — vol. 10/12 — fevereiro/abril de 1956.
Econometrica — vol. 24 n." 1
janeiro de 1956, Fire News. — n."' 450/453 — janeiro/abril de 1956.
Hartford Agent — vol. 47 — n.°« 7-9
— janeiro-mar^o de 1956.
The Insurance Salesman — vol. 99 n." 2 — fevereiro de 1956
International Financial News Sur rey — vol. 8 — n."» 28-31/37-40/41
— janetro/maio de 1956.
Franga
L Argus et la Semaine • n.*'' 70/73
janeiro/abril 75/81 — 83/85 d
e 1956.
L'Assurance Fran^aise — Ano 49 — n.- 109/112 — janeiro/abril de 1956.
L'Assureur-Cbnseil — n."' 239/261
— janeiro/mar9o de 1956.
Inglaterra
Fairplay-Weekly Shipping Journal
— vol. 186 — n."" 89/95-96/99
janeiro/fevcreiro-abril de 1956, Lloyd .s Log — n." 8 — janeiro dc 1956.
Italia
L'Assicurazione — Ano 70 n."" 1/3-5 — janeiro/mur(;o de 1956. Sicurita — Ano XI — n."" 1/3 janeiro/mar^o de 1956.
Mexico
El Vendedor de Seguros — vol. 3 — n." 26 — janeiro de 1956.
Portugal
Boletim do Institute de Atuario.s Portugueses — Ano 9 — n.'-' 9/10 1954.
0 I. R. B. nos relatdrlos das sociedades
ALIANCA DE MINAS GERAIS
Ao Departamento de Seguro.s Privndos e Capitalizagao que sempre se manteve a altura de suas elevadas finalidades e ao Institute de Resseguros do Brasil, cuja benefica assistencia as empresas seguradoras, nao tern sofrido descontinuidadc, consignamos. como prcito de justi^a, nosso sincere reconhecimento.
BOAVISTA
que sempre atenderam aos interesses da «Columbia».
CONFIANQA
ULTIMAS PUBLlCApOES
Relatocio sobrc as tabuas de mortalidade relativas ao qiiinquenio 1949-1953
Constituindo a Publica^ao n," 59 do I.R.B.. foi editado per este Institute o «Relat6rio sobre as tabuas de mortalidade relativas ao qiiinquenio 19491953».

O atual trabalho, elaborado no Gabinete de Estudos c Pesquisas do I.R.B. pelo Atuario Gastao Quartim Pinto de Moura, M.I.B.A., e o resultado de investigagoes da mortalidade observada nos segurados de nossas entidades seguradoras. e que, pela primeira vez em nosso pais, apresenta um estudo amplo e profundo sobre o assunto.
As altas autoridades do D.N.S. P.C.. do Servigo Atuacial do Ministerio do Trabalho e do Institute de Resseguros do Brasil, agradecemos o apoio e a orienta^ao que nos dispensaram.
CENTRAL
£ste nosso agradecimento e extensi ve ao Departamento de Seguros Privados e Capitaliza?ao, ao Institute de Resseguros do Brasil. atraves de suas Representagoes locais, e ao Sindicato das Empresas de Seguros.
COLtiMBIA
Institute de Resseguros do Brasil - • 6 igualmente de justiga fazer aqui uma especial refcrencia aos ilustres componentes da Dircgao do Instituto de Res seguros do Brasil. pela cordialidade com
( ) Referencias contidas nos relatorios do excrcicio de 1955.
Instituto de Resseguros do BrasilPela eficientc colabora^ao, com a qual as sociedades tem side bastante bcneficiadas, queremos. neste relatorio, sintetirar os nossos maiores agradecimentos qucr ao scu ilustre e esforgado Presidente. Dr. Paulo Leopoldo Pereira da Camara • - sem diivida um dos maio res presidentes que passaram pelo Ins tituto — quer aos dedicados membros do Conselho, quer tambem aos altos elementos de que se compoe o corpo tecnico, hem como a todo o funcionalismo do Instituto,
D.N.S.P.C.- e I.R.B. - - A essas entidades. consignamos o nosso reconhecimcnto pela colabotagao e assis tencia prestadas a Companhia.
FORTALEZA
Ao consignar as boas relagoes que mantivcmos com o D.N.S.P.C. e com o I.R.B., e com satisfagao que louvamos a fcliz orientagao, que vem sendo adotada pelos dirigentes e funcionarios desses importantes orgaos. aos quais transmitimos felicitagoes.
GARANTIA
Ao orgao sisfematizador das opera tes de Seguro no pais, pelo seu Pre-
sidente e dignog colaboradores, deixainos aqui consignados os nossos agradecimentos as obsequiosas aten^oes quc nos foram dispensadas durante o exercicio.
^UMAITA
como tambem ao Institute de Ressegutos do Brasil e ao dignis.simo Inspe tor de Seguros.
MINAS BRASIL
N.
Consignaraos os nossos agradecimentos aos dirigentes e funcionarios do D.N.S.P.C. e do I.R.B., pela vaiiosa e sincera colaboragao prestada a Companhia.
ITATIAIA
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao — Institute de Resseguros do Brasil -- Congratulamo-nos com os senhores Dirigentes, tecnicos e auxiliares desses importantes orgaos da vida securatoria do Pals, expressando-Ihes no ensejo, o nosso apre^o e o nosso apoio a agao dinamica e eficiente que tem desenvolvido a bem do comercio scgurador.
LLOIDE AMERICANO
Ao encerrarmos estas linhas desejai"os consignar aqui os nossos agradcamentos pdo apolo quo scmpre encontramos no D.N.S.P.C. cnoI.R.B.

MBtllDIONAr, Ao encerrarmos estc rclatdrio. nlio queremos deixar de con.signar aqui OS nossos melhores agradecimentos ao De partamento Nacional de Seguros Pri vados e Capltalizagao. pda boa orienta^ao que vein sempre nos prcstando,
Deixamos tambem expressa a satisfa^ao que sentimos diante da magnifica situagao em que se encontra o I.R.B., fruto da competente e dinamica orienta?ao do Presidente Dr, Paulo Leopoldo Pereira da Camara, a quem apresentamos agradecimentos, extensivos a todos OS seus colaboradores pela incontestavel demonstra^ao de amizade e interesse prestada a Minas Brasil.
NICTHEROY
Ao D.N.S.P.C. c ao I.R.B. nas pcssoas de seus Diretores e Presidente. respectivamente, os no.ssos agradeci mentos pela colabora^ao prestada,
NOVO MUNDO
Ao Dr. Paulo da Camara. digno Presidente do Institute de Resseguros do Brasil, bem como a todos o.s seus dedicados colaboradores, queremos dei xar expresses os nossos agradecimen tos pela forma por que sempre procuram atender-nos.
PATHIAHCA
Agradeccmos a confianga de todos que no.s honraram com a sua colaboragao e muito especialmente a eficiente a.s.sistencia desenvolvida pclo D.N.S. P-C, e pelo I.R.B., 6rgaos que se elevam, cada vez mais no conceito do nos.so meio segurador.
Devemos destacar as boas relagoes com o.s Orgaos Oficiais, especialmente aqueles que oficiam neste Estado. e, aproveitamos a oportiinidade, para expressar nosso reconhecimento pela efi ciente atuagao do Dr. Abdias de Assis Fernandes Tavora c Antonio Jose Caelano da Silva Neto a frente da Delegacia Regional do Departamento de Se guros e da Representacao do Institute de Resseguros do Brasil.
PIRATININGA
Cabe-nos mais uma vez e com pertiV cular satisfa^ao registrar as boas relaCoes invariavelmente mantidas com a aha dire(;ao, repre.sentacao e funcionalismo do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitaliza^ao c do Institute de Resseguros do Brasil e exlernar-lhes os nos.sos agradecimentos pelas atengoes dispensadas a Compa nhia no trato e .solucao de todos os nssuntos da competencia des.ses impor tantes drgao.s.
PORTO SF.OIIRO
Agiacieccmo.s, (ambcm ao Departaiiienlo Nacional de Seguros Privad<>s e CapitaliziK^ao. ao Instituto de Res.seguros do Brasil e suas lepresentacoes etn Sao Paulo e ao Sindicato da.s Empre-sas de Seguros. per todas as gentilczas com que no.s tern distinguido.
s;;gres
D.N.S.P.C. e I.R.B. — For sua valiosa assistencia merecem tambem nossos reconhecimentos estes orgaos de controle e fiscalizaqao.
SEGURADORA BRASILEIRA
Ao Departamento Nacional de Segu ros Privados e Capitalizacao e ao Ins tituto de Resseguros do Brasil o nosso reconhecimento pela solicita e valiosa colaboragao que nos prestaram.
SEGUROS DA BAHIA
E com satisfagao que registramos para vosso conhecimento a constante e dedicada cohiborasao do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal. Aos agradecimentos que endere^amos sos seus ilustres componentes juntamos outros a Dire^ao e aos Representantes do D.N.S.P'.C. e do I.R.B. pela mancira atcnciosn o cficientc por quc so houveram no dcsempenho de sua.s fungdcs e no train dos iiUciessc.s da Coiii|>,inhi,i cm su.i.c rclacOc.c com os cilados drgao.s da Adniini.slrai;ao Puhlica,
UNIVKRSAI-
Estcndenio.s e.stes agradecimentos aos Srs. Dirctor do D.N.S.P.C., 4" Delegado Regional de Seguros, c Presi dente do Instituto de Resseguros do Brasil. pela coopeiai;no e oiientai;ho quc dos mesnios sempre tcmos recebido.
noticiArio
DO PAlS
DeCIMO SeTIMO aniversario
DO I.R.B.
No dia 3 dc abrii, o Instituto de Resseguros do Brasil completou o seu decimo setimo ano de existencia. em comemoragao do que varias solenidades foram rcalizadas.
Inicialmente, a Administracjao ofereceu, no restaurante do Institute, um
Casa Civil da Presidencia da Repiiblica. respectivamente. General Nelson dc Melo, Dr. Alvaro Lins e Dr. Francisco de Assi.s Barbosa. o Diretor do Departamcnto Nacional de Seguro.s Privados e Capitaliza^ao, Dr. Amilcar Santos: Dr. Vicente de Paulo Galliez, Presidcnte da Fcdera^ao Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalizaqao. Dr. Angelo Mario Cernc, Pre.si-
America». Dr. Celso da Rocha Miran da, bem como o Presidente e o ViccPre.sidente e aIto.s funcionarios do I,R.B. Saudando as autoridades prcsenfes, usou da palavra o Dr. Augusto Xavier dc Lima, Pre.sidente do Instituto.

A tarde, no auditorio, perante numero.sa as.sistencia, o Profe.ssor Raul Bir-
verno Federal e ^ ^ente do Sindicato das Empresa.s dc qua] cornpareceram ^egurador ao Seguros Privados e Capitaliza?ao do da Casa Militar Ch^f 9 Janeiro, Dr, Antonio S. Larra- efe e Subchefe da, goiti Junior, Presidente do Grupo «Sul
tencourt pronunciou uma erudita e inceressantissima conferencia sobre o tema - «Oricntagao Psicologica no Trabalho».
A seguir, ralizou-se, no bar do Edificio-Scde, uni «cOck-tail», ao qua! estiveram presentes autoridades govcrnamentais, e elementos de aha c.xpre.s-sao das companhias segiiradoras.
VIAGEM DO PRESIDENTE DO LR.B.
Em visita cortesia as seguradoras loc-iis e em inspe^ao as Representaqces do Institute, o Dr. Augusto Xavier de Lima viajou, no mes de abril, as cidades de Sao Pauio, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em Sao Paulo, a classe seguradora ofereceu-lhe. no Antomovel Club, urn almoqo- Nessa ocasiao, faiaram saudindo o novo Presidente do I.R.B.; o Sr. Humberto Roncarati (Presidente do S.E.S.P.C.S.P.), o Sr. Gibson Cortines de Freitas (Representante do LR.B. em Sao Paulo) e o Dr. Angelo Mar.o Cerne, como Presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitalizaqao do Rio de Janeiro e como Representante da Feder;qao Nacional das Empresas de Seguros Privados e CapitalizaqSo.
Agradecendo, di.scursou o Dr. Augus to Xavier de Lima, que salientou a pa.ticipaqao de Sao Paulo no concerto da.s atividades seguridoras do pais, acrcscentando que muito espera da colaboraqSo dos seguradores paulistas para o sucesso da sua admini.stracao no LR.B.
O.s .seguradores P:iranaenses prestaram em Curitiba, unia homenagem ao Piesidente do I.R.B., oferecendo um «CGck-tail» no restaurante Renner.
200
Saudou-o o Sr. Cesar Correa. Presi dente do S-E.S.P.C. no Estado do Parana, a cuja alocuqao respondeu o Dr. Augusto Xavier de Lima, agrade cendo as atenqoes que Ihe eram dispensadas.
Em Porto Alegre, o meio segurador local homenageou o Presidents com um jantar, em que foi .saudado pelo Dr. Gabriel Pena de Mocais, Presidente do S.E.S.P.C. no Rio Grande do Sul. Em seguida, discursou o Dr. Augusto Xavier de L'ma, agra decendo a carinhosa homenagem que Ihe era prestada.
Nessa cidade. o Dr. Xavier de Lima fez um estudo das grandes concentraqoes de risco que ora se verificam no.s armazens portuarios da cidade de Rio Grande. Nesse sentido, inanteve entendimentos com o Diretor da Administraqao dos Portos, accrtando iima .serie de providencia.s para iima re gular distribuiqao das mercadorias nos armazens referidos.

A e.xempio do que fez nas cidades de Sao Paulo e Curitiba, tainbem. ai, entrou o Senhor Presidente em contacto com o Secretario de Seguranca. conseguindo que a Comissao de Tecnicos de Incendio da Policia contasse com a colaboracao de um oficia! do Corpo de Bombeiros. cuja opiniao passara a figurar nos respectivos laudo.s periciais.
Igualmente, nessas cidades, .serao ministradas instruqoes tecnicas sobre proteqao. prevenqao e combate ao fogo, nao sbmente a funcionarios das Companhias, como a funcionarios governamentais.
Em Belo Horizonte, o Presidente do LR.B. foi recebido pela Diretoria do S.E.S.P.C. no Estado de Minas Gerais, na Sede daquela entidadc. Duranle e.ssa reuniao, Sua Senhoria teve ocasiao de debater varios e importante.s problemas do segiiro e do resseguro na atualidade. Discursaram. em tal reuniao, o Sr. Aggeo Pio Sobrinho (Presidente do S.E.S.P.C. no Estado de Mina.s Gerais), o Doutor Raymundo Silva dc Assis. e por fini. agradecendo, o Presidente do LR.B.
Aindii nessa cidcide, o Presidente esteve em visita ao Corpo de Bom beiros e a Secretaria de Seguranqa Piiblica Estadual. O objetivo dessa visita foi o de acertar medidas com as autoridades locais, no .sentido dc ser impulsionado o trabalho de instruqao tecnic I, nao so ao pessoal da corporaqao de bombeiros, como ainda aos elementos da Policia Tecnica, a fim de conseguir-se unia melhoria constante do aperfeiqoamento do trabalho de pre venqao e de combate a incendios.
Na Secretaria de Seguranqa Publica, o Presidente do LR.B, teve ocasiao
de sugerir, encontrando o melhor acolbimento a tal proposta, que os laudo.s periciais de incendio fossem sempre feitos a base de um trabalho conjunto dos peritos policiais e dos oficiais do Corpo de Bombeiros. Sao obvias as vantagens inerentes a tal sistema de pericia, pois os bombeiros, chegando ao local sinistrado no moinento em que o incendio tern curso, em geral possucm valiosas informaqoes e excelentc subsidio capazes de permitir uma mclhor identificaqao das causas do sinistro.
O Presidente visitou ainda. a «Mannesnian», tendo oportunidade de conheccr detidamcnte o serviqo de proteqao contra incendio instala io naqiielc parque industrial.
Em todas as cidades visitada.s. o Dr. Augusto Xavier de Lima foi rece bido nas Sedes dos Sindicatos loc iis da classe .seguradora.
Nessas reunides, S. S.'' foi saudado pelo.s Presidentes das entidades respectivas, tendo-se realizado ein todas cl-.is um ample debate sobrc as qucstocs de maior importancia. no momcnto. para as operaqoes de seguros e resscguros.
Em tais ocasioes, o Presidente do LR.B. fez sucinta exposiqao das ideias que o in.spiram e que constituem o sen programa administrative na presidencia do LR.B.
HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO I.R.B.
No dia 26 de abri! proximo passado, realizou-se, no Hotel Gloria, o banquete cferecido pelo Sindicato das Empresas de Seguros Pnvados e Capitalizagao do Rio de Janeiro, ao Dr. Augusto Xavier de Lima, pela sua investidura na Presidencia do I.R.B.
Com a presenga de altas autoridades e ra ais de duzento.s representantc.s das Seguradoras c funcionarios do I.R.B., o jantar decorrcu em ambiente da maior cordialidade.

A sobrcme.sa, discursaram, saudando o Dr. Xavier de Lima, o Dr. Vicente de Paulo Galliez, pelo Sindicato. e o Dr. Raymundo Correa Sobrinho. em nome do funcionalismo do I.R.B.
Apos o agradecimento pronunciado pelo hcmenageado, o Dr. Angelo Mario Cerne, Pre.sidente do Sindic.Vo
das Empresa.s de Seguro.s Privados c Capitaliza^ao, levantoii o brinde ele honra ao Excelentis.siino Senhor Doutor luscelino Kubitschek de Olivcira. Prcsidente da Republica.
POSSE DO VICE-PRESIDENTE E CONSELHEIROS TfiCNlCOS
DO I.R.B.
No dia 27 de marcjo. conforme noticiamos no numero anterior, tomaram posse, perante o Presidente do I.R.B..
Dr. Augusto Xavier de Lima, o VicePresidente do Institute. Dr. Jo.se Accio)y de Sa. e os Conselheiros Tecnicos.
Srs. Alberto Martins Torres e Manuel Francisco Lopes Meirelles. Saudando o.s empossados. discursa ram. na forma adiante transcrita. o Dr. Augusto Xavier de Lima, o Dr. Angelo Mario Cerne e o Dr. Vicente de Paulo Galliez.
tecnica. quer sobre a administraijlo da casa. O regime e democratico. Nao ha senao interesse de que cada um de a sua opiniao livremente. Nao ha questoes fechadas. De sorte que. com o correr dos tempos, os novos Conselhei ros vao verificar com que facilidade pode cada um exercer o seu mandate nesta casa.
A Presidencia. segundo o Regulamento. se limita a desempatar. e. por uma questao pessoal. nao procurara influir. de forma algiima. na opiniao de cada um dos senhores Conselheiros.
Portanto. em nome do Institute, dou as boas vindas aos novos Conselheiros. augurando-lhes uma fcliz e proficua atividade.
De acordo com o § 4 do Art. 12 do Decreto 9 735. dou como empossados OS tres Conselheiros recentemente no-
Acs Conselheiros que deixam esta Mesa Redonda. quero dizer o meu adeus.
O Dr. Ubirajara Indio da Costa, que aqui exerceu simultaneamente o cargo
meado.'- pelo E.vcelentlssimo Senhor i're.sidcnte da Repiiblica.
Antes de tudo. de.sejo dar aos novos Conselheiros a.s minhas boas vindas.
O Con.selho Tecnico c o orgao su premo desta casa. Aqui sao debatidos OS assuntos de maior complexidade. quer .sobre a politica do .seguro e sua
de Conselhciro c de Vice-Prcsidente. demonstrou. diirante o.s cinco anos que ociipou uma destas crdeivas. um louvavel espirico piiblico. Dctado dc cultura e de privilegiada inleligencia. soube aplica-las bem na defcsa dc .sens pontos de vista. Homeni dc reqiiiiuada fidalgiiia, soube. scnipre. como os de-
mais Conselheiros de sua bancada. de fender OS interesses do Institute.
Aqui prestou uma colabora^ao que marcara, por certo, a .sua passagem por este Conselho, Deixa, portanto. o Dr. Ubirajara fndio da Costa, bons serviSOS prestados ao Instituto de Resseguro.s do Brasii.
O Dr. Soura Mendes, que e «prata da casa», por que funcionario antigo, foi urn dos grandes Conselheiros deste
Agradeso a presenqa de todos que vieram prestigiar esta reuniao para a posse dos novos Conselheiros.
PALAVRAS DO DR. AgELO MaRIO CeRNE
Sr. Presidente.
Minhas Senhoras.
Meus Senhores.
Na ausencia, eventual, do Presidente da nossa Federagao de Seguradores.
O Dr. Souza Mendes, Diretor Tecni co desta casa, e por demais conhecido da maioria aqui presente, ja que se sobrepujou na classe, por seus conhecimentos tecnicos e abalizados de seguro e resseguro, Por conseguinte, pouco temos a dizer, porque de perto conhecemos a sua eficiencia e a sua capacidade e, .sobretudo. como ja assinalei, no Conselho Tecnico, portou-se, como Conselheiro, com aquela isenqao que e exigivel ao exercicio do cargo. E com essa isenqao, eie soube muito bem cumprir o seu mandato.
O Con.selheiro Groba tambem aqui se esfor(;ou muito e vcio com a sua personalidadc abrilhantar as atividades deste Orgao, como todos os Conselhei ros que aqui funcionaram.
Aos novos Conselheiros, nos do Conselho Tecnico de.sejamos, tambem. sauda-los. Sabemos que em seus seto-
nicos, pelos orgaos de classe c. portan to. depots de algum tempo, estarao perfeitamente senhores e capazes, como OS outros Conselheiros. de decidir com justiga e sabedoria. Muito contamos com o saber de que todos sao dotados e que ja chegou ao nosso conhecimento. Dou a palavra. agora, ao verdadciro repre.sentante da classe seguradora
Dr. Galliez,
Institiito. Tecnico, cstudioso, dedicado ao Instituto. soube o Dr. Souza Men des, aqui, defender, nao sdmente, o.s .sens ponto.s de vista, como ainda, o intere.s.se do Instituto de Resseguro.s Esfor<;ou-se por estabelecer um certo equihbrio entre o.s interesses do I.R.B. e o das Companhiss Seguradoras.' E eu. que com eie funcionei nestc Conse lho, posse atestar seus altos mcrito.s tecnicos.
O Dr. Roberto Groba, que apenas luncionou ne.ste Conselho durante cerca de dois meses, revelou-.se um homem eqinlibrado, um homem interessado em bem servir a cau.sa do seguro; embora nao fosse um profundo conhecedor do raino, procurou .sempre acertar com elevacao de propositos.
sinto-me honrado em dirigir a palavra recoi'dando. tambcm, a per.sonalidadc do.s tres Conselheiros que dei.xain n bancada como repre.sentantes do Governo, neste Con.selho Tecnico do Ins titute de Res.seguro.s do Brasii. Como Conselheiro, ja tive oportunidade de focalicar a personalidade de de.staque e de escol que c o Dr. Ubira jara indio da Costa, grande jurista, pessoa de cultura acima do comum, que se destacou nestc Conselho Tecnico com votos brilhantes e, em pouco.s anos, tornou-se um perfeito conhecedor do .se guro e resseguro patrio. For isso, associando-me as palavras do Presidente. deixo aqui nosso vote de saudade e de boas recorda^oes desejando a S. Exa. toda felicidade pessoal.
res sac figuras proemincntes e. portan to. por estes seus titulos de saberein bem servir a Patria, de saberem lidar com a cau.sa piiblica, de saberem discernir onde e o juste e o direito, virao. certamente, tambem, muito servir ao Institute de Resseguros do Brasii.
Aqui. como disse o Sr. Presidente, os probiemas ja vem estudados pelos tec-
Senhor Presidente.
Estou chegando ao fim do mcu man dato de Presidente da Federacao Nac'onal das Empresas de Seguro; Piiv.iclor e Capitalizaqao e c, para mini, um pvazer que, ante.s do encerramenlo rle.^sc pcriodo, possi ter a satisfagao dc trzzer, a's novo.s Menibro.s, aos ilustrcs nom?< uuc vao complctar o Conselho I ernico
do Instituto de Resseguros do Brasii, a saudagao de toda a classe scqurr.dor.i nr.cional.
Vos.sa Excelencia .sabe, Scnlior Pre sidence. como antigo elemento de Crabalho dest) Ca.sa, que a classe -eguradon nunca esteve divorciada do I.R.B.: pelo contrario — com eie sempre tern canunhado. estuda-idc todo.;

OS problemas c dando a sua ampla e sircera coopera^ao para o desenvolvimento do seguro no nosso pais. Se a;;;im tem side ate agora, tudo indica quc este scntimento de coopecagao sc rcanime. ainda mais, no nionicnto cm que o Conselho Tecnico do I.R.B., completado como se encontra, por elementos tao destacados, vai coinecar lima nova era.
Todos OS tres novos Conselheiros sao pcssoas que merccem a nossa confianga c que podcrao dispor da nossa cooperacao.
O ilustre Vice-Piesidente do I.R.B.. S''. Jose Accioly de Sa, e nosso anligo ccmpanheiro, e nosso antigo aniigo, e urn nome que se impos a nossa admira(;ao, e um nome digno do nosso respeito. Foi presidente da Companhia Nacional de Seguro Agricola, e representa, no Conselho Tecnico. uma garantia para que o I.R.B. possa continuar levando bem adiante o sen programa patriotico.
Desejo, tambem, Senhor Presicienle. facer uma referencia aos Membros que deixaram o Conselho nesta data.
A classe seguradora semprc dele;ixcebeu atengocs quc deseja aqradecer. ti, no memento em que ele.^ deixam c.sta Casa, depois de terem honrado o mandato que Ihes foi confiado pelo Senhor Presidente da Repufahca, e nos.sa inten^ao, nds do seguro, rcnfirm:r-lhes a nossa solidariedad ^ c os voto.s que fazemos pela .sua felicidade pcssoal.
Agradeqo a Vossa Excelencia tcr;ne dado a oportunidade de falai- ne'-te )i;omento: en, nome da dasse ^equraciora e agr.idego, tambem, ao meu coleoa e amigo, Dr. Angelo Mario Cerne pelns palavras bondosa.s quc|lonunciOf, e a todos desejo aprcseut.ir saudacao muito amiga. ruiito sincna dc todos OS seguradorc.s nacion.iis.
Agrndecendo, falou o Dr. Jcse Accioly de Sa, cuja.s palavras, a .seguir icproduzimo.s.
PALAVRAS DO DR. ACCIOLY DE SA
Senhor Presidente do Institute de Resseguros do Brasil.
Meus senhores, minhas senhorti.-> , fi com a inaior emo^ao que hoje enrramos nesta casa para inlcgrar o seu Conselho Tecnico e assumir a sua Vice-Presidencia.
Desde ha muito nos acostumnmos a ver o Institute de Resseguros do Brasil como uma institui^ao modelar na Admiristraqao brasileira. E afeitos quc estfimo.s as questoes relacionadas com o seguro privado, pois esse tem side o r.osso trabalho ha qiiase duas decadas. sentimo-nos jubilosos ao ingres.sar na cntidade que orienta e estabelece -is condi^oes de retenqao e distribuiijao de riscos e de liquida^ao de responsabilidades de seguros, Nao 6. po's, sem o conhecimento do problema que assumimos os novos ciicargos para os quais o governo nt s designou.
E uma coisa podemos afirmar, e quc aqui, como antes, em outros po.stos em que servimos, uma diretriz nos norteia — o sentimento do dever, o m.iior devctamento ao servigo do nosso imi.s. Havendo sempre dedicado uossii atividade profissionai e tecnica a Adnistragao Piibhca, nao venios as alteragoes nos postos administrativos senan como uma contingencia da propri , nalureza do servigo.
E sentinio-nos como .soldados que. fieis a sua bandeirn, seguem o dcstino que.Ihes e indicado, com o mesmo ardor com que sempre acoinpanham a sua «maichn para o ideal», que se refen;, Bilac.
Assim, e com essa mesma aspiracao que era nos empossamos da.s fungoes de membros do Conselho Tecnico do I.R.B. — Iremos aqui einpenhar-no.s para servir ao seguro privado, .servindo ao Brasil.
Niio deixaremos, entretanto, de ter .sempre cm mira o primado dos ciltos
interesses da Administragao sobre o> interesscs particulares de seguradores e segurados.
Essa ha de ser, pois, a autoridade com quc assumimos o Conselho Tec nico do I.R.B. e a sua Vice-Presc dencia. cargos cm que fomos mvestidos pela gcnerosa confianga do Excekn. tissimo Presidente da Republica, quem rendemos, de publico. o testemunho de nosso reconhccimento. Queremos. agora, em nosso e no nome dos que se estao empossando, agradeccr ao ilustre e prezado amigo Dr. Xavier de Lima as amaveis expressoes com que nos rccebe neste Institute, cm tao bo-a hora confiado ii sua grande capacidade tecnica. aos mais aitos propositos do seu patriotismo.
O nos.so antigo conhccimentc c a .sua proverbial generosidade justificani a benevolencia da acolhida.
^ De nossa partc, somente podemo.s dizer que daremos o inelhor dos nossos esforgos para corresponder a confianca em nos depositada.
Nesse sentido nao seremos aobrepujados. Disso podein cstar certos c.s nossos companheiros.
Aos seguradores. aqui tao bem rcpresentados pelo Dr. Vicente de Paulo Galliez, tambem afirmainos a expressao do nosso reconhccimento pela amabilidade da sua manifestagao. Conhecem eles o nosso pen.samento no que tange ao seguro privado no Brasil c podem eslar certos que a no.ssa agio no Con selho Tecnico do I.R.B. tera como penhor a opiniao que sempre sustentamos sobre os divcrsos problcma.s que cxigem desse orgao orient icao e decisao.
Com a ajuda de Deus, estamo.s certo.. dc continual" a batalhar pela mnioi c.xpansao do seguro em todas as sua-' ir.odalidades. sob a eficaz orienragao dos orgaos tecnicos deste Instituto.
Aos futuros comp anheircs do I.R.B. dcsejamos e.xpressar a confianga com que assumimos a novas fungdes, certos
dc que encontraremos de sua paite a mais eficientc e leal cooperagao, conhecendo, como conhecemos, seu reiterado devotamento a causa do I.R.B. para cujo servigo agora tambem nos encontramos.
A todos, pois. o nosso sincere agradecimento.
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Por ato de 27 de margo, o Senhor Presidente do I.R.B. dispensou o Sr. Luiz Alves de Fccitas do cargo ae Diretor do Departamento Financciro. o qual foi requisitado para excrce! OS cargos de Assessor da Supcrintendencia das Empresas Incorpor.adas ao Patrimdnio Nacional e de Diretor Comerc'al de A Noitc, e designou. para substitui-lo. o Dr. Jose Accioly de Sa. Vice-Presidenle do Instituto.
A Revista do I.R.B. sauda o Dr. Accioly de Sa pelo seu investimento nesta nova fungac. certa de que o,-^ seus dotes de inteligencia e capaci dade administr"itiva propiciario uma grande gestao dos problema.': econd!nico--financeiros desta casa.

DIRETORIA DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE SECtUROS PRlVADOS E CAPlTALIZAgAO DO RIO DE JANEIRO
No dia 2 de abril. realizou-.se, tia Sala loao Carlo.s Vital, na sede do Sindicaro das Empresa.': dc Seguro.Privado.s e Capitalizagao do Rio de Jineii'o. a posse da nova Diretoria reccm-eleita. dcssa associagio dc classe. a qual ficou assim constituida:
Diictorc^ F[ctivo<
Presidente — Angelo Mario Ccrnc - - (Intcrnacional) .
Vice-Presidente — Moacyr Pereira da Sdva — (Atlantica).
Secretario Geral — AJoysio Rego Faria — (Sul America T, M. A.).
Secretario — Clinio Siiva ~ (Boavista) ,
I-" Tesoureiro — Walter Braga Nieneyer — (Cruzeiro do Sul).
2." Tesoureiro — Manoel Loureir— (Globo), Procurador — Sebastian Lafiiente (Phenix de Porto Alegre),
Conselho Fiscal David Campista Filho — (Lloyd Sul Americano).
Issa Abrao — (Piratininga) , Manoel Aguiar Melga^o — (Pan America).
Transmitindo e recebendo o cargo de Prcsidente, usaram da palavra o Dr. Vicente de Paulo Galliez. e o Dr. Angelo Mario Cerne, cujos disciirsos publicamos a seguir.
Discursg do dr. Gai.uez
Meus Senhores, Tenho a honri de transmitir ao Dr. Angelo Mario Cerne c aos demai.s colegas que acabam de ser eleito.s, nnma expre.ssiva unanimidade, os cargos admin.strativos do Sindicato das F.mpresas de Seguro.s Privados e Capitalizacao do Kiq de Janeiro.
A efehvamente. nao poderia ter.sKlo ma.s feliz. Qs novos dirigentes da nossa classe souberam sempre conqu.star o nosso aprego e a nossa simpntia e pos.suem a experiencia capaci dade e conhecimento.s tecnicos que dei.vam antever, com seguranga, o exito de .sua proxima ge.stao.
21o-
A maneira harmoniosa e pacifica corn que sempre temos re.soivido a escolha dos nomes que devam ocupar os posto.s de responsabilidnde do nosso SindicatO' e, sem duvida, uma exceiente demonstragao de que a nossa classe tern plena consciencia da indispensave! necessidade de se manter unida e coesa na defesa dos sens importuntes e superiores intere.sses.
Estivemos durante 4 anos na Presidencia do nosso Sindicato c nos tocoii urn periodo cxtremamente dificil para o seguro e para a capitalizacao.
Varies e graves foram os problemas que estiveram a desafiar a nossa capacidade e a nossa energia. Enfrentamos todos eles com entusiasmo e com coragem, sempre aniniados e protegidopelas continuas e confortadoras pravxH de apoio c solidarietdade dos nossos prezados colegas, todas a.s vczes que estiveram cm jogo assuntos que afctassein, de forma siibstancia], o nos.so desenvolvimento e os nos.sos direitos.
Para esse fim, mantivemos permanente contacto com loda a cla.sse. con-sultando-a com freqiiencin, auscuitando-a .sempre que a importancia e gra\idade das questoes o exigiam.
Realizamos reunioes da Diretoria com a maxima regularidade, ao menos urn 1 vez per senuinn, e numerosiss maforam a.s nossas Assembleias pan ample debate dos problemas em paula. po.s outra coisa jamais tivemos em mente senao interpretar, com fidelidade. o pensamento e as aspiraqoes da classe que tinhamos a honra de representar.
Durante o nosso mandate sempre demos o maior apreqo as comiss6e.<; tecnicas, cujo trabalho e precio.so e
extremamente litil. Jamais desprezamos sua experimentuda colaboraqao e as duvidas surgidas, em numero insignificante, entre o pensamento da Dire toria e o dessas dedicadas comissoes. -sempre foram satisfatoriamente resolvidas em reunioes conjuntas, pratica que adotamos e que produziu os melhorcs resukados.

Os relatorios que tivemos a satisfacao de apresentar as nossas Assem bleias Gerais Ordinarias se referiram. com detalhcs, aos principais fatos administrativos e aconteciinentos que exigivam a intervenqao do nosso Sindicato.
Eis porque deixamos de nos referir mais uma vez a toda cssa ativa e energica atuaqao, que o nosso orgao de classe dcsenvolveu. realizando sempre rrabalho dc equipe, sem qualquer caracteristica pessoal e tudo fazendo para que as nossas atitudes repre.sentassem. com a maior exatidao possivel, o pen.samento e a vonC'idc daqueles em cujo nome estivemos falando e agindo.
As nossas comunicaqocs as enipresas de seguros e de capitalizaqao se de.senvolveram atraves de circulares, nas quais tivemos em niira levar ao conhecimento dos nossos ussoc'ados as inforniacoes indispensaveis para facilitar o seu trabalho e as .sues operaqoes. Em alguns casos contiveram essas circulares alguns conselhos e sugeriram determinada orient.rqao. Esses conse lhos e essa orientaqao sempre foram. porem, objeto de resoluqoes de reunioes da Diretoria e de Assembleias Gerais, tendo como principal finalidade conservar c intensificar o espirito de uniao de classe. em face de problemas de grave repercussao. A -impla aceitaqao
d
essas circulares mostrou o acerto de sua adoqao e a necessidade de sua manutenqao. Trata-se, alias, de uma das mais antigas c salutares praxes do nosso Sindicato.
Os quatro anos da nossa Presidencia foram, efetivamente, quatro anos de lutas arduas e dificeis e cssa aindn e. infelizmente. a atmosEera que respiramos.
Essas lutas. que foram a caracteristica da nossa gestao, nao fomos nd.s quem as criamos ou quern us estiinulamos. Tivemos que enfrenta-las e jamais desertamos da arena de cornbates
Nao nos moveu simplesmente o animo ou o gosto da porfia, Delas ainda guardamos cicatrizes e chagas que. de bom grado e se fossem s6mente pessoais os interesscs em jogo. nao nos teriamos exposto a sofre-las. Guiou-nos e conduziu-nos, entretanto, a convicq^ dc que as ideias e doutrinas que defend'iamos eram as que mais sc h irmonizavam com o interesse geial. a pujanqa e o progresso do nosso pats, Devemos mais uma vez accntiiav que nao sao somente os fatos concretos cujn consumaqao constitua fator de pertiirbaqao para o progresso economico que devam ocupar a ncssa alenqcio, O que se faz igualmente sentir no ambito do seguro e da capitalizaqao, como em quase todos os setores da vida economica nacionai, e a necessidade dc um programa de trabalho permanentc, destinado a remover nao apeiia? as dificiildades surgidas no domino dos
fatos coiicretos. mas, sobretudo, as quc ameagam ecbdir, a toda hora, impulsionadas pela incompreenslo e pelos desvirtuamentos de doutrinas na realidade inconciliaveis ao interesse brasileiro.
Vemos, portanto, como e vasta e dificil a tarefa que incumbe as nossas organizagoes sindicais. Temos. porem, a certeza de que todas essas questoes e todos esses problemas serao enfrentados. com galhardia, pelos nossos ilustres sucessoies, todos eles homens de large experiencia e perfeitamente identificados com os nossos legitimos direitos e com as nossas justas aspira<:6es. Confiantcs, a eles transmitimos o timao desta nave que singra, com sequranga c rumos bem definidos, o mar proceloso das atividades qiie saberao resistir a essa onda de incompreensoes, tudo fazendo e tudo realizando com elevado escopo, com o patriotico e sin cere desejo de bem servir no nos^o caro Drasil
Queiram receber, Dr. Angelo Mar,o Cerne e sens eminentes companheiros da nova Diretona. no.s.sos cordiais cumprmientos e nossas afctuosas saudagoes. Entregando-ihes a d/regao desta ca.sa, fazemos votes pelo complete exito da missae que em boa hera Ihes foi centiada,
Ndo poderiame.s, entretanto, terminar essas- palavras sem que lenhamos a satisfagao de manifestar a classe sequ radora e da capital,zagae os nossos ..gradecimentos pelas constantes e ine quivocas demon.stragoes de apoio con, que prestigiou e e.stimuJou o desempenho do no.sso mandate. Queremo^
estender os nossos agradeciinentos a todo.s OS funcionarios do Sindicato, que tao bem scuberam se conduzir e que tanto cooperaram para que pudessemos levar avante e chegar ao fim da tarefa que os prezados amigos, tao generosamente, nos confiaram.
A todos, pois, o nosso comovido e sincere reconhecimento.
Discursc do dh. Cerne
Meus senliores, Ao assumirmos o cargo de Presidente do Sindicato das Empresas de Segiiros Privados e Capitalizagao do Rio de Janeiro, temos exata nogao da dura tarefa que nos cabe cumprir.
Seguiremos os exemplos de eficiencia e dedicagao legados pelos nossos antece.s.sores ne.ste cargo, cujos nome.s inencionamos rcverentemente: Joao Augusto Alve.s. Alv.rro Silva Lima Pereira, Olimpio Carvalho de Araujo o Silva. Octavio da Rocha Miranda, Odilon de Beaiiclair e Vicente de Paulo Galliez.
Procuraremo.s trabalhar incessantemente pelo nosso Sindicato. buscando resolver todos os sens problemas, para o que contamos com o niixil o imediato de no.ssos pre.stigiosos companheiros de Diretoria e de todos os seguradores do Rio de Janeiro, cuja cooperagao c indispensavel, Nossa missao precipua

^!era a de acompanhar os trabalhos das comissoes tecnicas, assistir a secretaria atraves de nos.so Secretario Gerai e atender aos problemas gerais da classe. dentro dos seguintes lemas:
— Defesa absoluta de nossa atividadc como iniciativa piivada e reivindicagao deste direito onde quer que tcnha sido ameagado;
2." Propugnagao pela reforma de leis que estejam entravando o aumento de nosso potencial economico e dificultando as nossas operagoes;
3" — Vigilancia contra medidas mal orientadas dos poderes publicos, que vi.sem cercear as nossas atividades ou tributa-las em excesso;
4— Apoio a Federagao Nac onal das Empresas de Seguros Privados e de Capitalizagao e demais orgaos de classe, nas suns justas reivindicagoes;
5," — Assistencia permanente cos nossos associados. permanecendo sempre a sua disposigao para atender aos seus reclamos, porque eles, nao podendo dirigir-se a Federagao Nacional da.s Empresas dc Seguros Privados c dc Capitalizagao, fa-lo-ao por nosso iniermedio, cuniprindo ao nosso Sindicato ser o advogado diligcntc das pretensoes de sens associados;
6." — Atengao especial aos proble mas da Capitalizagao, atendendo todas as suas pretensoes com prcsteza e maximo interesse, visto consideraimos as empresas de capitalizagao titulares de iquais direitos e preferencias dentro do nosso Sindicato.
Agradecemos, sensibilizados, a todos aqueles que nos honiaram com o seu voto e, como penhor dos bons propositos de trabalho e dedicagao a Presidencia do Sindicato dns Empresas dc Seguros Privados e Capitalizagao do
Rio de Janeiro, oferecemos o nosso passado como representante da classe no Conselho Tecnico do Institute dc Resseguros do Brasil, por se s man dates consecutivos, Resta-me agradecer. em nome da classe, a esta figura exponencial que e o Dr. Vicente de Paulo Galliez. pelo brilhante desempenho de seu mandate na Presidencia do nosso Sindicato e pelos valiosos servigos prestados a defe.sa dos nossos direitos e interesses. tendo esta sua tarefa sido pontilhada dc trabalhos arduos. Quero, outrossim. estender nossa gratidao aos seu.-; excelentes colaboradores, os nos.sos colegas que fizeram parte de sua Dire toria
A todos prcsentes a este ato. o nos.'-o mui sincero obrigado.
Discur.sou por ultimo, o Dr. Odilon de Beauclair, ex-presidente daqueic Sindicato', c figura de incontestavcl projegao no mercado scgurador do piis,
Em suas palavras teceii varias consideragoes em torno da brilhante gestao do Dr. Vicente de Paulo Galliez c dc scus colcgas de Diretoria, .salicntando. por cutro lado, as inegaveis credenciai' do novo Presidente Dr. Angelo Marir, Cerne e seus companheiros dc Dire toria inanifcstando fiindadas espcrangas da classe de que os novos diiigentes do seu orgao represcntativo realizem urn programa consentanco com a.s necessidades e as aspiragoes do seguro privado.
CINQUENTENARIO DA COMPANHIA PAULISTA DE SEGUROS
No dia 12 de maio, a Companhia Paulista de Seguros comemoroii o cinquentenario de sua funda(;ao, com un «cock-taib que teve lugar, as 12 horas. na sede da Sociedade. Estiveram pre sences altas personalidades do meio segurador de todos os Estados do Brasii e. na ocasiao discursaram o Diretor PresidenCe di Companhia — Sr. Nicolau Morais Barros, o Sr. Huberto Roncarati. Presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitalizaqao de Sao Paulo, o Presidente do I.R.B., Dr, Augusto Xavier de Lima, 0 Dr. Vicente de Paulo GalliePres.dente da Federagao Nacional da.s E-npresas de Seguros Privados e Capi- t^alizaqao. e o Dr. Adalberto Ferreira do Valle. Diretor da Prudencia Capitatizagao.
A «Revista do I R R , i apresenta a Companhu Paulista de Seguros os sotos de crescente prosper dade.
DIA CONTINENTAL DO SEGURO
No dia 14 de maio, comernoiou-se no Distrito Federal, o Dia Continental do Seguro, com um <rcock-tail» oferecido ao meio .segurador pela Federagao Nacional das Empresas de Seguros Pri vados e Capitalizagao e pelo Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitalizagao do Rio de Janeiro, Na oca.siao, o Dr. Vicente de Paulo Galliei- fez um discur.so alusivo a data
tccendo consideragoes sobrc a utual conjuntiira seguradora.
Em seguida. fez entrega de um donative dos seguradorcs para a construgao do Mau.soleu do Bombeiro. gesto com que a classe seguradora exprimiu sua solidariedade as homenagens que vem sendo tributadas aos soldados do fogo, per motive do transcurso, este ano, do 1." Centenario da corporagao local.
EDITAL
Concurso para cacreira de Dactilografos
O Presidente do Institute de Resseguros do Bra.sil torna piiblico que fata realizar. no pro.ximo mes de julho, Concurso para provimento de vaqas nj clas.se inicial da carrcira de Dactilografos.
As inscrigoe.s estarao abertas de 15 de maio .i 15 de jimho.
Os interessados poderao obter as liistnigocs impressas para o Concurso. a part.r do dia 7 de maio, da.s 7 boras os 13 horas na Segao dc Aperfeigoamento Cultur.i], ou, da.s 1.3 as 18 boras na sobreioja do Edificio do I.R.B.
A.s ditas Instriigoes forneceiao todos OS denials esclarecimentos.
Augusto Xavicf de Lima Presidente
VISITAS AO I.R.B.
Estiveram em visita ao I.R.B. os Senhores: Herbert Moses, Presidente da Associagao Brasileira de Imprensa, e Coronel Souza Aguiar, Comand inte do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL
SEDE — RIO DE JANEIRO
AVXNIDA MARXCHAL cAmARA, 171

REPRESENTAgAO EM SAO PAULO
RUA XATIBR DB TOUtDO, 114 — 6.® AKDAB
REPRE3ENTACA0 EM P6RT0 ALEGRE
AVEI4IDA DOROES MXDB1R08, 410 — 15.® ANDAR
REPRESENTAgAO EM SALVADOR
AY. ESTADOS UNIDOS, 34, 5.» AND.. 8ALA 501
REPRESENTAgAO EM BELO HORIZONTB
AVKNIDA AMAZONAS, 491 A 507 — 8.° AKDAE
REPRESENTAgAO EM RECIFE
AVINIDA OUARARAIUCS, 210 — 6.® ANDAR, SALAS 81 A 88
REPRESENTAgAO EM CURITIBA
RUA Qumzi DB NOYBMBRO, N.® 551 A 558- 16.® ANB.
REPRESENTAgAO EM BELfiM .
AV. IS DB AOdSTO, 53 — SALAB 228 A 230
REPRESENTAgAO EM MANAUS
RUA KARChjO DIA>, 235 — SOBRADO

