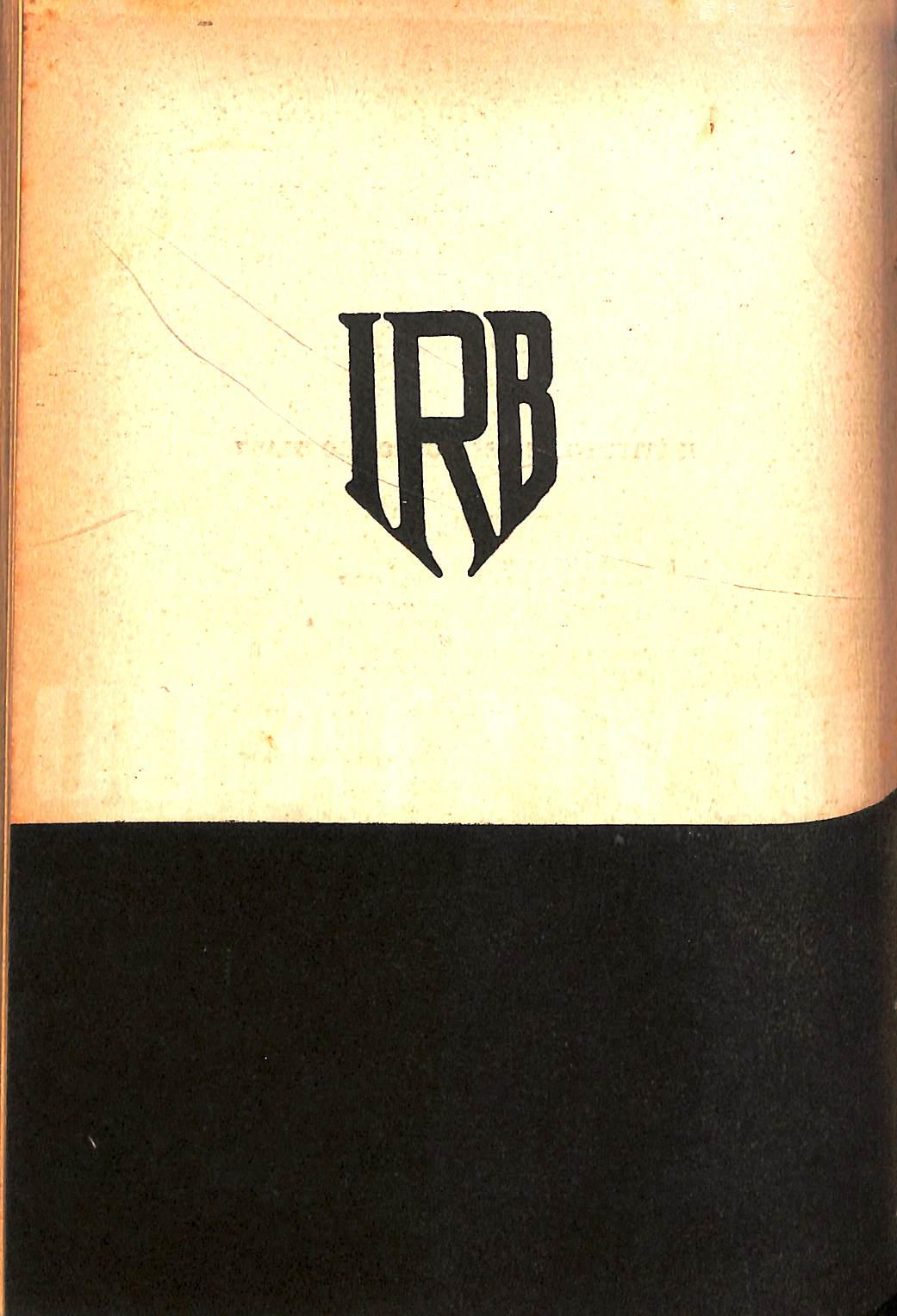IREVISTA DD



Aspectos da Histdria do Seguro no Brasil: Engenheiro Rodcigo de Andrade Midicis, coluna 3 — Um problema das Sociedades de Capitaliza;ao: CaWos Leal Jourdan, coluna 41 — O Projeto do Cddigo de Navega?ao Comeccial; Joao Vicente Campos, colu na 45 — Aplicacao de rescrvas: Amil' car Santos, coluna 71 — Preventao e prote^ao contra incendios: Engenhei' ro Civil Mario Trindade, coluna 73 —•
Indenizagao do dano moral: Amirico
Luzio de Oliveira; coluna 79 — O sc guro de lucres cessantes: H. Clayton Chambers; coluna 85 — Tipos de rcssegutos: Ignacio Hernando de Larta' mendi: coluna 93 — Classifica?ao de localiza?ao da cidade de Sao Paulo: Adyr Pecego Messina; coluna 115 —*
TradugSes c Transcri^oes: O crime dc incSndio; Dr. Astolpho de Rezende; coluna 125 — Porquc as pessoas honestas roubam; Virgil W. Peterson; coluna 139 — Sdbre algumas formas especiais de seguro contra fogo; Andre Migliorelli, coluna 159 — Dados Estatisticos, coluna 167 — Pareceres e Decisocs. coluna 181 — Consultdrio Tdcnico, coluna 193 — Bolctim do I.R.B., coluna 203 — Joao Carlos Vital, Prefeito do Distrito Federal, coluna 209 — Dia Continental do Se guro, coluna 211 — Notiddrio do Ex terior, coluna 217 — Notidario do Pals, coluna 219.
A eterna inseguranga dos seres e das coisas. criando-lhes. cada vez mats, com a crescente complexidade da vida, um nixmeto iiimitado de ciscos. que se multiplicarji a cada instante. fez nascer a ideia do seguro.
Sentiram, de ha muito, os homens, que era indispensavel umcem-sc para, em comiim. enfrentarem e saportarem as conseqiiendas dos perigos a que se acham sujeitos e que Ihes ameagam 0 patrimonio.
Dessa uniao. que a necessidade de sobreviver e de preservar o produto de seus trahalhos impos ao homem. surgiu o mutualismo — formula pela qual suporta uma coletividade as conseqiiencias danosas sofridas por um so indiciduo.
Fot, poctanto, o espirlto de previdencia que criou e desenvolveu a instituigao do seguro.
Com o progresso da civilizaga'o. revoluclonada pelo desenvolvimento da maquina c utilizagao das energies da natureza. que o homem descobriu e domou. crescerani e se mu^^ip/icarflm■os riscos. Paralelamente. como corolarto, cresceram e se multiplicaram as modalidades de seguros.
Pator de equiUbrio na economia universal, pela restauragao dc patrimomos que. sem ele. seriam certamente destruidos pelos sinistros, o seguro desempenha fungao social cuja importanda se avoluma. dia a dia. impondo. consequentemente. a necessidade de divulga-lo mals e de melhor compreendi-lo.
Associando-se as comemoragoesdoDia ContinentaldoSeguro. transcorrido a 14 de maio, a '^Revista do I.R.B.». dedicandodhe esta edigao, faz a seus leitores um apelo para que se empenhem pela diviilgagao e desenvohimento dos seguros no Brasil.
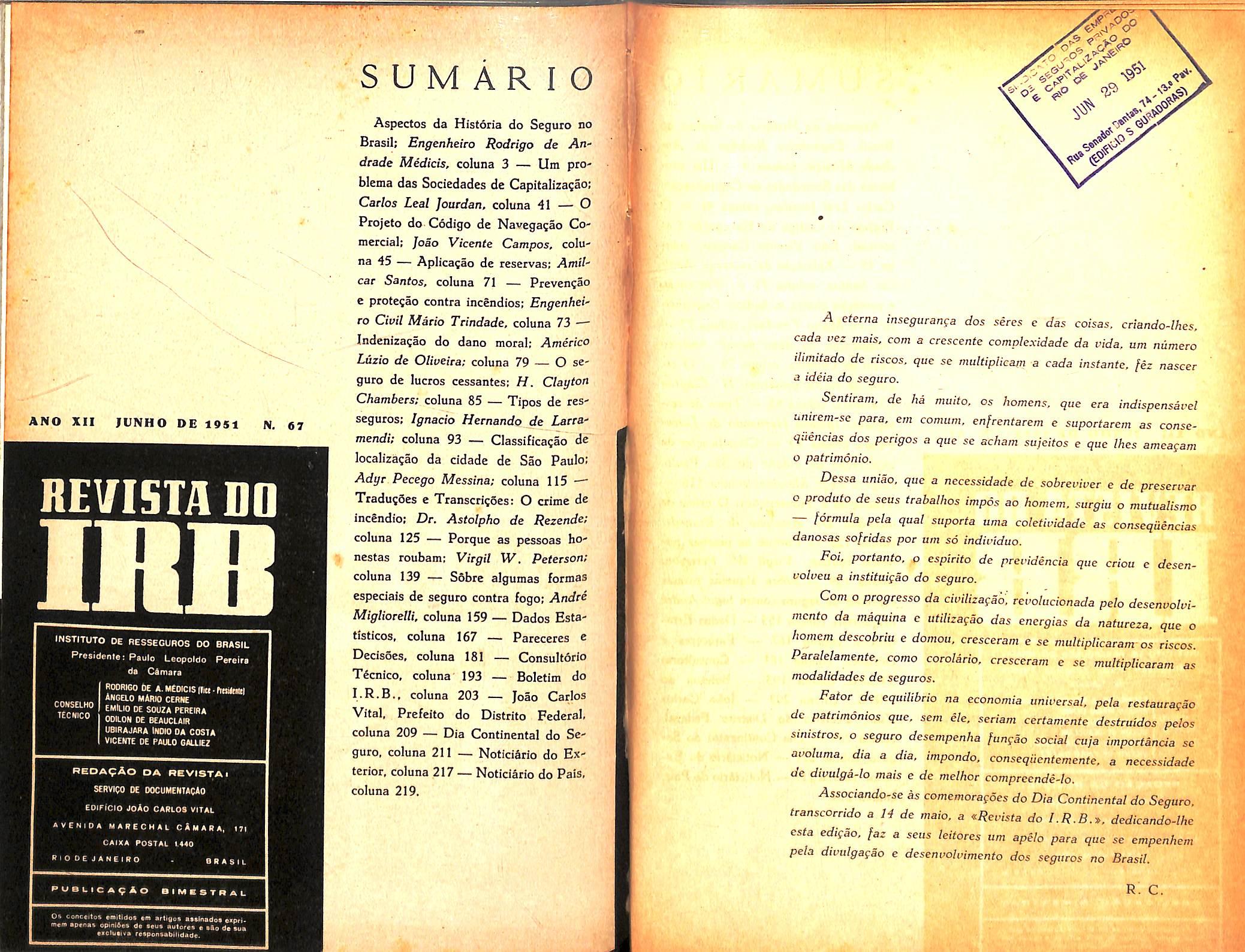
Agrade^o ao Sindicato das Emptesas dc Seguros Privados e Capitaliza^ao do Estado do Rio Grande do Sul a honra do convitc para aqui proferir uma palestra, na data de comemora^ao do «Dia Continental do Seguros.
A flexibilidade que me foi dada na escolha do tema criou uma responsabilidade muito grande: a de discorrer sobre materia de carater geral, de fato interessante para as festas do Dia do Seguro. nas quais se deve sentir com efusao o trabalho do passado e crlar entusiasmo ainda maior para as realizaqoes do futuro.
Dentro desse espirito e — confesso — premido pela falta de tempo para atirar-me, no momcnto, ao estudo de problemas talvez mais apropriados. resolvi aproveitar-me da id^ia do Sindi cato das Empresas de Seguros Pri
(*) Palestra proferida no auditdrio da Associa^So Riograndense de Imprensa. a convite do Sindicato das Emprlsas de Seguros Privados e Capitaliza^ao do Estado do Rio Grande do Sul. em 14 de znalo de 1951, ao se comemorar o «Dia Continental do Seguro.
vados e Capitalizaqao do Rio de Ja neiro, de publicar. em jornais, no dia de hoje, uma historia-resumo do Seguro no Brasil. em quadrinhos, tal qua! fora feito na Repiiblica Argentina. Baseado. nos dados colhidos pelo Institute de Resseguros do Brasil para essa iniciativa dos seguradores da Capital da Reptiblica. e utilizando-me ate, por grande gentileza do Presidente do cespectivo Sindicato — Dr. Odilon de Beauclair — de fotografia dos desenhos preparados para a historieta hoje publicada na imprensa do Distrito Federal, vou tentar dizer alguma coisa de inte ressante e pitoresco sobre sAspectos da Hi^oria do Seguro no Brasil».
£ de justi^a salientar inicialmente as fontes nas quais extrai os elementos para este ligeiro trabalho:
— PublicacSes do I.R.B.: — «A Cria^ao e a Organiza^ao do Instituto de Resseguros do Brasib, eCoIetanea
da Legisla?ao Brasileira de Seguros», «No?oes Fundamentals de Seguros® e «Ementario da Legislagao das Companhias de Seguros®.
— Originals de um livro que o Dr. Amilcar Santos tem em prepare.
— Diversos livros da «Biblioteca Albernaz® do I.R.B., entre os quais OS «Principios de Direito Mercantil® de Jose da Silva Lisbda — Visconde de Cayru — 6." edi^ao, de 1874.

— Informagoes esparsas do Servi^o de Documenta?ao e da Divisao de Estatistica do Instituto de Resseguros, aos quais devo o documentario historico, fotografico e estatistico que ilustrara esta palestra.
Nao e pois a mim que se vai dever alguma atenqao que as minhas palavras possam despertar, mas sim ao Sindicato das Companhias de Seguros do Rio de Janeiro, como idcalizador da historia em quadrinhos, ao Dr. Joao Carlos Vital, pela sua grande iniciativa de, como criador e primeiro Presidente do I.R.B., ter feito publicar os livros e documentarios ja citados, e ter adquirido uma biblioteca especializada tao
valiosa, ao Dr. Amilcar Santos pelas notas gentilmente postas a minha disposi?ao, ao Servi^o de Documenta^ao e & Divisao de Estatistica do I.R.B.,
pela colaboragao eficaz de seus pesquisadores^
Ha uma hipotese, citada por Joseph Hemard e Robert de Smet, segundo a qual o seguro seria de origem portuguesa; os Portugueses teriam sido os primeiros a praticar, pelo menos conscientemente e numa certa escala, o se guro mutuo. Uma cronica de Lopez refere-se a que ja o rei Fernando de Portugal, (1367 a 1383) tinha estabelecido um Seguro Miituo Obrigatorio para os proprietarios de navios de mais de 500 toneladas.
Por outro lado, tudo indica que 0 autor da primeira obra que se escreveu no mundo sobre seguro tenha sido um portugues — Pedro de Santarem (conhecido niais como Pedro de Santerna, alatinamento do seu sobrcnome), que floresceu no fim do reinado de Dom Manuel, o Venturoso. Seu livro «Tractatus Perutilis et Quotidianus de Assecurationibus et Sponsionibus Mercatorum® (Quotidiano e Muito Otil Tratado para Mercadores de Seguros e de Apostas) foi publicado em Antuerpia em 1554, e se acha tamb^m incorporado na obra de «Straccha» — «Dc Mercatura, de Navibus et dc Assecura tionibus® (Da MercSncia, dos Navios c
dcnte dodo Seguro), edigoes de Amsterdam (1569) e de Ancona — Italia — 1570. Ha assim, uma vcrdadeira tradi^ao securatoria em nossa ra^a.
Era Portugal, como em varies outros paises, o seguro sc iniciou sob a base de mediagao obrigatoria dos «Corretores e Provedores dos Seguross, especificamente designados por Alvaras do Rei. Nao eram validos os seguros realizados sem a intervengao desses escrivaes especiais das Pragas c que funcionavam nas respectivas «Cazas de Seguros», como e exemplo a de Lisboa. Nesse sentido sac explicitos os alvaras de 22-11-1684. 29-10-1688, 28-10-1718 e 19-4-1728. Foi, entretanto, o alvara de 1I-8-I791 que autorizou a vigencia dos 24 artigos de «Regula9ao da Caza de Seguros da Pra^a de Lisboa» (ja propostos e aprovados desde 1758), estabelecendo normas para o excrcicio da qualidade de «Seguradores» por «negociantes nacionais e estrangeiros, estabelecidos nas cidades, vilas e raais iugares destes Reinos*. Entre as estipula?oes previstas nessa «Rcgula?ao», havia as de:
— «apresentar-se na Caza, para se alistarem, assignando scus nomes no Livro do Registro, e se sujeitarao a estas Regula^oes; mas., os negociantes
de fora, mencionados no capitulo antecedente, se poderao alistar por seus Procuradores».
— «Nenhiim segurador podera assignar por conta de Companhias ou Cazas de Seguros Estrangeiras, ou por conta de Seguradores particulares de fora do Reino».
— «Somente sera valido aquele se guro, que for registrado pelos Officiaes da Caza era os livros della».

— «Ficara na liberdade do Segurado escolher entre os Seguradores o^ que^ mais quizer, e contratar as Condigoes de seu Seguro como Ihe parecer, e serao validos. depois que forem registrados pelos officiaes da Caza».
— «Os Seguros assignados por huma Sociedade serao pagos pelo Corpo da mesma Sociedade, e cada hum dos Socios ficara tambem in soiidum obrigado ao pagamento».
— «Tanto que os officiaes da Caza forem entregues dos Documentos que justificao as perdas. os apresentarao logo aos Seguradores que serao obrigados dentro do termo de quinze dias a acabar o exame dellcs, e dentro do termo de outros quinze dias successivos a fazerem o pagamento da perda na presen^a dos officiaes da Caza, que langarao o termo dc Quita?ao».
«Ein caso de perda, o Segurado sempre sera obrigado a justificar o valor dos effeitos que segurou; e o Seguro nao excedera o valor dos ditos effeitos com os gastos, e premio, salvo quando p ajuste particular expressado na Apolice derogar este Capitulo».
— «Quando nas Apolices dos Seguros nao houver convengao a respeito das avarias, estas serao reguladas na forma seguinte: Toda a qualidade de Pao. Legumes e Frutas he izenta de avaria ordinaria, por serem generos corruptiveis por natureza; nao serao porem cstes ditos generos izentos das avarias geraes.
As avarias em Peixe, Assucar, Tabaco, Linho, Canhamo, Pelles acamur?adas serao pagas pelos Seguradores, excedendo 10 por cento.
As avarias em todos os mais generos de fazendas, corpos de Navios, c seus apparelhos serao pagas. excedendo 3 por cento.
Nao sc pagarao avarias de couzas Jiquidas, sendo causadas por defeito das vasilhas, e somente se pagarao no caso de naufragio, ou vara^ao*.
Foi nesse regime que se fundou. em 1808, a primeira Companhia de Seguros no Brasil. Com a abertura de nossos portos ao Comercio internacional, os
comerciantes de nossa terra sentiram a necessidade de se acobertar contra os riscos maritimos e, assim, conseguiram que o Principe Regente autorizasse em 24-2-1808. o Governador e Capitao Geral da Capitania da Bahia a promover o estabelecimento da Companhia de Seguros Boa Fe.
Diz o decreto textualmente:
«Tendo consideragao a me representarem os commerciantes dessa praga a falta que nella ha de seguradores, que nas criticas e actuaes circunstancias contribuam a aniraar as especulagoes e tentativas do commercio; e quercndo sobre este importante objecto dar alguma providencia em utilidade do mesmo commercio: hei por bem prcstar o meu Imperial Beneplacito para o estabelecimento da Companhia de Se guradores que me foi proposta na Suplica inclusa. que acompanha os 14 artigos assignados pelos mesmos recorrente.s; etc. etc.*.
A «Boa Fe» era uma sociedade pot agoes, onde a responsabilidade dos acionistas era limitada ao valor das respectivas subscrigoes. e com condigoes bastante interessantes e algumas ate pitorescas na epoca atual. Como sejam:
a) a 6." estabelecendo que a morte de qualquer socio o afastara da Socie dade; ficando, porem, os herdeiros responsaveis pelos riscos pendentes.
b) a 7." explicitamente se referindo a obrigagao de haver um cofre, e um escritorio no qual «com limpeza e methodo» sejam feitos os assentamentos mercantis.
c) a 9." relativa a remuneragao dos diretores em percentagem da produgao. correndo, por conta dos mesmos, as" despesas dos auxiliares.
d) a 10." — deveras interessante, fixando ja um verdadeiro limite de retengao — estabelecendo cm cada navio no maximo de 3% do capital da socie dade, ou seja 12 contos.
Ate a nossa Independencia, sdmente mais duas companhias foram fundadas no Brasil, a «Conceito Publico», na Bahia, e a «Indenidade». no Rio de Janeiro, a primeira autorizada a funcionar pela Carta Regia de 24-10-1808 e a segunda por Resolugao de 5-2-1810.
Ha ainda a salientar, nesse periodo, a «Resolugao Regia» de 30-8-1820, definindo e regulando o processo das Avarias nos portos da Monarquia Portuguesa, em 28 meticulosos artigos, a qual, mesmo depois de nossa emanci-
pagao politica, ainda teve validade no Brasil, durante algum periodo.
O primeiro decreto realmentc Brasiieiro sobre seguros foi o de 29 de abril de 1828, autorizando a fundagao de «Sociedade de Seguros Miituos Brasiieiros», da qual podiam ser socios «negociantes que possuindo embarcagoes que naveguem em mar alto, se quizerem associar assignando pelo todo ou parte que tiverem em suas embarcagoes, sendo brasileiros, e sendo alem disso de reconhecido credito e probidade».
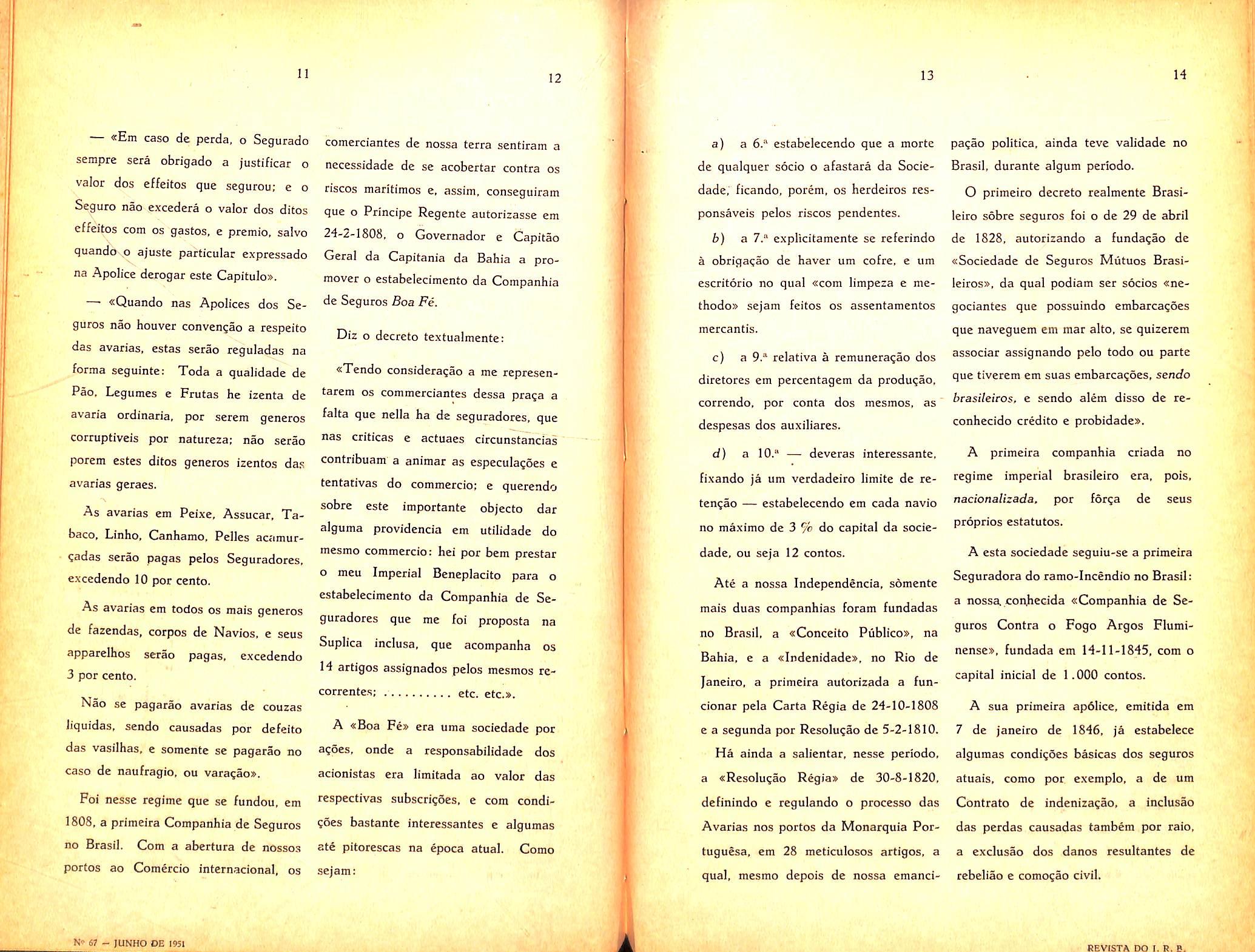
A primeira companhia criada no regime imperial brasileiro era, pois, nacionalizada. por forga de seus proprios estatutos.
A esta sociedade seguiu-se a primeira Seguradora do ramo-Incendio no Brasil: a nossa conh^cida «Companhia de Se guros Contra o Fogo Argos Fluminense», fundada em 14-11-1845, com o capital inicial de 1.000 contos.
A sua primeira apblice, emitida em 7 de Janeiro de 1846, ja estabelece algumas condigdes basicas dos seguros atuais, como por exemplo, a de um Contrato de indenizagao, a inclusao das perdas causadas tambem por raio, a exclusao dos danos resultantes de rebeliao e comogao civil.
Em 1850, com a promulga^ao do «C6digo Comercial», ainda em vigor, o seguro maritimo foi pela primeira vez regulado no Brasil, em todos os seus aspectos.
Sob o, seu influxo organizam-se inumeras empresas seguradoras, mesmo para a exploragao de outros ramos.
Na Provincia de 5)ao Pedro do Sul, a primeira Companh'a fundada, foi. na cidade do Rio Grande, a «Companhia de Seguros Maritimos Fide]idade», autorizada a funcionar pelo Decrefo n." 1.060, de 3-11-1852. com o objeto exclusive de tomar seguros maritimos.
Seu capital era de 300 contos de reis, dividido em a^oes de confo de reis. Outros pontos interessantes dos seus estatutos sao os seguintes:

a) O artigo 8.° que diz:
« ACompanhia toma seguros somente sobre navios ou mercadorias que sahirem deste porto, ou de outros portos para este; excetuam-se desta regra os navios ou mercadorias de negociantes desta Provincia, cuja navegagao tenha lugar do porto de Pernambuco {e intermediarios) ate os do Rio da Prata e vice-versa». & dificil de compreender a restrigao final deste artigo, podendose, porem, presumir que houvesse razoes, na epoca, para considerar mau
negocio os seguros de viagens entre Pernambuco e o Rio da Prata.
b) O art. 20." que proibia aos Diretores aceitar, em embarcacoes mercantes, mais de 8 % do capital da Companhia, em navio de gucrra, paquetc ou vapor, mais de 10 % limitando os seguros sobre cascos so ao risco de perda total.
c) O art. 22 que, no caso de guerra, ou «fundadas suspeitas de grandes hostiIidades», obrigava a convocar os socios para deliberar so^re o que fosse conveniente adotar, convocacao essa tambem obrigatoria toda vez que o prejuizo montasse a 1/3 do capital, quando novos riscos nao podiam ser tornados.
A Fidelidade, seguirara-se, neste Estado, ate o fim do seculo 19:
— A Companhia Esperan^a de Se guros Maritimos e Contra o Fogo na cidade do Rio Grande em 1858.
— A Companhia Providencia da Provincia de Sao Pedro do Sul — em Porto Alegre, em 1862.
— A Companhia de Seguros Mari timos e Contra o Fogo Esperanga. em 1862, no Rio Grande.
— A Companhia de Seguros Mari timos «Confian5a», na cidade do Rio Grande, em 1867.
A Companhia de Seguros Maritimos e Terrestres «Perseveran?a». ainda na cidade do Rio Grande em 1872.
T~ No ano de 1873, em Pelotas. a vossa\<iecana — «Companhia de Se guros Maritimos c Terrestres Pelotense».
— e, finalmente, em 1882, a Com panhia de Seguros Maritimos-Phenix de Porto Alegre.
Ate 1855 existiam apenas sociedades que cobriam a vida de escravos, e isto porque o «C6digo Comcrcial» no Capitulo II «Das coisas que podem ser objeto de seguro maritimo», proibia, em seu art. 686, inciso 2. o seguro sobre a vida de alguma pessoa livre.
Entretanto, ja em 7 de novembro de 1855, aprovados pclo Decreto n." 1.669, OS estatutos da Companhia Tranquilidade de Seguros de Vida (destinada especificamente «a Segurar em todo o Imperio do Brazil contra a mortandade de escravos, dcsdc a edade de dez ate scssenta annos»). estipulavam em seu ultimo artigo de n,® 33:
«Sendo o seguro de vida reconhecido por todas as nasoes da Europa e pelos Estados Unidos da America do Norte, como hum
benefido geral para a humanidade. esta Companhia no caso que nao va de encontro as Leis que regem 0 Imperio, se destinara a tomac 0 mesmo risco sobre pessoas llvres de ambos os sexos e edades, para o que nesta hyppotese havera disposigoes espedaes, que ficao sujeitas a approva^ao Imperial».
Assim, a primeira sociedade autori2ada a operar em seguros de pessoas livres foi a «Tranqui]idade», no Rio de Janeiro, com capital de seis mi! contos de rds.
Em I860 surgem as primeiras referencias a rcgulamentagao dos seguros. Sio OS decretos n.® 2.679, de 2-11-1860 — dispondo sobre a obrigatoriedade da apresentagao dos balangos e de outros documentos das sociedades e o n.® 2.711, de 19-12-1860, exigindo a autorizagao previa para funcionamento das companhias, com aprova^ao dos respectivos estatutos.
A, primeira seguradora estrangeira autorizada a funcionar no Brasil foi a «The Royal Insurance Company Ltd.», em 23-2-1864, que, poc coincidencia, aqui instaia a sua primeira agencia no -exterior.
A esta seguiram-se outras compa nhias alienigenas. inclusive para explo-
ra^ao do seguro de Vida. Disso decorre o Decreto n." 294, de 5-9-1895. aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidentc da Republica, e seu Regulamento de 1-11-1895, que regulava as operates das .socie dades estrangeiras de Seguro de Vida, obrigando-as. alem de outras normas, a empregar em valores nacionais o total das reservas de todas as suas apolices vigentes, e a decidir pela agencia do Brasil as propostas aqui feitas. O projeto desse decreto foi aprescntado no Senado Federal por Virgilio Damasio, sendo discutido e aprovado em menos de um ano, nao obstante forte debate levantado no Congresso por adversarios intransigentes. Essa lei representava, sem duvida, o primeiro passo nacionalista no seguro.

A ela seguiu-se. ja neste seculo, c decreto n.® 4.270. de 10-12-1901, co nhecido como «Regulamento Murtinho», primeira regulamenta^ao, em todos os seus aspectos, das opera^oes de seguros. Criava a «Superintendencia Geral dos Seguros®, diretamentc subordinada ao «Ministerio da Fazenda® e compreendendo as Superintendencias dos Segu ros Terrestres e Maritimos, e a dos Seguros de Vida, e continha, em 206 artigos, uma seric de disposi?6es sabias.
tendentes a ampla fiscalizagao das so ciedades seguradoras.
Entretanto, a a^ao das companhias estrangeiras foi como sempre perspicaz e tenaz, levantando grande celeuma contra o trabalho do grande Murtinho, e conseguindo, finalmente. ja no governo Rodrigues Alves. que fosse aprovada a lei n." 953, de 29-12-1902 consignando autorizagao para alteraqoes aconselhadas pela experiencia. Promul-gou-se. entao, o decreto n." 5.072, de 12-12-1903, que sacrificando os principios basicos da primeira regulamenta?ao, sintetizou excessivamente a materia, reduzindo-3 a apenas 72 artigos, criando um regime de exccqlo em favor de determinadas sociedades existentes anteriormente a esse regulamento. Estas continuavam «sujeitas as leis viventes ao tcpipo em que se instituiram ou as clausulas dos decretos que autorizaram a oiganizarem-sc aquelas que dependiam da autorizaqao do Governos. Para a mesma explora?ao, estabeleceu-se fiscalizacao rigorosa para umas sociedades. c absoluta libcrdade para outras.
A
guros® criada pelo Regulamento Mur tinho nunca funcionou e foi, entao, em 1904, que, pelo novo regime, se instalou
a sinspetoria dc Stguros», sob a dire^ao do Dr. Vergne de Abrcu.
Aparecendo em 1907. sob a inspiragao de uma empresa francesa, «Les Prevoyants de ]'Avenir», as «Cai.vas Mutuas de Pensoes c Peculio» foram N criadas. em quantidade, especialmente de 1910 a 1915. Segundo os comentaristas, foram essas instituigoes prejudiciais ao desenvolvimento do Seguro pois, que, organizadas sem base tecnica segura e e.xplorando a boa fe do povo. resultaram apenas em enriquecimento de pessoas desonestas.
Da inexistencia ou erro das bases tecnicas, for?ando os mutualistas a pagat anuaJmente uma cota muito su perior a que fora prevista, ao que muitos se recusavam por nao haver obriga^ao expressa. resultou que tais associacoes tenham desaparecido em sua quase totalidade.
Em 1916 foi promulgado o Codigo Civil Brasileiro onde sac estudados e regulados todos os seguros, inclusive vida, e exceto os maritimos que permanecem ainda sob a jurisdi<;ao do Co digo Comercial de 1850.
Pelo Decreto n." 3.724, de 15-I-19I9 regularam-se os Acidentes do TrabaIho, abrindo-se, assim, novos horizontes as classes trabalhadoras com a perspec-
tiva de inestimaveis beneficios e. indiretamente, abrindo novo caminho para atividades seguradoras.
No mes de junho de 1920 circuloii no Rio de Janeiro, o primeiro numero da «Rcvista de Seguros», criando-se, a.ssim, uma imprensa especializada.

Nesse nesmo ano (1920), em 31 de dezembro, e promulgado o Decreio n." 14.593 o qua), contra as bos.s normas legislativas, se reporta a jurisprudencia dos tribunais para manter uma situagao jurldica, criando-diivida. e nao clareza. £ assim que o seu artigo HO estabelecia que as companhias nacionais ou estrangeiras «preexisten£es aos regulamentos n." 4.270 de 1901 e 5.072, de 1903, ficam sujeitas as disposi?6es do presente regulamento. em tudo quanto nao atinja essencialmente a direitos adquiridos e irrevogaveis consoante a jurisprudencia firmada pelo Supremo Tribunal Federals.
Permanecia assim a situagao de excegao para algumas seguradoras. o que se tentou remover pelo Decreto n.'^ 16.738, de 31-12-1924, que criava, para todas, a igualdade dc tratamento. .sob pena de imediata liquidagao das
que nao se sujeitassem 4s suas normas. No entanto, tal decreto teve sua execucao suspense por uma nota do
Ministro da Fazenda no «Jornal do Coniercio», para decidir dos proiestos apresentados. Resultou disso uma situa?ao deveras anormal: de 1924 ate 1932 regulou-se o seguro per urn decreto revogado. sera se por em vigencia urn regulamento aprovado.
Em 11 de maio de 1923, funda-se o Comite Misto Riograndense de Seguros que, ncsse mesmo ano. orgamza a primeira Tarifa incendio no Brasil.
Nesse periodo, porem, e instituida pelo Decreto n." 5.470, de 6-6-1928, a obrigatoriedade das companhias apresentarcm «a Inspetoria de Seguros, para a devida aprovapao, as suas taxas minimas de premios, de acordo com OS dados tecnicoss.

O regime de exce^ao vigcntc desde 1903 em conseqaencia da revogagao do brilhante «ReguIamento Murtinho». pelo qual algumas sociedades nao estavam sujeitas a fiscalizagao total do Govfirno. so foi extinto, depois da Revolucao de 1930. pelo Decreto niimero 21.828. de 14-9-1932. Estabeleceu-se nessa legisla^ao o postulado juridico mundial da inexistencia do direito adquirido nas leis de ordem publica, predominando assim o interesse geral sobre o principio da irretroatividade.
Como consequencia dessa nova base de fiscaliza^ao ampla, reorganizou-se em 1934, pelo Decreto n.° 24.783. de 14-7-1934. a antiga Inspetoria de Se guros que. ja no novo Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio, passou a ser denominado «Departamento Nacional de Seguros Privados e CapitaIfza^aod.
Fato marcante na hisforia do Seguro e tambem o art. Ill da Constituicao de 1934. fixando o principio da nacionalizagao das empresas de seguros em todas as suas modalidades.
Foi a 26-2-1934 que se criou o Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitaliza^ao do Estado do Rio Grande do Sul, cuja carta sindical. entretanto. so foi expedida em 14 de agosto de 1942.
£ cm 1935, pelo Decreto n." 85, de 14 de mar^o, que se aprova o regulamento estabelecendo as normas para as operagoes de Seguro Contra Acidentcs do Trabalho.
Na Constituicao de 1937 e mantido 0 criterio da nacionaliza^ao das com panhias de seguros e. na vigencia dessa Carta Magna, consolidando as medidas de interesse nacional, e criado o Instituto de Resseguros do Brasil.
Ligeiro historko da criagao do I.R.B.
A ideia da criaqao de um orgao rcssegurador .surgiu em 1923. quando Decio Cesario Alvim foi diretor da Inspetoria de Seguros.
Estudou-se, entao, o estabelecimento de uma carteira de resseguros no Banco do Brasil. o que nao chegou a lograr execu^ao, apesar dos brilhantes cstudos e do esfor^o daquele dedicado oricntador da fiscalizaqao de seguro.
Apesar disso, a ideia frutificou, c novamente. foi o assunto cogitado com atengao, quando o Sr. Getulio Vargas foi Ministro da Fazenda. nao podendo ir avante dcvido a saida desse estadista do Ministerio. Porem, em nada se reduziu o entusiasmo dos tecnicos da reparti^ao fiscalizadora pela instituiqao de um orgao Nacional de rcsseguro, ja entao ainda mais acentuado, porque via nascer, sob os melhores auspicios. aparelho semelhante na Republica do Chile.
Foi entretanto. em H de fevcreiro
ciedades de seguros. Nao obtivera ainda soIu<:ao final esse projeto, quando, ja em 23 de julho de 1936 o entao Ministro Agamenon Magalhaes encaminhou ao Congresso um anteprojeto composto de duas partes distintas: a nacionalizagao das empresas de seguros e a cria^ao do Institute Federal de Resseguros. £sse trabalho foi longamcnte debatido pela Camera dos Deputados em suas comissoes e no plenario. havendo grande celeuma tambem na Imprensa, destacando-se o brilhante parecer dos atuarios Lino Sa Percira e Plinio Cantanhcde, no qual defendiam as criticas fcitas as bases tecnicas do projeto. No fim do ano de 1937, ao ser extinta a Camera, subsistia um substitutivo da «Comissao de FinanQass. criando o Institute Fe deral de Resseguros do Brasil. alterando, porem. sue estrutura, pela qual so o resseguro no exterior constituia seu privilegio.
dc 1935 que surgiu o primeiro projeto legislative sobre o assunto. de autoria do deputado Mario de Andradc Ramos, estabelecendo condiqocs gerais para a funda?ao do Banco Nacional de Res seguro c para a nacionalizaqao das so-
Na vigencia da ConstituiQao de 1937, foram. porem. ativados os estudos para a constituiqao do 6rgao ressegurador que finalmentc surgiu em 3 de abril de 1939 com o nome dc Institute de Resseguros do Bra.sil — I.R.B.
£ justo dizer que se iniciou entao. um novo periodo para a industria do
seguro no Pais. criando-se incentiyo a todas as companhias nacionais que, a sombra do resseguro automatico garantido pelo I-R.B.. puderam expandir suas opera^oes e assim competir. em igualdade de condi^oes, com as congeneres- cstrangeiras ou brasileiras de maior desenvolvimento. fi de notar que, em 1939, das sociedades nacionais, apenas uma percentagem inferior a 50% possuia contratos de "ressegnro automatico.
Os primeiros receios das companhias de seguros desapareceram quando, ao principiar suas opera?6es. o I.R.B calcuJou as tabelas de limites de reten^ao das sociedades no ramo Incendio. Os resultados justos a que se chegou. entao, foram totalmente'acatados pelas seguradoras, havendo. apenas. casos de entidades que pleitearam redugao do limite assim fixado. e nenhum exemplo de sociedade que tenha considerado pequena a retengao indicada pelo Instituto. Foi a primeira vitdria do I.R.B. que, utilizando-se de critdrios tecnicos de absoluta justiga, desfez a possivel impressao errada de, no seu beneficio, querer forgar a redugao de limites tecnicos das Compa nhias.
Conforme previa a lei criadora do I-R.B., foi baixada em 7 de margo de 1940, o novo regulamento da.s operagoes de seguros no Brasil (Decretolei n." 2.063), determinando a naciohzagao das empresas de seguro por meio do capital social, orgao de administragao e controle brasileiros, e tornando obrigatdrio, dentro de certos limites, os seguros incendio e transportes. cuja obrigatoriedade foi depois regulamentada pelo Decreto n." 5,901, de 20 de junho do mesmo ano.

Ao imcio das operagoes do Instituto,precedeu urn periodo de estudos, planejamento e instalagao. Nesta fase adotaram-se as providencias necessarias ao sucesso da empresa. Selecionou-se o pessoal. Organizaram-se os Estatutos, detalhando-se sob todas as formas. as grandes diretrizes tragadas na lei funda mental. Estabeleceram-se, por meio de urn rigoroso inquerito estatistico. as bases racionais, estaveis e «brasiieiras^ das operagoes de seguro e resseguro. Levantou-se o cadastro de plantas de todas as capitals e cidades principals do Brasil com a numeragao uniforme dos quarteiroes ou blocos de riscos.
Publicou-se o livro «Nog6cs Elementares de Scguros». E, finalmente, fi-xaram-se as normas de trabaiho para o-
ramo cm que se dcvia inaugurar o rcsseguro no o que sc deu no ano scguinte.
Os estudos e apuragoes realizados fndicaram logo o ramo Incendio para \ o iniPio de suas atividades. Nesse ramo se concentrava a maior massa de resseguros do Pais, cecca de 75 % do total das diferentes modalidades exploradas.
E assim a 3 de abrii de 1940, iniciava 0 I.R.B. as suas operagoes no ramo Incendio, mediante regozijo geral, cditando-se, concomitantemente. o primeiro numero da «Revista do I.R.B.s,
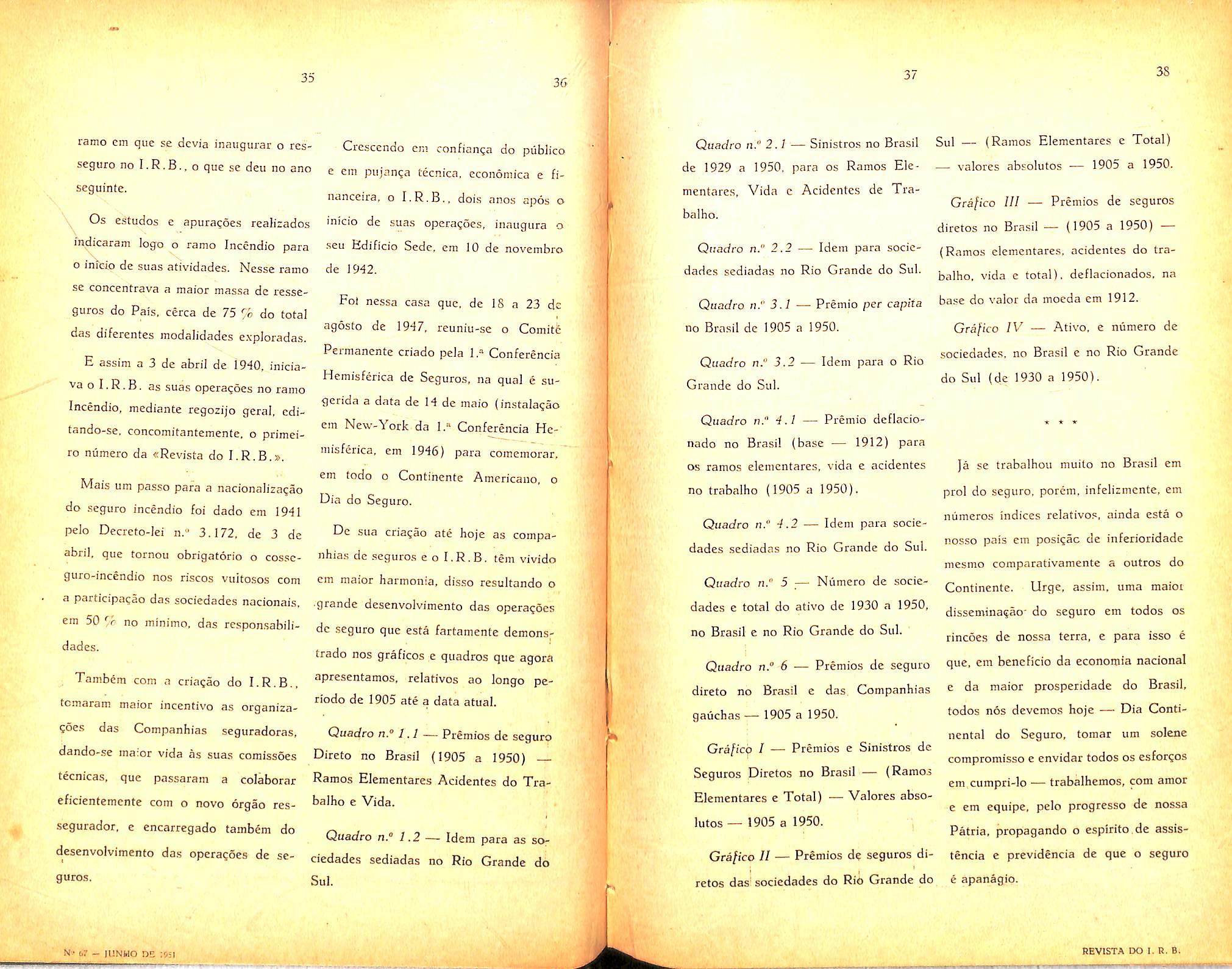
Mais urn passo pafa a nacionalizagao do seguro incendio foi dado em 1941 pelo Decreto-lei n." 3.172, de 3 de abril, que tornoii obrigatorio o cosscguro-incendio nos riscos vuitosos com a participa^ao das sociedades nacionais. em 50 '^r no minimo. das responsabilidades.
, Tambem com a criagao do I.R.B., tcmaram maior incentivo as organizagoes das Companhias seguradoras, dando-se ma:or vida as suas comissoes tecnicas, que passaram a colaborar eficientemente com o novo orgao ressegurador, e encarregado tambem do desenvolvimento das operagoes de seguros.
Crescendo cm confianga do piiblico e em piijanga tecnica, cconomica e financeira, o I.R.B., dois anos apos o inicio de suas operagoes, inaugura o seu Edificio Scde, em 10 de novembro de 1942.
Foi nessa casa que, de 18 a 23 de agosto de 1947, reuniu-se o Comitfe Permanente criado pela l." Conferencia Hemisferica de Seguros, na qual e sugerida a data de 14 de maio {instalagao em New-York.da 1," Conferencia He misferica, em 1946) para comemorar. em todo o Continente Americano, o Dia do Seguro.
De sua criagao ate hoje as companhia.s de scguro.s e o I.R.B. tem vivido em maior harmonia, dis.so resultando o •grande desenvolvimento das operagSes de seguro que esta fartamente demonstrado nos graficos ,e quadros que agora apre.sentamos, relatives ao longo pe riod© de 1905 ate a data atual.
Qaadco n." 1.1 — Premios de seguro Direto no Brasil (1905 a 1950)
Ramos Elementares Acidentes do Trabalho e Vida.
Quacfro n." 1.2 — Idem para as sor ciedades sediadas no Rio Grande do Sul.
Quadro n." 2.1 — Sinistros no Brasil de 1929 a 1950, para os Ramos Ele mentares, Vida c Acidentes de Trabalho.
Quadro n." 2.2 — Idem para socie dades sediadas no Rio Grande do Sul,
Quadro n." 3.1 — Premio pet capita no Brasil de 1905 a 1950.
Quadro n." 3.2 — Idem pai'a o Rio Grande do Sul.
Quadro n." 4.1 — Premio deflacionado no Brasil (base — 1912) para OS ramos elementares, vida e acidentes no trabalho (1905 a 1950).
Quadra n." 4.2 — Idem para socie dades sediadas no Rio Grande do Sul.
Quadro n." 5 ■— Numero de socie dades e total do ativo de 1930 a 1950, no Brasil e no Rio Grande do Sul.
Quadro n." 6 — Premios de seguro direto no Brasil e das. Companhias gauchas — 1905 a 1950,
Grafico I — Premios e Sinistros de Seguros Diretos no Brasil — (Ramos Elementares e Total) — Valores abso lutos— 1905 a 1950.
Grafico 11 — Premios de seguros di retos das' sociedades do Rib Grande do
Sul — (Ramos Elementares e Total) — valores absolutos — 1905 a 1950.
Grafico HI — Premios de seguros diretos no Brasil — (1905 a 1950) (Ramos elementares, acidentes do trabalho. vida e total), deflacionados, na base do valor da moeda em 1912.
Grafico IV — Ativo. e numero de sociedades, no Brasil e no Rio Grande do Sul (de 1930 a 1950).
Ja se trabalhou muito no Brasil em prol do seguro, porem, infelizmcnte, em numeros indices relativos, ainda esta o nosso pais em posigac de inferioridade mesmo coraparativamente a outros do Continente, Urge, assim. uma maior disseminagao- do seguro em todos os rincoes de nossa terra, e para isso e que. em bencficio da economia nacional e da maior prosperidade do Brasil, todos nos devcmos hoje — Dia Conti nental do Seguro, tomar um solene compromisso e envidar todos os esforgos em cumpri-lo — trabalhemos, com amor e em equipe, pelo progress© de nossa Patria, propagando o espirito.de assistencia e previdencia de que o seguro e apanagio.
Em fevereiro dc 1933. ao ser baixado o regulamento das Sociedades de Capitalizagao, foi muito bem vaticinado no item 2." da Exposi<;ao dc Motives, assinada pelo entao Ministro Oswaldo Aranha. quc;

«As poucas sociedades de capitalizagao existentes cntre nos ainda nao sairam do perlodo em que se copia o mesmo inodelo: mas a concurrencia ha de torna-las engenhosas, c outros pianos surgirao cada vez mais favoraveis ao publico».
Realmente ja em 1935 existiam quatro companhias, em 1940, cinco, em 1945 seis e em 1948 quinze sociedades operavam em Capitaliza^ao. No quadro, adiante apresentado. pode ser apreciado o processo das so ciedades de capitaliza^ao no Brasil, pela evolugao das seguintes principais
Quanto a engenhosidnde de outros pianos que surgiriam cada vez mais favoraveis ao piibiico. pode-se dizer lambem ter sido acertada a profecia. Assim. surgiram outros pianos introduzindo as novidades de sorteio progressivo favorecendo melhor os portadores perseverantes: sorteio em dobro, introduzindo de leve, dentro do regula mento, um atrativo maior de sorteio, de modo a proporcionar ao corretor argumentos para persuadir o portador;
outros em que o capital sorteado e o valor nominal acrescido do valor de resgate, ou acrescido de uma importancia para pagamento do imposto de renda, de modo a ser sorteado real mente 0 valor nominal do titulo: etc. Com as altera?6es nccessSrias. a formula fundamental do prfemio mensal. nesses pianos e:
onde:
n — CO prazo em mcses de duragao do contrato
m e o pra-Q em meses de pagamento do premio
^ probabilidade de saida de um
tituIo.,^m um sorteio mensal
p == J-q
K = pv 1 — K" 1-K
Ct — CO capital pagavel no t." sorteio
Cn — e 0 capital pagavel na e.vpiragao do contrato
Inic.almente. havia preferencia pelos pianos em.que o premio era de ordem 2"/ escolhendo-se os valores de n e in geralmente altos, limite regulamentar de 360 meses e q (taxa de sorteio) pequena e os carrcgamentos usados eram de ordem de 15 ',4 do premio comercial.
A experiencia foi porem mostrando haver interesse dos portadores em diminuir os prazos n e m. as.sim como foi verificado que com o encarecimento da vida. as despesas das sociedades de capitalizacjao, para corretagem. cobranga, administrapao eram sistematicamentc tendentcs a ultrapassar os limites regulamentares. Comecaram entao a surgir pianos de premios 3 com carrcga mentos mais elevados da ordem de 20 9c ou mais do premio comercial, para atender, alem do crescimento de despesa ja aludido, a uma nova despesa; o selo de recibo.
Com efeito, para os tituloa mais comuQs de valor nominal de ...
CrS 10,000.00 OS pianos primitivps cujo premio mensal era Cr$ 20.00 estavam isentos do selo de recibo. ja para pianos de 3 esse premio sendo de Cr$ 30,00, era e.xigido o recibo selado.
Surgiu com isso um impasse nuiito serio para as sociedades de capitalizai;ao. pois. a principio o selo do recibo era para as quantias pequenas. superiores a Cr$ 20,00, igual a um selo federal de 50 centavos, ao qual foi depois acrescentado um selo dc educagao de 20 centavos. fiste ultimo, por sua vez, foi aumentado em pequeno espago de tempo para 40 centavos. para 80 centavos. para Cr$ 1.50. Dcsta maneira. a despesa com selo de"recibo em cada premio de Companhia de Capitalizacao passou de Cr$ 0.50 para Cr$ 2,00 num espa^o de 7 anos apenas. Em relagao a um premio de Cr$ 30.00. essa despe.sa. que representava em valor relative 1,7%. passou a representar 6,7 % aumento esse que nao foi previsto na maioria das sociedades de Cap'italizagao.
Pica posto aqui esse serio problema das sociedades de capitaliza^ao para que OS interessados se batam por uma solugao; aconselhando-se. pela simplicidade a eleva^ao do limite minimo de Cr$ 20,00 para Cr$ 30,00 da importancia iscnta de selo dc recibo.
Uma mcdida urge para tirar de serias dificuldades as Sociedades de Capitalizagao que ja possuiam compromissos relatives a economias publicas. (em 1948) de elevado montante de CrS 1.663.893.143.00 em uma dernonstra^ao, insofi.smavel de gcande aceitacao e confianca publica.

Sejam minhas primeirr..s palavras de agradecimento a este Comite, a seus nobre Prcsidente e Diretoria. pela honra que me dispensaram convidandomc a esta Conferencia, e a v6s minhas senhoras c meus senhores pela honra que me fazeis em assisti-la.
Proponho-me apresentar-vos, sob um aspecto panoramico, a posi^ao do Proieto do Codigo de Navega;ao Comer cial no quadro do jus condito maritimo.
•E materia vastissima, que, para caber na cstreita moldura de uma palestra, tive que reduzir ao essencial. Eis porqur espero me perdoareis a passagein
a Vol d'oiscaii sobre os textos comparados. os cortes c lacunas inevitaveis num trabalho esqucmatico, assim como
•a nusencia das temissoes as fontes onde coihi OS clementos e fatos que justificam as conclusoes apresentadas.
mas podem ser consideradas. mais do que quaisquer outras. relates neces"saiias que decorrem da natureza das • comas. Nao se prendem a forma dos governos, aos preconceitos das castas. aos USDS peculiarcs das diferentes na^oes, eis que asscntam. principalrnente, sobre os imperatives imutaveis da navegatjao.
O direito onde deparamos menos antagonismos na doutrina. e menos divcrgenc'as nas legisla^oes e, por ccrto, 0 maritimo. porque, como explica cloqucntcmcnte Desjardins, suas nor-
Advem dai que os monumentos do direito maritimo. no tempo e no espaqo, em todos os povos. c todas as ragas dcixam. em quern os cstuda. uma impiessao de parentesco muito proximo, de flagrahte'similitude — fades non omnibus itna ncc divcrsa tamcn qualis deoct esse sororum — de faces que nao sac iguais, ncm diversas, mas scmeIhnntes como de irmaos. Todos eles contem principios identicos, disposi^oes paraielas. Esse fundo comum as legislaqoes nauticas do globe constitui o direito maritimo mundial. o qual. conquanto esquecido e desprezado por aquelas na?6es que codificaram as instituicoes relativas a navcga^ao, existe vivedouro por toda pai'te onde, a sxemplo da Inglnterra. o elemento consuetudinario predomina. ou onde. como nas ConvengOes Internacionais, o
pensaraento juridico universal encontra cxpressao.
£ fafo, porem. que no direito escrito atual, as leis do mar aprcsentam divergencias, algumas delas bem acentuadas. , No'ando-as, podemos dividi-Ias em \quatro grupos. Tres deles, que refcnremos em primciro lugar, sao tradicionais e se forinaram em razao dos determinantes raciais, geograficos e historfcos que separaram. a partir da Idade Media, as na?6es europeias na sua evolugao formativa. inspirando-as com idefas juridicas diferentes. fisses tres grupos podem ser designados como mcditcnaneo, nordico e atlantico.
O grupo mediterraneo tem sua fonte remota no Consolato del Marc e como principal monumento a Grande Ordenafao Francesa sobre a Marinha. de 1681, que o Code de Commerce em vigor repete com pouca altcragao £sse grupo abrange todas as na^oes sob a influencia cultural da Franca, quais sejam as das peninsulas ibericas e balcanica, Marrocos, Egito c Turquia, na Europa, e as nagoes latinas, nas Ame ricas, do norte e do sul. A esse grupo pcrtence a parte II do Codigo Comercial Brasileiro, sobre o comercio mari time.
A indiscutivel liderenga que os meritos da Grande Ordenagao conquistaram outrora para a Franga, esta obliterada, porem, dcsde muito tempo.
Sua legislagao como a de todos os paises que a i.nitaram esta cm ruinas. Nao conseguiu colocar o direito mari time a par das tiansformagoes por que pas.sou a navegagao e comercio internacionais. Ainda hoje aplica ao possante transatidntico, verdadeira cidade flutuante em constante ligagao com a
terra, atraves de seus aparelhos radiotelegraficos, leis feitas para embarcagoes miniisculas que sulcavam solitarias a imensidao dos occanos. Normas concebidas para velciros cufas viagens dependiam dos caprichos do tempo e .sopro inconstante dos ventos, sao referidas a paquetes que sacm e chegam em dias certos e horas marcadas. Preceitos que visam contratos feitos com o capitao, carregamento e coiocagao de mercadorias pcia tripulagao, sac invocados para reger os ajustes com amadores e seus agentes, e organiragoes terrestres de estivadores. Alem disso. se apresentam pejadas de instituigocs que morreram, e textos que caducaram. £ uma legislagao sem raizes no presente.
O grupo nordico tem como tronco a parte IV do Codigo Comercial Alemao dcdicada a navegagao, que .se inspirou nas Lcix de Whbij e Estatutosi Hanscaticos Expandiu-se por todos os paises que, por afinidades de raga ou de culture, modelaram suas instituigocs pelo figurino germanico. como a Suecia. Noruega. Dinamarca, Japao e Russia. £ uma legislagao menos decrepita que a do grupo mediterraneo, mas tambem inadequada a realidade maritima atual.
O grupo Atlantico, decorreu dos Rooles d Oleron. Forniou-se em conseqiiencia da expansao colonial britanica, abrangendo por isso, alem da Inglaterra, OS Estados Unidos, e os dominios da Commonwealth britanica.
£s.se grupo nao petrificou, como os antecedentes, seu direito maritimo. Deixando uma larga parte dele ao clemento consuetudinario ensejou as suas legislagoes uma evolugao mais livre, e por isso mesmo mais completa e mais perfeita. R inegavel a predomi-
nancia atual desse grupo na.s leis modcrnas- A.s conquistas juridicas realizadas pelas Convengoes Internacionais, .sao. niaiormcnte. conquistas do grupo atlantico.
O quarto grupo, afinal, comp6e-sc dos prcceituarios que mantem uma posigao a parte, e comprcende o Co digo finiandes, a lei chinesa sobre o comercio maritimo de 1930, e, sobretudo. o Codigo Italiano da Navegagao, inegavelmente o edificio juridico mais notavel. construido no Direito Maritimo depois da Grande Ordenagao. Dele falaremos, com maior largueza, no seguimento desta palestra.
Tendo descrito a situagao do direito maritimo, no mundo, precise se laz um ligeiro exame de suas tendencias, na atualidade, para bem perceber as razoes que levaram os redatores do Projeto brasileiro em estudo, a situa-lo na posigao que tomou no quadro internacional.
Essas tendencias revelam uma curiosa involugao.
Pois, aprcciando as veneravcis fontes de onde fluiram as legislagoes em vigor no universe, o Consolato del Mare, as leis de V/isby, e os Rooles d Oleron, vcrificaremos que foram o patrimonio juridico comum de certas zonas, independentemcnte das divisoes raciais e politicas dos povbs que nelas habitavam. Eram, em suma, leis internacionais.
E se remontarmos mais alem no passado. ate a antiguidade classica. notaremos em forga, uma unica lei, — a let de Rhodes. Perante ela, inclinou-se atk a prepotencia romana. como nos da noticia Volusio Marciano no rcscrito

do imperador Antonino que dizia Ego quidcm mundum dominus, lex autem man's, lege in Rhodia — «Sou senhor do mundo, mas nao dou leisao mar, porque a lei do mar e a Rhodio». A es.se internacionalismo que ja existiu. tantos seculos faz, e que tende atualmente o direito maritimo. Volta ele ao seu ponto de partida descrevendo o circulo evolutive de Vico. Efctivamente o abandono da lei maritima comum nao obedeceu a nenhuma razao logica. Sua transformagao em leis nacionais foi ditada, nos diversos paises, em fungao da soberania que estes passaram a se atribuir sobre o mar, e no intuito de protcgerem suas propriasfrotas, isto e, por motives de estado e nao motives juridicos. Pesando estes, nao se atina como, no vasto itnperiode Netuno, nesses occanos onde as viagens e transportes estao submetidas as me-smas necessidades e as mesmas boas ou mas venturas, deva prevalecer diferente ordem juridica.
His porque a ideia de irmanar. em todo o gldbo, as leis do mar, so en contra fracos opositores a legiao de entusiasmados paladinos que a preconizam. Tres nagoes — a Suecia, a Noruega e a Dinamarca — tornaram-se uma realidade, adotando o mesmo co digo nautico. O trabalho das Con vengoes Internacionais, infelizmente interrompido e perturbado pelas atrozcs guerras que dilaceraram ncste seculcc nosso planeta, conseguiu contudoaplainar as mais agudas dcntre as divergencias que separavam, na doutrina c na lei, os dircitos maritimos dos povos civilizados. Dia a dia vemos essas Convengoes passarem do campo inter-
nacional para o nacional. aumentando o cabedal comum, e alimentando a esperan^a para um future nao muito remote, de restabelecimento do direito maritime universal.
O projeto Adroaldo Costa nmito justamente cenhecido pelo nome desse eminente brasiieiro que, come Ministro da Justi^a tomeu a iniciativa da reniodelagao da lei comercial. e que atualmente, come deputado, o defende no Congresso Nacional. foi elaborado sob OS auspicios do I.R.B. per uma Comissao de que participei. juntamentc com OS Drs. Trajano de Miranda Valverde. Adalberto Darcy e Fernando Bastos de Oliveira. Visou dois objetivos — o primeiro colocar leis brasiJeiras de acordo com as condigocs atuais da navegagao mercante — o segundo aproxima-la tanto quanto permitem os interesses nacionais, do ideal da internacionalizagao.
Por isso repudiou a tradigao que unia o direito nacional ao grupo mediterraneo, amda obedecida nos projetos de Ingles de Souza e de Hugo Simas, apro.ximando-se das ideias juridicas dos grupos atlantico, cuja tecnica contudo nao acolheu, de vez que inadaptavel no Brasil. come sempre obedeceu a lei escrifa. Nem foi ate onde se langou o Projeto de Haddock Lobo, Stoll Gon^alves e Roberto Bruce, ainda em estudo na Comissao de Marinha Mercante. isto e. a transliteragao para 0 Brasil. do Codigo Italiano de Nave gagao, menos na sua parte segunda. Este monumento. promulgado a 30 de margo de 1942, obra imensa do jurisconsulto SciALOjA. divide-sc em
quatro partes, subdivididas em livros e uma intiodugao. que trata do direito internacional privado. Na primcira parte se integram quatro livros. o pri meiro dos quais contem a organizagao administrativa da navegagao. So nos livros segundo" e terceiro cogita das materias propriamente de direito maritimo privado. O iivro quarto dispoe sobrc as causas maritimas nos jutzos administrativos e comuns. Na parte segunda o Codigo disciplina o direito aereo. privado e administrativo. Na parte terceira estabelece o direito penal marjtimo e aereo. Na parte quarta os orgaos e atiyidades administrativas da navegagao.

O projeto Adroaldo. cmbora. tenha liaurido do Codigo Scialoja varias ligoes, achou de bom aviso dissociar-se da sua tecnica. A dicotomia de um Codigo maritime com um Codigo aereo, alias, propria ao Codigo Italiano. e a nenhum outro, nao e defensavel. no Brasil. O Codigo do Ar e a Constituigao Federal que. no sen art. 5.", XV. a. refere o direito aeronautico. como direito independente. a par dos direitos. comercial penal, processual, eleitoral e do trabaiho, consagram. aqui. a sua autonomia.
Pareceu fambcni a Comissao ilogica a reuniao do direito substantive, com o direito administrativo. num Codigo de Navegagao. embora constc de varias legislagoes entre as quais o Merchant Shipping act. ingles de 1854. c figure do projeto Haddock Lobo — Stoll Bruce. O direito administrativo maritimo, efetivamente. nao e estavel como o direito maritimo privado. Enquanto
este so agora mudou, e isso porque a navegagao sofreu transformiigao radical, aquele tem passndo por inumeras remodelagoes. visto como dcpende da forma do governo. das injungoes politicas. da tecnica dos transportes. que mudam continuamente. £sse direito, portanto. nao pode ficar congelado num Codigo. So OS regulamentos podem tcr a fle.xibilidade necessaria para adaptarem-se imediatamcnte. como requer o bem pi'iblico. a quai.squer novas condigoes. ou situagoes que surgirem, rccomendando sua reforma. Os retoques a um Codigo aprovado. mesmo ligeiros, -sao sempre uma tarcfa dificil e lenta. como dificil c lento e o trabaiho norma tive nos Congresses, onde as discussoes politicas tem prcferencia sobrc a feitura das leis. Tcmos a vista o depoimcnto dc nosso Codigo Comercial ainda tal como feito ha mais dc um seculo, nao obstante ter ficado tao obsoleto quanto o Consolato del Mare ou a Grande Ordenagao. A matcria penal e processual tambem pareceu a Coinissao fora de lugar num Codigo de Navegagao, cmbora se po.ssa apresentar ncsse sentido o cxemplo de varies Codigos. alem do italiano. como sejam os cscandinavos c o suigo. Portanto. na .sua tecnica, o Projeto foi conscrvador. O seu arcabougo segue com poucas alteragoes. as linhas do Codigo Comercial. No que concerne porem os principios. as fontes. as notaias, o afastamento e radical, porque nao poderia o Projeto colimar seus objetivos de modernidade e internacionalizagao continuando pelos mcsmos ominhos juridicos. Nao foi sem maduro e conscicncioso.estudo, quo a Co missao tomou esse partido. porque sabia que uma lei vigcntc, que tem seu enten-
d
imento esclarecido e fixado pela jucisprudencia. e um cnbcdal prccioso que nunca se deve. levianamentc. dissipar. A irrcmediavel caducidade. porem. de quasc toda a lei naucica brasileira. nao permite. porem, nein mesmo. uma tentativa de rejuvenescimcnto. Outras normas terao que presidir a navegagao.
O examc dcssar. inovagocs do pro jeto, no direito comparodo, constitmra 0 seguimento desta palestra.
O conceito real, que na maior parte das legislagoes maritimas prevalece ao pcssoal. e tambem o do Projeto. Eis porque principia com disposigoes relativas ao navio. cnfrentando o perigo de sua dcfinigao. como o fizeram muitas legislagoes (notadamente o Egito. Espanha, Colombia. Chile, a Lei Belga de 16-2-1908). Ficou com a classica nogao de Ui.piano — naris etenim ad hoc paratur ut nariget. tal como a recditou Casarf.giS. Nao distinguiu como a Holanda. Alemanha e Bdgica, o navio interior, porque suas regras sac tanto para o mar, como para os rios, logos c canais navegaveis do pais. Ao contrario da tonelagem que e o dos Codigos cscandinavos e da Lei Chinesa, preferiu o das operagoes lucrativas dc navegagao que e o da lei Belga. Conserva, como alias toda.s as legislagoes, ao navio, a natureza do movel. snjeito porem a regime especial. Inova porem na definigao dos acessorios e pertenccs. nogoes que, no direito estrangeiro, (com excegao do italiano o qua! ali^s so precisa o entendimento dos pertences art. 246) ainda estao entregues a doutrina, alias, bem contraditoria.
Depois do navio nosso Codigo Coniercial. ad-mstar do grupo mediterraneo trata dos privilegios, e disposigoes relativas a agoes reais a que possam dar ]ugar.
Neste particular e que menos se entendiam as legislagoes. As do grupo mediterraneo se caracterizavam pelo grande numero de credores privilegiados, a origem puramente contratual dos creditos, e exclusao dos credores por abalroagao que considera quirografarios tao somente. Variam muito na ordem de dassificagao. tendo isso de comum. porem, que seguem o navio qualquer que seja o seu proprietario, e depois de sua venda judicial o prego, O grupo atlantico distingue os mari time liens, privilegios sobre o navio e frete. os statutory liens, que correspondem aos creditos do reboque, mortgage, e aprovisionamento. e os liens possesorij. por creditos de consertos.
O grupo nordico faz uma enumeragao dos creditos privilegiados a que da execugao so sobre a fortuna ao mar do armador. e.vcluida sua /ortuna pessoai.
Todas essas divergencias foram, pacificadas na Convengao Internacional de Bru.xelas de 1926, a qual foi aprovada no Brasil pelo Decreto n." 351 de 1 de outubro de 1935. As Ids maritimas posteriores a essa Convengao, como a chinesa, a italiana {e outras mais) ja a integraram no corpo do seu direito. o que tambem fez o Projcto. Somente essa matcria, como nas legislag6es nbrdica.s. consta de um titulo h parte {titulo VI) c nao esta englobada
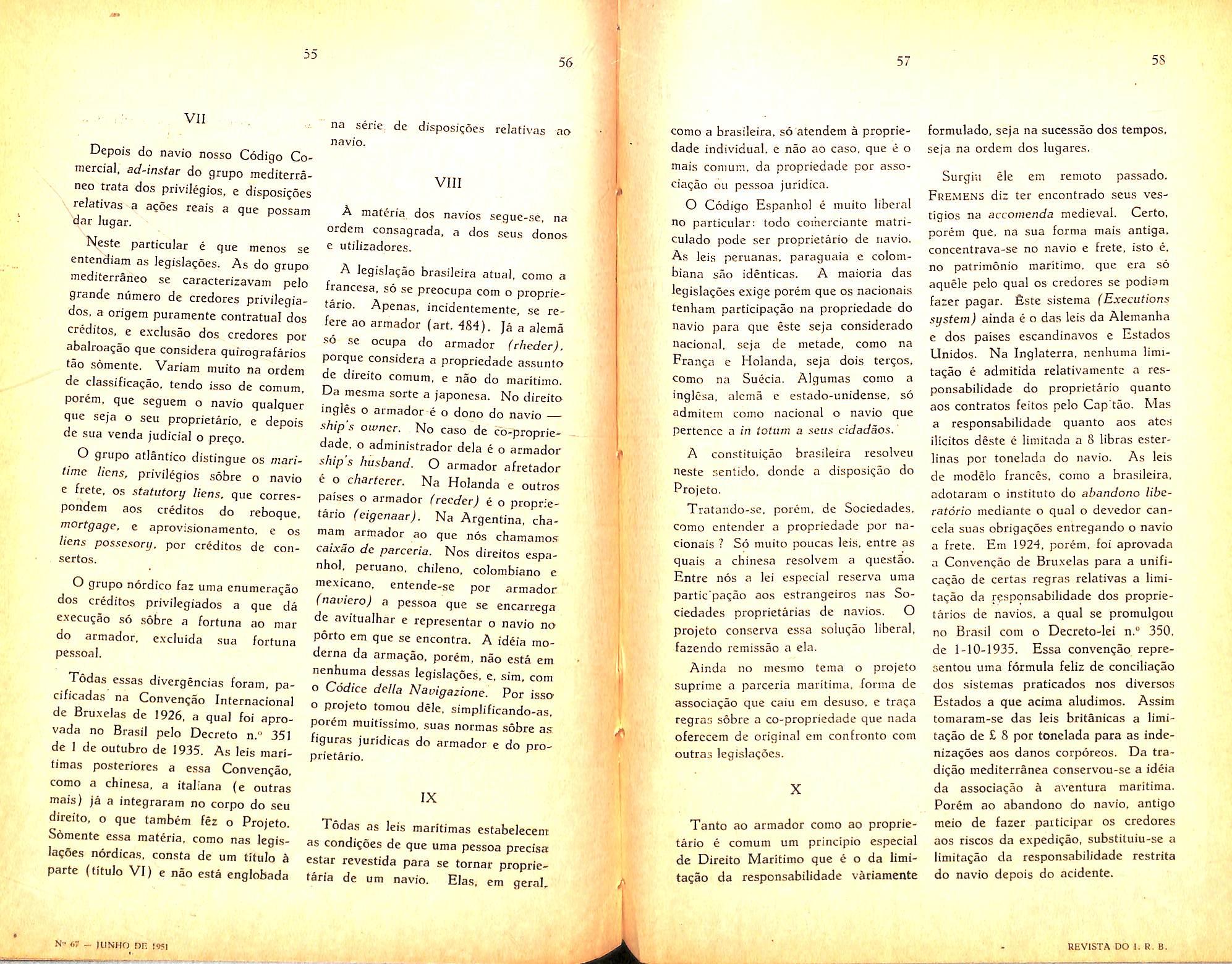 Vlll
Vlll
A materia dos navios seguc-se. na ordem consagrada, a dos seus donos e utilizadores.
A legislagao brasileira atual, como a francesa, so se preocupa com o proprie tario. Apenas, incidentemente, se refere ao armador (art. 484). Ja a alema ■SO se ocupa do armador (rheder), porque considera a propriedade assunto de direito comum, e nao do maritimo. Da mesma sorte a japonesa. No direito ingles o armador e o dono do navio ships owner. No caso de co-propriedade. o administrador dela e o armador ship s husband. O armador afretador e 0 charterer. Na Holanda e outros paises o armador (recder) e o proprie tario (eigenaar). Na Argentina, chamam armador ao que nos chamamos caixao de parceria. Nos direitos espanhol. peruano, chileno. colombiano e mexicano. entende-se por armador (nauiero) a pes.soa que se encarrega de avitualhar e representar o navio no porto em que se encontra. A ideia moderna da armagao. porem, nao esta em nenhuma dessas legislagoes, e, sim, com 0 Codice delta Navigazione. Por i.sso o projeto tomou dele, simplificando-as, por6m muitissimo, suas normas sobre as figuras juridicas do armador e do pro prietario.
como a brasileira. so atendem a proprie dade individual, c nao ao caso, que e o mais comum. da propriedade por associagao ou pessoa juridica.
O Codigo Espanhol e muito liberal no particular: todo comerciante matriculado pode ser proprietario de iiavio. As leis peruanas. paraguaia e colombiana sno identicas. A maioria das legislagoes exige porem que os nacionais tenham participagao na propriedade do navio para que estc seja considerado nacional, seja de metade, como na Franga e Holanda, seja dois tergos, como na Suecia. Algumas como a ingicsa. alcma c estado-unidense, so admitcm como nacional o navio que pertcncc a in fotum a seus cidadaos.
A constituigao brasileira resolveu neste sentido. dondc a di-sposigao do Projeto.
Trataudo-se. porem, de Sociedades. como cntender a propriedade por na cionais ? So muito poucas leis. entre as quais a chinesa resolvem a questao. Entre nos a lei especial re.serva uma partic pagao aos estrangciros nas So ciedades proprietarias de navios. O projeto conserva essa solugao liberal, fazendo remissao a ela.
Ainda no mesmo tema o projeto suprimc a parceria maritima. forma de associagao que caiu em desuso, c traga regras sobre a co-propriedade que nada ofercccm de original cm confronto com outras legislagoes.
Todas as leis maritimas estabelecem as condigoes de que uma pessoa precisa estar revestida para se tornar proprietaria de um navio. Elas, em geral.
Tanto ao armador como ao proprie tario e comum um principio especial de Direito Maritimo que e o da limitagao da responsabilidade variamente
formulado, seja na sucessao dos tempos, seja na ordem dos lugares.
Surgiu ele em remoto passado. Fremens diz ter encontrado seus vestigios na accomenda medieval. Certo, porem que, na sua forma mais antiga, concentrava-se no navio e frete, isto c, no patrimonio maritimo, que era so aquele pelo qual os credores se podiam fazer pagar. £ste sistema (Executions system) ainda e o das leis da Alemanha e dos paises escandinavos e Estados Unidos. Na Inglaterra, nenhuma limitagao e admitida relativamentc a res ponsabilidade do proprietario quanto aos contratos feitos pelo Cap'tao. Mas a responsabilidade quanto aos atcs ilicitos deste e liniitada a 8 libras esterlinas por tonelada do navio. As leis de mcdelo Frances, como a brasileira, adotaram c institute do abandono liberatorio inediante o qual o devcdor canccla suas obrigagoes entregando o navio a frete. Em 1924, porem, fol aprovada a Convengao de Bruxelas para a unificagao de certas regra.s relativas a limitagao da responsabilidade dos proprie taries de navios. a qual se promulgou no Bra.sil com o Decreto-lei n." 350. de 1-10-1935. Essa convengao repre■sentou uma formula feliz de conciliagao dos sistemas praticados nos diversos Estados a que acima aludimos. Assim tomaram-se das leis brltanicas a limitagao de £ 8 per tonelada para as indenizagoes aos danos corporeos. Da tradigao meditcrranea conservou-se a ideia da associagao a aventura maritima. Porem ao abandono do navio, antigo mcio de fazer paiticipar os credores aos riscos da expedigao, substituiu-se a limitagao da respon.sabilidade restrita do navio depois do acidente.
O projeto incorporou essa Convengao como o fizeram a Balgica, a Holanda a Ital'a c outros.
-<A seric de disposi(;6es que o projeto consagrou ao Capitao teve por fim retirar-Ihe dc jure fun(;6es e responsabiiidades que desdc muito nao tern dc fato. O Capitao de hoje, coir: o naiiderus das eras romanas e medieval que tinha seus poderes limitados pclo magister navis ou pelo senijor de la nau. nao e mais o dono absolute do navio, (maitrc apres D:eu) contratando tripulagao e fretamentos. responsavel como depositario pcia carga, como o descrevcm as ieis dos tres grupos tradicionais.
apenas o primeiro proletario do mar.
O Projeto, por isso, inspirou-se para redagao do capitulo I do titulo III, na lei chinesa e no Codigo da Navega^ao italiano, e nas leis em vigor no Brasil. sobre Marinha Mercante e Capitanias que nesse particular invadiram o territorio do Codigo Comercial. Retiroii do capitao todas as funqoes e responsabilidades comerciais, deixando-lhe linicamente com as de direqao do navio e tnpulaqao, e de representante do poder publico a bordo. Conservou-Ihe porem o direito tradicional de vender as mercadorias da carga, pertences e acessorios, e ate mesmo hipotecar o navio. no case de necessidade comprovada. Para isso assenta regras apropriadas, imitadas do Codigo Comercial espanhol (arts. 611 a 617), com mais siraplicidade e menor severidade.
As disposiqoes relativas a gcnte do mar, podem pertcncer ao direito inaritimo privado e ao direito marltimo admin;strativo. Nao e nitida a separaqao de suas respectivas matcrias. mas em quase todas as naqoes do globo o pessoal navegante forma uma classe sujeita a disciplinas especiais dentro e fora do direito privado da navegaqao. como quer o projeto.
As regras do Projeto se inspiraram na convencao intcrnacional de Genebra de 23 de novembro dc 1921, que nao foi ratificada pelo Brasil embora o tenha s:do peln Alemanha, Australia, Bdgica, Bulgaria. Cuba... Finlandia, Franqa, Grccia. Italia, Japao, Luxem-" burgo, Noruega, Polonia e Succia.

O Projeto, so fez direito inteiraniente novo no Brasil, com o capitulo V que cogita da indenizaqao por naufragio. A lei vigente (Codigo art. 558) prescreve que no case de presa ou naufragio, a tripulaqao nao tern direito as .soldadas vencidas. Esta disposiqao barbara tomada do Codigo Frances, foi repetida por muitos outros — Uruguai, Salva dor, Peru, Venezuela, Honduras, Me xico, Nicaragua, Argentina, Portugal e Holanda.
Diversamente dispoem as legislaqoes do grupo nordico, as quais. com maior eqiiidade, restringem, mas nao anulam nessas ocasioes. o direito dos tripulantes. A Convenqao de Genebra dc 16-3-1923. seguiu esse grupo, e o Pro jeto, a Convenqao, a exempio da Belgica, Bulgaria, Canada, Cuba. Espanha. Inglaterra, Grecia, Italia, Luxemburgo e Polonia.
Sem examinarmos os padrocs, que pela propria natureza do argumento
rcqucreriam uma miniicia que este Crabalho nao comporta. maxime porque nao encontrariamos divergencias de relevo, notaremos apenas que o projeto dcixou para a legislaqao administrativa a definiqao c classificaqao das funqoes do pessoai niaritfmo, encontrada cm alguns Codigos.
O transporte nautico e o fato economico substancial para o qual convergem e no qual se encontram todas instituiqoes do direito maritime privado.
Por isso seu tema foi sempre governado em normas formais. tanto nas compilaqoes dos costumes maritimos. como nos estatutos e ieis.
Os varies Codigos do grupo mediterraneo contemplam ao lado do contrato de fretamcnto confundido com a locaqao do navio, o conhecimento, mas nao como titulo de uin contrato autonomo, e sim. como modalidadc do freta mcnto, naqueles cases em que o armador, em vez de alugar o navio, ou partc aliquota do mesmo assume tao somente 0 transporte de certas mercadorias.
O Cbdigo Alemao, porem, assim como as leis inglesas e dos paises atlanticos, so entcndem com o contrato de transporte.
A doutrina se csforqava por sistematizar essa situaqao caotica, distinguindo a locaqao do navio (locatio rerum) do fretamento (locatio rerum et operisj.
Debatida tambem a natureza do time charter, isto c o contrato mediante o qual o navio armado e equipado e cedido ao afretador que o explora comcrcialmente. Pesando essas orientaqoes inclinou-se o Projeto pela concepqao da
doutrina alema, da noqao de espaqo (Raunifracht vertrag) que enquadra o fretamento na locaqao de coisas mas distinguindo-o do transporte, de prefcrencia a construqao italiana no Codice della Navigazione. A locaqao do navio assini, pelo Projeto se caracteriza pela passagcm da posse do navio coque ntic no Iccatario — o fretamento c a locaqao do todo ou parte do navio armado por um tempo curto (fretamcnto a tempo) ou para uma ou mais viagens. £ um contrato locatio conducfio rtai'is et opcrarum.
O transporte maritimo afinal 6 definido no Projeto nos termos de Pappenheim, que Wittelstein c ScHAPS teproduzem -— com a diferenqa dc se referir apenas a navio e nao a navio dc mar.
XIV
O conhecimento moderno nao e o documento que as leis maritimas em vigor, notadamente as do grupo mediterraneo regularam, tao somente, como titulo probatorio do contrato de trans porte. Essa feiqao juridica passou a um piano secundario dcpois que o conheci mento assumiu a funqao de titulo re presentative das mercadorias, c de certificado e dc seu recebimento e colocaqao a bordo do navio. O Projeto atende, como o C6digo italiano, a esta condiqao moderna do conhecimento seguindo as normas da Convenqao de Bruxelas de 1924.
Separando o contrato de transporte. o Projeto tinha que separar tamb^rn a responsabilidade do transportador, da responsabilidade do proprietario c armador na utilizaqao do navio, pelos fatos dc seus prepostos.
Aqueia responsabilidade consoante OS principios fixados por todas as leis maritimas se definia peias obriga^oes:
a) de entregar no destino as mercadorias recebidas. respondendo pelas que'faltarem:
b) de entregar as mercadorias no estado em que foram recebidas, respon dendo pelas avarias:
c) de entrega-las nas epocas convencionadas, respondendo pela demora.
Verificada a falta, avaria ou demora, a responsabilidade opera no sentido de obrigar o transportador a compor as perdas e danos sofridos pelo carregador prejudicado.
Dessa responsabilidade so se eximi.ria provando:
a) forga maior ou caso fortuito;
b) vicio proprio da mercadoria:
c) fato do proprio carregador.
Obrigagoes certas e definidas, dispensas tambera certas e definidas, eis como estava tra^ado o contrato de transporte maritimo de mercadorias.
Ssse quadro foi pprem desnaturado pelos armadores em todos os paises, os quais mediante a inser^ao, no conhecimcnto, de clausulas oxonerativas e limitativas, conseguiram libertar-se de tfldas as responsabilidadcs legais, fazebdo do transporte maritimo, urn con trato leonine no qual se reservavam
todos OS direitos e atribuiam ao carre gador so obriga^oes.
Essa posigao privilegiada dos arma dores, no setor dos transporte.s maritimos, foi pela primt-ira vez derrubada nos Estados Unidos pela lei federal de l-S-i893, conhecida pelo nome de Hartcr Act. A marinha mercante americana era, entao, negligivel, e sua imensa exportagao procedia-se quase que inteiramente em navios estrangeiros.
A lei teve por fim subtrair os tran.sportes maritimos dos portos dos Esta dos Unidos as clausulas de nio respon sabilidade in.sertas nos conhecimento.s.
O Hactec Act foi copiado pelos Dominios ingleses, tributarios da Gra-Bretanha pelos transportes maritimos, os quais achando severissimas as clausulas de nao responsabilidade aproveitaram de sua independencia para quebrar, no particular, o jugo da metropole. Assim foram votados na Australia o Sea
Carriagem of Goods Act — 1905. na Nova Zelandia o Shipping and Sea man s Act 1908. substituido pela Sea
Carriage of Goods Act. de 1911.
O .impulse dado pelo Harter Act refletiu-se nas varias Convingoes Internacionais que elaboraram as Regras de Haya, convcrtidas finalmente (salvo pequenas modificap6es), na Conven?ao Internacional para unificagao de certas regras relativas aos conhecimentos assi-" nada em Bruxelas a 25 de agosto de 1924.
A harmonia dessa Conven?ao com as leis nacionais nao apresentou dificuldade alguma para certos paises que, como OS Estados Unidos, Japao, Dominios Ingleses e Matrocos, ja haviam fesolvido o problema adotando na sua legislagao interna solu?6es analogas as da Conven^ao.
Era relagao aos outros, se a Inglaterra accitou os principios da Convengao com a Lei de 1." de agosto de 1924. assim como a Australia, Esta dos Unidos, Canada. Italia, Franga e Belgica; — na Alemanha, paises escandinavos, sul americanos e no Brasil o acolhimento a ela feito foi muito menos favoravel. Na Suecia e Dinamarca, embora os conhecimentos sujeitem as partes as Regras da Conven^ao, as leis nacionais nao foram alteradas.
O projeto segue a Convengao porque esta resolveu o problema em termos muito razoaveis tanto para o transpor tador, como para o carregador. Aquele e aliviado das responsabilidadcs excessivas que as leis maritimas Ihe impunham, e as quais tornavam a sua industria por demais onerosa, e este e socorrido pela lei contra "as demasias dos conhecimentos, e a prepotencia dos armadores.
XV 0 contrato de seguro maritimo nao
€ um contrato que constitua como o de transporte, o exercicio do com^rcio
maritimo, mas tern para esse comercio, uma importancia consideravel. fi estranhavcl que, nao obstaute a evidentc necessidade demonstrada por juristas do tomo de Bruck, Donati. Sohr e d'Amelio, nao se tenha realizado ainda Conven^ao alguma — salvante a iniciativa da Internacional Law Association em 1935 — para adogao de clausulas gerais uniformes nas apolices mediante uma elaboragao internacional.
Estranbavel, outrossim, que, enquanto OS seguros terrestres beneficiavam de leis modernas (como a Lei alema, de maio de 1908, a lei francesa de junho de 1930, lei suigb de abril de 1908, e austriaca de 1917), os seguros maritimos ainda, em todas ?s nagoes do globo, continuem, como no Brasil, regidas per leis anacronicas. Pois a lei bclga de 1908 pouco inovou. O preceituario mais completo e mais moderno sobre seguros maritimos que encontramos anteriormenfe ao Codigo de Navega^ao Italiano e o Marine Insurance Act, Ingles, de 1906.
Os redatores do Projeto tiveram esses modelos ante os olhos assim como OS USDS e costumes das pra?as nacionais, ao redigirem as normas sobre seguro maritimo constantcs dos arts. 166 e 257.

Nesse particular o Projeto, como o Codice della Navigazione tomou pcsigao a parte das legisla^oes existentes.
Na materia do abandono subrogat6rio, o Projeto inspirou-se decididamente
no Codice della Navigazione. que no particular, pouco inovou, mas esclareceu o sistematizou a matcria, tratada desordenadamentc nos Codigos antigos.
XVI
Vai ja bem longa csta palestra. Por isso, no tema dos sin'stros maritimos, tratarei apenas da abalroagao. da assistencia e saivamento, e avarias.
O Projeto. nessas materias reproduz apenas as Conven^oes Internacionais. No tema da abalroaqao segue a Conven^ao de Bruxelas de 23 de setembro de 1910 a que aderiram todas as nas5es maritimas c que foi transferida para as legislagoes internas da Franca. Belgica, Alemanha, Holanda, Dina/narca, Noruega e Austria. Nao aceitou seu.s pr'ncipios ampliando-os como a Inglaterra. a Grecia e a Italia. 6 incrivei que essa Convengao nao tenha sido ainda introduzida em nosso direito positive, no que resulta ser atualmente, entre nos, diversa a legislagao e as responsabilidades na abairoa^ao entre navios nacionais, e entre navios nacionais com estrangeiros.

A assistencia e o saivamento sao instituigoes que, tirante uma bula do Papa Pio V, s6 encontramos rcguladas nas lets maritimas depots da Convenqao de Bruxelas de 23 de setembro de 1910 que aprovou a unifica^ao de outras
regras em materia de ass'stencia e saivamento maritimos aceita por 24 nagoes. Destas, a Beigica foi a primeira que a apiicou em seu pais com a Lei de 12 de abrii de 1911. Depois veio a Grecia com a Lei de 6 de agosto do mesmo ano. A Italia promulgou em 1925 uma lei reformando sua legisla^ao maritima nessa materia, ass'm como a Holanda, cujo novo Codigo Comercial incorporou a seu texto o articulado da Convcn^ao. Na Espanha, entrou em vigor com a Lei de 30 de dezembro de 1927. O Projeto adota os principios dessa Conventjao, apenas sblirciona as , divergencias doutrinarias entre os conceitos de assistencia e saivamento de mode orig na], pois enquanto o direito ingles comprcende sob a mesma denominagao Salvage a assistencia e o saiva mento, e o alemao distingue os casos de assistencia (Hilfsleistung), como de auxilio a navio em perigo, e os de saivamento (Bergung), como de recupera;ao de navio abandonado, o Pro jeto considera saivamento so o de pessoas, e assistencia, o auxilio a navio em perigo. xvin
A antiquissima institui^ao das avarias grossas foi a primeira a ser estudada interiiacionalmente para unificaqao das ncrmas que a regem, e que, nas legisla^oes maritimas, diversificavam em
pontos importantes. Desde 1860, por iniciativa da National Society for Advancement of Social Science era convocado uma conferencia internacional para esse fim, que votou as Resolugoes de Glasgotv. Em 1864 reuniu-se outra conferencia cm York que votou as regras de York. Em 1877 promovida entao pela International Law Associa tion reuniu-se em Antuerpia a Convenqao que culminou o objetivo pretendido, promulgando as Regras de York e Antuerpia, que dessa data em diante, passaram a ser lex privata, pela sua ado^ao voluntaria em contratos e conhecimentos, embora consideradas em geral muito imperfeitas para serem introduzidas pelos Estados em suas legislagoes rcspectivas. Por isso essas regras foram rcvistas em varias Con.ferencias Internacionais postedores. A sua forma atual foi dada na Conferen cia de Stockolm em 1924, ligeiramente retocada em 1950.
O projeto e a primeira legislacao que Integra totalmente numa lei maritima nacional as Regras de York e Antuer pia. Nem mesmo o Codigo Italiano de Navegaqao a tanto se atreveu, nao obstante ser visivel a inspira^ao desse preceituario nas disposigoes que consagra sobre a materia. Porem as Regras tendo seu entendimento escla-
recido e fixado na doufrina e pela jurisprudencia dos Tribunals representam hodiernamente urn patrimonio juridico universalmente apreciado. Nao tem assim mais atualidade as censuras a sua imperfeiqao. tempo de passa-la como as outras Convengoes, de que falamos, ao direito escrito maritimo.
Meus senhore.s e minhas senhoras. Na exposi^ao feita e que procurei tornar tao breve quanto possivel, o mcu intuito foi dar a impressao que o Pro jeto, e como me parece, tambem, as legisla^oes maritimas promulgadas ultiraamente, realizam essencialmente uma transa?ao entre o nacionalismo ainda imperante em todos os Estados do globo, que recusam, em nome da sua sobcrania, leis outras senao aquelas que sirvam aos seus interesses pr6prios, e o universglismp, ideal que se aproxima, em vista do crescente intercambio e liga0es entre os povos pelos esfor^os da ONU e das Conven^oes Interna cionais. E sendo assim, o maximo que Ihe podem desejar os seus redatores, jl que, caso tenha a fortuna de entrar no direito escrito brasileiro possa, num futuro nao muito longinquo ser substituida por uma lei comum as nagoes civilizadas do Globo, num mundo melhor.
Amllcar Santos
Advo'gado — Inspetoe de Segucos
. As. reservas tecnicas e legais das companhias de seguros e de capitaliza?ao, embora aparenteinente vultosas, devem, em sua aplica^ao, obedeccr a regras e prindpios que, nao as diminuindo desintegralizam-nas, reduzindo suas proporgoes e transformando-as em parcelas sem expressao, para o atendimento de problemas cuja magnitude requer importancias de valor' assas consideravel.
A aplicagao das reservas tera que ser sempre restritiva e os valores em que deva ser invertida, escolhidos tendo em vista varies fatbres, todos eles preponderantes, a fim de que haja urn perfeito equilibrio em sua distribui^ao.
Nao e possivel tomar-se a totalidade das reservas e aplica-la integralmente em duas ou tres inversoes a longo prazo, sem levar em conta o fim predpuo a que sao destinadas.

Se algumas permitem prazos longos, inversbes de dura^ao prolongada, outras nao.
Reservas ha, cuja vida e efemera, nao passando de um ano sua existencia legal. Os valores em que estiverem invertidas terao que ser de pronta e facil liquidagao para poderem atender, sem demoras ou delongas, aos reclamos de suas finalidades.
Conciliar os diversos fatores que integram as reservas, entre eles sobressaindo a rentabilidade, cuja importancia, desnecessario e salientar, tera side a preocupa?ao maxima dos administradores das empresas de seguros e de capitalizagao, orientados "sempre pelo orgao fiscalizador de tais operagoes.
Separar, promovendo o seu escalonamento em fungao de sua finalidade, etc.. e o trabalho primordial na aplicagao das reservas. na inversao que a lei faculta para maior garantia da cobertura que o seguro oferece.
Qualquer modificagao no atual sistema de aplicagao das reservas, qualquer inovagao, no sentido de determinar inversoes a longo prazo, deve obedecer, antes de tudo, as peculiaridades que o seguro oferece, as diferentes especies de reservas inerentcs & prdpria natureza do negocio, & sua fi nalidade precipua.
Sem isso, afetada estara a instituigao do seguro e, com ela, a propria estruturagao econbmica do pais, da qual o seguro e fator preponderante, alicerce imprescindivel.
A importancia dos fenomenos de transmissao do calor no estudo da prevengao e protegao contra incendios b 6bvia, do mesmo mode que o estudo da combustao que realizamos.
Ja vimos que o calor se transmite por condugao, por convecgao e por radiagao.
A transmissao por condugao revestese de grande importancia na propagagao e na eclosao de incendios, dada a influencia do coeficiente de condutibiiidade termica na propagagao da com bustao. Se um corpo tem um elevado coeficiente de condutibilidade termica. mais facil e a propagagao da combustao em seu seio. Permanecendo inalteradas as condigdes ambientes, um corpo de baixa condutibilidade termica apresentara maiorcs dificuldades a propa gagao da combustao que um outro de maior condutibilidad'e termica.
Por outro lado e de importSncia considerar-se a combustibilidade em relagao a condutibilidade termica.
No caso da madeira, combustivel que fe,"dotada de baixo coeficiente de con-
dutibilade termica, em geral (variando, naturalmente, com a sua especie c qualidade), temos freqiientemente a interrupgao da~ combustao ou sua limitagao k superficie da pega. Vemos frequentemente, em casos de incendio, a existen cia de vigas, tcrgas, etc., pegas de ma deira de secgao bastante grande resistirem S agao de um fogo intenso ficando carbonizadas superficialmente, conservando-se, contudo, no seu interior, em estado normal.
Nesse mesmo exemplo podemos observar ainda que, quanto maior a secgao da pega, mais dificil a sua com bustao. fi fato comum observar-se o desabamento de partes de telhados sem que as tesouras se tenham sequec deslocado. Nestes casos o que se verifica c a combustao das ripas que sustentam as telhas e mesmo dos caibros, sem que se verifique o desabamento das tesouras, embora estas estejam fre qiientemente mais proximas dos focos de eclosao dos incendios sujeitas portanto a maior intensidade do fogo.
fiste fato 'e muito simplesmente verificado tcntando-se fazer queimar dois
peda^os de madeira — um mais fino que 0 outro — como por exemplo um palito e uma lasca de madeira de sec^ao maior.' Ter-^-a que-o peda?o mais «fmo» (de mcnor secgao) queima mais depressa e com maior facilidade que o de maior sec?ao: se os separamos de foco utilizado para a experiencia a chama podera extinguir-se espontaneamente, neste ultimo.
Outro aspecto da condutibilidade, relativo a propaga?ao ou mesmo da eclosao de incendio. e o caso de um material de elevada temperatura de igni^ao e de alto coeficiente de condu tibilidade termica. Um exemplo facilmente compreensivel e o de uma tubula^ao de metal como cobre, ferro, etc. conduzindo gases ou vapores a tempe ratura elevada. Em virtude do alto coeficiente de condutibilidade termica do cobre ou do ferro, um material, como a madeira, em contacto com a tubula^ao pode ter sua temperatura elevada de mode a atingir a temperatura de ignigao e entrar em combustao, sem que o cobre ou o ferro sofram qualquer alteragao DO seu estado.
Os materiais, como o amianto por exemplo, de baixo coeficiente de con dutibilidade termica e de clevado ponto de ignigao, podem por isso mesmo ser utilizados no isolamento de focos de combustao, de pontos S temperatura elevada, etc. que, em contacto com materiais de baixo ponto de igni^ao
• pbssam dar Jugar, a-eclosao de inceqdios.
muito elevada ou riiesmo de um" in cendio.
..
'J 6 esta tambem a propriedade dos chamados materiais refratarios, utili zados em fornos. fornalhas, etc., que, pot terem elevado ponto de igni^ao, podem estar em contacto direto com as chamas e que, com espessuras relativamente pequenas, impedem a propaga^ao da elevada temperatura interna a face externa do revestimento.
Ainda com relagao a transmissao do calor por condu?ao. vale salientar as propriedades de certos materiais utili zados em constru^ao e que explicam'o seu comportamento nos casos de incendios, e que serao estudados em detalhe em parte especial deste trabalho.
.A importancia da convec^ao na eclosao e na propagagao de incendios se faz sentir na propagagao do incendio a distancias por vezcs consideraveis; como a igni^ao de substancias de baixo ponto de igni^ao a distancia do fdc'd de combustao devido a agao da cor-' rente de conveccao (ar ou gases resul-" tantes da combustao. muito aquecidos).
E evidente que em determinados casos a propagagao por conveccao adquire Importancia maior que a pro-^ pagagao por condu^ao e mesmo pela radia^ao.
Finalmente, cabe considerar a pro-t paga^ao ou eclosao de incSndios resultantes do aquecimento devido a radia^ao de um foco de temperatura
E fato comum verificar-se durante OS "incendios o inicio da combustao de pe?as de material combustivel a distanc'a do ponto inicial de um incendio, sem que tenha havido contacto com uma fagulha ou qualquer peda^o de material em igni?ao.
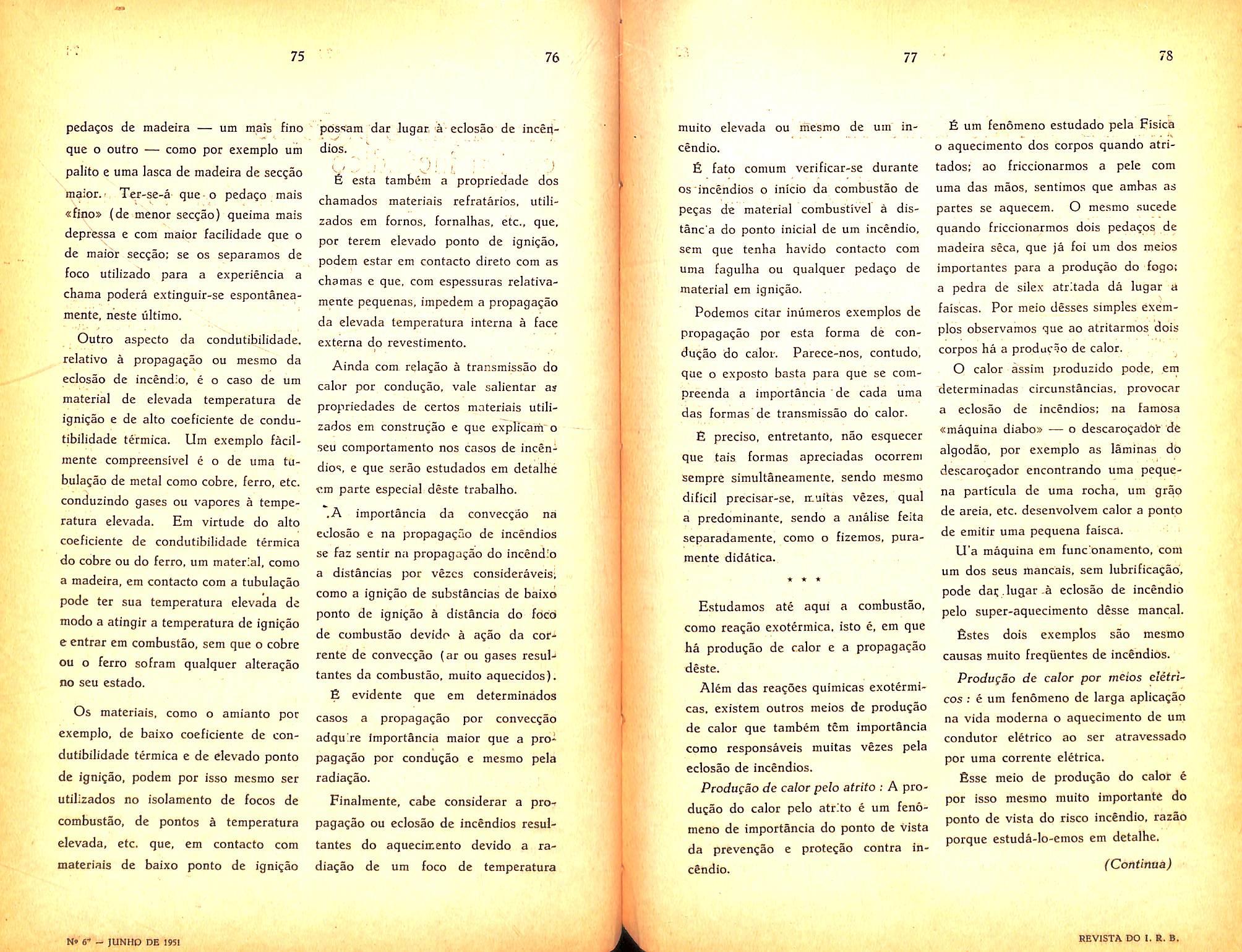
Podemos citar iniimeros exemplos de propaga^ao por esta forma de condu^ao do calor. Parece-nos, contudo, que o exposto basta para que se compreenda a importancia 'de cada uma das formas de transmissao do calor.
E precise, entretanto, nao esquecer que tais formas apreciadas ocorrem sempre simultaneamente, sendo mesmo dificil precisar-se, muitas veres, qual a predominante. sendo a analise feita separadamente, como o fizemos, puramente didatica.
« * *
E.studamos ate aqui a combustao, como reaqao exotermica. isto e, em que ha produ^ao de calor e a propagacao deste.
Alem das rea^Ses quimicas exotermicas, existem outros meios de produ?ao de calor que tambem tern importancia como responsaveis muitas vezes pela eclosao de incendios.
Produgao de calor pelo afrifo ; A producao do calor pelo atrito e um fenomeno de importancia do ponto de vista da preven^ao e protegao contra incSndio.
E um fenomeno estudado pela Fisicia o aquecimento dos corpos quando atritados: ao friccionarmos a pele com uma das maos, sentimos que amba.s as partes se aquecem. O mesmo .sucede quando friccionarmos dois peda^os de madeira seca, que ja foi um dos meios importantcs para a produgao do fogo; a pedra de silex atritada da lugar a faiscas. Por meio desses simples eXemplos observamos que ao atritarmos dois corpos ha a produc-io de calor.
O calor assim produzido pode, em "determinadas circunstancias, provocar a eclosao de incendios; na famosa «maquina diabo» — o descaro?adot de algodao, por exemplo as laminas db dcscaro?ador encontrando uma pequena particula de uma rocha, um grap de areia, etc. desenvolvcm calor a ponto de emitir uma pequena faisca.
U'a maquina em func'onamento, com um dos seus mancais, sem lubrifica^ao', pode dai:.lugar.a eclosao de incendio pelo super-aquecimento desse mancal. fistes dois exemplos sao mesmo causes muito frcqiientes de inc6ndios.
Produgao de calor por meios e/etricos: e um fenomeno de larga aplica^ao na vlda moderna o aquecimento de um condutor eletrico ao ser atravessado por uma corrente eletrica.
fissc meio de produgao do calor 6 por isso mesmo muito importante do ponto de vista do risco incendio, razao porque estuda-lo-emos em detalhe.
Americo Luzio de Oliveira
Advogado no DisMto Federal
A indenizajao do dano moral nao e'ncontra acolhida no direito patrio, e a doutrina, que a admite, reconhece a dificuldade de se obter a sua reparaqao economica.
Os nossos juristas condenavam essa cextravagancia do cspirito humano», segundo salientava Lafayette, visto como «o mal que da lugar a safisfa?ao pecuniaria e o que direta ou Indiretamente (por via dc consequencia) ofende o individuo nos seus direitos relativos a propriedade no sentido amplo (direitos reais e direitos de obriga?6cs)
e nos seus interesses legitimos: — tal 6 o que ocorre quando a coisa e destruida ou subtraida; — tal e o prejuizo que resulta ao ofendido que o delito inhabilita temporaria ou perpetuamente de exercer sua profissao». («Direito das Coisas», 2.* edi^ao, paragrafo 205, nota 8).
Em longo e minucioso estudo, inserto na «Rev;sta de Direitos, vol. 22, pSg. 13, mostrou Carpenter o equivoco dos que entendiam indenizavel o dano moral, baseados em principios do direito alemao. Philadelpho de AzeVEDO esclarece que, no direito alemao atual, e irreparavel o dano moral («Direito Moral do Escritors, pag. 215).
Em seu trabalho, revelou Carpenter quCr' nao so ao sentimento juridico e moral do povo alemao, mas, ao senti mento juridico e moral dc qualquer povo civil zado, repugnara aceitar dinheiro a titulo de consolagao a sentimentos sagrados que deixariam de o
ser se a indenizaijao pecuniaria pudesse, ainda que de longe, afeta-los ou minora-los (loc. cit. pag. 48).
Em abono da doutrina que sustenta, invoca Garba:
E come i patemi d' animo. d'una madre. per esenipio, cut [a reciso il figliuolo, si possano stimare a danaro. rtom solo nom comprendo, ma parmi. oltre che assurdo, scandaloso proposito il ricercalo. —.Per me sono exempi codesti, ed altri consimili, che segnano una vera decadenza della giurisprudenza contemporanea, per I'infiltrarse anche in essa il rilassato senso morale. I'utilitarismo. il materialismo dell'epoca presente Dovrebero i nostri tribunali reflittere che, moltiplicando giudicatidi tal [atta, essi contribuiscono, senza volerlo, a tutt altro che a raffinare il senso morale e giuridico della mazione. na secondano la gia dominante tendeza a considcrare il danaro come il piii sostanziale di tutti quantigli interessi. (Ques tion! di diritto civile, Vol. II, pag. 234, 2." Edigao, Turim, 1911, loc. cit.).
Carvalho S.antos filia-se, entre os juristas modernos, a teoria da irressarcibilidade do dano moral, e cita, a pro posito. Chironi:
Com e possible risarcire pecuoiarimente il dolore ? Se vero e sentido, come fame la estimazione ? Si risponde
che lo si estima da! giudice, ma la esti mazione e allora abbandonata al cri teria personaie del magistrato. e c.o non si concilia col carattere del risarcimenfo ; si dice che «e impossible valutare in denaro il danno morale, ma che se il magistrato non pu6 accordarc um risarcimento esatto, do non vuol dire non possa accordare a/cunos; ed e repionamenfo vizioso, perche non e piu questione di esatezza, ma di impossibilita a valutare («La Colpa ExtraContrattuale, vol. II. n." 413, «Cod. Civ. /nterp.s, vol. XXI, pag. 36>).
A doutrina vitoriosa em nosso di reito, que nega reparacao, sob qualquer aspecto. ao dano moral, tem defensores da autoridade ainda de Marchesini («Foro Italianos, 1890/1937), Gabba, («Del resarcimento de danni moralis), Pedrazzi («G'urisprudenza Italianas, 1892, IV), e, entre nos, alem dos autores citados, Lacerda de Almeida («Direito das Obriga?6es») e CoSTA Manso («Votos e Ac6rdaos»).
Giorgi, sem duvida um dos mais ardorosos defensores da ressarcibilidade do dano moral, deraonstrou que, em seus primordios, a indeniza^ao s6.mente era assegurada ao ofendido, como direito personalissirao. intransmissivel aos herde'ros, tendo entao advogado que aos herdeiros. jure proprio, deveria caber o mesmo direito, e nao so aos herdeiros, como aos outros terceiros. amigos do ofendido, aos quais a ofensa irrogada a este, fosse maguar, causando-lhes dano moral. .'. «apud Carpenter, loc. cit. 27).
Com efeito, se o principio da reparabilidade do dano moral reside na sat sfa^ao pecuniaria da dor, deveriam os •adeptos da doutrina aplica-lo na extensao que o prejuizo moral pode ter
na esfera social. A tanto, porem, nao se arriscam, talvez para nao- verem evidenciada uma das conseqiiencias mais absurdas da teoria que defendem. No direito ingles e americano, tambem nao se admite a ressarcibilidade do dano moral, citando Carpenter, loc. cit., pag. 29, a opinilo de Hale, autor de livro especialmente dedicado a repara^ao de dano no direito civil, assegurando que o dano causado perpatema d'animo. nao e ressarcivel pecuniariamente, salvo quando estiver indissoluvelmente ligado a dano material, caso que nao c-de dano puramentc moral, s'm, de dano moral impropriamcnte dito.
Interpretando o art. 22 do Decreto n.° 2.681, de 7 de dezembro de 1912, revelou SA Pereira ser o dano moral insusceptivcl de indenizagao, porque nao passivel de avalia^ao («Decis6es e Julgadoss, pag. 210). Em nota ao dccisorio. a que se refere a referenda supra, mostrou o douto magistrado que o legislador patrio nunca concebeu a mdeniza^Io do dano moral, como revela ao examinar, um por um. dos dispositivos da lei civil, que poderiam ser invocados para justificar o principio da ressarcibilidade, concluindo: dos textos chamados a colagao, vemos que, expressa ou implicitamente, o Codigo so se refere ao dano material. Subtendida ou clara, nao ha em todo ele uma s6 palavra sobre o dano moral.
Clovis, respondendo a SA Pereira, em artigo no «Jornal do Com6rcio», de 11-4-1926. conforme esclarece PMlLADELPHO AzEVEDO, ob. e loc. CitS., precisou os casos em que se podet a pretender a indenizagao do dano moral, acentuando, pore.-n: III — O dano moral nem sempre e ressarcivel; para
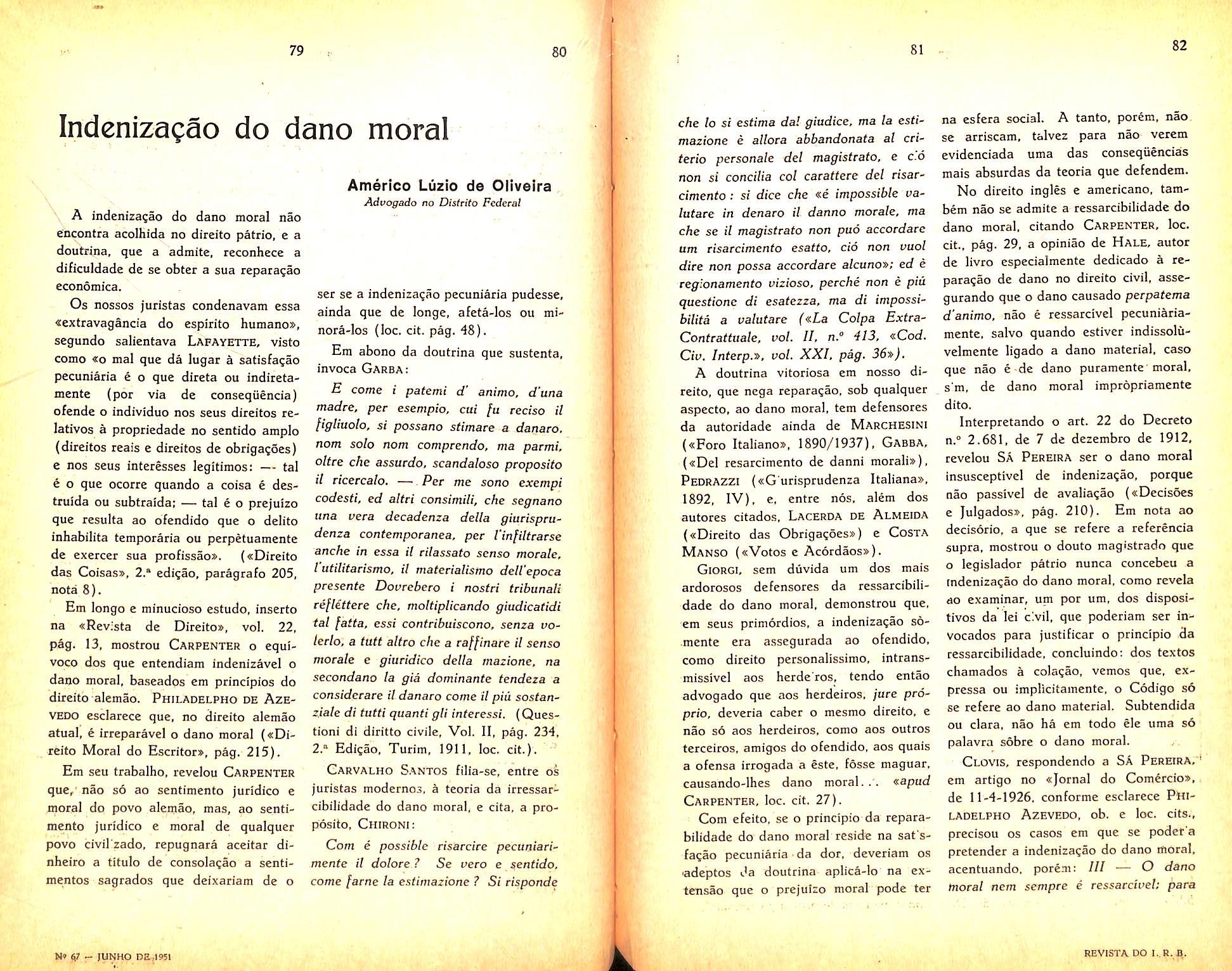
■ ■eifitar abuses, foi exclutdo nos casos ■de: morfe e lesoes corporals nao deformantes.
•'■iTambem PntLADELPHo Azevedo, considcra expressa a exclusao do dano "moral em caso de morte, dada a im•possibilidade de se medirem as afei^oes =dos"-parentes e. (per que nao,?). dos •ami^os do falecido.
--■•Nota-se da parte dos defensores da -doutrina da reparabilidade certa con•fiisao entre dano patrimon'al e moral, sii&tentando Aubry et rau, que so c .admissive! a indenizagao quando o dano •moral resulta de um crime.
Gomo acima se deciarou. os nossos tribunals sempre repeliram a rcparagao pecuniaria do dano moral.
A jurisprudericia dos nossos tribunals —-escreve Carvalho Santos parece manter-se firme embora com alguns arestos em contrario. no sustento de nao admitir a indeniza^ao do dano moral, a nao set que haja reflexo sobre O patnmonio. o que vale admitir a indeniza^ao das consequencias patrimofliais do dano moial (ob. cit.. pag. 38).
Dos mais impcrtantes arestos, que trataram do assunto. nao pode ser esquccido o ac6rdao do Supremo Tri bunal Federal, inserto na «Revista de D'reitos, vol. 39, pag. 538, que assegurou: A legislagao patria uunca consagroii a obrigagao de indenizar danos puramente morals, Insusceptlvels de serem aualiados em du.heiro. Nao se ceduzem a moeda os sentimentos nem .se tarifam as afelgoes.
Outras decisSes no mesmo sentido, poderao ainda ser citadas: Ac. da Corte de Apelagao do Distr'to Federal, «Revista de Direitc». vol. 56. pag. 139, idem, das Camaras Reunidas do mesmo Tribunal, «Revista de Direito», volumes 52/549; idem, idem, «Rcvista de Di-
reito», vol. 52/125; idem, «Revista de Direito». .vol. 48/171; ac. do Tr buna! de Justi^a de .Sao Paulo, «Revista de Direito», vol. 53/228.

No aresto do Supremo Tribunal-Fe deral, .a que acima se aludc, assim )uscificou seu voto o Ministro Eneas Galvao: Nao se declarando qaais as pessoas com o direltc ao pagamcnto do dano morale podeC'Se-a concluir que cla e deuida a todos os que sofrem com a morte de uma pessoa c nao somente aos parentes. E indaga : Qual ser'.a a indenizagao em relai^ao aos pals, aos filhos, aos conjuges ? Como calcular-se a estima. afeigao. qv( Inspirava a ul tima ? Por que suttUezas graduar os sentimentos efetlvos de' cada reclamante ?
A legisla?ao dos novos sul americanos, como a nossa recusa admitir tambem a reparag^o do dano moral: Codigo Civl Chileno. art. 2,331. Codigo Civil Argentino, art. 1 ,089 e Co digo Civil da Guati.mala. art. 2.997.
Ainda que se adota."se a reparaglo das consequencias simplesmente mate rials do dano moral, o criterio funda mental para avalia-las consistir'a, como lacentua Cogliolo («Digesto Italiano», verb danno), em tomar ei:t conslderagao a pessoa determinada qve sofreu o prejulzo. apreclando-lhe as condlgoes personalissimas. acrescentando: pero questa regola non deue spingere al punfo de tever conto delle condizione strattamento subbietlve. com e sentlmente del'animo. il pretium affectiones, etc.
Era suma; o nosso direito nao sufraga a indeniza?ao do dano moral, c a propria doutrina, que a aceita, repugna ressarcir. sob Isse titulo, o dano simplesmente moral, que nao acarrete consequencias de ordem patrimonial.
(Continuagao)
Infelizmente, a apolice de lucres cessantes brasileira aprovada merece alguma critica. E obscura a redaqao de partes da apolice e dcixa muito a desejar a sua disposi^ao geral.
Com o tempo, e provavel que a reda?ao geral da apolice sofra alteragoes, de modo que fiquem cxpostas era termos simples, diretos e scqiiencia Idgica as inten^oes das partes do contrato {segurado e segurador).
Para uma analise, a apolice brasileira aprovada pode ser dividida em tres
seqoes:
I) Preambulo ou segao introdutoria, que expoe os acontecimentos e circunstancias que criarao responsabilidade cuberta pela apolice.
H) Defini?5es que conferem a certas palavras e frases significado especial toda vez que aparecem na apolice.
Ill) Condi^oes gerais que definem com pormenores o escopo da cobertura prevista e as obrigaqoes entre segurado e segurador.
Preambulo
A presente apolice certlflca que. tendo (em seguida denomlnado <i.segurado»). responsavel pela empresa de ... ..... que gira nos locals seguintes pago a Companhia de Seguros o premlo flxado, esta se obriga. de conformidade com as clausnlas e condigoes seguintes. e dos endossos que forem feltos. no caso de virern os locals acima citados (ou qualqiier deles) a ser destruidos, oa dani/icados em consequencia de Incendlo — confanfo que o mesmo determine a tnterrupgao ou diminulgao no glr.-y da empresa e se verlfique entre as dczesseis horas do dia de . de 19. . e as dezessels horas do dla de de 19.
Para que qualquer responsabilidade prevista pela apolice possa ser.considerada coberta, e precise que:
1) 0 premio esteja pago;
2) a propriedade descrita tenha sidp destruida bu danificada por fogo, conforme defini?ao constante da ap6Jice;
3) a destruipao ou dano teuiba I \ ocorrido durante a vigencia'da apolicc;
4) o negocio tenha sido interrompldo ou pertuibado em consequencia de destruipao ou dano;
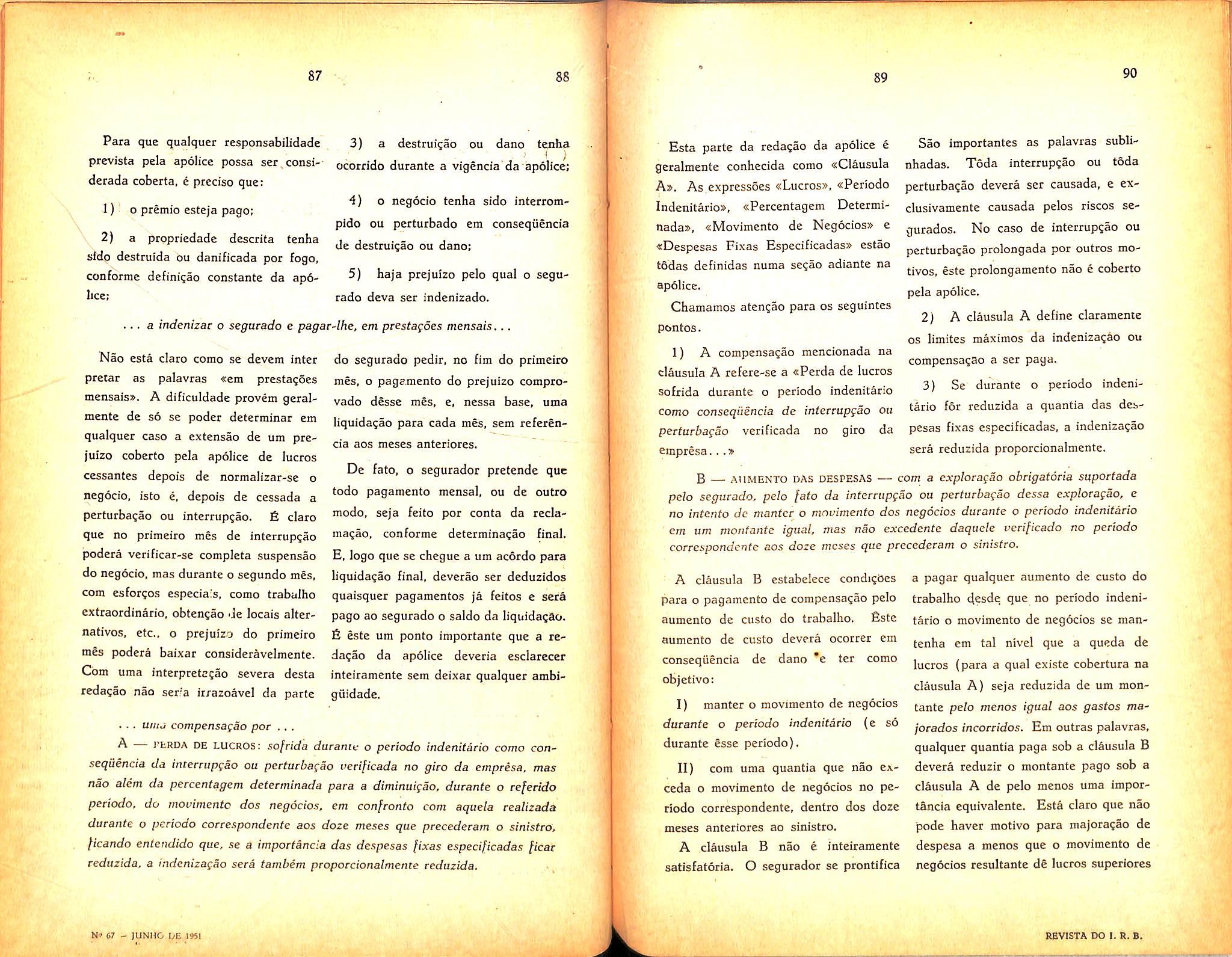
5) baja prejuizo pelo qual o segurado deva ser indenizado.
... a indenizac o se^urado e pagar-lhe, em prestafoes mensais...
Nao esta claio como se devcm inter pretar as palavras «em prestagoes mensai5». A dificuldade provem geralmentc de so se poder determinar em qualquer caso a extensao de um pre juizo coberto pela apolice de lucres cessantes depois de normalizar-se o negocio, isto e. depois de cessada a pcrturbapao ou interrupgao. fi claro que no primeiro mcs de interrupgao podera verificar-se completa suspensao do negocio, mas durante o segundo mes, com esforgos especiais, como trabalho extraordinario, obten^ao de locais alter natives, etc., o prejuizo do primeiro mSs podera baixar considcravelmente.
Com uma interpreta^ao severa desta redagao nao ser/a irrazoavel da parte
... u/ao compensagao por ...
do segurado pedir, no fim do primeiro mes, o paga.mento do prejuizo comprovado desse mes, e, nessa base, uma liquida^ao para cada mes, sem referencia aos meses anteriores.
De fato, o segurador pretende que todo pagamento mensal, ou de outro modo, seja feito por conta da reclama^ao, conforme determinaoao final.
E,logo que se chegue a um acordo para liquida^ao final, deverao ser deduzidos quaisquer pagamentos ja feitos e sera pago ao segurado o saldo da liquidaoao. fi este um ponto importante que a reda^ao da apolice deveria esclarecer intciramente sem deixar qualquer ambigiiidade.
^ J-tRDA DE LUCROS: sofrida cfuranit* o periodo indenitario como con sequencia da interrupgio ou perturbagao verificada no giro da empresa, mas nao a/em da percentagem determinada para a diminuigao, durante o referido periodo, do movimentc dos negocios. em confronto com aquela realizada durante o periodo correspondente aos doze meses que precederam o sfnistro. ficando entendido que, se a importincia das despesas fixas especificadas /tear reduzida, a indenizagao sera tambem proporcionalmente reduzida.
Esta parte da reda^ao da apolice e geralmente conhecida como «CIausula
A». As.expressoes «Lucros», «Periodo Indenitario», «Percentagem Determinada», «Movimento de Neg6cios» e «Despesas Fixas Especificadas» estao todas definidas numa se^ao adiante na apolicc.
Chamamos atengao para os scguintes pontos.
1) A compensagao mencionada na clausula A refere-se a «Perda de lucros sofrida durante o periodo indenitario como conseqiiencia de interrupgao ou perturbagao verificada no giro da empresa...»
Sao importantes as palavras sublinhadas. Toda interrupgao ou toda perturbagao devera ser causada, e exclusivamente causada pelos riscos segurados. No caso de interrupgao ou perturbagao prolongada por outros mo tives, este prolongamento nao e coberto pela apolice.
2) A clausula A define claramente OS limites maximos da indenizagao ou compensagao a ser paga.
3) Se durante o periodo indeni tario for reduzida a quantia das des pesas fixas especificadas, a indenizagao sera reduzida proporcionalmente.
B —. AUMENTO DAS DESPESAS — com a exploragao obrigatoria suportada pelo segurado, pelo [ato da interrupgao ou perturbagao dessa exploragao. e no intento de mantcr o movimento dos negocios durante o periodo indenitario cm um montante igual, mas nao excedente daquele verificado no periodo correspondente aos doze meses que precederam o sinistro.
A clausula B estabclece condigOes para o pagamento de compensagao pelo aumento de custo do trabalho. Este aumento de custo devera ocorrer em consequencia de dano *e ter como objetivo:
I) manter o movimento de negocios durante o periodo indenitario (e s6 durante esse periodo).
II) com uma quantia que nao exceda 0 movimento de negocios no pe riodo correspondente, dentro dos doze meses anteriores ao sinistro.
A clausula B nao e intciramente satisfatoria. O segurador se prontifica
a pagar qualquer aumento de custo do trabalho desde que no periodo indeni tario o movimento de negocios se mantenha em tal nivel que a queda de lucros (para a qual existe cobertura na clausula A) seja reduzida de um mon tante pelo menos igual aos gastos majorados incorridos. Em outras palavras. qualquer quantia paga sob a clSusula B devera reduzir o montante pago sob a clausula A de pelo menos uma importancia equivalente. Esta claro que nao pode haver motivo para majoragao de despesa a menos que o movimento de negdcios resultante de lucros superiorcs
as despesas incorridas {ou pelo menos iguais a esCas). O segurado tera com isto alguma vantagem, mas o segurador terS mais, sem diivida.
Uma cuidadosa leitura da ciausula B
demonsCrara falta de clareza. Na apOlice de lucres cessantes inglesa a redagao equivalente esta clara. A apolice estabelece que a quantia pagavel como indenizaqao sera:
Relativa a majoraqao de custo do trabalho; As despesas adiCipnais... necessarias e razoavelmente incorridas com o fim tinico dc evitac oti diminuir a redugao no mot^imento de negocios, que, a nio ser por essas despesas, teria lugar no perlodo indenitario, em conseqiiincia de dano, sem cxceder a soma obtida com a aplicagao da perccntagem determinada ao montante da redugao assim evitada...
Prossegue a ciausula B da apolice brasileira aprovada:
Se a quantia segurada por esta apolice for inferfor ao total dos lucros Uquidos e das despesas [ixas (scguradas ou nao) an empresa, durante o ultimo exercicio do ano que precedeu ao sinistro, a indenizagao sera reduzida na proporgao do decesso (di[erenga).
Isto equivale a uma ciausula de ratelo e protege o segurador cortra seguro insuficiente. Neste case poderiamos dizer que as palavras «durante o ultimo exercicio» deveriam ser substituidas pelas palavras; «durantc o periodo correspondente aos doze meses que precederam o sinistro». A soma segurada poderia mesmo ser igual aos lucros liquidos e as despesas fixas do ultimo exercicio do ano que precedeu o sinistro, e, entretanto, no periodo entre o ultimo
exercicio e a ocorrencia de um prejuizo talvez tenha aumentado mes apos mes o lucre liquido real mais as despesas fixas. Haveria. portanto, deficiencia de seguro na ocasiao do prejuizo, nao abrangida pela reda^ao da ciausula B. Certa protegao e contudo prcvista por uma condigao geral da apolice, embora nao esteja claro se esta condi^ao (condigao 5, que sera examinada mais tarde) foi formulada visando tratar deste ponto particular de modo geral apenas:
1.") em cada sinistro, a soma que seria devida, caso o movimento de negocios tivesse sido reduzido a zero em conseqiiincia de incetidio, durante todo o periodo da indenizagao;
2.") em cada periodo anuo durante o qual a apolice viger, qualquer que seja 0 niiniero dos sinistros, it imporfancia fixada nas condigoes particulares.
A responsabilidade maxima do segu- numero de prejuizos que possam ocorrer cador esta aqui fixada independente do durante a vigencia da apdlice.
(Continua)
Traduzido por Leonie Tolipan.

(Conclusao)
III RESSEGURO DE SINISTRO
fiste tipo de re.sscguro apresenta caracteristicas muito diferentes do de risco. Tao diversa e sua natureza que ja se Ihe negou o carater de resseguro, considerando-se como um seguro de responsabilidade contratual. que um se gurador efetua no tocante as obriga?6es assumidas por outro, por referirse o resseguro exclusivamente as operaqoes de cessao parcial ou total de riscos nas condigoes originals. Para entrar no amago desta discussao seria necessario sair dos limites deste artigo, assinalando-se apenas que tambem o resseguro de riscos participa da natu reza de um seguro de responsabilidade contratual. A maior transcendencia deste problema reside na aplicaqao ou nao do regime legal do resseguro pa ra tais contratos, de muita imporfan cia para sua realizaqao no terrene internacional, uma vez que, enquanto em quase todos os paises e permitido o resseguro em empresas estrangeiras, ptoibe-se o seguro direto fora das proprias fronteiras.
No resseguro de sinistros nao existe cessao de riscos nas condigoes origi nals do seguro, mas estipula-se a obrigagao do ressegurador de compensar, dentro de certos limites, as perdas, quer
individuals, quer coletivas, sofridas pe lo ressegurado em suas operagoes, numa classe cspecifica, mediante o recebimento de um premio fixado empiricamentc pafa cada contrato em relagao a probabilidade e importancia das indenizagoes estipuladas. £ste premio determinado em coeficiente, aplica-se, a carteira de premios ressegurados, prescrevendo-se o rccebimento no inicio do contrato de um premio provisorio, que sera ajustado posteriormente. ate a soma efetiva, quando se conhccerem os dados reais do exercicio. Enquanto no resseguro de riscos todo sini.stro para o cedente tambem o e para o ressegurador, a nao ser no caso excepcional '(pOr cessao de carteira e outra finalidade alheia ao ressegu ro propriamente dito) de cessao total dc um risco, no resseguro de sinistros 0 sinistro do ressegurador e de nature za particular e nao se identifica ncni e proporcional ao do ressegurado: e obvio que todos os sini.strcs do ressegurador o sao do ressegurado, mas, ao contrario, nem todos os deste o sao daquele.
Outra diferenga importante e que, no resseguro de riscos, cada cessao conserva sua individualidade, mesmo quan do se efetue cm contrato coletivo; contrariamente, no de sinistros, os riscos originals tendem a perder sua autono-
mia e perdem-na totalmente nalguns casos, referindo-se as estipulagoes mais a um conjunto organico de sinistros do que a um agrupamento de riscos isolados. Assim, na maior parte dcs contratos desta classe se fixam os premios em um coeficiente do volume total de premios glcbais e os sinistros surgero por concorrencia de danos de diversas apolices.
O resseguro de sinistros e de origeai recente, fins do seculo XIX, tcndo-se desenvolvido especialmente neste se culo. A inclusao desta modalidade no mercado deve-se aos corretores do Lloyd's que, ao comegarem suas opera?oes em seguros terrestres, depois de operar sempre em seguro maritimo, e encontrar-se com um mercado bastante intense, criaram novos sistemas de cobertura que pudessem interessar aos seguradores particulares. E deste modo, ao mesmo tempo que introduziram no vas modalidades no seguro direto, ofereceram contratos de resseguro baseados em principios de aplica?ao diversos dos ja existentes e que permitiam a determinaQao de premios mais reduzidos e que, alem disso, se adaptavam melhor as novas modalidades de cobertura do seguro direto.
}a se desejou ver nesta classe de contratos um possivei substitute com plete do resseguro de riscos, o que nao 6 possivei, uma vez que a antiga concepcao do resseguro oferece uma serie de vantagens e services para os seguradores diretos, de que nao se encontram em condigoes de prescindir hoje em dia, nem mesmo prov&velmente dentro de muito tempo, e talvez nunca. Entretanto, o que 6 certo e que o res seguro de sinistros 6 mais (itil que o de
riscos em alguns ramos, e, desempenha em outros, ou em circunstancias especiais, uma fungao complementar de grande eficacia. O ideal no seguro nao esta no triunfo absoluto de um dos dols sistemas, senao na delimitagao de suas esferas de eficiencia maxima, para que, adequadamente coordenados, possam prestar ao seguro um servigo mais com plete e benefico.
Sao a.s seguintes as modalidades mais importantes do resseguro de ^inistros:
A) Resseguro de excesso de danos
Nesta modalidade de resseguro.podem distinguir-se tres classes distintas de cobertura que, mesmo utilizando um mecanisrao analogo de indenizagao, diferem entre si pela diferenga de sua finalidade e pelo montante dos limites da indenizagao dos resseguradores.
Sua caracteristica comum. que permite agrupa-las sob um mesmo titulo, c o sistema de cobertura que se fixa no excesso dos danos superiores a determinada importancia c inferiores a outra, originados de uma ou varias apolices, porem em conseqiiencia de um so evento. A formula mais correntemente utilizada e a seguinte; «0 Ressegurador pagara a companbia ressegurada a importancia que exceda de x pesetas dos prejuizos liquidos efetivos da companbia ressegurada, em consequencia de um acidcnte ou serie de acidentes causados por um mesmo evento, exccto se a soma a ser paga pelo ressegurador cxceder a importan cia de Y pesetas em relagao a cada sinistro.»—
Para maior clareza. pode descrever-se o funcionamento deste ressegu ro do seguinte modo: A companbia ressegurada suporta diretamente cada sinistro ou serie deles oriundos de um unico evento ate o limite estipulado. de nianeira que, se a soma total for infe rior a essa importancia, o ressegurador nao tern ncnbuma obrigagao. levando-se era conta que, no caso de ter a compa nbia ressegurada realizado contratos de excedente de riscos ou contratos facultativos da mesma classe, as importancias recuperaveis por esses convenios ou contratos nao serao computadas para atingir o montante limite. Se os danos sao superiores a esta quantia, o ressegurador fica obrigado a suportalos, porem apenas ate o limite maximo que se tenba fixado, alem do qua! continua a responsabilidade da companbia ressegurada ou, conforme o caso. comega a de outro ressegurador que te nba aceito o excesso a partir dessa im portancia.
As modalidades deste resseguro. a que anteriormente se fez referenda, sao as seguintes:
a) Resseguro de excesso de danos em sinistros isolados (excess o/ /oss):
ft o tipo de resseguro de sinistros de mais freqiientc cmprego e talvez de origem mais antiga. Distingue-se dos demais de excesso de danos por sua finalidade, que e a de indenizar os si nistros dc carater ordinario, porem de importancia elevadar por isso seus li mites de cobertura sac muito mais re duzidos que OS de outras modalidades.
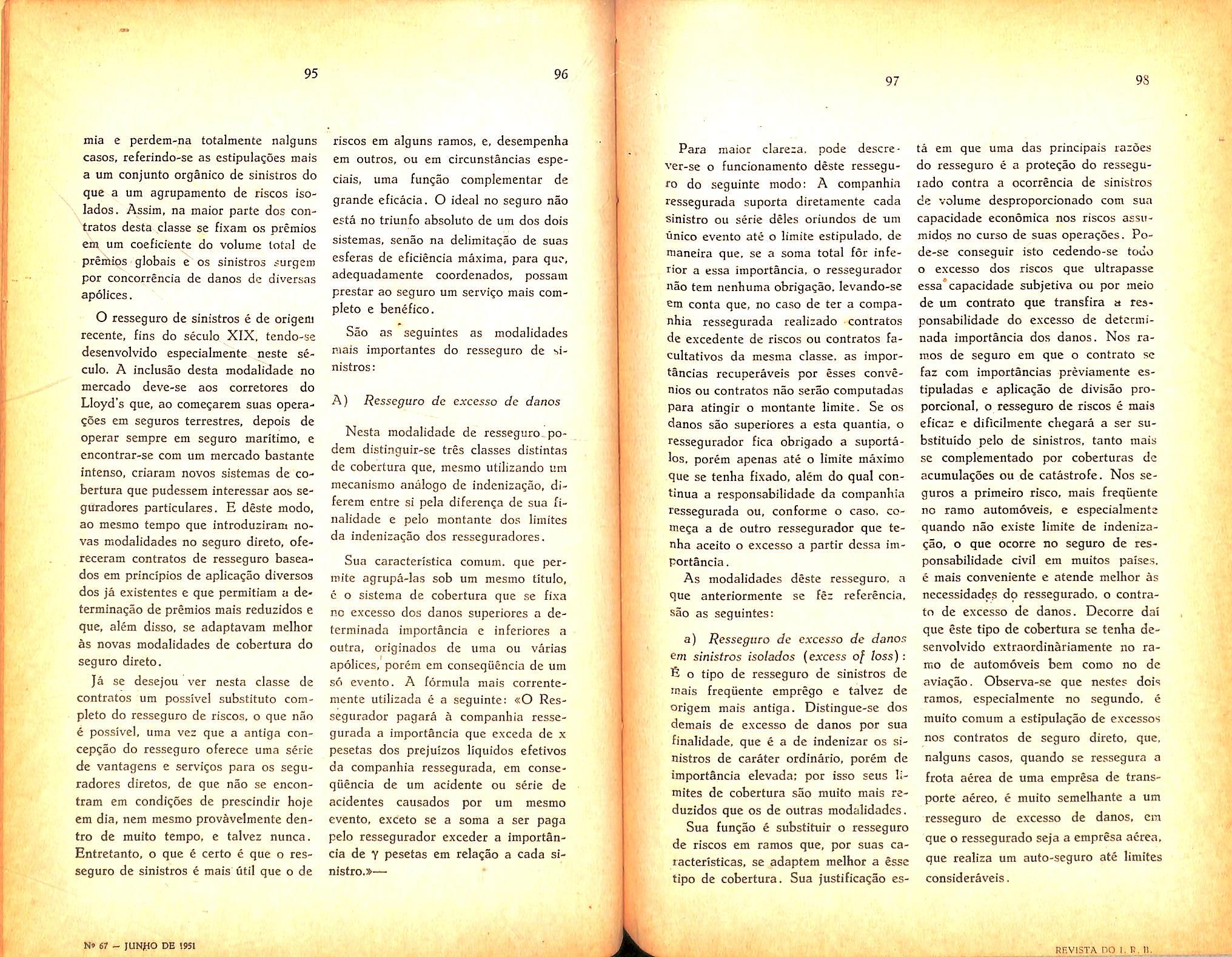
Sua fungao e substituir o resseguro de riscos em ramos que, por suas calacteristicas, se adaptem melhor a essc tipo dc cobertura. Sua justificagio es
ta em que uma das principals razoes do resseguro e a protegao do ressegulado contra a ocorrencia de sinistros de volume desproporcionado com sua capacidade economica nos riscos assumidos no curso de suas operagoes. Pode-se conseguir isto cedendo-se todo o excesso dos riscos que ultrapasse essa"capacidade subjetiva ou por meio de um contrato que transfira a res ponsabilidade do excesso de detcnninada importancia dos danos. Nos ra mos de seguro em que o contrato se faz com importancias previamentc estipuladas e aplicagao de divlsao proporcional, o resseguro de riscos e mais eficaz e dificilmente cbegara a ser substituido pelo de sinistros, tanto mais sc compleraentado por coberturas de acumulagoes ou de catastrofe. Nos se guros a primeiro risco, mais frequente no ramo autom6vcis, e especialmentz quando nao existe limite de indeniza gao, o que ocorre no seguro de res ponsabilidade civil era muitos paises. e mais convenlente e atende melhor as necessidades dp ressegurado. o contra to de excesso de danos. Decorre dai que este tipo de cobertura se tenha de senvolvido extraordinariamente no ra mo de automoveis bem como no de aviagao. Observa-se que nestes dois ramos, especialmente no segundo, e muito comum a estipulagao de excesses nos contratos de seguro direto, que, nalguns casos, quando se re.ssegura a frota aerea de uma empresa de transpocte aereo, e muito semclhante a um resseguro de excesso de danos. em que o ressegurado seja a empresa aerea, que realiza um auto-seguro ate limites consideraveis.
O nome dado a tal modalidade explica-se porque, em sua maicr parte, a cobertura que proporciona se referc ao sinistro ocorrido em urn so coiUrato, embora deva levar-se em conta que, se num acidente sofrem danos dois ou mais automoveis segurados na companbia ressegurada. as perdas corrcspondentes a ambos sac computadas para calcular o inicio da obrigatoriedade de indeniza^ao do ressegurador. O mesmo pode suceder no ramo de avia^ao. Deve-se assinaiar que nio e freqiiente. todavia, no ramo de automoveis. a coexistencia deste scguro com o de riscos, o qire pode ocorrer no de avia^ao.
Para a fixa^ao do premio nestcs contratos, leva-se em conta; a importancia dos limites de indeniza^ao, uma vez que quanto mais elevados forem, mais improvavel sera o sinistro para o res segurador; a composigao da carteira, conformc predominem as opolices suscetiveis de trazerem grandes prejuizos (em automoveis. por exemplo. os carainhoes de grande envergadura que sao excluidos, por isso. em muita.s coberturas desse tipo); e a concentragao dos riscos na carteira ressegurada. em que seja mais provavel a ocorrencia de acidentes com prejuizos em varias apolices da mesma entidade, o que agrava o risco do ressegurador. pois o seu limite de indenizagao sera mais facil- ' mente atingido.
fi interessante ressaltar a aplicagao especial deste resseguro como unico meio de prote^Io de uma carteira de incendio, Geralmente c utilizado quando OS resultados dos negocios vem sendo maus, ou a carteira e muito pequcna e nao e facil cncontrar a cobertura de resseguro de riscos. Costuma-se
determinar uma retengao diferente pa ra OS diversos tipos de riscos, em fun9ao do coeficiente de premio a aplicar a cada urn deles, sendo maior nos mr.i.s simples c menor nos mais perigosos.
b) Resseguro de acumulagoes
Emprega-se este contrato na prote^ao dos seguradores diretos contra os pre juizos sofridos em um so sinistro. que afetc uma serie de apoliccs seguradas na mesma entidade e que aparentemente constituam riscos diferentes. £stc resseguro e efetuado, geralmente. como complemento do re.sseguro de riscos. Seus limites de garantia sao muito mai.s elevados que no caso anterior, uma vez que a cobertura no de acumula^oes se destina a evitar a possibilidade de pre juizos coletivos que modifiquem a curvet de normalidade estatistica do segurador. pondo em pcrigo a eficacia do sc guro como instituigao de garantia oir alterando gravementc a situa^ao de sua tesouraria.
Para resguardar a possibilidade dc menor prudencia na sele^ao dos ris cos, estipula-se que os ressegurados suportem, por sua propria conta, um coe ficiente de todos OS prejuizos recuperaveis ccnforme o contrato, dc 10% a 25%.
As aplica^ocs mais comuns desta cobertura sac as seguintes:
1) Prote^ao contra acumu]ai;6cs em terra no seguro de transporte de mercadorias. S muito frequente, nesse ramo. que sejam acumuladas num porto. a espera de embarque ou depois da descarga, mercadorias de expedigoes diferentes seguradas per uma companhia e que ficam temporariamente submetidas a risco comum e ba.stante grave, como o de incendio de
docas. ou armazens portuarios. Mesmo quando em cada uma das expediqoes tenha o segurador procurado ceder facultativa ou obrigatoriamente todos OS riscos que excediam seus plenos normais dc conservacao, tais precau(;oes tornam-se vas pelo fate apontado e por essc motivo e precise biiscar uma cobertura dessa natureza.
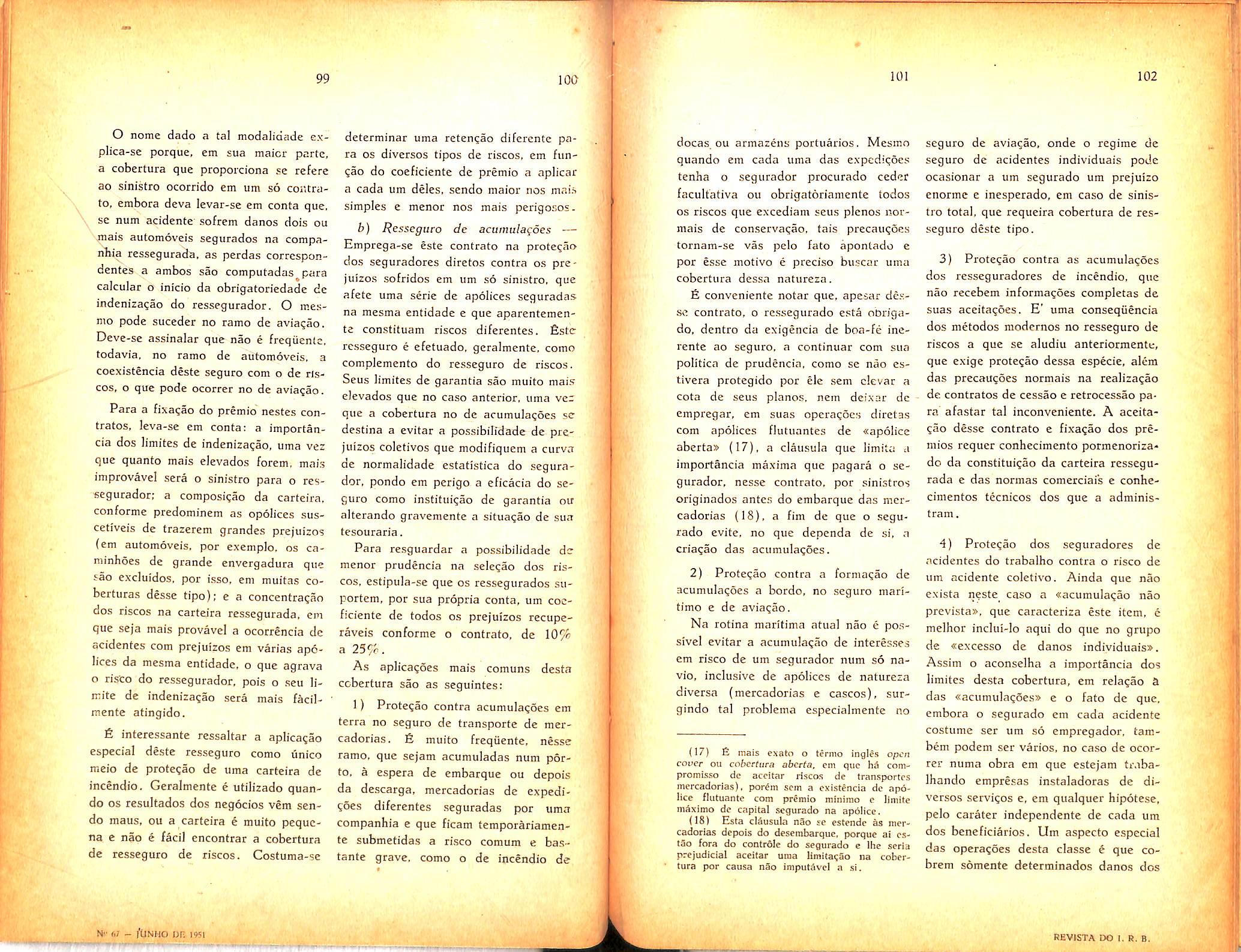
£ conveniente notar que. apesar de.sse contrato, o rcssegurado esta nbrigado. dentro da exigencia de boa-fe inerentc ao seguro. a continuar com sua politica de prudencia, como se nao estivera protcgido por elc sem clevar a cota de seus pianos, nem deixar dc cmpregar, em suas opcracoes dirctas com apoliccs flutuantes de «ap6lice aberta» (17), a clausula que limila a importancia maxima que pagara o se gurador. nesse contrato. por sinistros originados antes do embarque das mer cadorias (18), a fim de que o segurado evite, no que dependa dc si, .n cria?ao das aciimulagoes.
2) Prote^ao contra a formacao de acumuia?6es a bordo, no seguro mari time e de aviaqao.
Na rotina maritima atual nao e possivel evitar a acumula^ao de interesses em risco de um segurador num s6 navio, inclusive de apoliccs de natureza diversa (mercadorias e cascos). surgindo tal problema especialmcnte no
(17) £ mais exato o tlrmo ingles open cover ou cobertura aberta. em que ha compromisso dc accitar riscos de tran.sportes mercadorias), porSni sem a cxistencia de ap6lice flutuante com premio minimo e limite mciximo de capital segurado na apolice,
(18) Esta clausula nao re estendc as inercadotias depois do desembarque, porque ai estao fora do controle do segurado e Ihe seria prejudicial aceitar uma limitacao na cober tura por causa nao imputavcl a si.
seguro de avia^ao, onde o regime de seguro de acidentes individuals pode ocasionar a um segurado um prejuizo enormc e inesperado, em caso de sinis tro total, que requeira cobertura de res seguro deste tipo.
3) Prote(;ao contra as acumula^oes dos resseguradores de incendio. que nao recebem informa^oes completas de suas aceitaqoes. E' uma conseqilencia dos metodos modcrnos no resseguro de riscos a que se aludiu anteriormente, que cxige prote^io dessa especie, alcm das precaueoes normais na realiza^ao de contratos de cessao e retrocessao pa ra afastar tal inconveniente. A aceita^ao desse contrato e fixa^ao dos premios rcquer conhecimento pormenoriza* do da constituigao da carteira ressegu rada e das normas comerciais e conhecimentos tecnicos dos que a administram.
4) Prote^ao dos seguradores de acidentes do trabalho contra o risco de um acidente coletivo. Ainda que nao cxista neste caso a «acumulacaQ nao prevista». que caracteriza este item, e melhor inclui-lo aqui do que no grupo de -xexcesso de danos individuals*. Assim o aconselha a importancia dos limites desta cobertura, em rela^ao d das «acumula56es» e o fato de que. embora o segurado em cada acidente costume ser um so empregador, tambem podem ser varios, no caso de ocor rer numa obra em que estcjam tr.ibaIhando empresas instaladoras de di versos servigos e, em qualquer hipotese, pelo carater independente de cada um dos beneficiaries. Um aspecto especial das opera^oes desta classe e que cobrem somente determinados danos dos
105
106
especificados nas apolices originais : morte c invalidez permanente, excluindo incapacidade temporaria. Na maioxia dos casos, seus limites se dcterminam nao por quantias, porem pelo numerp de sinistros excedentes a uma importSijcia determfnada. Existe na Espanha urn regime obrigatorio deste tipo de lesseguro, que e coberto pelo Service de Resseguros de Acidentes do Trabalho, em virtude de ordem mi nisterial de 18 de dercmbro de 1947.
c) Resseguro de catastcofe — £stc contrato emprega a mesma tecnica de cobertura dos anteriores.
Sua finalidade e a prote^ao contra OS resultados de uma cata.strofe. que. altcrando fundamentalmente todas as pxevisoes estatisticas dos seguradores. possa acarretar sua insolvencia. Outros contratos de resseguro cobrera os prejuisos normais e ate os ocasionados per um aciimulo de circunstancias adversas. mas nao contra as catastrofes que. por suas caracteristicas especiais de intensidade e extensao em uma area terri torial submetida a perigo comum, sao causa de danos importantes a riscos completamente isolados entre si.
Os meios que os seguradores utillzam para resguardar-se contra os eventos catastroficos sao geralmente: a exclusao de certos riscos de suas apoli ces; a cria^ao de fundos de reserva de cxcesso de sinistros, obrigatorlos nal-
104
guns paises (19): a cobertura por consorcios estatais ou privados, obrigatorios ou nao, e finaimente o que ora sc expoe sobre resseguro de catastrofes. fiste e muito importante em companhias de formagao recente, que nao tenham podido constituir grandes rcservas pa ra tai fim e nas que segucam riscos especialmente sujeitos a catastrofe: por isso se tern desenvolvido bastantc na America do Norte. onde. alem de tudo, 0 pcrmitem as circunstancias economicas. Exemplo da necessidade deste res seguro surge em casos como o do famoso sinistro de Sao Francisco, em 1906. que acarretou vultosos prejuizos e 0 desaparecimento de muitas compa nhias americanas, de forma^ao recen te, na regiao afetada e sem cobertura desse tipo: ao contrario, as inglesas. pelas reservas acumuladas em mais de cem anos de existencia. puderam fazcr face aos danos. A dificuldade reside em encontrar quem segure tais risco.s, que exigem uma especializa?ao muito grande. a fim de evitar que. por uma acumula^ao de diferentes procedencias. seja o ressegurador o que nao satisfaqa suas obrigatoes no dia do sinis tro. As possibilidades que esta modalidade apresenta nos Estados Unidos. onde mais se desenvolveu. nascem pre-
(19) Na Franca, o decreto de 28 de Agosto de 1949. que modifica o de 23 de junho de 1939» €*ige a cria^So de uma reserva acumulativa de garantia de 1% dos premios hquidos. ate um limite em funcao da importSncia media dos sinistros dos ultimos cinco cxercicios.

cisamente de sua variedade geografica e extraordinario volume de riquezas, que pennitem a utilira^ao desle sistema. cmbora dentro de certos li mites e com restriqoes nas garantias das apolices.
A particularidade deste contrato em relagao aos anteriores 6 a maior importancia de reten^ao dos ressegurados, porem, do mesmo modo que naqueles. so sao cobertos os prejuizos oriundos de um mesmo evento. Dado o carater extraordinario das causas que os originam, e possivel utilizar. total ou parcialmente, antes que entre em vigor o contrato, as reservas de cxcesso de si nistro e outros reciirsos da companhia, podendo retardar a entrada do resse guro a importancia muito alta.
B) Resseguro de cxcesso de sinistro ou «stop /o5S»
Neste contrato cobie-se o excesso de sinistro global da carteira ressegurada sobre a importancia ou cocficiente que se estipule. Dai seu nome de stop loss, uma vez que. quando a impor tancia de sinistros pages numa cartei ra atinge o limite estabelecido, o ressegurado «ces5a» de paga-los por sua conta e e ao ressegurador que cabc faze-Io.
O montante de retcni;ao da compa nhia pode estabelecer-se de duas maneiras diversas: de modo absolute, determinando-se a importancia a partir
da qua! comegara a contribuiqao do ressegurador. e, de modo relative, estobelecendo-se um coeficiente do vo lume de premios da carteira. pelo qual se fixara o inicio dessa participa^ao.
O primeiro sistema e imperfeito, pois, se existe uma variagao no volume calculado de premios, o resseguro pode nao cumprir devidamente sua fungao de protegcr o re.ssegurado contra os dcsvios estatisticos. Por exemplo. se 0 volume de premios de uma carteira no ano anterior ao do resseguro e de 500.000 pesetas c contratou-sc um res seguro stop loss para o montante de 400.000 pesetas (80%), que e ao que sc supoe. o que melhor defende os interesses do ressegurado, este fica descoberto se falham suas previsoes e se OS premios se elevam a 1 .000.000. pois seria muito maior a probabilidade de que os sinistros fossem superiores a 400.000 pesetas. A fixaqao dessa importancia per um coeficiente do vo lume de premios afasta essas falhas. e, no caso anterior, por exemplo, aconteceria que, ao reduzirem-se os pre mios. fosse de 270.000 a importancia limite e ao crescerem. 800.000. com que se realiza automaticamente o objetivo desejado com o contrato.
Neste, resseguro tambem se estabelece um limite maximo. do mesmo modo, importancia ou coeficiente. Ultrapassado tal limite as responsabilidades pelos danos torna ao ressegurado que, neste caso, pode realirar novo resse-
guro de "segundo excedente de sinistro». Nos contratos desse tipo, o ressegurador obriga o ressegurado a suportar por sua propria conta uma parte aiiquota de todo sinistro a ser indenizado {20). Portanto, a formula corrente "de cobertura costuma ser: «0 ressegurador pagara 90^c dos danos que excederem os 75^/o do total de sinistros anual ate o limite de 1509« •

Torna-se isto necessario a fim de evitar que o ressegurado, uma vcz pagos OS sinistros de sua retengao. desvie a aten?ao dos que o ressegurador ha de pagar, liquidando-os com excessiva generosidade, o que acarretaria uma anti-sele?ao. tornando impossivel esta co bertura fora dos cases de excepcional boa-fe. Em realidade, esta estipulagao e identica a exigencia de urn pleno de conscrva^ao no resseguro de riscos.
£ necessario o maior cuidado na fixaqao dos dois fatores que entram neste contrato — o volume de premios c o volume de sinistros. Como sao dcterminados anualmente, por excrcicios financeiros, e nem sempre o inicio dos contratos diretos coincidem com o do exercicio. & precise estabelecer, que, para a fixa^ao do total de sinistros, se dcve acrescentar aos premios a reserva de riscos em curso no fim do ano, deduzindo-se a do anterior, e efetuan-
(20) Nos rcsseguro.s de excesso.s de si nistros. se estabelecc tambem com milita freqiilncia e.sta clausula, porem. tiunca se deixa de cstlpular nesta modalidadc.
108
do a mesma operaqao com a rcserva de sinistros pendentes na determina?ao da importancia total de sinistro.s.
£ste contrato e principalmente usado nos tipos de seguro em que nao se torna faci! a determinagao do que constitui um «evento», que e o fator fun damental dos outros rcsscguros de si nistros. fi 0 que ocorre no ramo de granizos e outros agricolas pelo que tern tido a1 bastante aplica^ao. Tam bem se emprega no resseguro de mutualidade, que, por seus sistemas de tarifa, podem encontrar dificuldades para outro tipo de resseguros, uma vez que. por outro lado, satisfazem com tal sistema o desejo principal dos mutuali.^tas de evitar tanto quanto possivcl as taxas suplementares sobre os premios provisoriamente pagos. Em tais cases, efetua-se este contrato com a cober tura do c-xcesso de sinistros alem da importancia maxima on coeficiente que a empresa possa suportar sem novo.s adicionais, e nos anos em que o exces.so de sinistros ultrapassc tal limite, os resseguradores suportam os prejuizos, sem que estes repercutam nos mutualistas.
No seguro direto de aviagao utiliza-se um processo inspirado nas mesr.-.as ba.ses deste, para a cobertura dos prejuizos anuais das frotas a^reas conierciais de muita importSncia, do mesmo modo que a cobertura de excess of loss, tambem ja referida.
Os contratos deste tipo constitucm a niais recente contiibui^ao tecnica ao resseguro de sinistros. reprcsentando notavel avango na resolu?ao em muitos casos do problema mais dificil da ulilizagao pratica destes contratos: a determina^ao do premio cobravel. Ate agora as dificuldades para conseguir solu^ao apropriada para este problema limitavam em grande parte o campo de emprego destes contratos, que requcriam condiqoes cspeciais e grande expericncia do encarregado de aceita-los e tarifa-los. De modo nenhum. com as formulas indicadas neste capitulo, ficn isto resolvido completamcnte. tanto r.iais por nao ser aplicavel a todas as condigoes de cobertura; todavia, pode rcpresentar um passo de grande impor tancia em seu progrcsso tecnico, que ccntribuira para a sua difusao.
Sua caractcri.stica particular c a fixagao automatica do premio a aplicar em fungao da experiencia da entidade ressegurada. em um periodo de tempo
— cinco. sete ou dez anos, geralmentc
— imediatamente anterior ao exercicio a que se refira o contrato. O mccanismo dcsta determinagao automatica do
(21) £ tambein conhccido no mercado amcricano com o nome de Carpcnfcr cover -? hitrninf) cost cover. Na tcrminologia espanhola e dificil encontrar nome aproprlado. razao porque sc preferiu conservarf o inglSs.
premio e o seguinte; Fixagao dos linitcs minimo e maximo de cobertura, como em todos os contratos de resse guro de sinistro; apuragao do total dc todos OS premios cobrados pela companhia no periodo de anos imediata mente anterior ao contrato; apuragao da soma total de todos os sinistros que teriam side pagos se o contrato estivesse em vigor no mesmo periodo; divisao desta importancia pela anterior, obtendo-se o coeficiente de sinistro proniedio e finalmentc agravagao deste coeficiente com uns tantos por cento determinados, para atender as despesas de administragao do contrato; coe ficiente anormal de sinistros no ultimo exercicio de vigcncia; lucro do segurador e desvio extraordinario da curva dos sinistros. O coeficiente que no fim se encontre aplica-se aos premios do contrato, obtendo-se o premio real cm dinheiro. Anualmente corrige-se o pre mio aplicavel, incorporando-se ao conjunto OS resultados do exercicio transcorrido c retirando-se os do primciro ano utilizado (22). Desse modo consegue-se uma distribuigao uniforme do.s sinistros num periodo de anos, com vantagens para a estabilidade dos re sultados da companhia ressegurada. sem prejuizo da maxima flexibilidade na cobertura de resseguro.
(22) Na prdtica correntc na America ulili:a-se Sste sistema, cnquanto que na Inglaterra se costuma faier o cOmputo sdbre a totalidade dos re.'ukados anuais-
Urn exempio numerico pode csclarccer qualqucr duvida sobrc cste contrato.
fi a seguinte sua formula sintetica:
S)nistros para o contrato durante os uJtimos cinco anos 100
Premios da carteira ressegurada duranfc os ultimos cinco anos' 70
== coeficiente a pagar.
e. deste mode, supondo-se que a somn de sinistros e de 105.000 pesetas e n dos premios de 3.000.000 de pesetas, teremos o seguinte:
105.000 100 X = 5^0
3.000.000 70
No ano seguinte, os resultantes alteram as importancias do seguinte modo:
126.000 100
3.000.000 X 6'/i} 70
Assim, automaticamente, se estabelecem os premios todos os anos. No caso de um sinistro de extensao extraordtaaria, os premios dos cinco anos seguintcs serao muito elevados e, ao contrario, a experiencia favoravel fraz consigo premios reduzidos.
Em geral, realizam-se contratos des te tipo por periodo de cinco anos, tacitamcnte prorrogaveis por mais um ano.
Podem ser utilizados. em princlpio, em todas as coberturas excesso de danos, porem, na pratica, nao sao aconselhaveis nas que excluem riscos de grande volume ou em que exista o perigo de conflagra^ao.
Tern sido muito discutida no meicado americano a possibilidadc de substituir 0 resseguro de riscos por estc tipo de resseguro; neste sentido e interessante citar o exempio hipot^tico formulado por E. D. Obrecht (23):
«A Companhia A recebe $ 2.500.000 de premios brutos, com despesas totai.s de $ 1.125.000 (45(:t). Seus sinis tros somam $ 1.250.000 (50%). Ce de $ 500.000 em resseguro de riscos, com uma comissao de 40%, com sinis tros da ordem de 55%. Seus premios iiquidos sao de $ 2.000.000. suas des pesas liquidas de $ 925J1D0 (46,25%)^
e seus sinistros Iiquidos $ 975.000 (48,75%).
"Agora, a companhia pode utiiizar um contrato spread loss, de custo liquido de 7% que com uma sobrecarga de 100/70, produz um prcmio de 10%. Os premios cedidos seriani
$ 25.000 e OS sinistros lecupcrados
S 175.000.
<:<Partindo da suposigao de que a Companhia A pode economizar $ 25.000 de despesas administrativas. o que c provavelmente cxcessivo. seus premios
Iiquidos seriam $ 2.250.000, suas des pesas liquidas $ 1.100.000 (48,88%)
e seus sinistros $ 1.075.000 (47,77%).
«Com um resseguro de' riscos, seu lucre real e de $ 100.000, sobre
S 2.000.000 de premios, e" com um.a cobertura spread loss, seu lucre seria
$ 75.000 sobre $ 2,350.000 de pre mios. Alem disso, o resseguro spread loss aumentaria neste caso o coeficiente de despesas da Companhia A de 46,5% a 48,88%, Com esse coeficiente de gastos mais elevado e seus lucros reduzidos, a Companhia A nao ajuizaria que o aumento dos premios merega o pre^o que custou.»
E' certo que a experiencia da compa nhia poderia ser muito diferente destas quantias hipoteticas; todavia, b exem
pio ilustra sobre os fatorcs que e preciso ter era conta ao estudar-se a conveniencia de rnn resseguro spread loss.
Uma das vantagens mais importantes deste resseguro e a de que com ele se cvitamr em grande parte, os perigos que oferece para o ressegurador de sinistros a reduqao de valor do dinheiro, que torna as indenizagoes on reparagoes mais elevadas e aumenta a probabilidade normal de que se atinja a importancia em que come^a a responsabilidade do ressegurador. £ste:
tipo de contrato, ao projetar para o future o coeficiente de sinistros de cada ano, estabiliza os resultados do con trato, embora, por outro lado, nao sirva para modificar os montantes de excesso nas imp.ortancias que realmentc correspondam a nova situaqao, que e o que proporciona a verdadeira solugao para este problema. (24).
(Traduzido por BrAULIO do NASCtMENTO).
(24) fi muito intcres-sante o trabalho s6brc cl^usulas de estabillza^So nos resseguros^ de cxccdenles dc danos pubilcado por J. Tuma: Lati'er Underlying retention in excess of loss rci/isurancc, in The I^cview. 10-12-1948.
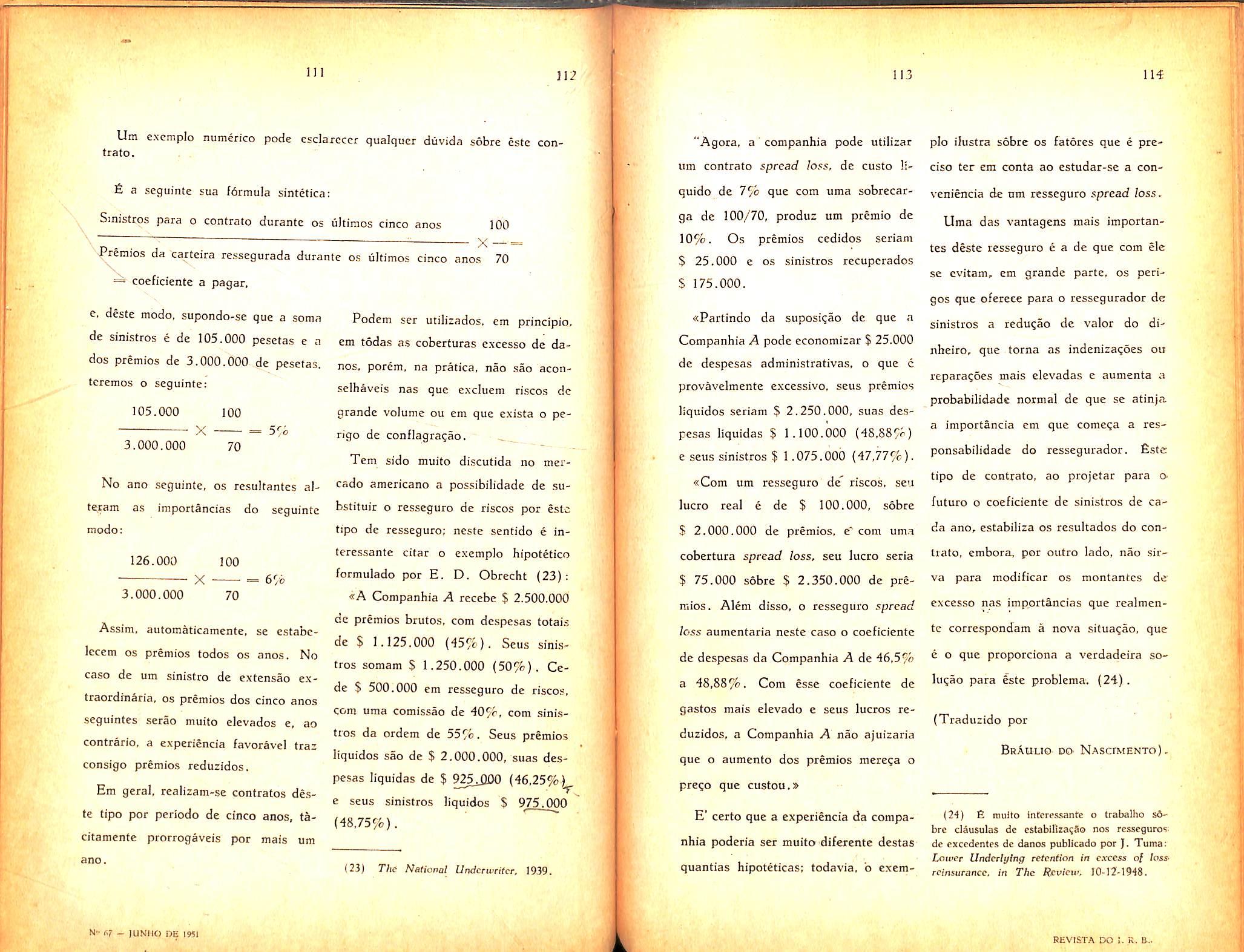
lidade de socorros. influencia do relevo. viabilidade das estradas).
3.") Localiza^ao e distribui^ao dos hidrantes.
4.") Situa?ao do abastecimento d'agua.
5.°) Observagoes sobre a corporagao: Aspectos tecniccs c administrativos.
Chcfc da Sci;ao dc Cadastro do I.R.B. Satisfatoria redu^ao e simplifica^ao na classifica^ao de localiza^ao de riscos Incendio foi obtida pela ado^ao dos criterios cstabelecidos nas Circularcs [-1/50, respectivamente. para as ciJades do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Dependendo iinicamente do numero do bloco. elemento que, comumente ja consta na apolice, e que obrigatoriamente deve constar nos formularios dc resseguro. dispensa ao dassificador do risco, considera^oes diversas para enquadra-lo numa das Tabeias de Localiza^ao.
Aiendendo ao desejo de varias seguradoras. o Conselho Tecnico do I.R.B. resolveu adotar criterio analogo para OS riscos situados na cidade de Sao Paulo. Tal resolu^ao. comunicada as sociedades pela Circular 1-3/51 foi baseada em estudo que passamos a discorrer,

Em cstagio feito naquela cidade, principalmente junto a Se^ao Tecnica do Cprpo de Bombeiros, e em colabora^ao com a Inspetoria de Riscos c Sinistros da Representa^ao do I.R.B. em Sao Paulo, procuramos desenvolver o seguinte temario:
1.") Piano da distribui^ao dos serviyos de socorros: zonas, postos e, principalmente, sedes dos quarteis.
2."} Caracteres da descentralizaqao (area total, area construida, accessibi-
Assim foram esclarecidos estes quesitos:
1,") Os servigos de socorros sao distribuidos atraves de 3 zonas, havendo cm cada uma apenas o quartel sede da zona, isto e, sem subdivisao em postos como ocorre no Distritc Federal.
Os quarteis estao assim localizados:
1." Zona — (Quartel Central)
Rua Anita Garibaldi n,° 155 — conjupto 106. bloco 424. do cadastro de blocos do I.R.B.
2." Zona — (Campos EHseos)
Alameda Barao de Piracicaba — conjunto 105, bloco 112, do mencionado cadastro.
3." Zona — (Cambuci) — Rua Major Jose Bento, esquina de Vicente de Carvalho — conjunto 107. bloco 358.
2.") Ao Corpo de Bombeiros com pete fazer a cbbertura de todo o municipio de Sao Paulo, mas 0 habito e a praxe tern incluido nessa zona de agao algumas localidades dos municipios vizinhos: Santo Andre, Sao Bernardo do Campo e Guarulhos.
Como se pode ver na figura 1, o piano de descentralizagao e bastante incipicnte e esta longe de atender as reais necessidades da cidade de Sao Paulo.
Enquanto no Distrito Federal temos 5 quarteis sedes de zonas e 15 postos para cobrir uma area de 1.167 km", o municipio de Sao Paulo com uma area aproximada de 1.571 km- dispoe apenas de 3 quarteis.
As areas totals de cada zona diferem profundamente, sendo aproximadamente;
No entretanto, criticas mais sevcras deve reccber a localizagao dos quarteis. Como se pode verificar na figura 1. OS quarteis das 2." e 3." zonas. alcm de se situarem na perifcria das respectivas zonas, estao exageradamente proximos entre si.
Na realidade. nenhuma fundamentaqao tecnica orientou o piano atualmente em vigor, que foi estabelecido de maneira arbitraria.
Na expectativa de melhores recur.sos financeiros em face de certas modificaqoes na organizagao administrative da corpora^ao, cstuda-se u'a maior descentralizagao dos servigos.
Os a.spectos: acccssibilidade de socorros, infiuencia do rclcvo e viabilidade das cstradas, com as realizagocs da Prefeitura Municipal (viaduto do Braz, cruzamento com niveis diferente.s na Avenida Sao Joao e Anhangabaii. boas pavimentagoes e outras), dispensam aten^ao especial.
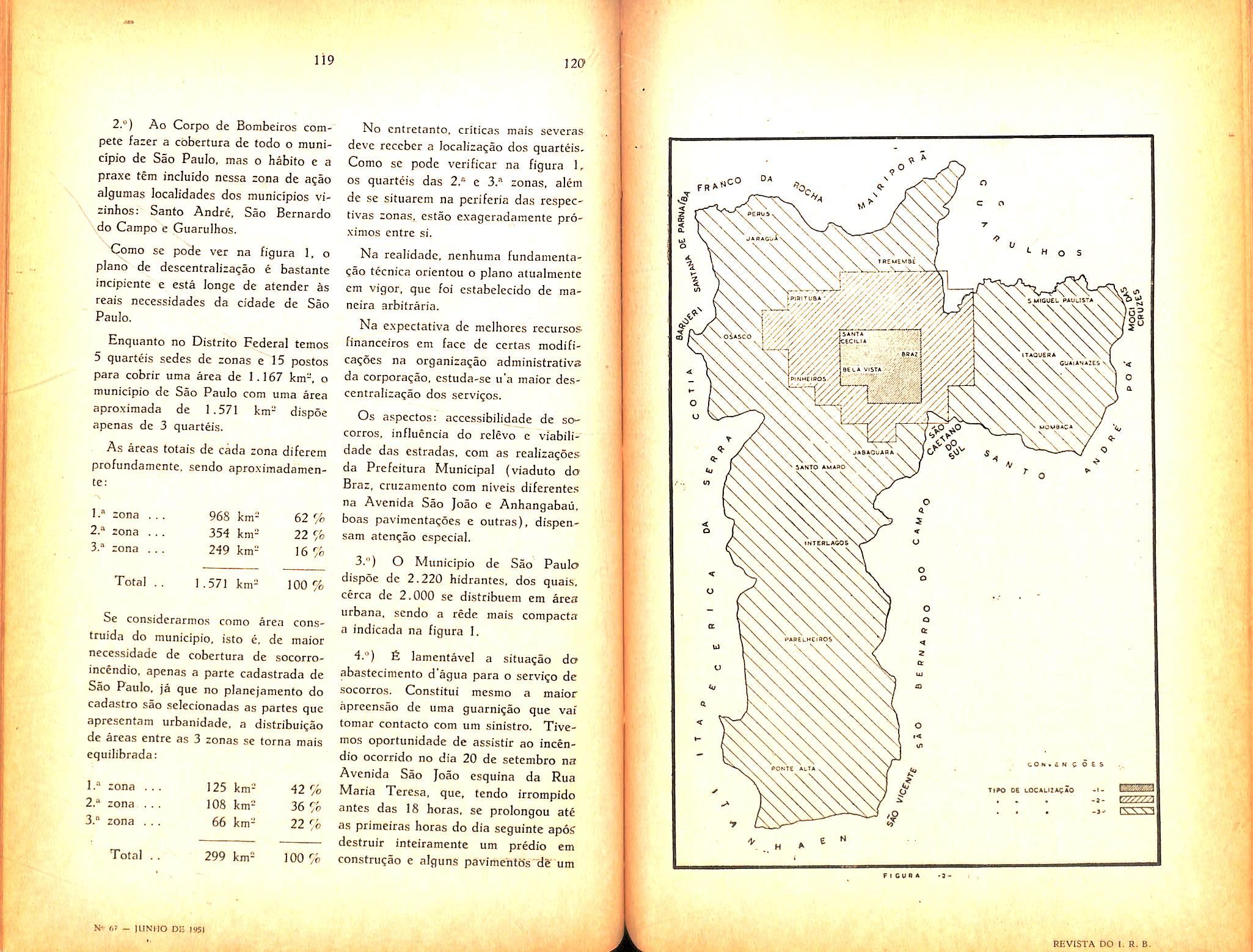
Se considerarmos como area consttulda do municipio. isto e, de maior neccssidade de cobertura de socorroincendio, apenas a parte cadastrada de Sao Paulo, ja que no planejamento do cadastro sao selecionadas as partes que apresentam urbanidade, a distribui^ao de areas entre as 3 zonas se torna mais equilibrada:
3.") O Municipio de Sao Paulo dispoe de 2.220 hidrantes, dos quais. cerca de 2.000 se distribuem em area urbana, sendo a rede mais compacts a indicada na figura 1.
4.") fi lamentavel a situagao do abastecimento d'agua para o servi^o de socorros. Constitui mesmo a maior apreensao de uma guarniqao que vai tomar contacto com um sinistro. Tivemos oportunidade de assistir ao incendio ocorrido no die 20 de setembro na Avenida Sao Joao esquina da Rua Maria Teresa, que, tendo irrompido antes das 18 horas. se prolongou at& as primeiras horas do dia seguinte apo? destruir inteiramente um predio em constru^ao e alguns pavimento's 'd6"um
predio adjacente de construgao supe rior. Na luta contra um incendio no centro da cidade, relativamente pro.ximo ao sen quarte!, o bombeiro teve sua agao altamente prejudicada pela falta d'agua.
5.") O Corpo de Bombeiros e parte integrante da Forga Piiblica do Estado de'Sao Paulo, estando a ela subordinado em todos os aspectos; tecnico. financeiro e administrativo. Desse modo a estabilidade do pessoal e bastante prejudicada. Sem ter quadro proprio. as transferencias de pragas. graduados e oficiais se fazem entre as unidade.s de infantaria. cavalaria e Corpo de Bombeiros. indiferentemente.
Como OS recursos financeiros sao parcos. cogitou-se de desliga-lo da Forga Publxa e subordina-lo a Prefeitura Municipal de Sao Paulo. Obterse-ia. cntao, alem da e.xclusividade de destinagao dos recursos financeiros, maior estabilidade e, quiga, especializagao do pessoal. Sugerem outros que a dependencia a Prefeitura se restrinja aos recursos financeiros.
Parecc-nos, entretanto. que, considerando ter o Estado de Sao Paulo diversas cidades populosas, todas elas de grandc importancia economica, industrialmente bem desenvolvidas, com enormes concentragbes de riqueza; ter algumas dessas cidades corpo de bom beiros mantido pela municipalidade, como e o caso de Santos, seria preferivel a organizagao de um Corpo de Bombeiros de ambito estadual, autonomo da Forga Piiblica e diretamente subordinado a Secretaria de Justiga do Estado de Sao Paulo.
Cumprc contudo ressaltar que apesar de todas as dificuldades, ha um visivel
empenho nos intcgrantes da corporagao em veneer os obstaculos e.vistentes e bem cumprir a sua missao.
Trouxemos uma impressao geral bem satisfatoria.
Conc/usoe.9
Partindo dessas consideragbes ficou resoivido:
a) enquadrar na Tabela 1 de localizagao a area que, alem de ser bem servida de hidrantes, esla contida num raio de agao de 6 km de cada um dos quarteis sede de Zona (figura 1). A esquematizagao dessa area em nosso cadastre de blocos e constituida pelos conjunfos 091/094. 105/108 e 136/138:
b) consideiar como tipo rle localizagao 2 os demais conjuntos editados do mencionado cadastro de blocos, excetuados os de n."" 235/236 que se encontram mai^ distanciados dos referidos quarteis.
c) classifirar como tipo 3 os conjuntos 235/236, bem como todo o restante do municipio de Sao Paulo, Em sintese foi a seguinte a classificagao de Jocalizagao adotada e que pode ser apreciada na figura 2:
Tipo de localiza^ao 1: conjuntos 091/094, 105/108 e 136/138.
Tipo de localizacao 2; conjuntos 060/064, 073/080, 088/090. 095, 102/104. 109/110, 133/135, 139/140, 166/171 e 199/203.
Tipo de localizagao 3; demais con juntos. isto e. todo o restante do muni cipio de Sac Paulo,
(Continua^ao)
III
A justiga ha dc lutar em todo o tempo com a dificuldade de provas diretas em crimes desta natureza, pois e o proprio elemento de que se serve o crimino.so — o ^ogo —,que se incumbe de destruir as proi<as reals que, em regra, formam a base do proccdimcnto criminal.
Em fate de incendio (crime covarde, proprio dos tempos r.ossos), diz Tarde (10), quando se condena, condena-se sobre simples presungao, na falta de meios de invesjigagao comparaveis aos de envenenamento. Talvez um dia o incendio sera tao facil de provar quanto o envenenamento presentcmentc. Na hora atual, ele e tao dificil dc provar quanto era estc outiora. Em materia de envenenamento era — se forgado, antes dos progresses da quimica, a condenar as pessoas por simples prcsungoes um pouco fortes, .sem que se dei-
10) La Criminality Comparee — 5' cd. 1907 — png. 128, nota.
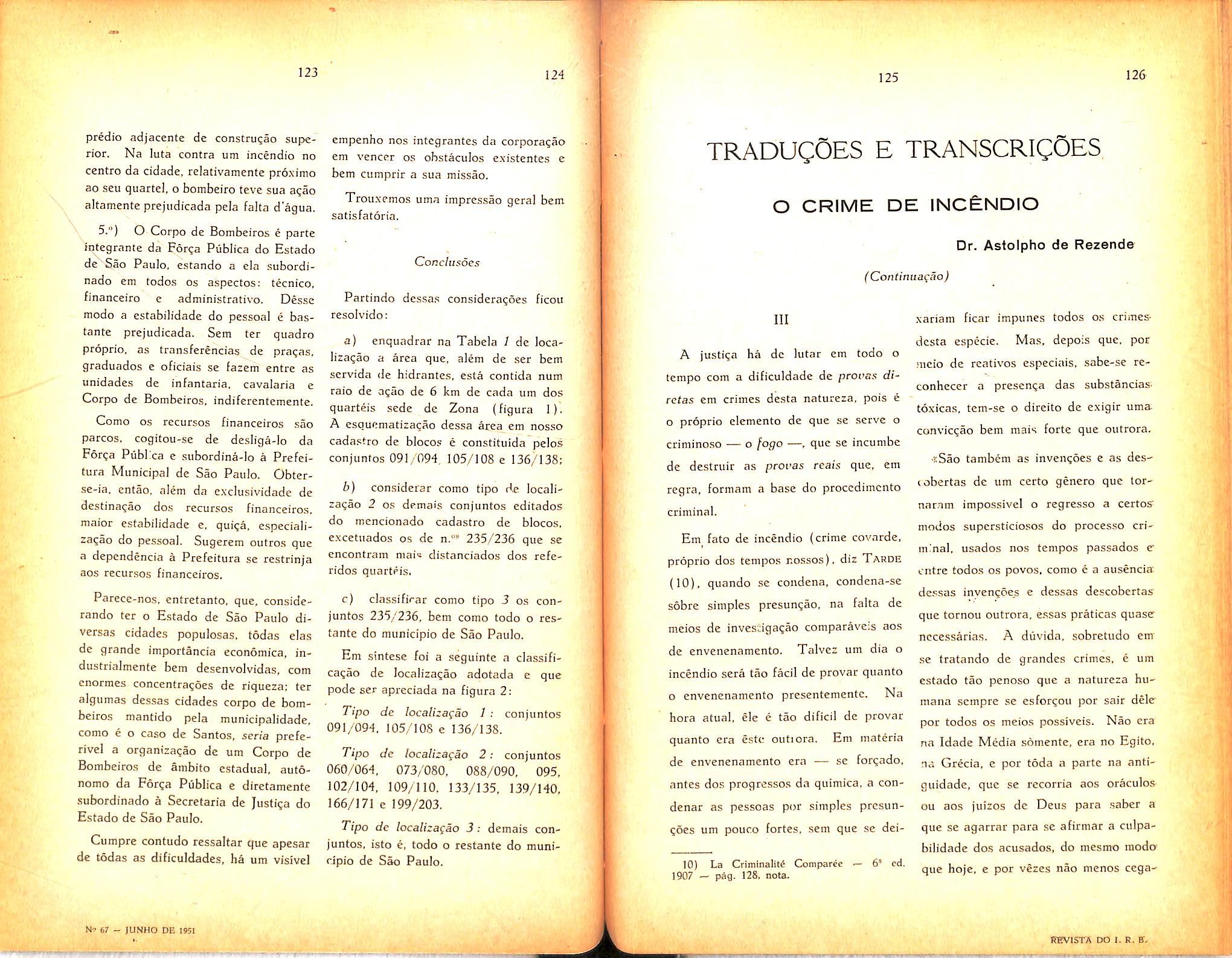
xariam ficar impunes todos os crimesdesta especie. Mas, depois que, poc mcio de reativos cspcciais, sabe-se reconhecer a presenga das substancias; toxicas, tcm-se o direito de exigir uma convicgao bem mais forte que outrora.
•xSlo tambem as invengoes e as descobertas de um certo genero que tornnr.am impossivel o regresso a certos" modos supersticiosos do processo cri minal, usados nos tempos passados e" cntre todos os povos, como e a ausencia de.ssas inveng6e,s e dessas descobertas que tornou outrora, essas praticas quase nccessarias. A diivida, sobretudo em' se tratando de grandes crimes, e um estado tao penoso que a natureza humana sempre se esforgou por sair dele por todos OS meios possiveis. Nao era na Idade Media somente, era no Egito, na Grecia, c por toda a parte na antiguidade, que se recorria aos oraculosou aos juiros de Deus para .saber a que se agarrar para se afirmar a culpabilidade dos acusados, do mesmo moda que hoje, e por vezcs nao mcnos cega-
mente, se recorxc aos exames mH;co]egais. As Oidalias eram os exames div'mo'kgais do passado. Era bem preciso a elas recorrer. quando a clinica e as ciencias flaturais ainda nao eram nascidas.»
Evidence e que. cnquanCo nao chegamos a esse estado de perfci^ao que Tarde entreve. devemos recorrer as kis do raciocinio, pondo em agao esse formidavel metodo indutivo que Bacon formulou.
fi certo que o homem, no estado normal, nao forma, por experimenta9ao direta, senao uma fraca parte de seus conhecimentos (11). Nas circunstancias as mais importantes, nos nos nao podemos apoiar na .evidencia, na percep^ao imediata. e somos reduzidos a concluir do conhecido para o desconhecido. servindo-nos do metodo da induqao: ou, como. molhor diz pRAMARtNo (12). o espirito humano, limitado em suas precau?6es nao chega a verdade, na maioria das vezes, senao por via indiretai
Em nos a rarao e sempre quem guia o espirito cm sua marcha do conhecido para o desconhecido, por aqueles fios ideologicos que enla?am o primeiro ao segundo.
O instnimento, de que a razao sc serve para recolher os raios das ideias gerais, e concentra-los sobre as particulares, e o raciocinio.
Sendo os crimes muitas vezes cometidos sem testemunhas, torna-se necessario recorrer as provas circunstanciais. por inferiores que paregam ser as provas diretas. E isto e evidence, porque, como ainda pondera Framarino. o deliCo tern por si inesmo. de um lado formas ou aparencias indefinidamente mulCiplas. e do outro. relaqoes Cambem mulciplas com as coisas e com-as pessoas. que logo servem para averigua-lo. a maneira de provas.
As especies de delito podem se predeterminar; na sua classifica^ao e grada^ao encontra seu fundamento e jusCificagao o Codigo Penal; mas. nao cabc predeterminar Codas as forma.s particulares e concretas de sua efetuagao. Se se pedissem sempre provas diretas para condenar. delitos haveria que, por sua propria natureza, escapariam sem pre a atao da pena.
E assim disse PuGUA no seu Manuale de procedura pcnale —; «MuiCos pensadores tern sustentado que dos indicios se nao pode extrair uma prova verdadeira e legitima em materia de crimes, porque com o auxilio deles nao se podera quase nunca atingir a evi dencia da prova, ou a certeza moral; mas esses, que assim, nao consideram
que a evidenc'a. por eles requerida. e um impossivel no maior niimero dos casos. nao somente quando se trata do crime, mas. como quando se trata de qualquer outro fato natural e comum da vida; e se devesse haver sempre evidencia para julgar os delitos, a maior parte dos crimes viria a ficar )mpunc».
A proposito cscreveu Beccaria que, rigorosamente, a certeza moral nao e senao a probabilidade tal que c chamada certeza, porque todo homem de bom sense nisso assente necessariamentc, por um habito oriundo da necessidade de agir, anterior a toda a especula^ao; dondc, a certeza que se requcr para determinar um criminoso e a mesma que determina todo homem nas opera?6es mais importantes da vida.
Filangieri acrescenta que se nao deve reduzir a prova dos delitos a uma absoluta certeza. porque esta nao e coinpativel com as inst;tui?ocs humanas.
Efetivamente. no concenso universal, a certeza e um estado subjetivo, isto e, e um estado psicologico produzido pela agao da realidade percebida e da consciencia de tal percepgao.
A prova indireta. chama-sc presungao ou indicio, tem a forma logica do raciocinio.
Os inimigos declarados do indlclo. que e o argumento probatorio indireto que vai ao desconhecido do conhecido, medlante relagao de casualidade (escreve ainda — Framarino), devem pensar tambem que. entre os elementos
constitutlvos do delito. um ha que quase nunca pode ser demonstrado por provas indiretas: tal e. o elemento subjetivo da inten?ao criminosa. Excetuando o caso rarissimo em que se tenta uma confissao, linica prova direta possivel da inten^ao, sem o auxilio das provas indiretas se estara sempre sem certeza completa quanto ao elemento moral do delito. sendo ncccssario absolver. Desta forma, (conclui o eminente escritor), poderse-ia aboUr o C6d':go Penal.
Nao cabe.- pois. por em duvida a grande utilidade dos indicios como guia, em geral, para a investigaqao das provas melhores, e especialmente para a indaga^ao dos criminosos.
Um desses indicios e o que rcsulta do motivo.
O homem. pronunc'a-se Ellero (13), nao se determina a realizar a?ao alguma sem um motivo. fi este um principio inconcusso que se raanifesta em todos os atos da \Ida, sem excetuar OS que cae'm sob o imperio da justi^a. Ninguem viola as leis naturais e civis, ninguem delinqiie, sem uma causa que o determine; a existencia de um crime gratuito e completamente absurda.
Assim, quando em qualquer processo criminal nao fosse dado assinalar o impulse criminoso, ja por presungbes, o delito nao se poderia considerar averiguado.
Claro e. acrescenta Ellero, que quando o move! nao se presume pcia natureza mesma do fato, induz-se.
Tratado da Prova, cap. XIV.
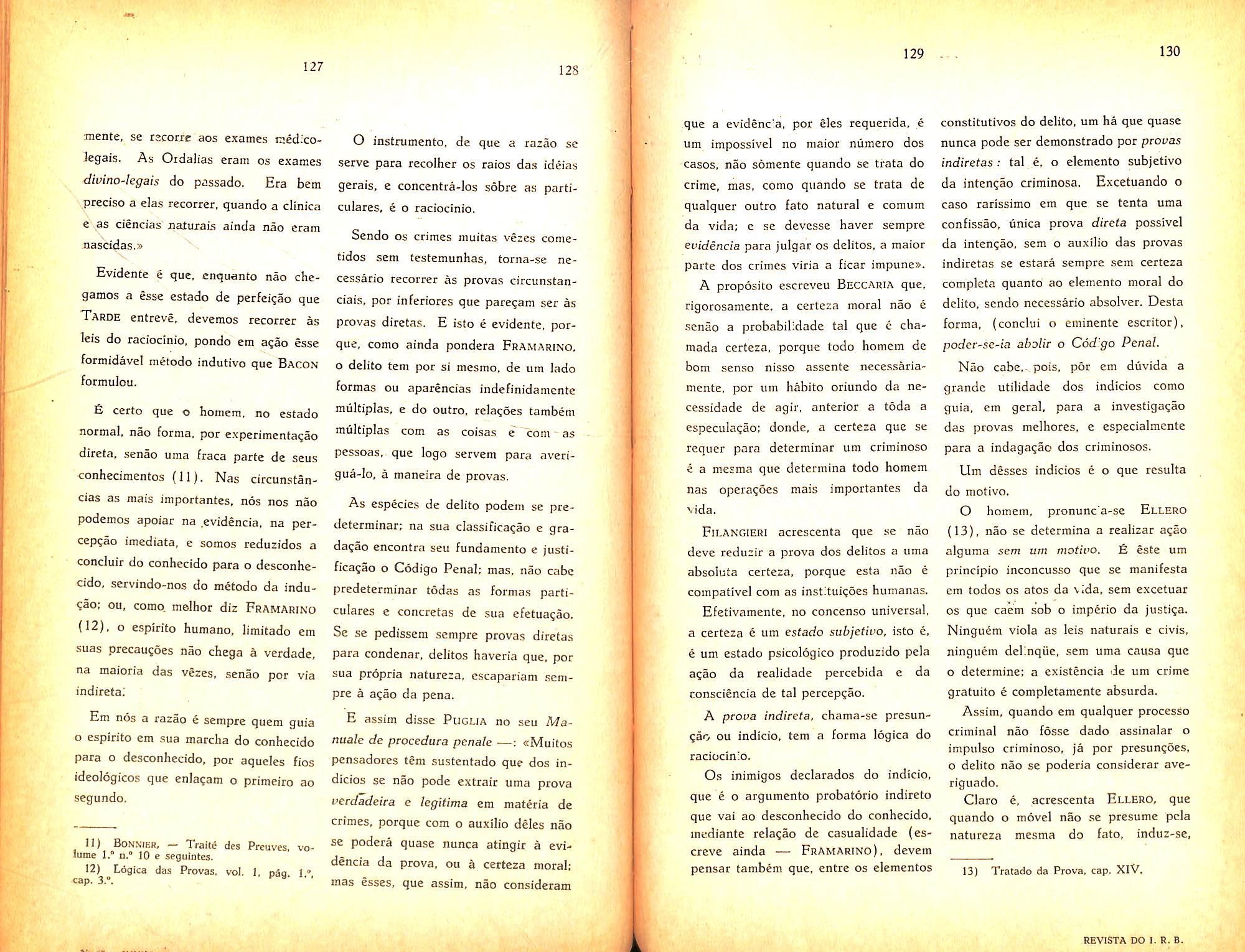
merce de provas diretas ou indireta. aos iatos e sentimentos que o originam. o amor, a utiiidade, a inimizade, a oiensa, os perigos, etc.
OENTHAM corrobora (14). O crim'; tenao side cometido, ha um culpado u ■piocurar; a suspeita vai primeiro buscar aquele que teve um motive part'culat. um interesse superior, uma faciiidacie especial; aquele que e maculado poi uma ma reputagao ou que deu prova;, de analogas disposi^oes, etc.
Ellero resumiu as questoes nest^ aforismo: Ninguem delinqiie sent motwo, e, com maior razao, ninguem, em con'iciincia. obra em pcejuizo ou danc pr6p'-!o.
E entre diversas pessoas suspeitas, diz Bentham, a circunstancia que se tira do motiuo, do carater, da situa^ao, indica, no caso de um deles, comparativamente aos outros homens. uma maioi probabilidade. Sao indicios que se nao devcm desprezar.
Ja 0 nosso Pimenta Bueno, ccm a sua profunda intuicao jurid ca e os seus vastos conheumentos do assunto, disse num dos seus mais preciosos livros (15) que a 'ci sofre dificuldades invenciveis para assinalar com pcecisao quais devem ser OS indicios ou provas pncedentes em materia de pronunc'a: pela natureza das roisas ve-se forgada a dar certo podei discrccior.ario ao Juiz sobre tal aprecia^ao. Cumpre reprimir os crimes, e para jsso su;eitar os indiciados ao exame dos Tribvtnais. E definindo o irdicio. diz que por tal se entende toda •» qualquer circunstancia que tenha
:onexao com o fato, mais ou menos incerto, de que se procura a prova.
Todos OS autores estao de acordo em que se nao pode determiner o numero dos indicios necessaries para se dizer provada a existencia do crime c da criminalidade.
Depende, diz Puglia, de varies cir cunstancia a for^a, maior ou menor, dos indicios e, portanto, e mister deixar largo campo a aprecia^ao do magistrado.
A lei nao diz quais devam ser os indicios, nera quantos, porque abolindo o sistema chamado cr.'fen'o legal, o juizo sobre a existencia, ou nao, das provas ou dos indicios, a sua materia, foi deixada a prudencia do magistrado.
Ja o dissera o classico Mittermeyer:
— Dadas as circunstancias necessarias dos fatos, aplicamos-lhes as Icis reconhecidas da exper encia, e dali inferimos a existencia desta ou daquelas rela^oes entre elas e um determinado individuo.
Ellero melhoi expoe (16): — Por previsor e previdente que seja o legisiador, nao podera deixar de abrir amplo campo a convic?ao moral do Juiz: e em nenhuma esfera da prova resultara isto tao claro como na prova indireta, que e, entre todas as provas. a que mais depende dos principios matafisicos da certeza, por natureza incoercivel. Nao se deve, pois, dizer: sao necessaries dois, tres, ou mais indicios, toda vex que pode bastar um so, e cem podem ser poucos.
Em breves terraos, a solu^ao da questao e esta: A prova indiciaria e
per/cifa quando o fato. que se' quer provar, resiilta nccessariamente, como causa de efeito, de um ou de varios indicios considerados em conjunto.
O numero necessario destes, e aindtJ Ellero quem fala, nao se pode determinar invariavelmente; resulta, tal como se pode requerer, quando surge a relagao da necessidade moral ou fisica entre o efeito e causa, entre o indicio e a coisa a que se refere.
Framarino traz a esta opiniao reforgo de sua grande autoridade, dU zendo (17) que a convicgao e o resultado de uma multidao de motivos impredeterminaveis, e funda-se em uma serie indefinida, que se nao pode prever, de pequenas circunstaiicas.
Ainda quando o legislador, por uui iurgo e deinorado trabalho de anaiise, quisesse atender as variedades possivess aas contingencias dos povos, depo:sj de haver fc!to um Codigo com milhuits ce artigos, se eiicontrara necessaiiamente na situagao de os nao ter po' dido prever a todos: so tera logrado prender com mil ligaduras a consciencia io Juiz, para que.*n cada um aos artigos podera ser, em dadas circuns tancias, outros taiitos caminhos cetrauos a verdade.
i_egislag6es houve, entre elas o CdJigo do Processo Penal Austriaco de i853, que estabeleceram principios positivos para a avaliagao e pondeiagao aos indicios.
Bonnier, comentando essas regtas ^18), censura o ristema, que qualifica
17) Ob. cit. Parte 2*. Cap. I, n." 2. 18) Op. cit. vol. 2, n.° 825.
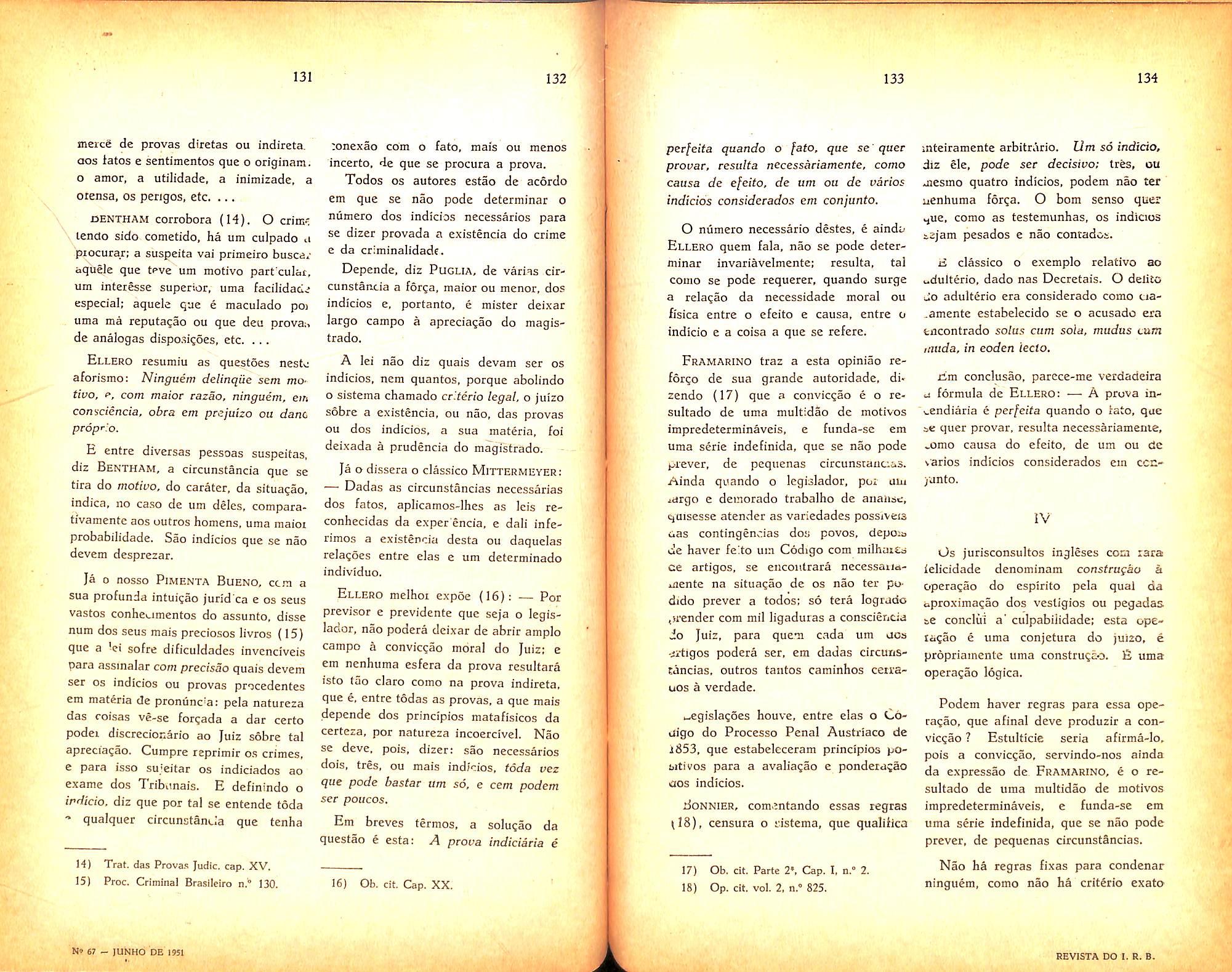
snteiramente arbitrario. Um so indicio, diz ele, pode ser decisivo: tres, ou mesmo quatro indicios, podem nao ter uenhuma forga. O bom senso quer .jue, como as testemunhas, os indicios tejam pesados e nao contados.
js classico 0 exemplo relative ao udulterio, dado nas Decretals. O deiito uO adulterio era considerado como cia.amente estabelecido se o acusado era fencontrado solas cum sola, mudus cum inuda, in eoden iecto.
dm conclusao, parece-me verdadeira u formula de Ellero : ■—• A prova ia"^.cndiaria e perfeita quando o fato, que se quer provar. resulta necessariamenie, ..omo causa do efeito, de um ou dC varies indicios considerados em ccnjunto.
Os jurisconsultos ingleses com rara ielicidade denominam construgao k operagao do cspirito pela qua! da oproximagao dos vesligios ou pegadas &e conclui a' culpabilidade: esta ope ragao e uma conjetura do juizo, e propriainente uma construgiio. fi uma operagao logica.
Podem haver regras para essa ope ragao, que afinal deve produzir a convicgao ? Estulticie seria afirma-Io, pois a convicgao, servindo-nos ainda da expressao de Framarino, e o resultado de uma multidao de motivos impredeterminaveis, e funda-se em uma serie indefinida, que se nao pode prever, de pequenas circunstSncias.
Nao hk regras fixas para condenar ninguem, como nao ha crlterio exato
para determinar o grau de convicgao ou a certeza; chega-se a este resultado por uma operagao do pensamento, quer se trate de provas reais, quer de provas pessoais, quer de indicios ou circuns tancias, — d.adas as circunstancias necessarias de um fato, aplicamos-lhes as leis-reconhecidas" da experiencia, e dai iiiferimos a existencia destas ou daquelas rela^oes entre elas c urn determinado individuo.
A certeza que deve servir de base ao juizo e a sentenqa do magistrado, socorre-nos ainda Framarino, nao pode set outra senao sem cuja posse se acha o Juiz — a ccrfeza como estado prdprio de sua alma.
O que se exige, entre oufras condigoes. c que essa convic^ao seja tal que OS fatos e as provas, submetidas ao juizo desintcressado de qualquer outra pessoa razoavel, produziriam neles a mesma certeza que hao produzido no Juizo. fi o que se chama o carater social, a socialidade da convic^ao, que deve andar reunida as condi^oes de publicidade e motivagao.
Reunidas estas tres condi^oes, nao ha razao para se desprezar a prova indiciaria, que nao k melhor nem pior do que outra qualquer especie de provas;. ao contrario, chegou-se ate a denominar as circunstancias — (csfemunhas mudas, d gnas de mais acentuada fe. muitas vezes, do que o tcsteraunho humano. direto e pessoal.
Entendem alguns, porem, que contravem a esses conceitos a disposi^ao do art. 67, do Codigo Penal, que diz 0 seguinte; «Nenhuma presungao, por mais veeraente que seja, dara lugar k imposigao de pena.x
Licito nao e. porem, confundir indicio com presun^ao.
Ha, em verdade, a respeito, duas teorias. Entendem alguns que a presiin?ao nao se distingue do indicio. e Fao, antes, uma e mesma coisa.
Pcnsam outros que a prcsungao nao so nao e indicio, como ainda nao e pro/a de modo nenhum, mas um meio de certeza estranho a prova.
Mas o que parece certo a Frama rino (19), e ainda neste ponto estamos de pleno acordo. e que os escritorcs, que confundem a presun^ao com o indicio, tern se deixado dominar pela linguagcm vulgar, a qual, por sua vez, se deixou perturbar pela .etimologia indeterminada da palavra.
A I'nguagem comum nao tem dado
Q palavra prcsungao senao um sentido muito geral e indeierminado, que se cxplica como tantas outras coisas. O sentir comura alimenta-se de visoes intuitivas, e se tem o poder para as sinteses, nao o tem para as analises.
Os proprios sustcntadores desta opiniao. quando se encontram defronte de algumas presun?6es verdadeiras, nao sabem como chama-las indicios; jamais, por exemplo, se podera chamar indicio a presun^ao de inocencia do acusado enquanto se nao prova o contrario.
Ve-se bem que essa afirma^ao de identidade nao se funda em uma convic?ao logica, mas deriva simplesmente da falta de percep^ao das diferen^as substanciais que existem entre indicio e presungao. Nega-sc, em geral, a
distin^ao entre um e outro porque nao se a!can(;am as no^oes diferenciais, e logo, quando se contempla em par ticular uma verdadeira presungao, nao ha base para chama-la indicio, porque a razao vislumbra, embora de um modo indetcrminado, que ha nela algo de especial, que se opoe a sua confusao com 0 individuo.
JOAO Monteiro, 0 mais eminente dos processualistas contemporaneos •— (20), define as presun^Qes — as conjecturas que a Ici ou o Juiz tira, por conseqiiencia indireta da reiteragao de fatos conhecidos, para afirmar a exis tencia do fato que se pretende provar.
E na nota, rica de erudi(;ao e de cita^oes, acrescenta: «Nao raro se vera confundir presungoes com indicios. Distinguem-se, porem. Estas, para usar das expressoes de Carrara (21), sao circunstancias que nos revelam, pela conexao que guardam com o fato probando, a existencia deste mesmo fato: aquelas, e.vprimem a propria persuassao desta existencia. O indicio e um ■—• meio, a presungao um — re sultado.
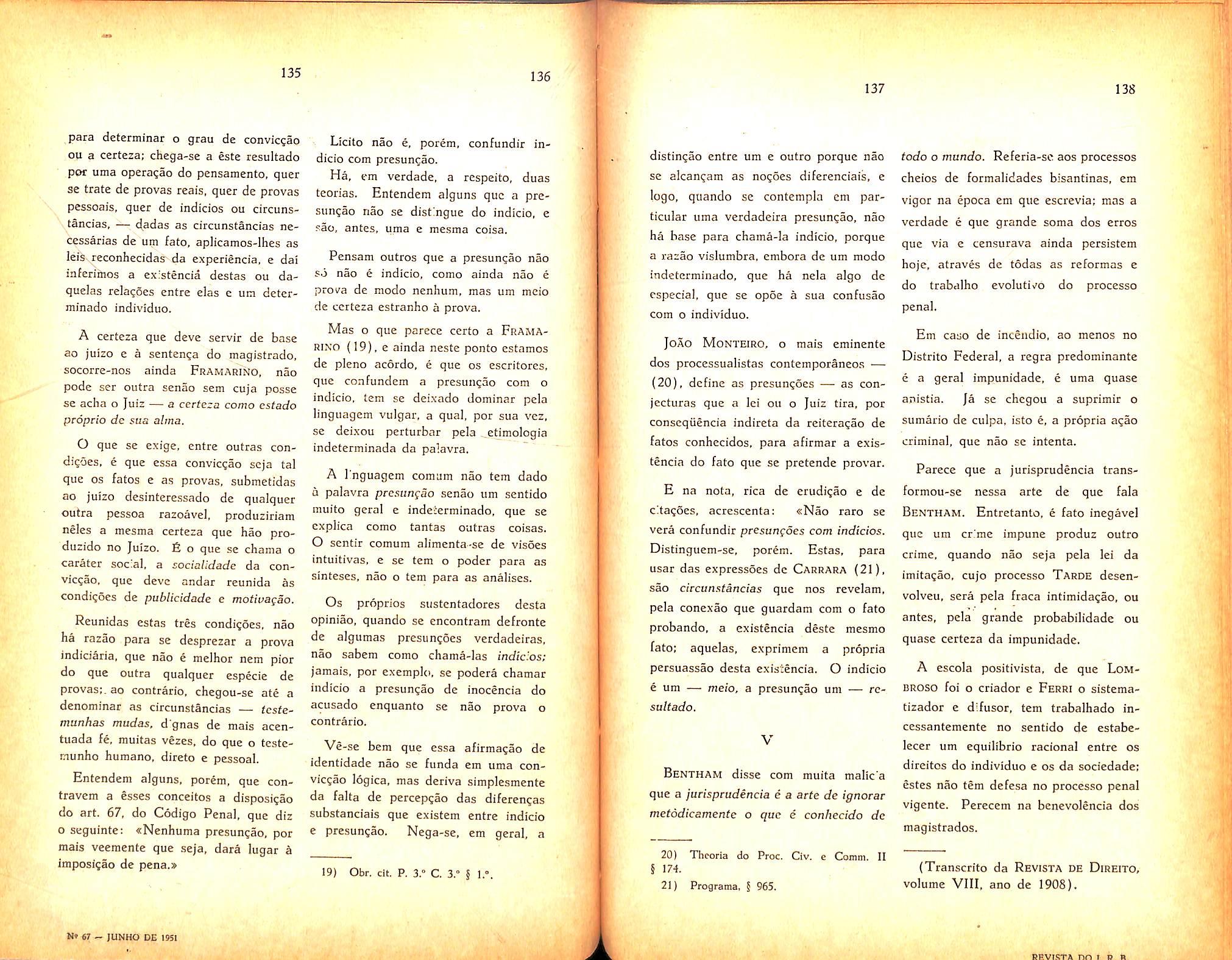
todo o mundo. Referia-sc aos processes cheios de formalidades bisantinas, em vigor na epoca em que escrevia; mas a verdade e que grande soma dos erros que via e censurava ainda persistem hoje, atraves de todas as reformas e do trabdlho evolutivo do processo penal.
Em case de inceudio, ao menos no Distrito Federal, a regra predominante e a geral impunidade, e uma quase anistia. Ja se chcgou a suprimir o sumario de culpa, isto e, a propria agao criminal, que nao se intenta.
Parece que a jurisprudencia transformou-se nessa arte de que fala Bentham. Entretanto, e fato inegavel que um cr.'me impune produz outro crime, quando nao seja pela lei da imita^ao, cujo processo Tarde desenvolveu, sera pela fraca intimida^ao, ou antes, pela grande probabilidade ou quase certeza da impunidade.
Bentham disse com muita malic'a que a jurisprudencia e a arte de ignorar metodicamente a que e conhecido de
A escola positivista, de que LomDROSO foi 0 criador e Ferri o sistematizador e difusor, tem trabalhado incessantemente no sentido de estabclecer um equilibrio racionai entre os direitos do individuo e os da sociedade; estes nao tem defesa no processo penal vigente. Perecem na bcnevolencia dos magistrados.
A prevengao c-.redugao dos riscos d principio geral que se aplica em todos OS ramos de segiiro. As emprisas que operam em [idel'.dade e aos estudiosos deste ramo certamente interessara o presente artigo, cuja tradacao e permissao para publicagao [oi oferecida a <iRemsta» pcio Sc. H. D. Linhares, de Curitlba.
Em virtude de continuar e.xistindo a trapa?a e de se elcvarern as perdas financeiras a milhScs de dolarcs, anualmente, a «Chicago Crime Com missions ficaria agradccida sc os dados contidos neste artigo pudcssem contribuir para a soIu?ao dc alguns fatores referentes a.rapinagem, rcduzindo esta modalidade de crime.
O proposito da «Chicago Crime Commissions e o dc aplicar a pesquisa cientifica no campo da criminolog'a c da penologia, relacionando-os com a sociologia e divulgar os resultados desta pesquisa para o publico, em geral, a fim de que este possa utiliza-los, na pr^tica.
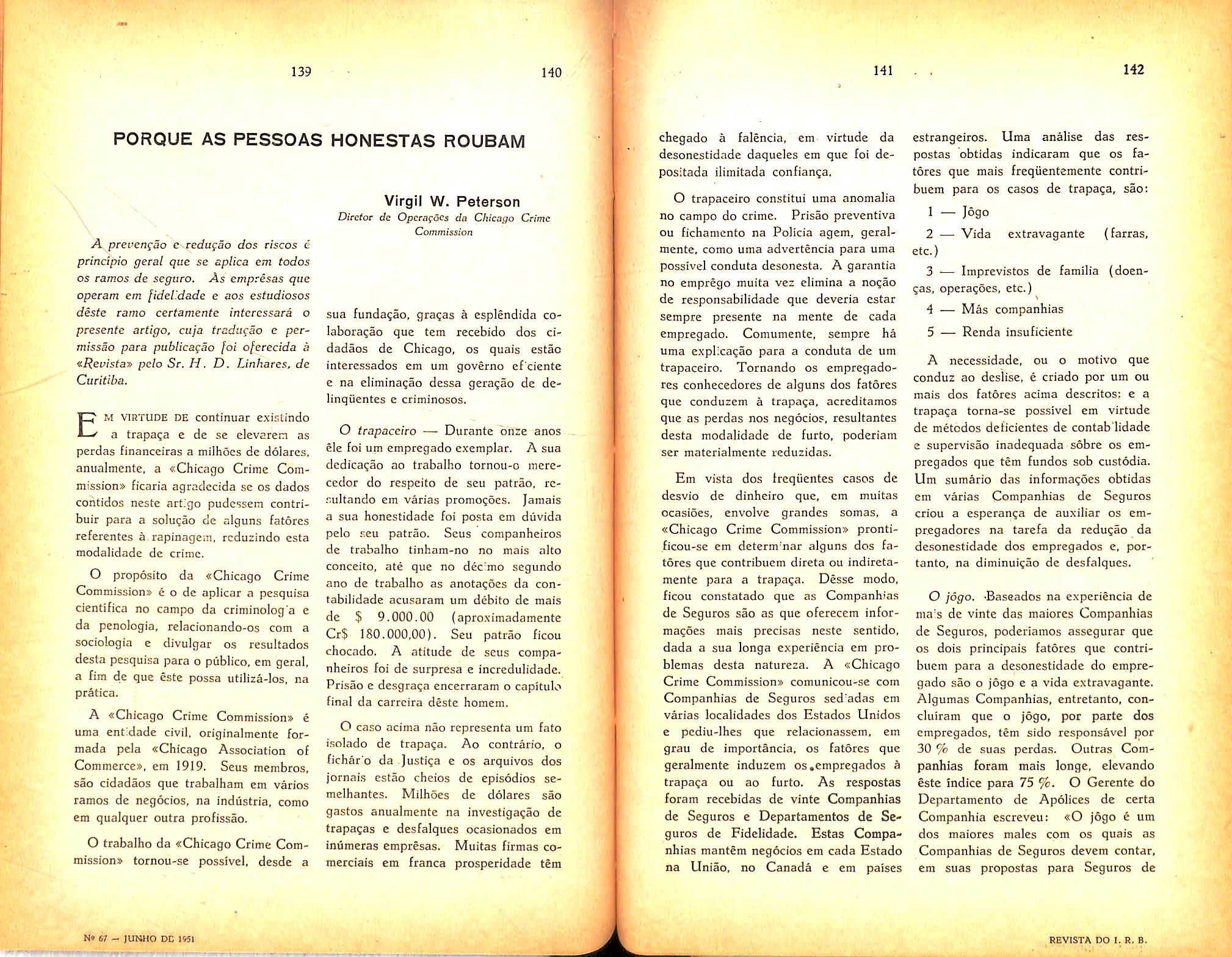
A «Chicago Crime Commissions e uma entidade civil, originalmente formada pela «Chicago Association of Commerces, em I9I9. Seus membros, sac cidadaos que trabalham em varios ramos de negocios, na indiistria, como em qualquer outra profissao.
O trabalho da «Chicago Crime Com missions tornou-se possivel, desde a
Virgil W. Petersonsua funda^ao, gragas a esplendida colabora^ao que tera recebido dos ci dadaos dc Chicago, os quais estao interessados em urn governo cf'ciente e na eliminaQao dessa geragao de delinqiientes e criminosos.
O trapaceiro —■ Durante bnze anos cle foi um emprcgado exemplar. A sua dedica?ao ao trabalho tornou-o merccedor do respeito de seu patrao, rcsultando em varias promo?6es. Jamais a sua honestidade foi posta em diivida pelo r.cu patrao. Seus companhciros de trabalho tinham-no no mais alto conceito, ate que no dec'mo segundo ano dc trabalho as anota?6es da contabilidade acusaram um debito dc mais de $ 9.000.00 (aproximadamente Cr$ 180.000,00). Seu patrao ficou chocado. A atitude de seus companheiros foi dc surpresa e incredulidade. Prisao e desgraga encerraram o capitulo final da carrcira deste homem.
O caso acima nao representa um fato isolado de trapa^a. Ao contrario, o fichar'o da ]usti?a e os arquivos dos jornais estao cheios de episodios semelhantes. Milhoes de dolares sac gastos anualmente na investiga^ao de trapa?as e desfalques ocasionados em inumeras empresas. Muitas firmas comerciais em franca prosperidade tem
chegado a falencia, em virtude da desonestidade daqueles em que foi depositada ilimitada confianga.
O trapaceiro constitui uma anomaiia no campo do crime. Prisao preventiva ou fichaniento na Policia agem, geralmente. como uma advertencia para uma possivel conduta desonesta. A garantia no emprego muita vcz elimina a nogao de responsabilidade que deveria cstar sempre presente na mente de cada empregado. Comumente, sempre ha uma explicagao para a conduta de um trapaceiro. Tornando os cmpregadores conhecedores de alguns dos fatores que conduzem a trapaga, acreditamos que as perdas nos negocios, resultantes desta modalidade de furto, poderiam ser materialmente reduzidas.
Em vista dos frcqiientes cases de dcsvio de dinheiro que. cm muitas ocasioes, envolve grandcs somas, a «Chicago Crime Commission® prontificou-se em dcterm'nar alguns dos fa tores que contribuem direta ou indiretamente para a trapaga. Desse modo, ficou constatado que as Companhias de Seguros sac as que oferecem informagoes mais precisas neste sentido, dada a sua longa experiencia em problemas desta natureza. A «Chicago Crime Commission® comunicou-se com Companhias de Seguros sed'adas em varias localidades dos Estados Unidos e pcdiu-lhes que relacionassem, em grau de importancia, os fatores que geralmente induzem os.empregados a trapaga ou ao furto. As respostas foram recebidas de vinte Companhias de Seguros e Departamentos de Se guros de Fidelidade. Estas Compa nhias mantem negocios em cada Estado na Uniao, no Canada e em paises
estrangeiros. Uma analise das respostas obtidas indicaram que os fa tores que mais frequentementc contribuera para os cases de trapaga, sac;
1 — Jogo
2 — Vida extravagante {farras, etc.)
3 ■— Imprevistos de familia (doengas. operagoes, etc.)
4 — Mas companhias
5 — Renda insuficiente
A necessidade, ou o motivo que conduz ao deslise, e criado per um ou mais dos fatores acima dcscritos; e a trapaga torna-se possivel em virtude de metodos deficientes de contab'lidade e supervisao inadequada sobrc os empxegados que tem fundos sob custodia. Um sumSrio das informagoes obtidas em varias Companhias de Seguros criou a esperanga de auxiliar os empr.egadores na tarefa da rcdugao da desonestidade dos empregados e, portanto, na diminuigao de desfalques.
O jogo. 'Baseados na experiencia de ma's de vinte das maiores Companhias de Seguros, poderlamos assegurar que OS dois principals fatores que contri buem para a desonestidade do empre gado sac Q jogo e a vida extravagante. Algumas Companhias, entretanto, concluiram que o jdgo, por parte dos empregados, tem sido responsavel por 30 % de suas perdas. Outras Com panhias (oram mais longe, elevando este jndice para 75 %. O Gerente do Departamento de Apolices de certa Companhia escreveu: «0 jogo e um dos maiores males com os quais as Companhias de Seguros devem contar, em suas propostas para Seguros dc
Fideiidade». Outro gerente estabe[eceu que «o jogo oferece ma'or cpnrtunidade para trapa?as do que qualquer outra causa.» A Secrctaria de uma grande Companhia, baseada na experiencia dc mais de 100.000 cases, considerou o jogo e a vida extravagante comb OS fatores mais importantes nos casos de trapa^a e desfaique de fundos, por parce de cmpregados. Estas perdas podem elevar-se acima de cem mil cru zeiros (5.000 dolares). A mesma Companhia opinou que nas perdas abaixo de 5.000 dolares, o jogo ocupa 0 terceiro posto como causa da desonestidade do empregado. O jogo representa 15 % das perdas menores e 25 % das maiores. Outras Companhias chegaram a estabelecer diferen^a entre a trapa^a utilizada para grandes e pequenas quantias. O gerente de certa Companhia de Seguros escreveu: «0 jogo e, provavelmente, o fator que mais contribui, isoladamente, para grandes prejuizos.»
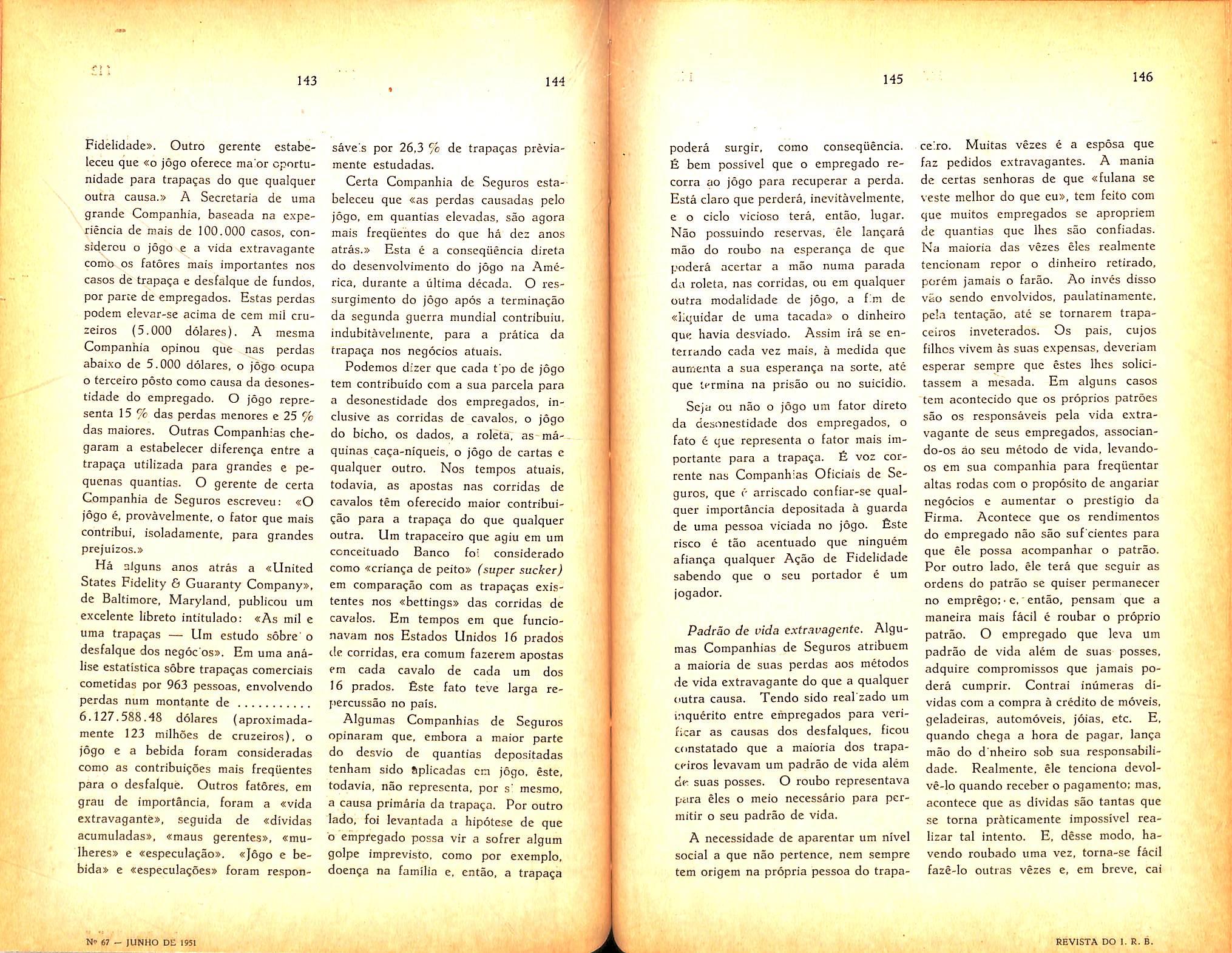
Ha uJguns anos atras a sUnited States Fidelity 6 Guaranty Company», de Baltimore, Maryland, publicou um excelente libreto intitulado; «As mil e uma trapa?as — Um estudo sobre' o desfaique dos negoc oss. Em uma analise estatistica sobre trapagas comerciais cometidas por 963 pessoas, envolvendo perdas num montante de 6.127.588.48 ddlares (aproximadamente 123 milhoes de cruzeiros), o jogo e a bebida foram consideradas como as contribui^oes mais freqiientes para o desfaique. Outros fatores, em grau de importancia, foram a «vida extravagantc», seguida de «dividas acumuladas*, «maus gerentes», «mulheres» e «especula?ao». «j6go e be bida* e «especu]a?oes» foram respon-
save'.s por 26,3 % de trapagas previamente estudadas.
Certa Companhia de Seguros esta-beleceu que «as perdas causadas pelo jogo, cm quantias clevadas, sao agora mais freqiientes do que ha dez anos atras,» Esta e a conseqiiencia direta do desenvolvimento do jogo na Ame rica, durante a ultima decada. O ressurgimento do jogo apos a terminagao da segunda guerra mundial contribuiu. indubitavelmente, para a pratica da trapaga nos neg6cios atuais.
Podemos dizer que cada fpo de jogo tern contribuido com a sua parcela para a desonestidade dos empregados, in clusive as corridas de cavalos, o jogo do bicho, OS dados, a roleta", as-maquinas caga-niqueis, o jogo dc cartas e qualquer outro. Nos tempos atuais, todavia, as apostas nas corridas de cavalos fern ofcrecido maior contribuigao para a trapaga do que qualquer outra. Um trapaceiro que agiu em um conceituado Banco foi considerado como «crianga de peito» ('super sucker) em comparagao com as trapagas existentes nos «bettings» das corridas de cavalos. Em tempos em que funcionavam nos Estados Unidos 16 prados de corridas, era comum fazerem apostas em cada cavalo de cada um dos 16 prados. £ste fato teve larga repercussao no pais.
Algumas Companhias de Seguros opinaram que, embora a maior parte do desvio de quantias depositadas tenham sido ftplicadas en jogo, este, todavia, nao represcnta, por s' mesmo, a causa primaria da trapaga. Por outro lado, foi levantada a hipotese de que b empregado possa vir a sofrer algum golpe imprevisto, como por exemplo, doenga na familia e, entao, a trapaga
podera surgir, como conseqiiencia. fi bem possivel que o empregado recorra ao jogo para recuperar a perda. Esta claro que perdera, inevitavelmente, e o ciclo vicioso tera, entao, lugar. Nao possuindo rcservas, elc langara mao do roubo na esperanga de que podera accrtar a mao numa parada da roleta, nas corridas, ou em qualquer outra modalidade de jogo, a f;m de «Iiquidar dc uma tacada» o dinheiro que havia desviado. Assim ira se enteirando cada vez mais, a medida que aumenta a sua esperanga na sorte, ate que Irrmina na prisao ou no suicidio.
Seja ou nao o jogo um fator direto da desonestidade dos empregados, o fato c que represcnta o fator mais importante para a trapaga. £ voz corcente nas Companhias Oficiais dc Se guros, que ('■ arriscado confiar-se qual quer importancia depositada a guarda de uma pessoa viciada no jogo. £ste Cisco e tao accntuado que ninguem afianga qualquer Agao de Fidelidade sabendo que o scu portador e um jogador.
Padrao de vida extravagente. Algu mas Companhias de Seguros atribuem a maioria de suas perdas aos metodos de vida extravagante do que a qualquer outra causa. Tcndo sido real'zado um inqucrito entre empregados para verificar as causas dos desfalques, ficou constatado que a maioria dos trapatHros levavam um padrao de vida alem de suas posses. O roubo representava ptira eles o meio necessario para pcrmitir o seu padrao de vida.
A necessidade de aparentar um nivel social a que nao pcrtence, nem sempre tem origcm na prbpria pessoa do trapa
ceiro. Muitas vezes e a esposa que faz pedidos extravagantes. A mania de certas senhoras de que cfulana se veste melhor do que cu», tcm feito com que muitos empregados se apropriem de quantias que Ihes sao confiadas. Na maioria das vezes eles realmente tencionam repor o dinheiro retirado, porem jamais o farao. Ao inves disso vac sendo envolvidos, paulatinamente, pel.i tentagao, ate se tornarem trapaceiros inveterados. Os pais, cujos filhos vivem as suas expensas, deveriam esperar sempre que estes Ihcs solicitassem a mesada, Em alguns casos tem acontecido que os proprios patroes sao OS responsaveis pela vida extra vagante de seus empregados, associando-os ao seu metodo de vida, levandoos em sua companhia para frequentar altas rodas com o proposito de angariar negocios e aumentar o prestigio da Firma. Acontece que os rendimentos do empregado nao sao suf'cientes para que ele possa acompanhar o patrao. Por outro lado, ele tera que scguir as ordens do patrao se quiser permanecer no emprego: - c, "entao, pensam que a maneira mais faci! e roubar o proprio patrao. O empregado que leva um padrao de vida alem de suas posses, adquire compromissos que jamais po dera cumprir. Contrai inumeras dividas com a compra a credito de moveis, geladeiras, automoveis, joias, etc. E. quando chega a hora de pagar, langa mao do d'nheiro sob sua responsabilidade. Realmente, ele tenciona dcvolve-lo quando receber o pagamento: mas, acontece que as dividas sao tantas que se torna praticamente impossivel realizar tal intento. E, desse modo, havendo roubado uma vez, torna-se facil faze-lo outras vezes e, em breve, cai
num ciclo vicioso, de onde se torna dificil sair.

Gastar dinheiro a toa, tambem contribui, tanto quanto uma vida extravagante, para a trapaga. Ta;s habitos podem sec resultantes da incapacidadc de controlar os gastos, de u'a ma orienta^ao^obtida no ISr ou, simplesmente, pelo prazer de viver extravagantemente. Os resultados secao sempre os mesmos. Muitas das trapagas tern sua origem na incapacidade dos empregados em controlarem os gastos.
Despcsas extraordinarias de lamtlia. Talvez os casos mais pateticos de trapa?a sejam aqueles em que os empre gados roubam para fazerera frcnte as despesas de faniilia, que surgcm inesperadamente. Certa Companhia de Seguros relatou o caso de um de seus empregados cuja esposa viv^a constantemenfe doente. Tudo o que ganhava era quase que exclusivamente gasto em services medicos. Eb requeria cuidados cspeciais de um especialista. Tao grande era o desejo desse empregado de ver a esposa com saude, que insistia em mante-Ia sob a melhor assisteacia medica. Naturalmente, seus vencimentos nao permitiam uma despesa desta natureza. A angiistia levou-o a tal extreme que. um belo dia, roubou o patrao. Tais casos nao sac invulgares. Muitas Companhias tern relacionado casos de doencas de familia como uma das causas mais importantes da desonestidade dos empregados. Mas companhias. Freqiientemente, a causa de muitas trapagas e devida a mas companhias. Algumas Companhias de Seguros relacionaram que os dois casos mais freqiientes de trapaga sao o )6go nas corridas de cavaJos e as
mulheres de vida facil. Com freqiiencia, sempre aparece «a raulher» nos casos de trapaga. A desonestidade dos empregados c tambem, muitas vezes, atribuida a uma associagao com companhciros acostumados a «farra» e a «bebida». As despesas que sao obrigados a fazer, para poderem viver em tais companhias, sao consideraveis em proporgao ao salario que ganham. A ma influencia que recebem e os pessimos habitos que adquirem resultam, geralmente, na perda completa da moral e do respeito. O roubo vira, fatalmente, como conseqiiencia.
Um grande niimero de trapagas envolvendo elevadas somas de dinheiro sao o resultado da alianga de empre gados que ocupam lugares de confianga com pessoas de um passado crimim^so.
Em alguns casos, empregados que freqiientam casas de jogo vem a tornar-se amigos dos proprietaries de tais estabelecimentos. Supondo-se que certos empregados tenham acesso a grandes quantias em depos'to, na emprcsa em que trabalham, e bem provavel que o proprietario de uma casa de jogo sugira aos empregados roubarem o patrao, a fim de empregarem o dinheiro no jogo, como sendo «uma coisa segura». 6 bem possivel que um empregado, em tais condigoes, tenha em mente retirar 0 dinheiro temporariamente, com a intengao de repo-lo, assim que «acerte a mao» niima boa «parada». Dessa forma, ira se envolvendo no roubo de tal forma que em breve encontrara a desgraga, a prisao, o suicidio. ou entao torna-se um fugitive da lei.
Renda insuficiente. Em muitos casos de crime que vac aos Tribunais a defesa e baseada no fato de que o cri-
minoso nao possuia rendimento suficiente para sustentar a familia, sendo conseqiicntemente induzido ao roubo. Indubitavelmente e verdade que sala ries inadequados contribuem freqiien temente para a desonestidade dos em pregados. O empregado, como justificando-se a si mesmo, muitas vezes, considera que retira o dinheiro do patrao porque este Ihe deve o dinheiro que esta roubando. Uma vcz iniciado o furto, torna-se fad faze-lo cutra vez, ate que a trapaga adquire proporgoes verdadeiramente alacmantes. Isto se aplica a muitos casos em que o trapacelro se julga mal pago e que o roubo nada mais representa do que a rccompensa ao seu trabalho. O que acontece, cntretanto, e que as importancias retiradas montam sempre a quantias que excedem a qualquer salario que ele poderia razoavelmente rcceber.
Um funcionario de ccrta Companhia de Seguros advertiu: «A nossa cxperiencia tem demonstrado que onde quer que as condigoes economxas sejam mas, as perdas de fidelidade tem aumentado em numero e proporgao. Isto e particularmente verdadeiro nas chamadas «rodas granfinas», onde os rendimentos geralmente nao chegam para cobrir os gastos. fe bem verdade que isto nao quer dizer que as trapagas existentes nestes meios tenham lugar a fim de permitirem uma vida luxuosa: ao contrario, muitas vezes o dinheiro e gasto em outros setores, como por exemplo, o j6go». Muitas Companhias de Se guros relacionaram a renda insuficiente como causa de desfalques.
Outros motives. Em muitos casos o empregado pode vir a ser um trapaceiro
pela combinagao de varies dos fatores atras mencionados. Entretanto, muitos outros elementos podem contribuir, tambem, para a trapaga. Em certos casos algumas Companhias de Seguros atribuem o roubo por parte dos em pregados a outros fatores como contingencia financeira devida a perdas em outras atividades comerciais, passado criminoso, irresponsabilidade mental, leis morais, inversao imprevidente de capital e vinganga. Um funcionario de certa Companhia de Seguros declarou: «Tcmos visto vaiios casos em que o rcssentimento pessoal tem sido a principal causa de um ato desonesto. Um jovem mensageiro que liavia sido seriamente repreend'do e, segundo pensava, injustamente, destruiu uma boa quantidade de cheques assinados que Ihc havlam sido entregues para descontar. Um outre empregado pedira, certa vcz, aumento. Nao sendo atendido passou a retirar da caixa 10 dolares por semana.»
Ao pensarmos <determinar as causas da trapaga ou de qualquer outro tipo de crime, seria bom que tivessemos sempre em mente quo o comportamento humano e extremamentc complexo. Alguns criminologistas poderiam contestar vigorosamente que as causas da trapaga repousam em fatores muito mais profundos do que aqueles do simples jogo, da vida extravagante. despesas extraordinarias de familia ou mas companhias. files poderiam argumentar que estes fat6res simplesniente precipitam a realizagao do cr:me, enquanto a verdadeira causa do delito esta ligada a personalidade do crimi noso, quase sempre um desajustado.
com inumeros conflitos afetivos. Indubitavelmenle, e verdade que um empregado nao iria iniciar-se no habito de jogar ou assoc:ar-se a mas companhias ou tentar viver por conta propria se nao tivesse uma caracteristica morbida na forma^ao da sua personalidade. Entretanto. a difcreiica e bem pequena, scjam tais fatores «causa» cu «precipitados». £]es sac de extrema importancia quando consideramos a trapaga, em si, e os meios de reduzi-la.
Mitodos deficientes de contab Udade e sttperuisao. Freqiientementc o empregado que trapaceia com os fundos em deposito, adquiriu uma posigao de confian^a devido a um servigo assiduo e eficiente, durante um longo tempo, passando. entao, a gozar de boa reputagao como padrao dc honestidade e confianga. Entretanto. devido a um metodo de vida extravagante, a doenga ou o jogo podem advir, colocando-o em uma posigao de extrema necess'dade de dinheiro, Devido a esta situagac. torna-se credor dc quantias acima de suas posses. Entretanto. o motive ou o desejo de furtar se.^a, consdente ou inconscientemente. barrado pclo risco de ser descoberto. Sistemas de contabilidade.adequados. com verificagoes e balangos, a par de uma eficiente supervisao pessoal. servirao de barreira a desonestidade dos empregados. O gerente de certa Companhia de Seguros de F.'deiidade disse que «assim como os acidentes industriais podem ser reduzidos atraves de instalagoes de salvamento adequadas, assim. tamb^m, as perdas de fidelidade poderao ser re-
duzidas, em numero e proporgao, pela instalagao de sistemas internes e reguiamentos dest'nados a reduzirem a tentagao. tornando a trapaga mais dificil.»'
A importancia de metodos eificientes de contabilidade e supervisao, foi fortalecida pela experiencia de uma outra Companhia que reportou o scguinte: «Durante os anos de guerra atribuimos algumas perdas a rapida mudanga dos metodos de trabalho. em virtude dos empregados experimcntados havcrem sido substituidos por pessoas sem a aptidao r.ccessaria para um perfeito controlc do servigo e de ser escasso o numero de contadores que. paralelamente ao crescente volume de negocios, induziu a muitos empregadores cortarem tanto a freqiiencia quanto o tempo do trabalho dos auditores.» Isto foi, sem diivida. uma deficiencia administrat.va e. tanto assim que, um grande numero de roubos e de perdas dc fide lidade foi atribuido a esta causa.
Incidentalmente, e de se esperar que uma grande parte dos desfalques feitos por empregados. durante o periodo de guerra, continuarS sendo descoberta, mai.s dia, menos dia,
O probiema de reduzir ao minimo a desonestidade dos empregados e de grande importancia. Muitos empre gadores que nunca sofreram perdas provenientes de deslises deveriam compreender que estes atos desonestos cstao sempre presentes, files deveriam saber que as trapagas e os roubos sao dariamente publicados e que, nos'
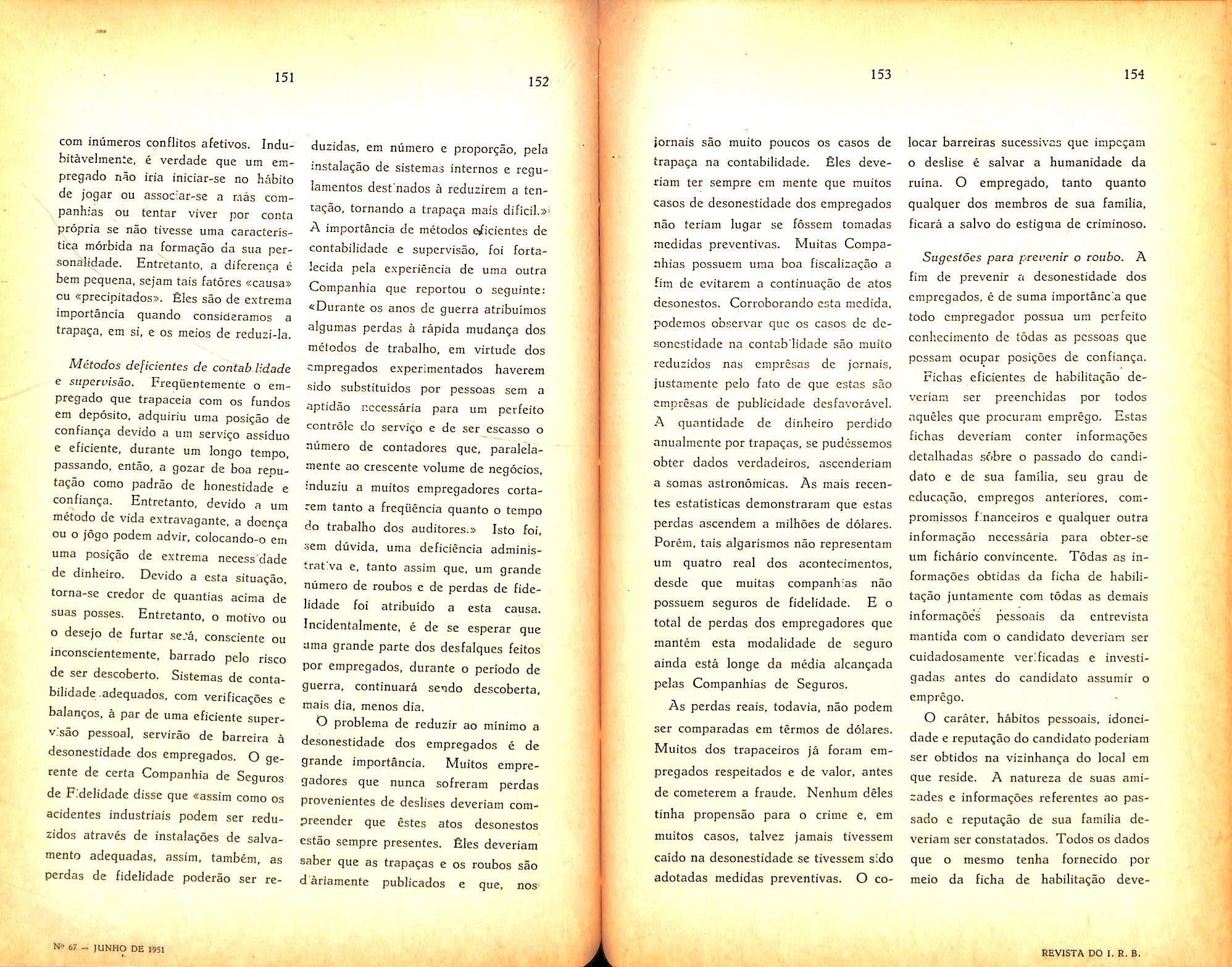
jornais sao muito poucos os casos de trapaga na contabilidade. files deve riam ter sempre cm mente que muitos casos de desonestidade dos empregados nao tcriam lugar se fossem tomadas mcdidas prcventivas. Muitas Companhias possuem uma boa fiscalizagao a fim de evitarem a continuagao de atos desonestos. Corroborando esta medida, podcmos observer que os casos dc de sonestidade na contab'lidade sao muito reduzidos nas cmpresas de jornais, justamente pelo fato de que estas sao empresas de publicidade desfavoravel. A quantidade de dinheiro perdido anualmcnte por trapagas, se pudessemos obter dados verdadeiros, asccnderiam a somas astronomicas. As mais recentes cstatisticas demonstraram que estas perdas ascendem a milhoes de dolares. Porem, tais algarismos nao representam um quatro real dos acontecimentos, desde que muitas companhias nao possuem seguros de fidelidade. E o total de perdas dos emprcgadore.s que mantem esta modaiidade de scguro ainda esta longe da media alcangada pelas Companhias de Seguros.
As perdas reais, todavia, nao podem ser comparadas em termos de dolares.
Muitos dos trapaceiros ja foram em pregados respeitados e de valor, antes de cometerem a fraude. Nenhum deles tinha propensao para o crime e, em muitos casos, talvez jamais tivessem caido na desonestidade se tivessem sido adotadas medidas preventivas. O co-
locar barreiras sucessivas que impcgam o deslise e salvar a humanidade da rulna, O empregado, tanto quanto qualquer dos membros de sua familia, ficara a salvo do estigma de criminoso.
Sugestdes para prevenir o roubo. A fira de prevenir a desonestidade dos empregados, e de suma importancia que todo cmpregador possua um perfeito conliecimento de todas as pessoas que pcssam ocupar posigoes de confianga.
Fichas eficientes de habilitagao de veriam ser preenchidas por todos nqueles que procuram emprego. Estas fichas deveriam conter informagoes detalhadas sobre o passado do candidato e de sua familia, seu grau de educagao, cmpregos anteriores, comprornissos f.'nanceiros e qualquer outra informagao nccessaria para obter-se um fichario convincente, Todas as in formagoes obtidas da ficha de habili tagao juntamente com todas as dcmais informagoes pessoais da entrcvista mantida com o candidato deveriam ser cuidadosamente verificadas e investigadas antes do candidato assumir o emprego.
O carater. habitos pessoais, idoneidade e reputagao do candidato poderiam ser obtidos na vizinhanga do local em que reside, A natureza de suas amizades e informagoes referentes ao pas sado c reputagao de sua familia de veriam ser constatados, Todos os dados que 0 raesmo tenha fornecido por meio da ficha de habilitagao deve-
riam ser cuidadosamente verificados. Deve sempre ficar positivado se o can didate foi preso alguma vez ou fichado. Em data recente a «Chicago Crime Commission® foi chamada a intervir em alguns cases de desvios de consideravais somas levados a efeito por empregados de passado criminoso. Por esta informagao verificamos que se tivessem feito uma investiga^ao adequada antes de emprcgarem tais individuos cm posigoes de confianga, o roubo nao se teria consumado. Em urn outro caso de roubo o empregado possuia um fichar.'o criminoso bem substancial. £ste fato era do inteiro conhecimento do empregador; pois este foi confidente de seu empregado sabendo que o mesmo era um ex-sentenciado; Dorem acreditava que o mesmo pudesse reabilitar-se e levar uma vida honesta, O resultado e que mais de 50.000 dolares {aproximadaraente 1 milhao dc cruzeiros) haviam sido furtados antes que 0 deslisc fosse descoberto. Geralmente, e dificil a um individuo de passado criminoso ficar em liberdade condiciqnal sem que caia novamente no crime. A tentagao e tao grande que as possibilidades de reabilitagao ficam reduzidas ao minimo. Sob qualquec hipotese, o risco que o empregador corre e tao grande que o melhor e nao confiar a tais individuos posigoes de confianga.
Per outro lado, uma investigagao rigida, por si so, nao previne as perdas
devidas a empregados desonestos. O mais certo seria um sistema adequado de contabilidade que indicasse prontamente e com seguranga, sempre que tivesse lugar qualquer deslise. Baseadas em longos anos de experiencia, as Companhias de Seguros tern recomendado a instalagao de uma auditoria interna e o uso de um sistema de controle de cheques, projetado dc raaneira que divida as responsabiiidades e descubra as perdas. Um sistema dc cheques visados duplamente seria bom. Os cheques cancelados deveriam ser visados c os balangos bancarios seriam feitos por funcionarios que nao tivessem cmitido ou autorizado a emissao dos cheques. A autorizagao para o endosso de'cheques deveria ser limitada simplesmente «aos dep6sitos». Simultaneamente deveriam ser feitas frcqiientes vistorias aos Titulos de Seguro, freqiientes inventarios e verificagao das Contas a Receber. As Contas Inativas deveriam receber uma cuidadosa supervisao. Muitas trapagas tem sido consumadas atraves da manipulagao de Contas Inativas ja aprovadas pela Gerencia. As ferias anuais dos empregados deveriam ser obrigatorias. Em varias ocasiSes ficou provado que OS empregados culpados de desfalques nao haviam tirado ferias por anos seguidos. A manipulagao dos registros necessaries para enccbrirem as tra pagas depende da continuada presenga do trapaceiro.
Algumas ".Companhias de Seguros informaram a «Chicago Crime Commis sion® que muitas dessas perdas foram devidas a intransigencia de certas Companhias em nao adotarem as medidas preventivas acima mencionadas. Da mesma forma, a falta de punigao a empregados desonestos tem encorajado a trapaca.
Uma supervisao adequada do pessoal que controla Fundos e Depositos requer maior pericia do que a necessaria ao Presidente do Juri cuja principal fungao e a.ssegurar o d'reito de cada assinatura, de maneira eficiente. Uma estreita relagaq entre o Departamento de Pessoal e os empregados que ocupem posigoes dc dcstaque deveria. em muitos casos, habilitar a Gerencia a estar sempre a par das extravagancias de familia. mas companhias, doengas no lar e desenvolvimento de maus habitos pessoais des.ses mesmos. Tendo por base este conhccimento intel gcnte do pessoal, muitos empregados provavelmente seriam salvos da ruina e muitas Companhias deixariam de ter perdas. Isto habilitaria tambem a Ge rencia transferir o pessoal quando necessario.
Cada empregador deveria tambem compreender que casas de jogo clan destine situadas proximas ao local de trabalho seriam provavelmente freqiientadas por seus empregados e seriam um perigo constante a sua seguranga.
A «Chicago Crime Commission® tem
recebido constantes,pedidos para interceder junto as autoridades no sentido de mandar fechar tais casas de jogo ciandestino. Em alguns casos ficou constatado que grande parte das horas de trabalho dos empregados era desperdigada nestes recintos. O auxilio da «Crime Commission® tem s'do solicitado para casos em que grandes somas de dinheiro tem sido desviadas pelos empregados encarregados da escrituragao dos livros de contabilidade, para fins de jogatina. Embora o em pregador nao possa regular os habitos de seus empregados, neste particular, ele podera, todavia. aproveitar sua influencia junto as autoridades a fim dc obter a cooperagao da Lei em interditar todos os estabelecimentos que funcionem ilegalmente e que possam vir a prejudicar a seguranga do seu ncgocio.
Uma investigagao apropriada dos empregados ou a instalagao de auditor'as internas, ou ainda o controle e verificagao adequados do pessoal, por si so nao bastam; porem, quando tudo isto funciona em conjunto, entao cstas raedidas de precaugao irao longe na redugao das perdas financeiras de muitas Companhias causadas pela trapaga, reduzindo, dcsta forma, um lado bem importante do problema do crime.

(Rcprescnlante Ccral no Brasil da Asstcurazioni Gcncrali di Trieste c VencziaJ
Em vista de estarem ja esgotados varios dos primeiros niimeros da ^Revista do l.R.B.s, dos quais temos rcceb'do freqiientes pedidos. resolvemos publicar, a partir dcsta edigao. alguns aetigos daqiieles exemplares. dentre os qua major interissc ainda possam despertar aos nossos leitores.
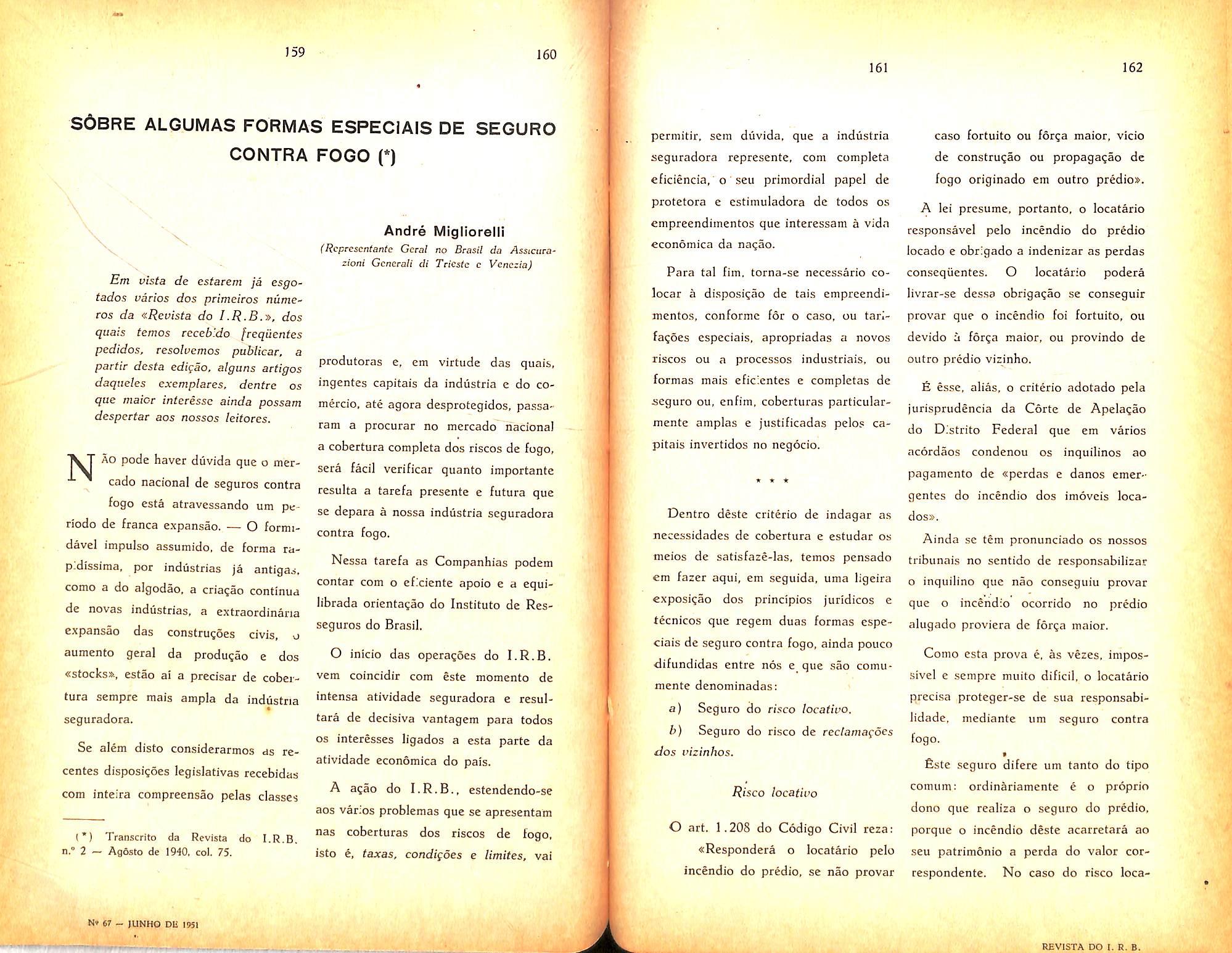
"V T AO pode haver diivida que o mercado nacional de seguros contra fogo esta atravessando um periodo de franca expansao. — O formidavel impulse assumido, de forma rap-dissima, por industrias ja antigas. como a do algodao, a cria^ao continua de novas industrias. a extraordinana expansao das constru?oes civis, o aumento geral da prodmao e dos «stocks»., estao ai a precisar de cobeitura sempre raais ampla da industna seguradora.
Se alem disto considerarmos as recentes disposigoes legislativas recebidas com inteira compreensao pelas classes
produtoras e, em virtude das quais, ingentes capitais da industria e do comercio, ate agora desprotegidos, passaram a procurar no mercado riadonal a cobertura complcta dos riscos de fogo, sera facil verificar quanto importante resulta a tarefa presente e futura que sc depara a nossa industria seguradora contra fogo.
Nessa tarefa as Companhias podem contar com o eficiente apoio e a equiiibrada orienta?ao do Instituto de Resseguros do Brasil.
O inicio das operagoes do I.R.B. vem coincidir com este momento de intensa atividade seguradora e resultara de decisiva vantagem para todos OS interesses ligados a esta parte da atividade cconomica do pais.
A acao do I.R.B., estendcndo-se aos varios problemas que se apresentam nas coberturas dos riscos de fogo, isto e. faxas, condigdes e limites, vai
permitir. scm diivida, que a industria seguradora represente, com completa eficiencia, 0'seu primordial papel de protetora e estimuladora de todos os empreendimentos que interessam a vida economica da na^ao.
Para tal fim, torna-se necessario colocar a di.sposigao de tais empreendi mentos, conformc for o caso, ou tarifagoes espcciais, apropriadas a novos riscos ou a processes industriais, ou formas mais efic:ente$ e complctas de seguro ou, enfim, coberturas particularmente amplas e justificadas pelo? ca pitais invertidos no negocio.
Dentro destc critcrio de indagar as necessidades de cobertura e estudar os meios de satisfaze-las, temos pensado em fazer aqui, em seguida, uma ligeira exposigao dos principios juridicos e tccnicos que regcm duas formas especiais de seguro contra fogo, ainda pouco difundidas entre nos e que sao comumente denominadas:
a) Seguro do risco locativo.
b) Seguro do risco de reclamagocs dos vizinhos.
Risco locativo
O art. 1.208 do C6digo Civil reza:
«Respondera o locatario pelo incendio do predio, se nao provar
caso fortuito ou for^a maior, vicio de construgao ou propaga^ao de fogo originado em outro predio».
A lei presume, portanto. o locatario responsavel pelo incendio do predio locado e obrigado a indenizar as perdas consequentes, O locatario podera livrar-se dessa obrigagao sc conseguir provar que o incendio foi fortuito, ou devido a forca maior, ou provindo de outro predio vizinho.
fi esse, alias, o criterio adotado pela jurisprudenda da Corte de Apela?ao do D.strito Federal que cm varios acordaos condenou os inquilinos ao pagamcnto de «perdas e danos emergentes do incendio dos imoveis locados»,
Ainda se tern pronunciado os nossos ti'ibunais no sentido de responsabilizar o inquilino que nao conseguiu provar que o incendio ocorrido no predio alugado proviera de for^a maior.
Como esta prova e, as vezes, impossivel e sempre muito dificil, o locatario precisa proteger-se de sua responsabilidade, mediante um seguro contra fogo.
t
Este seguro difere um tanto do tipo comum: ordinSriamente e o proprio dono que realiza o seguro do predio, porque o incendio deste acarretara ao seu patrimonio a perda do valor correspondente. No caso do risco loca-
tivo, 0 locatario' serura o predio, que nao e dele, porqiie como responsavel pelo incendio, a destruigao daquelc acarretara ao seu patrimonio uraa perda correspondente a indeniza^ao que tiver • de p'agar ao proprietario.
O seguro do r;sco locativo difere do tipo comum de seguro, tambem, porquc o segurador tera de pagar nao cm conseqiiencia de qualquer-incendio mas somente de urn incendio pelo qual o locatario resultar, mesmo por simples presun^ao, culpado.
Seguem-se dai as seguintes particularidades principals do seguro de ri^co locativo:
1) o valor a segurar sera calculado pelo locatario de acordo com quanto ele pensa podera vir a scr a sua responsabilidade. Como Ihe faltam, porem. elementos exatos de avaliagao, e justo que o rcembolso, por parte da Companhia de Seyuros, fique independentc da clausula de rateio;
2) a taxa sera calculada de acordo com o risco de fogo que apresentar o imovel alugado, mas seua. naturalmente. inferior Squela do seguro principal do proprio predio;
3) contrariamente aos principios gcrais na materia, a companhia seguradora responde da culpa (nao do
dolo) do seu segurado, que e o loca tario do predio;
4) em forga do que dispoe o artigo 1.208, 0 locatario e responsavel por «qualquer perda ou dano emergente», inclusive perdas de alugueis, de lucres, etc. O seguro, porem, limita-se, ordinariamente, a cobrir a sua responsabilidade polos prcjuizos materials diretamentc produzidos ao predio pelo in cendio.
Precisamos apenas acrcscenfar que a existencia de urn seguro contra fogo, rcalizado pelo proprietario, nao altera a posigao juridica do locatario e a neccssidade, para ele, de se cobrir com um seguro contra risco locativo, pois a seguradora do predio, podera, depois de indenizado o proprietario, agir contra o locatario para rchavcr a indenizaqao paga pelo incendio que se verificou por culpa dele.
Rcciirso do vizinho
Com base no art. 159 do Codigo Civil, OS proprietaries ou inquilinos de um predio sao rcsponsaveis pelos prejuizos que o incendio destc acarretar as propriedades de terceiros, se re sultar que o sinistro foi devido a negligcncia, impriidencia ou culpa deles ou dos seus prepostos. Nao existe, porem.
1 ''A
neste caso, presungao de culpa e o onus da prova csta a cargo do terceiro . reclam'ante.
Tratn-se aqui dc um caso especial do principio gcral da culpa extracontratual, bastantc freqiiente e de conscquencias, muitas vezes, extensas.
Citamos ao acaso, a siimula de uma sentenga proferida numa questao movida contra a Ajtglo-Mexican Petro leum Co. pela Alianqa da Bahia e outras;
«Considerando, «de meritis». que dos autos. cstd provado que, no dia 6 de agosto dc 1923, houve um incendio no deposito dc inflamaveis da Re. Considerando que outros predios foram atingidos pelo incendio aludido como se cvidcncia do laudo dos peritos. Con siderando que o incendio foi causado pela inflamagao da gasolina, no momento em que um cmpregado da Re fazia soldagcin dc latas de inflamaveis. Considerando que a imputaqao culposa tern por base a imprudencia e a previsibilidadc, indcpendentc dc qualqucr licidez ou ilicidez de fato, isto e, pouco importando que o fato seja licito ou ilicito; pelo que fica exposto e mais do que dos autos consta condcno a Re ao pagamcnto da indenizagao aos

vizinhos de Rs. 165:353^000 de prc juizos. juros e custas».
Tambem aqui o proprietario dos cbjetos em risco devc c pode se pro tegee desta responsabilidade. mediante um seguro. contra fogo das propricV dades vizinhas, que possam scr atingidas por um incendio que se vcrificar nos ditos objetos.
Dos proprios caracteristicos do se guro se dcduz:
a) que a importancia segucada rcprescntara um limitc da responsabili dade da companhia. a qual nao podera. cm caso de sinistro, apl.car a clausula dc rateio. pois o segurado nao fcm elementos certos para uma avaliaqac das propriedades vizinhas.
b) que a taxa sera bascada na gravidadc tanto do risco principal, quanto dos vizinhos, mas .sera mcnor do que a taxa do seguro de fogo comum do risco principal pois a seguradora pagara somente se o ttrcciro conseguir provar a culpa do segurado.
Aplicam-se, igualmentc, a esCe tipo de seguro, as consideraqoes contidas nos pontos 3) e 4) do seguro do «risco locativo».
Apresentamos neste niimero o movimento do ramo Transportes em 1949 (Quadros 1 a V) por sub-ramo e per mes. Consta dos quadros o numero de seguros, a importancia segurada e o premie page. Observa-se que durante o ano, para 1.166.039 seguros. com
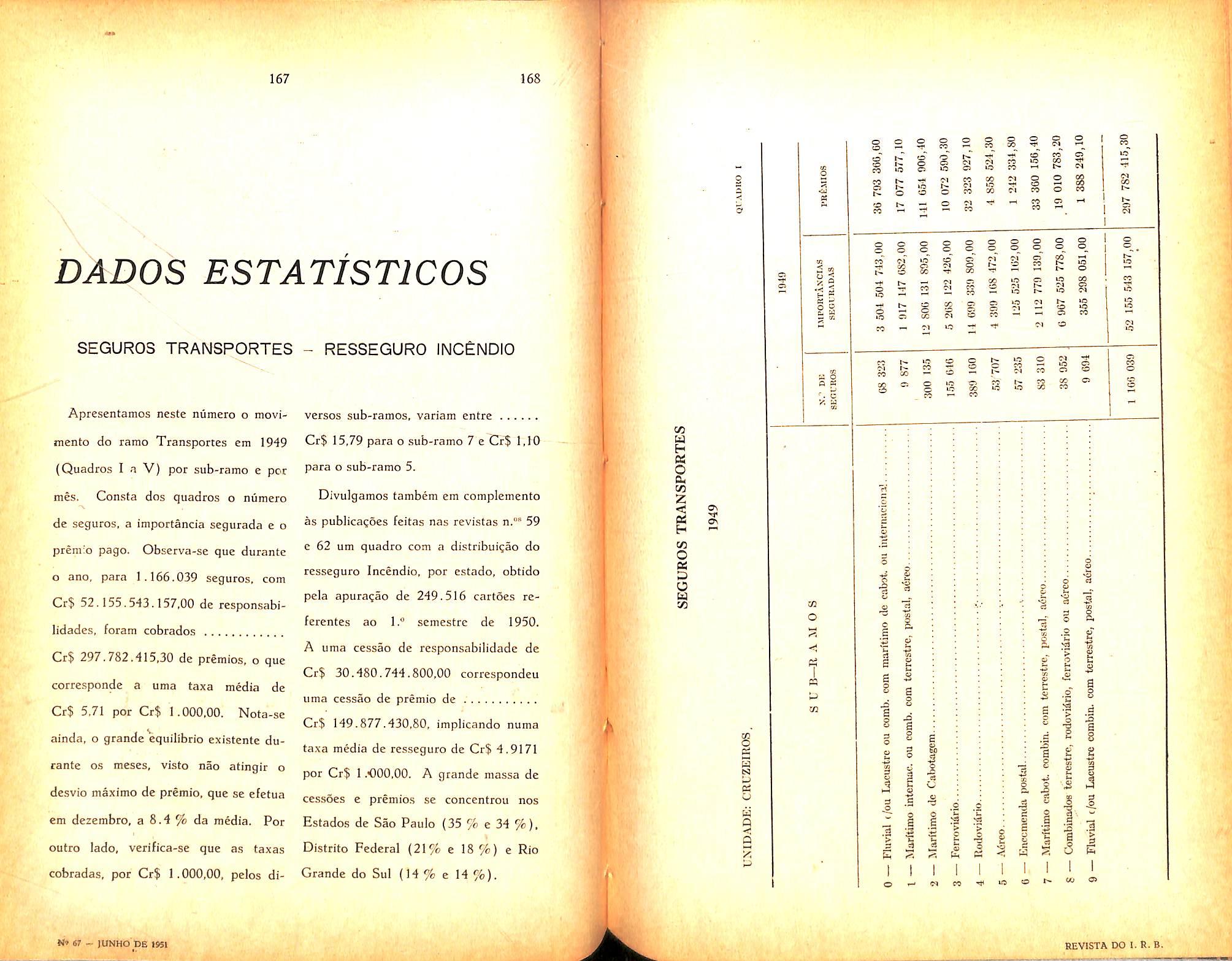
Cr$ 52. 155.543.157,00 de responsabilidades, foram cobrados
Cr$ 297.782.415,30 de premios, o que corresponde a uma taxa media de Cr$ 5,71 por Cr$ 1.000,00. Nota-se ainda, o grande cquilibrio existente du rante OS meses, visto nao atingir o desvio maximo de premio, que se efetua em dezembro, a 8,4 % da media. Por outro lado, verifica-se que as taxas cobradas, por Cr$ 1.000,00, pelos di-
versos sub-ramos, variam entre
Cr$ 15,79 para o sub-ramo 7 e Cr"$ 1,10
para o suB-ramo 5.
Divulgamos tambem em complemento as publicagoes feitas nas revistas n.°' 59
e 62 um quadro com a distribui^ao do resseguro Incendio, por cstado, obtido pela apuraijao de 249.516 cartoes referentes ao 1." semestrc de 1950.
A uma cessao de rcsponsabilidade de Cr$ 30.480.744.800.00 correspondeu
uma cessao de premio de Cr$ 149.877.430,80, implicando numa
taxa media de resseguro de Cr$ 4,9171 por Cr$ 1.000,00. A grande massa de cessoes e premio.s se concentrou nos
Estados de Sao Paulo (35 % e 34 %).
Distrito Federal (21% e 18%) e Rio Grande do Sul (H % e 14 %).
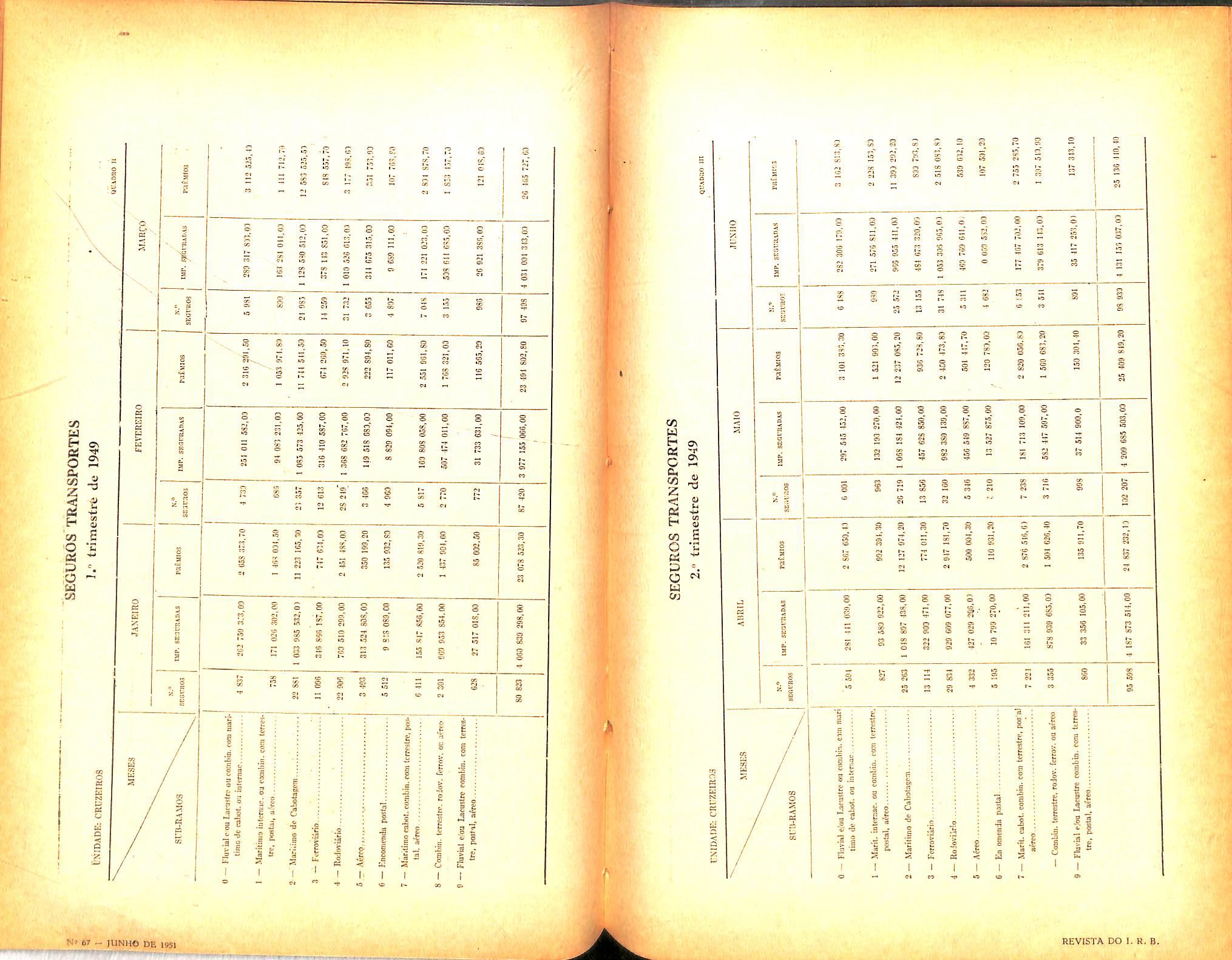
4." trimestre de 1949

TOTAIS
Vistos. relatados c discutidos cstes autos dc revista n." 46.034, da comarca dc Sao Paulo, cm que sao, rccorrcntcs a Phen x dc Poito Alegrc, Companhia de Seguros Maritimos c Tcrrestres e o Institute de Resseguros do Brasil, c recorrida Y. Secfati & Cia. Ltda.
Acordam era Scqao Civil do Tribunal de Justi^a. adotado como parte dcste c rclatorio de fls. 52. conhecer do recurso por maioria dc votos, dcferi-lo por votagao unaninc c ju!ga-lo proccdcntc por maioria de votos para cassar o acordao recorrido, profcrido no julgaraento da apclaqao n." 46.034, em vinte c oito dc novembro dc 1949.
Custas pela recorrida. Assim decidcm nos terraos c pelos fundament09 a scguir cxpostos. A recorrida moveu contra a Phenix dc Porto Alegrc. a aqao ordinaria de indenizagao pclas avarias sofridas por u'a maquina despachada para Bclem do Para, pclo vapor «Itanage»; alegou a re cm sua defesa que a a?ao estava prescnta por ter decorrido mais de um ano da data do acidente a propositura da aqao. na forma do art. 447 do Codigo Comer-
c'al O ]uii de priroeira instancia repeliu a orgui?ao de prescriqao. sustentando que cia comeqa a cc.rrcr «da data cm que a seguradora der solu?ao a redama?ao cm que cm tempo Ihe fc2 o segurado)>. Apelou a re e a scntensa foi mantida pelo vcnerando ac6rdao re corrido. Essa dccisao csta em franca divergencia com a que foi profcrida pela Colcnda Segunda Camara Civil dcste Tribunal no agravo dc pcti^ao n." 32.762. da comarca dc Sao Paulo, de 22 de abril dc 1947, que manteve pelos sous fundamcntos a scntcnga de primcira instancia, ondc sc le: «A Companhia de Seguros e o Institute Icvantaram a preliminar de prescri?ao da a^ao-porquc'dccorreu, mais dc um ano a contar da data cm que teve cicr.cia do ocorrido (Cod. Comercia! art- 447). Esta preliminar proccdc. e ccrcscenta: «sc a crcdora qu's discutir, amigavclmente com a devcdora e ficou aguardando a rcsposta desta, que Ihe nao foi favoravel, sibi impufe£». Manifesta-sc, assim, dc mancira indiscutivcl a alegada divergencia na interpretaqdo do art. 447 do Codigo Comcrcial. Reconhecida que foi a divers-dnde de intcrprcta^ao, por vota^ao unanime,

entendeu a Se^ao Civil, por maioria de votos que deve see observada na especie a interpretagao dada ao texto pela decisao da Egregia Segunda Camara Civil e adotou-a, cassando consequentcmente o venerando acordao recdr^ido. Diz efetivamente o Codigo Comerc al no art. 447.' que as a?6es resultantcs do seguro maritimo prcscrevem no fim de um ano «a contar do dia em que as obriga^oes forem exequiveis.^ Na especie, por expressa disposi^ao de lei. o segurador e obrigado a pagar ao segurado as indcni2a?oes a que tiver direito. dentro de
quinze dia.s da apresentagao da conta (Cod. art. n." 730). Nessas condiqoes. e nessa data que a obrigagao se torna cx.givel c nao naquela em que o segu rador der solu^ao a reclama^ao do se gurado. Sendo assim. como decorre da letra expressa da lei o prazo da prescrigao deve ser contado da data em que a obriga^ao s'e tornou exigivel • de acordo com os arts. 447 e 730 do Codigo Comercial, tal como foi julgado pela Egregia Segunda Camara Civel, e nao de um termo incerto e nao prcvisto na lei, como foi decidido no jul gado agora cassado.
Conrestapao apresentada pe/o advogado do Dr. Jose La fayette Beltrao Soares. nos autos da agio ordinaria mouida por Ritter & G'a. confra a «Auxiliadora». Cia. de Seguros Gerais e o I.R.B. no Juizo de Dire.io da 8." Vara Civel da Capita! do Estado de Sao Paulo.
EMENTA
— Exclusao do I.R.B. nas a?6es ordinarias de cobran?a de indenizasao de seguros quando o pagamento tenha side autorizado pelo Institute.
— O )ifiscons6rcio do I.R.B. e apenas materia processual. Nao ha vinculo obrigacional entre o I.R.B. e
o segurado. Para com este responde apenas o segurador. Nao podera haver, conscquentemenfe. solidariedade entre segurador e ressegurador na condenagao judicial imposta ao primeiro, uma vez que a solidariedade nao sc presume, ex-vi do art. 896 do Codigo Civil. Assim, comparece o I.R.B. em Juizo. na verdade, como Assistente do Reu, cm face dos interesses que Ihe cabe resguardar.
3 de abril de 1939, e regida pelo Decreto-lei n." 9-735 e pelo Decreto n." 21.810. ambos de 4 de setembro de 1946, com sede a Avenida Marecha! Camara n." 159, na Capital Federal, representado pelo advogado que esta subscreve. que, tendo sido citado para integral a contestagao apresentada por «Auxiliadora» Cia. dc Seguros Gerais, uos autos da a?ao ordinaria que Ihe move Ritter & Cia., perante esse Juizo, e a presente para expor a V. Excia. e, por fim. requerer o seguinte:
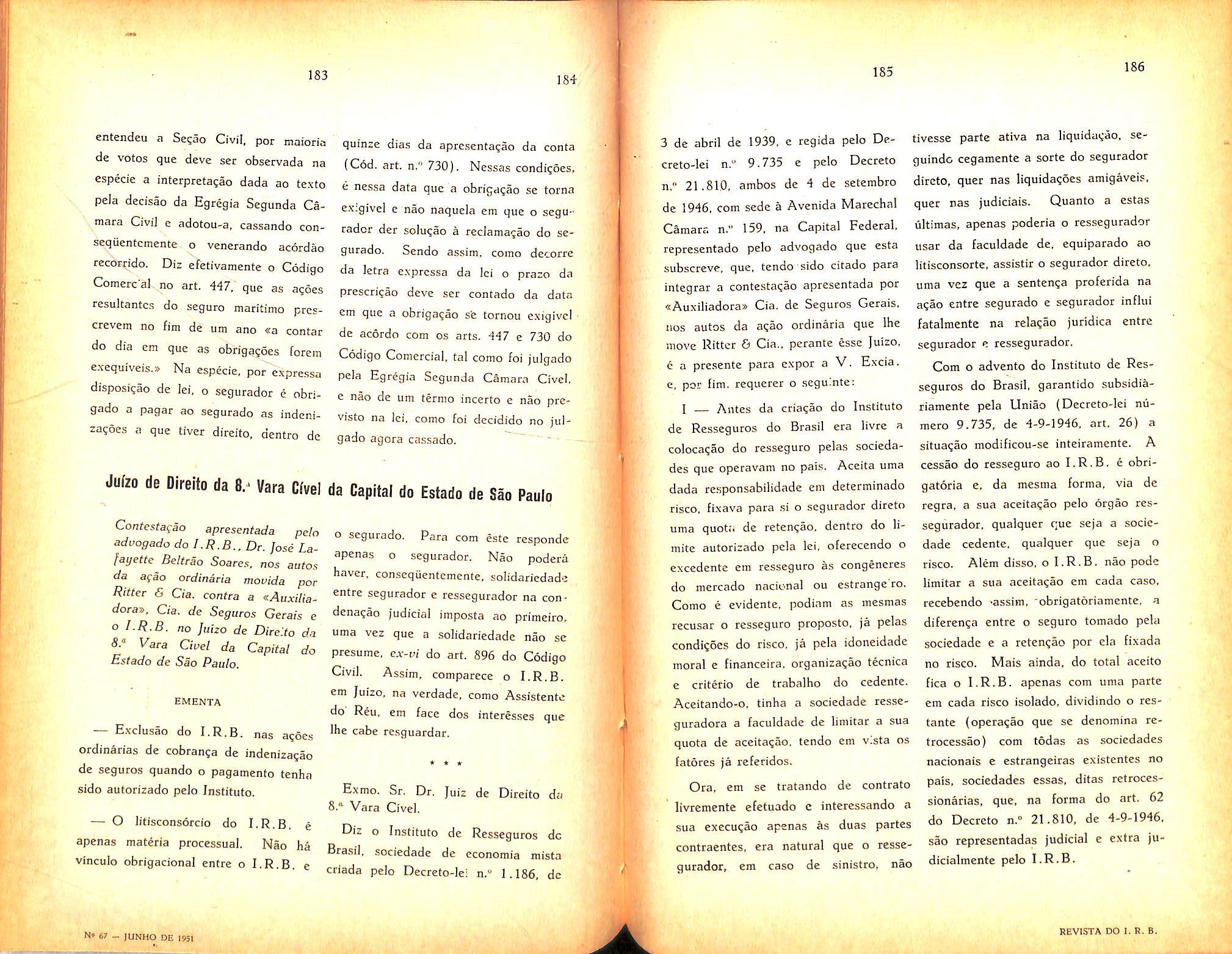
I Antes da criagao do Instituto de Resseguros do Brasil era livre a coloca^ao do resseguro pelas sociedades que operavam no pals. Aceita uma dada responsabilidade em determinado risco, fixava para si o segurador direto uma quota de reten^ao, dentro do limite autorizado pela lei, oferecendo o excedente em resseguro as congeneres do mercado nacional ou estrange ro. Como e evidente, podiam as mesmas recusar o resseguro proposto. ja pelas condi^oes do risco, ja pela idoneidade moral e financeira, organiza^ao tecnica e critetio de trabalho do cedcnte. Aceitando-o, tinha a sociedade resseguradora a faculdade de limitar a sua quota de aceitagao. tendo em vista os fatores ja referidos.
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 8.® Vara Civel.
Diz o Instituto de Resseguros dc Brasil, sociedade de economia mista criada pelo Decreto-le; n." 1.186, dc
Ora, em se tratando de contrato livremente efetuado c interessando a sua execu^ao apenas as duas partes contraentes, era natural que o resse gurador, em caso de sinistro, nao
tivesse parte ativa na liquidai^ao. seguindo cegamente a sorte do segurador direto, quer nas liquida^oes amigaveis, quet nas judiciais. Quanto a estas ultimas, apenas poderia o ressegurador usar da faculdade de, equiparado ao litisconsorte. assistir o segurador direto, uma vez que a sentence proferida na a?ao entre segurado e segurador infliii fatalmente na relagao juridica entre segurador e ressegurador.
Com o advento do Instituto de Res seguros do Brasil, garantido subsidiariamente pela Uniao (Decreto-lei niimero 9.735, de 4-9-1946, art. 26) a situa^ao modificou-se inteiramente. A cessao do resseguro ao I.R.B. e obrigatoria e, da mesina forma, via de regra, a sua aceita^ao pelo orgao res segurador, qualquer que seja a socie dade cedentc, qualquer que seja o risco. Alem disso, o I.R.B. nao pode limitar a sua aceitagao em cada caso, recebendo -assim, 'obrigatoriamcnte, a diferenga entre o seguro tornado pela sociedade e a retenqao por ela fixada no risco. Mais ainda, do total aceito flea o I.R.B. apenas com uma parte em cada risco isolado, dividindo o restante (opera^ao que se denomina retrocessao) com todas as socicdades nacionais e estrangeiras existentes no pais, sociedades essas, ditas retrocessionarias, que, na forma do art. 62 do Decreto n.° 21.810. de 4-9-1946. sao rcpresentadas judicial e extra judicialmente pelo I.R.B.
Por tocios 03 motives supra faci]mentc se verifies que 0 I.R.B. nao podcria ser um resscgurador nos moldes primitivos. No regime anterior cogitava-se apenas do intcresse parti cular e exclusivQ_ de cntidades privadas. dccorrentc de negoc'o livrementc discutido e aceito. No regime atual encontramo-nos em face dc um negocio efetuado em condigoes bastante diversas c o resscgurador oficial, quer economicamente. quer pela represcntagao das retrocessionarias. tern nas liquidagoes de sinistros um interessc muito maior do que o das proprias seguradoras diretas, interesse que nao tinha o resscgurador facultative. E, se considcrarmos o assunto do ponto de vi§ta da garantia subsidiaria da Unilo e da fungao piiblica desempcnhada pelo verificaremos que o inte resse do resscgurador oficial nas 1'quidagoes de sinistros. sem duvida alguma, bastante se aproxima do inte ressc pubiico.
Assim. nao poderia o como OS resseguradores dc outrora, assistir impa.ssivel as liquidagoes dc sinistros pelas seguradoras diretas. Em virtudc daqucle interessc maior dele resscgu rador. estabcleceu a lei que a sua obrigagao perante o scguradoc dircto dcpenderia, nas liquidagoes amigaveis, da sua intervengao no acordo. Com relagao as liquidagoe.s judiciais, nao julgou o legislador suficiente a simples faculdade do art. 93 do Codigo de Processo Civil, de intervir o I.R.B.
nas agoes cujo resultado pudesse afetar as suas relagoes juridicns com as segu radoras diretas. Foi mais longe, estabelccendo a obrigatoricdadc da sua citagao para intervir no feito, na defesa dos seus interesscs. no das retro cessionarias e no da propria Uniao. sob peiia de nulidade.
11 — Mas, citado o I.R.B. para o feito. pcdera ele ser envolvido na condenagao c, em conscquencia. contra elc ser executada a sentcnga no todo ou na partc correspondente a sua responsabilidadc perante o segurador direto'
6 cvidente que nao. Entre scgurado e rcs.scgurador ncnhiima relagao Jurldica existe e, portanto, nao pode aquele. em hipotesc alguma. demandar isoladamentc contra estc, nem pretender seja envolvido na scntenga condcnatoria proferida em agao sua contra o segu rador. Seguro c resseguro sao contratos distintos. que em absolute se nao confundem, de nianeira que o segurado tcm agao apenas contra'o segurador, nunca contra o resscguiadcr.
Para que o I.R.B. icspondesse pelantc o segurado seria nccessario fosse o mesmo solidariamente responsavel pelas obrigagoes asr,umidas pelo segu rador. Mas, a .solidaricdade nao se presume, rcsultando da Ici ou da vontade das partes (Codigo Civil art. 896). Como nao existe relagao contratual cntrc o I.R.B. c o segurado, nem intervcm aquele no contrato entre este c o segurador, nao poderia existir soiidariedadc por conscnso das partes. Solidariedade legal tambem nao ocorre
no caso. porque. o que estabclece a lei c exatamentc o contrai'io, isto c. que «o I.R.B. Tcspondcra perante o se gurador dircto proporcionalmcnte a responsabilidadc rcssegurada» (Decreto n." 21 .810. de 4-9-1946, art. 64) e so perante ele. tanto que a letra b do art. 42, do Dccrcto-lei n." 9.735, preve a hipotese da perda pela socicdade da recuperagao do resseguro, sem prejuizo ,e claro, dos direitos do segurado contra o segurador.
Nao se diga que a solidariedade entre segurador c resscgurador ficou estabclecida ao dispor o art. 60 do citado Decreto n." 21.810 que cnas liquidagoes judiciais 0 I.R.B-. sempre que tiver responsabilidadc na importncia reclamada, sera considerado litisconsorte necessarian.
Tal dispositive, como c evidente. nao poderia ter tal alcance. porque. se assim fosse, cstaria em flagrante contradigao com o disposto no ja refcrido art. 64. Alcm disso. o litisconsorcio. quo 6 o de que trata o art. 60. e materia proccssual c a solidariedade e materia dc direito substantive. Quer pois significar o artigo supra transcrito. apenas, que no proccsso 0 I.R.B. sc eqiiipara ao litisconsorte necessar;o, uma vez que a sua citagao inicia! c essencial para a validadc dos atos processuais postcriorcs e que a elc sao asscgurados os mcsmos meios de dcfesa pcrmitidos ao Reu.
Assim dispondo, tcvc a lei cm mirn armar o I.R.B. dos mcios indispcnsaveis a defcsa daquele interesse maior a que anCcriormcntc nos refcrimos. nunca permitir pudesse o segurado contra ele diretamente demandar.
Ill — Do que ficou dito resulta que a posigao do I.R.B. nas agoes dc seguros pode perfcitamentc ser comparada com a do hcrdeiro nas agoes em que a heranga c parte como Re. Pelo paragrafo liinico do art. 88 do Codigo de Processo Civil c assegurado ao herdeiro o d'reito de intervir como litis consorte naquelas agoes c, no entanto. ninguem ousaria .sustcntar que, por tal motivo. exista solidariedade entre a heranga c o herdeiro que intervem como litisconsorte. c que possa a sentenga condcnatoria daquela envolver a este c contra ele scr executada. Difere a situagao de um da do outro, apenas cm que o herdeiro podera intervir por iniciativa sua e 0 I.R.B. cfeuera ser obrigatoriamente citado, para intervir. se quiser.

O que nao padccc a menor duvida c que nem o hcrdeiro nem o I.R.B. sao vcrdadeiros lilisconsortcs. Litisconsorcio verdadeiro s6 existe quando ha comunhao dc interesse ligando entre si vacios litigantcs no andamcnto e curso da causa c no resultado final (Z6tico Batista,' C6digo de Processo Civil anotado e ccincntado, edigao de 1940, vol. 1, pag. 66). Vale dizer, para que haja verdadeiro litisconsorcio e precise que os litigantes pudessem de mandar ou scr demandados cm scparado, nao fosse o dispositive processual que detcrmina a fusao das agoes.
No mesmo scnt'do e a ligagao de De Placido e Silva Comentarios ao Codigo dc Processo Civil, 2.-' edigao, 1." volume, pag. 94 — so existe o litisconsdrcio passive verdadeiro. quando o d'reito pode ou clex'C ser exereido pelo autor contra varios sujeitos. O litis consorcio passive verdadeiro resulta dc uma solidariedade em relagao a um
debito ou o que Ihe seja equivalente. Sao litisconsortes coobrigados ao paganicnto de prestagao ou contra presta?,lo exigida, £ a solidariedade passiva a que se refere o Codigo Civil nos arts, 904 e 905.
IV — Bern analisada pois a posicao do I.R.B. nas a^oes de seguros, a conclusao a que se chcga, sem dificuldade alguma, e que funciona ele como verdadeiro assistentc do Reu, equiparado, como todos os assistentcs (Co digo de Processo Civil, art. 93), ao litisconsorte. Note-se — equ parado para OS efeitos processuais, porque, como ja ficou dito, o Jitibconsorcio e matena e.xclusivamente processual.
O I.R.B. e porem, um assistentc «sui generis®, porque a assistencia e cm rcgrn de iniciativa do interessado e. de acordo com o art. 60 do Decrcto n," 21.810, devera o I.R,B, ser c'tado em todos os processes judiciais de que Ihe possam advir obrigagoes como ressegurador. sendo porisso cquiparado. ou, na expressao da lei, <i.considerado litisconsorte necessario^. «Sui generis® ainda porque. intervindo na agao do segurado contra o segurador, ao lado deste, Ihe assegura a lei predominanc'a na louva^ao de peritos (Decreto-lei n,° 9.735, de 4-9-1946, art. 36, § 4,")\ Assistentc impar, finalmentc. porque. via de regra, o assistentc nao pode impedir que a parte assistida transija e, no entanto, quando o I.R.B. e interessa do no desfecho da demanda, nao e licito ao segurador por termo ao feito, sem anuencia expressa dele.
V — Ora, ocorre na especie que o Suplicante nada tern a opor ao reclamado pela autora, tendo mesmo expe-
dido as seguradoras diretas a usual autoriza^ao de pagamento do sinistro (ALSI n." 56/50), prontamente acatada, em face do disposto no art. 33 do Decreto-lei n.° 9.735 c no art. 59 do Decreto n." 21.810, pela maioria das sociedades interessadas.
Assim sendo. nao tem o Suplicante nenhum interesse em intervir no prcsentc feito, ao lado da re. A sua quota de responsabilidade perante a «Aaxiliadonn (art. 64 do Decreto n." 21.810, de 4-9-1946) Hc indenizagao de ....
Cr$ 49.598.35, decorrente do resseguro aceito daquela re. ser-lhe-a oportunamente creditada. nos termos das «Normas para Cessoes c RetrocessoesIncendio® em vigor (item 10 da clausula 21.'^), mediante a apresentagao do comprovantc do pagamento daquela importancia a autora. como ja foi feito com lelagao as demais interessadas no sinistro.
Isto posto, e considerando que a propria autora nos topicos assinalados da cota de fls, 30 reconhecc que so tem agao contra a seguradora direta (fls. 32/3/4), quer o Supl'cante, respcitosamente. requerer determine V. Excia,, no despacho saneador, a sua exclusao do feito. Nem se compreenderia que, recusando-se a intervir na aqao, pelos justos motivos ja expostos. fosse o Su plicante compelido a dele participar, na qualidade de reu, vindo a ser a final condenaCiO. alem do principal, em juros, custas e honorarios.
Nos terrnos supra, ordenada a juntada da presente. bem como da procurasao anexa, aos autos da agao.
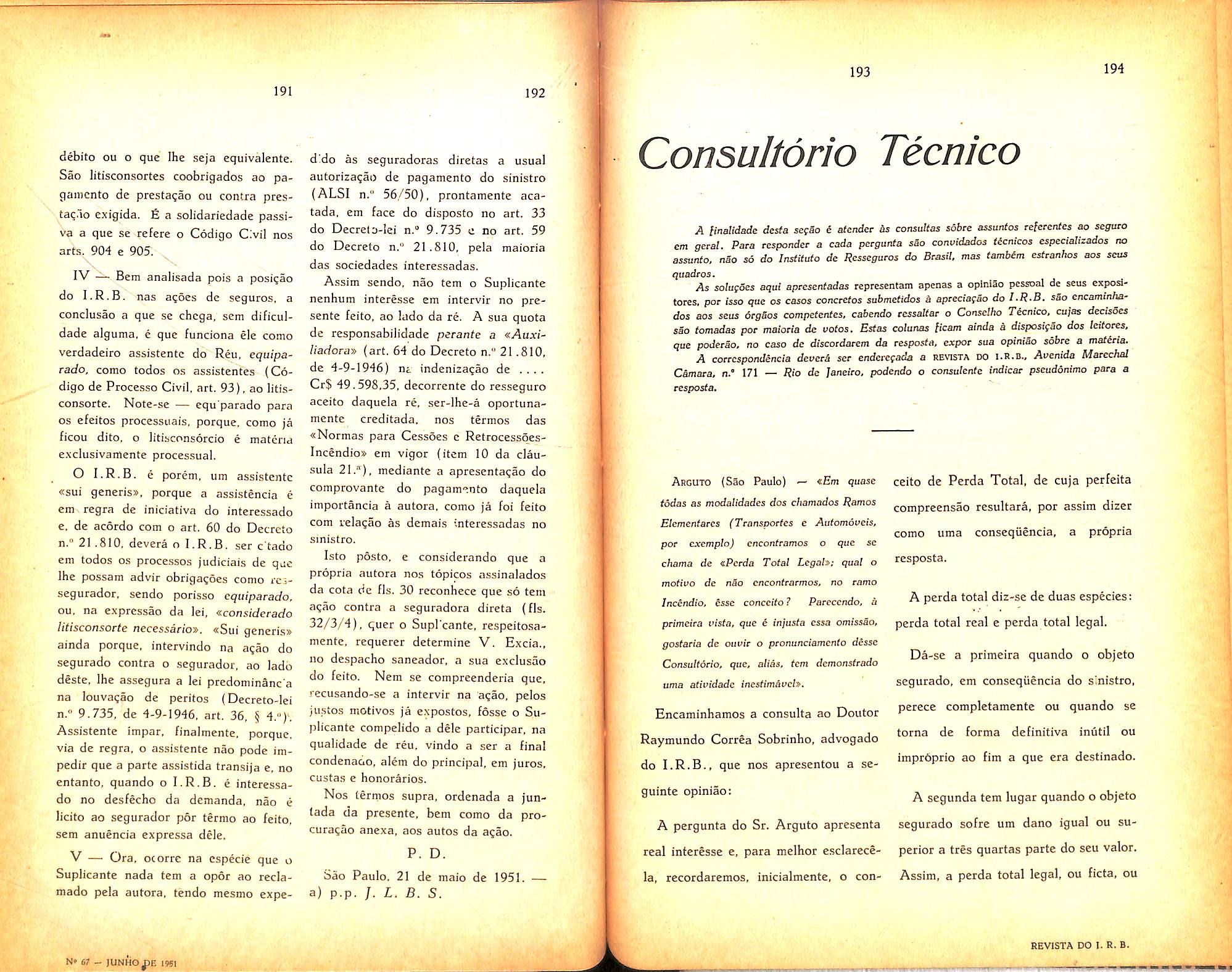
A linalidade dcsta segio i atendee &s consuUas sobre assuntos refcrcnfes ao seguro em geral. Para responder a cada perganta sao convidados ticnicoa especializados no assunto. nao s6 do Instituto de Resseguros do Brasil, mas (ambim estranhos aos seas quadtos. i4s soltigoes aqui apresenfadas representam apenas a opiniSo pessoal de scus cxposltores, por isso que os casos concretes submefidos a apreciafao do I.R.B. sao cncaminAados aos sens orgBos competentes, cabendo eessaltac o Conse/ho Tecnico, cujas decisocs sao (omadas por maiotia de votes, fisfas colunas ficam ainda B disposifao dos leitores, que poderao, no caso de diseordarem da resposfa. cxpof sua opiniao sdbre a matiria. A corrcspondencia deverA sec enderegada a revista DO I.R.D., Avenida Macechal Camaca. n.' 171 — Rio de Janeiro- podendo o consulente indicac pseuddnimo para a resposta.
Arguto (Sao Paulo) — «Em quase fodas as modalidades dos chamados Ramos Elementaces (Tcanspoctes e Automoveis. por cxcmpio) encontramos o que se chama de «Pcrda Total Legah: quat o motivo de nao cncontrarmos. no ramo Incendio, esse conceito ? Pareccndo, a pcimeira vista, que e inj'usta essa omi'ssaogosfaria de ouvir o pronunciamento desse Consulfon'o, que, alias, tem demonsfrado uma afiuidade mesfini.iuel®.
Encaminhamos a consulta ao Doutor
Raymundo Correa Sobrinho, advogado do I.R.B., que nos apresentou a seguinte opiniao:
A pergunta do Sr. Arguto apresenta real interesse e, para melhor esclarecela, recordaremos, inicialmente. o con
ceito de Perda Total, de cuja perfeita compreensao resultara, por assim dizcr como uma conscqiiencia, a propria resposta.
A perda total diz-se de duas esp€cies: perda total real e perda total legal.
Da-se a primeira quando o objeto segurado, em conscqiiencia do sinistro. perece completamente ou quando se torna de forma definitiva inutil ou imprOprio ao fim a que era destinado.
A segunda tern lugar quando o objeto segurado sofre um dano igual ou su perior a tres quartas parte do seu valor. Assim, a perda total legal, ou ficta, ou
constructive total loss, como o propcio nome esta indicando, resulta de disposi^ao de lei que concede ao segurado o dircito de exigir do segurador, mcdiante o abandono da coisa, o pagamento de seu valor total, uma vez que tenha sofrido avaria igual ou superior a 75 % desse valor, fi que se estabelece uma presungao legal por forga da qual a perda por deteriora^ao de tres quartas partes da coisa implica em considera-la, mediante o respective aban dono, como totalraente perdida, segundo o aforismo: parum et nihil squipacantur.
Do que ficou acima exposto resulta que a perda total legal somente tcm lugar nos casos previstos em lei ou quando o contrato. que e lei entre as partes, cxpressamente a admite.
A perda total legal e um institute peculiar ao direito maritime, onde teve sua on'gem, e onde se situa intimamente ligada ao abandono subrogatdrio. Segundo a li^ao dos maritimistas parece que esse abandono nasceu, como necessidade comercial, da ideia de distdncia numa epoca em que os navies partiam para estranhas aventuras em
mares tenebrosos longe das vistas de segurados e seguradores, que deles ficavam sem notlcias durante um longo tempo, enfim, num memento em que o segurado se apresenta privado da posse da coisa. Alias, essa ideia de desapossamento da coisa segurada e essencial ao conceito de abandono. Assim, o abandono por perda total legal foi aplicado, desde tempos remotos, com relagao ao navio e a sua carga, isto e, em seguro maritime de cascos e mercadorias.
O estudo da ideia da perda total legal mostra-a subsfancialmente ligada iis opera?6es de transporte. naquela 6poca limitadas praticamente a navegagao maritima, fluvial e lacustre.
A perda total legal foi, pois, durante algumas centenas de anos, um institute peculiar e privativo do direito maritimo. S6 modernamente vamos cncontra-la de novo, consagrada em lei, no Direito ASreo. Como ja preceituava o art. 753, n.° III, do Codigo Comercial, para os navios! tamb6m o C6digo Brasileiro do Ar, em seu art. 113, admite a perda ficta da aeronave, facultando o seu abandono desde que a importancia dos prejuizos atin/a a trfis quartos do seu
valor. Vemos assim que, mesmo mo dernamente, continua o conceito de perda total legal subordinado ao respectivo abandono e intimamente ligado as operagoes de transporte.
Do exposto conclui-se que a perda total legal aplica-se, como ja foi dito, apenas quando a lei o preve (Codigo Comercial, para transporte maritimo, e Codigo do Ar, para os Transportes Aereos) ou quando as partes.expressamente a consagram no respective con trato. Por uma questao de analogia, na pratica, tern os contratos de seguro admitido a perda total ficta em todos os meios de transporte, seja por agua, terra ou ar. Dai, a razao por que a encontramos nos seguros de navios, veiculos condwtores, aeronaves e quaisquer mercadorias transportadas, ou seja, nos ramos transportes e seus subramos, automdveis e aeronSutico.
Nao encontramos no seguro incendio consagrada a perda total legal porque:
1.°) nao hit disposi^ao alguma de lei que de em tais seguros ao segurado o direito de fazer o abandono, pressuposto essencial, como vimos, na concei-
tua^ao da perda total legal;
2.") as razoes que levaram os seguradores a admitir a perda total legal nos seguros de automoveis e outros meios de trans porte nao existem com rela^ao ao se guro incendio. Em se tratando do se guro de prSdio, compreende-se perfeitamente que nao pode ter lugar o aban dono, uma vez que o predio e um acessorio do terreno cuja sorte, como tal, segue, e o segurado nao faria nem poderia fazer o abandono do terreno, que, alias, nao e objeto do seguro. Sem abandono 6 impossivel admitir-se perda total legal. TambSm com relagao ao conteudo nao se reconhece ao segurado 0 direito de abandono, pelas razoes acima expostas, isto 6, falta de amparo legal, nao haver analogia entre os se guros de conteudo e os de transportes aereos, que justifiquc a ado?ao do insti tute da perda total legal, nao estar o segurado, no momento do sinistro, desapossado da coisa para poder fazec o respective abandono, etc.
Apenas, na pratica, preferem, as vezes, as Companhias, pagar ao segu rado a indeniza^ao total, ficando com OS salvados. Tal pidtica, entretanto,
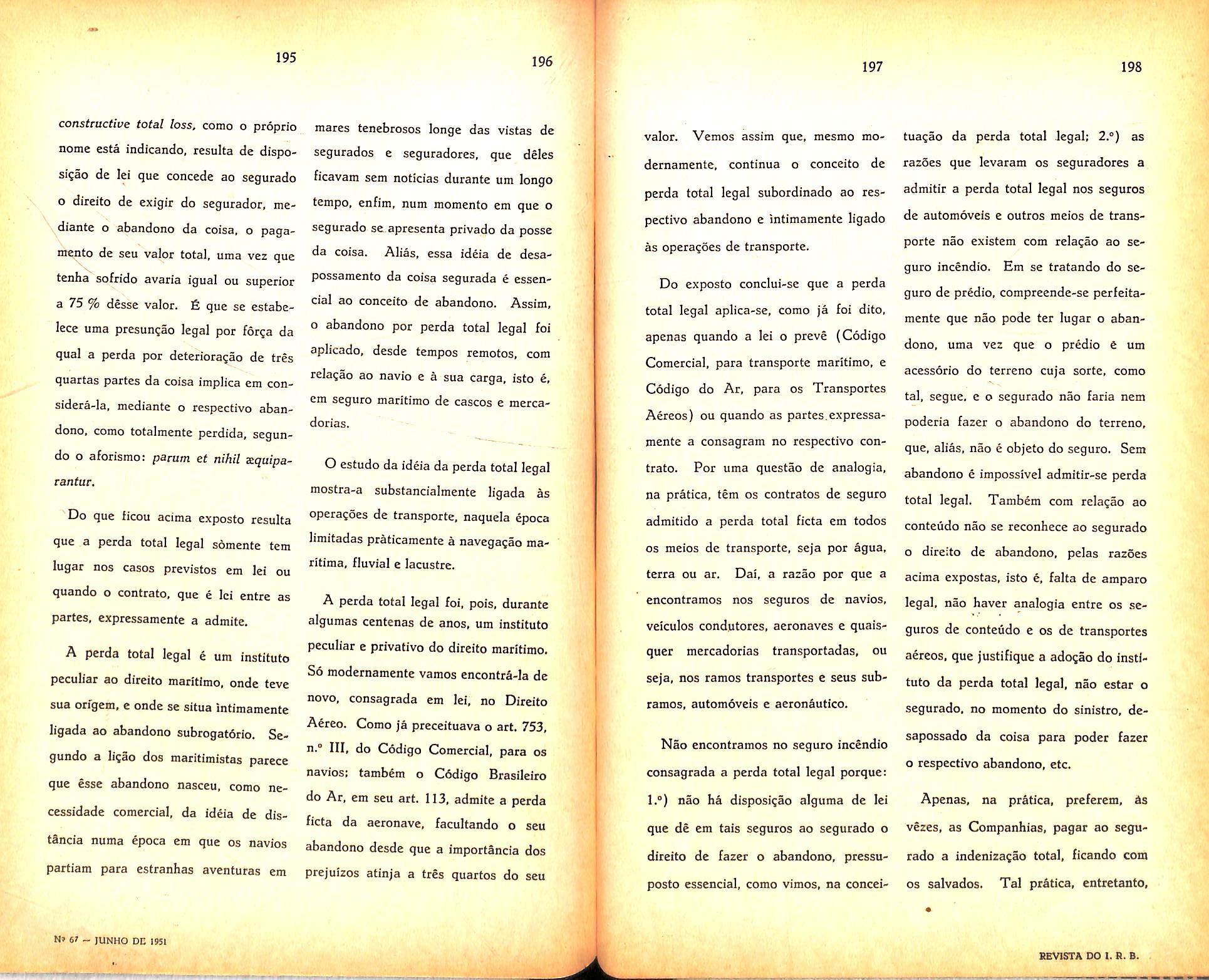
nao se confunde com a indenizagao paga como consequencia de uma perda total legal, fi possivel que alem das razoes acima cxpressas outras existam de ordera tecnJca que de^aconselhem a inclusao, da perda total legal nos seguros do ramo.Incendio, mas tal aspecto da questao escapa a simples apreciagao juiidica.
Emilia Gitahy de Alencastro, que nos apresentou o seguinte parecer;
Calouro (Sao Paulo) — <Ref.: De•creto-lci n.° 3.172. dc 3-4-1941 — Tendo sido alvo de diversas discussoes o assunio em epigrale, gosfaria de saber desse competente orgao ticnico, se existe algum impedimenlo na puhetizafSo dos riscos. sem obedeccr ao teferido decreto-lei.
A'um seguro dc 2 milhaes. par e;eernp/o, e obrigado a participar dues companbias r.acionais com 15%; se nos disfribuimos OS 2 milhdes em 20 companhias nacionais. com 5% cada, estamas agindo certo ?
Na minha modesta opiniao acho que esti errado; entretanto, alguns ticrdcos desta capital acham que uma uez puluerizado o risco nSo hi necessi'dade cm obedecer as pecccntagens determinadas pelo relerido decceto.
Em Tempo; Existem penalidades para 08 in[ralores? Quais ?>
Rcmetemos a consulta ao Chefc da Divisao Incendio do I.R.B., Senhorita
O Decreto-lei n.° 3.172, de 3-4-1941, determina a obrigatoriedade do «cosseguro-incendio quando as importancias seguradas sobre um mesmo seguro direto forem iguais ou supeiiores a Cr$ 1.500.000,00» (art. 2.0); e, mais adiante (art. 3.°), apresenta a tabela que estabelece, em fungao das impor tancias. seguradas, o niimero minimo de sociedades nacionais participantes e a percentagcm minima de participa^ao a cargo de cada uma.

De acordo com essa tabela, devem participar obrigatoriamente de um se guro de Cr$ 2.000.000,00, duas socie dades nacionais, cada uma das quais com a part:cipa?ao minima de 15 % do total segurado.
Assim, a distribuigao do seguro entre vinte companhias nacionais, em partes iguais e correspondentes a 5 % do valor segurado, contrariaria as disposigoes do citado decreto-lei.
As penalidades previstas no Decretolei n." 3.172 sao: multa «em importancia correspondentc as responsabilidades aceitas irregularmente» para a primeira infrasao: multa em dobro para a primeira reincidencia: e, finalmentc, cassa^ao da autorizagao para funcionamento (art. 8.").
Tais penalidades sao apl caveis as sociedades que «isoladamentc ou em conjunto, assumirem responsabilidades superiores as permitidas pelo Decretolei n.® 3.172», sendo as multas, no segundo caso, distribuidas na propor?ao das respectivas aceitagbcs.
entre vinte sociedades) da importancia total segurada.
Amador (Florianopolis) — cFicana imcnsamente grata se, pclas colunas do Consultorio Tecnico, fosse fcita uma cxplanafio, em (ermos ciaros c objetiuos, sobre a [orma de dcferminar a taxa de um seguro a primeiro rxsco, levando em conta 'a taxa apliciuel ao mesmo seguro su/'eito a dausida dc rafcioJ.
Todavia, considerando a extensao e complcxidade da resposta, aquele nosso colaborador resolvcu transforma-la em um artigo, onde podera situar-se mais a vontade para um esclarecimento amplo que satisfa^a inteiramente ao leitor.
Promcteu-nos, ainda, o Dr. Joao Lyra Madeira que, possivelmente, no proximo niimero ja teriamos o artigo na Revista.
Conforme nota publicada no niimero anterior desta Revista, encaminhamos sua consulta ao atuario Joao Lyra Ma deira, M. I. B. A. No caso apresentado, portanto, as vinte sociedades, em conjunto, accitariam irregularmente 20 % do total se gurado, isto e, duas quotas de 10 % que deveriam ter sido atribuidas a duas das cosseguradoras para que participassem, no minimo, com 15 % da im portancia segurada. A multa, entao, corresponderia, para cada sociedade, a 1 % (20% divididos em partes iguais
No intuito de cstcclar awda mais a, telatoes enfre o Instituto de Resseguroa do t^asil e as Soctedades de scguros. atravis de urn amph noticiario periodico sobze assantoa do Meresse do meccado segarador. 6 que a Revista do I.R.B. maat&m esta scfao.
A finalidade principal.6 a dioulgagSo de decisSes do Conselho Tccnico e dos orgSos internos que possam faciUtar e orientar a resolugSo de problemas [aturos de ordem ficnica e luridica, recomendafoes. conaelhoa e explicatoea que nao deem or,gem a circulares. hem cmo ind,cafao das novas portarias e circulares.. com a emen/a de cada uma. e outras no ticias de carefer geral.
Sao OS seguintcs os atuais Diretores. ,c Chefes de Divisio e do Gabinete da Presidencia do Instituto de Resseguros do Brasil:
Dirctor do Departamento Financeiro
Edgar Moury Fernandes
Chefe da Contadoria
Am^rico Matheus Florentino
Diretor do Departamento Legal
Adalberto Darcy
Diretor do Departamento Tccnico (respqndendo pelo cxpediente)
MArio Trindade
Chefe da Divisao de Estatistica e Mecaniza?ao {rcspondendo peio cxpediente)
Manoel Soares de Rezende
Chefe da Divisao de Estudos e Pesquisas (respondendo pelo cxpediente)
JoAo Jos6 DE SouzA Mendes
Chefe da Divisao Incendio
Emilia Gitahy de Alencastro
Chefe da Divisao Ramos Diversos
Alfredo Carlos Pestana Junior
Chefe da Divisao Transportes c Cascos
Paulo Barbosa Jacques
Chefe do Gabinete da Presidencia
Henrique Carlos Coelho da Rocha
RAMO INCfiNDIO
Circular 1-4/51, de 27-3-1951 — Coman cando sociedades, conforme aprpvado pelo Conselho Tecnico, altera^ocs havidas nas «Normas Tarifarias para os riscos de algodao».
RAMO TRANSPORTES E CASCOS
Carta-circular n." 324, de 14-2-1951
— Transmitindo its sociedades, confor me aprovado pelo Conselho Tficnico,
os valores, para o exercicio de 1951, do fator «r» (variaveis com a Reten?ao Basica da Sociedade), que entram no calculo das taxas de resseguro-basico do Ramo Transportes (Clausula 11." das Normas Transportes). Carta-circular n." 840, de 17-4-1951
— Comunicando as sociedades que a Conselho Tecnico. aprovando interpreta^ao dada pela Comissao Permanente de Transportes. resolveu considerar permitida a cobertura contra avaria particular para os seguros de fibra de agave quando acondicionada em fardos prensados, aplicando-se a tais seguros as taxas previstas pelas tarifas para u rubrica «mercadorlas em gerab.
Circular RA — 4/51. de 14-3-1951

— Transmitindo as sociedades, conforme aprovado pelo Conselho Tecn.co, uma nova tabela para o item 1, Clau sula 4.S das Normas Aeronauticos, isto t, relativa ^ determina^ao das reteo^des das sociedades, em percentagem dos respectivos limites legais. A Onica altera^ao foi das percentagens maxima e minima nos seguros de taxis aereos, que passou de 25 % (mSximo) e 5 ^ (minimo), respectivamente, para 25% c2.5%.
Sistematizaiao — Foram elaborados para sercm publicados nesta Revista os quadros de Seguros Transportes, distribuidos por sub-ramo, referentes ao ano de 1949 e o de Seguro Incendio, descriminado pelas Unidades da Federa^ao, referente ao 1." scmcstre de 1950.
Cadasfro — Continuam em elaboragao OS cadastros de blocos das cidades de Salvador, Manaus. Belo Horizonte, Goiania, Ribeirao Preto e Curitiba.
Apurafdes Mecanizadas — Foram entregues: a DiVisao Transportes, o movimento dos meses de outubro, novembro e dezcmbro de 1950: a Divisao Ramos Diversos, o movimento de margo c abril de 1951.
Entre outras publicaqoes, a Biblioteca do I.R.B. (Biblioteca Albernaz) — recebeu os seguintes volumes e periddicos, que se acham a disposi^ao dos leitores desta Revista.
Codici della Navigezione Marittima A. Brunetti e A, Giannini (Editora Dott — Milao — 1943).
Ensenanzas de la Ftevolucion y da la Guerra Civil Espanolas en los Diversos Ramos del Seguro — Juan Maluquer Roses (Barcelona 1945).
DaE^azenda PuSlica em Jutzo — Castro Nunei (Livraria Freitas Bastos Rio — 1950).
Fire and Marine — 1949 — vol. 11 (New York Insurance Report New York— 1950).
List of Inspected Gas.OH and Miscella neous Apliances — 1950.
Manual dos 5eryic/ores do Estado
Eduardo Pinto Pessoa Sobrinho (A. Coelho Branco — Rio de Ja neiro — 1950).
A Policia Judiciaria e o Novo Codigo de Processo Penal — Delio MagaIhaes (Editora Guaira — Curitiba — 1945).
Tabuas Itinerarias Brasileiras (I. B. G. E. — D. F. — 1950).
Who's who in Insurance — 1951 (The Weekly Underwriter — Mildred J. Smith — New York). per;6dicos
Nacionais:
Boletim Estatistico do I. B. G. E. n.® 32, de outubro □ dezembro de 1950.
Revista Forense n."' 568 e 569, de outubro e novembro de 1950.
Revista de Seguros n.°° 354 e 355, de dezembro de 1950 e Janeiro de 1951.
Revista Brasileira de Estatistica n.° 42, de abril a junho de 1950.
Revista de Direito Administrative Vol. 21, de Julho a setembro de 1950.
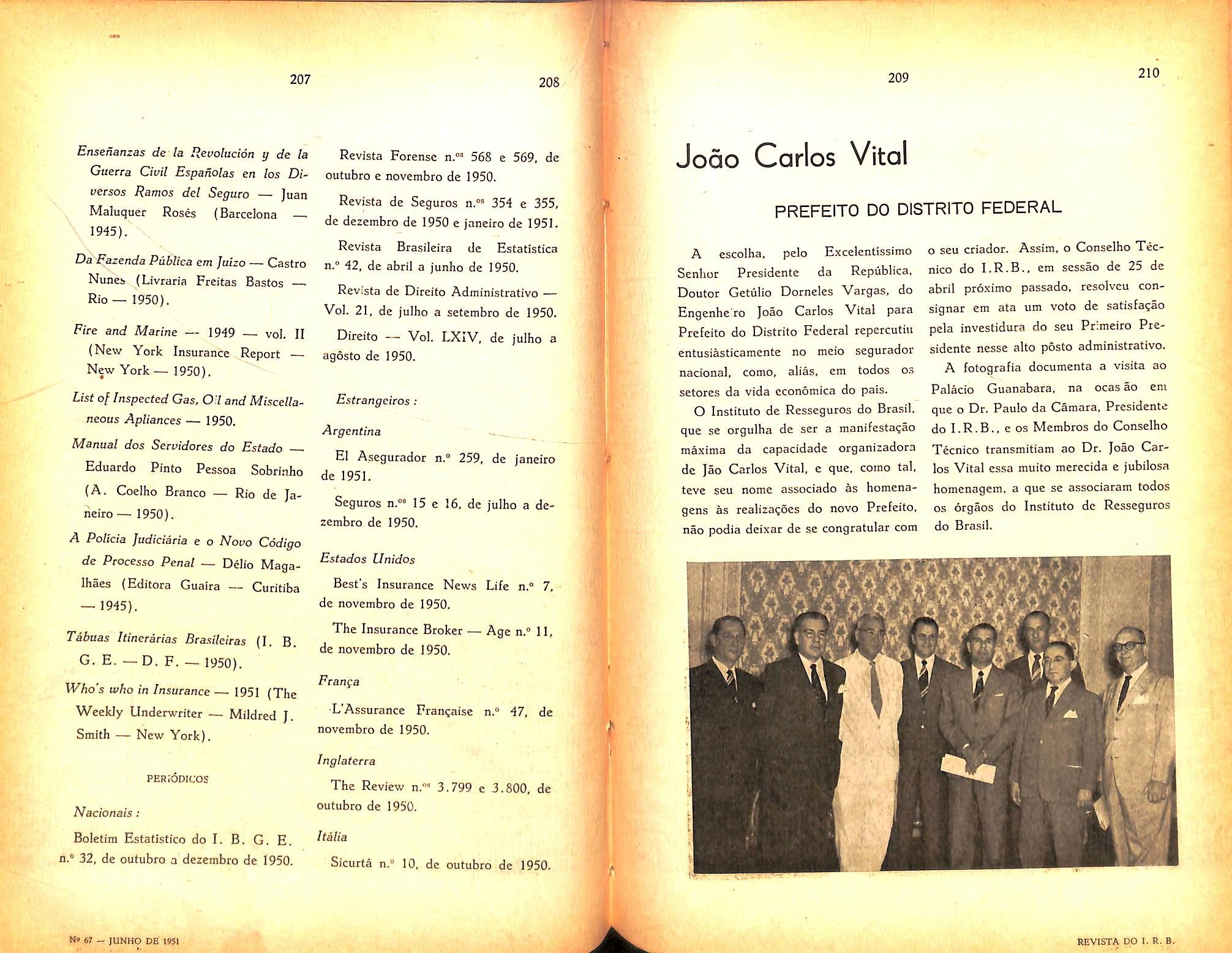
Direito — Vol. LXIV, de Julho a agosto de 1950.
Estrangeiros : Argentina
El Asegurador n.® 259, de Janeiro de 1951,
Seguros n."' 15 e 16, de Julho a de zembro de 1950.
Estados Unidos
Best's Insurance News Life n.® 7. de novembro de 1950.
The Insurance Broker — Age n.® II, de novembro de 1950.
Pranga
•L'Assurance Franqaise n.® 47, de novembro de 1950.
Inglaterca
The Review n.®« 3.799 e 3.800, de outubro de 1950.
Italia
Sicurta n.® 10. de outubro de 1950.
A escolha. pelo Excelentissimo Senhor Presidente da Repiiblica, Doutor Getiilio Dorneles Vargas, do Engenhe ro Joao Carlos Vital para Prefeito do Distrito Federal repercutin entusiasticamente no meio segurador nacional, como, alias, em todos os setores da vida cconomica do pais. O Institute de Resseguros do Brasil. que se orgulha de scr a manifesta^ao maxima da capacidade organizadora de Jao Carlos Vital, e que, como tal, teve seu nome associado hs homenagens as realiza^oes do novo Prefeito, nao podia deixar de se congratular com
0 seu criador. Assim, o Conselho Tecnico do I.R.B., em sessao de 25 de abril pr6ximo passado, resolveu consignar cm ata um voto de satisfa?ao pela investidura do seu Primeiro Pre sidente nesse alto posto administrative. A fotografia documenta a visita ao Palacio Guanabara, na ocas ao en que o Dr. Paulo da Camara, Presidente do I.R.B., e OS Membros do Conselho Tecnico transmitiam ao Dr. Joao Car los Vital essa muito merecida e Jubilosa homenagem, a que se associaram todos OS orgaos do Institute de Resseguros do Brasil.
Entre as comemoragoes do Dia Con tinental do Seguro, realizadas a 14 de ma;p^ findo, destacamos as seguintes:
No Distrito Federal — Solenidade no Sindicato das Empresas de Seguros
Privados e Capitaliza?!© do Rio de Janeiro, que inaugurou oficialmente sua nova sede instalada no 13." pavimento do eEdificio Seguradoras*, onde compareccram alias autoridades e figuras das ma-s representativas do meio segurador.
A solenidade teve inlcio as 17 horas, abrindo a sessao o Dr. Odilon de Beaudair, presidente do Sindicato. que passou a palavra ao Dr. David
Campista Filho. Em intcressante pa lestra, 0 Dr. David Campista Filho discorreu sobre a evolugao do Seguro
na historia dos povos, fixando o seu relevante papel na cstrutura da sociedade modernvT.

Alem do Dr. Nilande Medrado Dias, representar.te do Prefeito do Distrito Federal, c.stiveram presentes o Dr, Lourival de Azevedo Scares, diretor do Departamento National de Seguros Privados c Capitalizapao; o Dr. Paulo da Camara, presidente do Institute de Resseguros do Brasil; o Dr. Carlos Leal Jourdan, Diretor do Servgo
Atuarial do Ministerio do Trabalho. Industria e Comercio e o Dr. Pedro
Valenzuela Valderrama, representante do Ministerio da Economia c Comercio do govferno Cliileno e Conselheiro da Caja Reaseguradora de Chile. No decorrer da sessao, o Dr. Odilon de Beaudair leu uma carta do presi dente da Companhia Argus Fluminen-
se, Sr. Americo Rodrigues, justificando sua ausencia e solicitando fosse dada a sala de reuniQes do Sindicato o nome de «Sala Joao Carlos Vital*. Submetida a plenario a sugestao, loi aprovada por aclamagao.
Encerrada a solenidade. foi servido um cock-tail aos prese.ites.
iVo Rio Grande do Sul — Confetencia. em P6rto Alegre (*), no Auditdrio da Associapao Rio Grandense de Imprensa, pronunciada pelo Engenheiro Rodrigo de Andrade Mddicis, Membro do Conselho Tficnico e Vice-Presidente do I.R.B., a convite do Sin dicato das Empresas de Seguros Pri-
vados e Capitaliza^jo do Estado do R'o Grande do Sul.
A solenidade foi presidida pelo Dr. Carlos de Moraes Vcllinho, Presi dente daquela associa?ao, contando com a prescnga de Representantes da Regiao Militar e do Corpo de Bombeiros: do Dr. Olavo Werneck de Freitas, Representante do I.R.B. em Porto Alegre: de Dirctores, agentes e funcionarios de socledades que operam naquela cidade.
O conferencista abordou o tema «Aspecfos da Historia do Seguro no Brasil», ilustrando sua palestra com proje?6es de documentarios historicos, fotografias e quadros estatisticos. bem como "Com uma exposigao relativa ao desenvolvimento do seguro no Brasil.

No dia 15 as 20 horas, os seguradores gaiichos se reuniram em um banquete no Clube do Comercio, no qua] 0 Dr. Pompilio de Almeida Filho, Consultor Juridco do Sindicato. saudou 0 Dr. Rodrigo de Andrade Me dici's. quc agradeceu a todas as homena^ens que Ihe haviam sido prestadas.
Em Pernambuco — Comemora^ao, em Recife, constante de um almogo no
Grande Hotel, organizado pelo Comite Local Pcrnambucano de Seguros, tendo' o seu presidente, Sr. Sigismundo Rocha usado da palavra. Foram convidados de honra o Prefeito de Recife, que se fez representar pelo Dr. Helio Tavarcsj o Sr. Beroaldo Melo. presidente da Associa^ao Comercial de Pernambuco: Dr. Abdias Tavora, Delegado Reg'onal de Seguros; Dr. Paulo do Couto Malta, jornalista. e o Representantc do I.R.B. naquela cidade. Sr." Vanor Moura Neves.
Falou sobre a significa^ao do dia
o Sr. Luiz Mendon^a, Secretario Tecnico do Comite, que se ve na fotografia. no moment© em que pronunciava seu discurso.
ESTADOS UNIDOS Seguro de automovel obrigatorio para motorisfa .de menos de 21 anos Indeniza^oes decorrentes do desastre do trem da Pennsy/uania, em Woodbridge, Neiv-Jerseg
O Lloyd's de Londres tera pago quatro sinistros de mais de um milhao em menos de um ano. pela sua apolice da Estrada de Ferro Pennsylvania, logo que liquide os sinistros resultantes do desastre de trem dessa Estrada em Woodbridge, New-Jersey, onde 84 pessoas morreram, 100 foram seriamente feridas e diversas centenas de outras foram contundidas em grau menor. Uma estimative do custo das teclama^oes de danos resultantes destc desastre monta de 5 a 10 milhoes de dolarcs.
O Governador Dewey, do Estado de New York, proibiu, a partir de 1.° de julho proximo, o registro de automovel por qualquer motorista de menos de 21 anos de idade. salvo se for feito um seguro de responsabilidade civil dcUS$ 5.000 a US$ 10.000 para danos a pessoas. Como as taxas de premios serao muito elevadas para OS mais jovcns motoristas, isto resultara cm tirar do trafego a maioria de tais carros. A finalidade do ato foi atingir os motoristas juvenis de carros de corrida adaptados {hot-rod) eoutros motoristas irresponsaveis. e. presumlvelmente. nao afetara os carros de propriedade de pais e dirigidos pelos filhos menores.
(Local Agent, ma,so de 1951). (i""' ^

Vlsita do Presideate do I.R.B. e membros nomeados do Conselho
T^cnico e do Conselho Fiscal ao
Excelentissimo Senhor Presidente da Republica
No dia 6 de abril proximo passado, foram recebidos, em audiencia especial, pelo Excelentissimo Senhor Presidente da Republica, Dr. Getulio Dorneles
O Senhor Presidente do Instituto, apresentando os seus companheiros. agradeceu em nome de todos, ao Senhor Presidente da Republica as respectivas nomeagoes para os altos cargos que Ihc foram confiados, nos quais empregariam o maximo de seus esfor^os.
Acompanhoii a comitiva o Dr. Henrique Coelho da Rocha, Chefe do Gabinete da Presidencia do I.R.B., que
do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitaliza^ao do Ministerio do Trabalho, Indiistria e Comercio, o Sr. Lourival de Azevedo Scares. Antigo funcionar o do Ministerio do Trabalho, Indiistria e Comercio, desempenhou numerosas e diferentes comissoes. entre elas se destacando as de delegado regional no Rio Grande do Sul e em Sao Paulo. Exercia. ultimamente, a chefia da Se?ao de Estudos e Divulg3?ao do referido Departamento. A escolha veio, assim, recair em um servidor com fe de oficio que Ihe abona uma gestao proficua, ao qua! a Revista do I.R.B. apresenta os seus cumprimentos.
Novo Diretor do Service Afuarial doM.T.I.C.
Perante o Excelentissimo Senhor M'n stro do Trabalho, Industrie e Comerc'o. Sr. Danton Coelho, foi empossado no cargo de Diretor do Ser vice Atuarial do Ministerio do Traba lho, Indiistria e Comercio, o EngenhcTo Carlos Leal Jourdan, M.I.B.A., ant'go e competente atuario daquele orgao, ao qual tern prestado relcvantes servu.;os.
'^rimonia realizou-se no dia 18 de abr" ->r6ximo passado, contando com a presen^a de altos funcionarios daq-cle Serviqo c amigos do empossado.
passado, significative homenagem k memoria do primeiro contador e organirador da Contabilidade do I.R.B., Sr. Edgard Miguelote Viana. gesto esse que mereceu, por parte da Administra?ao do Insftuto. irrestrito apoio.
Vargas, o Senhor Presidente do Insti tuto de Resseguros do Brasil, Dr. Paulo. Leopoldo Pereira da Camara, e os novos membros nomeados do Conselho T^cnico, o Engenheiro Rodrigo de Andrade Med'cis, M.I.B.A., VicePresidente do Instituto, Engenheiro Emilio de Soura Pereira, M.I.B.A., Sr. Ubirajara Indio da Costa bem como os novos membros do Conselho Fiscal, Srs. Alberto Vieira Souto e Rubem Vieira Machado, e seus respectivos suplentes. Sr. Valmir Antonio Luiz e Plinio Sarmento.
tambem foi apresentado ao Excelen tissimo Senhor Presidente da Repiliblica.
A posae do Diretor do Departamento Nadonal de Seguros Frivados e Capitaliza^So
Nomeado pelo Excelentissimo Se nhor Presidente da Republica, Doutot Getulio Dorneles Vargas, tomou posse no dia 3 de abril do cargo de Diretor
A «Rcvista do I.R.B.s congratulase com o novo Diretor do Servi90 Atuarial, certa de que a sua grande intchgencia e capacidade tecnica Ihe pronorcionarao uma gestao das mais brilhantes. * * «
Os contadores do I.R.B., sob o patrocin'o do atual Chefe da Contadoria Sr. Am4rico Mateus Florentino, prestaram, no dia 12 de marqo prbximo
A solenidadc realizou-se no Gabinete do Chefe da Contadoria. no 8.° andar do Edificio Joao Carlos Vital, onde foi colocada uma fotografia do ilustre .finado. estando presentcs o Sr. Dr. Am'ilcar Santos. Diretor Geral do Departamento Nacional de Seguros Privados e Captaliza?ao: General Joao de Mcndon?a Lima, Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil: Membros do Conselho Tecnico, Diretores de Departamento, Chcfes de Divisoes e varios funcionhrios do Insti tuto, a Exma. Viiiva Edgard Migue lote Viana, e varias pessoas da familia do extinto, am'gos e antigos funcio narios, entre os quais os Drs. Frederico Jose de Souza Rangel c Luiz Serpa Coelho.
Na ocasiao usaram da palavra o Sr. Americo Mateus Florentino, enalteccndo a significagao do ato, falando a seguir o Dr. Rodrigo de Andrade
Medicis. em nome do organizador e primeiro Presidente do I.R.B., Engenheiro Joao Carlos Vital, tendo. por fim. 0 irmao do falecido. Dr. Manosl Miguelote. em resposta, expressado os agradecimentos da familia.
Foram as seguintes, as palavras vpronunciadas-.pelo Sr. Americo Matneus Florentino:
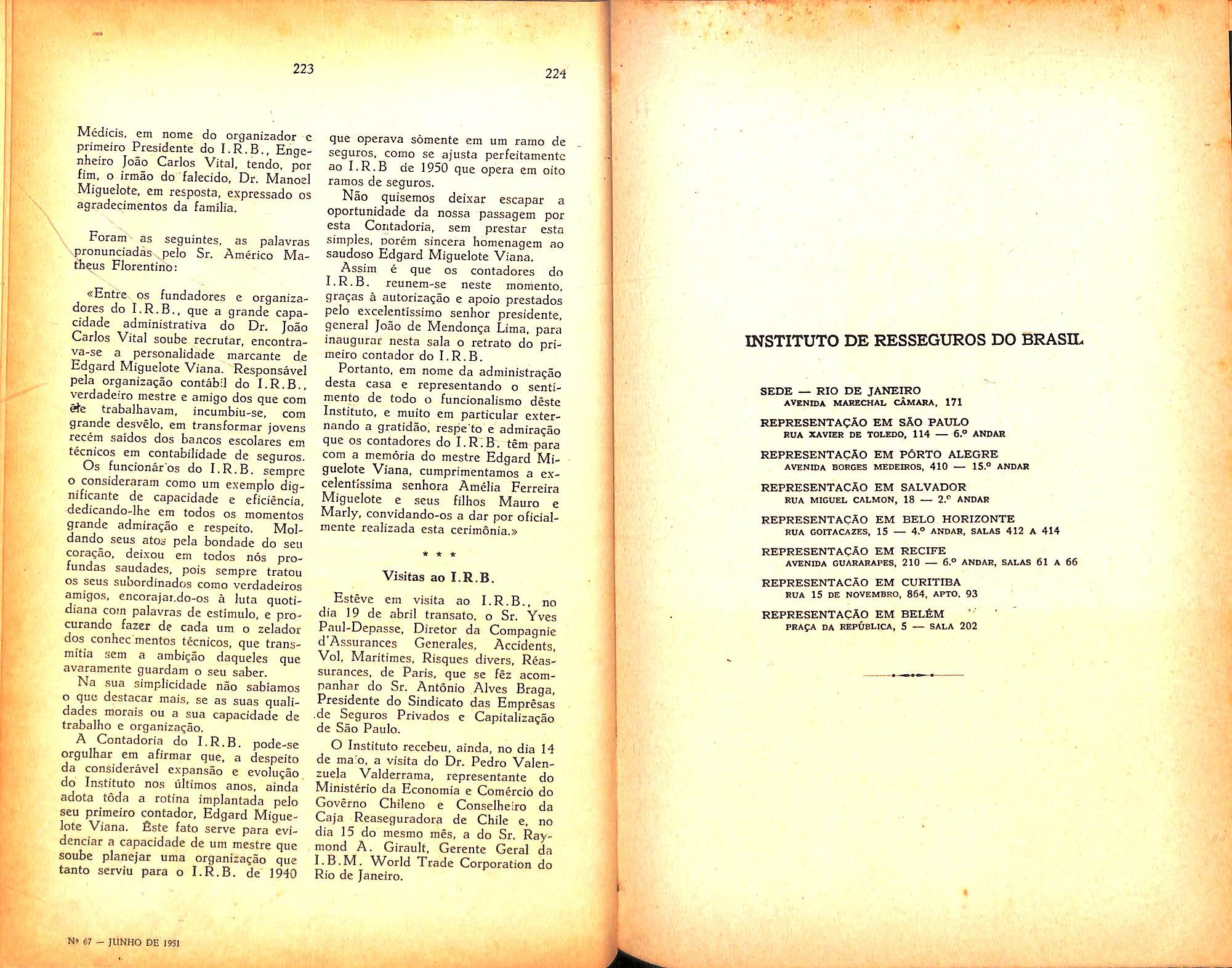
«Entre os fundadores e organizadores do I,R.B., que a grande capacidade administrativa do Dr. Joao Carlos Vital soube recrutar, encontrava-se a personalidade marcante de Edgard Miguelote Viana. Responsavel pela organizagao contabil do I.R.B., verdadeiro mestre e amigo dos que com etc trabalhavam, incumbiu-se, com grande desvelo. em transformar jovens reccm saidos dos bancos escolares em tecnicos em contabilidade de seguros!
Os funcionar'os do I.R.B. sempre o consideraram como um exemplo dig- nificante de capacidade e eficiencia. dedicando-lhe em todos os mementos grande admira^ao e respeito. Moldando seus atos pela bondade do sen coragao, deixou era todos nos profundas saudades. pois sempre tratou OS seus subordinados como vcrdadciros amigos, encorajar.do-os a luta quotidiana com palavras de estimulo, e procurando fazer de cada um o zelador dos conhec'mentos tecnicos. que transmitia sem a ambigao daqueles que avaramente guardam o sen saber.
Na sua simplicidade nao sabiamos o que dcstacar mais, se as suas qualidades morals ou a sua capacidade de trabalho e organizagao.
A Contadoria do I.R.B. pode-se orgulhar em afirmar que, a despeito da consideravel expansao e evolugao do Institute nos ulfimos anos, ainda adota toda a rotina implantada pelo seu primeiro contador, Edgard Migue lote Viana. fiste fato serve para evidenciar a capacidade de um mestre que soube planejar uma organiza?ao que tanto scrviu para o I.R.B. de 1940
que operava somente em um ramo de seguros, como se ajusta perfeitamentc ao I.R.B de 1950 que opera em oito ramos de seguros.
Nao quisemos deixar escapar a oportunidade da nossa passagem por esta Contadoria, sem prestar esta simples, Dorem sincera homenagem ao saudoso Edgard Miguelote Viana.
Assira e que os contadores do I.R.B. reunem-se neste moniento, gramas a autoriza^ao e apoio prestados pelo excelentissimo senhor presidente, general Joao de Mendonga Lima, para inaugurar nesta sala o retrato do pri meiro contador do I.R.B.
Portanto, em nome da administragao desta casa e representando o sentimento de todo o funcionalismo deste Institute, e muito em particular externando a gratidao, respe to e admira?ao que OS contadores do I.R:B. tem para com a memoria do mestre Edgard Mi guelote Viana, cumprimentamos a excelentissima senhora Amelia Ferreira Miguelote e seus filhos Mauro e Marly, convidando-os a dar por oficialmente realizada esta cerim6nia.»
Visitas ao I.R.B.
Esteve em visita ao I.R.B., no dia 19 de abril transato. o Sr. Yves Paul-Dcpasse, Diretor da Compagnie d'As.surances Generales, Accidents, Vol. Maritimes, Risques divers, Reas surances, de Paris, que se fez acompanhar do Sr. Antonio Alves Braga, Presidente do Sindicato das Empresas •de Seguros Privados e Capitalizagao de Sao Paulo.
O Institute recebeu, ainda, no dia 14 de ma:o, a visita do Dr. Pedro Valenzuela Valderrama, representante do Ministerio da Economia e Comercio do Governo Chileno e Conselheiro da Caja Reaseguradora de Chile e, no dia 15 do mesmo mes, a do Sr, Ray mond A. Girault, Gerente Geral da I.B.M. World Trade Corporation do Rio de Janeiro.
SEDE — RIO DE JANEIRO
AVENIDA MAKECHAL CAMARA, 171
REPRESENTACAO EM SAO PAULO
RUA XAVIER DE TOLEDO, 114 6." ANDAR
representacao em p6rto alegre
AVENroA BORGBS MEDEIROS, 410 — 15.° ANDAR
representacao em SALVADOR
RUA MIGUEL CALMON, 18 — 2.® ANDAR
REPRESENTACAO EM BELO HORIZONTE
RUA GOITACAZES, 15 — 4.® ANDAR, SALA5 412 A 414
representacao em RECIFE
AVENIDA GUAFARAPES. 210 6.® ANDAR, 8ALAS 61 A 66
REPRESENTACAO EM CURITIBA
PUA 15 DE NOVEMBRO, 864, APTO. 93
REPRESENTACAO EM BELEM
PRAfA DA REPUBLICA, 5 — SALA 202