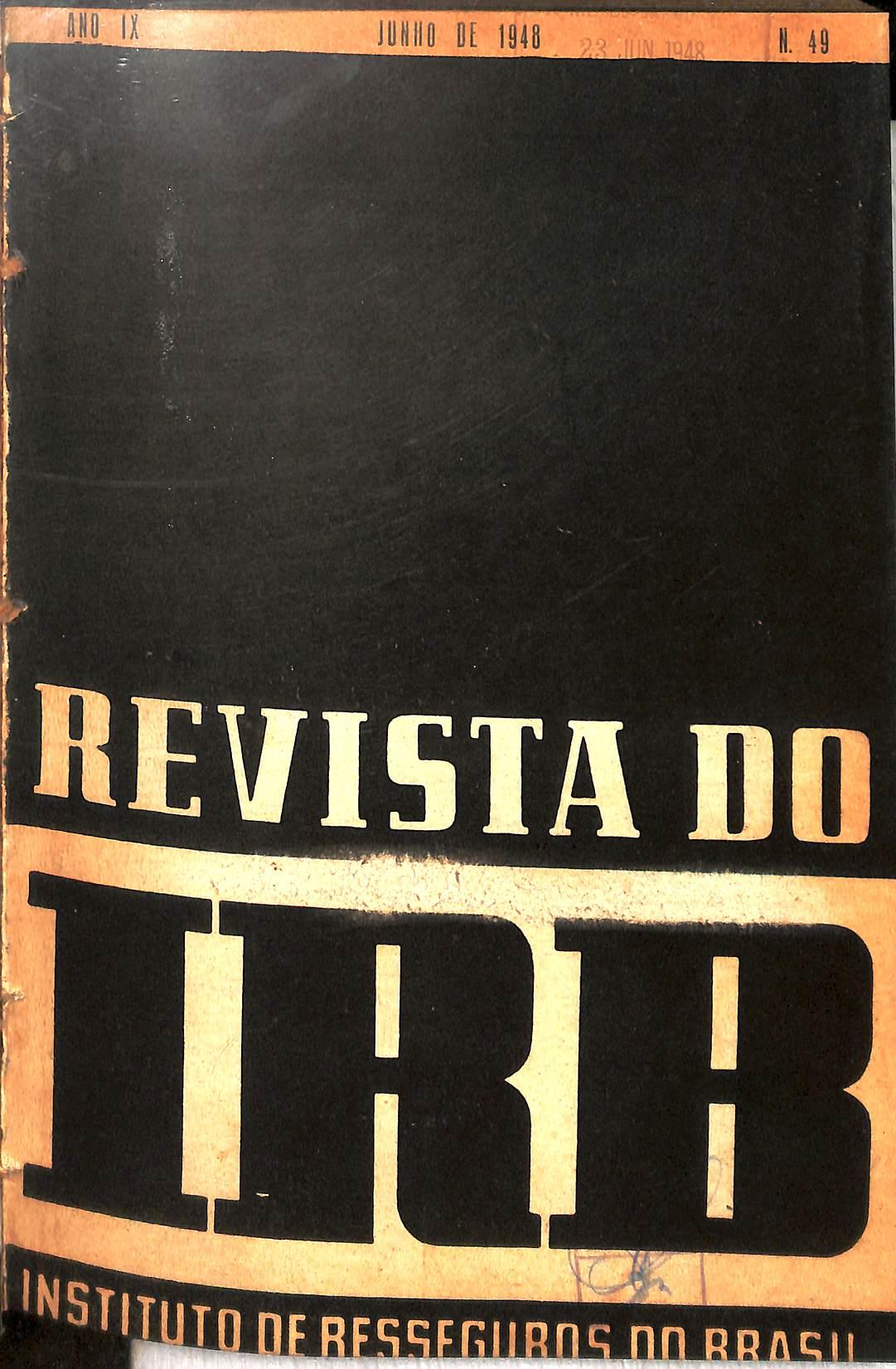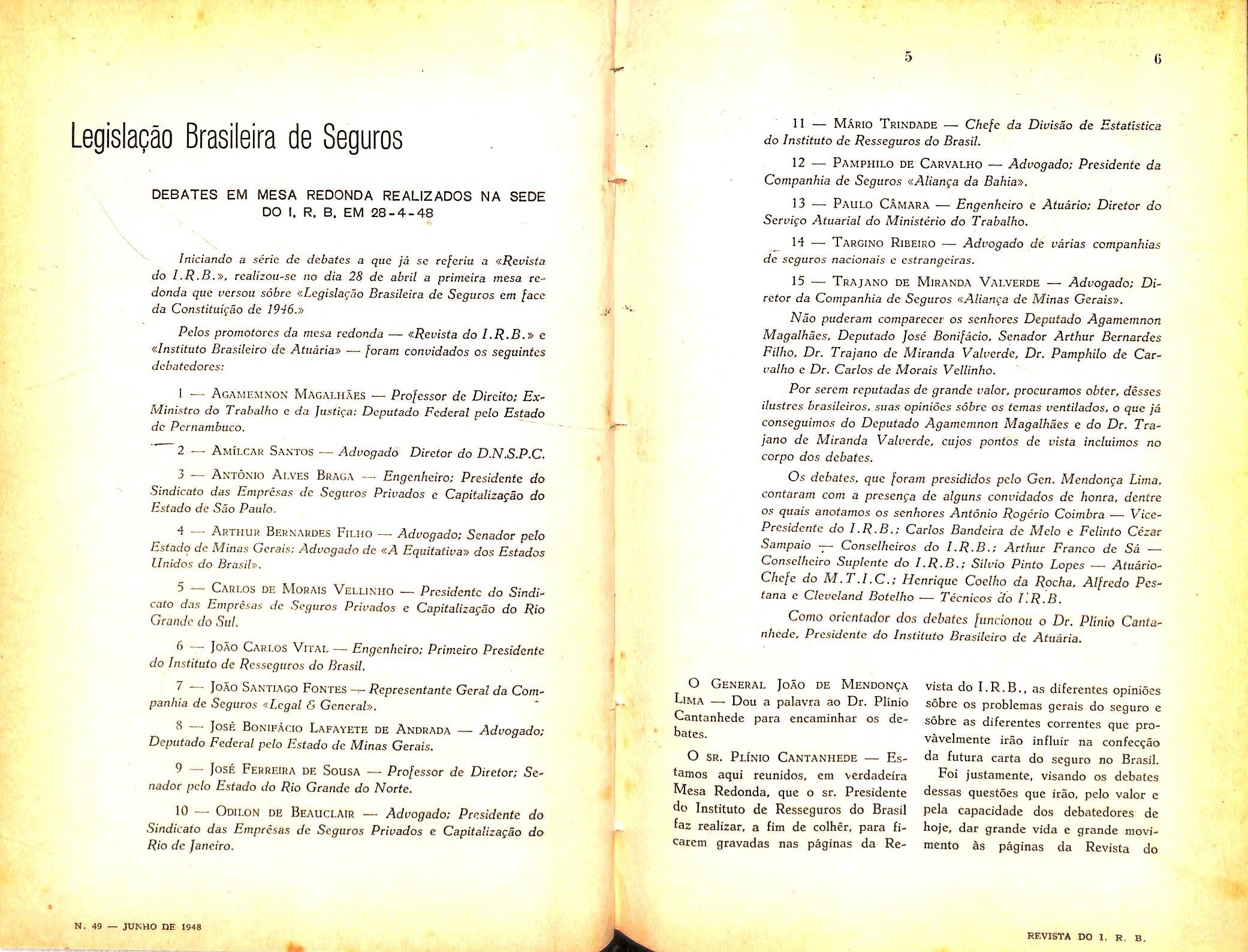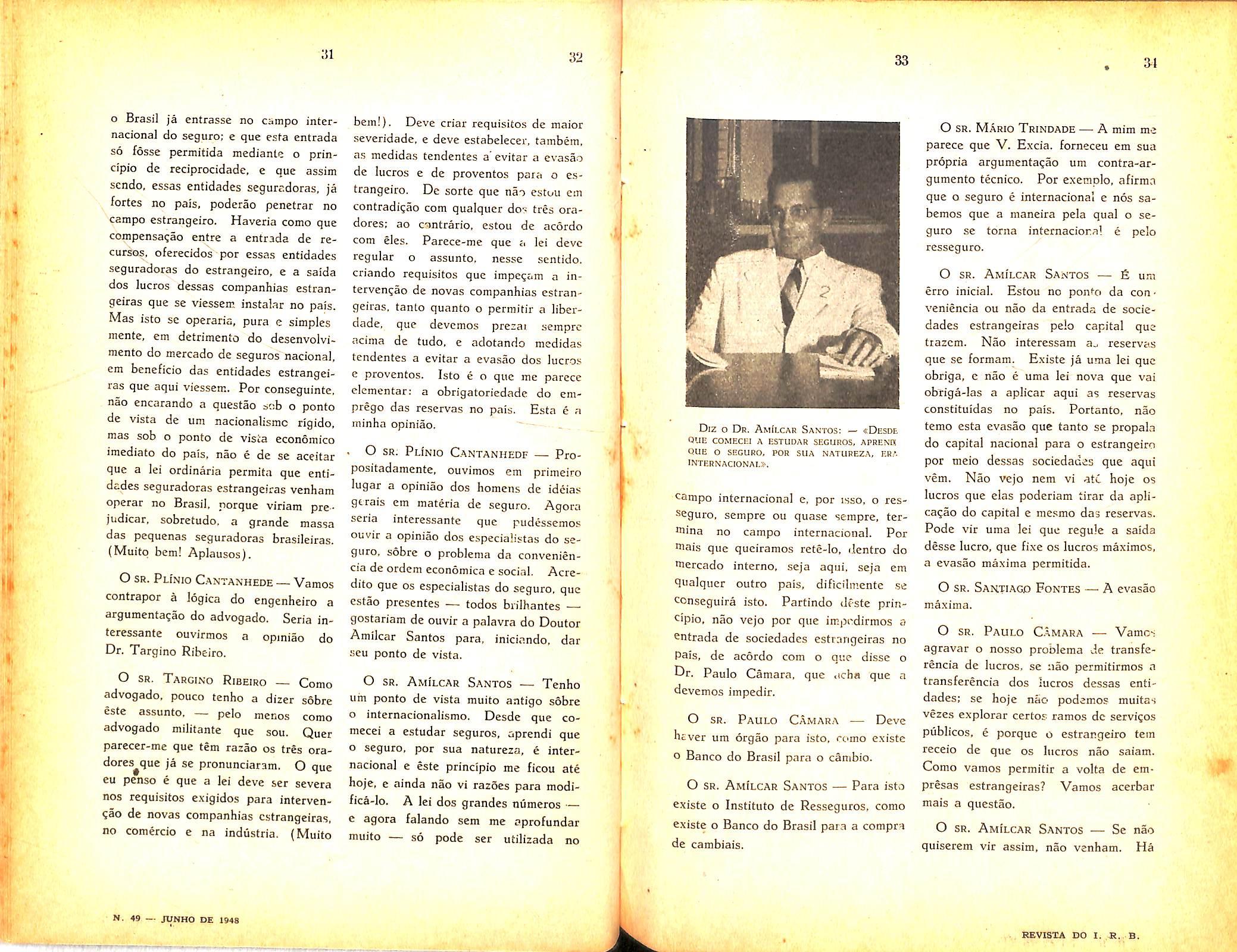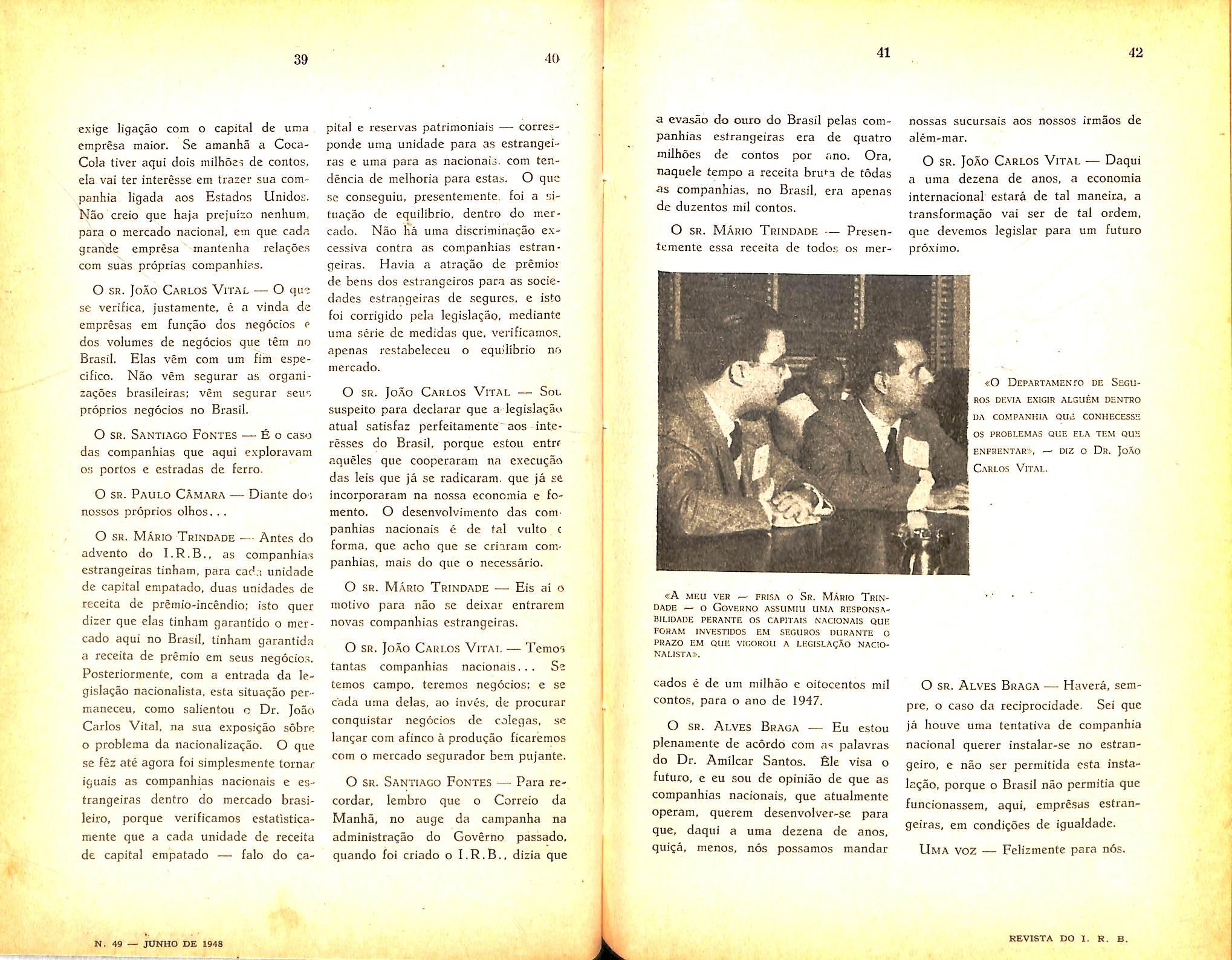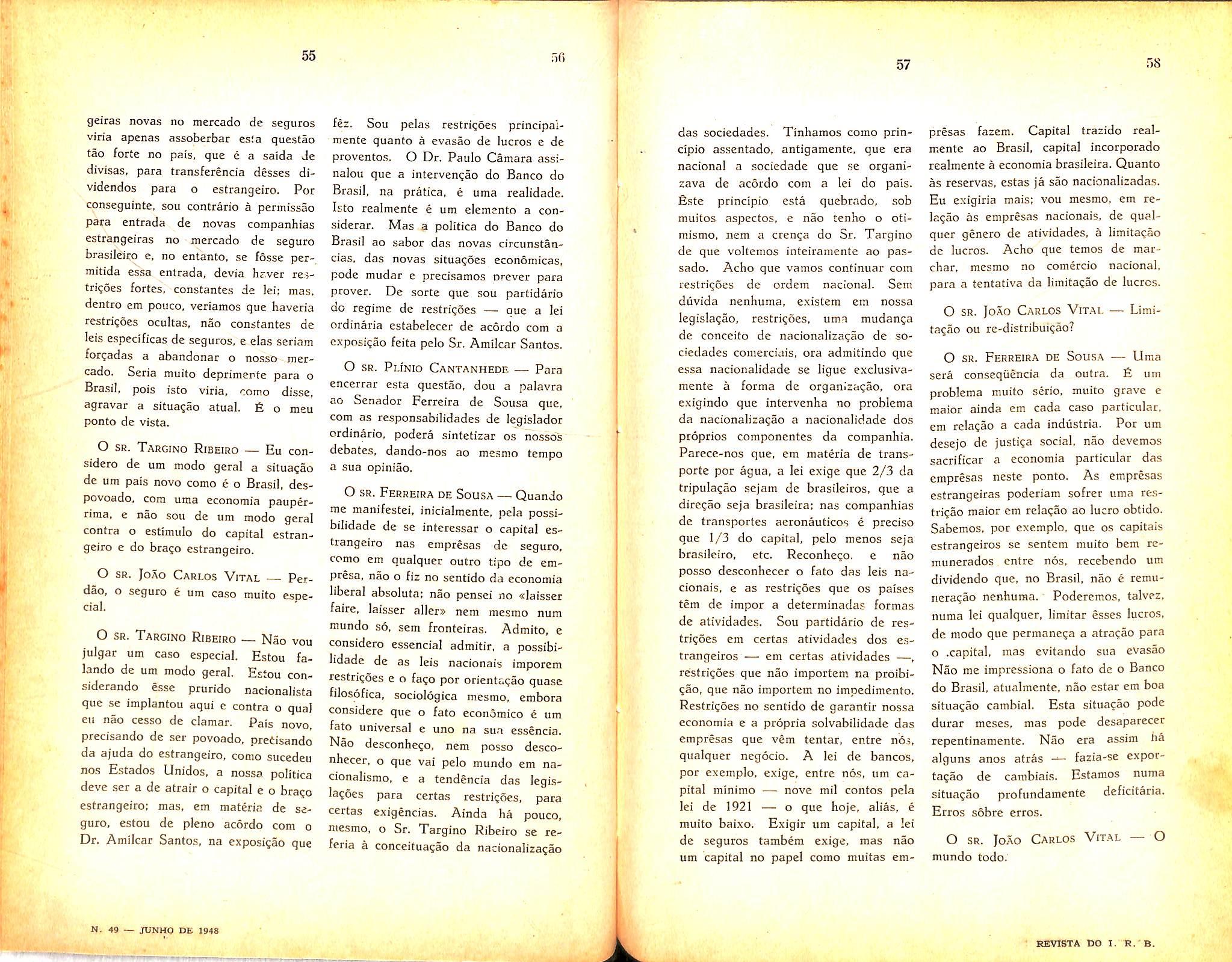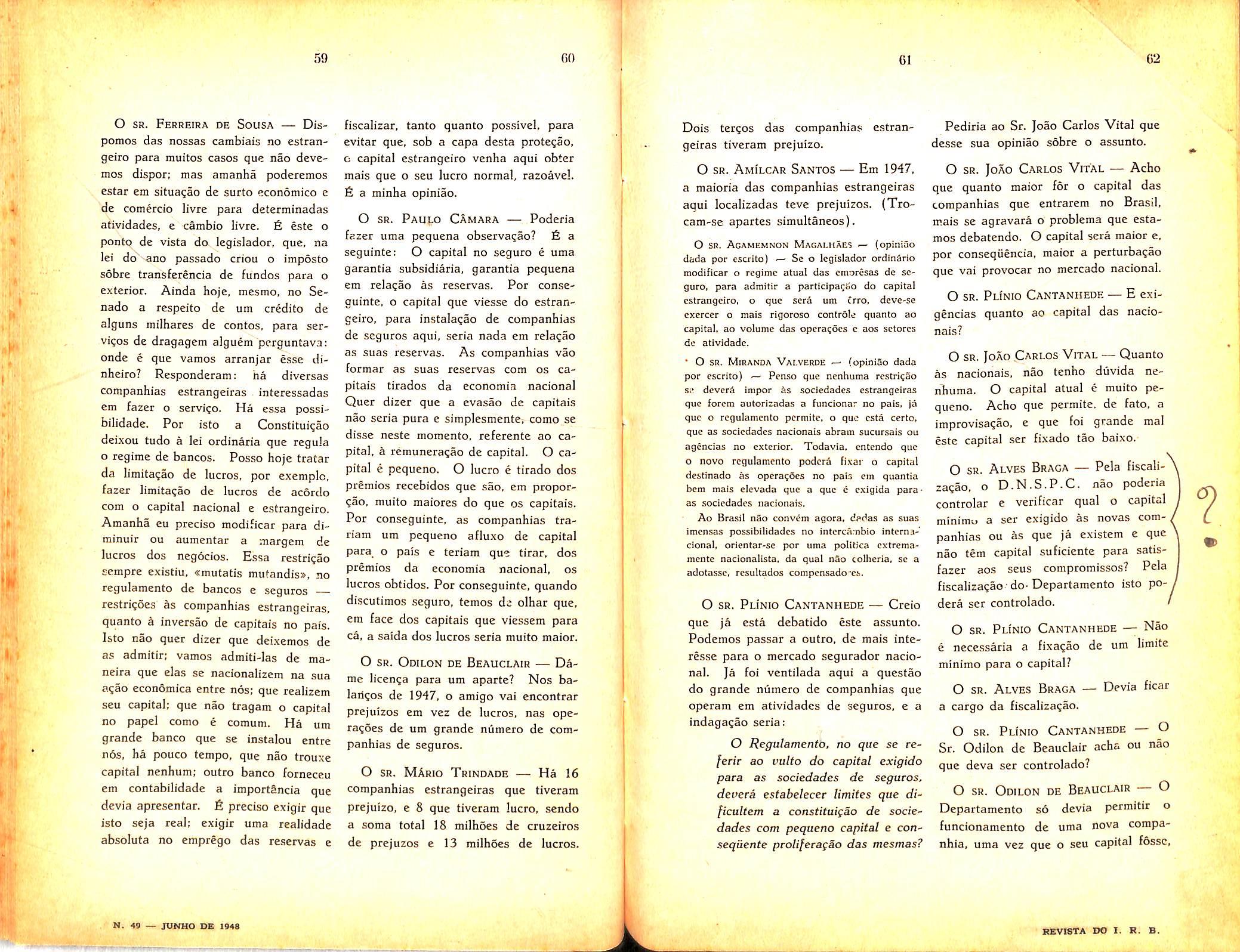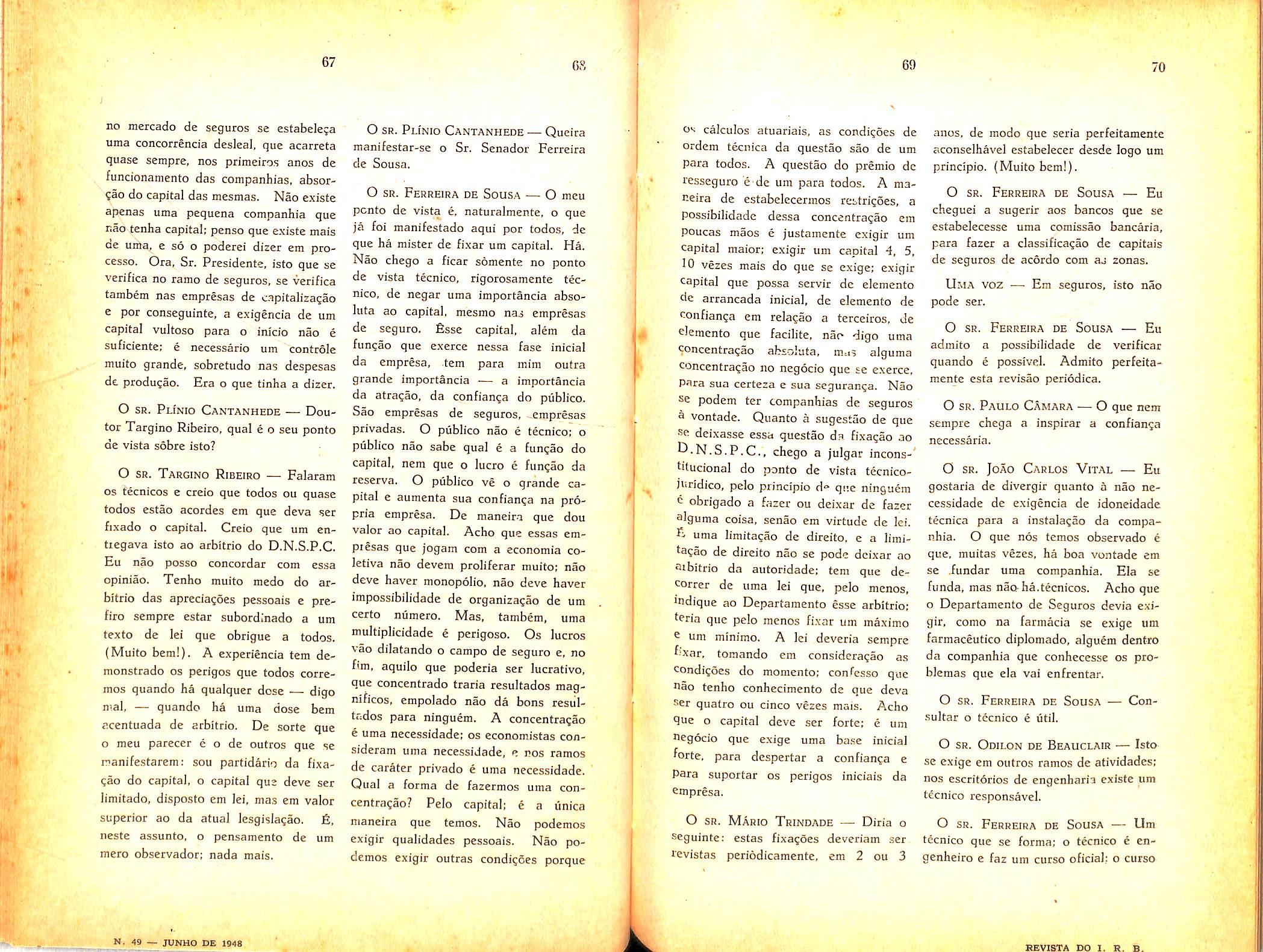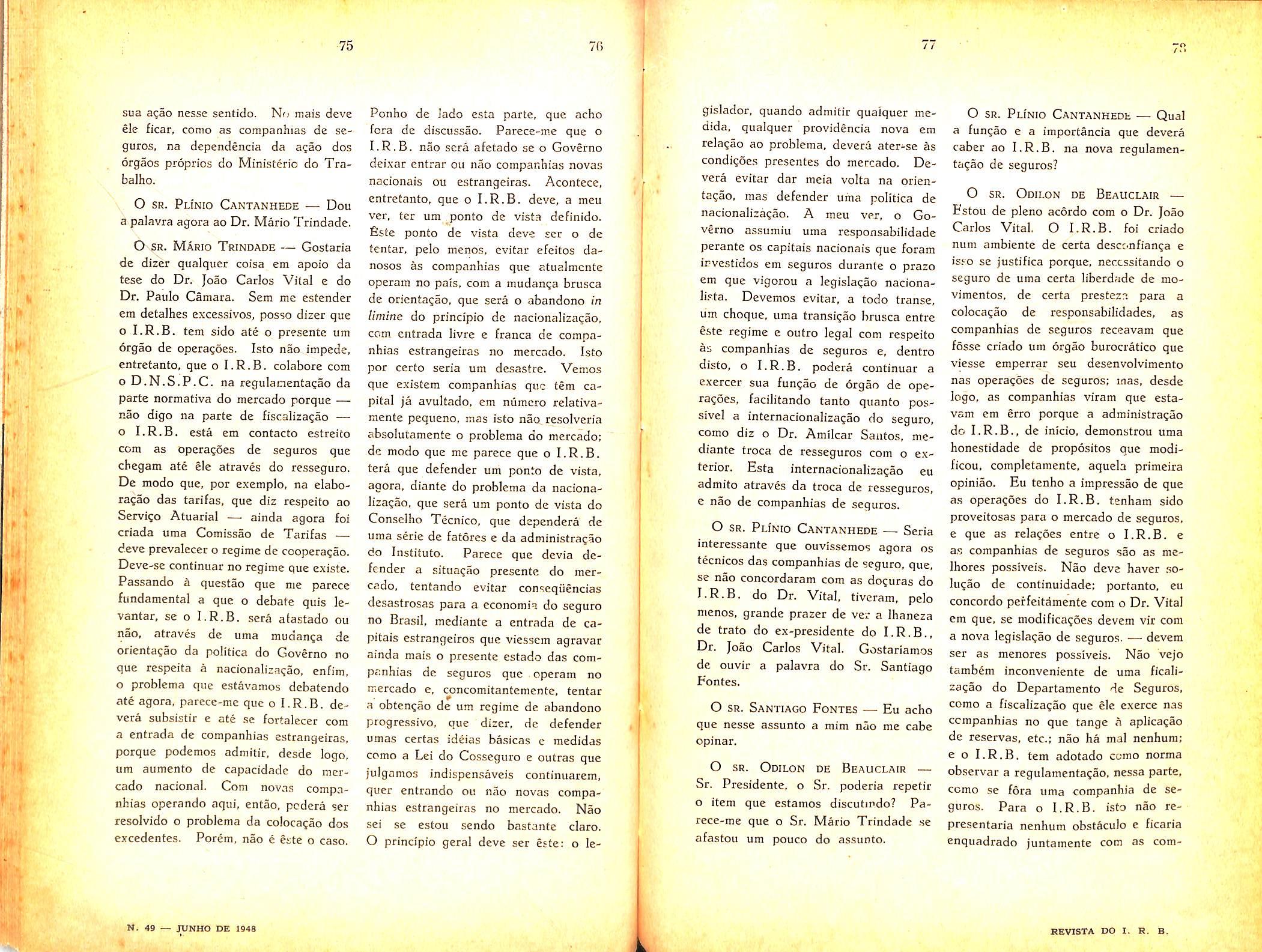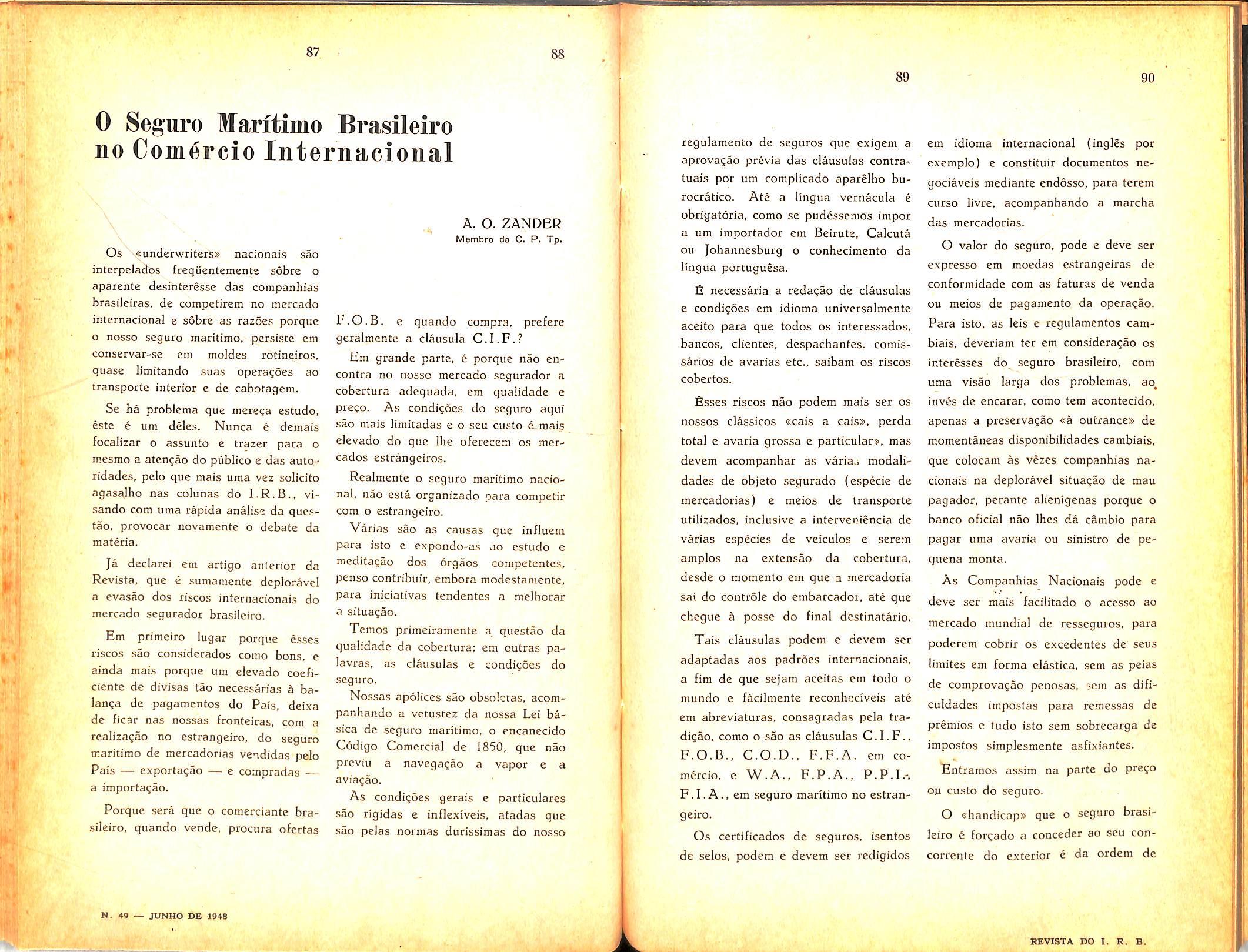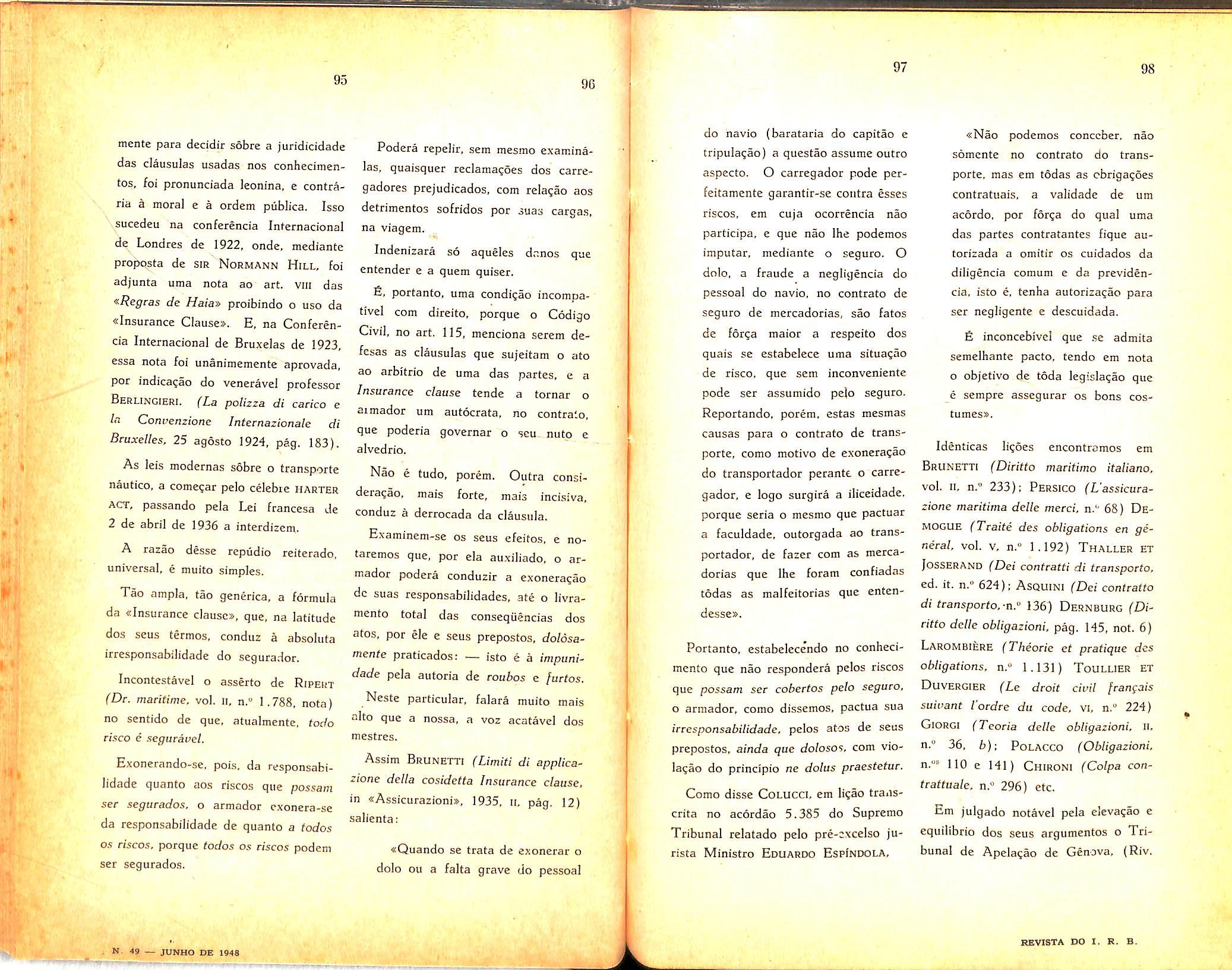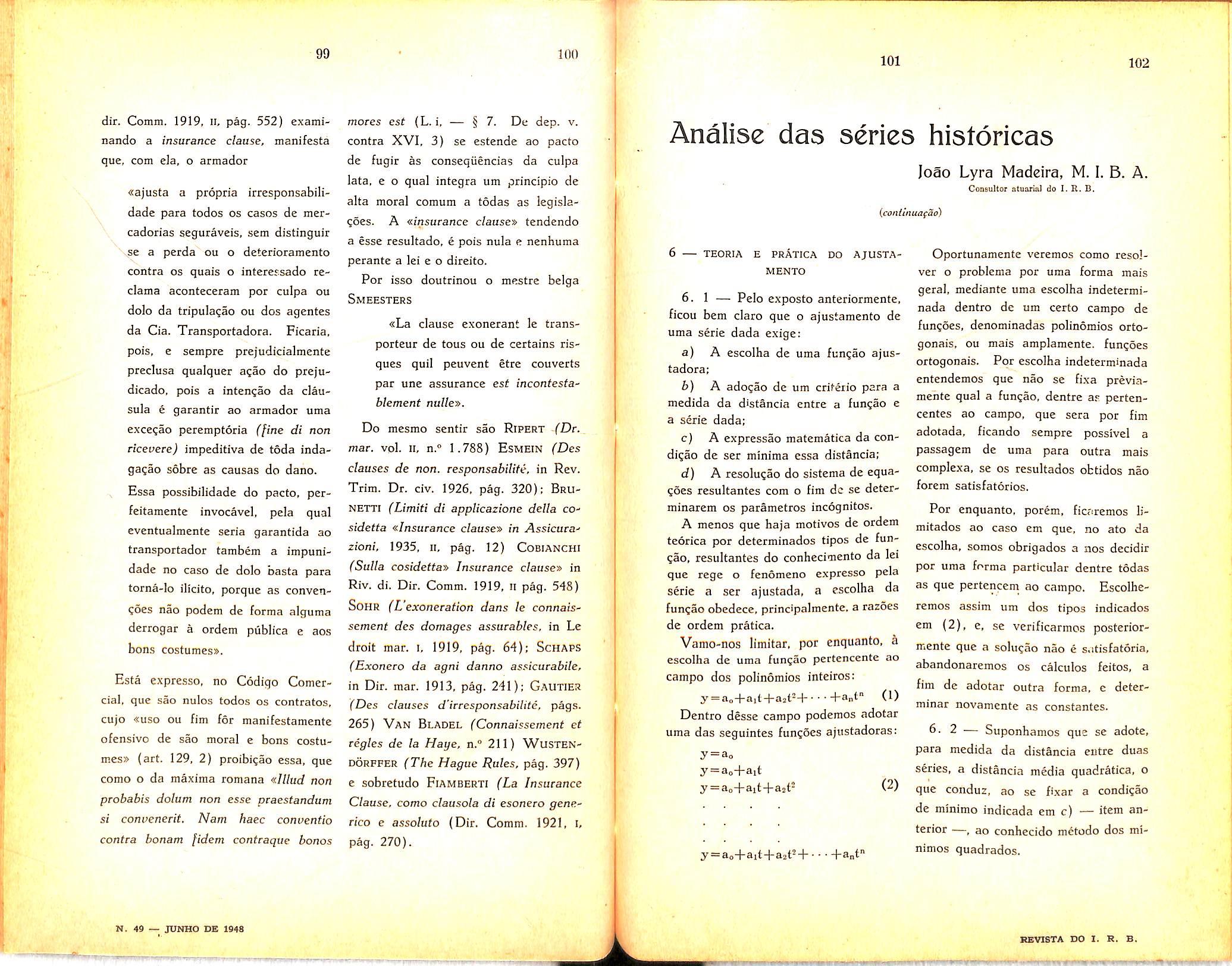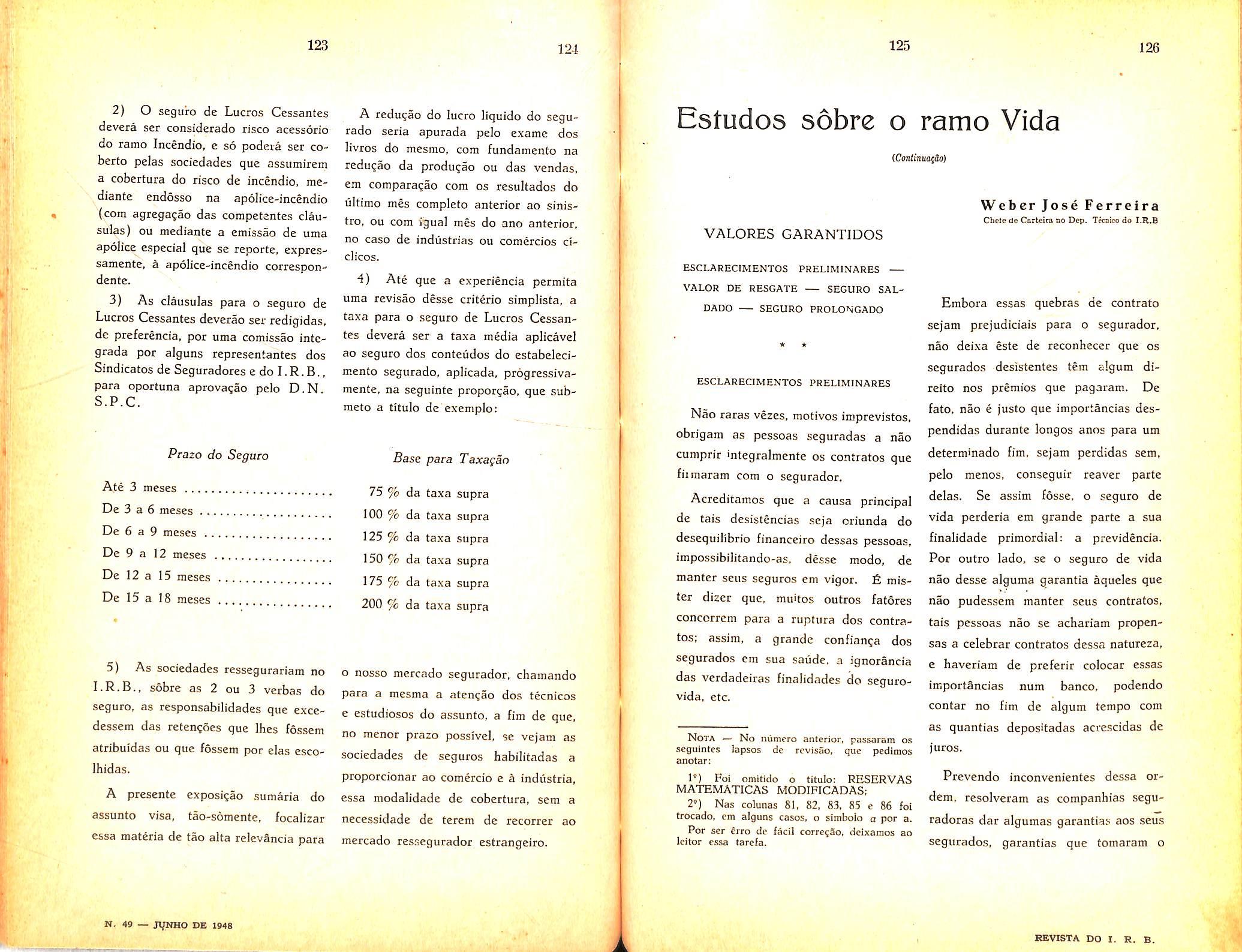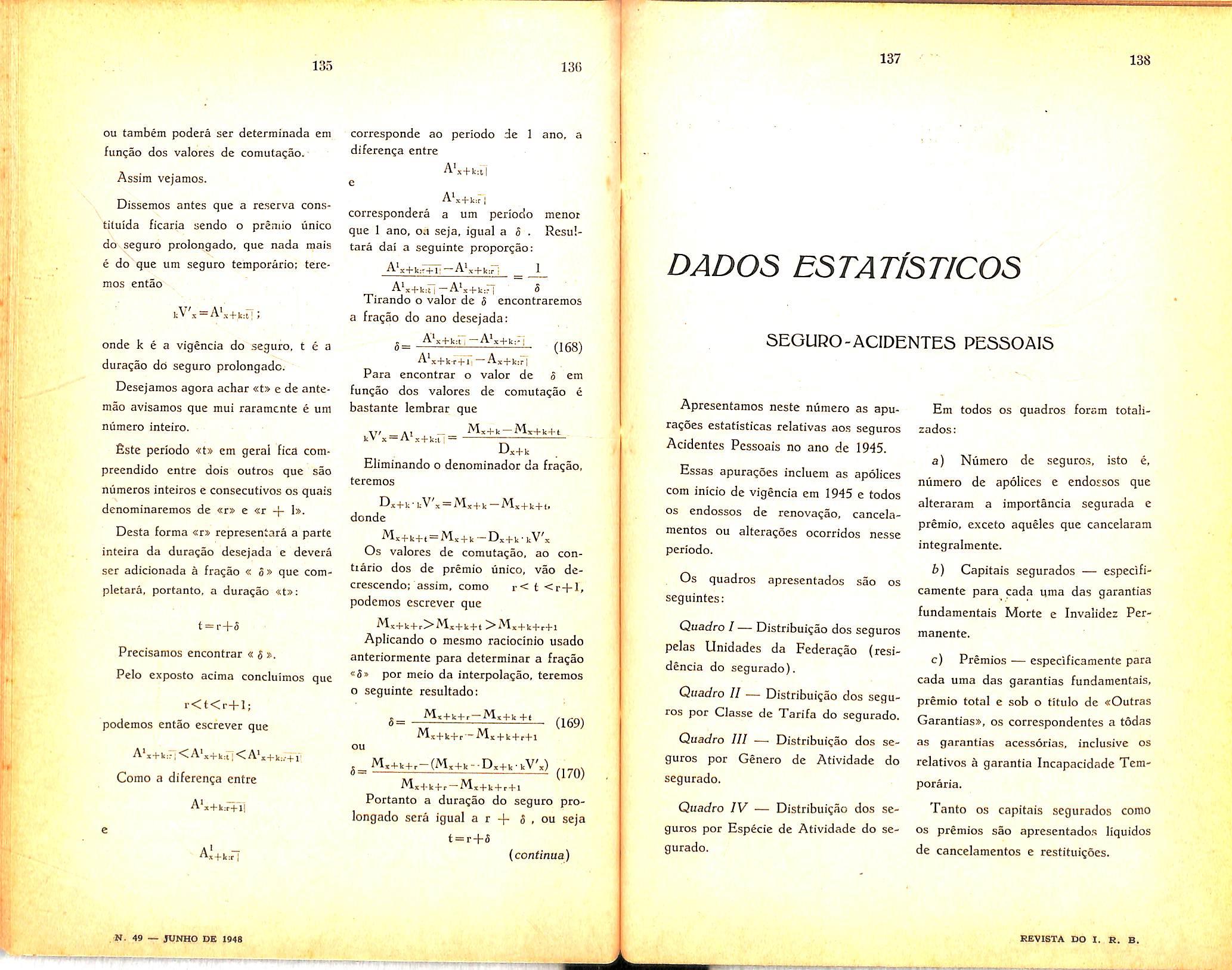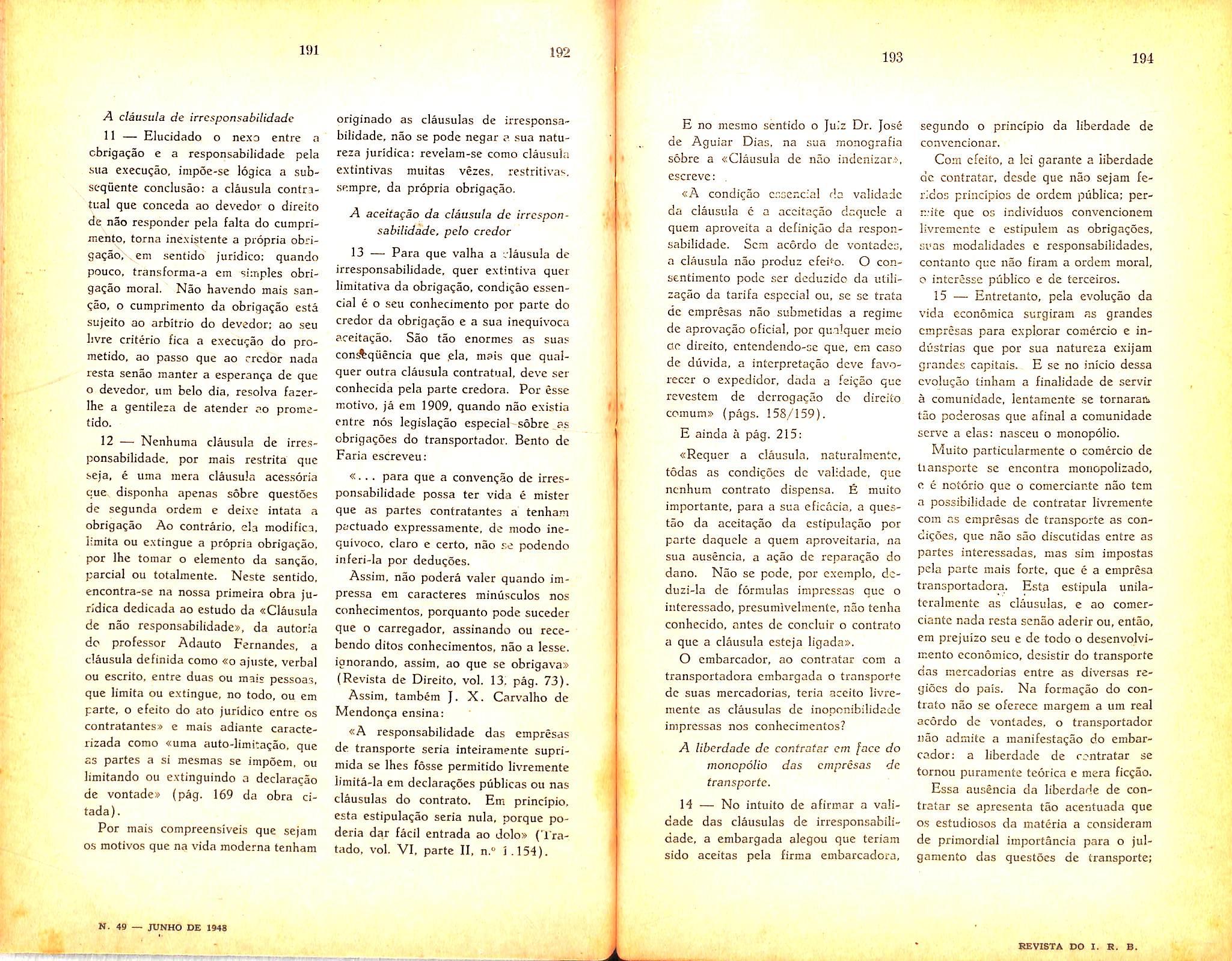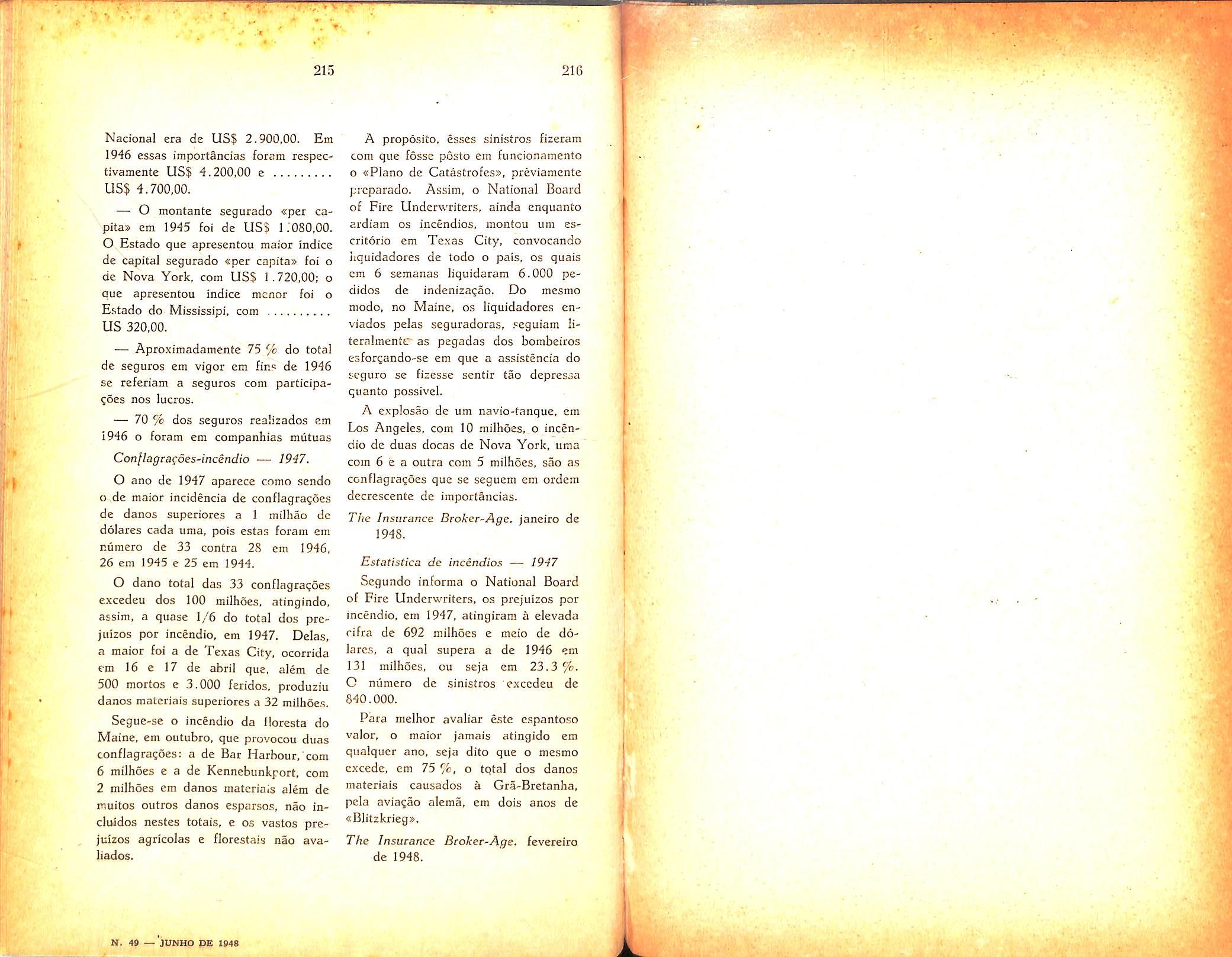bevista do
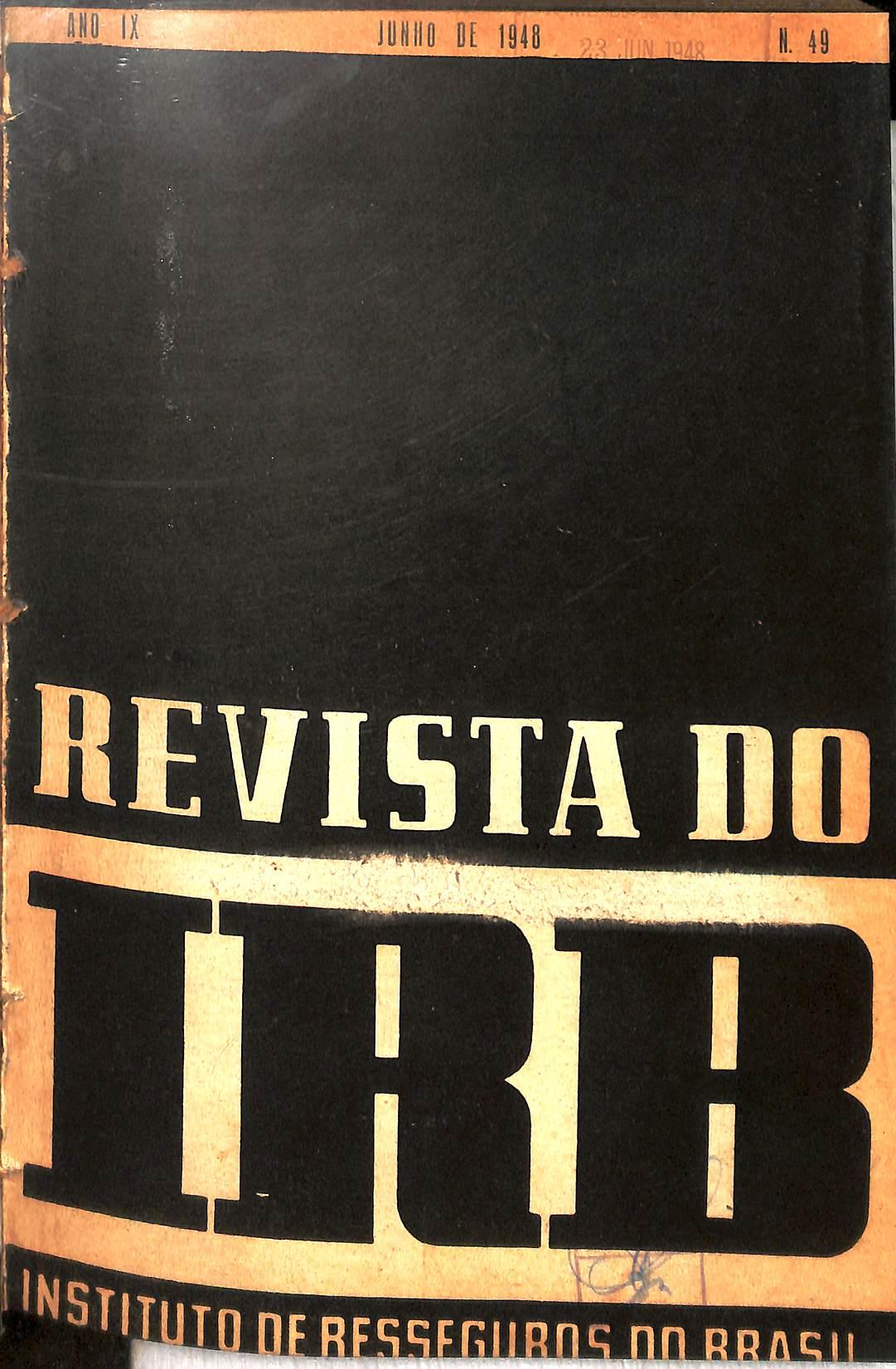
Ui 1148 ti i-M lu.ly J. 43
'NSTIT
Legislagao Brasiieira de Seguros: Debates em mesa redonda, lealizados na sede do I.R.B, em 28-d-1948, col. 3 — 0 seguro marUimo brasileiro no comercio intecnacional; A, O. Zander, col. 87 — A clausula de se guro (insurance clause) nos conhecimentos maritimos e sua evidente nulidade: /oao Vicente Campos, col. 93
— Analise das series historicas: Joao Lyra Madeira, col. 101 — Seguro de lucres cessantes; Henrique Coelho da Rocha, col. 119 — Estudos sobre o ramo Vida; Weber /ose Ferreira, col. 125 — Dados Estatisticos, col. 137
— Institute Mixto Argentitio de Reaseguros, col. 153 — Tradu^oes e Transcrigoes, col. 165 — Pareceres e Decisoes, col. 177 — Noticiario do Exterior, col. 21 1.

O Institute dc Resscguros do Brasil. no intuifo dc contribuir. dcntro dc suas possibilidadcs, para a solucio dos problemas pertincntcs ao seguro c a pra-idencia cm geral. acaba dc tomar uma iniciatii'a que podera scr das mats proveifosas, se piider contar com o indispcnsavcl apoio dos cstudiosos da materia. Rcferimo-nos a iniciatii'a de reunir cm mesa redonda. para a troca de pontos de vista, pessoa.'; que de qualqucr forma possam contribuir para a 5o/ufao dc questdes. par vezes intrincadas, que intcressam 7iao so aos que sc dedicam a esses ramos de atividades. como. dc modo mais ample, a propria economia nacional.
A divulga^ao dos debates na «Revista do I.R.B.^. csclareccndo per ceres aspectos ainda o6.sciiro5. cn'ara, de certo, ambiente propicio para uma ampla discussao do assiinto escolhido •iugcrindo ainda esfudos mais aprofundadcs.
Com o intiiito de dar a esses debates um cunho infeiramenfe objetivo, para que nao pudesscm scr acoimados da interfcrencia dc orgaos goucrnamcntais ou de economia privada diretamente interessados na solugao dos problemas, resolueu o I.R.B. entregar ao Instituto Brasileiro dc Atuaria, orgao de carater exclusivamcnte tecnico-cicntifico. a ftingao de orientador dessas «me5as redondas», colaborando na escolha dos temas e dos rcspectlvos debatedores, e no encaminliamento dos debates. .
Co/no principio geral decidiu-se que os convites aos compcnentes de cada mesa redortda seriam considerados estritamente pessoais. refletindo as opinides expendidas fao somente corivicgdes proprias, sem ligagao nenhuma com cargos ou fungoes.
Iniciando neste numero a publicagio das notes taquigraficas da primeira mesa redonda. desejamos testemunhar aqai o nosso agradecimento aqueles que. prc'stigiacam o empreendimento com sua prcciosa colaboragao.
>) S U M A R I O ;i n ii< .^t. „A • I INO IX fUNMO DE 194S N.° 49
I REOACpAO DA REVISTAi SEnVIQO OE documeniacAo eUlFlCIO
CAIXA POSTAL 1.4<0 e R A S I L
REVISTA
JOAO CARLOS VITAL
INSTITUTO OE RESSEGUROS DO BRASIL
Presidents: JoAo de Mendon^a Lima
ANTONIO R COIMBRA (Vlca.PiMid<nl»)
&NGE10 MARIO CERNE
coNsano CARLOS bandeira de Haio
lECNICO fELINTO CESAR SAMPAIO
OOllON OE BEAUCLAIH
WILSON DA SILVA SCARES
REVISTA DO 1. S, n:'
Legislacao Brasileira de Seguros
DEBATES EM MESA REDONDA REALIZADOS NA SEDE
DO 1. R. B. EM 28-4-48
Iniciando a sede de debates a que ja se re/erm a «Reuisia do realizoU'Se no dia 28 de abdl a prinieica mesa tedonda que versoa sobre <s.Legislagao Brasileira de Seguros em face da Constituigao de }946.»
Pelos promotores da mesa redonda — do l.R.B.» e ^InsCituto Brasileiro de Atuariay) — ^oram convidados os seguintes dcbafedores:
1 •— Agamemnon Magalhaes — Professor de Direito; Ex' Ministco do Trahalho e da Jiistica: Dcputado Federal pelo Estado dc Pcrnambuco.
2 —• Amilcar Santos — Aduogadd Diretor do D.N.SP.C.
3 — Antonio Alves Braga — Engenheiro: Presidents do Sindicato das Empresas dc Seguros Privados e Capitalizagao do Estado de Sao Paulo.
4 — Arthur Bernardes Filho — Advogado; Senador pelo Estado de Minas Gcrais: Advogado de «A Equitativa» dos Estados Unidos do Brasih.
^ Carlos de Morais Vellinho — Presidentc do Sindi cato das Empresas de Seguros Privados e Capitalizagao do Rio Grande do Siil.
6 JoAO Carlos Vital — Engenheiro; Primeiro Presidente do Instituto de Rcssegitros do Brasil.
^ JOAO Santiago Fontes —Representante Geral da Companhia de Secures ^Legal G Gencrah.
8 — Jose Bonifacio Lapayete de Andrada — Advogado; Deputado Federal pelo Estado de Minas Gerais.
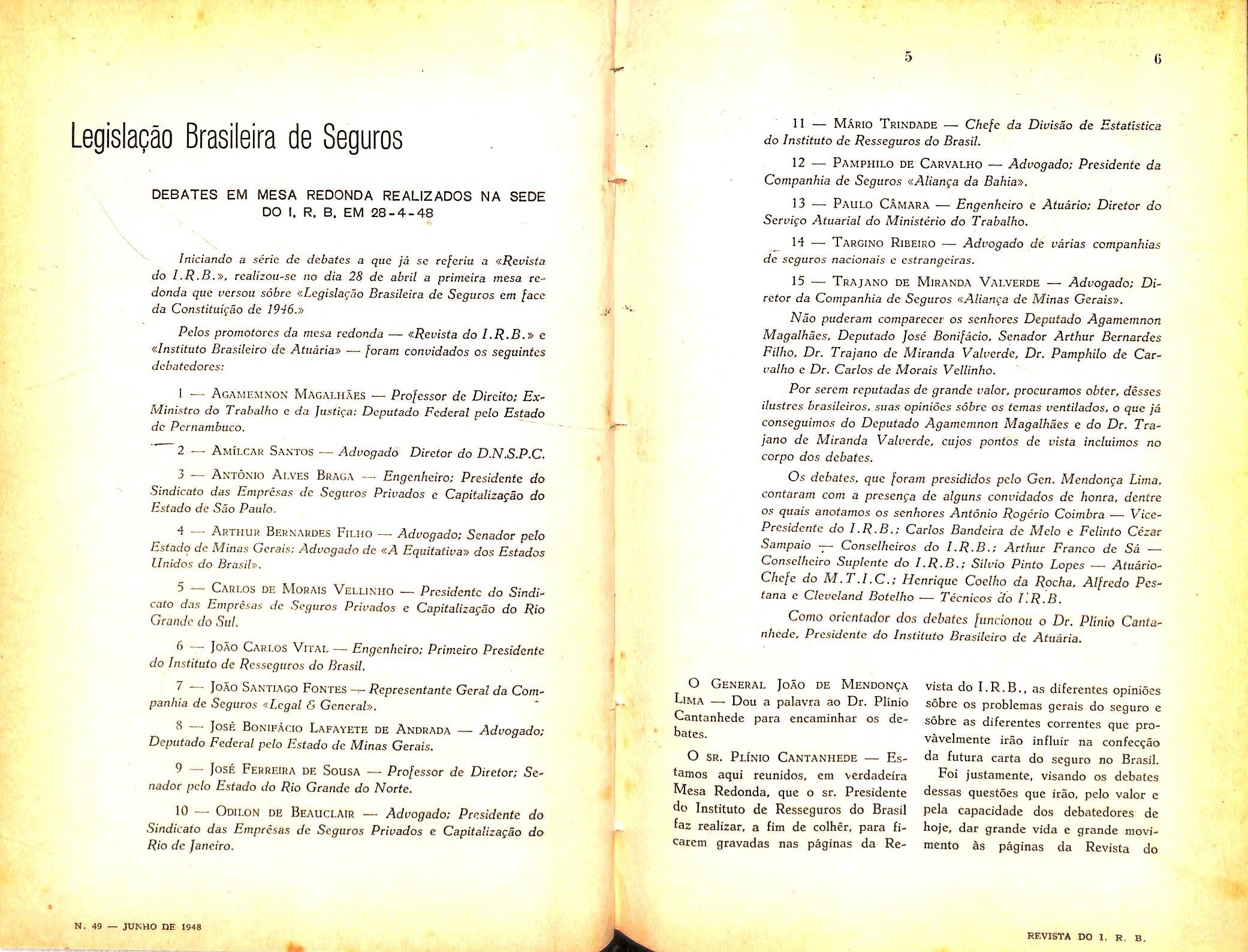
9 Jose Ferreira de Sousa —• Professor de Diretor; Se nador pelo Estado do Rio Grande do Norte.
10 — Odilon de Beauclair — Advogado; Presidente do Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitalizagao do Rio de Janeiro.
11 — Mario Trindade — Chefc da Divisao de Estatistica do Instituto de Resseguros do Brasil.
12 — Pamphilo de Carvalho — Adfo^ado; Presidente da Companhia de Seguros «Alianga da Bahia».
13 •— Paulo Camara — Engenheiro e Atuario: Diretor do Servigo Atuarial do Ministerio do Trabalho.
__ 14 — Targino Ribeiro — Advogado de varias companhias de seguros nacionais c cstrangciras.
15 — Trajano de Miranda Valverde — Advogado; Di retor da Companhia dc Seguros «Alianga dc Minas Gerais».
Nao puderam comparecer os senhores Deputado Agamemnon Magalhaes, Deputado Jose Bonifacio, Senador Arthur Bernardes Filho, Dr. Trajano de Miranda Valverde, Dr. Pamphilo de Car valho e Dr. Carlos de Morais Vellinho.
Por serem reputadas de grande valor, procuramos obter, desses ilustres brasileiros, suas opiniocs so&re os temas ventilados, o que ja conseguimos do Deputado Agamemnon Magalhaes e do Dr. Tra jano de Miranda Valverde, cujos pontos de vista incluimos no corpo dos debates.
Os debates, que foram presididos pelo Gen. Mendonfa Lima, contaram com a presenga de alguns convidados de honra, dentre OS quais anotamos os senhores Antonio Rogerio Coimbra — VicePresidente do I.R.B.; CaWos Bandcira de Melo e Felinto Cezar Sampaio — Conselheiros do I.R.B.: Arthur Franco de Sa Conselheiro Suplente do I.R.B.: Silvio Pinto Lopes — AfuarioChefe do M.T.I.C.; Henrique Coelho da Rocha. Alfredo Pestana e Cleveland Botelho — Tecnicos do I'.R.B.
Como oricnffldor dos debates funcionou o Dr. Plinio Cantanhede, Presidente do Instituto Brasileiro de Atuaria.
O General Joao de MENoowgA
Lima — Dou a palavra ao Dr. Plinio Cantanhede para encaminhar os de bates.
O SR. Plinio Cantanhede — E.stamos aqui reunidos, em verdadeira Mesa Redonda, que o sr. Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil laz realizar, a fim de colher, para ficarem gravadas nas pdginas da Re-
vista do I.R.B., as diferentes opinioes sobre os problemas gcrais do seguro e sobre as diferentes correntcs que provavelmente irao influir na confec^ao da futura carta do seguro no Brasil. Foi justamente, visando os debates dessas questoes que irao, pelo valor e pela capacidade dos debatedores dc hoje, dar grande vida e grande movimento as paginas da Revista do
.if L
r
N. 49 — JVSHO OE 1948 REVISTA DO I, R. B.
que ja tern a sua tradigao de brilhantc repositorio das nossas coisas do seguro. que nos reuninios Foram convidadas para esta Mesa Redonda pcssoas que dispcnsani qualquer apresenta^ao: sao nonies dos mrus conhecidos nos meios do seguro. ccmo estudiosos, como jiiristas, ccmo homcns praticos do seguro, como tcrnicos. os que tomam parte nesta conversa dc amigos. 6 uma verdadeira palestra, uma Verdadeira Mesa Redonda, seni qualquer cunho academico. Aqui se irao colher. de fato, nao pontos de vista nem conclusoes, como nao se fara vota^ao alguma, mas sim diferentes opinioes sobre as diversas correntes que agitam os nossos meios seguradores,
Para nao tomar mais tempo empanando o brilho que vao tomar os de bates, eu me permitia, antes de proper o primeiro problema. dizer que aqui se vao manifestar as opinioes pessoais de cada um dos ilustres debatedores. tiazendo suas luzes e expcriencias no seguro. O nosso amigo. Dr. Rodrigo de Andrade Medicis, que hcje se encontra incumbido da assistencia tecnica da Rcvista do I.R.B.. convidou o Presidente do Instituto Biasileiro de Atuaria para ser o animador dessa
Mesa. Naturalmente pediremos a opiniao dos debatedores: a palavra e absolutamente livre. Estamos numa conversa de amigos, sem qualquer constrangimento, de mode que todos se podem manifestar, chamados ou nao e. tambem, nao levem em conta qualquer impertinencia de nossa parter
A primeira questao que vamos pro per a esta Mesa Redonda e a seguinte:
Em face do que et'tabelece o arf. 1-19 da Constituigao. pode ou dcvc a Lei Complcmentar de Seguros. ja cm esfuJos na Comissao Interpailamentar. fixar explicitamente o caratcr de nacionalizagao para as cperagoes de seguro, como o fa: o atual Regulamento?
Eu pediria. para iniciar esta nossa breve troca de ideias, a opiniao valiosissima do nosso colega Dr. Amilcar Santos, que. pelo sen passado no meio segurador e pela sua cultura, pode abrir com chave de euro este debate.
O SR. Amilcar Santos — Obrigado pelas referencias. Respondendo a pergunta, direi que me parece que a Lei Complcmentar a ser votada pelo Congresso nao podera ou nao devera introduzir a nacionaliza^ao. O dispo sitive nao diz nada, porem, tern que r
ser estudado, apreciado. junto com os deinai.s dispositivos da Constituigao. Havendo o art. Ml, que assegura a ■S^aldade de direitos perante a lei para e.strangeiros residentes no pais e bra^ileiros natos, me parcce que isto e •suficiente para impedir qualquer nacionaliza^ao. Esta, a resposta que po.sso dar a primeira pergunta.
O SR. Plinio Cantanhf.de — Peao Senador Dr. Ferreira de Sousa. dos mais ilustres membros da Co missao Interparlamencar, sua valiosa Opiniao de cultor do Dircito e profes sor,

O SR, Ferreira de Sou$.\ — A minha opiniao no sentido da constitucionahdade e um pouco diversa da do Dr, Amilcar Santo.s. O ait. H9 da Constituiqao foi. se bcm me lembro. elaborado pela Comissao Constitucional, de que fiz parte, sem intuito, proPriamente, de impedir qualquer providencia visando a nacionaliza^ao ou, pelo menos. no sentido de o Estado tomar conta do Seguro.
O que se visou foi, apenas, autorizar o legisiador ordinario a tomar a.s providencias que, no memento, fossem necessarias. Isto, do ponto de vista constitucional; quero dizer. assim, que.
no mcu ver, e possivel o legisiador ordinario cntrar neste terreno. Sei que ha muitas opinioes contrarias. Ainda ontem,-li um parecer de um jurisconsulto que estabelece sentido d'fcrente. Agora, se deve, e outra questao; entendo que nao devc. Nao sou partidario, assim. tao extremado e acho que a lei nao tern dado e, a meu ver, nao dara os resultados que dela sc esperam. O mundo c cada vcz menor; a economia se interpenetra muito e nao podemos, em ramos isolados, farer uma autarquia absoluta do que temos. Esta, a miuha opiniao a este respeito. Acho que pode, mas acho que nap deve.
O SR, Alves Braga — Existein muitas companhias estrangeiras aqui radicadas, ha dezenas de anos. Essas companhias contam com cstrangciros. que tambem fazem parte de companhia.s nacionais, e que se casarani, e tern filhos brasileiros. Qual sera a posigao desses filhos brasileiros, quando adquirirem a maioridade? Pertencendo estas agoes, por exemplo, aos pais, estes podem transferir para seus filhos, quo sao brasileiros. Por isto, acho que os estrangeiros radicados aqui ha 10, 15 ou 20 anos — podemos estabeleccr prazo — poderiam assemelhar-se aos
t
V, M. 49 ~ JUNtlO DE t948 HEVISTA DO 1, R. B-
brasileiros no tocante a aquisi?ao de agoes das companhias de seguros.
O SR. Plinio Cantanhede — Ja ouvimos a opiniao de dois ilustres juristas e homens de seguro. de mode que, para equilibrar. no sentido profissional da paiavra., seria interessante que o Dr. Joao Carlos Vital, que e engenheiro e .a quern o nosso meio segurador deve este modelar I.R.B., nos desse a sua opiniao.

O SR. Joao Carlos Vital — Divirjo do Dr. Amilcar Santos, concordando com o Senador Ferreira de Sousa. em que o art. H9 deve ser interpretado no sentido da nacionaliragao das empresas de seguros e dos acionistas.
Acho.que os estrangeiros podem ser acionistas de companhias dc seguros. Agora, quanto a questao da nacionaliza^ao das empresas de seguros, julgo que o estabelecimento de empresas estrangeiras no Brasil para o negocio do segurc. dentro do quadro politico brasileiro atua], vai sem duvida projetar desconfian^as. Acho que, se estamos num regime democcatico, dc portas abertas, e a econom\» se torna cada ve.i mais una — um mundo so, dc que ja nos faluu um grande escritor nao ha coino fugir a peimissao de que OS estrangeiros legalmcnte domiciliados no pais sejam acionistas de companhias de seguros. O que o Dr. Amilcar Santos alegou diz re®-* peito, apena.i. aos acionistas; evidentemente, esse direito e assegurado em outro artigo que estabelece direitos iguais para estrangeiros radicados no pais, inclusive pertencer a companhia de seguros. Nunca fui partidario
dessa exigencia de — estrangeiros ra dicados no pajs nao pertencerem a com panhias de seguros, mesmo no tempo da nacionaliza^ao cbrigatdiia, como estabelecia a Constitui?ao de 37.
O acionista nao tem nada com isso; ele csta no gozo dos seus direitos iguais aos dos cidadlos brasileiros. Nao ha mal nenhum em que seja acionista de companhia de seguros.
O SR. PlImo Cantanhede — O Dr. Odilon de Beauclair, que ja nasceu em companhia de seguros, poderia dar-nos a sua opiniao,
O SR. Odilon de Beauclair — De fato. concordo inteiramcnte com o que disse 6. Dr. Amilcar Santos. Embora o espirito do legislador fosse, conforme"" disse 0 senador Ferreira de Sousa, deslocar apenas da Constituigao para a lei ordinaria esta questao do funcionamento das companhias de seguro, e de ver que a modificagao trazida pelo art. 149 da Carta de 1946 ao que esta prcscrito pelo art. 145 da Constituigao de 37 da a entender, pelo menos, que fo: afastada completamente esta idcia da nacionaliza^ao, por que o art. 145 dizia taxativamentc: «S6 poderao funcionar no Brasil os bancos de deposito c as empresas de seguros. quando bra sileiros OS seus acionistas. Aos bancos de deposito e empresas de seguros atualrnente autorizados a operar no pais. a lei dara um prazo razoavel para que se transformem, de acordo com as cxigencias deste artigos, ao passo que o art. 149, modificando-o, diz o seguinte: «A lei dispora sobre o regime dos bancos de deposito, das empresas de seguro, de capitalizaqao e de fins analogos.;> Essa omissao sobre a na-
cionaliza^ao subentende uma modificaqao radical no sentido de se afastar essa ideia de nacionalizaqao. £ o meu ponto de vista.
O SR. Santiago Fontes — Penso que nesta questao dc nacionalizasao se deve discutir apenas a nacionalidade dos acionistas. Porque, no to cante as empresas estrangeiras, atual rnente trafaalhando aqui, a meu ver elas
O SR. MAhio Trindade — O pro blema foi ja muito bem situado aqui Acho que o capital estrangeiro e o capital pertencente a estrangeiros ra dicados no pais estabelccem uma distingao entre a nacionalidade da empresa e a nacionalidade do acionista. Agora, em face do que declararam o Dr. Amilcar Santos e o Senador Fer reira de Sousa, parece-me que a dis-
"AqUI nao se IRAO COLHER CONCLUSOES, MAS SIM D1FERENTE5 opiniSes sobre as D1\-EBSAS corRENTES QUE AGiTAM OS N'OSSOS MEIOS SEOIIRADORES" _ SALIENTA, DE INicIO. O DR. pLfNlO CANTA NHEDE. ja estao nacionalizadas. Desde 1901, quando foi criada a Inspetoria de Seguro.s, que obrigou o capital realizado a constituir-se aqui, c a permanencia das reservas no pais, acho que as com panhias estrangeiras atuais ja estao nacionalizadas.
Quanto ao art, 149, e cvidente que a intengao do legislador foi deixar a porta aberta para .se seguir a tendSncia mundial ncssa questao de nacionalizaqao.
cussao tendera para vermos se e conveniente a entrada de novos capitais estrangeiros para explorar a industria de seguros, ou se nao c conveniente essa entrada de novos capitais, porquanto parece ponto pacifico que os estrangeiros tern direito, como radica dos no pais, de possuir agoes de em presas de seguros: por conseguinte, c problema se desloca quanto a esse aspecto e me reserve para aborda-lo. ja na segunda fase da discussao.
11 12
N. «9 JUNl-rO DE 1948 13 14
FEVISTA DO 1. R. B.
quanto a conveniencia ou nao da entrada de novos capitals.
O SR. PuNIO Camanhede — Ao Dr. Paulo Camara, que dirige o Ser vice Atuarial do Ministerio do TrabaJho, pedimos dar sua opiniao que e. como sabemos, a de um elemento aitaracnte combative.
O SR. Paulo Camara — A primeirn fase desta discussao foge, por completo, a mcus pequeninos conhecimentos, porquanto se esta encarando uma tese constitucional e eu sou um simples engenheiro civil e atuario do Minis terio do Trabalho. Parece-nie que o art. 149 nao pode sec cncarado isoladamente: tera de se-lo de acordo com a orienta^ao do tituio V que trata da «ordcm cconomica e socials. Ora. o art. 146 diz; «A Uniao podera, mediante lei especial, intervir no dominio econoriiico e monopolizar detcrminada industria ou atividade. A intervenqao tera por base o intercsse pi'iblico e por limite os direitos fundamenlai.s assegurados ncsta Constitui^ao.s Como -se ve, este artigo da podcres muito maiores que a nacionalizagao, pois da poderes ate de socializa(;ao. A Constitui?ao. quer paiecer-me. abandonando a reda?ao do art. 145 da Constituigao dc 10 de novembro de 1937, procurou •sifuar o problema dentro das conveniencias principals do pais, dentro do interesse primordial do pais. indo muito mais longe na aiitoriza^ao que da no art. 146, do que o previsto no antigo art. 145. o que me parece. na primeira fase da di.scussao, isto e. na analise da que,stao constitucional. Naturalmenfe. sou leigo no assunto e estou falando ncssa qualidade.
Ifi
O SR. Plinio Caxtaniiede — Iniciamos a primeira qucstao ouvindo a palavra do Dr. Arailcar Santos, que tem um grandc passado no scguro brasileiro: ouvimos, depois. c Senador Professor Ferreira de Sousa. com a sua responsabilidade dc constituintc de 1946, e todos os tccnicos presentcs. Creio que, nada melhor, para encerrar este debate com a mcsma chavc de euro com a qua! foi aberto do que ouvirmos o Dr. Targino Ribeiro, mesrrc conhecido e verdadeiro o.poente da advocacia no Brasil.
O SR. Targino Ribeiro — Agradeijo as generosas referencias feitas ao humilde advogado. Desdc logo confcsso que pouca contribuigac poderci tiazer a este debate, de forma que o enccrramento desta primeira qucstao nao sera, como V. Excia. disse, com chave de euro. Entretanto. cada um da o que tem. De sorte que vou manifestar a opiniao que tenho sobre este assunto e, desdc logo, advirto: nao e nova, fi uma velha opiniao. que tenho impressa em um ligeiro trabalho publicado em 1937. Vi que ncs debates da Constituinte este assunto mereceu atemjao muito demorada c muito agitada dos seus varios mcmbros.
Discufiu-se a nacionaliza^ao: discutiu-sc a estatiza^ao, a socializa^ao dos seguros e, no final das contas. o legislador constituinte chegou a esta forma do art. 149: «A lei dispora sobre o regime dos banco.s de depositos, das empresas de seguros de capitaliza^ao e de fins analogos.» Evitou, cvidentcmente, a questao da nacionaliza?ao — «dispori sobre o regimes Deixando inteira liberdade a lcgisla?ao ordinaria.
Ora. estou muito de acordo — e alias foi opiniao manifestadn em 1937 — com o cmincntc Sr. Joao Carlos Vital. £ precise distinguir cntre nacionalidade da empresa e nacionalidade dos acionistas.
I'Uma empresa c nacional — e isto c Um velho enteric juridico — segundo se organiza de acordo com as leis do pais. tenhn a sua scde e sua dircgao uo pais. e ai responda, e tenha sua responsabilidade e seus bens. Durante a guerra de 1914 a 1918 — todos sabem disso - por circunsiancias de rlefesa foi precise criar leis de emeiS^ncia e entao estabelcccu-se que a nacionalidade das sociedades dependia. Cm certos cases, como neste, da na cionalidade dos raembros acionistas. Mas, depois da guerra de 1914, voltouse a velha doutrina, ao velho sistema. Creio que voltamos atras, de- um mode "Hiito mais rigoroso. a leqisla^ao de '914. durante a guerra de 39. Acredito. Porem que a evolugao seja. novamente. no sentido de por a corrcntc no Icito. Entretanto. quero salientar isto: sou rlos que penr.am. e pe?o venia para emitir essa opiniao. que a lei ordinaria uao pode c nao deve cogitar desse Sssunto assas delicado. norque vislumbro uma proibigao no art. 141, pelo uienos um conHito com a lei que estabelecer a nacionaliza^ao, pois «a Consrituiqao assegura aos brasileitos e aos estraugeiroF. rcsidentes no pais, a invic'abilidade dos direitos concernentes a ^ida, a liberdade. a seguranga indi vidual. a prcpriedade®. Ora, ja nao Pie refiro a essa exigencia quanto aos acionistas das empresas: refiro-me a piopria nadonalizagao das empresas. Sc a Constituigao assegura u inviola-
bilidade desses direitos fundamentais, a empresa pode ser estrangeira porque a Constituigao nao se refere aos cidadaos brasileiros e aos cidadaos estrangeiros. A empresa e tambem uma pcssoa — juridica. mas e uma pessoa — c assegura. tanto a brasileiros como a cstrangeiros, esses direitos de inviolabilidade. De sorte que impor que os seguradores sejam nacionais e, de certa forma, invcstir contia o disposto no art. 141. Por outre lado, o argumento do art. 146: «a Uniao podera, mediante lei especial, intervir no do minio economico c moriopolizar determinada industria ou atividadc», nao me parece que seja elemento capaz para autorizar a lei ordinaria a di.'^por sobre a nacionalidade. obrigando j naciona lidade brasileira porque — e aqui invoco a opiniao ja defendida. que me parece acertada, do Minisrro Doutor Francisco Campos, quando sustent.i que o que se pode fazer, com base ncste artigo, e intervir para monopoli zar. Intervir c monopolizar. Tudo o que nao for isto nao deve ser admitido. pelo menos. segundo a interpretagao que. me parece. deve ser dada. Alem disso, o proprio art. 146 dispoe que a intervengao tera por limites os direitos fundamentais adquiridos por e.sta Constituigao. Direitos fundamen tais sac as garantias individuais do art. 146. Scndo assim. cu tenho opiniao — velha c.piniao que data de 1937 — no sentido dc que a lei ordi naria nao deve di.-jpor sobre a nacionalizagao obrigatoria das empresas seguradoras.
O SR. Agamemnon Magalhaes — (opiniao c!ada por escrito) — Para coniplrta inteligcncla do art. H9 da GsnstiCui^So dc 1946.

15
r 17
18
N. 49 — JUNHO. DE 1948 REVISTA DO I. H. B-
e mister considerar a evo!u?ao quc essa norma coDstitucional assinala, no losso Dircito Public©.
As Constitui?6cs de 1934 e 1937 consagraram o principio da nacionali:a?a© dos bancos dc deposit© c das cmpresas de seguro, quanto BOS acionistas das sociedades quo cxplorasseni essa ativldade cconomica. O conceit© da nacionalizacao que..cm outros paisos, cnvolvia o da socializa?ao ou inonopolio do Estado, assumiu no Direito Ccnstitucionei Brasileiro um aspect© restrito e novo. Pode-se dizcr, Lma tccnica difercnte.

Quanto aos bancos de deposit©, a tendencia para a nacionaIiza<;ao dos acionistas ficou limitada aos constituintes de 1934; diria melhor, na© encontrou ambiente ou receptividade. dada a nossa falta de organiza^So baiicaria e do mercado do dinheiro. O mesmo nao aco.> t£ceu com as companhias de seguro. Tanto assim, que a legislagao brasileira avangou, nao s;. no sentiJo da nacionalirag3o dot acionistas. como no do monopolio do Estado ou da socializagao. A criagao do Institute de Resscguros e a prova disso.
Relator do capituio - Da Ordem Economica c Social —. na Grande Comiss-lo Constituconal. incumbida pela Assembleia Constituintc de 1946 para elaborar a. nova ConstituigSo, t.vemos que considerar as tendencias acima rcferidas.
Origma-se dai a redagao do atual art. 149 - «A lei dispora s6bre o regime dos bancos de deposit©, das cmpresas de scouro. de capitalizagao e fins anSlogos.® _ A norma constitucional assim redigida pcrmitida ao Jegisbdor ordinario fixar o regime, que as cond.gftes ccondmicas e sociais aconcelharem para '1 exploragSo daquelas atividados O leqis lador ordinario nSo ficaria. como ficou em face dos tcxtos constitucionais de 1934 e 1937 adstrito a limites jacobinos e rigidos.
6 cvidente, pois. diante dessa explicagSo que c Congresso Nacional poderd mantcr o regime atual da nacionalizagSo dos acionistas das empresas de seguro. ou continuar a marcha para a sociaiizagao ou monopolio do Estado. que i. ao meu ver, irresistive) por scr a mais coaveniente. na conjuntura que atravessamos.
O SR. MiRANDA Valverde — (opiniao dada por escrito) — NSo, e dou as razoes.
A Constituigao de 1934, detcrminava. no art. 117, a nacionalizagao progressiva dos bancos de dcposito e das cmpresas de scguros err todas as niodalidades. devmido constituir-sc, acre.scentava o preceito, cm sociedades brasileiras as cstrangciras que ntiio operavam no pais.
O Ministro dc.. Trabalho, Dr. Agamemnon Magalhacs. aprcsentou, em 1936, um antc-projcto dcstinado a rcgulamentar o preceito constiiucional. quc sofreu sevcram criticas, muitas delas, sein diivida. civadas de motives meramentc egoisticos.
Com o golpc do 1937 e a rublicagao da Ccrta ConstilLicional de 10 de novembro. os nacionaiistas cxtremados conseguiram a regulamentagao do art. 145 da mesma Carta e a criagao do Instituto de Resscguros do Brasil, previsto no antc-projcto Agamemnon MagalliScs.
O art. 145 era catcgorico:
«S6 podcrao funcionar no Brasil os bancos de deposit© .e as cmpresas de scguros, quando brasileiros os seus acionistas. Aos bancos de dcposito e cmpresas de scguros atualmente autorizados a operar no pais, a lei darS um prazo razo.ivel para que sc transformcm de acordo com as exigencias deste .nrtigo».
Em 3 de abril dc 1939. foi criado o Insti tuto do Rcsseguros do Brasil pcio Dccrcto-lei
1.186 e. pclo Dccrcto-lei 2.063, dc / dc margo dc 1940. vcio a regiilamentagao. sob novos moldes, das opera;5cs dc seguros privados.
O nacionalismo cconomico havia ultrapassaao OS limites quc as nossas condigSes dc nagSo prc-capitalista c carentc do concurso cstrangeiro. em homens e capitais, podiam razoavclmentc estabelecer. Eliminou-sc o cstrangeiro. ainda que rcsidente no pais. das empresas segtiradoras nacionais; de$tituiu-se o cstrangeiro do pStrio poder com relagSo as agSes pcrtencentes a seus filhos menores bra sileiros; proibiu-se o cstrangeiro, casado, pelo regime dc scparagao de bens, com brasileira possuidora dc agSes de companhias seguradoras. de exercer atos de administragao no tocantc as ag5es e langou-se a excomunhao maxima s6brc a brasileira casada pelo regime da comunhao de bens com cstrangeiro, proibiiido-a dc possuir agSes de tais cmpresas.
Politica purameritc nativista. a cxtravasar um complexo de inforioridadc em face do cstrangeiro. ainda quando intcgrado na comunidade brasileira. Partiu-se dc falso prcssuposto; a nacionaliza^ao das operates de se guro — quc podc. alias, cons'.ituir um dos pontos da politica dc nacionalizai;ao da cconomia .— exigc quc somcnte nacionais. pessoas fiiicas. as possam praticar. Ora. isto frente aos principios que dirigcm o nacionalismo cco nomico. e inadmissivel. pois quc tddas as pessoas. nacionais ou cstrangci'.as, eis quc residentes ou domiciliadas no territorio do pais. bao de colafaorar para o progresso da cconomia nscional.
Tcnho per firme que, tanto em face do art. 149, quanto do art. 141, § 1', o vigentc I'cgime juridico das companhias seguradoras nao sc podc mantcr.
A nacionalizagao das opcra;6cs dc seguro nao exige. repetimos. como conriigao necessa'ia, o afastamcnto dos cstrarigciros residentes no pais das companhias de seguros, nem a viiminagao. por muito tempo ainda impossivel, 'Jas grandes companhias cstrangciras aqui autorizadas a funcionar.
NSo des'emos reincidir nos crros cometidos n.e'stes de: ultimos anos.
Em materia dc seguros, estamo.s hoje nesta -situagao: os cstiangeiros nao nsidentes no pais podem aqui operar por intermed'o das agencias ou sucursais das companhias e.strangeiras. dc quc sao acionistss; os estrangeiros residentes no pais nao podem participar de^^empresas seguradoras nacionais.
Esta anomalia. quanto aos bancos de depdsito nacionais. foi corrigida. em parte, pelo Decreto-lei n' 8.568, dc 7 de Janeiro dc 1946.
O SR. Plinio Cantanhede — Acabatnos de ouvir, com grande satisfagao, o aula que nos acaba de dar o Doutor Targino Ribeiro sobre este assunto, de ordem meramente juridica, e assim podcmos passar a outro camoo, mais de hrdem economica e'social, principalmente, tendo cm,v;st,a, o que acaba de refcrir o Dr. 'Targino Ribtiro sobre o art. 146 da Constituigao. que perniite a Uniao intervir no dominio eco-
nomico. Fecha-se naturalmente o aspecto juridico desta questao Passemos ao segundo ponto: Dsixando a Constituicao ao legislador a fixagao das caracteristicas das sociedades de scgaro, ha conveniencia de ordem economica e social em serem pricativas do capital nacional as atividades do seguro?
6 uma questao de ordem economica e social — se ha inconvcniencia de serem privativas do capital nacional. Pediria que iniciasse esse debate o Senador Ferreira de Sousa quc, como constituintc e professor, podera trazef novas luzes do seu taJento para csclarecimento de tao interessante qiiestao.
O SB. Ferreira de Sousa — Quando debatl a primeira questao, me inani-
19 20
21
22
O SEN'ADOR FerREIRA DE SOUSA ACHA OUE "as empresas que jogam com a ECONOMIA tOLETIVA NAO DEX'EM PROLIFErar".
N, 49 — JUNHO DE 1948 v.t.' REVISTA DO I. R, B.
/estei a respeito deste ponto. Sustcntei quc e possivel, a meu ver, ao legislador ordinario dispor snbre as empresas, organizagao, entidade, socicdade ou companhia a respeito de negocios de seguros em geral, impondo toda e qualquer restrigao que Ihe pa tera corrcsponder qs necessidades da epoca. Entretanto. eu disse quc do ponto de vista da conveniencia, nao estavamos na epoca apropriada. A epo ca nao comporta, absolutamente, a nacionaliza^ao de qualquer forma de atividade. Ja tentamos esta nacionaliza?ao. A norma da Constituiqao de 1937 a respeito das empresas de seguros c bancos c precisa. e evidentcmentc. no meu scntir, nao deu os resuitados qae
se desejavam. Chegamos mcsmo, para evitar cumpri-la, a fazer concessocs em leis ordinarias. a conceder prazos e niais prazos para a nacionaliza^ao dc outras empresas e no fim nao pudemos sequer reduzir a quantidade de empre sas estrangeiras de seguros e bancos que aqui se estabelecerani c que nao puderam ser retiradas dacui. Houve impossibilidade e o legislador, que e homem de a^ao politica. nao pode deixar de rcconhecer que as questoes, por niais Icgicas e seguras cue parc?am no ponto dc vista doutrinario. quando esbarram em impossibilidades de fato devem ser abandonadas. Por outro lado. cntendo quc os negocios economicos cxigem uma iigacao inter-
nacionai; exigcm o cnquadramento que so OS negocios internacionais estabelecem, Isto dc se qucrer isolar no pais uma dcterminada forma dc atividade c querer criar dcterminado ramo dc negocio que se baste a si oropria e, a meu vcr. urn problema profundamcntc d.e ordem cconomica. fi vcrdadc quc devemos cuidar o mais possivel de garantir, dc asscgurar, a ncT-ionaiiza^ao das empresas otraves da cxistencia dc capitals no Brasil. de reservas no Brasil. dc segurancja dentro do Brasil: mas resolver a questao «tout court» inipedindo a participagao do capital estrangeiro c, no meu scntir, uma providencia profiindamente desaconselhavel. Quero crcr, mesmo. que grande parte das nossas dificuldades econoinicas atuais sao oriundas dessi tendencia para o nacionalismo cconomico inaugurado pela Constitui^ao de 3-4 e seguida, mais de pcrto. pcla de 37. £sse nacio nalismo afastou de nos muito capital, muita colabora^ao. nao so neste ramo, como cm muitos outros e criou desconfianga tambem. De sorte que acho que, embora continue a pensar que a lei ordinaria poderia tomar as providencias que entendesse neste particular, e a Constitui^ao tivesse aberto uma questao delicada, uma questao para a legislagao ordinaria, entendo, como legislador ordinario, que nao e econcmicamente aconselhavcl. nem poJiticamente satisfatorio, nem brasilciramente justo.
O SR. PuNIO Cantanhede — O Dr. Joao Carlos Vital, que tomou parte com grande brilho na legislagao do Instituto de Resseguros do Brasil que, de alguma forma, tinha em vista contribuir para a nacionaliza^ao dos
seguros no Brasil, poderia dar-nos sua opiniao.
O SR. Joao Carlos Vital — Quero fazer, justamcnte, uma ressalva que a inicial de V. Excia. anula. Eu nao tomei parte na legisla^ao inicial do I.R.B. V. Excia. foi quern tomou parte, e com grande brilho. Fui mero executor, e no executar essa legisIa?ao tive a oportunidade de proper ao Govcrno as medidas a que se referiu o professor Ferreira de Sousa. Nao liouve dificuldades em realiia-las pelas razoes quc V. Excia. aprescntou; mas porque o estado do mcrcado segurador brasileiro nos Jevou a reconheccr a nenhuma conveniencia dc afastar velhas e boas companhias, que aqui se achavam radicadas, no memento justnmente em que estavamos formando uma estrutura nova. Procuramos elaborar nossa legisla^ao, impondo umr. seric dc exigencias as companhias. Resolvemos entao dcscarregar nas companhias o que deverlamos fazer no estrangeiro, quer dizer, clas vieram enriquecer o nosso mcrcado, e a nacionalizacao se processou com o ciiidado prudente dc nao afasta-las; tanto que, praticamente, houve companhias estrangciias dc se guros que aumentaram, em numeros absolutes, OS seus valores no Brasil, porque o seguro se dcsenvolveu, e tiveram suas carteiras aumeutadas em volume de premios. Quase todas.
O SR. Santiago Fontes — Todas elas.
O sr. Joao Carlos Vital — De maneira quc, durante o tempo quc me coube orientar essc setor, de acdrdo com OS tecnicos que me acompanharam, cheguei a conclusao. que muitas vezes

23 21
N. 49 JUNHp DE 194S 25 26
REVISTA DO I. S, B.
Dr. Paulo Camaha
tiansmiti ao proprio Chefc do Governo, o entao presidente Getulio Vargas, dc que a nacionaIiza(;ao das ntuais einpresas de seguros era coisa que se deveria afastar ao infinite, e cntao se cogitar apenas de evitar a organizagao e instala^ao no Brasil de ncvas companhias estrangeiras. fiste, o problema. As que estavam aqui nao entraram em nosso pensamento. Depois, o presidente ficou com esta ideia. Nao houve dificuldades politicas de qualquer nafureza. As dificuldades da aceitagao de retrocessoes que sc apresentaram foram prontamente resolvidas. Todas as vezes que as companhias se recusavam a cumprir a Iti, foram convldadas a faze-lo, e ctimpriram, em todos OS casos, gostosarnente. A Icgisla^ao se implantou, suavementc: o pro
prio Governo receou aquele impeto nacionalizador da primeira lei.
O SR. Targino Ribeiro — Era uraa nacionalizagao progressive.

O SR. JoAo Carlos Vital — Exatamentc; e por isso, se a economia mundial se orienta pelo internacionglismo no piano universal, se as realiza?6es economicas emanam da nacionaliza^ao economica, com o que tambein estou de acordo, echo que a interdependencia economica e necessaria. Apenas, no seguro o capital estrangeiro nao e necessario, por ser meramente representativo. e o que representa o volume dos negocios serem as reservas constituidas pelos proprios recursos do pais. A entrada de capit.-d estrangeiro, dou, assim o sentido de buscar com um capital muito pequeno uma saida para lucros e para reservas. O ponto de vista da Constitui^ao de 37 foi assim cumprido brandamente, e nao sei se seria mesmo renovado em qualquer oportunidade esse fervor de expulsao das companhias estrangeiras. Eu dissc, publicamentc. e rcpito com muita satisfagao que elas piestaram a nossa gestao uma colaboragao preciosa, mesmo porque o mercado nacional, nao comportava certos riscos. Guardar esses riscos no pais e crime tccnico, e a lei deu ao Instituto de Resseguros do Brasil o privilcgio dessa coloca^ao no estrangeiro. De modo que a Constitui?ao de 37 foi assim, no seu cumprimento, levada como que a rever um pouco as suas diretrizes primeiras. Esta, a minha opiniao pessoal nesta discussao.
desse seu ponto de vista, cncarando o assunto sob o aspecto cconomico. social e atuarial.
O SR. Paulo Camara — Ha pouco ja me manifestei no sentido de que a '21 pode pcrfeitamentc decretar a naC'onalizaijao integral ou apenas das sntidades seguradoras. Agora esta•"os Jiscutindo a conveniencia ou nao a lei agir neste sentido. Ora, e precise notar que a cria^ao do I.R.B.
^'sou, sobreCudo, evitar a transferencia grandes riquezas nacionais para o estrangeiro, sob a forma dc premios resseguro. E o objetivo colimado foi perfeitamente atingido pclo I.R.B., ^pesar da grande campanha que houve
*^0 momento de sua criaqao. E, na em que estamos, andar para fras seria agir contra os inferesscs do Uma vez que estamos procurancriar grandes empresas, grandes ^Wpceendimentos, que so tern podido feitos com capitais de entidades do overno, grandes cmpreendiinentos
^'sando evitar essa saida de capitais Para o estrangeiro, nao e justo que
^®Jtemos atras para permitii.- que, sob
^ forma de entidades estrangeiras de sese venha mais sobrecarregar o ^orcado cambial brasileiro com a transrencia dos lucros dessas seguradoras.
^lem disso, Sr. Presidente. ha uoi
®specto que nao deve ser encarado do Ponto de vista puramente nacionalista, 'Sfo e, sob o ponto de vista da nacioPaliza^ao pura e simples como prin-
^'Pio intangivel. fi preciso atentar
^ninbem para os interesses imediatos seguradores brasilciros. AtualP^^nte, as empresas, as entidades se9nradoras, ainda nao puderam abarcar
^dos OS ramos que, em geral, sao co-
nhecidos e cxplorados no estrangeiro: ha muita coisa ainda para fazer no Biasil e, se permitirmos que vcnham ao pais entidades seguradoras estrangei ras, com grandes recursos, recursos originados nas finangas de varies paises, vamos evitar que se dcsenvolva c mercado nacional de seguros. (Muito bem! Muito bem!). de se notar que as pequenas seguradoras, as que ainda nao almejam rcaliiar seguro.s no es trangeiro, essas pequenas seguradoras que podem, perfeitamente, desenvolver seus ramos de negocios em beneficio do proprio pais^ seriara prejudicadas, quase que no nascedouro. pelr.s grandes organizagoes intcrnacionais. (Muito bem!). £ preciso notar ainda, Senhor Presidente, que se poderia dizcr que o desenvolvimento de certas entidades seguradoras brasileiras per'nitirin que
27 2S
'O ARTIGO H6 DA CONSTITUICAO DA PODEBES MUITO MAIORES QUE O DE NAaONALIZAgAO, POIS, DA PODERES ATE PARA A SOGALIZACAO". — ENTENDE O
N. 49 — .rUNpO DE >948 29 30
O SR. Plinio Cantanhede — Seria interessante que o Dr. Paulo CSmara
KEVISTA DO I. R. B.
«A LEr DEVE SER SEVERA NOS REUUISITOS EXIGIDOS PARA A INTERVENCAO DE NOVAS COMPANHIAS ESTRANGEIRAS® — OPINA O Dr. Targino Ribeiro.
o Brasil ja entrasse no campo internacional do seguro; e que esfa entrada so fosse permitida mediante o principio de reciprocidade. e que assim scndo. essas entidades seguradoras, ja fortes no pais, poderao penetrar no campo estrangeiro. Haveria como que compensagao entre a entrada de recursos. oferecidos por essas entidades seguradoras do estrangeiro, e a saida dos lucros dessas companhias estrangeiras que se viessem instalar no pais. Mas isto sc operaria, pura e simples mente, em detrimento do desenvolvimento do mcrcado de seguros nacional, em beneficio das entidades estrangeiras que aqui viessem. Por conseguinte, nao encarando a questao scib o ponto de vista de um nacionalismc rigido, mas sob o ponto de visia economico imediato do pais. nao e de se aceitar que a lei ordinaria permita que enti dades seguradoras estrangeiras venham operar no Brasil, norque viriam prejudicar. sobretudo. a grande mas.sa das pequenas seguradoras brasileiras. (Muitq bem! Aplausos).
O SR. Pli'nio Cantanhede — Vamos contrapor a logica do engenheiro a argumenta^ao do advogado. Seria intcressantc ouvirmos a opmiao do Dr. Targino Ribeiro.
O SR. Targino Ribeiro — Como advogado. pouco tenho a dizer sobre este assunto. — pelo menos como advogado militante que sou. Quer parecer-me que tem razao os tres oradores^que ja se pronunciaram, O que eu penso e que a lei dcve ser severa nos requisitos exigidos para interven?ao de novas companhias cstrangeiras, no comercio e na industria. (Muito
bem!). Deve criar requisitos de maior severidade. e deve estabelecer, tambem. as medidas tendentes a' evitar a evasao de lucros e de proventos para o es trangeiro. De sorte que nao estou em contradigao com qualquer dos tres oradores; ao contrario, estou de acordo com eles. Parece-me que a lei deve regular o assunto. nesse sentido. criando requisitos que impesam a intervengao de novas companhias estran geiras, tanlo quanto o pennitir a liberdade, que devcmos prezai semprc acima de tudo, e adotando medidas tendentes a evitar a evasao dos lucros c proventos. Isto e o que me parece clemcntar; a obrigatoriedade do emprego das reservas no pais. Esta e a minha opiniao.
.
O SR. PlInio Cantanhedf — Propositadamente. ouvimos em primeiro lugar a opiniao dos homcns de idcias gerais em materia de seguro. Agora seria interessante que pudessemos ouvir a opiniao dos especialistas do se guro. sobre o problema da conveniencia de ordcm economica e social. Acredito que os especialistas do seguro. que estao prescntes — todos brilhantes gostariam de ouvir a palavra do Doutor Amilcar Santos para, iniciando, dar seu ponto de vista.
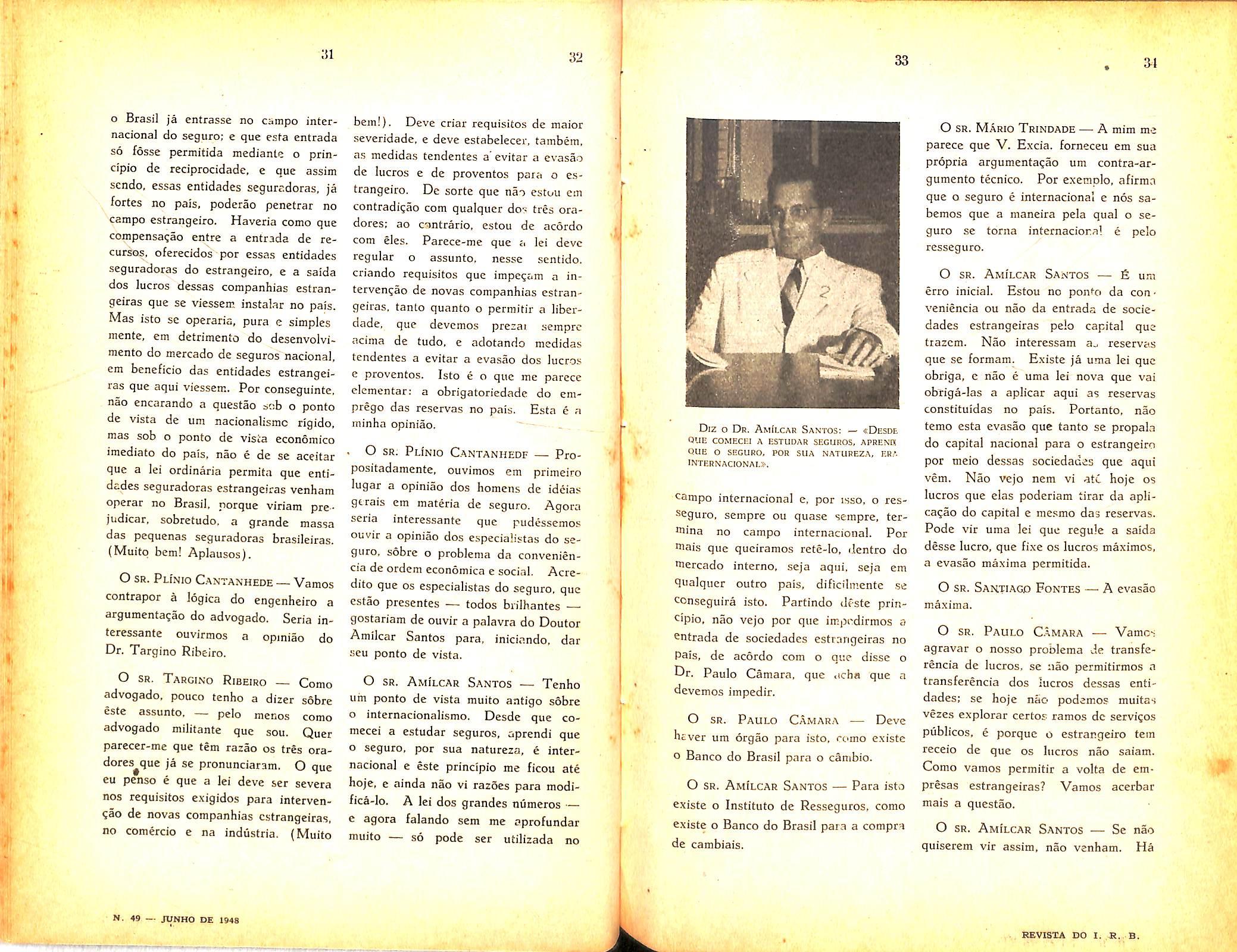
O SR. Amilcar Santos —■ Tenho um ponto de vista muito antigo sobre o internacionalismo. Desde que comecei a estudar seguros, aprendi que o seguro, por sua natureza, e intcrnacional e este principio me ficou atS hoje. e ainda nao vi razSes para modifica-lo. A lei dos grandes numeros e agora falando sem me aprofundar muito — so pode ser utilizada no
•^ampo internacional e, por isso, o resseguro, sempre ou quase serapre, termina no campo internacional. Por mais que quciraraos rete-Io, ricntro do mercado interno, seja aqui, seja em gualqucr outro pais, dificilmente ,se conseguira isto. Partindo dfste prin cipio, nao vejo per que impcdirraos a sntrada de sociedades estrangeiras no pais, de acordo com o que disse o Dr. Paulo Camara, que <icha que a devemos impedir.
O SR. Paulo Camara — Deve hcver um orgao para isto, romo existe o Banco do Brasil para o cambio.
O sr. Amilcar Santos — Para isto existe o Institute de Resseguros, como existe o Banco do Brasil para a compra de cambiais.
O SR. Mario Trindade — A mim me parece que V. Excia. forneceu em sua propria argumentaqao um contra-argumento tecnico. Por exeraplo, afirma que o seguro e internacional e nos sabemos que a maneira pela qual o se guro se torna internaciora! e pelo resseguro.
O SR. Ami'lcar Santos — fi um erro inicial. Estou no ponto da con • veniencia ou nao da entrada de socie dades estrangeiras pelo capital que trazcm. Nao interessam a., reservas que se formam. Existe ja uma lei que obriga, e nao e uma lei nova que vai obriga-las a aplicar aqui as reservas constituidas no pais. Portanto. nao temo esta evasao que tanto se propala do capital nacional para o estrangeiro por meio dessas sociedades que aqui vem. Nao vejo nem vi ate hoje os lucros que elas poderiam tirar da aplica^ao do capital e mesmo das reservas. Pode vir uma lei que regule a saida desse lucro, que fixe os lucros maximos. a evasao maxima permitida.
O SR. Sahtiagd Fontes maxima. A evasao
O SR. Paulo Camara — Vamcs agravar o nosso problema vie transferencia de lucros. se nao permitirmos a transferencia dos lucros dessas enti dades; se hoje nao podemos muitas vezes explorar certos ramos dc servisos piiblicos, e porquc o estrangeiro tein receio de que os lucros nao saiam. Como vamos permitir a volta de empresas estrangeiras? Vamos acerbar mais a questao.
O SR. AmIlcar Santos — Sc nao quiserem vir assim. nao venham. Ha
31
N. 49 — JUNHO DE 1948 32
33
Diz o Dr. AmIlcar Santos: — •iDesde QUE COMECEI A ESTUDAR SEGUROS, APHENH QUE O SEGURO. POR SUA NATUREZA, RR.'INTEBNACIONALI'.
31
KBVKHA EK)
outro ponto: a reciprocidade. Nos. nao vivemos para o momento presente. Vivemos para o future. Nao e para nos: e para nossos filhos, nossos netos e ate para nossos bisnetos. E isto, que o Dr. Paulo Camara disse, no momento nao interessa, porque sao poucas as companhias nacionais que poderao ir para o estrangciro. Mas elas proprias iniciarao urn movimento que, no future, podera trazer para o Brasil grandes beneficios. Ha poucos dias recebi uma carta da Franca, em que 0 diretor geral de seguros daquele pais me dizia que daria permissao para sociedades brasileiras operarcm na Franca, se o Brasil fizesse a mesma concessao. 6 o regime de reciproci dade. Quer dizer: ja ha companhias brasileiras que vao operar tia Franga.
O SR. Paulo Camara — Com o franco a 9 centavos.
O sr. Ami'lcar Santos — Nao estou cogitando do franco, nc momento presente. Cogito do franco de um on dois cruzeiros, daqui a cinco, dez ou cinqiienta anos. Nao vamos discutir o Brasil do momento. Nao vamos negar as possibilidades do Brasil, daqui a 50, 100. 200 anos. Nos ft vamos tornar conhecido. Nao vamos retroagir. Hoje o franco esta a 9 cen tavos: pode estar amanha a 9 cruzeiros. Quern pode dizer que nao? Ninguem. Portanto. eu mantenho o que disse. A conveniencia para o Brasil e a vinda de sociedades estrangeiras, o que a lei basica outorgou. As sociedades es trangeiras que aqui operam e que trouxeram o progrcsso e os ensinamentos do seguro. Nenhum ramo novo sc explora neste momento. Sao scmpre
.'lO
OS mesmos os que estao sendo explorados no Brasil.
O SR. MARto Thindade — Antes do principio da nacionalizagao. o que se observava c que realmente todas as com panhias estrPngeiras. que opcravam no Brasil se restringiam aos ramos que sao, cvidentemente, os que fornecem OS melhores negocios. que tern o mercado maior. incendio e transportes OS ramos basicos. Observamos que a linica cobertura que ainda e explorada pelas companhias estrangeiras de se guros, em que nenhuma das nacionais opera, e o ramo de lucros cessantes. A meu ver, o argumento de operar em novos ramos. com sociedades estran geiras, traria beneficios muilo restritos e muito limitados. Nos havemos de ver que, como o homem. toda e qualquer operagao de seguro esta condicionada ao progrcsso do proprio meio.

O SR. Santiago Fontes — Estas limitagScs tem side impostas pela propria legislagao.
O SR. Mario Trindade — A partii de 1937.
O SR. Jdao Carlos Vital — Com o fortalecimento das companhias na cionais, as estrangeiras nao procuraram estabelecer-se em novos ramos.
. O SR. Ami'lcar Santos — Tinham motives. Nao se permitiam novos ramos.
O SR. JoAo Carlos Vital — Como disse o Dr. Amilcar Santos, o Departamento de Seguros nao podia autorizar novos ramos, mesmo as compa nhias estrangeiras que queriam operar neles. No momento. o Departamento de Seguros, pela legislagao, nao o podia
permitir, mas elas funcionavam havia 80 anos no pais, sem restrigocs.
O SR. Paulo Camara — Nao sairam do ramo fogo,..
O SR. Ami'lcar Santos — Quer-me parecer existir algum exagero nas afirmativas que estao sendo feitas.
O SR. MArio Trindade — £ preqiso notar que dos quatro ramos fundamentais que se exploram no Brasil incendio. transportes, acidentes e vidn —. as estrangeiras operam, presentemente, apenas em incendio e trans portes.
Uma voz — Mas tambem nao poderiam operar em outros ramos, que o meio nao comporta.
O SR. MArio Trindade — £ pre cise entender o seguinte fato: as coberturas surgem do desenvolvimento economico; elas nao causam o desen volvimento economico. £ preciso notar bem isso.
O SR. Amilcar Santos — Continue reafirmando o meu ponto de vist.-i inicial, de que e de toda a conveniencia, para nos, a vinda de sociedades es trangeiras, com as restrigocs que a le gislagao estabelecer.
O SR. JoAo Carlos Vital •— Sc viessem com tantas restrigoes, seria a condenagao...
O SR. Ami'lcar Santos — Nao disse isso, mas ha restrigoes.
O SR. Plinio Cantanhede — Convem que voltemos a debater o assunto principal.
O SR., MArio Trindade — Gostaria de lembrar aos prescntes que, durante
o primeiro semestre do ano passado. tive ontem nas maos um numero de «Conjuntura Econ6mica», uma revista dc. Fundagao Getulio Vargas, em que pela primeira vez no Brasil se faz analise da nossa balanga de pagamentos, na parte relativa a servigos — tive a satisfagao de verificar, no item «Seguro e Resseguros, um (deficit de. apenas. 2 milhoes de cruzeiros. Isto e altamente significative pareO nos. por que ha uma indiistria cinematografica que forneceu neste primeiro semestre um deficit de 27 milhoes na nossa ba langa de pagamento. O .?eguro com todas as trocas — esse semestre e o primeiro de que temos nocao — for neceu apenas um deficit de 2 milhoes de cruzeiros, altamente signiifcativo na consideragao de qualquer medida, de qualquer tendencia, no sentido de se abrirem nossas portas a novas companhias estrangeiras.
O SR. Paulo Camra — £ um indice da capacidade do meio segurador brasileiro.
O SR. MApio, Trindade — £ um ponto que seria conveniente tratarmos agora.
O SR. Plinio Cantanhede — Estamos ouvindo os homens que viveni no meio segurador, sobre a conveniencia economico-social de serem privativas do capital nacional as atividades do seguro. Pego agora ao Sr. Santiago Fontes que. pelo seu longo trato com o meio segurador estrangeiro, podera dar-nos sua valiosa opiniao.
O SR. Santiago Fontes — Em materia de capital de seguros, e preciso nao esquecer que o capital de scguro=
35
N. 49 — jUNHO DE 1948 37 38
REVISTA DO 1. S. B.
exige liga^ao com o capital de uma empresa maior. Se amanha a CocaCola tiver aqui dois miihocs de contos, ela vai ter interesse em trazer sua companhia ligada aos Estados Unidos. Nao creio que haja prejuizo nenhum, para 0 mercado nacional, em que cada grande empresa mantcnha rela^de.s com suas proprias companhias.
O SR. JoAO Carlos Vital — O quz se verifica, justamente. e a vinda de empresas em fun^ao dos negocios p dos volumes de negocios que tern no Brasil. Bias vem com um fim especiflco. Nao vem segurar as organiza^oes brasileiras: vem segurar seu'-, proprios negocios no Brasil.
O SR. Santiago Fontes — E o caso das companhias que aqui exploravam OS portos e estradas de ferro.
O SR. Paulo Camara — Diante do-; nossos proprios olhos. ..
O SR. Mario Trindade — Antes do advento do I.R.B., as companhias estrangeiras tinham. para cada unidade de capital empatado. duas unidades de receita de premio-incendio; isto quer dizer que elas tinham garantido o mer cado aqui no Brasil, tinham garantid.n a receita de premio cm seus negocios. Posteriormente, com a entrada da legisla^ao nacionalista, esta situa?ao permaneceu, como salientou o Dr. Joao Carlos Vital, na sua exposigao sobre o problema da nacionaiizagao. O que se fez ate agora foi simplesmente tornar iguais as companhias nacionais e es trangeiras dentro do mercado brasileiro, porque verificamos estatisticamentc que a cada unidade de receita de capital empatado — falo do ca-
pital e reservas patrimoniais — corresponde uma unidade para as estrangei ras e uma para as nacionais. com tendencia de melhoria para estas. O que se conseguiu, presentemente. foi a situagao de equilibrio. dentro do mer cado. Nao ha uma discriminagao excessiva contra as companhias estran geiras. Havia a atragao dc premio; de bens dos estrangciros para as sociedades estrangeiras de segurcs, e isto foi corrigido pela legislagao, mediante uma serie de medidas que, verificamos. apenas restabeleceu o equilibrio nr> mercado.
O SR. Joao Carlos Vital — Sou suspeito para declarar que a- legislagao atual satisfaz perfeitamente" aos interesses do Brasil, porque estou entrr aqueles que cooperaram na execugao das leis que ja se radicaram. que ja se incorporaram na nossa economia e fomento. O desenvolvimento das com panhias nacionais e dc tal vulto c forma, que acho que se criaram com panhias, mais do que o neces-sario.
O SR. Mario Trindade — Eis ai o motive para nao se deixar entrarem novas companhias estrangeiras.
O SR. Joao Carlos Vital — Temos tantas companhias nacionais. , Se temos campo, teremos negocios: e se cada uma delas, ao inves, de procurar conquistar negocios dc colcgas, se langar com afinco a produgao ficareraos com o mercado segurador bem pujante.
O SR. Santiago Fontes — Para recordar, lembro que o Correio da Manha, no auge da campanha na administragao do Governo passado. quando foi criado o dizia que
a evasao do euro do Brasil pelas com panhias estrangeiras era de quatro milhoes dc contos per ano. Ora, naquele tempo a receita bru^a de todas as companhias, no Brasil. era apenas de duzentos mil contos.
O SR. Mario Trindade — Presen temente essa receita de todos os mer-
nossas sucursais aos nossos irmaos de alem-mar.
O SR. Joao Carlos Vital — Daqui a uma dezena de anos, a economia internacional' estara de tal maneita, a transformagao vai ser de tal ordem, que devemos legislar para um future proximo.
«0 Departamento de Segu rcs DKVIA EXIGIR ALGUfeM DENTRO
DA COMPANHIA QUE CONHECESSE
OS PROBLEMAS QUE ELA TEM QUH ENFBENTAR->, — D!Z O Dr. JoaO Carlos Vital,
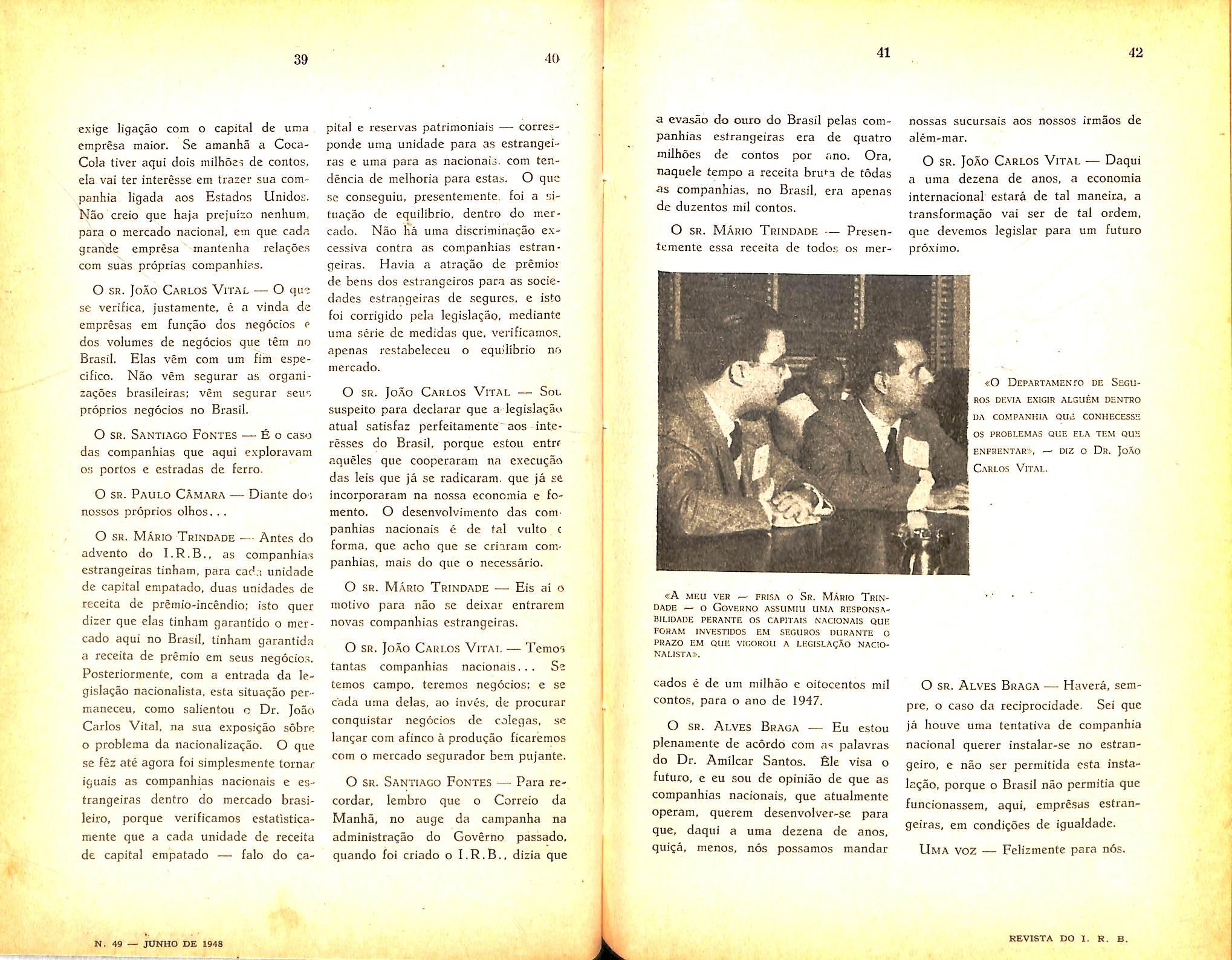
«A MEU VER — FRrSA o Sfl. Mario TrinDADE — o Governo assumiu uma besponsaBILIDADE PEBANTE OS CAPITAIS NACIONAIS QUE FOBAM INVESTIDOS EM SECUBOS DURANTE O PRA20 EM QUE VIGOROU A LKGISLAgAO NACIONALTSTA>.
cados e de um milhao e oitocentos mil contos, para o ano de 1947.
O sr. Alves Braga — Eu estou plenamente de acordo com palavras do Dr. Amilcar Santos, file visa o future, e eu sou de opiniao de que as companhias nacionais, que atualmente operam, querem desenvolver-se para que, daqui a uma dezena de anos, quiga, menos, nos possamos mandar
O sr. Alves Braga — Havera, sempre, o caso da reciprocidade- Sei que ja houve uma tentativa de companhia nacional querer instalar-se no estrangeiro, e nao ser permitida csta instalagao, porque o Brasil nao pcrmitia que funcionassera, aqui, empresas estran geiras, em condigoes de igualdade.
Uma voz — Felizmente para nos.
39
40
N. 49 — JUNHO DE 1948 41 42
KEVISTA DO I. R. B.
O SR. Odilon de Beauclair — Estou de pleno acordo com as considera^oes do senador Ferreira de Sousa e, tambem, com o velho amigo Dr. Amilcar Santos, fi um erro os paises coloearem cerca de arame farpado, como que se insulando, como qua se abstendo ou evitando esse intercambio, que e absolutamente necessario entre OS povos.
O SR. Paulo Camara — Ja existe, em parte, uma ponte para isto, que e oI.R.B.
O SR. Odilon de Beauclair — A prova de que esta ponte nao existe e que uma companhia de sequros, qucrendo opcrar fora do Biasil, nao obteve autoriza^ao. porque esta cerca de arame farpado existe na nossa legisla^ao atual. fi precise acabar com isto. espccialmente em raateria de seguro que, como muito bera disse o Dr. Amilcar Santos, e internacional por excelencia, e isto so se compreende pela pulverizagao das responsabilidades. Nenhum pais esta em condigoes de reter as suas responsabilidades; nenhum pais, nem a veiha Inglaterra de antes da guerra.
O SR. Paulo Camara — Por intermedio do resseguro, se faz essa pulverizagao.
O SR. Odilon de Beauclair — Se um pais tem recorrido a outros para aliviar suas responsabilidades, isto vem provar, como disse o Dr. Amilcar Santos, que ninguem se pode bastar em materia de seguros. Penso que ninguem o faz. Muitos .supunham que o Institute surgia como um impecilho par,a a internacionalizagao. Nao
o e, absolutamente. Eu advogo a causa do I.R.B. Acho que ele deve subsistir. mesmo que venhamos a abrir nossas fronteiras as companhias estrangeiras; uma coisa nao impede a outra. Ademais, sob o aspecto tccnico. e pre cise que se leve em conta a capacidade muito reduzida do nosso racrcado. Somos um pais que ainda esta engatinhando em materia de seguros. Nossas companhias, de um modo geral, sao fracas. Os riscos estao, cada vez mais, avolumando-se, nao so em numero. como em valor em risco. Nos ja temos risco de centenas de milhoes de cruzeiros. Ja sentimos muita dificuldade em aplicar a lei do cosseguro, colocando em um numero enorme de companhias as responsabilidades que nos sao entregues. Tudo isto indica, portanto, que temos que recorrer ao estrangeiro para passar nossos exccdentes,
O SR. Mario Trindade — Ja vinhamos recorrendo ao estrangeiro, desde 1940.

O SR. Odilon de Beauclair —• Muita gente pensa, como o Dr. Paulo Camara, que o I.R.B. foi criado para evitar a evasao de premios do Brasil para o estrangeiro. Esta evasao continua: o I.R.B. a faz; de forma que e perfeitamente impossivel querermos ter a vcleidade de nos bastarmos a nos proprios, em materia de seguro. De modo que, sob o aspecto tecnico, esta capacidade muito reduzida do nosso mercado esta a indicar-nos o caminho dr. internacionalizagao; sob o aspecto economico, acho com o Dr. Vital e o Senador Ferreira de Sousa que nao nos podemos isolar absolutamente, e
tudo esta a mostrar que o mundo cada vez ha de se tornar menor, que sua interpenetragac e permanente em todos OS sentidos, especialmente em materia de seguro. Vemos paises ainda convalescendo de uma crise tremenda. provocada pela guerra; na Europa, paises como a Italia e outros, onde o premio de seguro e de resseguro para o estrangeiro e absolutamente iscnto de taxas e impostos de qualquer natureza, o que e uma das maiores necessidades: vemos isto em paises que tem uma experiencia muito grande, e que estao a nos indicar o caminho que dcvemos seguir. Sob o aspecto poli tico, nem precisamos perder tempo com isto. Temos que manter relagoes boas com OS nossos aliados desta grande guerra, enfim, com todos os demais paises. e acho que nao ha melhor nieio, para assegurarmos uma paz de finitive, do que o intercambio mais estreito possivel com todos os paises do mundo. £ a minha opiniao.
O sr. Plinio Cantanhede — Antes de passarmos ao item seguinte, pediria ao Dr. Joao Carlos Vital, para que ficasse registrada pela nossa taquigiafia, que repetisse em voz alta os conceitos que acaba de emitir sobre seguro c educa^ao.
O SR. Joao Carlos Vital — Eu dizia que o problema do desenvolvimento do seguro, no Brasil, nao depende tanto das companhias nacionais ou estrangeiras. Depende do indice de educagao; quer dizer, o individuo faz tanto mais seguros, quanto mais educado ele e: de maneira que nao esta so em fun^ao da sua propria economia. O povo tarabem pode ser
culto, ter uma grande educagao e. tendo fracos recursos, nao tomara muitas coberturas: mas o que falta ao Brasil c justamente isto: uma educagao necessaria e uma economia, que esta ainda em formagac. Q seguro de muitos ramos, se ainda nao foi tentado, nao foi por culpa das companhias nacio nais e estrangeiras — e que nao ha educa^ao para estes riscos. £ vasto o campo da responsabilidade civil, pot exemplo. O individuo, na America cito este pais como padrao de civiliza^ao, pois nao ha outro igua! — pot qualquer motive tem 4, 5, 6. 7 apolices, o que nao era possivel ha alguns anos atras. Hoje ha o .seguro de coisas, automoveis, vida. acidentes pcssoais e mais uma serie de seguros, em fun^ao de suas possibilidades e em fun?ao, tambem, de conhecer o que e o seguro. O seguro no Brasil e carissimo, e o nao pode deixar de ser. porque a massa e pequena. Em todo o caso, estamos justamente diante desse problema: o Brasil sera um pais fraco com as suas cento e tantas companhias de seguros, durante algum tempo, porque nos nao temos estrutura'economica nem educacional, que leve o individuo a se preservar contra os riscos. (Apciado!).
O SR. Agamumnon MagalhAbs — (opiniao dsda por escrito) — Acho aconselhavel. enquanto nao se prossiga na marcha para a .socializa^ao complcta das atividades do se guro, que se raantenha a nacionalizacSo do capital. Ncssa atividade, as emprfsas funcionam como dcpositarias e administradoras das contribuigoes do segurado. As compa nhias estrangeiras assim nada mais fazem do que guardar e dirigir economias brasileiras e de brasileiros. transferindo para a sua scde ou para o estrangeiro os lucres da explorag8o. Diante desse fato, n3o ha dois raciocinios. So hfi um. Nacionalizar a exploragao.
^ ■■ 43
44
45
46
N. 49 — jtmHO DB 1948 REVISTA DO I. R- B.
O SB. Miranda Valverde — (opiniao dada por escrito) — Que se cntcndc por «capital nacionab?
A meu vcr, nSo sao somcnte as reservas ou rccursos disponiveis pcrtcncentcs a brasileiros, e, Sim todas as reservas ou rccursos dispo niveis que aguardam aplicagao icntro do pais e pertencentes a pessoas, fisicas ou juridicas, aqui domiciJiadas. Sao «capi(ais». que csperam a sua integra^ao definiSva na economia nacionai,' dadas as condipocs dc existencla dos seus possuidorcs.
Se, por um lado nao vejo neahuma conveniencia de ordem economica e social cm serein privativas do «capital nacionai* as atlvidadcs do seguro, de outro, penso que as sociedadcs nacionais deverSo format o seu capita] coin a contribui^ao exclusiva dc pessoas, fisicas ou juridicas, domiciliadas no nosso territdrio. £stc critcrio nao possibilitarS a rcmessa ou transfcrencia de lucres ou dividendos para fora do pais.
O SR. Pli'nio Cantanhede — fiste assunto ficou debatido. Acho que podemos passar ao terceiro;
Admitida a participagio do ca pital estrangeiro nas atlvidadcs de seguro, deveta haver, no futuro Regulamento. restrigoes as sociedades alienigenas quanta ao ca pital, ao volume de operagoes, setores de atividades.[uncionamento de novas sociedades, ou difercnciagoes [iscais em relagao as companhias nacionais?
Pediria ao Dr. Amilcar Santos que emitisse sua opiniao.
O SR. Amilcar Santos — Restri^ao havera, nao ha duvida. Alias, a lei do cosseguro, que sera provavelmente n-.antida, ja e uma restrigao as socie dades estrangeiras. Esta restri^ao e, portanto, bastante forte para a prote?ao das sociedades nacionais. sem preju-
dicar intciramente a vinda das estrangeiras. A outra rcstri^ao, corno disse, seria a da saida dos lucres. Essa poderia vir no sentido de aplicaijao da reserve e capitals: isto ja e da legislagao atual, Portanto, seria a continua^ao do siato-quo, com aplicagao integral no Brasil, quer no capital, quer das reservas.
O SR. Alves Braga — Com cstas restri^oes, creio que elas nao virao para ca.
O SR. Amilcar Santos — Nao sei se nao virao, porque, apesar das res trigoes, ha algumas que querem vir.
O SR. JoAo Carlos Vital ■— Como e que o Senhor pode garantir isto?.
O SR. Amilcar Santos — Por razoes simples. O Senhor me obriga a falar num sentido em que eu nao desejava. Eu queria falar ccmo Amil car Santos. O Senhor me obriga a estender-me um pouco alem. Posso asseverar o que digo, porque pessoas interessadas em vir operar no Brasil, apesar daquele ante-projeto que existia no Departamcnto de Seguros em que havia estas restrigoes. as aceitaram, c acharam que poderiam operar perfeitamente dentro da lei no Brasil. Quer dizer, portanto. que nao estou asseverando com ignorancia da materia. E nao foram nem uma nem duas.
O SR. PlInio Cantanhede —• O Senhor acha que devem existir as res trigoes?
O SR. Amilcar Santos —^ Eu acho que tern de haver, porem limitadas. Porque, de fato. se fomos exagerar as restriqoes, havera impossibilidade.
Temos que ver as restrigoes da legis- segundo lugar, devemos ouvir os lagao, e claro; restrigoes limitadas homcns que sofrem o pelourinho das porque, senao, e impedir. fisse e o restrigoes. Gostariamos, assim, de meu ponto de vista. ouvir o Sr. Santiago Fontes.
O SR. Mario Trindade ■— Gostaria de observar que creio realmente no que o Dr. Amilcar Santos acaba de dizer, porque ha um grande excess© de capitais, por exemplo, nos Estados Unidos, que tern capitais, grandes carteiras para aplicar. Existem ate mesmo organizagoes, presentementc, que fazem o que chamamos «pool» desses capitais, e estao estudando as possibilidades de fazer investimento deles, e muito especialmcnte na America Latina, onde, sabemos, as taxas de juros e rentabilidade e, em particular, no seguro sao elevadas. E, uma vez que as companhias tenham possibilidade de elevar a remuneragao deste capital, estou certo de que nao farao questao, absolutamentc, de inverter, de aplicar re servas, tanto mais, que nao serao necessarios capitais muito eievados, e terao uma rentabilidade mais ou menos certa. £ste capital devera ter remu neragao 3 ou 4 vezes raaior do que teria em seu pais de origem. De modo que estou certo de que havera mesmo afluencia de capitais para explorer essa atividade.
O SR. Amilcar Santos — O Senhor contradiz o que disse o Dr. Vital.
O sr. Mario Trindade — Estou de acordo com ele. Procurarao. mais tarde, derrubar essas medidas restritivas presentes. Estao jogando para o futuro, como diz o Sr. Amilcar Santos.
O SR. PlInio Cantanhede — Nesta pcrgunta devemos ter um criterio invcrso do que estamos adotando. Em
O SR. Santiago Fontes — Neste caso, prefiro falar em nomc das companhias estrangeiras. que estao aqui: Eu acho que a elas nao convem a entrada de novas companhias, e que nao devem interfcrir na legi.slagao. Era o que tinha a dizer.
O sr. Pli'nio Cantanhede — Pe diria ao Sr. Odilon de Beauclair que nos disscsse alguma coisa.
O sr. Odilon de Beauclair — Acho muito natural uma protegao as com panhias nacionais. porque esta protegao tambem existe nos paises estrangeiros e, quando nao exista em letra de forma, traduzida por uma lei qualquer, existe sob outra forma. Na Inglaterra um nacionai so fara um seguro numa companhia estrangeira em ultima hipotese; nem sei mesmo se ha esta ultima hipo tese, porque sabemos que o ingles e patriota, na verdadeira acepgao da palavra, e acredita na pujanga, na tradigao do seguro ingles. Aqui em nosso pais o caso e contrario, porque ate bem pouco tempo, justamente, eram mais reputadas as companhias estrangeiras. As companhias nacio nais, quase todas com um passado muito pequeno, nao ofercciani ainda condigoes de estabilidadc c garantias corao as companhias estrangeiras.
O SR. Paulo Camara — V. Excia. devc lembrar-se daquele slogan «forte como o Pao de Agucar». .
O SR. Odilon de Beauclair — A Sul America tem 50 anos. Eu disse:

47 •18 49 50
H. N. 49 ~ JVNKO DE 1948 ,L
REVISTA DO I. R. B.
ha pouco tempo, mas esse pouco tempo nao e o ano passado. Agora a situa?ao ja e outra; ja podemos mostrar, mesmo aos estrangeiros companhias nacicnais de grande ports. A Sul America Terrestres, Marifimos e Acldentes e a maior companhia da Ame rica Latina. De forma que temos hoje companhias que podem, de fato. atestar um passado e urn patrimonio apreciavel.
O SR. JoAO Carlos Vital ativo. liquido nao e. Em
O SR. Odilon de Beauclair —• Da America Latina. posso garantir que •Sim.
O SR. JoAO Carlos Vital para amenizar o debate. so
O SR. Odilon de Beauclair — Voltando ao assunto. quando me referi as restriqoes, nao entrei nesse total de reservas. E ha outras companhias talvez de muito mais idadc que a Com panhia Sul America Terrestres. (Ri ses). Acho que deve haver uma prote?ao as companhias nacionais, sem distingao, como muito bem disse o Doutor Amilcar Santos, e esta prote^ao se tern na Lei de Cosseguro: e esta, com pequenas raodifica?oes, representarla de fato essa protegao muito necessaria, na minha opiniao, as companhias nacio nais. Quanto a parte da ap!ica^ao das reservas de outro modo diferente daqucles a que estao sujeitas as com panhias nacionais. creio que nao se justificaria criar um regime especial para as companhias estrangeiras. So vcjo. assim de momento, como uma restri^ao h operagao das companhias estrangeiras a obrigatoriedade da observancia da Lei do Cosseguro.

O SR. Pli'nio Cantanhede — Dou tor Alves Braga. queira manifestar-se.
O SR. Alves Braga — Ja me manifestei dizendo que, com a Lei do Cosseguro, as companhias estrangei ras nao virao para aqui. mas se deviam protegee as companhias nacionais. Neste caso, elas e que vao certamente resolvcr esta situa(;ao.
O SR. Plinio Cantanhede — Antes de ouvirmos a equipe de fecnicos em seguros. pcdiria ao Dr. Rodrigo de Andrade Medicis que dissesse alguma coisa sobre a ultima legislacao de se guros argentine que. creio. cogita de restrigoes, digamos assim, diretas as operagoes das companhias de seguros estrangeiras.
O SR. Rodrigo de Andrade Medicis
— De fato. ha na Argentina uma legislagao que li recentemente: foi ha pouco criado o Instituto Mixto Argen tine de Reaseguros. A lei que cria este Instituto, praticamente, divide as companhias em dois tipos; companhias argentinas e as consideradas nao argentinas. Sao argentinas aquelas que. tendo suas agoes nominativas. e 60 % da diretoria constituida de cidadaos argentinos, tenham, pelo menos. 60 % das agoes em poder de pcssoas fisicas argentinas ou pessoas juridicas que. igualmente. satisfagam todos esses re quisites. A lei cm seguida distingue as companhias argentinas. das nao argentinas. quanto a questao da tributagao. As companhias argentinas de seguro pagarao um impostc de 7% para os riscos gerais e as nao argen tinas, estrangeiras ou mesmo argen tinas que nao satisfagam as exigencias, pagarao entao 16 %. Alem disso.
tambem ha uma distingao quanto a cota do rcsscguro. As companhias argentinas slo obrigadas a re.ssegurar integralmente no Instituto Mixto Ar gentine de Reaseguro: as nao argen tinas sao obrigadas a ceder apenas uma cota de 30 %. c o restante podem ressegurar livremente. Parece que podem. Vejam a maneira de dizer: A lei porem, no fim, diz o seguinte: as companhias nao argentinas. sobre os premios rcssegurados no Instituto ou em companhias argentinas. pagarao , um imposto, como se fossem compa nhias argentinas {7'yii). Porem, sobre 0 que retiverem ou ressegurarem em companhias nao argentinas, pagarao 16 % e 18 %. £ uma maneira indireta de forgar pequenas rctengoes e o resseguro em companhias argentinas.
O SR. Mario Trindade — 6 interessante comparar com a nossa legislagao, em que nao ha oneragao dos premios pagos, mesmo para resseguro no exterior: e ha garantias pelo Banco Central, o que nao existe no Brasil,
O SR. Plinio Cantanhede — Queira dar sua opiniao o Dr. Vital sobre a questao: devcra haver restrigoes?
O SR. Joao Carlos Vital — Eu. para ser coerente. devo dizer que as restrigoes devem ser aplicadas aquelas que ja estao no mercado. As restri goes da legislagao atual satisfazem aos interesses nacionais e tambem asseguram vitalidade as companhias que estao aqui. Mantenho o meu ponto de vista de que a nacionalizagao das atuais companhias seguradoras deve ser afastada. qucr dizer. elas ja estao com a legislagao especial que Ihes permite trabalhar. Acho que o Estado deve
legislar com restrigoes para as futuras entradas. Nos ja temos bastante maioridade nessa questao de seguros para trabalhar com os elementos que ja temos. naturalmente permanecendo o I.R.B. com a liberdade de fazer o intercambio que. como todos sabem, e indispensavel.
O SR. Plinio Cantanhede — Dou tor Paulo Camara, queira manifestiarse.
O SR. Paulo Camara — Entendo que 0 Dr. Joao Carlos Vital colocou bem a questao. Ja manifestei anteriormente a minha opiniao contraria a entrada de novas companhias. Mas. naturalmente, aquelas que ja estao. por assim dizer. nacionalizadas. deviam ter o tratamento que tern as nacionais. No entanto, se vencedora a tese contra a qual me manifestei — a entrada de novas companhias —, sera precise estabelecer restrigoes muito severas. Mas. Sr. Presidcnte, ha uma restrigao no Brasil que supcra qualquer outra que conste de lei especifica sobre o assunto. No Brasil existe um super orgao que estabelece as restrigoes mais fortes que se possam imaginar no campo financeiro e no campo economico; e o Banco do Brasil. De sorte que as restrigoes que fossem fixadas em lei. por mais brandas que fossem, encontrariam pela frcnte a agao sempre vigilante desse super orgao da cconomia nacional, que e o Banco do Brasil: impedindo a saida dos lucros dessas companhias, dos dividendos dessas companhias, embora nao constasse de lei, na hora em que fossem piocurar cambio na carteir.i cambial. nao encontrariam. Por isso. eu disse que a entrada de companhias estran-
51 52 53 54
N. 49 — JUNHO de 1948 il
RBVISTA DO 1. S. B.
geiras novas no mercado dc seguros viria apenas assoberbar es!a questio tao forte no pais, que e a saida Je divisas, para transferencia desses dividendos para o estrangeiro. Por conseguinte. sou contrario a permissao para entrada de novas companhias estrangeiras no mercado de seguro brasilciro e, no entanto, se fosse permitida essa entrada, devia haver restri^oes fortes, constantes de lei; mas. dentro em pouco, veriamos que haveria restri?6es ocultas, nao constantes de leis especificas de seguros, e elas seriam for^adas a abandonar o nosso mer cado. Seria muito dcprimerte para o Brasil, pois isto viria, como disse, agravar a situa^ao atual. £ o meu ponto de vista.
O SR. Targino Ribeiro — Eu considero de um modo geral a situagao de um pais novo como e o Brasil. despovoado, com uma economia pauperrima, e nao sou de um modo geral contra o estimulo do capital estran geiro e do braco estrangeiro.
O SR. JoAo Carlos Vital — Perdao, o seguro e um caso muito esoecial.
O SR. Targino Ribeiro — Nao vou julgar um caso especial. Estou falando de um modo geral. Estou considerando esse prurido nacionalista que se implantou aqui e contra o qua) eu nao cesso de clamar. Pais novo, precisando de ser povoado, preCisando da ajuda do estrangeiro, como sucedeu nos Estados Unidos, a nossa politica deve ser a de atrair o capital e o bra^o estrangeiro; mas, em raateria de se guro, estou de pleno acordo com o Dr. Amilcar Santos, na exposi^ao que
fez. Sou pelas restrigbes principalmente quanto a evasao de lucres e de proventos. O Dr. Paulo Camara assinalou que a intervengao do Banco do Brasil, na pratica, e uma realidade. Isto realmente e um elemento a considerar. Mas a politica do Banco do Brasil ao sabor das novas circunstancias, das novas situagoes economicas, pode mudar c precisamos orever para prover. De sorte que sou partidario do regime dc restrigoes — oue a lei ordinaria estabelecer de acordo com a e.xposigao feita pelo Sr. Amikar Santos.
O SR. Pli'nio Cantanhede — Para encerrar esta questao, dou a palavra no Senador Ferreira de Sousa que, com as responsabilidades de legislador ordinario, podera sintetizar os nossds debates, dando-nos ao mesmo tempo a sua opiniao.
O SR. Ferreira de Sousa — Quando me manifestei. inicialmente, pela possibilidade de se interessar o capital es trangeiro nas empresas dc seguro, como em qualquer outro tipo de empresa, nao o fiz no sentido da economia liberal absoluta: nao pensei no «]aisser faire, laisser aller» nem mesmo nura mundo so, sem fronteiras. Admito, e considero essencial admitir, a possibilidade de as leis nacionais imporem restrigoes e o fago por orientagao quase filosofica, sociologica mesmo, embora considere que o fato economico e um fato universal e uno na su.t essencia. Nao desconhego, nem posso desconhecer, o que vai pelo mundo em nacionalismo, e a tcndencia das legislagoes para certas restrigoes, para certas exigencias. Ainda ha pouco, mesmo, o Sr. Targino Ribeiro se referia a conceituagao da nacionalizagao
das sociedades. Tinhamos como princlpio assentado, antigamente, que era nacional a sociedade que se organizava dc acordo com a lei do pais. £ste principio esta qucbrado, sob muitos aspectos, e nao tenho o otimismo, nem a crenga do Sr. Targino de que voltemos intciramente ao passado. Acho que vamos continuar com restrigoes de ordem nacional. Sem diivida nenhuma, existem em nossa legislagao, restrigoes, uma mudanga de conceito de nacionalizagao de so ciedades coinerciais, ora admitindo que essa nacionalidade se ligue exclusivamenfe a forma de organlzagao. ora exigindo que intervcnha no probleraa da nacionalizagao a nacionalidade dos proprios componentes da companhia. Parece-nos que, em materia de transporte por agua, a lei exige que 2/3 da tripulagao sejam dc brasileiros, que a diregao seja brasileira; nas companhias de transportes acronauticos e precise que 1/3 do capital, pelo menos seja brasileiro, etc, Reconhego, e nao posso desconhecer o fato das leis na cionais, e as restrigoes que os paise.s tern de impor a determinadas formas de atividades. Sou partidario de res trigoes em certas atividades dos estrangeiros — em certas atividades —, restrigoes que nao importem na proibigao, que nao importem no impedimento. Restrigoes no sentido de garantir nossa economia e a propria solvabilidade das empresas que vem tentar, entre nos, qualquer negocio. A lei de bancos, por exemplo, exige, entre nos, um ca pital minimo — nove mil contos pela lei de 1921 — o que hoje, alias, e muito baixo. Exigir um capital, a lei de seguros tambem exige, mas nao um capital no papel como muitas em
presas fazem. Capital trazido real mente ao Brasil, capital incorporado realmente a economia brasileira. Quanto as reservas, cstas ja sao nacionalizadas. Eu exigiria mais; vou mesmo. em relagao as empresas nacionais, de qual quer genero de atividades, a limitagao de lucres. Acho que temos de marchar. mesmo no comercio nacional, para a tentativa da limitagao de lucres.
O SR. JoAO Carlos Vitai. tagao ou re-distribuigao?
Limi-
O SR. Ferreira de Sousa — Uma sera conseqiiencia da outra. fi um problema muito serio. muito grave e maior ainda em cada caso particular, em relagao a cada indiistria. Por um desejo de justiga social, nao devemos sacrificar a economia particular das empresas ncste ponto. As empresas estrangeiras poderiam sofrer uma restrigao maior em relagao ao lucro obtido. Sabemos, por exemplo, que os capitals cstrangciros se sentem muito bem remunerados entre nos, recebendo um dividendo que, no Brasil, nao e remuneragao nenhuma." Poderemos, talvez, nuraa lei qualquer, limitar esses lucres, de modo que permanega a atragao para o .capita!, mas evitando sua evasao Nao me impressiona o fato de o Banco do Brasil, atualmente, nao cstar em boa situagao cambial. Esta situagao pode durar meses, mas pode desaparecer repentinamente. Nao era assim ha alguns anos atras — fazia-se exportagao de cambiais. Estamos numa situagao profundamente deficitaria. Erros sobre erros.
O SR. JoAO Carlos Vital — O mundo todo.
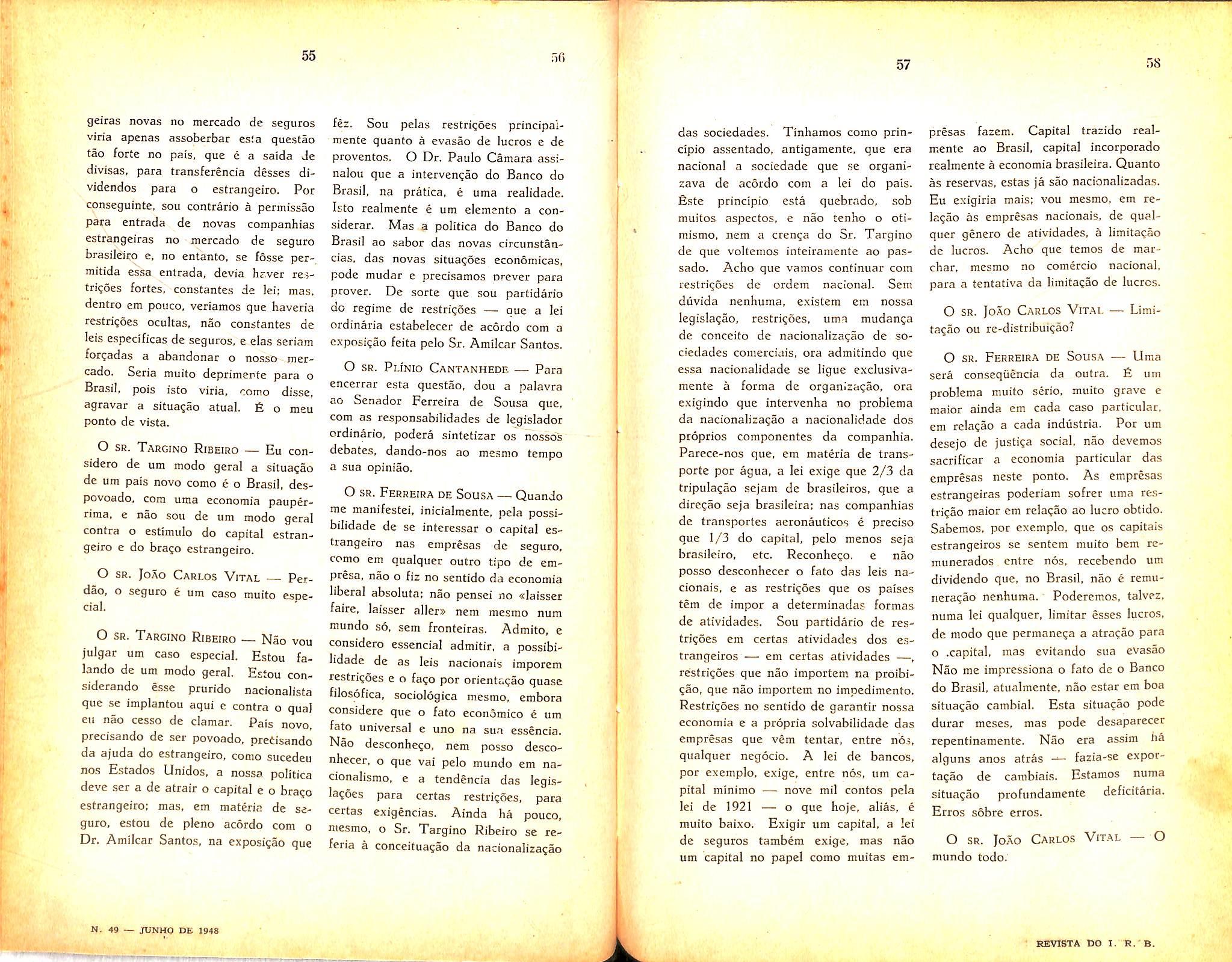
-I"' 55 m
N. 49 — JUNHO DE 1948
57 58
jLISVtflTA bO I. R.'B.
O SR. Febreira de Sousa — Dispomos das nossas carabiais no estrangeiro para muitos casos que nao devcmos dispor: mas amanha poderemos estar em situagao de surto economico e de comercio livre para determinadas atividades, e cambio livre. 6 estc o ponto de vista do, legisiador, que. na lei do" ano passado criou o imposto sobre transferencia de fundos para o exterior. Ainda hoje, mesmo, no Senado a respcito de um credito de alguns milhares de contos, para servigos de dragagem alguem perguntava; onde e que vamos arranjar esse dinheiro? Responderam: ha diversas companhias estrangeiras interessadas em fazer o servigo. Ha es.sa possibilidade. For isto a Constituigao deixou tudo a lei ordinaria que regula o regime de bancos. Posse hoje tratar da limita^ao de lucros, por exemplo. fazer limitaqao de lucros de acordo com 0 capital nacional e estrangeiro. Amanha eu precise modificar para diminuir ou aumentar a margem de lucros dos negocios. Essa restri^ao sempre existiu, «mutatis mufandis», no regulamento de bancos e seguros restri?6es as companhias estrangeiras. quanto a inversao de capitals no pais. Isto nao quer dizer que dcixemos de as admitir; vamos admiti-las de maneira que elas se nacionalizem na sua a^ao econSmica entre nos; que realizem seu capital: que nao tragam o capital no papel como e comum. H§ um grande banco que se instalou entre nos, ha pouco tempo, que nao trouxe capital nenhum; outro banco forneceu em contabilidade a importancia que devia apresentar. fi precise cxigir que isto seja real; exigir uma realidade absoluta no emprego das reservas e
fiscalizar, tanto quanto pos.sivel, para evitar que, sob a capa desta prote^ao, o capital estrangeiro venha aqui obter mais que o seu lucro normal, razoavel. E a minha opiniao.
O SR. Pauj-O Camara — Poderia fazer uma pequena observa^ao? fi a seguinte: O capital no seguro e uma garantia subsidiaria, garantia pequena em rela^ao as reservas. Por conseguinte, o capital que viesse do estran geiro, para instalagao de companhias de seguros aqui, seria nada em relagao as suas reservas. As companhias vao formar as suas reservas com os capitais tirados da economia nacional Quer dizer que a evasao de capitals nao scria pura e simplesmente, como se disse neste momento, refcrente ao ca pital, a remunera^ao de capital. O ca pital e pequeno. O lucro e tirado dos premios recebidos que sao, em propor9ao, muito maiores do que os capitals. For conseguinte. as companhias trariam um pequeno afluxo de capital para o pais e teriam que tirar, dos premios da economia nacional, os lucros obtidos. Por conseguinte, quando discutimos seguro. temos de olhar que, em face dos capitals que viessem para ca. a saida dos lucros seria muito maior.
O SR. Odilon de Beauclaih — Da me licenqa para um aparte? Nos balaCigos de 1947. o amigo vai encontrar prejuizos em vez de lucros, nas operagoes de um grande numero de com panhias de seguros.
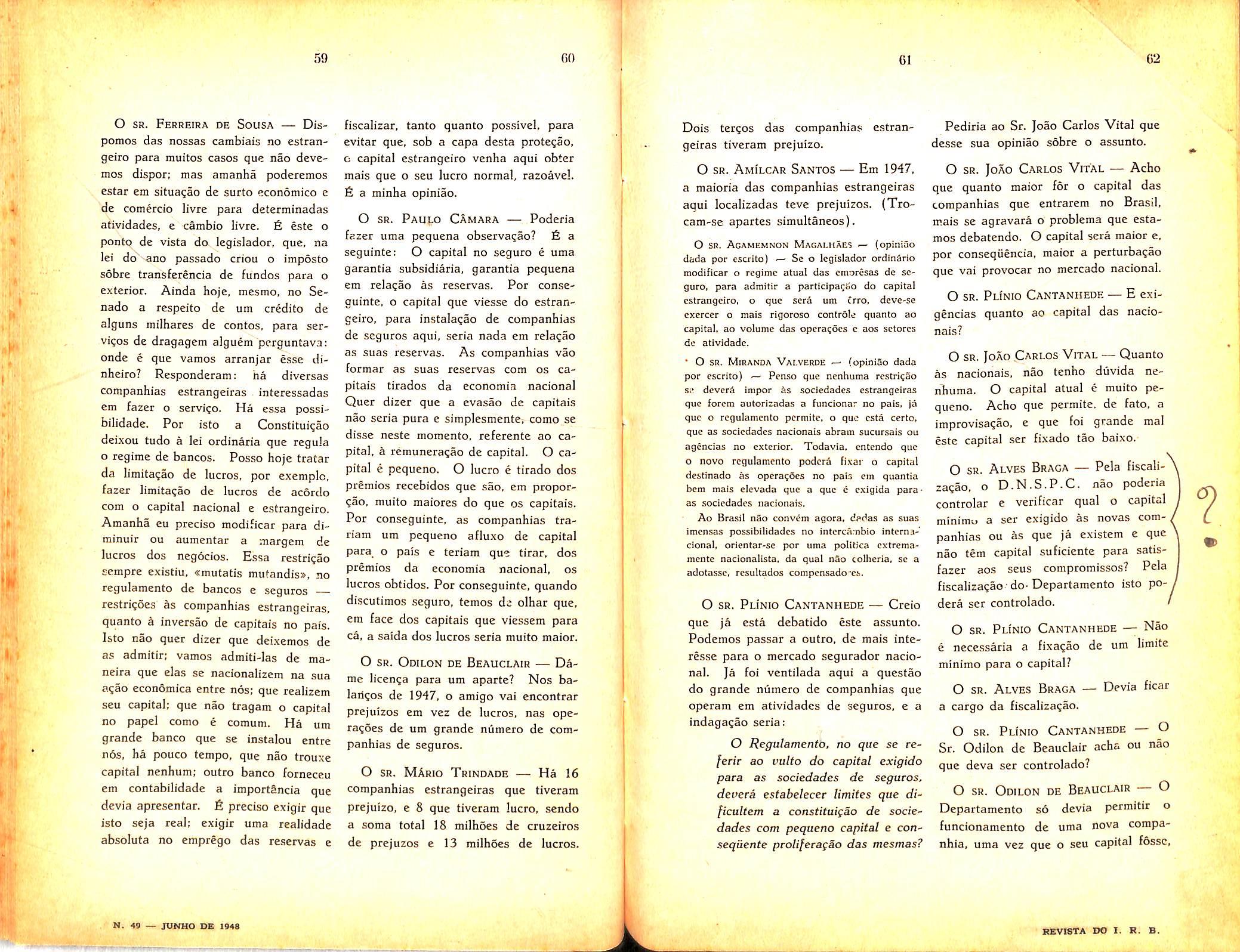
O SR. Mario Trindade — Ha 16 companhias estrangeiras que tiveram prejuizo, e 8 que tiveram lucro, sendo a soma total 18 milhoes de cruzeiros de prejuzos e 13 milhdes de lucros.
Dois ter^os das companhias estran geiras tiveram prejuizo.
O SR. Amilcar Santos — Em 1947. a maioria das companhias estrangeiras aqui localizadas teve prejuizos. {Trocam-se apartes simultaneos).
O SR. Agamemnon Magalhaes — (opiniao dada por csciito) — Sc o legisiador ordinario modificar o regime atual das emoresas de se guro, para admitir a participageo do capital estrangeiro, o que serS um frro, deve-se cxerccr o mais rigoroso controle quanto ao capital, ao volume das opcra?oes c aos sctores de atividadc.
■ O SR. Miranda Vaeverde — (opiniao dada por cscrito) — Penso que nenhuma restrigSo se devera impor as socicdadcs estrangeiras que forcm autorizadas a funcionar no pais, ja que o regulamento pcrmite. o que csta ccrto, que as socicdadcs nacionais abram sucursais ou agencias no exterior. Todavia. cntendo quo o novo regulamento podcr^i fixar o capital destinado as operaqSes no pais em quantia bcm mais clevada que a que e cxigida paraas sociedades nacionais, Ao Brasil nao convem agora, dadas as suas imensas possibilidadcs no intercSrnbio intcrna-' cional, orientar-se por uma politica cxtremamentc nacionalista, da qual nSo colhcria, sc a adotasse, resultados compcnsado-es.
O SR. Plinio Cantanhede — Creio que ja esta debatido este assunto. Podemos passar a outro, de mais interesse para o mercado segurador nacio nal. Ja foi ventilada aqui a questao do grande numero de companhias que operam em atividades de seguros, e a indaga^ao seria;
O Regulamento, no que se referir ao vulto do capital exigido para as sociedades de seguros, devera estabelecer limites que dificultem a constitui^ao de socie dades com pequeno capital e con sequents proliferagao das mesmas?
Pediria ao Sr. Joao Carlos Vital que desse sua opiniao sobre o assunto.
O SR. Joao Carlos VitAl — Acho que quanto maior for o capital das companhias que entrarem no Brasil. mais se agravara o problema que estamos debatendo. O capital sera maior e. por consequencia, maior a perturbacao que vai provocar no mercado nacional.
O SR. Plinio Cantanhedf. — E exigencias quanto ao capital das nacio nais?
O SR. Joao Carlos Vital — Quanto as nacionais, nao tenho diivida ne nhuma. O capital atual e muito pe queno. Acho que permite, de fato, a improvisa^ao. e que foi grande mal este capital ser fixado tao baixo.
O SR. Alves Braga — Pela fiscalizaqao, o D.N.S.P.C. nao poderia controlar e verificar qual o capital minimo a ser exigido as novas com panhias ou as que ja existem e que nao tern capital suficiente para satisfazer aos seus comproraissos? Pela fiscaliza^ao dO'Departaraento isto podera ser controlado.
O SR. Pli'nio Cantanhede — Nao e necessaria a fixa?ao de um limite minimo para o capital?
O SR. Alves Braga — Devia ficar a cargo da fiscaliza?ao.
O SR. Plinio Cantanhede — O Sr. Odilon de Beauclair acha ou nao que deva ser controlado?
O SR. Odilon de Beauclair — O Departamento s6 devia permitir o funcionamento de uma nova companhia, uma vez que o seu capital f6ssc.
59 60
N, 49 — JUNHO DB 194S
61
62
jL? HBV18TA DO I. R. B.
no minimo. de 6 milhoes de cruzeiros, para as companhias de ramos elementares: para as de seguros de vida, no minimo. 10 milhoes.
IO SR. Alves Braga — Deveria^ fixar-se o lucre das companhias.
O SR. Pli'nio Cantanhede — E sua dpimao, Sr. Mario Trindade?
O SR. Mario Trindade — Estou de pleno acordo com o ponto de vista do Dr. Vital e do Dr. Beauclair. Acho o seguinte: qualquer que seja o capital do seguro. e piiramente «para a saida»: de modo que e muito discutivel se sera necessario limitar o capital rigidamente ab inititim. Acontece, entretanto, que 0 problema de sc evitar a prolifera^ao e que acentua o proprio motivo atentado para discussao. De modo que ha nece.ssidades realmente de aumento e que estabele?amos nao $6 a limita?ao de capitals, mas outras limifacoes para que se evite a prolifera^ao de com panhias desaparelhadas. de sventureiras do seguro. Neste ponto estou 100 % de acordo com o Dr. Beauclair. Vou mais longe ainda: sou pela responsabilizacao das diretorias, pelos atos cometidos na gestao do capital em companhias de seguros, como tambem em bancos.
O SR. Alves Braca — Ha compa nhias atualmcnte com pequeno capita! de mil e quinhentos contos e, como a Icgisla^ao o permite, nao podem elas responder pelos seus grandes encargos e dai o deficit que apresentam: por isto lembrei que o Deparfamento devia fiscalizar.
O SR. Jo.AO Carlos Vital — Creio que ainda nao houve caso de sangria em capital de seguro.
O SR. Paulo Camara — E san gria desatada... (Risos).
O SR. Odilon de Beauclair — fi um homem que fala de lucros e lucros...
O sr. Mario Trindade — A situagao econdmica, de um modo geral, e boa; mas a situagao financeira acompanhou o piano politico de credito do Governo. Houve grande retra(;ao e todas cstavam projetadas para o future e se virara. de urn momento para outre, com todas as suas fontes de credito cortadas. De modo que se acharam numa situagao economica gcralmcntc boa e em situagao financeira fraca, em muitos cases horrivel.
O SR. JoAo Carlos Vital,— Se a situagao economica c boa nao podc haver deficit.
O SR. Mario Trindade casos realmente. Houve
O SR. Alves Braga — Ja houve casos de companhias recorrerem a bancos.
O SR. JoAo Carlos Vital — Estou falando em deficit financeiro e nao economico. A estrutura da companhia c mantida, embora ela esteja com dificutdades na caixa.
O sr. Ferreira de Sousa — A parte tecnica fica.
O SR. Mario Trindade — O mercado estava mais ou menos limitado. Proliferarafn companhias, de modo que o problema das comissoes se agravoii. A nossa legisla^ao. tendente a aumentar a capacidade de retengao do mercsdo nacional, falhou nesse ponto porque nao coincidiu com a conjuntura da inflagao, abundancia de capital. Todo
o mundo correu para o seguro seni estar aparelhado, porque seguro e administragao: nao e capital. & questao de administragao, e questao de trabalho.
O sr. Odilon de Beauclair Nessa epoca, por uma coincidencia muito interessante. os sinistros aumentaram consideravelmente.
O SR. Mario Trindade — Nao concordo com o senhor; nao concordo 100 Se OS sinistros aumentaram cm 1947, fo! exatamente devido a si tuagao de retragao de credito. e tam bem, em sentido contrario, ao surto inflacionario. Pelo menos sustaram as emissoes e houve grande retragao de credito porque, na realidade, no perlodo de '1940 a 1946 nos.sa atuagao foi excepcional. Posso afirmar que, com a retragao de credito, tornou-se gravlssimo o problema e esta-se agravando dia a dia. Estamos citando o resultado do balango de 1947. Todas as companhias de ramos elementares obtiveram resultados pessinios no ano passado. Basta direr que o resultado final do lucro de todas as companhias de ramos elementares foi de 140 mi lhoes de cruzeiros, cnquanto que no ano anterior foi de 150 milhoes de cruzeiros.

O sr. Paulo Camara — E se se levar em conta a concorrencia na produgao...
O SR. Mario Trindade — Ja salientei este ponto.
O SR. Paulo Camaka — Em certo.s casos a comissao e superior ao premie anual. (Risos).
O SR. Pli'nio Cantanhede — Nao quero passar a palavra ao Dr. Amilcar Santos, porque o assunto esta versando coisas de que talvez ele so posse falar em processo oficial. Pego ao Doutor Paulo Camara que se manifeste sobre a questao, do ponto de vista tecnico; se ha ou nao nccessidade de evitar a proliferagao das pequenas companhias de seguros.
O SR. Paulo Camara — A questao do capital e relativamente de pouca importancia. O capital tern uma fungao de importancia, de demarragem, por assim dizer.
O SR. Odilon de Beauclair — Esta exigencia e oportuna. Ha muita im portancia porque a exigencia de capital raaior ou impossibilitara essa prolife ragao ou, pelo menos, evitara a criagao de um grande niimerc de companhias.
O SR. Paulo Camara — Chegarei a este ponto. A fungao do capital, como ja disse, e para a demarragem da companhia. Mas isto nao quer direr que nao se exlja d'o grupo financeiro que for organizar a companhia um capital de pequena monta, porque isto daria mo tivo a que o grupo, sem capacidade financeira suficiente para se aventurar em seguros de longa duragao, como seguro de vida. e outros que necessitam de capitalizagao e, sobretudo necessitam de pessoas que saibam gerir grandes capitals... (Muito bem, muito bem!). Ora, a exigencia de um ca pital maior do que o atualmente permitido e aconselhavel, sem diivida, mas tambem e preciso notar que mais acon selhavel ainda e que se fagam exigencias muito severas no tocantc k aquisigao de premies, para evitar que
T-T'-'V.' 63
rN.-48.— JUHHp D£:1948
65
66
SBVISTA DO 1. B. S.
no mercado de seguros se estabele^a uma concorrencia desleal, que acarreta quase sempre, nos primeiro.s anos de fundonamento das companhias, absor?ao do capital das mesmas. Nao existe apenas uma pequena companhia que r.ao tenha capital: penso que existe mais ae uma, e so o poderei dizer em processo. Ora, Sr. Presidente, isto que se verifica no ramo de seguros, se verifica tambem nas empresas de capitaliza^ao e por conseguinte, a exigencia de um capital vultoso para o inicio nao e suficiente: e necessario um contcole muito grande, sobretudo nas despesas de produgao. Era o que tinha a dizer.
O SR. Pli'nio Cantanhede — Doutor Targino Ribeiro, qual e o seu ponto de vista sobre isto?
O SR. Targino Ribeiro — Falaram
OS tecnicos e creio que todos ou quase todos estao acordes em que deva ser fixado o capital. Creio que um enticgava isto ao arbitrio do D.N.S.P.C. Eu nao posso concordar com essa opiniao. Tenho muito medo do ar bitrio das apreciagoes pcssoais e prefiro sempre estar subordinado a um texto de lei que obrigue a todos. (Muito bem!). A experiencia tern demonstrado os perigos que todos corremos quando ha qualquer dose — digo mal, — quando ha uma dose bem acentuada de arbitrio. De sorte que o meu parecer e o de outros que se manifestarem: sou partidario da fixagao do capita), o capital que deve ser limitado, disposto em lei, mas em valor superior ao da atual lesgisiagao. fi, neste assunto, o pensamento de um mero observador: nada mais.
O SR. Pli'nio Cantanhede — Queira manifestar-se o Sr. Senador Ferreira de Sousa.
O SR. Ferreira de Sousa — O meu pcnto de vista e, naturalmente, o que ja foi manifestado aqui por todos, de que ha mister de fixar um capital. Ha. Nao chego a ficar somente no ponto de vista tecnico, rigorosamente tecnico, de negar uma importancia absoluta ao capital, mesmo nas empresas de seguro. fisse capital, alem da fungao que exerce nessa fase inicial da empresa, tern para mim outra grande importancia — a importancia da atragao, da confianga do publico. Sao empresas de seguros, -empresas privadas. O publico nao e tecnico; o publico nao sabe qual e a fungao do capital, nem que o lucro e fungao da reserva. O publico ve o qrande ca pital e aumenta sua confianga na propria empresa. De maneira que dou valor ao capital. Acho que essas empiesas que jogam com a economia coletiva nao devem proliferar muito: nao deve haver monopolio, nao deve haver impossibilidade de organizagao de um certo niimero. Mas, tambem, uma multiplicidade e perigoso. Os lucros vio dilatando o campo de seguro e, no fim, aquilo que poderia ser lucrative, que concentrado traria resultados magnificos, empolado nao da bons resul tados para ninguem. A concentragao e uma necessidade: os economistas consideram uma necessidade, e nos ramos de carater privado e uma necessidade. Qual a forma de fazermos uma con centragao? Pelo capital; e a linica maneira que temos. Nao podemos exigir qualidades pessoais. Nao po demos exigir outras condigoes porque
O'c caiculos atuariais, as condigoes de ordem tecnica da questao sac de um para todos. A questao do premie de tesseguro e dc um para todos. A ma neira de estabelecermos restrigoes, a possibilidadc dessa concentragao em poucas macs e justamente exigir um capital maior; exigir um capital 4, 5, 10 vezes mais do que se exige; exigir capital que possa servir de elemenCo de arrancada inicial, de elemento de confianga em relagao a terceiros, de clemcnto que facilite, nar* digo uma concentragao absoluta, m,t5 alguma Concentragao no negocio que se exerce, para sua certeza e sua seguranga. Nao se podem ter companhias de seguros 3 vontade. Quanto a sugestao de que Se deixasse essa questao da fixagao .•jo D.N.S.P.C., chego a julgar incons-' titucional do ponto de vista tecnicojiiridico, pelo piincipio d" que ninguem c obrigado a fazer ou deixar de fazer slguma coisa, senao em virtudc de lei. uma limitagao de direito, e a limitagao de direito nao se pode deixar ao flibitrio da autoridade: tern que dccorrer de uma lei que, pelo mcnos, mdique ao Departamento essc arbitrio: teria que pelo menos fixar um inaximo ^ um minimo. A lei deveria sempre ^-■xar. tomando em consideragao as condigoes do memento; confcsso que Jiao tenho conhecimento de que deva Ser quatro ou cinco vezes mais. Acho que o capital deve ser forte: e um negocio que exige uma ba.se inicial forte, para despertar a confianga e para suportar os perigos iniciais da empresa.
O SR. MArio Trindade — Diria o seguinte; estas fixagoes deveriam ser I'evistas periodicamente, em 2 ou 3
anos, de mode que seria perfeitamente aconselhavel cstabelecer desde logo um principio. (Muito bem!).
O SR. Ferreira de Sousa — Eu cheguei a sugerir aos bancos que se estabelecesse uma comissao bancaria, para fazer a classificagao de capitais de seguros de acordo com aj zonas.
Uma voz —• Em seguros, isto nao pode ser.
O SR. Ferreira de Sousa — Eu admito a possibiiidade de verificar quando e possivel. Admito perfeita mente esta rcvisao periodica.
O SR. Paulo Camara — O que nem sempre chega a inspirar a confianga necessaria.
0 SR. JoAO Carlos Vital — Eu gostaria de divergir quanto a nao ne cessidade de exigencia de idoncidade tecnica para a instalagao da compa nhia. O que nos temos obscrvado ^ que, muitas vezes, ha boa vontade em se .fundar uma companhia, Ela se funda, mas nao-ha.tecnicos. Acho que o Departamento de Seguros devia exi gir, como na farmacia se exige um farmaceutico diplomado, alguem dent-ro da companhia que conhecesse os problemas que ela vai enfrentar.
O SR. Ferreira de Sousa — Consultar o tccnico e litil.
O sr. Odilon de Beauclair — Isto se exige em outros ramos de atividades: nos escritorios de engenharia existe um tecnico responsavel.
O SR. Ferreira de Sousa — Um tecnico que se forma: o tecnico e engenheiro e faz um curso oficial; o curso
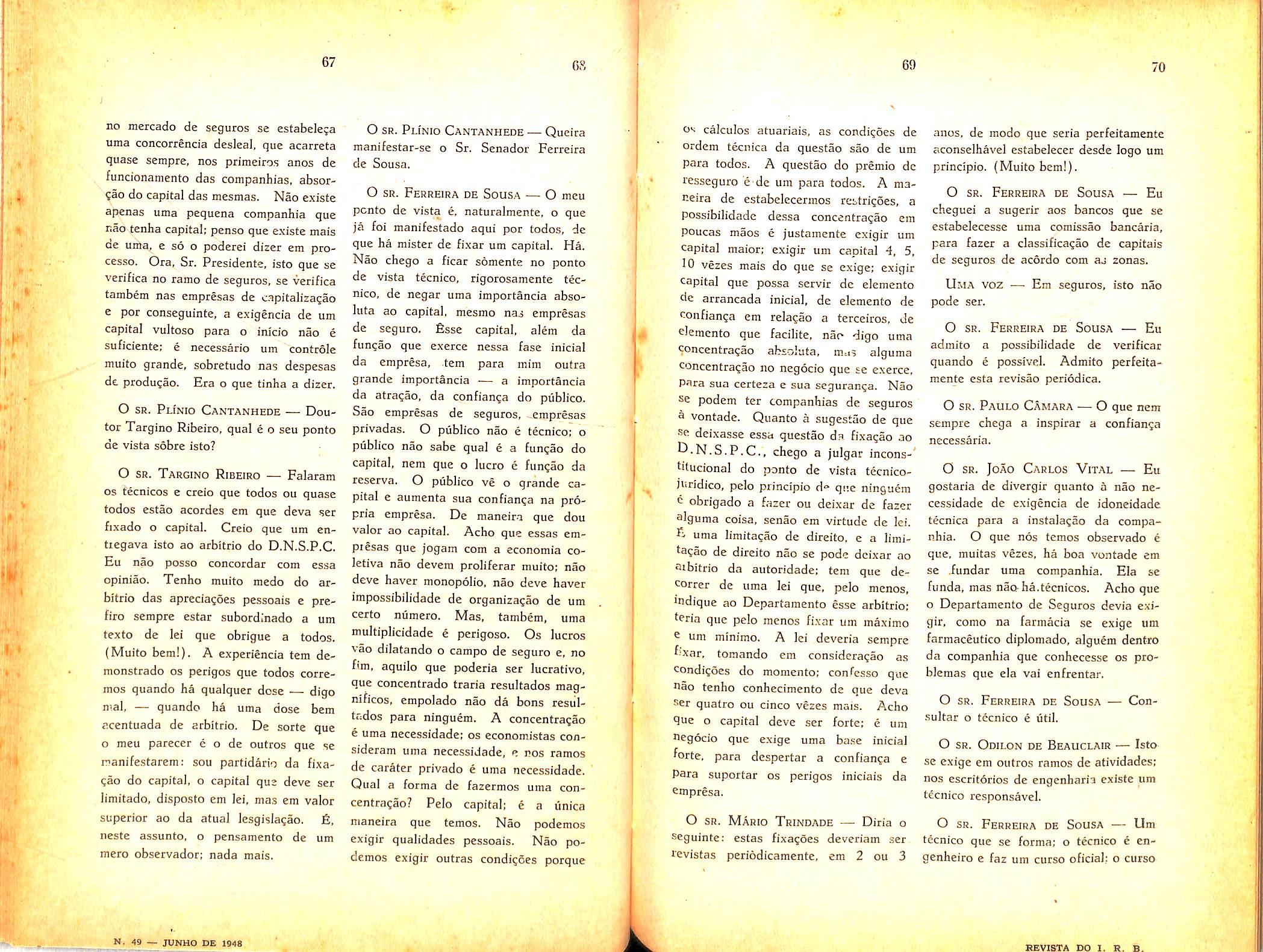
% * 67 G8
69 70
N. 49 — JUNHO DE 1948 BEVISTA DO I. S. B.
Sd se se cnasse curso de Engenharia. paca atuarios.
(Trocam-se apartes simulianeos).
O -SR. Amilcar Santos — Uma escola de seguros como ja ha em vanos paises. Ha a cadeira do seguro na Faculdade de CiSncias Economicas.
O SR. JoAO Carlos Vital — Urn dos grandes males dessas pequenas companhias e que ha boa vontade. mas ha falta de tecnicos.
O SR. Paulo Camara — Houve ate o caso de urn diretor de companhia que nao acreditava em reserva tecnica.
O SR. Plinio Cantanhede — Desejaria que o Dr. Amilcar Santos se manifestasse sobre o assunto.
O SR. Amilcar Santos - - O meu ponto de vista e conhecido. Falarci como diretor do Departamento: em nome dele. O Diretor do Departa mento ao assumir o cargo achou que, de fato, o numero de companhias nacionais pequenas era enorme, em virtude do pcqueno capital. LIm capital de mil e quinhentos contos nao representava coisa alguma. Em vista disso, ele propos entao, mesmo na vigencia do atual rcgulamento, que nao se pcrmitissc mais autoriza^ao para funcionamento de novas socicdades .'^em um ca pital minimo de 5 mil contos para ramos elementares e de 10 mil contos para o ramo vida. Infelizmente. nao pode ser assim; porem, foi dada autorizacao ao Diretor do Deoartamcnto para, em seus pareceres (ele nao prccisaria dessa autorizaijao), opinar dessa forma; e. desde ai, vein ele opinando deste modo, nao re tcndo mais constituido companhias com o capital de
mil e quinhentos contos. De sorte que isto basta para responder; acho o atual capital minimo, ridiculo. Deve ser aumeritada a proporgao; alias, a proposta foi de 5 milhoes de cruzeiros para os ramos elementares e de dez ndlhoes para vida e capitalizacao. Isto evitara, talvez, a prolifcra^ao de pe quenas sociedades que poderao, em vez de beneficiar, prejudicar o mercado segurador nacional. fiste e o meu ponto de vista ja manifestado.
O SR. Agamemnon Magalhaes — (opiniSo dada por c.scrito) — Dadas as rondi^oes tecnicas das opcracoes de seguro, o Estado deve cxcrcer a policia mais rigorosa guanto aos rifcos e a idoneidadc tecnica das emprSsas. Dcntro desse crlterio, impoe-se, a!em de outras providencia.s, a dc um limite minimo do capital,
O SR. Miranda Valverde — (opiniao dada por escrito) — Sim. fi precise evitar o aparccimento dc empresas que sao organizadas com mero cspirito cspeculativo.
O SR. Plinio Cantanhede — Estou abusando da paciencia dos presentes, e gostaria de encerrar estc nosso de bate de hoje com uma questao que seria;
Qual a fungao c a importancia que devera caber ao I.R-B. na nova regulamentagao de seguros?
Antes de por o assunto em foco, desejaria dizcr, sem ter procura^ao do nosso ilustre prcsidente. General Mendon^a Lima, — tenho certcza, pela screnidade e pelo discernimento com que ele vem dirigindo os destines do
I. R. B. —, que S. Excia. quer que haja a maxima liberdade no debate desta qucstao que expus, a saber, se se deve restringir, eliminar o ambito do l.R.B. Tenho plena certeza de que e este o seu pensamento. De modo que, lan-

^ando esta questap em debate, pediria que o Dr. Targino Ribeiro desse a sua opiniao.
O SR. Targino Riberio — Confesso que nunca pensei qual a fungao que deve ser restringida ou ampliada no l.R.B. na nova legislagao de seguros. Preferia ouvir a opiniao do Dr. Joao Carlos Vital, que tern uma grande experiencia como primeiro presidentc do l.R.B.
O SR. Plinio Cantanhede — Tenha a palavra o Dr. Joao Carlos Vital.
O SR. Joao Carlos Vital — A minha opiniao e a seguinte; o l.R.B. e um orgao de operagoes e, por conscqiiencia, dentro do campo de operagoes, ele deve ter as mcsmas preirogativa.s que tein. Agora, quanto a parte fiscalizadora, acho que ela deve caber integralmentc ao Departamento. Toda a parte normativa deve caber ao De partamento. O l.R.B, Vive muito bem nas suas relagoes com as compa nhias; se elas souberem que ele esta sofrendo. sofrerao tambem. Na Icgislagao passada — creio que ainda prevalece — se deu sempre ao I- R.B. OS mesmos encargos que tinham as companhias de seguros. quanto as reservas. Nunca se prevaleccu o l.R.B. da.s garantias subsidiarias da Uniao para ter qualquer privilegio, mesino quando nos intrcduzimos os primeiros fatores de retengao que cscandalizaram muita gente, pois o l.R.B. entrava em operagoes com o fator de retengao 10, quando havia companhias com fator de retengao 30 e quando tinhamos a garanria maxima do Governo da Repiiblica. Acho que o l.R.B. deve continuar a ser um
orgao de operagoes, vivcndo em colaboragao estreita com as companhias e, por isso mesmo. a agao do Estado deve tambem se exercer sobre ele como sobre as companhias. vigiando ou fortaleccndo esta agao atravcs de um tratamento muito proximo do que se da as companhias de seguros. Creio que isto vira fortalecer ainda mais o l.R.B. Na verdade 0 l.R.B. nasccu em circunstancias muito excepcionais. Havia uma grande desconfianga generalizada sobre ele; nao so da parte das companhias estrangeiras como das nacionais. O Governo langava uma experiencia; de nianeira que a fungao primeira do Institute teve que ser nor mativa. por excelencia. As companhias tinham criterios dispares; nao era possivel trabaihar em harmonia, em conjunto, sem uma disciplina geral. O fato serviu para qiic muitas delas se organizassem logo, no novo esquema que tinha sido organizado por tecnicos de valor e de muito bons propositos. De niodo que minha opiniao pessoal, com uma experiencia de 7 anos que possuo de I. R. B. c que ele deve ser sobretudo um orgao,. dc,operagoes
O SR. Plinio Cantanhede ra opinar o Sr. Paulo Camara. Quci-
O SR. Paulo Camara — Estou de pleno acordo com o Dr. Joao Carlos Vital, quando disse que o l.R.B. deve ser um orgao simpl>;.smente de opcrag5es. Entendo que ele so dcvc ser orgao de operagoes; absolutamente, nao deve exercer outras atribuigoes que cabcm ao Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalizagao e ao Servigo Atuarial do Ministerio do Trabalho. Industria e Comercio. fi um orgao de operagoes e s6 deve exercer
1' J. ' k VH "■ r > 71
72
73
74
ikSEVISTA DO I. R. B.
sua a^ao nesse sentido. Nd mais deve ele ficar. como as companhias de seguros, na dependencia da agao dos orgaos proprios do Ministerio do Trabalho.
O SR. Plinio Cantanhede — Dou a palavra agora ao Dr. Mario Trindade.
O SR. Mario Trindade — Gostaria de dizer qualquer coisa em apoio da tese do Dr. Joao Carlos Vital e do Dr. Paulo Camara. Sem me estender em detalhes excessivos, posso dizer que o I.R.B. tern sido ate o presente um orgao de opera^oes. Isto nao impede, entretanto, que o I.R.B. colabore com o D.N.S.P.C. na regulanentagao da parte normativa do mercado porque r.ao digo na parte de fiscalizagao o I.R.B. esta em contacto estreito com as opcragoes de seguros que chegam ate ele atraves do resseguro. De modo que, por exemplo, na elabora^ao das tarifas, que diz respeito ao Servico Atuarial —■ ainda agora foi criada uma Comissao de Tarifas deve prevalecer o regime de cooperagao. Deve-se continuar no regime que existe. Passando a questao que me parece fundamental a que o debate quis levantar, se o I.R.B. sera alastado ou nao, atraves de uma mudan9a de orienta^ao da politica do Governo no que respeita a nacionaliza^ao, enfim, o problema que estavamos debatendo Rt€ agora, parece-mc que o I.R.B. devera subsistir e ate se fortalecer com a entrada de companhias estrangeiras, porque podemos admitir, desde logo, um aumento de capacidadc do mer cado nacional. Com novas compa nhias operando aqui, entao, pcdera ser resolvido o problema da co!oca?ao dos excedentes. Porem, nao e este o caso.
Ponho de lado esta parte. que acho fora de discussao. Parece-me que o I.R.B. nao sera afctado se o Governo deixar entrar ou nao companhias novas nacionais ou estrangeiras. Acontece, entretanto, que o I.R.B. deve, a meu ver. tcr um ponto de vista definido.
£ste ponto de vista deve ser o de tentar. pelo menos. evitar efeitos danosos as companhias que atualmcnte operam no pais, com a mudan^a brusca de orientagao. que sera o abandono in liminc do principio de nacionalizagao. com entrada livre e franca de compa nhias estrangeiras no mercado. Isto por certo seria um desastre. Vemos que existem companhias que tem ca pital ja avultado. em niimcro relativaraente pequeno. mas isto nao. resolveria absolutamente o problema do mercado: de modo que me parece que o I.R.B. tera que defender um ponto de vista, agora, diante do problema da nacionalizagao. que sera um ponto de vista do Conselho Tecnico, que dependera de uma serie de fatores e da administragao do Institute. Parece que devia de fender a situa?ao presente do mer cado, tentando evitar conseqiiencias desastrosas para a economic do seguro no Brasil, mediante a entrada de capitais estrangeiros que viessem agravar ainda mais o presente estado das com panhias de seguros que operam no mercado e. concomitantemente, tentar a obtengao de um regime de abandono progressive, que dizer. de defender umas certas ideias basicas e medidas como a Lei do Cosseguro e outras que juigamos indispensaveis continuarem, quer entrando ou nao novas compa nhias estrangeiras no mercado. Nao sei se estou sendo bastante claro. O principio geral deve ser este: o le-
gislador. quando admitir qualquer med:da. qualquer providencia nova em relagao ao problema, devera ater-se as condiqoes presentes do mercado. De vera evitar dar meia volta na orientaqao. mas defender uma politica de nacionaliza^ao. A meu ver, o Go verno assumiu uma responsabilidade perante os capitais nacionais que foram irvestidos em seguros durante o prazo em que vigorou a legislacjao nacionali.sta. Devemos evitar. a todo transe, lim choque. uma transigao Brusca entre este regime e outro legal com respeito as companhias de seguros e, dentro disto, o I.R.B. podera continuar a exercer sua fun^ao de 6rgao de opera^oes, facilitando tanto quanto possivel a internacionalizagao do seguro, como diz o Dr. Amilcar Santos, me diante troca de resseguros com o ex terior. Esta internacionalizagao eu admito atraves da troca de resseguros, e nao de companhias de seguros.
O SR. Plinio Cantanhede — Seria interessante que ouvissemos agora os tecnicos das companhias de seguro. que, se nao concordaram com as do^uras do I.R.B. do Dr. Vital, tiveram. pelo menos, grande prazer de ver a lhaneza de trato do ex-presidente do I.R.B., Dr. Joao Carlos Vital. Gostariamos de ouvir a palavra do Sr. Santiago Fontes.
O SR. Santiago Fontes — Eu acho que nesse assunto a mim nao me cabe opinar.
O SR. Odilon de Beauclair Sr. Presidente, o Sr. poderia repetir o item que estamos discutindo? Pa rece-me que o Sr. Mario Trindade se afastou um pouco do assunto.
O SR. Pli'nio Cantanhede — Qual a fungao e a importancia que devera caber ao I.R.B. na nova regulamentagao de seguros?
O SR. Odilon de Beauclair
Estou de pleno acordo com o Dr. Joao Carlos Vital. O I.R.B. foi criado num ambiente de certa desccmfianga e isfo se justifica porque. neccssitando o seguro de uma certa liberdade de movimentos. de certa presteza para a coloca^ao de respcnsabilidades, as companhias de seguros receavam que fosse criado um orgao burocratico que viesse emperrar seu desenvolvimento nas opera^oes de seguros: mas, desde logo, as companhias viram que estavam em erro porque a administra^ao do I.R.B., de inicio. demonstrou uma honestidade de propositos que modificou, completamente, aquela primeira opiniao. Eu tenho a impressao de que as opera?6es do I.R.B. tenham sido proveitosas para o mercado de seguros, e que as relates entre o I.R.B. e as companhias de seguros sao as meIhores possiveis. Nao deve haver solu?ao de continuidade: portanto, eu concordo peffeitamente com o Dr. Vital em que, se modificaqoes devem vir com a nova legisla^ao de seguros. — devem ser as menores possiveis. Nao vcjo tambem inconveniente de uma ficalizagao do Departamento de Seguros, como a fiscalizagao que ele exerce nas companhias no que tange h aplicagao de reservas, etc.; nao ha mal nenhum: e 0 I.R.B. tem adotado como norma observer a regulamentagao. nessa parte, como se fora uma companhia de se guros. Para o I.R.B. isto nao representaria nenhum obstaculo e ficaria enquadrado juntamente com as com-
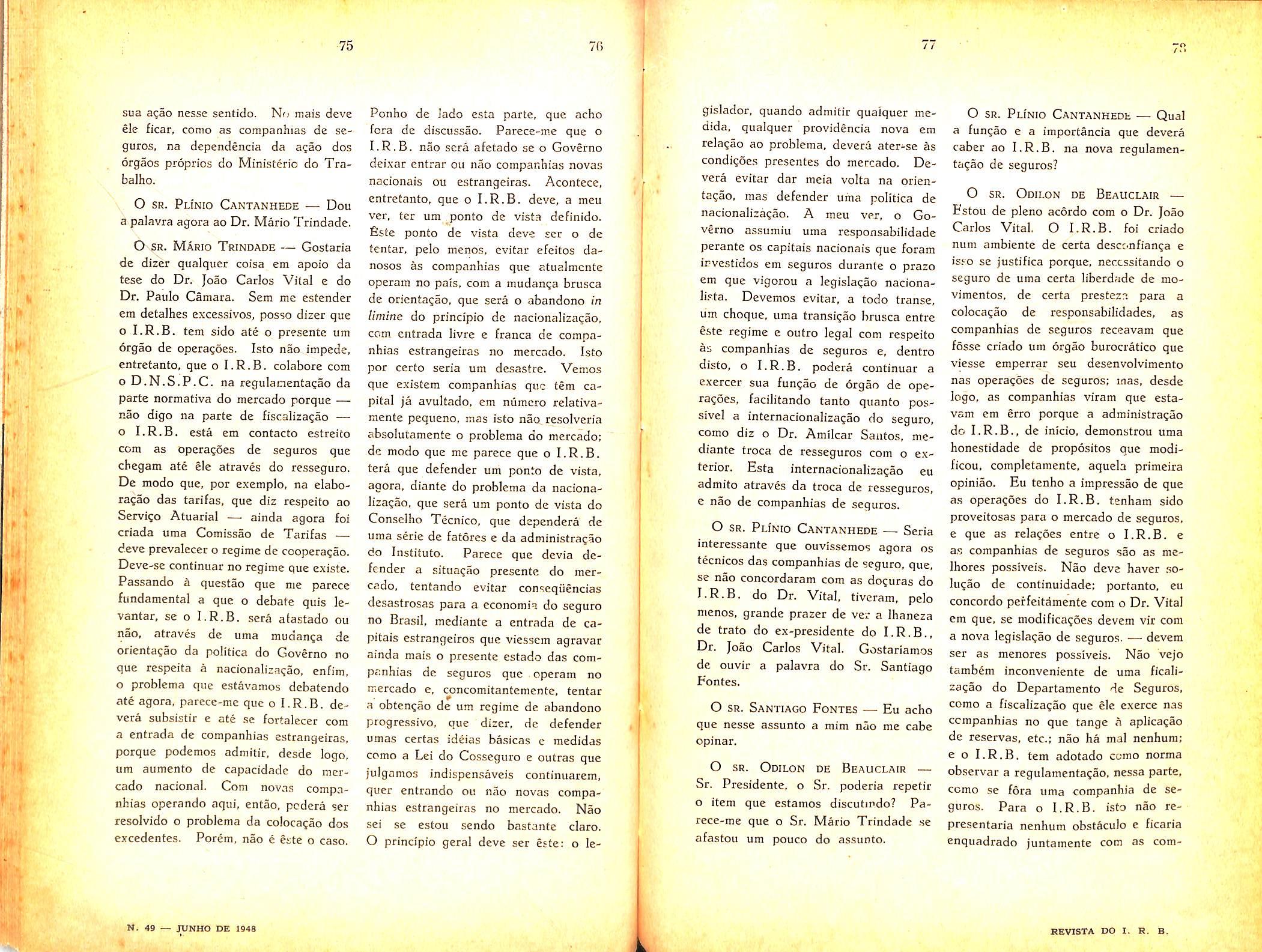
75 76 *
i i N. 49 — JUNHO DE 1948 iL
REVISTA DO 1. R. B.
panhias de seguros dentro das disposifoes que regcm a materia. Nao vejo irxonveniente.
O SR. Plinio Cantanhedk — Queira manifestar-se o Dr. Antonio Alves Braga.
O SR. Alves Braga — A minha opiniao e a mesma do Dr. Jcao Carlos Vital e Dr. Beauclair; haia vista os balangos das companhias, em que quase todas elogiam a a^ao do Instituto de Resseguros do Brasil. De maneira que, se 0 I.R.B. continuar trabalhando para as companhias como ate hoje tem trabalhado, a todo content© o futuro sera mais promissor ainda.
O SR. Plinio Cantanhede — Pediria ao Dr. Amilcar Santo.s que opinasse a respeito.

O SR. Amilcar Santos — Eu estou com o Dr. Vital. Acho que o I.R.B. tem prestado grandes services ao seguro no Brasil; contudo, deve ser orgao de opera^ao. As normas devem ser tratadas pelo orgao oficial do Govcrno, indicado para isto, que e o Departamento Nacicnal de Seguros Privados e Capitaliza^ao. De mode que estou de inteiro acordo com o que disse o Dr. Joao Carlos Vital, de que a legislagao a vir nao deve alterar, a nao ser neste particular, o que existe atualmente.
O SR. PiNio Cantanhede — Tem a palavra o Sr. Ferreira de Sousa.
O SR. Ferreira de Sousa — Parece que ha unanirnidade em torno das conclusoes do Dr. Joao Carlos Vital. Constatando essas conclusoes e, dando
minha opiniao a respeito, vou aduzir outrc.s argiimentos. de tecnico do direito. de homem de outra atividadc. Acho que ha duas fungoes neste parti cular; a fungao a que o Dr. Vital chama fungao de operagao, .i a funqao de fiscaliza(jao', uma fun^ao que visa as.segurar ou garantir a cxccu^ao das normas de ordem publica das cmpresas privadas. Funqoes diferenres exigcm orgaos diferentes porque exigem finalidades diferentes. Se nos examinarrr.os a organiza^ao atual brasileira, vemos de um lado o I.R.B., que a meu ver — isto apenas e uma opiniao de jurista que todos aceitarao ou nao — e mais uma entidade privada do que uma institui^ao publica: chego mesmo a conclusao de que se pode classificar o I.R.B. como uma especie clc sociedade dc economia mista. nao anonima. Participa mais da .sociedade anonima de estado, do que de entidade autarquica de estado e, por conseguinte, eu a coloco no campo do direito privado. £ dc direito privndo porque o rcsscguro e tambcm um negocio de direito privado. O Estado exerce sua atividade como entidade no comercio de seguros, visando um fim economico, nao visando lucro. Sim. ha dois negocios fundamentalmente diversos: um que exerce suas atividades desligadas de preocupaijoes economicas e outro que 0 Estado chama a si, atraves da entidade de economia mista. Estas opera0es devem ser muito bem dividida.s. Nos vemos, por exemplo, o
caso das autarquias, dos bancos. em que o Governo brasileiro tem a mesma situagao; naturalmcnte, como tecnica juridica comercial mais perfeita. o banco se tornaria sociedade de economia mista e exerceria a fungao de supremo banco de controle sobre os dcmais bancos: o Banco do Brasil. Quando o Banco do Brasil exerce atividade como banco su perior. ele e magnifico: mas quando se entrega a fiscaliza^ao bancaria fun?ao do Estado — nao executa bem; porque no fundo e banco e, mutatis mutandis por sua ver devia estar sujeito a fiscaliza?ao dc sua atividade bancaria. (Muito bem!).
fi o que vejo tambem na questao do seguro. O Instituto de Resseguros e uma entidade privada: visa negocios privados; o resseguro e negocio pri vado; visa lucros, atraves dc suas ati vidades, e tambcm tem funqao normativa no mundo comercial. Como fungao normativa, tem caracteristicas comerciais. Os holdings am^ricanos sao atividades privadas, normativas na tec nica do negocio em si mesma, mas nao tem funsao fiscalizadora, controladora de ordem publica. Essa atividade e do Departamento de Fiscaliza^ao, que pode estabelecer a respeito dos fiscais na distribuigao das atividades. Con-
serva-se entao o I.R.B. na sua situa^ao de instituto ressegurador, com 0 seu poder de norma no que tange aos negocios em si, mas nunca legisla, que e fungao de uma repartisao do
Estado. encarregado de frscalizar e controlac as demais empresas.
O SR. Plinio Cantanhede — Com a palavra o Dr. Targino Ribeiro, que e grande advogado e. como magistrado, sera presidente desse jiiri brilhante, que esta julgando, dando sua senten^a sobre a fun^ao e a importancia que devera caber ao I.R.B. na nova regulamentagao dc seguros.
b SR. Targino Ribeiro — Confessei, quando V. Excia. apelou em primeiro lugar para mim,~que nao tinha pensado, nao tinha entrado nas minhas cogita^oes. se o I.R.B. devia manter, na nova legislagao de seguros. a fun^ao e a importancia tao altamentc preciosa que deve ter. Foi uma manifesta?ao de evidente sinceridade, e, por isso, considerando que o Dr. Joao Carlos Vital exerceu com raro brilhantismo, com notavel tato politico, a dire^ao e presidencia do I.R.B.. na fa.se de instala^ao, d?.formaQao, eu apclei para seus conhecimentos, que ele devia ter, e pela experiencia que tinha do funcionamento do I.R.B. Vcrifiquei depois que todos sao acordes em que o Instituto deve manter a sua natureza e suas caracteristicas atuais. Na essencia, o I.R.B. deve continuar a ser o que e e todos estao acordes: a manifestagao foi completa, com muito boris argumcntos, muito bem descnvolvidos pelo Senador Ferreira de Sousa, de que 0 I.R.B. deve conservar su.as
79 80
jL81 82 N. 49 — JUNHO DB 1948 k. vJliiM'A'-i.,-..,j''. V."
REVISTA DO I. R. B.
fungoes e suas qualidades de institute de operagoes. segundo a tecnica do Dr. Joao Carlos Vital, cabendo as rcpartigoes competentes, as fungoes de fiscalizagao, as fungoes meramente estatais. Principalmente porque nao sou improvisador—■ evidentemente nao sou. e assitn me considero — e, nao tendo pensado no assunto e, por outre lado, encontrando muita logica em todos quantos se manifestaram, nao tenho razoes senao para me incorporar a essa unanimldade manifestada. Nao quero e nao posso fazer como um notavel juiz de quem fui grande amigo que, tcndo dado no inicio da se.ssao um voto em certo sentido, depois que os outros juizes se manifestaram em sen tido contrario, declarou: — Sr. Presidente. para nao quebrar a unanimidade, eu tambem voto favoravelmente. (Risos). De sorte que estou de acordo com todo.s.
O SR. Agamemnon Magalhaes — (opiniSo c'.ada por cscrito) — O Institute do Resseguros, cuja organizagao honra os tScnicos brasikiros, deve .ser o orgao de diregSo e contrfiic da politica do seguro. tonduiindo o pioblema ate o monopolio do Eslr.oo, quando. cntao. se transforinara ro grande banco do seguro. que perde cada vez raais o sentido de uma exploragao privada. para integrar-se no conceito social.
O SR. Miranda Valverde — (opiniao dada por escrito) — A ConstituigSo atual (art. 146) permite que o Institute de Resseguros do Brasil continue a monopolizar o resseguro. A garantia subsldiaria da Unilo e oonto delicado. jnas perfeitamente cxpIicSvel sob o regime cio

monopolio. A reestruturagao do Institute como orgao simplesracnte rcgul.ador das operagSes de resseguros efetuadas eiitre as companhias, que funcionara no pais, e de cogitar-sc. Alcangar-sc-ia o seu objctivo prin cipal — a retcngao no Brasil de maior soma possivcl de resseguros. scm os inconvenicntcs do monopolio.
O SR. Plinio Cantanhkde — Ja abusamos demasiadamente da paciencia dos componentes desta mesa redonda. So quero tecer algumas palavras de agradecimento, em nome do Institute Brasileiro de Atuaria que. em minha pessoa, mereceu a honra de ser escoIhido pela Diregao do I.R.B. para ar.imar esses debates, pela presenga e pelo brilho que os ilustre componentes desta mesa deram as questoes aqui discutida. Creio que foi uma Mesa Redonda altamente proficua e que vai revelar, quando publicados os seus de bates na Revista do I.R.B. o desenvolvimento e as correntes de opiniao, todas aqui manifestadas com elevagao e grande cultura, que se agitam em nosso meio segurador. E. tambem, nao poderia deixar de consignar o$ nossos agradecimentos ao General Joao de Mendonga Lima, pela honia que deu de sua colaboragao e presenga aos nossos trabalhos e tambem ao Comandante Rogerio Coimbra que, como vicepresidente do I.R.B., foi o grande animador, que tudo facilitou para que esta Mesa Redonda se pudesse realizar. E assim, mais uma vez agradecendo a presenga de todos, pediria ao General
Mendonga Lima que desse por encerrados estes debates.
O SR. Joao Carlos Vital — Pe diria um minute de atengao antes de encerrar. Como grande nmigo desta casa, me sinto feliz pela noite que passamos e. como tudo que o I.R.B. faz e bem feito, a Mesa foi magnifica. Mas houve uma lacuna que eu gostaria que, em vezes posteriores, nao se leproduzisse. O tecnico, em geral, promovido a presidencia e tecnico perdido: de maneira que nos constatamos o seguinte: perdemos aqui duas opinioes, das mais valiosas, que interessariam a esses debates, Como professor de economia politica e como presidente do Institute Brasileiro de Atuaria, o pro fessor Cantanhede ficou calado, dando a palavra aos outros. E o Dr. Rodrigo de Andrade Medicis, que e, in•contestavelmente, um dos valores desta casa, ficou quietinho e so falou por insistencia da Presidente; de modo que era a unica restrigao que eu queria fsrcr. Se houver outras Mesas Redondas, pelo menos que haja rodizio da presidencia, para que seia imposta, a esses dois grandes brasileiros, a pena de vir aqui trazer, igualmente, o brilho de sua cultura, para que fiquem, tam bem, consignadas nos anais da Revista do I.R.B. as suas opinioes a respeito de assuntos tao deiicados. (Muifo bem!).
O SR. General MENooNgA Lima
— Antes de encerrar esta magnifica
sessao, a primeira das nossas Mesas Redondas, quero reafirmar meus agra decimentos, ja feitos pelo Sr. Plinio Cantanhede, a todos que atenderam ao nosso convite. E, atendendo a sugestao do Dr. Joao Carlos Vital, vou providenciar para que tecnicos de tanto valor nao fiquem apcnas como espectadores ou diretores dos servigos de Ecssa Mesa Redonda, mas que tomem parte, tambem, nos seus debates. E ja que estou dirigindo algumas palavras aos senhores, antes de encerr.ar a sessao, cu gostaria de me manifestar tambem a-respeito da ultima questao que aqui foi debatida. fi assunto que interessa vitalmente ao I.R.B. fi ele que esta em jogo: e, como presidente atual do I.R.B., queria dar meu ponto de vista. E darei tanto mais a vontade quanto estou plenamente de acordo com a unanimidade aqui ja manifestada. Eu tambem pcnso que o I.R.B. deve ser um orgao de operagoes, que a parte normativa que Ihe cabe deve ser apenas — e isto foi acentuado pelo Senador Ferreira de Sousa — referente as ope ragoes e desenvolvimento do negocio. Tudo o mais que afeta o meio segu rador deve caber ao Departamcnto National de Seguros Privados c Capitalizagao. como sendo o orgao governamental incumbido da fiscalizagao das ccmpanhias de seguros. E estou certo de que isto em nada vira preiudicar sua fungao elevada no meio .segurador. Mais uma vez, muito gra*n a todos pela noite agradavel que passamos.
83 84 »• i bi't if*
85 8()
N. 49 — JUNHO DE J948 REVISTA DO I. R. B.
0 Seguro Maritimo Brasileiro no Comercio Internacional
Os «underwriters^ nadonais sao interpelados freqiientements sobre o aparente desinteresse das companhias brasileiras, de competirem no mercado internacional e sobre as razoes porque o nosso seguro maritimo. pcrsiste em conservar-se em moldes rotineiros, quase limitando suas opera^oes ao transporte interior e de cabotagem.
Se ha problema que merepa estudo, este e um deles. Nunca e demais focalizar o assunto e trazer para o mesmo a aten^ao do ptiblico e das autoridades, pelo que mais uma vez solicito agasalho nas colunas do I.R.B., visando com uma rapida analise da que.stao. provocar novamente o debate da materia.
Ja declare! em artigo anterior da Revista, que e sumamente deploravel a evasao dos riscos internacionais do mercado segurador brasileiro.
Em primeiro lugar porque e.sses riscos sao considerados como bons, e ainda mais porque um elevado coeficiente de divisas tao necessarias a baJan?a de pagamentos do Pais, deixa de ficar nas nossas fronteiras, com a realiza^ao no estrangeiro, do seguro maritimo de mercadorias vendidas pelo Pais — exporta?ao — e compradas a importagao.
Porque sera que o comerciante bra sileiro, quando vende, procura ofertas
F.O.B. e quando compra, prefere geralmente a clausula C.I.F.?
Em grande parte, e porque nao encontra no nosso mercado segurador a cobcrtura adequada, em qualidade e prego. A.s condigoes do seguro aqui sao mais limitadas e o seu cuslo e mais elevado do que Ihe oferecem os mercados estrangeiros.
Rcalmente o seguro maritimo nacional, nao esta organizado para competir com o estrangeiro.
Varias sao as causas que influeiu para isto e expondo-as no estudo e meditagao dos orgaos competentes, penso contribuir, embora modestamente, para iniciativas tendentes a melhorar a situagao.
Temos primeiramente a questao da qualidade da cobcrtura; em cutras palavras, as clausulas e condigoes do seguro.
Nossas apolices sao obsoletas, acompanhando a vctustez da nossa Lei basica de seguro maritimo. o encanecido Codigo Comercial de 1850, que nao previu a navegagao a vapor c a aviagao.
As condigoes gerais e particulares sao rigidas e inflexiveis. atadas que sao pelas normas durissimas do nosso
regulamento de seguros que exigem a aprovagao previa das clausulas contra^ tuais por um complicado aparelho burocratico. Ate a lingua vernacula e obrigatoria, como se pudesscmos impor a um importador em Beirute, Calcuta ou Johannesburg o conhecimento da lingua portuguesa.
£ necessaria a redagao de clausulas e condigoes em idioma universalmente aceito para que todos os interessados. bancos, clientes, despachantes, comissarios de avarias etc., saibam os riscos cobertos.
Ssses riscos nao podem mais ser os nossos classicos «cais a cais», perda total e avaria grossa e particular», mas devem acompanhar as variao modalidades de objeto segurado (especie de mercadorias) e meios de transporte utilizados. inclusive a interveniencia de varias especies de veiculos e serein amplos na extensao da cobcrtura, desde o momento cm que a mercadoria sai do controle do cmbarcadoi. ate que chegue a pos.se do final destinatario.
Tais clausulas podem e devem ser adaptadas aos padroes internacionais, a fim de que sejam aceitas em todo o mundo e facilnientc rcconhnciveis ate em abreviaturas, consagradas pela tradigao. como o sao as clausulas C.I.F.. F.O.B., C.O.D., F.F.A. em co mercio, e W.A., F.P.A., P.P.I.-, F.I.A., em seguro maritimo no estran geiro,
Os certificados de seguros. isentos de selos, podem e devem ser redigidos
em idioma internacional (ingles per exemplo) e constituir documentos negcciaveis mediante endosso, para tercm curso iivre, acompanhando a marcha das mercadorias.
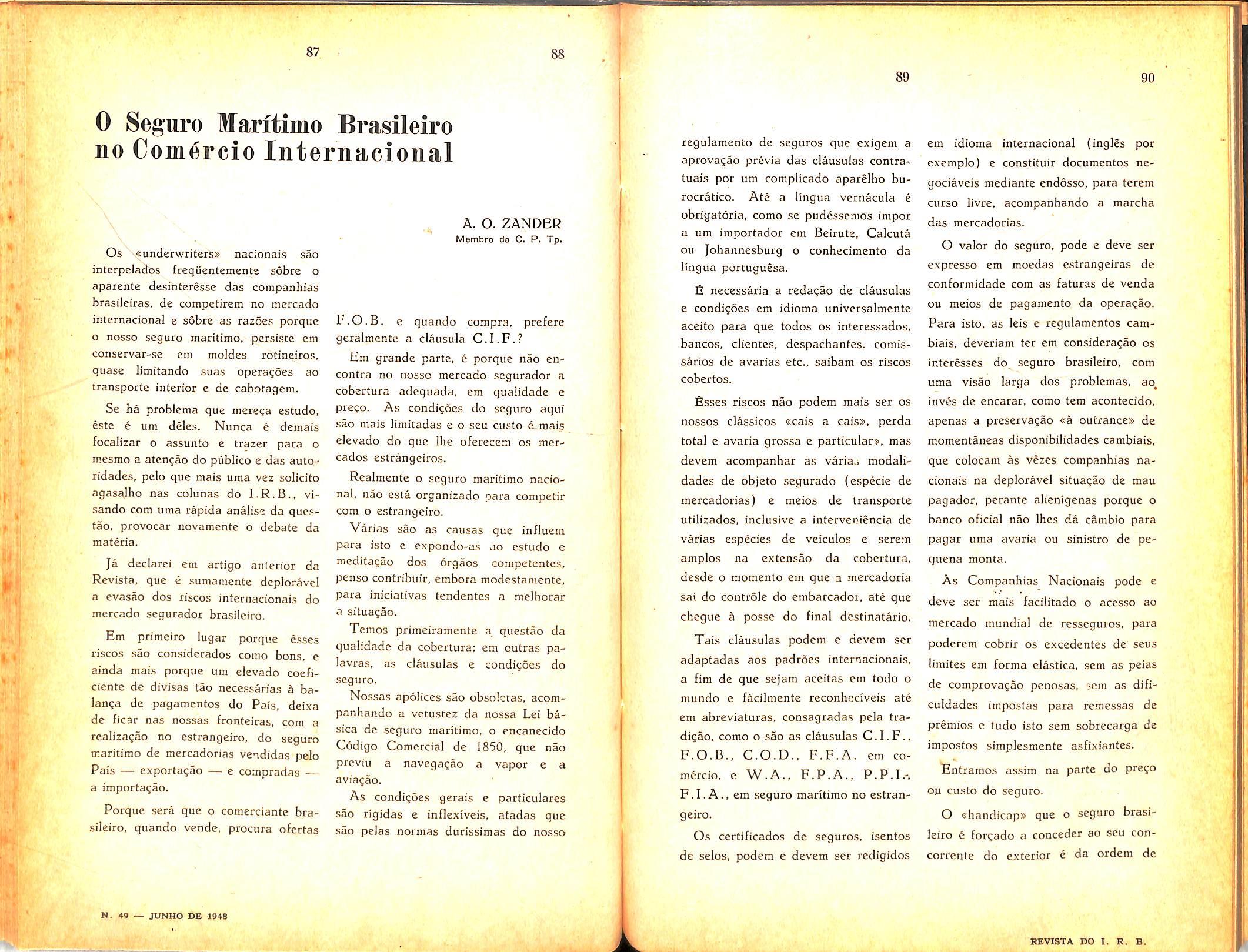
O valor do seguro, pode e deve ser expresso em moedas estrangeiras de conformidade com as faturos de venda ou meios de pagamento da operagao. Para isto, as leis c regulamentos cambiais, deveriam ter em consideragao os interesses do_ seguro brasileiro, com uma visao larga dos problemas, ao^ irivcs de encarar, como tem acontecido, apcnas a preservagao «a outrances de momentaneas disponibilidades cambiais, que colocam as vezcs comp.anhias nacionais na deploravel situagao de mau pagador, perante alienigenas porque o banco oficial nao Ihes da cambio para pagar uma avaria ou sinistro de pequena monta.
As Companhias Nacionais pode e deve ser mais facilitado o acesso ao mercado mundial de resseguios, para poderem cobrir os excedentes de sens limites em forma elastica, sem as peias de comprovagao penosas, sem as dificuldades impostas para remessas de premios c tudo isto sem sobrecarga de impostos simplesmente asfixisntes. Entramos assim na parte do prego ou custo do seguro.
O «handicap» que o seguro brasi leiro e forgado a conceder ao seu concorrente do exterior 6 da ordem de
87 88
A. O. ZANDER Membro da C. P. Tp.
N- 49 — JUNHO DE 1948 iL 89 90
REVISTA DO I. S. B.
60 %. Convenhamos que e impossivel trabalhar assim!
Sobre 0 premio incidem inicialmente cerca de 18 %, de selo proporcional e imposto de circulagao (aiitigamente chamado «de fiscaliza^aoa). O custo de aquisi^ao (limitado no exterior a urn nivel razoavel de 10 a 15%) e aqui 20 % a 30 %, geralmente mais 10 e 20 % que la fora.
Para se adqiiirir cambio para remessa de premio de resseguro, necessario, freqiientemcnte pelo desinteresse do mercado nacional (sem capacidade de absorQao de riscos de vulto) a Diretoria do Imposto de Renda, exige 15 % e. em dma de tudo isto, ha a taxa cambial de 5 % e a remuneragao do corretor 2 %.
Resumindo:
Selos e imposto da apolice 18% Diferenca em corretagem ou coraissao 10 a 20 % Imposto de renda 15 %
Taxa cambial 5
Corretagem de cambio (aprox.) 2%
60 %
Nao admira que os bons riscos, de mercadorias de lei, em navios de grande porte e primeira classe — para portos —■ bem aparelhados. evadam para o exterior.
As importagoes de carvao, trigo, gasolina, 6ieos, combustlveis, maquinas e
CD
piodutos quimicos e as exponagoes de cafe, cacau, borracha, algodao. tecidos, arroz e rainerio, se fossem segiiradas no mercado brasileiro, produziriam urn premio bem apreciavel, c tem-se como certo urn grande saldo, mesmo descontados OS sinistros.
£ste saldo que se pode estimar cm aigumas dezcnas de milhoes de dolares, ficando no Brasil, aumentaria as disponibilidades cambiais ou, pelo menos, deixaria de ser page ao estrangeiro. Infelizmcnte, porcm, as autoridades bancarias, assim nao o entendem, e nao ha uma ajuda ao nosso mercado para tomar uma maior parte desses riscos.
Apenas ha procura aqui de maus riscos — importa^ao de vinhos, azeites, azeitonas e exportaglo de cafe para pequenos portos do Mediterraneo, onde OS roubos sao de tal extensao, que as seguradoras estrangeiras nao se interessam pela cobertura.
Enfim o prcblema merecc ser enfrentado resolutamente, para ser f.olucionado.
Certamente nao sera viavel a modifica^ao total do sistema atual mas com uma melhor organiza^ao do mercado e a obten^ao de normas adcquadas, podera ser alcan^ada a retencao paulatina de uma maior massa de riscos no Brasil, com reals vantagcns para as companhias e a propria economia na cional.
A
A fim de dcsoprimirem-se das duras obriga^ocs que as leis maritinias faziam pesar sobre eles, desdc o inicio do seculo XIX, OS armadores come^aram a inserir nos conhecimentos clausulas elisivas e rcstritivas de sua responsabilidade.
Uma das primeiras a ser usada foi a chamada «clausuia do seguro» (In surance clause). Nasceu, como quase todas as condi^oes de nao-responsabilidade, na Inglaterra, com a forma seguinte;
«The carrier shall not be liable for any damage to any goods which is capable of being covered by insurance*.
Foi logo adotada pelas zmprcsas dc navega^ao e, com o decurso do tempo, modificou-se ligciramente, assumindo afinal a forma por que consta, da clausula sob n." 24, no conhccimento padrao usado pela marinha mercante nacional:
«0 armador nao responde por , avarias, perdas, danos, roubos, ou qualquer outro risco que possa ser coberto pelo seguro*.
joao Vicente Campos (Mcmbro do Inrtituto Jur. lot. de Haia)
A sobrevivencia dessa clausula e dos mais estranhos fenomenos da vida do direito, porque quase que logo depois de seu aparecimento, foi considerada nula, pela jurisprudencia, e pela doutrina.
Fulminaram-na os pretorios de todos OS paises maritimos, como se pode ver nos arrestos dos Tribunals de Genova (Riv. dir. com. 1919, il, 548) Bordeaux (Rev. Int. Dr. Mar. Supl. i, pag. 815): Noi'a York (apud Autran, xvili, pagina 213), Havre (Rev. Int. dr. mar. xxiii, pag. 138) Bruxelas (Rev. Int. dt. mar. xxiii, pag. 138), Vencza (Dir. mar. 1927, pag. 426).

A jurisprudencia inglesa, atesta-o Carver (Carriage by sea, n." 105) tambem Ihc e contraria. Entre nos dcrruiram-na os doutos juizes Arthur Marinho c Alcino Pinto Faixao.
Nao apenas nesses Juizos sofreu a «Insurance clause* justa reprovaqao. Lcvada a Cortc mais alta, a uma Asscmbleia que congregou a elite dos maritimistas da terra, reunida precisa-
In r u ■*w' 91
«. 49 — JUNHO DE 1948 93 94
T
cli'rasiila dc scgiiro (i conliceiuiciitos iiiaritiiiios, c clause) lies siia cvidciitc imlldadc
'.f REVISTA DO I. R. B.
mente para decidir sobre a juridicidade das clausulas usadas nos conheciirientos, foi pronunciada leonina, e contraria a moral e a ordem piiblica. Isso sucedeu na conferencia Infernacional de Londres de 1922, onde, mediante proposta de sir Normann Hill, foi adjunta uma nota ao art. viil das ^Regras de Haia» proibindo o uso da ^Insurance Clauses. E, na Conferen cia Internacional de Bruxelas de 1923, essa nota foi unanimemente aprovada, per indicagao do veneravei professor Berlincieri. (La polizza di carico e fa Convenzione Internazionale di Bruxelles. 25 agosto 1924, pag. 183).
As leis modernas sobre o transporte nautico, a come^ar pelo celebie harter ACT, passando pela Lei francesa de 2 de abril de 1936 a interdizem.
A razao desse repudio reiterado, universal, e muito simples.
Tao ampla, tao generica, a formula da «Insurance clauses, que, na latitude dos sens termos, conduz a absoluta irresponsabilidade do segurador.
Incontestavel o asserto de Ripeut (Dr. maritime, vol. ii, n," 1.788, nota) no sentido de que, atualmente, todo risco e seguravel.
Exonerando-se. pois, da responsabilidade quanto aos riscos que possam ser segurados. o armador cxonera-se da responsabilidade de quanto a todos OS riscos, porque todos os riscos podeni ser segurados.
Podera repelir, sem mesmo examinalas, quaisquer reclamagoes dos carregadores prejudicados. com rela?ao aos detrimentos sofridos por suas carga.s, na viagem.
Indenizara so aqueles d.inos que entender e a quem quiser.
fi, portanto, uma condi^ao incompativel com direito, porque o Codigo Civil, no art. 115, menciona serem defcsas as clausulas que sujeitam o ato ao arbitrio de uma das partes, e a Insurance clause tende a tornar o aimador um autocrata, no contralo, que poderia governar o scu. nutp e alvedrio.
Nao e tudo, porem. Outra considera^ao, mais forte, mais incisiva, conduz a derrocada da clausula.
Examinem-se os seus efeitos, e notaremos que, por ela auxiliado, o ar mador podera conduzir a exoneragao dc suas responsabilidades, ate o livramento total das conseqiiencias dos atos, por ele e seus prepostos, dolosarnente praticados: — isto e a impunidade pela autoria de roubos e furtos.
Neste particular, falara muito mais alto que a nossa, a voz acatavel dos mestres.
Assim Brunetti (Limiti di applicazione della cosidetta Insurance clause, in «Assicurazioni», 1935, if, pag. 12) salienta;
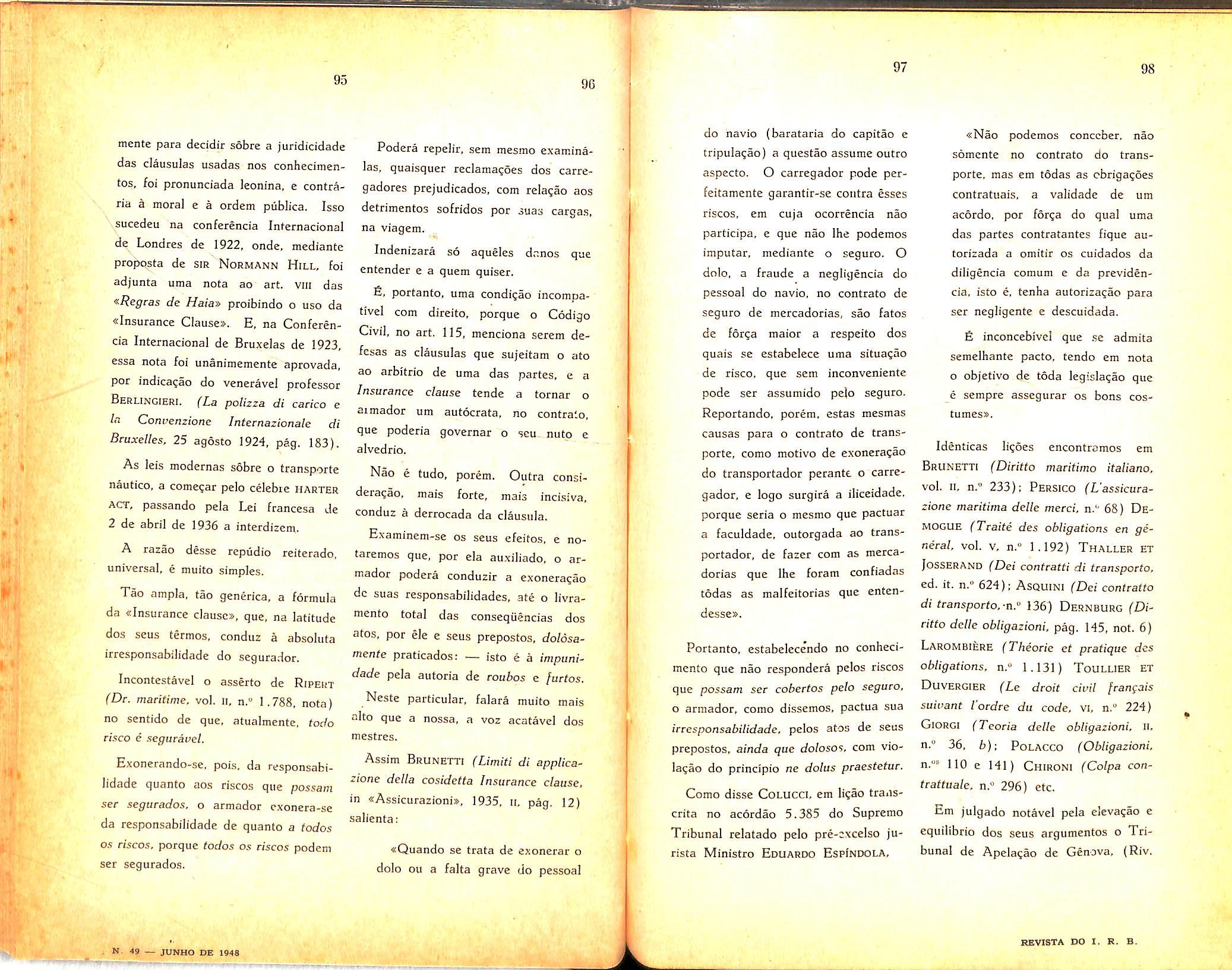
«Quando se trata de exonerar o dolo on a falta grave do pessoal
do navio (barataria do capitao e tripula^ao) a questao assume outro aspecto. O carregador pode perfeitamente garantir-se contra esses riscos, em cuja ocorrencia nao participa. e que nao Ihe podemos imputar, mediante o seguro. O dolo, a fraude a negligencia do pessoal do navio, no contrato de seguro de mercadorias, sao fatos de for^a maior a respeito dos quais se estabelece uma situa^ao de risco, que sem inconveniente pode ser assuraido pelo seguro.
Reportando, porem, cstas mesmas causas para o contrato dc trans porte, como motivo de exoneragao do transportador perante o carre gador, e logo surgira a iliceidade, porque seria o mesmo que pactuar a faculdade, outorgada ao trans portador, de fazer com as merca dorias que Ihe foram confiadas todas as malfeitorias que entendessea.
Portanto, estabelecendo no conhecimento que nao respondera pelos riscos que possam ser cobertos pelo seguro, o armador, como dissemos, pactua sua irresponsabilidade, pelos atos de seus prepostos. ainda que dolosos, com viola^ao do principio ne dolus praestetur.
Como disse Colucci, em li?ao transcrita no acordao 5.385 do Supremo Tribunal relatado pelo pre-zxcelso jurista Ministro Eduardo Espi'ndola,
«Nao podemos conccber, nao somcnte no contrato do trans porte, mas em todas as cbriga^oes contratuais. a validade de um acordo, por forga do qual uma das partes contratantes fique autorizada a omitir os cuidados da diligencia comum e da previdencia, isto e, tenha autoriza^ao para ser negligente e descuidada.
£ inconceblvcl que se admita semelhante pacto, tendo em nota o objetivo de toda legislagao que e sempre assegurar os bons costumes».
Identicas ligoes encontramos em Brunetti (Diritto maritimo italiano, vol. II, n." 233): Persico fl'assicurazione maritima delle merci, n." 68) DeMOGUE (Traite des obligations en ge neral, vol. V, n." 1.192) Thaller et Josserand (Dei contratti di transporto, ed. it. n.° 624): Asquini (Dei contralto di transporto.-R." 136} Dernburg (Di ritto delle obligazioni, pag. 145, not. 6) Larombiere (Theorie et pratique des obligations, n." 1.131) Toullier et Duvergier (Le droit civil frangais suivant lordre du code, vi, n." 224) Giorgi (Teoria delle obligazioni, H. n." 36, 6); PoLACco (Obligazioni, n."^ 110 e 141) Chironi (Colpa contrattuale, n.« 296) etc.
Em julgado notavel pela elevagao e equilibrio dos seus argumcntos o Tri bunal de Apelagao de Genova, (Riv.
95 96 'KV' .'■ftfv., 1 i' r'
97
98
; N. 4^. — JUNHO DE 1948 .r-„. ■! SBVISTA DO I. R. B.
dir. Comm. 1919, li, pag. 552) examinando a insurance clause, manifcsta que, com ela, o armador
«ajusta a propria irresponsabilidade para todos os casos de mercadorias seguraveis, sem distinguir se a perda ou o deterioramento contra os quais o interessado reclama aconteceram por culpa ou dolo da tripula?ao ou dos agentes da Cia. Transportadora. Ficaria. pois, e sempre prejudicialmente preclusa qualquer aqao do prejudicado. pois a inten^ao da clausula e garantir ao armador uma exce?ao peremptoria ([ine di non ricevere) impeditiva de toda indagagao sobre as causas do dano.
Essa possibilidade do pacto. perfeitamente invocavel, pela qual eventualmente seria garantida ao transportador tambem a impunidade no caso de dolo basta para torna-lo ilicito, porque as conven?6es nao podem de forma alguma derrogar a ordem piiblica e aos bons costumess.
Esta expresso, no Codigo Comercial. que sao nulos todos os contratos, cujo «uso ou fim for manifestamente ofensivo de sao moral e bons costuines» (art. 129, 2) proibitao essa, que como o da maxima romana <s.lllud non probabis dolum non esse praestandum si convenerit. Nam haec conventio contra bonam [idem contraque bonos
mores est (L. i. — § 7. De dep. v. contra XVI. 3) se estende ao pacto de fugir as conseqiiencias da culpa lata. e o qual integra um principio de alta moral comum a todas as legisla?6es. A ^insurance clauses tendendo a esse resultado, e pois nula e nenhuraa perante a lei e o direito.
Por isso doutrinou o mestre belga Smeesters
«La clause exonerant le transporteur de tous ou de certains risqucs quil peuvent etre converts par une assurance esf incontesfB' blement nulle».
Do mesmo sentir sao Ripert -(Dr. mar. vol. ii, n.° 1.788) Esmein (Des clauses de non. responsabilite. in Rev. Trim. Dr. civ. 1926. pag. 320): Bru-
NETTi (Limiti di applicazione della cO' sidetta oilnsurance clauses) in Assicura-zioni, 1935, ii, pag. 12) CoBlANCHi
(Sulla cosidetta» Insurance clauses in Riv. di. Dir. Comm. 1919, it pag. 548) SoHR (Vexoneration dans le connaissement des domages assurables. in Le droit mar. i, 1919, pag. 64): Schaps (Exonero da agni danno assicurabile, in Dir. mar. 1913. pag. 241): Gautier (Des clauses d'irresponsabilite, pags. 265) Van Bladel (Connaissement et regies de la Haye. n.° 211) WustenDORFFER (The Hague Rules, pag. 397)
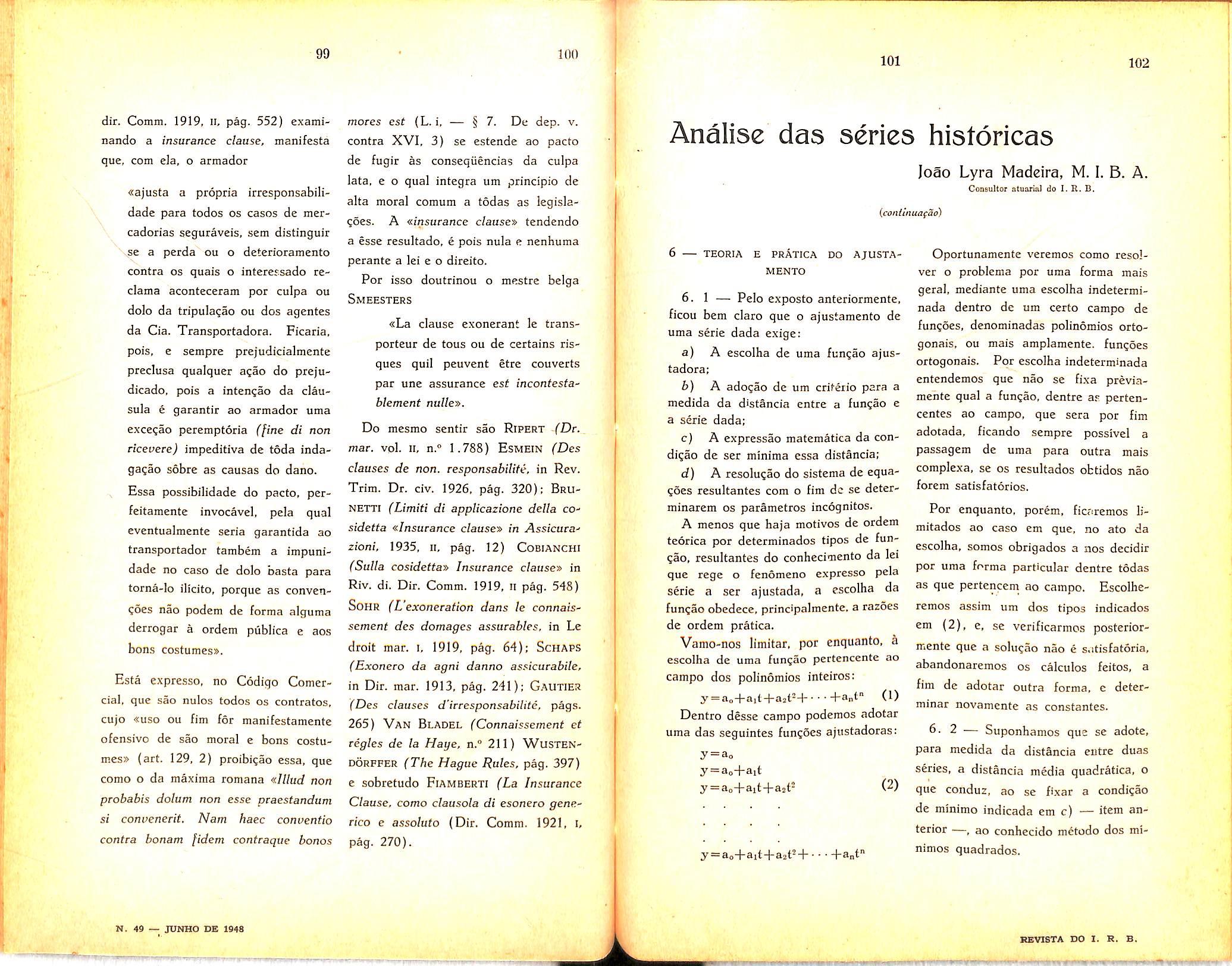
e sobretudo Fiamberti (La Insurance Clause, como clausola di esonero gene' rico e assoluto (Dir. Comm. 1921. i, pag. 270).
Analise das series hisloricas
loao Lyra Madeira, M. I. B. A. CoQ&ultor atuafinl do I. R. B. (continudfao)
6 — TEORIA E PRATICA DO AJUSTAMENTO
6. 1 — Pelo exposto anteriormente, ficou bem claro que o ajustamento de uma serie dada exige:
a) A escolha de uma fungao ajustadora:
b) A adogao de um critexio para a medida da d'stancia entre a fungao e a serie dada;
c) A expressao matematica da condigao de ser minima essa distancia:
d) A resolu^ao do sistema de equaqoes resultantes com o fim dc se determinarem os parametros incognitos.
A menos que haja motives de ordem teorica por determinados tipos de funqao, resultantes do conhecimento da lei que rcge o fenomeno expresso pela serie a ser ajustada, a escolha da fun^ao obedece, princ'palmente, a razoes de ordem pratica.
Vamo-nos limitar. por enquanto. S escolha de uma fun^ao pertencente ao campo dos poiinomios inteiros: y=ao+ait+a2t-+• • •+anl" (0
Dentro desse campo podemos adotar uma das seguintes funcoes ajustadoras:
y = ao y=ao+ait y=ao+ait+a2t2 y^ao+ait+ajt^H j-ant"
Oportunamente veremos como resolvec 0 problema por uma forma mais geral, mediante uma escolha indeterminada dentro de um certo campo de fungoes, denominadas poiinomios ortogonais. ou mais amplamente. fungoes ortogonais. Por escolha indeterminada entendemos que nao se fixa previamehte qual a fungao, dentre a.'' pertencentes ao campo. que sera por fim adotada. ficando sempre possivel a passagem de uma para outra mais complexa, se os resultados obtidos nao forem satisfatorios.
Por enquanto, porem, ficnremos limitados ao caso cm que. no ato da escolha, somos obrigados a nos decidir por uma fnrma particular dentre todas as que pertencern ao campo. Escolheremos assim um dos tipos indicados em (2), e, se verificarmos posteriormentc que a solugao nao e s.itisfatoria, abandonaremos os calculos feitos, a fim de adotar outra forma, c determinar novamente as constantes.
(2)
6- 2 — Suponhamos que se adote, para medida da distancia eutre duas series, a distancia media quadratica, o que conduz, ao se fixar a condigao de minimo indicada em c) — item an terior —,ao conhecido mctodo dos minimos quadrados.
99
N. 49 — JUNHO DB 1948 101 102
KEVI8TA DO 1. R. B. ••4r •r-' V
Adotemos a fun^ao que figura em forme exige a condigao imposta para a determinaglo de a^.
primeiro lugar em {2), isto e: y = a„
0 problema consiste em sc fixar a posi^ao da reta AB — fig. 1 — de tal
6. 3 — Suponhamos agora que seja adotado o segundo tipo indicado
em (2): y = ac,+a,t ( A
modo que seja minima a distancia media quadratica entre essa reta e os pontos representatives da serie dada. Na realidade trata-se ,dc determinar a altura comum dos pontos m , de modo que a serie por eies formada seja mais proxima da serie dada (em face da distancia media do 2." grau) do que qualquer outra serie de pontos nas mesnias condiQoes. isto e, situados sobre outra paraleia ao eixo dos t.
fisse problema ja foi resolvido anteriormente, a titulo de exemplificagao, tendc-se chegado a conclusao de que a constante ao nao e outra senao a media aritmet'ca dos yi, isto e: ar,= -y;
A distancia media quadratica entre a serie dada e a ajustada (pontos m') e. como vimos. o desvio padrao dos yi:
da=(Ty
a qual assume, assim, efetivamente, um valor minimo, quando esta referida a media aritmetica da serie dada, con-
Fig. 2
Trata-se de determinar a posi^ao de uma reta AB, pela fixa^ao de ao e ai de tal modo que os pontos m de encontro das verticals tiradas pelos pontos m observados, com a reta AB, constituam uma serie cuja distancia media quadratica a serie dada seja menor que a de qualquer outro conjunto de pontos em linha reta.
Devemos ter entao:
^(yi -yf;)-= minimo (4)
i-l
onde yi. representa o valor calculado pela (3) para t = ti.
As equai;6es gerais (14) dadas no numero anterior desta Revista, conduzirao, desde que se substitua cm (4) yii por an+aiti as equa^oes normais.
^yi=nao+ai t;
i = i i-l
yiti=a„ 2"fi+ai X' ti' (5)
i=l i-l i-l
Donde: ao=
^y St n -y 2vt St2 St Syt n St ^1 n 2t St St^ St
(6) tendo sido suprimidos, per comodidade, OS indices i.
Pondo: :it- zt V = trt- (7) n \ n o denominador comum da.s fragoes anteriores sera n'trr.
Desenvolvendo os numeradores re-
sulta:
ao= ai= 1
- St= y St- ^ Syfl n n J Syt Ct" L n -y-t (8)
onde: y = t = — (9)
2y lit t = n n
Sendo tj e t„ os valores dc t correspondentes. respectivamente. ao pri meiro e ultimo valores da serie dada. e, sc adotarmos como origem doS tempos o ponto central do intervale t, tii, isto e, 0 ponto
to= — (tl+tn) 2
I-l y ai
Zyiti , Zyiti i-l _ 1 i=l <7(- n (10)
6. 4 •— Consideremos agora o 3.° tipo representado em (2). isto e, a parabola do 2." grau:
y=ao4-ait-j-a2t"-

O problema e sempre o mesmo: de terminar OS coeficientes So, ai e a-j correspondentes a parabola AB. de tal modo que os pontos de intersecgao m' das verticals passando pelos pontos da serie dada, com a parabola AB, constituam um conjunto cuja distancia media quadratica a referida serie (pontos m) seja menor que a de qualquer outro conjunto de pontos m' situados sobre outra parabola do 2." grau.
i-I
Nesse caso: t =0
Fig. 3
A condi(;ao a ser imposta e pois;
i-l
BEVI8TA DO 1. R. B.
103 104
a' • I I r 3 '! ! o. B t
y
Fis. 1
a'
N. 49 — JUNHO DE 1948 105 106
Tyi
e as expressoes (8) se simplificam: i-l
entao resulta, quando os ti foiem equidistantcs -(tH-i-li=h)-• 9"^ os somatorios deexpoente impar 21;, 2(A etc. referidosa essa nova origem serao todos nulos, isto e:
^Myi-(ao+ait:+a2(m-=min;.no.
Derivando essa expressao em relagao aos parametros a^, ai e a^ e igua-
]ando a zero essas derivadas, resulta o sistema:
2y=nao+ai2:t+a22t2yt=acSt+a,2t=+a:2t' (II) Syt^=ao2t=+a,StHa22t« onde foram suprimidos os indices'por comodidade tipografica.

Representando por A o determinante
Teremos entao:
r- 2t^ y-
n
I A L
n 2t 2t 2t- 2t3 2t4 e por Ao, Ai e A2, respectivamente, os determinantes que se obtem substituindo em A as colunas dos coeficientes de ao, ai e an pelos termos conhecidos 2y, Syt, 2yt=, resulta:
ai= A ' A
2t2t«
Na hipotesc de ser colocada a origem no ponto ^ e de serem constantes os intervales ti+,— t- o sis tema se simplifica. Obtem-se Lediatamente da 2." equaqao de (11):
_ 2yt aifff- n isto e, o mesmo valor obtido no item anterior. Os outros paramctros. ai e a„ resultam entao do sistema mais simples:
2y= nao-|-a22t2yt=a„2t=-|-a22t' que se obtem de (11) pondo
2t=2t3=0
As expressoes de ao e aa sao, assim, analogas as de a„ e at obtidas no case do item anterior (formula 10). onde 2t e 2t= ficam substituidos. respectiva mente, por 2t- c 2t^
n -y (13) n2f»-(2tO^j (14)
• A
6. 5 — Suponhamos agora que a fungao escolhida tenha a forma geral de uma parabola do grau fi :
y=ao-}-ait-|-a2t--l-• • •-{-ajj.O'' (15) e que a serie a ajustar compreenda n valores (n>j:i-|-l).
A solugao do problema e inteiramente analoga, e os valores obtidos para as constantes aj, conduzem a uma serie de pontos ni' mais proximos da serie dada que qualquer outro conjunto m' situado sobre outra parabola do mesmo grau.
Tem-se, nesse caso, o sistema:
2y= nao-fa,2t-}-as2t2-l |-an2t!^
Syt=ao2t-i-ai2t=-fa22t'-j + +ait2ti^+>
2yt==ao2t=-|-at2t'-|-a52t«+ • • - + -|-a^2ti^+2 (16)
2yt'^ =a„2ti^-|-a,2t'>^+i-f-a22ii^+2-l+• • • -|-ait2t2i^
Ao Ai ao= ai ^1= ^[1 /.-TS ; • a(x — (17) A A
109
£ claro que, adotando-se como ori gem o ponto central Y2 (ti-f-t.,) e sendo equidistantes os varios tj, c sis tema anterior se simplifica, por ser:
Ttr"+i=0 (p=0,1,2,- - .,m-1)
6. 6 — Como aplicagao pratica do e.xposto consideremos a serie constante do quadro 1, que representa o niimero de falencias registradas na Capital Federal e no municipio de Sao Paulo, de 1932 a 1946.
Adotamos o trend retilineo
y=ao+ait (3)
e tomamos como origem o meio do ano de 1932, ponto central do intervale 1932-1946,
Resulta assim:
sendo t contado a partir de 1939. No grafico I figuram os valores observados e o trend ajustado: o grafico 2 fornece a evolugao da diferenca
Vol) ytr
onde representa 0 valor calculado pela (18): essa diferenga constitui a oscilaqao remanescente das falencias, depois de eliminado 0 trend geral decrescente.
Se, reaimente, o trend, das falencias na Capital Federal e municipio de Sao Paulo pode ser assimilado a uma reta, como parece razoavel supor, pelo menos, durante o intervalo em que foi feito o ajustamento, a oscila^ao rema nescente representara a componente ciclica do fenomeno economico observado.
l-yti ai= II i-1 i- I i-1 1 i = l fft" n
Todos os calcuios necessaries se acham- no quadro 1, pelo qual obtive-
y
Convem nao esquecer que o trend real, apesar de sensivelmente retilineo, poderia ser apenas urn pequeno trecho de uma componente de longa durasao (50 ou 60 anos, por exemplo) que, no curto espago de tempo examinado ficaria praticamcnte confundido com urn trecho de reta, como soi acontecer com qualquer trecho stificientemente peque no de uma cucva qualquer.
BEVISTA DO I, R. B,
A 110.
If 107
N. 49 — jvmio OB 1948 108
(12)
onde: L
n '2t^ n
Representando por A o determinante do sistema. e por Ak aquele que se obtem substituindo em a a coluna de coeficiente de at pelos termos co nhecidos, 2y, 2yt,• • • 2yt'^, resulta:
St=0 e as constantes da equa^ao (3) ficam determinadas pelas expressoes simples:
mos: n _^yi=6725 a„=
=448.335 i-1 ^yiti=-7640 ^U-==280 i-1
a,= -27.2857 i-1
O trend retilinio sera entao expresso, numericamente, por;
y =448,333-27.2857t (18)
Sem pretender por enquanto fazer uma analise mais minuciosa, uma primcira inspegao do grafico 2 parece sugerir a existencia de pelo menos uma componente ciclica de 7 a 8 anos de duragao, o que estaria pcrfeitamente de acordo com a duragao do periodo mais comuraente observado nos ciclos economicos de varios paises, ciclos esses .que naturalmente repercutirao sobre o numero de falencias com um recrudescimento nas ^pocas de depressao e diminuigao nos periodos de «boom».
Valorem ajustados: yi = 448,3513 — 27.2837 li
6. 7 — A expressao (15) ainda pode ser generalizada.
De fato. em lugar de supoi que cada termo componente de y seja da forma ai(t'',podemos adotar. como termo gen6 rico. o produto ak0k(t) onde dk(t) e uma [ungao conhecida. isto e, na qua! nao comparece nenhum parametro incognito.
Em lugar da expressao (15): y=i'akt''

k as 0
teremos entao; y= ^ak0k(t)
k = o onde, por comodidade se .supoe e<.(t)= i
sistema. pela substitui^ao de ::t'= por S(?k(t) c expressoes de ai. a^; formalmente, as mesmas ind'cadas em (17) desde que, nos detzrminantes
A, Ao, Ai, A:,. • . sejam feitas essas mesmas modifica^oes.
6. 8 — Uma aplica^ao pratica esclarecera o exposto no item anterior. Consideramos para isso a mcsma serie utilizada para o ajustameiito exposto no item 6.6, e suponhamos cue sejam escolhidas as seguintes fun^oes:
0o(t)=l
fli(t)=t , , irt 02(t)=cos
(19)
fi claro que a expressao (19) abrange a (15) como caso particular, bastando fazer-se entao
0k(t)= t''
As equagoes normais que, nesse caso mais geral, substituem as do sistema (16) sao as que se obtem, desse mesmo
• A expressao de y sera entao: y=ao+a,t+a2COS fft •(20)
Ora, a primeira equacjao do sistema (16) se obtem somando-se a (15), desde 1 ate n; a segunda pela soma dessa mesma equa^ao depo's de multipiicada por f. e a terceira, pela soma de (15) depois de multiplicada por t".
111 112 OUAORO 1 AjUSTAMENTO
NA CAPITAL
E MUNIClPIO DE S. PAL'l.O VALORES VALORES A N 0 OBSERVADOS tl to yiti aiti CALCULACX5S yi yti 1932 692 - 7 49 -4 844 191.00 639.33 1933 692 -6 36 -4 152 163.71 612.05 1934 602 - 5 25 -3 010 136.43 584.76 1933 ;. 389 -4 16 - 1 556 109.14 557.48 1936...-- 416 - 3 9 - 1 248 81.86 530.19 1937 ; 499 -2 4 - 998 54.57 502.90 1938 508 - 1 1 - 508 27.29 475.62 1939 315 0 448.33 1940 504 1 1 504 - 27.29 421.05 1941 420 2 4 840 - 54,37 3b3.76 1942 408 3 9 1 224 - 81,86 360,48 1943 204 4 16 816 -109.14 330,19 1944 264 5 25 1 320 - 136,43 311.90 1945 312 6 3b 1 872 - 163,71 284.62 1946 300 7 49 2 100 - 191 ,00 257.33 V 6 725 0 280 - 7 640
DO NUMERO DE EALENCIAS
FEDERAL
N. 49 — ^tJNHO DE 3948 1I 600.Trend: y • Ui6.5335 - 27.2857t Uedla ■ i4ii9.3533 liOO200-7 -6 -5 4, -3 -2 -I 2 3 U 5 6 7 - Grafico 12001000 100 200 .Trend - Grafico 2a. REVISTA DO I. H. B.
No presente caso, para se obter o sistema de equaQoes normais. basta subsxt tituir t- por cos
resultando; xt
— nat,+ai-t+a:2cos
— flo^t+aiSt'+asSlcos xt (21)
-s- xl Sycos =ao2cos 4 4 rt +ai2tcos 1" 4
+a2Scos4
Numericamente tem-se;
Verifica-se que o valor de ai e o mesmo obtido no caso do ajustamento pela reta. £sse resultado e natural, pois. como dissemos, ele ocorre, no caso do ajustamento de uma parabola do 2.° grau. quando 21=0, isto e, o coeficiente de if na parabola e o mesmo que se obtem para a reta.
Ora, da segunda equa^ao do sistema (21), tendo-se em conta essc valor de 2t e ainda a anula?ao do somatorio em que a fun^ao cosseno comparece multiplicada por t, resulta:
-cosxt
Sycos xt 4 = 144,031
= 7;
n =]- 2t=0 2cos-^=^l; Stcos =0 4

Calculados os determinantes A,Ao,Ai
e A: obtem-se os valores das constantes:
a„=454.029I: a,= -27 285732=85.4572
Valor calculado; 3-i=y),i+y2.:
Onde;
^yiti=ai tr
i=l i-1 que e a mesma expressao obtida no caso do ajustamento acima referido.
Teremos assim a equa^ao:
y=454.0201-27.28o7t+ xt +85.4372cos 4
Os resultados obtidos se acham no quadro 2 e nos graficos 3 e 4.
y2,i=a2Cos xt; Como se pode verificac pelos gra ficos 3 e 4, esse segundo ajustamento € superior ao primeiro. 600600-7 -6 -5 ^ -5 .2 -1 0 1939 - Grafioo 3200 100 • 0 100 • 200 • - Grafioo U • A REVISTA DO I. R. 8.
115 116
QUADRO 2 CALCUI-O DAS CONSTANTES PARA O AJUSTAMENTO
A N O El X tl cos , X ti cos' X tl yicos 4 VALORES CALCULADOS 4 4 yi. y>. i yi 1932 7 0.707107 1933 A 0.5 489.318 645,029 60,413 750.44 617,74 530.04 477,73 475,47 508,60 541,73 539.47 487,16 399,46 310,76 259.45 257.19 290,31 324.44 1934 - 5 -0.707107 - l.OOOOOO -0.707107 617,743 590.458 563,172 535,886 508,601 481,315 454,029 426,743 1933 0.5 -425,678 -60,413 -85,437 -60,413 1936 - 3 T 1.0 -389,000 1937 0,5 - 294,157 1938 0.707107 l.OOOOOO 0.707107 1939 0 \ 0.5 359,210 60,413 85,437 60,413 1940 1.0 515,000 1941 0.5 • 356,382 1942 -O.7D7I07 - 1 .000000 -0.707107 399.458 372,172 1943 A 0.5 - 288,500 - 60,413 1944 I.O -204,000 344,886 317,601 290,315 263,029 - 85,437 1945 0.5 - 186,676 -60,413 1946 0.707107 0.5 212.132 60,413 0 - 1.000000 7.0 144.031
.Vi,i=ao+aiti N. 49 — JUNKO DB 1948
Scguro de lucros cessantes
Henrique Coelho da Rocha TIcnico do I. R. B.
O Seguro de Lucros Cessantes, subordinado a ocorrencia de um incendio. vem sendo praticado ha muito tempo, em muitos paises, embora, no Brasit. ainda nao tenha tido o desenvolvmento alcan^ado alhures.
A sua necessidade, porem, vein cres cendo de vulto, com o proprio progiesso da indiistria e do comercio no pais, devendo-se a expansao relativamente pequena dessa moda'.idade de seguro a falta de resseguro no I.R.B. e a certas exigencias, reccntemente feitas pelo D.N.S.P.C.

Na nossa opiniao, urge, assim, que 0 I.R.B, cncare de frente o problema, fixando normas para o resseguro dessa modalidade de garantia, e agindo, junto as Sociedades e ao D.N.S.P.C., nc sentido de serem padronizadas as clausulas respectivas.
Feitas essas consideragoes, passamos a expor o ponto de vista que adotamos no tocante ao Seguro de Lucros Ces santes.
Defini^ao
A nosso ver, esse seguro devera destinar-se a indenizar o segurado, na medida do possivel, pela redugao dos seus lucros e/ ou pelo concomitante acrescimo de dcspesas decorrentes, uma e outro, de um eventual sinistro coberto pelas apolices-incendio usuais.
O simples enunciado acima, subordinando, sistematicamentc, a garantia
a verificagao de um sinistro que se enquadre na cobertura habitual das ap6lices-incendio, a nosso ver. justifica e impoe que se considere cssa modali dade de seguro como uma garantia acessoria do ramo incendio, e nao como nicrecedora de um tratamento inteiramente diverse, com a constituigao de uma carteira separada.
Sob esse ponto de vista, a garantia de Lucros Cessantes, se assemelha, perfeitamente, a garantia contra a perda de alugueres, ja incorporada, pacificamente, ao ramo Incendio, como cobertura secundaria ou acessoria.
Alem dessas razoes de ordem tecnica, militam a favor desse ponto de vista motives de ordem pratica, que interessam ao segurado c as proprias seguradoras e dizem respeito a facilidade da liquidagao dos sinistros.
Clausulas
As clausulas a aplicar no .seguro de Lucros Cessantes interessam mais diretamente as sociedades de seguros e por elas deverao ser redigidas para oportuna aprova^ao pelo D.N.S.P.C. Contudo, na sua qualidade de ressegurador privilegiado, o I.R.B. devera, tambem. ser ouvido.
Taxas
A falta, praticamente, absoluta de dados estatisticos sobre seguros de lucros cessantes, evidentemente, nao permitc que se pense em calcular, diretamente, as respectivas taxas para os diferentes estabelecimentos industriais c comcrciais, for^ando, ao contrario, a aplica^ao de um criterio simpjista baseado na propria taxa do risco incendio.
Achamos, assim, que o criterio para a determinagao da taxa basira devera ser o da media das taxas do conteudo, e concordamos com os que acham que a redugao ou aumento dessa taxa basica anual devera verificar-se em fun?ao, respectivamente, do aumento ou da diminui^ao do prazo do seguro.
Achamos, ainda, que esse prazo nao devera, nunca, ser inferior a 3 nem superior a 18 meses, computando-se, preferivelmente, em trimestrcs inteiros.
Resseguro
Coercntes com o ponto de vista de que c seguro de Lucros Cessantes nada mais e do que uma garantia acessoria do ramo Incendio, somos de opiniao de que OS rcspectivos rcsseguros deverao ser cfetuados na Carteira-Incendio do I.R.B. na base de exccdente de rcsponsabilidade, retendo as sociedades, sobre as responsabilidades assim assumidas, uma importancia a determinar. para cada sociedade, em fungao do seu respective limite legal. O aspecto subjctivo de cada risco individual poderia ser atendido mediante a facul-
dade de reduzirem as sociedades a sua reten^ao a uma percentagem do seu limite maximo, a exemplo do que ja prevalcce para o risco normal de in cendio. Resumo Feitas as consideraqoes acima, que consagram o ponto de vista em que nos colocamos, passamos a resumir esse ponto de vista, a fim de facilitar a critica a que, porventura, venha a ser o mesmo submetido.
I) O seguro devera abranger, em dois ou tres itens ou verbas, respectiva mente;
a) a redu^ao de lucros liquidos, resultante da paralizagao total ou parcial dos negocios do segurado por motivo, exclusivamente, de prejuizos causados — direta ou indiretamente — por fogo, raio e/ ou suas conseqliencias:
b) as despesas fixas e obrigatorias, adiante cspecificadas (tais como impostos, alugueres. salaries e ordenados) incorridas pelo segurado no decurso do prazo do seguro, na proporgao em que essas despesas se tenham tornado improdutivas como conseqiiencia do si nistro;
c) as despesas incorridas, razoavelmente, pelo segurado, com a autorizagao ou o beneplacito da companhia, com o linico objetivo de apvessar a reposigao do cstabelecimento segurado na situagao em que se encontrava por ocasiao do sinistro.
Em principio, as duas ultimas verbas acima poderao ser fundidas numa so, caso assim o deseje o segurado.
119 120
Natureza da garantia
121
M. 49 — JUNHO DE 1948 JL
122
RBVI6TA DO I. R. B.
2) O seguro de Lucres Cessantes devera ser considerado risco acessorio do ramo Incendio, e so podoia ser coberto pelas sociedades que assumirem a cobertura do risco de incendio, mediante endosso na apolice-incendio (com agregagao das competentes clausulas) ou mediante a emissao de uma apolice especial que se reporte, expressamente, a apolice-incendio correspondente.
3) As clausulas para o seguro de Lucros Cessantes deverao ser redigidas, de preferencia, por uma comissao intcgrada por alguns representantes dos Sindicatos de Seguradores e do I.R.B,, para oportuna aprova^ao pelo D.N S.P.C.
A redu^ao do lucro liquido do segurado seria apurada pelo exame dos livros do mesmo, com fundamento na redu^ao da produgao ou das vendas, era comparagao com os resultados do ultimo mes complete anterior ao sinistro, ou com igual mes do ano anterior, no caso de industrias ou comercios ciclicos.
1) Ate que a experiencia permita uma revisao desse criterio simplista, a taxa para o seguro de Lucros Cessan tes devera ser a taxa media aplicavel ao seguro dos conteudos do estabelecimento segurado, aplicada. progressivamente, na seguinte propor^ao, que submeto a titulo de exemplo:
Prazo do Seguro Base para Taxagan
3 75 % da taxa supra
De 3 a 6 meses 100 % da taxa supra
De 6 a 9 meses 125 % da taxa supra
De 9 a 12 meses 150 % da taxa supra
De 12 a 15 meses 175 % da taxa supra
De 15 a 18 meses
200 % da taxa supra
5) As sociedades ressegurariam no
I.R.B., sobre as 2 ou 3 verbas do seguro, as responsabilidades que excedessem das retengoes que Ihes fossem atribuidas ou que fossem por elas escoIhidas.
A presente exposigao sumaria do assunto visa, tao-s6mente, focalizar essa materia de tao alta relevancia para
Estudos sobre o ramo Vida
CCoaiinuojSo)
Ferreira
VALORES GARANTIDOS
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES
VALOR DE RESGATE — SEGURO SALDADO — SEGURO PROLONGADO
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES
Nao raras vezes, motives imprevistos, obrigam as pessoas seguradas a nao cumprir 'ntegralmente os contratos que fiimaram com o segurador.
o nosso mercado segurador, chamando para a mesma a atengao dos tecnicos e estudiosos do assunto, a fira de que, no menor prazo possivel, se vejam as sociedades de seguros habilitadas a proporcionar ao comercio e a industria, essa modalidade de cobertura, sem a necessidade de terem de recorrer ao mercado ressegurador estrangeiro.
Acreditamos que a causa principal de tais desistencias seja criunda do desequilibrio financeiro dessas pessoas, impossibilitando-as. desse modo, de manter seus seguros em vigor, mis ter dizer que, muitos outros fatores concorrcm para a luptura dos contra tos; assim, a grandc confianga dos segurados em sua saiidc, a ignorancia das verdadeiras finalidades do segurovida, etc.
Nota — No numcro anterior, passararn os seguinCes iapsos dc revisao, que pedimos anotar:
1') Foi omitido o titulo: RESERVAS MATEMATICAS MODIFICADAS:
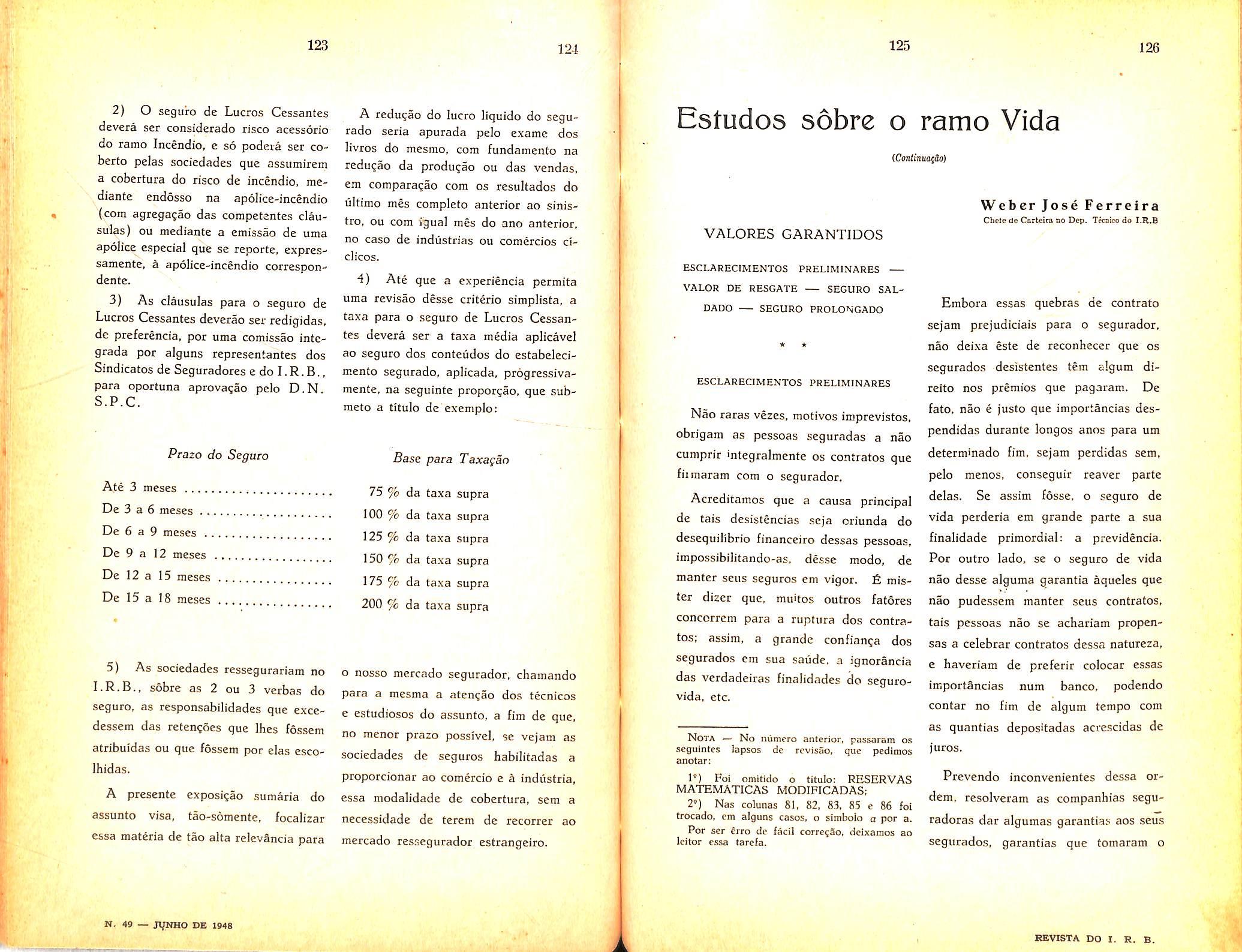
2') Nas colunas 81, 82, 83, 85 e 86 foi trocado, cm alguns cases, o simbolo a por a.
Por ser erro de facil correcao, deixamos ao leitor essa tarefa.
Erabora essas quebras de contrato sejam prejudiciais para o segurador, nao deixa este de reconheccr que os segurados desistentes tern algum direito nos premios que pagaram. De fato, nao e justo que importancias despendidas durante longos anos para um determ'nado fim, sejam perdidas sem, pelo menos, conseguir reaver parte delas. Se assim fosse, o seguro de vida perderia em grande parte a sua finalidade primordial: a previdencia, Por outro lado, se o seguro de vida nao desse alguma garantia aqueles que nao pudessem manter seus contratos, tais pessoas nao se achariam propensas a celebrar contratos dessa natureza, c haveriam de preferir colocar essas importancias num banco, podendo contar no fim de algum tempo com as quantias depos'tadas acrescidas de juros.
Prevendo inconvenienfes dessa ordem, resolveram as companhias seguradoras dar algumas garantias aos seus segurados, garantias que tomaram o
123
124
N, 49 — jyMHO DE 1948 125 126
Weber Jose
Cbelcdo Cartcirs ao Dep. Tkaico do I.R.B
REVISTA DO I, R. B.
nome de cvalores garantidoi das apolices®.
Estipularam ainda os seguradores, que so terao direito a esses valores, aqueles que tcnham page integralmente pelo menos tres premies anuais: isto quer dizer que nao terao ber.eficios os N que cancelaram seus contratos durante OS tres primeiros ands.
Ja 'foi ventilado em artigos anteriores, que os premios constanfes, a medida que vao sendo pages, vao formando um certo capita! denominado RESERVA e, relembrando, devemos dizer que essa reserva pertence ao segurado. ou melhor. e propriedade da massa de segurados.
Desta forma, quando um segurado por qualquer circunstancias se ve forgado a nao continuar o pagamento dos premios. tera tecnicamente direito a essa reserva. que foi constituida pclos premios que pagou; mas, se o segurador Ihe conceder a reserva inteira constituida, estara beneficiando um, em prejuizo da coletividade e de si pioprio- Por isso, nao se pode aplicar rigorosamente o criterio tecnico nessas liquida?6es: deve ser levada em conta a parte comercial do seguro. De fato, o segurador deve ser indeni'.ado pelas despesas de aquisi^ao nao amort'zadas.
Pe]o exposto, conciuimos que, de um mode geral, os segurados c'esistentes nao fern direito a reserva integral cons tituida.
As pessoas seguradas que rescindirem seus contratos por falta de paga mento dos premios. (*) terao suas apolices «resgatadas» ou transformadas em outras de «valor sa!dado» ou ainda OS seguros primitives, sub.stituidos por outros chamados «prolongado.s».
Dizemos que uma apolice e tesgatada, quando depois de ser rescindido o contrato, o segurador se desobriga dos seus compromissos em vigor, pagando ao proprio segurado uma' determinada quantia denominada «va)or de resgate» da apolice. Esta transagao far-se-a para os seguros que tivere.m, no minimo, tres anos de vigencia sem interrupgao. e deve ser nedida pcio proprio segurado dentro de um prazo preestabelecido a contar do vencimento do premie nao pago.
a concorrencia entre os seguradores • fe-lo difundir-se.
. Hoje o resgate e um direito que assiste aos segurados, sendo regulado por lei em diversos paises.
Ja tivemos a oportunidade de ventilar antes, que sob qualquer ponto de vista — moral ou juridico — o se gurado tera direito ao reembolso, nao dc todos os premios pages, mas da parte que ainda nao foi consumida pelo risco durante os k primeiros anos de vigencia do contrato: podemos concluir dai que o valor de resgate e sempre tnenor do que a totalidade dos premios pages, e teoricamente, no maximo, e igual a reserva matematica.
vantagens para ele, dando-se ai o que se chama de «anti-sele5ao».
Pelos motives expostos, os segura dores nao dao valor de resgate as apo lices emitidas em pianos de seguros em case de vida.
Em alguns seguros em case de morte, OS seguradores tambem se recusam a dar 0 valor de resgate, por exemplo, os seguros temporarios de n anos.
Em geral o valor de resgate e igual a «reserva matematicas modificada, isto e, reserva em que se levam em conta OS gastos de aquisi^ao; assim, chamando de «R» resgate de um se guro no seu k"'"® ano de vigencia, temos:
= (166)
onde V e a reserva modificada.
O direito de um segurado de resgatar sua apolice resulta da propria natureza do contrato do seguro. A historia da ciencia atuarial nos revela que na origem dos seguros de vida, os seguradores nao concediam acs segura dos o direito de resgatar suas apolices e, somente cm 1776 surgiu pela primeira vez, implantado pela <;EquitabIe Societys da
Em artigos anteriores ja foi visto que a apolice de seguro de vida comporta, de um mode geral, uma reserva matematica em qualquer memento de sua vigencia; porem, nem todos os pianos dao direito ao valor de resgate pelas razoes que passamos-n expor:
Lembremos a formula (162) e tomemos x para a idade inicial; a igualdade (166) ficara •

Dai em diante.
Assim, por exemplo, se os seguros dotais puros, que sao pages, por sobrevivencia dos segurados, dessem di reito ao resgate, todas as pessoas cuja saude estivesse abalada e prcvissem morte pr6xima, procurariam imediatamente salvar uma parte dos premios pagos, resgatando suas apolices.
As hipoteses estatisticas do piano sobre as quais o segurador bascou seus calculos, seriam inaplicaveis com des-
kR,=kV', kRx=kV'x —tt' flx-l-k
onde a representa a despesa de aquisi^ao.
O valor de resgate e comumente, no Brasil, uma percentagem da reserva matematica pura, variando essas percentagens conforme os pianos, o numero de anos de vigencia dos seguros e de segurador para segurador e este valor garantido scr4 usado, se os pro-
127
128
VALOR DE RESGATE
Inglaterra.
N. 49 — JUNHO DE 1948 129 130
(*) Estamo-nos referindo apeaas aos con tratos a premios anuais, porque os seguros a premio linico so poderao dar motivo aos va lores de resgate.
SEVISTA DO I. R.. 8.
cessos atuariais para o. calculo dos mesmos tenham sido aprovados por lei.

A percentagem da reserva pura e sempre crescente com o numero de anos de vigencia, ate atingir uma certa taxa inferior a 100 % (*); e a percen tagem minima comumente emprcgada e a de 60 %, correspondente ao resgate no 3.° ano de vigencia.
SEGURO SALDADO
Antes de encetarmos o estudo tecnico desta garantia. faz-se necessario um esclarecimento; o seguro saldado e conhecido internacionalmente como «ap6lice liberada». Uma apolice liberada, e uma apolice livre de pagamento de premies futures.
Uma apolice sujeita ao pagamento dc um «premio unico», ou um seguro «vida pagamentos limitadosx. depoia de cessar o pagamento dos premios € tambem considefada uma «ap6lice liberada». Na pratica este nome c empregado quase que exclusivamente para OS cases de seguros em que os premios periodicos forem interrompidos.
A fim de vitar mal-entendidos, usaremos daqui por diante a cxpressao «seguro saldados para esses «seguros concedidos» por for^a de interrup^ao de pagamento dos premios.
(*) O crit^rio e'xplanado acima € o empregado pela.'maioria das sociedadcs brasileiras. mas hS sociedades que, a prrtir dc um dcterminado numcro de anos de vigencia, dSo a reserva Jnttira.
Se um segurado nao desejar liquidar definitivamente a apolice, resgatando-a.
e ao mesmo tempo nao quiser continuar
0 pagamento dos premios, o capital da referida apolice ficara automaticamente reduzido a um valor menor; e como se tivesse liquidado o seguro primitive e feito um novo de valor reduzido e a premie unico. Sste seguro tern o nome de «seguro saldado» e so e concedido quando tivcrem sido pages pelo menos tres premios anuais.
O valor do seguro saldado e sempre maior do que o valor de lesgate; e calculado matematicamente, considerando-se o valor de resgate como o premie unico, do seguro.
Representaremos este valor garantido pelo simbolo W. Os ingleses pieferem o simbolo (FP). abreviatura das palavras «free policy» que significa apolice liberada. Sprague e M. King dizem que o simbolo W deve ser empregado s6, e nao, combinado com outros simbolos (tais como A ou a), salvo em casos de opera?5ss complexas, onde podera haver confusao.
O valor do seguro saldado e deter• minado pelo uso de uma proporcao, cujos tSrmos conhecidos sac o «capital segurados, o premio unico do seguro no ano e o «valor de resgate tam bem no k"'"" ano».
Gom base nb piano ordinario de vida, fiUponhambs que uma pessca tcnha feito o seguro com a idade x, tcnha
alcan^ado a idade x -j- k e por qualquer circunstancia tenha deixado de pagar os premios anuais.
Na idade x -)- k o premio unico do seguro sera Ax+k, que dara direito a um seguro de capital igual a 1 cru zeiro, Tendo o segurado deixado de pagar o premio. a reserva constituida j^Vx — ou resgate — sera tomada como o premio linico do novo capital kWx.
Assim, se para comprar um seguro de capital igual a 1 cruzeira e necessa rio pagar um premio do Ax+k cru zeiros, para comprar um de ^Wx tornar-se-a necessario pagar um premio de kV'x.
Portanto, teremos a seguinte propor9ao:
1 _ kWx Ax+k " kV'x '
tirando o valor dc k W x. teremos:
kV'x (167) kWx = du
kWx=
depois de decorridos 12 anos, correspondera a uma apolice saldada de 12 isWx::o= = 0.6=60% do capital
SEGURO PROLONGADO
Um segurado que nao queira resgatar sua apolice e ncm reduzir o ca pital a um valor saldado, podera solicitar do segurador uma prorrogagao do tempo de vigencia, no caso de nao poder continuar o pagamento dos pre mios,
Desta forma, o seguro primitive se convertc em um outro denominado «seguro prolongado». Neste caso, o ca pital continua igual ao primitivo, o piano se transforma num temporario e o prazo de vigencia e menor que o estipulado para o primeiro seguro, estando em fungao do numero de anos de vigencia da apolice anterior.
Ax+k kRx (167') Ax+k
Outros seguradores prcferem calcular o seguro saldado pela propor^ao existente entre o numero de anuidades pagas e o total dos premios estipulados para o prazo do seguro, correspondendo a uma fra?ao do capital primitive, n Assim em um seguro «vida mteira com pagamentos limitados por 20 anos».
Como nas o'utras garantias comentadas anteriormentc, esta op^ao, s6 sera concedida se o segurado tiver page pelo menos tres premios anuais.
No seguro prolongado, a reserva constituida — ou o resgate — e usada como o premio unico de seguro tempo rario, no qual a incognita e justamente sua duragao, que chamaremos de Essa dura^ao e comumente encontrada em fun?ao de outros premios unices de seguros temporlirios, desde que se apliqiie uma interpola?ao linear:
131
132
•K. 49 JVNHO DE 1948
13;-
134
SSVlSfA DO I.
13G
ou tambem podera ser determinada cm fun^ao dos valorcs de comutaqao.
Assim vejamos.
Dissemos antes que a reserva constituida ficaria sendo o preniio linico do seguro prolongado, que nada mais e do que um seguro temporario; teremos entao
kV'x=A\+k;r!:
onde k e a vigencia do seguro, tea dura^ao dO seguro prolongado.
Desejamos agora achar «t» e de antemao avisamos que mui raramcnte e um niimero inteiro.
£ste periodo «t» em geral fica corapreendido cntre dois outros que sao numeros inteiros c consecutivos os quais denominaremos de «r» e «r + is.
Desta forma «r» representara a parte inteira da duragao desejada e devera ser adicionada a fra^ao « 6 » que completara, portanto, a dura^io «t»:
t= r+5
Precisamos encontrar «{ ».
Pelo exposto acima concluimos que
r<t<r+l: podemos entao escrever que
A'i+k:7 ; A'x+k:t A'i+k;,-+ V
Como a diferenga entre A'^c+t^+ij
corresponde ao periodo de 1 ano, a diferenga entre
A'x+k:t| e
A^X+k:7|
correspondera a um periodo menot que 1 ano. oit seja, igual a S . Resu!tara dai a seguinte proporgao:
A'x+Ic;;4-1 A'..t+k:f ; 1
A'x+k:ri ~ A'x+ktri 5 Tirando o valor de 6 encontraremos a fragao do ano desejada:
A^x+k-f+l —Ax+krrI
Para encontrar o valor de 5 em fungao dos valores de comutagao e bastante lembrar que
DADOS ESrAT/ST/COS
SEGURO-ACIDENTES PESSOAIS
kV X —A'x+k;l : =
V' _Ai - Mx+k —Mx+k+t
DxH-k
Eliminando o denominador da fragao, teremos
Dx+k-LV'x=Mx+k —Mx+k+t. donde
Mx+k+i-Mx+k~Dx+k'kV'x
Os valores de comutagao, ao contiario dos de premio unico, vao decrescendo; assim, como r< t <r-|-l, podemos escrever que
Mx+k+r>Mx+k+t>Mx+kH-r+l
Aplicando o mesmo raciocinio usado anteriormente para determlnar a fragao por meio da interpolagao, teremos o seguinte resultado:
Aprcsentamos neste nuraero as apuragoes estatisticas relativas aos seguros Acidentes Pcssoais no ano de 1945.
Essas apuragoes incluem as apolices com inicio de vigencia em 1945 e todos OS endossos de renovagao, cancelamentos ou alteragdes ocorridos nesse periodo.
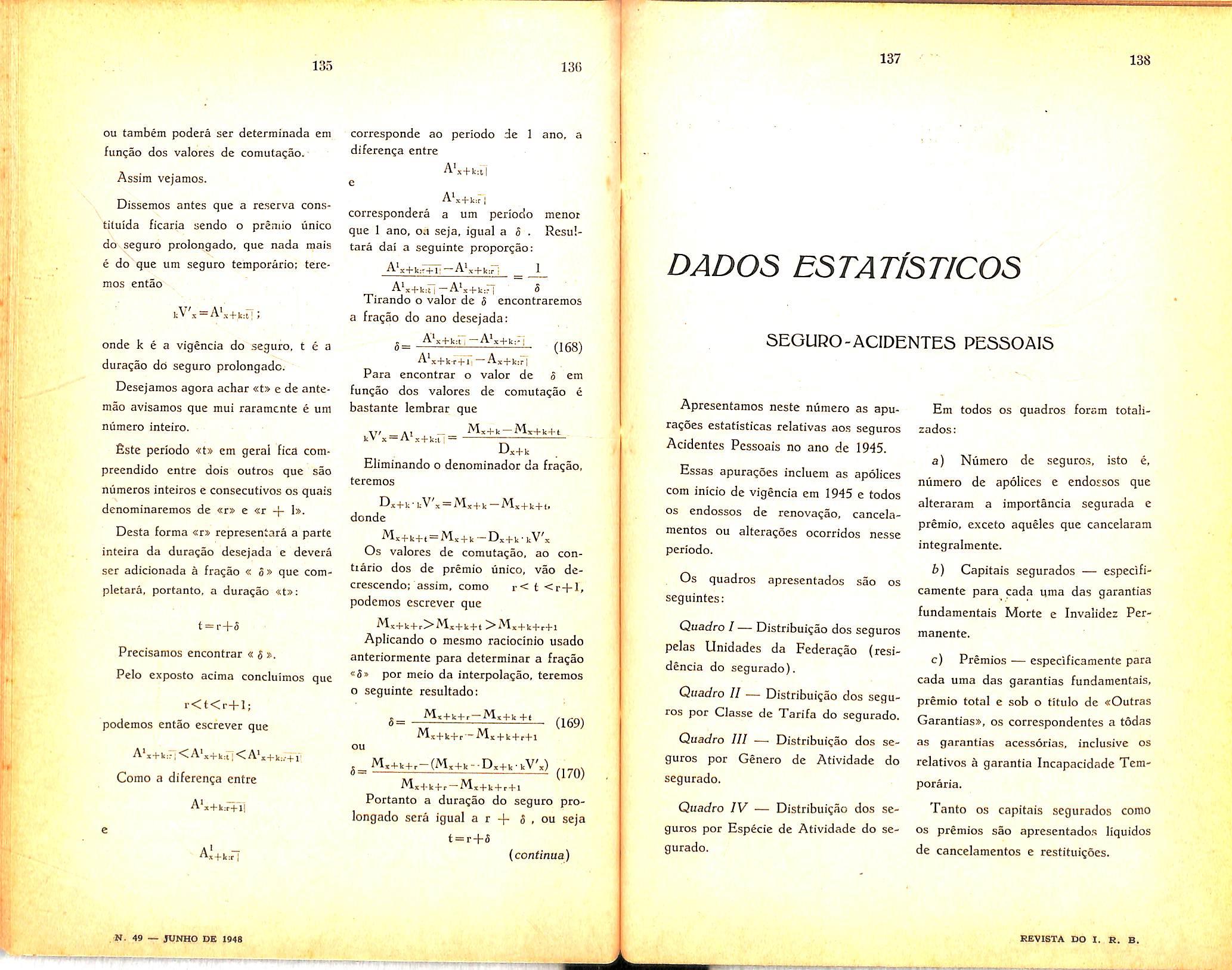
Os quadros apresentados sao os seguintes:
Quadro I — Distribuigao dos seguros pelas Unidades da Federagao (residencia do segurado).
Em todos OS quadros forsm totalizados:
a) Numero de seguros. isto e, numero de apolices e endossos que alteraram a importancia segurada e premio, exceto aqueles que cancelaram integralmente.
b) Capitals segurados — espccificamente para cada yma das garantias fundamentals Morte e Invalidez Pcrmanente.
Quadro II — Distribuigao dos segu ros per Classe de Tarifa do segurado.
Mx+k+r~(Mx+k --Dx+k- kV*x)
Alx+k+r —Mx+k +t 5 (169) = Alx+k+p —Mx+k+p+l ou (170)
MxH-k+p —Mx+k+ p+1
Portanto a duragao do seguro pro longado sera igual a r + 5 , ou seja
t=r-|-5 (cortrinua)
Quadro III —• Distribuigao dos se guros por Genero de Atividade do segurado.
Quadro IV — Distribuigao dos se guros por Especie de Atividade do se gurado.
c) Premios — especificamente para cada uma das garantias fundamentais, premio total c sob o titulo de «Outras Garantias», os correspondentes a todas as garantias acessorias, inclusive os relatives a garantia Incapacidade Temporaria.
Tanto OS capitals segurados como OS premios sao apresentado.s liquidos de cancelamentos e restituigoes.
135
e Ai+k:,"]
S= A'x+k:i--A'x+k:7|
•N. 49 — jrUNHO DE 1948 137 138
REVISTA DO I. R. B.
Transcrevemos abaixo um resume dos dados referentes aos anos de 1943 e 1944 publicados, rcspectivamente. nas
kevistas 26 e 45 do a fim de podermos compara-los com o movimento de 1945.
Observa-se que as operagoes no ramo Acidentes Pessoais continuam em 1945 em desenvolvimento, muito embora tenha diminuido a percentagem desse aumento.

Analisando-se o quadro I encontrarse-a, num total de 90.867 seguros, a importancia de Cr$ 23.89j3.522,10 de pr^ios totals, dos quais apenas 11 se guros com Cr$ 13.961,20 de premios correspondem a segurados residentes no exterior.
Foram, portanto, efetuados no Brasil 90.856 seguros com um montante de Cr$ 23.876.560,90 de preraios totals.
As unidades federadas onde se ncontra o maior niimero de seguros sao:
Sao Paulo
Distrito Federal
Minas Gerais
36.8 %
28.4 % /C
No quadro II notar-se-a predominancia de seguros nas classes de tarifa 1, 2 e 3, o que vem demonstrar preferencia pelos melhores riscos nas carteiras das Sociedades.
No quadro III os dados se apresentam distribuidos por Generos de Atividade exercida pelo segurado e nota-se que as Atividades de Transagao com 44.0 %, as Atividades de Transformagao Secundaria com 12.4 % e as Profissoes Liberals com 11 ,2% sac os que apresentam maior freoiiencia de seguros.
No quadro IV encontrar-se-a, em pormenores, a especie de atividade do segurado, e podera ser observado que, nas Atividades de Transagao, os se guros de maior frcqiiencia se distri-
O movimento referente a 1946 ja se acha na fase de apuragio e muito breve esperamos poder publicar os seus resultados.
139
140
de 5egutos Capitals segurados: Morte Envalide: Permaaente Pr^mlos Ilquidos; Morte Invalider Pettnaaenle 1943 67.867 1.801.121.700,00 2.697.038.900,00 4.105.053.70 6.181.004.90 I0.286.71S.60 1944 83.150 2.450.806.500.00 3.672.661.500.00 5.890.205.10 9.106.582.50 14.996.787.60 1945 90.867 3.147.358.400,00 4.552.532.800.00 6.873.519.70 10.210.925.50 17.084.445.20 Aumenio Aumento 1944/43 1945/44 22.52 36.07 36.14 43.17 47.33 45.79 9.28 28.42 23.96 16.66 12.13 13.92
M 49 — JUNHb DB 1948
buem da seguinte maneira: Comercio atacadista 33.0% Comcrcio varejista 21.8% Bancos, Casas Bancarias e Caixas Economicas ... 14.9% Empresas de seguros e Capitalizagao 14.0%
1 c UJ a <A iLi h7. < U A O U o a 3 2 S CC V ts,«A sOo cAo PV ^ Ps. — {^.v» ^I. <*4 .0 K «0 C' ts. o (^ — qC f-t ^ V SO © "T?• &^^ lA r cC VN rs ^ O 40 O t C r4 tv IS ^ c o ^tsQ -f 4^ o©o©© v» rs-* ^ © gss © © •* 0 © P-s © — CC CO rs rs CO© -* ©<-* CC rs — — © -f Vs PPN s © Ps 0 pw © © PS PS IsX p-s p-t © — © p-« rs S PS 8 CO P-I pS 0 © S8§g S2$SS2Sg 030SOCO o=c w w www cro © fM «o«^o ^ 1-1 nO©oce?vs •. t. «f—Is.o "T ps © &> — sCr-. ccOr4©<s—VS© Pvrs X rx ^(30 IS l-t rs^ ^ Ps © ps,(s, ^C^WCO(P^V•^ V f K p-t >0 © © KcCf^ — V* © O © sCp • — PS — PS © p-<©'<rsrs US©^s— © CO PS — o © — p-t © —-r ©©P*»Ps— p-^©-^ © © — © fs © Vn fPv p-s f-< o o •f ws © " CO ^ IS ?: 9 ©0© © V\© ©o©©©©©© *'rs©r'-kr^Or->>^ 0 © © 0 © © © rs0rsfs ^r^ PS Ps 0 CC •r rs© © © ©"- — rs©©psrs vsps ors *rT«-^ rs-r©oook^cO© 0 ©— ©^r © © — P-t © © © © 0 © p'x© "Trs p-i = 1 ts I'' CO ©Cpsw^© — a-© ©rsp-tpA-tkpN© •r< » 0^ ©<^p- •* © ^ krtpr © © PS rs rs © — 0 CO©OC ^-CCK ^ fs <s PS p-i 000 0 s-5 © -* rsfs 0 rs ts (© -t r-5 © © © 5 PS «rt s© © •f r-t 'C' ts « © © S®=SOO©© oo©o©coo 0©0©OOO0 TOOOPxwsO© s. © ©o ^o © o )o© © o < w ^^ © O © © Cj PS© '^ © fS (30 © IS, P'X—(© o -t — © ts.ts f-t rs © © ©©(/^©© © CO © PS © fsco*^^^©— rsrsvNVv^ © -t © Q o3 PS rs © ux »f. M © — O PS © •* PS ^ — fs PS P-t P-t P-4 _ CO —StN^©© o — rS — p*. sss s s © © O CO © V ^ r4 © ^ N. p^ O P-4 © PS © © 8 © ©. ococ o © o_© ©SCO 5828 Pso ©© a oooc 7 c © o e )O ©o oo © >Occ©o5o O O ©tsO K o ••'K*CC<©PStSP*s ©—PSP-,(XI Psf-, PSP-,(Xl © SSSSSSS Si sggg'sss 81 ~©^©ts — P-1 P-t(-t-T©COlS ^S © (-N rs —' rs. © p-N PS PS p-i i» 00 p-^ rs V-rs PS © ^ t •* K P-i p-i © 00 K <0 -T — rs ip\ © r-s C OC ^ C © ^(* • rs rs fs O V © © o CC «r>ps 30 ■CO ©Or-4 p-i CO 30© rS <S © © 8 8 •f © ^ O © IS rs rs© r'% t — :?— —" o f, t.. o c .c t « rs kck/ fs. lo rs o. t-« rs i-i © rs «r^ ©^0P^©© © rS rs © <r v^ kr, © © ^ Kp-t rs PS 8 B ia S S "O 3 u e S e g| o-i .3.2 s5 S £3 5fl.U''Q.ll.< .j«ul i0 £ S si'H •O'C .2 3 A ea 0 .£•0 CC 2*8 j3^(3 I c eO ac II lu "2,3 16 < s H .& ■3 2 <0 1? ll 0 0 >0*0 M M ll %% >.i VI M 3 3 Is REVISTA DO I. R. B.

-O .n >-» lO A l» SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DISTRIBUIQXo DOS SECUROS PGR CLASSE DE TARIFA DO SECURADO QUADRO N." 11 InIcIO DE ViGENClA EM 1945 CLASSE DE TARIFA N.® DE SECUROS CAPITAIS SEGURADOS PREMIOS MORTE INV. PERMANENTE MORTE INV. PERMANENTE OUT. CARANTIAS TOTAL 42 271 1 688 414 900,00 2 383 253 900,00 2 749 029,60 3 923 587,50 2 474 100,00 9 146 717,10 28 565 882 601 400,00 1 304 935 000,00 2 02! 740,70 3 076 746,50 1 975 532,80 7 074 020,00 7 862 270 047 100,00 414 912 900,00 804 883,20 1 271 560,20 684 922,50 2 761 365,90 } 405 90 546 700,00 138 081 600,00 299 356,50 476 090,40 341 247,30 1 116 694,20 5 295 133 294 400,00 196 088 600,00 509 186,20 771 303,90 567 652,60 1 848 142,70 2 077 50 735 400,00 71 144 400,00 251 242,80 357 914,60 487 433,50 1 096 590,90 7 616 12 222 •400,00 17 580 800,00 74 818,40 109 064,10 no 481,60 294 364,10 8 776 19 496 100,00 26 535 600,00 163 262,30 224 658,30 164 706,60 552 627,20 TOTAL 90 807 3 147 358 400,00 4 552 532 800,00 6 873 519,70 10 210 925,50 6 806 076,90 23 890 522, 10 SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DrSTRIBUl^AO DOS SECUROS POR CENEROS DE ATIVIDADE DO SECURADO < I o o « S) QUADRO N.® Ill INICIO DE-VIGENCIA EM 1945 CENERO DE ATIVIDADE DO SECURADO Atividades PrimSrias Acividades de Transformagao PrimSrias Atividades de Transformagao Secundarias Atividades de Transagao-. . Atividades de Comunicagao e Transportes Acividades de Assoclagao, Educagao c Culcura. Diversoes Atividades de Govgrno c Administragao Profissoes Liberais Diversas Acividades Nao espccificadas TOTAL CAPITAIS SEGURADOS PREMIOS N." DE SECUROS MORTE INV. PERMANENTE MORTE IN'V. PERMANENTE OUT. CARANTIAS TOTAL 5 685 208 053 200,00 304 385 200,00 698 052,30 1 059 497,70 485 416,00 2 242 966,00 8 777 317 052 500,00 430 219 200,00 771 064,90 1 07O 771,80 1 153 932,00 2 995 763,70 11 226 351 979 700,00 490 174 500,00 721 455,80 1 05O 157,80 1 010 832,70 2 782 446,30 39 947 I 369 483 400,00 I 996 469 900,00 2 681 939,50 4 042 192,70 2 341 830,70 9 065 962,90 2 246 82 862 800,00 118 338 700,00 215 809,50 288 046,90 149 821,70 653 678,10 2 303 61 609 300";00 89 510 300,00 107 911,60 173 175.00 14! 684,30 422 770,90 5 851 10 149 4 104 574 158 331 700,00 444 644 000,00 141 781 300,00 11 560 500,00 240 477 100,00 665 909 500,00 199 859 400,00 17 189 000,00 293 514,40 1 004 450,60 376 256.50 3 064,60 436 10<,80 1 546 959,30 534 487,10 9 531 ,40 248 419,30 762 758,20 451 521,40 59 860,60 978 039,50 3 314 168,10 1 362 265,00 72 456,60 90 867 3 147 358 400,00 4 552 532 800,00 6 873 519,70 10 210 925,50 6 806 076,90 23 890 522,10
AUvidades ^rinwri,i:
Agricultiira
CriOQao
Acricultura e uriacRo
Caya c pcsca
lodustnB extratT\-a vegetal
Industria extrativ.i mineral
Bcneficiumento de produtns allntentk-jDS
Altpidadt^s de Irurtj/yrniaftTo flrimdriaj
Indi'islria dc madeira
Indusiriu tixtil
Industria mctalurgica
Industrie tjuimica.
Indu^tria dc papel e cong^ncrcs
InJustrtn de cerflmlca c congfnercs.
Industrie de couros e pclcs
Induscria da horracha c cungCneres
Jndustria de dleos vegetals
AUoidades dp trafisjormitfao s:cunddrUis
Nuo cspecirtcados
Industrie da arte e luxe
Industrie da confcccuo c dn vestuarin
Indus'riu do mohili^rlo c art- de madeira.
industria dc produtiis alimcnticios e cstimu
lantes
Industria de aparclhainento eliirico Industrie de prrsdutos farmaccuticos c pcrlu'
de aparclhamentu agricolQ e induS'
(mkquinas)
AUtiidades dp lranta(fio
Niin especificadas
Comfrcio ntacadista
Cofr6rci'» vurejista
Com8rcio varejista (ullmcnc c subsist )
ComSrcio varejista (asseio e helcza)
Bancos, Casas Bancartas e Caixo EconOmIca
Emprfisas de segurn c capitalita^ao
Mcrcados e bolsas
Escril6rics cnmerciais
Oficines mccuntcas
Alividadet dc comunicofSo e Iransporlcs
Niio especificadas
ComunicacOes cm gcral
Correins Telegrafia e radintclegrafia
Telefonia e radiotelefonia
Transporccs em geral
Transpurie.s terresires
I ranspnrtes acjuaticos
Transpfirtes afircos
AUvidades de assixiacdp, educafao ccullura
Divendex
NOo especificadas
Assoc. e clubes desport e recreaiivtis
Assoc. cieniif., eulturais e sindicais
Ensino em geral
Atividades artlsticas(pintores, cscultores, fot6grafos, etc.!
Atividades artlsticas (cantorcs, dcns.trinos
artistes em gcrall
Atividades desportivas (ailetas,.jogadores pro fissionais, etc.)
Cinemas, tcatros. cassinos, etc
Asilos, bospitais, ambulatdris, etc
AssociafSes de beneflcincla

QHADRO IV SECURO ACIDENTES PESSOAIS UISTRIIIUICAO IX)S SECUROS POH ESI-CciE DE ATlVICiADE
SECLRA.X) I .§ g IMfciO D8 VICENCIA EM 1945 HSPCCIE
ATlVrOAD!-:
SECJURADO DE SECMRDS CAi'lTAlS SECURADOS
DO
DE
DO
marias Industria
trial
Industria
Industria de aparelhamcnro
tifico e comercial I 441 395 I 263 13 116 762 1 005 46 795 400,00 14 186 000,00 40 603 500,00 440 000,00 4 400 000,00 3 5 770 500,00 56 675 800,00 IrtV. HCRMANENTE 489 17 712 000,00 2 420 86 227 400,00 1 548 55 088 700,00 2 026 75 857 500,00 435 14 172 700.00 473 17 280 500,00 797 29 998 100,00 332 11 36! 000,00 257 9 334 600,00 495 15 917 700,00 632 22 1 30 600,00 I 090 28 083 000,00 883 24 759 700,00 I 377 54 890 500,00 I 020 29 142 400,00 3 531 .104 242 100,00 224 8 377 500,00 1 261 43 648 800,00 713 20 787 400,00 71 824 900.00 21 460 000,00 75 216 500,00 400 000,00 7 380 000,00 51 585 000,00 76 30<) 800,00 26 781 114 826 79 114 96 565 20 358 23 969 42 150 14 823 11 611 000,00 900,00 000,00 000,00 200,00 500,00 000,00 000,00 t-00,00 22 407 300,00 31 538 300,00 42 014 500,00 36 099 700,00 75 785 000,00 38 122 600.00 140 172 700,00 15 021 700,00 60 508 800,00 28 505 900,00 PRlvM10§' 195 477,60 56 136,50 219 149,40 2 161 ,20 25 231 ,80 79 251 ,20 120 644,60 69 809,80 210 224,00 140 838,10 158 14!,50 30 422,70 37 450,30 75 153,30 25 477,70 23 547,50 33 734,10 48 899,70 59 006,50 85 485,70 122 111 ,30 57 302,00 171 629,40 23 138,70 8! 557,10 38 591 ,30 INV. PERMANEAJTE out. DARANTIAS 312 973,30 85 269,80 342 465,20 2 529,90 44 946, 10 101 108,411 170 205,00 108 629,30 287 181, 10 196 200,80 207 205,50 45 943,40 54 181,50 107 591,50 34 390,00 29 448,70 44 982,10 70 871,90 87 162,70 115 708,70 180 034,70 75 651,20 238 072,30 39 900,20 122 369,20 55 404,80 123 247,40 20 982,90 119 125,70 816,60 14 185,20 48 484,60 158 573,60 65 814,00 400 427,20 235 813,00 218 125,50 46 444,60 44 581,20 77 156,50 13 289,50 52 280,50 27 582,50 52 321,20 I16 437,40 88 088,10 108 618,50 162 858,70 295 182.20 50 085.80 90 747,20 68 911,10 631 698,10 162 389,20 680 740,30 5 507,70 84 363, 10 228 844,2(1 449 423,20 244 253,10 897 832,30 572 851 ,00 583 472,50 122 810,70 136 213,00 259 901,30 75 157,20 105 276,70 106 298,70 172 092,80 212 606,60 30S) 282,50 410 764,50 295 811,90 704 883,90 113 124,70 294 673,50 162 907,20 QUACwo
ESPilCIE DE ATIVID,\Di: DO SEGURAIXI 9 I CO g o o a) B N." DE SEttUROS CAPITAIS .Si:<;URADO.S
grfifica
domfesilco. cien'
N.R tv — ContinuacSo
13 17 6 178 8 697 443 197 5 962 5 535 350 4 133 1 396 1 1 32 48 1 150 112 484 253 165 1 62 311 188 188 637 102 583 175 61 INV. i'ERXrANENTE PRIZMKI.S 175 442 161 311 550 13 835 4 621 198 '198 177 547 18 016 167 4>X. 35 080 ,000,00 100,00 900,00 000,00 500,00 400,00 400,00 500,00 800,00 800,00 40 000,00 10 000,00 873 5(X),00 3 614 500,00 29 436 700,00 4 877 000,00 27 078 200,00 8 149 800,00 8 783 100,00 25 000,00 1 479 300,00 9 009 000,00 3 770 000,00 5 495 000,00 18 423 000,00 961 000,00 16 890 500,00 3 7s5 500,00 I I 000,00 255 628 428 454 382 20 263 7 777 294 854 258 421 30 044 247 290 54 753 000,00 100,00 100,00 000,00 000,00 600,00 700,00 500,00 {>00,00 300,00 {>0 000,00 40 000,01) I 218 500,00 4 447 0(K),00 42 742 700,00 7 433 500,00 38 447 100,00 12 472 800,00 H 477 100,00 30 000,00 1 97) 300,00 13 578 000,00 6 665 000,00 8 981 000,00 27 400 000,00 1 396 000,00 2! 897 500,00 5 242 500,00 2 347 000,00 INV. PERMANBrSTE OtJT. UARANTl.tS 293,50 437,80 872 913,90 I 298 678,40 720 872,70 1 074 670,30 28 178,70 43 640.70 13 936,20 18 018,00 318 024,20 488 809,30 260 704,60 395 672,80 22 361,40 35 909,70 314 966,20 477 381 ,50 129 688,10 208 974,20 384,00 576,00 15,00 (■0,(8) 1 478,30 2 541 ,7(1 4 244.10 5 057,40 08 820,40 57 766,00 l7 791 ,30 28 529,30 61 080,30 128 346,t^O 39 055,10 28 976.80 42 94! ,00 36 193,Id 100,00 120,00 2 894,80 3 980,70 85 144,70 32 948,20 7 006,30 12 109,00 15 509,20 26 799,50 23 352,30 33 595,10 6 024.90 11 189,.50 25 834,50 35 631 ,90 9 061,60 12 888.30 2 963,30 3 912,80 130,60 909 018,80 4N) 028,70 34 308,70 4 599,70 274 919,50 288 723,70 5 477.50 243 665,10 110 958,40 60,00 15,00 HW.OO 7 951,00 29 522,10 15 356,00 72 808,00 12 750,70 HI 249,90 380,00 3 688,00 15 014,80 6 497,90 12 490,60 48 162,60 3 021,10 44 862,40 3 343,70' 4 223,20 861,90 3 080 611 ,10 2 255 571,71) 106 128, 10 36 553,s)0 1 081 753,00 945 101,10 73 748,60 I 036 012,80 449 620,70 I 020.00 90,00 5 129.00 17 252,50 126 108,50 61 676,60 292 234,90 M 782,60 89 384,00 <>0f),00 10 563.50 63 107,70 25 613,20 54 799,30 105 110,00 20 235,50 106 328.80 25'313,60 11 099,30
coccooooeo sOtvio©rJcC«rvo5rs. —eo95«^^ — O©o •«— ^ fS <» o o o ^ooooooo ot-v — ^O'-^ec© ^(»©p^r'*Cvv-so© O^tSv^©—-OtN
Inslitnto ixto Argendno de Reasegiiros
•"©coo© — ©rs,cc«s»i'©^|s.co«^ ©^OOO©'-©'^© O^'t-r Or4rs.ce<vj iNCM r4 -f cs
•-s0^fiO^<Ov.^^fsl •^ K.'AVn^ sO©^-T
Estiueram entre nos por alguns dias, estudando o mecanismo das operagoes do I.R.B., os senhores Jose Alocen e Luis F. Orcoyen, respectiuamente, Membro-Diretor e Gerente do Instituto Misto Argentino de Resseguros e Ricardo Requejo, Vice-Presidente da «Scgutos Aeronauticos Comcrciah e encarregado de elabotai o piano de operagoes do Instituto no ramo aeronautico.

ggssgggg O cO vn © oo oo oo Ols.fs.co-«S»»J-^0 CO — ^rocor^'^Pv K»f^ r^p-<»
FINALIDADES
O I. M. A. R. tern por finalidades precipuas:
a) Operar em resseguro com o monopolio que Ihe faculta sua lei basica;
b) Dirigir a atividade do seguro em tudo o que se referir a absorgao do seguro indireto:
c) Propor as sociedades a implanta^ao de novos raraos:
d) Assistir o Governo em tudo o que se refere a sua especialidade, devendo ser ouvido em todos os assuntos atinentes a institui^ao do seguro no pais.
Or^ s. 5000000C 5©o©ooo2 3O'^C0OOK»< OO oO CO pn fs
Os visitantes observaram demoradamente, em todos os pocmenores, o funcionamento do I.R.B., principalmente a parte referente aos ramos vida e aeronauticos. carteiras com que pretende o Insti tuto Argentino iniciar luas atividades.
•f^'NNO'^ ^©»-s eo^w-.i^o o-*^ OKCCP-^ON.Ors»
«^coors]VMAf>Nrs.^ 9pAr^i>^^rACO^cO
Aproveitando o ensejo que se nos oferece ao registrarmos tao honrosa visita, oferecemos a seguir um resumo dos principais aspectos do Instituto Misto Argentino de /?es5epuros, cujas operagoes deverao ter inicio em principios de julho vindouro.
O I.M.A.R., criado no ano passado pelo governo da vizinha Republica do Prata, e uma sociedade de economia mista, que se rege por leis proprias e pelas disposi?6es gerais do codigo de comercio. relativas a sociedades anonimas.
Alem disso, quando o Instituto considerar necessaria a ado?ao de novos pianos ou ramos de seguros, ainda nao explorados no pais, e, tendo proposto a sua explora^ao as companhias, estas se recusarem a aceita-la. podera, entao. em caratcr de exce;ao, intervir como segurador direto dessas modalidades, mediante previa audiencia da Superintendencia de Seguros.
A autorizagao para funcionamento de novas companhias, argentinas ou estrangeiras. esta tambem sujeita a previa audiencia do I. M. A. R.
Toda a atividade do seguro e resse guro, entretanto, inclusive a desenvolvida pelo I.M.A.R. esta sujeita ao regime legal da Supcrintendencia de Seguros.
CAPITAL
Seu capital 6 de 12.000.000 de pesos, cabendo 50 % ao Estado e 50 %
'i 'i I c i3 3 0O Q < a, D O UJ t/1 < Ifl < u V I a a D 'j == a Q < Q , 51 w o Q UJ <A So a. c/> LU >0 ^ O" n5n0>O rv v> C "»• v«i r^C O ^ ©<s» 00 © © o o o S rvc r>5 rj •* © S 888 S8S <SO WK «0 M ^ 2|s N. 49 —» JUNHO DB 1948
«^S—^s•^©^•^©©
rsi •» OOp-s©cO«»^ N CM .2 a £ c. S<' •> Ps. ^ » V» r O r>i of Pv Ovs— © -t V© C" 4 — ©O^'P-^OJ «^©p-Npv. ?©<*»©©—r c flO ^ "t P** © •*4 fiO 50 © •t o f*4 pp^ 3 ©or £©»• 04 r^cOrJV'Or^'-NO ©©©"^©rv.oo ©OOO©©©© oSoSoooS ©o^oZSp^o CO — 50p-'-^©M»r^ •4^vtvA©*'>^P4 O© O © © © © © © © © 5 © o © ©fp.© oC O rJ ^©'^sMPs.'PvlVP^ » — T© — —©-• ©®»-sK—©p^f-* tN »p« PS ©c M XN CO PO ii .5 ^ -s.ys ■I |8ll|ll Ji i f:sS=SE3.S-3-S S 7 w c 3 S ■Ji-0 1 u ■3 SiS n's J ts a E c 3 S 6 a-a <^>QlijCTOC.iuiiJ 5 i-siss.!!! I IIJIII.!! 153 154
HBVISTA DO I. R. B.
as companhias seguradoras argentinas. considerando-se como tais aquelas que tenham:
а) agoes nominativas;
б) tres quintos dos membios da diretoria, cidadaos argentinos:
t) pelo menos 3/5 das a^oes, em poder de pessoas fisicas argentinas ou pessoas juridicas que iguaimente satisiaqam todos esses requisitos.
A parte do capital cabivel as sociedades argentinas e distribuida em tres parcelas: 1/3 que sc divide proporcionalmente ao capital e reserves legais das sociedades: 1/3 proporcional a media dos premios arrecadados pelas sociedades no ultimo trienio: e 1/3 pro porcional a media das reservas tecnicas nesse mesmo trienio.
O reajustamento do capital dos acionistas privados e feito trienalmente, incluindo-se, entao, como acionistas, as companhias argentinas que se constituiram no periodo e excluindo-se as que tenham sido liquidadas.
DIRETORIA
O Institute e administrado por uma diretoria composta de um prcsidente e seis membros, todos eleitos ou escolhidos para um mandate de 4 anos, podendo ser reconduzidos.
O Poder Executive designa o presidente e 3 diretores, um dos quais com a fun^ao de vice-presidente. Os tres diretores restantes sao eleitos pelas sociedades seguradoras acionistas, em assembleia geral. Nao podem ser presidente nem representante do Governo quaisquer pessoas que exer^am cargo dc ad'mihistra^ao em companliia de seguros estrangeifa ou mesmo argentina.
A diretoria nao possui membros suplentes, sendo as decisoes tomadas desde que cstejam prcsentes quatro diretores. O presidente tern direito ao veto comum, e mais o de qualidade.
O presidente e, na ausencia dele, qualquer diretor, entre os designados pelo Governo tem o direito de vetar qualquer resolu^ao da Assembleia de acionistas e da propria diretoria, ficando a decisao em suspense ate pos terior julgamento do Ministro da Fazenda. que devera ser proferida dentro de 20 dias, pois, em hipotese contraria considerar-se-a mantido o veto. Apenas, quando o veto for invocado sob a alegagao de violagao de disposigoes legais expressas e que as sociedades acionistas poderao recorrer a justiga.
Dentre as atribuigoes da diretoria destacam-se as seguintes:
a) Administrar os negocios e bens do Institute, sujeitando-se, no tocante as inversoes, as normas estabelecidas pela Superintendencia de Scguros da Nagao para as companhias segura doras;

b) Nomear, de acordo com o Poder Executive, o gercnte e o atuario do Institute, determinando-lhes as fungoes e remuneragoes e considerar as penas aplicadas pelo presidente, confirma-las pelo tempo que julgue necessario ou recusa-Ias, neste case porem de acordo com o Poder Executive;
c) Aprovar o orgamento das despesas, determinando o numero. fungoes e pagamento de todo o pessoal do Ins titute, assim como examinar as nomeagoes, a pedido do presidente, de pessoal com vencimentos supefiores a mil e oitocentos pesos mensais:
d) Apresentar anualmcnte a assem bleia geral de acionistas, o relatorio, balango geral e contas de lucros e perdas e parecer dos membros do Conselho Fiscal devidamente impresses, formulando a proposta de distribuigao de lucros;
e) Nomear comissoes tecnicas especiais permanentes para Iratar dos assuntos referentes a um ou mais ramos do seguro, segundo a importancia deste, ccmissoes que serao presididas por um diretor, e constituidas por outros dire tores e/ ou tecnicos do Institute. Estas comissoes funcionarao com todos os membros para examinar as questoes de interesse geral do Institute e a fixagao das retengoes maximas de cada ranio, devendo reunir-se. neste caso, com a presenga do presidente do Insti tute;
/) Nomear comissoes especiais permanentes de Orgamento, Politica Econoraica, Intcrpretagao e as que a diretoria julgue conveniente para o melhor andamento das atividades do Institute. Participarao obrigatdriamente das tfes primeiras comissoes dois dire tores, um dos nomeados pelo Poder Executivo e outro dos escolhidos pelas companhias acionistas, sem prejuizo do pessoal tecnico e assessores legais necessarios;
g) Integrar com pessoas ou instituigoes especializadas em materia de seguros; as comissoes tecnicas assessoras, permanentes ou nSo, que julgue rie-
cessarias para colaborar no estudo de problemas, pianos, ramos de seguro ou qualquer outro aspecto de interesse do Instituto, assim como designar representagoes no estrangeiro. ou delegados a congressos nacionais ou internacionais relatives a sua especialidade, de acordo com o Poder Executivo;
h) Estabelecer as normas de trabalho das comissoes e determinar os horarios dos membros das mesmas alheios ao Instituto ou as companhias argentinas de seguro.s; e finalmente,
i) Decidir OS casos omissos e adotar todas as medidas que julgar oportunas ou convenientcs para o melhor exito do desenvolvimento das atividades do Instituto, desde que nao haja limitagao dos incisos anteriores para a Diretoria realizar atos que nao sejam expressamente proibidos por sua lei basica.
CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal e composto de dois membros, um designado pelo Poder Executivo e outro pela assem bleia de acionistas, fisse Conselho tem as mesmas atribuigoes estabelecidas no Codigo de Comcrcio para orgaos dessa natureza.
OPERAgOES
As companhias argentinas de segu ros t€m a obrigagao de ceder ao Irtstituto' o exeedente de suas retengoes
155
156
N. 49 — jcmto 1948 157 158
REVISTA DO I. S. B.
proprias. podendo fixa-las iivremente.
As companhias estrangeiias cedem ao Institute obrigatoriamentc, pelo menos, 30 % de todas as responsabilidades assumidas; os restantes 70 % poderao ser Iivremente dispostos. Entretanto. como veremos adiante, o imposto sobre a parte retida pela sociedade estrangeira e sobre a parte que ressegurar em congenere estrangeira ou no exterior, e mais de duas vezes superior aquele que pagara sobre a parte correspondente ao resseguro feito no Institute ou em congenere na tional.
As companhias nacionais so podem ressegurar no estrangeiro. mediante autoriza9ao do I.M.A.R.. que a concedcfa quando. pela antureza de determinada classe de risco. o mercado local nao ofere^a facilidades de acordo com suas exigencies, e o Institute nao ache conveniente assumir o resseguro. Isto se aplica tambem aos ramos em que o Institute nao ache conveniente operar.
As retrocessoes do I.M.A.R. sac de preferencia colocadas nas compa nhias nacionais, podendo ser colocadas em sociedades estrangeiras ou mesmo diretamente no exterior conlorme as conveniencias.
O Institute e obrigado a pagar lis cedentes comissoes na mesma base das que receber de sua.s retrocessionarias.
Os contratos de resseguro que as companhias argentinas tinham em vi-
160
gencia na data do decreto criador do I M.A.R.. tiveram que ser denunciados, continuando era vigor, apenas, ate a data em que, em virtude das disposigoes contratuais. se opere o vencimento ou resciSao.
As companhias resseguradotas cessaram imediatamente suas atividades, como tais, ficando. porem. autorizadas a funcionar como seguradoras. obrigando-se, as argentinas, ainda mais, a Suprimir de sua denominagao • a palavra «Resseguros».
DISTRIBUI^Ab DE LUCROS

DoS lucros liquidos do Institute se destinarao: ' '
a) no minimo 2 % para .i constitui9ao do fundo de reserva legal, ate.que 0 mesmo perfa^a 10 % do capital:
b) no minimo 10 % para as reservas livres que se julguem necessarias.
O saldo se reparte em oartes iguais pelo Estado e pelas seguradoras acionistas.
Enquanto as reservas livres do Ins titute nao alcangarem 25 % do capital, nao se distribuira dividendo superior a 3 %: enquanto as reservas livres estiverem compreendidas' entre 25 % e 50 % do capital, o dividendo podera elevar-se ate 5 %: dai em diante, a assembleia de acionistas determinara para cada exercicio, sem limita^des, o dividendo a distribuir.
ASSEMBLEIA GERAL
A Assembleia Gcra) sera constituida pelas sociedades seguradoras acionis tas, delas nao participando o Governo. o qual, entretanto, tem o direito dc intervir atraves c veto do presidente do Instituto, Cabe a Assembleia;
a) Eleigao dos diretores representantes das companhias;
h) Aprecia^ao anual do Balance
Gerai e relatorio da diretoria, resolvendo sobre a distribui^ao cos lucros na forma legal.
A Assembleia pode ser convpcada extraordinariamente por resolu^ao da diretoria, do presidente, dc um dos membros do Conselho Fiscal ou da 5." parte do Capital correspondente as sociedades, desde que seja exposto o fundamcnto da convocagap.
OBRIGATORIEDADE DE SEGUROS NA ARGENTINA
A lei criadora do I.M.A.R. estabeleceu, tambem, disposigoes reguladoras da obrigatoriedade de seguros na Argentina, e, ainda mais, em com panhias argentinas:
1) £ proibido segurar no estran geiro pessoas, bens ou quaisquer interesses seguraveis de jurisdigao nacional, criando-se uma penalidade, para o segurado e intermediario, que pode atingir a 25 vezes o premio.
2) Devem efetuar-se exclusivamente em companhias argentinas, todos os seguros sobre pessoas, bens, coisas. moveis e imoveis e outros interesses seguraveis. dependentes, de propriedade e/ ou utilizados pela Uniao. provincias, municipalidades, entidades autarquicas, ou pessoas fisicas ou juridicas que tenham concessoes, franquias. isengoes, privilegios dc qualquer indole cm virtude de leis e disnosigocs de autoridades federals, provincials ou • municipals. A penalidade e a mesma do item anterior.
3) Devem igualmente ser cobertos em companhias nacionais os seguros sobre bens que entrem no pals, qualquer que seja a sua forma, cujo risco de transporte seja por conta de quem os importe.
d) Outro tanto ocorre com os se guros sobre bens que saiani do pals, cujo risco de transporte corca por conta de quem os exporta.
A Alfandega e os portos exigirao, para fiscalizagao das disposigoes anteriores, que os importadores e exportadores fagam uma declaragao juramentada de que as mcrcadorias tenham ou nao sido seguradas.
Ainda mais, os consulados da Ar gentina no estrangeiro so legalizarao faturas consulares e comerciais nas quais haja a discriminagao de: a) custo:
b) seguro; c) frcte e d) outras despesas.
159
N. 49 — JUNHO DE 1948 161 162
RSVI8TA DO 1. 8. B.
IMPOSTOS
As companhias «argentinas» sao obrigadas a pagar sobre os premios aceitos — 2.5 % para os riscos pessoais e 7% para os riscos gerais.
As companhias que nao sejam consideradas «argentinas» pagarao os seguintes impostos:
a) sobre os premios cedidos ao Ins titute e a companhias nacionais —■ o mesmo imposto que cabe a essas ulti mas.
b) sobre os premios correspondcntes a sua retengao propria:
6 % para os riscos pessoais
16 % para os riscos gerais
c) sobre o excedente de sua retenqao propria mais as cessoes ao Institute e a companhias nacionais, respectivamente 6 % e IS %.
fisses impostos sao arrecadados pclo Governo, e nao beneficiam diretamente o Institute.
Ainda a proposito da uisita a que nos referimos, transcreuemos a carfa que recebemos do Sr. Anto nio A. Righi, t'ice-presidente do
I.M.A.R.:
«Buenos Aires, 9 de abril de 1948.
«Excmo. sehor Presidentc del Insti tute de Reaseguros de los EE.UU.
del Brasil General Joao de' Mendonqa Lima.
«Rio de Janeiro.
«Me es sumamentc grato dirigirme al scnor Presidente, en nombre del Directorio del Institute Mixto Argentino de Reaseguros y en el mio propio, para manifestarle la complacencia com que en la reunion realizada dias pasados se tomo conocimiento, al dar cuenta los integrantes de la Delegacion de este Institute de su gestion en esa gran capital Sudamericana, de la eficaz, desinteresada, y valiosa colaboracion prestada, que a no dudar redundara en beneficio de este Institute y que una vez mas ha permitido poner de relieve la hermandad y la uniformidad de propositos y de procederes entre vuestra Nacion y la nuestra.
«Por todo ello, es que dcseo hacer llegar al senor Presidente, y por su intermedio a los demas miembros de ese Institute que en una u outra forma han colaborado con nuestros delegados. las expreciones de nuestro mas sincere y fervoroso agradecimiento por todas las atenciones recibidas y por la cola boracion de valor que se les ha brindado.
«Sin otro particular, aprovecho esta oportunidad para saludar al .senor Presidente con las seguridacles de mi consideracion mas distinguida.
(ass.) Antonio A. Righi — Vicepre5idente».
TRADUgOES E TRANSCRigOES
A COBERTURA DE GUERRA NO SEGURO DE VIDA
TRABALHO APHCSENTADO AO Xil CONGRliSSO
INTEIiNACIONAL DE ATUARIOS POR
HANS iyy"<S5 (Zurich)
A questao da cobertura do risco de guerra no seguro de vida ja foi tratada no IV Congresso Internacional de Atuarios, de Nova York, em 1903. Os autores dos tres trabalhos. entao apresentados. parecem ter tido a intengao de graduar os sobrepremios de guerra da maneira mais exata (como por exemplo, segundo classes de idade, por armas e por profissoes) baseandose em experiencia de diversas guerras.
Nao se encontraria, per certo, outro problema da tecnica atuarial em que as consideragocs, emitidas ha alguns decenios, tivessem perdido toda a sua importancia, como no da questao do seguro de risco de guerra. Os rccentes aperfeigoamentos dos engenhos
Nota do tradutor — Na scsiilo de enccrramcnto do XI Congresso Internacional, a 23 dc junho de 1937, os atuflrios .-ic 39 naco'cs, rcunidos_ era Paris, sob a prosidencia do Sr. Amedce Begauit, presidente do <Comite Py™3nent des Congrcs internacionaux d Actuaires^. deviam designar .t nagiio enwrregada de organizaf o proximo congre.sso. O ^ presidente da AssociagSo do;. Atuarios Suigos, Samuel Dumas, propos que de tal missao fosse encarregada a Suiga. o que foi iinanimemciite aprovado. Para sede do Congre.sso, que scria o XII, foi cscolhida a cidadc de Luccrna que dcvcria acolher os partlcipanfes cntrc 24 c 29 dc junho de 1940, Alem das discuss5cs sobre nssuntos proposto.s ao Congresso, o programa das scssdcs previa cinco conferencias dcstinada.s a uin cxame geral sobre o cstado da clfncia atuarial.

HELENO
DE CASTRO de guerra e as novas conccp^oes estrategicas transformaram, intciramentc. OS dados do problema, em materia de seguro de vida.
Todavia, as companhias dc seguros de vida tern levado em conta. somente, no minirao, tais evolu?6es. Mesmo os ensinamentos da guerra mondial de 1914 a 1918. de um modo geral, nao trou-xeram mudanga radical das condiqoes do seguro para a cobertura do risco dc guerra. Os trabalhos apre sentados ao XII Congresso Interna cional de Atuarios — em particular o sumario de Mattfeld c Brix — oferecem uma sugestiva imagem da variedade das disposi^oes ainda, recentemcnte, em vigor nos paises europeus.
Como confrihui(;no ao Congresso, rcccbeu a sua ComissOo organlzadora, de 17 paxses. cerca dc cera trabalhos que vcrsavam os segiiiiites assuntos; calculo da probab!LIDADE N"0 DO.MfNlO DO SEGURO: ConEBTURA DE RISCOS ESFECIAI5 NO SEGUBO-VIDA; APLICAgfiES DE CA PITAL NO SEGUHO-VIDA: VALOR DO SEGURO NOS CASOS DE RESCIsAo; BASES E TECNICA DO SEGUROnOENCA: A CADUCIDADE NO SEGURO-VIDA: A CO BERTURA DO RISCO DE GUERRA NO SCGUBO-VIDA: DESENVOLVIMENTO DAS COLETIVIDADF3 PKSSGAiSI
C.AI.CIILO DA INDLNIZAgAo NO CASO DE PERDA oir DI.MINIIICAO DA CAPAGIDADE PROFISSIONAL, O inicio da 2' grande giicrra. cm setembro dc 1939. iinpcdiii que sc rcaliza.ssc o Con gresso, pclo que rc.solveii a Co.mi.ss3o considerar como rcalirado o Congresso, fazcndo publicar os trabalhos apresentados.
163 164 165 166
N. 49 — JPNHO DK 1948
TKADUZiDO POR
MARIO
, HEVISTA DO I..B. B.
Quase todas, devido aos acontecimentos, tornaram-se nao mais cm condi^oes de satisfazcr as necessidades. Contemporancamente, resulta dos trabalhos aprcsentados a procura. nestes ultimos tempos em varios paises, de solusoes melhores, adaptaveis as novas situa^Qes.
0 tema proposto per oeasiao do XII Congresso Intefnacional de Atuarios era, com efeito, o de fixar as opinioes relativas a cobertura do risco de guerra, em um determinado cstado particular de sua evolugao. Tais trabalhos mal haviam sido concluidos quando rebeiitou o coiiflito na Europa. Em diversos paises as autoridades competentes foram induridas a emitir, imediatamente, novas disposigoes de carater geral e obrigatorio para a co bertura do risco de, guerra que, em certos pontos, vac alcra das soiu(;6es preconizadas ate entao.
Ac XII Congresso Internacional de Atuarios foram apresentados nove trabalhos sobre a cobertura do risco de guerra no seguro de vida, provenicntes de 8 nagoes, a saber:
1 da Alemanha. de G. Mattfeld e H. Brix;
1 do Canada, de E. W. Crowe:
1 da Dinamarca, de }. A. Jagt:
1 da Finlandia, de E. Pale:
1 da Italia, de U. Citteri;
1 da Noruega, de I. Hessclberg:
1 dos Paises Baixos, de G. M. Alting von Geusan:
e 2 da Suiga, de H. F. Moser e de H. Wyss.

Todos OS autores estao convictos de que o seguro de vida. para ser plenamente eficaz — e e esta a linalidadc que se quer sempre atingir — deve ser compietado pela cobertura integral do risco de guerra. O dilema que surge e o scguinte: " Quais as disposigocs a adotar. a fim de que c segurador. representante da comunidade dos scgurados, seja capaz de fazer frente. por seus proprios meios, a uma catastrofc de guerra? A companhia incorreria em grave erro, se quisesse assumir tao grande responsabilidade. scm estar certa de poder enfrentar tais er.cargos.
Segundo E. Crowe, a solugao consLstiria na introdugao de sobrepremips adequados para os contratos feitos durante a guerra. Quanto aos scguros ja em vigor ao estourar a guerra. cle ere que — tomando por base a expcriencia adquirida pelas companhias canadenses no conflito mundial — os sinistros de guerra possam ser suportados, de mode analogo aos provocados por terremotos e outros cataclismas ou cpidcmias, particularmente graves.
Outros autores vac alcm. e consideram o risco de guerra uma catastrofe de tal gravidadc que. confo.me o caso. pode colocar em perigo a existencia de uma companhia de scguros de vida. Todos partilham da opiniao de Boehm, que considera encontrar-se o risco de guerra, quanto a sua cobertura, cntre OS riscos cspeciais que devem ser recusados, a menos que a sociedade se reserve o direito de modificar as con-
digocs do seguro, de rcduzu' a.s prestagocs seguradas ou de sacar os sobrepremio.s, apo.s a conclusao do contrato.
A maior partc dos aulores recomenda uma .solucao nestc senlido. segundo a qual, de um lado, cstcjani coberta.s todas as mortes devido a guerra c. dc outro, seiam suportados os sinistros de guerra por todos os segurado.s. Algumas propostas se limitam a coberrura do sinistro provocado pela supermortalidade na guerra: a maioria. pcreiii, leva em conta a razao da destruigao do.s bens por cla causada, destruigao que, conformc a.s ciicunstancias. podera .ser a dos bens inais importantes. Pode-.se. ainda, prever que as companhias lanccm mao, cm priineiro iugar, de detcrminado.s fundos, para cobrir o sini.stro dc guerra e, somenfe depois, ,se recorram do.s segurados para a soma descoberta. Pcder-se-ia, tambem, compensar a indenizagao entre todas as companhias de um mesmo pais.
Os autores sao unanimcs ao considerar que o risco de guerra nao pode .ser avaliado com antecedencia — nem no que diz respeito a super-mortalidade. nem no concorrente a destruigao dos bens. Os proprios dados relatives a mortalidade cm conflagragocs anteriores nao sao suficientes, como bases de calculo. Atingem, no maximo, a finalidade dc colocar em rcalcc a divergencia das repercussoes de um con flito em paises diversos c em circuns-
tancias varias. Em definitive, apenas um sistema de distribuigao e aplicavel a cobertura dos riscos dc guerra. Se gundo a cxpressao dc H. Moser, cada companhia, durantc uma guerra, deee retroceder a forma dc uma caixa de socorros mutuos. Tal principio permitc a adogao dc divcr.sos metodos para a imposigao de uma contribuigao ou redugao das prcstagoes. G. Alting von Geusan dcscnvolve varias forma.s para manter o cquillbrio financeiro. Em vista do regime dos danos dc guerra dc toda natureza, que os fundos disponiveis da companhia nao sao su ficientes para cobrir, a solugao suica preve expressamcnte n cobranga, apos o conflito. de uma contribuigao que se pode revestir do carater de um sobrepiemio oil do de uma mod.iicagao do contrato. G. Mattfeld e H. Brix piopoem um sistema, no qu.nl, a datar do inicio das hostilidades, todos os segurados dcvcm pagar um sobrepreraio, com a finalidade de amortizar completamente os danos de guerra. De acordo com as inform.agocs de ]Jagt c E. Pale, na Dinamarca e na Finlandia foram propostas solugoes que se inspirnm no mesmo principio. Mas o mcfodo preconizado por I.' Hesselberg e por G. Alting von Geusan — consistindo em reduzir ,a uma determinada proporgao todas as prcsta goes seguradas, a partir do inicio da guerra — apresenta tambem as caracteristicas dc um sistema de distribuigao:
167
ICS
it. 49 — Jl^mO DE 194B 169
170
REVISTA DO I. R. B.
com efeito, tal sistema nao levaria em conta todas as eventualidades se, tacita ou expressamente. nao fosse resguardada a possibilidade de uma ulte rior redugao. Nem mcsmo a prorrogacao do vencimento das prestagoes sem o acorapanhamento de outras rcservas seria o bastante.
Os trabalhos apresentados nao abordam pormenorcs tecnicos como, por exemplo, a determinagao equitativa das contribuigoes de cada contrato. Sbmente Li. Citteri desenvolve um processo tecnico para a determinagao e a cobertura do sinistro devido a mortaiidade ocasionada pela guerra.
Em diversos paises, as companhias de seguros de vida tern estudado em comym a nova regulamentagao dos se guros de guerra e tern .submetido as autoridades sugestoes, contorme as teses tratadas nos trabalhos rcferido.s, Todavia, ao estourar a guerra no outono de 1939, os regulamentos preconirados que. para vigorarem com efeito retroativo deviam ba.ear-se em dispositivos legais, de um mcdo geral, nao cram aplicados em nenhitma paite.
Em um estudo de Woilmer surgido mais tarde. para a cobertura do risco de guerra, sao expo.stas normas vigorantes em paises europeus c encontramse, fambcm, minucias sobre reguiamentagoes introduzidas, depois de iniciadas as hostilidades. Eias ainda podem .scr completadas por informacbes que os scnhores Citteri, Pale,
Hessclberg e Jagt gentilmente cederam ao relator, sobre medida.s tomadas na Italia, Finlandia, Noruega e Dinamarca.
Na Suiga. foram tomadas as nece:sarias precaugoes para o caso de se vcr o pals cnvolvido no conflito, e a fim de que a regulamentagao adotada para OS novos contratos, como c descrlta nos trabalhos apresentados. possa ser aplicada, retroativamente, em toda a carteira suiga.
Na Alemanha, foram revogadas, com o decreto do «Oficio de Vigilancia dos Seguros Privodos» de 7 de outubro de 1939, todas as estipulagoes contratuais para a cobertura do risco de guerra, mencionadas por Mettfeld e Brix em um suplemento ao seu trabaIho. Elas foram substituldas, no entanto, por disposigoes uniformes, segundo as quais a cobertura do risco de guerra e obrigatoria: ai esta o caso da cobranga de uma contribuigao. A introdugao dos sobrepremios de guerra para os novos contratos e das redugoes das prestagoes nos vencimentos ou nas rescisbes voluntarias do contrato sao perniitidas,

Na Franga, as normas contraluais para a cobertura do risco de guerra dos contratos vigentes nao foram modificadas- Ao contrario, no concernente acs novos contratos, um decreto de 22 dc fevereiro de 19-10 preve duas possibilidades; ou a cobertura do risco de guerra seria totalmente excluida e.
em tal caso a companhia estaria livre para a aplicagao de suas prbprias tarifas e condigbes, ou o risco de guerra seria cobcrto e, assim, os contratos deveriam ser dados inteiramente em resseguro a. um «cons6rcio» de com panhias, para tal fim constituido. Para tais contratos sao brigatorias disposigbes muito cstritas quanto a forma (seguro misto)., a tarifa, as duragbes con traluais e. em essencia, as condigbes gerais do seguro; alem disso e estritamente reservado o direito a cobranca das contribuigoes suplenientares.
Na Italia, a cobertura do risco de guerra nao foi modificada para os con tratos existentes. Para os novos con tratos, porem, o decreto de 11 de junho de 19-10 prescreve, em principio, a co bertura do risco de guerra. Os por menorcs foram determinados com precisao em 5 de setembro de 19^0. Para a populagao civil o risco de guerra dcve ser coberto sem sobrepremio. O.s militares porem pagarao, se o capital for ate 200.000 liras, 1 ^r, e 3 fc sobre o excesso. caso rcqueiram cobertura para importancia superior. Q seguro se extingue ou por falta de pagamento do sobrepremio cbrigatorio. ou se o prego dc resgate nao for suficiente para cobri-lc. Qs seguros anteriores. sem a cobertura de guerra, podem enquadrar-.se dentro da nova regulamen tagao.
Na Finlandia. foi intioduzida, mediante lei de 2-4 de outubro de 1939,
uma regulamentagao que, em suas dis posigoes essenciais, esta de acbrdo com a solugao preconizada por Pale em seu trabalho; o risco de guerra e coberto sem restrigbcs: as companhias podem exigir de seus segurados, desde o inicio das hostilidades, os sobrepremios de guerra: o Ministerio da Previdencia Piibiica tern o direito dc modificar, durante a guerra, as condigbes do capital segurado, para o resgate e para o emprestimo. O sobrepremio para as forinas de seguros mais correntes foi fixedo anualmcnte em 1 % do capital segurado e, cm regra geral e, apenas, cobrado dos contratos em vigor ha inenos de tres anos. Pale realga que tal processo teiu dado bons resultados e que, em particular, os sobrepremios foram pagos com uma pontualidade digna de registro. O pagamento in tegral dos capitals segurados, em caso de morte, tein aumentado o prestigio dc seguro deVida'. A 13 de dezembro, aj companhias finlandesas concluiram urn acbrdo para suportarem em comum o risco de guerra.
Na Noruega, as companhias de se guros de vida propuseram ao governo uma solugao tendente a cobrir, integrnlnientc, os riscos de guerra, cnquanto a le' devia prever a possibilidade de re dugao uniforme dos capitals segurados de toda a carteira. O governo elaborou, entao, um projeto de lei neste sentido, pouco antes de ser a Noruega
171
172
1! N, 49 — JUNHO DE 194B 173
174
REVISTA DO I, B. B.
arrastada a guerra; projeto estc que r.ao foi, porem, posto em execugao. Todavia, as companhias crentc; de que o mesmo seria adotado ja haviam feito figurar nas novas condigoes de seguros as disposigoes propostas.
Na Dinamarca. a solugao. sugerida per Jagt no trabalho apresentado, foi intrcxiuzida per todas as companhias cm 1 de julho dc 1940.
Nos Paises Baixo.s, as autoridade.s nao tomaram medida alguma para a cobertura do risco dc guerra, A maior parte das sociedades havia decidido, de antemao. reduzir de 10 /r as prestagoe.s seguradas, de acordo com as ideias sustentadas por Alting von Geusan. Por nao mais serem os Paises Baixos participantes ativos do conflito. em dezembro de 1940 as companhias revogaram tal decisao e estabeleceram renunciar a quaisquer redugoes das prestagoes. quer dos se guros vigentes, quer dos novos contratos, desde que a situagao nao mudassc.
Do acima e.xposto, resulia que as teses sustentadas nos trabalhos apresentados serviram, em grande parte. como diretivas na elaboragao das medidas tomadas pelas autoridades nos divetsos paises. a proposito da cobertura do risco de guerra, depois de rebentar o conflito armado. Resumindo. se podcria formular a ideia dominante. resultante das respostas dadas as per-
guntas fcitas ao XII Congresso Internacional dc Atuarios, como .sc segue;
Se 0 seguio de vida quiscr justificar a grande confianga de que goza. devc cobrir integralmente. tainbein. o risco de guerra. Um rratamento diferente para civis, para militares, p?i'a os casos dc morte por efeito da guerra e para a.s raortes normals durante a mesma, nao c mais justificavcl. como o nao tambera. a distingao entre guerra civil c guerra no scntido que Ihc einpresta o Direito Internacional Piiblico. As disposigoe.s para a cobertura do risco dc guerra deveriam levar cm conta. nao somente as maiorcs prestagoes"devidas em caso de morte, como tambem a destruigao dos bens. As companhias. linicamcnte. poderao fazer frente a tao grande cobertura se, durante c conflito. todos OS segurados de um mesmo pai.s formarem uma comunidade de risco. A aplicagao de tal sistema sera facilifada. se se puder recorrer a reservas de qualquer natureza. anteriormente constituidas c se os premios ordinario.s forem prudentemente caIculado.s. Em nenhum caso, porem, podera uma companhia cobrir inteiramente c risco de guerra, se o metodo adotado for o de garantia incondicional. Ao inverse, o sistema de distribuigao comporta diversas modalidades, entre as quais e pcssivel a selegao, segundo as circunstancias.
15 de Janeiro dc 1941.
PARECERES E DECISOES
TRIBUNAL DE JUSTIQA DO DISTRITO FEDERAL
yjas acocs dc rcs^archncnto qiir Ihcs sao moi'idas. ox armadorex. ixltimamentc, tcm invocado como dcfcxa a clausiila 2-i do conhccimcnto de cmbarque. que os iscnta dc rexponsabilidadc, xcmprc que o dano oil acana cxteja coberto pcio xcguro.
A jurixpriidencia de noxsos mais altos tribunaix tcm fufminado cssa c outrax claiisulas. Umitativas on cxoncrativas da responxabilidade dax transportadoras. dc nulidade. face ao texto insofixmavel do art. !:' do Dccrcto n." 19.-i73. dc U) dc dezembro dc 1930, que regulamcnta os con/iecimentos de cmbarque.
Nao obstante esxa rciterada }urispriidincia c o conscnso quasc unanimc da doutrina. vez por outra. algum juiz de I.'' instancia Oil tribunal tcm acolhido a defesa extribada em tais claustilas limitativax ou cxoncratiras.
Ainda recentemente. a 7." Camara do Tribunal de fustiga do Disfnfo Federal em acordao de 19 de dezembro de 1947. acolheu,' contra o i>oto de um dc xeus emincnlcs e doutos deseinbargadores, uma dessas de[esas.
Puhlicamos a seguir o referido acdrcfao, o voto divergente e ax razocs dos embargos apresentados.
Chamamos a atencao dos leitores da Revista para a cofo vencido do eminenfe Descmbargador
Vicira Braga que. niima analisc profunda c irretorquivel. proclarnando a nulidade das aludidas clausulas, rcstabclcce o vcrdadeiro cspirito da lei c a licao dos mestres e da jurisprudencia.
As razocs de embargos, da tavra do Dr. Walter Draijcr. um dos mais csforcados c hrilhantcs adeogados que militam no xetor cspccializado das acdcs dc rcssarcimento. constitucm um cstudo completo onde sc rcntilam todos os cspectos da questao. e se refutarn com rantagcm os argumcntox cm que se apegam as transnortadoras.
Ainda ncstc mesmo numcro seni publicado um artigo do mestrc primus inter pares. Joao Vicente Campos, cm que se euidencia a nulidade da chamada insurance clause.
A Rcinxta-do l.R.B. espera. com tais publicagocs. oferecer as xegiiradoras copioxo manancial. que as auxilic na rcnhida luta pela defcsa de sens dircitos nas agocx dc ressarcimcnto.
Apelantc: Mutua Catarinense de Seguros Gerais.
Apelada: Cia. Comercio e Neuagagao.
Acordao de fls. 87 verso. 88 frente e verso proferido aos 19 dc dezembro cle 1947, pela 7." Camara Civel do 1 ribunal de Justiga do Distrito Federal, na apelagao civel n." 380.

T'"V 175
176
N. « — JUNHO DE 1948 177 178
HEVISTA DO 1. R. B. miik.
180
Ementa: Clausula de nao indenizar — Sua admissibiiidade no Direito Brasileiro.
Acordao: A apelante propos a?ao contra a apelada porque, no exercicio de seu comercio. foi obrigada a pagar G valor de diversas mercadorias confiadas a apelada para transoorte. e que so extraviaram em viagem. uma vez que tais mercadorias estavam scguradas pela apelante, que, agora, sub-rogada nos direitos da companhia segurada, pretende ressarcimento do que despendeu.
A sentenga apelada, as fis. 59. concluiu pela improcedencia da a^ao. molivando o presente recurso. que nao e, lodavia, de ser acolhido.
Da conjugagao do que dispoem as clausulas 13 e 25 do conhecimento de tiansporte de fls. 21 verso, vc-se ilicida a responsabilidade da apelada.
Sustenta. entretanto. a apelante que, [rente ao disposto no artigo primciro do Decreto n.° 19,473 de 10 de derembro de 1930. modificado pelo De creto n." 19.754. de 18 de margo de 1931. reputa-se «nao escrita qualquer clausula restritiva ou modificativa da cbrigagao que tem as empresas de transporte de entregar as mercadorias no lugar de destino.

Mas. como mostra a sentenga. a invocagao desse preceito legal nao tem pertinencia, uma vez que a apelada nao negn a obrigagao de entregar a mercadoria embarcada pela segurada. conicstando apenos sua irresponsabilidade pela perda de parle ou da totalidade da mercadoria, desde que isso podia scr, como o foi. coberto pelo seguro; e de todo proposito. portanto. a invocagao do comentario de Aguiar Dias,
a respeito. em seu trabalho — Clausula dc Nao Indenizar.
Acordam, assim, os Juizes da 7."* Camara do Tribunal de Justice, e contra c voto do Relator. em negar proviriento ao recurso para manter a sentenga apelada, Custas pela apelante.
Rio, 19 de dezembro de 1947.
y."" Camara do Tribunal de Jiistiga do Distrito Federal, Apelagao Give! n." 380 — Apelante: Miitua Catarinense de Seguros Gerais.
Apelada: Cia. Comercio c Navegagao.
Relator: Vieira Braga.
Revisor: Ary Franco.
Apelagao julgada aos ... - -
Acordao publicado em audiencia de 27 de abril de 1948, julgancio irnprocedente agao e apelagao.
Voto Vencido do Relator Descmbargador Vieira Braga.
O Acordao csposou a tese adotada i.a sentenga reconhecendo. assim. a validade das .clausulas de irresponsa bilidade inseridas no conhecimento. Data venia, nao me parece possivel, por um instante, sustentarq ue a proibigao contida no Decreto n.° 19.473, dc 1930. nao atinge o direito do transportador de isentar-se de responsabili dade. nos casos dc extravio, roubo etc. de mercadorias que Ihe tenham sido cntregues e constante.s de conhecimentos de embarquc.
A lei considera nao escrita clausula afastando a obrigagao de entrega da n ercadoria no lugar de destino. Que mais precisava ela dizer. para deixar claro que ao transportador nao e licito diluir e apagar a responsabilidade dc-
181
corrente do inadimplcmento da obri gagao, com 0 simples auxi.'io de uma quimica verbal que torna possivel coceber-sc n um tempo a subsistencia da obrigagao e a irresponsabilidade do obrigado?
A lei e imperativa — clausula que c.xima o transportador de entregar a n:ercadoria e como se nao houvesse .s.'do escrita. como se nao existisse. Mas o transportador nao se atrapalha; r obrigagao e sagrada, invulneravel, cterna. tao viva como no dia cm que nasceu o conhecimento. ainda que nao haja mercadoria para ser entregue, Isto o transportador se ufana de prociamar. l5 c sera sempre devedor. Deve entregar. Nao havendo. porem, mercadoria a entregar, por t.er desapalecido, por nada tem que respondcr. cmbora continue a dever. por que contra aquilo ele se forrava com uma clausula que o dispense de responder, clausula legitimissima. o que a lei lei somente veda e que ele se dispense r.e dever. E, assim, acaba ele triunfante da lei.
Tenho em grandc aprego a autorictade de Aguiar Dias, cujo.« trabalhos sobre responsabilidade civil Ihe asseguram situagao de merecido prcstigio i'.as letras juridicas. Scus argumcntos, todavia, nao me convencem da admissi biiidade da clausula. Ao contrario do que ele sustenta, a lei, rcoutando nao escrita clausula destinada a elidir a cbrigagac de fazer a entrega da mer cadoria, com isto fulmina de nulidade a que vise por o transportador a co berto dc re.sponsabilidade, tao vigorosa c energicamentc. como o tcria feito por
meio de uma proibigao direta da clau sula de irresponsabilidade. pois, vedar a e.xchisao da causa de indenizar e o mesmo, para o resultado de assegurar aquela obrigagao. que nao admitir a c-vclu.sao do proprio efeito.
fi preciso interpretar e aplicar a lei. sem Ihe destruir o conteudn logico, o espirito e a finalidade.
Mcnos do que mcio de compressao para acender a vigilancia e cuidados do transportador sobre a.s mercadorias e impedir que sua negligencia. sua inercia escancare o sorvedouro dos cxtravios impunes, constitui a salutar piovidencia legal a defesa e garantia do conhecimento com instrumento de credito, de valor excepcional para a produgao rural e industrial, bem como para o comercio.
O elemento cssencial do conheci mento como instrumento de credito para as atividades criadoras da riqueza, da produgao de artigos necessaries ao consumo, e a garantia real, e a merca doria cujo valor representa. Nao se pode esvasia-lo.-do ,que e inerente a sua naturcza. da forga com que a lei o a.'mou, transfcrmando-o em mera rehquia, diantc da qual o rcsponsavel nao tcra mais que se curvar cm testemunho do reconhecimcnto de sua obri gagao, para ficar, inteiraracnte desobrigado.
A aplicagao da lei, e preciso repetir, nao pode consistir em reduzi-la a nada. F. se prevaleccr o que fizeram a sen tenga e o Acordao, no caso de extravio de mercadorias, a despeito do que estabelece o Decreto n." 19.473, do conhe cimento nao restara senao o cspectro de uma obrigagao.
179
182
N. 49 — JIWHO DE 1948 REVISTA DO I. R B.
Embargos ao Acordao na Apclagiio duel n." 380
Por embargos de nulidadc c infringcntes do julgado, di: como embargantc a MUTUA CATARtNENSE DE SEGUROS GERAis contra a embargada fOMPANHiA
GOMERCIO E NAVEGAgAO, ncsta ou mcIhor forma de direito, e provaia o articulado a seguir.
Cabimcnto dos embargos
1 — Dccidindo a apelacao intcrposta da sentcnga do Juizo da 6.^ Vara Civel, o venerando acordao negou provimento ao recurso, contra o luminoso veto do Relator Desembargador Vieira Braga, que. rcformando i sentenga apelada, declarava procedente a agao. Nao tendo sido unanime a decisao proferida cm grau de apelagao. o acordao c passivel de embargos, nos termos do art. 833 do Codigo de Processo Civil, modificada pelo artigo primeiro do Decreto-lei n." 8.570. de 8 de janeiro dc 1946.
Os [atos
2 — No exercicio do .ieii comercio dc seguro.s, a embargante scgurou diversas caixas dc mercadoria.s, de uma firma freguesa sua, contra os ri.scos inerentes ao transporte maritimo. firte foi confiado a transportad^ra embar gada; ela recebeu as mercadorias con tra a entrega dos competentes conhecimentos de carga, cujos O'lginais re encontram nos auto.s desfa demanda, e em seus navios foram embarcadtus. Nos portos de destine, a embargada deixou de entrega-las. determinando cssc fato o pagamento do valor dos volumes pela embargante a embarcadora. por forga dos contratos de .se-
guro. Uma vez paga a indenizagao. flcou a embargante sub-rogada nos direitos da firma afrctadora. contra a embargada. nos termos do art. 728 do Codigo Comercial, Esses fatos foram plenamcntc provados pela embargante c nao sofreram contesta^ao por parte da embargad.a. Igiialmentc, nao houvc contestagao sobre o valor das caixas cxtraviadas. idoneamente provado mediartc a aprcsenfacao da documentaqao necessaria.
A obrigacao assiimida pela embar gada
3 — A tran.sportadora embargada, recebendo as -cai.va.s contr.a a entrega dos conkccimentos dc carga e cobrando antecipadamentc o frete, assumiu,. o compromi,sso de cfetuar a entrega dos volume.s, fielmente, no tempo e no iugar do ajuste. Dcsdc o inomento em que OS recebeu, corrcu a sua responsabilidade, c estava obrigada a sua guarda. bom acondicionanitnto, conserva^ao e final reentrega. conforme OS arts. 99, 101, 519 do Codigo Co mercial e art. 1.266 do Codigo Civil. Consoante os arts. 102 do Codigo Comercial e 1.277 do Codigo Civil, apenas nao corriam por conta do armador danos provenicntes de for^a niaior ou caso fortuito c dc vicio pr6prio das mercadorias embarcadas: sua ocorrencia, porem, em tempo algum foi alcgada pela embargada.
4 — Como o venerando ccordao c a respeitavcl sentenqa da primeira instancia deixaram bem claro e a embar gada confirmou reiteradamenfe, esta niinca negou a obrigagao legal e contratual de reentregar os volumes recebidos. Reconheceu que a «obriga?ao c sagrada. invulneravel, cterna. tao
viva como no dia em que nasceu o conhecimento», na cxpressao do briIhante veto do cminente Desembar gador Relator.
5 — Nao tendo a embargada cuniprido a obrigacao. tornou-se responsavel por perdas e danos, como dispoc o art. 1.056 do Codigo Civil, e para paga-los foi chamada a juizo.
Tcmpestii'idade da agao
6 — Pelo despacho saneador, que passou em julgado. foi de.sprezada a preliminar de prescrigao, ficando, assim. aplicado o art. 442 do Codigo Comercial e observada a jurisprudencia pacifica dos tribunals.
O Merita da causa
7 — No inerito, defendeu-se a em bargada alegando que, embora obri gada a devolu?ao da niercadoria reccbida, nao era responsavel pelo inadimplemento dessa obrigacao. em virtude de certas clausulas impressas no ver.so dos formularies de conhecimento de carga.
Eis o teor das clausulas dc irresponsabilidade. invocadas pela re, ora em bargada:
Clausula 13, 2.^ parte:

O armador e o capitao nao sac responsaveis pelos danos que se originarem do embarque de mercadoria era mau estado (ou perdas. danos ou roiibos, riscos esses que poderao ser cobertos pelo seguro):
Cldusula 24:
O armador nao responde por avarias, perdas. danos. roubos ou qualquer outre risco que possa ser coberto pelo seguro.
A Obrigagao em sentido juridico c OS seus efeitos
8 — Para a aprecia^ao da defesa da embargada. concernente ao merito da questao, cumpre lembrar os fundamentos basicos da obrigacao em sen tido juridico e das relagoes elementarcs existentes entre devedor e credor, no nosso sistema de direito.
O erainente Alfredo Bernardes da Silva, ao estudar a natureza da obri gagao e ao procurar a sua definigao. no ,seu trabalho <iO conccito moderno da obrigagao. dc valor economicos. chegou a seguinte conclusao;
£ " a relagao juridica. estabelecida entre os patrimonies do credor e do devedor. pela vontade destes ou pela lei. e em virtude da qua! o devedor deve espontaneamente cumprir ou solver, de acordo com a necessidade legal da natureza, efeitos e modalidades da obrigagao, o coriteudo da prestagao, de valor economico, e consistente ou em dar ou fazer, ou nao fazer, ou de restituir, indenizar ou garsntir, em favor do credor, que, no caso de inexecu'gao' total ou parcial ou no de retardamento dolose ou culposo ou mesmo inculpado, se o devedor assumiu todos os riscos ou .a lei Ihcs impos. tem agao judicial para haver do patrinionio do devedor a competente execugao, ou cm especie do contciido da prestagao. ou do seu equivalente. ou a respectiva indenizagao das per das e interesses» {Revista Forense, vol. 42. pags. 239/241).
E seguindo a mesma orientagao, J. M. DE Carvalho Santos define a obrigagao:
«Em sua natureza complcxa consta de duas relagoes intimamente conexas.
183
181
18;-.
180
N, 49 — JUMHO DE 1948 KBVI8TA DO I. R, B.
a primeira das quais da ao credor a faculdade de exigir a presta^ao, subsistindo, em correspondencia. uma outra rela^ao juridica, por meio da qua] o credor tern direito dc proceder a execugao forgada sobrc o patrimonio do devcdor (garantia) para conseguir aquela utilidade. que devia alcangar por meio da presfagao cumprida, vo]untariamente». (Codigo Civil Brasileiro Interpretado. vol. XI. pag. 7).
A obrigagao e constituida por duas relagoes, uma que da ao credor o di reito de exigir a presca^ao, e a outra. que emana da inexecugao da prestagao e substitui a primeira. dando ao credor o direito de ser indenizado por perdas e danos. A primeira rela^ao e a obriga^ao propriamente dita. a segunda se traduz na responsabilidade do devedor peio inadimplemento e no direito do credor a reparagao pelo dano sofrido: ambas as relagoes sao abrangidas pela obrigagao em sentido lato.
9 — Em plena concordancia com o conceito moderno da obrigaqao, o sistema da nossa lei aprecia os efeitos das obrigagocs ja quanto a sua execu?ao. ja reiativamentc ao seu inadimplemento (Codigo Civil, Livro III, Titulo II). Determina ao devcdor a alternativa ou de cumprir a obrigagao, cxata e integralmente. ou de responder por perdas e danos. em caso de sua inexccucao; nao usando daquela. o devedor incide nesta.

Nesse sentido ensina J. X. CarvaIho de Mendon^a, sobre a responsa bilidade por perdas e danos:
«A repara^ao do dano, oroveniente da inexecu^ao ou inadimplemento da obriga^ao. bem apredada, nao e mais do que a reparagao pelo ato ilidto, en-
quadrando-se em sua gcneralidade no art. 159 do Codigo Civil, visto como se da a violagao do direito, e prejuizo a outrem em virtude de ato, ou omissao voluntaria do devedor. Certo. porem, que o Codigo definiu e regulou separadamente os efeitos do inadimplemento da obrigagao e os do ato iiicito. nao somente por exigir cada um deles algumas regras particulares. como principalmente porque a obrigacao de reparar o dano proveniente da nao execu^ao da obrigacao imputavel ao devedor, nao e obrigacao nova e diversa da prirnitiva. mas conseqiiencia desta, Os Codigos modernos assim entenderam...» (Trat. de Dir. Com. Bras, d." edigao, vol. VI. parte I. n.''396).
Sao. pois. esses os efeitos diretos da obrigagao assumida: ou o cumpriniento ou a responsabilidade por perdas e danos em caso dc inadimplemento (vide as considcracoes de Lacerda de Almeida em «Dos efeitos das obrigaC6es». pags, 23/31 e 336/341).
Em face desscs principios elementares do direito das obriga^oes, a res ponsabilidade pela inexecu^ao e elemento integrador da obrigaijao em sentido juridico: c a sangao que a lei estipula para o caso dc inadimplemento, e distingue a obrigacao juridica da simples moral ou natural.
10 — Passando das considcragoes gerais sobre os efeitos da obrigacao, a apreciagao especifica da defluente do contrat'" dc transporte. cncontra-.se. na doutrina e jurisprudencia, a observancia dos mesmos principios:
«As empresas de transporte... obrigam-se. aceitando mercadorias, a entrega-las no seu destine, pontiialmentc,
em condicoes de integridade material... Nao cumprindo esta obrigacao. manifesta-se a sua responsabilidade decorrente do inadimplemento contratual, com o escopo da reparagao do dano» (J. X. Carvalho de Mendorca, Tratcdo. vol. VI. parte II, n.' 1. 148).
E nao se cansam os tribunais, de rcpetir a mesma concluslo: Supremo Tribunal Federal:
Apelacao civel n.'^ 5.963. acordao de 6/9/1935:
«Salvo OS casos fortuitos ou de foi'ca maior. a responsabilidade e do transportador pelos danos ou avarias da carga». (Jurispru dencia Supremo Tribunal. Imprensa Nacional, vol. 25. 2." par te, pags. 135/140):
Apelacao civel n." 6.674, acordao de 19/12/1938:
«0 condutor resporde pelos danos causados as mercadorias de cujo transporte se encarregou, resultante da culpa ou dolo de seus prepostos» (Jurispruden cia Supremo Tribunal, Imprensa Nacional, vol. 35, 1 parte pags. 178/179):
Apelacao civel n." 6.927, acordac de 12/7/ 938:
«A empresa dc transporte responde pelas mercadorias que Ihe sao confiadas» (Jurisprudencia Supremo Tribunal, Imprensa Nacional, vol. 35. 1/ parte. pags. 232/233):
Tribunal dc Apelacao do Distrito Federal:
Apelacao civel n.° 5.387. acordao da 4." Camara, de 1/6/1945:
«As empresas transportadoras rcspondem pelo desvio ou perda da meccadoria transportada devendo ressarcir o dano pelo justo valor» (Diano da Justi^a de 22/I/I947. Apenso, pagina 117);
Apelacao civel n." 5.697. acordao da 3.-'' Camara. de 12/10/1945:
«A inexecucao do contrato de transporte importa a obrigagao de pagar perdas e danos, devendo a indenizagao ser sempre a mais completa» (Revista Forense. vol. 105, pag. 516):
Tribunal da Justi^a de Sao Paulo:
Apelagao civel n." 33.471, acdrdao da 6." Camara, de 13/6/1947:
«Esta responsabilidade tambem results dos termos do art. 101 do Codigo C'omercial, estando a re sujeita a. indemzar o extravio das mercadorias que Ihe sao confiadas para transportar» (Revista dos Tribunais, vol. 169, pags. 689/690):
Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul:
Apelacao civel n.' 3.234, acordao dr 2.- Camara. de 5/6/1946;
«Nos contratos de transporte maritimo. o fretador responde pelos efeitos que Ihe sao confiados» (Revista Forensev vo lume 108, pags. 106/108).
187
188
N. 49 — JUNHO DE 1948 189
190
KSVISTA DO I. R. B.
A clausula de irresponsabitidade
H — Elucidado o nexa entre a cbrigagao e a responsabiJidade pela sua execugao, imp6e-se logica a subsequentc conclusao: a clausula confratual que conceda ao devedo' o direito de nao responder pela falta do cumprimento, torna inexistente a propria obriga?ao, , em sentido juridico: quando pouco. transforma-a em simples obrigagao moral. Nao havendo mais sangao, o cumprimcnto da obrigaQao esta sujeito ao arbitrio do devedor: ao seu livre criterio fica a execugao do promctido, ao passo que ao rrcdor nada resta senao manter a esperanga de que o devedor, urn belo dia, resolva fazerIhe a gentileza de atender ao prometido.
12 — Nenhuma clausula de irresponsabilidade. por mais restrita que seja, e uma mera clausula acessoria que, disponha apenas sobre questocs de segunda ordem e deixc intata a obrigagao Ao contrario. ela modifica. iimita ou extingue a propria obriga^ao, por Ihe tomar o elemento da sancao, parciai ou totalmente. Neste sentido. encontra-se na nossa primeira obra juridica dedicada ao cstudo da «Cl^usula de nao responsabilidade», da autoria do professor Adauto Fernandes, a clausula definida como «o ajuste, verbal ou escrito, entre duas ou mais pessoas, que limita ou extingue, no todo, ou em parte, o efcito do ato juridico entre os confratantes® e mais adiante caracterizada como «uma auto-limitagao. que as pastes a si mesmas se impoem, ou limitando ou extinguindo a declaragao de vontade» (pag. 169 da obra citada).
Por mais compreensiveis que sejam o.s motivos que na vida moderna tenham
originado as clausulas de irresponsabilidade. nao se podc negar a .sua natureza juridica: revelam-se como clausula extintivas muitas vezes. restritivas. sempre, da propria obrigagao.
A aceitapao da clausula de irrcsponsabilidade, pelo credor
13 — Para que vaiha a clausula de irresponsabilidade. quer cxtintiva quer limitativa da obrigagao, condiqao essencial e o seu conhecimento por parte do credor da obrigagao e a sua inequlvoca aceita?ao. Sao tao enormes as suas con^qiiencia que ,ela, mais que qualquer outra clausula contratual, deve ser conhecida pela parte credora. Por esse motivo, ja em 1909, quando nao existia entre nos legislagao especial-sobre „as obrigacoes do transportador. Bento de Faria escreveu:
«... para que a convenqao de irres ponsabilidade possa ter vida e mister que as pastes contratantes a tenham pactuado expressamente, de modo inequivoco. claro e certo, nao se podendo inferi-la por dedugoes.
Assim, nao podera valer quando impressa em caracteres miniisculos nos conhecimentos, porquanto pode suceder que 0 carregador. assinando ou recebendo ditos conhecimentos, nao a lesse. ionorando, assim, ao que se obrigava» {Revista de Direito, vol. 13. pag. 73).
Assim, tambem J. X. Carvalho de Mendon^a ensina:
«A responsabilidade das empresas de transporte seria inteiramente suprimida se Ihes fosse permitido livremente limita-la em declaragoes publicas ou nas clausulas do contrato. Em principio, esta estipula^ao seria nula. porque poderia dar facil cntrada ao dolo» ('Iratado, vol. VI, parte II, n." S .154).
E no mesmo sentido o Juiz Dr. Jose de Aguiar Dias, na sua monografia sobre a «Clausula de nao indcnizar.>,
escreve:
«A condigao c.'^oencial fb validadc da clausula c a accitagao cbqucle a quern aproveita a definigdo da respon sabilidade. Scm acordo de vontadcs. a clausula nao produz cfeifo. O consentimcnto podc ser dcduzido da utilizagao da tarifa cspccia! ou, se se trata de empresas nao submetidas a regime de aprovacao oficial, por qualquer mcio ac direito, entcndendo-se que, em case de diivida, a interprctagao dcve favoreccr o expedidor, dada a feigao que revcstcra de dcrrogacao do direito comum» (pags. 158/159).
E ainda a pag. 215;
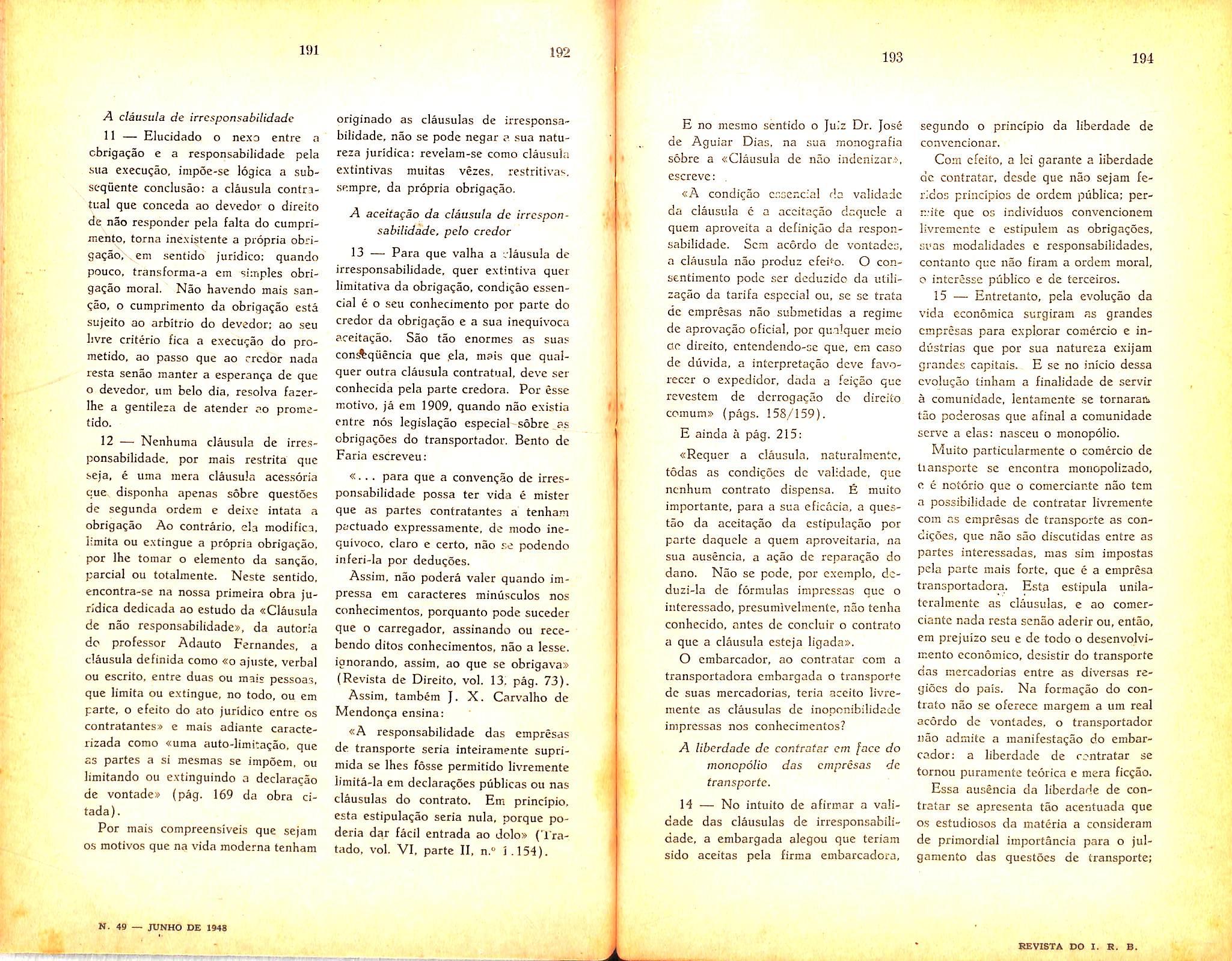
«Requer a clausula. naturalmcntc, todas as condicocs de validadc, que ncnhum contrato dispensa. muito importante, para a sua eficcbia, a questao da aceitagao da estipulagao por parte daqucle a quern aproveitaria, na sua ausencia, a agao dc rcparagao do dano. Nao se pode, por cxemplo, dcduzi-la de formulas imprcssas cue o intcrcssado, presumivelmente, nao tcnha conhecido, antes de concluir o contrato a que a clausula esteja ligada®.
O cmbarcador, ao contratar com a transportadora cmbargada o transporte dc suas mercadorias, teria aceito livre mente as clausulas dc inoponibilidade impressas nos conhecimentos?
A liberdade de contrafar cm [ace do rnonopolio das cmpcesas de transporte.
14 — No intuito de afirmar a vali dadc das clausulas de irresponsabili dade, a embargada alegou que teriam sido aceltas pela firma embarcadora.
segundo o principio da liberdade de convencionar.
Com cfeito, a lei garante a liberdade dc contratar. dcsde que nao sejam feridos princlpios de ordcra piiblica; perr.'ite que os individuos convencionem livremente c estipuiein as obrigagocs, suas modalidades e responsabilidades, contanto que nao firam a ordem moral, o intcresse publico e de terceiios.
15 — Entretanto, pela evolugao da vida economica surgiram as grandes empresas para explorar comercio e industrias que por sua natureia exijam grandes capitais. E se no inicio dessa cvolugao tinham a finalidade de servir a comunidadc, lentaraentc se tornaraOi tao poderosas que afinal a comunidade serve a elas: nasceu o rnonopolio.
Muito particularmente o comercio de liansportc se encontra moriopolizado, e e notorio que o comerciante nao tern a possibilidade de contratar livremente com as empresas de transporte as condigoes, que nao sao discutidas entre as partes intcressadas, mas sim impostas pela parte mais forte, que e a empresa transportadora. Esta estipula unilatcralmentc as clausulas, e ao comer ciante nada resta scnao aderir ou, entao, em prcjuizo scu e de todo o desenvolvimento economico, dcsistir do transporte das mercadorias entre as diversas reyioes do pais. Na formagao do con trato nao se oferece margem a um real acordo dc vontades, o transportador nao admitc a manifestagao do cmbar cador; a liberdade de rantratar se tornou puramente teoiica e mera ficgao. Essa ausencia da liberdade de con tratar se apresenta tao acentuada que o.s estudiosos da materia a consideram de primordial iraportancia para o julgamento das questocs dc transporte;
' 191
192
K. 49 — JUNHO DE 1948 193
194
SEV18TA DO I. B. B.
sejam citados apenas o Irabalho de Fernando Rudge Leite sobre a «Clausula de Nao Responsabdidade no Transporte Ferroviario de Mercadorias» (Revista Forense, vol. 108, paginas 18/21) e o consclho do saudoso Hugo Simas;

«A jurisprudencia. desapegada as aparencia.s de livre estipula^ao, que nao existe, ao monopolio das companhias de navegaqao, cabe, pelo exame das condigoes reciprocas dos signatarios do conhecimento, conter dentro do justo e do honesto as estipulagdes do contrato de transporte». (Compendio de Direito Maritimo Brasileiro, pag. 208).
16 — Quaisquer que sejam as clausulas de irresponsabilidade invocadas pelo transportador maritimo, em seu lavor, diivida nao padecc que nenhuma jamais foi livremente aceita pelos embarcadores, faltandc-ihes, conscqiientemente, o elemcnto essencial para a validade.
O conhecimento de cacga como titulo de credito
17 —^ O conhecimento de carga riao e apenas o instrumento do contrato de transporte que possa interessar somente as duas partes contratantes, mas constitui um titulo de credito negociavel.
Para facilitar a mobilizagao da riqueza e a sua circulagao, indispensavels a moderna organizagao comercial e bancaria, o legislador sancionou praxes do comercio, ratificou os poiicos dispositivos legais referentes ao conheci mento de frete como titulo de credito (art. 587 do Codigo Comercial) e incluiu-o, definitivamente, no rol dos tituios negociaveis, dispondo sobre a sua fungao pelo Decreto n." 19.473, de 10
de dezembro de 1930. £sse ato legis lative atcndcu
«a uma necessidadc, desconhecida ao tempo da elaboragao do nosso Co digo Comercial que veio se caracterizando e impondo na pratica nao obstante a falha legislativa; a da circulagao dos conhecimentos de frete, como papeis representativos das mercadorias que enunciam, paralelamente a dos titulos a ordem, e os efeitos comerciais ao portador» (Paulo M. Lacerda em «Conhecimcntos de frete», Arquivo Judiciario, vol. 17. pags. 13/16).
Titulo representative das mercado rias entrcgues ao depositario, isto e ao armador, titulo autonomo, formal, circulatorio, e negociado e transferido, por simples tradigao quando ad portador, e por endosso quando a ordem de determinado consignatario.
Tendo o conhecimento a fungao de representar a mercadoria, o legislador Ihe proporcionou os requisitos capazes de Ihc garantir liquidez e certeza e protcgcu-o de maneira mais eficiente.
«A lei... e categorica. Nem podia ser de outra forma. Convcrtido em titulo circulatorio, para o conhecimento cumprir a sua fungao economica e indispensavcl a inexistencia da minima diivida sobre a realidade das mercado rias por ele reprcsentadas.»
ensina Waldemar Martins Ferrcira em «0-conhecimento de transporte ferro viario a pag. 66. A fim de proteger OS terceiros que de boa-fe adquirem o conhecimento, na convicgao de que realmente representem as mercadorias nele consignadas, a lei o considera prova do recebimento da mercadoria e da obrigagao de cntrega-la no lugar do destino, conforme reza o artigo primeiro do Decreto n,° 19.473 de 1930.
18 — Como se nao bastasse esse preceito categorico e precise, o legis lador Ihe acrescenfou;
«Reputa-se nao escrita qualquer clausula restritiva, on modificativa, dessa prova, ou obrigagao».
O conteudo logico des.se famo.so dispositive legal sera evidenciado. melhor que per nos. pelo brilhante veto, vcncido mas por isso nao mcnos convincente. do emincnte Relafor Desembargador Vicira Braga:
«A lei. rcputando nao esaita clau sula dcstinada a eliclir a obrigagao de fazer a cntiega da mercadoria. com isto fulmina de nulidadc a que vise por o tiansportador a coberto de re.sponsabilidade. tao vigorosa e energicamente. como o teria feito por meio de unia pioibigao direta da clausula dc irres ponsabilidade, pois. vedar .a exclusao da causa de indcnizar e o mc.smo, para o resultado de assegurar aquela obri gagao. que nao admitir a c.xclusao do proprio efcito».
Se as clausulas de irresponsabilidade nada tivessem que ver com a obrigagao da entrega da mercadoria. romo o ventrando acordao embargado laconicanicnte da a entender, qual .seria o senso da disposigao do artigo primeiro do Decreto n." 19.473?
O legislador teria estipulado uma obrigagao legal, para admitir a irres ponsabilidade pela sua pxccugao e afastar a sangao do nao cumprimento?
O legislador teria ditado o referido decieto para as suas disposigoes nada significarem e nao terem efeito juridico algum? A resposta se imp6e.
As clausulas n." 13. 2.". parte. e 24 do conhecimento
19 — Partindo-se das seguintes premissa.s. provadas, de que :
a) a responsabilidade pela inexecugao da obrigagao e elemcnto integrador da prdpria obrigagao:
b) a clausula de nao responsabili dade e cxtintiva muitas vczes, restri tiva, sempre, da obrigagao:
c) a clausula dc irresponsabilidade, constante do conhecimento, e invtilida, porque nao foi aceita pelo embarcador:
d) qualquer clausula reitritiva da obrigagao de reentregar a mercadoria recebida se reputa nula, conforme dis positive cxpresso da lei. cumprc a apreciagao das cliusulas 13. 2." parte. e 24 do conhecimento, para verificar a sua nulidade ou nao.
O armador nao responde, assim rezam as clausulas. per avarias, perdas. danos, roubos ou qualquer outre risco, que possa ser coberto pelo .seguro.
Desde que um risco seja seguravel, por ele nao quer responder o armador. Mas, pela atual tecnica securatoria, todos OS riscos sao seguraveis, dependendo a concessao da cobertura pelo seguro apenas do montante do premie, que as estatisticas 'e calculos atuariais determinam de acordo com a menor ou maior probabilidade do risco. Fixamse premios altos para os riscos que efetivamente devera ser pages pelo se guro. e estipulam-se premios baixos, quando o prejuizo resultante do risco devc ser ressarcido por um terceiro responsavel. como acontece nos seguros de roubo e extravio, em que o premio ccbrado pelo segurador aoenas deve compensar o trabalho de recuperar a quantia do prejuizo. do responsavel.
Tudo, pois. e seguravel: por nada. portanto, o armador que responder. Pela sua latitude, as referidas clausulas procuram con.scguir, no grau mais alto,
195 196
197 198 N. 49 — JtntHO DE 1948
REVISTA DO I. R.
o quc 0 artigo primeiro do Decreto n.'' 19.473 proibe. de forma mais absoluta: a completa irresponsabilidade do transportador. O efeito de tais dausulas. se validas fossem, seria imoraiissimo: se tudo e seguravei, se, consequentemente, per nada e responsavel o armador, entao ele pode, epos o recebimento da carga, apropnar-se da mesma, sem ser civilmente responsavel por essa apropria^ao.
Mesmo Dr. Jose de Aguiar Dias, quc na monografia sobre a «C!ausu]a de nao Indenizar» se inclinou a reconhecer aos transportadore.s de mercadcrias, o direito de restringir a responsabilidade pcla inexecuqao das obrigagoes assumidas. nao pode deixar de ccnsiderar nula a «clausula dc seguro»:
«,Nao Ihc aceitamos a val'/Jade, porquc nao ha, para o e.xpedidor, qualq-jer vantagem em nela consentir. Em nosso trabalho sobre o assunto, deixamos daro nossa repulsa a essa modalidade de convengao. Nao e razao bastante para aceita-la, dadus os pressupostos ja descritos, com base apenas na possibilidade de ser a mercadoria segurada» (Diario da Justica de 16 de abril de 1948, pag. 2.570).
O interesse publico e dc terceiros como motivo da pcoibigao das clausulas de irresponsabilidade.
20 — As clausulas dc completa irresponsabilidade, como a «clausula de seguro», concedendo ao transportador o privilegio de, impunemente, deixar
de cumprir a obriga^ao de dcvolvcr a carga recebida, vao muito alem do rcstrito campo de rela^oes entre emba'rcador e transportador; a sua admissao traria. fatalmente, conseqiiencias funestas a ordem publica e ao interesse dc terceiros.
O Decreto n." 19.473 vis.i principalmente a prote?ao dos terceiros que de boa-fe adquirem o conhecimento de frete; eles nao se podem arricar a ter nas niaos apenas um saco vazio, ante a nenhuina significaqao como titulo de credito, O legislador, sabendo do monopolio das empresas de transporte, das suas constantes tentativas de se aproveitarem da sua for^a economica para imporem a sua vontade aos embarcadores, da praxe dc se imprimirem, nos conhecimentos, clausulas de irres ponsabilidade de toda especie, fulmina-as de nulidade para, protegendo os individuos, defender o interesse da coletividadc, a qual .sc dcstin.a o service dc transporte, de carater emincntem.ente publico. Em pais dc territorios tao vastos como no Brasil, o progresso material, condigao sine qua non da evoluqao cultural, depende da movimentagao dos bens matcriais. dos lugares onde OS ha aos onde sao precisos, Eis porque as obriga^oes do transportador, nao apenas contratuais, mas legais, nao podem ser passiveis de modifica^ao ou restri^ao convencional.
21 — Mas as clausulas em foco, se validas fossem, nao so prejudicariam o interesse economico da coletividade:
fereni em cheio ,a ordem moral e os bens costumes, e sao nulas .porque o seu fim e '•manifestamente ofensivo da sa moral e bons costumess (Codiqo Comcrcial, art. 129, 2). Autorizando o armador, que e consideraric fiel depositario, a exoncrar-sc oreventivamente da responsabilidade por ato culposo ou doloso, chofram a ordem piiblica, poi'que a ninguem c licito subtiair-se a repara^ao de um prcjuizo defluentc de fato proprio; '<As partes nao podem convencionar que nao responderao pelo proprio dolo. Tal declaragao sera inexistente, por confer ja em si alguma coisa de dolosos (J. X. Carvalho dc Mendon^a, Tratado, vol. VI, parte I, n." 75). -A velha ma xima aihda hoje e tao viva como no tempo do Direito Romano: «lllud nulla pactione effici potest, ne dcliis praestetur».
E acentuado foi o mesmo principio pelo acordao do Supremo Tribunal Federal, de 1/8/1934, na apelajao civel n." 5.365, em cuja ementa se le;
«Nao se pode concebcr, nao somente num contrato de transporte mas em todas a.s obriga^oes contratuais, a validade de um acordo, por forga do qual uma das partes contrat.antes fique autorizada a omitir os cuidaclcs da diligencia comum e da previdencia, isto e, tenha autoriza?ao para ser negligente e descuidada, £ inconcebivel que se admita semelhante pacto, tendo em vista o objetivo de toda a legisla^ao que c sempre assegurar os bons cos-
tumes» (Revista dos Tribunals, volume 110, pags. 807/824).

22 — Nao salva as clausulas dc iiresponsabilidade o fato de tcrem sido impressas com o beneplac'to da Comissao de Marinha Mercante, porque di.sposicoes legais positivas nao podem. evidentementc, ser modificadas por reparti^oes do Poder Executivo, as quais nao cabe legislar.
A jiirisprudencia dos tribunals
23 — Os tribunals atribiiiram a lei positiva e particularmente ao Decreto n." 19.473 de 1930, o alcance desejado pelo legi.slador, abandonando a jurisprudencia anterior pocventura favoravel a determinadas clausulas de irres ponsabilidade. Iniimeros sao os julgados, torrencial e pacifica C a jurisprudencia, aplicando com seguranqa e sem vacilagao os dispositivos legais, Ja sc tornaram classucos. cntre nos. 0 relatorio e voto do Ministro Carlos Maximiliano, "em acordao do Supremo Tribunal de 4 de janeiro de 1938, na apela^ao civel n," 6,401:
«A clausula de irresponsabilidade da fretadora pelo extravio das mercadorias encontra-se cm conhecimento expedido em marqo de 1931. Nesta epoca ja vigorava o Decreto n.'"' 19,473, de 10 de dezembro de 1930, que dirimia velha diivida sobre a validade de tal clausula,
O legislador brasileiro scguiu as pegadas do frances, que em 1917 e
.H 101)
3KI
N. 40 — JUNHO DE 1948 201
202
REVISTA DO I, R. B,
1926 tentou vedar as ciausulas de irresponsabilidade; em Franca, a oposigao das companhias de navegagao retardou a marcha da medida (Georges Ripert — Droit Maritime, 3." ed. vol. II. n." 1.797). No mesrao sentido

Icgisiaram: os Estados Unidos. com o Harter Act. de 1893, adotado na Aus tralia, Nova Zelandia e no Canada: o Japao, logo depois: a Holanda e a luglaterra, em 1924 e a Belgica, em 1929 (Ripert, vol. citado n." 1.798)» (Revista Forense, vol. 75, pags, 95/97),
24 —i Fiel a essa tradi^ao, Pm inumeros acordaos, o Tribunal de Justi^a do Distrito Federal reconheccu expressamente a nulidade das clausulas de irresponsabilidade. Sejam citados OS acordaos unanimes nas seguinfes apela(;6es civeis:
N." 7,741 — 4." Camara, acordao 23/5/1947, Relatot Desembargador Flatnlnio de Rezende:
«Em face da lei sao inoperantes as ciausulas insertas nos conhecimentos de embarque isentando as empresas transportadoras de responsabilidadc no caso de furto, ou roubo de mercadorias entregues a sua guardas (Certidao junta a estes embargos);
N." 8.165 — 5." Camara, acordao de 6/9/1946, Relator Desembargador
Serpa Lopes:
«Trata-.se de uma controversia em torno a clausula de inoponibilidadc. de que -se socorreu a apelante para negar a obriga;ao pretendida pelo apelado. Negou-lhe validade o juiz, em vista do disposto no artigo prim.?iro do Decreto n." 19.473.
Completou-se. a.ssim, o r.iclo evoiutivo iniciado com o art. 12 do Decreto n" 12.681 de 1912. Significa isso a prescrigao peremptbria da clausula de inoponibilidade, A nossa legislagao foi extrcmada, no sentido de proteger, no maximo, a circula^ao dos titulos relatives ao transporte de mercadorias, dando-lhe toda eficiencia no intuito de assegurar os interesses de terceiross (Certidao nos autos desta dcmanda a fls. 76/77):
N," 8.483 — 6." Camara, acordao de 11/10/1946, Relator Dcsembargador Mem de Vasconcelos Rei.s;
«Acertado andou o Dr. Juiz a que repelindo a pretensao do apelante no sentido de exoneraqao de sua responsabilidade por motive da clausula constantc.do contrato de transporte,. , , nao so porque isso so se legitima nas situaqoes de caso fortuito ru forga maior, como tambem por se: principio de direito recebido pela nossa jurisprudencia que a responsabilidadc do transportador nao pode scr suprimida por declara^oes publicas. ou ciausulas de contrato, Reconhecer-se a validade de tais declaragoes, ou ciausulas contratais, seria facilitar-se, senao autorizar-se a pratica do dolo. Em .se verificando tal fato, entenden-se como inexistentes essas dcclara^oes e clausulas» (Revista Forense, vol. 110, pags. 432/433):
N.° 8.746 — 5,-'' Camara, acordao de 9/5/1947, Relator Desembargador
Serpa Lope.s:
«A apelante apega-se precipuamente a clausula de inoponibilidade constantc do conhecimento- A sentenca apelada, porem, com muito fundamer.to recusou
validade a re/erida disposiqao contrntual, em face do artigo primeiro do Decreto n." 19,473 de 1930» (certidao ane.xa a estes embargor):
N."'804 — 5," Camara, .acordao de 18/11/1947. Relator Desembargador Serpa Lopes;
«0 fato csta admitido apenas se controvertendo a respeito da obriga^ao de ressarcir em face de existir clausula de inoponibilidade em beneticio do apelante. Com muito acerlo decidiu a sentenija apelada no sentido de repelir essa pretensao, Efetivamente, jurisprudencia reitcrada tem sido dcst.n Camara a de nao admitir a validade da aludida clausula, dados os termos peremptbrios do artigo primeiro do Decreto n," 19,473 de 1930, que nao dao margem e trancam, de modo abso lute. qualquer possibilidadc de divaga^oes tebricas a respeito* (certidao junta a estes embargos):
N." 833 — 8,'' Camara, acordao dc 12/1/1948, Relator Desembargador Olivcira Sobrinho.
O acbrdao ainda nao foi publicado, constando a ata da sessao da 8,^' Ca mara. do Diario da Justi'ca de 14 dc janeiro de 1948, pag, 296,
25 — Finalizando-se a citagao da recente jurisprudencia sobre a materin em foco, sejam lembrados ainda dois acbrdaos que. referindo-.se expressa mente as ciausulas 13 e 24 impressas no verso do conhecimento maritimo, a.s reputam nulas e como se n;1o escritas ertivessem. em face do artigo primeiro do Decreto n," 19.473:
5," Camara do Tribunal de Justi^a do Distrito Federal, acbrdao proferido
aos 25'4/1947 na apela^ao n." 8,537, Relator Desembargador Ribas Carneiro;
«Conforme preceitua o de*reto invocrdo,. , , o conhecimento de frete ori ginal emitido pela empresa de trans porte por agua, prova o recebiraento da mercadoria e a cbriga^ao de entrega-la no lugar do destino, reputando-se nao escrita qualquer clausula restritiva ou modificativa dessa prov.a ou obrigagao, 6 pois incontrovers.a a respon sabilidadc da re no indenizar a autora dos prejuizos que esta sofreu com o cxtravio de suas mercadorias» (cer tidao nos autos desta demands a fls. 78/79):
2.'' Camara do Tribunal de Justiqa dc Sao Paulo, acbrdao de 12/8/1947 na apela^ao n," 32,669, Relator De sembargador A, de Oliveira Lima; «Nao v^lc a clausula de isen?ao dc respon.sabilidade do transportador, que e obrigado a indeniza^ os prejuizos causados por culpa de seu preposto, A clausula 24, e.xonerando o armador da responsabilidadc por <ivarias na carga, nao precede Icgalmente porque a respon.sabilidade do transportador subsiste. ex-vi do disposto no artigo primeiro do Decreto n." 19.473 de 1930» (Revista dos Tribunai.s, vol. 169, pags- 607/610).
A chamada «c!aitsula de seguro» em face da Conuen^io Internacional para a unificai;ao de certas regras concernentes aos conhecimentos maritimos, de Bruxelas
26 — A clausula 24, a chamada «Insurancc Clauses, de origem ingl&sa.
203
N. 43 — JUNHO DE 1948 20-1
1! 205
20(5
REVISTA DO I, R. B.
foi vivamente coinbatida, desde a siia apariqao, e segundo inform,? Brunetti, a jurisprudencia internacionai prevaIcntemente a considerou ineficaz, apos a primeira Grande Guerra (vol. II de «Diritto Marittimo Private Italiano», 1930, pag. 187. nota 4). Afinal, na Conferencia Internacionai de Bru.xelas, a «Insurance Claii,se» foi discutida pelos maiores jurisconsultos maritimistas e por eles, unanimemente, deciarada leonina e radicalmente'iiicita (vide Berlingieri «La poliza di carico e la Convenzione Internazionale d' Bruxelless pag. 183). Ncste .sentido pacificaramse a doutrina e juri.sprudencia, apos deciarada iiicita a referida ciausula pela Convenqao Internacionai para a unificagao de certas regras concernentes ao.s conhecimentos maritimo.s, assinada em Bruxelas aos 25 de agosto de 1924. Aderiram-lhe quase todos cs paises maritimos. inclusive a Gra-Bretanha. Fran?a. Italia, Paises Baixos. Estados Unidos da America do Norte.

Embora o Bra.sil nao tenha aderido aquela Convengao, os sens dispositivos evidenciam a evolu^ao das regras do transporte nautico e fortalecem o que em 1930 o nosso legislador estabeleceu, em termos peremptorio.s.
A funcao economica do seguro efetuado pelo embarcador
27 — O conierciante embarcador. vinculado a miiltiplas obriga^oes e para habilitar-se ao seu pontual cumprimento e conseqiiente manuten^ao do seu crcdito, ncccssita de uma liquida^ao imediata de todos os prejuizos decorrentes de danos de suas mercadorias durante 0 transporte; procura o segiirador para contratar o seguro contra os risco.s
comuns de transporte, provcnientes de caso fortuito ou forga maior. Apesar de conhecedor da responsabilidade do armador, pelo desvio de mercadorias a bordo, prove os obstaculos a comprovagao do ato culposo ou dolo.so do armador: nao ignora a ja notoria morosidade e ma vontade do tiansportador. na iiquidagao das indeniragoes: afinal toma em consideraga-j a possibilidade de o fretador se achar em prccaria situagao financeira. E para salvaguarda-se contra as conscqiiencias desa.strosas'dessas eventualidades, contrata tambem o seguro contra roubo e extravio, transferindo ao segurador o risco de nao conseguir a indenizagao, do armador responsavel, e sub-roga-o nos seus direitos, nos precisos termos do art. 728 do Codigo Comercial.
28 — O segurador, ao aceitar o se guro, cobra duas taxas: uma para, com a sua receita, enfrcntar o pagamento das indenizagoes devidas pelos riscos basicos, oriundos de forga maior e caso fortuito, pelos quais nao responde o transportador, segundo o art. 102 do Codigo Comercial; e a outra destinada a cobertura dos riscos de extravio c roubo, Esta segunda taxa e determinada pelo segurador em vista da res ponsabilidade do transporta.dor c da obrigagao deste, de pagar o prejuizo ao segurador sub-rogado no direito do carregador. pois fixado um premio insignificante para a cobertura de roubo e extravio, insuficiente para compensar 0 vulto dos prejuizos causados pelos atos culposos ou dolosos do armador, bastante apenas para cobrir a.'' despesas que o segurador tem com a rocuperagao da quantia do dano, do fretador responsSvel. 6 antes uma taxa de expe-
dicnte, paga pelo segurado para receber adiantadamentc o que o armador posteriormente tera que reembolsar, 6ste mccanismo baseia-se em principios adotados pela legislagao: justamente poiquc o segurador tem o direito regressive c.xpressamentc dcferido pela lei p por serem nulas as clausulas de irresponsabilidade. nulas fotalmente para nao tcrcm efeito algum e contra ninguem, e que o segurador pode aceitar o seguro contra roubo e extravio, e ate a uma taxa reduzida, impropoicional ao vulto das indenizagoes. Se assim nao fosse, se o armador pudesse apropriarse da carga scin responder civilmente. se 0 segurador nao tivesse o direito rcgressivo, a eventualidade da ocorrencia do risco se transformava em certeza, c o premio concernente ao risco de roubo c desvio se levaria ao equivalente da propria mercadoria segurada, levando ad-absurdnm o institute do seguro.
29 — A finalidade economica do seguro contra roubo e extravio e a manutengao do credito comercial: a sua fungao e, em ultima analise. transferir ao segurador o trabalho de receber do armador a indenizagao.
c fere cm cheio os principios inorais c o interesse publico. Sera que doravante, «com o simples auxilio de uma quimica vcrbal» possa «co'iccber-se a um tempo a subsistcncia da obrigagao e a irresponsabilidade do obrigados? Os tribunai,s prcmiarao o afrouxamento da nogao do dever? O adquirente doconhecimento de carga nao tera mais certeza da existencia da mercadoria nele consignada? Admitir-se-ao, dor.avante, o lucupletamento e enriquecimento iiicito do transportador que, cobiando o frete antecipadnmente, nenhuma contraprcstagao devcra? PerirJtir-se-a ao «fiel» depositario apropriar-se dos bens confiados a sua guarda, sem responder civilmente? Autorizar-se-ao a subtragao de volumes, a pratica impune dos arrombamcntos e outros crimes cometidos a bordo? O armador nao tera mais o dever de exercer vigilancia a bordo? Continuara a ja incrivel desmoralizagao dos transportes, que toma proporgocs cada vez mais akirmantes?
30 — «fi precise interpretar e aplicar a lei, sem llie destruir o conteiido logico, o espirito e a finalidade!® (do luminoso voto do Relator Desembargador Vieira Braga).
A importancia da presente causa nao se mede pela pequenez da quantia pedida; estao em jogo o direito, a moral e a propria ordem publica. O venerando acordao, data venia, foi proferido contra cxpressas disposigbes legais
Incontestados .sao os fates desta demanda: data e 'expressa e a lei; torrencial e a jurisprudencia. Devem, por isso, OS prcsentes embargos ser recebidos e julgados provados para que. leformado o venerando acordao e com ele a respeitavcl sentenga de primeira instancia, scja a acao julgada procedentc c condenada a embarg.ada ao que inicialmente foi pedido. a indenizagao pelos danos sofridos. mais juios, custas e honorarlos dc advogado. Destartc se fara triunfar o Direito e nrevalecer a
Jiistiga
Rio de Janeiro. 7 dc maio de 1948.
Walter Dcciicr, Adv. Inscrigao 4.257
207 2()S
N, 49 — JUNKO DE 1948 2U9 210
Concliisao
213
noticiArio
DO EXTERIOR
Risco de minas maritimas
Quase tres anos ja sao decorridos do termino da guerra mundial: mas apesar disto, ainda perdura artiscado o trafego maritime em todo? os mares do Globe, devido as minas de todos os tipos espalhadas profusamente per tedos OS beligerantes.
Penosas e dispendiosas epera^oes de limpeza estao sendo cxecutadas pelos varies Governos: todavia, cstimase que durante mais cinco anos, tais. trabalhos devem ser mantidos ate que se consign reiativa seguranqa na navegagao.
£ necessario que cstas circunstancias sejam amplamcnte divulgadas, a fim de que os embarcadores e principalmente seguradores conkegam o risco a que estao expostos os nnvios e cargas que navegam em areas perigosas.
Segundo o relatorio anual da Associagao dos Seguradores Maritimos de Liverpool, durante o ano de 1947. houve 45 sinistros provocados por minas, atingindo navios de mais de 500 toneladas. A tonelagem desses barcos sinistrados atingiu a 173.844 (brutas). Desses casos, 20 com 46.276 toneladas, resultaram em perda total.
Desde 0 fim das hostilidades, os totals foram 147 navios com 707. 133 toneladas, atingidos por explosao de minas, dos quais 55 com 189,473 to neladas, foram perdas totais.
As areas con.sideradas mais perigosas sao; Baltico, Adriatico, o literal itaiiano da Sardenha, o Mar Egeu e o Mar Negro.
Os campos de mina.s magneticas nos litorais da Belgica, Holanda, Alemanha e Dinamarca, constituirao perigo grave ate 7957 e o acesso a essas co.sfa.s so e segiiro com a utilizaqao de canais e rotas demarcadas, que aos poucos estao sendo alargadas.
Os sinistros sao atribuidos a navega?ao fora desses canais balizados, seja por imprudencia dos pilotos, seja por for^a de tempestades ou nevoeiros.
Quanto aos Oceanos Indices e Pacifico, continuam as opera^des de lim peza. havendo iiltimamente temores fundamentados sobre minas desgarradas. que as correntes maritimas arrastam das costas japonesas, atraves o Pacifico.
Foram observadas e postas fora de perigo inumeros desse.s engenhos de destrufgao na costa americana, desde a California ate a Columbia Britanica.
Para se avaliar a magnitude do problema, nada mais e mister acrescentar. Alerta. pois, seguradores maritimos. {Contribuigao do Sr. A. O. Zander)
Argentina
Na Argentina, foi assinado em 22 de mar^o urn decreto assegurando aos corretores de seguros e capitaliza?ao uma remuneragao anual complementar equivalente a 1/12 do total das comi.ss6c.s auferidas durante o ano, Os
efeitos desse decreto retroagem ate 1945, devendo as emprcsas de seguro e capitaliza^ao providenciar imediatamente o'pagamento referentc aos anos de 1945. 1946 e 1947. Ainda por determinagao do referido decreto, deverao a Superintendencia de Seguros e a Inspeccion General dc Justicia, dentro do prazo de 90 dias. elaborar um projeto de regulamento para a profissao dc corretor, fixando nao so as condigoes para o seu exercicio, como tambem seus direitos e obrigagoes.
El Asegurador, n.° 225
Gspanha
For decreto de 16 de janeiro do corrente ano, foi criada a Escola Nacional de Medicina do Trabaiho, subordinada ao Institute Nacional de Medicina, Higienc y Scguridad del Trabajo. Na mesma so poderao raatricular-se medicos e licenciados em Medicina, os quais dedicar-se-ao a estudos c investigagoes destinadas a dotar o pais de um grupo dc profissionais especialistas em Medicina do Trabaiho.
El Eco del Seguro, n.° 1,524
Estados Unidos
Dados sobre o Seguro-Vida nos Estados Unidos (Extraidos do Life Insurance Fact Book — 1947).

— De 1895 a 1946, cnquanto sua populaqao apenas dobrou, a soma dos valores segurados cresceu 35 vezes, isto e, passou de 5 bilhoes de ddlares para 175 bilhoes aproximadamente.
— Em 1900 0 numero de segurados somava 10 milhoes, em 1918 31 milhoes e em fins de 1946 havia 73 milhoes Oe segurados com um total de
176.657.000 apolices. De 1945 para 1946 houve um aumcnto de 10.328.000 apbliccs e de 1940 para 1946 o aumento foi de 40.809.000 apolices.
— A receita total das companhias de seguros de vida montou, em 1946, a HS5 8,067.772.215.00. dos quais 77.8 % em premios
(US$ 5.727.371.302.00). 19.5 % em receitas de inversoes e 2.7 % de outras fontes.
A receita foi aplicada da seguinte maneira;
PEjgamentos aos segurados 39.4%
Acrescimo de reserves tecnicas 39.1% Acrescirao de rcscrvas livres c fundos 3.5% Despesas de opcragocs Agenciamento 10.0%
Salaries do Escritorio Central 2.7% Outras 3.0% 15.7%
Inipostos 1.8% Dividendo aos acionistas 0.5% iOO.0%
— As familias americanas recebcram em 1946. das companhias de segurovida, sob a forma de indeniza^oes por morte e invalidez, liquidaqoes em vida, anuidades, valores de resgate e lucros aos segurados, um total de L1S$ 2.792.724.000,00 o que equivale a media de US$ 7.651.000.00 diarios.
— O ativo total das companhias alcan^ava em fins de 1946 a cifra de US$ 48.190.796.000.00 que em percentagem, assim se distribuia:
Titulos do govcrno 44.9
Titulos particulares 27.2
Emprestimos hipotecSrios 14.8
Emprestimos aos segurados 3-9
Imoveis 1-5
Diversos 7.7
—• Em 1920 o seguro medio per familia era de US$ 1.500.00, cnquanto que a media, por familia, da renda
r 1>11 2r>
N. 4ft — JONHO DE 1948 214
REVISTA DO 1. R. B.
Nacional era de US$ 2.900,00. Em 1946 essas importancias foram respectivamente US$ 4.200,00 e US$ 4.700,00.
— O montante segurado cper ca pita® em 1945 foi de US$ 1.080,00. O Estado que apresentou maior indice de capital segurado «per capita® foi o de Nova York, com US$ 1 .720,00: o que apresentou indice mcnor foi o Estado do Mississipi, com US 320,00.
— Aproximadamente 75 '^/c do total de seguros em vigor em fins de 1946 se referiam a seguros com participagoes nos lucros.
—• 70 9^ dos seguros realizados em 1946 o foram em companhias miituas
Conllagragdes-incendio — 1947.
O ano de 1947 aparece como sendo o de maior incidencia de conflagra^oes de danos superiores a 1 milhao dc dolares cada uma, pois estas foram em niimero de 33 contra 28 em 1946, 26 em 1945 e 25 em 1944.
O dano total das 33 conflagra^oes excedeu dos 100 milhoes, atingindo, assim, a quase 1/6 do total dos prejuizos por incendio, em 1947. Delas, a maior foi a de Texas City, ocorrida cm 16 e 17 de abril que, alem de 500 mortos e 3,000 feridos, produziu danos materials superiores a 32 milhoes.
Segue-se o incendio da lloresta do Maine, em outubro, que provocou duas conflagra^oes: a de Bar Harbour, com 6 milhoes e a de Kennebunkport, com 2 milhoes em danos matcria.s alem de muitos outros danos esparsos, nao incliudos nestes totals, e os vastos prejuizos agricolas e florestars nao avaliados.
A proposito, esses sinistros fizeram com que fosse posto em funcionamento o «Plano de Catastrofes®, previamcnte prcparado. Assim, o National Board of Fire Underwriters, ainda enquanto ardiam os incendios, montou um escritorio em Texas City, convocando iiquidadores de todo o pais, os quais cm 6 semanas liquidaram 6.000 pedidos de indenizagao. Do mcsmo modo, no Maine, os Iiquidadores cnviados pelas seguradoras, .«eguiam literalmentc as pegadas dos bombeiros esfor^ando-se em que a assistencia do tcguro se fizesse sentir tao dcprcssa quanto possivel.
A explosao dc um navio-tanque, em Los Angeles, com 10 milhoes. o incen dio de duas docas de Nova York, uma com 6 e a outra com 5 milhoes, sao as conflagragoes que se seguem em ordcm dccrescente de importancias.
The Insurance Broker-Age. janeiro de 1948.
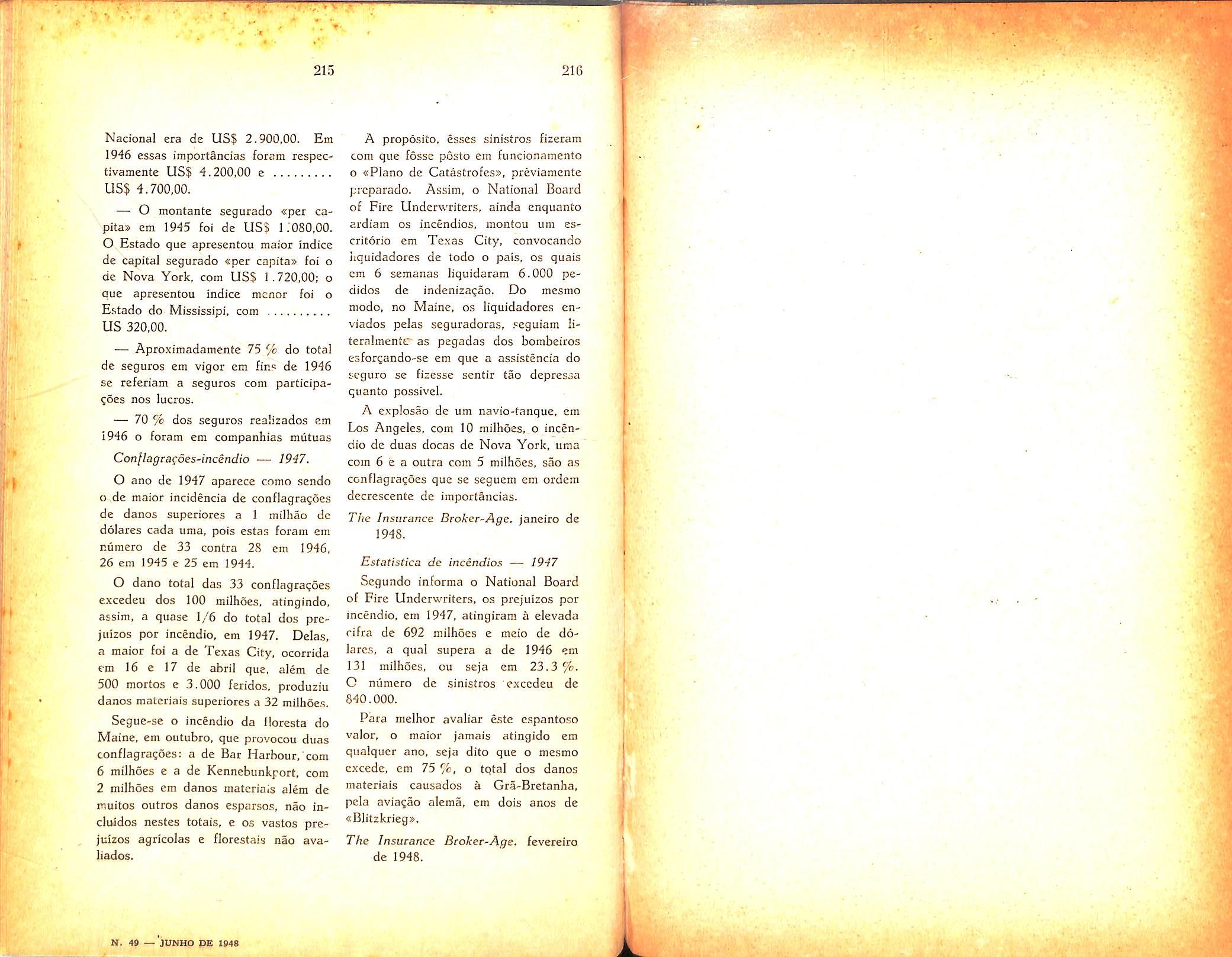
Estatistica de incendios — 1947
Segundo informa o National Board of Fire Underwriters, os prejuizos por incendio, era 1947, atingiram a elevada rifra de 692 milhoes e meio de do lares, a qual supera a de 1946 em 131 milhoes, ou seja em 23.3%. C numero de sinistros excedeu de 840,000.
Para melhor avaliar este espantoso valor, o maior jamais atingido cm qualquer ano, seja dito que o mesmo excede, em 75 %, o tqtal dos danos materials causados a Gra-Bretanha, pela aviagao alema, em dois anos de «Blitzkrieg».
The Insurance Broker-Age. fevereiro de 1948.
■■• •■ ■., V<C 215 216
'•a I'J N. 49 — JUNHO PE 1948