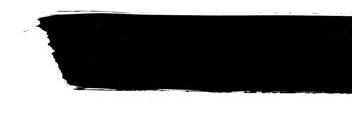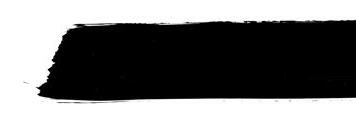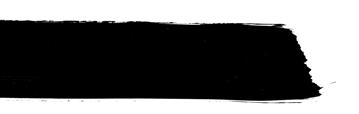
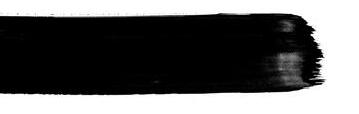
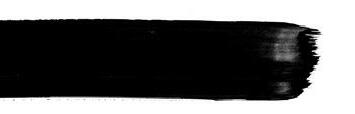
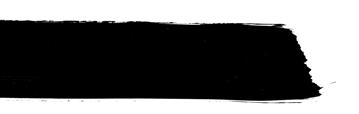
Palavras-Chave
Arte
Comunidade
Participação
Empoderamento
Criação colectiva
Partilha do sensível
Estética
Política
Keywords
Art Community
Participation
Empowerment
Collective creation
Sharing of the sensible Aesthetics
Politics

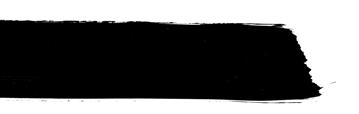
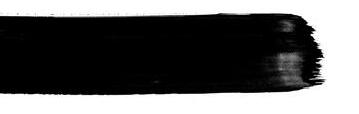
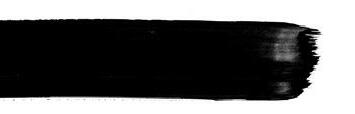
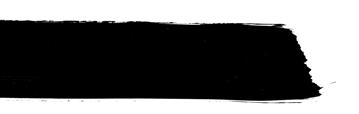
Palavras-Chave
Arte
Comunidade
Participação
Empoderamento
Criação colectiva
Partilha do sensível
Estética
Política
Keywords
Art Community
Participation
Empowerment
Collective creation
Sharing of the sensible Aesthetics
Politics
Hugo Cruz
Neste capítulo ensaia-se um levantamento e integração de diferentes perspectivas perante as múltiplas formas que desenha a intersecção entre Arte e Comunidade. Confrontamse elementos históricos, culturais, sociais e artísticos, alguns deles contraditórios, como uma característica central da Arte e Comunidade e que permite um posicionamento específico na sua teorização e nas suas práticas. São abordados alguns aspectos fundamentais como, as diferentes formas das comunidades participarem e as condições para que tal aconteça, o interesse actual de vários agentes por esta área e quais as suas motivações, assim como os contributos, entre outros, do Devising Theatre e do Teatro do Oprimido neste campo. Destaque para as dimensões comunitária, política e artística numa visão integrada e complementar das mesmas e assumindo-as como indissociáveis. § Finaliza-se este capítulo com uma tentativa de clarificação de alguns dilemas com que se depara a Arte e Comunidade dependendo das formas como se vai posicionar nos mesmos o futuro e evolução da mesma.
This chapter shall be a survey and integration of different perspectives to the multiple ways that draws the intersection between Art and Community. Facing historical, cultural, social, and artistic, some of them contradictory, as a central feature of Art and Community and that allows a specific positioning in his theorizing and its practices. Some fundamental aspects are approached, such as the various forms of the communities involved and the conditions for this to happen, the current interest of multiple agents for this area and what are their motivations, as well as the contributions, among others, of Devising Theatre and the Theatre of the Oppressed in this field. Emphasis on the community, political and artistic dimensions in an integrated vision and complement and assuming them as inseparable. § This chapter concludes with an attempt of clarification of some dilemmas facing the Art and Community depending on the forms as if going to position ourselves for the future and development of the same.
“Arte e o social não são para estar reconciliados ou em colapso, mas sustidos em contínua tensão”. (Bishop, 2011)
A opção pela designação Arte e Comunidade encerra em si mesmo as convergências e divergências inerentes ao encontro de duas linhas. Se por um lado, a ideia de Arte transporta um sentido convergente à de Comunidade e vice-versa, por outro lado, estas duas linhas afastam-se perante concepções mais puristas e datadas. A opção por Arte e Comunidade em detrimento de Arte Comunitária assenta na premissa e na identificação de uma concepção de arte como profunda e iminentemente comunitária. Perspectivamse estas duas dimensões da vida como indissociáveis e perante uma designação como Arte Comunitária identifica-se uma espécie de pleonasmo, de repetição e reforço de algo que é inerente à partida. Como diz Rancière (2010), no caso concreto do teatro que se pode generalizar a outras linguagens, e citando Sommerakademie “o teatro é o único lugar de confrontação do público consigo próprio, enquanto colectivo (…) significa que o teatro é uma forma comunitária exemplar. Introduz uma ideia de comunidade como auto presença, por oposição à distância da representação”. § A abordagem da arte enquanto espaço submetido a hierarquias verticais e regras de criação que rejeitam a leitura do social é, uma concepção do qual tendencialmente esta forma de fazer arte se afasta. Aceitando e valorizando todas as formas de fazer arte, não deixa de ser imperioso que a identificação com as mais variadas e contraditórias manifestações da vida se assuma como fundamental no âmbito que é objecto deste livro. De referir, no entanto, que ao longo deste registo expressões como “arte comunitária”, “teatro comunitário”, “dança comunitária”, ou por exemplo, “música comunitária” são utilizadas, desde logo, pela diversidade marcada pelo espaço e tempo de cada autor e perspectiva associada, e por ser uma designação mais inscrita no discurso corrente sobre este tipo de práticas. Essa utilização generalizada, nomeadamente nos contextos latino-americanos com referências históricas, culturais, sociais específicas em comparação, por exemplo, com a Europa, não desvaloriza, antes pelo contrário, as interrogações e opções introduzidas pela intersecção que se propõe aqui. § Procura-se que esta intersecção seja polissémica na procura de novas formas, rejeitando olhares cristalizados sobre o que é a criação artística, assim como as definições de época, circunscritas e estereotipadas de comunidade, conceito orgânico em constante mutação. Num tempo de transição de paradigmas é urgente assumir o carácter aberto, indefinido e não quantificável das realidades e resistir a categorizações precipitadas e securizantes de áreas de conhecimento que de forma criativa e evolutiva capturam conceitos e formas de fazer diferentes para chegar a outros lugares do pensamento e da acção humana. Como defende Marcela Bidegain (2007), no caso do teatro comunitário, são-lhe associadas características em constante transfiguração que aumentam a dificuldade na sua aferição, fundamentalmente a mobilidade, a inovação,

e a circunscrição local. § A arte inspira-se e revela o real e o objectivo de forma poética e a comunidade precisa da urgência do imaginário e do subjectivo que a arte transporta. Uma das características fundamentais da Arte e Comunidade é que ao mesmo tempo sujeito e objecto se encontram nesta intersecção em busca de outras formas de se construírem significados individuais e colectivos. Nesta intersecção há espaço desejoso de vivências contraditórias que procuram o essencial: a partilha do sensível e a estética com tudo o que implica na sua aproximação ao político. Para Rancière (2005) a dimensão política da arte é inevitável e surge ainda antes da arte tentar negar essa ligação. Existe, nem que seja implicitamente, um compromisso, uma qualquer ligação que impele a arte no sentido da transformação do real. Ou, de forma mais abrangente, contemplando um diálogo constante, como refere Claire Bishop (2011) perspectivando esta intersecção como uma “contínua tensão” e, por isso mesmo, espaço de fecunda criação e rejeitando uma ideia extremista de relação “reconciliada”, ou por outro, em constante “colapso”. Nestas procuras persistentes convém salientar que se procura estar distante de uma criação artística ao serviço da propaganda, veículo de mensagens que cumprem objectivos estratégicos e definidos quase sempre pelos mesmos alguns. Aliás, como defende Scher no seu capítulo deste livro “o teatro comunitário não tem filiação partidária alguma, assim como religiosa, não tem classe de pertença que restrinja a participação de ninguém que não pertença a determinado núcleo, ou que exija alguma classe de dependência que impeça desenvolver a sua autonomia (tradução livre)”. Nesta concepção pode-se correr o risco de se cair no extremo idealista oposto de se considerar que um projecto artístico com a comunidade, na lógica do que se tem vindo a apontar, esteja afastado de todas as influências, nomeadamente religiosas e de organização social, inerentes a qualquer contexto de vida, é aliás sobre e com essa matéria vital que a criação acontece. É, no entanto, inegável que os anos 60 e 70 assistiram ao aparecimento de novas estéticas orientadas para a criação colectiva, advogando uma forma diferente de ver a arte e a sua função na sociedade e que contaminam muito do que se faz hoje em Arte e Comunidade. § Neste contexto importa perguntar até que ponto vai a desconfiança relativamente a uma intencionalidade na criação, mesmo que muitas vezes não consciente e assumida? Ideia mais pacífica, por exemplo, no âmbito da intervenção comunitária ou da educação. Importa esta discussão
porque tem tudo que ver com o campo da intersecção sobre a qual nos debruçamos. É, no fundo, a discussão entre a ideia da “arte pela arte” e a arte com motivações de intervenção social. Este é um “falso” duelo em que é relevante perceber que esta “ dicotomia acirrada é fruto de uma incompreensão do fundamento do regime estético, que toma por mutuamente exclusivas duas premissas que se interpenetram, apesar de se afirmarem nos seus sentidos opostos” (Rocha & Kastrup, 2008).
É exactamente pelo olhar aberto e cosmopolita desta relação Arte e Comunidade que se assiste a uma convocação persistente da mesma, dos seus princípios e formas de fazer perante uma realidade fragmentada e que procura novas soluções de ser e estar socialmente. Este é o tempo em que assistimos à aprovação na Argentina na província de Buenos Aires de uma lei que contempla o apoio específico aos grupos de teatro comunitário, é também o mesmo tempo em que na Europa as linhas de apoio financeiro à cultura contemplam como factor de majoração o envolvimento comunitário com reflexos no que acontece na política definida em Portugal. Nos últimos anos multiplicam-se os interesses por este tipo de projectos por parte de centros culturais, teatros municipais, festivais, redes de programação, associações de municípios, centros de investigação e de forma generalizada pela esfera académica. Este espaço gerado tem, sem dúvida, permitido o desenvolvimento dos mais diversos trabalhos sem, não raras vezes, qualquer preocupação do ponto de vista da sua conceptualização e cumprindo várias agendas sem ter em consideração as que deveriam ocupar o centro dos projectos desenvolvidos: as das comunidades envolvidas. Independentemente das formas e da maior ou menor legitimidade das propostas, convém destacar a componente política da Arte e Comunidade como dimensão transversal e estruturante num olhar que se pretende em simultâneo artístico e comunitário. § É relevante distinguir os propósitos inerentes às propostas e também os caminhos que se podem afastar, mesmo que sem intenção, das formas de fazer e do querer colectivo. Situações que impliquem selecção de pessoas da comunidade com determinadas características que se enquadram num desenho de espectáculo definido a priori, e que por isso implicam um nível de participação residual das pessoas no processo de criação nas suas diferentes fases são realidades com um enquadramento específico. Referem-se aqui propostas que se poderiam chamar de figuração comunitária nas quais, de uma forma geral, os participantes têm um papel fundamental no momento de pesquisa e aproximação às comunidades, mas sem a mesma voz e corpo activo na criação das dramaturgias dos projectos em causa. Estas podem ser sem dúvida experiências estéticas com valor para quem participa e terem um papel potenciador na criação e formação de públicos. Podem ser lidas, ainda, como experiências que correspondem a níveis de participação menos aprofundados constituindo-se como primeiros passos para processos de maior grau participativo. § Centrando o olhar no aqui e agora,
devem-se perspectivar os mais variados movimentos de aproximação a estas manifestações que, pelo seu percurso histórico, se afirmaram nas margens no definido pelas elites culturais e sociais, de forma generosa e disponível revelando a abertura de novos tempos? Ou como um risco real à institucionalização destas formas de fazer arte mais consertadas com o que as populações, nomeadamente com menos oportunidades, têm para expressar? O caminho deve ser o de explorar estas “bolsas de respiração”, de certa forma de legitimação, assumindo uma forte vigilância quanto aos perigos que as mesmas acarretam, como a tentativa de maquilhagem do desinvestimento na educação, no social e cultura? É este o momento de inscrever as práticas artísticas comunitárias com todo o seu potencial ético, estético e de empoderamento, ocupando o seu lugar na sociedade sem perder o seu cariz de proximidade às urgências, inquietações, interrogações das pessoas? É esta uma forma possível para nos repensarmos enquanto comunidades e nos projectarmos no futuro? Como pode a Arte e Comunidade convocar uma população mais abrangente e transversal a um território, seguindo a sua forma de abordagem, não se focando exclusivamente nas camadas sociais mais desfavorecidas? § Não deixa de ser curioso que algumas destas inquietações se aproximem das suscitadas por Conquergood (1986) relativamente à performance
Como é que a performance reproduz, legitima, confirma ou desafia, critica ou subverte a ideologia? [...] Como é que as performances são situadas entre as forças de acomodação e resistência? O que elas simultaneamente reproduzem e de que maneira se contrapõem à hegemonia? Quais são os recursos performativos para interromper os scripts oficiais?
Estas e outras perguntas colocam-se todos os dias nas práticas artísticas comunitárias para quem, de forma activa, se envolve nestes projectos, pois, independentemente do contexto nos quais se realizam, estas são preocupações centrais. Algumas destas perguntas são levantadas e esmiuçadas neste livro pelos diferentes autores assumindo trajectórias e olhares diversos, mas com uma base coerente de pontos convergentes. Para as procurar entender é necessário perceber-se o caminho que se fez, que se faz e que se pretende fazer. § Do ponto de vista histórico, sendo que aqui se associa a dimensão tempo e espaço como variáveis interpenetráveis, encontram-se as mais diversas designações para práticas com pontos em comum com Arte e Comunidade e que foram evoluindo ao longo dos tempos em diferentes sentidos. O Teatro do Oprimido, o Psicodrama, o Drama Aplicado, o Teatro em Contexto, o Teatro e Educação, o Teatro para o Desenvolvimento, a Arte Participativa, o Teatro Antropológico, o Teatro Social, o Teatro Popular, o Teatro Amador, a Dança e Música Comunitária, o Teatro de Propaganda, o Teatro de Rua, a
Arte-Terapia, o Teatro Interactivo, a Arte Dialógica são algumas possibilidades deste levantamento de formas de conceptualizar e fazer próximas, mas diferentes. Importa diferenciar e organizar estes movimentos, no sentido de se perceber o que trouxeram para a Arte e Comunidade e onde esta se localiza no presente para que possa ter a consistência que lhe é exigida. § Seguindo os olhares mais amplos de vários autores que colaboram neste livro, visões das mais variadas proveniências e com base em diversas referências que foram abordando, identificam-se contributos fundamentais para o campo da Arte e Comunidade. Ensaia-se, assim, de forma mais apurada, alguns formatos para esta intersecção. § Para Erven (2001),
no mundo inteiro, académicos, políticos e mesmo os próprios praticantes consideram extremamente difícil classificar teatro comunitário. Os artistas que fazem teatro comunitário partilham também elementos metodológicos significativos, estratégias de organização, e preocupações complexas, tais como a eficácia do seu trabalho, questões sobre a ética de artistas de classe-média que trabalham com grupos periféricos, e sobre estética e status do teatro comunitário como uma forma de arte distinta.
Apesar das dificuldades de definição apontadas nesta abordagem e alargando o campo para a Arte e Comunidade, Erven designa este território como uma forma alternativa de criação em que as pessoas de uma comunidade são capacitadas através do próprio processo em que participam, reunindo-se com o propósito de criar objectos artísticos. Estes processos seguem uma lógica de criação colectiva com base nas histórias das pessoas e dos locais, não partindo de uma dramaturgia já existente e que é gerada normalmente a partir de exercícios de improvisação (Erven, 2001). Assumem-se aqui alguns aspectos relevantes e centrados acima de tudo no processo de criação mais do que propriamente no seu resultado final. Sendo que a este respeito é importante ressalvar que o espectáculo, no caso do teatro, como um dos resultados do processo, entre outros (ex.: os impactos ao nível da dinâmica comunitária), é mais um dos momentos do processo e como tal deve ser valorizado porque se assume como um momento de confronto com o público, da própria comunidade ou de fora dela e que por isso coloca a conceptualização do mesmo noutro lugar. A ideia clássica associada à expressão dramática em que o foco deve estar essencialmente no processo é, desta forma, prolongada com a relevância dada ao momento de apresentação pública como mais um dos passos desse processo, e com grande impacto para a comunidade, quer como produtora quer como receptora desse objecto. § Considerando-se a perspectiva norte-americana de Cohen-Cruz que opta pela designação de “performance baseada na comunidade” trata-se de uma
resposta a um assunto ou circunstância colectivamente significativos. É uma colaboração entre um artista ou um grupo de artistas e uma comunidade na qual a última é a fonte principal do texto, possivelmente também dos actores, e definitivamente de grande parte do público. Ou seja, o centro da performance baseada na comunidade não é o artista individualmente, mas sim a comunidade constituída através de uma identidade primária partilhada, baseada no local (Cohen-Cruz, 2005).
Este olhar levanta outras questões. Em primeiro lugar a abordagem pela linguagem da performance, perspectiva mergulhada nas necessidades da pós-modernidade, assumindo-a por quem a faz e como a faz. Segundo Goldberg (2007) “ao contrário do que acontece na tradição teatral, o performer é o artista, quase nunca uma personagem, como acontece com os actores, e o conteúdo raramente segue um enredo ou uma narrativa nos moldes tradicionais”. Considerando-se os espaços de apresentação privilegiados, os alternativos, e a base na improvisação ou longos de meses de ensaios, encontramos várias pontes com a proposta da Arte e Comunidade. Num sentido mais linear e imediato, as pessoas que participam em projectos de Arte e Comunidade estão mais próximas, eventualmente da designação de performers do que de actores, músicos ou bailarinos não profissionais. No entanto, e apesar de se partir de histórias individuais em alguns casos, estas são recontadas e associadas a outros protagonistas, que assumem muitas vezes personagens. Destaca-se também a primazia dada em geral a histórias colectivas, e não exclusivamente individuais, procurando um reconhecimento dos protagonistas e público nas mesmas. Outra questão que a visão de Cohen-Cruz levanta e que é absolutamente pertinente está ligada à relação que se estabelece entre artistas e as comunidades locais. A clarificação desta relação é, desde logo, fundamental e, mais uma vez, remete para um equilíbrio entre ética e estética assente nas concepções de arte, já abordadas anteriormente. A questão central remete para o envolvimento de profissionais das artes do espectáculo com não profissionais nestes processos, quais os objectivos de cada um e o que “ganha” cada parte com este encontro. Como todas as relações humanas, este tipo de interacção deve ser clara e transparente desde o primeiro momento, principalmente da parte de quem propõe e avança para este enamoramento, na maior parte dos casos os artistas e/ou técnicos sociais, comunitários e educativos. Uma questão muito relevante para esta reflexão é perceber o que difere profissionais de não profissionais e, eventualmente, os diferentes contributos que trazem para um processo desta natureza. Recorre-se para tal à hipótese que se segue:
O amador não é necessariamente definido por um saber menor, uma técnica imperfeita, mas por aquele que não mostra, aquele que não se faz ouvir. O sentido desta ocultação é que o amador não procura produzir se não a sua própria fruição. Para lá do amador, acaba a fruição pura e começa o imaginário, o artista. O artista frui, mas a partir do momento em que se mostra e se faz ouvir, a partir do momento em que tem público, a sua fruição deve estar conforme com uma imago que é o discurso que o, outro, sustenta sobre o que ele faz (Barthes, 1984).
Correndo o risco de uma generalização abusiva, provavelmente um processo de Arte e Comunidade enriquece-se pela espontaneidade e verdade dos não profissionais, e que se alia à técnica dos artistas com base numa concepção holística e integrada de arte. O fundamental é que todos os intervenientes num processo de Arte e Comunidade ocupem um lugar próprio com a sua especificidade numa relação horizontal e que se paute pelo querer e pelo devir colectivo. Tal como reforça Scher no seu capítulo deste livro
falamos de um teatro que se define por aqueles que o integram (...) que não espartilha a participação e não limita o público, a maior parte das vezes as apresentações são no espaço público e tem como base dois princípios fundamentais de que a arte é inerente à condição humana e de que é um direito de todos (tradução livre).
A questão do espaço onde acontece a manifestação de Arte e Comunidade, levantada aqui por Scher e anteriormente por Erven e Cohen-Cruz, entre outros, é uma questão transversal e que se liga com o princípio de democratização da arte, que, por sua vez, se conecta intimamente com os espaços não convencionais e de acesso menos restrito e, de uma forma geral, com o que designamos por espaço público. A dimensão espacial ganha, nesta forma de fazer arte, um papel ainda mais relevante porque é, na maior parte dos casos, a partir do espaço, tornado lugar, pela dinâmica que se gera entre as pessoas e a sua identidade, que se constroem os objectos artísticos. Na perspectiva do Teatro Aplicado Prentki & Preston (2009) destacam que as apresentações são feitas em “espaços informais, em lugares não teatrais, numa variedade de ambientes geográficos e sociais: rua, prisões, centros comunitários, conjuntos habitacionais, ou qualquer outro lugar que possa ser específico ou relevante para os interesses da comunidade”. § O espaço nas suas múltiplas camadas é fonte e resultado de processos. Neste sentido, é essencial situar como é que as pessoas participam nestes processos, qual o seu lugar no seu “lugar”? § A possibilidade de resposta a esta questão vive num equilíbrio frágil, mas por isso mesmo honesto na sua procura. Deve ser em cada momento e lugar que se encontra a forma como se constrói uma proposta-desafio. Essa é uma tarefa que envolve cada indivíduo, cada comunidade, perspectivando-a como o núcleo da criação artística de forma que se potenciem processos de empoderamento individuais e colectivos, uma vez que o processo de criação encerra em si mesmo essa energia de activação traduzida no empoderamento. É muito relevante a existência de momentos de acção e reflexão ao longo de todo o processo, assim como o desenvolvimento de relações colaborativas entre os diferentes actores intervenientes. A ênfase deve ser colocada no carácter analógico da vivência humana e na promoção do desafio com apoio na exploração de outras realidades, procurando reunir características de um desafio óptimo, ou seja, ajustando,
sem paternalismos, o nível da exigência no momento do indivíduo e da comunidade à qual pertence (Cruz & Pinho, 2008). § Uma das questões centrais que se colocam às práticas em projectos artísticos comunitários que se baseiam em pressupostos participativos de criação colectiva, servindo muitas vezes de plataformas de ensaio para uma participação mais empoderada noutros contextos de vida dos indivíduos, é a seguinte: quais os processos que garantem a efectiva e real participação das comunidades neste tipo de projectos? § O foco no desenvolvimento de processos participativos em Arte e Comunidade é absolutamente incontornável, tendo em conta o contexto histórico actual em que vivemos e porque se constitui como uma intersecção objectiva entre as dimensões política e artística. Como diz Ricardo Talento no capítulo de Scher:
o teatro comunitário, como o entendemos hoje, também implica uma construção política. É um erro achar que para além de fazer teatro comunitário tem que se militar politicamente, como se a cultura fosse algo que nada tem que ver com a transformação social.
O pensar a participação é também fundamental porque determina a posição de cada um dos envolvidos no processo que se pretende dialógico, como clarifica Grénoun (2004)
a arte do teatro deve-se abrir aos fluxos da vida que continua estranha a ele (...) é preciso trazer os homens para a cena. Não a sua imagem, mas as suas singularidades e os seus grupos. Efectivamente, vivos. É preciso abrir as cenas à vinda daqueles que foram banidos: os ditos não-actores, os não artistas.
O confronto com o presente reforça a necessidade real de a arte assumir os riscos de rasgar novas possibilidades de perspectivar a realidade, de precipitar tomadas de decisão, de revelar os não-lugares e vozes invisíveis, de convocar a sua dimensão política num processo mais amplo de transformação social. Este é um desafio que possivelmente só poderá ser respondido numa lógica colectiva, de co-autoria e co-criação que garanta a efectiva participação de todos nos processos. É olhar a partilha do sensível em comunidade, como um movimento de inscrição do desejo da mesma e que é, em simultâneo, matéria de acção política. A questão, neste momento, deverá ser: por onde tem passado este desejo? Talvez seja exactamente neste território, ainda pouco profundamente explorado, que se pode conseguir uma maior fecundidade, deslocando e recolocando as questões percepcionadas por nós como problemas (Rocha & Kastrup, 2008). § No sentido de garantir a efectiva participação, é crucial questionar e aprofundar quais as condições necessárias para que as pessoas de determinada comunidade participem, em geral
no seu quotidiano, e em particular numa criação artística. A ideia abusiva de que os portugueses não participam deve ser desmontada. Seremos realmente este povo passivo? Ou somos convocados a participar de forma pontual, sectorial e por isso manipuladora? Será que sentimos as consequências concretas da nossa participação? É, por isso, necessário chegar, escutar, observar e perguntar poeticamente e não o fazer já sabendo, à partida, qual a resposta que queremos que seja dada. A forma como se faz a pergunta pode ser em si mesma um espartilho para as respostas que daí possam resultar, assim sendo, ela deve ser uma pergunta que interroga, questionadora, criativa e promotora de expressão. Em suma, deve ser uma pergunta aberta aos mundos e às suas realidades com diferentes camadas. Um contributo teórico relevante para a análise do que implica a participação é o Modelo Clear (Vivien, Lawrence & Gerry, 2006) que congrega cinco aspectos essenciais para que se desenvolva um processo participativo: Can (Capacidade –associada ao diálogo, às competências verbais, à existência de limitações físicas e/ou doença mental, entre outras); Like (Interesse – dimensão que remete para o facto das pessoas se sentirem bem no grupo em que estão integradas e relacionadas com as ideias pré-concebidas que têm da música, dança ou teatro); Enabled (Possibilidade – ponto que remete para questões instrumentais como o acesso a transporte para que possa participar ou a conciliação com a vida familiar); Asked (Motivação – o porquê de querer participar num projecto artístico; quem, porquê e como se mobiliza para um projecto desta natureza?) e Responded (Impacto – remete para dimensões de percepção e sentido atribuído, ou seja, para que serve o participar numa criação artística? Será que as pessoas olham para mim de maneira diferente? É um espaço onde tenho oportunidade de mudar percepções ou não?). Em síntese, as pessoas participam quando têm os recursos apropriados (Can); têm sentido de pertença a uma determinada comunidade (Like); têm as condições necessárias (Enabeld); são mobilizadas e encorajadas (Asked); e acreditam que a sua participação pode fazer a diferença (Responded). Estas são, como é óbvio, condições centrais num processo de construção colaborativa no âmbito de Arte e Comunidade. § O conceito de participação, incontornável em processos de criação artística colectiva comunitária, está intimamente ligado ao conceito de empoderamento muito associado aos movimentos sociais dos anos 60 e 70. Se nos focarmos na América Latina, percebemos a tradição do Teatro Popular e do Teatro Político, com a presença do relevante Augusto Boal, muito para além do Brasil, assumida por Adhermar Bianchi e Ricardo Talento, por exemplo, na Argentina, ou por Cesar Escuza no Peru. Estas manifestações estão muito associadas a um movimento de reacção às ditaduras instaladas na América Latina, à qual não é alheia, a pro-

liferação deste tipo de abordagem ao Sul da Europa, se tivermos em consideração que se vivia nessa época um ambiente político similar, embora com outros contornos. § O empoderamento é encarado como um “processo ou mecanismo pelo qual as pessoas, as organizações e as comunidades podem assumir o controlo livre das suas próprias vidas” (Rappaport, 1987). Daí a importância das pessoas participarem em projectos com base em práticas artísticas dialógicas que garantem a experimentação da liberdade criativa como motor de aproximação ao livre controlo dos destinos das suas próprias vidas e futuros colectivos. Tendo em conta, a complexidade do conceito de empoderamento e a da sua multidimensionalidade, Zimmerman (2000) propõe diferentes níveis de análise do mesmo: o nível individual, organizacional, comunitário. O nível individual de análise do empoderamento refere-se a variáveis intrapessoais e comportamentais (dimensões de expressão de opiniões, de partilha de memórias, de pesquisa, de capacidade de negociação e tomada de perspectiva do outro - aspectos fundamentais num processo de criação colaborativo); o nível organizacional de análise inclui os sistemas de mobilização de recursos e as oportunidades de participação dos membros nas organizações (o local de ensaios, o transporte para os mesmos); e o nível comunitário de análise reporta à estrutura sociopolítica e à mudança social e aos bloqueios que muitas vezes emergem quando a comunidade constrói uma voz própria e mais activa ao longo de processos de Arte e Comunidade. Muitos são os casos em que partes de uma comunidade não se revêem no espectáculo final porque inconscientemente sentem que este questiona os padrões de relação estabelecidos na comunidade. Deste modo, o empoderamento relaciona o bem-estar individual com o ambiente mais abrangente, social e político e aponta que as pessoas necessitam de oportunidades para se tornarem activas na tomada de decisão comunitária, e desta forma contribuírem para melhorar as suas vidas, organizações e comunidades (Cruz & Gomes, 2008). Este enquadramento é um dos pilares base para que se possam despoletar processos participativos em projectos de Arte e Comunidade e não se centre este trabalho em exclusivo em determinados grupos, nos seus indivíduos, em objectivos ou numa única proposta estética, mas necessariamente se construa uma abordagem mais abrangente institucional e social como partes complementares e comunicantes. Numa prisão, por exemplo, este aspecto está muito presente, desde logo pelo contraste entre as características deste trabalho e uma lógica de “instituição total”. Este tipo de instituições reflecte estruturas ainda baseadas nos princípios do castigo e punição que obrigam a constantes diálogos entre a abordagem micro com o grupo de participantes e macro com a direcção da prisão e ainda mais abrangente com o sistema prisional em geral. § Revelando-se a centralidade do empoderamento olha-se a Arte e Comunidade, como um espaço de manifestação artística que acredita que a arte é um direito de todos os cidadãos, onde é possível o exercício de cidadania em busca de possibilidades de mudança, ou de outra forma, “somente a arte, (…) a arte concebida ao
mesmo tempo como autodeterminação criativa e como processo que gera criação, é capaz de nos libertar e de nos conduzir rumo a uma sociedade alternativa” (Beuys, 2011). § É possível e desejável falar de empoderamento dos vários protagonistas nestes processos, pois como reforçam Boehm & Boehm (2003), o teatro comunitário reflecte os princípios de empoderamento pessoal, grupal e comunitário, confronta os participantes com uma postura não-directiva e reflexiva com a oportunidade de participação em todas as fases do processo, aprofundando os interesses e competências de cada um, convergindo para uma dramaturgia comum. Esta ideia é sublinhada por Andrade no seu capítulo “a comunidade delimita o âmbito da produção teatral comunitária, uma vez que ela é simultaneamente tema, sujeito e destinatário. Assim, teatro comunitário será aquele que é da comunidade, com a comunidade, sobre a comunidade, para a comunidade e na comunidade”. A este propósito Nogueira (2007) identifica três práticas possíveis no desenvolvimento de projectos em Arte e Comunidade, mais especificamente no que se refere ao teatro, que servem de base ao seu capítulo. Destaca o Teatro para a Comunidade (feito por artistas para comunidades periféricas, desconhecendo de antemão a sua realidade); o Teatro com a Comunidade (quando o espectáculo surge a partir da investigação da cultura de uma determinada comunidade, sendo que estes elementos compõem a linguagem do espectáculo e potenciam o questionamento por parte do público); Teatro pela Comunidade (quando o espectáculo inclui pessoas da comunidade no processo de criação, em que estas se assumem como parte do processo de decisão dos conteúdos do espectáculo e têm acesso aos meios de produção teatral). § Andrade (2013) acrescenta a esta identificação a possibilidade do processo ser da comunidade, por ser a partir dela que emerge a prática teatral, intimamente ligada às suas problemáticas particulares, urgências, vivências e inquietações. É também um processo sobre a comunidade, porque parte do imaginário popular e da memória colectiva, em direcção a um reforço da identidade comunitária; e na comunidade, quando o espaço cénico é também um espaço público e de utilização quotidiana. Importa relativamente à identidade local, realçar que o trabalho de projectos de Arte e Comunidade apesar de se ocuparem do passado e presente de uma comunidade nunca deverão cair num discurso instalado, reflexo de várias crises, de se constituir como uma forma de resgate dessa identidade, ou mesmo até responsáveis por criar comunidade. Ou seja, um processo criativo, porque exige desconforto e contacto com o infinito, perspectivando alternativas para além das rupturas, pode eventualmente mas não necessariamente, reforçar formas identitárias existentes e permitir a projecção de outros “seres” e “estares” na comunidade contribuindo para a redefinição de traços identitários. Este aspecto é relevante salientar, para que não se caia numa espécie de instalação de processos de colonização das comunidades propondo identidades de fora para dentro, com base em modas, ou na emergência de uma espécie de messianismo em busca de identidades perdidas e que urgem ser resgatadas.
Esta é uma tentativa de dar resposta à crise do sentido de comunidade reflexo do desastre da modernidade e do cepticismo do pensamento pós-estruturalista, ensaiada nomeadamente na obra fundamental de Nancy “A Comunidade inoperante”. Neste sentido, é fundamental que, para além da conexão com as suas origens e o situar-se no aqui e agora, os processos contemplem uma projecção futura da comunidade com os seus sentidos associados, aspecto muitas vezes descorado nos projectos neste âmbito. § Uma das formas de questionar as tendências que acabamos de apontar é assumir a centralidade da criação colectiva na Arte e Comunidade, na abordagem francesa ensemble e anglo-saxónica devising. Bezelga destaca no fim do seu capítulo a premência do conhecimento ser
o motor de desenvolvimento e transformação individual, o que remete para a consideração do Teatro e Comunidade como eminentemente processual, no sentido em que se promovem no seio do grupo, as competências co-investigativas, co-criativas e co-avaliativas de âmbito artístico, estético, social e político.
Respondendo a esta centralidade este é também o espaço de aprofundar a base que estrutura a tão complexa criação colectiva. § Ao perspectivar diversas opções para a criação artística colectiva é inevitável o cruzamento dos princípios anteriormente enunciados com os do Devising Theatre (Oddey, 1994). Esta prática teatral depende das pessoas, das suas experiências de vida, das suas motivações, de como e o que queremos desenvolver, e que processo escolhemos para explorar um momento particular e as suas circunstâncias. Nesta abordagem há algo que inspira a necessidade ou o desejo de artisticamente construir um espectáculo, quer se trate de uma ideia inicial, sentimento, imagem, conceito, história, tema, texto, fotografia, música, grupo de pessoas ou um interesse específico comunitário. As escolhas são infinitas, o potencial enorme e as decisões são tomadas sempre em grupo. Assume-se aqui o poder individual e colectivo, com a responsabilidade que implica, como um motor para a mudança com base na criatividade, localizando esta mudança no patamar do possível. Parafraseando Bob Wilson “ a única coisa que é constante é a mudança”, no sentido em que precisamos dela para a vida continuar e ser contínua. § O Devising Theatre implica uma série de pressupostos na sua construção que se tocam intimamente com as práticas transversais da Arte e Comunidade e a criação e funcionamento de grupos comunitários. Este método destaca como mais relevantes os seguintes: definir regras claras e estabilizadas e atribuir responsabilidades ou decidir como se estrutura o processo de tomada de decisão democrática; definir um “código da prática” onde se inclui política, objectivos, procedimentos, planeamentos, avaliação e linhas de acção; estabelecer um líder do grupo ou então clarificar quais os passos a seguir para tomadas de decisão; delegar de acordo com os interesses e competências
dos elementos do grupo; identificar algo que o grupo está realmente interessado e empenhado em explorar teatralmente; desenvolver confiança nos sentimentos e intuição acerca do desenvolvimento do processo; considerar dividir o grupo em sub-grupos para trabalhar temas específicos e depois devolver os resultados ao grande grupo; fazer perguntas durante todo o processo, sem ter medo de voltar ao ponto inicial clarificando o sentido da construção; ter em atenção o espaço de trabalho porque este é desenvolvido a partir desse “lugar”; analisar, criticar, e avaliar o trabalho à medida que se desenvolve e decidir o método ou critérios mais apropriados para o fazer; tentar manter um olhar externo crítico sobre o processo e o produto (Oddey, 1994). § Recupera-se uma ideia anterior deste texto olhando o Devinsing Theatre que sugere o foco no processo relativamente ao produto final. A relevância está na criatividade do grupo e no envolvimento do público com o espectáculo final. O processo Devising incentiva e apoia a ideia de que um grupo de pessoas, tendo a oportunidade de experimentar arte por direito próprio, descobre a sua própria criatividade na forma e no conteúdo. A importância do processo é colocar um conjunto de indivíduos em estreita colaboração para expressar, partilhar e articular as suas opiniões, crenças, ou percepções sobre a cultura e a sociedade. A avaliação desse trabalho depende, em última análise de quem faz ou participa no evento teatral (Oddey, 1994). Estes passos sugerem uma estrutura obviamente flexível que apoie o grupo no processo de tomada de decisão e clarifique a intenção. § Esta perspectiva contamina fortemente a forma como se desenvolvem os processos colectivos em Arte e Comunidade e tem conexões óbvias com a perspectiva do Teatro do Oprimido. No seu capítulo deste livro Santos destaca exactamente a profunda essência comunitária deste método, destacando a ideia base de Augusto Boal de teatro essencial sustentada em premissas controversas de que “nós somos teatro” e em que “tudo é teatro”. Estas linhas de força do pensamento de Boal são reforçadas em 2009 aquando da sua nomeação como embaixador mundial do teatro pela UNESCO: “teatro não pode ser apenas um evento – é forma de vida! Actores somos todos nós, e cidadão não é aquele que vive em sociedade: é aquele que a transforma”. Segundo Boal, o Teatro do Oprimido integra-se num movimento mais amplo do teatro popular considerando-o como uma estratégia de educação não formal que promove o desenvolvimento, a criação artística e o acesso à cultura pelas comunidades. O Teatro do Oprimido sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais com o objectivo da desmecanização física e intelectual dos participantes permitindo o “ensaio” de alternativas para a resolução de situações da vida quotidiana (http://www.theatreoftheoppressed.org). Tem como objectivo estimular a discussão e a problematização destas situações numa lógica de reflexão sobre as relações de poder que caracterizam as interacções humanas (Boal, 1977). É importante contextualizar as opressões sentidas pelos participantes, isto é, elas não são exclusivamente individuais, existem e têm determinado sentido num contexto social, cultural e político, por isso Boal (1977)

refere que não há opressores e oprimidos universais, a situação é que define a opressão e não a pessoa. § O Teatro do Oprimido procura criar condições práticas para que o indivíduo se aproprie dos meios de produzir teatro, ampliando as suas possibilidades de expressão. É um terreno propício a comunicar o que normalmente a vida esconde de nós.
Também para Prentki (2009) a arte “leva-nos aos lugares surpresa, do choque, do maravilhamento, expelindo-os das zonas do hábito e do conforto para mudar as nossas noções do que somos e que podemos ser”. Esta ideia é fundamental na Arte e Comunidade, assim como a característica do Teatro do Oprimido ou do Living Theatre da comunicação directa, activa e participada entre espectadores e actores que permite a diluição da fronteira entre os dois. Boal fala da noção de “espect-actor”, o indivíduo que alterna entre os papéis de espectador da acção e de actor dessa mesma acção, o que aliado “ao debate, conflito de ideias, dialéctica, argumentação e contra-argumentação – tudo isso estimula, aquece, enriquece, prepara para agir na vida real” (Boal, 2005). O “espect-actor” tem a possibilidade de ensaiar, treinar, exercitar, experimentar várias alternativas de acção e suas possíveis consequências na vida real (Boal, 2005). Destacam-se assim as experiências concretas como centrais na proposta, procurando dar resposta aos problemas percepcionados pelos participantes e deslocando o enfoque do falar sobre para o experimentar fazer diferente. § Este fio condutor é seguido e reforçado com aplicação clara à linguagem da dança quando Salvador reforça no seu texto deste livro que nos movemos no território da arte igualitária, democrática e anti-elitista. Utiliza para reforçar esta ideia a referência do draft Manifesto da Foundation for Community Dance que perspectiva a Dança e Comunidade como “um processo de capacitação de descoberta pessoal, social e artística. A capacitação vem do envolvimento criativo com o meio – a fazê-lo, tornando-o, compartilhando-o, vendo-o, reflectindo sobre isso – possuí-lo”. § Recorrendo ainda ao olhar de Prentki (2009), é interessante o alerta deste autor para ter em conta que existe uma tendência, como vimos anteriormente, de determinado movimento para enfatizar a função social do teatro e a eficácia das suas propostas com base no prazer estético que implica o processo de participação, do exercício da imaginação numa criação colectiva. No entanto, pode não haver uma intenção social no ponto de partida dos processos, com objectivo de ser mensurável, e mesmo assim o envolvimento nos processos trazer um profundo impacto nas pessoas que neles participam. É exactamente este carácter de imprevisibilidade no processo que pode ser subversivo ou domesticador para o poder dominante, destacando que hoje, os exemplos mais efectivos de teatro aplicado são aqueles que conseguem coordenar a noção de pós-iluminismo, de melhoria social, com a noção medieval de Carnaval comunitário, uma tolice de intervenção social (...) o desafio, como sempre, não é render-se à loucura suicida, mas encontrar dentro de nós, usando todos os nossos poderes criativos geneticamente desenvolvidos, outra maneira de viver que combine melhor com o nosso desejo por dignidade, por justiça e por sobrevivência (Prentki, 2009).
1. Este projecto que se iniciou em Janeiro de 2014 emergiu com base no trabalho desenvolvido e consolidado no Porto, pela PELE, nos últimos sete anos e que se reflecte na criação e continuidade de Grupos de Teatro Comunitário (Grupo AGE, Grupo Auroras - Lagarteiro, Grupo de Teatro Comunitário EmComum - Lordelo do Ouro, Grupo de Teatro Comunitário da Vitória - Centro Histórico e Grupo de Teatro de Surdos do Porto). § Este MAPA construiu-se a partir da metáfora das 3 fases do processo científico de mapeamento: 1ª fase – “concepção” – o momento da chegada a um lugar, do primeiro contacto e reconhecimento; 2ª fase –“produção” – o momento da apropriação, de fazer de um “lugar qualquer” um “lugar nosso” e 3ª fase – “interpretação” –momento final da construção de um MAPA que se concretiza também neste espectáculo. O desenho deste MAPA provocou o dissipar de fronteiras artificiais e o reconhecer os outros em nós, procurou reflectir um encontro entre diferentes povoações (zona oriental, ocidental e central), povos de uma mesma cidade, num desenho de um mapa mais humano.
Um dos grandes desafios da Arte e Comunidade é, sem dúvida, como se consegue partindo do real, com tudo o que transporta em diferentes tempos e espaços, a partir das memórias, tradições, formas de ser e estar, histórias, inquietações, urgências e transformá-lo em linguagem poética? Como é que se olha para este material, não de uma forma linear, mas poética e se traz esta dimensão essencial para a nossa vida quotidiana? Será a Arte e Comunidade, como refere Kuppers (2007), uma nova forma de entender a criação artística, que redefine quem faz arte, o que é a arte, a natureza da beleza e do prazer e as formas adequadas para apreciar a arte? § A proposta de Cabral (2005) é exactamente a de perspectivar a prática teatral nas comunidades como um reflexo das experiências contemporâneas do teatro que tem dado especial atenção à desconstrução do texto dramático com o fim de adaptá-lo às condições e motivações locais e ao mesmo tempo transgredir os limites do quotidiano e do “já visto”. É a partir do que imaginamos ser possível que novos reais são criados e é aqui que de uma forma transversal a Arte e Comunidade actua, constrói e dá forma a este imaginário colectivo. § Vive-se um tempo de busca desesperada de referências sendo que a comunidade, palavra repetida até à exaustão e nos mais diferentes contextos, aparece como uma espécie de solução para todos os males. Ou seja, o mito da “comunidade perfeita” ou de “comunidade perdida” pressiona nesta área de acção a arte a contribuir obsessivamente para o reencontrar deste espírito comunitário como possibilidade de um salvamento qualquer. Convém salientar, que em todos os tempos as comunidades sempre tiveram a capacidade de se desenvolver no seu “melhor” e no seu “pior”, ou seja, em comunidade partilhamos, construímos, sonhamos, mas também discriminamos, odiamos e até matamos. Lembremos as perseguições que muitas comunidades fizeram e fazem a seus elementos ou de outras comunidades em função das mais variadas motivações (exs.: género, raça, religião, orientação sexual,…) baseadas em medos ancestrais da humanidade. O medo dos outros porque diferentes de nós, é possivelmente um dos terrenos mais interessante e complexo quando se trabalha em projectos de Arte e Comunidade. Destaca-se exemplos como o projecto MAPA1 em que grupos comunitários de várias zonas da cidade do Porto trabalharam em conjunto pela primeira vez. No âmbito do MAPA, uma das primeiras propostas foi exactamente a visita a esses lugares da cidade que não se conhece guiados pelos companheiros dos outros grupos. Esse passo fora da nossa zona de conforto e dentro da zona de conforto dos outros é promotora da criação de um “nós”. A criação de um novo território onde os outros passam a ter espaço porque conhecidos e porque se lhes atribui significado com base na realidade, mesmo que não seja a nossa. Outro exemplo no âmbito do mesmo projecto: o desafio de cruzamento entre intérpretes ouvintes e surdos com línguas diferentes numa busca constante de um ajuste do lugar que inclua
o do outro com caminho em sentido duplo de vontades. De destacar a este propósito a motivação das pessoas ouvintes em aprenderem Língua Gestual Portuguesa e a vontade de ensinar das pessoas surdas numa lógica de sucessivos e emocionantes ajustes no sentido da construção de uma nova comunidade relacional. Fala-se talvez aqui de uma comunidade específica, a que se gera num momento concreto para criar um espectáculo, algo com contornos do ritual que se poderia comparar a uma espécie de “tribo”, com regras próprias e um olhar particular sobre o mundo. § Como defende Montero (2003) há três aspectos fundamentais que devemos ter em consideração quando se desenvolve trabalho nesta área: a preocupação de perceber de que forma a comunidade tem direito a voz, voto e veto em geral, e em particular no processo de criação artística. Esta premissa é levada em consideração no teatro comunitário argentino como defende Scher no seu capítulo
um teatro de vizinhos para vizinhos, é o mesmo que dizer que é a própria comunidade que o faz. A prática artística deve ser um dos eixos da vida comunitária, assim como também um direito, e quando isso acontece a comunidade transforma-se (...) Se falamos de teatro comunitário referimo-nos a uma prática política. Não se trata de uma tarefa inocente e desinteressada nas mudanças sociais (tradução livre).
No confronto de várias formas de perspectivar Arte e Comunidade, como uma intersecção onde cabem elementos vindos de diferentes conjuntos, e das questões que daí emergem, ensaia-se uma possibilidade de síntese integrada das várias características que se assumem como incontornáveis nesta área. Assim, define-se, mais concretamente o teatro e comunidade, como um campo próprio de acção e pensamento que privilegia a participação num processo de criação artística colectivo inspirado pelas culturas, identidades, histórias, tradições de pessoas e lugares que artisticamente trabalhadas, sustentam o desenho de uma dramaturgia e permite uma projecção alternativa colectiva no futuro. Deste processo artístico e comunitário espera-se qualidade estética e uma vivência colectiva com significado e significativa num confronto construtivo entre o tradicional e o contemporâneo. § Neste ensaio cabem ainda muitas interrogações e vontades de uma pesquisa contínua e questionadora sendo que, não existem guiões que nos orientem na mudança construtiva e no terreno do volátil e indefinido das emoções que alimentam a arte e a vida. É um ensaio mergulhado nas contradições do vício e da virtude, da piedade e da crueldade, do amor e do ódio tal e qual como na vida e num objecto artístico. É um ensaio que acontece no “espaço vazio” de Brook onde a neutralidade e a liberdade nos permitem viver o jogo dramático e contornar as opressões da realidade.
Andrade, C. (2013). Coro: corpo colectivo e espaço poético. Intersecções entre o teatro grego antigo e o teatro comunitário. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
Barthes, R. (1984). Diderot, Brecht, Eisenstein. In O Óbvio e o Obtuso: Ensaios Críticos (pp.81-87). Lisboa: Edições 70. Beuys, J. (2011). Cada homem um artista. Porto: 7Nós. Bidegain, M. (2007). Teatro Comunitário: Resistencia y transformación social Buenos Aires: Atuel. Bishop, C. (2011). Participation and Spectacle: Where Are We Now? Lecture for Creative Time’s Living as Form (p.7). New York: Cooper Union. Boal, A. (1977). Técnicas Latino Americanas de Teatro Popular Coimbra: Teatro Centelha. Boal, A. (2005). Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Boehm, A., & Boehm, E. (2003). Community Theatre as a means of empowerment in social work: A case study of women’s community theatre Journal of Social Work, 3 (3), pp.283 – 300.
Cabral, R. (2005). O diferente em cena: integração ou interacção?. Ponto de Vista, 6-7 (2004/2005), pp.27-42. Cohen-Cruz, J. (2005). Local Acts: Community-based Performance in the United States. London: Rutgers University Press. Conquergood, D. (1986). Between experience and meaning: performance as a paradigm for meaningful action. In T. Colson (Org.), Renewal and revision: the future of interpretation (pp.26-59). Texas: Omega Press. Cruz, H. (2007). Projecto Pais XXI: O Teatro na Prevenção das Toxicodependências em Contexto Familiar. In J. Pereira, M. Vieites, & M. Lopes, M. (Coods.). Animação, Artes e Terapias. Amarante: Intervenção. Cruz, H. (2008). El teatro y la educación parental Revista Teatro, Expressión, Educación, 53. Cruz, H. (2009). Texturas - la fuerza de una comunidad en el escenario. Revista Teatro, Expresión, Educación, 61, Cruz, H. (Coord.). (2010). Texturas, um projecto de arte comunitária Santa Maria da Feira: Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Cruz, H. (2011). A educação parental e o teatro: as potencialidades da informalidade com intencionalidade. In P. M. Matos, C. Duarte, & M. E. Costa (Coords). Famílias: Questões de Desenvolvimento e Intervenção, Porto: LivPsic. Cruz, H. (Coord.) (2012). Entrado: percursos de um projecto teatral numa prisão. Santa Maria da Feira: PELE, CCTAR, Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Cruz, H., & Gomes, I (2008). Clubes ALPE: O teatro ao serviço da educação de adultos Revista Formar, 63.
Arte e Comunidade: as Formas
Cruz, H. & Gomes, I. (2008). El Teatro-Fórum y la Capacitación de Parados de Larga Duración. RevistaTeatro, Expressión, Educación, 55. Cruz, H. & Pinho, I. (2008). Pais, uma experiência. Porto: Livpsic.
Erven, E. v. (2001). Community Theatre: Global Perspectives. London: Routledge.
Goldberg, R. (2012). A arte da performance: do futurism ao presente. Lisboa: Orfeu Negro. Guénoun, D. (2004). O teatro é necessário? São Paulo: Perspectiva.
Kuppers, P. (2007). Community Performance: an introduction. London: Routledge.
Oddey, A. (1994). Devising Theatre: a practical and theoretical handbook. London: Routledge.
Montero, M. (2003). Teoria y práctica de la psicologia comunitária. La tensión entre comunidade y sociedad. Buenos Aires: Paidós.
Nogueira, M. (2006/07). Tentando definir o Teatro na Comunidade DA Pesquisa: Revista de Investigação em Artes, 2 (2). Recuperado em 18 Jul 2014 de: http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/ volume2/numero2/cenicas/Marcia%20Pompeo.pdf
Prentki, T. (2009). Contranarrativa: Ser ou Não Ser: esta não é a questão. In Márcia Pompeo Nogueira (Org.), Teatro na Comunidade: Interacções, Dilemas e Possibilidades. Florianópolis: Udesc. Prentki, T., & Preston, S. (orgs.) (2009). The Applied Theatre Reader London and New York: Routledge.
Rancière, J. (2005). Estética e Política: a partilha do sensível. Porto: Dafne Editora. Rancière, J. (2010). O espectador emancipado. Lisboa: Orfeu Negro. Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. American Journal of Community Psychology, 15(2), pp.121-148. Rocha, T., & Kastrup, V. (2008). A partilha do sensível na comunidade: intersecções entre psicologia e teatro. Estudos de Psicologia, 13(2), pp.97-105.
Vivien L., Lawrence P., & Gerry, S. (2006). Local Political participation: the impact of rules-in-use. Public Administration, 84, pp.539-61.
Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory. Psychological, organizational and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), Handbook of Community Psychology (pp. 4363). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.