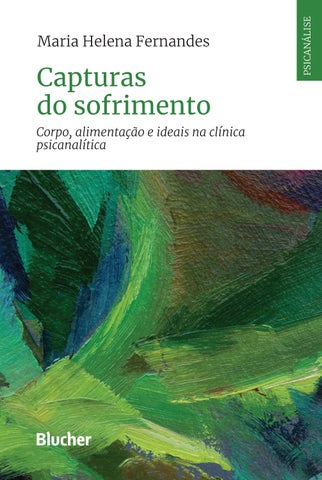Maria Helena Fernandes
Capturas do sofrimento
Corpo, alimentação e ideais na clínica psicanalítica

Capturas do sofrimento
Corpo, alimentação e ideais na clínica psicanalítica
Capturas do sofrimento: corpo, alimentação e ideais na clínica psicanalítica
© 2025 Maria Helena Fernandes
Editora Edgard Blücher Ltda.
Série Psicanálise Contemporânea
Coordenador da série Flávio Ferraz
Publisher Edgard Blücher
Editor Eduardo Blücher
Coordenador editorial Rafael Fulanetti
Coordenadora de produção Ana Cristina Garcia
Produção editorial Luana Negraes e Andressa Lira
Preparação de texto Regiane da Silva Miyashiro
Diagramação Negrito Produção Editorial
Revisão de texto Maurício Katayama
Capa Leandro Cunha
Imagem da capa iStockphoto
Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4o andar 04531-934 – São Paulo – SP – Brasil Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br
Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021.
É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.
Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Heytor Diniz Teixeira, CRB-8/10570
Fernandes, Maria Helena Capturas do sofrimento : corpo, alimentação e ideais na clínica psicanalítica / Maria Helena Fernandes. – São Paulo : Blucher, 2025.
300 p. – (Série Psicanálise Contemporânea / coord. Flávio Ferraz)
Bibliografia
ISBN 978-85-212-2561-4 (impresso)
ISBN 978-85-212-2560-7 (eletrônico – Epub)
ISBN 978-85-212-2559-1 (eletrônico – PDF)
1. Psicanálise. 2. Mulheres e psicanálise. 3. Metapsicologia. 4. Distúrbios psíquicos. 5. Distúrbios alimentares. 6. Bulimia. 7. Anorexia. 8. Distúrbios de imagem. 9. Percepção de si próprio. 10. Clínica psicanalítica. 11. Comportamento autodestrutivo. 12. Psicossomática psicanalítica. 13. Freud, Sigmund, 1856-1939. I. Título. II. Série.
F363c CDU 159.964.2
Índice para catálogo sistemático: 1. Psicanálise CDU 159.964.2
Conteúdo
Introdução – Uma trajetória partilhada...
9
1. A feiticeira metapsicologia 47
2. A hipocondria do sonho e o silêncio dos órgãos: o corpo na clínica psicanalítica
77
3. As formas corporais do sofrimento: a imagem da hipocondria 103
4. Entre a alteridade e a ausência: o corpo em Freud e sua função na escuta do analista 131
5. O corpo recusado na anorexia e o corpo estranho na bulimia 163
6. Mãe e filha… uma relação tão delicada… 199
7. O corpo e os ideais na clínica contemporânea 239
8. O corpo da mulher e os imperativos da maternidade 269
Agradecimentos
293
1. A feiticeira metapsicologia1
“É preciso chamar a feiticeira, afinal.”
Ou seja, a feiticeira metapsicologia. Sigmund Freud, citando Fausto, de Goethe
Souvenirs
Escrever para um número da Percurso dedicado a homenagear
Pierre Fédida implica, antes de mais nada, em me deixar embalar pela possibilidade de navegar no tempo. Três de novembro de 1992, primeiro dia de aula. Fédida entrou apressado, carregando sua inseparável maleta. Colocou-a sobre a mesa e, lentamente, foi retirando seus papéis. Na sala, onde ecoava um silêncio absoluto, a voz de Fédida irrompeu, grave e firme. Seu semblante contraído anunciou, sucintamente, as boas-vindas aos novos alunos e a aula começou… Impactada pela severidade daquela primeira imagem, não sei quanto tempo durou aquela aula! Ao final, os alunos se
1 Uma primeira versão deste trabalho foi publicada na revista Percurso, n. 31-32, pp. 99-110, 2004, número em homenagem a Pierre Fédida, falecido em 1o de novembro de 2002, aos 68 anos
aglomeraram em torno de Fédida, à espera de uma ocasião para falar com ele. Fiz o mesmo e aguardei a minha vez. Com ar cansado, ele ia atendendo a cada um, muitas vezes parecia esquivar-se e podia ser rude sem a menor cerimônia.
Duro com seus adversários, Fédida era implacável nas suas críticas a uma teorização psicanalítica desvinculada da clínica. Da mesma forma que não via interesse algum no diálogo da psicanálise com os outros campos do conhecimento se esta não pudesse se ater e permanecer rigorosamente ancorada na sua especificidade metodológica. Solidário com seus orientandos, Fédida apostava na possibilidade criativa de seus alunos, dando liberdade, solicitando criatividade, mas exigindo rigor. Recusava qualquer forma de tutela do pensamento, por isso mesmo sabia respeitar aqueles que se encantavam com a possibilidade de pensar por si-mesmos. Ao mestre e inspirador de além-mar, minha gratidão. Pela acolhida, pelo respeito e, sobretudo, pelas belas lições de psicanálise!
As ideias que se seguem começaram a se desenvolver naqueles anos; são fragmentos, recortes que se reorganizam hoje de outra forma, recortes da lente do tempo que tudo transforma.
Freud, ainda…
Já na primeira aula, Fédida explicita sua intenção de abordar durante o ano o projeto de construção da metapsicologia, salientando a importância que Freud vai atribuir à imaginação especulativa no processo de criação de sua teoria. Seu objetivo é claramente o de chamar a atenção dos jovens analistas para a operacionalidade clínica da metapsicologia de Freud. Porém, essa imaginação especulativa solicita inevitavelmente uma série de analogias com diversos campos do conhecimento, o que não se fará sem suscitar problemas, conforme atesta o debate sobre a pertinência da metapsicologia na atualidade.
De fato, a partir dos anos 1980, tem início nos Estados Unidos um movimento crítico em relação à psicanálise que toma como alvo a metapsicologia freudiana. Uma das críticas diz respeito à utilização feita por Freud de modelos importados de outros campos do conhecimento. Tais modelos passaram a serem criticados com base no argumento de que as noções que eles abordam tinham sido abandonadas pela biologia, pela fisiologia, ou mesmo pela física. Particularmente no que diz respeito aos modelos biológicos freudianos, tais críticas tocam diretamente no estatuto metafórico desses modelos.
Se as noções utilizadas de forma metafórica na teorização psicanalítica não são mais válidas na biologia, então, é preciso, insistem alguns, buscar outras noções biológicas mais modernas. Ou seja, faz-se necessário adequar a metapsicologia aos avanços da biologia, mudar as fontes metafóricas para adequá-las aos avanços da ciência biológica (Modell, 1981). Ora, se é preciso mudar a fonte da metáfora, é evidente que ela já deixou de ser compreendida como metáfora. O caráter metafórico da construção metapsicológica se vê, assim, descaracterizado.2
Negligencia-se com isso as passagens nas quais Freud insiste sobre a especificidade metodológica da psicanálise, adverte-nos sobre os riscos inerentes aos avanços da ciência, insistindo justamente na necessidade de autonomia da psicanálise frente aos outros campos do conhecimento, condição de possibilidade para que ela continue a ser um instrumento de questionamento e interlocução, em um mundo em que a técnica corre o risco de tornar-se o perigo maior para o humano.
2 A respeito das críticas dirigidas à metapsicologia naquela ocasião, remeto o leitor ao conjunto de artigos publicados em dois números da Revue Française de Psychanalyse (1985a, 1985b).
2. A hipocondria do sonho e
o
silêncio dos órgãos: o corpo na clínica
psicanalítica1
Há doenças piores que as doenças, Há dores que não doem, nem na alma
Mas que são dolorosas mais que as outras. Há angústias sonhadas mais reais
Que as que a vida nos traz . . . .
Há tanta cousa que, sem existir, Existe, existe demoradamente,
E demoradamente é nossa e nós… Fernando Pessoa, “Cancioneiro”, in Obra poética
As publicações psicanalíticas têm mostrado que, nas últimas décadas do século XX, o corpo foi retornando ao cenário da psicanálise após um longo período de esquecimento e, por que não dizer, de desprezo. Hoje a questão do corpo aparece, nota Jean Starobinski,
1 Uma primeira versão deste trabalho foi publicada na revista Percurso, n. 23, pp. 43-52, 1999. Em 2002, passou a fazer parte da publicação em português da coletânea que reúne vários artigos sobre o tema da hipocondria das Monographies de la Revue Française de Psychanalyse, traduzida pela editora Escuta (Fernandes, 2002).
a hipocondria do sonho e o silêncio dos órgãos
como se nós o reencontrássemos após um esquecimento muito longo: a imagem do corpo, a linguagem do corpo, a consciência do corpo e a liberação do corpo tornaram-se palavras de ordem. Como por contágio, os historiadores se interessam por tudo o que as culturas anteriores à nossa fizeram com o corpo: tatuagens, mutilações, celebrações, rituais ligados às diversas funções corporais. Os escritores do passado, por sua vez, de Rabelais a Flaubert, são tomados como testemunhas: no entanto, de repente, percebemos que não somos o Cristóvão Colombo da realidade corporal. Este foi o primeiro conhecimento que adentrou o saber humano: “Eles perceberam que estavam nus” (Gênesis, 3,7). Depois desse momento, o corpo não pôde mais ser ignorado. (Starobinski, 1980, p. 261)
Starobinski evoca a percepção da nudez como a evidência irrefutável da corporeidade do sujeito, um sujeito feito de carne e osso, habitando um corpo. No entanto, essa unicidade do corpo imediatamente se transforma numa verdadeira multiplicidade de corpos se o olhar se dirige para o corpo enquanto “objeto de estudo” de tão variados campos do conhecimento humano. Há de se reconhecer, então, que falar do corpo supõe o defrontar-se com vários corpos: o corpo biológico, o corpo filosófico, o corpo histórico, o corpo estético, o corpo religioso, o corpo social, o corpo antropológico e, certamente, o corpo psicanalítico. É justamente esse corpo, abordado pelo instrumental teórico/clínico da psicanálise, que interessa aqui.
A advertência um tanto provocativa de Starobinski se dirige precisamente aos psicanalistas no início dos anos 1980, quando se agitavam na França os debates em torno das questões do corpo na psicanálise. Nessa época, além da conhecida contribuição de alguns
nomes da psicanálise francesa,2 pode-se dizer que se encontravam ainda, de um lado, os autores da Escola de Paris,3 que prosseguiam suas pesquisas insistindo na afirmação do campo da psicossomática psicanalítica, e, de outro, os autores de inspiração lacaniana,4 que tentavam sistematizar uma produção teórica que lhes permitisse incluir a problemática do corpo no campo do analisável.
Diante desse panorama, o lembrete “não somos o Cristóvão Colombo da realidade corporal” poderia ser escutado como um convite a pensarmos a problemática do corpo pelo viés epistemológico, único guardião da possibilidade de uma interlocução fecunda entre a psicanálise e as demais disciplinas em que o corpo também se constitui como objeto de interesse e estudo.
A demanda que constitui a clínica da atualidade defronta maciçamente os analistas não somente com o problema da depressão, mas também com uma diversidade de queixas que envolvem diretamente o corpo. A evolução da investigação psicanalítica ampliou o campo teórico-clínico da psicanálise para muito além das neuroses de transferência, abrangendo também as psicoses, as perversões, os casos-limite (ou borderlines), as toxicomanias (e outras adições) e a variedade dos quadros de somatização. Ao se acrescentar a esse panorama a tendência de alguns pacientes a se submeterem a intervenções cirúrgicas que, do ponto de vista da escuta psicanalítica, seriam reconhecíveis como sintomáticas, isto é, repetições não emancipadoras do sujeito, ou a tornarem-se vítimas de acidentes mais ou menos graves, ou ainda a sensibilidade
2 Refiro-me aqui, por exemplo, aos trabalhos de A. Green, J.-B. Pontalis, P. Fédida, J. McDougall, D. Anzieu, entre outros.
3 Sobre os trabalhos da Escola de Paris, remeto o leitor a Marty (1993, 1998), Volich (2022), Ferraz e Volich (1997), Volich, Ferraz e Arantes (1998), Volich, Ferraz e Ranña (2003, 2008) e Volich, Ranña e Labaki (2014).
4 Por exemplo, os trabalhos de Jean Guir, Jean Clavreul, Pierre Benoit, Juan-David Nasio, entre outros.
3. As formas corporais do sofrimento: a imagem da hipocondria1
Mistério e fragilidade do corpo, doença e morte, são os aspectos da hipocondria humana que nos tomam, a todos, pelas entranhas. Henry Ey
As imagens evocadas pelas formas clínicas da atualidade parecem inventar ou reinventar, com maestria, novas sintomatologias para a velha dimensão do sofrimento humano. Um sofrimento que, segundo a psicanálise, leva em consideração esse pathos que carrega a memória da alteridade na origem de toda experiência humana. Ora, se a psicanálise pode ainda se definir como a arte da escuta do sofrimento humano, pode-se pensar que esse sofrimento reclama novas formas de apresentação, cumprindo, entretanto, a mesma exigência de sempre: a de se fazer escutar. Embora novas imagens tenham surgido – reflexos da mudança dos tempos –, elas continuam a guardar a mesma característica das imagens dos corpos
1 Uma primeira versão deste trabalho foi publicada na Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, v. 4, n. 4, pp. 61-80, 2001. Em 2003, foi publicado em Psicossoma III: interfaces da psicossomática, organizado por Volich, Ferraz e Ranña e editado pela Casa do Psicólogo.
retorcidos das histéricas de outrora, ou seja, a imagem do velamento do sofrimento, do tumulto do conflito, da dor.
Assim, cada vez mais, marcam presença na psicopatologia da atualidade as variadas problemáticas alimentares, a obsessão pela magreza, a compulsão para fazer exercícios físicos, para trabalhar, o horror do envelhecimento, as excessivas intervenções cirúrgico-estéticas de modelagem do corpo, as automutilações, a busca psicopatológica da saúde ou, ao contrário, uma negligência destrutiva do corpo, que aparecem hoje, em nossa clínica cotidiana, ao lado das mais diversas descompensações somáticas. Sintomas que denotam, a meu ver, de forma positiva ou negativa, a submissão completa do corpo.
Com o objetivo de apresentar algumas hipóteses de trabalho que venho explorando nos últimos anos, começarei apresentando alguns flashes da minha clínica psicanalítica. Digo flashes porque não se trata aqui de apresentar casos clínicos, tampouco de vinhetas clínicas, mas tão somente de imagens. Imagens que evocam cenas de uma clínica, que colocam em evidência o que denominei, no capítulo anterior, a psicopatologia do corpo na vida cotidiana.
1) Flávia, 35 anos, dois filhos; aos 20, uma cirurgia plástica para diminuir os seios; hoje, quatro lipoaspirações “para tirar as gordurinhas”, diz ela. “A da barriga não ficou legal, era melhor como antes, vou ter que refazer!” Outra cirurgia, dessa vez para aumentar os seios: “Agora é legal ter seios grandes”. Procura análise após sentir-se “esgotada e sem ânimo” depois da doença do filho mais novo, que chegou a precisar de uma cirurgia.
2) Lígia, cujo corpo emagrecido esforça-se por esconder sua rara beleza, vem encaminhada pelo psiquiatra. Encontra-se muito deprimida, chegando a comer e vomitar até oito vezes ao dia. Afirma ela: “A minha mãe diz que vomito para não engordar, mas a verdade é que não posso suportar tudo aquilo dentro de mim”.
3) Pierre tem 50 anos; o cardiologista e a mulher acham importante que ele inicie uma análise. Teve um infarto agudo do miocárdio há três meses: “Eu tive o infarto, mas não senti nada, foi o médico que descobriu”, diz ele. Ângelo também teve um infarto, tem apenas 42 anos; recordando-se desse dia, comenta: “Eu tive dor a noite inteira, mas não quis acreditar que poderia ser algo grave”.
4) Eduardo, por sua vez, está atormentado pelo temor de ter contraído AIDS após uma relação sexual em que a camisinha rasgou. O resultado do exame de sangue negativo não lhe restitui a calma esperada. Queixa-se de dores nas costas, sente-se cansado e questiona-se: “E se estiver com um câncer?”.
5) Isabela tem 15 anos, começou a se cortar aos 12, foi a escola quem advertiu os pais. Na primeira entrevista, tem muita dificuldade para falar; depois de vários encontros, me diz: “Minha mãe fala que me corto para chamar atenção, ela não sabe que é justamente a forma que encontrei de me manter viva! Me sinto vazia, como se estivesse morta, tenho vontade de morrer!”.
6) Marília, olhar esperto, corpo miúdo, é bailarina de profissão. Não sabe o que se passa com ela, acha que tem tudo, mas não consegue se sentir “feliz”. “Acho que sofro de TPM”, diz ela. Machuca-se com facilidade, chegando a precisar parar de trabalhar. Diz que parece não sentir o corpo apoiar-se, em toda a sua extensão no divã. O corpo não tem densidade, Marília flutua!
Essas imagens evocadas pela clínica psicanalítica, funcionando como espelho da cultura, refletem, de forma diversificada, a imagem do mal-estar na atualidade.2
No texto Psicologia das massas e análise do Eu, Freud (1991, p. 5) afirma que não existe constituição solipsista do psiquismo. Se
2 A respeito da articulação entre o mal-estar e o sofrimento psíquico, remeto o leitor a Dunker (2015).
4. Entre a alteridade e a ausência: o corpo em Freud e sua função
na escuta do analista1
À memória de Pierre Fédida, exemplo de rigor e liberdade de pensamento.
Desde o início dos anos 2000, em entrevista concedida à revista Percurso, Jurandir Freire Costa (2000, p. 104) chama a atenção para uma mudança no perfil clínico dos analisandos, salientando o aumento de casos de depressão, toxicomanias e do que ele denominou “distúrbios da imagem do corpo”. De fato, conforme salientei no capítulo anterior, tem-se constatado que, nas novas formas de apresentação do sofrimento humano, o corpo vem tomando a frente da cena, constituindo-se como fonte de frustração, de insatisfação e de impedimento à potência fálico-narcísica. De veículo
1 Este artigo aborda uma parte da minha pesquisa de pós-doutorado que foi realizada no Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina – Unifesp (financiada pela Fapesp) e que deu origem ao meu segundo livro, Corpo, cuja 4a edição foi publicada pela Casa do Psicólogo em 2011. Uma primeira versão dele foi inicialmente publicada na revista Percurso, n. 29, pp. 51-64, 2002. Depois, em 2006, foi publicado em O corpo, o Eu e o outro em psicanálise, organizado por Ulhôa Cintra e publicado pela editora Dimensão.
ou meio da satisfação pulsional, o corpo passa a ser, cada vez mais, veículo ou meio de expressão da dor e do sofrimento.
Retornamos, assim, às duas questões colocadas no segundo capítulo deste livro: se o corpo biológico enquanto tal não pode ser objeto da psicanálise, existiria então um corpo abordável pelo instrumental teórico-clínico psicanalítico? Que corpo é esse que se mostra, às vezes insistentemente, e que pode ser acolhido pelo psicanalista na sua escuta? Para mim, a formulação dessas questões solicita uma investigação à parte para explorar a especificidade da abordagem psicanalítica do corpo. É o que pretendo apresentar neste capítulo.
Sendo assim, é a partir dessas questões que este texto se organiza, visando, de maneira indissociável, um duplo objetivo. Primeiro, esboçar, no interior do movimento de construção do pensamento freudiano, uma geografia teórica da noção de corpo em Freud. E, segundo, problematizar, a partir dessa geografia, as principais implicações metodológicas e clínicas na escuta analítica, assim como seus desdobramentos no transcorrer do processo analítico.
Partirei da hipótese de que a teoria freudiana, tendo se desenvolvido a partir da histeria e do sonho em uma complexidade crescente que vai da pulsão ao Eu corporal, enuncia uma abordagem própria do corpo, na qual a alteridade é um elemento-chave. A partir daí, pretendo demonstrar que os avanços teóricos de Freud após 1920 vão progressivamente ampliar as possibilidades de compreensão do corpo para além da lógica da representação. Isso tem, sem dúvida, implicações clínicas. Esse posicionamento estratégico, por assim dizer, da alteridade na teoria freudiana do corpo representa ainda a possibilidade de refletirmos, do ponto de vista metapsicológico, a respeito da natureza da eficácia da escuta analítica sobre o registro do corpo. Desse modo, pretendo demonstrar que, longe de estar excluído da psicanálise, o corpo encontra-se, ao contrário, no centro da construção teórica freudiana.
Em sua exploração do campo semântico em torno do corpo na obra de Freud, Assoun aponta a variedade de termos com que o autor se exprime em relação a esse assunto. Ele escreve:
Por um lado, Freud emprega diversos termos, seguindo para tanto o uso semântico: assim, corpo remete, em alemão, a uma distinção que o uso francês do termo encobre. O Corpo é, com efeito, Körper, o corpo real, objeto material e visível que ocupa um espaço e pode ser designado por uma certa coesão anatômica. Mas é também Leib, ou seja, o corpo tomado em seu enraizamento, em sua própria substância viva, o que não pode passar sem uma conotação metafísica: não é apenas um corpo, mas o Corpo, princípio de vida e de individuação. Por fim, o corpo nos remete ao registro do somático (somatisches), adjetivo que, justamente, nos permite evitar os efeitos dos dois outros substantivos ao descrever processos determinados que se organizam segundo uma racionalidade ela própria determinável. Tal é o leque revelador de registros, que vai dos processos somáticos à corporeidade, passando pela referência ao corpo. (Assoun, 1993, pp. 161-162)
Como se verá, a diversidade semântica aqui descrita possui importantes ressonâncias com as problemáticas clínicas e os desenvolvimentos teóricos do discurso freudiano sobre o corpo.
Antes de abordarmos os pontos teóricos essenciais desse discurso, vejamos alguns elementos do percurso pós-freudiano do corpo na história do movimento psicanalítico. Isso permitirá compreender que esse percurso é indissociável da problemática propriamente epistemológica do corpo na psicanálise.
5. O corpo recusado na anorexia e o corpo estranho na bulimia1
Porque eu sou do tamanho do que vejo E não do tamanho da minha altura… Alberto Caeiro/Fernando Pessoa, “O guardador de rebanhos”, in Obra Poética
Apesar do vigor dos esforços empreendidos, dentro e fora do âmbito psicanalítico, a abordagem teórico-clínica da anorexia e da bulimia permanece sendo um desafio. As múltiplas perspectivas de reflexão em psicopatologia e psicanálise encontram no estudo dos distúrbios do comportamento alimentar um campo de pesquisa privilegiado, na medida em que evidenciam toda a envergadura dos problemas teórico-clínicos colocados por esses distúrbios à psicanálise. Além disso, o estudo de entidades clínicas complexas mostra-se útil na medida em que pode contribuir para o aprofundamento da psicanálise no saber sobre si mesma. Nesse sentido, a clínica da anorexia e da bulimia é rica e fecunda pelos desafios
1 Uma primeira versão deste trabalho foi publicada em 2010 em Psicanálise de transtornos alimentares, organizado por Gonzaga e Weinberg e publicado pela editora Primavera.
cotidianos que coloca não apenas ao saber, mas sobretudo ao fazer psicanalítico.
Já foi salientado por Jeammet (1999) que, na clínica da anorexia e da bulimia, estamos sempre no registro do paradoxo. No que diz respeito à anorexia, de saída chama a atenção uma absoluta ausência de preocupação da jovem com uma perda de peso tão significativa. De fato, a especificidade da anorexia parece residir justamente nessa restrição alimentar, metódica e acentuada, associada a um emagrecimento significativo que não parece suscitar preocupação no sujeito. Costuma-se incluir nessa especificidade do quadro anoréxico a amenorreia, a hiperatividade, as mudanças de humor, o modo de funcionamento relacional com os outros e com a comida, bem como os problemas na percepção do corpo.
A bulimia, por sua vez, caracteriza-se por episódios de ingestão impulsiva e voraz, geralmente às pressas e às escondidas, de uma grande quantidade de alimento. Tal ingestão é acompanhada por comportamentos compensatórios inadequados, como vômitos autoinduzidos, uso indevido de laxantes e diuréticos, prática de jejuns e exercícios físicos excessivos, sem que se evidencie uma perda de peso tão significativa como a que ocorre na anorexia. Esses episódios podem durar muitas horas e se repetir várias vezes ao dia. É habitual as jovens bulímicas afirmarem que se sentem meras espectadoras de um comportamento que escapa totalmente a seu controle, colocando o estranhamento de si mesmas, de seus corpos e de suas ações no centro da problemática bulímica. Porém, é comum tanto à anorexia quanto à bulimia o temor intenso de ganhar peso, assim como uma perturbação na percepção do corpo, suas sensações, sua forma, suas dimensões, seu contorno, o que caracteriza uma distorção da imagem corporal.
A ausência de preocupação da anoréxica com a significativa perda de peso parece estar diretamente relacionada à extensão da problemática da percepção da imagem corporal. Tal problemática
abrange desde as dificuldades na percepção das sensações corporais, dos estímulos oriundos do interior e do exterior, até uma distorção da imagem corporal de proporções verdadeiramente delirantes, conforme assinalou Bruch (1973). A meu ver, não se pode deixar de notar ainda uma dificuldade de discriminação entre dentro e fora. Tudo se passa como se o próprio corpo não exercesse uma de suas funções, que é colocar os limites entre dentro e fora, exercendo assim o papel de fronteira entre o eu e o outro. Essa dificuldade de discriminação entre dentro e fora, entre o eu e o outro, assinala a importância da precariedade das fronteiras entre sujeito e objeto, evidenciada na ausência de autonomia e dificuldade de diferenciação da figura materna.
Não é sem razão que muitos autores, entre eles André Green, sugerem que se situe a anorexia e a bulimia entre o que se compreende hoje como borderlines ou casos-limite. Creio que o interesse maior dessa categoria nosográfica reside justamente na noção de limite, mais precisamente na noção de fronteira, o que, aliás, essas patologias parecem evocar a todo momento. Fronteira entre dentro e fora, entre o eu e o outro, entre realidade e fantasia, entre a representação e o irrepresentável. Também entre categorias nosográficas, como, por exemplo, as fronteiras com a psicose, a melancolia e a hipocondria. Nesse sentido, anorexias e bulimias, em toda sua diversidade, parecem contribuir para um questionamento das fronteiras das categorias nosográficas em si, assim como dos diversos campos teóricos e metodológicos que as investigam.
Minha reticência em relação ao emprego da categoria borderline para enquadrar a anorexia e a bulimia se apoia, de um lado, na reconhecida diversidade psicopatológica desses quadros clínicos e, de outro, no incômodo que me desperta uma certa apropriação desse termo para designar os casos de difícil manejo clínico. Tais casos frequentemente nos colocam em contato com os limites do nosso saber e do nosso dispositivo terapêutico, o que certamente
6. Mãe e filha… uma relação tão delicada…1
Meu corpo não é meu corpo, é ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me e é de tal modo sagaz que a mim de mim ele oculta. Carlos Drummond de Andrade, “As contradições do corpo”, in Corpo: novos poemas
Conforme vimos, a clínica psicanalítica da anorexia e da bulimia nos confronta de saída com a questão do corpo, mas nos coloca também diante da especificidade dos processos da adolescência, particularmente em relação às meninas. Essa clínica nos oferece um panorama privilegiado para permitir uma reflexão sobre a complexidade da relação mãe-filha, justamente por colocar em evidência seus aspectos paradoxais.
1 Uma primeira versão deste artigo foi publicada em 2012 em Limites de Eros, organizado por Marraccini, Fernandes, Cardoso e Rabello e publicado pela editora Primavera. Em 2022, foi editada uma segunda edição desse livro pela Blucher (Marraccini, Fernandes & Cardoso, 2022).
200 mãe e filha… uma relação tão delicada…
No capítulo anterior, busquei melhor compreender as distorções da imagem corporal, tão comum nesses casos, mas também as vicissitudes da relação precoce mãe-bebê e sua relação com o processo identificatório. Agora, minha intenção neste capítulo é salientar a especificidade dos processos da adolescência feminina, com o objetivo de propor uma reflexão a respeito das vicissitudes da relação mãe-filha e sua relação com o corpo, particularmente nos casos de anorexia e bulimia.
Retomando o que avançamos anteriormente, vale salientar que, nesses quadros clínicos, a questão do corpo nos remete de saída à problemática da distorção da imagem corporal, em que se evidencia também uma ausência de discriminação entre dentro e fora. Tudo se passa como se o corpo próprio não exercesse aí uma de suas funções, que é colocar os limites entre o eu e o outro. Essa dificuldade de discriminação entre dentro e fora assinala a importância da precariedade das fronteiras entre sujeito e objeto, evidenciada na ausência de autonomia e na dificuldade de diferenciação da figura materna. É justamente sobre esse último ponto que irei me deter neste capítulo.
A dupla mãe-filha
Tem sido assinalado que as jovens anoréxicas e bulímicas, quando são indagadas a respeito de algo, frequentemente respondem o que a mãe pensa sobre o assunto. Mesmo que a seguir possam enunciar a própria opinião, embora, na maioria das vezes, de forma vacilante, não deixa de chamar a atenção essa presença marcante da mãe no discurso delas.
É Lígia quem me telefona para marcar sua primeira entrevista; vem sozinha, dirigindo seu próprio carro. Porém, diante da minha tentativa de conhecer sua própria teoria a respeito do que se passava com ela, me diz: “A minha mãe fala que vomito para não
engordar, mas a verdade é que não posso suportar tudo aquilo dentro de mim”. A mãe de Lígia nunca tentou se comunicar comigo, o que de certa forma sempre me chamou a atenção. É comum, ao longo da análise dessas jovens, precisarmos administrar também as angústias da mãe, seu desespero e, sem dúvida, suas tentativas de entrar no espaço analítico. No entanto, essa mãe não parecia precisar disso; na verdade, ela não precisava vir porque já estava lá; ia com Lígia para as sessões todos os dias: “a minha mãe diz”, “a minha mãe acha”, “a minha mãe pensa”, “a minha mãe quer”…
As sessões se seguiram e continuávamos ali, as três, eu, Lígia e sua mãe. Vou aos poucos conhecendo-as – seus gostos, seus valores, suas crenças…
Embora Lígia enuncie, de saída, uma dissonância entre a teoria de sua mãe e a dela própria a respeito dos vômitos, inicialmente o conhecimento construído em nossas sessões referia-se, na verdade, ao saber sobre uma dupla: mãe e filha. Se o pai dessas jovens é frequentemente descrito como distante, sobrecarregado pelo trabalho, ausente ou excluído, a mãe, por sua vez, parece ocupar lugar de destaque na vida familiar e na vida dos filhos. Esse destaque, no entanto, é paradoxal: pode se tratar de uma mãe depressiva e alheia, muito preocupada com sua própria vida, pouco terna e exigente, ou, ainda mais frequentemente, de uma mãe hiperpresente e invasiva.
É curioso observar que, em relação à vaidade feminina, nota-se oposição mais extremada: ou são mulheres que investem muito na aparência física, valorizando atributos femininos e ocupando-se disso no que se refere a elas próprias, ou, ao contrário, parecem rechaçar e desprezar ironicamente a vaidade feminina. No entanto, ao entrarmos em contato com essas mães, vemos que elas parecem ainda submetidas às exigências de suas próprias mães, estas últimas referidas por elas como mães sempre dispostas a anular seus feitos.
7. O corpo e os ideais na clínica contemporânea1
À memória do querido Mario Fuks, pensador crítico e interlocutor generoso.
Atualmente, o imenso interesse pelas questões que envolvem o corpo pode ser facilmente verificado pela quantidade de reportagens que invadem nosso cotidiano tratando da saúde, das doenças ou das abordagens estéticas. O corpo toma a frente da cena social. O corpo saiu do espaço privado do interior das casas e do espaço restrito das instituições de saúde e ganhou o espaço público: as academias, as clínicas de estética… a rua. Corpo nu, corpo vestido, corpo de mulher, corpo de homem, o corpo serve para vender qualquer coisa, inclusive o próprio corpo. Basta observar a quantidade de propagandas de tratamentos cirúrgicos e estéticos que vemos hoje em dia.
Não se pode deixar de notar que os progressos tecnológicos da medicina e da genética vêm reformulando de maneira acelerada a relação do sujeito com o próprio corpo, tanto no que diz respeito às
1 Uma primeira versão deste artigo foi publicada na Revista Brasileira de Psicanálise, v. 45, n. 4, pp. 43-55, 2011
o corpo e os ideais na clínica contemporânea
questões do adoecer quanto às questões ligadas ao envelhecimento. Habituados a transpor os limites do corpo, os cientistas nos informam entusiasmados que tais progressos nos permitirão viver mais e melhor. Livres de doenças que durante bom tempo perturbaram o sono da humanidade, somos convidados a nos deixar embalar pela perspectiva de vencermos também a luta contra o tempo. Mudança dos tempos que se reflete na própria medicina, que, emancipada da reconquista da saúde perdida pela doença, passa a se alinhar com a corrida das performances e com o aprimoramento de si (Neves et al., 2020).
As ressonâncias dessas mudanças certamente se fazem escutar na clínica psicanalítica da atualidade. Estandarte de um ideal de perfeição que se busca insistentemente alcançar, o corpo é hoje hiperinvestido, porém frequentemente apontado como fonte de frustração e sofrimento, constituindo-se como um instrumento privilegiado de expressão do mal-estar na cultura contemporânea. A clínica psicanalítica, por sua vez, atualmente reflete a imagem de uma verdadeira fetichização do corpo, que se traduz pela preocupação excessiva não apenas com o seu funcionamento, mas, sobretudo, com a sua forma.
Se com frequência ouve-se dizer que a época vienense de Freud teve na histeria um subproduto clínico da cultura, quais seriam então os subprodutos clínicos engendrados nessa passagem da modernidade para a contemporaneidade? Ou, ainda, que velhas formas psicopatológicas, conhecidas de todos há séculos, vêm se destacando nos últimos tempos, cumprindo, assim, a mesma exigência de sempre – a de se fazer escutar?
Essas duas questões irão nortear o que pretendo apresentar neste capítulo, pois parece evidente que as figuras clínicas evocadas pela anorexia, mas também pela bulimia e pela sutil diversidade das problemáticas alimentares, vêm ocupando um lugar de destaque, engajando o corpo e, por sua prevalência entre as mulheres,
solicitando uma reflexão a respeito da especificidade do mal-estar feminino na atualidade.
Referindo-se particularmente à anorexia, Raimbault e Eliacheff salientam:
A soma dos trabalhos que lhe são consagrados pode ser comparada à dos personagens míticos como Antígona, Dom Juan ou Hamlet! 250 casos descritos até 1950, mais de 5 mil observações em 1981, e a progressão do número de publicações é quase exponencial. (Raimbault & Eliacheff, 1989, p. 11)
Embora se encontrem descrições de casos de anorexia desde a Idade Média, os primeiros relatos propriamente clínicos começaram a aparecer no século XVII. Além disso, sabe-se que, mesmo com o aumento significativo desses casos entre as décadas de 1950 e 1980, a incidência de casos femininos é ainda maior do que a de casos masculinos, mesmo que estes tenham aumentado consideravelmente nas últimas décadas.
De fato, os primeiros estudos epidemiológicos confirmaram a prevalência da anorexia e da bulimia em mulheres na faixa entre 15 e 24 anos, de raça branca e pertencentes às camadas mais favorecidas das sociedades industrializadas do Ocidente. No entanto, desde a década de 1990, mesmo persistindo sua prevalência entre as mulheres, os estudos transculturais apontam a evidência dessas patologias nas sociedades orientais, assim como naquelas menos favorecidas. Apontou-se, ainda, sua evidência também nas minorias raciais dos países ocidentais, bem como seu aparecimento em todos os estratos sociais.2
2 Um estudo realizado em Salvador com estudantes negras de 15 a 30 anos buscou avaliar a predisposição para a insatisfação com a imagem corporal e o risco
8. O corpo da mulher e os imperativos da maternidade1
Existem momentos na vida em que a questão de saber se é possível pensar diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. Michel Foucault, Histoire de la sexualité II: l’usage des plaisirs
Se até agora busquei salientar a importância do corpo e da alimentação e sua relação com os ideais nos modos de captura do sofrimento psíquico na atualidade, gostaria de finalizar este livro apontando que, ao longo dos anos, as especificidades do mal-estar feminino começaram a ganhar um contorno cada vez mais nítido na minha clínica. Não se pode deixar de constatar que, em geral, os consultórios dos analistas parecem ser habitados por uma maioria feminina, assim como não se pode deixar de observar que o cotidiano das mulheres de hoje em dia é sensivelmente diferente do de suas mães e avós. A expressão do sofrimento psíquico das mulheres escutado na clínica coloca em evidência a importância
1 Uma primeira versão deste artigo foi publicada em 2021 em Corpo (Coleção Parentalidade & Psicanálise), organizado por Teperman, Garrafa e Iaconelli e publicado pela editora Autêntica.
da relação com o corpo e os ideais, não apenas na prevalência dos ideais de magreza, como pude salientar, mas também na vivência da maternidade.
É justamente esse aspecto que pretendo abordar neste último capítulo a partir do ponto de vista da experiência clínica, ou seja, a partir de um caso clínico. O meu objetivo é dar visibilidade à especificidade da conflitiva em torno da maternidade, que coloca em cena as fantasias e os medos, mas também as idealizações e os imperativos que a cercam. Isso sem esquecer que a desigualdade social, gritante em nosso país e expressão máxima dos muitos Brasis com os quais nossa psicanálise precisa se haver, certamente coloca diferenças significativas na experiência da maternidade. Tal constatação exige que toda teorização sobre a clínica leve em conta os registros social, ético e político nela implicados.
Já foram amplamente enfatizados os problemas que decorrem do fato de Freud ter insistido em compreender a feminilidade a partir da masculinidade, construindo uma imagem das mulheres caracterizada pela passividade, pelo masoquismo e pela inveja do pênis. Freud (1984) sugeriu para as mulheres três vias possíveis de abordagem da castração: a inibição sexual, a masculinização e a feminilidade; no entanto, ele salienta apenas uma única possibilidade, de fato, de acesso a essa feminilidade, que seria a maternidade.
Se, de um lado, hoje nos parece absurdo pensar que uma mulher que escolhe não ter filhos, ou que não pôde tê-los, tenha fracassado no seu caminho em direção à feminilidade, de outro constatamos que o lugar da maternidade na vida das mulheres também sofreu profundas modificações. A radicalidade dessas mudanças parece solicitar um espaço de discussão que certamente transcende, e muito, o âmbito da clínica psicanalítica. No entanto, o que pretendo trazer para a discussão neste capítulo são alguns questionamentos que foram se construindo ao longo dos anos a partir da escuta clínica do sofrimento psíquico das mulheres.
Joel Birman comenta que, ao designar a maternidade como única saída para a feminilidade,
Freud manteve o estatuto das mulheres estabelecido no século XVIII, e segundo o qual elas seriam mães por natureza, sendo então a maternidade um traço de sua essência. Não obstante acrescentou que as mulheres deveriam ser mães por vocação libidinal, e por consequência, deveriam funcionar no espaço familiar e não no público. (Birman, 1997, p. 20)
Ao restringir a sexualidade ao casamento, a sociedade da época de Freud organizava-se para manter a mulher no espaço privado, longe da “tentação” do espaço público, fonte de saber e de autonomia.
Não devemos esquecer que as produções teóricas do pai da psicanálise foram construídas a partir de um imaginário social dominante naquela época, e, mais ainda, que sua teoria, como qualquer outra, será sempre tributária das marcas do seu tempo. Sendo assim, não se deve perder de vista, como insiste Silvia Alonso (2011), que é próprio das teorias certa tendência a essencializar os mitos, absolutizar as crenças, universalizar e atemporalizar o que, via de regra, é próprio de um determinado momento histórico.
Desde o início do século XX, e particularmente a partir da década de 1950, as transformações no modo de vida das mulheres foram se processando de maneira mais acelerada. A entrada no mercado de trabalho e o acesso à formação universitária e às novas formas de erotismo organizaram a luta feminina em defesa dos seus direitos. A pílula anticoncepcional e as mudanças nos contratos matrimoniais foram, aos poucos, igualmente organizando a saída da mulher do âmbito doméstico e do exclusivo cuidado dos

Maria Helena Fernandes inspira-nos a enfrentar os desafios do sofrimento humano, quer se expressem pelo corpo e suas funções, como as alimentares, por vivências do feminino, da maternidade ou sejam, ainda, socioculturais.
Em textos em que a poesia entremeia a sutileza teórica e uma rara atenção ao que passa despercebido na cacofonia e nos simulacros da clínica e dos modos de vida contemporâneos, descobrimos a importância do exercício da desconfiança e da delicadeza, que alertam o clínico para as armadilhas do suposto saber, tão tentadoras para nosso narcisismo ameaçado, sobretudo, no acompanhamento dos casos mais difíceis.
Embalados pela melodia de sua prosa, suas expressões e seus conceitos, descobrimos nesta obra o potencial transformador de uma escuta sensível e viva.
– Rubens M. Volich série
Coord. Flávio Ferraz