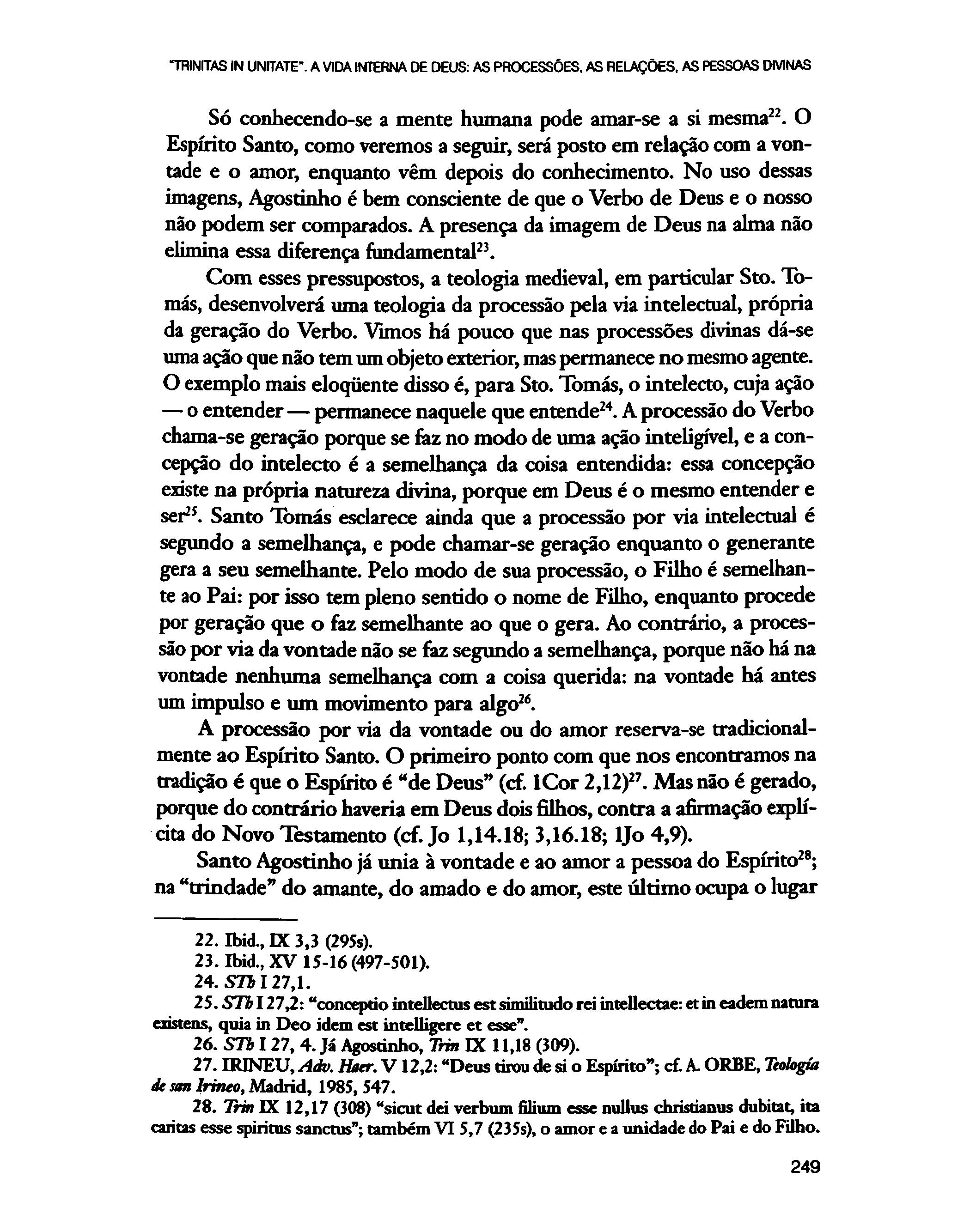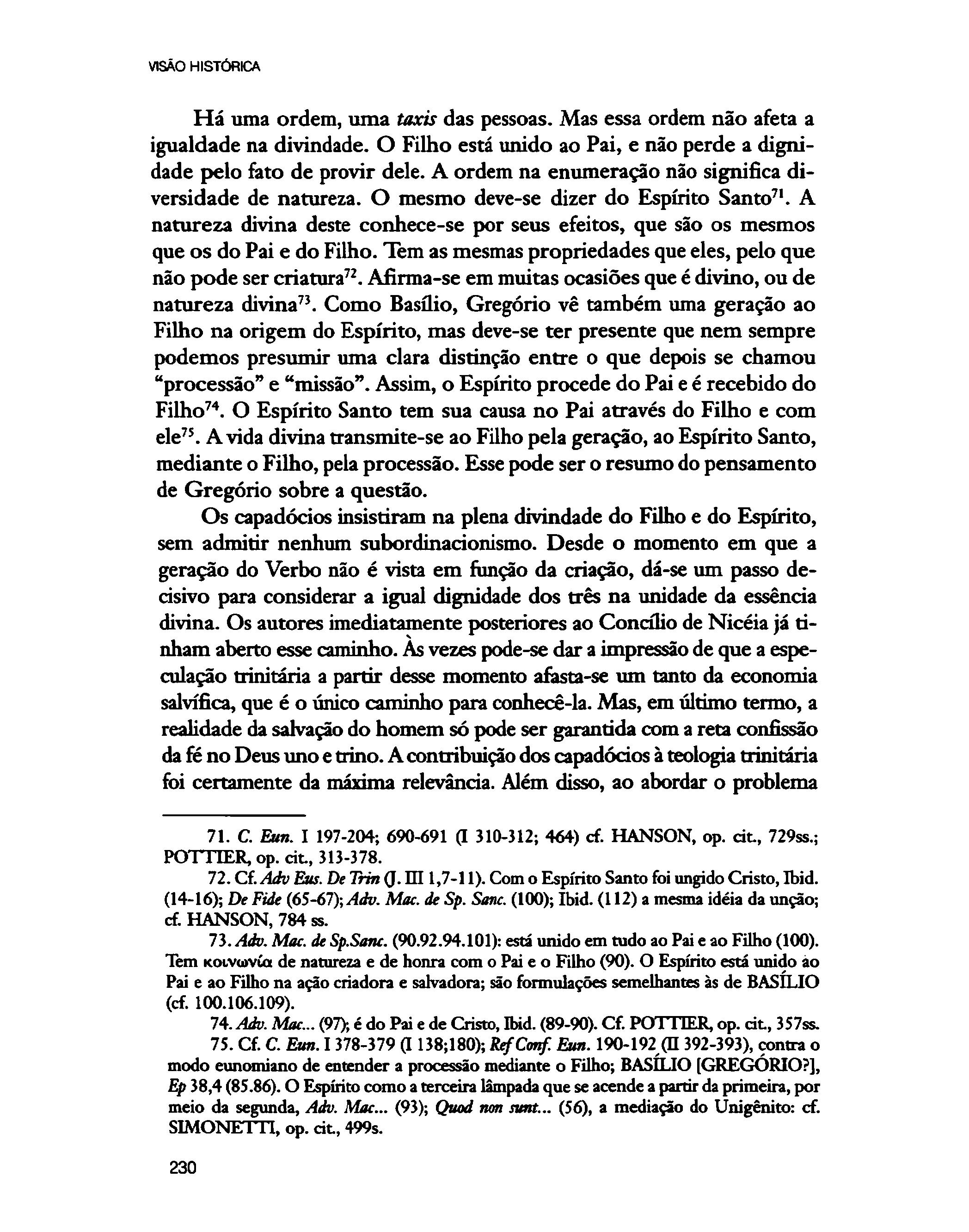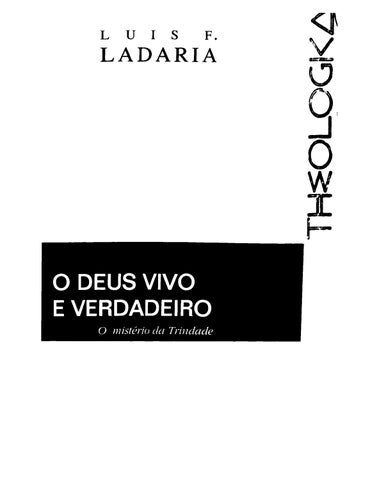433 minute read
Das missões divinas às “processões”
H ipona36. Esse veio foi seguido mais decididam ente por Ricardo de São V ítor (m orto em 1173), anterior em um século a Sto. Tomás. Vale a pena que nos detenhamos brevem ente em seu De Trinitate para ver o u tro modo de colocar o problema da pluralidade em D eus e da fecundidade ad intra. Em bora Ricardo não coloque de m odo direto o problema das processões, como Sto. Tomás, a explicação do prim eiro responde à mesma questão, isto é, “justificar” a existência de uma pluralidade no Deus uno. Ricardo busca esclarecer com a razão o m istério em que cremos, buscar as rationes necessariae para explicar a Trindade37. O ponto de partida é que em D eus tudo é uno, tudo é simples, todos os atributos são um a só coisa e o mesmo, não há mais do que um Sumo Bem38. A diversidade em Deus funda-se na perfeição da caridade: nada há m elhor nem mais perfeito do que a caridade. Esta, essencialmente, tende ao outro; por isso o am or de si não pode ser a realização perfeita do mesmo39. Para que haja caridade, deve haver portanto pluralidade de pessoas. Para que Deus possa ter esse sumo amor, é necessário que haja quem seja digno dele. Chega-se à mesma conclusão partindo da idéia de felicidade. E sta vai unida à caridade: “como nada há melhor do que a caridade, nada há mais gozoso do que a caridade” (sicut nibil contate melius nibil caritate iucundius). Se a divindade é a suma felicidade, precisa da pluralidade de pessoas para que o amor seja gozoso, porque o que ama quer, por sua vez, ser amado por aquele a quem ama40.
Se D eus (o Pai) não quisesse comunicar a outro seu amor e sua felicidade, seria por defectus benevolentiae. Se não pudesse, não seria onipotente. As duas coisas devem ser excluídas nele. A pluralidade de pessoas, requisito para o amor gozoso, pede que as pessoas sejam iguais, coetemas, “a suma caridade exige a igualdade das pessoas” {caritas simrma exigit personarum
Advertisement
36. Trm VIII 10,14 (290-291) “Quid amat animus in amico nisi animum? Ex illic igitur tria sunt”. In Job, XIV 9; XXXIX 5 (CCL 36,148; 348). Não esqueçamos, por outra parte, que Agostinho se opôs a que se considerasse imagem da Trindade a tríade formada pelo marido, a mulher e a prole: TririXH 5,5ss (359ss). 37. RICARDO de São V ítor, De Trinitate, prol; 1,4 (SCh 63,52s; 70). Sobre sua teologia trinitária, cf. X. PTKAZA, Notas sobre la Trinidad en Ricardo de San Victor, EstTrin 6 (1972) 63-101; M. SCHNEIERTSHAUER, Consummatio Caritatis. Eine Untersueben zu Richard von St. Victors De Trinitate, Mainz, 1996. Sobre as razões necessárias, cf. 88-91; essas são tais porque se acham em Deus mesmo. 38. Cf. RICARDO, Trm, H 18 (142). 39. Ibid., RI,2 (168): N ihil caritate melius, nihil caritate perfectius... U t ergo phiralitas personarum deest, caritas om nino esse non potest”. 40. Ibid., m , 3 (172).
aequalitatem), sempre na unidade da substância. D e contrário, haveria mais de um Deus41. Da simples consideração da pluralidade deve-se passar à da Trindade42 43. Surge efetivamente a pergunta: por que não bastariam dois? A resposta de Ricardo é que a caridade perfeita pede que o outro seja amado como cada um ama. Tem de haver consortium amoris. N ão suportar um condilectus, o que é amado juntamente com ele mesmo, seria um sinal de grande fraqueza; seria sinal de amor egoísta. M as quando a condilectio não só se suporta, mas se deseja, temos um sinal da máxima perfeição. P or isso a consumação da caridade pede a trindade de pessoas. Também a plenitude da felicidade exclui todo defeito da caridade. P or essa razão, a dilectio e a condilectio vão juntas; somente com dois não haveria quem comunicasse as delícias da caridade45. A condilectio, o am or conjunto, tem lugar quando um terceiro é amado com concórdia por dois, é amado “socialmente”; o afeto de dois inflama-se em caridade no incêndio de amor a um terceiro44. Assim, com a existência da terceira pessoa, logra-se a caridade e a concórdia e o amor solidário; esses não se encontram nunca sós (“concordialis caritas e t consolidalis amor ubique nusquam singularis invenitur”) Para que esse am or solidário possa te r lugar os três devem ser iguais, co-etem os etc. O ser dos três é comum a cada um deles, e ao mesmo tem po sumamente simples (“summe simplex esse est singulis commune”)45. Com isso se m ostrou que não bastam duas pessoas para o perfeito am or e a perfeita felicidade. Mas por que só três? Por que não se podem m ultiplicar indefinidamente as pessoas divinas? Vimos a solução que já dava Sto. Tomás: só os atos da inteligência e da vontade permanecem no agente; por isso só pode haver duas processões em Deus. Ricardo segue outra via: o Pai dá o ser e o amor e não os recebe; o Filho recebe e dá ambos; o Espírito Santo só os recebe. O Pai é só amor gratuito, que dá; o Filho, no centro, tem o amor devido p or tuna parte ao Pai, e o am or gratuito, por outra, ao Espírito Santo46. Se houvesse mais pessoas que dessem

41. Ibid., m 4-7 (174-182). 42. Ibid., ffl 11 (196-194); cf. SCHNEIERTSHAUER, op. d t., 129ss. 43. Cf. RICARDO, Tritt, EI 13-14(196-200). BOAVENTURA, op. d t., 1 2,3. “Et ideo, ut altissime et piisime sentiat, didt, Deum se summe communicare, aetem aliter habendo dilectum et condilectum, ac per hoc, Deum unum et trinum.” 44. Ibid., Dl 19 (208s): “Ubi a duobus tertíus concorditer diligitur, sodaliter amatur, e t duorum affectus tertii amoris incêndio in unum conflatur”. O vocabulário de Ricardo para indicar esse feto é m uito variado: “concordialis”, “condelectari”, “confoederatio”...; cf. SCH N IERTSHAUER, op. d t., 134. 45. Cf. RICARDO, Tritt, H 21-22 (212-216). 46. Cf. Ibid., V 16 (344).
e recebessem produzir-se-ia a confusão entre elas, porque cada pessoa é o mesmo que seu amor, “quaelibet persona... est idem quod amor suus”47. P or isso não se pode m ultiplicar as pessoas divinas, pois do contrário faltaria a peculiaridade, cada um a delas não teria um tipo de amor com o característica, própria e exclusiva. A diferença do tipo de am or não leva a um a diversidade de graus, nem a que um seja maior, e o outro menor. Se segundo essa análise do amor não podem ser mais de três as pessoas, pelas razões que já conhecemos não podem ser menos. T èr um condigno é a perfeição de um , ter um condikcto é a perfeição de um e do outro48. Por isso, na processão do Filho dá-se a com unhão de honra (já que é o condignus) e na do E spírito Santo dá-se a comunhão do amor (por ser o condilectus). O
Filho, com toda a tradição, é chamado por Ricardo genitus, gerado; os próprios nom es do Pai e do Filho nos levam a essa denominação. O Espírito Santo — e tampouco aqui Ricardo é esperialmente original — não é nem genitus nem ingenitus, já que por uma parte não é Filho mas por outra foi produzido segundo a natureza, e por essa razão não pode ser chamado
“não-gerado”49. D ado que o condignus na ordem lógica vem antes do condilectus, a processão do Filho é anterior à do Espírito Santo50. Dois m odos ou duas tentativas de aproximação ao mistério da vida interna de D eus, que tiveram e continuam a ter influência na teologia até o m om ento presente. C ertam ente a direção agostiniano-tom ista gozou na história de um predicam ento que não podemos atribuir à linha do amor interpessoal de Ricardo. M as esta foi revalorizada notavelm ente nos últim os tempos. Deveremos voltar a essa questão ao analisar o conceito de pessoa. N o momento, retenham os as idéias básicas dessas duas vias, usadas na história, como aproximações do m istério inefável da vida interna de D eus. N a fundam ental inadequação de toda explicação possível, devemos afirm ar que a fecundidade ad intra do am or divino é um dado essencial da concepção cristã de Deus. Isso é o que nos querem m ostrar os conceitos clássicos da geração do Filho e da processão ou expiração do Espírito. A isso se chega através das missões ad extra com que Deus se revela. A reflexão crente, sob a ação do Espírito, descobriu que essas missões tem porais têm na própria vida im anente de Deus seu fundamento eterno.

47. Ibid., V 20 (352). 48. Ibid., V 8; V I6 (322;388). 49. Ibid., V I 16 (420s). 50. Ibid., VI 6-7 (386-390).
A teologia oriental não seguiu essas analogias com a psicologia humana e com o amor interpessoal para iluminar esse m istério da geração e da expiração. Manteve-se mais “apofática”, sobretudo no que respeita à processão do Espírito Santo. João Damasceno, para citar um exemplo, form ulou o problema deste modo: “O modo da geração e da processão são incompatíveis. Sabemos que há um a diferença entre a geração e a processão, mas não sabemos qual é essa diferença”51. N otem os a propósito deste texto que se distingue geração (para o Filho) e processão (para o Espírito Santo). Como insinuamos, não se usa o conceito genérico de processão. D e propósito se deixou de lado nesta exposição das processões divinas o tema da processão do Espírito Santo do Pai e do Filho. Os autores ocidentais que citamos claram ente a pressupõem. M as estudaremos mais detidamente esse problema ao tratar da pessoa do Espírito Santo. Então teremos todos os dados para com preender a questão que se colocou na história em relação à processão do Espírito, e os problemas ecumênicos ligados a ela, e infelizmente ainda não superados52.
AS RELAÇÕES DIVINAS
N a sistemática clássica da teologia trinitária, depois das processões divinas, aborda-se o tema das relações em Deus. Trata-se, sem dúvida alguma, de outra das categorias fundamentais da doutrina sobre a Trindade, que deve ser vista em conexão íntima com a que até agora nos ocupou. Com efeito, segundo a teologia tradicional, as relações em Deus derivam das processões, isto é, do fato de que no Pai, no Filho e no Espírito Santo se dá uma ordem no “proceder”. Já os nomes de Pai e de Filho, como tivemos ocasião de ver, sugerem a idéia de relação. Podemos aceitar, portanto, como ponto de partida que o fato da geração do Filho e da expiração do Espírito determina a existência de relações em Deus. Os capadócios, Basúio e Gregório Nazianzeno tinham introduzido a noção de relação na teologia trinitária. O Pai e o Filho têm a mesma substância enquanto são

51. De fide ortbodoxa, 1 8 (PG 94, 822); cf. também 1 2 (793); I 7-8 (817-824). 52. Enumeramos alguns textos importantes do m agistério sobre as processões divinas (alguns citados no final do capítulo anterior, outros mais adiante, em relação com a questão específica da processão do Espírito Santo); DS 850; 851,853 (Concílio II de Lião) 1300-1302; 1330-1331 (Concílio de Florença). Como já insinuamos, o magistério, ao tratar das processões, não se comprometeu com nenhum modelo especulativo de “explicação” delas.
o que gera e o que é gerado; nomes relativos com o “pai”, “filho” ou “rebento” não indicam a substância de nenhum ser, mas uma relação: n o caso de Deus a relação do Pai ao Filho e vice-versa. H á nomes que se aplicam às pessoas e às coisas por si mesmas, outros que se referem à sua relação com outras: homem, cavalo, boi pertencem às primeiras; filho, escravo e amigo, às segundas: indicam somente a relação ao term o a que se contrapõem. Assim, falar do pai e do “rebento” — no exemplo de Eunôm io — não tem por que implicar duas substâncias, porque tanto um nom e como outro só têm sentido em relação com aquele a que se contrapõem na relaçãoS3.
1. As relações em Deus segundo Agostinho
C om esses antecedentes, Sto. Agostinho fez da relação uma das peças mestras de sua teologia trinitária. Devemos notar que em seu prim eiro De Trinitate ele não utiliza apenas o term o relatioS4, mas relativum, relative, e outras expressões equivalentes com o ad aliquid, ad aliud etc. Vejamos brevemente os passos que segue o D outor de H ipona55: parte-se da idéia, que Agostinho já encontra na tradição, da simplicidade de Deus. D aí se pode tirar um a falsa conseqüência: dado que em D eus não pode haver acidentes, tudo o que se afirma tem de ser segundo a substância. Ora, do Pai e do Filho predicam-se coisas distintas. Portanto, já que pela simplicidade divina a diferença não pode ter caráter acidental, a diversidade deve referir-se à substância. Por conseguinte, o Filho não pode ser Deus como o Pai. Para refutar essa objeção, Agostinho introduz uma distinção que não pode se reduzir à distinção que se dá entre substância e acidente. Efetivam ente, não há acidentes em Deus, mas nem tudo se predica nele segundo a substância. Também há coisas que se predicam ad aliquid, a respeito de outro, em relação com outro. Segundo Aristóteles, a categoria da relação é acidental56; mas os acidentes têm origem na mutabilidade, que em Deus

53. Recordemos alguma das afirmações fundamentais dos capadócios: BASÍLIO, C. Etm. II 5 (SCh 305,22); “Pai e Filho não designam a substância, mas as propriedades”; II 28 (118), “a divindade é comum e entre as propriedades contamos a paternidade e a filiação”; GREGORIO Nazianzeno, Or. 29,16 (SCh 250, 210): “Pai não é um nome de essência nem de atividade, mas um nome de relação que indica como o Pai é a respeito do Filho, e o Filho a respeito do Pai; cf. Ibid., 31,9 (290s). 54. Talvez a única exceção em Trin V 11 12 (241) “ipsa relatio non apparet in hoc nomine (Spiritus Sanctus)...”. 55. Cf. sobretudo Trin V (CCL 50, 206-227). 56. Diferentes alusões às categorias aristotélicas em Trin V 1.2; 7,8; 8,9 (207, 213s, 215s); Conf. IV 16,28-29 (CCL 27,54),
está excluída. Portanto, ao ser imutável, o relativo que se dá em D eus não tem caráter acidental. Introduz-se assim, na medida em que se aplicam a Deus, um novo critério da divisão dos predicamentos: o que se diz adse, e o que se diz ad aliquid. Precisamente por isso o Pai e o Filho são sempre tais, não há neles mudança nem mutação57. N a suma simplicidade do ser divino deve-se, pois, m anter a distinção entre o que se diz de Deus em si mesmo e o que se diz em relação a outro: “Portanto, embora seja diverso ser Pai e ser Filho, não significa ter diversa substância; porque essas coisas não se dizem segundo a substância, mas segundo a relação (relativum)-, e esse relativo não é acidente, porque não é m utável”58. Fala-se em Deus de Pai e Filho em termos relativos, não absolutos, e portanto nada impede que a substância seja a mesma, que não haja diversidade substancial, ainda que os dois não sejam o mesmo. Os nomes de Pai e de Filho fazem-nos ver portanto as relações que se estabelecem entre os dois, as de paternidade e de filiação. Só há Pai porque há Filho, e vice-versa. Na tradição anterior encontramos com fireqüência esse argumento. U m a dificuldade m aior apresenta-se a Agostinho quando tem de tratar do Espírito Santo. Esse term o não é relativo, e por outra parte não parece próprio de nenhum, porque também o Pai e o Filho são “espíritos” e são “santos”59. Mas o caráter relativo do Espírito Santo, que não aparece nesse nom e, aparece quando se chama “dom”. Já o Novo Testamento abre- nos caminho para usar esse term o (cf. At 2,38; 8,20; 10,45; 11,17; também Jo 14,16 ete. sobre o E spírito “dado”). Agostinho pode recorrer aqui à tradição latina anterior, especialmente de H ilário de Poitiers, que conhece e cita com elogio60, e para quem “dom” constitui na prática outro nome pessoa] do Espírito Santo. Com matizes diversos que já conhecemos, no
Novo Testamento o Espírito é de Deus e é de Cristo, é dado pelos dois.
Por isso, e como essa relação deve se estabelecer form alm ente entre dois term os, o Espírito aparece como dado pelo Pai ao Filho que juntos constituem o princípio único da terceira pessoa61.

57. Cf. L. F. LADARIA, Persona y relación en el D e Trinitate de san Agustín, Miscelânea Camillas 30 (1972) 245-291, esp, 257. 58. T m V 5,6 (211):"... quamvis diversum sit Patrem et Filium esse, non est tamen diversa substantia: quia hoc non secundum substantiam dicuntur, sed secundum relativum; quod tam en relativum non est accidens, quia non est m utabile”. 59. Cf. Trin V 11,12 (219s) também para o que segue. 60. C f. HILÁRIO de Poitiers, Trin I I 1 (CCL 62,38) que, embora com modificações, AGOSTINHO d ta em Trin. V I 10,11 (241). Nessa passagem não se fida de donum mas de mttnus. O s termos são equivalentes. 61. Ibid., V 14,15 (223) “relative ad Spiritum Sanctum, unum prindpium ”.
Embora Agostinho não o tenha formulado diretamente, de seus textos depreende-se que a geração eterna do Filho e a processão do Espírito são as que dão origem a essas relações. O s nomes relativos da Escritura, por outra parte, fazem-nos conhecer as processões que lhes dão origem. N ão causa especial dificuldade a geração do Filho. A relação que se estabelece entre o Pai e o Filho m ostra esse tipo de “processão”. O Espírito Santo, porém, que é “dom”, não procede como nascido, senão como dado, “non qupmodo natus, sed quomodo datus”42. 0 Espírito, enquanto “dom”, procede de quem o dá. Talvez essa doutrina das relações tenha podido influenciar na questão da processão do Espírito do Pai e do Filho, com que já nos encontramos e a que dedicaremos especificamente nossa atenção mais adiante; temos aqui um exemplo interessante da relação entre a Trindade econômica e Trindade imanente: se Agostinho disse que o Espírito é dom “economicamente”, isso o leva a dizer que procede como “dado”. M as não foi conseqüente até o final. A geração do Filho, segundo isso, deveria corresponder já na Trindade imanente a “doação” do Espírito. M as Agostinho não seguiu esse caminho.
São evidentes as confusões a que se teria prestado essa terminologia. Enquanto Deus é imutável, das relações mútuas deduz-se a eternidade das três pessoas. C om o ocorre com freqüência na teologia trinitária, essa questão é mais clara na relação com o Pai e o Filho. Se o ser do Pai é ser pai, não se pode adquirir essa condição em um momento dado, tem de ser eterna; portanto, é também etem o o Filho, diferentem ente do que pensavam os arianos. M ais dificuldade oferece a eternidade do Espírito
Santo. Esse nom e, como já se observou, não indica relação, e o dom do
Espírito aos homens certam ente não é ab aetemo. O Espírito começa a existir quando é dado? Agostinho encontra a saída dessa dificuldade na distinção ente “dom” e “dado” (donatum). O Espírito Santo desde sempre é “dom”, e por conseguinte é “doável”, ainda que não se possa dizer que foi desde sempre dado62 63. Por isso a terceira pessoa existia como as outras duas desde o princípio, as relações intratrinitárias que a ela se referem são também eternas e portanto imutáveis. Agostinho partiu certam ente de uma forte acentuação da unidade divina64. Mas com sua doutrina das relações consegue afirmar a distinção

62. Ibid., (220): “Exit enim non quomodo natus sed quomodo datus...”. 63. Ibid., V 15,16 (224). 64. Cf. especialmente os três primeiros livros De Trmitate, em que mostra uma dara tendência de aplicar a Deus enquanto uno (Pai, Filho e Espírito Santo) uma série de passagens do Novo Testamento que daram ente se referem ao Pai. Mas ainda assim fica daro que o Pai é o princípio de toda divindade: Trm IV 20,29 (200): “... totius divinitatis vel si melius didtur deitatis princíphim pater est”.
das pessoas sem que a unidade da essência fique afetada. Deve-se distinguir entre o que se diz da essência divina e o que se diz em particular de cada pessoa. O que se predica da essênda divina, que é comum a todas as pessoas, é o que se predica a i se. O que se predica a i aliquid, em relação a outro, pode referir-se a uma relação ad extra, a respeito das criaturas, e então se afirma também de toda a Trindade (por exemplo, Deus é criador), por ser essa um só princípio de todo o criado. Mas pode se referir também às relações ad intra, e então se afirma de um a das pessoas em sua relação com as outras. As afirmações absolutas que se faz de cada uma das pessoas referem -se igualmente às outras: assim o pede a simplicidade da essênda divina; do contrário, cairíamos no triteísm o. Assim Pai é luz, como também o Filho e o Espírito Santo; mas os três não são três luzes, mas uma só. O mesmo digamos da sabedoria, e por últim o do próprio ser divino: os três são Deus, mas um só D eus65. Em tudo o que se diz de Deus ad se, exclui-se por conseguinte o núm ero plural. Isso não im plica desconhecimento da distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agostinho serve-se, como já o fazia Tèrtuliano, de Jo 10,30 para m ostrar a unidade e a distinção em Deus: “Ego et Pater unum sumas... unum secundum essentiam, sumus secundum relativum ”66. O singular em Deus refere-se à única essência divina. Nesse plano está excluído o plural, porque nos levaria, dada a simplicidade divina, ao triteísmo. Pode-se fazer referência somente às relações, que não afetam a unidade da essência. Severino Boécio, seguindo a linha agostiniana, terá uma afirmação curiosa e contundente: “a substância contém a unidade; a relação m ultiplica a trindade67. Boécio observa também que nem toda relação supõe uma

65. Trin. V II 3,6 (254): “Lumen ergo pater, lumen filius, lumen spiritus sanctus; simul autem non tria lumina, sed unum lumen. E t ideo sapiemia pater, sapientia filius, sapientia spiritus sanctus; e t sim ul non tres sapientiae, sed una sapientia; et quia hoc est ibi esse quod sapere, una essentia pater et filius et spiritus sanctus. N ec aliud est ibi esse quam deum esse: Unus ergo deus pater et filius et spiritus sanou?'. Cf. também VI 7,9 (237s) Deus é trino, mas não triplo. Ecos dessa idéias encontram -se no símbolo Quiaimque (DS 75); e também no XI Concílio de Toledo (DS 528). 66. Trin V II 6,12 (266); cf. outras citações do texto em V 3,4 (208); 9,10 (217); VI 2,3(231). 67. BOÉCÍO, Irin (PL 6 4 ,1.254s): “Sed quoniam nulla relatio ad se ipsum referri potest, iddrco quod ea secundum seipsum est praedicatio quae reladonem caret, facta quidem est trinitatis numerositas in eo quod est praedicatio relationis: servata vero unitas in eo quod est indifferentia vel substantiae, vel operadonis, vel omnino eius quae secundum se d id tu r praedicationis. Ita ig itu r substantia condnet unitatem , relatio m utiplicat trinitatem : atque ideo sola sigillatim proferuntur atque separa tim quae relationis sunt...”.
diferença de plano, como ocorre entre o servo e o senhor. A relação na Trindade é do igual com o igual, e do semelhante com o semelhante, do que é o mesmo que o outro68.
2. Tomás de Aquino. As relações reais em Deus
A doutrina agostiniana das relações será compilada e aperfeiçoada por Sto. Tomás. Ele parte de que tudo o que há em Deus ou é absoluto ou é relativo69. As relações em D eus são reais: há uma verdadeira paternidade e filiação porque do contrário não haveria verdadeiramente um Pai e um Filho, o que seria a heresia de Sabélio. As processões em Deus dão-se na identidade da natureza; por isso o princípio e o que procede estão referidos e "inclinados” um para o outro70. Portanto, há uma distinção a respeito das criaturas, que têm relação real a Deus, mas não vice-versa, porque Deus as fez porque quis71. A relação e a essência em D eus são o mesmo, pela razão que já conhecemos, porque nada pode haver em Deus como um acidente em um sujeito. Portanto a relação distingue-se da essência só enquanto na relação se trata de algo a respeito do oposto; o que não ocorre no nome da essênda72. As relações distinguem-se por sua vez entre si, e essa distinção é real; mas não se produz segundo a essênda, na qual há suma unidade e simplicidade, mas segundo a relação73. É a distinção das pessoas que obriga a essas predsões, já que do contrário ela mesma se veria comprometida. Essas relações reais e distintas em Deus fundam-se em sua ação, que dá lugar às processões internas. São, como já sabemos, a processão segundo a ação do intelecto, que é a processão do Verbo, e a processão segundo a ação da

68. Ibid., (1255): “Sane sciendum est, non semper talem esse relativam praedicationem, ut semper ad differens praedicetur; u t et servus ad dominum, differunt enim. Nam omne aequale aequali aequale est, et simile simili simile est, et idem ei quod est idem, idem est: et similis est in Trinitate relado, Patris ad Filium et utriusque ad Spiritum sanctum; ut eius quod est idem ad id quod est idem”. 69. In I Sent, d.26,1,1 70. Cf. STb I 28,1. 71. Ibid., 28,2: “in Deo non est relatio realis ad creaturas”. 72. Ibid.: “Quidquid in rebus creatis habet esse acddentale, secundum quod transfertur in Deum habet esse substandale: nihil enim est in Deo sicut accidens in subiecto. Sed quidquid est in Deo est eius essenda... Relado realiter existens in D eo est idem essendae secundum rem. E t non differt nisi secundum intelligendae radonem , prout in reladone importatur respectum ad suum oppositum, qui non im portatur in nomine essendae”. 73. Cf. STb I 28,3.
vontade, que é a processão do amor, a do Espírito Santo. Em cada uma dessas processões achamos duas relações opostas: uma que é a do que procede do princípio, outra, do mesmo princípio. Já sabemos que a processão do Verbo recebe o nome de geração. A relação do princípio dos seres vivos chama-se “paternidade”, a do que procede do princípio chama-se “filiação”. São, como se vê, duas relações opostas. A processão do amor não tem nome próprio. Mas a relação por parte do que é princípio chama-se “expiração” e a contrária, por parte do que procede do princípio, é denominada de modo genérico “processão”, e também “expiração passiva”74. Temos assim, segundo Sto. Tomás, quatro relações reais em Deus. Retenhamos esses dados para nossa exposição seguinte sobre o conceito de pessoa em Deus. A teologia da relação em Deus mostra-nos que ele existe na plenitude da vida e da comunhão, que o Deus uno e único é o contrário de uma mônada fechada em si mesma. E claro que ao pensar na relação em Deus nos vêm necessariamente à lembrança nossas múltiplas relações humanas. M as, embora essa analogia possa ajudar-nos, não podemos cair em um ingênuo triteísm o. Em nossa experiência cotidiana nós, em prim eiro lugar, somos, e depois entram os em relação, por mais que reconheçamos a importância da relação. Em todo caso, nosso ser não se identifica com nenhuma relação inter-hum ana. Nossa relação com Deus determ ina o que somos, mas trata-se sempre de uma relação contingente: D eus nos criou porque quis, poderíam os não existir. As relações em Deus, dada a suma simplicidade da essência divina, identificam-se com a essência mesma. Deus não tem relações, Deus é diversidade de relações reais, que têm seu princípio e seu term o nele mesmo. Deus é amor, sua vida é essencialmente comunicação. Deus existe só nas relações internas e nunca fora — ou à margem — delas. Não são algo “posterior” ao ser divino, são eternas como é o próprio ser de D eus, não existe prim eiro Deus e depois suas relações. Em virtude dessa plenitude devida interna, Deus pôde sair de sina encarnação, como pôde também realizar a criação, que recebe da primeira seu pleno sentido. A realidade criada contingente, distinta de Deus, tem seu fundamento na distinção que as relações significam em Deus mesmo75. As relações não contradizem a unidade divina, senão que essa se dá precisamente nas relações e não à margem delas; por sua vez, a oposição das relações só tem sentido no âmbito da unidade divina. O Concílio de

74. Ibid., 28,4; também 29,4; 30,2. Também BOAVENTURA, op. cit., I 3,4. 75. Cf., sobre a relação da criação com a Trindade, LADARIA, Antropologia teológica, Casale M onferrato-Roma, 1995, 64 ss.
Florença, em seu D ecreto para os Jacobitas, formulou o conhecido princípio: "Tudo [em Deus] é um onde não se interpõe a oposição da relação” “omniaque unum sunt, ubi non obviat relationis oppositio”; D S 1.3 3O)76. N ão se trata sim plesm ente de que as relações divinas se opõem à unidade, como esta não se opõe à trindade de pessoas. Deus não seria m ais "trino” sem a unidade da essência, como não seria mais "uno” se não se dessem as relações. Também nelas se expressa a unidade divina. Esta não se vê menoscabada nem obstada p o r essas relações m útuas que, como veremos em seguida, constituem as pessoas.
AS PESSOAS DIVINAS
O conceito da relação em Deus conduz-nos à consideração do problem a das pessoas. C om o observa W. Kasper, as relações contrapostas em Deus não são mais do que a expressão abstrata das três pessoas divinas ou hipóstases77. Com o vimos, tanto na teologia de Sto. Agostinho e de Sto. Tomás como no C oncílio de Florença (cf. DS 1.330), a relação é o que distingue em Deus; a pessoa é o que é distinguido. Ambos os conceitos estão, por isso, particularm ente ligados.

1. A noção de “pessoa ” em Agostinho
Em nossa breve história do dogma trinitário78 vimos como Tèrtuliano introduz o term o no vocabulário teológico latino, como contraposto à substância. Com a noção de pessoa, ainda não completamente elaborada, faz-se referência à distinção em Deus. N a teologia grega, alexandrina em
76. Costuma-se citar Sto. ANSELMO como precursor dessa fórmula. Deproc. Spiritus sancti I (Opera [Obra completa], SCHM ITT (ed.), v. 2,180-181): “Sic ergo huius unitatis et huius relationis consequentiae se contemperant, u t nec pluralitas quae sequi tu r relationem transeat ad ea, in quibus predictae simplidtas sonat unitatis, nec unitas cohibeat pluralitatem, ubi eadem relatio significa tur. Quatenus nec unitas am ittat aliquando suam consequentiam, ubi non obviat aliqua relationis oppositio, nec relatio perdat quod suum est, nisi ubi obsistat unitas inseparabilis”. Nem a unidade nem a distinção podem ser afirmadas uma em detrim ento da outra. A formulação de Anselmo parece mais completa do que a do Concílio de Florença. Sobre as relações em Deus, cf. também DS 528; 570; 573. 77. Cf. D er G ott..., 342. 78. Sobre a história do termo, A. M ILANO, La Trinità dei teologi e dei filosofi. L’inteUigenza della persona in Dio, em A. PAVAN; A. MILANO (eds.), Persona e personalism», N apoli, 1987, 1-286; do mesmo, Persona in teokgia, Napoli, 1984.
particular, introduz-se a terminologia das “três hipóstases”: com ela se deu ocasião a dificuldades e mal-entendidos, porque pôde ser interpretada no sentido de uma excessiva separação, e não de simples distinção, entre os “três”. O Concílio de Nicéia ainda não distingue com clareza a “hipóstase” da ousta. N o “Tomos ad Antiochenos” (ano 360) Atanásio elimina as prevenções contra o uso da expressão “três hipóstases”. N ão é necessariamente ariana, como não é forçosam ente sabeliana a fórmula “uma ousta”. O s capadócios já basearam sua teologia trinitária na distinção entre ousta e hipóstase. Em lugar deste último termo usaram também como equivalente prásopon, talvez mais aparentado em suas origens à persona dos latinos. Agostinho, em seu De Trinkate, refletiu já de maneira bastante reflexa sobre o termo persona. Depois de tê-lo usado nos começos da obra de modo mais ou menos impreciso e geral, em um m om ento determinado de sua exposição, sobretudo no livro V II, tem de entrar no estudo direto da questão. Os gregos falam de uma essência {ousta) e três substantiae (bypostaseis); os latinos de uma essência ou substância, e três pessoas79. Deve-se preferir em latim o term o pessoa, porque a substantia, equivalente etimológico de bipostasis, se confundiria com a essência, dado o uso habitual dessas palavras em latini. Mas, isso não significa que persona seja um termo adequado com que Agostinho se sinta satisfeito. Usou a palavra porque não encontrou outra melhor: “dictum est tam en tres personae, non ut illud diceretur, sed ne taceretur”80. Pois, com efeito, quando nos encontramos com os três, Pai, Filho e Espírito Santo, e os chamamos pessoas, usamos a mesma expressão para referir-nos a três homens, com a diferença que há entre os homens e Deus. A necessidade força a utilizar esse term o menos inadequado que outros. Agostinho já nos disse que Pai, Filho e Dom (nome próprio do Espírito Santo, como sabemos) são term os relativos. M as, quando dizemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, falamos somente das relações que os unem, do mesmo modo quando falamos de três amigos ou três vizinhos, ou dizemos algo deles em si mesmos? O u formulado de outra maneira: as três pessoas estão em relação, mas o estão por ser “pessoas” ou por ser Pai, Filho e Dom? E pessoa um relativo? Em nossa linguagem dizemos que um é amigo ou vizinho de outro; ou, referindo-se às pessoas

79. Cf. Trin V II 4,7 (C C L 50,255); também V 8,10(217). Agostinho dá por suposto que há equivalência entre os term os gregos (que não cita no original), senão em tradução latina {essentia, substantia), e os latinos, “uma essentia vel substantia, tres personae”. 80. Trin. V 9,10(217); cf. também V II 4,7 (255); cf. LADARIA, Persona y relation. 245-291; 268ss, também para o que segue.
divinas, cham ando Pai do Filho, e Filho do Pai, ou Dom dos dois. Com isso m ostra-se que usamos term os relativos. Mas quando dizemos a pessoa do Pai não falamos do Filho, m as do Pai mesmo. A conseqüênda é que o conceito de pessoa nao se predica em relação a outro, senão uad se”*1. Agostinho encontra-se com um a dificuldade insuperável. Foi dito antes que a pluralidade em Deus vinha da relação, e que não cabia o plural em tudo o que se diz ad sei mio são três deuses, nem três sábios, nem três luzes... Agora nos encontramos com um plural que se diz ad se: três pessoas. As três estão em relação enquanto Pai, Filho e Dom 81 82, mas não enquanto "pessoas”. Agostinho não pôde ir mais além. Viu claramente que o plural em D eus vinha das relações, mas o conceito de pessoa é para ele um absoluto. D essa aporia não pôde sair83. Agostinho não tratou de d efin ir diretam ente a pessoa. Mas nesse contexto observa que é algo singular e individual, “aliquid singulare atque individuum”84. N ão deixa de chamar a atenção que use o neutro nessa aproximação da noção.
2. De Boécio a Tomás de Aquino
Santo Tomás será capaz de sair da aporia de Agostinho com os elementos que o próprio D outor de Hipona lhe proporcionou. Mas antes de entrar no estudo de seu pensamento temos de deter-nos brevemente em alguns autores que influíram no pensamento posterior. Devemos mencionar antes de tudo Boécio (m orto em 524), que proporcionou a definição da pessoa que foi, e continua a ser, o ponto de referência obrigatório na teologia o cid en tal: "persona est naturae rationalis indivídua substantia”85. O contexto em que Boécio aborda a questão da pessoa é cristológico, ainda que pretenda que sua definição seja também válida do ponto de vista trinitário e antropológico (incluindo também os anjos). O prim eiro elemento da definição é substantia, o substrato do ser, mas esta tem de ser individualizada, isto é., não intercam biável com outra.

81. Cf. Trm VII 6,11 (261-26$); texto-chave para a noção agostiniana da pessoa. Cf. LADARIA, op. cit., 217ss. Parece que Agostinho pensa ainda em um “ser” do Pai, de algum modo anterior a seu ser “Pai”, e o mesmo das outras pessoas; tende a apoiar a relação sobre um absoluto, um ser de algum modo prévio a ela. 82. Cf. Trm. IX 1,1 (293) as três pessoas estão relacionadas ad hwicem. 83. Assim se vê obrigado a aceitar esse plural “absoluto”, além da pluralidade de relações: cf. Trm V II 6,12 (262); VDI proem. 1 (268). 84. Trm. VH 6,11 (263). 85. Liber de persona et duabus naturis, 3 (PL 64,1.343).
A natureza racional especifica ainda mais essa individualidade: é precisamente nela em que nós, os homens, experimentamos a incomunicabilidade. É necessário esse elemento porque em si mesma a individualidade não é mais do que uma concreção da natureza, não nos leva ainda ao domínio do que entendem os norm alm ente por "pessoal”86. Só os seres racionais são por conseguinte "pessoas”, têm a individualidade que os faz realm ente irrepetíveis. Ricardo de São Vítor modificou a definição boedana. Para ele, a pessoa é a "naturae rationalis incommunicabilis existentia”, a existência incomunicável de natureza radonal87. Eliminou a “substância” e acentuou o elemento relacional. Ricardo chega a essa definição sobretudo tomando em consideração as pessoas divinas. N ota a dificuldade de aplicar a Deus a definição de pessoa de Boécio: se na definição se fida de substantia há o risco de pensar que as três pessoas em Deus são três substâncias ou essências, e assim cair no triteísm o. U sar o termo subsistentia, demasiado próximo a substantia, pode com portar um perigo semelhante88. Por outra parte a pessoa significa o quis, enquanto a substância o quüP9. Há um a dara diferença entre os dois planos. Daí que se proponha substituir substantia por existentia, palavra que indica a essênria, sistere, o que há no um , e ao mesmo tempo a procedência, o er do ser de cada um 90. Só por isso se distinguem as pessoas divinas, já que têm a mesma qualidade, não há entre elas dessemelhança ou desigualdade. Em Deus há unidade segundo o modo de ser, iuxta modum essendi, mas pluralidade segundo o modo de existir, iuxta modum existendfl. A diferença vem da origem92. Precisamente, do diverso modo de existir, em relação com a procedência ou não procedência, vêm as propriedades das pessoas: próprio de uma é ser em si mesma, comum às outras duas não ser de si mesmas. O Pai não procede de nenhum, “er-siste” a partir de si mesmo, as outras pessoas procedem dele. O Filho

86. Cf. KAPER, op. d t., 342; M ILANO, La Trmità... Slss. 87. RICARDO de São Vítor, 7rm. IV 23 (SCh 63, 282). Uma exposição detalhada do conceito de pessoa em Ricardo pode-se ver em M. SCHNIERTSHAUER, op. d t., 147-177. 88. Ibid., IV 3,4 (232-238); 21 (280). É possível que Boédo já houvesse se dado conta desses problemas: em seu De Trinitate (PL 64, 1.247-1.256) não usa apenas o term o pessoa, mas fala abundantemente em relação. 89. Ibid., IV 7 (242s). Víamos como Agostinho falava ainda do aliquid em relação com a pessoa (cf. o texto a que se refere a nota 84). 90. Ibid., IV 12 (252s). 91. Ibid., IV 19 272); Ibid., (270): “possunt esse plures existentiae, ubi non est nisi unitas substantiae”. 92. Ibid., IV 15 (260).
procede do Pai e tem outro que procede dele. O Espírito Santo procede de outro e não há ninguém que proceda dele93. A propriedade pessoal é aquilo pelo qual cada um é o que é, e por isso há em Deus tantas pessoas como "existências incomunicáveis”94. D aí a definição da pessoa divina como “divinae naturae incommunicabilis existentia”95. A partir dessa definição da pessoa divina chegamos à definição da pessoa em geral que já conhecemos. N a pluralidade de pessoas divinas dá-se uma "concórdia diferente” e um a "diferença concorde”96. Dado que o am or é tão determ inante no modo de explicar as processões, as pessoas divinas, quanto a seu m odo de proceder, caracterizam-se pelo modo de seu am or, já que um e outro praticam ente coincidem. C ada pessoa é o mesmo que seu amor, segundo o texto que já conhecemos97. N o amor está a diferença, não na dignidade ou no poder. Dessa maneira, a visão de Ricardo mostra-nos como a pessoa, em sua identidade, e em sua incomunicabilidade, é ao mesmo tem po abertura no amor. Mais ainda, o amor determina sua irrepetibilidade. Trata-se sem dúvida de uma intuição muito rica: o irrepetrvel em cada um é o modo com o sai de si no amor, o modo, poderíamos dizer, como se relaciona com os outros; esse é o elem ento "incomunicável” mais do que a substância. Isso vale antes de tudo para Ricardo em relação com as pessoas divinas, mas podemos pensar que, com as devidas diferenças, também podemos aplicar o princípio aos homens. N a qualidade do am or determ ina-se o que somos: Agostinho, em outro contexto, tinha formulado já algo parecido98. E m Deus há um só amor, mas distinto em cada uma das pessoas99. N o receber e no dar o amor, o Filho expressa a imagem do Pai, que é quem dá o amor originaríam ente. N ão assim o Espírito Santo, que, segundo Ricardo, não dá o amor ad hora. P o r isso o Filho é verbo, sabedoria, porque por ele temos notícia do Pai, fonte da sabedoria, já que por ele se manifesta a glória paterna100. No Filho aparece a glória do Pai, "quão grande seja, dado que quis e pôde ter um Filho tal, igual a ele em tudo”101. Ao

93. Cf. Ibid., V 13 (336). 94. Ibid., I V 17-18 (264-268). 95. Ibid., IV 22 (280s). 96. Ibid., V 14 (338). 97. Ibid., V 20 (352): “E rit ergo unicuique trium idem ipsum persona sua quam dilectio sua”, “qualibet persona... est idem quod am or suus”. 98. Cf. In Ep. Job. 2,14 (PL 35, 1997). 99. Ricardo, T r m V 2 i (360). 100. Ib V I12 (404-406); cf. AGOSTINHO, Trin. VI 2,3 (230-231): o Filho é verbo, imagem, todos nomes relativos em referência ao Pai. 101. Ricardo, Trin. V I 13 (410).
Espírito Santo atribui-se propriam ente esse nom e, que de si convém também ao Pai e ao Filho, porque é o que santifica, é o amor que é comum aos dois. O Espírito Santo é dado ao homem quando o am or da deidade é inspirado no coração humano (cf. Rm 5,5); “enquanto devolvemos a nosso criador o am or devido, somos configurados segundo a propriedade do Espírito Santo”102. As pessoas distinguem-se pelo am or com que estão unidas. Com isso mostra-se que a unidade e a distinção em Deus não se opõem entre si.
3. Tomás de Aquino: a pessoa como relação subsistente
le m o s que nos deter especialmente em Sto. Tomás, porque sua definição da pessoa divina como relação é especialmente feliz. Foi capaz de resolver a aporia agostiniana a que já nos referimos. Tomás aceita substancialmente a definição boeciana da pessoa, que é aplicável a todos os seres racionais103. Mas é bem consciente de que o term o não se aplica a Deus como às criaturas, senão de maneira mais excelente; mais ainda, já que o nome de pessoa indica a dignidade que é “subsistir na natureza racional”, convém especialmente a D eus, dada a maior dignidade de sua natureza104. Tomás passa em revista os elementos da definição boeciana para aplicá-los a Deus. A natureza racional significa em Deus simplesmente a natureza intelectual, já que nele razão não implica discurso. O princípio da individuação em Deus não pode ser a matéria: por isso “indivíduo” em Deus quer dizer incomunicável. A substantia convém a Deus enquanto significa existir por si mesmo105. M as o passo decisivo para a teologia trinitária de Tomás dá-se quando indaga se o nome de pessoa significa a relação106. Tomás é bem consciente

102. Ibid., V I14 (412s). Cf. V I 10 (398s). 103. Cf. S7M 29,1. 104. Cf. STb 129,3, da substância de Boécio se passa ao subsistere. Em Pot. 9,4, define- se a pessoa em geral como “substantia indivídua rationalis naturae... idest, incommunicabilis et ab aliis distincta”. Por conseguinte, a pessoa em Deus como “subsistens distinction in natura divina” e também “distinction relatione subsistens in essentia divina”. Cf. E FRANCO, La communione delle persone nella riflessione trinitaria delia “Summa theologiae”, Rkercbe Teologkbe 8 (1997) 271-301, além da bibliografia indicada na nota 1. 105. Cf. STb 1 29,3 ad 4. Tomás, diferentemente de Ricardo, dará mais im portância à relação que à origem, na definição da pessoa divina. 106. Ibid., 4, “Utrum hoc nom en persona signified relationem ”. A esse artigo nos referimos na continuação.
da dificuldade que se apresenta: o term o em questão predica-se em plural de três, e não se diz aà aliquid (como já observava Agostinho); e isso parece contraditório. Por isso alguns pensaram que o nom e significava a essência divina. M as não pode ser assim, porque nesse caso falar de três pessoas daria ocasião a calúnias dos hereges que precisamente o uso do vocábulo pretendeu evitar. Para propor uma solução, Tomás vai centrar-se no que é peculiar às pessoas divinas. Partindo da definição de Boécio, indaga o que é o indivíduo: é aquilo que é indistinto em si, distinto dos outros. Em qualquer natureza, pessoa é o que é distinto “naquela natureza”. Assim, no caso dos homens, a carne, os ossos, a alma pertencem à definição da pessoa humana, embora não pertençam à definição da pessoa em geral, porque são princípios que individualizam o homem. Mas em D eus a distinção faz-se por relações; a elas deve-se recorrer para encontrar a noção de pessoa divina-. A distinção em Deus fiz-se somente segundo as relações de origem... Mas a relação em Deus não é como um acidente inerente a um sujeito, senão que é a mesma essência divina; donde se segue que é subsistente, como subsiste a essência divina. Portanto, como a deidade é Deus, assim a paternidade divina é Deus Pai, que é uma pessoa divina. Assim, pois, a pessoa divina significa a relação enquanto subsistente107.

A noção de pessoa não é equívoca, mas também não é unívoca. A relação subsistente define a pessoa divina, mas não a humana e a angélica, porque a relação não determ ina a individualidade nessas naturezas, como vemos que ocorre em Deus. Em Deus, a substância individual, isto é, distinta e incomunicável (não-intercambiável, insubstituível) é a relação. Por isso, no divino m uito mais do que no humano, o conceito de pessoa significa a autodoação, a abertura. As pessoas divinas se distinguem enquanto se relacionam. A distinção não é, portanto, separação mas relação, e o ser irrepetível não é fechamento nem isolamento, e sim doação. As pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, são enquanto se relacionam. A unidade divina não é a unidade do solitário, mas a da comunhão perfeita. N o Pai, no Filho e no Espírito Santo não há um substrato “prévio” a esse ser doação. As pessoas divinas não são “antes” de entrar em relação, senão que são enquanto se relacionam.
107. Ibid., corpus. Cf. também Ibid., 34,2; 40.2; 42,4: “Eadem essentia quae in Patre est patem itas, in Filio est filiado”. Sobre a noção de pessoa e a teologia trinitária de lòm ás, cf. G. GRESHAKE, Der dreiene Gott. Eme trmitariscbe Tbeologie, Freiburg-Basel-W ien, 1997,111-126.
Seguimos em nossa exposição desse tema a ordem tradicional, que é a de Sto. Tomás: das processões às relações e destas às pessoas. Seria essa a ordem de nosso conhecimento, a p artir das missões divinas. Mas isso não quer dizer que seja a ordem do “ser”. Que é primeiro, a pessoa ou a relação? Prim eiro, naturalm ente, não na ordem cronológica, mas na ordem lógica. Parece que se deve pensar que há relações porque há pessoas; essas seriam o prim eiro. Precisamente porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são tais, estão relacionados, e não inversamente. O concreto deve preceder o abstrato108. O uso da categoria da relação ajudou a m anter a distinção pessoal afirmando ao mesmo tem po a unidade da essência. Mas o ponto de partida de Sto. Tomás em sua doutrina trinitária é a pessoa do Pai, não a essência divina10’. Afirmar as três pessoas em Deus não significa m ultiplicar a essência divina. O único que se distingue em Deus é o que se contrapõe ad invicem. N ão se distinguem realmente, por exemplo, a sabedoria e a bondade110. Só por causa das relações pode-se falar de distinção em Deus. Isso leva à questão das “três” pessoas. Sendo quatro as relações, Tomás indaga porque só são três as pessoas. As relações constituem as pessoas, declaramos, enquanto são realmente distintas. Essa distinção real que se produz en tre as relações está em razão da oposição relativa. A paternidade e a filiação não oferecem dificuldade. São relações opostas e portanto pertencem a duas pessoas. A expiração (ativa) pertence ao Pai e ao Filho, convém aos dois. A processão (expiração passiva) convém a outra pessoa, ao Espírito Santo, que procede à maneira de amor. As pessoas só são três porque a expiração ativa não é um a propriedade, por não convir a uma só pessoa. Por isso há quatro relações, mas só três pessoas: só três dessas quatro relações são subsistentes, a paternidade que é a pessoa do Pai, a filiação que é a pessoa do Filho, e a processão que é a pessoa do Espírito Santo111. A pluralidade de pessoas é a razão pela qual — segundo Sto. Tomás — Deus não é solitário. Já os Padres insistiram neste particular112. Ainda

108. Cf. KASPER, op. d t, 343; A. MALET, Personne et amour dans la théologie de saint Thomas d'Aquin, Paris, 19S6,84: “... saint Thom as concède que si on considère la relation comme relation, elle suit l’hypostase”; Ibid., 92, com ritação de /» I Sent d 23, a.3. 109. Cf. MALET, op. d t., 87; GRESHAKE op. d t., 110s. Cf. en tre outras pesquisas STh 1 33,1; 39,8: “o Pai é o prindpio que não vem do princípio’’. 110. C f S7M 30,1. 111. Ibid., 130,2. 112. Cf. HILÁRIO de Poitiers, Trin IX 36 (CCL 62A, 410): “[Deus]... neque in solitudine neque in diversitate consistit”.
que os anjos e os santos estivessem com ele, D eus seria solitário se não existisse a pluralidade de pessoas, porque a solidão não se elimina pela associação com alguém de natureza estranha113, Também se diz que um hom em está só em um jardim, embora haja animais e plantas (C f G n 2,18ss). A doutrina das pessoas e das relações de Sto. Tomás não é um a especulação abstrata, preocupada só com a coerência lógica. M ostra a plenitude da vida em Deus, incom patível com a solidão. D á a impressão, embora Sto. Tomás não diga, que a solidão em Deus conotaria imperfeição. N a plenitude da vida trinitária as três pessoas se “acompanham” mutuamente. A idéia da com unhão interpessoal em Deus parece estar aqui presente, ainda que certam ente de um m odo velado. A pessoa não se diferencia da essência divina secundum rem. E sempre a noção da simplicidade divina a que se opõe a uma tal diferenciação. As relações em Deus não são acidentes, e portanto devem identificar-se com a essência, embora as pessoas se distingam umas das outras de maneira real. A relação, comparada com a essência divina, não difere na coisa, senão que há somente distinção de razão. Mas quando a relação se compara com a relação oposta, por causa da oposição mútua, dá-se uma diferença real. Em virtude dela pode-se — e deve-se — afirmar de cada um a das pessoas algumas coisas que se nega das outras114. Do contrário não seria real a distinção entre as pessoas e se cairia no sabelianismo. Pela mesma razão, tem sentido a fórmula trinitária habitual, de uma essência que é de três pessoas, ou três pessoas da mesma essência, porque em Deus não se m ultiplica a essência se se multiplicam as pessoas115. As pessoas, p o r outra parte, identificam-se com a relação116. Em virtude dela distingue-se cada uma das outras. Nesse sentido, diz-se melhor que as pessoas distinguem -se por sua relação do que por sua origem. Pois origem, do ponto de vista ativo, significa que alguém procede de uma pessoa subsistente, quer dizer, de algum modo a pressupõe como já constituída.

113. STb 131,3: “Licet angeli et animae sanctae semper sint cum Deo, tam en, si non esset pluralitas personarum in divinis, sequeretur quod Deus esset solus vel solitarius. Non enim tollitur solitudo per associadonem alicuius quod est extraneae naturae... Consociado angelorum et animarum non exdudit solitudinem absolutam a divinis”. 114. Ibid., 139,1. 115. Ibid., 139,2. “Quia in divinis, multiplicatos personis, non m ultiplicatur essentia, dicimus una essentia esse trium personarum, et tres personae unius essentiae”. Deve-se preferir essa fórmula a “tres personae ex eadem essentia” porque com o ex, que significa procedência, poder-se-ia pensar que uma coisa é a pessoa, outra a essência da qual procede. 116. Ibid., I 30, 2; 40,1, além dos textos já citados.
Igualm ente, do ponto de vista passivo, significa o cam in h o que leva à pessoa subsistente, mas ainda não a constitui. Segundo esse princípio, m elhor que generans e genitus, o generante e o gerado, diz-se Pai e Filho, porque esses nomes indicam a relação; e só a relação, e não a origem, constitui e distingue a pessoa117. Deve-se ter presente, por outra parte, que a relação não só distingue as pessoas, mas também as une; a “oposição” entre elas deve ser entendida como reciprocidade118.
4. Pessoas, propriedades, apropriações
As pessoas, constituídas pelas relações opostas, distinguem -se também p o r suas “propriedades” ou “noções”119. A noção é o modo de conhecer a pessoa divina. N ão podemos captar a simplicidade divina: temos que nomear Deus segundo o que apreendemos, quer dizer, segundo o que encontram os nas coisas sensíveis das quais recebemos o conhecim ento. Para falar delas, no caso das formas simples, usamos nom es abstratos; e usamos nomes concretos para falar das coisas subsistentes. Em razão da simplicidade de D eus, referim o-nos a ele usando tam bém nomes abstratos. Precisamos usá-los para m ostrar com eles a distinção das pessoas. Por isso há propriedades e noções abstratas, como a paternidade e a filiação120. As propriedades concretas das pessoas se deduzem das relações de origem, pelas quais aquelas se multiplicam. O Pai não pode dar-se a conhecer porvir de outro, mas outros vêm dele. Por isso pertence-lhe a inascibilidade e a paternidade. O Filho vem do Pai: a propriedade ou noção que o caracteriza é a filiação. Ao Pai e ao Filho juntos pertence a expiração comum (ativa), ao Espírito Santo a processão. Temos assim cinco “noções” ou “propriedades” das quais uma é comum a duas pessoas, a expiração, comum ao Pai e ao Filho. Essas noções ou propriedades são, como seu mesmo nome

117. Ibid., 140,2 ad 2: “Personae divinae non disdnguuntur in esse in quo subsistunt, neque in aliqno absoluto; sed solum secundum id quod ad aliquid dicuntur. Unde ad eanun distinctionem sufficit relatio”; Boaventura seguiu uma linha um tanto distinta, que acentua mais a processão; cf., por exemplo, In Sent. I d. 27 q. 2; Brevüoquium 1 4,6. 118. Cf. F. BOURASSA, La 'Irinità, em K. H. N EUFELD (ed.), Problem e orientamenti di teologia dognatica, Bresda, 1983, 337-372, 351. 119. Cf. S T b l 32,2-3. 120. Ibid., I 32,2: “...e t huiusmodi sunt proprietates vel notiones in abstracto significatae, ut patemitas et filiado. Essentia significatur in divinis u t quid, persona vero ut quis, proprietas autem ut quo”.
indica, p ró p rias das pessoas. Os atos nocionais, que correspondem a es* sas noções ou propriedades, devem ser atribuídos às diversas pessoas121. Essas propriedades referem-se todas à vida intratrinitária. J u n to às noções ou propriedades devemos considerar o conceito das apropriações. Já nos encontramos com elas no começo de nossa exposição, quando n o s referíamos ao problema da Trindade econômica e da Trindade im anente. Fala-se por apropriação quando as propriedades essenciais, que de si convêm à Trindade toda, aplicam-se a uma determ inada pessoa devido ao m o d o com o essa pessoa se manifesta, Também nos atributos essenciais divinos, os que correspondem a toda a Trindade, encontramos uma m anifestação das pessoas. Essas manifestações constituem , segundo Tomás de Aquino, “apropriações”122 123. Boaventura, de maneira semelhante, observa que as apropriações levam ao conhecimento da pessoa, embora isso n ão signifique que os atributos que se lhes apropriam passem a ser próprios de cada uma delas121. T alvez um dos exemplos mais claros das apropriações seja o do começo do C red o , quando chamamos a Deus Pai “Tòdo-poderoso” e “criador do céu e da terra”. C em m ente esses nomes convêm também às outras pessoas. O s três são onipotentes, e não obstante há em Deus uma só onipotência. Além disso, as três pessoas são um só princípio da criação (cf. DS 800; 851 etc.). M as não há dúvida de que ao Pai, enquanto princípio da
Trindade, convém também o ser princípio também a respeito das criaturas, ainda que em nenhum m om ento o seja sem as outras pessoas. Santo
Tbmás, entre outros exemplos, menciona a apropriação da potência ao Pai, da sabedoria ao Filho e da bondade ao Espírito Santo. N ão se trata de que cada pessoa possua exclusivamente essas propriedades. Contudo, não há dúvida de que convêm especialmente à pessoa a que se atribuem: ao Pai, a potência, pela razão já indicada; ao Filho, a sabedoria (cf. IC or 1,24.30), enquanto Logos e razão do universo; ao Espírito, a bondade, enquanto

121. Ibid., 141,1; cf. também I 41,3. BOAVENTURA, Brtvüoquium I 3,1: “Para a inteligência sã dessa fé (da Trindade) a doutrina sacra ensina que em Deus há duas emanações (processões), três hipóstases, quatro relações, cinco noções e... somente três propriedades pessoais”. C f também Ibid. 3,2ss. 122. Cf. STb I 39,7. Santo Tbmás nota que através das criaturas pode-se chegar ao conhecimento das propriedades essenciais de Deus, mas não das pessoas. Mas, assim como nos servimos de vestígios que Deus deixou nas criaturas para a manifestação das pessoas, também nos servimos dos atributos essenciais para esse fim. As apropriações supõem portanto a fé na Trindade e o conhecimento do que é próprio das pessoas divinas. 123. Cf. BOAVENTURA, op. d t , I 6,1.
relacionada com o amor124. Vimos que já os Padres falavam do Espírito como causa aperfeiçoadora de todas as coisas; podemos pensar que ao aperfeiçoá-las lhes confere a bondade. O uso das apropriações tem sem dúvida uma base bíblica e de tradição e é ffeqüente na liturgia e na teologia. Mas é legítima a pergunta se seu âm bito é tão amplo como se pensou em certas épocas da história da teologia, ou se é preciso deixar mais espaço ao específico e próprio de cada uma das pessoas no que respeita à atuação divina ad extra, na criação e na salvação. O princípio segundo o qual todas as atuações divinas em direção ao m undo são comuns a toda a Trindade não deve nos fazer esquecer que este é por sua vez um princípio que contém em si mesmo a distinção. Com o a atuação salvífica há de refletir de algum m odo o ser mesmo de D eus, cabem perfeitam ente as relações próprias do cristão com cada uma das pessoas divinas. Isso pode tam bém valer para a criação, obra certam ente das três pessoas, mas já no N ovo Testamento achamos a diferença entre a ação do Pai, como origem últim a de tudo, e a do Filho como mediador (cf. sobretudo lC or8,6; também Jo 1,3.10; C l l,15ss; Hb 1,2). Desde cedo se falou — como vimos — do Espírito Santo, no qual tudo existe. Desse m odo vê-se refletida já na obra criadora, orientada para a salvação de C risto, a unidade e distinção da Trindade que quer incorporar os homens à sua vida divina. Pode-se portanto pensar que essa atuação diferenciada das pessoas é um reflexo da distinção intradivina, e que nela se está de algum modo prefigurando a intervenção de cada uma das pessoas na história da salvação, que na missão por parte do Pai, do Filho e do E spírito Santo alcançará sua expressão máxima125. N aturalm ente, com essas considerações não se põe em dúvida a legitim idade e mesmo a necessidade do conceito de apropriação, mas somente algumas de suas aplicações. A unidade da Trindade na ação criadora e santificadora não tem por que im pedir que a distinção das pessoas no seio da Trindade reflita-se tam bém na atuação para o exterior. Antes, se deve pensar que se a criação, e p or conseguinte a atuação divina ad extra, só é possível porque D eus é trin o , essa dimensão deverá refletir-se em

124. Cf. STb 1 39,8. Ver outros exemplos indicados no mesmo artigo. Coincidem em parte com o que indica BOAVENTURA, op. cit., 16,lss. Esses exemplos já constavam de PEDRO LOMBARDO, Lib. Sent. I d 32; 34, 3-4. 125. Santo lòm ás, na passagem citada na nota anterior, considera que o uso diversificado das proposições ex, per e m é apropriado somente a cada uma das pessoas. Notemos que o Concílio II de Lião usa as três proposições referidas indistintamente para toda a Trindade (DS 851). Mas vimos que não foi esse o uso nas etapas anteriores da tradição.
todas as suas atuações, ainda que isso não signifique que em todas elas possamos ver um a revelação da Trindade126.
5. A mútua inabitação das pessoas
U m a últim a noção teológica im portante, muito valorizada ultimamente, é a da perichoresis ou circumincessio. Essas expressões indicam que as pessoas divinas não estão somente em relação com as outras, que não se dá nelas som ente um esse ad senão também um esse in. A base dessa doutrina encontra-se no Novo Testam ento, em especial em algumas palavras de Jesus segundo o Evangelho de João: “Eu estou no Pai e o Pai está em mim” Qo 14,1 Os); “assim sabereis e conhecereis que o Pai está em mim e eu no Pai” Qo 10,38; cf. 17,21). Essas expressões deram lugar ao desenvolvimento da idéia de um a mútua “inabitação” do Pai e do Filho, que se enriqueceu mais tarde com a explícita menção do Espírito Santo. A mútua inabitação do Pai e do Filho é expressão da unidade de “potência e espírito” segundo o apologeta Atenágoras127. Dionísio Romano vê na inabitação m útua das três pessoas divinas a garantia da Trindade que se reúne na m onarquia do Pai (cf. DS 112). H ilário de Poitiers (citado nesse contexto por Tomás128 e com muita fireqüênda pelos m odernos) baseou-se na inabitação mútua para mostrar a unidade da natureza do Pai e do Filho e a perfeita geração do segundo a partir do primeiro: O que está no Pai está no Filho, o que está no Ingênito está no Unigénito... Não é que os dois sejam o mesmo, mas que um está no outro, e não há em

126. Devemos tomar nota nesse contexto da nova abordagem do conceito das apropriações proposta por G. GRESHAKE, op. cit., 214-216, na qual, em lugar do conceito clássico que parte da atribuição a uma pessoa do que é comum às três, propõe o caminho inverso: a partir da unidade pericorética entre as pessoas, cada uma delas tem suas propriedades em comum com as outras, e por isso é que o próprio de cada pessoa se faz próprio da comunhão divina, ou da essência divina; assim Deus é onipotente porque existe o Pai em cujo dom tudo se funda; Deus é verdade e amor redentor porque existe o Filho etc. Creio que esse caminho podia ser visto como um complemento, mais do que como uma alternativa ao tradicional, se a unidade e a distinção em Deus devem ser vistas como igualmente primárias e originais. O Pai dá realmente ao Filho tudo o que é (e ambos ao Espírito Santo), exceto a paternidade (e a filiação), e nesse sentido não está fora do lugar o discurso de propriedades comuns às três pessoas, embora possuídas por cada uma segundo sua especificidade pessoal. É claro que, como veremos mais adiante, se questiona o conceito das relações de origem e das processões em Deus, o problema da unidade divina coloca-se de outro modo. Ver o cap. seguinte. 127. Cf. Legpro Cbris. 10 (BAC 116,660); o contexto é o da geração do Verbo. 128. Cf. STb 1 42,5.
um e no outro uma coisa distinta. O Pai está no Filho porque o Filho nasceu dele, o Filho está no Pai porque de nenhum outro tem ser o Filho... Assim estão um no outro, porque como tudo é perfeito no Pai ingênito também o é no Filho unigénito129. Aquele em quem está Deus é Deus. Porque Deus não habita em uma natureza distinta e alheia a ele mesmo130.
João Damasceno será o primeiro a usar nesse sentido trinitário a palavra pencboresis, que se converterá em termo técnico para expressar essa realidade sobre a qual a teologia tinha refletido desde os tempos antigos131. Em latim se fakrá de circummcessio, que às vezes se converte em àrcuminsessio ou circumsessio. O uso desses termos é muito mais tardio, vem da tradução latina de Damasceno (metade do século XII). N ão se encontram ainda em Sto. Tomás, que, é claro, fala da questão: a unidade da essência e o fato de que cada pessoa se identifique com ela faz que o Pai esteja no Filho, e vice-versa. A isso acrescenta que a processão do Verbo inteligível não é ad extra, mas permanece em quem o diz. O mesmo se pode dizer do Espírito Santo132. O Concílio de Florença considera a perichoresis como a consequência da unidade da essência divina: “P or causa dessa unidade o Pai está todo inteiro no Filho, todo no Espírito Santo133; o Filho está todo no Pai, todo no Espírito Santo; o Espírito Santo está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho” (DS 1.331). Tanto no uso cristológico como no trinitário a drcum incessão serve para exprimir a unidade na diversidade. Com a unidade que vem da essência comum e do amor m útuo, cada uma das pessoas encontra-se em pro

129. Trin EB 4 (CCL 62,75). 130.Ibid.,IV 40(145);cf. também V 37-38(192-193);V H 31,33 (298. 300);BASÍ- LIO de Cesaréia, de Sp. Soneto, 18,45 (SCh 17bis, 406) AGOSTINHO, Trin. IX 5,8 (300), sobre a inabitação m útua da m ente, do conhecimento e do amor. 131. Defide ortbodoxa, I 8.14 (PG 94, 829,860) etc. Cf. S. dei CURA, Perikhóresis, in Dicaonarto teológico. El Dtos cnstiano, 1.086-1.094. A expressão começou a ser usada em cristologia para folar da unidade de Cristo em suas duas nanu^a«; cf. GREGÓRIO Na- zianzeno, Ep. 101 (P G 37,181), ainda que use a forma verbal. Também DAMASCENO usa o term o nesse sentido, cf. IO 4.7 (1.000, 1.012). 132. Cf. STb 1 42, 5; tam bém Ibid., 39,2 onde Tbmás vê expressa implicitamente na Escritura a fórmula “tres personae unius essentiae” nos textos de Jo 10,30, “o Pai e eu somos uma só coisa”, e também Jo 10,38 (cf. Jo 14,10), “o Pai está em mim e eu estou no Pai”. Parece que a pericorese equivale portanto à unidade de essência, não é uma simples conseqüênda dela, como ocorre em outras passagens. 133. Trata-se de uma citação de FU LG ÊN CIO de Rtispe (então se pensava que era de Agostinho), De Fide... ad Petrum, líber unus, 1 4 (PL 65, 674).
funda união e comunhão com as outras duas. Manifesta-se assim uma dimensão fundamental da unidade divina: que essa unidade é a da Trindade. A inabitação de cada pessoa nas outras respeita certamente a taxis ou ordem das processões, mas ao mesmo tempo mostra a igualdade radical entre elas, a comunhão perfeita em que cabe mais a distinção do que a diferença154. A circumincessão não é algo que se junte a uma unidade e distinção já preestabelecidas, não é só um estático uestar em” o outro que é simples conseqüênda da unidade da essência divina; essa foi uma interpretação freqüente, que pode apoiar-se certamente no Concílio de Florença. Mas, sem excluir essa dimensão, podemos também considerar que a inabitação mútua é ao mesmo tempo um elemento essencial dessa unidade, constituída tam bém pela interação dinâmica das três pessoas. Nessa direção aponta o sentido do term o grego155. A unidade e a distinção em Deus são tais que implicam ser um no outro, não somente com ou junto ao outro. Junto à relação (esse aã) que distingue na unidade divina, a pericorese (esse in) une m antendo a distinção. A inabitação recíproca expressa e realiza na máxima medida a unidade das pessoas em sua distinção. Ao mesmo tem po, essa união m ostra a que comunhão com Deus nós, os homens, estamos chamados. C om efeito, segundo Jo 17,21s, os que crêem em Jesus devem ser uma só coisa no Pai e no Filho156. A pericorese intratrinitária m ostra-se também, com o todo m istério de Deus uno e trino, na economia: a atuação do
Filho e do Espírito no cum prim ento do desígnio do Pai realiza-se em profunda unidade, desde a encarnação de Cristo por obra do Espírito Santo, até a ressurreição por obra do Pai, em que tampouco está ausente a intervenção do Espírito Santo (Cf. Rm 1,4; 8,11). Em nosso capítulo sobre a unidade de Deus, unitas in Trinitate voltaremos a alguns aspectos relacionados com essa questão.

A PROBLEMÁTICA MODERNA DA PESSOA EM DEUS: AS “TRÊS PESSOAS” NA UNIDADE DIVINA
Em Deus há três pessoas na unidade da essência. O dado dogmático deu origem a uma reflexão teológica sobre a pessoa que do campo trinitário 134 135 136
134. Cf. H. U. von BALITIASAR, Tbeobgik U. Wahrheit Gottes, Einsiedeln, 1985,137. 135. Assim, por ex., JOÃO DAMASCENO; cf. HUCULAK, Constituzione delle persone divine secondo S. Giovanni Damasceno, Antonianum, 59 (1994) 179-212. 136. KASPER acentuou isso em Der Gott..., 346s. Voltaremos a essa questão no capítulo dedicado à unidade divina.
e cristológico passou ao antropológico. Dois aspectos revelaram-se espe- cialmente fecundos nessa reflexão: por um a parte acentuou-se que a pessoa é o sujeito, diferentemente da natureza; é o quis em contraste com o quid, com seu caráter irrepetível e não-intercambiável. Um segundo aspecto é o da relação, visto com clareza por Agostinho e desenvolvido por Tomás de Aquino. Já observamos que essa dimensão para Tomás é específica da pessoa "divina”, não da angélica nem da humana. Porém não é estranho que ao usar-se, sempre analogicamente, o mesmo vocábulo da teologia se tenha passado à antropologia, e também esses elementos tenham encontrado lugar, com o tempo, na reflexão teológica e filosófica sobre a pessoa humana137. Em um movimento de fluxo e refluxo, a teologia viu-se, por sua vez, influenciada pelas aproximações filosóficas da matéria. A discussão teológica dos últimos tempos sobre o conceito da pessoa divina refletiu essa complexa evolução, cujos detalhes não podemos seguir agora a não ser enquanto incidem sobre o objeto fundamental de nosso estudo.
1. Unidade do sujeito em Deus?
Propostas alternativas ao termo “pessoa”. Karl Bartb e Karl Rahner
Desde os começos da Idade M oderna, o conceito filosófico de pessoa evoluiu até passar a significar um ser que se possui a si mesmo em consciência e liberdade138. Karl B arth (m orto em 1968) foi o prim eiro a notar as dificuldades que no cam po teológico podem surgir se for aceito com todas as conseqüências esse conceito de pessoa e aplicado às três pessoas divinas. Isso significaria que em D eus há três centros de consciência, três vontades, três liberdades, três sujeitos capazes de autodeterm inar- se. Pode-se assim chegar a representações próximas do triteísm o. D aí a mudança de term inologia que B arth propõe: o term o “pessoa” devia ser substituído p o r “modo de ser” (Seinsweise), que não correria o perigo de má interpretação a que está exposto o term o tradicional. Essa proposta term inológica coloca-se em um contexto teológico m uito articulado, a p artir do qual recebe seu sentido.

137. Cf. E . Bueno D E LA FU EN TE, La “persona” en perspectiva teológica, in O . González de CARDEDAL; J. J. SANGRADOR (eds.), Coram Deo. Memorial Juan Luis Ruiz de la Pena, Salamanca, 1997,329-344. 138. Sobre essa evolução, ver RO VIRA BELOSO, Tratado de Dios..., 615-635; G . GRESHAKE, op. á t , 127-168; MILANO, Persona in teologia...; ID ., La trin ità..., in PAVAN; M ILANO (eds.) Persona epersonalism..., 1-286.
Barth parte do evento da revelação, em que Deus se manifesta, em uma unidade indissolúvel, como o D eus que se revela, o acontecim ento da revelação, e o efeito dela sobre o homem. A esse mesmo Deus, que em uma unidade indestrutível é o revelador, a revelação e o ser revelado, é atribuída ao mesmo tempo uma diversidade em si mesmo, precisamente nesses “três modos de ser”139. Portanto, Deus segundo a revelação, é “em unidade indestrutível o mesmo, mas ao mesmo tempo, em indestrutível unidade, três vezes o mesmo, de maneira diversa”140. O Pai, o Filho, e o Espírito Santo são na unidade de sua essência um único Deus, e na diversidade de suas pessoas precisamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente na encarnação do F ilho tem-se o ponto de partida para entender que há em Deus mesmo uma diferença, que é próprio de Deus ser “outra vez” Deus na humanidade, na forma daquilo que ele mesmo não é141. O Deus que se revela na Escritura é um em três específicos modos de ser, que existem em suas relações m útuas, Pai, Filho e E spírito Santo. Assim é o Senhor, o Tu que sai ao encontro do Eu humano, e assim se lhe revela com o seu Deus142. Deus é Deus nessa tripla repetição, e só nessa repetição é o único Deus143. N ão há em Deus três “personalidades”, não há três “Eu”, senão um só Eu que se repete três vezes144. Barth insiste m uito na personalidade de Deus. De seu “Ele” não se pode fazer nunca um neutro, um “isso”145 146. E ao mesmo tem po sublinha sua unidade. Cita o texto conhecido do XI Concílio de Toledo, a Trindade, que é o único e verdadeiro Deus, nem se afasta do número nem se entende pelo número “quae unus et veras est Deus, nec recedit a num ero nec capitur numero” (cf. DS 530). A pluralidade não indica, pois, um aumento de quantidade. E p or outra parte em Deus mesmo estão superadas todas as limitações que atribuím os à unidade. Deus não é solidão nem isolamento.
A unicidade do D eus revelado inclui a distinção e a ordem das três pessoas, ou melhor, dos três “modos de ser” (Seinsweisey*6. Da revelação deduz-se claramente que D eus não é um poder impessoal, mas

139. Cf. Die kircbticbe Dogmatik, M unique, 1935,1/1, 315. 140. Ibid., 324. 141. Ibid., 334. 142. Ibid., 367. 143. Ibid., 369. 144. Ibid., 370. 145. Ibid., Em diversas ocasiões Barth fala da personalidade de Deus sem esclarecimentos ulteriores. Cf. Ibid., 125; 143; 214; 370. 146. Ibid., 374.
um Eu que existe em si e para si com seu próprio pensamento e vontade. E assim é, ao mesmo tempo, Deus como Pai, Filho e Espírito. O único Deus, isto é, o único Senhor, é o único Deus pessoal no modo do Pai, do Filho e do Espírito Santo147. N ão há nenhuma propriedade, nenhuma ação de Deus que não seja a do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas há diferenças entre eles que de nenhuma maneira podemos reduzir a um denominador comum. As diferenças vêm das distintas relações de origem. Porém os três “modos de ser” são iguais em sua essência e em sua dignidade sem discriminação alguma em sua divindade. A doutrina trinitária é a negação de todo modalismo e de todo subordinacionismo. A unidade e a trindade em Deus vão unidas, uma não se dá à custa de outra; no term o Dreieinigkeit, que equivaleria a “triunidade”, Barth vê o resum o da unidade e da trindade de Deus. Barth, como vemos, quer evitar qualquer perigo de representações triteístas. Sua terminologia dos “modos de ser” valeu-lhe às vezes a acusação de “m odalista”; mas deve-se ter presente que ele claramente afirma a diferença em Deus mesmo, não só em seu m odo de manifestar-se. Seu ensino concreto sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é claro a esse respeito. Bastará citar uma frase: “Deus é Pai na criação porque antes é Pai em sua essência enquanto Pai do Filho”148. M as, uma vez isso apontado, podemos indagar se o uso que faz Barth do conceito da pessoa em D eus é o mais adequado. N ão há dúvida de que Barth afirma a personalidade divina. M as na tradição o conceito serviu para m ostrar em Deus a distinção, não a unidade, como parece que ele tende a fazer. Por outra parte — e a crítica foi também dirigida a K. Rahner, de quem nos ocuparemos em seguida — o sujeito que se autopossui é só um aspecto do conceito m oderno de pessoa; também a relação entra nele149. De resto, também o uso que Barth faz da noção de pessoa está presente na evolução moderna dessa noção; suas definições de Deus pessoal partem dela, embora só em parte a tenha recolhido e a tenha aplicado a Deus em sua unidade e não em sua trindade. Com isso se deve relacionar a acentuação da unidade divina na qual um só Eu repetido constitui o Tu que é D eus para o homem. Não

147. Ibid., 379. 148. Ibid. 404; o texto encontra-se no enunciado da tese que começa a fsúar de Deus Pai. 149. Cf. J. MOLTMANN, Trinität und Reich Gottes, M unique, 1980, lólss; KASPER, op. d t, 350ss; 366. Cf. também M ILANO, op. d t, 199: "N ão se pode evitar de indagar donde um teólogo tão rigoroso e sutil como Barth extrai tanta segurança no negar que os Três da Trindade sejam ‘Eu’...”. O mesmo autor, nesse trecho, indaga se não se trata da preocupação idealista de ver um só sujeito em Deus. Ver também todo o contexto, 183ss. 279
cabería outro uso dos pronom es para descrever as relações do homem com Deus? N a economia salvífica, o Pai e o Filho, sendo certamente a mesma coisa (cf. Jo 10,30), aparecem mais como um eu e um tu intercambiáveis do que com o um “eu” repetido. E certo que devemos m anter a distinção — não adequada — entre a Trindade imanente e a Trindade econômica. Mas parece que a p a rtir da revelação cristã se tom a difícil conceber a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito como a repetição de um “eu”. N o campo católico, K arl R ahner fez-se eco das preocupações de K arl Barth. N ão se pode dizer, sem mais, que K. R ahner propugne uma simples substituição do term o pessoa. Está bem consciente de que esse term o está sancionado por um uso m ultissecular150 151. M as ao mesmo tempo está consciente das dificuldades que derivam do fito de que, no modo norm al de entender a noção, dada a evolução histórica das palavras que a Igreja não pode controlar, a expressão “três pessoas” pode ser equivalente a três centros distintos de consciência e de atividade, o que levaria a um entendim ento herético do dogma. Deve-se evitar que se considerem as três pessoas em Deus como três subjetividades, o que levaria ao tríteísmo. A partir dessa preocupação de não cair no tríteísm o, mas respeitando a peculiaridade de cada um a das pessoas, desenvolve K. Rahner seu esboço de teologia da Trindade. C onseqüente com seu axioma fundamental, Rahner parte da idéia de que, caso Deus queira comunicar-se aos homens, é o Filho que há de aparecer historicam ente na carne com o homem, e tem que ser o Espírito o que opere a aceitação da dita comunicação na fé, na esperança e no am or por p arte do mundo. Tudo isso pressupõe a liberdade de Deus, mas se Deus livrem ente quer autocomunicar-se já não é “livre” para fazê-lo de outro modo, porque então a autocomunicação não nos diría nada sobre o Pai, o Filho e o Espírito SantoIsl. D ado que a comunicação de Deus ao homem tem de tomar em consideração a estrutura deste últim o, pode-se assinalar quatro duplos aspectos (reduzidos depois a dois modos fundamentais) que deverão estar pre

150. El Dios trino como fundam ento..., MySal2/1,387: “O term o ‘pessoa’ é um feto: encontra-se sancionado pelo uso de mais de mil e quinhentos anos; ainda não existe um termo que seja realmente melhor, que todos possam entender e que se preste menos a felsas interpretações. Portanto, será m elhor conservar esse nome, embora sabendo que... não se acomoda, nem muito menos em todos os aspectos à expressão do que se deseja afirm ar”; Cf. ibid., 341; também Trindade em SM VI, 758. Cf. B. J. HILBERATH, Der Personbegriff
m der Trmitãtstbeologjie in RMckjrage von Karl Rabner zu Tertulians “Adversas Praxean ”,
Innsbruck, 1986; W A A ., La teologia trmitaria de Karl Rabner, Salamanca, 1988. 151. El Dios trino como fundamento..., 419ss.
sentes nessa autodoação divina: a) origem /futuro; b) história/transcendên- cia; c) oferta/aceitação; d) conhecim ento/am or (considerados em sua unidade, pois o conhecimento não se esgota em si mesmo, mas tende ao amor do que se conhece)152 153. Pode ver-se facilmente que a origem , a história, a oferta encontram -se unidas em oposição a seus contrários. Trata-se da iniciativa divina original, a oferta da autocomunicação que é o plano com o qual se esboçou o mundo. Mas podemos questionar por que se há de unir também a elas o conhecimento (ou a verdade). Trata-se da aparição da verdade de Deus, de sua essência; e essa aparição, que pede a aceitação no amor, é oferta, origem e história. Os aspectos contrários acham-se igualmente relacionados entre si. O futuro e a transcendência vêem-se unidos com relativa facilidade. Contudo, deve-se ter presente que o futuro não é simplesmente o que ainda não chegou, mas sim a modalidade da comunicação de D eus, que se dá aos homens como consumação do homem mesmo. D aí que em relação ao futuro se deva falar de aceitação de um futuro absoluto. A oferta de Deus leva consigo a aceitação dela, a inclui, já que ela é obra de Deus mesmo. A autocomunicação que pretende ser absoluta, e produz a possibilidade de ser aceita e sua aceitação mesma, é o que designamos como amor. Assim, esses dois modos, verdade e amor, constituem as duas modalidades da autocomunicação divina. Comunicação como verdade significa que tem lugar na história, comunicação como amor significa a abertura dessa história na transcendência para o futuro absoluto. As duas dimensões estão intrinsecam ente unidas, condicionam-se mutuamente, mas não se identificam: “A autocomunicação divina tem lugar na unidade e na diferenciação na história (da verdade) e no espírito (do am or)”155. D aí Rahner querer passar para a Trindade imanente, uma vez que determinou que Deus, "economicamente”, se comunicou assim. Essa autocomunicação não podia ser considerada senão a partir do duplo modo que Deus tem de comunicar-se a si mesmo, em sua vida interna, na Trindade imanente: o Pai dá-se a si mesmo ao Filho e ao Espírito Santo. Esse duplo modo de autocomunicação para fora tem de convir a Deus em si mesmo, porque do contrário não teria se comunicado verdadeiramente. Essa comunicação de Deus tem dois efeitos criados distintos (a humanidade de Cristo e a graça criada no homem), diferentes em si, mas não pode ser reduzida a eles. Esses

152. Ibid., 421ss; também para o que segue. 153. Ibid., 429.
dois diferentes efeitos são a conseqüência das duas modalidades da autoco- m unicação divina n o seio da Trindade, não constituem a diferença delas1*4. Se queremos expressar a Trindade im anente a partir da economia, nos encontramos com o D eus único enquanto é ao mesmo tem po o ser sem origem , o que é pronunciado para si com verdade, e o que é recebido e aceito p o r si mesm o com amor; som ente assim Deus pode comunicar-se para fora com liberdade. Essa diferença real no Deus único constitui- se por um a dupla autocomunicação do Pai, com a qual p o r uma parte se com unica a si m esm o e, ao mesmo tem po, estabelece a diferença com o comunicado e recebido. O comunicado, enquanto se dá essa unidade e diferença, recebe o nome de “divindade”, “essência divina”. A diferença entre o que originariam ente se comunica a si mesmo e o pronunciado e recebido deve ser entendida como “relativa” (relacional). E a conseqüência da identidade da essência divina. Mas essa relação que distingue em Deus não deve ser considerada algo de m enor importância: a relação não é a menos real das realidades porque a Trindade é o mais real que existe1” . C om esses pressupostos passa Rahner a falar da “aporia” do conceito de pessoa na teologia trinitária. Q uando nos referimos a Deus, não podemos falar de três pessoas no sentido usual da palavra. D izer que em Deus há três pessoas não significa uma m ultiplicação da essência, como ocorre com os homens, nem tampouco a “igualdade” da personalidade das três pessoas (se dizemos três homens, os três são iguais enquanto homens, ainda que saibamos que são distintos). Em Deus dá-se tuna distinção consciente, mas não a p artir de três subjetividades, senão que o ser consciente se dá em um a só consciência real. A tripla subsistência não é qualificada por três consciências. P o r isso Rahner observa que no seio da Irin d ad e não se dá entre o Pai e o Filho um “tu” recíproco154 155 156. Parece portanto que se de

154. Ibid., 429ss. 155. Ibid., 431-432. Cf. também KASPER, op. c it, 354. 156. Cf. op. d t., 412, nota 79: “Por isso tampouco existe intratrinitariam ente um ‘tu’ recíproco. O Filho é a auto-expressão do Pai, mas por sua vez não se pode conceber como ‘pronunciando’; o Espírito é o ‘dom’ que por sua vez não dá”. E em 434: “... em Deus não há três centros de atividade, nem três subjetividades ou liberdades. Tanto porque em Deus só há vma essência e, portanto, só um ser em si absoluto, como também porque só há uma autopronundação do Pai, o Logos, que não é o que pronunda mas o pronundado, e não há propriamente amor recíproco (que suporia dois atos) entre o Pai e o Filho, senão uma auto-aceitação amorosa...”; cf. LONERGAN, De Deo Trino II. Parssystematica, Roma, J1964, 195s: “in divinis ad intra nemo d id t nisi Pater”. A questão é levada mais ao extremo por SCHOONENBERG, Der Geist, das Wort und der Sobn. Ene Geist-Christologie, Regensburg, 1992,183-211. Sobre essa posição de RAHNER, ver BALTHASAR Teledramatica IV, Madri, 1995, 297, que questiona se nesse caso o conceito de autocomunicação pode receber
vería interpretar que o “tu ” que é o Pai para Jesus segundo os evangelhos (cf. M t 11,25; Mc 14,36 par. etc.) é consequência da encarnação. Segundo Rahner, p or conseguinte, a subsistência como tal não seria por si mesma “pessoal” no sentido atual da palavra, isto é, não seria centro de atividade. O autor alemão inspira-se na definição de Sto. Tomás, “subsistens distinctum in natura rationali” para propor a fórm ula “o Deus único subsiste em três modos distintos de subsistência” (em alemão, Subsistenzweisé). A partir de seu axioma fundamental, que já conhecemos, R ahner observa que “a autocomunicação única do Deus único tem lugar em três modos distintos, nos quais se dá em si mesmo o D eus único e idêntico... Deus é o D eus concreto em cada uma dessas formas de dar-se, que naturalm ente têm relações mútuas entre si, sem fusionar-se modalis- ticam ente”* 157. O que significa subsistir ilumina-se a partir daquele ponto da própria existência em que nos encontramos com o primeiro e o último dessa experiência, com o concreto, irredutível, inconfundível e insubstituível... Aqui se confirma de novo nosso axioma fundamental: sem a experiência histórico-salvífica do Espírito-Filho-Pai não poderá conceber-se nada como o Deus único em seu subsistir distinto158.
A divindade concreta existe necessariamente nessas três formas de subsistência. N ão se deve pensar em uma divindade que fosse a base real prévia a essas formas. A prim eira forma de subsistência constitui D eus como Pai, como princípio sem origem da autocomunicação e da automediação divinas, de tal maneira que não existe um “Deus” anterior a essa prim eira forma de subsistência159. E verdade que essa fórmula, admite Rahner, diz pouco sobre o Pai, Filho e Espírito Santo como tais, mas o mesmo ocorre com outros termos da teologia trinitária, como a “relação”. Mas a expressão “forma de

consistência fora do marco da economia. Também A. GONZÁLEZ, Trinidady Liberación, San Salvador, 1996, 35ss. São as relações entre a Trindade imanente e a Trindade econômica qne estão em jogo, cf. GRESHAKE, op. c it, 197s; V HOLZER, Le Dieu Trinití dam Fbistoire. Le differend théologique Balthasar-Rabner, Paris, 199$, 211ss. 157. El Dios trino..., 437; no mesmo contexto (cf. 447ss) justifica os termos de sua proposta e assinala que a expressão que propõe é mais próxima do uso tradicional que aquela de Karl Barth; cf. também 410, nota 76, em que alude ao tropos tbes byparcbeos dos capadócios, que equivalia então ao “m odo de existência ou de ser”. Ver, p. ex., BASÍLIO de Cesaréia, De Sp. sana. 18, 46 (SCh 17bis, 408). 158. Ibid., 437-438. 159. A pessoa do Pai é o rosto concreto que Deus adota quando se lhe considera ao mesmo tempo em sua asseidade e em sua paternidade. C f HOLZER, op. cit., 121.
subsistência” oferece uma vantagem em comparação com a palavra “pessoa”: a de não insinuar a multiplicação da essência e da subjetividade1*0. Vê-se com clareza que o obstáculo que Rahner quer evitar é o triteís- mo. Observa-se também que suas preocupações coincidem em grande medida com as de Barth: como ele, insiste na necessidade de excluir três centros autônomos de consciência e de ação em Deus. M as a partir da terminologia rahneriana de “modas (ou formas) de subsistência”, como da terminologia de Barth de “modos de ser”, não se deve deduzir que esses autores sejam sem mais modalistas, por mais que suas tentativas possam ser — e tenham sido, de feto — objeto de discussão. Já o víamos a propósito de Barth, e o mesmo podemos dizer de Rahner. Para ele a Trindade não é meramente econômica, mas também im anente. Os modos de D eus autoco- municar-se para fora correspondem ao que Deus é em si mesmo. K. Rahner insiste também, como Barth, no ponto de partida no Pai: não há uma essência divina prévia a esses três modos de subsistir, diferenciados e ao mesmo tem po unidos nas relações reais. M as, uma vez feita essa afirmação fundam ental, o que podemos questionar é se, com sua proposta, R ahner chega onde quer chegar; se suas considerações não devem ser completadas com outras, ou mesmo corrigidas. Daí a discussão que sua teologia trinitária, e em concreto a questão da “pessoa” em Deus, suscitou nos últim os tempos. Naturalm ente também nessa crítica se correu o risco de cair no extremo oposto ao que se pretendia evitar. Já felamos do enriquecim ento experimentado pelo conceito de pessoa nos últimos tem pos. A pessoa não é entendida somente como o indivíduo que se autopossui e é consciente de si, sujeito e centro de atividades. Também no conceito m oderno de pessoa entra a comunicação, o amor, em uma palavra, a relação. A terminologia das três pessoas pode ajudar portanto a ver que Deus é relação, é comunhão. Com todas as cautelas e evitando certamente cair em representações das três pessoas divinas segundo o modelo de três pessoas humanas, será que se devia falar na Trindade só de um a repetição do eu, como fez Barth, excluindo todo tu recíproco intratrinitário, como fez K. Rahner? N ão fel taram vozes da parte católica que observaram que as pessoas divinas se caracterizam pela consciência de si e pela liberdade, por seu existir em si mesmas não só distinguindo-se das outras, mas em sua relação para com elas160 161. Com as formulações de três

160. Cf. El Dios trino..., 439. 161. Cf. F. BOURASSA, Personne et conscience en théologie trinitaire, Greg SS (174) 471-493; 677-720, esp. 483,489. Com essa colocação não é efetivamente tão claro que o estado da questão estabelecido por K. Barth e K. Rahner recolha todos os aspectos da questão mesma. Cf. o indicado nas notas 149 e 1S6.
modos de ser, ou três modos de subsistir, não se exprime a dimensão do mistério que é a unidade na intersubjetividade; antes se corre o perigo de negá-la. Já aludimos ao problema que isso coloca na relação entre a Trindade econômica e a Trindade im anente, porque é claro que, na primeira, Jesus está ante o Pai em atitude dialogai. Será que K arl Rahner partiu realmente da Trindade econômica no desenvolvimento concreto de sua teologia trinitária? Mas na discussão em tom o à questão da pessoa em Deus aludiu-se ainda a outro problema. Embora adm itindo que o conceito de pessoa dos tempos modernos insista na idéia de sujeito, individualidade etc., Barth e Rahner não só não o rejeitaram, como o aceitaram; mas não o aplicaram às três “pessoas” na linguagem tradicional e sim a Deus mesmo como sujeito absoluto. Se partiram desse “sujeito” é claro que depois se tom ou difícil falar de três. Deus é o sujeito de sua auto-revelação (Barth) ou de sua autocomunicação (Rahner)162. Mas a tradição cristã falou da unidade de substância ou de essência, mas não de unidade de sujeito, seja do sujeito da auto-revelação segundo K. Barth, seja de sua autocomunicação segundo K. Rahner163. Portanto, se certamente não podemos pensar que haja em Deus três autoconsciências diversas, daí não se segue necessariamente que se deva negar três centros de consciência e de ação, três “agentes”164.
2. As pessoas se realizam em seu mútuo amor.
O modelo social da Trindade.

Foi M oltm ann sobretudo que, de maneira mais conseqüente — e, ousaria dizer, m ais radical —, fundou sua teologia trinitária sobre a comunhão das pessoas, colocando-se portanto no extremo oposto da posição de Barth e Rahner que acabamos de expor. M oltmann pensa que na história da teologia não existiu o perigo de triteísm o, e que a luta contra ele não
162. KASPER, op. cit., 366; M ILANO, op. cit., 249.0 m étodo transcendental, que parte do sujeito humano, não ajuda Rahner a abrir-se aos três “sujeitos” em Deus. A influência da doutrina psicológica da Trindade é clara. 'Ièria também contribuído essa teologia para eliminar o “nós” da teologia trinitária? C f as observações de RATZINGER sobre Agostinho, e sobretudo Tbmás de Aquino, Zum Personverständnis in d er Theologie, in Dogma und Verkündigung, M unique-Friburgo, 1973, 205-223, 163. Cf. KASPER, op. d t., 366; cf. também GRESHAKE, op. d t, 141-150. 164. Cf. KASPER, op. d t , 352; ROVIRA BELLOSO, op. d t., 626,634ss. As propostas term inológicas de Barth e de Rahner foram criticadas tam bém do ponto de vista pastoral; assim KASPER, op. d t., 351: “N ão se pode invocar, adorar, glorificar um distinto modo de subsistênda”. Cf. também J. O ’D O N N ELL, The mytery o f the Triune God, London, 1988. 104.
passa de um m odo de ocultar as tendências “modalistas”165. Insiste na parcialidade com que os autores citados acolheram o conceito contemporâneo de pessoa166: o “e u ” só pode ser entendido em relação com o “tu ”. E portanto um conceito de relação. Personalidade e socialidade vão juntas, não existe a prim eira sem a segunda. P o r isso, não se pode partir da idéia de subjetividade absoluta em D eus, p o rq u e a partir dela não se sai do simples m onoteísm o. Mas p o r outra p a rte M oltm ann vê também dificuldades no uso em teologia trin itária do conceito de substância: não é uma noção bíblica, e, além disso, quando s e vê a unidade d e Deus nesse plano, ela é entendida com o um “n eu tro ”, com o algo não-pessoal. Sendo inviáveis os caminhos da subjetividade absoluta e da unidade de substância, está aberto um terceiro cam inho para fa la r da união167 divina: este caminho para M oltmann é a “pericorese”: só a partir dela podem os chegar à união em Deus: Só o conceito da união (Emigkeit) é o conceito de uma unidade imediata e aberta. O Deus uno é um Deus “unido” (einiger). Isso pressupõe uma autodiferendação de Deus pessoal, não somente modal, pois só as pessoas podem estar “unidas” (emig sem), não os modos de ser ou de subsistência... A união da “Tri-unidade” (Die Emigkeit der Drei-einigkeit) já está dada pela comunhão (Gemeitiscbafi) do Pai, do Filho e do Espírito. Não precisa ser assegurada ainda mais por um ensinamento específico da unidade da substância divina...168.
Um conceito individualista da pessoa vê a relação em segundo lugar, um a vez que o “eu” já esteja constituído. Diante dessa concepção deve-se insistir que as duas dimensões, a do “eu” e a da “relação”, estilo intim am ente unidas. Por isso observa M oltm ann que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não só são distintos por sua personalidade, mas ao mesmo tempo, p or essa mesma razão, está cada um deles com o outro e no outro. As três pessoas estão unidas por sua mútua relação e por sua m útua inabitação. Ambas as noções, de pessoa e de relação, são igualmente originais na Trindade. Por uma parte, a relação supõe a pessoa. Por outra parte, não há

165. Cf. Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteskbre, M unique, 1980, 161. 166. Cf. Ibid. 154-166. W. Kasper foi notavelmente influenciado por M oltmann em sua crítica a K. Rahner. 167. A palavra usada por M oltmann é Emigkeit (e também Vereinigung) e não Einheit. Parece querer insinuar com essa terminologia um elemento dinâmico, por isso traduzi por “união” e não por “unidade”. Seria possível também pensar em unificação. 168. Trinität und Reich Gates, 167.
pessoa se não é em relação. O s dois conceitos surgem simultaneamente e em conexão, estão unidos, segundo o autor, “geneticam ente”. A constituição das pessoas e sua manifestação na relação são as duas faces de uma mesma realidade169. A partir dessa teologia trinitária, M oltm ann quer tirar conseqüências para a teologia política: o monoteísmo entende Deus em termos de autoridade, de domínio. O m istério pascal de Jesus dá outra versão da soberania: Deus é entendido como comunhão. Assim entendida, a Trindade é um programa social. Os homens criados à imagem da Trindade estão chamados a esse tipo de união, a essa pericorese. “A unidade pericorética do Deus trino e uno (drei-einig) corresponde à experiência da comunidade de C risto”170. A mútua inabitação das pessoas mostra que não há subordina- cionismo na Trindade171. M oltm ann quer elim inar até certo ponto a distinção entre Trindade econômica e imanente172 173. A função positiva dessa distinção é salvaguardar a liberdade da graça que Deus nos dá; a cruz aparece só na economia salvífica, não na Trindade im anente. Mas a distinção revela-se inoperante quando se parte da idéia de que em Deus liberdade e necessidade não se opõem, mas coincidem no amor. Deus ama o mundo com o mesmo am or que ele é17}. Assim Deus pode ser pensado tem poral e historicam ente. M oltm ann fala da “constituição” da Trindade, e serve-se para isso em boa medida dos conceitos tradicionais; fala também de uma vida trinitária, da Trindade imanente, da comunhão de amor das três pessoas e da m útua inabitação174. M as ao mesmo tem po Deus está aberto à criação, ao tem po, à história. Assim o problema da unidade em Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a questão da escatologia, da consumação da história trinitária por Deus mesmo175. A história trinitária ainda não está completa porque ainda vivemos em um tem po de pecado, de m orte etc. Cada um de nós tem de colaborar para que as forças do mal sejam vencidas, para que se supere a divisão e para que as forças de união prevaleçam. A h is

169. Ibid., 189. 170. Ibid., 174. Cf. o desenvolvimento dessa questão na últim a parte da obra, 207-239. 171. Ibid., 191. Eliminar o perigo do subordinacionismo é uma constante nos autores que propugnam um modelo social na Trindade, e também nos que criticam a constituição das pessoas a partir das relações de origem. Ver a exposição seguinte neste capítulo e no próximo. 172. Ibid., 168; 176-177. 173. Ibid., 169. 174. Ibid., 179ss. 175. Ibid., 167.
tória trinitária estará completa quando na consumação escatológica Deus será tudo em todos (IC o r 15,28). Deus será glorificado na criação e a criação será glorificada em Deus176. Temos aqui uma concepção da unidade da Trindade que se qualifica com o “aberta”, e que não deixa de suscitar diversas perguntas. M antém-se a liberdade divina na economia, ou se realiza Deus nesta? Q ual é o vínculo que ultimamente une os “três”? Essa união é só o resultado de um processo? M oltmann, de outra parte, vê as pessoas relacionadas, mas não admite que a relação seja a pessoa ou que a constitua. Pensa que isso leva ao modalismo. Para ele o Pai está certam ente relacionado com o Filho, mas esse fato não o constitui, mas pressupõe sua existência177. Com o se vê, a decidida vontade de elim inar o perigo do modalismo fez surgir a duvida: não nos aproximamos do outro extremo? N ão se abandona o conceito da unidade da natureza de Deus, mas tom a-se difícil evitar a impressão de que essa natureza é possuída pelos três que em um segundo “m om ento” entram em relação:
O conceito da substancia reflete as relações da pessoa à natureza divina comum. O conceito da relação reflete a relação das pessoas entre si. As pessoas da Trindade subsistem na natureza divina comum, existem em suas relações m útuas178.

3. Autoconsciência e alterid a d e nas pessoas d ivin a s
“A doutrina da Trindade não pode deixar-se encerrar na (falsa) alternativa entre uma concepção rigidamente ‘monossubjetiva’ e um a concep-
176. Ibid., 178. 177. Ibid., 189. N o cap. seguinte voltaremos a esse ponto. 178. Ibid. Como se vê, trata-se de evitar o conceito de “relação subsistente”. N aturalm ente, com essa breve exposição não pretendemos chegar à última clareza sobre o pensamento de Moltmann. Contentamo-nos com indicar a linha fundamental e os problemas que suscita, em relação com o que já dissemos em seu momento sobre a Trindade em relação com o mistério pascal. Cf. GRESHAKE, op. cit., 168-171, que vê em M oltmann o perigo de um certo triteísmo; W. PANNENBERG, Teologia sistemática, M adri, 1992, 363, pensa que Moltmann não cai no triteísmo, mas que se opõe a uma unidade de Deus não “trinitária”, embora não tenha conseguido form ular de modo adequado seu pensamento a respeito da constituição da Trindade por uma parte a partir do Pai, e por outra nas relações mútuas. M uito inspirado em M oltmann, Leonardo Boff quis buscar na comunhão da pericorese uma terceira via entre a teologia grega e a teologia latina para expressar a unidade e a diferença em Deus. Ver sobretudo, La Trinidad, la sociedady la liberación, M adri, 1987, e La Trinidad es la mejor comunidad, M adri, 1990.
ção ‘social’ da Trindade.”179 De feto, nas tentativas recentes no campo da teologia católica tratou-se de evitar esses dois extremos. N a menção feita das críticas formuladas a K. Barth e K. Rahner de uma parte, e a J. Moltmann de outra, já se insinuou o que agora queremos expor. Se a unidade da essência divina exclui em Deus três autoconsciências, nem por isso se devem excluir três agentes, três “sujeitos”; nem renunciar, certam ente com as devidas cautelas, a uma iluminação do m istério da unidade divina que tenha em conta a alteridade e a intersubjetividade. Ainda no marco da teologia escolástica tradicional, B. Lonergan falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo como de três sujeitos que, referidos uns aos outros por relações, são conscientes cada um deles de si mesmo e dos outros aos quais estão referidos. H á três sujeitos divinos conscientes, o que não significa que haja pluralidade de consciências, porque em Deus o ato essencial e os atos nodonais não se distinguem realmente. Mas, havendo pluralidade de sujeitos, há pluralidade de sujeitos conscientes. D aí se deduz que “há três sujeitos reciprocam ente conscientes p o r meio de uma só consciência, que é possuída de modo diverso por cada um dos três”180. W. K asper181 seguiu-o quase ao pé da letra; por sua parte feia também do “diálogo” que caracteriza as pessoas divinas: “As pessoas divinas não existem só no diálogo: elas mesmas são diálogo”182. De m aneira semelhante F. Bourassa põe em relevo que aquilo que indivídua as pessoas distintas (opostas) entre elas não é uma individuação absoluta senão o caráter m útuo das relações, que é total comunicação recíproca na plenitude da substância divina. “Tudo o que é m eu é teu” (Jo 17,10). N ão somente o eu divino é infinito, senão que além disso é total comunicação de sua infinitude. E uma promoção ao infinito daquele a quem se comunica. Assim, a comunicação do Pai ao Filho gera este em sua plenitude, como único Deus com ele. A pessoa está constituída para existir em plenitude na intercomunicação pessoal. Cada um é pessoalmente consciente e livre em sua proprieda-

179. J. W EBICK, D ottrim trinitaria, em T h . SCHNEIDER (ed.), Nuovo Corso di Dogmático, Brescia, 1995, 573-685,636. 180. De Deo Trmo..., 193: “Tria subiecta sunt inviceem cônscia per unam conscientiam quae aliter et aliter a tribus habetur”; cf. 186-196. Porém, embora Lonergan fale de três sujeitos, não crê que as três pessoas sejam “eu” e “tu ” intratini tari amente (cf. nota 156); sobre essa questão J . M. M cDERM O lT , Person and nature in Lonergan’s D e Deo Trino, Ang 71 (1994) 153-185, esp. 182-185. 181. KASPER, op. tit., 352: “Na Trindade encontramo-nos com três sujeitos que são redprocamente consdentes graças a uma idêntica consdênda, que é “possuída” pelos três sujeitos de forma diversa em cada caso”. 182. Ibid., 35. Nesse ponto afasta-se, pois, de Lonergan.
de pessoal, no exercício da mesma consciência infinita. Assim, cada pessoa é total comunicação de si mesma, e a perfeita comunicação com porta harmonia total, unidade infinita, na plenitude da consciência, de am or e de liberdade. Uma comunicação pessoal recíproca, total e infinita opõe-se à independência e à limitação. N ão há portanto em Deus três consciências distintas, senão perfeita unidade de substância e de amor, não há teu e meu. Porém essa consciência é pessoal. A consciência divina é uma, mas o “eu” divino não é o eu comum às três pessoas, senão distintam ente o eu próprio de cada uma. Cada pessoa divina é consciente de si sendo consciente de que é Deus, por isso essa consciência é em comunhão, é uma consciência exercida por cada um em comunhão com os outros. “U nidade interior em Deus infinitam ente consciente e plenitude de amor, unidade não inerte e solitária de uma pessoa única, mas comunidade de vida do Pai e do Filho que é seu único am or.”18’ O utros autores católicos seguiram com mais decisão a linha do diálogo e da analogia com as relações inter-hum anas que claramente já víamos insinuada em alguns dos teólogos que acabamos de citar. Em Agostinho notávamos alguns traços dessa linha, mas nele sem nenhuma dúvida predomina a analogia psicológica. Mais decididamente Ricardo de São V ítor partia da análise do amor inter-hum ano, e não custa grande esforço observar na mais recente teologia católica um renovado apreço por essa orientação. Junto com a categoria do “Eu”, que víamos predom inar em K. Barth, também se usou explicitamente a do “N ós” em Deus, ainda que em modo diferenciado segundo os autores. Teve notável influência, e ao mesm o tempo suscitou discussão, o modelo desenvolvido por H eribert M ühlen: O Pai é caracterizado como o “Eu”, o Filho como o “Tu” e o Espírito Santo como o N ós do Pai e do Filho, “o N ós em pessoa”183 184, o Nós hipostasiado, poderíamos dizer. M ühlen

183. BOURASSA, op. c it, 719. Ver também para o que precede, 717;720; do mesmo, La Trinità, em K. H . NEUFELD, op. cit., 337-372, esp. 352-353: “A consciência de si exercida pessoalmente por cada uma das pessoas divinas é, por cada uma, a consciência de ser Deus, e isso é comum com as outras pessoas e a consciência de si como distinta das outras, mas em uma relação de toda a própria existência ao outro... Isso significa uma vida divina vivida por cada pessoa, divinamente, portanto unicamente, infinitam ente e totalmente para o outro”. “Essa consciência pessoal de uma existência vivida para o outro, em uma reciprocidade tão total e infinita, é o ápice da unidade”. 184. Cf. H . M Ü H LEN , Der HeiUge Geist als Person in der Trinität in der Inkarnation und im Gnadenbund, M ünster, 1963, esp. 100-168; cf., do mesmo, Una mystica persona, Mu- nique-Paderbom-Viena, 31968,196-200: o Espírito Santo é uma pessoa em duas pessoas no seio da Trindade, o que corresponde à fórmula edesiológica que o autor propugna: uma pessoa em muitas pessoas. 290
observa agudamente que “Nós” não pode ser nunca o plural da primeira pessoa, porque esta, a rigor, não tolera o plural. “Eu” há um só, mas pode haver muitos Vós, ou muitos eles. “N ós” é ao mesmo tem po o plural da primeira e da segunda pessoa, o plural do Pai e do Filho. O matrimônio dá uma imagem desse “N ós”: o m atrim ônio não é nem teu nem meu, mas nosso. Mühlen coloca-se sem dúvida na tradição da teologia ocidental que viu o Espírito Santo como o amor m útuo do Pai e do Filho e a expressão de sua unidade, como já ocorre em Agostinho e em grande parte da tradição ocidental. Em bora reconhecendo a validade de sua intuição, alguns críticos questionaram se M ühlen justificou a exclusividade da aplicação dos pronomes ao Pai e ao Filho, e o que é que esses nos dizem sobre as propriedades pessoais do Pai e do Filho. N ão poderia aplicar-se também ao Espírito Santo? Além disso, se esse é o “N ós” do Pai e do Filho, não fica desfigurada sua propriedade pessoal?185 Também J . Ratzinger usou uma metáfora parecida, introduzindo também a idéia da pluralidade de sujeitos e o diálogo em Deus: O conceito de pessoa exprime desde sua origem a idéia do diálogo e a Deus como a essência dialogai. Indica a Deus como a essência que vive na palavra e subsiste na palavra como Eu, Tu e Nós. Desse conhecimento de Deus re- vela-se ao homem, de modo novo, sua própria essência186.

A partir de Agostinho, define Ratzinger a pessoa como o fenômeno da total relatividade, que em sua plenitude só em Deus pode ter lugar, mas que sinaliza a direção do que, de algum modo, é todo ser pessoal, e portanto também o hom em 187. Mas na teologia cristã não existe o simples princípio dialógico “eu-tu” dos tempos modernos. Não existe esse simples princípio dialógico da parte de D eus, porque nele há sempre o nós do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tampouco da parte do homem, que existe somente na comunidade do povo de Deus, em última instancia existe em C risto, que une o nós dos homens com o tu de Deus188.
185. Cf. por ex., MILANO, op. dt., 256s; GRESHAKE, op. d t., 163; 194. GONZÁLEZ, op. d t., 198ss. Voltaremos sobre o tema ao tratar da pessoa do Espírito Santo. 186. RATZINGER, op. d t., 210. 187. Ibid. 213, cf. também RATZINGER, Introducdón al cristianismo, Salamanca, 1971, 151-153; 159: “O eu é ao mesmo tem po o que tenho e o que menos m e pertence... Um ser que se entende verdadeiramente compreende que em seu ser mesmo não se pertence, que chega a si mesmo quando sai de si mesmo, e volta a orientar-se como referênda à sua verdadeira originalidade”. 188. Cf. Personvertandnis..., 222.
Também H .U . von Balthasar usou a imagem do “nós”, mas não como o nós dos três, como faz Ratzinger, senão do Espírito Santo como o “nós”, o eterno diálogo entre o Pai e o Filho, em uma linha que tem seus pontos de contato com H . M ühlen189. Mas usa também a imagem da fecundidade m atrim onial que se abre no filho190. Segundo essa metáfora, o Espírito apareceria antes como o fruto da unidade do Pai e do Filho. Von Balthasar pensa que com essa imagem dá-se um com plemento à idéia do diálogo exclusivo eu-tu, que, apesar de todas as diferenças, corresponderia tam bém à Í7nago Trrnitais inserta na criatura. N ão supera somente o fechamento do “Eu” no conceito agostiniano, mas também perm ite que o condilectus, que no esboço de Ricardo de São V ítor parece antes trazido de fora, surja da m esm a com preensão interna do am or191. C laro que não se pode absolutázar essa imagem sem cair no risco do triteísm o192, mas pode ajudar a mostrar que a unidade dos dois se expressa e se assegura em um terceiro, que o am or perfeito entre o que ama e o amado não se dá sem um condilectus que brota do interior desse mesmo amor. Com diferenças de matiz que não se pode desconhecer, a teologia católica tratou de ilum inar o m istério das divinas pessoas em sua unidade e em sua distinção, combinando os elementos da autopossessão e da autoconsciência e os da relação inter-hum ana. Para ambos oferece a tradição

189. Cf. Spiritus Creator, Einsiedeln, 1967, 152. 190. Cf. TheologikU. Wàbrbeit Gottes, Einsiedeln, 1985,54ss, onde rita M . J. Scheeben, segundo o qual a mãe, que é o vínculo de união entre o pai e o filho, podería ser imagem do Espírito Santo. Mas o próprio Scheeben estava consciente que a idéia era estranha à tradição. Já vimos como Agostinho a rejeitava expressamente. Em termos m uito mais genéricos JOÃO PAULO II usou em várias ocasiões essa analogia com a família: “Foi dito, de forma bela e profunda, que nosso Deus, em seu m istério mais íntimo, não é uma solidão, mas uma família, posto que leva em si mesmo a paternidade, a filiação e a essência da família que é o am or” {Homilia de Puebla, 28/jan71979). Também na Carta às famüias, de 2 de fevereiro de 1994, o “Nós” divino constitui o modelo eterno do “nós” humano, antes de tudo por esse nós humano que está formado pelo homem e a mulher criados à imagem e semelhança divina”. Cf., sobre a questão, W .AA., Mistério cristiano y existência humana, Salamanca, 1995. 191. Ibid., 56s. 192. O mesmo autor observa que nenhum dos modelos pode absoludzar-se; cf. 7eodramática 3, Madrid, 1993,482s. Do mesmo, Tbeologik II, Einsiedeln, 1985,35; 39: o modelo interpessoal não chega a alcançar a unidade substancial de Deus, o modelo “intrapessoal” não expressa o real e permanente “estar diante” das hipóstases em Deus; cf. também W ER- BICK, op. dL, 617s; 639s. Sobre diferentes tentativas (de resultados muito variados) de fundar a unidade divina na comunhão pessoal, cf. CVDONNEL, The Trinity as Divine Community, Greg 69 (1988) 5-34. Também sobre alguns aspectos do problema na teologia atual, B. J. HILBERATH, Der dreieinige Gott und die Gemetnschaft der Menseben, M ainz, 1990.
elementos válidos, embora a introdução desses elem entos no pensamento teológico não se explique sem a influência da evolução antropológica e filosófica. A autopossessão na consciência de si, a condição de “sujeito” são reconhecidas como elementos integrantes da noção da pessoa divina. Não foi muito seguida nesse sentido a proposta de K. Rahner, embora sua advertência em relação ao triteísm o não tenha caído no vazio. Em seguida deve-se sublinhar, e assim de fato se tem feito na teologia católica, que os três “sujeitos” têm uma só autoconsciência, uma só liberdade, um só amor e conhecimento193. Cada um se autopossui e é consciente de si na relação com as outras pessoas e na comunhão plena com elas. Cada um é distinto na radical relacionalidade (a pessoa é a relação) de tal maneira que o ser de cada uma das pessoas— Pai, Filho e Espírito Santo— e a correspondência com os outros dois são idênticos194. N as pessoas divinas coincide o ser de cada uma delas com a relação com as outras na comunhão perfeita do único amor. A autopossessão de cada uma das pessoas identifica-se com a real doação às outras duas. Só enquanto relacionada com as outras cada pessoa divina tem sua “identidade” própria. Pode-se pensar, com efeito, seguindo as palavras de Jesus, “Tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu” Qo 17,10) e “Que todos sejam um, como tu Pai estás em mim e eu em ti” (Jo 17,21) — com a necessária inclusão do Espírito Santo —, em uma união das pessoas que, mantendo a distinção que corresponde ao eu e ao tu, elimine totalm ente o meu e o tu. A unidade não é só um estar “com ”, mas estar “em ” outro, em tuna

193. Pode-se falar nesse sentido de um a certa linha de consenso. Ver, além dos autores já citados, M ILANO, op. d t, 242-246; J. M . NICOLAS, De la Trrnití à la Trmité. Syntbèse âognatique, Freiburg, 1985, 147s: há três conscientes e livres, mas uma só consdênda; GRESHAKE, op. d t., 122: “H á em Deus uma consdênda, um amor, um agir livre, mas todos esses atos não são realizações da natureza, senão dos sujeitos pessoais, isto é, os sujeitos dessas ações são três autoconsdêndas, três centros do conhecimento, três liberdades...” Pessoalmente, prefiro formular “três autoconsdentes, três livres etc.”, para dar mais relevânda à pessoa. Pode-se legitimamente duvidar da oportunidade do uso das categorias de “sujeito”, de eu e tu em Deus na Trindade imanente; bastaria falar da realidade em autopossessão; assim se expressa GONZALEZ, op. d t, 194, inspirado nas categorias de X. ZUBIRI, embora naturalmente acrescente que essa autopossessão dá-se em plena comunhão e na entrega total de umas pessoas às outras. Ainda que bem consciente da dificuldade, prescindo em minha exposição dessas precisões porque, se na economia da salvação as pessoas aparecem como um eu e um tu, deve-se pensar que há algo na Trindade imanente que corresponde a esse modo de dar-se a conhecer o Pai, o Filho e o Espírito na economia salvífica. 194. Cf. W ERBICK, op. d t,6 5 2 ; GRESHAKE, o p .d t, 184s; ROVIRA BELLOSO, op. cit., 636; a intim idade e a relação são um e o mesmo.
com unhão perfeita q u e é a inabitação recíproca. É clara a diferença com a pessoa hum ana, a q u a l, embora esteja sempre em relação e aberta aos outros, existe sem pre em u m a certa tensão em ser ela mesma e sua relação ao o u tro (por isso p o dem os fechar-nos a Deus e ao próximo); até na comunhão mais perfeita q u e possamos im aginar não podemos fazer participantes aos o u tro s de tu d o o que somos, nem participar plenamente de tudo o que são os que nos rodeiam . M as em D eus as pessoas existem na desapropriação to ta l e na d o ação absoluta. Tòdas as im agens e os modelos que a partir da realidade humana pretendam ilu m in ar-n o s o acesso ao m istério deverão reconhecer o limite fundam ental da in fin ita superioridade do modelo sobre a imagem e a impossibilidade d e e n cerrar Deus em nossos esquemas humanos. Precisamente quanto m ais se aventura a teologia na exploração do mistério divino, mais deveria ser consciente do m om ento apofatico que, sem ser absolutizado, deve sem pre caracterizá-la. Q ualquer imagem estará, de entrada, relativi- zada, ainda que seja apenas pelo fato de que Jesus não a utilizou quando tom ou sobre si a ta re fa de explicar no humano o divino de sua pessoa1’5.
M as isso, naturalm ente, não quer dizer que devamos desprezar os esforços seculares da teologia nem as tentativas sempre renovadas de dar razão de nossa esperança. N a unidade d a única divindade subsistem o Pai, o Filho e o Espírito
Santo, distintos realm ente uns dos outros em virtude das relações recíprocas. Mas essas não só os distinguem, senão que os unem em um amor infinito e na com penetração mútua. U nidade e distinção não se opõem em
D eus. As expressões bíblicas da unidade do Pai e do Filho (cf. Jo 10,30; 14 9-10 etc., e cf. tam bém H b 1,3, o Filho esplendor da glória de Deus e efígie de sua substância) apontam para uma unidade na distinção que certam ente vai mais além de tudo o que podemos imaginar. Aliás, deve-se te r em conta que em Deus não se dá nenhum a repetição, e que portanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo não só são distintos, senão que são pessoa de maneira distinta. Já aludimos a essa questão. Vim os que a partir de Sto. Agostinho, pelo menos, causa problemas o uso do plural “três pessoas”. É a necessidade que força a isso. Cada uma das pessoas identifica-se com a essência divina de maneira que Deus não “cresce” com a soma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diferentes intervenções do M agistério, já desde tempos antigos, advertiram contra a “multiplicação” de Deus. Assim, o papa Hormisdas no ano 521: “U num est Sancta 195

195. Cf. BALTHASAR, Tbeologik ü, 61.
Trinitas, non m ultíplicatur numero, non crescit augmento...” (DS 367). O Concílio XI de Toledo (675) nota que Deus é Trindade, mas não é “triplo”196. Cada pessoa não é sem as outras, mas isso não quer dizer que necessite ser completada porque algo lhe falte. Cada pessoa é Deus inteiramente. Essa é outra razão pela qual não cabe em Deus nem soma nem multiplicação. A referência de cada pessoa às outras duas, sem a qual nenhuma pessoa divina é, por uma parte pertence necessariamente ao ser divino, mas por outra se dá no puro transbordam ento do amor, não para suprir qualquer tipo de deficiência ou de falta.
196. “Quae non triplex, sed Trinitas et dici et credi debet. N ec recte dici potest, u t in uno Deo sit Trinitas, sed unus Deus Trinitas” (DS 528): inspira-se em A G O STIN H O , Trm V I 7,8 (CCL 50,238); cf. V E 1,2 (249); o mesmo Concílio: “nec m inoratur in singulis nec augetur in tribus” (DS 529); “nec recedit a numero, nec capitur numero” (530). Também é interessante a precisão de PIO VI na bula Auctoremfidei de 1794: Deus é “um em três pessoas distintas”, mas não “distinto em três pessoas” (DS 2.697). Numerosas intervenções repetiram essas idéias: cf. E ntre outros lugares DS 470; 490; 501; 800; 803s., o Lateranense IV, contra Joaquim de Fiore; 1880... Pode-se ver m aterial sobre a dificuldade que desde os tempos antigos suscitou o “núm ero” em Deus em BALTHASAR, Tbcologik III. Der Geist der Wahrheit, Einsiedeln, 1987, llOss. Cf. AMBRÓSIO de Milão, De Spiritu Soneto I I I 13 (CSEL 79,189): “Quomodo pluralitas recipit imitas divinitatis, cum pluralitas numeri sit, num erus autem non recipiat divina natura”; BASILIO de Cesaréia, de Sp. sane., 18,44-46 (SCh 17bis, 402-410), cada hipóstase é nomeada por si mesma.

10
O Pai, o Filho e o Espírito Santo
Vimos que a noção de pessoa divina como relação subsistente significa a existência em Deus de três distintos centros de autopossessão e de atividade na comunhão perfeita, que, podendo ser tomados como três “eu”, excluem qualquer teu e meu (cf. Jo 16,14-15). N otam os também que em Deus não se dá aumento nem diminuição por causa da diferenciação das pessoas divinas, senão que a essência divina é possuída inteiram ente pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, cada um a seu m odo, como cada um é a seu m odo “pessoa” em D eus. Por essa razão não podemos contentar- nos com a reflexão, necessariamente um tanto genérica, que levamos a cabo no capítulo precedente. N ão basta falar da trindade de pessoas, devemos estudar também quem são o Pai, o Filho e o Espírito. Neste capítulo passamos portanto ao tratam ento diferenciado das características próprias de cada um dos três. Deveremos recolher de m odo mais sistemático uma parte do que tivemos ocasião de ver em nosso estudo histórico.
O PAI, ORIGEM SEM PRINCÍPIO

O Pai, segundo a tradição teológica que data dos Padres da Igreja, é o que assegura a unidade da Trindade por ser a fonte única da divindade. Sabemos que não há uma essência divina “anterior” às pessoas, nem natureza divina que esteja “acim a” delas (cf. DS 803-804), senão que essa natureza é possuída inteiram ente pelos três, cada qual a seu modo. O Pai a possui de maneira fontal, originária, dando-a e nunca a recebendo, embora sem pre relativamente ao Filho e ao E spírito Santo; quer dizer, sua posse originária da divindade não pode ser considerada com indepen-
dência das outras duas pessoas. Sabemos já tam bém que quando o Novo Testam ento fala de Deus refere-se em geral, em bora não exclusivamente, ao Pai1. Como não há um a essência divina anterior, é claro que se fala sobretudo dele quando se fala do D eus infinito, eterno, onipotente (cf. o C redo). W . K asper acentua isso fortem ente2. Mas fizeram-se reparos a essa concepção. C ertam ente, não para negar os dados bíblicos, mas para fazer v e r que, à luz da revelação cristã, Deus Pai não existe nunca sem o Filho e o E spírito Santo; as afirmações veterotestam entárias sobre Deus não podem ser com preendidas como referidas de m odo exclusivo à primeira pessoa3. D e todas as maneiras permanece a identificação pessoal do Pai de Jesus com o D eus do Antigo Testam ento. Tudo o que se diz de Deus com o fonte última de tudo o que existe fala-nos sobretudo do Pai. Mas n ão podemos considerar essas afirmações referidas exclusivamente a ele, já que não é o princípio de tudo o que existe com independência da m ediação do Filho, e da perfeição que o E spírito Santo concede a tudo. D eus manifesta-se com o Pai, como já sabemos, na vida de Jesus, e sobretudo em sua ressurreição dentre os mortos. Cremos que Deus ressuscitou Jesus e com esse fato m ostrou de modo definitivo e irrevogável sua paternidade (cf. Rm 10,9; F1 2,11; At 13,32-33; entre outras passagens).
Nosso estudo das afirmações fundamentais do Novo Testamento, da teologia patrística e do magistério já nos puseram em contato com as principais afirmações referentes ao Pai. Agora devemos recolher e com pletar esses dados de modo mais sistemático4.

1. Cf. K. RAHNER, Theos en el Nuevo Testamento, em ID ., Escritos de teologia, Madrid, 1963,1,93-167; cf. algumas matizações de J. GABOR, Le mystère de la personne du Père, Greg 11 (1996) 5-31. 2. Der Gott Jesu Cbristiy M ainz, 1982,187-197, onde praticamente o “De Deo uno” considera-se um ensinamento sobre o Pai. Cf. também A. STAGLIANO, D mistero dei Dio vivente y Bologna, 1996, 590ss. 3. C f. R. SCHULTE, La preparation de la revelation trinitaria, My Sal 2/1, 77-116, 80-87; H . U. von BALTHASAR, Teodramdtica 3: Las personas del drama: el bombre en Cristo, Madrid, 1993,470. Voltaremos a essa questão no capítulo seguinte. 4. Sobre o Pai, além da bibliografia já citada e a que continuaremos utilizando, ver, entre outros, W AA. Dios es Padre, Salamanca, 1991; L. BOUYER, Le Père invisible, Paris, 1976; A. TORRES QUEIRUGA, Creo en Dios Padre, el Dios de Jesus como afirmación plena dei bombre, Santander, 1978; F. X. DURRW ELL, Le Père. Dieu en son mystère, Paris, 1988; J. GALOR, Découvrir le Père. Esquisse d’une théologie du Père. Louvain, 1985; X. PEKAZA,
Padre, in Diccionario teológico. El Dios cristiano, 1.003-1.021.
1. A lgu n s elementos da tradição
Sabemos que se em um prim eiro instante, na linguagem cristã, fala- se do Pai em analogia com a paternidade humana em um segundo mom ento o N ovo Testam ento faz-nos entender que o Pai de Jesus é o analogatum prrnceps de toda paternidade: som ente ele merece a rigor o nome de Pai (Cf. M t 23,9: “a ninguém chameis de Pai sobre a terra...”; E f 3,15: “O Pai de quem toma nom e toda paternidade...”). Falou-se do Pai origem, fonte e também de sua “monarquia”. M as esta de modo algum exclui o Filho e o Espírito Santo. Todas essas denominações tratam de destacar o papel singular que o Pai tem na Trindade e na economia salvífica. Algumas expressões da teologia pré-nicena podem ter para nossos ouvidos um certo sentido subordinacionista, mas vimos igualmente como a divindade do Filho e a do Espírito Santo foram afirmadas com vigor. A crise ariana obrigou a formulações cada vez mais claras sobre a igualdade das três pessoas. O Pai é princípio do Filho e do E spírito Santo que são D eus como ele. Essas considerações não levaram a uma diminuição da pessoa do Pai, m uito ao contrário. Sua grandeza como princípio mostra-se precisamente aí. Já G regório Nazianzeno notava que se o Pai fosse somente o princípio das coisas criadas o seria de modo pobre e mesquinho. O Pai é “âpxrj” em plenitude enquanto o é “da divindade e da bondade que se adora no Filho e no Espírito Santo”5. O Pai é “princípio”, mas nem por isso o Filho e o Espírito Santo podem ser considerados menores6. O Pai não pode ser identificado simplesmente com a essência divina, porque é D eus comuiu- cando-a totalm ente ao Filho e ao Espírito Santo. A monarquia está constituída pela dignidade de igual natureza, não por uma só pessoa7. O caráter de princípio próprio do Pai pede, para te r sentido pleno, a divindade do F ilho e do Espírito Santo. Segundo G regório de Nissa, ao se distinguir a

5. GREGÓRIO Nazianzeno, Or. 2,38 (SCh 247,140). Cf. A GOSTINHO, Trm IV, 20,29 (CCL 50,200): “totíus divinitatis vel si melius dicitur deitads principium pater est”. 6. GREGÓRIO Nazianzeno, Or. 30,7 (SCh 250,240), o Pai é maior (cf. Jo 14,28) refere-se à causa, porém que o Filho é igual (cf. Jo 10,30) refere-se à natureza. Já nos referim os em diversas ocasiões à interpretação de Jo 14,28 pelos autores nicenos. O Pai é m aior enquanto princípio, mas o Filho não é menor enquanto recebe tudo dele. A paternidade divina mostra-se precisamente na doação plena da divindade. Cf. também AGOST IN H O , Trm IV 20,27; V I 3,5 (CCL 50 195.233). ATANÁSIO, C. Arian. 1 20; ffl 6 (PG 26, 53. 333), o Pai só o é em relação do Filho. 7. Cf. GREG Ó RIO Nazianzeno, Or. 30,2 (SCh 250,178). Cf. também BASILIO de Cesaréia, de Sp. Sane. 18, 45 (SCh 17 bis, 404-406).
causa e o q u e dela provém, indica-se só a diferença dos m odos de existir, não da essência ou natureza8. A idéia do prim ado do Pai enquanto fonte e origem da divindade foi m antida, com ovem os, mesmo quando a igualdade das três pessoas foi afirm ada e reconhecida claramente9. Foi precisamente a reflexão sobre o que significa a paternidade da prim eira pessoa que excluiu todo subordina- cionismo n o s autores nicenos. N um erosas declarações magisteriais de nível diverso sublinharam essa verdade. Assim, por exemplo, os diversos Concílios d e Toledo, em concreto os V I, XI e XVI, dos anos 638, 675 e 693, respectivam ente10. Que o Pai não tem princípio, é ingênito, recolhe- se igualm ente nesses e em outros textos11. A igualdade das três pessoas é compatível com essa diferença. Sendo o princípio e a fonte da divindade, o Pai, por sua vez, não tem princípio, é ingênito. M uitos Padres fizeram uso dessa denominação e a consideraram característica da pessoa do Pai12. Os excessos a que deu lugar o uso desse term o por Eunômio não deram razão nenhum a para evitar essa denominação. M uitos autores consideraram o ser inascível a propriedade mais relevante do Pai. Para Boaventura a inascibilitas seria a razão da plenitude fontal da divindade do P ai13. Para lòm ás, ao contrário, essa certam ente é um a propriedade, uma noção do Pai, mas é apenas negativa, diz só que o P ai não é o Filho14. E claro que não pode haver outro ingênito, pois do contrário haveria mais de um Deus. Com efeito, conhecemos já a relação que se estabeleceu entre a unidade divina e o único princípio sem princípio que é o Pai.

8. GREGÓRIO de Nissa, Quod non sunt tres dei (JAEGER, UI, 156) Contra Eunomium I, 497 (JAEGER, I, 170).Fala-se nesses textos do prós emai, do tropos tes bipartbeos. Cf. também C IRILO de Alexandria (PG 75,185B) o Filho ao existir como propriedade mesma da essência do Pai, leva em si o Pai por completo. 9. Tomás de Aquino, STb 133,1 ad 2: “Quia licet attribuamus Patri aliquid auctoritatis ratione principii, nihil tamen ad subiecrionem vel minorationem quocumque modo pertinens, attribuimus Filio vel Spiritui Sancto”. 10. Cf. DS 490; 525; 568. Para os tempos mais recentes cf. LeãoX H I, enc. “Drvmum Mud munus, do ano 1897 (DS 3.326). 11. Cf. DS 60; 75 (Quicumqne), 441; 470; 490; 525; 569; 572; 683; 800 (LATERA- N EN SEIV ); 1330s (Florentino). Ver também 1862, Pnfessio fidei tridentina. 12. Cf. HILÁRIO de Poitiers, Trm II6 (CCL 62,43): “Ipse ingenitus, aetemus, habens in se semper u t semper sit” (Cf. LAD ARIA, Dios Padre en H ilario de Poitiers, EstTrin. 24 (1990) 443-479,446s. Já falamos dos capadócios no capítulo dedicado à história. 13. Cf. BOAVENTURA, In ISent. 29, dub. 1; Brtvüoquium 1 3,7: “Inascibilitas in Patre ponit fontalem plenitudinem”. G . Y. CONGAR, EI Espiritu Santo, Barcelona, 1983 57 ls. 14. Cf. STb I 33, 4 ad 1.
Segundo Sto. Tomás, o Pai é o ingênito e o princípio sem princípio. Mas também é o que gera o Filho, e é, com ele, princípio do Espírito Santo. Falamos de “Pai” antes de tudo enquanto se relaciona com o Filho, e só secundariamente a respeito das criaturas15. Deus pode criar porque é Pai, não o contrário. H á uma relação íntima entre as processões divinas e a criação; as primeiras são causa da segunda16. Tomás reivindica o nome do Pai para a primeira pessoa, mais próprio do que gen itor ou generans porque esses últimos indicam a geração in fie r i, e o de Pai a geração já realizada. A denominação de uma coisa refere-se sobretudo à sua perfeição no fim. Por isso, como já notamos, Tomás dá preferência à “relação” sobre a “origem ”. D aí a maior adequação do nome de “pai”. A paternidade e a geração são ditas de Deus com m aior propriedade que das criaturas, porque a geração será tanto mais perfeita quanto mais próxima seja a forma do gerado da form a do que o gera. N ão cabe maior proximidade que a existente entre o Pai e o Filho, porque na geração divina a forma é numericamente a mesma entre os dois, o que não pode ocorrer nas criaturas. N elas trata-se só da mesma espécie (O Pai e o Filho são o mesmo Deus, o que evidentemente não se dá na geração humana). Porém , o mais decisivo no artigo que Tomás dedica ao nom e de Pai como o próprio de uma pessoa divina17 é o uso que se faz da idéia da pessoa como relação subsistente. A paternidade subsistente é o Pai: O nome próprio de uma pessoa significa aquilo pelo qual essa pessoa se distingue de todas as outras... Aquilo pelo qual se distingue a pessoa do Pai de todas as outras é a paternidade. Por conseguinte, o nome próprio da pessoa do Pai é este nome de Pai, que significa a paternidade18.
A justificação dessas afirmações deve ser buscada na definição de Tomás da pessoa divina como relação subsistente. A paternidade significa que o Pai é enquanto é Pai, não há um ser prévio a seu ser Pai. N ão é como o pai humano, que é antes de ser pai e que em algum momento começou a sê-lo. O “ser” e o “ser Pai” coincidem na primeira pessoa da Trindade. E o ser em pura doação. “O sentido do ser não é a substancia que subsiste em

15. STb I 33,3: “Per prius patem itas dicitur in divinis secundum quod im portatur respectus personae ad personam”. 16. STb 1 45,6: “Processiones divinanun personarum sunt causa creationis”. 17. STb I 33,2; a esse artigo refere-se já o que precede. 18. Ibid., corpus. Também 142,4 ad 2; 140,4 ad 1 : “quia Pater est, générât”: a relação é prévia ao ato nocional, como a pessoa precede à ação.
si mesma, senão o am or que se comunica a si mesmo.”19 Enquanto o Pai é princípio sem princípio, e dele provém tudo em últim o term o, a partir de sua "paternidade” podemos entender o ser como doação e abertura. O Pai é, pois, pura capacidade d e doação, e de doação inteira. Já H ilário dizia que a natureza divina é comunicada ao Filho tal como é possuída pelo Pai20. Se em D eus não se desse essa doação total seria ou por falta de capacidade ou por falta de vontade. E m ambos os casos a noção mesma de D eus ficaria afetada. Nos tem pos da controvérsia ariana, como vimos, desempenhou um papel a falta total de "inveja” do Pai, para m ostrar que sua doação ao Filho é completa. O am or já se mostra assim como a dimensão fundam ental de ser do Pai; p o r conseguinte, determina também a geração do Filho e a processão do Espírito. A paternidade é portanto o am or fontal, o am or que se dá. Diz Máximo o Confessor: "Deus Pai, movido por um am or eterno, procedeu à distinção das hipóstases”21. N ão se deve pensar que o amor se oponha à "natureza”. Em D eus não podem opor-se necessidade e vontade (cf. D S 526): tudo é imo em sua suma simplicidade.
2. O Pai, princípio do Filho e do Espírito Santo
“O Pai, só, gerou o Filho de sua substância (DS 1.330, Concílio de Florença, D ecreto para osjacobitas). Tomamos essa frase, resumo de uma longa tradição, como ponto de partida de nossa reflexão sobre a geração do Filho. Notem os o duplo aspecto da afirmação: O Pai gera de sua substância. A idéia repete-se constantemente, desde o Concílio de Nicéia22. Tomás de Aquino recolhe a expressão: o Filho é "da substância do Pai”23. Mas ao mesmo tempo deve-se ter presente que as processões divinas, na concepção tradicional, são atos pessoais enquanto são atos do entendi

19. W. KASPER, Der Gottjesu Cbristbi, M ainz, 1982. 20. Trm. V H I43 (CCL 62 A, 356) “Talis data qualis et habetur”. Cf. LADARIA, op. d t, 455ss. 21. Esc. m de dio. Nmt. (PG 4,221) dtado por CONGAR, op. d t , 577. Cf. também os outros textos citados nesse lugar. 22. “Gerado do Pai... quer dizer, da substância do Pai” (DS 125). Concílio de Ibledo XI (DS 526): “N ec enim de nihilo, neque de aliqua alia substantia, sed de Patris útero, id est, de substantia eius idem Filius genitus vel natus est”. Notemos a metáfora do “útero”, que parece identificar-se com a substânda do Pai. Também aqui aparece um traço “materno” do Pai, que mea ao mesmo tempo um aspecto pessoal. 23. STb 141,3.0 Pai transmite ao Filho toda sua natureza, não uma parte dela como ocorre na geração humana.
mento e da vontade. São atos nocionais, próprios de cada uma das pessoas. Portanto, embora o Pai gere o Filho de sua substância (ou, mutatis mutandis, expire o Espírito Santo), a geração e a expiração são atos do Pai. Devemos recordar a esse propósito um texto fúndamenéd do Concílio IV de Latrão: Em Deus existe só a Trindade, não uma “quatemidade”, porque qualquer das três pessoas é aquela realidade (res), isto é, a substância, essência ou natureza divina: a qual é o único princípio de todas as coisas, fora da qual não se pode encontrar outro. Porém aquela realidade não gera, não é gerada e não procede, senão o Pai é que gera, o Filho é que é gerado, e o Espírito Santo o que procede, de tal maneira que haja distinções nas pessoas e unidade na natureza (DS 804). O Pai é portanto o princípio da Trindade, não a natureza divina. É claro que o Pai, como Deus, gera o Filho de sua substância, mas o gera como Pai, não como substância ou natureza. “Cristo dá graças só ao Pai, que é Deus, mas nunca à divindade que seria fecunda no Pai.”24 O nome de Pai faz referência à relação ao Filho. E a term inologia que aparece em relevo no Novo Testam ento. Mas o Pai é tam bém relativo ao Espírito Santo, embora essa relação não esteja expressa em seu nome pessoal. Porém, ser princípio do Espírito (juntamente com o Filho ou mediante ele) lhe é tão próprio como a geração do Filho, por mais que no decurso da história, sobretudo nos primeiros tempos, tenha sido a relação Pai/Fi-
Iho a que ocupou a maior parte da reflexão. Vimos que nos primeiros momentos da teologia cristã não se afirmava sempre com nitidez que Deus fosse Pai ab aetemo; a geração intelectual do Filho ou Logos não aparecia claramente desligada da criação do m undo. A partir de O rígenes fica clara a eternidade da paternidade: o Logos, gerado ab aetemo, é por isso, desde sempre, o Filho, embora a geração não seja contemplada ainda com total independência da criação do mundo. Desde o Concílio de Nicéia ficou esclarecida também essa segunda questão. E com efeito, quando os Padres quiseram fundam entar a eternidade do Filho, argum entaram que, do contrário, Deus não teria sido sempre Pai. Esse não pode ser etem o como tal
Pai se não o é também o Filho. Com o não se pode pensar em um ser do Pai anterior à sua paternidade, esta última é a garantia mesma da eternidade e da igualdade do Filho e do Espírito Santo.

24. BALTHASAR, Tbeologik II. Wabrbdt Gotta, Einsiedeln, 1985, 123; cf. ROVIRA BELLOSO, Tratado de D iosm oy trino, Salamanca, 1993, 593.
A questão da eternidade do Filho e do Espírito está portanto ligada à relação essencial do Pai com o Filho (e, respectivamente, com o Espírito Santo) sem a qual não som ente o Pai não é Pai, mas não é. Seu ser é ser Pai. Se a questão se tom a som ente do ponto de vista cronológico, o argumento não tem muito peso. Se houvesse "logicamente” um ser anterior ao ser "Pai”, que a relação com o Filho se estabelecesse ou não em um momento posterior não mudaria m uito as coisas. Mas a eternidade do Filho aponta a algo m ais do que o m eramente cronológico. Faz-nos ver que o Pai é enquanto é princípio e fonte da divindade, enquanto gera o Filho e é princípio do Espírito que só é enquanto se dá. Vimos as dificuldades com que deparou Agostinho ao ver-se obrigado a pensar que o conceito de "pessoa” divina é absoluto, o qual o levava — ao que parece — a adm itir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram algo prévio às relações que unem e distinguem os três. O doutor de H ipona estava bem consciente de não ter encontrado a solução satisfatória ao problema que se tinha colocado. A idéia de relação subsistente vai nos dizer — como já sabemos — que não há na pessoa divina nada que seja prévio à relação.
3. 0 Pai, pessoa absoluta?

Tudo isso tem seu interesse atual porque, por uma parte, a definição da pessoa divina como relação foi contestada25. Além disso, em concreto, a dificuldade aparece com especial gravidade em relação ao Pai. "O Pai... não pode ser constituído a partir de uma relação. Tèm de ser constituído por si mesmo.”26 A razão é que não procede de nenhuma outra pessoa. E com efeito, como no Pai está a origem e a plenitude da divindade, à primeira vista parece coerente que essa posse original da divindade seja anterior a seu ser pólo de uma relação pessoal. Assim se expressa Y. Congar, sem insistir especialmente nisso27. Outros autores católicos, com diferentes matizes, no legítimo intento de acentuar a posição do Pai como fonte
25. Recordemos o que foi dito a propósito de J. MOLTMANN, para quem a identificação da pessoa com a relação de Sto. Tomás seria, no fundo, modalista: Cf. Trmitat und Reicb Gottesy Munique 1980, 189. 26. MOLTMANN, op. cit., 182. 27. CONGAR, La Parola e il Soffio, Roma, 1985,138: aO Pai é a fonte da divindade, antes de ser (logicamente falando) pólo de oposição pessoal. E o que confessa o Símbolo: Creio em Deus (divindade fontal) Pai onipotente”. N aturalm ente podemos perguntar se o Pai não é fonte da divindade precisamente enquanto pólo das relações. Cf. mais adiante.
da divindade, seguiram uma linha semelhante28. Também em alguns textos de W. Kasper aparece o conceito de “pessoa absoluta” aplicado ao Pai, que, como já notam os, é para ele o Deus uno29: segundo o teólogo alemão, a pessoa humana só pode alcançar sua plenitude quando se encontra com uma pessoa que, não só em sua pretensão intencional mas também em seu ser real, é infinita. Um conceito adequado da pessoa como “estar-aí” irrepetível do ser leva necessariamente ao conceito da pessoa absoluta, divina30. Porém não se deve tirar do contexto essas afirmações de W. Kasper. N ão se trata de falar do Pai como a pessoa absoluta, diferentem ente do Filho e do Espírito, e sim do problema filosófico da personalidade de Deus como “absoluto”, ao qual se poderia chegar pela razão. Dado o pressuposto teológico a que nos referimos, esse “absoluto” seria o Pai. M as essa é uma questão diversa do problema trinitario das relações entre as três pessoas divinas. Para Kasper, quando se chega à visão de Deus como plena Uberdade — porque a pessoa é relação —, supera-se uma concepção que ficaria no meramente substancial31. Também para ele é claro que a pessoa é relação, e que nesta se encontra a expressão mais alta do ser. N ão exclui em nada o Pai nessa apreciação geral. Com distintos acentos temos portanto a idéia de que o Pai é princípio e origem de toda a Trindade, segundo uma concepção que deriva da mais antiga tradição da Igreja. Em algumas interpretações atuais dessas afirmações

28. Cf. G. GIRONÉS, La divina arqueologia, Valência, 1991, 25: “A origem de tudo é o Pai, não da Trindade em si mesma, como drculo fechado de sua própria reciprocidade. Isso quer dizer que o Pai explica e justifica sua existência por si mesmo, sem referência ao Filho e ao Espírito Santo”; 31: “A pessoa do Pai está pois constituída por sua livre abertura a toda comunicação (de amor), a toda relação a outro. Tem essa faculdade originariamente (sem dependência alguma) mas não teria sido reconhecido se não se expressasse em um diálogo com o Filho e o Espírito Santo, e com as mesmas pessoas da criação”; 43: "... o Pai eterno é princípio de tudo de uma dupla maneira: absoluta e relativa. É o princípio absoluto enquanto sua pessoa é a original identidade com a essência divina; é o princípio relativo enquanto livremente se quis comunicar, constituindo os ‘O utros’ como term o de relação”. Ver também 21-31; 37-44. Alguns teólogos ortodoxos falam do Pai em termos que ao menos à prim eira vista são semelhantes. Ver Y. SPITERIS, La doctrina trinitaria nella teologia ortodossa. A utori e prospettive, in A AMATO (ed.) Trinità in contexto, Roma, 1993, 45-69. 29. Opção não isenta de problemas, como já insinuamos. Cf. PANNENBERG, Teologia sistemática, M adrid, 1992,1, 353, que questiona em concreto (Ibid. n 204) se Kasper leva suficientemente em conta que a idéia de Deus como Pai está condicionada desde o princípio por sua relação com o Filho. Em seguida trataremos da posição de Pannenberg sobre este ponto. 30. Cf. Der Gottjesu Cbristi, 195, também 192: Deus é a liberdade e a pessoa absoluta. 31. Cf. Ibid., 195-196.
clássicas, tende-se a ver na pessoa do Pai algo “prévio” à relação ou referência ao Filho e ao Espírito Santo. O Pai não seria assim pura relação, embora sua pessoa tenha certamente uma dimensão relacional. Seria (logicamente, não temporalmente) antes de ser Pai — a referência ao Filho e ao Espírito Santo viria em um segundo momento. Seria convincente essa tese? Antes de responder devemos ter em conta outros aspectos do panorama teológico contemporâneo que nos mostrarão uma direção oposta.
4. As processões divinas em questão
N esse panorama atual nos deparamos, com efeito, com alguma posição que parece radicalmente oposta à que acabamos de expor. Assim, W. Pannenberg opõe-se à diferenciação das pessoas em D eus segundo suas relações de origem . Pensa que esse modo de proceder leva a posições subordinadonistas, pois por uma parte coloca o Pai com o princípio e fonte da divindade, e, por outra parte coloca as outras duas pessoas cuja divindade está subordinada à do Pai e dela depende. Esse tinha sido o caminho seguido pela patrística grega e tam bém pela teologia ocidental, a partir de Agostinho, que, com sua analogia psicológica, interpreta o Filho e o Espírito Santo como expressões da autoconsdênda e da auto-afirmação do Pai32. P o r outro lado, observa o mesmo autor, do ponto de vista bíblico a noção de “geração” não mostra com clareza a pertença de Jesus ao mundo de Deus; põe-se em relação antes com o momento do batismo de Jesus, em que ele inicia sua atuação pública. Mais importância teriam nesse sentido as passagens que se referem ao envio do Filho ao mundo por parte do Pai33. Mas os term os de origem não dão conta com justiça da reciprocidade das relações entre as pessoas divinas34. Pannenberg apóia-se sobretudo em Atanásio, que insiste muito (mas evidentemente não é o único a fazê-lo) em que sem o Filho o Pai não é tal: a divindade do Pai estaria por conseguinte “condicionada” ao Filho35. N ão podemos falar de Deus Pai sem Deus Filho, e tampouco sem Deus Espírito Santo.

32. Cf. PANNENBERG, op. cíl, 328s. 33. Ibid., 332s. 34. Ibid., 346; o Pai é Pai só na relação, Ibid., 337. 35. Ibid., 349; PANNENBERG cita ATANÁSIO, C. Arian. 1 20 (PG 26,55): “Pois se o Filho não tivesse existido antes de ter sido gerado, a verdade não teria estado sempre em Deus. Mas essa é uma afirmação injusta. Pois quando existia o Pai sempre estava com ele a verdade que é o Filho, o qual diz: Eu sou a verdade 0o 14,6)”. E comenta: “Com essas atre
Certamente esse princípio está solidamente ancorado na tradição. Pôde ser estabelecido com clareza depois do Concílio de N icéia, quando se refletiu mais explicitamente sobre a eternidade do Filho e sua igualdade com o Pai. As relações em Deus são recíprocas, e, por conseguinte, se não pode subsistir o Filho sem o Pai, tampouco pode subsistir este sem aquele e sem o Espírito Santo. Mas é necessário para isso abandonar por completo a idéia das relações de origem? N ão apontam a elas, de algum modo, os próprios nom es de Pai e Filho, não só de indubitável raiz neotestamentária, senão que rem ontam ao uso do próprio Jesus? Pois, ainda que esses nomes tenham sua origem na experiência historico-salvífíca, terão algo a dizer- nos, sem dúvida, acerca da Trindade imanente. As três pessoas existem só em relação, e isso vale também para o Pai. Pannenberg observa que isso é assim não só a respeito da identidade pessoal dos “três”, mas também a respeito de sua divindade mesma. O Pai só possui o reino por meio do Filho e do Espírito36. Pannenberg não insiste só no condicionamento mútuo das pessoas em sua identidade e divindade mesma, mas também afirma que a plena revelação (e realização?) da divindade do Deus trino na consumação da historia salutis terá lugar na entrega ao reino ao Pai p o r parte do Filho (cf. ICor 15,24-28). Segundo ele, o problema da unidade do Deus trinitário não pode ser esclarecido considerando unicamente a Trindade imanente, anterior à criação, sem te r em conta a economia da salvação. Claro que a distinção entre Trindade econômica e Trindade imanente é necessária, porque Deus é o mesmo em sua essência eterna e em sua revelação, isto é, deve ser pensado tanto como idêntico com o acontecimento de sua revelação, como distinto dele. M as por outra parte pode-se também pensar na unidade do Deus trinitário prescindindo de sua revelação e da ação econômi- co-salvífica de Deus no mundo que se resume na dita revelação: Como a monarquia do Pai e seu conhecimento estão condicionados pelo Filho, resulta imprescindível incluir a economia das relações divinas com o

vidas idéias, Atanásio punha radicalmente em questão a compreensão habitual da divindade do Pai, segundo a qual essa divindade não está submetida a condição nenhuma, enquanto a do Filho e a do Espírito derivam dela. Mas não, a divindade do Pai está condicionada ao Filho; é esse que no-lo mostra como o único D eus verdadeiro (c. Arian, 3,9; cf. 7). Também Atanásio falava do Pai como ‘fonte’ da sabedoria, quer dizer, do Filho (1,9) mas de tal maneira que sem o Filho, que procede da dita fonte, não se pode chamar o Pai de Fonte”. 36. Ibid. 351: “Sem o Filho, o Pai não possui seu reino: só por meio do Filho e do Espírito tem sua monarquia. E isso não vale só a respeito do acontecimento da revelação, senão que, sobre a base da relação de Jesus com o Pai, devemos afirm á-lo também da vida interna do D eus trino”.
mundo na questão da unidade da essência de Deus. Ou seja, que a unidade de Deus não se esclareceu ainda com dizer que seu conteúdo é a monarquia do Pai. Se a monarquia do Pai não se realiza diretamente como tal, mas só por meio do Filho e do Espírito, a essência da unidade do Reinado de Deus estará também na dita mediação. Ou inclusive mais: é essa mediação que define o conteúdo da essência da monarquia do Pai37.
Claro que para Pannenberg o Deus trino é perfeito em si mesmo já antes da criação. “Mas, com a criação de um mundo, a divindade de Deus e mesmo sua existência fazem-se dependentes da realização plena do destino do dito mundo com a presença do Reinado de Deus.”38 39 Como se vê, abre-se de novo a difícil problemática da relação entre a Trindade econômica e a Trindade imanente. Mas, prescindindo agora de todo esse complexo de problemas, atemo-nos a um significativo paralelismo que o autor destaca: a realização plena da soberania do Pai na consumação escatológica passa pela entrega que o Filho lhe faz de seu reino (o Filho ao qual, por outra parte, o Pai submeteu todas as coisas); na Trindade imanente não cabe falar da divindade do Pai sem a do Filho e a do Espírito que a “condicionam”. Tudo isso não afeta a “monarquia” do Pai, mas é o único modo para que ela possa realizar-se. Monarquia não significa superioridade por um lado (do Pai) e subordinação por outro (do Filho e do Espírito Santo). Também no campo da teologia católica encontraram eco algumas das afirmações de Pannenberg. Sem entrar no espinhoso problema das relações da Trindade com a história, G . Greshake considera que a doutrina clássica das processões é um obstáculo a considerar a Trindade como comunhão, e a unidade divina como unidade na relação e não como algo
“prévio” a ela; daí o questionamento do princípio tradicional, recolhido em diversas intervenções magisteriais, do Pai como princípio da divindade” . O conceito das processões pôde ter sido necessário em um horizonte

37. Ibid. 354; também 358ss. PANNENBERG rejeita a idéia do devir em Deus na história, mas na p. 359 escreve: “A divindade etem a do Deus trinitário, como também à verdade de sua revelação, falta ainda sua confirmação na história”; e na p. 360: “a consumação da história é que decide sobre a dita verdade”. Sobre a concepção da história de Pannenberg, que determ ina em grande medida essas idéias sobre a confirmação da verdade de Deus, cf. entre outros escritos, La revelación como historia, Salamanca, 1977; D er G ott der Geschichte. Der trinitarische G ott und die W ahrheit der Geschichte, in Grundfragen systematischer Theologie, Göttingen 1980, vol. 2, 112-128. 38. ID ., Teologia sistemática, 1 424. 39. Cf. G. GRESHAKE, Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg-Basel- wien, 1997, 190ss.
unitário, mas hoje já não seria. Por isso Greshake mostra-se crítico em relação à corrente fortem ente representada na teologia católica que fez partir a teologia trinitária do Pai como princípio e fonte da divindade, do qual procedem o Filho e o Espírito40. Não há na Trindade uma linha unilateralm ente descendente, porque o Pai recebe do Filho o ser Pai, nenhum dos dois existe sem o Espírito, que se recebe a si mesmo como relação do Pai e do Filho e glorifica a ambos41. Contudo, Greshake está bem consciente da peculiaridade da pessoa do Pai, que vê em ser ele dom original (Ur-Gabe), o que significa que é o que dá à comunhão trinitária seu fundamento e sua consistência, que a mantém e sustém como uma. Mas insiste que isso não significa que o Pai seja o princípio de um processo genético, mas que essa posição da primeira pessoa é pensável somente em relação com as outras duas pessoas e nunca com independência delas42. De fato podemos indagar se a concepção clássica das processões, enquanto se coloca em últim a relação com as relações constitutivas das pessoas, não acentuou também uma posição permutável delas quanto às características de dar e receber de cada uma delas. O Pai, como seu nome relativo indica, não pode ser pensado sem o Filho (e sem o Espírito Santo). Essas posições de teólogos ocidentais recentes, que tendem a reduzir o valor das “processões” intratrinitárias, e portanto a relativizar a afirmação clássica do Pai como origem e fonte da divindade, têm de certa maneira um precedente no teólogo ortodoxo russo S. Bulgakov43. Para ele é um erro falar das processões em term os de “produção”. N ão se deve colocar a questão da origem, porque na Trindade ninguém a tem, todas as pessoas são igualm ente eternas, e por outra parte falar de origem lógica mas não cronológica é para ele tuna solução que não convence. O Pai portanto não é “causa” — essa noção não existe no divino. Cada pessoa se autodetermina e produz a si mesma44. O s nomes designam as correlações concretas entre as hipóstases: a paternidade não se limita à geração; além disso deve-se te r presente que as relações são sempre trinitárias, não basta para definir o Pai

40. Cf. Ibid. 194, com referência a W. Kasper e a H. U . von Balthasar. 41. Cf. Ibid. 186. Nesse contexto Greshake fala também da “monarquia” do Pai, que não é pressuposto, senão resultado da atuação pericorética cem junta das pessoas, Ibid. n. 498. 42. Cf. Ibid. 207s. D iante dessa caracterização do Pai como dom original, o próprio Filho é “ser com o acolhida” (Dasein ah Empfang), no reconhecimento e correspondência do dom em sua transmissão ulterior. O Espírito Santo se caracteriza, por uma parte, com o o puro receber, e por outra como a união do Pai e do Filho; ibid., 208.210. Se descobre aqui, sem dificuldade, ecos da teologia de Ricardo de são Vítor. 43. Cf. S. BULGAKOV, llParadito, Bologna, 1987 (o original é de 1936), 272ss. 44. Cf. Ibid., 285s.
a relação com o Filho, senão que tem de entrar também o Espírito Santo41. Assim o Pai é relativo ao Filho como o que o gera, e relativo ao Espírito Santo como o que o expira. Bulgakov reage também contra a idéia de “co- num erar” as processões: a geração e a expiração não têm um denom inador com um de processão. Cada uma delas é o que é. Só assim se vê que tudo está em relação com os três; com as duas processões cinde-se um ato trinitário único. Mas, ao mesmo tem po em que reage contra essa questão de origem, o teólogo russo insiste muito fortem ente na primazia do Pai e em seu posto especial: é o centro ontológico e lógico da união que forma os três centros hipostáticos da Trindade, é o que se revela nas outras hipóstases. P o r isso a hipóstase inicial44, fundamental, é propriamente o sujeito, as outras duas são predicado e cópula45 46 47. O Pai tem assim um aspecto fixo, é sem pre o prim eiro, enquanto os postos da segunda e da terceira hipóstases seriam reversíveis48. O Filioque sobre o qual Bulgakov mostra-se relativam ente aberto viria contudo privar o Pai dessa posição peculiar de ser o único que se revela, enquanto os outros dois revelam-no a ele49 50. 0 que são a segunda e terceira hipóstases depende assim do que é o Pai e a outra hipóstase co-reveladoraso. Naturalmente não é esse o momento de dar um juízo sobre toda a teologia trinitária de Bulgakov, decerto hem complexa. Ficamos com o fato de que não se pode entender o Pai sem as outras pessoas, e portanto sem a relatividade que lhe é própria. A característica de
“hipóstase inicial’’ do Pai resulta claramente em relevo, e apesar da crítica a certas maneiras de entender as processões divinas continua-se a usar as noções de geração e de expiração.

5. O Pai, princípio relativo
Essa breve exposição do pensamento de alguns teólogos im portantes dos últimos anos mostra-nos, talvez simplificando um pouco, essas duas correntes contrapostas. Uma que insiste na posição relevante do Pai en
45. Ibid., 291ss. O problema das processões e das relações significa para Bulgakov o prim ado da natureza sobre as hipóstases. Porém no ser tri-hipostático de Deus não há nenhum neutro, não se dá o “isso”. 46. Cf. Ibid., 139; 136ss, contra a idéia de causalidade. 47. Cf. Ibid., 284, 356. 48. Ibid., 162s. 49. Ibid., 285ss. 50. Ibid., 303ss.
quanto princípio da Trindade, que leva em alguns casos até a considerá-lo uma pessoa “absoluta”, isto é, um ser que de algum m odo seria “prévio” (lógica, não cronologicam ente é claro) a suas relações com as outras pessoas. O utra corrente, por tem or de subordinacionismo que pode acompanhar a idéia de processões e de relações de origem, pensa que se deve abandonar essas categorias para poder chegar a um conceito da unidade de Deus que se funde na perfeita comunhão das três pessoas. Mas ainda assim não se exclui que seja próprio do Pai o am or e a doação originais, aos quais correspondem o Filho e o Espírito Santo, cada um a seu modo. C ertam ente devemos evitar fazer do Pai uma pessoa absoluta, e considerá-lo com independência do Filho e do Espírito Santo. É o próprio nome de Pai que nos impede de considerá-lo sem relação intrínseca ao Filho e ao E spírito Santo. Sem eles o Pai simplesmente não é. O fecundo conceito da pessoa como relação subsistente vem uma vez mais em nossa ajuda. Para Sto. Tomás, lembremos, é a relação mais do que a processão o que constitui a pessoa. M as, ao mesmo tem po, o princípio segundo o qual o Pai é a origem e a fonte da Trindade está tão fortem ente ancorado na tradição que não parece possível prescindir dele. A reciprocidade das relações faz que se possa evitar todo subordinacionismo, sem renunciar à doutrina tradicional das processões, ou, preferindo não usar o conceito genérico, da geração e da expiração. O Pai não é mais que Pai, não é mais que enquanto gera o Filho (e é princípio do Espírito Santo). Só o Pai é fonte, por mais que seja verdade que sem o Filho e o Espírito Santo que procedem dessa fonte não pode o Pai receber esse nome. Deve-se afirm ar ao mesmo tem po duas coisas: o Pai é a única fonte e princípio da divindade, como também que não existe nem pode existir sem o Filho e o Espírito, e nesse sentido está referido a eles, como o Filho e o E spírito estão referidos ao Pai. O Concílio X I de Toledo, do ano 675, afirma: O que o Pai é, não o é a respeito de si mesmo, senão do Filho; o que o Filho é, não o é a respeito de si mesmo, mas do Pai; de maneira semelhante também o Espírito Santo não se refere a si mesmo, mas relativamente ao Pai e ao Filho, ao ser chamado Espírito do Pai e do Filho51.

51. "Quod enim Pater est, non ad se, sed ad Fîlium est: et quod Filius est, non ad se, sed ad Patrem est; sim iliter et Spiritus Sanctus non ad se, sed ad Patrem et Filium relative refertur, in eo quod Spiritus Patris et Filii praedicatur.” (DS 528). E também "... quia nec Pater sine Filio, nec Filius aliquando existit sine Pâtre. E t tarnen non sicut Filius de Pâtre, ita Pater de Filio, quia non Pater a Filio, sed Filius a Pâtre generationem acceptf...” (DS 526).
A prim eira pessoa da Trindade, sendo a única fonte e princípio da divindade, é isso enquanto se refere ao Filho e ao Espírito Santo, enquanto está em relação com eles; isto é, o Pai é só enquanto é doação original de si mesmo. A fonte prim ária da divindade é pura doação com pleta ao Filho e ao E spírito. Acredito que, com todas as dificuldades que sem dúvida se acumulam para nossa inteligência, devemos m anter esses dois extremos: tudo vem do Pai, que só é enquanto princípio do Filho e do E spírito. A partir da economia salvífica que nos faz conhecer o Pai precisam ente enquanto nos dá o Filho, podemos e ainda devemos tentar, sem pre com tem or e trem or, um olhar para a Trindade em si mesma. O am or fontal do Pai é o que entrega tudo ao Filho” . E, se na econom ia é o am or que tudo move, também no âmbito intratrinitário esse fato deve encontrar uma correspondência e um fundamento. O Pai não é uma pessoa fechada, senão que é desde sempre aquele que, entregando-se, dá o ser ao F ilho e ao Espírito Santo. O amor, que tem no Pai sua fonte, é o princípio interno da vida da Trindade que faz o Pai enviar o Filho que antes já amou (Jo 17,24). Tudo sucede na vida trinitária na radical gratuidade do am or que as pessoas se perm utam (o que não exclui na vida íntim a de Deus a "necessidade”) de que é reflexo a gratuidade da criação e da redenção, porque nem a criatura nem o pecador têm direito algum a tuna coisa nem a outra” . A possibilidade da encarnação do Filho, de fazer-se mutável “no o u tro ”52 53 54, para que todos os homens possam chegar a ser filhos de Deus (cf. G 14,4-6), fimda-se na gênese intratrinitária, no am or do Pai que, ao g erar o Filho, não retém para si só ser Deus. A entrega do Filho ao m undo por amor funda-se portanto nessa entrega intratrinitária. Se o Filho revela o amor do Pai, não será equivocado pensar que m ostra tam bém em sua entrega por nós a capacidade infinita de autodoação do Pai55. A entrega do Filho funda-se no amor abissal do Pai, que é capacidade infinita de doação e de amor, am or substancial para o qual necessita do amado gerado na autodoação, e para dem onstração

52. Cf. PANNENBERG, op. d t , 339; apesar das reservas sobre a idéia de processão, resulta evidente a inidativa do Pai. 53. C f BALTHASAR, op. d t, 128. C f a continuação 130: esse amor não é cego, senão mais sábio do que se possa pensar. 54. C f RAHNER, Grundkurs des Glaubens, Freiburg-Basel-W ien, 1976, 217-219. 55. COADSSIO TH EO LO G ICA INTERNATIONALIS, Teologia-Cristologia- Antropologia, Greg 644 (1983) 5-24,23, há íntima correspondênda entre o dom da divindade do Pai ao Filho e o dom do pilho ao abandono da cruz. C f BALTHASAR, op. d t, 259; Tbeodramaúk IV. Das Endspiel, Einsiedeln 1982, 106s.
gratuidade plena necessita tam bém do “terceiro” fruto e testem u- j^ih o da unidade do am or que gera e agradece56. O Pai é fonte da divindade, enquanto é amor fontal, referido de todo £ to Filho e ao Espírito Santo. N ão há um ser “absoluto” do Pai anterior a e s s a paternidade fontal; também sua pessoa é a relação que implica necessariam ente a reciprocidade das outras duas pessoas; mas ao mesmo tem po n ã o parece que se possa deixar de dizer que o Filho e o Espírito Santo recebem dele o seu ser. O Pai é Pai precisamente enquanto dá tudo, enquanto dá ao Filho toda a sua substância, não em parte (cf. Concílio IV de
X atrão, DS 805). E evidentemente enquanto é princípio do Espírito Santo . Em C risto o Pai manifesta-se como justo, bom, rico em misericórdia, nas palavras e nos atos de Jesus, que constituem, juntos e inseparavelmente, a revelação total do Pai (cf. DV 2,4). A geração do Filho e a processão do
Espírito Santo não implicam, de si, subordinação: Um princípio só pode ser perfeito se é princípio de tuna realidade que o iguale. Os Padres gregos gostavam de falar do “Pai-causa”, mas trata-se somente de um termo analógico, cuja deficiência nos permite medir o uso purificador do apofatismo: em nossas experiências, a causa é superior ao efeito; em Deus, ao contrário, a causa como cumprimento do amor pessoal não pode produzir efeitos inferiores: quer que sejam iguais em dignidade: a causa mesma é a causa de sua igualdade... O Pai não seria pessoa, em um sentido verdadeiro, se não fosse pros, para, totalmente voltado para outras pessoas, comunicado inteiramente a elas, às quais faz pessoas e portanto iguais, pela integralidade de seu amor57.

Creio que essa passagem resume admiravelmente o que tivemos ocasião de ver em nossa breve exposição da história da teologia dos primeiros séculos, sobretudo da que se desenvolve depois de Nicéia.
56. BALTHASAR, Tbeologik III. Der Geia der Wabrbeü, 404: “O Pai divino é mais que ‘benevolência’, ‘fidelidade’, ‘misericórdia’, isto é, é amor substancial em si mesmo (e não só diante da criatura), para o qual necessita do amado gerado na autodoação, e para demonstração do perfeito desprendimento da unidade dos dois necessita também do ‘terceiro’, o fruto e o testemunho do amor que gera e agradece”. Cf. também Ibid., 406; Ibid., 145: “A doação eterna dá-se a entender como um ato de amor impensável, que o Filho como tal recebe, e não passivamente como o Amado, senão que, dado que ele como Amado do Pai recebe sua substância, ao mesmo tempo é amante como o Pai, amante em correspondência que responde de todo ao amor do Pai, preparado para tudo no amor”. O Pai só pode ser na eterna correspondência do Filho e do Espírito Santo. 57. V. LOSSKY, citado por B. BOBRINSKOY, Le mystíre de la Trinité, Paris, 1986,
268s.
A fé e a teologia cristãs chegaram a essa convicção de que o Pai é no seio da Trindade o princípio sem princípio e o amor originário a partir da missão de Jesus ao m undo. Deus, conhecido agora como o Pai de Jesus, é aquele que por meio de seu Filho criou o mundo; em virtude de sua paternidade pode ser criador. O Pai é p o r último aquele a quem o Filho entregará o Reino n o final dos tempos (cf. IC or 15, 24-28). “Tudo vem dele, passa p or ele e vai para ele. A ele a glória pelos séculos” (Rm 11,31)38.
O FILHO, A PERFEITA RESPOSTA AO AMOR DO PAI
A referência do Filho ao Pai é tão total quanto a do Pai ao Filho. Além disso, de nosso ponto de vista, essa referência é ainda mais evidente, porque em nossas categorias, tiradas da experiência humana, a existência de quem é Pai não depende da de seu filho, mas ao contrário. Já sabemos que em Deus as coisas não são assim. Mas é claro que para nós é mais fácil considerar o Filho como constituído por sua relação ao Pai (e ao Espírito) do que vice-versa. Não pode haver nele nenhum ser prévio à filiação. Se o Deus do Antigo Testamento é conhecido como Pai de Jesus a partir da vida, m orte e ressurreição deste últim o, Jesus mesmo, em sua revelação do Pai, m ostra-se a nós como o Filho em uma relação peculiar com Deus que não partilha com ninguém. E ele, segundo o Novo Testamento, o “Filho único”. Entre os diversos títulos cristológicos, o de Filho de D eus ocupa já um papel especialmente relevante no Novo Testamento, e seguindo essa linha foi privilegiado na tradição. Foi assim porque já desde o princípio se entendeu que a relação irrepetível com Deus Pai, expressa no term o “F ilho”, revela-nos o mais profundo do ser de Jesus. O s outros títulos recebem à luz deste sua explicação definitiva. E, segundo a reflexão posterior, se o Pai é a paternidade subsistente, o Filho é a filiação subsistente, a re lação oposta à paternidade que constitui a pessoa do Pai. Também não devemos esquecer que suas relações com o Espírito Santo são igualm ente 58

58. Para completar a exposição acrescento as referências de algumas das principais declarações do Magistério sobre Deus Pai (OS números referem-se à DS). E o “princípio sem princípio” tudo o que tem , tem -no de si mesmo: 1.331; não vem de nenhum outro: 75; 441; 485; 490; 525; 527; 589; 800; 1.330. O Pai é o que gera o princípio e a fonte de toda divindade: 284; 525; 568; 3.326. O Pai gera o Filho de sua substancia: 470; 485; 525-526; 571; 617; 805; 1.330; sem diminuição de si mesmo dá tudo ao Filho, 805. O Pai como criador 27-30; 36; 40-51; 60; 125; 150. Dele tudo procede: 60; 421; 680; 3.326. Cf. DS 861; RAHNER, El Dios trino como principio y fundamento trascendente, 399-401.
constitutivas da pessoa do Pai e da pessoa do Filho, mas estas aparecem menos em prim eiro plano, pois como notou Sto. Agostinho essas relações não aparecem no nom e “Espírito Santo”.
1. O Filho, o Amado do Pai que corresponde a esse amor
Jesus, o Filho, é antes de tudo o objeto prim eiro do am or do Pai. A proclamação de Jesus como Filho e com o amado estão juntas no Novo Testamento em diferentes ocasiões. D e particular im portância é a voz do céu no momento do batismo de Jesus: “T u és meu Filho amado, em ti me comprazo” (Mc 1,11; cf. M t 3,17; Lc 3,24), e também a voz que sai da nuvem na cena da transfiguração: “Este é meu Filho, o amado, ouvi-o” (Mc 9,7; cf. M t 17,5; L c 9,35 segundo algumas variantes). N os sinópticos aparece de novo a idéia na parábola dos vinhateiros assassinos: “ainda restava um, seu filho querido...” (M c 12,6; cf. Lc 20,13). Segundo Cl 1,13, Jesus, que nos liberta do pecado, é “o Filho de seu am or”. N o quarto evangelho aparece com muita freqüência a idéia do amor de Deus Pai por seu Filho: cf. Jo 3,35; 5,20; 15,9; 17,23-24.26, um amor ao qual Jesus corresponde, já que ele, por sua vez, ama o Pai (Jo 14,31). N ão temos por que pensar que esse am or se limita à economia salvífica. Ao menos na oração sacerdotal, fala-se do am or do Pai pelo Filho antes da criação do mundo (Jo 17,24). O amor do Pai pelo Filho foi recolhido na tradição. Orígenes uniu esse amor à processão eterna do Filho59 60. Já nos referimos ao am or como o princípio da geração do Filho em H ilário. Para Agostinho o Filho é o amado, junto ao Pai que é o amante, e o Espírito Santo que é o próprio amor*0. Também para Ricardo de São Vítor, o Filho é o prim eiro objeto do amor do Pai, o sumrne dilectus, amor ao qual o Filho responde61. O Pai dá ao Filho por amor tudo o que é, tudo o que tem 62, seu ser divino, que se no Pai se manifesta em entrega e doação, no Filho é aceita

59. Cf. por exemplo, In Job. X X X II10, 121 (SCh 385, 240) o Filho da bondade paterna e de seu amor. C f A. ORBE, Hacia la primera teologia de laprocesián dei Verbo, Roma, 1958. 398ss. 60. Trin V m , 10,14 (CCL 50,290s); a correspondência do amor por parte do Filho expressa-se em VI 5,7 (236) “unus diligens eum qui de illo est e t unus diligens etim de quo est e t ipsa dilectio”. 61. RICARDO de São Vítor, Trin. m 7 (SCh 63,180ss). 62. E chega a dar tudo para dar tudo com o Filho (processão do Espírito Santo, do Pai e do Filho na visão ocidental). Cf. BALTHASAR, Tbeohpk U, 150s.
ção e correspondência. Paternidade e Filiação ap arecem em sua implicação mútua. U m a não existe sem a outra, ainda que à prim eira corresponda a primazia do am or original. O Filho é o perfeito reflexo de seu ser e de seu amor, porque o am or com que o Pai se dá ao Filho é a fonte da razão e da sabedoria, o sentido de todo sentido63. A correspondência do Filho ao amor do Pai manifesta-se na economia da salvação, no cumprimento total da vontade paterna (cf. Hb 10,7-9), na obediência de Jesus até à morte a morte, de cruz, que significa o grau máximo do esvaziamento de si (cf. F1 2,6-8). Ao responder em sua vida ao amor paterno e manifestar o amor que o Pai tem por nós, Jesus revela também o amor do Pai por ele. A partir desses dados do N ovo Testamento, alguns teólogos tratam de diversas maneiras de penetrar no m istério intratrinitário do amor do Pai e do Filho. Vale a pena deter-nos um instante no exame de algumas dessas tentativas. H . U . von Balthasar, partindo da correspondência que de algum modo se dá entre a economia e a teologia, chega a falar de uma kenose original das pessoas divinas em sua doação mútua: assim, só no fato da geração do Filho se daria no Pai mesmo uma espécie de esvaziamento de si, uma kenose primordial a que corresponderia a doação eterna total do Filho, a qual por sua vez encontraria sua expressão e manifestação na kenose histórico-salvífica de Jesus, o Filho encarnado, sua expressão e manifestação64. “O que rege entre Jesus e o Pai como mediação da missão é a forma econômica do acordo eterno entre o Pai e o Filho.”65 A iniciativa desse acordo corresponde ao Pai,

63. Ibid., 130: "Desse amor abissal que tudo funda, deve-se dizer ao mesmo tempo que é tudo menos cego; mais ainda que é o mais sábio e com isso o últim o sentido de todo saber e de toda razão”. 64. Theodramatik IV Das Endspiel, 106ss: “Deve-se dizer que essa (kenose da obediência),... encontra-se fundada na kenose das pessoas eternas, umas em relação às outras, como um aspecto entre os infinitos aspectos reais da vida eterna”. Cf. também Teodramática IV, La acción, M adrid, 1995, 300-304; Teodramática II, Laspersonas dei drama, 272 etc. Sobre esse aspecto do pensamento de von Balthasar, ver P. GILBERT, Kenose et ontologie, em M . M . O LIV ETTI (ed.) Philosophie de la religjon entre étbique et ontologie, Pádua 1996, 189-200, esp. 190-195. J. W ERBICK, G ottes Dreieinigkeit denken? H . U. von Balthasar Rede von den göttlichen Seihstentäusserung als M itte des Glauben und Zentrum der Theologie, TbQ 147 (1996) 225-240; V. HOLZER, Le Dieu Trinkt dans Pbistoire. Le differend tbéologique Bakbasar-Rabner, Paris, 1995, 238ss; P. MARTTNELLI, II mistero delia morte in H. U. von Balthasar, M ilão, 1996,342-351. G . MARCHESL, La cristologia trmitaria de H. U. von Balthasar, Brescia, 1997, 516-535. Como ele mesmo indica, Balthasar tom a a idéia de BULGAKOV, Le Verbelncamé, Paris, 1943. Cf. Teodramática, IV, 253; 289ss. 300. Sobre Bulgakov, cf. P. CODA, L’altro di Dio. Rivelazione e kenosi in Sergej Bulgakov, Roma 1998. làm bém Evdokimov tinha exposto idéias semelhantes. 65. Teodramática Hl, 468.
evidentemente, n u s isso supõe a aceitaçao das outras pessoas, a total coincidência do amor divino. Em Jesus dá-se uma identidade perfeita entre a espontaneidade no cumprimento da missão e a plena obediência com que a realiza. Essa identidade é mostra da perfeita co-divindade do Filho com o
Pai66. A entrega do Filho mostra a entrega que o Pai fez de tudo o que ele é. Há portanto uma perfeita correspondência entre o Pai e o Filho, e por isso o Filho é a imagem perfeita do Pai67. Porém o Filho, que na obediência realiza as obras do Pai (cf. Jo 10,37; 14,9-10), realiza também suas obias própnas, reflexo do amor fontal na obediência feita carne própria. W. Pannenberg por sua vez, refere-se à autodistinção do Filho a respeito do Pai: diferentemente do prim eiro homem, Adão, que querendo ser igual a Deus separou-se dele, Jesus, glorificando o Pai como Deus e não retendo avidamente o ser igual a Deus, encontra-se unido a ele (cf. F12,6)68 Essa autodistinção é também constitutiva para o Filho eterno em sua relação com o Pai69. Chegara a suas últimas conseqüêndas na morte do Senhor na cruz, em cuja aceitação Jesus se confirma como o Filho. Também o Pai, que ama o Filho, é afetado por essa morte em virtude de sua “compaixão”70. Da atitude histórico-salvífica de Cristo, que em sua obediência mostra a atitude contraposta a Adão, que pretendeu ser como Deus (cf. Gn 3,5; F12,6ss), Pannenberg tira a conseqüência de que a submissão à divindade do Pai é já constitutiva do ser divino intratrinitário do Filho. J. M oltmann vê também a obediência eterna do Filho ao Pai manifestada e realizada na cruz. O sacrifício do amor sem limites encontra-se já incluído na permuta de amor que constitui a vida divina da Trindade. O fato de que Jesus m orra e se entregue na cruz encontra-se em relação com a obediência eterna, na qual se entrega inteiramente ao Pai71. Desde sem-

66. Ibid., 467s. 67. O que significa essa paternidade na eternidade pode-se entrever na missão do Filho, cuja tarefo é revelar o amor do Pai que vai até ao fim... Essa paternidade não pode ser senão a entrega de tudo o que é o Pai... Enquanto Deus, o Filho deve ser igual ao Pai, apesar de provir do Pai, e como o Pai expressou no Filho todo o seu amor sem reservas, é o Filho a perfeita imagem do Pai”. 68. Cf. sobre esse tema em Pannenberg, ver LADARIA, Adan y Cristo en la “Teologia sistemática” de W. Pannenberg, RET 57 (1997) 287-307. 69. Cf. Teologia sistemática /, Madrid, 1992, 336s; 348: “Só no caso do Filho tem a autodistinção o sentido de que outra pessoa, da qual diferencia a si mesmo, isto é, o Pai, seja para ele o único Deus, fundando-se sua própria divindade justamente nessa sua submissão à vontade do Pai”. 70. Ibid. 340s. 71. Trinität und Reich Gottes, 184: “Por outra parte o sacrifício do amor sem fronteiras do Filho no Gólgota está desde sempre incluído no intercâmbio de amor essencial que cons-
pre o amor d o Pai que dá à luz o Filho é o amor que dá e gera. O am or do Filho é o da resposta, frente ao do Pai, que dá tudo72. Estas e semelhantes considerações não carecem, em princípio, de legitim idade; bem ao contrário, mas parece necessário um discernim ento sobre elas. P o r uma parte, é claro que se deve ver na vida da Trindade im anente e n a permuta de am or entre as pessoas a condição de possibilidade da projeção do am or de D eus ad extra na economia salvífíca. Mas não aparece com a mesma clareza que se deva interpretar tudo o que ocorreu na vida de Jesu s como reflexo temporal de um “dram a” eterno. Pode resultar difícil levar até esses extremos a correspondência entre a Trindade econômica e a Trindade im anente. Esta última, como já tivemos ocasião de observar, nem se esgota na economia salvífíca, nem é completada ou levada à perfeição por ela73. O que na economia da salvação se realiza fundamenta-se decerto na vida interna de Deus, mas é fruto da soberana liberdade divina. Ambos os extremos devem ser m antidos. Certamente, “entre o Filho na vida etema de Deus e o Filho na história terrestre de Jesus, dá- se uma íntim a correspondência, mais ainda uma identidade real, que se nutre com a unidade e a comunhão filial de Jesus C risto com Deus P ai”74 75. M ais ainda, “na vida interna de Deus está presente a condição de possibilidade daqueles acontecimentos que, pela incompreensível liberdade de
Deus, encontraremos na história da salvação do Senhor Jesus C risto”” . O

titui a vida divina da Trindade. Que o Filho morra na cruz, e nisso entregue-se a si mesmo, está incluído em sua obediência etem a, pela qual se entrega ao Pai segundo todo o seu ser, mediante o E spírito que recebe do Pai. A criação está salva e purificada na eternidade no sacrifício do Filho, que é o fundamento que a sustenta”. 72. Ibid.: “O Pai ama o Filho com amor paterno, que produz. O Filho ama o Pai com um amor que responde, que se submete”. Cf. também GRESHAKE, op. d t., 208. 73. Cf. entre outros, as observações que fazem às teses de von Balthasar, H . VOR- GRIMLER, Doclrina teológica de Dios, Barcelona, 1987, 193-194; L. SCHEFFCZYCK, Der GottderOffènbarung. Gotteslebre, Aachen, 1996,409-410; HOLZER, op. d t., 238; 257; GRESHAKE, op. d t., 280s., que faz notar também como em outros momentos de sua obra o próprio von Balthasar relativiza essa tese. Creio que é m elhor, como faz o Novo Testam ento, reservar a terminologia da kenose ao esvaziamento de si do Filho na encarnação, sem querer projetá-la em um evento trinitário original ao qual não temos nenhum acesso direto que nos garanta a perfeita correspondênda com e economia. Também aqui devia-se aplicar o que foi dito sobre a “segunda parte” do “axioma fundamental” de K. Rahner (cf. c. 2). O utros usos analógicos do term o kenose referidos, por exemplo, ao certo ocultamento de Deus na criação, ou ao “anonimato” do Espírito que atua na Igreja sem fazer-se visível, oferecem mais semelhança com a kenose histórico-salvífica do Filho a que explidtam ente se refere o Novo Testamento. 74. COM ISSIO THEOLOGICAINTERNATTONALIS, op. d t., 19. 75. Ibid. 11; O texto continua: “Portanto, os grandes acontecimentos da vida de Jesus expressam para nós manifestamente, e fazem eficaz de um modo novo, o colóquio da geração eterna em que o Pai diz ao Filho: ‘Tu és meu Filho, hoje te gerei’ (SI 2,7 cf. At 13,33;
amor de Jesus, manifestado na entrega de si até a m orte em obediência ao Pai, será o reflexo do am or do Pai mesmo que encontra no Filho sua resposta. Sem que seja necessário falar de kenose ou despojamento, é cerm que podemos pensar que o amor do Pai ao Filho é o de doação total, embora não possamos conhecer as modalidades dela. Uma vez que quem vê Jesus, que se entrega até o fim, vê o Pai (cf. Jo 14,9), essa conseqüênda é legítima. A obediência de Jesus até a m orte, e m orte de cruz, é também, nesse sentido, mostra de sua perfeita acolhida ao amor do Pai, de seu ser em total gratidão e correspondência.
2. O Filho como Logos e imagem de Deus
O Filho, primeiro objeto do amor do Pai, é, enquanto tal, o que o dá a conhecer. A tradição, com clara base no lestam ento, falou do Filho como Logos (Verbo, Palavra) e imagem do Pai. A idéia da revelação está subjacente a esses dois títulos. Sem dúvida há entre eles uma íntima relação. Se o primeiro refere-se primariamente ao aspecto da audição (cf. também Mc 9,7 par.), é a visão o que aparece mais diretam ente posto em relevo no segundo. A imagem do Logos vem, como é sabido, do prólogo do Evangelho de João (cf. Jo 1,1.14; também ljo 1,1; Ap 19,13). As noções veterotes- tamentárias da palavra e da sabedoria de Deus, que já nos são conhecidas, estão sem dúvida na raiz do uso desse conceito no Evangelho, ainda que possa ter influído também a filosofia religiosa de Füon de Alexandria, por sua vez também inspirado nas mesmas fontes do Antigo lestam ento76. A noção de Logos é também conhecida na filosofia helenística. M as naturalmente há novidade radical no conceito joanino: o Logos estritamente pessoal que é o Filho de Deus encarnado. W. Kasper observa que, ainda com essa diferença fundamental no conteúdo, se dá entre a noção filosófica e a neotestamentária do Logos uma certa afinidade formal: o Logos mostra- nos o sentido do m undo, a revelação do ser no pensamento e na palavra77. Não vamos repetir o que foi dito em nossa breve exposição da história da teologia trinitária. A idéia do Logos serviu já desde os apologetas para iluminar a geração do Filho pelo Pai, por m eio de um a analogia

H b 1,5; 5,5 e Lc 3,22)”. Também, ibid., 23: “o dom da divindade do Pai ao Filho tem uma íntim a correspondência com o dom do Filho ao abandono da cruz”. Ver nota 55. 76. Cf. R. SCHNACKENBURG, El evangelio según um Jutm I, Barcelona 1980, 306-308. 77. Cf. Der Gottjesu Cbristi, 230ss.
inspirada n a mente humana e não na geração carnal. Agostinho tem atizou em seu De Trinitate, em especial no últim o livro78, as relações entre a palavra in te rio r do hom em e a exterior. A palavra exterior é o sinal da que brilha dentro; quando falamos do que sabemos é como se a palavra nascesse em nós: há um a palavra que está antes do som. Esse esquema se aplica a D eus: E assim a palavra de Deus Pai é o Filho unigénito, em tudo igual ao Pai, Deus de Deus, luz de luz, sabedoria da sabedoria, essência da essência. Ao pronundá- la o Pai gerou, e porque se expressava a si mesmo, sua Palavra é em tudo igual a si mesmo79.
Para Tomás, que segue Agostinho80, “Verbo” é também um term o relativo, com o o é o de Filho. É relativo àquele de quem é o Verbo. P o r essa razão, pode ser nome pessoal do Filho, já que não é um nome essencial81. A “geração” em Deus, que se efetua pela via intelectual (cf. o que se disse ao falar das processões82), permanece no interior de Deus, porque nele o ser e a autoconsciência vêm a coincidir. E sua palavra, em tudo igual a ele, e portanto de sua mesma substância, ao contrário do que diziam os arianos. A processão intelectual chama-se geração, por isso o nome de Verbo é próprio do Filho e só dele83. E algo subsistente, porque tudo o que existe na natureza de Deus subsiste, “quidquid est in natura D ei, subsistit”84. Para Tomás o Verbo não significa somente algo a respeito de Deus, senão também a respeito das criaturas. Em seu Verbo substancial, no qual se conhece a si mesmo, conhece D eus ao mesmo tem po todas as coisas. N ele as criaturas são constituídas e conhecidas85. Junto com a teologia do Logos, a tradição desenvolveu a da imagem. Já o Novo Testamento, como bem sabemos, fala-nos de Jesus revelador do Pai. Como tal é a “imagem do Deus invisível” (Cl 1,15; cf. 2Cor 4,4). É o “esplendor da glória de Deus e timbre de sua essência” (Hb 1,3; cf. 2Cor 4,6). A idéia desenvolveu-se de diversos modos na idade patrística. Ireneu cu

78. Cf. AGOSTINHO, Trin. XV 10-14 (CCL 50, 483-497). 79. Ibid., XV 14,23 (496).
80. Ibid.,Vn 2,3 (250).
81. Cf. STb I 34,1. Segundo 34,2 o nascimento do Filho expressa-se com diversos nomes porque nenhum deles pode esgotar toda sua perfeição. 82. Ibid., I 27,1. 83. Ibid., 1 27,2; I 34,2. 84. Ibid., I 34,2. 85. Ibid., I 34,3; De Ver. q. 4 art. 5.
nhou a célebre formulação “visibile Patris Filius”86. Para Clemente Alexandrino, o Filho é o rosto, irpóowirov, do Pai87. Tèrtuliano parece considerá- lo sua “fedes”88. Esses diversos nomes não diferem entre si89. Mas se nos primeiros tem pos o Filho enquanto encarnado era considerado a imagem de Deus, em evidente relação com a função reveladora do Pai que Jesus realiza, logo prevalecerá a tendência a considerar que essa imagem refere- se ao Filho eterno, enquanto é igual ao Pai em sua dignidade divina. A luta anti-ariana é responsável, em grande parte, não de todo, por essa mudança90. Agostinho vê a relação entre Filho, Logos, imagem no feto de que todos são relativos a respeito do Pai91. E a consideração da Trindade imanente que prevalece. Também para Tomás a condição de imagem refe- re-se ao Filho preexistente, e é exclusiva do Filho por ser ligada à sua geração intelectual como Verbo92. Todas essas considerações só são possíveis porque Jesus se manifestou ao mundo como revelador do Pai. O Filho pode, sem deixar de ser Deus, sair de si e fazer-se criatura93. D o fato da encarnação podemos deduzir portanto que o Filho é o princípio pelo qual Deus atua a d e x tra . D aí a única mediação salvífica de Jesus (lT m 2,5). Na possibilidade da encarnação, mávima “exteriorização” de Deus, funda-se a possibilidade da criação94, realizada com a mediação do Filho (cf. Jo l,3s.l0; IC or 8,6; Cl l,15s; H b 1,2) e que, na ordem concreta em que nos encontramos, está orientada para Cristo desde o prim eiro instante (cf. Cl 1,16s). Daí a preposição “por” (dià,

86. Ado. Haer. IV 6,6 (SCh 100, 450): “invisibile etenim Filii Pater, visibile autem Patris Filius”; Ibid., 6,7 (452s): “Agnitio enim Patris Filius, agnitio autem Filii in Patre et per Filium revelata”. 87. Ped. I 57,2 (FP 192-193): “O rosto de Deus é o Logos, por meio do qual se faz visível e é conhecido”. Também em Strom. V 34,1 (SCh 278,80); VH 58,3 (GCS 17,42); Exc. Tbeod. 10,5; 12,1; 23,5 (SCh 23,80; 82; 108). 88. Cf. Adv. Prax. XIV 10 (SCARPAT, 182); cf. o conjunto Ibid, XIV-XV lss (178- 186). Cf. nota 14 do cap. 2. 89. HILÁRIO de Poitiers, Tr. Ps. 68,25 (CSEL 22,335): “Form a e t vultus et fades et imago non differunt”. 90. Cf. R. CANTALAMESSA, C risto “immagine di D io”. Le tradizioni patritri^hf su Col. 1,15. Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 16 (1980) 181-212; 345-380. SI- M O N ETTI, Exegesi ilariana di Col 1,15, Vetem Cbristianorum 2 (1961) 165-182. 91. Cf. U m V 13,14 (CCL 5 0 ,220s); VI 2,3 (230s); VH 1,1-2 (245); 2,3 (249s) 92. STb I 35,2: “sicut Spiritus Sanctus, quam vis sua processione acdpiat naturam Patris, sicut et Filius, non tarnen didtur natus... Q uia Filius procedit u t Verbum, de cuius ratione est similitudo spedei ad id de quo procedit”. 93. Como já vimos no capítulo 2, não temos por que pensar na possibilidade de outra pessoa encamar-se. 94. Cf. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 213,225.
per) q u e vimos aplicada ao Filho no Concüio II de Constantinopla, seguindo um a longa tradição. Enquanto Filho encarnado, “Deus conosco” (M t 1,23) feito como nós e participando de nossa condição, Jesus é o único m ediador entre Deus e os homens. Só à luz da vida concreta de Jesus pode-se falar dele como palavra e imagem do Pai, e só à luz de sua existência concreta recebem esses títulos seu conteúdo pleno. A vida de Jesus é correspondência, inteira disponibilidade agradecida por tu d o que o Pai lhe deu. Jesus não busca sua própria glória, senão honrar o Pai e deixar que seja este que o glorifique (Jo 8,49s.54; 17,1-5). Definitivam ente, Jesus não proclamou seu reino, mas o do Pai. Também no final dos tempos devolverá o reino ao Pai, e se submeterá inteiramente a ele (cf. IC or 15,24-28), o que não significa, como já sabemos, que deixe de reinar (Credo niceno-constantinopolitano). Se o Pai é Deus enquanto dá, o Filho é Deus enquanto recebe e ao mesmo tempo dá. O Filho é o amado que, enquanto tal, é, p o r sua vez, o amante. Nessa referência ao Pai que lhe entregou tudo, entende-se a entrega aos homens na liberdade e na espontaneidade da obediência. Em sua referência ao Pai, é sua perfeita imagem, e pode revelar-nos seu am or em sua vida e em sua morte. Nicéia falou do Filho dizendo que é bomoousios com o Pai. C om isso, garante-se a verdade de nossa salvação, nossa verdadeira relação com Deus em seu Filho, que nos dá a conhecer a Deus e nos une a ele. Mas o bomoousios não nos diz só quem é Jesus, o Filho, mas também em último term o quem é Deus Pai, que pode comunicar-se inteiramente ao Filho e que pode enviá-lo a partilhar a condição humana; assim pode portanto entrar em relação últim a com sua criatura. M as Jesus não é só consubstanciai ao Pai, mas também, ainda que de m odo diverso93, consubstanciai conosco (sím bolo da união, DS 272; C oncílio de C alcedônia, DS 301). A dupla consubstancialidade há de ser vista em sua unidade profunda: porque o Pai se deu inteiram ente ao Filho, e por conseguinte este lhe é consubstanciai, pode o Filho, na plena obediência e resposta ao Pai, fazer-se em tudo sem elhante a nós, exceto no pecado, para entregar-se até o fim pelos hom ens, seus irmãos. N a perfeição dessa entrega, Jesus é um homem com o nós — como disseram os antigos concílios e tem os repetido —, senão tam bém, como observou o C oncílio Vaticano II, o “homem perfeito” (GS 22 ,4 1 ), aquele em quem se cumpre até o fim o desígnio de D eus sobre 95

95. É evidente que a consubstancialidade com os homens não pode ser numérica. Jesus é um só Deus com o Pai, mas não é um só homem conosco, por mais que se tenha unido intimamente a cada um dos homens (Cf GS 22).
o ser hum ano, e em cujo seguim ento nos fazemos todos mais hom ens. N a unidade de seu ser divino-hum ano, Jesus, enquanto ama in teiram ente a D eus (enquanto é pura resposta de am or ao Pai no Espírito), pode, de m odo insuperável, entregar-se aos hom ens, para assim fazer- nos participantes do amor prim ordial com que o Pai o amou (cf. Jo 15,9; G1 2,20; Rm 8,39, entre outras passagens)96.
O ESPÍRITO SANTO, COMUNHÃO DE AMOR
As dificuldades com que nos defrontamos na reflexão sobre o Espírito Santo são evidentes. Poderíam os começar já com o que nos narram os Atos dos Apóstolos (19,2): “N em sequer ouvimos que existe Espírito Santo...”. Em toda nossa exposição anterior tivemos repetidas ocasiões de ver com o a teologia trinitária girou com m uita freqüência em tom o da relação Pai-Filho: o caráter “pessoal” de ambos é mais claro que o do Espírito e suas relações recíprocas aparecem nos próprios nomes. Mas também observamos que o m odo de ser pessoa em Deus é distinto em cada caso, dado que na Santíssima Trindade nada é simplesmente “repe- tível”; o próprio uso da expressão “três pessoas” não deixava de suscitar problemas já para Sto. Agostinho97. M as em nosso capítulo 3 foi possível observar com o o Espírito Santo, em suas características peculiares, aparece no N ovo Testamento com o sujeito, como centro de atividade. E

96. Para completar a informação acrescentamos a referência de algumas declarações fundamentais do magistério sobre o Filho (os números referem-se à DS). Cf. ibid., 861; RAHNER, El Dios unoy trino..., 401-404. É “principium de principio”: 1.331; “genitus sive natus*doPai: 75,125,150, 1.330. É da natureza do Pai: 76,125,126,900. Tudo o que tem, tem-no do Pai: 1.331.0 Pai deu-lhe tudo menos ser Pai: 900,1.331,1.986,3.675. N ão é parte do Pai: 526, 805. N ão é extensão do Pai: 160. É o único, unigénito: 4s, 12-30, 125, 150,178, 258, 357, 538, 900,3.350, 3.352. N ão foi criado “ex nihilo”: 75,125,126, 150. Gerado sem começo, eternamente: 1.331, 357, 470; “ab aetem o” 75, 126, 150,50ss, 526, 538, 547, 554 etc. 97. Cf. também as matizadas observações de Sto. Tomás, S T i 1 30,4: em Deus Tbdo- poderoso não podemos folar de gênero e de espécie; também em 1,30,3: em Deus os núm eros nada indicam de positivo, só servem para remover falsas concepções. Já nos referimos ao problema que apresenta a aplicação dos “números” a Deus. Aplicando concretamente a questão ao Espírito Santo, MOLTMANN, op. d t., 205, assinala que o Espírito Santo não é pessoa em um sentido unívoco no que respeita ao Filho, e ambos não são pessoas como o é o Pai. Em Deus não ocorrem conceitos gerais, tudo é irrepetível. D e modo pareddo, para PANNENBERG, op. cit., a “autodistinção” (já nos referimos a este conceito nas páginas precedentes) não siginifica o mesmo para cada pessoa.
claro que este fato nada tira da maior dificuldade que desde sempre suscito u o discurso sobre o Espírito Santo98. Essa dificuldade não começou em nossos dias, e é também antiga a consciência que dela se tem. Os Padres já advertiram sobre ela. H ilário de Poitiers não queria comprometer-se para além da afirmação de sua existência e de sua divindade, como também de sua doação aos homens99. G regório N azianzeno falava da revelação do Espírito Santo mais tardia do que a do Pai e do F ilho, de tal maneira que só no tempo da Igreja se teria chegado à sua manifestação clara e distinta100. Para Basílio, o “tropos tes hyparcheos”, o modo de ser, do Espírito Santo é inefável101. Sem dúvida, essas dificuldades foram causa em parte do relativo esquecim ento do Espírito Santo e de sua função insubstituível em nossa salvação, que de fato se produziu em certas épocas, tanto na reflexão teológica como na piedade do povo cristão102. Essa situação, que se prolongou até tempos relativamente recentes, não é mais a nossa. O interesse pela pneumatologia é um signo de nossos tempos. Já tivemos ocasião de verificar que para a teo
98. Sobre o Espírito Santo, além da bibliografia citada, esp. a do capítulo 2, cf. B. H. HILBERATH, Pneumatologia, Bresda, 1996; DURRWELL, UEsprhSamtde Dieu, Paris, 1983; LEsprit du Père et du Fils, Paris-Montréal, 1989; E LAMBIASI, Lo Spirito Santo. Mistero e presenza, Bologna, 1987; C . E. LAVATORI, Lo Spirito Santo, dono deiPadre e deiFiglio, Bologna, 1987; C. GRANADO, El Spiritu Santo en la teologia patrística, Salamanca, 1987;MOLTMANN, Lo Spirito delia vita. Per una pneumatologia integrale, Bresda, 1994; M. WELKER, Spirito di Dio. Teologia dello Spirito Santo, Bresda, 1995; G. COLZANI (ed.), Verso ima muwa età dello Spirito, Padova, 1997; V MARALDI, Lo Spirito e la Sposa. Ilruolo ecdesiale dello Spirito Santo dal Vaticano lalla Lumen Gentium dei Vaticano II, Casale M onferrato, 1997; COMISSÃO TEOLOGICO- STORICA dei Grande Giubileo delTAnno Duemila, Del tuo Spirito, Signore, è piem la terra. Cinisello Balsamo, 1997; J. GALOT, LEsprit Saint, personne de communion, Saint Maur, 1997; O . González de CARDEDAL, La entraria dei cristianismo, Salamanca, 1997,693-739. 99. Cf. Trin H 29 (CCL 62, 64). 100. Or. 31,26 (SCh 250,326): o Antigo Testamento anundou manifestamente o Pai, enquanto o Filho foi anundado de modo mais obscuro. N o Novo Testamento apareceu com clareza a divindade do Filho, enquanto a divindade do Espírito somente se deixou entrever. N o tempo atual o Espírito se manifesta de maneira mais clara. 101. De Spiritu Soneto, 18,46 (SCh 18bis, 408). Segundo CIRILO de Jerusalém, Cot. 16, 24 (PG 33, 953) não há que investigar a natureza do Espírito Santo, pois não há que investigar o que não está escrito. Outros dados obre essas dificuldades dos Padres encon- tram -se em BALTHASAR, Theologk III, 106s. 102. Impressionante a lista de exemplos aduzidos por CONGAR, El Esphitu Santo, 188ss. Ver também H . M Ü H LEN , Um mystica Persona, Münster, 1968, 473ss; HILBE
RATH, op. cit., 8ss. N a página 212 indica como causas desse esquecimento: a dificuldade da Igreja com os movimentos espirituais; o pouco interesse teológico pela vida e a experiência espiritual; a acentuação unilateral da unidade da ação das pessoas na atuação história salvífica; e a separação da Trindade econômica e da Trindade imanente que teria levado ao
“cristomonismo” na teologia ocidental. Igualmente se teria produzido um esquecimento do Espírito no estudo da graça.

logia católica atual é claro que sem a atuação do Espírito Santo não se explica a vida de Jesus103, nem também a da Igreja (cf. L G 4) e a do cristianismo104. Nossa breve exposição da teologia do Novo Testamento já nos tinha persuadido disso. O mais recente magistério da Igreja indicou além disso que, em relação com a unicidade e a universalidade da obra salvadora de Cristo, também o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, exerce sua função salvífica para além das fronteiras visíveis da Igreja, associando os homens ao mistério pascal de Jesus (cf. GS 22; João Paulo D, Redemptcris missio 28-29; 56s; também Dvrnmum e t vivifican tem , 23; 53). Sem o Espírito Santo nem se realiza nem produz seus efeitos em nós a salvação que Cristo nos trouxe. A convicção cristã de que o Espírito Santo é Deus e não criatura funda-se nessa base. O Espírito Santo acha-se unido ao Pai e ao Filho na fórmula batismal e nas antigas confissões de fé da Igreja. Sem ele não podemos falar da “Trindade”. Seguindo de perto o ensinamento do Novo Testamento, a tradição apresentou-nos o Espírito Santo como o dom de Deus que é Deus mesmo, o dom por excelência aos homens. Por conseguinte, é de algum modo a pessoa divina mais “próxima” de nós105, a mais “exterior” de Deus. Mas, ao mesmo tempo em que é esse transbordamento de Deus em nossa direção, o Espírito Santo é a expressão da união e do amor do Pai e do Filho, e, como tal, o mais íntimo do ser divino. O Espírito Santo como dom, o Espírito Santo como amor foram os dois grandes temas da pneumatologia no Ocidente106. Devemos ocupar-nos dos dois aspectos, que se encontram em uma relação mais íntima do que à primeira vista pode parecer. Também devemos dedicar alguma atenção à questão da “processão” do Espírito.

L 0 Espírito Santo como dom107
No N ovo Testamento fala-se muitas vezes que o Espirito Santo foi dado, enviado etc. Já conhecemos muitos desses textos108. Mas em algumas
103. N ão é o momento de repetir tudo o que foi dito nos capítulos precedentes. M as apontemos como um dado curioso que, segundo o Concílio XI de Toledo (DS 538), Jesus não só foi enviado pelo Pai, senão também pelo Espírito Santo (cf. Is. 48,16). 104. Evidentemente não podemos entrar aqui nos terrenos da eclesiologia e da teologia da graça. 105. Cf. M ÜHLEN, Der Heilige Geist ab Person, M ünster, 1967, 279ss. 106. Cf. TOMÁS D E AQU IN O , STb 1 37-38. Nossa exposição a seguir vai dar-nos ocasião de aludir a muitas das declarações do Magistério sobre o Espírito. Um resum o sistemático delas encontra-se em DS, 862. Cf. também RAHNER, op. d t., 405s. 107. Encontra-se m aterial sobre a questão ao longo da história em E. LAVATORI, Lo Espmtu Santo dono dei Padre e dei Figlio, Bologna, 1987. 108. Cf., por exemplo, Jo 14,16; Rm 5,5; Lc 11,13: “... quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem”. O texto paralelo de M t 7,11 diz que dará “coisas boas”.
passagens dos A to s dos Apóstolos encontra-se mais especificamente a denom inação “dom ” . Em At 8,20 o Espírito aparece como o “dom de Deus”; em At 2 ,38; 10,45, fala-se do dom do Espírito Santo; segundo A t 11,17 Pedro refere-se a o mesmo dom que os gentios receberam , em alusão clara ao E spírito de q u e se falou no versículo anterior: “se Deus lhes concedeu o mesmo dom q u e a nós...”. Também as noções de dom e Espírito Santo põem-se em relação em H b 6,4. N a tradição identificou-se com a pessoa do E spírito Santo o “dom de Deus” de que se fala em Jo 4,10 (cf. 4,14): “Se tu conhecesses o dom de D eus”...109, embora seja provavelmente excessivo querer id en tificar com precisão esse dom, que se refere a Jesus e à sua obra salvífica em term os mais genéricos. M as, tomando em consideração o conjunto d o N ovo Testam ento, devemos constatar que tanto pela direta denominação de dom referida ao Espírito como pelas numerosas alusões à sua doação a im portância que essa noção teve na tradição teológica está plenamente justificada. E verdade que também Jesus, o Filho, foi dado, entregue. M as esse dom de Jesus produziu-se de uma vez para sempre (cf. H b 7,27; 9,12; 10,10; Rm 6,10); sua vida histórica e sua entrega por nós situam-se em determinadas coordenadas do tempo e do espaço. Mas o dom do Espírito é um dom constante, é expressão da perenidade da ação salvadora de D eus realizada de uma vez para sempre em Cristo, mas que o Espírito
Santo constantem ente universaliza, atualiza e interioriza110. 0 Espírito Santo, como o am or de Deus derramado em nossos corações (cf. Rm 5,5; G1 4,6), nós é dado dia a dia, na missão invisível de que filiava Sto. Tomás. D eus nos am a e esse am or é realidade em nós pelo dom de seu Espírito no interior de nossos corações. D o dom de Jesus realizado de uma vez para sem pre vem o perene dom do Espírito aos corações dos homens. Se Jesus é D eus conosco (cf. M t 1,23), Deus feito homem como nós, o Espírito Santo é o dom em nós, Deus nos homens. É Deus que sai para fora, é o “êxtase” de D eus111. P o r isso com freqüênda, nas primeiras fórmulas trinitárias, o E spírito Santo aparece sobretudo em sua dimensão histórico- salvífica, mais do que na Trindade imanente: o Espírito está em nós. N o

109. Assim A GOSTINHO, Injob. Ev. 15,16-17 (CCL 36, 156) Trrn. XV 19, 33 (CCL 50,509); CIRILO de Jerusalém, Cath. 16,1 (PG 3 3 ,931ss), 110. JOÃO PAULO ü , Dominion et vivificantesm 24: “A redenção é totalm ente realizada pelo Filho, o ungido, que veio e atuou com o poder do Espírito Santo, oferecendo- se finalmente em sacrifício supremo no madeiro da cruz. E essa redenção, ao mesmo tempo, é realizada constantemente no corações e nas consciências humanas — na história do mundo — pelo Espírito Santo, que é o outro Parádito”. Ver também n. 153 do cap. 3. 111. Cf. KASPER, op. cit., 278.
Espírito Deus sai para fora de si em sua autocomuni cação aos homens, de maneira especial nos que creem em Jesus. Pela ação do Espírito, aceita-se a palavra divina, crê-se em Jesus (IC o r 12,3). E a unção interior, de que fala ljo 2,20-27, que Agostinho comenta assim: “se sua unção os ensina tudo, trabalham os sem razão para isso... Vossos ouvidos são tocados pelo som de minhas palavras, mas o m estre é interior”...112 Vimos a importância que a noção de dom teve no pensamento de Sto. Agostinho, que faz dela o nome pessoal do Espírito Santo quando busca um nome relativo como os de Pai e de Filho. Mas se o termo “dom” é relativo, como sabemos, é claro que se trata do dom de alguém. N o Novo Testamento é claro que são o Pai e Jesus os que dão o Espírito Santo, com diferentes expressões nas diversas passagens: o Pai envia o Paráclito porque Jesus lhe pede, ou “em nome de Jesus” (Jo 14,16.26). Também Jesus é o que envia o Espírito, da parte do Pai (Jo 15,26; cf. 16,7). Jesus ressuscitado sopra sobre seus discípulos no mesmo dia de sua ressurreição (Jo 20,22); nos Atos é Jesus ressuscitado e elevado à direita do Pai (At 2,33). Vimos nos escritos paulinos as fórmulas Espírito de Jesus, de Jesus C risto etc., ao mesmo tempo que Espírito de Deus ou Espírito Santo, com o que aparece claro que o mesmo Espírito é ao mesmo tempo de Deus Pai e de Jesus113. Não é preciso sublinhar uma vez mais que o dom está unido à Páscoa de Jesus. A relação do Espírito com o dom de Cristo ressuscitado é constante na tradição. A Ireneu de Lião devemos umas das mais belas “definições” do Espírito Santo em sua aparição histórico-salvífica: o E spírito é “communicado Cbristí”114. O dom é para H ilário o nom e pessoal do Espírito, mas o termo não é empregado para indicar seus efeitos e sua atuação, que por outra parte conhece, antes de Jesus. Assim, por exemplo, não

112. AGOSTINO, In Ep. Job. m 13 (PL 35, 2.004). Cf. Ibid. IV, 1 (2.005); cf. CONGAR, La Parola e il Stffio, 35. 113. Não tratamos ainda no momento o problema intratrinitário da processão do Espírito Santo. 114. Adv. Haer. I I 24.1 (SCh 211,472): o Espírito brota do corpo de Jesus; Ibid.: “de corpore Christi procedentem nitidissimum fontem” (474). C f 111,17 2-3 (330 ss., esp. 334): “... quod Dominas acdpiens munus a Patre ipse quoque his donavit qui ex ipso participantur, in universam terram mittens Spiritum Sanctum”; conforme todo o contexto, como também m 9,3 (110s): “Spiritus ergo Dei descendit in eum, eius qui per prophetas promiserat uncturus se eum, u t de abundantía unctionis eius nos percipientes salvaremur”; EI 11,9 (170): V 20,1 (Cf. ORBE, Teologia de san Irmeo, ü , M adrid, 1987,304ss). A íntima relação do Espírito com Jesus foi posta em evidência também por GREGO R IO de Nissa, Adoersus MacedonianosdeSpiritu Soneto 16 (JAEGER H l 1,102-103): “A noção de unção sugere que não há nenhuma distância entre o Filho e o Espírito. De fato, como entre a superfície do
se fala de dom em relação à inspiração do Antigo Testamento, que se atribui ao mesmo Espírito. Para Basüio, o Paráclito, enquanto Espírito de Cristo, leva o selo, mostra o Paráclito que o enviou115. Agostinho, com sua preocupação com o nome relativo, acentua que o Espírito Santo é o dom do Pai e do Filho. Não se pode p ô r em dúvida a referência do Espírito Santo a Jesus e em concreto a Jesus morto e ressuscitado. Ao menos em um lugar do N ovo Testamento a atuação do Espírito no tem po da antiga aliança é vista em relação com o dom de Jesus, com o dom que dará o Ressuscitado (cf. lP d 1,11, o Espírito de Cristo nos profetas). A pneumatologia cristã quer a todo momento salvar a unidade da história da salvação, e por isso contem pla o Espírito com o unido a Cristo e à sua obra, que faz presentes na Igreja e em cada um dos cristãos. P o r isso não se aceitou a divisão proposta por Joaquim de Fiore (morto em 1202), segundo o qual, ao menos na interpretação corrente de seu pensamento, a primeira idade do mundo foi a do Pai, caracterizada pelo domínio dos reis sobre seus súditos. A segunda é a do Filho, que alcança seu ponto máximo com a vinda de C risto, caracterizada pela Igreja visível institucional, e em concreto pelos sacerdotes que pregam a palavra de Deus. Mas esta deve ceder o lugar à era do Espírito Santo, a era dos monges e espirituais, na qual será o Espírito que regerá diretamente os homens, não a estrutura hierárquica. Assim se correria o perigo de considerar que a atuação do Espírito não estaria intrinsecam ente unida à de Jesus, mas que, em certo sentido, constituiria sua superação116.

corpo e a unção do azeite nem a razão, nem a sensação conhecem intermediários, igualmente é im ediato o contato do Filho com o Espírito. Portanto, o que está a ponto de entrar em contato com o Filho mediante a fé deve necessariamente entrar antes em contato com o azeite. Nenhuma parte carece do Espírito Santo”. 115. De Sp. sane. 18,46 (SCh 17bis 410). Sobre o Espírito dom, cf. também ibid. 23,57 (452, 454), dom que vem de Deus. M as no mesmo contexto, comentando G1 4,6, a voz do Espírito — Abbá, Pai — converte-se na voz dos que o recebem. Os bens vêm do Pai pelo U nigénito com a ação do Espírito. Por outra parte, o conhecimento de Deus segue para Basílio o ritm o ascendente inverso: De Spir sane, 18,47 (412). Cf. AMBRÓSIO de Milão, De Spinsanc 2,13 (CSEL 79,137). DÍDIM O, o Cego De Spirsanc. 4,12 (SCh 386,154) o Espírito é a plenitude dos dons de Deus, 116. A interpretação clássica de Joaquim foi posta em discussão recentemente por MOLTMANN, Speranza cristiana: messianismo o trascendenza? In dialogo teologico con Gioacchino de Fiore e Tommaso d’Aquino, in Nella storia dei Dio trinitario. Contribua per uma teologia trm hana, Bresda, 1993,147-173. N ão é este o momento de dar um juízo global sobre a teologia trinitária de Joaquim, a que já nos referimos. Interessa-nos sublinhar a íntima referência ao Pai e ao Cristo de toda a ação do Espírito. Cf. a n. 90 do cap. 8.
A consideração do Espírito como dom do Pai e do Filho mostra a unidade da Trindade, já que assim se garante a unidade da economia salvífica. Ver o Espírito em referência a Jesus não quer dizer vê-lo em “subordinação”. A unidade da economia da salvação implica a referência m útua das três pessoas, que corresponde à sua mútua inter-relação no seio da Trindade imanente. Desde que a história da salvação tem sua culminância em Jesus, e precisamente no m istério pascal, o dom do E spírito por Jesus ressuscitado manifesta a unidade do Pai e do Filho. O Espírito não é dado senão quando Cristo é Senhor117. P or isso nossa consideração do Espírito Santo como dom nos recorda e completa o que vimos no capítulo 3 sobre a revelação do mistério triiutário na vida de Jesus118. Nossas considerações precedentes nos dizem que em todo caso deve ficar claro que o dom do Espírito é, de uma parte, uma relação interna no crente119 e, por outra parte, que esse dom , procedente em último termo do
Pai, não pode ser visto nunca separado de Jesus. Esses dois aspectos estão inseparavelmente unidos. O Espírito, um e o mesmo, está presente na cabeça e nos membros, como diz o Concílio Vaticano II (LG 7). Essa dimensão cristocêntrica nunca será sufirientem ente destacada. Precisamente porque o Espírito esteve e está em Jesus pode ele habitar nos homens. Jesus é o ungido de Deus, o Messias, aquele a quem o Espírito foi dado, por assim

117. Cf. CONGARjOp. cit., 161; BALTHASAR, Teodramátka 3. E l bombre en Cristo, Madrid, 1993,478-479: “0 Espírito em Jesus está agora [durante sua vida mortal] totalmente ocupado em prestar atenção ao Espírito sobre ele. Sua eterna conformidade com o Pai, sua eterna espontaneidade e sua autoridade sobre o Espírito estão como que ligadas e concentradas na obediência ao Espírito paterno; por isso, antes da m orte de Jesus, o Espírito não está livre para os outros: ‘não havia ainda’ (fo 7,39). Só estará livre quando estiver consumada a missão terrena, quando o Espírito na morte de Jesus tiver agora também humanamente expirado, edevolvido ao Pai... para poder na Páscoa ser inspirado à Igreja... e em Pentecostes descerapartir do Pai e do Filho sobre a Igreja”. Ver também Teodramatka 4, A ação, Madrid, 1995,341. 118. ORBE, La uncim dei Verbo, Roma, 1961,633, resume assim o pensamento dos primeiros Padres da Igreja sobre o Espírito Santo, dom de Jesus ressuscitado: “N o batismo do Jordão começa, não mais, a humanação do Espírito... A humanidade de Jesus deve fazer- se instrumento apto do Espírito para os outros... Só no dia da ressurreição, espiritualizado inteiramente em sua humanidade e selado pelo Espírito, começa a infundi-lo sobre os apóstolos”. Ibid., 637: “Alais do que assimilação do Espírito pela humanidade de Jesus, era a assimilação de Jesus pelo Espírito... Em virtude de sua destinação aos homens, seu imediato princípio [do Espírito] será o Verbo encarnado enquanto tal. O próprio Pai não se difunde direta e imediatamente sobre os membros da Igreja”. 119. Cf, recentemente sobre a questão, S. W OLLENW EIDER, D er Geist Gottes ais Sellus der Glaubenden. Uberlegungen zu einem ontologischen Problem in der paulinischen Anthropologie, ZTbK 93 (1996) 163-192).
dizer, originariam ente, para que por m eio dele o recebam os homens. Já conhecem os a tradição patrística, bem clara nesse ponto. Para Sto. Tomás, o Espírito é “unus num ero in Christo e t in omnibus”120. Já antes dele dizia H ugo de São V ítor: De igual maneira que o espírito da pessoa desce pela cabeça para vivificar os membros, de igual maneira o Espírito Santo, por Cristo, vem aos cristãos. Cristo é a cabeça... o cristão é o membro. A cabeça é uma, os membros são muitos, e forma-se um só corpo com a cabeça e os membros; e nesse único corpo não existe mais do que um só Espírito. A plenitude desse Espírito reside na cabeça, a participação nos membros121.
O Espírito que Jesus possui em plenitude é o que nos foi dado e habita em nós. N ão é em vão que a preposição que na tradição mais se une com o Espírito Santo é “em ”. Já vimos como Basílio, justamente, mostrava como não há nem pode haver uma associação exclusiva das preposições com cada uma das pessoas divinas. Mas isso não obsta a que possamos indicar uma certa “preferência” bem atestada no próprio magistério (cf. DS 421, Concílio II de Constantinopla). Aliás, podemos distinguir dois usos da preposição: por um lado refere-se ao Espírito em que estão todas as coisas; assim o texto que acabamos de citar. Mas porque o Espírito do Senhor tudo abarca (cf. Sb 1,7) pode ser o dom em nós, em nosso interior122 123. Portanto pertence especialmente ao Espírito ser “dom”, porque pode ao mesmo tempo estar em todos, na cabeça e nos membros. E capaz de suscitar no homem a resposta adequada à Palavra que é o Filho, porque o Pai se dirige a nós.

“Dom”, noxME pessoal do Espírito Santo
Como pode ser “dom” uma designação pessoal do Espírito Santo se o termo faz referência à economia salvífica? Sabemos que já Sto. Agostinho colocava o problema: por que se chama dom o Espírito Santo, sendo que não havia sido dado antes de um m om ento determinado; porém desde sempre era “doável”12}, quer dizer, essa propriedade pertence a seu ser
120. In Sent. UI d. 13, q. 2, a 1, ad 2. Cf. outras afirmações em CONGAR, op. d t, 84. 121. HUGO de São Vítor, De soar. cbris fid. II 1,1 (PL 176,415). 122. Cf. a relação estabeledda por BASÍLIO de Cesaréia, De Sp. Sane., 26,62 (SCh 17bis, 472), o Espírito é “lugar* dos santos, como eles são “lugar” do Espírito. 123. 7rin V 15,16 (CCL 50,224), desde a eternidade procede para poder ser dado.
divino. Sto. Tomás coloca a mesma questão e responde de modo semelhante: diz-se dom enquanto tem a aptidão de ser dado, enquanto tem em si mesmo essa propriedade124. Por isso é legítimo o nome aplicado à terceira pessoa da Trindade, que é eterna embora a doação tenha lugar no tempo. Porque, com efeito, segundo o mesmo Sto. Tomás, o dom refere-se àquele que dá, e àquele a quem é dado. Por isso a pessoa divina que é dom é de alguém em dois sentidos, ou por razão de origem ou por razão daquele a quem é dado. Por isso podia ser desde sempre dom de Deus ainda que não tivesse sido dado ao hom em 125. Por outra parte, o Espírito Santo pode estar em outro (a criatura racional) só enquanto dado: ninguém, p o r suas forças, pode chegar a tê-lo. Compete portanto à pessoa divina ser dada e ser assim Dom. Enquanto à origem, é dom do Pai e do Filho, e assim se distingue pessoalmente deles desde a eternidade. Em outro sentido, o dom distingue-se do homem que o recebe126. Porém , para Sto. Tomás o Espírito Santo não é só dom do Pai e do Filho, mas também dá-se a si mesmo enquanto é dono de si e poderoso para usar, ou melhor, gozar de si mesmo127. Poder-se-ia talvez notar que aqui Sto. Tomás se afasta um tanto da idéia bíblica do Espírito Santo como dom do Pai e do Filho, levado pela legítima preocupação de insistir na idéia de igualdade das pessoas. Deve-se, no entanto, ter presente, por outra parte, que também no Novo Testam ento o Espírito é ativo na distribuição dos dons que são suas manifestações (cf. IC or 12,7-11)128. Santo Tomás acrescenta que donum, enquanto nome pessoal, “não indica submissão, mas só origem, em relação a quem o dá. M as em relação com aquele que recebe significa livre uso e fruição”129. Santo Tomás não se contenta com essas observações sobre o caráter pessoal do nome de “dom” em Deus. Indaga tam bém mais precisamente

124. STh 1 38,1, ad 4: “... donum non didtur ex eo quod actu datur; sed inquintum habet aptitudinem u t possit dari. Unde ab aeterno divina persona didtur donum”. Cf. o mesmo artigo para o que segue. 125. Cf. Ibid., I 38,2 ad 3. 126. Cf. Ibid., I 38,1. 127. Ibid., 1 38,1: “Et tarnen Spiritus Sanctus dat seipsum, inquantum est sui ipsius, u t potens se uti vel potius frui...” 128. A idéia do Espírito Santo ativo no dom está presente em BASILIO de Cesaréia, De Spir. sanc. 16,37 (SCh 17bis, 376): “quando recebemos os dons, pensamos prim eiro naquele que os reparte...”; Cf. A G O STIN O , Trrn. XV 19,36 (513). “Tu qui dator es et donum”, hino do ofído de leituras de Pentecostes, Liturgia bararvm. Editio Typica, Typis poliglottis Vaticanis, 1977, vol 2. 799. 129. STb I 38,1.
por que o nome convém em particular ao Espírito Santo130. Segundo Agostinho, o ser do Espírito Santo como dom está em relação com sua processão do Pai e do Filho131. Tomás, que já tratou do Espírito Santo com o am or do Pai e do Filho (em seguida abordaremos essa questão), observa que o nom e de dom vem do fato que indica a doação irreversível e gratuita. O ra, é pre- dsam ente o am or o que comporta sobretudo a doação irreversível e gratuita. O amor é sempre o dom primeiro e original porque só m ediante ele pode-se dar todos os dons gratuitos132. Por isso o amor é o dom p o r excelência. Procedendo o Espírito Santo, segundo Sto. Tomás, pela via do amor, mais ainda, sendo o am or mesmo, segundo a expressão agostiniana, procede como o dom primeiro. Ainda que o Filho também seja dado (cf. Jo 3,16) diz- se que o Espírito Santo é dom porque procede do Pai u t amor (como amor); por isso o dom é seu nom e específico, como do Filho se diz que é imagem, porque procede a modo de Verbo133. Santo Tomás realiza uma aproximação, que não é sem interesse, entre a doação do Espírito Santo atestada pela Escritura (e portanto o nome de “dom ” dada pela tradição que o precedeu) e a especulação trinitária do E spírito como amor. A relação entre os dois aspectos aparece com clareza. A capacidade específica de ser dado que é própria do Espírito Santo vem de sua condição de Amor. O dom do Espírito Santo e o amor de Deus são relacionados em Rm 5,5. Assim pode-se pensar que, embora a ordem da exposição de Sto. Tbmás proceda do interior da Trindade para o dom ad extra, também a historia salutis teve uma relevância na hora de fundam entar sua reflexão sobre a Trindade imanente. D e qualquer modo, não deixa de suscitar problema se o dom do Espírito, e por conseguinte sua inabitação em nós, for considerado só na ordem das “apropriações” e não for visto com o algo próprio da terceira pessoa134. N esse caso, ficaria m uito minimizado tudo o que se disse sobre o Espírito como dom no crente. Mas a nós é permitido ilum inar o ensinamento do Aquinate com os dados

130. Em Ibid., I 38,2. 131. Cf. Trm. TV 20,29 (CCL 50, 200). 132. Ibid., I 38,2: “Amor habet rationem prim i doni, per quod omnia dona gratuita donantur”. Já AGOSTINHO, Trin. XV 18,32 (507), o Espírito diz-se dom “propter di- lectionem ”: 19,35 (512), o Espírito é dom enquanto é dado aos que por ele amam a Deus. Cf. também 19,37 (513 bis). 133. Cf. STb I 38,2. 134. Cf. para toda essa problemática, J. PRADES, “Deus specialiter est in sanctis per gratiam”. El mistério de la inbabitación de la Trmidad en los escritos de santo Tomás, Roma, 1993, 419-428, segundo o qual Tomás move-se no esquema das apropriações, e só alguns textos sugerem em alguma ocasião uma ação própria.
neotestamentários e com os da m ais antiga tradição,-que dão muito mais apreço às relações próprias de cada um a das pessoas com o homem. Nesse sentido, podemos interpretar a condição de dom do Espírito derramado em nossos corações como algo “p róprio” do Espírito Santo, ainda que sua presença com porte sempre de algum m odo a do Filho e do Pai que o dão e enviam a nós (cf. Rm 8,9-11; J o 14,16s.23). O E spírito Santo, que não tem, segundo a concepção clássica, “fecundidade” no seio da divindade, toma-se fecundidade para fora135. N ão há razões de peso que nos obriguem a considerar essa “fecundidade”, tão central na tradição, meramente “apropriada”. A ação de cada um a das pessoas da Trindade é inseparável da ação das outras; o que não significa que essa ação não possa ter, e não tenha de fato, seus traços característicos distintos em cada caso.
O Espírito Santo como dom no crente e na Igreja
Tudo isso pode levar-nos à conclusão de que a graça de Deus no homem há de ser vista ligada de m odo especial à pessoa do Espírito Santo136. Ele é o dom mesmo de D eus, o mesmo amor pessoal, comunicado ao homem; em virtude do Espírito, pela mediação de C risto, temos acesso ao Pai (cf. E f 2,18). Embora o N ovo Testamento nada diga diretamente a respeito, pode-se considerar que o Espírito Santo está também presente já na criação, enquanto é o transbordamento do amor de Deus para fora que concede à criatura a participação no ser e na vida, que corresponde somente a Deus. Essa participação adquire seu grau máximo na participação da própria vida divina na graça. P or isso, no dom do Espírito à Igreja e aos crentes no dia de Pentecostes, com um novo ato gratuito de Deus, começa a criação nova que há de levar a criação inteira, em especial o ser humano, à sua plenitude (cf. Rm 8,23). Se Jesus, o Filho, é imagem de Deus, se D eus tem nele a possibilidade de sair de si assumindo como própria a realidade criada, o E spírito Santo tem a capacidade de difondir-se sobre tudo: “envia teu sopro e renasce a criação, e renovas a face da terra” (SI 104[103],30); “o Espírito do Senhor enche a terra” (Sb 1,7)137. O Espírito aperfeiçoa a

135. Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 272. 136. Cf. LADARIA, Teologia dei pecado originaly de la grada, Madrid, 1993, 253ss; KASPER, op. d t., 278ss. 137. Em bora nâo se mencione expressamente, podemos pensar que também o Espírito Santo intervém na doação das perfeições às criaturas de que fala S. JOÃO DA CRU Z, Cântico espiritual 5,4 (Obras completas, Salamanca, 1992, 599): “E indo-os olhando/só
criação realizada com a mediação do F ilho138. N o N ovo Testam ento, o E spírito de Jesus infiinde-se nos crentes com o Espírito de filiação em que podemos clam ar “Abbá, Pai” (cf. Rm 8,15; G 14,6), Nesse m om ento desdobra o Espírito Santo todas as sua virtualidades. E funde-se fora de Deus para introduzir na vida mesma de Deus os homens. Pelo Espírito, a salvação, que Jesus nos trouxe, tom a-se realidade em cada um de nós. E a primazia do dom incriado que é D eus mesmo sobre todos os diversos dons e graças que D eus nos dá13’. N ão devemos esquecer nesse contexto que o Espírito é tam bém dom à Igreja, corpo de Cristo, sobre o qual o Espírito Santo repousou. Apesar da universalidade de seus efeitos, e sem dim inuir nem minimizar o que foi dito sobre isso, a Igreja é, de algum modo, o lugar “natural” do Espírito, como foi a humanidade de Jesus no tem po de sua vida mortal. Deve-se recordar a formulação de Ireneu: “Onde está a Igreja, ali está o E spírito de Deus, e onde está o Espírito de Deus, ali está a Igreja e toda graça, pois o Espírito é a verdade”140. O Espírito santifica constantemente a Igreja, m ora nela, a introduz na plenitude da verdade, unifica-a, dirige-a, enriquece-a com diversos dons hierárquicos e carismáticos, e a leva à perfeição (cf. Vaticano II, L G 4) e constitui seu princípio vital, sua alma (ibid., 7; cf. tam bém n. 5-8). E a garantia da fidelidade à tradição ao mesmo tem po que a energia que a impele para a novidade do futuro141. Na doutrina da graça e na eclesiologia desenvolvem-se com mais extensão esses pontos que aqui podemos somente insinuar.

com sua figura/deixou-os vestidos de formosura... Deve-se pois saber que só com a figura de seu Filho Deus olhou todas as coisas, que foi dar-lhes o ser natural, comunicando-lhes muitas graças e dons naturais, fazendo-as acabadas e prefeitas... Olhá-las m uito boas era fazê-las muito boas no Verbo, seu Filho. E não somente lhes comunicou o ser e graças naturais olhando-as... mas também com só essa figura do Filho as deixou vestidas de formosura, comunicando-lhes o ser sobrenatural...” 138. Cf. também BASÍLIO de Cesaréia, De Spir sane. 16,38 (376-384); GREGÓRIO deN issa, Quod non svnt tres dei 0A EG ER IH 1,47-48. 50)\D eSp. Soneto Ado. Mac (ib 100). C f LADARIA, Antropologia teológica, Roma-Casale M onferrato, 1995, 64-69. 139. C f LEÃO X m , Divinum Ulud munas (DS 3.330). 140. IRIN EU de Lion, Aâv. Haer, III 24,1 (SCh 211,474): “Uni enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, ibi Ecclesia et omnis grada. Spiritus autem veritas”; JOAO CRISÓSTOM O, Hom. Pent. 1 4 (PG 49,459): “Se o Espírito Santo não estivesse presente, não existiria a Igreja; se existe a Igreja, isso é um sinal aberto da presença do Espírito”. 141. C f H IPÓ LITO , Trad. apost. prol (SCh 11,40), o Espírito ensina aos que estão à cabeça das Igrejas; CONGAR, op. d t., 240; BAUTHASAR, Spiritus Creator, Einsiedeln, 1967, 97s.
O dom do Espírito é associado ao gozo e à fruição (cf. GI 5,22). Também para Agostinho, o dom comporta o “uso” e também o amor, o gozo, a felicidade142 143. 0 Pai e o Filho, enquanto se amam, gozam um do outro no Espírito que é amor, e nosso gozo de D eus tem semelhança com o Espírito Santo que é a suavidade do Pai e do Filho145. O Espírito Santo é por isso o dom de Deus em pessoa enquanto por ele gozamos de Deus. Já desde o N ovo Testamento aparece com essas características. O dom do Pai e do Filho vistos em sua unidade, sobretudo quando Jesus, o Verbo encarnado, exaltado à direita do Pai, o envia aos apóstolos e à Igreja toda. N o Espírito, dom dos dois, manifesta-se a timão do Pai e do Filho. Este é o ponto a partir do qual podemos considerar a questão do Espírito como união e am or do Pai e do Filho na Trindade.
2. 0 Espírito Santo como amor do Pai e do Filbo
Essa questão é, de si, mais complicada do que a questão tratada acima, porque é mais distante o ponto de apoio no Novo Testamento e na primeira tradição da Igreja. O ponto de partida não pode ser outro que o fato de que, segundo o N ovo Testamento, o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Assim o viu claramente Agostinho, cuja influência foi decisiva no desenvolvimento da doutrina de que agora vamos ocupar-nos. Já encontramos repetidas vezes essa questão em diferentes momentos de nossa exposição. A relação explícita do Espírito Santo com o amor de Deus encontra-se, sem dúvida, claram ente atestada no N ovo Testamento. Segundo Rm 5,5, “a esperança não engana porque o am or de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado”. Do amor do Espírito fala-se também em Rm 15,30144. Além disso, o Espírito Santo se nos apresenta, em diferentes lugares, como um fator essencial da unidade entre os cristãos, de com unhão entre si e com Deus (cf. IC or 12,3ss; 2Cor 13,13; Ef 2,18; 4,3). P o r outra parte, com o já sabemos, na vida de Jesus, o Filho de Deus, em seu caminho histórico para o Pai, o Espírito desempenha um papel essencial ao fazer-lhe presente a vontade

142. HILÁRIO de Poitiers, Trm. II 1 (CCL 62,38), “usus in numere”; cf. Ibid. 35 (70-71). Agostinho Trm VI 10,11 (CCL 50,242): “Dia dilectio, delectatio, felicitas et bea- titiido... usus ab illo (Hilário) apellatus est”; cf. o contexto. 143. TOMÁS D E AQUINO, STb I 39,8. 144. “O am or do Espírito”: provavelmente o amor que o Espírito põe em nós ou o que o mesmo Espírito nos tem; cf. J.-AJTTZM YER, Romans, New York-London, 1992,725.
do Pai; em virtude do Espírito, Jesus oferece-se ao Pai; o mesmo Espírito é ativo em sua ressurreição. A presença e a ação do Espírito não são, pois, indiferentes para a realização concreta da união de Jesus com o Pai. O dom do E spírito por parte do Pai e do Filho ressuscitado manifesta também a unidade dos dois. Devemos te r presentes esses dados para entender o sentido dessa doutrina do Espírito Santo como expressão do amor e da comunhão entre o Pai e o Filho. Embora seja verdade que não possua base explícita no Novo 'Testam ento, não faltam indícios que oferecem um fundamento e fazem com preensível o desenvolvimento que temos a estudar. O Espírito Santo aparece com essas características de vínculo de união entre Deus e os homens e dos homens entre si; p or isso é legítima a pergunta se isso não responde de algum modo a seu ser pessoal também ad intra, como selo e expressão da unidade do Pai e do Filho. Desde a experiência do dom que a Igreja recebeu, podemos te r acesso a esse profundo aspecto da vida divina intratrinitária. Devemos ter em conta que essa doutrina desenvolveu-se sobretudo no Ocidente, mas não podemos considerá-la de todo alheia à teologia oriental. Conheceu-a, por exemplo, G regório Palamas: “O Espírito do Verbo altíssimo é como um amor inefável do Pai por esse Verbo gerado inefavelmente. Amor que esse mesmo Verbo e Filho amado do Pai usa a respeito do Pai”145.

O Espírito Santo como amor na tradição
Tivemos ocasião de ver como foi Agostinho o prim eiro a desenvolver essa doutrina. M as podemos encontrar alguns pequenos precedentes na teologia latina anterior. M ário V itorino tinha falado do Espírito: “Patris et Filii copula”146. Em Hilário de Poitiers encontram-se algumas formulações que literalm ente parecem antecipar as de Agostinho, ainda que no
145. GREGÓRIO PALAMAS, Capita pbysica 36 (PG 150,1.144-1.145). N o século XX a mesma doutrina foi recolhida por BULGAKOV, II Paraclito, 143ss: o Pai, o Filho e o Espírito Santo renunciam reciprocamente a si mesmos, no amor total. O Espírito Santo é o amor e a alegria hipostáticos. Usa também o esquema agostíniano do amante/amado/ amor mesmo (160). O Pai é a imagem do am or sacrifical paterno, o Filho do amor sacrifical filial, o Espírito do amor exultante (285s). O Espírito Santo é a união do Pai e do Filho (303s); é a hipóstase do amor (346). A doutrina do Espírito Santo como amor tem sem dúvida relação com a questão da processão do Espírito do Pai e do Filho, mas não unicamente. Cf. PANNENBERG, op. c it, 343, que trata de distinguir as duas questões. 146. Cf. Hirnnos I; Dl (SCh 68, 620; 650. Também Adv. Ar. IH 9 (Ibid. 466).
conjunto de sua teologia não pareçam significar mais do que a unidade do Pai e do Filho, m anifestada no fato de que o Espírito recebe dos dois147. Ambrósio de M ilão refere-se ao E spírito como “individuae copula trini- tatis”14®. Vejamos um dos texto fundamentais de Agostinho: Por isso o Espírito Santo subsiste na mesma unidade e igualdade de substância. Pois tanto se é a unidade de ambos, ou a santidade, ou o amor, como se é a unidade porque é o amor, e é o amor porque é a santidade, é manifesto que não é algo diferente dos dois, aquilo pelo qual um e outro estão unidos, aquilo pelo qual o gerado é amado por aquele que o gera e ama por sua vez a este último; de tal maneira que existem conservando a unidade do Espírito no vínculo da paz (Ef 4,3), não por participação nem pelo dom de alguém que fosse superior a eles, senão pelo seu próprio149.
A união entre o Pai e o Filho não lhes vem por uma coisa alheia ou por um princípio exterior, senão pelo dom deles mesmos; o Espírito Santo, que tem a mesma essência divina do Pai e do Filho, é o amor em que os dois se unem. Parece que o Espírito Santo, dom ad extra, converte-se aqui em dom m útuo, ad intra, em comunhão. Agostinho passa do Espírito Santo como “dom” ao amor. O maior dom de Deus é o amor, e ao mesmo tempo o maior dom de Deus é o Espírito Santo150. Por isso Espírito e amor devem coincidir. Assim o amor {caritas) é, junto com o dom, o nome próprio do Espírito Santo151. Agostinho, como já vimos, chegou à idéia do

147. LADARIA, El Espíritu Santo en son Hilário de Poitiers, M adrid, 1977, 278ss. 148. Exp. Ps. CXVII1,18,37 (CSEL 62,441). Sobre os antecessores de Agostinho no , Oriente, cf. L. ABRAMOWSKI, D er Geist als “Band” zwischen \foter und Sohn — ein Theologoumenon der Eusebianer, ZNtWis 77 (1996) 126-132; segundo Abramowski, Ata- násio teria combatido a idéia. A expressão “copula Trinitatis” encontra-se também em Dídimo, o Cego, De Sp. Sane. 47,214 (SCh 386, 336). 149. TrinW 5,7 (CCL 50,235); também V 11,12 (219), o Espírito Santo é “ineffàbilis quaedam patris et filii communio”. M uito inspirada em Agostinho é a fórmula do XI Concílio de Toledo (DS 527): “Quia caritas sive sanctitas amborum esse m onstratur”. 150. Trin XV 19,37 (513) “... si in donis Dei nihil maius est caritate et nullum est maius donum dei quam spiritus sanctus, quid consequentius quam u t ipse sit caritas quae dicitur et deus et ex deo”; Ibid., 18,32 (508) “Dilectio igitur quae ex deo est et deus est proprie spiritus sanctus est, per queem infunditur in cordibus nostris dei caritas per quam nos tota inhabitat trinitas. Quodrca rectissime spiritus sanctus, cum sit deus, vocatur etiam donum dei (cf. At 8,20). Quod donum proprie quid nisi caritas intelligenda est, quae perdudt ad deum et sine qua quodlibet aliud donum dei non perducit ad deum?”. 151. Cf. Trin XV 17,29 (504); 17,31 (506s) “... “ipse dilectio est”. Cf. também VI 5,7 (236) as três pessoas caracterizadas como o que ama, o que ama ao que o ama, e o amor mesmo. Igualmente em VIII 10,14 (291); XV 3,5; 6,10 (465; 472). A partir de Agostinho desenvolve-se a longa tradição que chegou até nossos dias que vê no amor o nome próprio do
Espírito Santo com o amor a partir da chamada analogia “psicológica” da Trindade. M as tam bém , embora em m uito menor medida, teve presente a analogia do amor interpessoal1” . O Espírito Santo é a caridade pela qual se amam o Pai e o Filho, porque é o dom dos dois152 153 154 155. Ao ser e demonstrar a “communitas am borum ”154 recebe com o próprio o nom e de amor, porque, já que é comum aos dois, é chamado pessoalmente com o nome que designa Pai e Filho em mútua com unhão155. Em Ricardo de São V ítor vimos mais claramente essa linha de amor interpessoal156. O Espírito Santo, ao ser amado do Pai e do Filho, o condilectus, é o am or em que os dois, Pai e Filho, participam , realizando assim a perfeita união do amor. Em todos os pressupostos de Ricardo fica claro que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho, mas não é considerado diretam ente como o amor dos dois, é antes contemplado como o destinatário do am or que o Filho recebe do Pai e que, juntam ente com esse, dá por sua vez. O ponto de vista de Ricardo é pois distinto do de Sto. Agostinho, embora seja claro que o pensam ento do bispo de H ipona influiu nas intuições fundam entais do V itorino. Para Boaventura, o Espírito Santo é produzido por m odo de “liberalidade” da concórdia do Pai e do Filho. Boaventura segue de algum modo a reflexão de Ricardo, ao indicar que o amor m útuo que se comunica é o amor mais perfeito157. Também para ele o Espírito, amor e dom significam a mesma realidade, embora sob aspectos diversos: “E spírito” acentua a força que produz o amor; “am or” indica o modo de emanação do Espírito, como “nexo” entre o Pai e o Filho; o “dom ” é a conseqüência do anterior, porque o Espírito está feito para unir-nos158. Também aqui, como em

Espírito Santo. Assim GREGÓRIO M A G N O , Hom. In Ev. II, 30 (PL 76,1.220) “Ipse namque Spiritus sanctus amor est”. Cf. ANSELM O, Proslogion X X III (SCH M TlT, v. 1, 117). 152. Cf. Trin. V m 10,14. 153. Trin. XV 17,27 (513): “Q ui spiritus sanctus secundum scripturas sanctas nec patris solitis est nen filii solius sed amborum, et ideo communem qua igitur invicem se diligunt pater et filius insinuat caritatem ”. 154. Cf. In Job. Ev., 99,7; cf. também Ibid., 8-9 (CCL 36, 586, 587). 155. Tritt. XV 19,37 (513): “E t si caritas qua pater diligit filium e t patrem diligit filius ineffabiliter communionem demonstrat amborum, quid convenientius quam ut ille dicatur caritas proprie, qui spiritus est commune ambobus ?”. Ibid. (514): “Quia enim est commune ambobus, id vocatuir ipse proprie quod ambo communiter”; cf. Ibid. 17,29 (507). 156. Ver o que foi dito no capítulo 9, 251-255; 265-267. 157. Com. ISent. d.. 10, a.1 q .l. Cf. CONGAR, op. d t , 116. 158. Cf. Com Sent. I d. 18, a .l, q.3 ad 4; Breviloquhim, 1 3,9: “cum proprium Spiritus sancd esse donum, esse nexum seu caritatem amborum”
Agostinho, acentua-se a relação entre a teologia e a economia. O Espírito Santo, nexo de am or do Pai e do Filho, realiza na história da salvação a união entre os cristãos. Santo Tomás, como tivemos ocasião de indicar, fala dos dois nomes do Espírito Santo: am or e dom. Já vimos como os relaciona entre si. Procedendo em sua exposição da teologia à economia, trata prim eiro do Espírito Santo com o am or do que como domIS9. O nome de amor pode ser tomado “essencialmente” e “pessoalmente”. Tomado em sentido pessoal é o nome próprio do Espírito, tom ado como Verbo o é o do Filho. Usa- se o verbo amar e equivalentes {diligere etc.) para expressar o modo de comportar-se (habitudo) daquele que procede por amor a respeito de seu princípio, e vice-versa. Por conseguinte entende-se por “amor” o amor que procede160. O Espírito Santo é chamado am or enquanto procede por essa via. Enquanto amor, o Espírito Santo é o “nexo” do Pai e do Filho, posto que o Pai ama com um mesmo amor o Filho e a si mesmo, e o mesmo faz o Filho. Por isso no E spírito Santo enquanto am or encontram- se o modo de comportar-se do Pai a respeito do Filho, e o do Filho a respeito do Pai. Segundo a origem, o Espírito Santo é o terceiro na Trindade, já que procede do Pai e do Filho. Mas segundo esse modo de com- portar-se (habitudo) a que nos referim os é o nexo que existe entre os dois, por proceder de ambos161. Em Sto. Tomás encontramos a idéia do amor mútuo, de tradição agostiniana, mas não faz m uito uso dela162. Predomina nele a imagem da Trindade psicológica e na processão pela via do amor, diferente da processão do Filho pela via da inteligência163.

159. Cf. STb 1,37, “D enom ine Spiritus sancti quod est amor”; na q. 38, trata do dom. Antes, na 36, falou da pessoa do Espírito Santo; se preocupa sobretudo com sua “processão”, de que em seguida trataremos. 160. Ibid., 1: “In quantum vero his vocabulis (amor, diligere) utim ur ad exprimendum habitudinem eius rei quae procedit per modum amoris, ad suum principium et e converso; ita quod per amorem intelligatur amor procedens; sic Amor est nomen personae, et diligere vel amare est verbum notionale, sicut dicere vel generare”. 161. Ibid.: “Im portatur in Spiritu sancto, prout est amor, habitudo Patris ad Filium, et e converso, u t amantis ad amatum. Sed ex hoc ipso quod Pater et Fílius se mutuo amant, oportet quod mutuus amor, qui est Spiritus sanctus, ab utroque procedat. Secundum igitur originem, Spiritus sanctus non est medius, sed tertia in Trinitate persona. Secundum vero praedictam habitudinem, est medius nexus duorum, ab utroque procedens”. 162. Algumas alusões, além do texto supracitado, em STb I 37, 2: o Pai e o Filho amam-se no Espírito Santo, o “amor procedente”; 39,8. 163. Cí, STb 1 27, 2-3, onde a idéia não aparece. Tampouco em STb 136,2, onde se explica por que o Espírito Santo procede também do Filho (senão, não se distinguiriam a segunda e a terceira pessoas) nem no Comp. Theol. 50. Cf. mais dados sobre a questão em CONGAR, op. d t, 116-120S.
O MAGISTÉRIO E A REFLEXÃO TEOLÓGICA CONTEMPORÂNEA
Q u er se a c e n tu e a idéia de am or mútuo do Pai e do Filho, quer a da processão pela v o n ta d e, a idéia do Espírito Santo como amor esteve m uito presente — e a in d a continua — na teologia ocidental. O primeiro aspecto é, com m uita d iferen ça, o que mais se sublinha nos últim os tempos164. Faz- se ver a correspondência, já presente na tradição, entre o amor e a entrega mútua ad intra e o dom aos homens; o vínculo de união entre o Pai e o Filho e o p rin c íp io de união dos homens na Igreja, corpo de Cristo. Algumas dessas id é ia s foram recolhidas pelo recente m agistério pontifício. João Paulo II as desenvolveu especiahnente na encíclica Dominum et Vivificantem de 18 de maio d e 1986. Vale a pena reproduzir alguns dos parágrafos mais significativos p a r a o tema que nos ocupa: Deus, em su a vida íntima, “é amor” (ljo 4,8.16), amor essencial comum às três pessoas divinas. 0 Espírito Santo é amor pessoal como amor do Pai e do Filho. Por isso “sonda até as profundezas de Deus” (ICor 2,10), como amor-dom incriado. Pode dizer-se que no Espírito Santo a vida íntima de Deus uno e trino faz-se inteiramente dom, intercâmbio de amor entre as pessoas divinas, e que pelo Espírito Santo Deus “existe” como dom. O Espírito Santo é pois a expressão pessoal dessa doação, desse ser-amor. E pessoa-amor. E pessoa-dom... Ao mesmo tempo... é amor e dom (incriado) do qual deriva como de uma fonte (fins vrvus) toda dádiva às criaturas (dom criado)...165. A luz do que Jesus disse no discurso do Cenáculo, o Espírito Santo é revelado de uma maneira nova e mais plena. E não só o dom à pessoa (a pessoa do Messias), senão que é uma pessoa-dom..}66. No dom feito pelo Filho completam-se a revelação e a dádiva do amor eterno: o
Espírito Santo, que com a inescrutável profundidade da divindade é uma pessoa- dom, por obra do Filho, isto é, mediante o mistério pascal, é dado de modo novo aos apóstolos e à Igreja, e por meio deles à humanidade e ao mundo inteiro167.

A centua-se com clareza nessas passagens que a condição de pessoa- amor, pessoa-dom , no seio da própria vida divina, é que possibilita e determina o dom do Espírito aos homens. Do amor m útuo entre o Pai e o Filho passa-se à doação do amor que abraça todos os homens. É claro que
164. Por exemplo, H. M ÜHLEN, op. c it; CONGAR, op. rit., 2 18ss; BALTHASAR, Tbeologik III, l_44ss. 165. JOÃO PAULO H, Dominum et Vivificontem, 10. 166. Ibid., 22. 167. Ibid., 23.
na ordem do conhecimento e da revelação, só partindo do dom dado à Igreja e à humanidade em Pentecostes pode-se chegar à riqueza do amor que une o Pai ao Filho. Com os nomes pessoais de amor e dom sublinham-se duas características inseparáveis da pessoa do Espírito Santo: por uma parte, nele se expressa a vida divina em sua m aior intimidade, o am or que constitui a vida divina; é nesse sentido o núcleo mais profundo da vida trinitária. Por outra parte, constitui a máxima expressão da comunicação divina em direção à criatura, o dom do Pai e do Filho, capaz de introduzir o homem nessa intimidade divina que o mesmo Espírito exprime. Os dois aspectos não se contradizem entre si. A comunicação para dentro é a condição de possibilidade do “transbordamento”, do “êxtase” de Deus que sai para fora de si168. O Espírito que no seio da Trindade leva à plenitude o Deus amor consuma também a obra salvadora que, realizada por C risto de uma vez para sempre por iniciativa do Pai, é efetivada constantemente nos homens, até o momento final da história, pelo Espírito Santo169. O Espírito Santo fecha e arredonda assim o círculo do ser de Deus como amor, uma palavra em que se pode resum ir tudo o que constitui a vida divina170. P or tudo isso não é de estranhar que na teologia recente se acentue de diferentes maneiras esse especial modo do Espírito Santo manifestar, enquanto amor recíproco do Pai e do Filho, o ser mesmo de Deus. Assim, por exemplo, observa-se que no Espírito Santo encontra-se como “hipos- tasiado” aquilo que chamamos a essência, a natureza divina171. “O Espírito é etem am ente ele mesmo, ao compreender seu ‘eu’ como o ‘nós’ do Pai e do Filho, e ao ser ‘expropriado’ em seu prvprissimum"172 Significa isso que

168. C f KASPER, op. d t , 278: “O Espírito Santo expressa a essência mais íntima de Deus, o amor que se dá a si mesmo, de tal modo que o mais íntim o seja também o mais externo, isto é, a possibilidade e a realidade do ser de Deus fora de si. O Espírito é igualmente o êxtase de Deus. E Deus no puro transbordamento, Deus na superabundânria de amor e de graça”. fflLBERATH, op. d t., 205: “Espírito Santo é o acontecimento do encontro amoroso, o espaço em que o Pai e o Filho se superam e os une no amor até constituir uma unidade. Nesse sentido, espírito e amor, as características da vida divina, são ao mesmo tempo os signos espedficos do Espírito Santo”. 169. Cf. JO Ã O PAULO D, op. d t , 14. 170. Cf. BALl HASAR, op. d t, 146-148; GRESHÀKE, op. d t, 211, no Espírito Santo faz-se pessoalmente palpável a plenitude da vida divina. 171. Cf. DURRWELL, op. d t, 146: “tudo o que a linguagem teológica chama a essênda divina, natureza divina, encontra-se hipostasiado nele”. Cf. também 148-149. 172. Cf. BALTHASAR, Teodramática 2,235. Várias vezes nos referimos à conhedda tese de H . Mühlen sobre o Espírito Santo como o “nós” do Pai e do Filho. Cf. nota 184 do capítulo 9.
o Espírito Santo é só a união e o amor do Pai e do Filho, de tal maneira que sua propriedade pessoal desapareça simplesmente na dos outros dois? O Espírito Santo sela a união do Pai e do Filho enquanto é distinto deles, enquanto o am or dos dois produz o "fruto” da terceira pessoa e assim se converte na expressão do amor mesmo. N a economia da salvação, a plena efusão do E spírito Santo sobre os homens é também o "fruto” da ida de Jesus ao Pai e de sua plena comunhão com ele também em sua humanidade. O amor e a união dos dois só se realiza em um terceiro. Além do am or mesmo entre o amante e o amado (Agostinho), o Espírito Santo sela o amor dos dois enquanto os dois amam também um terceiro, o condilectm (Ricardo de São Vítor)17’. Também Agostinho falava do Espírito que mostra a comunhão do Pai e do Filho173 174 175. E também Sto. Tomás disse que o Pai e o Filho se amam no am or que procede17’. A relação do Pai e do Filho, que de certa maneira pode aparecer como “prévia” à expiração do Espírito, não alcança sua plenitude sem esse último. Só em relação com o Espírito Santo o Pai e o Filho são plenamente pessoas, estão unidos em seu am or paterno e filial. A relação Pai-Filho não se entende se não é nesse amor que tem no Espírito Santo ao mesmo tem po sua expressão e seu fruto. Em Deus, as três pessoas são igualm ente im portantes, cada uma se constitui pelas relações com as outras duas, e como já indicamos as processões ou a ordem (taxis) intratrinitária não implicam superioridade de nenhum dpo de umas pessoas sobre as outras. Nenhuma delas é nem pode ser sem as outras duas. Se dissemos que o Pai, único princípio sem princípio, não é sem o Filho, a mesma lógica deve levar-nos a afirmar que o Pai e o Filho, anteriores na taxis não podem ser sem o fruto do am or dos dois, o Espírito Santo.

173. Sobre o Espírito Santo como fruto e expressão do am or do Pai e do Filho, cf., entre outros, GRESHÀKE, op. d t, 210: “Nisso mostra-se o duplo caráter do Espírito Santo: Ele é 1) o resumo (Inbegriff') do am or mútuo e da união do Pai e do Filho, e ele é 2) o fruto objetivo do amor e com isso, no sentido de Ricardo de São Vítor, com o ‘terceiro’, é a garantia de seu amor. Contudo, esse duplo caráter não significa nenhuma dualidade”; c£ também Ibid. 156; A l KEHL, Kirche-Sakrament des Geistes in KASPER (ed.), Gegenwart des Geistes, Aspekte der Pneumatologie beute, Freiburg-Basel-W ien, 1979, 155-180, 159: o Espírito Santo é ao mesmo tempo o pressuposto e o fruto da comunhão do Pai e do Filho. Cf. BALTHASAR, op. cit, 130; A. GONZALEZ, Trinidady Liberación, San Salvador, 1994, 202; GALOT, L’origine étem elle de l’E sprit Saint, Greg 78 (1997) 501-522, esp. 517. Cf. o cap. anterior, 288-295. 174. Tritt XV 19, 37 (513): “communionem demonstrai amborum”. Cf. a nota 154. 175. STb 1 38,2. Cf. 38,1. LEÃO XUI, Divinum iUvd (DS 3.330): “qui a mutuo Patris Filiique amore procedens”. O Espírito Santo não é somente o am or do Pai e do Filho, mas procede do amor de ambos.
O transbordam ento do dom para fora, a união do Pai e do Filho na intimidade da vida divina foram acentuados de maneira diversa nas tradições teológicas do O riente e do O cidente176. Mas não se deve considerar as duas visões incompatíveis e alternativas. A tradição teológica oferece base para as duas, que podem portanto ser consideradas complementares. Não se deve pensar que as analogias a partir das realidades criadas, do homem em concreto, utilizadas no Ocidente, tenham por finalidade a “explicação” do mistério divino. Deus se nos m ostra como maior e incompreensível quanto mais se aproxima de nós e nos dá a conhecer os mistérios de seu amor. A afirmação e a negação deveriam combinar-se sempre em nossa aproximação crente do mistério de Deus uno e trino. A revelação não significa que o mistério deixe de ser mistério. Isso vale de modo especial quando se trata do Espírito Santo, pelo certo “anonimato” que o caracteriza177. A posição do Espírito Santo no centro do m istério divino mostra-se paradoxalmente na falta de exclusividade dos nomes que lhe aplicamos. O mesmo nome de Espírito Santo, já notavam os Padres, conviria igualmente ao Pai e ao Filho já que ambos são “espíritos” e são “santos”178. 0 am or é a característica de Deus segundo ljo 4,8.16. O Filho foi também dado pelo Pai e deu-se a si mesmo. Ao ter como próprios os nomes que não lhe convêm exclusivamente, o Espírito Santo manifesta o profundo mistério do ser divino, precisamente por tom ar possível que os homens entrem em comunhão com Deus179.

176. BALTHASAR, Tbeologik II, 141: “A visão oriental contem pla nm últim o autotransbordamento do Pai mediante o Filho na amplitude e liberdade do Espírito que tudo abarca; a visão ocidental contempla no voltar-se em resposta do Filho ao Pai (que é uma só coisa com o saber divino do Filho de que vem completamente do Pai e a ele há de agradecer tudo) a processão do Espírito como o encontro frutuoso do amor que dá e que recebe, que produz esse amor — absolutamente como Espírito do amor — no comum alento que vai para lá de si mesmo”. C f a continuação do texto, 141-142. 177. Assim J. M . GARRIGUES, ElEspiritu que dite: “Padre!”, Salamanca, 1985,63: 0 tropos da terceira pessoa é o anonimato; BULGAKOV, op. cit, 336ss., falava do Espírito Santo como a hipóstase desconhecida. 178. Cf. HILÁRIO de Poitiers, Trin. I I 30 (CCL 62,65); DÍDIM O o Cego, De Spir. sane. 54,237 (SCh 386,356s); BASÍLIO de Cesaréia, De Sp. Sane. 19,48 (SCh 17bis, 416); e sobretudo AGOSTINHO, Trin. V 11,12 (CCL 50,219); TOMÁS D E AQUINO, STb 1 36,1 ad 1, entre outros muitos. 179. Cf. AGOSTINHO, Trin. V I 5,7 (235) que põe em relação Deus como amor com o Espírito, amor do Pai e do Filho. BALTHASAR, Tbeologik III, 148: “Assim a ‘ponta mais exterior’ da essência divina, ao mesmo tempo idêntica com o ‘centro mais interior’, e quando o Espírito for dado como dom à criatura, nesse dom está toda a essência da divindade e com isso a ‘divinização’ da criatura”. Também ibid., 214, o dom do Espírito à criatura não «n«!« nosso ser de criatura, e portanto não elimina o diálogo do homem com Deus.
3. A processão do Espírito Santo
Tratam os de desenvolver as linhas fundamentais da teologia do Espírito Santo sem centrá-la exclusivamente na questão de sua processão, embora tendo de fazer freqüentes referências a ela, dada a proximidade desse tema com os que acabamos de desenvolver. Abordamos agora diretam ente esse problem a do ponto de vista doutrinal, ainda não totalm ente clarificado nas relações entre O riente e Ocidente. N os últimos anos, produziram-se declarações da parte católica que, cabe esperar, possam ajudar para um entendim ento180. Mas antes de filar diretam ente do problema controvertido do Filioque, devemos tratar das diferentes aproximações que na história foram dadas a esse problem a, antes de se converter em uma questão explicitamente controvertida entre as diversas confissões cristãs. E evidente que não podemos pensar que nos prim eiros tempos da Igreja a questão tenha sido colocada nos term os que depois foram propostos. Precisam ente por isso a lembrança de alguns dados neotestamentários e da antiga tradição podem ajudar a ver a questão com maiores perspectivas. O que vamos dizer aqui ajudará a completar o que vimos expondo sobre a pessoa do Espírito.
A processão do Espírito no Oriente e no Ocidente

Antes de tudo é inevitável um a referência a jo 15,26, texto de que se valeu toda a tradição: o Espírito Santo procede do Pai, irotpà tou iraTpó«; êiciropeúeTai; mas Jesus também participa em sua missão (Jo 16,7) e o Espírito recebe dele, do que é seu Qo 16,14s). Em IC or 2,13, fala-se de tò nveupa tò 8K tou 6sou Não repetim os o que já conhecemos sobre o envio do Espírito por parte de Jesus ressuscitado, nem sobre o fato de que
180. JOÃO PAULO II, em sua homilia na solenidade de S. Pedro e S. Paulo (29, jun., 199S), ante o patriarca ecumênico de Constantinopla, expressou o desejo de que se explique “a doutrina tradicional do Filioque presente na versão litúrgica do Credo latino, de modo que seja esclarecida a plena harmonia com o que o Concílio ecumênico de Constantinopla, em 381, confessa em seu símbolo: o Pai como fonte de toda Trindade, única origem do Filho e do Espírito Santo” (Cf. UOsservatore Romano, 30 jum/1 jul., 1995). O esclarecimento pedido pelo papa teve lugar em uma Declaração do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos publicada no Osservatore Romano de 13 de setembro de 1995. Os dados que damos em seguida sobre a história do problema podem-ser completados com A. PAATFORD, Le Filioque dans la conscience de lEglise avant Ephèse, RevTb 97 (1997) 318-354.
segundo o N ovo Testamento o Espírito é não só “de Deus”, mas também “do Filho” ou “de Jesus”. Também já tivemos ocasião de estudar alguns elementos da antiga tradição. Considera-se em geral que o Espírito vem do Pai, o que é, em último termo, a garantia de sua divindade, mas a partir do feto incontrovertído da doação do Espírito por parte do Filho passa-se também a contemplar uma certa função da segunda pessoa em sua mesma processão. Segundo Orígenes, o Espírito, embora sendo claramente divino, e portanto essencialmente diverso das criaturas, é o primeiro dos seres que vêm à existência por ação do Pai mediante o Filho, segundo a interpretação universal que o Alexandrino fez de Jo 1,3. Tertuliano usou a fórmula “a Patre per Filium ”181, mas pode ser que se refira só à doação do Espírito Santo ad extra. O Espírito é o terceiro “a Deo et (ex) Filio”1*2. Tertuliano fez essa afirmação no contexto das comparações trinitárias que já conhecemos, que mostram um esquema linear: fonte, rio, canal; raiz, tronco, ramo... Observa também que o Espírito Santo tom a o de Jesus (cf. Jo 16,14) como Jesus do Pai183. Atanásio parece aplicar um esquema linear parecido: o Pai é luz, o Filho, resplendor, o Espírito Santo nos ilumina; o Pai é fonte, o Filho, rio, bebemos do Espírito Santo184. A preocupação de Atanásio nesse contexto é fazer ver como a participação imediata na vida divina acontece no Espírito Santo. Outros textos que fezem referência à vida interna de Deus são mais vagos: tudo o que o Espírito tem, tem-no do Logos, irotpà tou Xotou185; mas também cita em outra ocasião Jo 15,26, o Espírito Santo procede do Pai, embora enviado e dado pelo Verbo, T iap à toü Xotou186. Conhecemos o paralelismo das relações Pai-Filho/Filho-Espírito que Atanásio estabelece187. Mas é óbvio que não podemos buscar resposta clara em um problem a que naquele tem po não estava colocado.

181. Ado. Prax., 4,1 (SCARPAT, 150). 182. Ibid., 8,7 (160). 183. Ibid., 25,1 (218): “DemeosumetQo 16,14), iriquit, sicut ipse de Patre. Ita connexus P atris in Filio e t Filii in Paraclito tres efficit cohaerentes, alteram ex altero”. 184. Cf. Serap., 1 19 (PG 26, 573). Cf. para o que segue, SIM O N E lT l, La crisi ariana nel IV secolo, Roma, 1975,494-500. 185. C. Arian. m 24 (PG 26, 376). 186. Serap. 1 20 (580). C f m 5 (632) as coisas recebem do Espírito, para tou logpu, a força para serem. 187. Serap. 1 25 (588s): certos indícios da relação intratrinitária Filho-Espírito em Atanásio, foram recolhidas por CONGAR, op. d t , 469. DÍDIM O o Cego, De Sp. Sane. 34, 153 (286). O Espírito é “ex Patre et ex me (Jesus)”; mas não dispomos do original grego.
Também não são claras as indicações de Basüio. Encontram -se nele as idéias de Atanásio sobre a proximidade e a imediatez do E spírito em nós, que nos faz participantes da vida divina188. A relação entre Jesus e o E spírito está expressa sobretudo neste texto: “Chama-se E spírito de Cristo porque está intim am ente unido a ele p o r natureza... como Paráclito manifesta a bondade do Paráclito que o enviou, e em sua própria dignidade põe em relevo a dignidade daquele de que saiu”189. Se em um prim eiro mom ento esse texto refere-se claramente à missão salvíBca, o significado de “sair” não é tão evidente; porém a intervenção do Filho podia limitar-se à econom ia. Sabemos já que devemos a G regório Nazianzeno o term o técnico “processão”, aplicado ao Espírito, mas a pessoa de quem procede é o Pai. A “processão” perm ite determ inar a propriedade do Espírito em relação com as outras pessoas divinas: o E spírito Santo não é ingênito, nem tam pouco gerado190. Provêm do Pai as outras duas pessoas, não para estarem confundidas, senão unidas191. G regório Nazianzeno tem textos em que se insinua a intervenção do Filho na processão do Espírito Santo, que tem no Pai seu princípio. Uma e a mesma é a pessoa, a do Pai, que gera o Filho e da qual tam bém procede o Espírito192; parece assim que a geração do Filho e a processão do Espírito se põem em relação. G regório usa tam bém a metáfora da lâmpada que acende um a outra, e por meio dela um a terceira193. Em outras passagens usam-se os conhecidos textos do Evangelho de João: o E spírito Santo vem do Pai e recebe do Filho (cf. Jo 16,26, e também Rm 8,9), sem que o problema da relação interna fique excluído: No que é causado vemos imediatamente uma nova distinção entre o que vem imediatamente do primeiro e o que vem pela mediação do que vem imediatamente do primeiro... A posição intermédia do Filho reserva para ele a propriedade de ser unigénito, e o Espírito Santo não está privado de sua relação natural com o Pai194.

Diríamos que G regório fala em geral de uma processão do Espírito a Patre per Filium, mas sem precisões exatas. A ordem (taxis) das pessoas não
188. De Sp. soneto 26,63-64 (SCh 17bis, 472-476). 189. Ibid., 18,46 (410): o Espírito Santo une-se ao Pai através do Filho. 190. Or. 31, 8 (SCh 250,290); ibid., 31,9 (292): ao Espírito Santo nada falta, mas há diferença a respeito do Filho na relação. 191. Or. 42,15 (SCh 384,82). 192. Cf. Aà Graeco ex comum. nationibus (JAEGER, m , 1, 25). 193. Cf. De Sp. soneto adv. Mac. (JAEGER, III 1,93). C f a nota 74 do cap. 8. 194. Quod non sunt tres dii (JAEGER, DI 1,56).
implica diferença cronológica alguma195. O Espírito procede do Pai, a intervenção do Filho não se exclui, mas perm anece em certo âm bito de in- determinação. O que sobretudo importa é a divindade do Espírito, assegurada pela relação com o Pai, e não tanto o problem a estrito da “processão”, que nesses tem pos ainda não era objeto de discussão. Em Cirilo de Alexandria aparece em algumas passagens a idéia do Espírito como próprio do Filho, que é dele e que dele recebe. Algumas dessas afirmações devem-se à oposição a N estório. Era preciso acentuar que o Espírito Santo era próprio de Jesus enquanto encarnado, para afirmar a unidade da pessoa de Jesus196. Da economia parece que se passa à Trindade imanente: o E spírito é da essência do Filho197; é do Pai e do Filho, próprio do Filho198, e inclusive “dele”199, mas só a respeito do Pai usa-se o termo èKirópeutm, que significa a relação ao princípio sem princípio; entretanto o verbo iTpoiévai, e outros semelhantes, mais vagos, expressam também a relação para com o Filho200. C irilo foi atacado por Tèodoreto de Ciro, que o acusava de dizer que o Espírito tem sua existência do Filho ou pelo Filho, quando Jesus diz que procede do Pai. Mas C irilo não mudou de parecer, e ainda depois de ser combatido continuou dizendo: “de ambos”. Evidentemente não se trata da teologia que em seguida veremos elaborada por Agostinho, mas de fazer ver que o Espírito Santo está unido à essência divina e é Deus como o Pai e o Filho. Não é criatura porque é próprio do Filho. Parece afirmar-se uma relação com o Filho na processão do Espírito, mas com um certo vagar. A fonte última de que provém o Espírito é o Pai. Máximo Confessor observa que o Espírito Santo, por sua natureza, tem sua origem no Pai por meio do Filho gerado201.

195. Contra Em. 181 (JAEGER1689): “Como o Filho está unido ao Pai e recebe sua origem dele, sem ser posterior a ele... assim também o Espírito Santo a recebe, por sua vez, do F ilho, pois esse é considerado anterior à hipóstase do Espírito Santo, som ente em relação à causalidade, sem que nessa vida etem a haja lugar para intervalos temporais”; GREGO R IO di Nissa, Teologia trimtaria (Tradução e introdução de C. M ORESCHINI), Milão, 1994, 189s. 196. Ado. Nest. IV 1 (PG 76,173) cf. CONGAR, op. d t, 479ss, também para o que
segue.
197. Cf. Tbesattrus (PG 75, 585; 608) o Espírito é da mesma ousta do Filho, realiza a plenitude da santa Tríade. 198. h loel. 35 (PG 71, 377). 199. “Ex autou”; De S. Trin. Dial. 7 (PG 75, 1.093). 200. Assim, por exemplo, Injob. ev 2 (PG 71,212); Tbesaurus, PG 75,585; <508; 612); Ado. Nest. IV 1 (PG 76, 173). 201. Cf. Quaestíones ad Tbalassium, 63 (PG 90, 672).
Devemos ver também algumas formulações de João Damasceno (m orto em 749), antes de passar aos ocidentais. Sua preocupação principal é sublinhar a unidade divina, da qual passa à “m onarquia” de Deus Pai. £ ele o Pai do Filho unigénito e proboleus do Espírito Santo. Este não vem por geração, mas tem outro modo de vir ao ser, ou de subsistir (rpóitos rq<; vjrápfjecü«;). O Espírito vem só do Pai, só ele pode ser chámado “causa” do E spírito, mas é o Espírito do Filho, não porque saia dele, mas porque vem por ele (St* avrou) do P ai. O Pai produz pelo Verbo o Espírito que o m anifesta. E chamado Espírito do Filho não como (procedendo) dele, senão procedendo do Pai por ele202. Também o Espírito repousa no Verbo e o acompanha, participa de sua atividade tom ando-o manifesto. E a imagem do Verbo. Certam ente não se pode dizer que João Damasceno ensine que o E spírito procede do P ai e do Filho. Mas a processão do Espírito está de algum modo referida à geração do Filho. N ão podemos determ inar exatam ente a diferença entre uma e outra: “Pela fé recebemos que existe diferença entre geração e ekporeusis ou origem do Espírito Santo. A fé não nos diz em que consiste essa diferença”203. João Damasceno vê a processão im anente e o dom do Espírito em íntima relação. Em conjunto, a fórmula a Paire per Filium, sem querer dar ao últim o membro uma significação especialmente precisa, pode ser considerada uma linha presente na teologia dos Padres gregos. Devemos acentuar sobretudo que a ekporeusis propriamente dita se afirma exclusivamente do Pai, já que só ele é a causa e a fonte da THndade. Uma intervenção do Filho não está excluída, mais ainda: é afirmada por muitos, mas em termos pouco precisos. A teologia ocidental seguiu outros caminhos, sobretudo a partir de
Sto. Agostinho. Mas antes temos de notar que a fórmula a Patre per Filium, que vimos em Tèrtuliano, foi recolhida por H ilário como algo adquirido, em bora devido ao escasso desenvolvim ento de sua pneum atologia
“im anente” não possamos perceber exatamente o sentido que lhe dava: talvez haja nele influências da linha de Orígenes, que já conhecemos204.
Ambrósio foi provavelmente o prim eiro a afirm ar que o Espírito procede

202. Cf. De fide ortbodoxa, 112 (PG 94,849); cf. 1 8 (832s) o Espírito não vem do (ek) Filho, mas é chamado Espírito do Filho. Cf. J. GREGOIRE, La relation étemelle de l’Esprit an Fils d’après les écrits de Jean de Damas, Revue d'Histoire Ecclésiastique 64 (1969) 713-755. 203. De fide ortbod. 1 8 (824); cf. CONGAR, op. rit., 484 204. Cf. LAD ARIA, El Esptrim Santa en S. Hilario de Poitiers, Madrid, 1977, 302ss. HILÁRIO também vê um paralelismo entre o proceder do Pai e o receber do Filho, segundo Jo 16,14.15 (7h». V m 20; CCL 62,33 ls). O Espírito não é gerado, mas também não é criado.
do Pai e do Filho20S, embora, devido ao contexto, seja difícil precisar até que ponto refere-se à processão intratrinitária, ou se, antes, trata da doação do Espírito aos homens. A corrente de pensamento que deriva de Agostinho, com os antecedentes que indicamos, e que vê o Espírito como dom do Pai e do Filho, e ao mesmo tem po como am or m útuo e fruto desse am or recíproco, leva a teologia ocidental, a começar pelo próprio Agostinho, a afirmar a processão a partir das duas primeiras pessoas. O Pai e o Filho constituem um princípio único do Espírito Santo, que assim procede dos dois206. Agostinho, porém, teve o cuidado de observar que, embora o Espírito Santo proceda dos dois, vem principatiter do Pai, porque, se procede também do Filho, é porque o Pai deu ao Filho essa possibilidade. Tudo o que o Filho é e tem, e portanto também que dele proceda o Espírito Santo, lhe foi dado pelo Pai na geração207 D o fato de que o Espírito Santo seja considerado am or e dom do Pai e do Filho, deve-se concluir que também procede da segunda pessoa, embora o Pai, de quem o Filho recebe tudo, continue sendo a fonte única da Trindade. Devemos notar o marcado caráter antiariano do Filioque ao associar o Pai e o Filho na processão do Espírito: assim fica acentuada mais fortemente a plena comunhão de essência dos dois, a consubstancialidade do Filho com o Pai. O O cidente medieval seguirá com esses esquemas, depois de ter sido o Filioque, como veremos, afirmado em numerosos sínodos e Concílios regionais. Anselmo dedica uma obra à processão do Espírito Santo em que defende com vigor o Filioque contra os gregos208. Também

205. De Sp. Sane. 1 11. 120 (CSEL, 79, 67). 206. Cf. Centra Maxim. II 14,1 (PL 42,769), além dos textos de Trin. que já conhecemos. 207. Trin XV 17,29 (CCL 50, 503s): “...nec de quo genitum est verbum et de quo procedit principaliter spiritus sanctus, nisi deus pater. Ideo autem addidi principaliter, quia et de filio spiritus sanctus procedere reperietur. Sed hoc quoque illi pater dedit non iam existenti et nondum habend, sed quidquid unigénito verbo dedit, gignendo dedit. Sic ergo eum genuit ut etíam de illo donum commune procederet, et spiritus sanctus spiritus esset amborum”; XV 26,47 (529); “Filius autem de patre natus est, et spiritus sanctus de patre principaliter, et ipso sine ullo temporis intervallo dante, communiter de utroque procedit”; cf. também In Job. ev. 99,8 (CCL 36,587). 208. Cf. De processione Spiritus sancri 1; 2; 4; 12; 14; 16, in Opera, edição de F. S. SCHMIRR, v. 2, 185; 190; 193; 209s; 212-215; 217, entre outras passagens; só pode ser o Espírito Santo se procede dele. Da economia se passa à Trindade imanente. Também o “principaliter” agostiniano foi recolhido por ANSELMO, Ibid., 14 (213). Cf. GILBERT, La confession de foi dans le De processione Spiritus sancti de samt Anselm, in W . AA., Latuatità filosófica di Anselmo d'Aosta, Roma, 1990,229-262; S. BONANNI, II “Filioque” tra dailettica e dialogo. Anselmo e Abelardo: posizioni e confronto, Latcranwn 64 (1998) 49-79.
Ricardo de São V ítor argúi a favor da processão dos dois devido ao fato da com unhão de poder de todas as pessoas209. A processão do Espírito faz-se pela com unhão de amor (o Espírito é o condilectus) como na do Filho entra a com unhão da honra. Santo Tomás observa a relação entre o nome do Espírito Santo e o modo de sua processão. Como Agostinho e os autores que o precederam, nota que o nom e próprio do Espírito Santo de si é comum: isso se deve a que procede pela via do amor. A conveniência do nome vem portanto, em prim eiro lugar, de ser o Espírito dos dois, do Pai e do Filho. O nome é tam bém conveniente porque o amor, como o espírito, é impulso, moção: isso também é próprio do Espírito Santo. Por isso à pessoa que procede por am or convém o nom e de “espírito”. Também lhe convém o adjetivo “santo”; atribui-se a santidade àquelas coisas que são ordenadas para Deus. Se essa pessoa procede por meio do amor, pelo qual Deus é amado, “de modo conveniente é chamado Espírito Santo210. Porém, com o foi notado, o amor do Pai e do Filho em Sto. lòm ás desempenha um papel reduzido na processão do Espírito Santo do Pai e do Filho. A razão fundamental pela qual se deve afirmar a intervenção do
Filho nessa processão são as relações opostas: É necessário que o Espírito Santo proceda do Filho. Pois, se não viesse dele, não se poderia distinguir pessoalmente dele de nenhum modo... As pessoas só se distinguem entre si pelas relações. Ora, as relações só podem distinguir as pessoas enquanto opostas... O Pai tem duas relações, das quais uma se refere ao Filho, outra ao Espírito Santo, mas por não serem opostas não constituem duas pessoas. Portanto, se no Filho e no Espírito Santo não se pudesse encontrar mais que duas relações com as quais cada um deles se referisse ao Pai, essas relações não seriam opostas entre si... Donde se seguiria que a pessoa do Filho e do Espírito Santo seria uma só211.

A doutrina da processão do Espírito Santo por via do am or leva à mesma conclusão: o am or procede do verbo, porque não podemos amar uma coisa senão enquanto a apreendemos pela concepção da mente212. O s próprios gregos, diz St». Tomás, entendem que a processão do Espírito Santo tem uma certa ordenação ao Filho, já que dizem que o
209. Cf. Trin V 8 (SCh 63, 318ss). 210. Cf. STb I 36,1. 211. STb I 36,2 212. Ibid.
Espírito Santo é também Espírito do Filho, o que “procede a Patre per Filium”. E acrescenta uma observação interessante, que revela os malentendidos terminológicos que podem surgir em tom o dessa questão: notamos que muitos Padres gregos, embora reconheçam uma certa intervenção do Filho na processão do Espírito, não se referem a ela com o termo ekporeusis. Reservam esse term o para a procedência do Pai, porque somente ele é o princípio original e a primeira fonte do Espírito. Mas Sto. Tomás nota que em latim o verbo procedere é usado para designar qualquer origem; por essa razão podemos concluir que o Espírito Santo procede do Filho213, embora somente no Pai esteja a fonte originária da divindade. A fórmula da processão do Espírito Santo “a Patre p er Filium” é aceita também por Tomás. Sua explicação é, no fondo, agostiniana, baseada no prin cipaliter que já conhecemos: o Filho recebeu do Pai que dele também proceda o Espírito Santo. Assim o Espírito procede do Pai por uma parte, imediatamente, porque o Pai é o princípio imediato, mas por outra parte procede dele mediatamente, enquanto procede também do Filho que recebeu do Pai ser princípio do Espírito214. O Pai e o Filho são um só princípio do Espírito Santo, porque em sua condição comum de princípio do Espírito não se opõem relativamente. Tòmás fonda-se já no princípio segundo o qual em Deus há unidade onde não há oposição de relações, que formulará, dois séculos depois, o Concílio de Florença215. E uma propriedade que pertence a dois sujeitos, como também aos dois pertence a mesma natureza. Mas, se se considera os sujeitos da expiração, é claro que se trata de dois, pois procede deles enquanto am or unidvo dos dois216. O breve resumo de alguns representantes das tradições oriental e ocidental sobre essa questão fez-nos ver as diferenças de aproximação ao tema, e igualmente os pontos de contato: o reconhecimento do Pai como fonte última da divindade, uma presença do Filho na processão do Espírito Santo, expressa em termos vagos no Oriente, às vezes com a formulação genérica “do Pai mediante o Filho”, e mais estritos no Ocidente, onde desde Sto. Agostinho fala-se na processão do Espírito “do Pai e do Filho” como de um só princípio. N o O cidente, o dado “econômico” do Espírito, dom do Pai e do Filho, passou ao dado imanente da processão dos dois; a

213. Cf. Ibid. 214. Cf. STb I 36,3. 215. STb I 36, 4: “Pater et Filius in omnia «mum sunt, in quibus non distinguitur inter eos relationis oppositio”. C f. DS 1.330. 216. Ibid., ad 1: “Procedit ab eis ut am or unitivus duorum”.
teologia oriental não deu esse passo, ao menos com igual clareza. Teve m ais em conta, ao contrário, que o Espírito vem sobre Jesus, o Filho encarnado. A concepção teológica ocidental levou à introdução do Filioque no credo, e às discussões que em tom o desse fato se suscitaram. A esse problem a vamos dedicar agora nossa atenção.
OF i l i o q u e nos símbolos e no magistério
A doutrina agostiniana da processão do E spírito Santo do Pai e do Filho já encontra eco no sím bolo Quicumque, surgido provavelmente na G ália m eridional entre 430 e 450, e que gozou de grande autoridade tanto no O riente como no O cidente. Encontramos nele a fórmula: “Spiritus sanctus a P atre et Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens” (DS 75). L eão Magno ensina a mesma doutrina: o Espírito Santo procede dos dois (ano 447; DS 284). M as ainda a “fides Pelagii papae” (Pelágio I, ano 557) afirm a que o Espírito Santo “ex patre intem poraliter procedens, Patris est Fillique Spiritus” (DS 441). O Filioque encontra-se já no credo de Victrício de Rouen, discípulo de Ambrósio, do final do século IV217, e em diferentes credos espanhóis do século V218. N o terceiro Concílio de Toledo (ano de 589), na profissão de fé católica de Ricaredo (antes ariano), lê-se: “Igualmente o Espírito Santo deve ser confessado por nós e deve-se afirmar que procede do Pai e do Filho e que é de uma só substância com o Pai e o Filho” (DS 470). A afirmação, clara- m ente antiariana, busca, antes de tudo, afirmar a consubstandalidade do Pai e do Filho, e a do Espírito Santo com os dois. E o Concílio IV de Toledo, de 633, afirma uma vez mais que o Espírito Santo não é criado nem gerado, senão procedente do Pai e do Filho (cf. DS 490)219. O papa M artinho I, em uma carta sinodal (Sínodo de Latrão, 649), afirmou que o Espírito Santo procede também do Filho. N o O riente, alguns se inquietaram. Máximo Confessor responde a algumas dessas preocupações, observando que os latinos mostram a processão do Espírito Santo por meio do Filho. Máximo distingue entre o ÈKiropeúecrOoa do irpoiévai.

217. Cf. PL 20, 246. Cf. GARRIGUES, op. rit., 1985, 91ss. 218. Cf. J. N .D. KELLY, Primitivos endos cristianos, Salamanca, 1980,426-428, entre outros o concílio de Toledo I do ano 400, mas com acréscimos à formula de 447. 219. Cf, também os símbolos dos Concílios de Toledo VI, IX e XVI (DS 490; 527, 569-70). Interessantes as formulações do último, “ex Patris Filliique unione procedit”, “a Patre Filioque”.
Os latinos não fizeram do Filho a “causa” do Espírito Santo, mas afiima- ram a processão (proemai) por meio dele, e assim mostraram a identidade da essência. D istingue-se pois a ekporeusis, que é só a partir do Pai — o sair da prim eira fonte ou causa inicial — , do procedem, que não implica essa precisão220. 0 problem a parece não te r tido m aiores conseqüências naquele momento. Também na Inglaterra um sínodo, em 680, em Hartfield professa: “Spiritum Sanctum procedentem ex Patre et Filio inenarrabiliter”’ Aceita-se o que foi dito pelo papa M artinho I. Igualmente na França, no Sínodo de Gentilly, em 767, afirma-se que o Espírito Santo procede do Filho da mesma maneira que procede do Pai Alcuíno de York insiste em favor do Filioque perante Carlos Magno- esse protestou ante o papa porque o Concílio de N icéia de 787 aceitou a confissão de fé do patriarca Tarásio, que professa que o Espírito não procede do Pai e do Filho, de acordo com a fé do símbolo niceno (!), senão do Pai pelo Filho221. 0 papa Adriano I defendeu os orientais. O Concílio de Frankfurt, em 794, devia condenar os orientais, mas Leão m , sucessor de Adriano defendeu de novo o H Concílio de N icéia. O papa aceita a doutrina do Filioque, mas não quer introduzi-la no credo. Faz gravar duas placas, na confissão de S. Pedro, com o texto em latim e em grego, sem o acréscimo F ódo não acusou Roma dim am em e pelo nem para isso, pois em Roma não se havia introduzido no credo. Somente quando H enrique H foi coroado imperador em 1014 introduziu-se em Roma o credo na missa (que até então não se recitava), e se o introduz com o acréscimo já habitual no Ocidente. Entretanto, Fócio, que tinha falecido em comunhão com Roma depois de ter sido excomungado e deposto, tinha escrito desde 867 contra o Filioque latino, e formulou a tese da processão do Espírito Santo só do Pai, formulação mais radical do que as dadas até então. Insiste na monarquia do Pai, dele vêm tanto o Filho como o Espírito Santo, de tal maneira que se elimina toda possibilidade de intervenção do Filho na processão do Espírito Santo, o que não fora feito até então. A intervenção do Filho na missão do Espírito Santo na economia salvífica está assim completamente privada de toda possível correspondência intra-

220. Mais dados ero GARRIGUES, op. cit., 105ss. Vimos que essas distinções terminológicas já se achavam também em Cirilo de Alexandria. 221. Cf. GARIJO GUEMBE, Filioque, em PIKAZA; SILANES, Diccionario del Dm cristiano, Salamanca, 1992, 545-554, 547. CONGAR, op. tit., 496: “Tinha-se introduzido o Filioque no símbolo na última década do século VI, e se acreditava de boa-fé que provinha de Nicéia-Constantinopla, de maneira que muito tempo antes do fogoso H um berto, em 1054, os Ldbri carolini, por volta de 790, puderam acusar os gregos de tê-lo suprimido do símbolo í”. Cf. também Ibid., 496 ss., para o que segue.
trin itá ria . A te o lo g ia de G regório Palam as parece excluir o Filho da processão “h ip o s tá tic a ” do E spírito Santo, m as lhe concede em troca um lugar na m a n ife sta ç ã o “energética” econôm ica. A graça dada pelo Filho é incriada, m as n ã o é o E spírito Santo mesmo, e sim energia incriada, dom divinizador inseç>arável do Espírito Santo222. C o n h e c e m o s já a posição de Sto. Tomás, que m orreu precisam ente quando se dirigia, a Lião para participar dos trabalhos do segundo Concílio daquela cidade e m 1274: o concílio tinha sido convocado para restabelecer a união com o s gregos. N o salão leu-se a profissão de fé de M iguel
Paleólogo: “C re m o s tam bém no Espírito Santo, Deus verdadeiro, pleno e perfeito, que p ro c e d e do Pai e do Filho, igual e consubstanciai...” (DS 853). O Pai e o F ilh o são um só princípio do Espírito Santo (cf. DS 850).
A união d esejad a não se realizou. O C o n cílio de Florença (1439-1445) voltou à questão. Alguns dos representantes g reg o s foram muito críticos da posição latina, qualificada de sim plesm ente herética. A lembrança da posição mediadora de Máximo
C onfessor, que já conhecemos, pôde desbloquear a discussão. N ão se podia pensar que o s santos Padres latinos e gregos tivessem podido contradizer-se entre s i . A A ta da T Jnião de Florença foi subscrita pelo imperador e 39 orientais. N ão a assinou o principal orador oriental, Marcos Eugênico. Infeliz- m ente tam pouco nessa ocasião a união pôde realizar-se. No Concílio de
Florença entendeu-se o “a Patre per Filium” no sentido do Filioque, mas em com pensação faltou o reconhecimento oposto, isto é, de que também o Filioque poderia ser o equivalente de “a P atre per Filium”. A diversidade de pontos de v ista ficou reduzida assim à fórm ula ocidental: Definimos... que o Espírito Santo procede etemamente do Pai e do Filho, e do Pai juntamente e do Filho tem sua essência e seu ser subsistente, e de um e do outro procede etemamente como um só princípio e por uma única expiração. Igualmente dedaramos que o que os santos doutores e padres dizem, a saber, que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho, tende a essa inteligência, a expressar que também o Filho é, segundo os gregos, causa, segundo os latinos, princípio da subsistência do Espírito Santo, como também o Pai. E como tudo o que é do Pai, o Pai mesmo o deu ao seu Filho unigénito ao gerá-lo — exceto ser Pai —, o mesmo preceder o Filho ao Espírito Santo o Filho o tem etemamente também do mesmo Pai, de quem é

222. Cf. CONGAR, op. c it, 504: GARIJO GUEM BE, op. d t , 549s.
também etemamente gerado. Além disso definimos que a adição da palavra Filioque foi lícita e razoavelmente posta no símbolo, em graça de declarar a verdade e por necessidade então urgente (DS 1.300-1.302).
A linha do principaliter de Agostinho é facilmente reconhecível em toda a argum entação. Parece estranho que se tenha dito que os gregos chamam o Filho tam bém “causa” do Espírito Santo. Antes, reservam essa expressão ao Pai, segundo alguns textos que tivemos ocasião de considerar.
A QUESTÃO NA ATUALIDADE
Embora o problem a não conheça na atualidade a virulência de outros momentos, não podemos considerar que esteja de todo resolvido. H á representantes da ortodoxia que opõem grandes dificuldades para aceitar a concepção ocidental, mas outros não consideram o Filioque por si só um motivo que justifique a separação223. Bulgakov pensava que o Filioque não significava uma divergência dogmática entre as Igrejas do O riente e do Ocidente; se não se observam diferenças notáveis na vida das respectivas Igrejas, é sinal de que não há também na fé224. Outros teólogos ortodoxos insistem na simultaneidade da geração do Filho e da processão do Espírito e querem antes ver uma m útua relação entre elas, sem negar uma intervenção do Filho eterno na processão do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho225.

223. Cf. as teses de Bolotov, no final do século XIX, em CONGAR, op. d t., 627; parece significativa a tese n. 3: “A opinião segundo a qual a expressão dia tou Hyiou nunca teria contido outra coisa além de uma missão temporal do Espírito, obriga a violentar a interpretação de alguns textos dos Padres”. 224. Cf. IlParaclitOy 208; 231. Ver p. 145: "... o Filho, na humilhação sacrifidal de si mesmo, recebe também simultaneamente o Espírito, que procede do Pai sobre ele, que sobre ele repousa e passa por meio dele, como redproddade, resposta, anelo do amor” 225. Assim BOBRINSKOY, op. d t, 298: “O Filho será pois a ‘razão de ser’ da processão do Espírito que será ao mesmo tem po o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. O Espírito estará não menos ligado — inefavelmente — à geração paterna do Filho, repousando sobre o Filho que é pneumatófòro desde toda eternidade. Pode-se então conceber que o Espírito procede do Pai somente, lembrando-se que se deve entender ‘Pai do Filho’...”. Cf. também 300; 304: “O Filho eterno não é estranho à processão do Espírito Santo. Mas, acrescentará a teologia ortodoxa: a) de maneira inefável; b) sem fazer introduzir a noção de causalidade e c) sem pôr em questão o caráter intransmissível da propriedade hipostática do Pai, de ser ele única Fonte e Princípio da divindade do Filho e do Espírito”. Ver também os elementos positivos e as lacunas que encontra no “filioquismo”. M ais infor-
A te n d ê n c ia da teologia católica é antes ressaltar a compatibilidade e a com plem entaridade das fórm ulas oriental e ocidental. Essa é a posição refletida p e lo Catecism o da Igreja Católica, que observa que a complementaridade d e ambas as visões, se não fo r exacerbada, não vai contra a identidade d a fé no mesmo m istério confessado226. Deve-se reconhecer que nesse p o n to puderam -se produzir m al-entendidos, causados por pensar que e n tre a ekporeusis dos gregos e a processio dos latinos há uma equivalência de significado. Vimos com o já Máximo Confessor e Sto. Tomás foram sensíveis a essas diferenças. Q ualquer procedência é para os latinos “processão”. Para os gregos a ekporeusis é a processão como do prim eiro princípio, do Pai, portanto. D aí que somente o Pai seja “causa”. Com diferenças que não se pode desconhecer, também não se pode esquecer os pontos d e coincidência com o prrndpaliter de santo Agostinho. Além disso, a fórm ula de C onstantinopla não deve ser considerada exaustiva. Nesse sentido, “pelo F ilh o ” é um a explicação do símbolo que não tem por que ser co n trária a ele, como tam bém o Filioque não tem que ser contrário à m onarquia do P ai, fonte de toda a Trindade, única origem do Filho e do
E spírito Santo. B uscaram -se fórmulas de compromisso. P or exemplo, “o E spírito
Santo v em do P ai enquanto é Pai do Filho”. N ote-se que o sím bolo diz que procede do Pai: quando se menciona o Pai já se pensa em um a relação com o Filho, já que sem isso o term o carece de sentido: a procedência do E spírito Santo não é geração227. A proposta de J . M oltm ann tem

mações sobre a teologia oriental encontra-se na mesma obra, 294-305; e em GARIJO- GUEM BE, op. d t., 551-553. Sobre esse tem a pode-se ver também Encbridion Oecumeniatm m , 2.001ss; 2.700ss. Cf. também B. PIRA, Lo Spirito Santo nella recente letteratura or- todossa, in G. COLZANI (ed.) Verso uma numia età deUo Spirito. Filosofia-Teoiogia-Movimenti, Padova, 1997,155-237. Também SPITERIS, op. d t Sobre a situação ecumênica atual, cf. M .-H. GAM ILLSCHEG, Die Kontroverse um das Filioque. Möglichkeiten einer Problemlösung auf Grund der Forschungen und Gespräcbte der letzten hundert Jahre, W ürzburg, 1966. 226. CIC 248. Cf. Também a Declaração do Pontifido Conselho para a Unidade dos Cristãos de 13 de setembro de 1955 (cf. nota 180). 227. Cf. GARRIGUES, op. d t, 129; daí a formula que propõe “saído (ekporeuomenon) do Pai, procede (proion) do Pai e do Filho” (Ibid. 98). Ibid. 113: “Como o Espírito
Santo existe por natureza segundo a essênda do Pai, do mesmo modo é pela natureza do
Filho, enquanto sai essendalmente do Pai em razão do Filho gerado”. A fórmula latina seria: “ex único Pâtre unicum Filium générante se exportans (ekporeuomenon), ab utroque procedit (procboron)”. Cf., do mesmo, La clarification sur la procession du Saint Esprit el l’enseignement du Concile de Florence, Irénikon (1995) 501-506; Id., A la suite de la darification romaine sur le Filioque, NRTh 119 (1997) 321-334, mostra sobretudo como a ação do Filho e do Espírito Santo são complementares na obra da salvação.
pontos de contato com a anterior: procede do Pai do Filho e recebe sua form a do Pai e do Filho22®. Sem querer propor uma fórmula concreta, senão explicando o sentido do Filioque e sua compatibilidade com o reconhecimento da única fonte da divindade no Pai, a declaração do Pontifício Conselho para a Unidade dos C ristãos de 1995, a que já nos referimos228 229, observa que, embora na ordem trinitária o Espírito Santo seja consecutivo à relação entre o Pai e o Filho230, posto que tem sua origem do Pai enquanto este último é Pai do F ilh o unigénito, tal relação entre o Pai e o Filho alcança sua perfeição trinitária somente no Espírito. Do mesmo m odo que o Pai é caracterizado como Pai pelho Filho que ele gera, o Espírito, que tem sua origem do Pai, caracteriza em modo trinitário o Filho em sua relação com o Pai. O Pai gera o Filho somente expirando o Espírito Santo, e o Filho é gerado somente na medida em que a expiração passa por meio dele. Notemos que se mantém a ordem trinitária, dado que o Pai é caracterizado como tal pelo Filho, não pelo Espírito Santo231. Isso porém não significa diferença cronológica nem subordinação. Somente no Espírito Santo essa relação é caracterizada trinitariamente. A processão do Espírito do Pai não pode prescindir portanto do feto de que esse Pai é tal em tanto e enquanto gera o Filho. Como se vê nessas tomadas de posição, não só pessoais, mas também de caráter oficial, trata-se de ressaltar o caráter trinitário de todas as relações intradivinas. A relação Pai-Filho não pode ser considerada com independência do Espírito, o dom mútuo de amor em que se unem e se amam; sem o Espírito a relação patem o-filial não pode chegar a aperfeiçoar-se232.

228. Cf. MOLXMANN, Trinität und Reich Gottes, 203. Cf. também, Lo Spirito delia vita, in Per vma pneumatolgia integrale, Brescia, 1994, 347. 229. Cf. notas 180 e 226. 230. Segundo a mesma Declaração, o Espírito Santo não precede ao Filho, porque o Filho caracteriza como Pai aquele do qual o Espírito Santo tem sua origem, o que constitui a ordem trinitária. Mas a expiração do Espírito a partir do Pai faz-se por meio e através (os dois sentido de dm em grego) da geração do Filho. 231. Cf. J. GALOT, op. d t., 501-522, esp. 516-517; do mesmo, UEsprit Samt, perstmne de commvnum (cf. nota 98) esp. 122ss, e 150. 232. A necessidade de ver em relação sempre as três pessoas levou a colocar o problema da presença do Espírito na geração do Verbo. Cf., por exemplo, DURRW ELL, op. c íl , em esp. 154ss, idéias desenvolvidas também em Le Pire. Dieu en son mystère, 147ss. Deus gera “no Espírito”. Cf. também CANTALAMESSA, “Utriusque Spiritus’’. L’attuale dibattito teologico alia luce deli “Veni Creator”, Rassegna di Teologia 38 (1997) 465-484, esp. 477ss, onde se refere à unção pré-cósmica do Filho pelo Pai em vista da criação, de que conheceram os Padres. Cf. ORBE, op. d t, Roma, 1961. Mas deve-se ter presente que não está sempre claro o caráter pessoal desse “espírito”. Alguns Padres, por ex., G REG O RIO
E a processão do E spírito do Pai não pode ser considerada com independência do F ilho. A taxis trinitária não implica subordinação, mas sim mútua referência. A ordem não significa a eliminação da mútua interdependência das pessoas. Talvez essa linha de pensamento possa contribuir para o entendim ento entre as Igrejas do O riente e do Ocidente. Deve-se te r presente que O riente e Ocidente estiveram ainda juntos depois da introdução ocidental do Filioque no símbolo. A teologia de Agostin h o foi elaborada antes de C alcedônia, que reconheceu o valor de C onstantinopla I. N aquele momento os latinos não puderam entender a diferença de significado que em grego e em latim se dá ao "proceder” do Concílio. Q uando o Ocidente recebeu o credo de Constantinopla, o Filioque já estava provavelm ente introduzido, inclusive em diferentes símbolos ocidentais (o de V itrício de Rouen, o Quicumque, como vimos). Esses antecedentes devem ser levados em conta na hora de avaliar a introdução do Filioque no niceno-constantinopolitano, por parte do papa, embora seja verdade que ela se fez sem ter em conta as Igrejas orientais. Essa é a razão p o r que nos últim os anos levantaram -se vozes que propugnam a supressão pela parte católica do acréscim o ao credo, o que, é claro, não deve significar a desautorização da evolução teológica que deu lugar ao Filioque. As diferentes teologias e as fórmulas em que se condensaram podem representar aproximações válidas ao m istério , e serem inclusive com plem entares entre si se as diversidades não se exacerbarem . Y. C ongar foi en tre os teólogos católicos de relevo um dos que com m aior clareza se pronunciou pela supressão do Filioque, mas sempre que no diálogo com as instâncias qualificadas das Igrejas ortodoxas se tenha posto em claro e reconhecido o caráter não-herético do Filioque entendido corretamente, a equivalência e a complementaridade das duas expressões dogmáticas, “do Pai, fonte absoluta, e do Filho”, “do Pai pelo Filho”... Por sua parte, os orientais não deveriam ir mais além, em “do Pai somente”, das implicações da monarquia do Pai e das exigências dos textos do Novo Testamento235.

de Nissa, chegaram a ver a unção no momento mesmo da geração: Contra Apolmarem, 52 (PG 4 5 ,1.249s). N ão parece pelo contexto que se possa tirar muitas conseqüêndas dessa unção ab aetemo em relação com a presença do Espírito na geração do Filho. Se é legítima e mesmo necessária a insistência no caráter trinitário de toda a vida intradivina e das relações entre as pessoas, não se vê com a mesma clareza como se pode alterar a ordem tradicional das processões divinas.
HZ.ElEspíritu Santo, 639; de modo semelhante GARRIGUES, op. cit., 133, 149.
Além disso seria preciso que o povo do O riente e do Ocidente estivesse devidamente preparado para esse passo. Parecer um tanto oposto é o de W. Kasper, que opina que se os ortodoxos reconhecem que o Filioque não é herético o Ocidente não tem por que renunciar a sua tradição, que naturalmente não quer impor aos outros234. Penso por m inha parte que a volta a uma confissão comum da fé que nos une, ainda com a legítima variedade nas teologias, seria sem dúvida de desejar. Esperemos que em algum momento não distante possam dar-se as condições para isso. Alguns passos já fiaram dados por parte da Igreja católica. Já desde Bento XIV (ano 1742), o Filioque não é obrigatório para as Igrejas católicas de rito oriental. Em 31 de maio de 1973, a hierarquia católica da Grécia o suprimiu também na recitação do credo em grego nas celebrações de rito latino. O papa João Paulo II recitou o credo constantinopolitano na celebração solene de Santa Maria Maior, no ano centenário do Concílio de Constantinopla (381-1981). O mesmo fez na Basílica de São Pedro em 29 de junho de 1995, em companhia do Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I. Já em 1925, em uma celebração em grego, Pio XI fizera o mesmo235. A recente declaração do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, a que nos referimos repetidas vezes, observa como o Espírito Santo repousa no Filho236 237, e durante a vida de Jesus o orienta no amor para o Pai. Em nosso capítulo 3 tratam os longamente dessa questão. Essa função do Espírito na economia deriva de uma relação trinitária eterna, em que o Espírito, em seu m istério de dom de amor, caracteriza em certa medida a relação do Pai e do Filho. Vbn Balthasar vê nos diferentes modos de relacionar-se Jesus e o Espírito no tempo da vida daquele a justificação das duas diversas concepções da processão do Espírito. O Espírito nele, no Filho encarnado, que depois o dará aos homens, significa a fórmula econômica do Filioque; e o Espírito que permanece sobre ele, adeja sobre ele e o impele, significa a fórmula do a Patre procedit2^. As fórmulas “do Pai e do Filho” ou “do Pai por meio do Filho” têm a vantagem de considerar a Trindade em seu conjunto e na relação de cada pessoa com as outras duas,

234. Der Gottjesu Christi, 272. 235. Cf. BALTHASAR, Tbeologik UI, 190. Sobre as decisões de supressão de outras Igrejas e comunidades eclesiais, assim como da Comissão “Fé e constituição”, cf. CONGAR, op. d t., 638s. 236. Idéia m uito familiar à ortodoxia, BOBRINSKOY, op. d t., 303: “A desdda do Espírito sobre Jesus no Jordão aparece pois na visão teológica ortodoxa como um ícone, uma manifestação na história do repouso eterno do Espírito do Pai sobre o Filho”. 237. Cf. Teodramdtica, 3, 477.
não díades separadas, como poderia ocorrer se considerássemos somente a relação P ai-F ilh o e Pai-Espírito, ou Pai-Filho e Filho-Espírito238. Na realidade, a questão tem a ver com a adequada relação cristologia- pneum atologia: p o r uma parte, o Espírito é não só o Espírito de Deus, senão ao m esm o tem po o Espírito do Filho, o Espírito de Jesus, dom do Senhor ressuscitado. Por outra parte, o Espírito opera a encarnação de Jesus, vem e atua sobre ele, e não somente guia e acompanha a evangelização, senão que tam bém a prepara e precede. Jesus dá o Espírito, mas, por sua vez, o E sp írito repousa sobre ele. A cristologia e a pneumatologia nunca . podem s e r separadas. Portanto, a reflexão sobre o Filioque abre uma série de perspectivas que não se esgotam na estrita doutrina trinitária. Também na cristologia (como tivemos ocasião de ver) mas ainda na eclesiologia, na antropologia e na teologia dos sacramentos vão refletir-se sem dúvida as conseqüências dessa complexa relação239.
238. Balthasar propugna com força o Filioque, que vê unido à idéia de Deus amor e do Espírito como o am or dos dois. Por outra parte, observa que Jo 15,26 deve entender- se com referência à economia, não à vida intratrinitária. Cf. op. cit., 189-200. Também em seu momento, K. BAKTH, Ksrcblkbe Dogmatik 1/1, M unique, 1935, 500ss, foi um grande defensor do Filioque: se o Espírito dado pelo Filho não é na eternidade do Filho, desaparece o fundamento de nossa união com Deus. 239. Cf. CONGAR, op. d t, 540-544, sobre as conseqüênrias edesiológicas do Filioque, e se o problema do “cristomonismo” e o relativo esquecimento do Espírito Santo no Ocidente devem ser considerados conseqüênda dessa doutrina. Há razões para pensar que se trata de uma disputa “duvidosa”. Cf. ID ., La parola e il soffio, 142ss. BULGAKOV, op. d t, 277s., pensa igualmente que existe uma relação entre o Filioque e a idéia do papa como Vigário de Cristo. Cf. também BOBRINSKOY, op. d t., 302-303, que insinua muito mais suavemente as repercussões eclesiólogicas. Só a título de curiosidade, vale a pena observar que Sto. Tomás considerou erros similares negar o primado do papa e que o Espírito Santo procede do Filho.: Contra errores graecorum, I I 32 (dtado por CONGAR, ElEsptritu Santo, 639s). Em todo caso deve-se evitar conclusões predpitadas e exageradas. Cf. também as considerações de R. CANTALAMESSA, op. d t, 470s: se as defidêndas da Igreja oddental se deveram ao Filioque, também teriam de dar-se devido a ele suas virtudes e seus aspectos positivos.

11
“Unitas in trinitate”. Deus uno na Trindade. Suas propriedades e seus modos de atuação
A UNIDADE DA ESSÊNCIA DIVINA
1. A unidade do Pai, do Filbo e do Espírito Santo
Depois de percorrer, a partir da historia salutis, a doutrina clássica da Trindade desde as processões até as pessoas, tratamos com certa amplitude as características do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cabe-nos agora abordar o problema da unidade da essência divina. Estou consciente de que esse modo de proceder não é o de uma grande linha da tradição teológica, que, como tivemos ocasião de ver, preferiu partir da unidade da essência divina1. M as a unidade de Deus não é uma unidade prévia à T rindade de pessoas, embora tampouco possa ser considerada “posterior” a ela. P or uma parte, é a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas por outra é uma unidade que desde sempre é dada, que não chega a ser como o resultado de um processo da união dos três2. 0 Novo Testamento apresenta-nos o “único Deus verdadeiro” (cf. Jo 17,3) como o Pai de Nosso Senhor Jesus C risto e o que nos dá o Espírito Santo ao qual tanto o Filho como o Pai acham-se intimamente unidos. E o Deus Pai que imo existe nunca sem o Filho, e sem seu Espírito; por isso na tradição da Igreja se

1. Porém o ponto de vista mais econômico-salvífico que nos últim os anos abriu caminho na teologia católica fez que seja sempre mais seguida a disposição que aqui propomos. Cf. PORRO, Dio nostra sehezza, lntroduzione al mistero di Dio, Tòrino, 1994, 189ss; 235ss, e sobretudo G. GRESHAKE, Derdreiene Gott, Eine trinitariscbe Tbeologic, 184-185; 196ss entre outros lugares. 2. Cf. J. W ERBICK, Teologia trinitaria, em Th. SCHNEIDER (ed.), Nuovo corso di Teologia Dogmática, Bresda, 1995, v. 2, 573-685; 659.
considerou que o Deus u no é o Pai, o Filho e o Espírito Santo na unidade de sua essência, em sua bomoousia. A essência divina é única, possuída pelas três pessoas. Mas esse fato de ser possuída pelos três faz também parte de sua essência. Já conhecem os a evolução que se deu na distribuição das m atérias dos antigos tratados “de D eo uno” e “de Deo trino”5. Já nos referimos à opção de alguns teólogos que, precisam ente ante a dificuldade dessa divisão clássica, optam por considerar que as questões do tratado “de Deo uno” são na realidade um “tratado” de Deus Pai. Com efeito ele foi considerado na tradição o “fundam ento” da unidade da Trindade, enquanto é o princípio da divindade. O Deus do Antigo Testamento, por o u tra parte, identifica-se no N ovo com o Pai de Jesus. O D eus uno, por conseguinte, é o Pai, ao qual, enquanto fonte da divindade, se referem as afirmações sobre a onipotência, a eternidade de Deus etc.3 4 5. Igualmente no C redo, o D eus identifica-se com o Pai de Jesus. N ão se pode negar, portanto, os fundamentos dessa posição. M as podemos indagar se são absolutamente convincentes. Por uma parte, a identificação do Deus do Antigo Testam ento com o Pai é evidente. Mas daí a pensar que o Antigo Testamento seja só um a revelação do Deus uno identificado com o Pai há um certo salto que não se justifica. Não se pode aceitar sem matizes uma “sucessão” na revelação das pessoas divinas, com o uma leitura precipitada de um conhecido texto de Gregório Nazianzeno poderia talvez sugerir5. 0 modo de comportar-se do Deus do Antigo Testamento só é possível porque se trata do “Pai”, isto é, porque desde sempre existe só em relação ao Filho e ao Espírito Santo e no intercâmbio de amor com eles. Em outras palavras, essa revelação do Deus uno, em que depois reconheceremos o Pai de Jesus, é tal na medida em que nos está preparando a revelação do Deus uno e trino.
Portanto, se por uma parte é claro que o Deus do Antigo Testamento se identifica com o Pai, a revelação progressiva de Deus, precisamente porque esse D eus é o “Pai”, é ao mesmo tempo, de modo incoativo, a da trindade das pessoas na unidade da essência divina.

3. Cf. cap. 1, 33-36. 4. Cf. o capítulo anterior, notas 1-3. Mas ainda nesses casos a reflexão sobre a unidade divina não se esgota nesse estudo sobre Deus Pai. Também se toma em consideração a unidade da Trindade. Cf. W. KASPER, Der Gottjesu Christi, Mainz, 1982, 354-377. 5. Or. 31,26 (SCh 250,326) “O Antigo Testamento anunciou manifestamente o Pai, e de um modo mais obscuro ao Filho. O Novo Testamento deu a conhecer abertam ente o Filho, e fez entrever a divindade do Espírito Santo. Agora o Espírito está presente no meio de nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo”... (GREGORIO Nazianzeno, Os cinco discursos teológicos, M adrid, 1995, 254). Já nos referim os a essa passagem na nota 100 do capítulo anterior. Sem dúvida, a passagem contém m uito de verdade. Mas não pode ser interpretada de modo unilateral; cf. a continuação do texto.
Somente na m útua implicação da unidade e da trindade divinas temos a plena revelação de Deus. N o Antigo Testamento não achamos a plena revelação do D eus uno tal com o nós cristãos o professamos. Não é que falte só uma revelação da Trindade que se justaponha de algum modo à da unicidade divina que o Antigo Testam ento proclama com tanta clareza. E que nosso Deus uno é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A revelação da essência divina comum e a revelação de Deus como Pai, Filho e Espírito implicam-se m utuamente: Poder-se-ia dizer que correm paralelas a revelação da plenitude da essência “comum” divina e a revelação de Deus como Pai, como Filho (palavra) e como Espírito Santo. Ou melhor: ambas as revelações formam uma unidade, crescem ao mesmo tempo e em uma mesma compreensão, posto que constituem a única manifestação... do Deus uno, Pai, Filho e Espírito Santo6.
Devemos portanto pensar que existe uma manifestação progressiva do Deus uno e único na história da salvação da antiga e da nova aliança, e que todo progresso no conhecim ento dessa unidade divina é ao mesmo tempo um crescimento no conhecimento do Deus tripessoal; este, por evidentes razões, não podia ainda fazer-se explícito no Antigo Testamento7. Inversam ente, no esclarecimento da diferenciação pessoal em Deus ilumina-se o conhecimento da unidade do ser divino e configuram-se os traços do monoteísmo cristão8. Em bora seja claro que não podemos admitir muitas de suas afirmações concretas, fica um núcleo permanente de

6. R. SCHULTE. La preparadon de la reveladon trinitaria, in MySal 2/1, 77-116, 87. Ibid.: "... dado que Deus é um e único, e dado, por conseguinte, que a manifestação progressiva desse Deus um e único é também uma e única na única história da salvação da antiga e nova aliança (...) todo ‘progresso’ do conhedm ento sobre Deus ‘em si’ (essência) é também progresso do conhecimento da fé sobre o m istério ‘espedaT desse Deus que se manifesta, definitivamente, como tripessoal. E inversamente: em todo esclarecimento de uma ‘diferendação pessoal’ em Deus amplia-se também, ao mesmo tempo, o conhecimento dessa essênda divina”. 7. COM ISSIO THEOLOGICAINTERNATIONALIS, Theologia— Christologia- Anthropologia, Greg 64 (1983) 5-24, aqui 9: “O monoteísmo do Antigo lèstam ento tem sua origem na revelação sobrenatural, e por isso, contém um a relação intrínseca à revelação trinitária”. 8. Cf. SCHULTE, op. d t., 87; também 80-81. Ver também, de outro ponto de vista, H. U. von BALTHASAR, Teodramatica 3. Las personas del drama, el bombre en Cristo, M adrid, 1993,470: “A idéia de uma revelação sucessiva das três pessoas divinas é absurda, pois elas são essendalm ente imanentes umas às outras; na revelação pré-cristã com Deus, só o Deus vivo (trinhário) pode ter sido revelado, embora não formalmente na trindade”. Deus não teria podido estabelecer nenhuma aliança com os homens sem seu Verbo e seu Espírito.
verdade n o ensinamento dos Santos Padres que viam a Trindade já revelada no Antigo Testam ento. Sirvam essas reflexões de justificação à nossa sistemática: as afirmações sobre o Deus uno não se referem a uma essência divina que em um segundo m om ento desdobra-se em três pessoas, nem se referem exclusivamente ao Deus que em um tempo posterior mostra-se como o Pai de Jesus. T anto o Deus uno com o o Deus trino são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. T anto a unidade com o a diferenciação é desses três. E claro que isso não significa abandonar a term inologia tão antiga da unidade da essência divina: essa é a realidade comum às três pessoas9. Mas, como já observamos, a essa essência pertence ser possuída pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, por cada um deles inteiramente e a seu modo. Porque ao falar da unidade da essência não podemos esquecer que essa é uma unidade profundíssima que se dá ao mesmo tempo na máxima distinção pessoal. Deve-se afirmar, ao mesmo tempo, os dois extremos, tal como nos fazia ver o m istério de Jesus que m orre na cruz abandonado pelo Pai e é ressuscitado p o r seu poder divino. E a unidade do am or divino, máxima expressão do ser "uma só coisa” das três pessoas que existem somente na unidade de sua m útua autodoação e portanto em sua diferença irredutível: Cada hipóstase divina mantém seu mistério impossível de resolver: o Pai, todo autodoação (relatio) e que não obstante pode ser quem se autodoa; o Filho, como Palavra que é resposta, em sua entrega ao Pai pode ser partícipe da potência originante desse último, e juntamente com essa potência pode não só ser o amor, senão também fazê-lo surgir: o Espírito, a liberdade divina mais excelsa e soberana e, ao mesmo tempo, total desprendimento que existe só para o Pai e o Filho10.

N o amor desinteressado, realidade interna que se comunica às criaturas, exprime-se do modo mais alto o que nas três pessoas é comum11. Em Jo 10,30 indica-se que o Pai e o Filho são uma mesma coisa, e se usa o
9. Cf. CIC, 252; com esse term o indica-se a divindade comum às três pessoas; juntamente com os termos, equivalentes no uso, de substância e de natureza, designa o ser divino em sua unidade. 10. BALTHASAR, Tbeologik Iü , 199-200. 11. ORÍGENES, In Rom. IV (PG 14,997)"... podemos amar a Deus porque somos amados por Deus. E de fato o próprio São Paulo fala do Espírito de amor (Rm 15,30). Deus é chamado amor e C risto é chamado o Filho do amor (Cl 1,13) E se sabemos que o Espírito é amor, o Filho é amor e Deus é amor, é obvio que de uma fonte da divindade paterna conhecemos o Filho e o Espírito Santo, de cuja abundância se difunde a abundância do amor no coração dos santos para fazê-los participantes da natureza divina, como ensina o apóstolo Pedro (2Pd 1,4)”.
gênero neutro. Os Padres deram a esse fato grande importância, porque esse neutro elimina o perigo do sabelianismo, ou do patripassianismo (uma só coisa, mas não uma só pessoa). M as essa unidade é das pessoas, e mani- festa-se sobretudo em seu am or e em sua doação, não é uma unidade que se possa conceber sem elas12. Basílio de Cesaréia afirma que, “na natureza divina e não composta, a unidade consiste na comunhão da divindade”13. Também para Sto. Agostinho o só Deus uno e único é a Trindade14. Evidentemente devemos evitar todo perigo de triteísmo; não podemos pensar na existência independente das três pessoas que só em um segundo momento chegariam a constituir uma unidade com características de coletividade15. Se em nossa sistemática colocamos a unidade de Deus depois de ter falado das três pessoas não é porque queiramos considerar essa unidade subordinada a respeito da distinção pessoal. Os dois aspectos do ser divino são igualmente originários. E porque, como indicamos, a unidade divina não é simplesmente a unidade de um Deus unipessoal, a de uma essência divina abstrata, nem sequer a unicidade do Pai, senão a unidade do Pai, do Filho e do Espírito. Assim se manifestou essa unidade na historia salutis e essa é a única razão de ser da ordem de nossa exposição.
2. O primado do upessoal ”

Talvez seja este o m om ento adequado para fazer um breve balanço dos problemas encontrados em momentos anteriores de nossa exposição, mas vistos agora nessa perspectiva concreta da relação entre unidade e
12. TERTULIANO,/f<fo. flnax. 22,11 (208), sobre o umm de Jo 10,30: “N on pertinet ad singularitatem sed ad unitatem , ad similitudinem, ad coniuncüonem, ad dilecdonem Patris qui Filium diligit et ad obsequium Filii qui voluntati Patris obsequitur”. [Não pertence à singularidade mas à unidade, à semelhança, à conjunção, ao amor do Pai que ama o Filho e à obediência do Filho que obedece á vontade do Pai]. HILÁRIO de Poitiets distingue a unhas que se dá entre as pessoas da mio que não as distinguiria e seria sabeliana; cf. Trin IV 42; V ,l; V I 8.11 (CCL 62,149; 152; 203; 207), e sobretudo X I1 (530): “id quod uterque in proprietate sua unus est, sacramentum unitatis ad utrum que”. 13. De Sp. Sane. 18,45: “èv r q k o iv o jv íç i q ç 8e«m)TÒç èo riv t | êvwoiç”; ibid., o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, pois cada um é como o outro; nisso consiste que ambos sejam uma coisa só. 14. Trin 1 2,4 (CCL 50,31):"... quod Trinitas sit unus et solus et verus Deus”; XV 5,7 (468):"... unum Deum, quod est ipsa Trinitas”; Símbolo “Clemens Trinitas” (DS 73): “C le- mens Trinitas est unadivinitas”. 15. Cf. CO N CÍLIO LATERANENSEIV, contra Joaquim de Fiore: “Verum unitatem huiusmodo non veram e t propriam , sed quasi collectivam e t simulitudinariam esse fatetur, quemadmodum dicuntur m ulti homines unus populas, et m ulti fideles una Eccle- sia...” (DS 803).
trindade de D eus. M oltm ann condenava o ponto de partida na única essência divina, p o rq u e com ele só se podia chegar a um modalismo. Mas tivemos ocasião de constatar que seu método não ficava livre de todo do perigo contrário. Deus ficava demasiado dependente do mundo e da história, a definitiva unidade divina ficava como uma realidade escatológica. Mas o ponto de partida que quer antes de tudo evitar o perigo do triteísm o (na linha de K. Barth e de K. R ahner) partindo de Deus como sujeito tampouco resultava satisfatório em todos os sentidos: a repetição do “Eu” faz-se em K. B arth mais essencial do que a relação Pai-Filho que nos apresenta o Novo Testam ento, e a correspondência entre o diálogo histórico- salvífico e a vida interna das pessoas em Deus faz-se problem ática em K. Rahner16. Mas n ã o se lhes pode negar, nem a um nem a outro, o m érito de ter partido do pessoal, da noção de sujeito e da pessoa do Pai, e não da substancia im pessoal. N ada em D eus pode ser impessoal, nada pode ser “neutro”, em bora, como vimos, a noção de pessoa utilizada resultasse, por sua vez, insuficiente porque a dimensão relacional não era tida em conta de maneira adequada. A unidade “pessoal” de Deus não pode ser a mesma da pessoa absoluta, senão a das três pessoas em sua relação recíproca. Essa unidade, por sua vez, é um dado prim ário e não derivado. Vimos tam bém como a unidade do Deus trino, a unidade da essência do D eus “tri-u n o ”, fundou-se na tradição na origem e fonte única da divindade que se encontra no Pai. M as ao mesmo tempo deve-se afirmar que também o Pai é relacional, está referido completamente ao Filho e ao
Espírito Santo, e que não é tal sem essa relação. N ão há um ser do Pai prévio e independente da paternidade. O Pai, portanto, está completamente dado à comunicação de seu ser ao Filho e (com o Filho, pelo Filho) ao Espírito Santo. O Pai é por sua parte a origem, a fonte; mas é igualmente relação. O Pai dá o ser àqueles que não existem senão em sua relação a ele, mas ao mesmo tempo ele é enquanto Pai, é enquanto gera o Filho e é origem do Espírito Santo enquanto está relacionado com as outras pessoas. Da relação de origem, que não é dependência unilateral, surge a unidade e a comunhão das três pessoas. A unidade substancial e a distinção das pessoas em sua união também pessoal são assim dois aspectos inseparáveis do ser divino. N ão há uma essência prévia às pessoas nem também um sujeito absoluto. Creio que, se se entende bem o sentido da paternidade, a primeira pessoa na taxis intradivina, se exclui o perigo do subordina- cionismo, ao sublinhar as relações mútuas dos três; também o do modalismo,

16. Cf. cap. 9, 277-285.
já que não se parte do sujeito individual absoluto; e, por últim o, do triteís- mo, já que se reconhece no Pai o princípio único da divindade. Assim, na pessoa do Pai estão ao mesmo tempo a fonte da unidade e a da Trindade. Afirmamos a unidade essencial que não dá lugar à exclusão das relações internas em Deus, mas que existe precisamente nelas. As pessoas são relativas umas às outras, e o são, não independentem ente das relações de origem, mas precisamente por elas, porque a origem prim eira é o Pai17. 0 Pai não é pensável sem o Filho e sem o Espírito Santo (embora, como foi dito muitas vezes, a linguagem seja menos clara no caso da terceira pessoa), quer dizer, “depende” deles tanto como dependem do Pai. M as não se deve acentuar só a origem, mas ainda mais a relação entre as pessoas18, que as une ao mesmo tem po em que as distingue, sem desprezar nenhum dos dois aspectos. A unidade de D eus dá-se no intercâm bio de am or m útuo que é comunicação de ser na distinção. A unidade suprema não é a da mônada isolada, mas a do Deus amor e comunhão perfeita, Pai, Filho, Espírito Santo19.
3. A essência divina
Em Deus, como dissemos, nada há de “neutro”, tudo é “pessoal”20. A “uma só coisa” (cf. J o 10,30) que são o Pai, o Filho e o E spírito Santo não é algo distinto da plenitude de vida que os três têm em comum. Essa essência divina foi considerada tradicionalm ente inefável e inacessível ao hom em 21. N o entanto, nada nos impede que procuremos aproxim ar-nos

17. “De quem as outras pessoas procedem, mas n lo as “precede”; A G O STIN H O , Trin. VI 2,3 (231): “non praecesit genitor illud quod genuit”. 18. Conhecemos já a posição de Sto. Tomás, que prefere o termo “Pai” ao “generans- genitor” (cf. STb. I 33,2). O primeiro concede à relação primazia sobre a origem. Em consequência o Pai gera porque é Pai, não é Pai porque gera. São poderosas as razões para preferir essa posição à sua contrária. 19. Cf. as considerações de GRESHAKE, op. c it, 196s: em Deus deve-se excluir qualquer “algo” que pudesse ser pensado sem relação, e a partir do qual se formaria a unidade desde as relações. 20. Cf. CONCILIO LATERANENSE, IV (DS 803-804), textos que já conhecemos. A sumvtã reséo Pai, o Filho e o Espírito Santo, neles está plenamente a essência divina, em cada um na comunhão com os outros dois. Cf. já a declaração de Eugênio UI, depois do Concílio de Reims contra G ilberto Porretano (ano 1148), não se pode estabelecer divisão entre a natureza e a pessoa (DS 745). 21. Pseudo-DIONÍSIO Areopagita, Cael. Hier. II 3 (SCh 58bis, 77ss), Deus existe m ais além de toda essência (oúoíot), de toda vida. Cf. mais adiante a nota 48 do cap. 12 (sobre a analogia).
desse m istério, que aparecerá cada vez maior quanto mais de perto se nos m anifestar. A E scritora já nos oferece uma base para esse intento. No N ovo Testam ento, em particular nos escritos joaninos, apresentam-se diferentes “definições” de Deus (é evidente a im propriedade com que usamos o termo “definição”) que foram ponto de partida para reflexões ulteriores. Conhecemos já algumas delas: sem dúvida a m ais decisiva de todas é “Deus é am or” (ljo 4,8.16), mas também: “Deus é Espírito” (Jo 4,24); “Deus é luz” ( ljo 1,5.7; cf. lT m 6,16); Deus é o vivente por antonomásia (cf. M t 16,16; 26,63; SI 18[17],47; Jo 6,51; ljo l,ls etc.). Algumas dessas expressões aplicam-se também a Jesus: luz (Jo 1,4.9; 9,5); vida (Jo 1,4; 11,25; 14,6). C ertam ente essas palavras não pretendem dar-nos definições metafísicas de D eus; referem-se à manifestação salvadora de Deus em Cristo. Perante o m undo de trevas, de m orte e de ódio apresentam-nos a ação de D eus que nos oferece a salvação em Cristo. Mas, indiretam ente, algo nos dizem de
Deus mesmo. Em Jesus manifestou-se o que desde sempre é realidade na vida divina, a vida que vem do Pai e que compartilham o Filho e o Espírito.
Essas expressões e outras semelhantes apontam para uma plenitude de ser22 23 sem nenhum a dependência, para a totalidade de bem e de vida que não conhece as limitações de toda ordem a que os homens estão submetidos.
Sugerem uma plenitude de ser pessoal, de total posse e conhecimento de si, de inteira transparência, de infinita liberdade. D e fato, ao ser “espírito” de Deus, a tradição da Igreja uniu, desde tempos rem otos, a absoluta simplicidade divina (cf. entre outras passagens
DS 566; 800; 3.001)25; daí deduziu-se a plenitude da vida em Deus “todo razão, todo ouvido, todo olho, todo luz”24. Podemos portanto pensar a única essência divina inefável, a partir dessas metáforas sem dúvida m uito distantes, como plenitude do ser que implica a plenitude de vida e de

22. Deus é o que é (cf. Ex 3,14) Somente ele É . Cf. CEC 213. Cf. TOM ÁS DE AQUINO, STb I 13,11, “o que é” é o nome mais próprio de Deus. I 12,14, Deus é o “ipsum esse subsistens”. 23. Já TACIANO, Ad Graecos 5 (BAC 115,578); AGO STIN H O , De àv. Dei X I10 (CCL 48,332): “Quae habet [Deus] haec et est”; cf. todo cap. 10 (330-332); De Trm 1 12,26 (66), entre outros lugares. 24. LRENEU, Adv. Haer, n 13,3 (SCh 294,116); cf. ulteriores exemplos dos Padres, assim como referências sobre a procedência dessas cláusulas em A. ORBE, Antropologia de san Irineo, M adrid, 1969,95. N otem os que Sto. Tomás fala em primeiro lugar da simplicidade quando começa a falar do que Deus é ou mais propriam ente, do que não é, STb I q. 3, Introd. Cf. também BASÍLIO, C. Eunom. I I 29 (SCh 305, 122).
autopossessão, plena identidade consigo mesmo na completa liberdade. Ser, portanto, inteiram ente pessoal25. A “definição” de Deus como amor nos acrescenta uma precisão definitiva a essas enumerações das propriedades divinas. Com efeito, o ser em plenitude e a plena autopossessão adquirem uma expressão máxima na doação perfeita de si. Só quem se possui pode dar-se inteiram ente, e nessa autodoação manifesta-se a plena posse de si. O ensinam ento bíblico do Deus amor, que dá seu sentido últim o às outras metáforas já indicadas, mostra-nos que a perfeição divina não se vive no modo de fechamento ou isolamento, mas na doação no amor. N ão se trata de que haja prim eiro autopossessão e logo amor e autodoação. O am or diz-nos antes como é essa autopossessão divina, que penetrada por ele completamente dá-lhe o sentido definitivo. A capacidade e a realidade do am or infinito devem ser consideradas portanto pertencentes ao mais íntim o do ser de Deus. Cada n m a das pessoas tem esse am or infinito a seu modo; mais ainda, não só o tem, senão que, como dizia Ricardo de São Vítor, cada pessoa é seu amor. Mas esse am or é também comum aos três — é o que mostra sua unidade profunda. D istinta em sua modalidade, a plena doação amorosa de si aos outros dois, expressão da plena autopossessão, é comum às três pessoas. O amor é assim o que une e distingue, como vimos ocorrer com a relação. Fm Deus o que une é o que distingue, ser é doação e doação implica o outro, não é solipsismo. A triunidade do ser divino abre-nos assim o sentido do ser, a identidade na diferença, a autopossessão na autodoação26. A “definição” do Deus am or mostra-nos assim o que para nós é o mais profundo do ser de Deus, da essência divina que não podemos abarcar e que fica sempre no m istério. Ainda que os textos neotestamentários que indicamos se refiram mais diretam ente à doação ad extra, deixam-nos

25. X. ZUBIRI, Elbombrey Dias, M adrid, 1984,168: “Deus, realidade absolutamente absoluta é dinamiridade absoluta, é ‘um dar de si’ absoluto”. Cf. o contexto. ID. Naturaleza. Historia. Dias. M adrid, 91987,481: “Deus é... um puro amor pessoal. Como tal, extático e efusivo”. 26. Cf. P. GILBERT, La semplicità dei principie. Introduziane alia metafísica, Casale M onferrato, 1992,356: “A metafísica é a busca do princípio mais universal e mais necessário. O universal é comunhão; o necessário é estabelecido entre o que é de fato diferente. A tensão entre o uno e o múltiplo ou entre o idêntico e o diferente é assunto daquilo que é ao mesmo tempo universal e necessário, uno e diverso, vale dizer, do espírito capaz de tomar-se em ato na ação expressa. A substância que subsiste em conformidade a esta estrutura do espírito é a “pessoa”. A pessoa se reconhece idêntica a si sendo valorizada diante do outro, isto é, diferente, no interior de uma troca gratuita, de cuja ‘pessoa’ é a única origem”. Cf. também ID. Kenose et Ontologie (cf. nota 64 do cap. anterior), esp. 195-
200.
entrever algo da própria vida divina (da Trindade econômica à Trindade im anente). A unidade e a unicidade divinas, precisamente porque Deus deve ser pensado como plenamente pessoal, não podem ser entendidas como solidão e isolam ento27. 0 Pai dá ao Filho e ao Espírito essa plenitude de ser no amor que só pode existir nessa comunicação. O D eus pessoal não é, pois, unipessoal, é tripessoal, porque à sua essência pertence o amor: Entre os homens o amor funda uma estreita e profunda comunhão de pessoas, mas não uma identidade de essência. Ao contrário, Deus é amor, e sua essência é absolutamente simples e única; por isso possuem as três pessoas uma única essência; sua unidade é unidade da essência, e não só comunhão de pessoas. Essa Trindade na unidade da única essência é o mistério inesgotável da Trindade que nunca podemos compreender racionalmente, mas somente em forma de esboços (in Ansätzen) podemos fazer acessível à compreensão crente28.
Podemos indagar se a incom preensibilidade da essência divina não significa a incompreensibilidade do am or divino29, a incompreensibilidade da total autopossessão na comunicação e plena comunhão que ao mesmo tem po funda e expressa a unidade originária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na teologia católica recente achamos nos últim os tem pos um consenso sempre mais amplo na identificação, embora com matizes diversos, do amor com a essência divina30. Santo Agostinho já tinha identificado o amor com a Trindade em sua famosa sentença: “vides Trinitatem

27. KASPER, op. cit., 364: “Assim a pessoa não existe de outro modo a não ser na autocomunicação a outros e no reconhecimento por parte de outras pessoas. P or isso é impossível que a unidade e unicidade de Deus, precisamente porque desde o princípio Deus é pensado como pessoal, seja entendida como solidão. Aqui está o fundamento mais profundo pelo qual a concepção teísta de um Deus impessoal não se pode m anter”. No mesmo sentido, L. SCHEFFCZYCK, Der Gott der Offenbarung, 433: “o Deus que em sua essência é amor pessoal não pode propriam ente ser pensado senão como trinitário”. GRESHAKE, op. cit., 198-200, o amor é ao mesmo tempo o que distingue e o que une; cf., nesse contexto, a citação de BOAVENTURA (199): “Si omitas divina est perfectissima, necesse est quod habeat pluralitatem intrinsecam” (Q. dis. de Trm,., 2,2s.). 28. KASPER, op. cit., 365; 372: “A unidade de Deois... como comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo determina-se como unidade no amor”. 29. A partir da revelação do Novo Testamento podemos corrigir um apofatismo unilateral: A. MELANO, Analogia Christi. Sul parlare interno a Dio in ima teologia cristiana, Rkercbe teologkhe 1 (1990) 29-73,72: “... de Deus podem dar-se nomes, e entre eles o mais alto é o que lhe reconheceu João: agapé... A agapé é, na verdade, ‘id quo magis cogitari nequit* e é portanto o nome mais próprio de D eus”. 30. Além dos autores que acabamos de citar, cf. BALTHASAR, Tbeologik II Wahreh Gottesy130: “o amor idêntico com a essência de Deus”; esse amor é que dá sentido a tudo; cf. Ibid., 140-141, 163; SCHEFFCZYCK, op. cit., 413: Deus, em sua essência, é amor
si caritatem vides”31. A unidade mais profunda que pode existir no Deus trin o é pois a do am or32. Unidade e distinção não são portanto contraditórias. A única essência divina não deve ser vista em oposição à pluralidade das pessoas, nem como prévia a elas, senão que pode ser considerada como a mesma unidade e comunhão entre elas33, o que não significa que essa unidade seja conseqüên- cia da união dos três. A unidade e a trindade são ambas absolutamente primárias e originais, nenhuma é “prévia” à outra. Ambas têm seu único fundamento do Pai que por sua vez só é na relação ao Filho e ao Espírito.
pessoal; B. M ONDIM , La Trinità misten d'amore. Trattato di teologia trinitaria. Bologna 1993,295-299; C. PO RRO , Dio nostra sahezza. Introduzione al mistero di Dio 309ss- STA- GLIANO, II misten dei Dto vivente, 597. COM ISSIO TH EO LO G ICA IN TERN A TIO - NALIS. op. d t , 14: “O mistério de Deus e do homem manifesta-se como m istério dê caridade”. São significativos os parágrafos que dedica ao Deus amor o C IC (218-221.231)- “Ipsum Dei esse est amor... Ipse aetem e est am oris commerdum: Pater, Filius et Spiritus Sanctus, nosque destinavit u t huius simus partidpes” (221); Ipsum Dei esse est veritas et am or” (231). N o campo da Igreja ortodoxa, cf. D . STANISLOAE, Diosesamor Salamanca 1984,88; e também Y. SPITERIS, La dottrina trinitaria nella teologia ortodoêsa. Autori t prospettive, in A. AMATO (ed.), Trinità in contesto, Roma 1993, 45-69, esp. 58 sobre J Zizioulas: “O amor não é uma conseqüênda ou uma ‘propriedade’ da súbstânda divinaT mas o que constitui a sua súbstânda”. 31. Trin VIR 8,12 (287); também Trin XV 17,29 (504): “substantia ipsa sit caritas et cantas ipsa sit substantia sive in patre sive in filio sive in spiritu sancto”- cf. XV 6 1014721 PEDRO LOMBARDO, Sent. 1 32,5: “E t sicut in Trinitate dilectio est, quae est Pater, Filius et Spiritus sanctus, quae est ipsa essentia deitatis; e t tarnen Spiritus sanctus dilectio est ” 32. BERNARDO de Claraval, De diligendo Deo, 12,35 (PL 182,996): “Quid vere in summa et beata illa Trinitate summam et ineffebilem conservat unitatem nisi caritas? Lex e rit ergo, et lex Domini, caritas, quae Trinitatem in unitate quodammodo cohiber et collieat in vinculo pads”. 8 33. Cf. notas 11 ss. Também B. FORTE, Trinidad como historia. Ensayo sobre el Dios cristiano, Salamanca, 1988,18s; W. PANNENBERG, Teologia sistemática I, 361s: “O tratam ento dessa idéia [da essência divina enquanto tal]... terá de mostrar... se é possível pensar o conceito da essênda divina como um compêndio sintético {Inbegriff) das relações entre Pai, Filho e Espírito, diferente daquela outra idéia ontológica de essência que Agostinho se julgava obngado a pressupor”; 362s: “Para a fé trinitária do cristianismo, a única coisa que importa é a vida concreta, diferendada em si mesma, da unidade divina. D e modo que a doutrina da Trindade é efetivamente um ‘monoteísmo concreto’. Com isso diferenda-se de determinadas idéias acerca do Deus uno, localizado no abstrato mais além, e acerca de uma unidade abstrata que exclui de si toda pluralidade, e que de feto converte o Deus uno em um mero correlato do mundo do mais aquém e da pluralidade do finito”. Sobre o mesmo “monoteísmo concreto” ver KASPER, op. d t., 358s; cf. também S. de CURA, El Dios único cristiano. Apologia dei monoteísmo trinitário, Burgense 37 (1996) 65-92 esp 88 sobre a origem da expressão “monoteísmo concreto”. K. RAHNER, Ü ber die Eigênart des christlichen Gottesbegriff, in Schriften zur Theologie 15, Zürich-Einsielden-Köln 1983 185-194,190. Deus não é só o doador, senão o próprio dom. Isso só é possível ein uma’ concepção trinitária.

M etodologicam ente poderá ser válido tom ar uma ou outra como ponto de partid a, mas sem pre com a consciência de que não há prioridade de uma ou outra, nem lógica nem ontologicam ente. O m onoteísm o cristão é o m onoteísm o do Deus trino revelado em Jesus. Deus é em si mesmo unidade e pluralidade, e p o r isso, na superabundância de seu amor, do amor que é em si mesmo, pode dar-se ao m undo, que não é necessário, e, ao ser am o r em si mesmo, pode ser am or para nós. Em últim o term o, toda a doutrina trinitária pode converter-se em um com entário a ljo 4,8 .1634. O amor, em nossa experiência humana, é por um a parte o que une35, mas por outra é o que deixa ao outro ser o que é. C ria com unhão, mas não absorve nem elimina as diferenças. O que ama é e deixa que o outro seja36. Se podemos aplicar a Deus analogicamente essa experiência hum ana (e com consciência da diferença fundamental, a que já aludimos, en tre a unidade da essência divina possuída pelos três e a comunhão entre os homens, por íntim a que queiramos concebê-la), podemos pensar como o amor funda ao mesmo tem po a máxima união na máxima distinção das pessoas. Assim se pode falar de Deus que vem a nós e se fez um conosco (Deus conosco), do Espírito derramado em nossos corações (D eus em nós) sem atentar de nenhum m odo contra a sua transcendência e contra a incompreensibilidade de seu mistério (Deus Pai, Deus acima de nós)37. D eus habita em uma luz inacessível (lT m 6,16), a Deus ninguém viu, só o Filho único o deu a conhecer (Jo 1,18). A partir dessa revelação em Jesus nos vemos confrontados com a luz de seu m istério. Por isso som ente no am or temos acesso ao conhecimento de Deus. O que ama nasceu de Deus e o conhece, e, ao contrário, o que não ama não pode conhecê- lo (cf. ljo 4,7-8)38.

34. Cf. R. PREN TER, Der G ott, der Liebe ist. Das Vehältnis der Gotteslehre zur Christologie, T h L Z96 (1971) 401-413,403: “Deus éamor. Por que não simplesmente Deus nos amou...? Por que não simplesmente Deus nos tem um amor infinito, pois nos amou tanto? Por que não simplesmente: Deus está cheio de amor por nós? Por que: Deus é amor”? Citado por PANNENBERG, op. d t, 461; cf. também, Th. SÖ D IN G , “G ott ist Liebe”. 1 Joh 4,8.16 als Spitzensatz biblischer Theologie, in ID . (ed.), Der lebendige Gott. Studien zur Theologie des Neuen Testaments (Festschrift W. Tbäsmg), M ünster, 1996,306-357. 35. AGOSTINHO, Irin. VIII 10,14 (290): “Quid est ergo amor, nisi quaedam vita duo aliqua copulans vel copulare appetens, amantem sdlicet e t quod amatur?” 36. Deus criador, que cria por amor, dá à criatura sua própria consistência. 37. Cf. GRESHAKE, op. d t, 532. Cf. já ATANÁSIO, Serap. I 28 (PG 26, 596). 38. Cf. E. JÚ N G EL, Gott als Geheimnis der Welt, 446ss. Jüngel observa que reconhecemos o Deus amor quando envia seu Filho ao mundo, com o que se expõe à falta de amor. Assim Deus mostra-se não só como o que ama, senão como o acontecimento mesmo
4. A unidade de Deus e a unidade dos homens
A unidade do Deus trin o é tal que nela, acentuando devidamente todas as diferenças, os homens têm cabimento. A chamada “oração sacerdotal” de Jesus (Jo 17) oferece a base para tal consideração, de tal m odo que podemos tomá-la como ponto de partida de nossa reflexão’9. Os primeiros versículos do capítulo tratam da glorificação m útua do Pai e do Filho; culminam n o v. 5, com a súplica de Jesus de ser glorificado pelo Pai com a glória que tinha junto dele antes da criação do mundo. Nessa glorificação manifesta-se a glorificação mesma do Pai. Trata-se da revelação escatológica do ser etem o de Deus. Deus possui desde sempre a glória de sua divindade: esta consiste na glorificação mútua do Pai e do Filho, e agora abarca tam bém o Filho enquanto homem, já que sua humanidade, na ressurreição e exaltação, entra na plena participação da vida eterna de Deus. Precisam ente porque a humanidade de Jesus é introduzida nessa “doxologia” eterna, pode-se introduzir nela também os crentes. “Neles” é glorificado o Filho (Jo 17,10). Essa glorificação acontece mediante o “outro Paráclito”, o Espírito da verdade que Jesus enviará e que guiará os discípulos à verdade total, porque lhes comunicará o que ouviu (Jo 16,14: “Ele m e dará glória, porque receberá do meu e o comunicará a vós”). A doutrina trinitária tem como finalidade a doxologia, enquanto parte da glorificação mútua do Pai e do Filho. Mas nessa glorificação os homens são introduzidos; essa glorificação significa nossa salvação: “a glória do nome de Deus”, dizia Ireneu40. A finalidade última do homem está na glorificação do D eus uno e trino e em ser acolhido na vida plena da Trindade. Isso é possível porque essa unidade divina não elimina a diferença, mas a assume em si. Em Deus é o mesmo ser e ser com o outro39 40 41. P or isso D eus pode acolher em seu seio a criatura, sem que esta deixe de ser tal42.

do amor. Deus não quer amar-se a si mesmo sem amar o mundo. N a missão do Filho ao mundo, Deus entra na carência de amor, e assim faz digno de amor o homem odioso. Á identificação de Deus com o am or não permite a redução feuerbachiana: o am or só é verdadeiro quando vem de Deus. Cf. também a análise do amor muito rica e sugestiva em Ibid., 430-446. 39. Cf. KASPER, op. c it, 369ss. Inspiro-me nele para o que segue. 40. Adu. Haer. m 20,2 (SCh 211,388). 41. Cf. KASPER, op. cit., 373. 42. FuncUfbe nisso a relação intrínseca entre a criação e a Trindade. Só porque em Deus existe a altjfcdade pode fazer surgir o outro, a criatura, sem fazer-se dependente dele. Deve-se a firm # a unidade da ação divina na criação, porque, sendo as três pessoas inseparáveis, Deus é um só princípio das criaturas. AGOSTINHO o formulou de modo
Dessas características do ser de Deus uno e trino deriva nossa salvação, que é nossa relação com ele e a participação na sua vida. A vida eterna está no conhecim ento de Deus: “que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e ao Jesus C risto que enviaste” (Jo 17,3). Jesus, o enviado do Pai, acha-se assim indissoluvelmente associado ao “único D eus”. A unidade do Pai e do Filho funda por sua vez a união dos crentes com Deus, e a deles entre si: “Que todos sejam um: como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós para que o mundo creia que me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um” (fo 17,21-22). A unidade funda-se n o dom que Jesus fez aos seus da “glória” que o Pai lhe deu, na participação da vida divina que dele recebeu43. Toda a ação de Jesus na terra tende a criar essa união, a fazer de todos os homens filhos de Deus. Também, segundo Jo 17,26, o am or com que o Pai amou Jesus deve estar entre os cristãos. A unidade entre os cristãos funda- se na unidade da Trindade44. Chama a atenção que essa oração sacerdotal não mencione o Espírito Santo, do qual se fala amplamente nos capítulos precedentes. Precisamente por isso não se pode pensar que a união dos homens com o Pai e o Filho, e a presença deste entre os seus, faça-se prescindindo da ação do Paráclito, Espírito da verdade. Sem que queiramos fazer concordâncias precipitadas, deve-se notar que as noções de glória e de Espírito estão associadas re-

lapidar em Trin. 14,7 (CCL 50,36) "... sicut inseparabiles sunt, ita inseparabiliter operentur”. Isso não significa que esse princípio não contenha em si mesmo a distinção, e que portanto na ação inseparável das pessoas cada uma não participe do modo que lhe é próprio. Cf. L. F. LADARIA, Antropologia teologica, Casale M onferrato-Roma, 1995, 64-69. 43. Cf. R. SCHNAKENBURG, EI evangeUo segun sanjuan, Barcelona, 1980, Hl, 238ss. A glória e a unidade vão também juntas em Rm 15,5-6. Sobre a relação entre a unidade do Pai e do Filho e a dos homens, expressa na glória, D. M ARZOTTO, Lunità degli uomoni nel vangelo di Giovanni, Brescia, 1977, 192; “Jesus e o Pai são uma coisa só, expressa na glória que o Pai deu a Jesus, porque sempre o amou, mas Jesus concedeu essa glória aos discípulos e esses creram nele. A unidade originária se abre no acolher aos outros, que se tomam uma só coisa também eles ‘em nós', ‘como nós’, ‘a partir do momento que somos uma coisa só'; cf. ibid., 198s. Ver Y. SIMOENS, La gloire d’aimery Structures stylistiques et interprétatives dam le Discours de la Cène Qn 13-17) Roma, 1981, 248: “‘Um', na relação ao Pai e a Jesus, eles recebem como dom a glória que define a identidade mesma de Deus”. Ver também GS 24, embora o texto não se refira diretam ente à introdução dos homens na unidade divina. 44. Cf. CO N CÍLIO VATICANO II, LG 1,4, com a famosa citação de S. CIPRIANO de Cartago, De or. Dom. 23: “de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancd plebs adunata”. Cf. também TERTULIANO, De Bapt. 6,1 (CCL 1,282): “Ubi tres, id est pater et filius e spiritus sanctus, ibi Ecclesia, quae trium corpus est”.
petídamente no Novo Testam ento (cf. 2Cor 3,6-9; E f 3,16; lP d 4,14)45. Uma tradição patrística considerável mantém essa íntim a união, e chega mesmo à identificação pura e simples das duas noções46. A unidade com o Pai e o Filho funda-se em todo caso na comunicação que Jesus faz da glória com a qual é um só com o Pai. Por isso podemos falar com propriedade, e não só em sentido figurado, da verdadeira participação dos homens na vida de Deus uno e trino. Essa unidade é que perm ite que Deus venha a nós na linha descendente do exitus, Pai-Filho-E spírito, que se inverte em movimento ascendente do reditus: “Pois por ele (Cristo) uns e outros temos acesso ao Pai no mesmo E spírito” (Ef 2,18), já que Jesus com sua morte derrubou todo muro de separação entre os homens e em particular entre os judeus e os gentios (cf. E f 2,11-17). Sendo que a unidade divina se dá na distinção das pessoas, também a unidade que à imagem da Trindade se funda na Igreja recolhe as diferenças e não busca a uniformidade (cf. IC o r 12,4-30; Rm 12,4-9; E f 4,9-13). A unidade entre os homens só pode dar-se no respeito das peculiaridades das pessoas, dos grupos e povos. “Unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur” (Símbolo Quicumque, DS 75). N ão podemos pensar na unidade divina sem que a Trindade esteja presente, nem refletir sobre ela esquecendo a unidade. Cada afirmação que só leve em conta um desses aspectos deverá sempre ser corrigida por sua complementar. A unidade no am or tem sua fonte na pessoa do Pai, que por sua vez não é senão em relação com o Filho e o Espírito Santo; o que nos ajuda a pensar simultaneamente nos dois aspectos inseparáveis do ser divino. O am or está no “princípio” da Trindade, e, através do Filho, é também o que fecha o círculo dela, o Espírito Santo amor em pessoa, enquanto fruto do amor do Pai e do Filho47. E se tudo

45. Cf. F. X. DURRWELL, ÜEspritSamtdeDieu, Paris, 1983,22s; ID.,U P ère. Dieu en son mystère, Paris, 1988,28: “O poder, a glória e o Espírito são inseparáveis’. 46. Cf. JU STIN O , Dial.Trypb. 49,2-3 (BAC116,383); cf. J. P. MARTIN, EIEspíritu Santo en los orígenes dei cristianismo, 196-200, sobre a relação entre esses conceitos e também com os de kbáris e dynamis; IRIN EU de Lion, Ado. Haer. IV 14,1-2 (SCh 100, 538-546). Tanto a glória como o Espírito Santo operam a comunicação com Deus; HILÁRIO de Poitiers, In M t2,6-, 12,23 (SCh 254-110; 172). 7r.ft. 56,6 (CSEL 22,172); AMBROSIAS- TER, Com. 2Cor 3,18 (CSEL 8 1 ,2 19s). A passagem mais interessante é a de GREGÓRIO de N issa, Hom. in Cant. XV (PG 44, 1.117): “O vínculo dessa unidade é a glória (cf. Jo 17,22). P or outra parte, examinando com atenção as palavras do Senhor se descobrirá que o Espírito Santo é denominado glória. Diz assim, com efeito, Dei-lbes a glória que meétste (Jo 17,22). Efetivamente tinha lhes dado aquela mesma glória quando lhes disse: Rccjki o Espírito Santo (Jo 20,22)”. 47. A partir de consideração semelhante observa PANNENBERG, op. d t , 466, que no Pai enquanto origem e no Espírito Santo como amor (essênda comum) é mais manifesta a essênda divina, a “divindade em seu conjunto”.
quanto existe vem d o amor criador do Deus uno e trino, no transbordar do eterno intercâm bio de amor que é a vida íntima de Deus, podemos pensar que a doação de si no desprendim ento é o sentido últim o de tudo o que existe. “O sentido d o ser é o desprendimento do amor.”48 Assim falou-se ultim am ente na teologia católica de um a “ontologia trinitária”49, na qual o amor é visto como o núcleo mais profundo que dá sentido a toda a realidade50. Sendo a Trindade, também enquanto tal, a origem da criação, essas considerações estão justificadas. Valem naturalmente, antes de tudo, para os homens. A entrega de Jesus revela-nos o mistério de am or e de entrega que constitui a vida divina. Seguir a Jesus, por quem tudo foi feito, significa, como recorda o Concílio Vaticano II (GS 41), fazer-se mais homem. Significa entrar n o verdadeiro sentido da vida, que parte da vida mesma de Deus. Esse prim ado da pessoa e da relação permite integrar aquelas experiências que não entram em nenhum sistema: a solidão e a culpa, a tristeza e o fracasso51. A revelação desse sentido últim o do ser acontece na vida de Jesus, imagem e revelador do Pai, o qual, p o r sua vez, é o princípio, a raiz e a fonte da Trindade. Quem vê Jesus vê o Pai. Quem vê Jesus pode entender a Deus como o to tal desprendimento do amor. Vida, m orte e ressurreição de Jesus abrem -nos o mistério da comunhão trinitária no am or desprendido. No etem o am or trinitário está a condição de possibilidade da kenose

48. KASPER, op. cit., 377. Veja-se todo o contexto. 49. A expressão foi cunhada por K. HEM M ERLE, Tbesen zu einer trinitariscben Ontologky Einsieldeln, 1976. A ontologia que deriva da fé deve ser seu ponto de partida no amor, no dar-se. O pensamento da Trindade descobriu o amor como o núcleo nos mistérios do cristianismo, mas também em tudo o que é (Ibid. 36). Do mesmo autor, Aufden góttlicken Gottzudenken; Unterwegs mitdem dreieinen Gott, Freiburg, 1996. Ver também GRESHAKE, op. cit, 454-464; STAGLIANÒ, op. cit., 602-606; COMISSIO TH EO LO G ICA IN TER- NATIONALIS, op. cit., 14: “Manifesta-se ao mundo o mistério de Deus e do homem como mistério de caridade. Dessa consideração, sob a guia da fé cristã, pode-se deduzir uma nova visão universal de todas as coisas... N o centro dessa ‘metafísica da caridade’ já não se coloca, como na filosofia antiga, a substancia em geral, senão a pessoa, cujo ato perfeitíssimo e sumamente perfectivo é a caridade”. 50. HEM M ERLE, op.cit, 55: “O que não perdoou o seu próprio Filho, mas que o entregou por todos nós, como é possível que não nos dê com ele todas as coisas? (Rm 8,32). Essa experiência fundamental da fe funda-se na morte e na ressurreição de Jesus. Experi- nfiinta que Jesus entregou-se por nós, mas que sua entrega é a entrega de Deus, que nela dá sedado ao ser, que fica completamente transformado porque é dado desde seu últim o fundamento, é assumido no ritmo de sua auto-entrega (de Deus)”. Ibid., 57: “o que crê em Cristo crê em um am or que está no começo, no centro e no final”. 51. C f KASPER, op. c it, 377. Ibid.: “E finalmente uma interpretação que leva à esperança, uma antecipação da doxologia escatológica sob o véu da história”.
temporal do Filho. Chegar à definição do ser como doação e como desprendimento só tem sentido a partir de Jesus revelador do Pai, e com isso do mistério da santa Trindade, único Deus. Nesse m istério somos introduzidos mediante a fé e o batismo que recebemos em nome (não nos nomes52 53) do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e pelo qual somos associados à morte e ressurreição de Jesus e passamos a formar parte da Igreja que é seu corpo. A Igreja tem por lei o novo mandamento de amar como Cristo nos amou (cf. Jo 13,34) e que é o germe mais forte de unidade para a humanidade inteira (cf. LG 1,9).
OS MODOS DE ATUAR E AS PROPRIEDADES (ATRIBUTOS) DE DEUS
O Deus uno e trino, que a fé cristã confessa, mostra-se-nos em sua revelação aos homens como “o que é” em plenitude de autopossessão, no etem o intercâmbio de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ntende-se m elhor a doutrina sobre as propriedades (atributos) de Deus, manifestadas em seu operar, à luz da revelação trinitária, a única que nos mostra o ser profundo de Deus. Assim, esse ensinamento tradicional, a que dedicaremos atenção lim itada55, pode ser considerado um prolongamento de nossa reflexão sobre a essência divina. Com freqüência encontramos no caminho a questão da incompreen- sibilidade de Deus. É uma conseqüência que deriva de sua infinidade54. Santo Tomás, como já tivemos ocasião de observar, referia-se a como Deus “não é”, mais do que a como é55. Sua existência é conhecida por seus efeitos, mas devido à desproporção entre os efeitos e sua causa não podemos

52. Cf. C IC 233; já Catbecimus Romanus D 2,10; cf. KASPER, op. d t, 3S9. 53. Os manuais recentes diferem notavelmente na atenção concedida a esse tema. Dedica-lhe espaço m uito considerável SCHEFFCZYCK, op. d t., 419-507, depois de haver tratado dos problem as essenciais da teologia trinitária. M uito mais brevemente STAGLIANÒ, op. d t., 597-601; GRESHAKE, op. d t., 214-216; ambos sublinham o caráter trinitário dessas propriedades 54. Cf. G REG O RIO de Nissa, Contra Eunomio, m ,l, 103 (JAEGERII, 38). Vale a pena reproduzir um texto de PANNENBERG, op. d t., I, 368: “Os grandes desvarios no campo do conhecim ento de Deus não se produzem quando os homens são consdentes de que seu entendim ento está sempre abaixo da grandeza desse objeto, mas quando tomam equivocadamente suas limitadas idéias pela coisa mesma”. 55. STb I 2, começo. Mas de Deus podemos também fazer proposições afirmativas: STb 1 13,12. Cf. JOÃO DAMASCENO, De fide ortbod. 1 2.4 (PG 94, 793. 799).
conhecê-lo perfeitam ente segundo sua essêndaS6. Talvez por essa razão encontrem os freqüentem ente elencos de propriedades de Deus, longas enum erações que indicam que com uma só expressão não se pode abarcar D eus. Essas propriedades divinas deduzem-se na Escritura dos modos e atuação de D eus e formam um todo com elas. Evidentem ente, tampouco com muitas palavras se esgota a im ensidade divina, mas não há dúvida de que a enum eração e a diversidade de aproximações ajuda a dar a impressão mais viva de que nos encontram os diante do que nos ultrapassa. Assim já o fez a E scritura. E precisam ente a riqueza transbordante do amor de D eus a que se m anifesta na abundância das propriedades divinas, que não são mais do que um a articulação daquela idéia central. D e modo algum devemos pensar que essas longas enum erações se oponham ao princípio da simplicidade divina. E antes a impossibilidade hum ana de captá-la realm ente que obriga a uma pluralidade de aproximações. Nas páginas a seguir não pretendem os um estudo exaustivo dessa questão. C ontentam o-nos com algumas indicações sobre os ensinamentos da
Bíblia e da tradição, para depois passar a refletir sobre os problemas atuais em tom o da imutabilidade e da impassibilidade divinas.
1. Algumas noções bíblicas

As afirmações mais profundas sobre Deus na Bíblia não se encontram em tuna linguagem abstrata acerca dele, mas nas orações. Quando louva ou suplica, quando fida com o coração, quando experimenta sua bondade infinita, é então que o homem se aprofunda mais em seu mistério. N ão podemos ficar surpresos com o feto de que no Antigo Testamento seja precisamente o livro dos Salmos o que nos fale com mais freqüência das grandezas de Deus e enumere seus grandes benefícios aos homens, que mostram os caracteres de seu ser. Assim por exemplo, o SI 103[102], 3-9: O que perdoa todas as suas culpas, cuida de tuas doenças, resgata tua vida do fosso, coroa-te de amor e ternura; o que farta de bens tua existência, enquanto
56. STb I q .l, a.2. Sobre a incompreensibilidade de Deus nos apologetas, pode-se ver PANNENBERG, Die Aufhahme des philosophischen G ottesbegrifls ais dogmadsches Problem der Érühchrisdlichen Theologie, in Grmdfragen systematiscber Tbeologie, Gõttmgen, 1967, 296-346, 332ss; cf. também BASILIO de Cesaréia, De Fide (PG 31,681): “N em as palavras podem descrever nem a mente pode abarcar a majestade e a glória de Deus; não podem ser expressas nem com uma palavra nem com um conceito, nem podem ser compreendidas como são”.
tua juventude se renova como a águia. Javé é o que faz obras de justiça e outorga o direito aos oprimidos... Clemente e compassivo, Javé, tardo para a cólera e cheio de amor; não se zanga etemamente nem para sempre guarda rancor...
Também o SI 145[144] é um canto de louvor a Deus que o homem não pode abarcar: Grande é Javé, digníssimo de louvor, insondável em sua grandeza... Será feita memória de tua imensa bondade, tua justiça será aclamada. Clemente e compassivo Javé, tardo para a cólera e grande em amor, bom é Javé para com todos, e suas ternuras sobre todas suas obras.... Teu reino é um reino por todos os séculos, teu domínio é um domínio por todas as gerações. Javé é fiel em todas as suas palavras, amoroso em todas suas obras (SI 145,3.6.7-9.13-14; cf. também SI 71 [70], 72[71], 84[83], 146[145].
A fidelidade do amor divino tam bém está expressa nos profetas (cf., por exemplo, J r 31,3; Os 2,21-22). São antes das obras de Deus, da experiência de seu am or a seu povo, de que tratam esses textos, mas daí se passa a afirmações sobre a grandeza e o poder divinos. Essas passagens e outras semelhantes parecem comentários ou ecos de Ex 34,6-7, a resposta à invocação de Moisés: “Javé, Javé, Deus misericordioso e clemente, tardo para a cólera e rico em amor e fidelidade, que mantém seu am or por m il gerações. Que perdoa a iniqüidade, a rebeldia e o pecado...”. A riqueza insondável do ser de D eus manifesta-se no fato de ser ele, por antonomásia, o “vivente”. Aele pertence a vida (cf. Jr 10,10; SI 36[35],10; Dn 6,27 etc.); n o Novo Testamento a vida aparecerá em C risto (cf. Jo 1,16). Mas outras expressões mostram o poder de Deus, sua transcendência sobre a terra: D eus é incompreensível (Jó 36,26); é o Altíssimo (SI 7,18; 73[72],11; 78[77],56); seu poder é onipotente; o que quer, ele o faz (SI 115[114],3; Jr 32,17; Jó 42,2). A onipotência de Deus m anifesta-se em sua fidelidade ao pacto estabelecido com seu povo (cf. SI 111 [110]). A partir das maravilhas da criação, Javé aparece vestido de esplendor e majestade (SI 104[103],lss; cf. 113[112],4). O s céus proclamam a glória infinita de Deus (SI 19[18],2), mas não podem contê-lo: “Se os céus e os céus dos céus não podem conter-te, quanto menos esta casa que construí” (lR s 8,27; cf. Is 66,1). A onipresença de Deus acha-se expressa no SI 139[138],7-8: “Aonde irei e onde poderei fugir de teu rosto? Se subo até os céus, aí estás tu, se deito nos infernos, ali te encontras”. Seu trono está nos céus, seus olhos

vêem tudo, suas pálpebras exploram os filhos de Adão (SI 11 [10],4; cf. 14[13],4;Jr 23,24). A permanente onisciênda de Deus é posta em relevo em S r 42,18-20: “Ele sonda o abismo e o coração humano, e penetra seus cálculos secretos. Pois o Altíssimo penetra todo saber e fixa seus olhos nos sinais dos tempos. Anuncia o passado e o futuro, e descobre os vestígios das coisas secretas...”. Deus não passa, existe desde sempre e para sempre, diferentemente de suas obras; SI 102[101],25-28: “De idade em idade duram teus anos. Desde os tempos remotos fundaste a terra, e os céus são a obra de tuas mãos: eles perecem, mas tu ficas. M as tu és sempre o mesmo, não têm fim teus anos”. Por isso Deus é chamado com freqüênda a “rocha”, metáfora que exprime a solidez do apoio que oferece ao homem (cf. SI 18[17],32, entre outras muitas passagens). A eternidade do amor e o poder de Deus estão expressos no Salmo 136[135] que contempla em um olhar de conjunto a criação do mundo, a libertação do Egito e o cuidado amoroso de Deus por suas criaturas57. M uitos desses temas encontram-se reunidos em um texto do Eclesiástico (Sirácida): O que vive etemamente tudo criou por igual Só o Senhor será chamado justo. A ninguém deu o poder de proclamar suas obras pois quem poderá rastrear suas maravilhas? O poder de sua majestade, quem o calculará? Quem poderá contar suas misericórdias? Nada há que tirar, nada que acrescentar e não se podem rastrear as maravilhas do Senhor. Quando o homem crê acabar, então começa, quando pára, fica perplexo... A misericórdia do homem só alcança o seu próximo, a misericórdia do Senhor abarca o mundo todo. (Sr 18,1-7.12).

A santidade de Deus é outra de suas propriedades mais características. Segundo o SI 22 [21],4, D eus é “o Santo”. A santidade aplica-se som ente a Deus, no Antigo Testamento. O santo é originariam ente o separado desse
57. C f, para maior inform ação, ROVIRA BELLOSO, op. cit., 253-292; E A. PASTO R, La lógica de lo inefable. Una teoria teológica sobre el lenguaje dei teísmo cristiano, Roma, 1986, 131-147; O , González de CARDEDAL, La entraria dei cristianismo, Salamanca, 1977, 43-59.
mundo. Por isso convém a Deus. M as essa separação im plica a inexistência de pecado e de impureza. Assim a santidade é a expressão do mistério divino, é o bem e a bondade do mesmo Deus, que se converte em mistério de salvação enquanto essa santidade é comunicada. D uas vezes no livro do Levítico (Lv ll,4 4 s; 19,2) diz-se que essa santidade deve ser imitada pelo homem. Se em uma ocasião trata-se antes de preceitos de natureza ritual (prim eiro texto), na segunda passagem a imitação da santidade de Deus identifica-se com o cumprimento dos mandamentos divinos: no respeito aos pais, na observância do sábado, na abstenção da idolatria. Deus jura por sua santidade, que parece assim identificar consigo mesmo. (cf. Am 4,2). A santidade de Deus m ostra-se sobretudo no am or e na misericórdia: Os 11,9: “N ão executarei o ardor de minha cólera, não tom arei a destruir Efraim, porque sou Deus e não homem: em m eio de ti eu sou o Santo e não gosto de destruir”. H á, pois, uma relação intrínseca entre a santidade de Deus e seu amor misericordioso pelos homens. A santidade tem relação com o poder e a majestade de Deus (Is 6,1-6) mas não se trata de um poder destruidor, e sim de seu am or que salva perdoando. Por essa razão, Deus enquanto salvador58 converte-se no santo de Israel (cf. Is 1,4; 10,20; 43,3.14)59 60. O Novo Testamento não nos oferece uma lista tão grande de propriedades divinas. Mas alguns desses elementos repetem-se. O rosto de Deus deve ser visto em Jesus. Em suas palavras, em suas ações, revela-nos a bondade e a misericórdia de Deus (cf. por exemplo, as três parábolas em Lc 8,38- 49; Lc 15: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo); por isso prefere os pobres e abandonados, os publicanos e os pecadores. Da misericórdia de Deus fala-se expressamente em Lc 1,45.78 (cf. também 6,36**, entre outras passagens). Deus é “rico em misericórdia” (E f 2,4). A onipotência de Deus está expressa também com clareza: “Tudo é possível para Deus” (Lc 1,37; cf. M t 19,26). Deus faz valer sua onipotência para salvar os homens. Deus é, segundo o Apocalipse, “o que é, o que era, o que há de vir” (Ap 1,4.8; 4,8); são claras as reminiscências de Ex 3,1461. As vezes, em conexão com as expressões do Apocalipse que acabamos de mencionar, aparece repetido no mesmo livro o qualificativo pantocrator,

58. Cf. Ex 15,2, Deus é salvador porque libertou o povo do Faraó. 59. C f G. ODASSO, Santidad, em P. ROSSANO; G. RAVASI; A. GIRLANDA, Nuevo dicàonario de teologia bíblica, Madrid, 1990, 1.779-.1788. 60. C f M t 5,48, um texto paralelo onde o Pai celestial é chamado “perfeito” 61. Em outras passagens aparece Deus como existente antes dos séculos ou “éons”; cf E f 3,9; Cl 1,29; é o rei dos séculos ITm 1,17. Cf. também Hb 1,8 que cita o SI 45[44],7.
que a tradição usará com tanta freqüência (Ap. 1,8; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7.14; 19,6.15; 21,22; cf. 2C or 6,18). Em alguns desses mesmos contextos Deus é chamado o “santo” (Ap 4,8; 6,10; 3,7; 15,4; 16,5a ). Repete-se a expressão em outras passagens do N ovo Testamento, com referência a Deus (cf. Jo 17,11; lP d 1,15; ljo 2,20) e também a Jesus (Cf. Lc 1,35; M c l,2 4 ;Jo 6,29; A t 3,14; 4,27). D eus Pai e também Jesus, segundo o Apocalipse, são “o prim eiro e o último” (Ap 1,6; 1,17; 2,8; 21,6; 22,13); é uma expressão que pode sem dúvida relacionar-se com a eternidade divina. Para Deus, “mil anos são como um dia e um dia como m il anos” (2Pd 3,8; cf. SI 90[89],4). A eternidade divina aparece também em Rm 16,26. Deus é “invisível” ainda que dado a conhecer por Jesus: cf. J o 1,18; C l 1,15; lT m 1,17; 6,15s. É im ortal (cf. lT m 1,17; 6,16); incorruptível (Rm 1,23, cf. Sb 2,2 3s). É igualmente o “Altíssimo”; assim, segundo Lc 1,32, Jesus é o “F ilho do Altíssimo” e o E spírito é a força dele (cf. Lc 1,35; cf. também A t 7,48; M c 5,7 = Lc 8,28). A transcendência divina fica assim firmem ente acentuada. Mas ao mesmo tem po os hom ens podem chegar a ser “filhos do Altíssimo” segundo a palavra de Jesus em L c 6,35 (cf. SI 82[81],6). Além disso, D eus é “bom ”, mais ainda, é o único a quem convém propriam ente esse q ualificativo (Mc 10,18). É veraz, o único que possui a justiça (cf. Rm 3,4-5). Poderíamos seguir ainda essa enumeração, mas facilmente poderia tom ar-se um simples acúmulo de dados. E interessante notar que muitas dessas características e propriedades de Deus, que indicam claram ente sua transcendência sobre todo o criado, podem ser comunicadas aos que crêem em Jesus sem que a transcendência divina se questione em absoluto. Em Jesus podemos ser participantes da justiça de Deus (cf. Rm 3,26). Nele temos acesso à vida que somente Deus é, à vida etem a que é participação da eternidade mesma de Deus (cf. Jo 6,39s.54-58). Nele tam bém participamos do amor divino (Cf. ljo 4,7-21). Para o que crê “tudo é possível”, como nada há de impossível para Deus, salvas todas as distâncias (cf. Mc 9,23; M t 21,21 = M c 11,23). Essas duas dimensões das propriedades divinas vão juntas no N ovo Testamento, que por uma parte continua sublinhando, como o Antigo Testamento, a transcendência divina, mas ao mesmo tem po nos fala da participação na vida de Deus (cf. Jo 10,34; SI 82 [81],6: “sois deuses”) pela ação salvadora de C risto e pelo dom do Espírito. A proximidade de Deus pode ser salvífica precisam ente porque supera infirn- 62

62. Nesses últimos textos não se usa bdgios mas bósios.
tam ente todas as forças e capacidades humanas. N a transcendência e na proximidade de Deus está a possibilidade de salvação para o homem. Não bastam nem uma nem outra se desligadas eiitre si. Deus mesmo (o Pai, pelo contexto), e não som ente Jesus, é, em algumas ocasiões, especialmente nas cartas pastorais, o “salvador”, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade (lT m 2,3-4; cf. também lT m 1,1; 4,10; T t 1,3; 2,10; 3,4). A grandeza e a majestade divinas, e, por outro lado, a proximidade aos homens são duas constantes que, diferentem ente acentuadas, vamos encontrar nos textos da tradição.
2. Propriedades divinas na tradição
Em Clemente Romano achamos tam bém uma combinação das propriedades que nos falam do Deus grande e onipotente e das que levam em consideração o perdão e a misericórdia divina: Tu, Senhor, criaste o universo; Tu és fiel em todas as gerações, justo nas sentenças, admirável por sua força e grandeza, sábio ao criar, inteligente ao estabelecer solidamente o que existe, bom com as coisas visíveis, fiel com os que confiaram em ti, misericordioso e compassivo63.

Basílio de Cesaréia introduz uma distinção entre as propriedades divinas que terá sua importância nas épocas posteriores. P or uma parte, Deus é incorruptível, imortal, invisível: trata-se de propriedades negativas; mas tam bém dizemos que é “justo, bom, criador, juiz e coisas semelhantes. Assim como os termos precedentes significavam a negação e a recusa do que é estranho a Deus, esses de agora expressam uma afirmação e a existência
63. CLEM ENTE Romano, Ad Cor. 60.1 (FP 3,148s); também Ibid. 59,3: “... para conhecer-te a ti, o único Altíssimo nas alturas, o Santo, que descansas entre os santos, que hum ilhas a soberba dos orgulhosos, que enriqueces e empobreces, que matas e fazes viver, que crias a vida, que vês nos abismos, testemunhas as obras humanas, e socorres os que estão em perigo...”. Notemos o caráter de invocação que têm essas enumerações das propriedades divinas, inspiradas nas orações bíblicas; cf. ROVIRABELLOSO, op. cit., 336.0 m esm o veremos em outros textos.
do que pertence a Deus”64 65. G regório de Nissa indica com o próprias das três pessoas divinas a incorruptilidade, a integridade, a felicidade, a bondade, a sabedoria, o poder, a justiça, a santidade66. Agostinho, também no contexto do louvor e da invocação, acumula uma impressionante série de propriedades divinas: Ó sumo, ótimo, onipotentíssimo, misericordiosíssimo, justíssimo, muito secreto e muito presente, belíssimo e fortíssimo, estável e inapreensível, imutável e que tudo muda, nunca novo e nunca velho, renovador de toda coisa, que levas os soberbos à decrepitude. Sempre ativo, sempre em repouso; recolhes sem que necessites de nada; guias, enches e conservas; crias, nutres e fazes amadurecer; buscas quando na realidade nada te falta; amas mas não te agitas, estás ciumento e ao mesmo tempo seguro; te arrependes sem sofrer, a ira te sobrevém, mas estás em paz; mudas as obras mas não teu desígnio; recebes o que encontras e nunca o tinhas perdido; nunca necessitado, te alegras com o ganho; nunca avarento, mas exiges os juros. Emprestamos a ti para que nos devas, e quem tem algo que não seja teu? Pagas as dívidas sem dever nada, as perdoas sem perder nada. E que dissemos, Deus meu, minha vida, minha doçura? O que se diz quando se fala de ti? Mas ai dos que não falam de ti! Porque estão mudos ainda que falem66.

Encontram os de novo uma mescla de propriedades negativas e positivas. E enquanto algumas podem ser consideradas abstratas, a p artir da consideração do “ser supremo”, em outras ocasiões, como na referência à ira e ao arrependim ento, é clara a inspiração na história concreta da Bíblia. Em bora a filosofia do platonism o, em particular do platonismo médio e do neoplatonismo, seja sem dúvida um elem ento que influi no pensamento dos Padres, não é certam ente o único nem o determ inante67. O texto de Agostinho mostra a dificuldade de falar de Deus a par da necessidade de fazê-lo. João Damasceno (morto por volta de 749) compraz-se especialmente em oferecer-nos longas listas de propriedades divinas. Escolhemos uma entre várias que se encontram em sua De Fide ortodoxa, dessa vez no contexto de uma profissão de fé:
64. Contra Eunom. 1 9 (SCh 299,200); cf. 10 (206). 65. De Fide (JAEGER III 1,66). Também Or. Catb. Magna, 24 (PG 45,64). 66. A G O STIN H O , Conf. 1 4 (CCL 27,2-3) e também Ibid. 3 (2). 67. Pode-se ver em geral sobre esses problemas, com referência especial aos apologetas, PANNENBERG, op. cit.
Cremos em um só Deus, um só princípio, carente de princípio, incríado, ingênito, que não conhece destruição nem morte, etemo, imenso, incircuns- crito, não limitado por nenhum termo, de potência infinita, simples, não- composto, incorpóreo, livre de fluxo de paixão e de toda mndauça e alteração, invisível, fonte de toda bondade e justiça, luz intelectual e que não foi acesa, potência não compreendida em nenhuma medida, que só é abarcada por sua vontade, que é criadora de todas as coisas, causa das coisas visíveis e das invisíveis, conservadora de tudo, que tem providência sobre tudo, que contém e rege todas as coisas, superior em essência, vida, palavra e pensamento; é a mesma luz, a mesma bondade, a mesma vida...68.
Santo Tomás, com o já indicamos, pensa que devemos falar de como Deus não é, antes de falar como é. O caminho é portanto negativo; trata- se de elim inar m entalm ente o que não lhe convém. Assim se chega à simplicidade de Deus, perfeição, bondade, infinitude, imutabilidade, eternidade, unidade69. Depois de te r considerado o que Deus é (ou melhor, o que não é) em si mesmo, passa-se às operações de Deus, as que permanecem nele e as que dão lugar a um efeito exterior. Assim, fala em p rim e iro lugar do que corresponde ao intelecto de Deus (sua ciência e sua vida) e depois do que corresponde à sua vontade (seu amor, sua justiça e sua misericórdia). Por últim o, seu poder e sua felicidade70. Essa tradição foi recolhida pelo Vaticano I na Constituição Dei Filias: A santa, católica e apostólica Igreja romana crê e confessa que um só é o Deus verdadeiro e vivo, criador e senhor do céu e da terra, onipotente, eterno, imenso, incompreensível71, infinito em intelecto e em vontade e em toda perfeição, o qual, sendo uma substância espiritual singular, completamente simples e imutável, deve ser considerado distinto do mundo na realidade e na essência, totalmente feliz em si mesmo e por si mesmo, e ineía- velmente excelso sobre tudo o que existe ou pode conceber-se além de si mesmo (DS 3.001).

68. JOÃO DAMASCENO, De Fide ortbodoxa, I 8 (PG 94,808); cf. também outras listas em I 2; I 5; 1 14 (792, 801; 860). 69. Cf. STb I q. 3-11. Ver o que já observamos na nota 5 5 .0 princípio da “teologia negativa” vem do Pseudo-DIONISIO Areopagita: de Deus são verdade as negações; as afirmações slo imperfeitas, cf. De cael Hier. Ò 3 (SCh 58,79.C f 77-81). 70. Cf. STb I qq. 14-26. Com essa classificação Tbmás combina os atributos “metafísicos” com os que se mostram na revelação divina. 71. Cf. já o Cone. IV de Latrão, Deus é incompreensível e inefável.
N essa linha d e propriedades divinas não se encontra nenhuma que se refira à atuação concreta de Deus em relação aos homens: sua bondade72, sua misericórdia, seu amor... Essa omissão explica-se tom ando em conta a estrutura da Constituição D ei Filius, que fala em prim eiro lugar de Deus criador de todas as coisas, que pode ser conhecido pela luz da razão; mas em seguida acrescenta que Deus, “p or sua bondade infinita”, ordenou os homens a um fim sobrenatural, isto é, à participação nos mesmos bens divinos que o ser humano não pode chegar a conhecer por sua inteligência73. Para esse conhecim ento precisa-se da revelação divina. Portanto, não se pode dizer que a consideração da bondade divina e do am or de Deus pelos homens esteja fora da visão do Concílio. Tentaram-se diversas maneiras de classificar essas propriedades ou atributos divinos74. Creio que não vale a pena deter-nos demasiado nessas classificações. Em último term o, todas apontam para a plenitude da vida e a plenitude do ser de Deus, que é a plenitude do amor. D aí a tendência de negar em Deus todas as nossas limitações, tanto físicas como espirituais e morais. Deus é o imenso e o etem o, diante de nossa limitação e de nossa mortalidade, mas é o que ama e perdoa, diante de nosso ódio e de nosso rancor, é o que, como dizia Oséias (11,9), perdoa porque é Deus e não homem, é o “santo” por excelência. E o Deus bom diante de nossa maldade, o fiel diante de nossa infidelidade, o veraz diante de nossa mentira. Os dois aspectos vão juntos. Não pode dar-se a doação total se não na plena liberdade da posse de si e na exclusão de toda classe de limitações. Inversamente, essa plenitude não pode ser a do egoísmo e do fechamento, mas a de doação

72. Porém da bondade se filiará na continuação, DS 3.002, antepondo-a à onipotência, ao tratar mais diretamente da criação: “H ic solus verus Deus bonita te sua et ‘omnipotenti virtute’ non ad augendam suam beatitudinem nec ad aquirendam...”. 73. DS 3.006: “... sed quia Deus ex infinita bonitate sua ordinavit hominem ad finem supematuraalem, ad participanda scilicet bona divina quae humanae mentis intelligentia omnino superant”. Ver também 3.007ss; 3.025. 74. Cf. J. AUER, Gott - der Eme ttnd Dreinde, Regesnburg, 1978, 356-580, que os classifica segundo se referem ao ser de Deus e a sua vida e ação. Entre os primeiros distingue três grupos: os que se referem à asseidade, aos transcendentais e à negação do que pertence à criatura. Entre os segundos, distingue também três grupos, segundo se relacionam com o conhecimento, com a vontade e com a ação e o ser do Deus trino. Segue-o em parte J. M. ROVIRA BELLOSO, op. d t., Salamanca 1993,338ss. Segundo W. PÂNNEM- BERG, Teologia sistemática 1,426ss, alguns atributos pertencem à idéia de Deus em geral, outros à ação concreta conhedda pela revelação. L. SCHEFFCZYCK, op. d t., Aachen, 1996,419-508, distingue também entre as propriedades que conhecemos pela ação sahífica e as que pertencem ao ser de Deus. Podemos remeter a essas obras para um estudo detalhado da questão.
plena. A autocomunicação e a vida acontecem em prim eiro lugar em Deus mesmo; esse é o pressuposto da comunicação aos homens.
3. Algum problemas atuais
Falamos há pouco das limitações que nos faz sentir nossa experiência, tanto na ordem física como na ordem moral. Deus está livre de umas e de outras. Mas aqui devemos deter-nos brevemente. Com efeito, a tendência legítima e justificada de negar em Deus qualquer limitação leva a pensar que existe na perfeição pura, de que há de excluir-se toda mudança e todo sofrimento. Vimos que segundo o Vaticano I Deus é imutável75 e perfeitam ente feliz, e não criou o mundo nem para adquirir felicidade nem para aumentá-la. Deve ficar claro que todas essas afirmações têm um sentido óbvio, são vinculantes para nós e portanto não são objeto de discussão. O problema é se com elas se disse tudo. Porque se pode e se deve acrescentar outras considerações, que de m odo disperso já apareceram no decurso de nossas exposições anteriores: em seu am or pelos homens, o Filho de Deus, obediente à vontade do Pai, encam ou-se e sofreu a paixão e a morte ignominiosa da cruz. N ão podemos duvidar de que o que sofre e morre é o Filho de Deus, ainda que seja certam ente enquanto homem76. Essa é a consequência inevitável que se deduz da unicidade do sujeito em Jesus, que assumiu hipostaticam ente a humanidade. A reflexão patrística chegou à idéia da apatbeia de D eus para excluir dele todas as paixões e todos os sofrim entos humanos, em clara oposição à visão da m itologia grega. M as essa não foi sua única palavra. Citam-se com freqãência alguns textos de O rígenes, em que, partindo da kenose do Filho, que sofreu por nós a “paixão da caridade”, chega-se a afirmar que também o Pai, o Deus do universo, sofre de alguma maneira, toma sobre si, como fez Jesus, nossa maneira de ser. Assim, ao compadecer-se de nós, coloca-se por amor em uma situação incompatível com a grandeza de sua natureza ao tom ar sobre si, por nós, os sofrimentos humanos77. Claro que

75. Já o declarou o Concílio de Nicéia (DS 126) e também o XVI de Ibledo, de 693 P S 569). 76. Notem os a fórmula, referida certam ente a Jesus, de INÁCIO de Antioquia, Ad Rom. 6,3 (FP 1, 156-157): “Permití-me ser im itador da paixão de meu Deus”. 77. Hom. Ez. 6,6 (SCh 352,229-231). “Em primeiro lugar, sofreu porque desceu e se manifestou. Q ual é portanto essa paixão que sofreu por nós? A paixão da caridade. E o Pai mesmo, Deus do universo, cheio de indulgência, de misericórdia e de piedade, não é ver387
não se tra ta de atribuir a D eus, de maneira indiferenciada, as paixões humanas, nem de abandonar a doutrina da apatbeia. Esta se pressupõe, mas se com pleta à luz da revelação. A impassibilidade divina não pode ser a de um D eus insensível aos destinos do m undo. P o r isso a “paixão da caridade” coloca o Filho e o Pai m esm o em um a situação que não corresponde à sua grandeza. Não há confusão entre a natureza humana e a divina, mas precisamente o sofrimento de D eus é o próprio de sua natureza, que é o amor78. E o sofrim ento de quem se compadece, de quem não carece de entranhas, não de quem seja lim itado79. N a Idade Média também Sto. Anselmo notou a dificuldade de conciliar a imutabilidade divina com a misericórdia80. U ltim am ente voltou-se a colocar o problem a da impassibilidade de Deus em relação com sua imutabilidade. D iante da idéia certamente questionável de um Deus unicam ente transcendente e que está acima das vicissitudes d o mundo, foi posta em relevo a implicação de Deus na história, sua participação nos destinos do homem. Segundo o Antigo 'Ièstam ento, Deus se encoleriza, castiga, arrepende-se (C f Gn 6,6; Ex 32,7-14; SI 78[77],34ss; Is 63,7ss; 64,lss; J r 18,7-10 etc.). M as sobretudo deve-se considerar o fato de que o Filho de Deus se encarnou, partilhou por inteiro a sorte dos hom ens, “provado em tudo menos no pecado” (Hb 4,25; cf. Concílio de Calcedônia, DS 301). K. R ahner defendeu a idéia da mutabilidade de Deus “no o u tro ” para tom ar a sério a afirmação de João 1,14, “o Verbo se fez carne”. É o Logos o sujeito desse fazer-se, segundo a afirmação bíblica, ele é o sujeito da mudança e da transformação que experimenta em sua vida humana, em nossa história. Ele que em si mesmo é imutável pode mudar
“no o u tro ”, na criatura, quer dizer, pode fazer-se homem, fazer-se outra coisa n o tempo. N ão se deve entender essa possibilidade como um sinal de

dade que sofre de alguma maneira? Ou ignoras que enquanto se ocupa de assuntos humanos experimenta uma paixão humana? Deus toma sobre si teus modos de ser, o Senhor teu Deus, com o um homem toma seu filho sobre si (cf. D t 1,31). Deus toma portanto sobre si nossos modos de ser como o Filho de Deus tomou nossas paixões. O Pai mesmo não é impassível. E, se se roga a ele, tem piedade, se compadece, experimenta uma paixão de caridade, e se coloca em uma situação incompatível com a grandeza de sua natureza, e por nós tom a sobre si as paixões humanas”. C f, também, Hom Ez. 13,2 (SCh 352,411); Com. Mt. 10,23 (SCh l62,259); Selm Ez. 16(PG 13,812). Vêr ainda o breve, porém substancial, estudo de M . FÉDOU, La “souflrance de Dieu” selon O rigène, em E. A. LIV1NGSTONE (ed.), Studia Patrística XXVI, Louvain, 1993, 24Ó-250. 78. C f FÉDOU, op. d t. 79. C f ORÍGENES, SeL In Ezecbielem 16 (PG 13,812); também HILÁRIO de Poitiers, Tr. Ps. 149,3 (CSEL 22, 867-968), pensa que a imutabilidade divina se “tem pera” com a mutabilidade humana, em concreto com a penitênria e a conversão. 80. C f Pmskgion V ffl (ed. SCHM ITT, 1 ,106).
necessidade interna, de limitação, mas justam ente ao contrário, como o cúmulo da perfeição divina, que seria m enor se o Filho de Deus não pudesse converter-se em algo menor perm anecendo o que é81. N ão se trata, pois, de pôr em dúvida a perfeição divina e a im utabilidade, que de si lhe corresponde, mas de acentuar a capacidade de sair de si por am or aos homens. A necessidade de reexaminar o sentido dessas duas propriedades divinas vem da consideração cristológica. O m istério da encarnação obriga a refletir sobre o sentido da mutabilidade divina, e o da cruz sobre o da impassibilidade. Vê-se assim a relação íntim a que há entre os dois. Na realidade, talvez fosse mais adequado reintroduzir a noção bíblica da “fidelidade” de Deus a seus desígnios de amor, que duram de idade em idade (SI 3 3 [3 2], 11), no meio de todas as vicissitudes da história humana. Em nossa exposição da revelação do m istério do am or divino na cruz, já encontramos alguns autores que de maneira diversa abordaram o tema do sofrimento divino. Pode Deus perm anecer insensível à dor, à solidão de seu Filho Jesus na cruz? E ao sofrimento de tantos filhos seus ao longo dos tempos e lugares?82 Se por um lado certas noções sobre a imutabilidade e a impassibilidade divinas podem parecer dificilmente compatíveis com a imagem de Deus que nos apresenta o Antigo Testamento, e sobretudo o Novo, por outra parte deve-se evitar os evidentes excessos de considerar que Deus se realiza ou aperfeiçoa na história, que seu ser divino não se acha totalmente constituído desde a eternidade, que só na participação no destino humano alcança sua verdadeira plenitude. E claro que a mutabilidade ou o sofrimento em Deus não pode vir de falta de ser ou de imperfeição, senão da perfeição de seu ser. Dissemos que a plenitude do ser de Deus se manifesta em seu amor, na doação intratrinitária e também na doação para fora, na

81. Cf. Grundkurs des Glaubens, 217-221. BALTHASAR, El mistério pascual, em MySal m /2 ,144-335; diante dos hereges, “a imutabilidade de Deus tinha de ser afirmada de tal modo que não implicasse que ao encamar-se o Logos preexistente não ocorria nele algo real; e havia que evitar que esse sucesso real degenerasse em teopasquismo”. ID., também, em Teodramática UI. Las persorw dei drama. El Hrnnbre em Cristo, M adrid, 1993, 480: “N ão é Deus em si mesmo o que muda, mas é o Deus imutável que entra em relação com o ser criado, e essa relação dá a suas relações internas uma nova face, face, a bem da verdade, não puramente externa, como se essa relação exterior não o afetasse realmente...”. Cf. também i<L, Tbeologik U, Einsiedeln, 1985, 258-259. 82. Além dos autores já citados no cap. 3, cf. K. KITAMORI, Teologia dei dokr de Dios, Salamanca, 1975; J. GALOT, Dieu souffri-t-il? Paris, 1976; W. KASPER, Der Gott, 235- 245; A. GESCHE, Dieu pourpenser I. Le mal, Paris, 1993. Pode-se ver o exame de algumas posições de teólogos atuais em S. de Cura ELENA, El “sufrimiento” de Dios en el trasfbndo de la pregunta por el mal, RET 51 (1991) 331-373. Já antes, J. VIVES, La inmutabilidad de Dios a examen, Actualidad Bibliográfica 14 (1977) 111-136.
criação e sobretudo na salvação dos hom ens, como transbordamento livre do amor infinito que é em si mesmo. A “paixão de Deus” é assim a passio caritatis de que falava Orígenes, a capacidade infinita de compadecer-se de quem padece e de pôr-se a seu lado e em seu lugar. A Comissão Teológica Internacional, no documento que já conhecemos bem, Teologia — Cristologia — Antropologia, abordou esse problema, e recolheu algumas idéias que aqui insinuamos. Deve-se afirm ar as idéias da imutabilidade e da impassibilidade de Deus que encontram sua raiz na Escritura e na tradição, mas não devem ser concebidas de m odo que Deus permaneça indiferente aos acontecimentos humanos. Vale a pena reproduzir as passagens m ais significativas: Deus que nos ama com amor de amizade quer que se lhe responda com amor. Quando seu amor é ofendido, a Sagrada Escntura fala da dor de Deus, e ao contrário, se o pecador se converte a ele, fala de sua alegria (cf. Lc. 15,7). “A saúde da dor é mais próxima da imortalidade do que o pasmo daquele que não sente” (Agostinho, Enarr.in Ps., 55,6). Os dois aspectos se completam mutuamente.. Descuidando-se de um deles, desfigura-se o conceito do Deus que se revelou. Em nossos tempos, as aspirações dos homens buscam uma divindade que certamente seja onipotente, mas que não pareça indiferente; mais ainda, que esteja como comovida misericordiosamente pelas desgraças dos homens, e nesse sentido “com-padeça” com suas misérias. A piedade cristã sempre recusou a idéia de uma divindade a que de nenhum modo chegassem as vicissitudes de suas criaturas, e inclusive está propensa a conceder que, como a compaixão é uma perfeição nobilíssima entre os homens, também existe em Deus de modo eminente e sem imperfeição alguma, a mesma compaixão, isto é, “a inclinação da comiseração, não a falta de poder” (Leão J)m, e que ela é conciliável com sua felicidade eterna. Os Padres chamaram a essa misericórdia perfeita em relação às desgraças e dores dos homens “paixão de amor”, de um amor que na paixão de Jesus Cristo levou ao cumprimento e venceu os sofrimentos (cf. Gregório o Taumaturgo, Ad Theopompum)83 84 85.

83. Cf. nota 7. Os textos citados se encontram nas páginas 24-26 do texto espanhol e nas páginas 20-24 do texto latino. 84. DS 293: “Inclinatio fiiit miserationis, non defectio potestatis”. Refere-se o texto diretamente à Encarnação. Mas parece justo tom ar desse acontecimento os critérios para entender toda a atuação de Deus em relação aos homens. E meu esse comentário entre parênteses. 85. Cf. João Paulo II, Dives m misericórdia, 7 AAS 72. 1980, 1.199ss.
Por isso, nas expressões da Sagrada Escritura e nas dos Padres, e nas tentativas modernas que se deve purificar no sentido explicado, certamente há algo a reter.

As mesmas idéias em outras semelhantes foram acolhidas em mom entos mais recentes no magistério de João Paulo II: A concepção de Deus como ser necessariamente perfeitíssimo exclui certa- mente de Deus toda dor derivada de limitações ou feridas; mas nas profundezas de Deus dá-se um amor de Pai que ante o pecado do homem, segundo a linguagem bíblica, reage até o ponto de exclamar: “Estou arrependido de ter criado o homem” (Gn 6,7)... Com freqüência o livro sagrado nos fala de um Pai que sente compaixão pelo homem, como partilhando sua dor. Em definitivo, essa inescrutável e indizível “dor” de Pai vai gerar sobretudo a admirável economia do amor redentor de Jesus Cristo. Na boca de Jesus redentor, em cuja humanidade se verifica o “sofrimento” de Deus, ressoará uma palavra em que se manifesta o amor eterno, cheio de misericórdia: “Sinto compaixão” (cf. Mt 15,32; Mc 8,2)w. O “sofrim ento” de D eus não implica, portanto, im perfeição nem necessidade, senão capacidade infinita de amar: capacidade do Filho de carregar sobre si todo o nosso sofrim ento, capacidade do Pai de “compaixão”. E, ao contrário, uma expressão de sua perfeição máxima, de sua plenitude de vida e de ser. E claro que só à luz da revelação de Deus em Jesus C risto se pode enfocar desse modo a questão das propriedades divinas. Ainda que seja certo que se deve afirmar a possibilidade do conhecimento de Deus a partir das criaturas (cf. DS 3.004), e o que por esse caminho pode descobrir-se de Deus não é irrelevante para a teologia, não é menos certo que nossas idéias sobre Deus devem estar abertas à revisão profunda à luz da manifestação definitiva do ser de Deus que se nos dá na revelação cristã8/.
86. Domimtm et vivificantem, 39; ibid., antes da passagem citada no texto: “Ele ‘convencerá no que se refere ao pecado’ Qo 16,8)— N ão deverá revelar a dor, inconcebível e indizível que, como conseqüência do pecado, o U vro Sagrado parece entrever... nas profundidades de Deus e, em certo modo, no coração mesmo da Trindade?”. Também, ibid., 41: “Se o pecado gerou o sofrim ento, agora a dor de Deus em Cristo crucificado recebe sua plena expressão humana p o r meio do Espírito Santo. D á-se assim um m istério paradoxal de amor: em Cristo sofre Deus rejeitado pela própria criatura”. Cf. também DM 4.5.8. 87. Por uma parte a revelação Bíblica deve corrigir as idéias que possamos formar filosoficamente de Deus. Mas o conhecimento filosófico, já que a fé há de ser racional, pode às vezes criticar tam bém as imagens apressadas que podem julgar-se legitimadas pela revelação (cf. D. SATTLER; Th. SCH N EID ER, D ottrina su Dio, in T h . SCHNEIDER (ed.), Nuovo corso di dogmatica, Brescia, 1995,1 65-144, 130.
12
O conhecimento “natural” de Deus e a linguagem da analogia
O CONHECIMENTO DE DEUS A PARTIR DA CRIAÇAO
Temos acesso ao conhecimento da Trindade somente pela revelação acontecida em C risto que acolhemos na fé. Só assim podemos vislumbrar a profundidade do m istério divino revelado em Cristo de que Deus, na sua infinita bondade, quis tom ar-nos participantes. M as o próprio ensinamento da Igreja nos ensina a possibilidade de um conhecimento de Deus a partir da criação. Fala-se às vezes, ainda que se deva precisar o sentido do term o, em conhecimento "natural” de Deus, porque adquirido dos dados da "natureza”; esse conhecim ento contrapõe-se ao que podemos alcançar pela revelação “sobrenatural”. Essa terminologia parece fundar-se na Constituição Dei Filius do Vaticano I, que, precisam ente depois de ter afirmado a possibilidade do conhecim ento de D eus a partir da criação, afirma que Deus se revelou a si mesmo e seus decretos por outra via sobrenatural (cf. DS 3.004); esta corresponde ao fim sobrenatural a que Deus destinou o homem, a participação em seus mesmos bens divinos (cf. DS. 3.005). Por isso pode-se falar de supematuralis revelatio (D S 3.006)1. Daremos uma visão de conjunto sobre as afirmações da Escritura sobre a possibilidade de conhecer a Deus a partir das criaturas, para depois passar à definição dessa possibilidade no Vaticano I.

1. Sobre o conceito de “sobrenatural” no Vaticano I pode-se ver H . J. POTTM EYER,
Der Glaube von dem Anspruch der Wissenschaft. Die Konstitution über den katholischen Glauben
aDei Filius” des Ersten Vaticanischen Konzils und die unveröffentlicben theologischen Voten der vorbereitenden Kommission, Freiburg-Basel-W ien, 1968,100-107. Cf. também P. SEQUERI, II Dio affidabile. Saggio di teologia fondamentale, Brescia, 1996, 55ss.
393
1. O conhecimento de Deus a partir da criação na Escritura
A possibilidade do conhecimento de Deus através da criação encontra-se já na Escritura. Através da criação, Deus deixou entrever algo de si mesmo. Segundo o SI 19[18],2, “o céu proclama a glória de Deus, e o firmamento apregoa a obra de suas mãos”. O lugar clássico sobre a matéria no Antigo Testam ento é Sb 13,1-5: São vãos por natureza todos os homens que ignoram a Deus e não foram capazes de conhecer pelos bens visíveis Aquele que é, nem, vendo as obras, conheceram o artífice... E se, seduzidos por sua beleza, os tomaram por deuses, saibam quanto os supera o Senhor deles todos... E se foi seu poder e eficiência que os deixou surpreendidos, deduzam daí quanto mais poderoso é Aquele que os fez, pois da grandeza e formosura da criatura chega-se, por analogia, a contemplar o seu autor...2.
O autor do livro parte da possibilidade do conhecim ento de Deus a partir das coisas criadas, mas não justifica esse princípio, que dá como suposto; nem também explica por que passos se pode chegar a esse conhecimento. Constata que de fato nem todos os homens chegam a ele. Nesse contexto, os que não conhecem a Deus p o r suas obras não são os “ateus”3, mas os pagãos que se deixam levar ao culto dos elementos naturais ou dos astros, até o ponto de confundi-los com D eus, o Criador de todos eles (Sb 13,2-3). A partir das criaturas pode-se chegar a Deus “p o r analogia”, àvaXÓ7<oç. Pela prim eira vez encontra-se aqui esse term o aplicado ao processo humano de conhecimento de Deus: indica-se com ele certa proporção, evidentemente muito distante, entre os dois termos da comparação4 5. Alas esses homens não são capazes de descobri-la, não conseguem dar o salto das criaturas para o Criador. A beleza das coisas criadas os subjuga*, ficam presos no que contemplam. Por essa razão, embora não sendo inescusáveis, não merecem uma grave repreensão; explica-se, até certo ponto, que a beleza da criação os engane (Sb 13,6-9).

2. Para uma análise detalhada do texto, verj. VÍLCHEZ LÍNDEZ, Sabiduria, Estella, 1990, 348-362; mais brevemente, J. R. BUSTO, Lajusticia es mmortal. Una lectura dei libro de la Sabiduria de Salomon, Santander, 1992, 115s; Ph. MÜLLER. W eisheit 13, 1-9 ais “locus classicus” der naturalischen Theologie, MünTbZ 46 (1995) 395-407. 3. Também o Antigo Testamento conhece o caso daqueles para quem Deus não conta, que agem como se não existisse (cf. SI 10[9],3s; 14[13],1). 4. A seção seguinte será ocasião de aprofundar esse tmna. 5. AGOSTINHO, Conf. X 27,38 (CCL 27,175): “Retinham-me longe de ti aquelas coisas que não teriam existido se não existissem em ti”.
394
M uito mais grave é o pecado daqueles que se deixaram seduzir pelos ídolos, e chamaram deuses às obras das mãos humanas (Sb 13,10ss; cf. SI 115[114],4-8). Seu erro é muito mais grosseiro. Os fenôm enos da natureza podem deixar transluzir algo do m istério de Deus, mas não as obras dos homens. N o Novo Testamento tem os também o texto fundamental de Rm 1,19-23: [...] o que de Deus se pode conhecer está neles manifesto: Deus manifestou- se. Porque o invisível de Deus, desde a criação do mundo, deixa-se ver para a inteligência por meio de suas obras: seu poder eterno e sua divindade, de modo que são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças, antes se ofuscaram em vãos raciocínios e seu coração insensato se entenebreceu.
O que prim eiro chama a atenção nesse texto, de modo semelhante ao que ocorria, como vimos, no livro da Sabedoria, é a constatação de que o conhecimento de Deus através da criação nem sempre levou à honra e à glorificação de Deus que devia ser conseqüênda desse mesmo conhecer. Isso já nos faz ver que o conhecimento de Deus não pode reduzir-se a seu aspecto intelectual, Deus não é um objeto de conhecimento “neutro” como os outros. N o reto conhecimento de Deus entram fatores morais, a atitude de dar-lhe graças e glorificá-lo. Sem essas atitudes de adoração e de reconhecimento, o próprio conhecimento degenera em idolatria, muda-se a verdade de Deus pela mentira, serve-se a criatura em vez do C riador (cf. Rm 1,23-2$). A limpeza do olhar de quem contempla é essencial para não corrom per a reta imagem de Deus. O utro aspecto é fundamental para a compreensão adequada do texto: na criação já se dá uma manifestação de Deus6. E Deus mesmo o que se dá a conhecer desse modo, certam ente ainda im perfeito, comparado com a revelação de Jesus. Não estamos, pois, ante um simples movimento do homem que conquista um conhecimento. C verbo usado no versículo 19, <J>avepoOv7, é o mesmo que Paulo utiliza, por exemplo, em Rm 3,21, para referir-se à revelação da justiça de Deus em Cristo. A possibilidade do conhecimento de Deus através da criação, inclusive com a consciência das dificuldades concretas que com porta, deve ser mantida como um princípio irrenunciável8. A Idade M édia falou dos dois

6. Cf. H . SCLIER, Der Romanbrief, Freiburgo-Basel-W ien, 1977, 51ss. 7. J. FTTZMYER, Rcmans, Nova York, 1993, 279ss; esse verbo significa dar a conhecer, tom ar público. 8. AGOSTINHO, Sermo 241,2 (PL 38,1.134): “Pergunta à beleza da terra, do mar... Pergunta à beleza do céu... Sua beleza é como uma confissão”.
“livros”, o da criação e o da Escritura: neles pode-se conhecer a Deus. As tentativas de m ostrar a existência de Deus com a razão humana, prescindindo d o valor concreto a ser dado a cada argum ento concreto, têm essa legitim idade fundamental que vem da própria Escritura e da tradição que nela se funda.
2. 0 Vaticano I e o Vaticano II
N o século XIX encontramos algumas interessantes intervenções do m agistério sobre o conhecimento natural de Deus. D iante do fideísmo tradicionalista que pensava que se devia renunciar a uma justificação racional da fé, a Igreja teve de m anter o caráter racional desta. Por isso afirma a possibilidade não só do conhecimento de D eus, senão mesmo da prova ou demonstração de sua existência, e da infinitude de suas perfeições, com a luz da razão (DS 2.751; cf. também 2.765ss; 2.811-2.814)9. A Constituição Dei Filins do Vaticano I, a que nos referimos, contém a principal declaração do magistério eclesiástico sobre essa questão: A mesma santa Madre Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas; “pois o invisível dele se deixa ver para a inteligência desde a criação do mundo, a partir das coisas que foram feitas” (Rm 1,20) (DS 3.004; cf. o cânon correspondente DS 3.026).

N o mesmo contexto se anatematiza os que negam a existência de Deus. E a prim eira vez que o magistério da Igreja se vê confrontado com o ateísmo moderno (cf. DS 3.02 lss; Vaticano II, G S 19-21)10. Deve-se destacar nessa definição alguns aspectos. Em prim eiro lugar, que ela não se encontra isolada. N ão se trata de legitimar uma teologia natural junto ou em lugar da que procede da revelação divina. N ão é essa a intenção conciliar. O conhecimento “natural” é uma condição mesma da fé. Esta não pode subtrair-se à razão; a fé é uma resposta livre, pessoal e responsável à revelação de Deus. Se essa possibilidade do conhecimento
9. Condenam-se também os erros opostos, derivados do “racionalismo”, que quer encerrar a fé e as verdades teológicas nos limites da razão humana (DS 2.738-2.740; 2.775- 2.777; 2.850-2.851; 2.90^2.909). 10. Cf. B. SESBOÜÉ; Ch. THEOBALD, La parole qui sauve, in B. SESBOÜÉ (ed.), Histoire des Dogmes, Paris, 1996, IV, 206ss; 274ss.
396
natural de Deus não existe, a fé mesma tom a-se impossível. A fé seria cega. E claro que não se trata de que esse conhecim ento a p artir da realidade criada seja prévio cronologicam ente ao contato com a revelação ou com a fé. Antes, é a própria fé que inclui um certo conhecim ento natural de Deus que não precisa ser formulado expressa e reflexivamente11. Em segundo lugar devemos ter presente que se trata da afirmação de um a possibilidade, de uma quaestio iuris, e não de fato. Já vimos como os textos bíblicos, que se situam em outro contexto, não são otimistas quanto aos resultados efetivos dessa “revelação” de Deus na criação. O próprio Concílio Vaticano I parece seguir essa linha quando, depois do texto citado, observa que há verdades acerca de Deus que não são de si inacessíveis à razão, mas no estado atual da condição humana não podem ser conhecidas por todos facilmente ou com certeza ou sem mescla de erro (cf. DS 3.005)12. A que se refere o Concílio quando fala da luz natural da razão e portanto, indiretam ente, da “natureza” humana? Trata-se de uma afirmação abstrata, que não quer entrar no problem a dos estados em que o homem tenha podido encontrar-se e fazer uso de sua razão. Não se trata portanto, em concreto, da natureza decaída, nem também da “natureza pura”. A natureza, no contexto, parece identificar-se com a criação: é o Deus criador, princípio e fim de todas as coisas, que pode ser conhecido pela razão natural a partir das coisas criadas13. O conhecim ento natural distingue-se, portanto, nesse contexto, do que o homem adquire pela revelação que tem lugar em Jesus, já preparada pelo Antigo Testamento. O Concílio distingue com clareza duas ordens de conhecimento (cf. DS 3025). O Concílio afirma que com a razão natural Deus pode ser conhecido com certeza, certo cognosci posse. Rejeitou-se expressamente o acréscimo et demonstrar,i14. Preferiu-se uma formulação mais suave, embora com o certo se excluísse um conhecimento meramente subjetivo, não repousando sobre uma

11. Cf. POTTM EYER, op. dt-, 179s. 12. Cf. Também DS 3.875; CEC 36,38; JOÃO PAULO n , Fides et Ratio, 8-9. 13. Cf. PO IT MEYER, op. d t., 196-200. Sobre a noção de “natureza pura”, parece que o Concílio era mais cético. Abundante informação sobre o conceito de natureza no Vaticano I em H . U. von BALTHASAR, Karl Barth, Darstellung and Deutungseiner Theologie, Colônia, 1951, 315-335. 14. Embora a expressão que já vimos usada antes do Vkticano I também tenha sido usada em diferentes documentos depois dele; cf. DS 3.538, o juramento antimodemista; 3.890, PIO XII enc. Humani Generis, que acrescenta ainda que essa demonstração pode dar-se sem a ajuda da graça (não só sem a revelação). Admitida essa possibilidade, provavelmente seja legítimo acrescentar que não seja esse o caminho mais freqüente. Cf. Vaticano n , LG 16, sobre a graça que pode atuar inclusive nos ateus. Veremos mais na continuação do nosso texto.
397
base objetivamente justificada. N ão parece que entre na definição o modo como se pode chegar, em cada caso concreto, a esse conhecimento certo15. A possibilidade desse conhecim ento foi de novo afirmada no C oncílio V aticano II, que em D V 6 reproduz o texto do Vaticano I ao qual nos referim os. Mas também é im portante o núm ero 3 da mesma C onstituição, o n d e se observa que “Deus, que cria e conserva todas as coisas mediante o Verbo (cf. Jo 1,3), oferece aos homens nas coisas criadas um perene testem unho de si (cf. Rm 1,19-20)”. Seguindo a linha dos textos bíblicos a que nos referimos, talvez m enos visível, mas também presente, no Vaticano I 16, o Vaticano II confirma que na criação se dá uma m anifestação de D eus, e que, por conseguinte, é a iniciativa divina que está na base de to d o possível conhecim ento de Deus através das coisas criadas (cf. também GS 15,19). Não nos encontramos, portanto, ante uma iniciativa do homem contra ou à m argem da revelação divina. Trata-se antes, como o concebe a Dei Verbum, do começo de um processo que encontrará seu term o e seu sentido definitivo na plenitude da revelação que é C risto. De fato, embora a partir da criação não seja possível conhecer a Trindade, mas só Deus enquanto uno, esse Deus, imperfeitamente conhecido, é o Deus imo e trin o 17.
A tradição antiga da Igreja contem plou uma atuação diversificada das três pessoas divinas na criação, seguindo as pautas da intervenção delas na historia salutis. N o Concílio de Constantinopla essa linha de pensamento encontrará sua máxima expressão: um só Deus e Pai de quem tudo procede, um só Senhor Jesus Cristo mediante o qual tudo foi feito, um só Espírito Santo no qual tudo existe (Cf. DS 4 2 1)18. Se o criador é o Deus uno e trino, o conhecim ento a que se chega a partir da criação há de referir-se de algum

15. Cf. POTTM EYER, op. d t., 187,202; BALTHASAR, El comino de aceso a la realidad de Dios, in M ySal ü , 1, M adrid, 1969, 41-74, 57s. Faz amplo uso dos textos do Vaticano I o CEC 36-38. 16. POTTM EYER, op. d t., 199, observa que nessas atas conciliares aparece com freqüênda a expressão manifistatio naturalis. N o Vaticano II introduz-se também o tema neotestam entário da criação mediante o Verbo. Cf. também C l 1,15-18; lC or6,8; H b 1,2. N o entanto se evita a terminologia “natural-sobrenatural”. 17. Com efeito, não sendo a criação como tal uma chamada à partidpação da vida divina, por m eio dela não se pode conhecer a Trindade. A partir da criação, Deus aparece como um só printípio de todas as coisas. Por meio dela se conhece o que pertence à única essência divina, não o que pertence à pluralidade das pessoas; cf. TOMAS DE AQUINO, STb 1 32,1. 18. Cf. Catecismo da Ignja Católica, 258 (nota 2 do capítulo 2) e também 290-292. Sobre a história da questão L. F. LADARIA, Dios creador dei delo y de la tierra, em B. SESBOÜÉ, Historia de los Dogmas, Salamanca, 1996, v. 2, 29-73.
modo ao D eus que cria para salvar-nos, que cria m ediante seu Filho que na plenitude dos tempos nos salvará, assumindo a condição humana. Não se pode excluir (ao contrário, deve-se pensar) que o caminho que leva ao conhecim ento “natural” de Deus seja, ao m enos em muitos casos, um caminho guiado e orientado pela graça; por meio desse conhecimento o homem é conduzido, embora de modo im perfeito, para seu último e único fim19. Conhecim ento natural de Deus não significa um conhecimento que nada tenha a ver com o Deus da salvação. A revelação de Deus na criação e a revelação que culmina em C risto não devem ser confundidas. Mas não devem ser separadas20. Devido à unidade do desígnio divino que abraça a criação e a salvação do homem, e vê nesta últim a o sentido profundo da prim eira, parece difícil pensar que a prim eira manifestação de Deus na criação, de feto, nada tenha a ver com a últim a finalidade do homem. Esse conhecimento funda-se em uma manifestação de Deus, em uma iniciativa divina e não tem p or que não estar guiado por Deus mesmo em todo o seu processo. O conhecim ento “natural” de Deus, na ordem concreta em que nos achamos, não é, pois, o conhecimento de Deus na hipotética “natureza pura”21. E o conhecimento ao qual, com todas as dificuldades que temos visto, aludem a Escritura e o M agistério da Igreja, é no entanto possível a partir da criação. Essa é a prim eira manifestação de Deus que, na ordem concreta em que nos encontramos, tende já para a

19. Cf. BALTHASAR, KariBartb... 335;J. M. ROVIRA BELLOSO, Tratadoie Dios unoy trino, 293-306. 20. Cf. COM ISSIO THEOLOGICAINTERNATIONALIS, Theologia — C hris- tologia — Anthropologia, Greg 64 (1983), 7. 21. Ibid., 9: aO teísmo cristão não exclui, mas ao contrário, pressupõe, de certo modo, o teísmo natural, porque o teísmo cristão tem sua origem em Deus que se revelou por um desígnio libérrimo de sua vontade; por sua vez, o teísmo natural corresponde intrinsecamente à razão humana, como ensina o Concílio Vaticano II. Não se deve confundir o teísmo natural com o teísmo/monoteísmo do Antigo Testamento, nem com os teísmos históricos, isto é, com os teísmos que, de modos diversos, professam os não-cristãos em suas religiões. O monoteísmo do Antigo Testamento tem sua origem na revelação sobrenatural e por isso tem uma relação intrínseca com a revelação trinitária. Os teísmos históricos não nasceram da ‘natureza Pura’, mas sim da natureza submetida ao pecado, uma vez que objetivamente redimida por Jesus Cristo e alçada ao fim sobrenatural”. Notemos que nenhum conhecimento de Deus que se produziu historicamente, e não somente o das religiões, nasce da "natureza pura”. N ão me parece claro, nesse contexto, o significado do “teísmo natural”; cf. ibid., 8-9, no teísmo verdadeiramente natural não existe coisa alguma que realmente contradiga o cristocentrismo. Parece que se quer excluir como não verdadeiramente conforme à razão aquele teísmo “que põe em dúvida a possibilidade ou o feito da revelação” (ibid.). Evidentemente que não se trata de um teísmo “natural”, porque o que se funda na criação não pode colocar em dúvida, ou excluir, a possibilidade da revelação. Q ue se trate do conhecimento fundado na criação, parece se deduzir do texto a que se refere a nota anterior.
plena revelação em Cristo. D e (ato, não poderemos entender a mensagem que ele nos dá se n ão houver no homem uma certa “prenoção” e desejo de Deus22 23. P o r outro lado, ao defender esse princípio a Igreja luta contra todo fideísmo: a possibilidade do conhecimento "natural” de Deus garante a liberdade e a responsabilidade do ato de fé25 que, se não pode dar-se a partir de puros pressupostos racionais, deve ser justificável perante a razão. O conhecim ento de Deus, embora imperfeito, se é autêntico, coloca- se no caminho d a aceitação da revelação que ele nos faz de si mesmo em Cristo; não parece equivocado pensar que nele haverá, em m uitos casos, uma dimensão de entrega pessoal; não será somente resultado de um raciocínio. D eus não pode ser um objeto de conhecimento com o outros24. Se Deus se nos faz presente como doação pessoal, a forma de acesso do homem a Deus será a entrega25. Deus não se apresenta a nós como um objeto de conhecim ento simplesmente “neutro”. Como seu conhecim ento é o conhecimento do fundamento de nosso ser, com ele se nos sinaliza o âmbito de nossa entrega. Em todo conhecim ento de Deus haverá algo, de forma incoativa, daquela atitude que conhecemos como a fé26, a entrega
22. Cf. Ibid., 7: essa prenoção em Cristo se supera e alcança um cum prim ento que vai além dos desejos do homem. 23. VATICANO I, Dei Filius (DS 3.008) “... plenum revelanti Deo intellectus er voluntads obsequium fide praestare tenem ur”; (DS 3.009): “U t nihilominus fidei nostrae ‘obsequium rationi consentaneum’ (cf. Rm 12,1) esset...”; cf. também DS 3.035; Vaticano II. DV 5: “Quando D eus se revela deve-se prestar-lhe a obediência da fé (Rm 16,26; cf. Rm 1,5; 2Cor 10,5-6) pela qual o homem se confia inteira e livremente a Deus, prestando ‘a Deus que se revela a homenagem do entendimento e da vontadem ( Dei Filius). Cf. também Vaticano IIA A 4: “Somente com a fé... se pode conhecer sempre e em todo lugar a Deus”. JOÃO PAULO II, op. d t , 13. 24. Cf. P. GELBEKT, Prouver Dieu e t espérer en lui, NKTb 118 (1996) 690-708. 25. X. ZUBIRI, Elbombrey Dios, M adrid, 1984,196: “Porém a fundamentalidade de Deus é, segundo vimos, doação pessoal. Em sua virtude, o homem acede religadamente a Deus em uma tensão que tem um caráter sumamente preciso: uma tensão que é o correlato humano da tensão donante, a saber, a tensão em entrega. À doação corresponde a entrega. A forma plenária do acesso do homem a Deus é ‘entrega’”; cf., também, ibid., 197; 209; 239; 258: “Todo conhecimento de Deus é o traçado do âmbito de uma possível entrega, porque Deus é realidade fundamentante do nosso Eu, e, portanto, seu conhecimento abre em e por si mesmo a área de minha fundamentalidade. Entre conhecimento e fé em Deus existe, pois, uma unidade que não é de mera convergência, mas sim uma unidade intrínseca e radical”. BALTHASAR, op. d t., 323: “O Espírito humano já está por natureza tão plenamente sujeito e submisso a seu Criador e Senhor que seu ato fundamental, já na esfera da natureza e antes de que se deva falar de revelação pela palavra, não pode ser nenhum outro senão algo semelhante à fé”. Por isso, quando se pede ao homem a fé ante a revelação divina, não se lhe pede algo irradonal ou contrário à sua natureza. 26. C. AMBROSIASTER, Com. Ep. Rom., I, 19 (PL 17,57): “opus fed t per quod possit agnosd per fidem”.

plena a Deus que se revela na homenagem do entendim ento e da vontade. Ás características desse conhecimento derivam não só da pessoa que conhece e do conhecimento mesmo, mas também de Deus que se dá a conhecer. Ele está no começo de toda busca por seus vestígios que o homem possa empreender27. Só podemos conhecer a Deus porque ele se nos manifesta. O Deus que conhecemos “naturalm ente” é o D eus que desde sempre nos criou, para poder nos fazer participantes de sua vida íntima. Por isso seu conhecimento não se alcança normalmente por uma simples via intelectual. Somente amando pode-se conhecer o que cria por amor, pois tudo o que vem de Deus vem do am or28. Somente a partir de Deus amor, revelado em Cristo, podemos conhecer portanto o “estatuto teológico” do conhecimento de Deus a partir das criaturas.
A QUESTÃO DA ANALOGIA
Nossa rápida reflexão sobre o texto de Sb 13 nos pôs em contato com a noção da “analogia”, que, no sentido de proporção, relação, semelhança, foi conhecida pela filosofia grega29. Vimos como o texto bíblico usava a noção como caminho para o conhecimento de Deus. A esse conhecimento podia-se chegar por comparação, semelhança, proporção, a partir das coisas criadas que ele fez; evidentemente, no discurso teológico, a “analogia”, enquanto nela entra Deus, tem que se relacionar com a criação. Em virtude dela, a criatura se acha em relação com Deus30. Essa relação, cujos termos devemos precisar, perm ite-nos um conhecimento de Deus, permi- te-nos falar com sentido dele, apesar de sua incompreensibilidade: esse conhecimento e essa linguagem são possíveis porque o homem, como criatura, encontra-se referido a Deus e em total dependência dele. A tradição

27. AGO STIN H O , Stdil. I, 3 (PL 32,270): “Deus quem nemo quaerit nisi admonitus”. Cf. também ANSELM O, Prvslogion, 1 1 (SCHMTTT, V. 1, 97-100). 28. Cf. M. SCHMAUS, Dogmatik I, M unique, 1948, 204, L. SCHEFFCZYC, Der Gottder Offenbarung, Aachen, 1996,70. N esse pont» parece existir um notável consenso na teologia católica. JO Ã O PAULO II, fárcare le sogfie delia speranza, M ilão, 1994,31, observa também que a resposta à pergunta sobre a existência de Deus não é só questão de intelecto, mas também da vontade do homem, e mais ainda de seu coração. 29. Cf. PLATÃO, Tmteu 31-32 (Plat. W erke 4,40-42); ARÍSTOTELES, Metafísica IV 2 ,1.003a 32-b7 (Ed., G. REALE, 130-132[Edição brasileira, Loyola, 2002, v. H, B IOS]). C f, para todo o primeiro segmento deste capítulo, GILBERT, La patience d'être. Métaphysique, Bruxelas, 1996, 91-107. 30. TOMÁS D E AQUINO, Sunsmacontra Gentes, 2,18: “Creatio est ipsa dependentia esse créa ti a principi a quo institui tur, et sic est de genere relationis”.
filosófica e teológica falou assim de uma analogia do ser, “analogia entis”31. A questão suscitou problem as no diálogo ecumênico desses últimos decênios, e não poucas discussões no âmbito da teologia católica. Mas antes de abordar esses problemas teológicos, não será demais recordar algumas das noções tradicionais.
1. Algumas noções clássicas
Analogia (edmologicamente, a palavra que vai para cima, ou por cima) significa, entre outras coisas, comparação. Usamos esse term o com muita freqüência na linguagem cotidiana, sem dar-nos conta dele. Nosso mundo faz-nos experim entar coisas que são em parte iguais, em parte diversas. Bastará um exemplo banal: aparece constantem ente ante nossos olhos o fenôm eno da vida, em suas múltiplas manifestações. Assim, falamos da vida de um a planta e da vida dos homens, que têm decerto muito em comum: plantas e hom ens nascem, crescem, morrem ; mas há também profundas diferenças. Falamos de uma escola que pode ser desde o lugar em que se ensinam as prim eiras letras até um centro de ensino superior de alta especialização; e a mesma palavra pode indicar também uma corrente de pensam ento nas diversas ciências ou ramos do saber humano. N essas diversas acepções do term o há elementos comuns, mas também se dão grandes diferenças entre elas. Em grau maior ou m enor fazemos um uso m uito freqüente da analogia. A analogia, sempre segundo as noções clássicas, move-se entre dois entremos; a univocidade e a equivocidade32. Produz-se equivocidade quando um mesmo vocábulo significa duas coisas com pletamente diferentes. Em todas as línguas há casos de equivocidade. “Manga” pode ser uma fruta, uma parte da roupa etc. “Banco” serve para depositar dinheiro ou

31. Terminologia iniciada por Caetano e Suarez. Santo Tomás não a usa diretam ente, mas fala antes que “ens est analogicum”, “nomina dicuntur de Deo et creatura secundum analogiam, id est, proportionem ”, “ens analogice d idtur”; c£ STh I 13, 5 corpus e ad 1; ibid., 10, ad 4, entre outros lugares. A expressão foi popularizada no século XX na teologia pela obra de E. PRZYWARA, Analoga entis, M unique, 1932; de novo em Analogia entis. Metaphysik. Ur-Struktur und All-Rhytmus, Einsiedeln, 1962. A ele atribui-se erroneamente a paternidade da expressão. Cf. J. Tèrán DUTARI, Die Geschichte des Terminus “Analogia entis” und das Werke Przywaras. Dem Denker der “Analogia entis” zum achtzisten Geburtstag. Philosophisches Jahrbuch 77 (1970) 163-179. 32. TOMÁS DE A Q U IN O , STb 1 13,5: “Iste modus communitatis medius est inter puram aequivocationem et simplicem univocationem”.
para sentar-se etc. Aunivocidade se dá quando os termos referem-se a uma realidade específica: hom em , cavalo. C ertam ente podemos perguntar se é correto considerar que a analogia é um terceiro gênero a que chegamos depois de conhecidos os outros dois ou se não há nela algo mais original. As afirmações unívocas, diz W. Kasper, só são possíveis porque podem distinguir-se e relacionar-se com outras. A univocidade pressupõe portanto a possibilidade de comparar, e com isso pressupõe ao mesmo tempo algo que em si encerra a igualdade e a diversidade3’. Portanto, a analogia é uma forma primária da linguagem. Só a partir dela podemos entender o unívoco e o equívoco. N a terminologia tradicional distingue-se a analogia de proporcionalidade da analogia de atribuição (também chamada de proporção). Esta últim a se dá quando o term o em questão compete propriam ente a várias realidades, embora a cada uma delas de m aneira distinta. De si consta de três termos, dois dos quais se referem a um terceiro, que é o atributo, o qual se atribui aos outros dois. Aristóteles assim falava referindo-se ao ser: “O ser toma-se em muitas acepções, mas sempre em relação com um termo único, a uma só natureza determ inada... o ser toma-se em acepções múltiplas, mas em cada acepção toda denominação se faz por relação a um princípio único”. Nesse contexto, usa-se o célebre exemplo da saúde e do term o “são”. Tudo o que é são reladona-se com a “saúde”: o homem ou o animal, que a têm ou a podem receber; o alimento, que a conserva; a medicina, que a produz33 34. E claro que se usa a palavra com propriedade em todos os casos, mas em cada um de maneira diversa. O term o tem nas diversas atribuições sucessivas a mesma significação; não se trata, portanto, de um termo unívoco mas se aplica a uma diversidade de sujeitos reais “que recebem um predicado único, atribuindo-o de maneiras diversas”35. Essas atribuições guardam uma certa proporção com a saúde, que “no animal

33. Cf. W. KASPER, Der Gattjesu Cbristi, 125; cf. (com uma referência direta à relação do homem com Deus) K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, Freiburg-Basel-W ien, 1976,80. 34. ARISTOTELES, M etaßsia, op. d t. Santo Tomás serviu-se também desse exemplo {STh 1 13,5): “sicut multa habent proportionem ad unum, sicut sanus dicitur de medicina et urina in quantum utrum qque habet ordinem et proportionem ad sanitatem animalis, cuius hoc quidem signum est, illud vero causa; vel ex eo quod unum habet proportionem ad alterum , sicut sanus dicitur de medicina et de anim ali, in quantum medicina est causa sanitatis quod est in animali.... Significat proportionem ad aliquid unum; sicut sanum, de urina dictum, significat signum sanitatis animalis, de medicina vero dictum, significat causam iusdem sanitatis”. 35. GILBERT, op. d t., 93-94.
são” se realiza de m odo mais pleno. Mas em todos os casos há uma referência à “saúde”, da qual participam de maneira diversa e relativa os sujeitos concretos. A “saúde” não é um a realidade, mas um predicado ideal ou máximo que se relaciona com m uitas realidades, e se aplica mais ou m enos segundo os casos. O analogado não é um term o fixado definitivamente cujo sentido se realiza para sem pre da mesma m aneira. “O atributo análogo une todos os sujeitos sob um a forma ideal, mas é significado de m aneira proporcional a suas aplicações concretas. Não se trata portanto de um conceito cujo sentido se realiza de uma vez para sem pre.”56 Esse exemplo da tradição aristotélica é usado por Sto. Tomás, sem tirar entretanto ulteriores conclusões, para justificar a linguagem “análoga” — não unívoca nem equívoca — sobre Deus: Desse modo algumas coisas dizem-se de Deus e das criaturas analogicamente, não de modo puramente equívoco nem também unívoco. Pois não podemos falar de Deus senão a partir das criaturas... Tudo o que se diz de Deus e das criaturas diz-se enquanto há uma certa ordenação da criatura a Deus, como a seu princípio e causa, na qual preexistem de maneira excelente todas as perfeições das coisas57.
Podem os, no entanto, questionar se essa analogia de atribuição é suficiente para falar de Deus. C om efeito, não há proporção entre o infinito e o finito, já dizia Aristóteles58. Santo Tomás, no contexto a que nos referim os, observa que Deus não é uma medida proporcionada às coisas que se medem. D onde Deus e a criatura não se poderem conter sob um mesmo gênero59. D eus e a criatura não podem participar do “ser” como um analogado que se predica de um e do outro. Como não há um gênero de “bondade” do qual participem D eus e o homem, não há um terceiro term o “mediador” entre Deus e o homem. Nesse sentido não parece portanto que a analogia de atribuição seja adequada para a lingiragem humana sobre Deus, e para a teologia. A proporção ou atribuição corre o risco de reduzir tudo ad unum, mas isso não se pode fazer entre D eus e a criatura; não se pode apelar a um gênero superior de “ser” que abrace a ambos. O utro tipo de analogia é a de proporcionalidade. A de atribuição (ou proporção) funciona com três term os — que se pode ampliar: o analogado 36 * 38 39

36. Ibid., 94. 37.S7&. I 13,5. 38. Sobre o Céu, 275a 14 (ARISTÓTELES, VI, 58). Cf. GILBERT, op. cit., 98. 39. STh I 13, 5 ad 3: “Deus non est mensura proportionata mensuratis. U nde non oportet quod Deus et criatura sub uno genere contineantur”.
— a saúde, no exemplo clássico — predica-se de duas ou mais realidades distintas. A analogia de proporcionalidade, ao contrário, funciona com quatro termos: A está para B como C está para D. Exemplo clássico: o ocaso é para o dia o que a velhice é para a vida; o piloto é para a nave o que o governante é para a cidade. A analogia de proporcionalidade pode ser extrínseca ou intrínseca. N os exemplos acima se trata, evidentemente, de uma atribuição extrínseca. Estamos no terreno da metáfora, a que se reduzem, em último termo, a maioria dos exemplos que se possa aduzir. Mas também se faz uso do mesmo esquema em relação ao ato de ser; então nos achamos ante um caso a que convém a proporcionalidade propriamente dita: "Aplicando essa estrutura ao discurso metafísico que conclui no Absoluto, teríamos o seguinte tipo de analogia: ua criatura é o ser como o Absoluto (Deus) é para o ser”40. Também a analogia de proporcionalidade encontra objeções a seu uso no campo teológico. Fundam-se em que, com a comparação entre o "ser” de Deus e o das criaturas, cai-se de novo no ser comum, que se predica do mesmo modo de Deus e do criado. O ser de Deus situa-se acima de todo gênero e espécie. Mas a proporcionalidade, diferentem ente da proporção, não indica a referência a um, senão a semelhança das proporções. Objetou-se também que a proporcionalidade é impossível, posto que é infinito um dos termos. Mas o que não pode dar por si a proporcionalidade é dado pela categoria da "causa criadora” que é capaz de articular a comunicação que abrace todos os seres na clave do dom do ser. O ser, segundo Sto. Tomás41, deve-se entender como “ato de ser”, o ato que é o movimento dinâmico que constitui o ser em sua realidade mais própria. O verbo ser indica assim um ato, um a ação, não um estado. Então a relação entre o criador infinito e a criatura finita pode exprimir-se como uma relação de duas modalidades de ato: O infinito e o finito, embora não possam ser reduzidos a proporção, podem ser proporcionalizados, porque o finito é igual ao finito, como o infinito ao infinito. E desse modo há uma semelhança entre as criaturas e Deus, já que Deus está em relação com o que lhe convém, assim como a criatura em relação a suas propriedades42.

40. V. M UNIZ RODRIGUEZ, Analogia, em X. PIKAZA; N . SILANES, Dicámario teológico. El Dm cristiam, Salamanca, 1992,44-49,46. 41. Cf. STb I 3 ,4 ; 1 5,1. Cf. GILBERT, op. d t , 100-101. 42. TOMÁS D E A Q U IN O , De veritate, 23, 7 ad 9, dtado por GILBERT, op. d t, 101. Também PRZYWARA, op. d t, 135-141.
A analogia de proporcionalidade concerne à realidade dos entes em seu ato de ser. Não se constata uma relação recíproca entre duas coisas, mas a semelhança de uma relação com a outra43. A proporcionalidade supõe que o ato finito e o ato infinito exercem a mesma estrutura do ato, em bora o finito só possa fazê-lo porque o recebe do infinito. A analogia de proporcionalidade pode servir assim não só para relacionar entre si as criaturas, mas também as criaturas com o Criador, se se articula de maneira adequada a relação do existir à essência44. Assim não há perigo de fazer Deus objeto de conceitos humanos que abarquem ao mesmo tem po Deus e a criatura. A analogia não tom a vã toda linguagem humana sobre Deus, mas em últim o term o rem ete a seu mistério45. Trata- se de um processo que ao final não nos mostra um termo preciso, senão que nos abre para quem é m aior do que nossa palavra e nosso pensamento. D e uma parte as criaturas existem em referência a Deus de quem receberam e continuam recebendo constantemente o ser; deve haver portanto um a certa semelhança entre o Criador e as criaturas pois Ele e elas estão em relação com o que lhes convém. Mas a dessemelhança entre ambos é ainda m aior. Não há comparação possível entre o Criador infinito, que cria em sua onímoda liberdade, e a criatura que só existe em referência a Deus. N ão podemos abarcar os dois em um conceito comum nem com nosso pensamento nem com nossas palavras46. Portanto a analogia assim entendida não significa abraçar Deus e a criatura em um mesmo conceito e em uma mesma linguagem, mas precisamente rem eter-nos ao m istério, ao que está mais além de nós mesmos. E enquanto se funda no fato da criação, porque nele se baseia toda a possível semelhança da criatura com o Criador, não se coloca no caminho do homem a Deus, mas no de Deus ao homem: a criação, como sabemos, é o início da manifestação, da revelação divina. E importante esse dado para nossas reflexões posteriores.

43. Cf. De Veritate, 2,3, ad 4, citado por GILBERT, op. d t., 106. BOAVENTURA, In II Sent. 16, 1,1 ad 2: “in convenientia proportionis non est similitudo in uno, sed in duabus comparationibus” 44. GILBERT, op. d t., 197: “Se o existir finito se exerce em uma essênda finita, o existir infinito se exerce em uma essência infinita”. 45. Cf. PRZYWARA, op. d t., 137: “tudo reduz-se ao últim o e irredutível Prius de Deus”. Cf. Ibid., 138ss; 210. Os três passos clássicos da linguagem humana analógica sobre Deus são a afirmação em Deus das perfeições e bens deste m undo; a negação das limitações dessas perfeições em Deus; a eminência, as perfeições que observamos no mundo, livres de suas limitações, existem em Deus em um grau eminente, que excede toda compreensão adequada das mesmas por nossa parte; cf. TOMÁS DE A Q U IN O , De Potentia, q.2, a5. 46. Trata-se de uma propordonalidade misteriosa, “porque entre as grandezas que se comparam, a segunda permanece ignota em sua essência: Deus e seu ser”: ROVIRA BELLOSO, op. d t, 321.
Temos que recordar, neste contexto, a definição do IV Concílio de Latrão (1215): “entre o C riador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que deva ser sinalizada uma dessemelhança m aior entre eles”47. A semelhança e a dessemelhança não podem ser colocadas no mesmo plano, como pode ocorrer no caso das criaturas entre si. Em toda semelhança que se notar entre o Criador e a criatura deve-se notar sempre uma dessemelhança maior. Essa afirmação do Lateranense IV constitui para nós um ponto obrigatório de referência. O contexto da definição é a teologia trinitária, não um discurso filosófico sobre Deus. Sempre existiu na tradição cristã a consciência da inadequação de nossos conceitos e palavras para falar de Deus, embora isso não tenha comportado o simples silêncio sobre ele48. A doutrina sobre a analogia teve grande importância na tradição filosófica da “teologia natural”. M as ultimamente tratou-se m uito do problema no estrito âmbito intrateológico; o que deu lugar a não poucas discussões entre os autores protestantes e católicos. Em concreto, apresentou-se a questão da substituição da tradicional analogia do ser pela analogia da fé, por obra sobretudo de Karl Barth. Isso deu lugar a uma mais ampla discussão sobre a função da analogia no discurso teológico e sobre o lugar que a
47. DS 806: “Quia inter creatorem et creaturam non potest similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda”. £ interessante o contexto em que essa frase se situa, e os exemplos evangélicos que nele se aduzem: não podem reduzir-se a um denominador comum a união dos cristãos com Cristo e a união entre o Pai e seu Filho (cf. Jo 17,22). Nem tampouco a perfeição de Deus e a dos homens chamados a imitar a perfeição divina (cf. M t 5,48). Cf. DS 803; 804, Deus é “incompreensível e inefável”. Cf. PRZYWARA, op. cit., 251-261. 48. Já conhecemos a sentença de DIO N ISIO Areopagita, De Coei. Hier.y II 3 (ver nota 69 do capítulo anterior): BASÍLIO de Cesaréia, Hom. DeFide (PG 31,464), cf. também a nota 56 do capítulo anterior; AGOSTINHO, De Trrn. V 1,2 (CCL 50, 207) “pie tamen cavet, quantum potest, aliquid de eo sentire quod non sit”; Ibid. V II 4,7 (255); Sermo 52,6 (PL 38, 360). “Si ennim quod vis dicere, si cepisti, non est Deus: si comprehendere potuisti, cogitatione tua te decepisti. Hoc ergo non est, si comprehendisd; “si autem hoc est, non comprehendisti”. TOMÁS DE AQUINO, STb I, 1,7; I 2, prol.: “primo con- siderandum est an Deus sit; secundo quomodo sit, vel podus quomodo non sit”; I 13,1: “...non tamen ita quod nomen significans ipsum , exprimat divinam essendam secundwn quod est”; 1 13,2 etc. Mas não pode haver negação sem um certo conhecimento: Pot. q.7, a 5; VATICANO I, Dei Filius (DS 3.016) “At ratio quidem, fide illustrata, cum sedulo, pie et sobrie quaerit, aliquam Deo dante mysterionun intelligentiam eamque fhictuosissimam assequitur, tum ei eorum , quae naturaliter cognosdt, analogia, tum e mysteriorum nexu inter se e cum fine hominis ultim o; nunquam tamen idônea redditur ad ea perspicienda instar veritatum, quae proprium eius obiectum constítuunt”. GREGORIO Nazianzeno, Or 28,9 (SCh 250,118): “De igual modo o que se esforça por invesdgar a natureza ‘daquele que é’ (Ex 3,14), não poderá dizer somente o que não é, senão que, depois de ter dito o que não é, terá que dizer também o que é”.

analogia do ser p ode ter dentro do raciocínio teológico que deve partir da revelação e da fé cristã49 50.
2. A crítica de K. Barth e a reação católica: a “analogia C bristi”
K arl Barth m ostrou seu profundo escândalo ante a idéia da analogia do ser, que provavelmente não com preendeu em seu reto sentido. Segundo ele, a analogia em uso na teologia católica põe no mesm o nível o ser de Deus e o do hom em , sem levar em conta a diferença abismal entre um e outro. Só da palavra de D eus pode vir o conhecimento de Deus mesmo. Aos intentos de alguns protestantes de aproximação a um conhecimento natural de Deus, em uma linha sem elhante à da teologia católica que encontrou expressão no Vaticano I, só pode responder com um decidido não. A analogia entis é para Barth uma invenção do Anticristo, e essa é uma razão definitiva pela qual não se pode ser católico; qualquer outro motivo seria pouco sérioso. Daí a negação fundam ental de todo vestigium Trínitatis, das pegadas da Trindade na criação, de ampla tradição no mundo ocidental. Para ele, a analogia entis significa a aceitação de uma semelhança entre o Criador e a criatura, também no mundo decaído51. A figura do mundo decaído não tem a capacidade de revelar Deus, como nós também não temos a capacidade de reconhecer a Deus nela. A única interpretação possível da palavra de Deus é a que ela dá a si mesma. A palavra de Deus acontece na criatura oposta a ele, mas não no mundo enquanto tal52 53 *. Não tem sentido, para Barth, falar de um “ser” que a criatura e o Criador tenham conjuntam ente, inclusive apesar da “maior dessemelhança”55. Mas

49. Com efeito se pôde acusar a doutrina da analogia, e o seu uso teológico, por ter parddo excessivamente da criação, mas não de Cristo; a relação da fé com a inteligência foi estudada sem fixar o olhar em Jesus; Cf. A. M ILANO, Analogia Christi. Sul parlare intom o a Dio in uma teologia cristiana, Ricercbe Teologicbe 1 (1990) 29-73,29.32s.35.63. 50. Cf. Die Kinblicbe Dogmatik, 1/1, M unique, 1935, VÜI-IX: “Considero que a analogia entis é a invenção do Anticristo, e penso que por causa dela uma pessoa não pode tornar-se católica. £ também me permito considerar que os outros motivos que se pode ter para não se fazer católico são de visão estreita e pouco sérios’’. 51. Cf. Ibid., 40. 52. Ibid., 172s. 53. Cf. Ibid. 252. Barth parece pensar na analogia de proporção. N ão podemos entrar aqui nos detalhes de seu pensamento. Cf. entre outros estudos, G . POHLMANN, Analogia entis oder Analogia fidei. Die Frage nacb der Analogie bei Karl Barth, Gõttingen, 1965; H . CHAVANNES, L’analogie entre Dieu et le monde selon saint Thomas d’Aquin et selon Karl Bartíi, Paris, 1969; recentemente, J. PALAKEEL, The use qfanalogy in tbeologicaldiscourse. An investigation in ecumenicalperspective, Roma, 1995,13-66; A. J. TORRANCE, Persons in
isso não significa que Barth não faça uso da noção de analogia* 54. À analogia do ser opõe a analogia fidei. A expressão, como é bem sabido, procede de Rm 12,6. lem os de lim itar-nos a algumas de suas afirmações fundamentais sobre o assunto. Sem abandonar a idéia de dessemelhança total entre o C riador e a criatura, B arth afirma que nessa total dessemelhança permanece a possibilidade humana de captar (ergreifen) na fé a promessa de Deus. Essa capacidade humana não deixa de ter semelhança com a possibilidade que Deus tem de realizar sua promessa. Essa possibilidade não a tem o homem em si mesmo, senão a partir do destino que Deus nos deu. Em virtude dessa capacidade podemos reconhecer a palavra de D eus de uma maneira segura e clara, certam ente não igual, mas semelhante, à segurança e à clareza com que D eus se reconhece a si mesmo em sua palavra. H á portanto na fé uma correspondência do que é reconhecido n o conhecer, do objeto no pensamento, da palavra de Deus na palavra humana. Essa analogia fidei coloca-se na linha das expressões paulinas que falam do conhecer Deus como somos por ele conhecidos (Cf. G14,8s; IC or 8,2s; 13,12). O homem pode assim conhecer a palavra de Deus enquanto é conhecido por Deus mesmo55. A fé acontece no homem, mas o seu fundamento acha- se em Deus, objeto da fé, não no homem. O fato de que o homem creia é ação de Deus. O homem é o sujeito da fé; não Deus; o homem é o que crê: Mas esse ser sujeito do homem na fe é como posto entre parênteses, como um predicado do sujeito Deus, posto entre parênteses do mesmo modo como o Criador abraça a sua criatura, o Deus misericordioso ao homem pecador; mas de tal maneira que permanece o ser sujeito do homem, e precisamente o Eu do homem como tal existe somente desde o Tu do sujeito Deus56.

Não há continuidade entre o ser de Deus e o ser do homem, não há semelhança entre Deus e a criação decaída, mas há semelhança entre D eus e o homem que crê, ou, mais precisamente, na fé pode o homem reconhecer a Deus de modo sem elhante como D eus se reconhece em sua palavra. N ão se pode portanto falar de analogia do ser, já que a criatura decaída nada pode nos dizer sobre o ser de Deus. Mas na fé dá-se um verdadeiro conhecimento de D eus. Aí se produz então a “analogia”, mas além da igualdade e da desigualdade, entre a semelhança e a dessemelhança. Por isso o
communion. An essay on trinitarian description and human participation with special reference to volume one of Karl Barth's Church dogmatics, Edimburgo, 1996,120-212. 54. Cf. entre outros lugares, Kirchliche Dogmatik, 1/1, 252, 255. 55. Cf. Ibid., 256s. 56. Ibid., 258.
conceito d e analogia se faz necessário: não pode haver total semelhança entre Deus e o homem, porque isso significaria que Deus deixou de ser D eus ou q u e o homem se fez Deus. Tampouco pode haver completa dessemelhança, porque nesse caso nada poderíamos dizer de coerente sobre Deus m esm o. Esse meio entre semelhança e dessemelhança chama-se “analogia”57. As palavras que usamos para falar de Deus são sempre suas, não nossas. E le escolhe nossas palavras como expressão de sua verdade: Sua verdade não é a nossa. Porém nossa verdade é a sua. O que fazemos em nosso conhecimento de sua criação, que se realiza com intuições, conceitos e palavras, tem sua verdade, oculta para nós, nele como seu Criador e o nosso. Tudo o que dizemos foi e será verdade previamente nele... Nossas palavras não são nossas, mas são propriedade sua. E, na medida em que ele dispõe delas como sua propriedade, põe-nas, por sua vez, à nossa disposição58.
Em Jesus Cristo essa analogia tem seu fundamento últim o, porque nele tem lugar essa correspondência do homem com Deus, e só a partir dele podemos falar teologicamente com sentido do ser humano59. A analogia da fé resolve-se assim em uma analogia da relação60. A analogia da fé, que equivale à analogia da relação com Deus cristolo- gicamente fundada, coloca-se diante da analogia do ser, que Barth considera um sim ples esforço filosófico e, portanto, um intento de abarcar a Deus com categorias humanas. Será que Barth entendeu verdadeiramente o sentido da analogia do ser? A teologia católica seguiu caminhos diversos no confronto com essa crítica radical de Barth, na qual não se reconheceu61. A analogia do ser, como forma fundamental da teologia católica, mais do que um princípio do qual se possa deduzir algo, significa antes uma reductio in mysterium, a ocultação de Deus que começa na criação e que aparece sobretudo, paradoxalmente, na encarnação mesma e na cruz62.

57. Cf. Kircb, Dog. II/l, Zurique, 1946, 254s, 264s. 58. Ibid., 258-259. Cf. BALTHASAR, op. cit., 118-119. 59. Cf. os desenvolvimentos de Die Kirchliche Dogmatik, 3X/2 Zurique, 1948. 60. Kircb. Dog, 131/1, Zurique, 4a ed., 1970, 207. “A analogia entre Deus e o homem é simplesmente a existência entendida como uma relação entre um ‘eu’ e um ‘tu* que estão face a face. Essa existência analógica é antes de tudo constitutiva de Deus [alusão à doutrina trinitária], e é por conseguinte também do homem criado por Deus. Eliminá-la equivale a suprimir tanto o divino em Deus como o humano no homem”. 61. Cf. PRZYWARA, op. cit.; do mesmo, Analogia ends, in L T hK l 470-473; Analogia fidei, ibid., 473-476; também as notas seguintes. 62. Cf. ID ., LThK l, 471; cf. também Analogia entis, 647ss; do mesmo, D er Grundsätze “Grada non destruit, sed supponit et perfecit naturam”. Eine ideengeschdiche Interpretation, Scholastik 17 (1942) 178-186; cf. sobre o problema, S. CANISTRA, La posizione di E. Jüngel nel dibatdto su ll’analogia, ScCat 122 (1994) 413-446, 428ss.
✓ E a acentuação, em Cristo, da semelhança entre Deus e o homem, mas essa significa antes uma insistência na ocultação de D eus. Parece que se trata portanto do contrário do que K. Barth temia63. N o diálogo com K. Barth, tam bém G. Söhngen64 e H . U . von Balthasar65 trataram de situar a analogia do ser no âm bito da analogia da fé, da correspondência entre Deus e o homem que tem lugar em Jesus e que se descobre só na fé nele. O Verbo de Deus que assume a natureza humana é nossa analogia da fé, que em si mesmo assume a analogia do ser66. Por outra parte, H. U. von Balthasar esforça-se por descobrir que para o próprio Barth é a mesma fé que pressupõe a existência de um homem livre, de um verdadeiro interlocutor com Deus. “Só os falsos deuses têm inveja do hom em . O D eus verdadeiro lhe perm ite ser aquilo para o que o criou.”67 N a concepção barthiana da criação como pressuposto para que Deus possa estabelecer aliança com os homens68, existiria um caminho para superar incom patibilidades à prim eira vista irreconciliáveis. A revelação de Deus pressupõe um m undo distinto dele a que se pode manifestar. O homem, sempre por dom e por graça de D eus, é um verdadeiro sujeito. A graça de Deus é eficaz na liberdade de suas criaturas, e por isso elas podem estar diante de Deus não só passivamente, mas de modo ativo em grau máximo. Assim resume von Balthasar suas considerações sobre a analogia fidei de Barth: Há uma correspondência entre o Criador e a criatura, certamente tal que em qualquer ordem em que se considere repousa sobre uma absoluta unilatera- lidade, tanto da criatura como do que recebe a graça. Mas a criatura vem de tal maneira de Deus, que obtém dele não só o receber, senão também o responder. Ou melhor, o receber também o poder responder, e responder de tal

63. A questão foi bem posta em relevo por E. JÜ N G EL, a quem em seguida nos referimos: Dios como mistério dei mundo, Salamanca, 1984, 367: “Se se tratasse somente de respeitar a Deus como o-totalm ente-outro, nada seria mais apropriado para conseguir isso com a reflexão do que a tão vituperada analogia entis. Precisamente por isso não pode convir a uma teologia que responda ao Evangelho”. 64. Cf. esp., Analogia fidei. Die E inheit in der Glaubenswissenschaft, Catb 3 (1934) 113-136; 176-208; Analogia entis oder analogia fidei, WiWe 9 (1942) 91-100; mais recen- tem ente, La sabiduria de la teologia p or el camino de la dencia, M ySall/2, 995-1.070, esp. 1.017s, em que trata de reladonar a analogia do ser católica e a analogia da criação protestante na referenda de ambas à analogia da fé. 65. Cf. Karl Bartb... (nota 58). 66. Cf. SÖ H N G EN , Analogia fidei, 208; cf. CANISTRÀ, op. d t, 425. 67. Karl Bartb, 122, dtando KD 7 (m/3, Zurique, 2* ed., 1951) 98-99. 68. Cf. ibid„ 129s; 177.
maneira que essa resposta “autônoma” continue sendo um receber no mais alto grau. Isso chama-se analogia teológica69.
A resposta de von Balthasar move-se em um âmbito análogo ao da relação entre natureza e graça: não existe um a “natureza pura”. O conhecim ento “natural” de D eus, como tivemos ocasião de ver, dá-se por meio de um a criação que, segundo o testem unho do N ovo Testamento, tem lugar “em C risto”. Não p o r ser criação, mas por ser “em C risto”, a fé deve descobrir no âmbito das criaturas essa correspondência com Deus. A analogia do ser tem , pois, seu sentido à luz de C risto, à luz da analogia da fé, em um a certa correspondência com a criação, certam ente “autônom a” e consistente em si mesma, mas que veio à existência em vista da graça e da autocomunicação de Deus70. E claro que todo conhecimento de Deus apóia- se em uma relação prévia por parte de Deus mesmo, e que o homem ante essa revelação só pode estar na situação da entrega adorante. Deve-se ver essa revelação antes de tudo em seu centro, Jesus Cristo. M as nele, precisamente, descobre-se que Deus pode revelar-se na criação e na história. Assim a encarnação pressupõe a ordem da criação, não idêntica com ela, mas que para ela dispõe e orienta. Pode, pois, a criação conter imagens e analogias, que nos levam a Deus. O homem, em sua natureza social, é capaz da aliança, e isso é o pressuposto para que Jesus possa fazer-se nosso irmão. O homem é o ser que existe na correspondência com Deus. Nesse espaço que Deus mesmo abre não se pode negar o valor aos símbolos da criação, embora só à luz da encarnação se tom em plenamente eloqüentes71. A criação tom a-se potencialidade para a revelação enquanto se vê o sentido cristológico dela. Deus pôs nela a aptidão para seus planos. E Deus mesmo o que a utiliza, não são outras mãos as que a fazem servir para outros fins. A criatura faz, na obediência ao Criador, o que não seria capaz de fazer por si mesma. A ressurreição de Jesus é o exemplo culm inante. Fazendo que se supere a si mesma, Deus leva a criação ao fim a que a quis destinar72. Apesar do pecado, a criação não está de todo corrompida, não perdeu de todo sua capacidade de refletir a Deus.

69. Ibid., 123. 70. Cf. Ibid., 128-129; 13 lss. 71. Cf. Ibid., 177-179. Von Balthasar nota nesse contexto que BARTH usa o term o Dasein para referir-se a Deus e à criatura em seu livro sobre S. Anselmo, Fides quaerens mteüectum. Ansehns Beweis der Existenz Gottes, Munique, 1931, 178-180. 72. Cf. K arlBartb, 181. Cf. também RAHNER, op. tit., 221: a criação é.a “gramática” que Deus mesmo estabelece para sua manifestação.
O Deus Logos feito carne é assim princípio de toda analogia73. De Jesus chega-se a Deus, não porque o revele de baixo para cima, senão porque em Cristo Deus se revela de cima para baixo. Jesus não só expressa o Logos, o único sujeito nele, mas também, em virtude das relações trinitárias, é a expressão de todo o Deus trino. N a analogia que acontece no “Verbum- caro” acha-se a medida de qualquer outra analogia filosófica ou teológica. Só ela é o modo como o Logos mesmo junta todas as coisas e as eleva a si mesmo, já que ele é o fundamento de todas as coisas criadas. As coisas têm seu lugar definitivo dentro da analogia que tudo abraça do Verbo feito came. Contudo permanece inclusa na analogia cristológica a distancia original e infinita entre Deus e a criatura, uma distancia que o homem não pode medir nem abarcar com o olhar74. Na recapitulação de todas as coisas em Cristo, sem que a criatura desapareça, ficará ela mesma transfigurada na distancia infinita das pessoas divinas na única natureza. Sabemos algo dessa distância pela relação de Jesus com seu Pai, na qual tomaremos parte mais intim am ente quando chegar o momento dessa transfiguração75. Temos assim que, a partir da fé em Cristo, se abre a possibilidade de um conhecimento e de uma linguagem coerentes sobre Deus, fundados na Palavra de Deus feita homem. N ão porque o homem queira prender Deus em suas categorias, mas sempre a partir da revelação de Deus em Cristo,

73. Cf. BALTHASAR, Theologik II. Die Wahrheit Gottes, 284-288, cap. Intitulado Verbum-Caro und Analogie, Tbeodramãtica 3y205ss, por ser a união hipostática a união definitiva de Deus e do homem, Jesus é a “analogia entis concreta” mas de nenhum modo pode essa analogia transbordar em direção da identidade (206). Deve-se sempre salvar o inconfiusede Calcedônia; cf. G. M ARCHESSI, Lacristologia trinitaria d iH.U. von Balthasar, Brescia, 1997,219-251; V HOLZER, Le Dieu Trmitédans Phistoire, Paris, 1995,66; 74; 86; 202ss, entre outros lugares. MILANO, op. cit., 65: MSe Jesus C risto tudo pensou, tudo falou e tudo fez ‘de uma maneira conforme a Deus’, agora é dele, e não de outros, que se precisa aprender como pensar e ‘dizer as coisas divinas’. A estrutura formal da analogia... só se pode pensar abertamente mediante a análise do discurso sobre Deus vindo em Jesus de Nazaré, que doravante é o único discurso de fato correspondente a D eus...”. 74. Cf. já El camino de aceso a la realidad de Dios, MySalTUl, 41-74,61: aA analogia do ser entre Deus e a criatura não perm ite nem a comparação a partir de um terceiro membro neutro (o ‘conceito do ser*, pois, não se dá), nem a comparação baseada em uma proposição formal que se mantenha igual entre ambos extrem os... nem a redução de um (a criatura) ao outro (Deus), de sorte que nessa atribuição a criatura se achasse a uma distância do Criador que ela mesma pudesse comprovar e medir, com o que também, inversamente, pudesse abarcar o olhar a distância de Deus à criação. Em qualquer tipo de comparação se evidencia a maior dissimilituddn (DS 806). 75. Cf. Tbeologik II, 288. Von Balthasar observa que nesse contexto a “proporcionalidade”, relação de relações, entre a relação Deus-criatura e a que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cf. HOLZER, op. d t., 181; 184.
no qual está o fundam ento últim o de toda a criação76. P o r essa razão, a p a rtir da realidade criada, pode-se filar sobre D eus. Na criação em C risto dá-se um a “sem elhança”, sempre na m aior dessemelhança do m istério inabarcável a que a realidade criada nos rem ete. A analogia é distinção en tre C riador e criatura, na relação profunda de aliança definitiva no sangue de Jesus. Esse m istério de Jesus se nos m anifestou. Porém , como observam os no com eço de nosso tratado, não significa que o m istério desapareça, senão que nos vem os mais im ediatam ente confrontados com ele. Deus é sempre m aior, D eus semper m aior, em bora de um a forma nova, segundo a expressão agostiniana77 tão querida de E. Przywara. Essa form a nova não é a do m istério oculto e inacessível, mas a da infinita riqueza que nos é dada e da qual som os feitos participantes, de cuja plenitude recebem os. Deus se disse a si mesmo nas palavras do homem. Q uem vê Jesus vê o Pai.
3. A “'maior semelhança” segundo E. Jüngel
N a teologia protestante dos últimos tempos a questão da analogia foi suscitada de novo por E. Jüngel78. Já nos referim os à sua apreciação sobre Barth, fundada em seu estudo histórico sobre a tradição filosófica e teológica e seu confronto com E. Przywara. A analogia do ser é precisam ente o m elhor instrum ento para salvar o Deus totalm ente outro, e por essa razão não pode ser usada por uma teologia que se inspire no Evangelho. João 1,18 diz-nos que nunca ninguém viu a Deus, mas o Filho unigénito no- lo deu a conhecer. Se a prim eira parte da frase foi usada pela tradição para insistir na indizibilidade de Deus, não se usou a segunda para problem ati- zar teologicamente o axioma fundado só naquela79. N o processo que levou à afirmação da incognoscibilidade de Deus e até mesmo ao agnosticismo

76. Cf. MILANO, op. d t., 67. £ a natureza capaz da graça que perm ite falar de uma analogia enús, sempre com fundamento na nova criação manifestada e atuada em Cristo. 77. AGOSTINHO, En. in Ps., 62[61],16 (CCL 39,804): “Semper enim ille m aior est quantumque crevimus”. 78. Cf., sobre a analogia em Jüngel, F. RODRIGUEZ GARRAPUCHO, La cruz de Jesus y eiserde Dios. La teologia del Crucificado en Eberhard Jüngel, Salamanca, 1992,182-193; J. A. M ARTINEZ CAMINO, Recibirla libertad. Dospropuestas de fitndamentacién de la teologa en la modemidad: W. Pannenberg y E. Jüngel, M adrid, 1992,227-239; R GAM BERINI, Nel legame del Vangelo. U analogia nel pensiero di Eberhard Jüngel, Brescia-Roma, 1994; CANISTRÀ, op. d t (n. 62). 79. Cf. JÜNGEL, Gott als Geheimnis der Welt, Tübingen, 1977, 317-321.
sobre ele80, não se levou devidam ente em conta o amor. O amor de Deus foi levado à linguagem unicam ente como “causa” e por essa razão nunca poderá superar a distância entre D eus e o homem, que se caracteriza pela superioridade infinita de Deus. “O Deus trazido desse modo, como am or à linguagem, fica na dimensão de causador situado acima de nós. Precisamente essa é a debilidade teológica da forma clássica da doutrina da analogia.”81 E a fé na encarnação que, segundo Jüngel, obriga a recolocar a questão, e mesm o a negar as premissas da tradição metafísica, que faz possível a suspeita da falta de sentido da encarnação mesma. Trata-se, pois, de ver se há um uso teológico da analogia que corresponda à fé na encarnação de Deus. D iante das reservas em relação ao antropomorfismo, nosso autor indaga se não há um antropomorfismo “possibilitado, oferecido e exigido p o r Deus mesmo”82. Ao contrário do que opinaram os protestantes, e em particular o Barth da primeira época, a analogia não é um instrumento para pensar, juntos em um mesmo sistema, Deus e o mundo, mas antes o contrário: a linguagem análoga sobre D eus não tem outra finalidade que a de m anter seu m istério. Em contrapartida, Jüngel propõe o Evangelho como fala análoga sobre Deus. Trata-se da analogia do “advento” que leva à linguagem a chegada de Deus ao homem. O Deus que vem ao mundo serve-se do que nesse mundo é evidente, para, ilum inando-o desde dentro, pô-lo a serviço de algo ainda m ais evidente. E evidente, por exemplo, que alguém dê tudo o que tem para assegurar-se a mais-valia de um tesouro encontrado no campo. “M as essa evidência aparece sob uma luz totalm ente nova quando vem à linguagem como parábola da majestade de Deus que se deixa encontrar.”83 O ser de Deus revela-se vindo: Deus deixa de ser um desconhecido. Deus se revela servindo-se da evidência intram undana, fazendo-se palavra, vindo à linguagem. P or isso não se pode partir de princípios gerais para saber como falar de Deus, senão que isso só se pode saber a partir da fala de D eus que já aconteceu. Deve-se supor que essa linguagem corresponda a D eus84. O acontecimento em que D eus se faz palavra chama-se “revelação”. “Nesse acontecimento... realiza-se a analogia da fé, na qual as palavras

80. Ibid., 381: “O uso tradicional teológico da analogia que pudemos observar em Kant é predom inantem ente agnóstico, e precisam ente por causa da perfeição de Deus”. 81. Ibid., 381. 82. Ibid., 283. Cf. o contexto. 83. Ibid., 390. 84. Ibid., 391.
humanas não entram na proximidade de Deus, senão que Deus, como palavra, vem para perto dos homens em palavras humanas”85. A diferença entre D eus e o homem que constitui a essência da fé cristã não é, segundo Jüngel, a de uma dessemelhança maior, mas a de um a semelhança cada vez maior, em uma dessemelhança tão grande ainda entre Deus e o hom em . E a distinção e a semelhança entre a hominidade de Deus e a hom inidade do homem. E a semelhança ainda maior como a fé cristã confessa a encarnação da palavra de Deus em C risto. O homem Jesus é, como tal, a parábola, a comparação (G leicbnis) de D eus. Essa afirmação cristológica é o axioma de um a hermenêutica da “dizibilidade” de Deus. E o ponto de partida de uma doutrina da analogia que foça valer o Evangelho com o “co-respondência”86. N a parábola que é Jesus, D eus se põe em relação com o mundo e com o homem. Então chega tam bém à lin gu a g e m a “co-respondência” própria do Evangelho. Embora em seguida se deva notar que essa correspondência da linguagem humana com D eus não é uma possibilidade própria da linguagem, mas que vem de D eus mesmo87. Com a parábola e a m etáfora não se encobre a realidade, mas justam ente ao contrário: a linguagem fez-se mais direta, mais aguda, aquilo de que se fala faz-se concreto na linguagem mesma. As parábolas foram usadas por Jesus, em particular, para falar do reino dos céus. A parábola não é uma tese, não se diz o reino de Deus é, senão é como; começa-se uma história que é capaz de envolver o ouvinte. A ele vem o reino de D eus em parábola, se o ouvinte se abandona a ela. Essas parábolas do reino m ostram uma distinção fundamental entre o reino de Deus e o mundo, e p o r conseguinte uma dessemelhança e uma distância entre ambos, mas essa dessemelhança tão grande apresenta-se em uma semelhança e uma aproximação ainda maiores. Por isso a parábola, ainda quando feia a linguagem do m undo, fala de Deus com verdade e propriedade. Já não é o ouvinte o mais próximo a si mesmo, senão que Deus está mais perto dele. Deus vem à humanidade, mais perto do que o eu humano pode aproximar-se de si mesmo: “intim ior intim o m eo”88. Achamo-nos aqui ante a analogia do advento: é maior a semelhança porque há maior proximidade. Deus, no homem Jesus, esteve presente entre os homens. Isso nos permite e, ainda, nos obriga a falar de Deus como homem, de seu desprendimento cada vez maior, e portanto de Deus como

85. Ibid., 371. 86. Ibid., 394. 87. Ibid., 395. 88. A G O STIN H O , Confissões m 6,11; cf. Gott..., 402-404.
amor. O am or não é só o causante, com o já dizíamos. O amor, na medida em que p o r ele D eus vem a nós, é o que nos perm ite falar de Deus, porque o amor vem à linguagem. O amor é capaz da palavra, “capax verbi”89. Deus distingue-se do homem unindo-se a ele em Jesus C risto. Porém , o fundamento dessa união não é a criação, m as a eleição em C risto, em virtude da qual D eus elege o homem para si. N essa eleição funda-se a antropologia. Dizendo sim a Jesus Cristo, Deus diz sim ao hom em e o chama à existência. Esse sim funda-se no que Deus diz a si mesmo, no seio de sua vida trinitária90. Mas o funda fora de si, extra se91. Só a analogia da fé pode servir de base para a teologia. A analogia do ser pode significar para Jüngel uma fase histórica, que passa desde que for aprofundada. A analogia da fé colo- ca-se além dela, não contra nem ao lado, mas nos aproxima mais radicalmente da origem na mesma eleição divina92.
4. Condusão: “maior disshnilitudon na maior proximidade
A reflexão sobre a fundamentação do homem e do mundo na eleição divina em C risto foi certamente positiva para a teologia católica. Também ela preocupou-se nos últimos anos em centrar na encarnação a doutrina da analogia. Só a partir do Deus que fala, que em sua palavra feito carne vem a nós, tem sentido falar de um a aco-respondência,, do homíem93; este veio

89. Ibid., 408. 90. JÜ N G E L vê um a relação fundam ental entre o sim de D eus a si mesmo no seio das relações trinitárias e p sim de D eus ao hom em , ao eleito em Jesus C risto: “E o sim do livre amor divino, que o Deus trin o se diz a si mesmo, e portanto tam bém à sua criatura, o qual se cria assim sua própria correspondência1*. D ie M öglichkeit theologischer Anthropologie auf der G runde der Analogie. E ine U ntersuchung zur Analogieverständnis Karl Barths, in Barth-Studien, G üttersloh, 1982, 210-232, esp. 222.225; cf. CANISTRA, op. d t , 442-443. 91. Pode-se observar aqui um a diferença de acento com os teólogos católicos. Enquanto estes sublinham a consistência, certam ente relativa, da realidade criada, Jüngel acentua a fundamentação de tudo em Cristo e portanto a falta de fundamento “em si”. Daí a tendência entre os prim eiros a ver a analogia do ser dentro da analogia da fé (consistência natural da criação em C risto) enquanto Jüngel tende antes a mostrar a incompatibilidade entre ambas. 92. C f. CANISTRA, op. d t., esp. 442-446. W. PAN N EN BERG também m ostra-se crítico quanto ao uso da analogia. P ode existir, segundo ele, analogia do uso teológico com o profano, mas não a respeito de D eus mesmo. Deus faz suas nossas palavras e dá a nosso louvor seu significado definitivo: Analogie u n d Doxologie, in Grundfragen systematischer Theologie, G öttingen, 1967,181-202. 93. N ote-se o jogo de palavras, que os autores de língua alemã usam constantem ente ao tratar desses problem as, entre sprechen (falar) e entsprechen (corresponder).
à existência porque foi eleito em C risto Jesus desde antes da criação do mundo (cf. Ef l,3ss). O se r do homem está assim determinado p o r essa presença de Deus, pelo “D eus intim ior intim o meo”, segundo a fórmula de Agostinho que Jüngel recordava. M as significa isso que temos de inverter a fórmula do Lateranense IV como E . Jüngel propõe? N a vinda de Deus ao mundo tem os uma proximidade cada vez m aior em m eio a um a distância ainda grande. E maior a semelhança que a dessemelhança entre Deus e o homem? Claro que não podemos minimizar a proximidade de Deus ao homem, o fato de que Jesus se fez nosso irmão, provado em tudo como nós menos no pecado (cf. H b 4,15). D eus vem realm ente ao homem, é capaz de despojar-se de si mesmo por am or. Em Jesus temos Deus perto de nós, que no am or Deus vem até nós. M as não é precisam ente a manifestação desse amor o que nos faz ver com m ais clareza a enorme distância entre D eus e nós? Quando se trata do mistério no âmhito da revelação da graça, o acento recai na incompreensibilidade positiva de Deus. Sempre transbordará toda compreensão o fato de que o Deus absoluto e superior a toda contradição se digne a descer ao nível de sua criatura. Mais ainda: que a ame e até a honre com um amor tal que tome sobre si todas as suas culpas, que morra por ela em meio à dor e ao pavoroso abandono divino, e que se prodigue, em estado de “vítima”, como comida e bebida do mundo inteiro. A distância, superior a toda medida, entre a natureza e índole humana e a divina manifesta-se precisamente na “grande semelhança” (in tanta smifítudine, DS 806) do empréstimo de seu ser divino aos homens e na assunção por parte de Deus da natureza humana94.

A mesma proximidade de Deus, quê vem a nós, mostra a grande dessemelhança; o amor com que se aproxima de nós abre-nos, paradoxalm ente, para a maior dessemelhança. Sem querer forçar os termos até o extrem o, será útil considerar o ritmo da “semelhança” no Novo Testamento. Jesus veio em um a carne semelhante à do pecado (Rm 8,3), feito semelhante em tudo aos irmãos (Hb 2,17), provado em tudo à semelhança dos homens, exceto no pecado (Hb 4,15). Estamos na linha descendente do Filho de Deus que vem até nós. M as, em linha ascendente, a semelhança coloca-se no futuro. Nossa
94. BALTHASAR, El comino...» 63; ID ., Tbeologik IL .., 67: a ... m ostra-se com a mesma clareza que Jesus, tam bém em sua plena hum anidade, continua sendo o totalm ente outro, o irrepetível, com o intérprete do Pai”.
semelhança com Deus (ou com Cristo) reserva-se para a consumação final. “Seremos semelhantes a ele porque o veremos tal como é” (ljo 3,2). Ele se fez o que nós somos para que nós pudéssemos chegar a ser o que ele é, diz o conhecido axioma do “intercâm bio” dos Padres. Se a prim eira parte, a descida de Jesus, se realizou, não assim a segunda, que espera a consumação. Ele salva a distância infinita entre C riador e criatura, mas nós não. A capacidade de salvar a distância é precisamente um a mostra a mais da maior disshnilitudo. O ojjlooúctlos típáv de Calcedônia não nos deve fazer esquecer de que Jesus é o opoow ux; t<ú TTotTpl. A grande semelhança (e aqui tem talvez pleno sentido introduzir essa leitura do IV Concílio de Latrão) mostra-nos uma m aior dessemelhança que só o am or de D eus salva, tam bém nessa grande manifestação de proximidade, “dessemelhante”. A analogia que se funda no amor e na Uberdade encontra-se tam bém com a diferença entre Deus e o homem, ainda quando se sublinhe, com toda legitimidade, o m om ento da semelhança devido à infinita condescendência divina. Esse tema tem a ver também com o da relação entre a Trindade econômica e a Trindade im anente que nos ocupou desde o começo de nosso tratado45. A vinda de D eus ao homem não esgota seu mistério. M ais ainda, abre-o para nós em m aior profundidade. A incompreensibilidade de Deus se nos manifesta em sua maior grandeza no acontecimento de Cristo, não apesar dele. Vimos no capítulo 2 as reservas justificadas ante algumas possíveis interpretações do “vice-versa” da formulação do axioma fundamental de K. Rahner. O ser de Deus não se aperfeiçoa nem se reaUza na economia salvífica, mas também não se “esgota” nela. Inclusive a partir de C risto e, poderíamos dizer, sobretudo ante o abismo de am or que Cristo nos revela, não nos resta senão considerar que em tudo o que possamos pensar ou dizer de D eus, em tudo o que nós ou as criaturas somos, achamo- nos a infinita distância do mistério de amor que se nos revela em Cristo crucificado e ressuscitado por nós.

95. Alguns críticos católicos observaram algum a am bigüidade de Jüngel neste ponto; cf. G . LAFONT, Dim, le temps et F im , Paris, 1986,293; A. B E R T U L E T l l, D concetto di persona e il sapere teologico, Teologia 20 (1995) 117-145, 124.
EPÍLOGO
“Q ue incomparáveis encontro teus desígnios, Deus meu, que imenso é seu conjunto! Se me ponho a contá-los, são mais que a areia; se os dou por term inados, ainda tu me restas” (ou também: “quando me desperto, ainda estou contigo”) (SI 139[138], 17-18). O salmista considera em um único olhar a grandeza dos desígnios divinos e a majestade de Deus mesmo. Os prim eiros ultrapassam já a capacidade do hom em . Mas, se por impossível os déssemos por term inados, ficava ainda D eus mesmo, que está sempre conosco. N o livro do D euteronôm io exprime-se também a admiração pela proximidade ao povo do Deus soberano que realiza prodígios nunca vistos nem ouvidos. “Q ue nação, por grande que seja, tem seus deuses tão perto como o Senhor, nosso Deus, está perto de nós sempre que o invocamos?” (D t 4,7). A proximidade de Deus a seu povo eleito não é mais do que a prefiguração de sua proximidade a todos os homens e povos porque seu Filho fez-se um de nós, e “uniu-se de certo modo a todo homem” (GS 22). Deus, pela encarnação de seu Filho, é “D eus conosco”, de um modo que nem os sábios nem os profetas do Antigo 'Ièstam ento poderiam suspeitar (cf. Is 7,14; M t 1,23). A doutrina do Deus uno e trino nos m ostrou o pressuposto da proximidade de Deus ao homem: o amor intratrinitário é a origem do amor de Deus ao homem m anifestado ao enviar ao m undo seu Filho e o Espírito. A Trindade “imanente” mostrou-se a nós assim como a origem e o term o da história da salvação. D o Pai, princípio sem princípio, vem a iniciativa da missão do Filho e do Espírito; Jesus entregará o reino ao Pai quando tiver submetido todas as coisas (lC or 15,24-28). A plenitude do homem e seu últim o fim, como foi dito no começo deste tratado, é somente Deus. Por isso só Deus é o objeto da teologia. O D eus que envia ao mundo seu Filho e o Espírito é o D eus a quem podemos chamar Pai, o que

nos convida a participar de sua vida como filhos em seu Filho ao comunicar- nos o Espírito de filiação (cf. G14,4-6; Rm 8,14-15). Essa é a salvação a que Deus nos destinou ao escolher-nos em Cristo antes da criação do mundo. O Filho unigénito, pela condescendência de seu amor, faz-se primogênito entre muitos irmãos, e ao unir-nos a si une-nos também entre nós. Fez-se o que nós somos para aperfeiçoar-nos no que ele é1. Somente porque Deus é ao mesmo tempo imo e trino é possível a encarnação do Filho, e somente porque este pode com partilhar nossa condição podemos chegar a ser o que ele é. A Trindade, a encarnação e a graça resultam assim, em sua mútua inter-relação, os mistérios centrais do cristianismo2 3, o eixo que integra em harmonia todas as outras verdades de nossa fé. N a Igreja, corpo de Cristo, recebemos a superabundância dos dons salvíficos, a palavra e os sacramentos. Enquanto peregrinamos nessa vida, temos já as primícias do Espírito e dos bens futuros, que esperamos gozar um dia em plenitude. A salvação que Cristo nos dá é a prolongação da vida superabundante de Deus. Só com o ponto de partida da Trindade divina têm sentido todos e cada um dos mistérios de nossa fé, e só a partir dela fica definitivamente iluminado o mistério de nossa existência. Já não são os dons de D eus o objeto de nossa gratidão e o estím ulo de nosso louvor, senão o dom que Deus nos faz de si mesmo, conseqüência do dom mútuo de amor das três pessoas divinas. N o âmbito desse am or que, como já vimos, é sempre o dom prim eiro, desenvolve-se toda a nossa vida. Só porque D eus é trino pode criar, e só por isso pode receber-nos em seu seio.
Santo Ireneu expressou isso em term os insuperáveis: 0 Espírito dispõe o homem para o Filho de Deus; o Filho o conduz ao Pai, e o Pai lhe outorga a incorrupção para a vida eterna, que a cada um lhe sobrevém da vista de Deus. Assim como os que vêem a luz estão dentro da luz e percebem sua claridade, assim também os que vêem a Deus estilo dentro de Deus, participantes de sua claridade. A glória de Deus vivifica: participam segundo isso da vida os que vêem a Deus’.

1. IR E N E U de L ião, Adv. Haer.V pref.; cf. A. ORBE, Teologia de san Irineo, M adrid- Tòledo, 1985,1, 48-51 entre outras passagens. 2. C f. K . R A H N ER, Sobre el concepto de m istério en la teologia católica, in Escritos de Teologia IV 53-101; 91ss; tam bém Reflexiones fundamentales sobre antropologiay protologia
en el marco de ta teologia, in MySal II 1, 454-468, 458; O. G onzález de CARDEDAL, La entram dei cristianismo, Salamanca, 1997, 8: “A Trindade prolonga sua própria vida nos homens pela encarnação e pela graça. T rindade, encarnação e graça constituem o cerne do cristianism o, como expressões do único M istério, que é D eus existindo na imensidade e encerrando-se na pequenez do hom em ”. 3. Adv. Haer. IV 20,5; cf. ORBE, Teologia de san Irineo, M adrid, 1996, IV, 288-290.
A vida de D eus manifestou-se em Cristo, e dessa vida os homens foram feitos participantes. Nesse âmbito se desenvolve nossa existência neste mundo. Viver em D eus é nosso destino definitivo, nas numerosas moradas que há na casa do P a i (cf. Jo 14,1-3) — tantas moradas terá como membros o corpo de C risto (de novo Ireneu)4. A salvação cristã é portanto a obra do D eus uno e trino e tem esse
Deus como princípio e meta. Esse é o Deus desconhecido, que os homens buscam sem saber, o único que pode satisfazer nossas aspirações porque unicamente “nele vivemos, nos movemos e somos” (At 17,28). Refletir sobre o m istério de Deus não é portanto afastar-nos do mundo que nos rodeia. É deixar-nos penetrar pelo a r que respiram os, e descobrir o que está mais dentro de nós que nossa própria intim idade, para abrir-nos ao irmão em que tam bém Deus nos sai ao encontro. Nossas palavras sobre Deus, sempre insuficientes, devem-nos levar à oração confiante. N ão é por acaso que os melhores entre os antigos tratados De Trinitate terminem com uma oração. Também alguns dos modernos. O estudo do mistério de Deus deve convidar-nos à adoração, à ação de graças e ao louvor5. A isso leva a impossibilidade de dizer palavras adequadas, mas m uito mais a consciência de que Deus se expressou em si mesmo nos atos e nas palavras de Jesus. Também nós podemos concluir nosso percurso glorificando a Deus com as palavras de S. Paulo e da litur- , gia eucarística: Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da dência de Deus! Quão insondáveis são teus desígnios e inescrutáveis teus caminhos! Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para ter direito à recompensa? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele glória pelos séculos! Amém (Rm 11,32-35).
Por Cristo, com ele e nele, a ti, Deus Pai onipotente, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém.

4. M v . Haer. IH 19,3 (SCh 211, 382). 5. A G O STIN H O , En. in Ps. 32,1,8 (C C L 38,254) “Ineffabilis enim est, quem feri non potes. E t si eum feri non potes, et tacere non debes, quid restât nisi ut iubiles? U t gaudeat cor sine verbis, et inmensa ladrado gaudiorum m etas non habeat syllabarum”. Trm V 1,1 (CCL 50,206) “[Deus] de quo sem per cogitate debem us, de quo digne cogitare non possumus, cui laudando reddenda est omni tem pore benedictio”.
Referências bibliográficas
Esta bibliografia inclui as obras de caráter geral, não as monografias que se referem só a algum ponto concreto do tratado. Para evitar repetições, as obras citadas com mais fireqüência nem sem pre aparecem nas notas com a referência completa. Estas poderão ser encontradas nesta bibliografia, que se limita, salvo alguma exceção, a indicar obras recentes.
ARIAS REYERO, M. El Dios de nuestra ft. Dios unoy trino. Bogotá, 1991. AUER, J. Gott der Eine und Dreiene, Regensburg, 1978.
BALTHASAR, H . U. von, Teodramática 1. Prolegomenos. M adrid, 1991. ______ . Teodramática 2. Las personas del drama: el bombre en Dios. Madrid, 1992. ______ . Teodramática 3. Las personas del drama: el bombre en Cristo. Madrid, 1993. ______ . Teodramática 4. La action. M adrid, 1995. ______ . Teodramática 5. E l último acto. Madrid, 1997. ______ . Tbeologik 1. Wahrheit der Welt. Einsiedeln 1983. ______ . Tbeologik U. Wahrheit Gottes. Einsiedeln 1985. ______ . Tbeologik UI. Der Geist der Wahrheit. Einsiedeln 1987. BOBRINSKOY, B. Le mystere de la Trinité. Cours de tbéologie orthodoxe. Paris 1986. BONANNI, S. La Trinhä, Casale M onferrato, 1991. BREUNING, W.; BEINERT, W. Gotteslehre. In: BEINERT, W. (Org.) Glaubenszugänge.
Lehrbuch der Katoliscben Dogmatik. Paderbom-M ünchen-W ien-Zürich, 1995, v. 1, p. 201-362. CIOLA, N . Teologia trinitaria. Storia-Metodo-ProspettiveyBologna, 1996. CODA, P. Dios Unoy Trino. Revelation, expertentiay teologia del Dios de los cristianos. Salamanca 1993. CONGAR, Y. ElEspiritu Santo. Barcelona 1983. COUKTH, E II mistero del Dio Trinità. Milano, 1993. DURW ELLL, E X. Nuestro Padre. Dios en su mistério. Salamanca. 1990. FORTE, B. Trinidad conto historia. Ensayo sobre el Dios cristiano. Salamanca, 1968. GARCÍA-MURGA, J. R. El Dios de amory de paz. Madrid, 1991. GRESHAKE, G. Der dreieine Gott. Eine trinitariscbe Theologie, Freiburg-Basel-Wien, 1997. JU X G EL, E. Dios conto mistério del mundo, Salamanca, 1984. KASPER, W. Der Gott Jesu Christi, Mainz, 1982.

4 2 5
LAFONT, G . Peut-on cm naitn Dieu en Jesus-Cbrist? Paris, 1970. M E L O lT Í, L . Un solo Padre, un solo Signore, un solo Spirito. Saggio di teologia trmitaria. Torino, 1991. M O LTM A N N , J. Trinidady Reino de Dios. La doctrina sobre Dios. Salamanca, 1983. M O N D IN , B. La Trinità mistero d’amore. Trattato di teologia trmitaria. Bologna, 1993. M ÜLLER, G . L. Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie. Freiburg- Basel-W ien, 1985, p. 226-252; 390-413; 415-476. NICOLAS, J.-H . Synthese dogmatique. De la Trinité à la Trinité. Paris, 1985, p. 27-265. O ’ D O N ELL, J. J. The mystery o f the triune God. London, 1987. PANNENBERG, W. Teologia sistemática. Madrid, 1992, v. I. PENAMARIA DE LLANO, A. El Dios de los cristianos: estructura mtroductoria a la teologia de la Trinidad (Tratado de Dios uno y trino). M adri, 1990. PIKAZA, X; SILANES, N . (dir.) Diccionario teológico. El Dios cristiano. Salamanca, 1992. PORRO, C. Dio nostra salvezza. IntroduzJone al mistero di Dio. Torino, 1994. RAHNER, K. El Diso trin o como principio y fundamento trascendente de la historia de la salvación. MySal, M adrid, v. II, 1 (1969) p. 359-449. ROVIRA BELLOSO, J. M . Tratado de Dios unoy trino. Salamanca, 1993.
SCHEFFCZYK, L. Der Gott der Offenbarung, Gotteslehre. Aachen, 1966.
STAGLIANO, A. II mistero del Dio vivente. Per una teologia delPAssoluto trmitario. Bologna, 1996. VIVES, J. uS i oyeraissu voz”. Exploration cristiana dei mistério de Dios. Santander, 1988.
VORGRIM LER, H. Doctrina teológica de Dios, Barcelona, 1987.
W .A A ., Dios como principio y fundamento de la historia de la salvación. MySal, M adri, v. H, n. 1 (1969) p. 39-449.
W ERBICK, J. Dottrina trinitária. In: SCHNEIDER, T h. (ed.) Nuovo corso di dogmatica. Bresda, 1995, v. 2, p. 573-683.

Índice onomástico
A
Abramowski, 231, 244, 337 Agostinho, santo, 12,13,20,22, 28, 32, 34, 38, 41, 42, 49, 70, 74, 98, 123, 187, 234, 245, 249,250, 252, 257,261-268, 273,275-277, 279-281, 283-285, 292,294, 295, 299, 310, 311, 314,320, 322,326,327, 332,335,337, 338,342, 343, 348-350,352, 353,356, 359- 362, 366-368, 372-374,377, 381, 383, 384, 386, 389, 394, 395,401,407,413,414,416, 421, 423, 425 Akcva, J., 89 Alberigo, G., 127, 244 Alexandre de Alexandria, 184, 188, 196 Alfaro, J., 21, 39 Alvarez Gomez, M ., 46 Amato, A , 13, 59, 64, 305, 371 Ambrosiaster, 375, 400 Ambrósio, 13, 348, 352 Ambrósio de Milão, 73, 80, 295, 328, 337 Angelini, G., 32 Anselmo, santo, 41, 262, 338, 349, 388, 401, 412 Arias Reyero, M ., 186 Ário, 175, 181, 183-193, 195-197, 199, 246 Aristóteles, 26, 256, 403, 404 Armendáriz, L., 59 Atanásio, santo, 40, 74,82, 107, 178, 180, 181, 184, 186, 195, 198-200, 202-206, 212-215, 222,232,237, 246,263,299, 306,307, 337, 345, 346, 372 Atenágoras, 146, 150, 155, 157 Auer, J., 33, 35, 386 Ayán, J. J., 140, 144 B

Balthasar, H. U. Von, 24,40,42,46,49,77,79, 81, 83-86, 88, 89, 94, 96, 102, 126, 276, 282,283,292,294,295,298, 303,309, 312, 313, 315, 316, 318, 324,329,334, 340-343, 359, 360, 363, 364,370,389,397-400,410- 413, 418 Barth, K., 39, 277-280, 283-285, 289, 290, 360, 366, 397, 399, 407-412,414, 415, 417 Basílio de Cesaréia, são, 13,28,42,73,80, 107, 181, 213-215,217,235,265,275,283,295, 299, 330, 331, 334, 343, 378, 383, 407 Beinert, W., 35 Bamabé (Ps.), 138 Bertuletti, A, 419 Birne, B., 58 Blaumeiser, H., 86 Boaventura, são, 41, 245, 253 , 261, 271-273, 300, 370, 338, 406 Bobrinskoy, B., 313, 355, 359, 360 Boédo, 264, 265, 267, 268 Boff, L., 288 Bolotov, B., 355 Bonanni, S., 349 Bordoni, M., 69, 70, 75, 78, 80, 103, 109 Bourassa, F, 271, 284, 284, 290 Bouyer, L., 298 Bovon, E, 69, 81 Braun, R., 157 Breuning, W., 35 Briend, J., 59 Bueno de la Fuente, E., 277 Bulgakov, Sn 77,309,310,316,336,343,355,360 Busto, J. R, 394
4 2 7
c
Canistrà, S., 410, 411, 414, 417 Cantalamessa, R, 70, 71, 78,80, 321, 357, 360 Capdevila y M untaner, V. M., 62 Cardedal, O. G. de, 31, 82, 96, 113, 277, 324, 380, 422 Chavannes, H., 408 Chevalier, M. A., 71, 103 Childs, B. S„ 125 Gola, N ., 83 Cipriano de Cartago, são, 28, 374 Grilo de Alexandria, são, 76,235, 300,347, 353 G rilo de Jerusalém, são, 324, 326 Claraval, 371 Gem ente, 41, 136, 137 Gemente Alexandrino, 320 Gemente de Alexandria, 38 G emente Romano, são, 136,137,138,141, 383 Coda, R, 13, 20, 127, 316 Colombo, G., 35 Colzani, G ., 324, 356 Congar, Y., 48,49, 70, 78, 101, 107, 111, 112, 114, 115,130,300,302,304, 309,324, 327, 329,330,333,334, 338-340, 345,347, 348, 353-355, 359, 360, 363 Courth, E , 135, 237 Cozri, A., 11 Crouzel, H ., 167, 171 Cura, S. dei, 11, 59, 275, 371, 389

D
Dâmaso, são, 214 Dayton, S. R, 75 Del Covolo, E., 135 Di Xapoli, G., 237 Didaché, 139 Dídimo o Cego, 206, 221,225, 328, 337, 343, 345 Dionísio Areopagita (Ps.), 367, 385, 407 Dionísio de Alexandria, 177, 178, 246 Dionísio de Roma, são, 177 Domes, H ., 222 Dosetri, G. L., 231 Drecoll, V. H., 217 Dupleix, A., 167 Durrwell, F. X., 97,99,298,324, 341, 357, 375
E Emery, G., 244 Eunômio, 200, 215-219, 228, 256, 305 Eusébio, 191, 192, 195, 196, 197, 201 Eusébio de Cesaréia, 186, 189-191, 195, 197
F
Fantino, J., 151 Farina, R., 190 Fédou, A l, 167, 388 Fee, G. D., 107 Fernandez Sangrador, J. J., 277 Ferraro, G., 107 Filon de Alexandria, 60, 325 Fitzmyer, J. A , 335, 395 Forte, B., 371, 425 Fôschner, F., 237 Franco, E, 267 Freedman, D. N ., 128 Fulgêndo de Ruspe, sâo, 275
G
Galot, J., 251, 324, 342, 357, 389 Gamberini, P., 414 Gamillscheg, M. H ., 356 Garda Lôpez, F., 58, 59 Garda Murga, J. R., 244 Garijo-guembe, 11 Garrigues, J. M., 343, 352, 353, 356, 358 Gerleman, G., 128 Gesché, A , 389 Gilbert, M., 129, 349, 401, 403-406 Gilbert, R, 316, 369, 400 Girlanda, A , 124, 129, 381 Gironés, G., 305 Gnilka,J., 118 Gonzalez, A , 283, 291, 293, 342 Gonzalez, M., 50 Granado, C., 324 Greco, C., 46 Grégoire, J., 348 Gregôrio, 224-226, 228-230, 346, 357 Gregôrio de Nissa, 25, 74,215, 228, 229, 235, 299, 300, 327, 334, 375, 377 Gregôrio di Xissa, 347 Gregôrio Magno, 338 Gregôrio Xazianzeno, 23, 74, 210, 215, 223, 224,227,229,255,256,275,299,324, 346, 362, 407 Gregôrio o Taumaturgo, 390 Gregôrio Palamas, 336, 354 Greshake, G., 34, 46, 49, 51, 268, 269, 274,
277,283,285,288,291,293,308,309,318, 341, 342, 361, 367, 370, 372, 376, 377 Grillmeier, A., 86,178,180,184,186-188,190- 192, 195, 236
H Haag, E., 127 Halleux, A. de, 232 Hanson, R. P. C., 184, 186-188, 193, 195, 198, 203,205,214,220,223,226,229,230,234 Haya Prats, G., 109 Hegel, G. W. E, 46-48, 95 Hemmerle, K., 376 Hengel, M ., 65 Henne, Ph., 139, 143 Hernias, 138-140 Hilário de Poitiers, santo, 13, 51, 82, 101, 106, 184, 199-202,207,208,248,257,269,274, 300, 321,324, 335-337, 343, 365, 375, 388 Hilbeiatfa, B. J., 50, 130, 280, 292, 324, 341 Hipólito de Roma, 105, 164, 165, 179, 334 Holzer, V , 283, 316, 318, 413 Hormisdas, papa, 294 Horn, E W., 107 Huculak, B., 276 Hugo de São Vítor, 330

I Inicio de Antioquia, santo, 72,73, 137,138,387 Ireneu de Lião, santo, 72, 73,77, 84, 105,132, 148, 151-154,160,162,163, 192,208, 320, 327, 334, 368, 422, 423 Irineu, 153
J
Jeirni, E., 128 Jeremias, J., 58, 61, 67, 126 Jerônimo, são, 200 João da Cruz, são, 333 João Damasceno, são, 28, 74, 255, 275, 276, 348, 377, 384, 385 João Paulo H, 16, 24, 38, 43, 59, 79, 80, 83, 114,292,325, 326,340,341, 344, 359,390, 391, 397, 400, 401 Joaquim de Flora, 237 Jüngel, E , 26,87, 89,90,93,94, 372,410,411, 414-419 Justino, são, 38, 79, 141-147, 150, 152, 162, 164, 375 K Kannengiesser, Ch., 202 Kant, L, 30, 31, 415 Kasper, W., 21, 25, 34, 35, 43, 45-47, 64, 70, 96, 244,245, 262, 269,276, 279, 282, 285, 286,289,298,302, 305,309, 319, 326, 333, 341, 342,359,362, 370,371, 373, 376, 377, 389, 403 Kehl, M., 85, 342 Kelly, J. N. D., 193, 198, 352 Kitamori, K , 389 Kuschel, K J., 100
L Ladaria, L. E, 43,68, 70, 73,82,101, 106, 126, 129, 138,191,208,209,212,219,257,261, 263,264,300, 302,317,333,334,337, 348, 374, 398 Lafònt, G., 50, 83, 419 Lambiasi, E, 107, 324 Lampe, G. W. H., 75 Lang, B., 127 Latourelle, R., 13, 31 Lauret, B., 35 Lavatori, E., 324, 325 Leão Magno, são, 70, 352 Leão Xin, papa, 75, 300, 334, 342 Lentzen-Deis, E, 71 Léon-Dufòur, X., 104 Livingstone, E. A., 388 Lonergan, B., 282, 289 Löser, W., 85 Lossky, V , 313 Lucas, J. de S„ 21, 67,69,71, 81,95, 103, 105, 109 Luislampe, P., 222 Lutero, M., 16, 86
M Maggioni, B., 90, 118 Malet, A., 269 Manaranche, A., 23 Maraldi, V., 324 Marangon, A., 124 Marcei D’ançyre, 192 Marcelo de Andra, 189-191, 197, 199, 232 Marchesi, G., 83, 316 Mário Vitorino, 336 Martin, J. R, 136, 375
Martin Velasco, J., 58 Mardnelli, R, 316 Martinez Camino, J. A., 414 Marzotto, D ., 374 Máximo Confessor, sáo, 302, 347,352, 354,356 Medermott, J. M., 289 Mcdonnell, R., 71 MeUoni, A., 127 Melotti, L., 426 Menozzi, D., 127 Meis, A., 144 Meunier, B., 202, 216, 217 Milano, A., 31, 46, 158, 262, 265, 277, 279, 285, 291, 293, 370, 408, 413, 414 Milano, A., 71, 228 M oingt,J., 160 Moltmann, J., 42,87-89,94,279,285-289, 304, 317, 356, 323, 324, 328, 357, 366 Mondin, B., 119 Moreschini, C., 225, 228, 347 Mucd, G., 46 Mühlen, H., 75, 76, 290-292, 324, 325, 340, 341 Müller, G. L, 33, 35 Müller, Ph., 394 Munier, Ch., 142

o
O’collins, G ., 64 Odasso, G., 381 O’donnell, J., 285 Olivetti, M. M ., 316 O’Neil, J. C., 108 Orbe, A., 13, 72, 73, 79, 138, 142-145, 152- 155,160-165,167-174, 177,217, 249, 315, 327, 329, 357, 368, 422 Orígenes, 106,151,166,168,169,171-176,178, 180,188-190,193,196, 197,303, 315,345, 348, 387, 390
P
Paatford, A., 344 Padovese, L., 219 Palakeel, J., 408 Pannenberg, W., 35,36,48,205,288, 305-308, 312, 317, 323,336, 371,372,375, 377,378, 384, 414, 417 Pastor, F. A., 138-140 Paulo de Samosata, 178, 196 Paulo VI, 238 Pavan, R, 31, 46, 158, 262, 277 Pedro Lombardo, 33, 41, 273, 371 Pelágio I, 352 Pelland, G., 167, 177, 192 Penna, R., 105, 110, 111 Pesch, R., 96 Pietras, H., 179, 180, 205 Pikaza, X., 11, 46, 252, 298, 353, 405 Pio XI, 359 Platão, 144, 148, 401 Pohlmann, G., 408 Popkes, W., 84 Porfírio, 221 Porro, C., 361, 371 Porsch, F, 112 Potterie, I. de la, 71, 104 Pottier, B., 228-230 Pottmeyer, H. J., 393, 397, 398 Pouchet, J. R., 222 Prades, J., 332 Prenter, R., 372 Prestige, G. L., 234 Przywara, E., 402, 405-407, 410, 414
R
Rahner, K., 25, 29, 34, 37, 39-45, 48, 50, 58, 93, 277, 279-286, 289, 293, 298, 312, 314, 318,321, 323,325,366, 371,388,403,419, 422 Ratzinger, J., 35, 285, 291, 292 Ravasi, G., 124, 129, 381 Refoulé, F, 35 Ricardo de São Vítor, 13,251-254,265-267,290, 292, 309, 315, 338, 342, 350, 369 Ricken, F, 187 Ritter, A. M., 231, 234 Rius Camps, J., 168 Rodriguez Garrapucho, E, 90, 414 Romero Pose, E., 11, 14, 153 Rossano, R, 124, 129, 381 Rousseau, J. J., 29 Rovira Belloso, J. M., 33, 125, 244, 250, 277, 285, 293, 303, 380, 383, 386, 399, 406 Ruggieri, G., 127
S Sattler, S., 127 Salvati, G. M., 42, 83, 243 Scarpar, G., 27 Schädel, E., 11
Scheeben, M.J., 75, 292 Scheffczyck, L., 21, 23, 33, 35, 38, 45, 128, 244, 318, 370, 377, 386 Schelle, U., 105 Schiersee, F. J., 99 Schlier, H., 66 Schlosser, J., 58, 61 Schmaus, Ai, 401 Schmidt, W. H., 128, 129 Schmidtbaut, H. Ch., 244 Schnackenburg, R., 26, 104, 116, 319 Schneider, G., 61 Schneider, Th., 35, 127, 289, 361, 391 Schniertshauer, M., 253, 265 Schoonenberg, R, 48, 282 Schulte, R., 128, 298, 363 Schürmann, H., 69 Schütz, Ch., 107, 130 Seibt, K., 192 Sequeri, R, 393 Sesboül, B., 135, 194, 198, 202, 216, 217, 221, 231, 235, 236, 396, 398 Sieben, H., 217, 222, 223 Silanes, N., 28, 46, 353, 405 Simoens, Y., 104, 105, 374 Simonetti, M., 140, 142, 148, 152, 167, 172, 173, 175-177,179, 184,185, 188,190, 192, 193, 195-198,200,202,203,205,210,213, 214,219,221,223,226,228,230,234,235, 321, 345 Simonis, W., 38 Smulders, R, 211 Söding, Th., 26, 372 Söhngen, G., 411 Spiteris, Y., 305, 356, 371 Splett, J., 46, 47 Stagiiano, A, 33,50, 127,244,298,371,376,377 Stanisloae, D., 371 Stead, Ch., 186 Steward-sykes, S., 140 Studer, B., 135 Sullivan, F. A., 29 Sykes, S. W., 75

T
Tadano, 144, 145, 146, 368 Tapken, A., 13 Teöfilo de Antioquia, 147-150, 163, 246 Teran Dutari, J., 402 Tertuliano, 27,42, 79, 145,151, 152, 156-166, 171, 174,176,177, 179,192,208,209,211, 246, 259, 262, 321, 345, 348, 365, 374 Theobald, Ch., 396 Tomás de Aquino, santo, 13, 38, 40, 41, 49, 325,244,245,248,260,264,267,272,277, 285, 300,302,335, 343,368, 398,401,402, 405-407 Tòrrance, A. J., 408 Torres Queiruga, A., 298 Toschi, M., 127 Turrado, A., 250
u
Uribarri, G., 149, 158, 164, 177, 178
V
Van Cangh, J. M., 127 Vanhoye, A., 83 Vanier, R, 244 Vaux, R. de, 125 Vercruysse, J., 27 Víctrírio de Rouen, 352 Vílchez, J., 394 Vives, J., 389 Vorgrimler, H., 126, 318
w
Wehr, L., 115 Weinandy, Th., 108 Welker, M., 324 Werbick, J., 49, 292, 293, 316, 361 Westermann, C., 128 Widdicombe, R, 167, 202 WiUonghby, B. Z., 128 Wolinski, J., 135 Wollenweider, S., 329
Y
Yildiz, E., 71
z
Zani, A., 105, 164, 165 Ziegenaus, A., 35 Zimmerli, W., 125 Zizioulas, J., 371 Zubiri, X., 293, 369, 400
Este livro foi composto nas famílias tipográficas Swis 721 e Janson Text e impresso em papel Offset 75g
Editoração, Impressão e Acabamento Rua 1822, n. 347 • Ipiranga 04216-000 SÃO PAULO, SP Tel.: (0**11)6914-1922