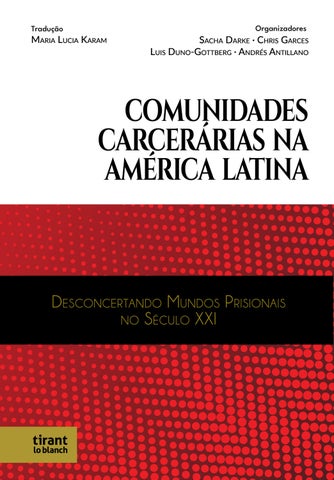CARCERÁRIASCOMUNIDADESNAAMÉRICALATINASAChADARkEChRISGARCESLUISDUNO-GOTTbERGANDRÉSANTILLANODESCONCERTANDOMUNDOSPRISIONAISNOSÉCULOXXI Organizadores
Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch. Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 2909, sala 44. Bairro Jardim Paulista, São Paulo - SP CEP: 01401-000 Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com www.tirant.com/br - www.editorial.tirant.com/br/ Impresso no Brasil / Printed in Brazil
CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Copyright © [cada autor, como especificado nos respectivos capítulos], sob licença exclusiva de Palgrave Macmillan, parte de Springer Nature. Todos os direitos reservados. C739 Comunidades carcerárias na América Latina : desconcertando mundos prisionais no século XXI [livro eletrônico] / tradução de Maria Lucia Karam; Sacha Darke, Chris Garces, Luis DunoGottberg, Andrés Antillano (Org.). – 1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 9.562Kb;2022.livro digital ISBN: 978-65-5908-382-4 1. Direito criminal. 2. Comunidades carcerárias. I. Título. CDU: 343.811
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).
10.53071/boo-2022-07-04-62c2350ddf6a2
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México Juarez Tavares
Tradução da edição em língua inglesa: Carceral Communities in Latin America: Troubling Prison Worlds in the 21st Century edited by Sacha Darke, Chris Garces, Luis Duno-Gottberg and Andrés Antillano
Copyright© Tirant lo Blanch Brasil Editor Responsável: Aline Gostinski Assistente Editorial: Izabela Eid Capa e diagramação: Diego Eduardo Dill Bibliotecária Elisabete Cândida da Silva - CRB-8/6778 DOI:
Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil Luis López Guerra Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha Owen M. Fiss Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA Tomás S. Vives Antón Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha
CARCERÁRIASCOMUNIDADESNAAMÉRICALATINASAChADARkEChRISGARCESLUISDUNO-GOTTbERGANDRÉSANTILLANODESCONCERTANDOMUNDOSPRISIONAISNOSÉCULOXXI
MariaTraduçãoLuciaKaramOrganizadores
NSUMÁRIOOTASSObREOSAUTORES ..................................................................................... 7 ÍNDICE DE IMAGENS ............................................................................................ 11 1. REfLEXIvIDADE ETNOGRÁfICA E ÉTICA COMUNITÁRIA NA NOvA ZONA DE ENCARCERAMENTO MASSIvO ................................................................................. 13 Chris Garces e Sacha Darke PARTE I COMUNIDADES CARCERÁRIAS 2. QUANDO PUNIR NãO É DISCIPLINAR .............................................................................. 43 Andrés Antillano 3. COMUNIDADES PRISIONAIS AUTOGOvERNADAS ..................................................... 60 Sacha Darke 4. PUNIçãO EXTRAjUDICIAL DE ESTUPRADORES PRESOS NO bRASIL ............................. 81 Kristen Drybread 5. DOIS REGIMES DE CONfINAMENTO EM TENSãO: REfORMA PRISIONAL PARCIAL NA REPúbLICA DOMINICANA ..................................................................................... 95 Jennifer Peirce 6. NA PRóXIMA vEZ, fOGO: GANGUES, PRISõES E A IMAGEM DO APOCALIPSE EM hONDURAS ..................................................................................................... 112 Jon Horne Carter 7. COLONIALIDADE CARCERÁRIA NA vENEZUELA: UMA TEORIZAçãO PARA ALÉM DO ESTADO PENAL LATINO-AMERICANO ................................................................................. 126 Cory Fischer-Hoffman PARTE II REfLEXIvIDADE ETNOGRÁfICA 8. O COMPLEXO PENAL MATA ESCURA: UMA ANÁLISE DAS RELAçõES DE vIZINhANçA COM A PRISãO NO NORDESTE DO bRASIL ............................................................ 146 Hollis Moore 9. A COMUNIDADE DE CRENTES: LEI, RITUAIS E MAGIA EM UMA PRISãO bOLIvIANA AUTOGOvERNADA............................................................................................... 165 Francesca Cerbini
10. ALIANçA CARCERÁRIA: PROfISSIONALIZAçãO vERNACULAR E CONTENçãO NO TRATAMENTO DE DROGAS EM PORTO RICO ............................................................ 179 Caroline Mary Parker 11. fUTILIDADE E NECESSIDADE DOS DIREITOS hUMANOS EM UMA ERA DE hIPERINfLAçãO CARCERÁRIA .......................................................................... 194 Loïc Wacquant 12. CONCORRêNCIA E CONLUIO ENTRE A jUSTIçA CRIMINAL E ATORES NãO-ESTATAIS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO bRASIL ............................................................ 204 Fiona Macaulay 13. O fANTASMA DO MASSACRE AINDA CONTA SUAS hISTóRIAS.MORTE E ORDEM SOCIAL EM PRISõES COLOMbIANAS ..................................................................................... 221 Libardo José Ariza e Manuel Iturralde PARTE III ........................................................................................................ 239 “SUjEITOS PERIGOSOS” E INvERSãO bIOPOLÍTICA ................................................. 239 14. ALÉM DO CEMITÉRIO DOS vIvOS: UMA INvESTIGAçãO DO DESCARTE E A POLÍTICA DE vISIbILIDADE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NICARAGUENSE ................................. 240 Julienne Weegels 15. vIDA ESPIRITUAL E RACIONALIZAçãO DA vIOLêNCIA: O ESTADO DENTRO DO ESTADO E A ORDEM EvANGÉLICA EM UMA PRISãO vENEZUELANA......................................... 260 Luis Duno-Gottberg 16. ORDEM CARCERÁRIA, MEDIAçãO E REPRESENTAçãO: fICçãO E ETNOGRAfIA EM UMA PRISãO vENEZUELANA ........................................................................................ 273 Chelina Sepúlveda e Iván Pojomovsky 17. ENCARANDO O PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC): OLhAR ETNOGRÁfICO SObRE A ‘MAIOR GANGUE PRISIONAL’ DO bRASIL .................................................. 286 Karina Biondi 18. CONCLUSãO PARA COMUNIDADES CARCERÁRIAS: LUTA E CARNAvAL NOS MUNDOS CARCERÁRIOS LATINO AMERICANOS ..................................................................... 300 Andrés Antillano e Luis Duno-Gottberg
7
NOTAS SObRE OS AUTORES
Libardo José Ariza é Professor na Faculdade de Direito da Universidad de los Andes (Bogotá-Colômbia). É atualmente codiretor do Grupo de Prisiones (uma assessoria jurídica). Seus interesses acadêmicos e de pesquisa se dirigem para a Criminologia, a Sociologia da Punição, Sociologia do Direito, Direito Penal e Direito Constitucional. Karina Biondi é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Leciona na Universidade do Estado do Maranhão (UEMA), onde coordena o Laboratório de Estudos de Antropologia Política. Seus interesses de pesquisa incluem presos, criminosos e tecnologias de controle do crime e punições. É autora de Junto e Misturado: Uma Etnografia do PCC, publicado nos Estados Unidos da América sob o título Sharing This Walk: An Ethnography of Prison Life PCC in Brazil (ganhador do APLA 2017 Book Prize) e Proibido Roubar na Quebrada: Território, Lei e Hierarquia no PCC (ganhador do LASA Brazil Section Book Prize 2019).
Sacha Darke é Professor de Criminologia na University of Westminster, professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e filiado ao King’s Brazil Institute, King’s College London. Seus interesses incluem a ordem prisional brasileira e a educação superior em prisões. É membro fundador
Francesca Cerbini é pesquisadora senior no Centro de Pesquisas em An tropologia da Universidade do Minho (UMinho). Realizou trabalho de campo etnográfico, especialmente na Bolívia sobre a vida cotidiana na autoadministrada prisão masculina de San Pedro (La Paz) e no Brasil sobre a epidemia de dengue e o engajamento de comunidades locais em questões relacionadas à saúde pública. No CRIA-UMinho, desenvolve atualmente um trabalho etnográfico de longo prazo sobre pluralismo religioso em prisões portuguesas.
Jon Horne Carter é um antropólogo sociocultural que escreve sobre criminalidade, estética e soberania. É Professor Assistente de Antropologia na Appalachian State University e codiretor do AppState Ethnography Lab. Trabalha em Honduras desde 1997.
Andrés Antillano é Professor e Diretor do Departamento de Criminologia na Faculdade de Direito e pesquisador no Instituto de Ciências Criminais, ambos da Universidad Central de Venezuela. Tem escrito diversos artigos e ensaios sobre prisões, polícia, violência e gangues.
8
Luis Duno-Gottberg é Professor na Rice University, especializado na cul tura caribenha dos séculos dezenove, vinte e vinte e um, com ênfase em raça e et nia, política, violência e cultura visual. No livro que está preparando, Dangerous People: Hegemony, Representation and Culture in Contemporary Venezuela, examina a relação entre mobilização popular, política radical e cultura. Duno -Gottberg lecionou na Universidad Simón Bolívar em Caracas, Venezuela, e na Florida Atlantic University (FAU) em Boca Raton. Foi diretor do Departamento de Estudos Caribenhos e Latino-americanos, quando estava na FAU, onde tam bém dirigiu o Mestrado em Literatura Comparada.
da British Convict Criminology e autor de Conviviality and Survival: Co-Produ cing Brazilian Prison Order (2018), publicado no Brasil sob o título Convívio e Sobrevivência: Coproduzindo a Ordem Prisional Brasileira (2019). Kristen Drybread é antropóloga cultural, baseada na University of Colorado, Boulder. Escreve sobre homicídios e estupros em prisões, corrupção políti ca e os significados de sepulturas não identificadas. Seu atual projeto versa sobre relações entre cidadania e violência no Brasil.
Cory Fischer-Hoffman é Professora Assistente Visitante de Negócios In ternacionais no Lafayette College. Obteve seu PhD em Estudos Latino-Ameri canos, Caribenhos e Latinos nos EUA na University of Albany em 2016. Sua tese focalizou a formação do regime prisional na Venezuela. Seu trabalho como jornalista, produtora de rádio e história oral molda sua pesquisa sobre mídia nas prisões e o trabalho reprodutivo de gênero nas visitas prisionais na Venezuela. Após se transferir para Bethlehem, Pennsylvania, para um pós-doutorado em Humanidades Digitais na Lehigh University, iniciou seu próximo grande pro jeto: traçar a história das operações de mineração de ferro da Bethlehem Steel Corporation na América Latina.
Chris Garces leciona na Universidad San Francisco de Quito (USFQ), como Professor Pesquisador de Antropologia. Seus interesses etnográficos vão do estudo da política e da religião – ou teologias políticas contemporâneas – ao descontrolado desenvolvimento global de políticas estatais penais e à história das intervenções humanitárias católicas na América Latina.
Manuel Iturralde é Professor na Faculdade de Direito da Universidad de los Andes (Bogotá-Colômbia) É atualmente codiretor do Grupo de Prisiones (uma assessoria jurídica). Seus interesses acadêmicos e de pesquisa se voltam para a Criminologia, Sociologia da Punição, Sociologia do Direito e Direito Penal.
Fiona Macaulay é Professora no departamento de Estudos sobre a Paz e
Hollis Moore é Professora Assistente no Departamento de Direito e Es tudos Jurídicos da Carleton University. Obteve seu PhD em Antropologia So ciocultural na University of Toronto (2017). Seus interesses acadêmicos incluem a interseção entre antropologia política e jurídica, etnografia urbana e o estudo de gênero e vida familiar. Realizou um extenso trabalho de campo etnográfico em prisões e no seu entorno no nordeste do Brasil. Em essência, sua pesquisa examina a socialização de uma expansão carcerária desigual. Atualmente desenvolve um estudo longitudinal das trajetórias de jovens brasileiros cujos genitores estiveram encarcerados. Tal projeto focaliza a (re)produção da marginalização através do direito penal, da polícia e do encarceramento, bem como processos intergeracionais de cuidado e (des)criminalização.
9
Jennifer Peirce é doutoranda em criminologia no John Jay College e no CUNY Graduate Center. Sua tese, voltada para pesquisas sobre a experiência de reforma prisional na República Dominicana, foi parcialmente financiada pela Pierre Elliott Trudeau Foundation e pelo Social Sciences and Humanities Re search Council (Canadá). Ela trabalha em pesquisas e políticas voltadas para a redução do encarceramento na América Latina, Caribe e América do Norte.
o Desenvolvimento Internacional na University of Bradford. Trabalhou anteriormente na Anistia Internacional como pesquisadora para o Brasil. Seus interesses de pesquisa se voltam para a reforma do sistema de justiça criminal, direitos humanos e questões de gênero, violência e segurança na América Latina, especialmente no Brasil. Seus projetos de pesquisa em desenvolvimento incluem a transformação das respostas estatais ao feminicídio e o envolvimento de policiais na política no Brasil.
Caroline Mary Parker tem uma bolsa de pós-doutorado em Antropologia Médica no Departamento de Antropologia Social da University of Manchester. Seu trabalho une enfoques de antropologia médica e cultural com questões de saúde pública. Seu foco geográfico é no Caribe e em setores urbanos dos Estados Unidos. Seu trabalho antropológico se engaja em questões de sofrimento social, pobreza e desigualdade; terapêutica de adições, trabalho, além do estado car cerário, liberalismo, tédio e temporalidade. Tem textos publicados em Culture, Medicine and Psychiatry, Medical Anthropology Quarterly, Culture, Health and Sexuality e no New England Journal of Medicine. O projeto de seu primeiro li vro, Carceral Livelihoods in Puerto Rico, examina o uso de trabalho não remune rado como tratamento para dependência de drogas em comunidades terapêuticas porto-riquenhas.
10
Loïc Wacquant é Professor de Sociologia na University of California, Berkeley, e pesquisador no Centre de Sociologie Européenne, Paris. Seus interesses incluem marginalidade urbana, penalidade, carnalidade e teoria social. É autor da trilogia Urban Outcasts (2008); Punishing the Poor (2009), publicado no Brasil sob o título Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos (3ª ed., 2007); e Deadly Symbiosis: Race and the Rise of the Penal State (no prelo).
Chelina Sepúlveda é mestra em Antropologia Social e Etnologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), professora no Departamento de Sociologia da Universidad Central de Venezuela (UCV) e pesquisadora do Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). Seus interesses de pesquisa centram-se na etnografia das classes populares. Nessa perspectiva, tem abordado o tema da violência e conflitos sociais, relacionando-os aos processos de exclusão, sob o ponto de vista da transformação das relações entre o estado e as comunidades pobres. Ela desenvolveu trabalhos etnográficos em instituições penitenciárias e contextos urbanos pobres.
Julienne Weegels é Professora Assistente de Estudos Latino Americanos no Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA), University of Amsterdam. Tem realizado pesquisas etnográficas extensivas multilocalizadas no sistema prisional da Nicarágua e em seus arredores. Sua pesquisa se centra em experiências de (ex) presos sobre o encarceramento e o estado, violência e política da (des)ordem.
Iván Pojomovsky é doutorando em Sociologia na Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, Brasil. Tem realizado trabalhos etnográficos sobre responsabilidade policial, violência e mecanismos de participação, todos em con textos populares urbanos na Venezuela. Atualmente, pesquisa diferentes formas de autoadministração de presos na Venezuela e no Brasil, sob uma perspectiva comparada.
11
.
Imagem 13.1 – Buracos de balas no vidro blindado do Principal Posto de Guarda na Prisão La Modelo em Bogotá, (Juan Antonio Monsalve ®) Imagem 15.1. – Internos reunidos pelo pastor para assistirem filme produ zido dentro da prisão. Esses homens cumprem pena em Parahuachón, estando, ao mesmo tempo, confinados no El Centro de Rehabilitación por terem quebrado la rutina, isto é, terem cometido diferentes tipos de infrações, tais como deixar de pagar dívidas, desrespeitar membros do “el carro”, violar códigos morais da pri são. Uma dupla forma de encarceramento: obviamente esses internos não podem deixar Parahuachón, nem deixar o Centro de Rehabilitación sem a devida autorização do Pran e, em segundo lugar, do pastor. A rigidez da vida quotidiana nesse espaço conflita com a “liberdade” em outros prédios da prisão (Foto LDG 2014) Imagem 15.2 – Um pastor de uma das três igrejas supervisiona Parahuachón após o término do serviço religioso. Da janela, pode ver todo um lado do estabelecimento, onde muitos internos se reúnem para conversar, praticar espor tes ou se engajar em diversas transações. A sala, agora vazia, guarda objetos pre ciosos: a congregação foi capaz de comprar instrumentos musicais e um sistema de som. São bens valiosos dentro da prisão, mas ninguém ousa levá-los. La ruti na, o código prisional, garante a ordem, isto é uma estrutura social em que toda infração é punível, eventualmente até mesmo com a morte (Foto LDG 2015) Imagem 15.3 – Na superlotada prisão de Parahuachón, espaço é luxo e, naturalmente, sinal de poder. Essa cela abriga um Pastor que conseguiu seu posto através de seu testimonio: um registro comprovado de bravura e probidade aos olhos de outros membros da congregação, mas especialmente, aos olhos do Pran No lado esquerdo da fotografia está a gravata caracteristicamente usada por todos os evangélicos para circular pela prisão. O código de vestimenta (gravata e camisa social), juntamente com a exibição da Bíblia, identifica os membros da congregação, separando-os da população carcerária em geral. Essa identidade geralmente os protege de formas explícitas de violência na prisão, embora ninguém esteja isento de la rutina Imagem 15.4 – Um sólido portão de ferro guarda a entrada de uma das igrejas de Parahuachón. Gariteros (vigias), soldados do Pran, se posicionam do lado de fora. Do outro lado, um membro da congregação mantém a chave do cadeado. A fronteira entre os dois mundos é claramente demarcada, policiada e administrada. Um interno pode pedir asilo na igreja, mas é impossível evitar o controle do poder secular. Evangélicos podem optar por resgatar determinados
ÍNDICE DE IMAGENS
12 presos, saindo da igreja e rodeando-os com seus corpos, ao mesmo tempo em que brandindo uma Bíblia. O Pran pode ou não dar permissão para que o interno permaneça na igreja e, em alguns casos, pode exigir que o ofensor seja entregue para punição. Por essa razão, os pastores avaliarão cuidadosamente o privilégio de salvar a vida de um interno. Em uma de nossas visitas, ocorreu tal situação: uma comoção silenciosa tomou conta da prisão, enquanto se desenvolviam discussões entre o Pran e o pastor. Essas conversações tinham um alto nível de formalidade, cada parte envolvida avaliando cuidadosamente o custo/benefício de conceder ou não o Imagemasilo.
15.5 – Após uma apaixonada conversa de um dia inteiro sobre re ligião e vida em Parahuachón, um pastor se postou diante de uma ampla abertura conectando os dois lados da Torre. Sua voz se tornou inesperadamente fraca. De repente, ele parecia cansado e sem inspiração, enquanto me contava sobre seus planos de “voltar para o mundo” (su regresso al mundo) – frase usada por internos para indicar o mundo que os esperava do lado de fora da prisão. Seu plano era o de se filiar a outra congregação, de todo modo ligada a Parahuachón. A porosidade da prisão se tornou óbvia, com um giro opressivo: alguém está, de verdade, finalmente fora?
NA NOvA ZONA DE ENCARCERAMENTO MASSIvO
13 1. REfLEXIvIDADE ETNOGRÁfICA E ÉTICA COMUNITÁRIA
ChRIS GARCES E SAChA DARkE12
necessidade
Quaisquer que sejam as discussões sobre prisões na América Latina ou no Caribe hoje, o boom de construções de prisões por toda a região sinaliza uma imediata e urgente de novos tipos de estudo e diagnósticos críticos – e uma revisitação à ética comunitária. O Hemisfério Ocidental para além da América do Norte ocupa posição chave em qualquer estudo do último quarto de século sobre a aceleração do encarceramento global. Quase todas as populações carcerárias de diversos países dobraram ou triplicaram desde a metade e fim dos anos 1990: números nacionais se aproximaram – e às vezes ultrapassaram – 300 presos por cem mil habitantes. Com efeito, os índices de encarceramento na América Latina e Central cresceram mais do que em qualquer outra região do mundo, de aproximadamente 650.000 em 2000 para 1,5 milhão em 2014 (Wal msley 2018). Todos os países latino-americanos têm uma população carcerária bem superior à média global, submetendo mais pessoas à vida em celas do que o faziam em 2000 (ibid). Além disso, na maior parte dos territórios, o crescimento da população carcerária excedeu em muito o aumento dos registros policiais de crimes violentos graves. Essa tendência global vai gerando problemas éticos e desconfortos práticos em toda uma série de contextos nacionais, especialmente quando as taxas de encarceramento cresceram proporcionalmente mais rápido do que a curva da população em geral – de forma ainda mais desconcertante em estados formalmente democráticos – com múltiplas e mal-entendidas consequências colaterais e desdobramentos político-econômicos. Números nacionais brutos situam melhor essa tendência. Entre os países pesquisados nesse livro, a taxa de encarceramento na Nicarágua, por exemplo,
1 Sacha Darke gostaria de agradecer o apoio de Leverhulme Trust, onde, atualmente, é pesquisador associado (concessão RF-2020-373\8). Suas pesquisas se voltam para o autogoverno comunitário em prisões brasileiras dirigidas por ONGs do setor de voluntariado lideradas por ex-presos.
2 C. Garces, Universidad San Francisco de Quito, Cumbaya, Equador. S. Darke, School of Social Sciences, University of Westminster, Londres, Reino Unido.
14
atingiu 278 presos por 100.000 habitantes em 2017, quando em 2000 essa taxa era de 128; esse número agora chega a 332. No mesmo ano, a taxa de encarceramento na Venezuela atingiu 178 (58 em 2000). O Observatorio Venezuelano de Prisiones reconheceu a existência de 57.096 presos em estabelecimento estaduais, mas também estima que outros 32.000 eram mantidos em delegacias – o que, de forma mais precisa, torna a taxa total de presos na Venezuela próxima a 276. O Equador tinha 64 presos por 100.000 habitantes em 2000, número que pulou para 224 apenas duas décadas depois. Honduras registrava 237 em setembro de 2019. O populoso Brasil, naturalmente, permanece sendo o maior encarcerador da região. Com 759.518 presos adultos em junho de 2020, a população carce rária brasileira, em números oficiais, cresceu mais do que 1000 por cento desde dezembro de 1984, quando somente 69.365 adultos estavam presos (Pavarini e Giamberardino 2011); o número de presos brasileiros por 100.000 habitantes atualmente gira em torno de 357 almas. A situação é igualmente drástica por todo o Caribe. Dentre os territórios/nações pesquisados nesse livro, Porto Rico tinha aproximadamente 313 presos por 100.000 habitantes em julho de 2017 e a República Dominicana 243 em setembro de 2019. Outras ilhas caribenhas, não pesquisadas aqui, são igualmente ou ainda mais desconcertantes: Trinidad e To bago (292), Cuba (510), Ilhas Virgens norte-americanas (412), Guadalupe (814) e Barbados (874), para mencionar apenas algumas. Embora geralmente com po pulações menores, o problema do encarceramento nas Grandes Antilhas só se compara com o dos Estados Unidos, onde a taxa é de 665 por cem mil habitantes (números fornecidos pelo World Prison Brief, acessado em 30 de agosto de 2020). Pesquisas etnográficas sobre prisões e encarceramento na América do Sul e no Caribe demonstram como a condenação/prisão de seres humanos pode de fato ser “normalizada” na prática, mas nunca, em nenhuma hipótese, é efetivamente “normal”. Para começar, os números nacionais geralmente são maiores do que sugerem os relatórios. Os estados são incentivados a publicizar “taxas de encarceramento” favoráveis a interesses instrumentais de governos e grupos fiscalizadores locais ou internacionais observam somente o que podem durante suas eventuais, indispensáveis e breves visitas a prisões. Escapando pelas fendas desses registros formais, há presos nas sombras, indivíduos detidos temporariamente, imigrantes ilegais, adolescentes mantidos em detenção administrativa e pessoas mantidas em prisão domiciliar, além da categoria especial de internos perigosos, mantidos virtualmente incomunicáveis em galerias de segurança máxima. Tais indivíduos, geralmente não registrados em estatísticas federais ou municipais, se somam à labiríntica concentração de facto do estado e ao “desaparecimento público” de populações criminalmente estigmatizadas, condenadas ou rebeldes. Esse livro traz uma poderosa amostra representativa de pesquisa etnográfica voltada para os multifacetados problemas práticos e éticos da aceleração carce
15 rária da região. Para cada novo indivíduo latino-americano encarcerado, os auto res que aqui escrevem observam que uma miríade de vidas quotidianas e futuras é interrompida ou chocantemente alterada pela expansão da população carcerária – a começar, naturalmente, pelos presos e seus entes queridos. Nosso trabalho como um todo é dedicado a eles e a suas formatações de cuidado e de linhas coletivas de luta contra formas abjetas de dominação; ou, mais especificamente, a uma melhor compreensão das modalidades de sobrevivência dos presos latino-a mericanos; aos tantos cidadãos ignorados que atravessam o espaço das prisões ou protegem os presos contra abusos estatais; ou àqueles que fazem com que os presos do estado permaneçam teimosamente não excluídos de suas famílias ou co munidades mais amplas. Esse é o trabalho da etnografia em prisões. Por um lado, nosso livro reúne pesquisas empiricamente fundadas, teoricamente inovadoras, e estímulos ativistas interdisciplinares contra as forças sociais desintegradoras que caracterizam o encarceramento contemporâneo – provando e expondo seus apa ratos visíveis e invisíveis. Por outro lado, cada um desses estudos, informados por trabalho de campo de longo prazo em prisões masculinas, enfatiza as dinâmicas e problemas éticos que ocorrem quando comunidades carcerárias silenciosamente se organizam e tentam navegar nos regimes de reclusão punitiva.
Através de anos de pesquisas colaborativas com pessoas que habitam estabelecimentos prisionais, etnógrafos intuitivamente compreenderam que as co munidades carcerárias, com bastante frequência, existem para desafiar os “nomes” (ou destinos materiais e simbólicos) a elas conferidos por especialistas em prisões não-encarcerados. Contrastando com teorias econômicas dos jogos, abstratos sistemas arquetípicos e cognitivas explicações behavioristas sobre motivações de presos, modelos etnográficos ativistas e autorreflexivos ajudam a compreender as dinâmicas prisionais, os problemas sistêmicos e os danos não intencionais da vida em celas, a partir das perspectivas dos próprios presos. Pesquisas etnográficas, hoje, podem ter sua força empírica, suas limitações e suas tendências de explora ção dos “lados escuros” da vida contemporânea (Ortner 2016), mas o trabalho de campo de longo prazo, em primeira pessoa e teoricamente informado – realizado em estabelecimentos prisionais – traz visões incomuns sobre o que acontece sem ser dito na grotesca tarefa de armazenar seres humanos em estados de custódia punitiva. O modo que propomos de o etnógrafo de prisões sustentar “testemunhos secundários” (cf. LaCapra 2011), em uma problemática “ética de cativeiro” (cf. Gruen 2014), oferece perspectivas humanizadoras, geralmente desconsidera das, para a formação de comunidades amplamente invisíveis ou pouco reconhecidas pelo estado em suas incansáveis obsessões com policiamento, vigilância, violência e controle (Blom e Stepputat 2006). Ao estudo desse interessantíssimo ponto cego nas pesquisas dos mundos prisionais os autores desse livro, a partir de diferentes origens disciplinares, dirigem seu trabalho de campo etnográfico,
16 sutis visões políticas e preocupações pessoais. Nesse capítulo introdutório, apre sentamos, assim, uma teoria da comunidade carcerária, demonstrando como o trabalho de campo etnográfico reflexivo permite uma extraordinária profundi dade investigativa sobre essas formações infrapolíticas, ao mesmo tempo em que apresenta um desafio direto à compreensão teórica comum da biopolítica, da soberania e da influência da invisibilidade do encarceramento sobre outras comu nidades e públicos nacionais mais amplos.
CARCERÁRIAS
COMUNIDADES
Por uma questão de escolha pessoal, etnógrafos frequentemente colocam seus próprios corpos em áreas problemáticas e desconfortáveis de modo a obter uma visão melhor, antes desconhecida, dessa “nova zona de encarceramento massivo” (Darke e Garces 2017: 2). Diferentemente de outras formas de estudo, no entanto, geralmente não nos detemos em privilegiar o conhecimento, as experiências e os desejos dos próprios presos, um processo que definimos abaixo e que nossos autores abordam com maiores detalhes por todo o livro. Etnógrafos de prisões normalmente são levados a interpretar a vital importância material do coletivismo, levando em conta os múltiplos “mundos”, “redes”, “relações”, ou as “possibilidades” humanas e materiais implicadas na vida dentro dos estabeleci mentos prisionais contemporâneos. Rastreamos ativamente as formas pelas quais os presos sofrem e buscam prazeres delimitados, sujeitos que estão a deliberadas privações impostas pelo estado, ao mesmo tempo em que tentamos estabele cer uma paz contingencial ou minimizar modalidades de engenharia social de sumanizadora. Cada autor desse livro demonstra como diferentes modalidades de comunitarismo prisional brotam organicamente em prisões masculinas, nem sempre consciente ou instrumentalmente, em resposta a privações em série de direitos civis ou ao desenraizamento consequente à ausência de seus entes queri dos, amigos, colegas ou vizinhos. Quando se é jogado no complexo penal, novas relações e afinidades eletivas logo se tornam fundamentais para a sobrevivência. Em consequência, as próprias prisões se transformam no que se poderia chamar de máquinas geradoras de comunidade, estejam ou não funcionários de penitenciárias, atores estatais, ou a mídia popular ou social dispostos a reconhecer esse arraigado efeito colateral do encarceramento como tal. É exatamente por isso que nosso livro poderia facilmente ter se intitulado Comunidades Anticarcerárias. O desejo intrínseco de sobreviver ao encarceramento, ou abraçar formas delimitadas de prosperidade carcerária, gera novas e geralmente mal-entendidas variedades de communitas, forças ritualizadas de união efervescente operando dentro e ao mesmo tempo à máxima distância do “estado” – ou, pelo menos, extremamente distante dos variados e autodenominados experts que tentam ver a prisão “como um estado” (cf. Scott 1998). Todos os que testemunham as autogo
Comunidades carcerárias se desenvolvem através das prisões masculinas latino-americanas e caribenhas como coletivos ou subculturas em alas de galerias; em grupos com diferentes afinidades estrangeiras, nacionais ou regionais; solida riedades terapêuticas ad hoc; conselhos de lideranças prisionais; blocos infrapo líticos de empreendedores violentos; ou simplesmente como grupos de amigos – eventualmente se tornando extensões de facto de partidos políticos legítimos ou fora da lei; gangues internacionais ou locais; paramilitares ou guerrilhas; cartéis de drogas multinacionais; e mesmo presos ex-membros de forças policiais ou militares. Comunidades carcerárias emergem, portanto, intra, inter, ou mesmo extra institucionalmente em qualquer complexo penitenciário. O estudo etno gráfico profundo de comunidades carcerárias permite uma melhor compreensão de como – além de ser um campo burocrático pouco entendido, mas central, do estado contemporâneo (Wacquant 2003, 2005, 2008) – a própria prisão se metamorfoseou em um projeto amplamente rejeitado, não- ou paraestatal de for mação comunitária. E mais: a extensão em que as prisões inconscientemente se tornam vetores de/para um “desenvolvimento comunitário” tem sido sistemática e muitas vezes tragicamente ignorada. As prisões exercem “força à distância” tanto dentro quanto fora de seus li mites físico-materiais. Considere-se, por exemplo, o exteriorizado papel demonizador da prisão – talvez a mais conhecida manifestação reacionária e negativa de respostas públicas às comunidades carcerárias. Especialmente na América Latina e no Caribe, onde a lei é desavergonhadamente usada, de forma mal disfarçada, como um motivado instrumento de injustiça e repressão (e.g. Castro 1987; Zafa roni 1989; Aguirre e Salvatore 2001). Audiências nacionais que advogam políti cas e esforços persecutórios de tolerância zero, juntamente com a criminalização de determinados indivíduos urbanos – jovens pobres, de pele escura, das classes trabalhadoras e, crescentemente, refugiados econômicos –, celebram o fato de as prisões, ou suas nefastas ações concretas à distância, inocularem os cidadãos com sentidas e iminentes ameaças à segurança individual, familiar e/ou econômica privada. A prisão se transforma em uma lembrança concreta de como esforços
17
vernadas comunidades prisionais latino-americanas e caribenhas, com demasiada frequência, se veem afetados pela tendência ocidentalista de supor que outros países ou regiões são “como os nossos” (cf. Coronil 1996, 2004). Essas suposições etnocêntricas são não só totalmente deslocadas, mas também bastante perigosas. Podem nos tornar cegos às diferenças culturais, étnicas, regionalmente fundadas, alternativamente cosmopolitas. Têm sido frequentemente causa da falência de políticas prisionais importadas, de tamanho único, que, afinal, acabam por fazer mais mal do que bem. De forma mais ampla, desviam nosso olhar de ‘ideias e teorias enraizadas na história e nas experiências das sociedades do Sul [Global]’ (Carrington et al. 2016: 2).
Em nome da defesa da “segurança dos cidadãos”, por exemplo, distritos urbanos inteiros recentemente viram suas culturas públicas e arquitetônicas para lelamente transformadas para prover barreiras físicas e para-choques psicológicos contra o crime e a comunidade carcerária. Manifestações comuns desse desenvolvimento incluem a construção de corredores de segurança comerciais através de políticas de “renovação urbana” (Garces 2004; Gandolfo 2009; Collins 2015); expansão territorial de comunidades privadas fechadas com portões e de casas de classe média e pobre com janelas gradeadas e muros de proteção (Caldeira 2000; Andrade 2007); e os desenvolvimentos verticais ou “Narcotectura”, como edifícios altos e conjuntos de apartamentos high-tech, tecnologicamente fora do alcance de ruas em “áreas urbanas inseguras” (O’Neill eFogarty-Valenzuela 2013; O’Neill 2016). Nesse ínterim, partidos políticos impulsionam ativamente tais respostas materiais privadas e coletivas ao medo da criminalidade, alimentando a demanda pública por políticas de mano dura e permanente construção de prisões – processos complexos psicológicos e sociopolíticos inteiramente dependentes do encarceramento, mais apropriadamente etiquetados como “populismo penal” (Sozzo 2007). As concepções populares de cidadãos sobre comunidade, em todos os casos, têm sido ativamente instrumentalizadas, não somente “nas sombras” ou “longe” das prisões; têm sim se propagado ciberneticamente pari-passo com seu monstruoso e aparentemente ilimitado potencial de concentração-segregação e encarceramento de indivíduos criminalizados (Müller 2013; Carter 2014; Garces 2014a; Hathazy e Müller 2016). As mais influentes pesquisas latino-americanas sobre prisões até hoje têm focado na função centrífuga das políticas estatais neoliberais e pós-neoliberais.
Com efeito, a prisão silenciosamente mudou seu papel em uma sociedade orga nizada estatal: de instituição de reabilitação social a um interiorizado depósito de lixo para armazenamento massivo ou “internação” de indivíduos criminosos (Birkbeck 2011) ou o (i)lógico ponto final neoliberal de uma crescentemente militarizada “punição da pobreza” (Wacquant 2003). Trabalhando com esses pa râmetros fundantes, nosso livro se coloca entre os primeiros trabalhos coletivos a explorar sistemática e comparativamente as múltiplas formas em que rejeitados núcleos de potencial construção comunitária se desenvolvem atrás dos muros das prisões, permitindo circulações ilícitas dentro, através e para além de diferentes instituições penais. Precedentes históricos intelectuais de tal visão da comunidade carcerária, se existentes, incluiriam a sociologia de Durkheim e de seus sucessi
18 de política criminal tacitamente exercem influência psicológica e ontológica por todo o estado. O complexo carcerário latino-americano se torna inseparável dos modernos entendimentos sobre o que é ser um cidadão e o que são os vários outros. Testemunhe um crime em flagrante e então jogue qualquer ofensor (ofen sores) no umbral legal e físico da divisão sociedade-versus-prisão.
Sintomaticamente, transcendendo ou transpassando a questão criminal, a maioria dos etnógrafos regionais segue o tráfego carcerário em corpos, merca dorias, tecnologias, relações de amor e sentimentos de pertencimentos, que os muros da prisão tentam incivilizadamente segregar e apartar. A propalada visão antropológica sobre a mais profunda falência do encarceramento estatal, isto é, a
19
vos interlocutores interdisciplinares. Nessa trajetória do pensamento sociológico, diferentes formas de solidariedade orgânica e manutenção de consciência coletiva sempre requerem uma manifestação material, performática de “comunidade” como representação para localizadas “relações internacionais”, sutilmente exigin do o exercício de soft power (ritual e de ligação), assim como de hard power (tabu, expulsão/abandono) em qualquer processo de construção de uma comunidade ativa (2014[1893], 2008[1912]).
Como Andrés Antillano, Sacha Darke, Kristen Drybread, Jennifer Peirce, Jon Horne Carter e Cory Fischer-Hoffman demonstram nos primeiros capítulos desse livro, nos contextos de Venezuela, Brasil, Honduras e República Do minicana, internos em prisões masculinas latino-americanas são deixados pela administração penitenciária a dirigir as rotinas diárias e a ordem nas galerias, com frequência maior do que se imagina. Darke ilustra o fato de que, no Brasil, presos recém-chegados costumam receber não mais do que um breve registro e um superficialíssimo controle sanitário, sendo diretamente encaminhados em 24 horas aos “líderes dos internos”, ou “representantes dos internos”, para triagem, instrução e cuidado. Fischer-Hoffman enfatiza que, na Venezuela, os chefes dos internos utilizam amplamente sua autoridade para mobilizar e taxar o trabalho na prisão. Por toda a América do Sul e Central, até mesmo o poder disciplinar é deslocado em algumas prisões, sendo formalmente delegado a internos. Com efeito, a “ordem” do estado penal se torna matéria de negociação entre presos selecionados e a administração penitenciária, enquanto a maioria raramente tem necessidade ou motivo para lidar com os funcionários da prisão. Como insis te Antillano, qualquer estudo sobre a ordem prisional latino-americanas deveria partir do “fundo”. Isso parece continuar a ser o caso mesmo nas unidades prisionais mais “modernas”, incluindo as da República Dominicana, onde as autoridades empreenderam esforços concentrados para construir novos estabelecimentos acordes com as regras internacionais de direitos humanos e para contratar fun cionários extras. Peirce explica que os presos da República Dominicana tiveram dificuldades em se ajustar à tentada formalização da disciplina quotidiana e da ordem no tão louvado sistema de “novas prisões” do país. Como Drybread en faticamente nos lembra, a ausência de uma ordem formal, de cima para baixo, também é importante para entender a condição de internos – nesse caso, presos por estupro – cujos crimes fazem com que sejam excluídos e violados por outros presos, com o conhecimento e facilitação tácita por parte dos funcionários.
Ao final do século vinte, os historiadores das prisões latino-americanas chamaram atenção para o fato de que pesquisas sobre “pactos” secretos eram fundamentais para qualquer compreensão do mundo das prisões – tanto no passado, como no presente (Aguirre e Salvatore 2001; Salvatore e Aguirre 2010). Esse livro servirá como uma resposta direta, atualizada e extensiva à sua provocação. A maioria dos cidadãos só raramente tem acesso ao esforço de sobrevivência no dia a dia e aos custos desumanizantes que fazem parte da vida e do trabalho em um complexo penitenciário. Como Carter ilustra
20
chamada porosidade da prisão, cuidadosamente descrita por Cunha (2014), não passa de um espelho a refletir mobilizações clandestinas das próprias comunidades carcerárias. Pactos furtivos sobre “tráficos ilícitos permissíveis” ajudam a faci litar as redes, relações e possibilidades da vida informal da prisão – vias de escape temporárias, tanto dentro quanto fora do complexo penitenciário, minimizando as capacidades inerentemente destrutivas da instituição (Martin and Chantrai ne 2018). Essas forças simultaneamente centrífugas e centrípetas, efetivamente, diluem qualquer ponto de origem singular de e para o tráfego onipresente, crescentemente gerado por sistemas de hiperencarceramento. Pesquisas de campo etnográficas traçam esses movimentos furtivos na prática e mostram como esses reafirmam o problema integral de manter laços relacionais através do tempo, dentro do espaço da própria prisão. Aqui, a tarefa do etnógrafo se torna a de mostrar como a prisão se transforma em uma instituição ativa, embora profunda mente tensa e problematicamente dissociativa. Em uma palavra, materialmente, humanizamos um sistema programado para desumanizar. Etnógrafos exploram esses caminhos multifacetários, muitas vezes ilícitos, para a reintegração psicológica dos presos e seu mitigado usufruir de prazeres comuns, sem cartograficamen te desenhar mapas criminais de consequentes “ameaças”, “riscos” ou “culpas” a serem exorcizados, demonizados ou perseguidos pelos outros não-encarcerados. Ao mesmo tempo, lançamos um refletor cético e de longo alcance para outras pesquisas acadêmicas politizadas, quando tais formas de investigação falham em agasalhar a segurança dos presos e suas formas vividas de relacionamento.
Como em quaisquer projetos infraestruturais de larga escala e trabalho intensivo, o “funcionamento tranquilo” de uma expansiva arquitetura peniten ciária estatal – isto é, cadeias, penitenciárias, centros de reabilitação, prisões de segurança máxima e estabelecimentos detentivos – geralmente requer relações permanentes e de confiança entre presos (ou presos e determinados funcionários da administração), desenvolvimento de um débito acumulado simbólico ou lite ral e tácitos pactos sociais amplamente ignorados na vida civilizada mais ampla. Mais uma vez, esse ponto é particularmente contundente na América do Sul e Central, onde uma das principais consequências do crescimento das popula ções carcerárias tem sido uma igualmente dramática e consequente redução na proporção funcionários/internos.