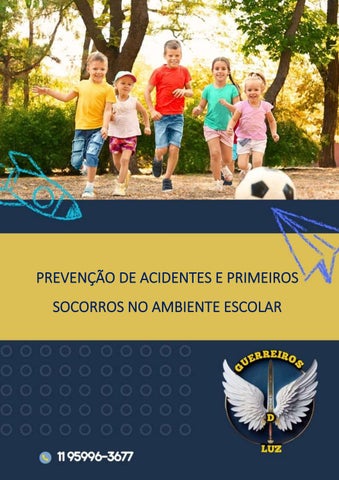PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PRIMEIROS
SOCORROS NO AMBIENTE ESCOLAR
Caro(a) Aluno(a),

A Educação a Distância (EAD) é um formato de ensino no qual professores e alunos permanecem predominantemente em locais diferentes. A interação entre os participantes e os materiais dos cursos acontece por meio de ferramentas e tecnologias de comunicação e informação, geralmente utilizando a internet.
É recomendado que se estude pelo menos uma hora por dia, para conseguir cumprir a carga horária e não ficar sobrecarregado, acumulando matéria e atividades.
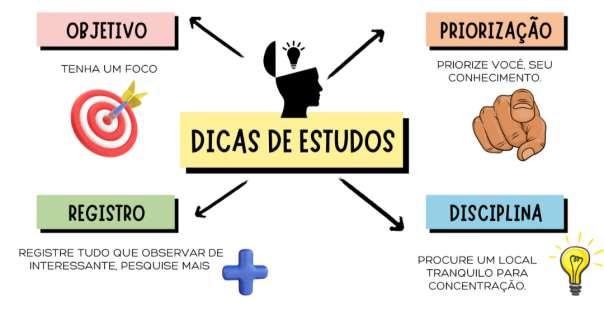
Então, vamos lá...

INTRODUÇÃO

O ambiente escolar é um local propício a acidentes devido ao grande número de crianças e adolescentes que nele se encontra, interagindo desenvolvendo as mais diversas atividades motoras e esportivas, os acidentes na infância e adolescência, além de causarem prejuízos a sua vida, podem causar sequelas, tanto físicas como emocionais, levando até ao insucesso escolar.
Aspectos relacionados ao desenvolvimento geral, assim como específicos: físico, cognitivo, psíquico e de relacionamento, bem como, a idade cronológica de crianças e adolescentes acabam por determinar o acontecimento de acidentes no ambiente escolar.

Neste sentido, devemos considerar o Manual de prevenção de acidentes e primeiros socorros nas escolas, quando este aponta que [...] a criança apresenta interesse em explorar situações novas, para as quais nem sempre está preparada, o que facilita a ocorrência de acidentes. Torna-se, importante, o conhecimento dos acidentes mais frequentes em cada faixa etária, para o direcionamento das medidas a serem adotadas para a sua prevenção. (SÃO PAULO, 2007).

Neste contexto um aspecto importante é a violência que se apresenta cada dia mais explicita no ambiente escolar e seus arredores, sendo os próprios alunos potenciais causadores, elevando o nível de agressividade entre alunos. Este quadro conhecido como bullying também pode ser um fator de acidentes e lesões entre os alunos na escola.
Os acidentes são resultantes, muitas vezes, da inadequação do ambiente ás características bio-psico-sociais dos seres humanos em geral. Logo, a larga maioria dos acidentes poderá ser evitada, se forem implementadas medidas adequadas.
O acidente é causado por um agente externo, junto com o desequilíbrio que ocorre entre o indivíduo e o seu ambiente, permitindo que certa quantidade de energia seja transferida do ambiente para o indivíduo, capaz de causar dano. A energia transferida pode ser mecânica (quedas e trombadas), térmica (queimaduras), elétrica (choques) ou química (envenenamentos).
A lesão é caracterizada por uma alteração ou deformidade tecidual diferente do estado normal do tecido, que pode atingir vários níveis de tecidos, assim como os mais variados tipos de células. As lesões ocorrem em função de um desequilíbrio fisiológico ou mecânico, por trauma direto ou indireto, por uso excessivo de um determinado gesto motor, ou até gestual motor realizado de forma incorreta (Lorete, sd).
Wharley e Wong (1999) advertem que a maioria das lesões acontece durante a participação em esportes de recreação, e não em competições atléticas organizadas, e que lesões graves podem ocorrer durante a prática de esportes de contato intenso ou com pessoas que não estão fisicamente preparadas para a atividade. Os autores lembram, ainda, que a própria atividade impõe risco em maior ou menor grau, mas o ambiente e o equipamento para o esporte ou para a recreação comportam riscos adicionais.
Identificar-se, com base a Simões (2005), que os fatores de risco para a ocorrência de lesões na prática desportiva podem ser definidos em intrínsecos e extrínsecos.
-Os fatores intrínsecos: idade, sexo, estatura, composição corporal, nível de aptidão física, período de tratamento da lesão, questões nutricionais e características psicossociais.
-Os fatores extrínsecos: planejamento, periodicidade, intensidade, condições atmosféricas, equipamentos (acessórios, calçados e vestuário), tipo de modalidade esportiva, locais e instalações esportivas.

Este autor também aponta que as lesões esportivas podem ser divididas em:
-Lesões Agudas: têm como características o aparecimento abrupto da dor e sinais inflamatórios.
-Lesões Crônicas: é o início lento dos sintomas e limitação das funções.
-Lesões Graves: que são rupturas musculares e tendinosas incapacitando o atleta no esporte e até mesmo em sua vida diária.
Veem-se muitas pessoas saírem praticando exercícios sem o mínimo de cuidado na realização das mesmas. Execução de forma incorreta, ignorar um aquecimento prévio e um alongamento, exagero na quantidade, falta de orientação individualizada dos profissionais e, muitas vezes, até a sua própria falta de conhecimento, são alguns dos fatores que causam tantas lesões e problemas aos praticantes.
Para Júnior (2009), a forma de como acontece as lesões através desses mecanismos, são mais bem compreendidas logo abaixo:
-Contato: a origem deste tipo de lesão é o contato traumático. São exemplos, tanto os choques de um atleta com o outro como do atleta com alguma superfície como a baliza, o solo, a tabela de basquetebol, a pilastra da rede de voleibol, etc.
-Sobrecarga dinâmica: descreve aquela lesão resultante de uma deformação causada por tensão súbita e intolerável. A ruptura aguda de um tendão ou um estiramento muscular é frequentemente resultado de uma sobrecarga dinâmica.
-Excesso de uso ou sobrecarga: resultado de um somatório de tensões ou pressões repetidas e não resolvidas em determinado tecido. Frequentemente esses mecanismos são observados no contexto da aplicação de cargas cíclicas ou do excesso de treinamento. Cerca de 30% a 50% estão ligadas ao uso excessivo.
-Vulnerabilidade estrutural: pode contribuir para a fadiga e eventual insuficiência/falha do tecido, secundária à sobrecarga focal, tensão ou estresse excessivo. A hiperpronação do pé durante a corrida, a frouxidão patológica da sustentação de uma articulação pelos ligamentos, o alinhamento defeituoso da extremidade inferior, são exemplos de vulnerabilidade estrutural.

-Falta de flexibilidade: pode levar a desvios no contato articular, iniciando, portanto um ciclo de degeneração articular. Um músculo encurtado, em pré-carga, fica mais vulnerável a tensão.
-Desequilíbrio muscular: é um mecanismo inter-relacionado com o da falta de flexibilidade, e resulta principalmente de um condicionamento e utilização musculares impróprios. Padrões abusivos repetidos de excesso de uso do músculo durante uma atividade esportiva promovem desequilíbrios musculares secundários à fadiga muscular, micro acelerações, formação de cicatrizes, e má adaptação funcional. Um músculo fatigado fica mais vulnerável à tensão.
-Crescimento rápido: é um mecanismo observado na criança ou adolescente em crescimento que pratica esportes. Enfatiza o desequilíbrio e flexibilidade muscular coincidente com as mudanças nas proporções do esqueleto durante a maturação.
Para Simões (2005), as lesões mais comuns que ocorrem na prática da atividade física são:
-Contusão: lesão por trauma direto com amassamento dos tecidos moles, sua magnitude depende da força do impacto e do local acometido;
-Distensão: alongamento tecidual excessivo, com deformidade plástica do local, ocorre no ponto mais frágil da unidade músculo-tendínea no momento do trauma;
-Tendinite: alterações degenerativas cujas sequelas produzem reações inflamatórias agudas ou crônicas nos tecidos;
-Entorse: Ato ou processo de torcer, girar ou rotar em torno de um eixo no qual são lesados os ligamentos e a membrana interóssea;
-Fratura: Perda de continuidade de um osso (ruptura ou quebra) causada por trauma, avulsão ou tração de um ligamento;
-Luxação: Trauma grave que se dá pela perda de contato entre a extremidade óssea e a superfície articular;
-Subluxação: Luxação incompleta ou parcial entre duas extremidades articularesósseas;
-Abrasão: Desgaste da pele por meio de algum processo mecânico.

-Bolha: Vesícula cheia de serosidade ou pus, provocada por atrito ou pressão na superfície da pele, palmar ou plantar.
CAPÍTULO 1: PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA ESCOLA
1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
As medidas de prevenção implicam princípios que remetem ao respeito pelo modo de viver das pessoas e ao prolongamento de sua vida, então seria possível identificar e compreender os itens essenciais das ações destinadas a contribuir com a saúde e prevenir as lesões desportivas:
Prevenção Primária: aquecimento, roupas e calçados apropriados, hábito alimentar saudável, uso abusivo de drogas, hidratação, acomodações desportivas (piso em más condições, irregular, com buracos ou em asfalto de má qualidade e, ainda, sintéticos muito aderentes, colchões protetores para ginástica ou saltos) e outros;
Prevenção Secundária: busca da orientação de um médico, fisioterapeuta ou educador físico antes do início de qualquer prática de Atividade Física, para evitar desconfortos cardiorrespiratórios, músculo esqueléticos e /ou tegumentares ou obter um prognóstico precoce da predisposição às Lesões Desportivas;
Prevenção Terciária: avaliação e reabilitação das alterações ocorridas no corpo e desencadeadas pela Atividade Física, para prevenir problemas maiores, com possíveis consequências fatais, ou a reincidência do dano sob forma crônica.
É no contexto da prevenção de Lesões Desportivas entre praticantes de Atividade Física que os estudiosos vêm focando suas investigações, no intuito de ampliar e adensar o conhecimento sobre o tema observando-se fatores de risco, a fim de melhor compreender a questão controvertida dos benefícios ou prejuízos do exercício físico em casos específicos de

doenças e/ou da terceira idade ou de indivíduos acometidos de lesões por ficarem expostos ao perigo, mesmo não apresentando qualquer acometimento (SIMÕES, 2005).
Os Primeiros Socorros é o atendimento prestado ás vítimas de qualquer acidente ou mal súbito antes da chegada do Médico, da ambulância ou de qualquer profissional qualificado da área de saúde.
Para Garcia (2005), primeiros socorros não se resumem a procedimentos técnicos; uma pessoa pode prestar primeiros socorros apenas conversando com a vítima ou improvisando instrumentos.
Ao prestar assistência a uma vítima de trauma deve-se levar em consideração as implicações das leis da Física no corpo humano, avaliando, através do Mecanismo do Trauma, se houve aplicação de força excessiva, que possa ter causado lesões graves.
SÃO PAULO (2007) As lesões corporais podem ser resultado de qualquer tipo de impacto. No ambiente escolar são comuns, por exemplo, as lesões por quedas e colisões de alunos durante práticas esportivas ou brincadeiras. Embora o observador do acontecimento não possa calcular com precisão a intensidade da força de impacto, este poderá ajudar muito com suas observações sobre variáveis de relevância para estabelecer o Mecanismo do Trauma e sugerir as possíveis lesões. Constituem observações importantes:
- De que altura o escolar caiu;
- Como essa distância relaciona-se com a estatura do escolar (queda de altura que corresponda a 3 vezes ou mais a estatura da vítima é potencialmente mais grave);
- Sobre qual superfície o escolar caiu (cimento, grama, etc.);
- Sinais do impacto (som da batida contra o solo, etc.);
- Qual parte do corpo da vítima sofreu a primeira colisão (cabeça, pé, braço, etc.);
- Movimentos produtores de lesões (corrida, colisão, queda, etc.);
- Lesões aparentes (sangramentos, cortes na pele, inchaços, etc.).
Considerando-se que os acidentes são eventos previsíveis e preveníveis, é fundamental o reconhecimento dos fatores envolvidos na sua ocorrência no ambiente escolar, para que se

possa atuar de forma preventiva e eficaz, evitando se os transtornos e lesões causadas por esses agravos.
2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Agora que você já identificou os maiores riscos para os alunos, confira abaixo quais medidas devem ser tomadas para garantir a prevenção de acidentes na escola.
1. Brigas:
• Brigas podem causar acidentes, como empurrões, arranhados, puxões de cabelo e mordidas. Porém, uma briga não começa com uma agressão, mas sim com desentendimento;
• Os alunos devem ser orientados a buscar soluções por meio do diálogo;
• Uma ótima forma de prevenção de acidentes na escola é separar os alunos que estão envolvidos na briga ou discussão e chamá-los para uma conversa junto aos profissionais da escola. (GEO, 2019)
2. Durante a aula:
• As crianças devem ser orientadas sobre como usar os materiais escolares e equipamentos das aulas de forma adequada;
• Converse com os alunos e explique os riscos dos materiais ou equipamentos os oriente a usá-los de forma segura. (GEO, 2019)
3. Recreio:
• Os alunos brincam, correm e ficam muito agitados, o que pode levar a empurrões, esbarrões e quedas;
• A escola deve contar com supervisores para acompanharem esse momento do dia e o intervalo deve ser aproveitado em um local seguro. (GEO, 2019)


4. Escadas:
• Devem ter corrimões;
• Faixas antiderrapantes nos degraus;
• Setas de sinalização orientando como fazer uma subida e uma descida segura. (GEO, 2019)
5. Vidros quebrados:
• Quando um vidro for quebrado, seus estilhaços devem ser removidos imediatamente;
• A área em que o vidro estava localizado deve ser observada para retirada de qualquer vestígio;
• Se possível, isole o local até que um novo vidro seja colocado. (GEO, 2019)
6. Fiação:
• Os alunos não podem ter acesso ou ver a fiação elétrica da escola;
• Ela deve estar sempre bem protegida e escondida. Para as tomadas, utilize protetores. (GEO, 2019)

7. Luz de emergência:
• Costumam ser utilizadas apenas durante a noite, em caso de falta de energia, mas podem ser úteis durante o dia também;
• Dias nublados e finais de tarde de inverno deixam os ambientes mais escuros, por isso, a luz de emergência se faz necessária;
• Além disso, a escola também deve se prevenir caso promova um evento noturno e sofra uma falta de energia;
• A luz de emergência ajudará a guiar todos dentro do ambiente. (GEO, 2019)
8. Extintores:
• Toda escola deve ter extintores de incêndio;
• A quantidade necessária, o tipo de extintor e os locais em que vão ficar devem ser orientados pelo corpo de bombeiros. (GEO, 2019)
9. Saída de emergência:
• Todos os estabelecimentos devem ter saídas de emergência;
• O prédio deve ser bem sinalizado, orientando os locais das saídas de emergência e sem obstáculos impedindo o seu acesso;
• Pais, alunos, professores e funcionários da escola devem saber onde estão as saídas de emergência. (GEO, 2019)
10. Sinalização:
• Locais perigosos ou que só podem ser acessados por adultos devem ser sinalizados, principalmente sobre os riscos que oferecem. (GEO, 2019)
11. Telefones de emergência
• Hoje em dia, acessamos tudo pelo celular e é difícil registrarmos números de telefone na memória;
• Por isso, a escola deve ter um mural, fácil de localizar, com os telefones de

emergência: corpo de bombeiros, polícia, ambulância, etc.
COMO AGIR DURANTE UM ACIDENTE
A prevenção de acidentes na escola é uma grande preocupação, porém, nem sempre é possível evitar que uma criança se machuque. Caso um acidente aconteça, os colaboradores devem saber como agir. (GEO, 2019)
• A escola deve ter uma enfermaria, com um profissional dedicado para atender as crianças em caso de machucados leves;
• Todos os funcionários da escola devem ter treinamento de primeiros- socorros para atender uma criança em casos mais urgentes, como uma queimadura ou uma criança engasgada;
• Crie um procedimento para socorrer o aluno caso ele precise se deslocar;
• Um profissional acompanhará o aluno até um hospital;
• Inclua uma autorização no contrato que os pais devem assinar para evitar qualquer problema. (GEO, 2019)
3. PLANO DE EMERGÊNCIA
3.1. Plano de Emergência
Este plano será parceiro estratégico da escola, difusor de outros saberes, na contínua busca da otimização de recursos para a construção da cidadania consciente e participada, onde a segurança, será fator determinante.
É por isso imprescindível que todos conheçam o Plano de Prevenção e Emergência.
3.2. Conceito de plano de segurança e emergência
O Plano de Segurança e Emergência é a sistematização de um conjunto de normas e regras de procedimento, a ser adotadas de imediato, destinadas a minimizar os efeitos de catástrofes previsíveis (intempéries, sismos, calamidades, acidentes ou sinistros de qualquer natureza, incluindo o incêndio) permitindo a gestão otimizada dos meios e recursos disponíveis no momento e lugar.
Assim, este plano constitui um instrumento simultaneamente preventivo e de gestão operacional, uma vez que, ao identificar os riscos, estabelece os meios para fazer face ao acidente e, quando definida a composição das equipes de intervenção, lhes atribui missões.
Características essenciais
Na elaboração de um Plano de Segurança e Emergência devem ter- se em conta as seguintes características:
• Simplicidade: fácil de compreender e de executar pelos intervenientes.
• Flexibilidade: adaptável às situações não coincidentes com o cenário inicialmente previsto.
• Dinamismo: prevê e permite a constante atualização em função da variação da análise de riscos ou evolução, qualitativa e quantitativa, dos meios e recursos disponíveis.
• Adequação: estar adequada à realidade da instituição e aos meios existentes.
• Precisão: atribui responsabilidades, missões e tarefas às forças intervenientes, de forma clara, concisa e concreta.

Objetivos
Objetivos gerais
• Dotar a escola de um nível de segurança eficaz.
• Aumentar os padrões de segurança.
• Limitar as consequências de um acidente, através da corresponsabilização de toda a população escolar no cumprimento das normas de segurança.

• Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, para garantir a salvaguarda de pessoas e bens, em caso de ocorrência de uma situação perigosa.
Objetivos específicos
• Identificar os riscos existentes ou a que possam estar sujeitos todos os elementos da comunidade escolar.
• Estabelecer cenários de acidentes para os riscos identificados
• Definir princípios, normas e regras de atuação face aos cenários possíveis.
• Atribuir missões aos diferentes responsáveis.
• Rotina de procedimentos, os quais poderão ser testados, através de exercícios de simulação.
• Aumentar a rapidez de intervenção.
• Evitar duplicação de atuações, erros, desvio das normas, atropelos e confusões.
• Corrigir as situações disfuncionais detectadas
• Estabelecer uma unidade de direção, coordenação e comando.
• Apresentar o plano de evacuação das instalações escolares.
• Reduzir e atenuar as situações de perturbação e pânico.
• Contribuir para a educação para a cidadania.
• Difundir conceitos-base na área do socorro.
• Limitar as consequências de um acidente.
• Sensibilizar para a segurança.
• Rotina de procedimentos de autoproteção.
• Disponibilizar um conhecimento real e pormenorizado das condições de segurança do estabelecimento escolar.
• Maximizar a possibilidade de resposta dos meios de 1.ª intervenção.
3.3. Identificação de riscos
Os riscos dividem-se em internos ou externos e podem ser agravados em função da data, hora e dia da semana, considerando a envolvente onde a escola está situada.

Os riscos internos decorrem das próprias instalações, dos materiais existentes no estabelecimento e ainda da própria atividade escolar.
Os riscos externos dependem da localização do edifício escolar, sendo ainda possíveis de classificar em riscos naturais e riscos tecnológicos.
Riscos internos
• Incêndio
O risco de incêndio é maior na cozinha devido à existência de fogo, e materiais facilmente inflamáveis. De salientar também a possibilidade de incêndio com origem em curtocircuito. Esta situação, apesar de poder ocorrer em qualquer local onde exista equipamento elétrico, poderá assumir maior gravidade nos locais onde são armazenados determinados produtos e materiais, assim como, onde existem equipamentos que pela sua natureza poderão servir de combustíveis.
Outros locais de maior risco são: laboratório de Físico-química, sala de Informática e laboratório de Biologia.
Nestes locais, ou nas imediações, estão colocados extintores para uma primeira intervenção.
• Fuga de gás
As instalações de gás estão concebidas de forma a evitar a ocorrência de acidentes pessoais decorrentes do uso normal, nomeadamente asfixia, intoxicação, explosão, queimaduras ou outras consequências previsíveis.
Neste complexo escolar, a possibilidade de ocorrência de uma fuga de gás é reduzida, visto todos os sistemas de gás serem regularmente vistoriados e alvo de manutenção, por pessoal qualificado. No entanto, e como os acidentes são de difícil previsão, os locais onde existe a possibilidade de ocorrer uma fuga de gás são: cozinha, central de aquecimento de água do pavilhão gimnodesportivo, assim como todo o percurso da canalização de gás.
• Ameaça de bomba

O perigo de ameaça de bomba, apesar de muito reduzido, pode ocorrer em momentos muito específicos do ano escolar, nomeadamente em alturas de avaliação dos alunos ou eventuais protestos. No entanto, esta situação não deve ser descurada, acionando-se, caso ocorra, o plano de evacuação.
Riscos externos de origem natural
• Tempestade.
• Queda de raio.
• Pluviosidade intensa.
• Deslizamento de terrenos (taludes adjacentes).
• Sismos:
O risco sísmico é entre os riscos naturais aquele que, de um modo mais grave e prolongado, pode afetar o equilíbrio socioeconómico de uma região, ou mesmo de um país.
Dadas as características da zona onde a escola está inserida, para além do colapso de edifícios e de incêndios provocados por fugas de gás, resultantes da rutura das redes de abastecimento, os sismos também poderão criar situações de pânico pelo que a segurança contra estes riscos visará a minimização dos seus efeitos sobre pessoas e bens.
Apesar de não haver registos de sismos que tenham afetado de forma importante esta região, em anos recentes, não deve ser colocada de parte a hipótese de se sentirem os efeitos de um abalo com epicentro noutras regiões.
Riscos externos de origem tecnológica
• Acidente de viação com derrame de substâncias tóxicas ou inflamáveis.
• Incêndio ou explosão de automóveis estacionados no parque de estacionamento.
• Acidentes de trânsito.
• Queda de aeronaves.
• Colapso de estruturas.
Levantamento de meios e recursos

Consideram-se neste plano os meios e recursos existentes em permanência na escola, existindo todavia a noção clara de assimetrias no otimizar dos materiais existentes, em função do dia da semana, período letivo e hora da ocorrência.
Equipamento de 1.ª intervenção
Por ser fundamental que existam meios de 1ª intervenção para poder responder rapidamente numa situação de risco, de forma que seja controlada no início com recursos próprios, e não se depender exclusivamente dos meios externos, a Escola dispõe de:
• Meios de 1ª intervenção
➢ Extintores (agente de extinção):
– Pó químico ABC de 6 Kg
– CO2 de 5 Kg e de 2 Kg
– Água aditivada pressurizada
Adaptados às localizações a que se destinam e descritos na generalidade e ressalvados em casos especiais.
➢ Rede armada de incêndio composta por:
– Postos fixos de incêndio, compostos por:
– Lance de manga plana
– Agulheta de 3 posições
– Acessórios
– Carretéis basculantes, compostos por:
- Lance de mangueira semirrígida
- Agulheta de 3 posições
- Acessórios

Observação: o posto fixo obriga à montagem da manga plana, desenrolar na totalidade e só após é que é possível proceder-se ao seu acionamento e combate ao foco de incêndio.
O carretel basculante só necessita de abertura e basculamento, possibilitando acionamento imediato, logo combate o foco de incêndio muito mais rápido.
Esta distinção reveste-se de grande importância nas ações de intervenção.
Observação: todos os meios de 1ª intervenção encontram-se devidamente sinalizados por meio de pictogramas em material foto luminescente em dimensões e tipos adaptados às situações e características de visualização.
• Meios de 2 ª intervenção:
No caso de não ter sido possível a extinção do foco de incêndio por parte das equipes de intervenção e revelar-se necessário o recurso aos bombeiros, existe no exterior do edifício:
➢ 1 Boca-de-incêndio tamponada
Sistemas de iluminação e sinalização
O sistema de iluminação de emergência é composto por blocos autónomos localizados em pontos estratégicos e saídas e nas calhas de iluminação ambiente, a cada 3 lâmpadas 1 dispõe de Kit de emergência, acionando-a em caso de falta de energia. Em situações de relevância, como saídas e cruzamentos importantes, os blocos autónomos são permanentemente mantidos.
A complementar o sistema de iluminação de emergência existe sinalização em PVC foto luminescente nas vias de evacuação com pictogramas normalizados, em dimensões e tipo adaptados às características de visualização, para além de plantas de emergência em todas as divisões da escola.
Os meios de 1ª intervenção e botoneiras de alarme manual encontram- se devidamente sinalizados com pictogramas em PVC foto luminescente, em dimensões e tipos adaptados às situações e características de visualização.

Meios de aviso e alerta
Consideram-se meios de aviso e alerta todos os meios existentes a utilizar com o único intuito de avisar e informar a população escolar da ocorrência de uma situação anormal, na sequência da qual seja necessário ativar o plano de evacuação interno: botoneiras e sirenes de alarme, campainha da escola, buzina de ar comprimido, megafone com sirene e apito.
Em caso de falha de eletricidade, que inviabilizará a utilização do PBX, a comunicação far-se-á através do celular do Chefe e/ou dos delegados de Segurança.
Organização e segurança
Regras Gerais
Todo o pessoal, docente e não docente, deverá adotar regras de comportamento que permitam garantir a manutenção das condições de segurança no decurso da utilização nos domínios de:
• Acessibilidades dos meios de socorro
É necessário ter presente que as viaturas de emergência, como as de combate ao fogo, são veículos ligeiros de grande porte e por isso a sua necessidade de espaço para circular e manobrar é maior.
- Os portões e portas da Escola devem sempre poder ser rapidamente abertos;
- O estacionamento no exterior e no interior não pode condicionar o acesso das viaturas de emergência.
• Praticabilidade dos caminhos de evacuação
Os caminhos de evacuação, dentro e fora dos edifícios, assim como as saídas devem estar sempre desobstruídos. Não devendo existir mobiliário ou outros objetos que limitem a sua circulação ou possam trazer riscos acrescidos quando utilizados em situação de emergência.
Os caminhos de evacuação assim como as saídas estão claramente identificados nas Plantas de Emergência.
Serão criadas rotinas de identificação de possíveis constrangimentos à operacionalidade dos meios. Haverá uma verificação periódica dos meios de segurança para garantir a sua operacionalidade.
Funções dos diretores de turma
- Transmitir aos alunos os comportamentos adequados a cada tipo de catástrofe.
- Informar os alunos sobre o sistema convencionado de alerta em caso de emergência.
- Instruir os alunos sobre os procedimentos corretos a adotar no cumprimento rigoroso do plano de evacuação.
- Contribuir para disciplinar a utilização normal dos itinerários de evacuação.
- Nomear um aluno da turma como guia de classe.
- Providenciar para que o guia de classe ocupe uma carteira, na sala de aula, próxima da porta de saída.

Plano de intervenção
Reconhecimento, combate e alarme interno
• A direção da escola, responsável máxima pela segurança, deve certificar- se sobre a localização exata e correta dimensão de qualquer incidente, acidente ou sinistro, bem como da existência de matérias em combustão e possível existência de vítimas a socorrer.
• Caso existam pessoas em perigo de vida, deve de imediato ser-lhes prestado o apoio possível.
• De acordo com as características e dimensão da situação poderão ser avisados os responsáveis intervenientes no plano de evacuação, ser acionado o alarme interno e alertados os bombeiros e/ou P.S.P.
• As pessoas responsáveis pela evacuação e primeira intervenção devem atuar em

simultâneo, bem como os responsáveis pelo corte de energia e pelas ações de concentração e controlo.
Normas de proteção em situações de risco
• Em caso de sismo
Em caso de sismo os alunos deverão refugiar-se debaixo das mesas e proteger a cabeça junto aos joelhos, apertando as mãos firmemente por trás do pescoço e proteger os lados da cabeça com os cotovelos, devendo aguardar com calma as orientações do professor.
Caso tal não lhes seja possível, devem abrigar-se no interior da sala, junto às paredes mestras, evitando a zona das janelas.
O professor deverá abrigar-se junto à parede interior, colocando nesse local os alunos com dificuldades, muito em especial os imobilizados em cadeira de rodas.
Alertar os alunos para a hipótese de ocorrência de réplicas.
Em zona de circulação ou onde não haja possibilidade de se cobrir, refugie-se junto de pilares, sob vigas e vergas de portas ou junto de uma parede interior.
Afaste-se imediatamente de janelas e painéis de vidro.
Após o sismo, não existindo zonas afetadas na estrutura do edifício, a saída da sala deverá ser feita de acordo com o plano de evacuação da escola.
O professor deve sinalizar a presença de eventuais feridos, colocando um lenço branco numa das janelas da sala e, caso existam alunos em cadeira de rodas, entalando uma cadeira na porta da sala.
Os assistentes devem abrir todas as saídas, cortar a água, luz e gás e auxiliar à evacuação dos alunos.
Toda a comunidade educativa deverá proceder consoante o plano de evacuação
• Em caso de incêndio
- Avise a pessoa mais próxima para comunicar o acidente
- Desligar o quadro geral de eletricidade.
- Feche o gás na válvula de corte geral.
- Atacar o incêndio com extintores existentes no local, sem correr riscos, durante 30 segundos (1 minuto no máximo).
- Nunca utilizar água ou outros agentes à base de água (espumas).
- Caso não consiga dominar a situação, faça sair todas as pessoas e feche as portas e janelas.
- Na deslocação através do fumo é aconselhável caminhar de gatas ou respirar através de um pano húmido.
• Em caso de fuga de gás
- Desligue a válvula e/ou quadro geral da eletricidade. Não faça lume. Não acione nenhum interruptor.
- Abra as portas e janelas.
- Abandone o local.
- Comunique o acidente a Direção da Escola.
Cortes de energia
• De acordo com as instruções pessoas nomeadas procedem aos cortes gerais ou parciais de energia elétrica e fecham as válvulas de corte de gás.
• A energia nunca será ligada de novo, sem ordem expressa do operacional, sendo esta determinação transmitida só após vistoria total das instalações e uma vez assegurada a completa supressão do motivo determinante de tal ação.
Organização interna
AÇÂO/EQUIPES DE INTERVENÇÃO
Alarme

RESPONSÁVEL
Funcionária da reprografia
FUNÇÃO
Aciona o sistema de alarme convencionado
1ª Intervenção

Funcionária da reprografia
Alerta Funcionária da reprografia
Corte do Gás Assistente operacional de manutenção
Evacuação / Sinaleiros Assistentes operacionais e técnicos
Equipe de 1ª intervenção
Informação
Secretária do administrativo (edifício antigo)
Funcionária da reprografia (edifício novo)
Assistente operacional de manutenção (ginásio)
Secretária do administrativo e vicepresidente do CE
Concentração Assistentes técnicos e operacionais e docentes
Controlo
Vice-presidente do CE
Procede ao corte da corrente no quadro elétrico
Avisa os Bombeiros
Fecha as válvulas de corte do gás
Encaminham as pessoas para a saída. Orientam as pessoas dispersas na sua área de vigilância para o local de concentração.
Impedem o regresso ao local do sinistro.
Desliga quadros elétricos, gás e água, verifica se alguém ficou retido nas instalações indicadas e informa o responsável de segurança sobre eventuais anomalias.
Presta esclarecimentos aos socorros externos sobre o local do sinistro e sinistrados e regula a circulação.
Orientam a população escolar para os locais de concentração exterior.
Recolhe informação nos locais de concentração sobre eventuais desaparecidos e informa o presidente do CE
Plano de evacuação
O presente plano de evacuação da escola visa, em primeiro lugar, fazer chegar toda a população escolar o mais rapidamente possível ao local de concentração (perto do portão de entrada) o que pressupõe a utilização dos percursos definidos no interior e no exterior da escola.
A população escolar deverá manter-se reunida no ponto de concentração, aguardando avaliação do risco e/ou intervenção de socorro.
Após a verificação do cenário, optar-se-á por uma das seguintes alternativas:
• O regresso à sala de aula.
• A evacuação da escola, com saída para o exterior.
• A evacuação e encerramento da escola com o regresso dos alunos a casa.
Em caso de emergência é importante:
• Não entrar em pânico.
• Abandonar o local de forma rápida e ordeira.
• Não perder tempo a recolher objetos pessoais.
• Nunca voltar atrás, nem parar nas portas de saída ou outros acessos.
• Ajudar sempre os colegas.
• Comunicar às entidades competentes a ocorrência.
• Seguir as instruções das entidades competentes.

Ações a realizar durante a evacuação
• Direção
- Avalia a situação.
- Ordena a evacuação.
- Ordena que se acione o sinal de alarme.
- Ordena o corte de energia se tal se justificar.

- Solicita apoio e/ou intervenção dos meios de socorro (bombeiros, P.S.P.).
- Contacta o gabinete de segurança do ministério da educação e forças de segurança (se tal se justificar).
- Dirige-se ao local de reunião exterior para controlar a concentração e dar as instruções necessárias.
- Acompanha as forças de segurança, prestando as informações necessárias.
- Presta informações aos Encarregados de educação e comunicação social.
• Alunos
- Quando o alarme tocar, não entrar em pânico e manter a calma.
- Uma vez acionado o sinal de alarme, os alunos deverão abandonar os livros e todo o restante material, colocar-se de pé, arrumar a cadeira debaixo da mesa para evitar que esta dificulte a circulação.
- Ao toque de alarme (campainha, megafone com buzina), o aluno que estiver mais próximo da porta procede à sua abertura, segurando-a e mantendo-a aberta, se necessário com o pé ou o apoio do seu corpo.
- Os alunos, à ordem do professor, sairão rápida e ordeiramente, fila a fila, devendo esta ação começar pela que se situar mais perto da porta
- No corredor não deverão existir mais de duas filas paralelas, pelo que os alunos deverão aguardar se já estiverem alunos a passar no corredor.
- O percurso deve ser efetuado, caminhando com desembaraço, mas nunca correndo, devendo os alunos dirigir-se ao ponto de concentração utilizando sempre o caminho assinalado.
- Uma vez alcançado o local de concentração, devem colocar-se em fila, na linha da turma assinalada, voltados para o edifício da escola.
- Nenhum aluno abandonará o local de concentração sem que tal ordem lhe tenha sido expressamente transmitida pelo elemento da direção da escola presente.
- Em caso de exercício, logo após o seu final, alunos e professores regressarão às suas salas, pelo mesmo percurso, e as aulas recomeçarão normalmente.

- Nas turmas em que existam alunos com deficiência motora ou impedimento de outro tipo o diretor de turma ou o professor que acompanhar os alunos designará os alunos necessários para apoiar a sua evacuação
- A professora titular da turma UNECA, ou quem a estiver a substituir deve:
→ Em 1.º lugar, entregar a aluna que se consegue locomover autonomamente ao cuidado de um professor que passe pelo lado do corredor da sala 4;
→ Em 2.º lugar, cuidar pessoalmente da evacuação da aluna que se encontra de cadeira de rodas.
- Os alunos que não estão em aula, mas se encontram no recinto escolar, devem dirigir-se para o local de concentração da sua turma, porém caso estes se encontrem fora do recinto escolar, devem aí permanecer, não entrando na escola.
- Quando existir fumo o percurso deverá ser feito o mais baixo possível, sendo a posição de gatas a mais recomendada.
• Guias de classe
- Conduzir os restantes alunos atrás de si, em fila indiana, pelos itinerários definidos no plano de evacuação, até ao local de concentração exterior previsto neste plano.
• Professores em atividade letiva
- Manter a serenidade.
- Controlar a saída dos alunos da sala, sendo o último a sair.
- Prestar auxílio a qualquer aluno que se desoriente, fique atrasado ou magoado na deslocação.
- No caso de um aluno ficar magoado com gravidade, o professor não deve mexer no mesmo, usando de bom senso comum para decidir se os restantes alunos têm capacidade para se deslocarem para o ponto de reunião sozinhos e este permanecer com o aluno em questão.

- Acompanhar os alunos, no final da fila, até ao local de concentração exterior.
- Certificar-se da presença de todos os alunos à sua responsabilidade.
- Manter os alunos nos locais de concentração até serem dadas instruções de regresso à normalidade.
- Caso a necessidade de evacuação ocorra num período de intervalo, caberá ao último professor de cada turma permanecer com os respetivos alunos no local de concentração.
• Professores sem atividade letiva (presentes na escola)
- Prestar, se necessário, auxílio na evacuação de outros elementos.
- Dirigir-se para a saída de emergência estabelecida no Plano de evacuação, juntandose à restante população escolar no local de concentração previsto.
• Assistentes operacionais
- Cumprir as missões específicas que lhes estão destinadas neste regulamento.
- Abrir as saídas de emergência.
- Certificar-se de que não se encontra ninguém retido nas instalações à sua responsabilidade.
- Reunir as pessoas dispersas na sua área de vigilância e proceder ao seu encaminhamento para o local de concentração.
- Dirigir-se para o local de concentração.
- Impedir a saída de alunos e a entrada de estranhos no recinto escolar.
• Assistentes técnicas
- Desligar o quadro geral de eletricidade do edifício antigo (arrecadação).
- Cortar a água do edifício antigo.
- Colaborar com as educadoras e com os assistentes operacionais na evacuação e guarda dos alunos.
- Dirigir-se para o local de concentração.
• Secretária do administrativo
- Assegurar a saída de todos os presentes na secretaria.

- Fechar à chave a secretaria.
- Dirigir-se a Direção onde integra a equipe de primeira intervenção.
- À ordem do CE dirigir-se para o portão a fim de prestar informações às forças de socorro externos sobre a localização exata do sinistro e eventual existência de pessoas em perigo.
- Permitir apenas a entrada na escola dos meios de socorro.
- Prestar apoio aos encarregados de educação.
• Funcionário da biblioteca
- Assegurar a saída dos alunos da biblioteca e encerrar as instalações.
- Dirigir-se ao ponto de concentração.
• Funcionários da cozinha/refeitório
- Assegurar a saída de todos os presentes.
- Dirigir-se ao ponto de concentração.
• Funcionários do bar
- Encerrar o seu departamento.
- Assegurar a saída de todos os presentes na sala de convívio.
- Dirigir-se ao ponto de concentração.
• Funcionário do SASE
- Encerrar o seu departamento.
- Assegurar a saída de todos os presentes na sala de convívio.
- Dirigir-se ao ponto de concentração.
• Funcionário do pavilhão
- Aciona o meio de alarme do ginásio (megafone).
- Assegurar a saída de todos os presentes.
- Dirigir-se ao ponto de concentração.

• Funcionário da reprografia
- Acionar o alarme à ordem da Direção.
- Liga para o 112 e dar o nº de emergência da escola.
- Desligar o quadro geral de energia.
- Dirigir-se ao local de concentração.
- Recolher dados da sua área geográfica (edifício de cima), junto das funcionárias, e dirigir-se a Direção onde integra a equipe de primeira intervenção.
- Aqui permanece com a função de atendimento telefônico.
• Assistente operacional de manutenção
- Fechar gás da cozinha (pátio da frente).
- Alertar a funcionária do ginásio para acionar o meio de alarme.
- Desligar o quadro geral de energia do ginásio.
- Fechar a água e o gás do ginásio.
- Recolher dados relativos ao pavilhão gimnodesportivo.
- Dirigir-se a Direção onde integra a equipe de primeira intervenção.
- À ordem do CE dirigir-se para a entrada da escola para acompanhar os elementos de socorro externos e servir-lhes de guia.
Toda a comunidade escolar deve permanecer no local de concentração e aguardar por instruções, devendo estas ser transmitidas apenas por profissionais autorizados
Casos omissos
Todas as situações não contempladas no presente plano, serão objeto de aditamentos, sendo necessariamente deles informados todos os elementos da comunidade escolar
Distribuição e divulgação
O presente plano será distribuído às entidades que a ele reportam, bem como divulgado a todos os funcionários e professores, assim como pais e encarregados de educação.
CAPÍTULO 2: PRIMEIROS SOCORROS NO AMBIENTE ESCOLAR
4. AVALIAÇÃO DA VÍTIMA
Os sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o estado físico em que o corpo humano se apresenta. Os sinais que podemos avaliar são: pulso, respiração; pressão arterial e temperatura.
Na obtenção dos valores dos sinais vitais devemos considerar as seguintes condições :
•Condições ambientais, tais como a temperatura e a umidade no local, que podem causar variações nos valores;
•Condições pessoais, como exercício físico recente, tensão emocional e alimentação;
•Condições do equipamento para mensuração, que devem ser apropriados e calibrados regularmente. O uso de equipamentos inapropriados ou descalibrados podem resultar em valores falsos.
PulsO
O pulso é a onda de distensão de uma artéria transmitida pela pressão que o coração exerce sobre o sangue. Esta onda é perceptível pela palpação de uma artéria e se repete com regularidade, segundo os batimentos do coração. A determinação do pulso torna possível avaliar se a circulação e o funcionamento do coração estão normais ou não (BRASIL, 2003).
O pulso deve ser avaliado em relação ao ritmo (rítmico ou arrítmico), frequência, tensão e volume (cheio ou filiforme/fraco). Quanto à frequência, existe uma variação média de acordo com a idade como pode ser visualizado, a seguir
Tabela Valores normais da frequência cardíaca de acordo com a idade
Pulso normal
60-100 bpm
80-120 bpm

Faixa etária
Adultos
Crianças
100-160 bpm
Fonte: Potter; Perry (2004).

Bebês
A alteração na frequência do pulso demonstra uma alteração na quantidade de fluxo sanguíneo. As causas fisiológicas que aumentam os batimentos do pulso são: digestão, exercícios físicos, banho frio, estado de excitação emocional e qualquer estado de reatividade do organismo (BRASIL, 2003).
A taquicardia é o aumento da frequência cardíaca, acima de 100 batimentos por minuto (bpm) nos adultos e a bradicardia refere-se à diminuição da frequência cardíaca, abaixo de 60 bpm nos adultos
Os melhores locais para se palpar o pulso são onde as artérias de grosso calibre se encontram próximas à superfície cutânea. O pulso radial pode ser sentido na parte da frente do punho O pulso carotídeo é o pulso sentido na artéria carótida que se localiza de cada lado do pescoço. Pode-se também sentir o pulso palpando-se as artérias: braquial, na dobra do braço; femoral, na raiz da coxa ou região inguinal e pedioso, no dorso do pé.
Pode-se mensurar o pulso pela ausculta cardíaca no ápice do coração, no lado esquerdo do tórax, levemente abaixo do mamilo (pulso apical). Para isto, torna-se necessário o uso de um estetoscópio
Palpação do pulso radial Palpação do pulso carotídeo
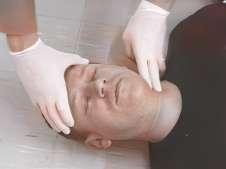

O método de palpação do pulso radial deve ser realizado com o braço da vítima em posição relaxada; para o pulso carotídeo, deve-se palpar a cartilagem tireoide no pescoço e

deslizar os dedos lateralmente até sentir o pulso; utilizando dois dedos para sentir o pulso (indicador e médio). Recomenda-se o uso da ponta dos dedos e nunca o polegar, pois o examinador poderá sentir seu próprio pulso; evitar muita pressão, para evitar a interrupção do pulso da vítima e contar o pulso durante 60 segundos
RespiraçãO
A respiração é involuntária e automática. É a respiração que permite a ventilação e a oxigenação do organismo. Fatores diversos como secreções, vômito, corpo estranho e edema podem ocasionar a obstrução das vias aéreas. A obstrução produz asfixia que, se prolongada, resulta em parada cardiorrespiratória (BRASIL, 2003).
O processo respiratório manifesta-se fisicamente através dos movimentos ritmados de inspiração e expiração. Na inspiração existe a contração dos músculos que participam do processo respiratório e na expiração estes músculos relaxam-se espontaneamente.
Quimicamente existe uma troca de gazes entre os meios externos e internos do corpo na realização desse processo. O organismo recebe oxigênio atmosférico e elimina dióxido de carbono (BRASIL, 2003).
A avaliação da respiração inclui: frequência respiratória (movimentos respiratórios por minuto); caráter (superficial e profunda) e ritmo (regular e irregular). Deve-se avaliar a respiração tendo em vista os sinais e sintomas de comprometimento respiratório: cianose (arroxeamento da pele); inquietação; dispneia (dificuldade respiratória) e sons respiratórios anormais como, por exemplo, o chiado
A frequência da respiração é contada pela quantidade de vezes que uma pessoa realiza os movimentos combinados de inspiração e expiração em um minuto.
Para a verificação da frequência da respiração, conta-se durante 60 segundos o número de vezes que uma pessoa realiza os movimentos respiratórios, como se pode verificar na figura 3:
01 inspiração + 01 expiração = 01 movimento respiratório.
Movimento respiratório
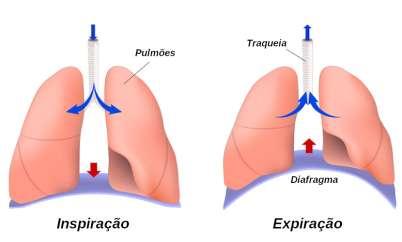
Fonte: Vilela, s/d. http://www.afh.bio.br/resp/resp2.asp
A contagem pode ser feita observando-se a elevação do tórax e/ou abdome. Em crianças menores o movimento torácico é menos evidente que nos adultos e, usualmente, ocorre próximo ao abdome. A mão colocada levemente sobre a parte inferior e superior do abdome pode facilitar a contagem da atividade respiratória (BRASIL, 2003). A frequência média por minuto dos movimentos respiratórios varia com a idade, os valores normais são:
Tabela - Valores normais da frequência respiratória
Idade
Adulto
Criança
Bebê
FONTE: BRASIL (2003).

Movimentos Respiratórios
12 a 20
20 a 30
30 a 60
Tabela Principais tipos de respiração
Tipos de Respiração
Eupnéia
Respiração com movimentos regulares, sem
dificuldades, na frequência média normal.
Apnéia É a ausência dos movimentos respiratórios.
Equivale a parada respiratória.
Dispnéia Dificuldade na execução dos movimentos respiratórios.
Bradipnéia Diminuição na frequência média dos movimentos respiratórios.
Taquipnéia Aumento na frequência dos movimentos respiratórios.
Ortopnéia O acidentado respira melhor quando sentado.
Hiperpnéia ou
Hiperventila ção
É quando ocorre o aumento da frequência e da profundidade dos movimentos respiratórios.
FONTE: Potter; Perry (2004).

Fatores fisiopatológicos podem alterar a necessidade de oxigênio ou a concentração de gás carbônico no sangue e isto pode contribuir para a diminuição ou o aumento da frequência dos movimentos respiratórios. Os exercícios físicos, as emoções fortes e banhos frios tendem a aumentar a frequência respiratória. Em contra partida o banho quente e o sono a diminuem. Algumas doenças cardíacas e nervosas e o coma diabético aumentam a frequência respiratória. Como exemplo de fatores patológicos que diminuem a frequência respiratória podemos citar o uso de drogas depressoras (BRASIL, 2003).
Oximetria de pulsO arterial

A oximetria de pulso arterial fornece informações sobre a saturação de oxigênio (SpO2) carreado pelas hemoglobinas presentes no sangue arterial e permite analisar a amplitude e a frequência de pulso em indivíduos de qualquer faixa etária. A monitorização da saturação de oxigênio fornece informação acerca dos sistemas cardíaco e respiratório e do transporte de oxigênio pelo organismo (PIERCE, 1995).
A oximetria de pulso arterial é medida por equipamentos denominados oxímetros de pulso, que utilizam sensores emissores e detectores de luz nos comprimentos de onda vermelha e infravermelha. O sangue saturado de oxigênio tem um espectro de absorção de luz diferente do sangue não saturado de oxigênio. Assim, a quantidade de luz no espectro vermelho e infravermelho absorvida pelo sangue pode ser utilizada para calcular a taxa da hemoglobina oxigenada em relação à hemoglobina total no sangue arterial. Os valores normais situam-se, na maioria das vezes, entre 95 a 100% (PIERCE, 1995).
Os principais locais de instalação dos sensores são as extremidades digitais, as mãos, o lóbulo da orelha, dentre outros. A captação de luz pulsátil permite verificar a amplitude e a frequência de pulso. Alguns fatores podem ocasionar problemas na verificação da SpO2 por meio da oximetria de pulso, destacando-se: interferência luminosa (luzes fluorescentes, incidência direta de raios solares), esmalte de unhas, baixa perfusão periférica, anemia, pessoa em parada cardiorrespiratória ou choque (PIERCE, 1995).
PressãO arterial
A pressão arterial (PA) é a pressão exercida pelo sangue no interior das artérias. Depende da força desenvolvida pelo coração, do volume sanguíneo e da resistência oferecida pelas paredes das artérias
A PA é medida em milímetros de mercúrio (mmHg), com aparelhos desenvolvidos especificamente para este fim. O primeiro número, de maior valor, corresponde à pressão sistólica, enquanto o segundo, de menor valor, corresponde à pressão diastólica.
Não há um valor preciso de pressão normal, mas, em termos gerais, considera-se que o valor de 120/80 mm Hg é o considerado ideal para um adulto jovem Os valores médios de pressão arterial considerados ideais, de acordo com a idade, são:
Tabela Valores normais da PA, de acordo com a idade
Idade

Valor da pressão arterial
4 anos 85/60 mmHg
6 anos 95/62 mmHg
10 anos 100/65 mmHg
12 anos 108/67 mmHg
16 anos 118/75 mmHg
Adultos 120/80 mmHg
FONTE: Potter; Perry (2004).
A posição em que a vítima se encontra (em pé, sentado ou deitado), atividade física recente, aparelho inapropriado também podem alterar os níveis e os valores de pressão. O local mais comum de verificação da PA é no braço. Os equipamentos usados são o esfigmomanômetro e o estetoscópio
Para verificar a pressão arterial com aparelho com coluna de mercúrio é necessário:
Posicionar o indivíduo com o braço apoiado no nível do coração, selecionar o tamanho da braçadeira para adultos ou crianças. A largura do manguito deve corresponder a 40% da circunferência braquial e seu comprimento 80%. Localizar o manômetro de modo a visualizar os valores da medida;
Localizar a artéria braquial ao longo da face interna do braço palpando-a;
Envolver a braçadeira em torno do braço, centralizando o manguito sobre a artéria braquial;
Manter a margem inferior da braçadeira 2,5 cm acima da dobra do cotovelo;
Determinar o nível máximo de insuflação palpando o pulso radial até seu desaparecimento, registrando o valor (pressão sistólica palpada) e aumentando mais 30 mmHg;
Desinsuflar rapidamente o manguito e esperar de 15 a 30 segundos antes de insuflá-

lo novamente;
Posicionar o estetoscópio sobre a artéria braquial palpada abaixo do manguito na fossa antecubital. Deve ser aplicado com leve pressão, assegurando o contato com a pele em todos os pontos;
Fechar a válvula da pera e insuflar o manguito rapidamente até 30 mmHg acima da pressão sistólica palpada registrada;
Desinsuflar o manguito de modo que a pressão caia de 2 a 3 mmHg por segundo;
Identificar a pressão sistólica (máxima), observando no manômetro o ponto correspondente ao primeiro batimento regular audível, e identificar a pressão diastólica (mínima), observando o ponto correspondente ao último batimento regular audível.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010), para proceder à verificação da Pressão Arterial (PA) com o aparelho digital, antes de colocar a pulseira do aparelho digital no indivíduo devem-se realizar os seguintes procedimentos:
Retirar relógio ou qualquer outra jóia da mão;
Deixar a mão com a palma para cima, colocar a pulseira de tal maneira que o visor do aparelho fique de fácil visualização;
A bainha da pulseira deve ficar aproximadamente de 1 a 2 cm da palma da mão;
As extremidades de cima e de baixo da pulseira devem estar plenamente fixadas em volta de seu pulso e parte inferior do braço.
Sentar em uma cadeira com o pé totalmente apoiado no chão e colocar o braço esquerdo na mesa com a palma da mão para cima. O aparelho deve estar na mesma altura do coração.
É necessário lembrar-se de que antes de aferir a pressão sanguínea é importante:
Evitar fumar e praticar exercícios até 30 minutos antes de efetuar as leituras;
Evitar tomar leituras durante um período de estresse; pois o estresse também aumenta a pressão.

As medições devem ser feitas em um lugar tranquilo e a pessoa deve estar relaxada, sentada e não falar durante a medição; Esperar de 5 a 10 minutos entre uma medição e outra.
O conhecimento dos determinantes da PA em crianças e adolescentes é de grande importância. Diversas condições estão relacionadas à PA na população jovem, como: a idade, a altura, o peso corporal, a história familiar para Hipertensão Arterial. Além desses fatores, outros também influenciam a PA da criança ao longo do tempo e precisam ser avaliados em conjunto, como o desenvolvimento físico e os fatores dietéticos (MAGALHÃES, et al, 2002).
A PA na população jovem está intimamente relacionada ao crescimento somático, estando aí incluídas a altura e a maturação esquelética e sexual. O peso e o Índice de Massa Corporal são as variáveis que apresentam a mais forte correlação com a PA nessa faixa etária (MAGALHÃES, et al, 2002).
A atividade física também apresenta íntima relação com os níveis de pressão arterial em crianças. Já se evidenciou que crianças com pior condicionamento físico apresentam maiores níveis de PA, tanto em repouso como durante o esforço físico. Fatores psicossociais, como o estresse ambiental, podem participar de forma adicional na determinação da PA (MAGALHÃES, et al, 2002).
Crise hipertensiva
A crise hipertensiva é a elevação rápida, inapropriada, intensa e sintomática da pressão arterial, que pode levar ao risco de deterioração rápida dos órgãos alvo (coração, cérebro, rins e artérias) e a um consequente risco de vida imediato ou potencial (MARTIN, LOUREIRO E CIPULLO, 2004).
A vítima de crise hipertensiva pode apresentar sintomas como tontura, cefaleia e zumbido, sem lesão de órgãos alvos, esse quadro de crise hipertensiva é denominado como urgência hipertensiva. Se for uma crise hipertensiva mais grave os sintomas são mais intensos, podendo ocorrer dispneia (falta de ar), dor precordial (dor no peito), coma (perda da consciência) e até a morte, ocorrendo, então, uma emergência hipertensiva (FEITOSA-FILHO et al, 2008).
Pessoas previamente hipertensas apresentam, na crise, níveis de pressão diastólica (ou mínima) de 140 ou 150 mmHg ou mais. Em alguns casos, o aumento repentino tem mais importância do que a altura da pressão diastólica, surgindo sintomas com cifras mais baixas, em torno de 100 ou 110 mmHg. Em ambos os casos as pressões sistólicas (ou máxima) apresentam-se elevadas (BRASIL, 2003).
Tabela Variações da pressão arterial normal e hipertensão, em adultos maiores de 18 anos, em mmHg
Sistólica (ou máxima)
Diastólica (ou mínima)
< 130 < 85
130 – 139 85 – 89

Nível
Normal
Normal nos limites
140 -159 90 – 99 Hipertensão leve
160 – 179 100 – 109 Hipertensão moderada
> 179 > 109 Hipertensão grave
> 140 < 90 Hipertensão sistólica ou máxima
FONTE: Potter; Perry (2004).
Tabela - Valores normais da PA em crianças e adolescentes
IDADE PA mmHg
0 – 3 meses 75/50
3 – 9 meses 85/65
9 – 12 meses 90/70
1 – 3 anos 90/65
3 – 9 anos 95/60
9 – 11 anos 100/60
11 – 13 anos
13 14 anos
Fonte: Collet; Oliveira (2002).

105/65
110/70
A gravidade da crise hipertensiva exige tratamento imediato. O atendimento é essencialmente especializado e a principal atitude de quem for prestar os primeiros socorros é a rápida identificação da crise hipertensiva e remoção da vítima para a unidade de saúde mais próxima.
A pessoa com hipertensão deverá ser acalmada; reduzir a ingestão de líquidos e sal e ficar sob observação permanente até a chegada do atendimento médico. Para identificar a crise, mesmo sem verificar a pressão arterial, deve-se conhecer os sintomas já descritos.
Procurar saber se a vítima já é hipertensa, há quanto tempo, e que medicamentos usa, é da mesma forma essencial (BRASIL, 2003).
HipOtensãO
A hipotensão arterial ocorre quando os níveis pressóricos são inferiores aos considerados normais, levando-se em conta o fator de idade. A hipotensão arterial pode ser causada pelo excesso de calor, realização de esforço físico exagerado, alteração brusca de posição, ficar muito tempo parado na mesma posição, jejum, hemorragia e traumatismo (LIMA, 2014).
A pessoa com hipotensão arterial pode apresentar tontura, dor de cabeça, cansaço e fraqueza, vista escura ao levantar-se rápido e até a perda da consciência (LIMA, 2014).
Como medida de primeiros socorros, nesse caso, deve-se promover a ingestão de líquidos com pitadas de sal, deitar a vítima e chamar o serviço de atendimento médico (BRASIL, 2003).
Temperatura COrpOral
A temperatura resulta do equilíbrio térmico mantido entre o ganho e a perda de calor pelo organismo. A temperatura do corpo humano está sujeita a variações individuais e devido
a fatores fisiológicos como: exercícios, digestão, temperatura ambiente e estado emocional.
Existe pequena elevação de temperatura nas mulheres após a ovulação, no período menstrual e no primeiro trimestre da gravidez (BRASIL, 2003).
Tabela Variação da temperatura axilar
Estado Térmico Temperatura (ºC)
Normal
Estado febril
Pirexia
Hiperpirexia
Hipotermia
FONTE: Potter; Perry (2004).

36 a 37 ºC
37,5 a 38,5 ºC
39,1 a 40 ºC
40,1 a 41 ºC
Abaixo de 36 ºC
O corpo humano perde calor através de eliminações do organismo como as fezes, a urina, a saliva, a respiração; por evaporação pela pele e condução, que é a troca de calor entre o sangue e o ambiente. Quando a pessoa está febril, o aumento da circulação explica o avermelhamento da pele (hiperemia) (BRASIL, 2003).
Para proceder à verificação da temperatura corporal o termômetro deve estar seco e marcando temperatura inferior a 35% (se necessário sacudi-lo cuidadosamente até que a coluna de mercúrio desça). A temperatura pode ser medida nos seguintes locais:
Axila – (temperatura axilar): mais utilizado. Colocar o termômetro no centro da axila, mantendo o braço da pessoa de encontro ao corpo, e mantê-lo por 3 a 8 minutos;
Boca – (temperatura oral): colocar o termômetro de vidro sob a língua da pessoa, mantendo-o no local, com os lábios fechados, por 3 a 8 minutos;
Hipertermia

A hipertermia é a elevação anormal da temperatura do corpo. Ela pode ocorrer devido à presença de infecção no organismo ou de alguma outra doença e até mesmo devido ao uso de drogas. O indivíduo apresenta a seguinte sintomatologia: inapetência, mal estar, pulso rápido, suor excessivo, temperatura acima de 40 graus Celsius, respiração rápida, hiperemia, calafrios e cefaleia (BRASIL, 2003).
Tal efeito resulta da incapacidade do mecanismo regulador de temperatura do hipotálamo em controlar as diferenças entre ganho e perda de calor, e da dissipação inadequada do calor pelo corpo. Uma lesão cerebral, por exemplo, pode danificar os centros térmicos localizados no hipotálamo; tumores, infecções, acidente vascular ou traumatismo craniano podem também provocar distúrbios nos mecanismos de regulação e dissipação de calor (BRASIL, 2003).
Além das causas crônicas ou agudas, algumas síndromes levam à hipertermia: presença prolongada em ambientes excessivamente quentes e úmidos, desidratação em crianças, doenças generalizadas da pele, doenças infecciosas e parasitárias, viroses, lesões teciduais e neoplasias (BRASIL, 2003).
Os primeiros socorros recomendados após a constatação de hipertermia são: envolver a pessoa com toalhas úmidas e frias e banho de imersão em temperatura ambiente.
Recomenda-se a aplicação de compressas úmidas e frias na testa, cabeça, pescoço, axilas e virilhas, que são as áreas por onde passam os grandes vasos sanguíneos. A febre alta pode causar delírio e convulsão. Neste caso, a remoção para atendimento hospitalar deverá ser imediata (BRASIL, 2003).
DilataçãO e reatividade das pupilas
A pupila é uma abertura no centro da íris e sua função principal é controlar a entrada de luz no olho para a formação das imagens.
Quando exposta à luz, a pupila se contrai e quando há pouca luz no ambiente, a pupila dilata-se. Porém, muitas doenças ou lesões corporais podem desencadear alterações pupilares como a constrição ou a dilatação.

Devemos observar as pupilas de uma pessoa contra a luz de uma fonte lateral, de preferência com o ambiente na penumbra. Se não for possível deve-se olhar as pupilas contra a luz ambiente (BRASIL, 2003).
Deve-se atentar para a não reação da pupila à luz ou para a apresentação de tamanhos anormais de pupila, o que pode indicar grave lesão cerebral (SANTORO, 2013). Pupilas muito dilatadas, muito contraídas ou de tamanhos diferentes, que não reagem à luz, indicam sérios problemas de saúde.
Alterações no tamanho das pupilas

Fonte: https://media.licdn.com/dms/image/v2/D5622AQGpIbQPqRjbNA/feedshareshrink_800/feedshare-

shrink_800/0/1706319487772?e=2147483647&v=beta&t=dH3ghXuVqakWl2uH28BVUGHkCo mRdhd4WMlT15H9Hvs
COr e umidade da pele
A cor e a umidade da pele são também sinais de apoio muito importantes. A pele pode ser observada nas extremidades, onde as alterações se manifestam mais rapidamente. Pode ficar úmida e pegajosa, o que pode indicar um estado de choque (diminuição do volume de sangue circulante). Em situações anormais a pele pode apresentar-se: (SANTORO, 2013).
Azulada (cianose): como no caso de parada cardiorrespiratória, asfixia, falta de ar ou exposição ao frio;
Pálida: em casos de hemorragias, estado de choque, pós-reanimação cardiopulmonar prolongada ou mesmo tensão emocional;
Avermelhada (hiperemiada): em caso de febre, queimaduras de primeiro grau e traumatismos;
Fria, úmida e pegajosa: no caso de estado de choque.
Nível de COnsCiênCia
Um nível de consciência considerado normal é aquele em que a pessoa percebe, normalmente, o ambiente que a cerca, com todos os sentidos saudáveis respondendo aos estímulos sensoriais, verbais e motores (SANTORO, 2013)
Uma pessoa pode estar inconsciente (perda da consciência) por desmaio (síncope), estado de choque, estado de coma, convulsão, parada cardíaca, parada respiratória, alcoolismo, intoxicação por drogas e uma série de outras causas.
Na síncope e no desmaio há uma súbita e breve perda de consciência e diminuição do tônus muscular. Já o estado de coma é caracterizado por uma perda de consciência mais prolongada e profunda, podendo o acidentado deixar de apresentar gradativamente reação aos estímulos dolorosos e perda dos reflexos (BRASIL, 2003).

MOtilidade e sensibilidade dO COrpO
Em situações de anormalidade a pessoa pode apresentar dificuldade ou incapacidade de sentir e/ou movimentar determinadas partes do seu corpo (SANTORO, 2013).
A incapacidade de movimento nos membros inferiores e superiores podem indicar lesão cerebral, lesão da medula espinhal ou lesão do nervo do membro. Se a vítima não conseguir realizar determinados movimentos, pode-se suspeitar de paralisia da área que deveria ser movimentada.
Para avaliar a motilidade pode-se pedir para que a vítima movimente os dedos de cada mão, os membros superiores e inferiores, pedir para que sorria, para identificar se não há nenhum desvio que indique lesão cerebral ou de nervo periférico (facial) (BRASIL, 2003).
A vítima pode também perder a sensibilidade em certas áreas do corpo, queixando-se de dormência ou formigamento. Se houver sinais de lesão de medula, os primeiros socorros devem ser feitos com cautela para evitar o agravamento da lesão (SANTORO, 2013).
5. PROCEDIMENTOS BÁSICOS
5.1. FERIMENTOS
São lesões que causam rompimento dos tecidos moles (pele, tecido gorduroso, músculos e órgãos internos) que permitem um contato do interior do organismo com o meio externo possibilitando infecção. Essas feridas podem ser classificadas de várias maneiras pelo tipo do agente causal, de acordo com o grau de contaminação, pelo tempo de traumatismo, pela profundidade das lesões, independente da proporção do trauma. Geralmente causa dor e sangramento (CORPO DE BOMBEIROS, 2006).
Para Brasil (2003, p.115):
Os ferimentos incisos são provocados por objetos cortantes, têm bordas regulares e causam sangramentos de variados graus, devido ao seccionamento dos vasos sanguíneos e

danos a tendões, músculos e nervos.
Os ferimentos contusos, chamados de lacerações, são lesões teciduais de bordas irregulares, provocados por objetos rombudos, através de trauma fechado sob superfícies ósseas, com o esmagamento dos tecidos.
Os ferimentos perfurantes são lesões causadas por perfurações da pele e dos tecidos subjacentes por um objeto.
As seguintes medidas devem ser adotadas no socorro à vítima de ferimentos (BRASIL, 2003).
No caso de ferimentos superficiais
Lavar abundantemente a ferida com água limpa;
Não esfregar os ferimentos para não piorar a lesão e não remover possíveis coágulos existentes;
Cobrir o local ferido com gaze estéril ou pano limpo;
Não usar algodão, pois ele se desmancha e prejudica a cicatrização;
Controlar sangramento, por compressão direta;
Fazer uma atadura ou bandagem sobre o ferimento com curativo;
Aguardar serviço de emergência ou encaminhar a vítima para um serviço hospitalar.
FerimentOS prOfundOS e extensOS
Manter a vítima aquecida e em repouso para evitar o estado de choque;
No caso de trauma abdominal, cobrir o ferimento com um pano limpo ou gases estéril e acionar o serviço de emergência;
Cobrir o local com gaze ou pano limpo e úmido sem apertar;
Monitorar sinais vitais e nível de consciência.
NO CasO de trauma tórax
Deitar a vítima sobre o lado ferido, na posição lateral de segurança;

Aplicar curativo de gaze ou pano limpo na lesão de forma que cubra toda abertura do ferimento para impedir a entrada de ar no tórax;
Fixar, de forma compressiva, o curativo;
Monitorar sinais vitais e nível de consciência;
Manter a vítima aquecida e em repouso;
Acionar o serviço de emergência.
Trauma de Cabeça e faCe
Não movimentar a vítima se houver suspeita de trauma na coluna ou pescoço;
Retirar objetos que possam dificultar a respiração, como prótese dentaria comida e dentes quebrados;
Se houver possibilidade de movimentação da vítima, lateralize o corpo para evitar aspiração;
Cubra a lesão com panos limpos sem apertar;
Monitorar sinais vitais e nível de consciência;
Manter o paciente aquecido e em repouso;
Acionar o serviço de emergência.
No caso de haver perde de dentes, esses devem ser recolhidos, e conservados em água filtrada ou leite, já que há a possibilidade de implantá-los novamente.
Trauma OCular (corpo estranho/ perfuração):
Proteger o olho, evitando manipulação exagerada;
Não remover objeto penetrante do olho;
Se o corpo estranho estiver proeminente, usar bandagens para apoiá-lo cuidadosamente;
Mantenha a vítima em decúbito dorsal, o que ajuda a manter as estruturas vitais do olho lesado (BRASIL, 2003; CODEPPS, 2007);
Monitorar sinais vitais e nível de consciência; Manter a vítima em repouso;

Acionar o serviço de emergência ou encaminhar a um serviço hospitalar
5.2. FRATURAS
Os ossos têm como função: sustentação do organismo, proteção de estruturas vitais, base mecânica para o movimento, armazenamento de sais minerais e produção de células sanguíneas. São unidos entre si pelas articulações formando, assim, o esqueleto (SOBOTTA, 2001).
Fratura é uma interrupção (quebra) na continuidade do osso, devido a uma carga de estresse maior do que a estrutura pode sustentar. Essa ruptura pode ser causada por impacto violento, pancada direta ou contração muscular. Quando isso ocorre outras estruturas adjacentes tendem a ser atingidas e acabam lesionando nervos, músculos ou outros órgãos (BRASIL, 2003).
As fraturas podem ser classificadas como fechadas ou abertas:
Fechada:
A fratura fechada ocorre quando não há rompimento da pele, provocando dor intensa, deformação do local afetado, incapacidade ou limitação de movimento e edema local. Pode, ainda, ocorrer hematoma e crepitação (BRASIL, 2003).
Aberta/Exposta:
Ocorre quando o foco da fratura está em contato com o meio externo, com o osso exteriorizado ou não. Neste caso a pele vai encontrar-se lesada. Essa lesão pode decorrer do trauma sofrido, fragmentos de ossos e manuseio inadequado da vítima, o que pode levar ao agravamento da lesão.
Na ocorrência de uma fratura, as seguintes medidas devem ser tomadas (BRASIL, 2003):
Controlar eventual hemorragia e cuidar de qualquer ferimento, com curativo, antes de proceder à imobilização do membro afetado;
Imobilizar o membro, procurando deixá-lo na posição que for menos dolorosa para

o acidentado, o mais naturalmente possível. É importante salientar que imobilizar significa tirar os movimentos da articulação acima e abaixo da lesão;
Usar talas, caso seja necessário, pois essas irão auxiliar na sustentação do membro atingido. As talas têm que ser de tamanho suficiente para ultrapassar as articulações acima e abaixo da fratura;
Para improvisar uma tala pode-se usar qualquer material rígido ou semirrígido como: tábua, madeira, papelão, revista enrolada ou jornal grosso dobrado;
O membro atingido deve ser acolchoado com panos limpos, camadas de algodão ou gaze, procurando-se, sempre, localizar os pontos de pressão e desconforto;
Prender as talas com ataduras ou tiras de pano, apertá-las o suficiente para imobilizar a área, com o devido cuidado para não provocar garroteamento;
Fixar as talas em pelo menos quatro pontos: acima e abaixo das articulações e acima e abaixo da fratura;
Monitorar os sinais vitais e o nível de consciência da vítima; Manter a vítima calma e em repouso;
Providenciar o atendimento especializado o mais rápido possível.
Figura Ilustração sobre posicionamento correto de tala

Fonte: BRASIL, 2003, p. 160.
Em caso de fratura exposta, além de seguir as orientações anteriores, deve-se colocar gazes esterilizadas ou panos limpos sobre a ferida e, a seguir, fixar a gaze ou os panos limpos

com uma atadura ou com um esparadrapo. No caso de existir um sangramento muito intenso, fazer compressão na região fraturada com panos limpos (BRASIL, 2003).
Sob nenhuma justificativa deve-se tentar realinhar o osso fraturado, pois a manobra de alinhamento pode agravar os danos, comprometendo estruturas adjacentes. Esse procedimento deve ser realizado por profissional capacitado e em lugar adequado (BRASIL, 2003). Não se deve remover ou transportar o acidentado de fratura, antes de ter a parte comprometida imobilizada corretamente. A única exceção a ser feita é para os casos em que o acidentado corre perigo iminente de morte.
ENTORSE
Acontece quando se excede o limite normal de rotação da articulação, devido a movimentos violentos, puxões ou rotações, causando, assim, um estiramento ou rotura dos ligamentos que sustentam a articulação, mas não há o deslocamento completo dos ossos da articulação (SANTORO, 2013).
O entorse causa dor de grande intensidade ao redor da articulação, levando, desse modo, a uma limitação de movimento do membro atingido. Essa limitação vai depender da intensidade de contração muscular ao redor da lesão, o que torna qualquer tentativa de movimento doloroso. Acompanham esses sintomas também o edema e a equimose no local (BRASIL, 2003).
Os procedimentos a serem realizados no caso de entorse devem ser:
Aplicação de compressas frias ou gelo, para combater o inchaço e dor. Deixar a compressa de 15 a 20 minutos, tendo o cuidado de proteger a pele com um pano;
Imobilização do local com talas ou ataduras, na posição que for mais cômoda para a vítima;
Encaminhamento da pessoa ao serviço de saúde
LUXAÇÃO
Nas luxações ocorre o deslocamento parcial do osso para fora da sua posição normal na articulação, fazendo com que as superfícies articulares deixem de se tocar de forma

permanente. Essa lesão pode trazer danos também aos tecidos moles que o circundam, atingindo vasos sanguíneos, nervos e capsula articular.
Esse tipo de trauma ocorre, geralmente, devido a movimentos violentos e até mesmo uma contração muscular. Os sintomas são dor acentuada, dificuldade em executar movimentos e edema da região afetada (BRASIL, 2003).
Os primeiros socorros limitam-se à aplicação de bolsa de gelo ou compressas frias no local afetado e à imobilização da articulação, preparando a vítima para o transporte ate o serviço especializado (SANTORO, 2013).
ASFIXIA
A asfixia pode dar-se por bloqueio da passagem de ar (afogamento, estrangulamento, soterramento, espasmos e secreções da laringe, presença de corpo estranho na garganta) por insuficiência de oxigênio no ar (altitudes elevadas, falta de ventilação no ambiente, incêndios em ambientes fechados, por inalação de fumaça, contaminação do ar por gases tóxicos) por impossibilidade do sangue em transportar oxigênio, por paralisia do centro respiratório no cérebro (choque elétrico, venenos, ferimentos na cabeça e aparelho respiratório, ingestão de grande quantidade de álcool, substâncias anestésicas, psicotrópicos e tranquilizantes); e por compressão do corpo (compressão externa nos músculos respiratórios traumatismo torácico) (BRASIL, 2003).
O oxigênio é vital para o funcionamento cerebral, portanto, se a função respiratória não voltar no prazo de 3 a 4 minutos, as atividades cerebrais cessarão totalmente e este indivíduo pode evoluir a óbito. Os sinais mais importantes dessa situação são a cianose (arroxeamento da pele) e a dilatação das pupilas (BRASIL, 2003).
Os principais sintomas da asfixia são a incapacidade de falar, respiração difícil e ruidosa, cianose, inconsciência, gestos de sufocação em que a vítima leva as mãos ao pescoço, sendo este, o sinal universal de sufocação (SANTORO, 2013).
As melhores condutas no caso de asfixia em que a vítima se encontra inconsciente são (BRASIL, 2003):
favorecer a passagem do ar através da boca e das narinas (retirada de possíveis
objetos da boca e garganta, elevação do queixo do indivíduo); arejar o ambiente;
afastar a causa da asfixia;
afrouxar as roupas em volta do pescoço, peito e cintura; proceder à ressuscitação cardiopulmonar até que a vítima dê entrada em local onde possa receber assistência especializada.

CORPOS ESTRANHOS
Nas vias aéreas
A presença de corpo estranho na garganta é muito comum, sendo esta a terceira causa de óbito por acidentes no país. Os principais objetos que causam asfixia são ossos de galinha, espinhas de peixe e moedas. Deve-se encorajar a vítima a tossir vigorosamente e, se isso não tiver resultado, aplicar técnicas para expelir o objeto (BRASIL, 2003).
No caso de obstrução parcial das vias aéreas, em que ainda há tosse e capacidade de fala, o mais adequado é pedir a tosse vigorosa da vítima e nunca realizar manobras, muito menos o golpeamento da região posterior do tórax, pois isso pode deslocar o corpo estranho e agravar a situação (SANTORO, 2013).
Se a vítima não conseguir desbloquear as vias aéreas, deve-se realizar a manobra de Heimlich (FERREIRA; GARCIA, 2001).
A Manobra de Heimlich eleva o diafragma pela pressão abdominal e aumenta a pressão do ar, forçando o corpo estranho para fora das vias aéreas (FERREIRA; GARCIA, 2001).
Essa técnica deve ser aplicada em crianças maiores de um ano e adultos em caso de asfixia total em que a vítima ainda está consciente. Em casos de inconsciência, deve-se proceder a cinco compressões torácicas para cima e para dentro com a vítima em decúbito dorsal, também retirar o objeto da garganta com os dedos se este estiver visível (SANTINI; MELLO, 2008).
A manobra consiste em posicionar-se atrás da vítima e colocar um dos pés entre os pés dela, passar os braços por baixo dos braços da vítima e em volta da cintura (cinco dedos acima
do umbigo), segurar o próprio punho com a outra mão, apertar o diafragma do acidentado para dentro e para cima (em forma de “J”), e fazer a compressão até que a vítima volte a falar ou a tossir (FLEGEL, 2008).
Manobra de Heimlich

Fonte: Santos, 2008.

Compressões torácicas

Em grávidas e obesos, a manobra deve ser feita com as mãos aplicadas na região do tórax. Se a vítima for criança menor de um ano de vida, deve-se sentar e colocá-la, inicialmente, em decúbito dorsal sobre as pernas do socorrista, com a palma da mão golpear as costas cinco vezes e, depois, virá-la em decúbito ventral e proceder a cinco compressões torácicas. A manobra de Heimlich nessa idade é contraindicada, pois pode lesionar vísceras abdominais (SANTORO, 2013).
Se a vítima estiver inconsciente, ligar para a emergência médica e proceder à ressuscitação cardiopulmonar (BRASIL, 2003).
Objetos estranhos também podem penetrar nos olhos, ouvidos e nariz. Corpos estranhos comuns que podem levar a acidentes são objetos e estilhaços de plásticos, metais e vidros, partículas de areia, terra e poeira, grãos de cereais, aerossóis, gotas de produtos químicos, entre outros (BRASIL, 2003).
Em todas as ocasiões, é necessário manter a calma e tranquilizar a vítima (BRASIL, 2003).
NOS OlhOS
A primeira coisa a se fazer é localizar, visualmente, o objeto e pedir que a vítima abra e feche os olhos repetidamente para que as lágrimas lavem os olhos e removam o corpo estranho (BRASIL, 2003).

Na sequência, lavar os olhos com soro fisiológico (ou água corrente) por, no mínimo, quinze minutos, para isso o acidentado deve manter o rosto debaixo d’água e abrir e fechar repetidamente o olho afetado. Qualquer líquido que atingir os olhos deve ser removido rapidamente com água corrente. Quando o corpo estranho encontrar-se aderido à córnea ou conjuntiva, não deve ser retirado (SANTORO, 2013).
Caso a lavagem não resolva o caso, cobrir o olho afetado com curativo oclusivo ou compressa, sem apertar, e seguir, imediatamente, para um serviço especializado (BRASIL, 2003).
Muitas vezes a vítima pode reclamar da presença de corpo estranho, mas o objeto não é encontrado. Neste caso, o corpo estranho pode ter saído ou penetrado no olho, o que pode causar uma lesão grave, por isso é muito importante o encaminhamento ao médico (SANTORO, 2013).
NOS OuvidOS
É muito comum a penetração acidental de insetos, sementes, cereais, entre outros nos ouvidos. Não se deve usar pinça ou qualquer objeto para a retirada do corpo estranho, pois o uso desses instrumentos só pode ser feito por profissional habilitado (BRASIL, 2003).
No caso de alojamento de insetos vivos, a manobra consiste em acender uma lanterna em ambiente escuro próximo ao ouvido, o que atrairá o inseto para fora (SANTORO, 2013).
Encaminhar a vítima para o socorro especializado, mesmo que esteja assintomática (BRASIL, 2003).
NO Nariz
No caso de corpo estranho dentro das narinas, a conduta é comprimir a narina não afetada com o dedo e pedir que a vítima assoe o nariz pela narina obstruída. Se não sair com facilidade, procurar o auxílio médico imediatamente (BRASIL, 2003).
Não permitir que a vítima assoe o nariz com violência e mantê-la calma para que não inale o corpo estranho, recomendando-lhe que prefira a respiração bucal nessa hora (BRASIL, 2003).
5.3. CONVULSÕES
A convulsão consiste em uma série de contrações dos músculos voluntários, com ou sem perda de consciência. Os movimentos incontroláveis duram, em média, de 2 a 4 minutos (BRASIL, 2003).
As principais causas são a febre muito alta, hipoglicemia, erro no metabolismo dos aminoácidos, hipocalcemia, traumatismo na cabeça, hemorragia intracraniana, edema cerebral, tumores, intoxicação por gases, álcool, drogas, insulina e outros, epilepsia e outras doenças do sistema nervoso central (BRASIL, 2003).
Os principais sintomas se resumem em inconsciência, queda desamparada, olhar vago/revirar dos olhos, suor, alterações pupilares, lábios arroxeados, salivação excessiva, morder língua/boca, corpo rígido e contração do rosto, palidez intensa, perda de urinas ou fezes (BRASIL, 2003).
Cuidados gerais a seguir nessas ocasiões (BRASIL, 2003):
Evitar a queda da vítima e o traumatismo da cabeça, acolchoando-a, se possível;
Afastar qualquer objeto que esteja perto e ofereça perigo; Não interferir nos movimentos convulsivos;
Não tentar segurar o paciente;
Afrouxar as roupas da vítima;
Lateralizar o corpo, para evitar asfixia em caso de vômito;
Quando cessada a convulsão, manter a vítima deitada até o autocontrole e plena consciência;
Monitorar os sinais vitais e nível de consciência;
Encaminhar a vítima ao serviço hospitalar, imediatamente;
Convulsão

Decúbito lateral



Fonte: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2104-6.pdf>.
6. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA:
PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR)
Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013), a PCR ainda é um problema mundial de saúde pública, mesmo com os avanços na área da saúde de prevenção e tratamento, ainda ocorrem muitas mortes no Brasil devido as PCRs. Tem-se como definição para PCR “ a interrupção súbita e brusca da circulação sanguínea sistêmica e da respiração” (HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, 2013, p. 3).
É importante lembrar-se de que “os sinais clássicos que acompanham a PCR são: a perda da consciência devido à diminuição da circulação cerebral; os pulsos tornam-se ausentes, assim como os movimentos respiratórios” (FERREIRA et al, 2013, p. 73).
A parada cardíaca é a perda dos movimentos de bombeamento do coração, levando à inconsciência, à ausência de pulso e, consequentemente, à ausência da respiração. As principais causas da parada cardíaca são: infarto do miocárdio, choque elétrico, traumas, overdose de drogas, envenenamento, afogamento, sufocamento, complicações anestésicas e cirúrgicas, sendo que as doenças do sistema circulatório são as mais prevalentes, com uma decorrência de 32% de mortes no Brasil (FERREIRA et al, 2013).
Para a diminuição desse número de mortes, a identificação do indivíduo que está em PCR é de extrema importância para o início do atendimento à vítima. “O diagnóstico da PCR deve ser feito com a maior rapidez possível, e compreende a avaliação de três parâmetros:

responsividade; respiração e pulso” (PAZIN-FILHO et al, 2003, p. 163). Após a identificação de que a vítima está em PCR, devem-se iniciar as manobras de reanimação o mais rápido possível. Conforme Brasil (2003), a ressuscitação cardiorrespiratória (RCR) é um conjunto de medidas utilizadas no atendimento à vítima de PCR. Esta envolve técnicas adequadas para o suporte das funções respiratórias e circulatórias, o que chamamos de Suporte Básico de Vida (SBV). “O suporte básico de vida compreende ventilação e massagem cardíaca e só deve ser interrompido em três situações: para se proceder à desfibrilação, para a realização da intubação orotraqueal e para a infusão de medicação na cânula orotraqueal” (PAZIN-FILHO et al, 2003, p. 165), procedimentos esses que só devem ser realizados por profissionais capacitados para tal.
AtendimentO a parada CardiOrrespiratória pOr leigOS
Ao tratar-se de primeiros socorros, é importante considerar que “o treinamento de indivíduos leigos pode elevar substancialmente a probabilidade de um espectador realizar a RCP e aumentar a sobrevida de uma vítima que sofreu parada cardíaca” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013, p.10). Porém, muitas vezes, ao se depararem com uma situação de emergência, como uma parada cardiorrespiratória, pessoas que não são treinadas podem ter dificuldades em realizar a abordagem correta à vítima, por isso, os Serviços Médicos de Emergência (SME) indicam a realização somente da compressão torácica de forma rápida e contínua. Assim, por ser esse um procedimento mais fácil de ser realizado, tem mais chances de ser executado.
A seguir, são listados os 6 passos que devem ser realizados em caso de socorrer uma vítima em parada cardiorrespiratória, conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013):
1. Confira a segurança do local: Primeiramente, deve-se avaliar a segurança do local no qual está ocorrendo a PCR, certificando se ele é seguro tanto para a vítima quanto para o socorrista. Portanto, antes de qualquer socorro, deve-se fazer a observação do ambiente e, se o mesmo não oferecer segurança, torná-lo seguro, podendo-se, assim, prosseguir com o atendimento.
2. Avalie a responsividade da vítima: Avaliar a responsividade da vítima aos comandos, chamando-a e tocando-a pelos ombros. Se não houver resposta, avalie sua respiração,

observando se há elevação do tórax em menos de 10 segundos. Se a vítima responder e respirar deve-se permanecer ao lado dela, conversando e avaliando a evolução do quadro. Se não houver resposta ou houver dificuldades na respiração, chamar ajuda, imediatamente.
3. Chame ajuda: Num ambiente extra-hospitalar, ligue para o número local de serviço de emergência. Se houver outras pessoas por perto, podem ser delegadas tarefas a elas.
A pessoa designada para ligar para o serviço de emergência deve conhecer a situação real em que ocorreu o acidente e o que ocasionou a PCR, ainda, deve conhecer o local do incidente para informar quais as condições em que a vítima se apresenta no momento, além de relatar o que está sendo realizado como primeiros socorros.
4. Cheque o pulso: Checar o pulso carotídeo da vítima por 10 segundos, observando se há batimentos. Esse processo deve ser repetido a cada 2 minutos.
5. Inicie as manobras de RCP: Iniciar o auxílio com ciclos de 30 compressões e duas ventilações, considerando que existe um dispositivo de barreira (como máscara), senão, realizar somente as compressões torácicas de forma “rápida e forte”. “Compressões torácicas efetivas são essenciais para promover o fluxo de sangue, devendo ser realizadas em todos pacientes em parada cardíaca” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013, p. 5).
O socorrista deve-se posicionar-se corretamente ao lado da vítima, localizar a parte inferior do externo, posicionar as mãos entrelaçando-as, realizando as compressões de cinco centímetros de profundidade, sendo no mínimo 100 compressões por minuto, permitindo o retorno do tórax após cada compressão Se a RCP for realizada por mais de uma pessoa, então pode ser feito revezamento entre elas no atendimento.
Figura: Posicionamento para realização das compressões torácicas.


Fonte: I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013.

As manobras de RCP nunca devem ser interrompidas, exceto se a vítima se movimentar, durante a fase de análise do desfibrilador, na chegada da equipe de resgate, posicionamento de via aérea avançada ou exaustão do socorrista (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013, p. 8).
6. Assim que o DEA chegar, ligue-o e siga suas instruções: Cabe mencionar que “desfibrilação precoce é o tratamento de escolha para vítimas em fibrilação ventricular de curta duração, como vítimas que apresentaram colapso súbito em ambiente extra-hospitalar, sendo este o principal ritmo de parada cardíaca nesses locais” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013, p. 8).
O Desfibrilador Externo Automático é um aparelho que, em casos nos quais a vítima necessita de choque, irá aplicá-los automaticamente. Suas instruções são de fácil manuseio: Primeiramente devem-se remover as roupas do tórax da vítima e ligar o aparelho. Logo após, deve-se destacar as pás e colocá-las sobre o tórax da vítima nas posições corretas. O aparelho pede para que não se encoste na vítima. Se o ritmo for desfibrilável, o choque será recomendado pelo aparelho e cabe ao socorrista acionar a tecla de choque. Se não, o aparelho anuncia que o choque não é recomendável, sendo necessárias as manobras cardíacas (FERREIRA et al, 2013, p. 76).
Ainda de acordo com a American Heart Association (2010), a Ressuscitação cardiopulmonar e o uso de DEA/DAE por socorristas são recomendados para aumentar as taxas de sobrevivência em PCR súbita fora do âmbito hospitalar.
6.1. DESMAIO
O desmaio é a perda súbita e temporária da consciência, devido à diminuição de sangue e oxigênio no cérebro (BRASIL, 2003).

As principais causas são a hipoglicemia, cansaço excessivo, fome, nervosismo intenso, emoções súbitas, susto, acidentes com perda sanguínea, dor intensa, prolongada permanência em pé, mudança súbita de posição, ambientes fechados e quentes, arritmias cardíacas (BRASIL, 2003).
Os principais sintomas se resumem em fraqueza, suor frio abundante, náuseas, palidez, pulso fraco, pressão arterial baixa, respiração lenta, extremidades frias, tontura, escurecimento da visão, perda da consciência e queda (BRASIL, 2003).
Se a pessoa apenas começou a passar mal, sentá-la em uma cadeira e curvá-la para frente, mantendo a cabeça abaixo dos joelhos, pedir que ela respire profundamente até que o mal estar passe (BRASIL, 2003).
No caso de inconsciência, recomendam-se os seguintes procedimentos (BRASIL, 2003):
• deitar o indivíduo em decúbito dorsal com os membros inferiores elevados;
• afrouxar as roupas;
• manter o ambiente arejado;
• em caso de vômito, lateralizar a vítima para não ocorrer asfixia;
• monitorar os sinais vitais e o nível de consciência.
Se o desmaio passar de dois minutos deve-se acionar o serviço de socorro e proceder à ressuscitação cardiopulmonar, se necessário (BRASIL, 2003).
Desmaio
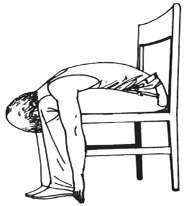
Elevação de Membros inferiores

Fonte:<http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdepr imeirossocorros.pdf>.
CAPÍTULO 3: PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E BULLYING
7. IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE VIOLÊNCIA
O professor deve criar um ambiente propício ao desenvolvimento cognitivo e afetivo de seus alunos. Mediante o contexto atual, verifica-se um grande processo conturbado, no âmbito político, cultural, social e educacional. Momentos de desencontros, desacertos, mas que emergem sinais de vida, ou seja, esperança de mudanças sociais e educacionais, que, ao serem destacadas observa-se à necessidade de se fazer reflexões sobre o verdadeiro compromisso pôr parte do educador no relacionamento e aprendizado com o aluno, uma vez que ao assumir seu papel, deve fazê-lo com responsabilidade.
No relacionamento professor-aluno, sempre há trocas de experiências e de conhecimentos, no qual o professor estando no lugar de quem deve ensinar, de transmitir



conhecimentos, também aprende com a realidade de cada aluno; e o aluno no lugar de quem recebe ensinamentos, também ensina e aprende, mesmo sem intencionalidade.

De acordo Dayrell (1999, p.87): Há sempre uma circulação de conhecimentos formais e sistemáticos, de que os primeiros (professores) são titulares, como também de saberes da vida cotidiana, das formas e conteúdos culturais, de que os alunos são igualmente portadores.
Neste sentido percebe-se, que há nestas trocas de conhecimentos relações positivas e conflitos, haja vista que professores e alunos fazem parte de diferentes posições e expressam opiniões diferentes, muitas vezes distanciadas pela diferença de idade, de origem e posição social e até mesmo pela linguagem utilizada pôr ambos, e com isso os alunos acabam fechandose entre si, não permitindo uma relação mais harmoniosa, causando desta forma um confronto no convívio escolar, no qual nas formas de relacionamento corre-se o risco de um comportamento autoritário do professor, estimulando os alunos a se afastarem ou criar situações conflituosas.
O tradicionalismo ainda se faz presente nas escolas, quando se trata de relação professor-aluno. O autoritarismo está ali arraigado no educador que para não enfrentar o “novo” prefere se prender no que talvez para ele seja mais fácil e melhor de dominar: o grito, o abafar da voz do aluno, as determinações impostas como rigidez
No entanto, nem tudo está definido, há expectativas que permeiam um novo modo de ser, de agir, de se relacionar no que diz respeito ao processo de aprendizagem no qual se tem visto, que a partir do momento que o educador passa a se relacionar com seu educando, num compromisso de ajuda, cumplicidade e que ambos através da consciência crítica e da reflexão, adquirem autonomia para agir, questionar e até mesmo interferir no âmbito escolar, inserindo sugestões que contribuam para o desenvolvimento de um trabalho mais consistente.

O bullying é um dos fatores de violência que gera muitas discussões e exige de todos, conhecimento, reflexão, atitude preventivas, como forma de desmistificar essa violência na escola. Inicialmente visto pelos jovens como uma brincadeira, no entanto a intenção é intimidar, perseguir, provocar, apelidar, incomodar, e até mesmo espancar aqueles que determinado indivíduo ou grupo decidem ser diferente dos demais.
Bullying é uma palavra de origem inglesa que tem como raiz o termo bull, “é um termo utilizado para designar pessoa cruel, intimidadora e/ou agressiva” (GUIMARÃES, 2009). Este termo ganha importância no século XXI, após anos de existência. O bullying se apresenta enquanto prática de violência sem motivo aparente e que possui como local específico, as escolas. Entretanto, esta violência pode ser mascarada pelas brincadeiras (mesmo que de mau gosto) ou informadas pelos agressores como acidentes. Mas, o que se presencia são cenas de terror e agressões graves exercidas sobre outros alunos atitudes que preocupa educadores, pais, juristas e sociedade.
O ato bullying “ocorre quando um ou mais alunos passam a perseguir, intimidar, humilhar, chamar por apelidos cruéis, excluir, ridicularizar, demonstrar comportamento racista e preconceituoso ou, por fim, agredir fisicamente, de forma sistemática, e sem razão aparente, outro aluno” (RAMOS, 2008, p. 1).
O fato gerador que desencadeia o bullying, está entre crianças e adolescentes que apresentam qualquer característica físico ou de comportamento que ao entender dos praticantes do bullying são diferentes, a exemplo dos negros, pessoas muito gordas ou magras, tímidas, medrosas, de classe social inferior, entre outros, não há explicação ou justificativa para a pratica do bullying, ele surge e se instala nas escolas, entre os grupos e é um grande problema social e educacional.
De acordo com Fante (2005), o bullying não é um episódio esporádico ou de brincadeiras próprias de crianças; é um fenômeno violento que se dá em todas as escolas, e que propicia uma vida de sofrimento para uns e de conformismo para outros. São algumas condutas impiedosas que se observa no meio escolar, na família e nos grupos da sociedade. Um dos exemplos são as gangues que se juntam para “torturar” alguma outra pessoa.
A manifestação do bullying é diferente das brigas que frequentemente acontecem entre iguais, provocadas por motivos eventuais. Para Fante (2005), essas brigas acontecem e acabam.

O bullying, ao contrário, é aquela agressão que se apresenta de forma velada, por meios de um conjunto de comportamentos cruéis, intimidadores, prolongadamente contra a mesma vítima, e cujo poder destrutivo é perigoso à comunidade escolar e à sociedade como um todo, pelos danos causados ao psiquismo dos envolvidos. (p. 119)

As consequências do bullying podem ser desastrosas, isso porque além da violência praticada os danos sofridos pelos agredidos são incalculáveis, mexer com o psicológico é muito complexo, e, quando se trata de criança ou adolescente que ainda não possui discernimento para reagir a determinadas situações é ainda mais sério.
Para Silva (2006), o bullying é um problema sério que pode levar desde o suicídio, homicídio e dificuldades de aprendizado por parte da vítima. Ela sofre calada, tem dificuldades de relacionamento, sente-se inferior diante dos outros, provoca fobia social, psicoses, depressão e principalmente baixo rendimento escolar.
A prevenção é a melhor forma de se evitar que o mal seja instalado, essa é forma de expressão usada para qualquer fator que represente ameaça a vida humana ou a natureza de modo geral. Dessa forma, prevenir a violência na escola é a melhor forma de evitar que males como o bullying se instale.
O envolvimento de professores, pais e alunos é fundamental para a implementação de projetos de redução do bullying. A participação de todos visa estabelecer normas, diretrizes e ações coerentes. As ações devem priorizar a conscientização geral; o apoio às vítimas de bullying, fazendo com que se sintam protegidas; a conscientização dos agressores sobre a incorreção de seus atos e a garantia de um ambiente escolar sadio e seguro (NETO, 2005, p. 169).

Todo e qualquer tipo de violência deve ser combatido, reprimido, tomado todas as providências para que não se propague, considerando os fatores que originam a violência na escola e os aspectos causados por essa, cabe refletir sobre de que forma deve ser trabalhada essa questão.
A prevenção deve começar em casa, com a devida educação e repasse de valores éticos e morais aos filhos, mas quando isso não é suficiente, quando não há possibilidade de diálogo ente pais e filhos, ou até mesmo quando as famílias não são estruturadas, faltando em muitos casos para crianças e jovens a presença do pai, mãe, ou ambos, cabe a escola promover essa prevenção.
Para realizar esse trabalho as escolas precisam estar cientes do seu papel, o de ensinar e educar, disponibilizando profissionais que possam contribuir na execução de metas que resgatem a dignidade e autoestima dos indivíduos envolvidos. Um trabalho de conscientização, envolvendo a escola como um todo, e quando necessário sendo mais enfático com o aluno que demonstra precisar de ajuda especifica.
O fato da escola possuir um número considerado de alunos e um pequeno grupo que representa uma minoria apresentar problemas de comportamento que leva ao envolvimento com problemas disciplinares, e a violência com outros alunos e professores, não significa dizer que a escola deve ignorar esse “pequeno número”, pois, não sendo tomada uma atitude inibidora e curadora, o foco se alastra, e quando se percebe já contaminou muitos, sendo muito mais difícil o controle.
A sociedade tem uma visão deturpada de que a maior incidência de violência no ambiente escolar está na escola pública, no entanto, o bullying é praticado em grande parte nas escolas privadas. Existem muitas crianças e adolescentes que fazem tratamentos, terapias, para tentar se livrar dos traumas causados pelo bullying, algumas mudam de escolas por diversas vezes na tentativa de se afastar dos agressores.
Algumas famílias muitas vezes não percebem o que está acontecendo com o filho, por falta de diálogo ou interesse por seu comportamento, que se manifesta de diferentes formas, como depressão, choro constante, queda nas notas, falta de interesse para ir à escola, doenças constantes, agressão em casa, tudo como forma de fugir do problema que quando não percebido se agrava ainda mais.
8. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Elaboração de um conceito de violência que oriente as ações de prevenção
Um projeto de prevenção deve ter um conceito de violência que sirva de referência. Devem ser feitas pesquisas-diagnóstico sobre as diferentes violências existentes, incluindo pesquisa sobre as apreciações subjetivas da violência por parte da comunidade escolar.
Provavelmente haverá de ser necessário muito diálogo sobre possíveis conceitos de violência conflitantes, através do desenvolvimento de iniciativas variadas de reconhecimentode atitudes violentas no cotidiano escolar, realizando oficinas com os vários segmentos que compõem a comunidade escolar, elaborando pesquisas e atividades condizentes a produção de diagnóstico da violência escolar e estabelecendo formas de reflexão e aprendizagem sobre os casos concretos de violência acontecido.
Adoção de um modelo de gestão escolar baseado nos princípios da democracia participativa
A democracia supõe numa forma pacífica de resolver conflitos. Daí que seja necessário adotar na unidade escolar variadas formas de participação: Conselhos de Escola; Conselhos mirins, Grêmios estudantis, Comissões de trabalho, tendo em vista a elaboração coletiva (envolvendo os vários segmentos da escola) do Projeto Político Pedagógico, das normas de convivência, da constituição de formas não-violentas de resolução de conflitos, etc.
Essa implicação para o currículo relativa à necessidade de participação democrática na escola reveste-se de uma importância singular, pois sem ela ficam comprometidas outras medidas típicas de prevenção da violência escolar como a mediação de conflitos entre alunos/as e a elaboração de normas a partir dos princípios pautados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e a educação em valores. Estes valores que somente são assimilados e

praticados se forem vivenciados. Dessa forma, é difícil e notoriamente incongruente uma escola pretender educar na convivência e continuar sendo autoritária e excludente.
Criação de uma estrutura para o Projeto Preventivo e elaboração das orientações gerais de prevenção e intervenção
Manutenção de uma equipe permanente do projeto preventivo que sirva de apoio para a as escolas. Esse é, também, um fator que traz implicações para o currículo, na medida em que se apresenta como um instrumento de suporte representando uma equipe preparada para atuar quando necessário. Apontam-se desta forma: os plantões de serviços de atendimento à ocorrências de violência; a construção de um fluxo dos encaminhamentos diversos em relação aos diferentes fenômenos de violência; as orientações em relação aos sinais e pistas de reconhecimento de crianças, adolescentes e jovens vítimas de violência, bem como aos procedimentos de cuidados para as vítimas de violência e a disponibilização de meios e recursos permanentes para atuação dos educadores (as) e da equipe do projeto.
Formação na perspectiva da prevenção da violência escolar
Prevenir a violência escolar implica em desenvolver amplos programas de formação, da maior abrangência, profundidade e regularidade possível. Nesse sentido, aos Projetos de Prevenção recomenda-se a realização de atividades diversas. Incluindo o desenvolvimento de atividades extra-classe, obviamente com o envolvimento de todos os alunos, mediante campanhas várias, conseguindo espaços na mídia, e realizando atividades lúdico-pedagógicas na cidade. Percebe-se essas atividades significativas para o alargamento do espaço educativo da escola e do currículo, revelando inovações educativas interessantes.
Um outro fator importante na prevenção, refere-se às atividades de formação com professore/as, funcionários/as, membros dos conselhos de escola e famílias. Os professores/as são extremamente importantes para que os projetos de prevenção da violência deem certo. A formação deve ser permanente, não apenas porque os fenômenos da violência são complexos e dinâmicos, mas também, porque continuamente chegam novos professores, que,

possivelmente, trazem concepções sobre a violência escolar pautadas pelo senso comum ou a mídia, que podem pôr em perigo os avanços realizados.
De um modo geral pode-se sintetizar para a realização da formação, no âmbito do Projeto de Prevenção: ações de sensibilização e divulgação do Projeto; elaboração de campanhas, eventos e divulgação na mídia; a adoção de um programa de formação para a comunidade escolar nos temas inerentes a situações de violência escolar e da educação da convivência e da paz; e sobre formas cooperativas de aprendizagem.
Atividades culturais e de lazer
As atividades culturais e de lazer constituem uma implicação bastante significativa para o currículo no trabalho da prevenção e aponta para a possibilidade da realização de atividades culturais e de lazer com vistas a propiciar a aproximação e interação das pessoas consigo mesmas e com os demais de forma lúdica, descontraída, em que o direito à diversão apareça. Oportunidades essas que possam contribuir para o fortalecimento da identidade cultural local e para o processo educativo.
Adequações do Espaço Físico e medidas de segurança
A arquitetura das escolas (o espaço físico, a forma com que são projetados e construídos os prédios, a distribuição dos espaços) é reveladora de formas de convivência e deve estar em sintonia com o propósito do trabalho de prevenção à violência escolar.
Enquanto às necessárias adequações do espaço físico como implicações para o currículo, cabe mencionar também o desenvolvimento de uma concepção de apropriação comunitária do espaço da escola, que possa contrastar com a concepção de que muros altos, ou a instalação de grades no intuito de se garantir a sensação de segurança.
Articulação com agentes externos à escola
A articulação com agentes externos à escola é considerada pela teoria como uma das principais medidas para a prevenção da violência escolar e deve fazer parte da raiz de qualquer projeto de prevenção, na perspectiva de um trabalho em rede envolvendo: famílias;

representantes/promotores de políticas públicas (nas três esferas de governo); representantes da Vara da Infância e Conselho Tutelar; representantes das polícias (Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros); representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), representantes da Comunidade Local/Bairro/ONGs (Organização Não Governamental).
Adoção de formas de avaliação do Projeto
A adoção de formas de avaliação é, também, uma atividade essencial aos projetos de prevenção da violência escolar, que podem, assim, ir monitorando suas atividades. Avaliar para possibilitar a aferição de resultados na prevenção da violência no âmbito educacional e ao mesmo tempo contribuindo para a orientação/reorientação das ações de prevenção.
9. RESPONSABILIDADE DA ESCOLA
A escola não apenas reproduz as violências correntes na sociedade, mas produz formas próprias, de diversas ordens, tipos e escalas, que se refletem no dia a dia. Assim, recusa-se a tese de que a instituição não reflete somente um estado de violência generalizado que teria origem fora dela. Se fosse dessa maneira se retira do sistema de ensino sua responsabilidade sobre o processo de produção e enfrentamento da violência.
A perspectiva que afasta da escola a condição de produtora de violência não dá conta da complexidade da problemática, pois, como se discute ao longo deste capítulo, a violência na escola é um fenômeno com muitas facetas que assume determinados contornos em consequência de práticas que acontecem nas escolas.
As micro violências podem passar despercebidas e são muitas vezes consideradas normais por todos. Entretanto, possuem um impacto importante na criação de um clima de insegurança as agressões verbais, especialmente os xingamentos, consideradas micro violências, incivilidades, desrespeito, ofensas, modos grosseiros de se expressar e discussões, ocorrem muitas vezes por motivos banais ou ligados ao cotidiano da escola. Dentro de uma concepção ampla do fenômeno da violência e sua interferência no cotidiano escolar, micro violências são vistas efetivamente como violências, e são cada vez mais comuns.

Embora, muitas vezes, as agressões verbais sejam compreendidas como fatos menores, “comportamentos típicos de adolescentes e jovens”, elas têm um impacto sobre o sentimento de violência experimentado por alunos, e podem ser, como se analisará mais adiante, uma das portas de violências físicas. Assim, alunos se ofendem com palavrões, apelidos, difamação, insultos, ofensas. Quando se fala sobre as múltiplas violências ocorridas no espaço escolar, falase, principalmente, nas brigas aluno-aluno, entretanto, não se pode esquecer que os membros do corpo técnico-pedagógico dos estabelecimentos de ensino também são potenciais vítimas e agressores. Os professores queixam-se de insultos, palavrões, palavras agressivas, acusações, ridicularizações, violência verbal por parte dos pais entre outras. No entanto, os alunos também se queixam dos professores, exemplificando a maneira agressiva como muitos deles são tratados: arrombada, retardada, burra, marginais, medíocres, imprestáveis, drogados, raça podre, vagabundos, pobres, vadios etc
Há outros tipos de violências referentes à raça e a homofobia. O preconceito se relaciona com a crença preconcebida acerca de atributos e qualidades de indivíduos a partir de características específicas, acreditando-se em inferioridades naturais de determinados indivíduos por sua raça/cor, maneira de falar, de se vestir etc. e agindo de maneira diferente por se acreditar em inferioridades de alguns e superioridade de outros.
As discriminações nas escolas atingem grupos historicamente relegados socialmente, que enfrentam situações de injustiça cotidianas. O preconceito sofrido tem muita influência quando se trata de alunos, ou seja, adolescentes e jovens. A discriminação na escola não é apenas uma prática individual entre os alunos. São, principalmente, ações e omissões do sistema escolar que podem contribuir para prejuízos na aprendizagem do aluno, influenciando negativamente seu processo de construção da identidade dos adolescentes e jovens.
Homofobia
Uma das discriminações que mais chama a atenção nas escolas é a homofobia, ou o tratamento discriminatório sofrido por jovens de ambos os sexos tidos como homossexuais, legitimada por moralismos em nome da masculinidade. Tal discriminação baseia-se na concepção de que existe uma sexualidade correta, “normal”, que deve ser sinônimo de casar e ter filhos. Assim, a homofobia é legitimada por padrões culturais que condenam práticas não-

heterossexuais. Com efeito, em uma cultura machista, a homossexualidade representa uma afronta à masculinidade/virilidade.
Em pesquisas realizadas sobre Violências nas escolas (ABRAMOVAY e RUA 2002; ABRAMOVAY et al 2006; ABRAMOVAY, CUNHA e CALAF 2009) as roupas, assim como o jeito ou a forma de se comportar, fornecem indicadores da homossexualidade: meu amigo sempre era chamado de gay pelo estilo dele... Aqui, se a pessoa tiver um jeito estranho para muitos essa pessoa é gay.
Portanto, não é preciso se assumir homossexual publicamente para que a discriminação aconteça: o aparentar já é motivo para chacotas, insultos e humilhações.
Os homossexuais sofrem na escola com agressões verbais, humilhações, isolamento e também com agressões físicas. A falta de abertura das escolas para a discussão e o não entendimento de que isso é uma violência grave faz com que esses alunos não tenham a quem recorrer, tampouco apoio, para enfrentar a situação, sendo excluídos de vários lados, banalizando e naturalizando os comportamentos violentos existentes.
Diversas situações causam constrangimento, magoam, ferem a dignidade e geram baixa autoestima dos estudantes afetados pela homofobia. Podem ter como consequência ainda, constantes trocas de estudantes de sala, mudanças de escola, abandono e reprovações, com impacto direto no fracasso escolar. Além das ofensas sofridas, muitos estudantes identificados como homossexuais são vítimas, também, de agressões físicas.
Racismo
Um tipo de discriminação muito comum é o racismo, que acompanha a realidade brasileira há muito tempo, e que, mesmo estando sua prática condenada pelo código penal (artigo 2º da Lei n. 9.459, de 1997), ainda se perpetua nas escolas.
Raça deve ser compreendida como um signo, utilizado para organizar ou classificar categorias de pessoas a partir da cor de suas peles. A discriminação racial é produto de um mundo social que classifica pessoas como inferiores e superiores por meio do critério da cor e outros traços dos indivíduos.

No plano das discriminações, instituições, como a escola, podem reforçar, servir à sua reprodução e, com isso, reduzir possibilidades de mobilidade educacional e social de crianças, adolescentes e jovens negros.
No Brasil, os apelidos atribuídos a pessoas identificadas como negras, por exemplo, tendem a ser diversos e ofendem. A ofensa racial cria uma percepção de si mesmo, muitas vezes negativa, com profundos impactos nas opiniões que os jovens tem sobre si mesmo. O racismo não é inofensivo, apesar de ser mascarado, podendo aparecer como brincadeira, por meio de apelidos ou de linguagem corporal que causa dor e sentimento de impotência. Apelidos identificados em escolas do Brasil, usados em insultos contra pessoas negras, como: assolan, amendoim, beiçuda, cabelo de Bombril/cabelo ruim, chiclete de mecânico, chocolate podre, churrasquinho, galinha preta de macumba, cola de asfalto, neguinho da favela, negro safado, pneu/suco de pneu, picolé de asfalto, preta fedida, gorila, Saci-Pererê, toalha de mecânico, Zé Pequeno, torrada queimada etc
Note-se que na lista de insultos há referências negativas a elementos de religiões afrobrasileiras, indicando a presença na escola de uma orientação cultural avessa não somente à diversidade, mas intolerante em relação a determinadas religiões e práticas culturais, um sentido de desumanização dos negros, ou seja, ao invés de ser chamado pelo nome próprio, o colega recebe um apelido de animal ou objeto. Outros alunos são associados a personagens negros, que representam tipos marginais veiculados em programas de televisão e as meninas, principalmente, sofrem com a rejeição da estética dos cabelos crespos que vai contra a concepção eurocêntrica de beleza.
Outros preconceitos
Outras manifestações verificadas nas escolas são as discriminações relacionadas às desigualdades econômicas. O preconceito contra a pobreza, manifestado de forma bastante patente é também reproduzido nos estabelecimentos de ensino. Na discriminação pela pobreza, determinados hábitos e bens de consumo podem ser valorizados ou desvalorizados. A discriminação a que são submetidas as pessoas em situação de maior pobreza compromete a construção de um sistema educacional igualitário no sentido amplo.

A discriminação pelas roupas usadas está profundamente entrelaçada com a discriminação pela pobreza. Se a questão da aparência tem grande valor na sociedade atual, atravessando regiões e espaços diversos, ela talvez tenda a ganhar especial atenção no ambiente das escolas, uma vez que os jovens estão atentos aos signos de moda e consumo. Utilizar uma mesma roupa repetidamente ou vestir-se com indumentárias que não estejam em um bom estado de conservação são ações pouco toleradas entre os alunos. No Brasil, por exemplo, apesar do uso obrigatório de uniforme na rede pública de ensino, as demais peças e assessórios vestidos são muito reparados, e seus portadores comumente podem não escapar do olhar preconceituoso. As roupas e outros itens relacionados à aparência são referidos, assim, como determinantes do status de seus proprietários.
Outro preconceito associado à questão da pobreza é o de origem regional. O preconceito com aquele que não é daqui se enquadra na falta de respeito por aquilo que não é parecido comigo. A intolerância relaciona-se com o que não faz parte do universo de sentidos familiares, sofrendo preconceito quem tem o sotaque diferente e comporta-se de maneira diversa.
Uma questão importante é a discriminação religiosa. A escola é o espaço onde se encontram crianças, adolescentes e jovens de diferentes níveis e grupos sociais. Assim, indivíduos com diferentes crenças e identidades, inclusive religiosas, convivem e se relacionam cotidianamente.
A discriminação contra adeptos de religiões protestantes, pentecostais e neopentecostais é bastante recorrente, assim como discriminação contra religiões afro brasileiras. A categoria “macumbeiro” é o xingamento ao qual correspondem seguidores das religiões afro-brasileiras, e está sempre relacionada ao mal e ao errado.
A discriminação relacionada às pessoas com deficiência física mostra como as políticas de inclusão social de pessoas com deficiência física ou intelectual trouxeram para a escola aqueles antes excluídos de sua sociabilidade e construção de conhecimento. Porém, isso não quer dizer que as escolas, na prática, estejam preparadas para receber pessoas com deficiência e criar condições propícias para a convivência delas no ambiente escolar. A intolerância à deficiência, em algumas situações específicas, se confunde com uma intolerância estética, em que o corpo lesionado é visto como feio, e por isto se torna indesejável, não amável e rejeitado.
As questões de discriminação pela estética reproduzem situações de preconceito e rechaço a corpos diferentes do considerado “belo”, “normal” e “desejável” pelo senso comum. É mister desconstruir a categoria de “feio” como algo inexorável e absoluto.
Muitos dos que sofrem com o preconceito e com as humilhações tornam-se cada vez mais desmotivadas para ir à escola. Se a escola pública e gratuita é considerada uma instituição fundamental na construção de uma sociedade mais igualitária, democrática e justa, supostamente operando como fator de mobilidade social nos mais diversos grupos, inclusive nos menos favorecidos, a escola pode ser também um espaço reprodutor de desigualdades sociais e de exclusões.

“Violência dura”
A escola não é mais um local neutro, resguardado dos riscos exteriores. É evidente que esse tipo de violência tem consequências internas e pode ser analisada dentro da lógica escolar.
O espaço onde a escola se localiza tem influência sobre o seu cotidiano e na percepção de segurança dos alunos e adultos. Aspectos como a infra-estrutura urbana, o perfil dos moradores e o tipo de comércio são alguns dos fatores que podem interferir na visão sobre o bairro e sobre a própria escola. Além disso, podem facilitar ou dificultar o acesso à escola, melhorar ou piorar suas condições de segurança. Alteram, portanto, sua rotina, suas relações internas, bem como as interações entre os membros da comunidade escolar com o ambiente social externo.
Entre as diversas manifestações de violência, que são trazidas de fora para dentro das escolas, destacam-se as gangues e o tráfico de drogas, bem como a entrada de armas. O clima de insegurança nos arredores de determinadas escolas tem como agravante a formação de gangues que, em muitos casos, contam com alunos como seus membros.
A violência que vem de fora para dentro da escola é a mais óbvia, a que mais aparece, no entanto, faz-se necessário refletir também sobre as violências que fazem parte do cotidiano, já que elas se encontram articuladas com uma determinada ordem escolar, com questões e problemas que ela mesma tece.

O termo “violência dura” se refere a atos e episódios que podem resultar em danos irreparáveis aos indivíduos e, por isso, exigem a intervenção estatal.
As “violências duras” podem indicar muitas vezes, que algo está errado. Elas são um sinal que chama atenção para uma possível ruptura do sistema que não consegue lidar com os conflitos e desigualdades.
Um exemplo de “violência dura” que se encontra no código penal, as ameaças presentes em todas as escolas mostram-se sob várias formas e intensidades, podendo causar danos físicos e morais para as vítimas. Constituem um indício dos níveis de violência que ocorrem nos estabelecimentos e não podem ser considerados eventos de menor peso, pois alimentam o abuso de poder do agressor e o medo da vítima. A ameaça consta no Código Penal Brasileiro, artigo 47, o que a caracteriza como um ato cujo objetivo é intimidar, amedrontar e criar situações de insegurança.
Vale destacar que, em boa parte das vezes, as motivações declaradas para as ameaças são banais ou não são explicitadas, o que reforça a ideia de certa violência gratuita, naturalizada, nas relações entre os alunos. É possível observar que há entre os alunos agressores uma tentativa de defesa do seu espaço físico na escola. Devido ao clima de intimidação na escola, é frequente que professores/diretores e outros membros do corpo pedagógico expressem sentimento de insegurança.
Verifica-se que as ameaças têm impactos negativos indiretos sobre o processo de ensino e aprendizagem, comprometendo o desempenho profissional dos professores e a relação do aluno com a escola. As faltas constantes, a desconcentração e o nervosismo podem indicar que alguma coisa está errada com o aluno ou mesmo com algum adulto.
Outra forma de “violência dura” é a agressão física, que é a de maior visibilidade nas escolas, pela contundência dos atos praticados e por suas consequências que, frequentemente, traduzem-se em danos físicos aos envolvidos. Na maior parte das vezes, ela ocorre como meio de resolução de conflitos de diversas naturezas, desde brigas originadas em brincadeiras inicialmente inofensivas até aquelas geradas pela disputa de relações afetivas, passando pelo exibicionismo característico da juventude que, em nossa sociedade, pode-se expressar pelo uso da força, como: pancadaria; ‘corredor polonês’; murros e enforcamento, entre outras.

As brigas são consideradas acontecimentos corriqueiros, sugerindo a banalização da violência e sua legitimação como mecanismo de resolução de conflitos. Muitas vezes as brigas ocorrem como continuidade de brincadeiras entre alunos, podendo ter ou não consequências mais graves.
“Gênero e violência” é um tema que se presta a estereótipos e em nossas pesquisas, encontramos uma certa visibilidade da presença da mulher jovem como agressora. De fato, registra-se que distintos alunos sublinham que elas estariam cada vez mais recorrendo para o que antes era tido como um padrão masculino, brigas, apelando para agressões físicas.
As brigas encontrariam respaldo em expressões sociais difundidas de apologia de comportamentos agressivos, elevando-as à condição de atos a serem incentivados e aplaudidos, por indicarem coragem, virilidade e poder, reproduzindo uma cultura de violência.
No entanto, a chamada para um possível aumento da participação das meninas como agressoras e vítimas principalmente nas brigas entre elas, não indica que há mudanças radicais na relação gênero e violência, na escola e os casos de assédio e violência sexual.
As violências sexuais que acontecem nas escolas são sofridas principalmente pelas meninas, por vezes feitas pelos seus colegas, por outras pelos professores.
Essas atitudes além de funcionarem como violência “dura”, real são parte de uma violência moral reproduzida e ignorada pelas escolas, um tipo de brigas entre os sexos, com abuso de poder.
Os casos de furtos, envolvendo principalmente alunos, mas também adultos das escolas são bastante comuns. A frequência desses casos pode acarretar um sentimento de nãopertencimento ao espaço escolar, bem como provocar um sentimento de desconfiança na instituição e nas relações sociais ali estabelecidas. Celulares, máquinas fotográficas digitais entre outros tantos valorizados pelos jovens são exemplos de objetos apreciados pelos alunos. Esses objetos, tidos como focos de desejo, são frequentemente furtados tanto de outros alunos como dos adultos das escolas.
A prática de furtos se pauta por satisfazer demandas de uma sociedade de consumo, da exigência de estar na moda, ter objetos comuns e apreciados no grupo, que dão status, o que mais empresta complexidade ao que se entende por necessidade, em particular em se tratando de cultura juvenil em um período pautado por valores consumistas. Alguns objetos são eleitos

como alvo de desejo, mas sem que os jovens contem com a base material e possibilidades para corresponder às expectativas sociais das propagandas e do que se considera importante entre jovens, um estilo de vida, uma marca, básicos para a composição de identidades.
O furto é considerado um ato de desordem pública. Quando tais atos são repetitivos e ficam impunes, a ideia de cidadania e de confiança nas instituições é enfraquecida, quebrandose o pacto social das relações humanas e as regras de convivência. As vítimas de incivilidades sentem-se desprotegidas, o que pode leválas a deserdar de espaços coletivos (como a escola).
Os possíveis significados sociais do furto e suas implicações éticas são deixados de lado com a frequência, alimentando-se um sentimento difuso de insegurança.
A presença e o uso de armas nas escolas é outro tema bastante recorrente no discurso dos atores que fazem parte desse contexto. O apelo às armas mostra muitas vezes a necessidade da valorização da masculinidade, do poder e de atitudes viris, revelando a valorização do bandido como herói, ao qual muitos alunos associam poder e força.
O aparecimento de armas no ambiente escolar demonstra a permeabilidade desse espaço e reforça a percepção de que a escola deixou, há muito, de ser um lugar protegido. Além disso, há que se questionar sobre a facilidade com que os jovens adquirem especialmente armas de fogo que, muitas vezes, são utilizadas para defesa, mas também como símbolo de masculinidade, usado de forma exibicionista entre os colegas.
O recurso às armas em brigas e conflitos, nesses tempos do agravamento da violência na sociedade, chega em grande medida à escola. Armas na escola são sinônimos de extrema insegurança. Contudo, é importante ressaltar que o fato de estarem disponíveis não significa, obrigatoriamente, que sejam utilizadas. O porte de armas pode significar, tão somente, a intenção do indivíduo de proteger-se ou mesmo de exibir-se.
Vale ressaltar que no momento em que se sabe que alguém esteja armado, aumenta a sensação de medo e de insegurança no espaço escolar, alimentando uma espiral de violências.
Não há como negar que o uso de armas brancas e de fogo potencializa a ocorrência de incidentes tanto para quem as possui quanto para aqueles que estão em volta. Ademais, a posse de uma arma em situações de conflito aumenta a probabilidade de que desentendimentos e brigas tenham um final trágico.

Também é comum a afirmação de que o uso de armas ganhe significado de símbolo de poder com marcas de gênero, ou seja, de demonstração de masculinidade. Mas, registra-se, principalmente, que as armas são usadas no ambiente escolar para intimidação física e, segundo alguns alunos, “para defesa”.
A associação entre armas e violência pode alimentar o sentimento de insegurança existente na comunidade escolar. A escola passa a ser vista como um lugar desprotegido, dentro do qual se está vulnerável a episódios violentos, especialmente se nela não se pode contar com mecanismos de proteção.

O ambiente escolar é visto como um lugar ideal para a formação em preparação á vista em todas as dimensões do ser humano: psíquica, social, política e etc. Quando não bem preparado por essas dimensões o educando que é dotado por um conjunto de valores e expectativas que variam ao longo da história, traz consigo para a sala de aula uma conduta desordenada como bagunça, tumulto, desrespeito para com o educador, falta de limites, maus comportamentos, isto é, o não cumprimento das regras estabelecidas pelo professor. Toda essa conduta é chamada de indisciplina, que vem se manifestando cada vez mais nas escolas, tornando um obstáculo ao trabalho do educador e ao desempenho dos alunos e por sua vez expondo a perigo a educação. “A indisciplina seria indício de uma carência estrutural que se
UMA COMPREENSÃO DE INDISCIPLINA NA ESCOLA

alojaria na interioridade psíquica do aluno, determinada pelas transformações institucionais na família e desembocando nas relações escolares”. (Aquino, 1996, pág. 48 )
Todo esse problema se inicia em um ser humano por uma provável carência familiar que é quando a criança não recebe a dosagem certa de afeto, carinho, compreensão e amor da família, ou seja, é rejeitada por ela, ou quando não tem a presença do pai ou da mãe na vida familiar, e isso se acomoda no ser de uma criança, que será marcada pela revolta, agressão, e acaba reproduzindo o que presencia em casa levando para a escola, atingindo diretamente o rendimento escolar.
“A indisciplina seria, talvez, o inimigo número um do educador atual, cujo manejo as correntes teóricas não conseguiriam propor de imediato, uma vez que se trata de algo que ultrapassa o âmbito estritamente didático pedagógico, imprevisto ou até insuspeito no ideário das diferentes teóricas pedagógicas”. (Aquino, 1996, pág. 40).
Para testar o professor o aluno logo no primeiro dia de aula costuma verificar de várias maneiras com atitudes de rebeldia, para ver com quem estar lidando, com isso, se torna, o inimigo número um do educador, em que se ver obrigado a abrir mão de seu tempo para prevenir os demais educandos de tratamentos desiguais, e onde na maioria das vezes acaba acontecendo que nenhuma disciplina consegue conter toda a desordem que o indisciplinado faz, mas é bom lembrar que essas atitudes são cometidas apenas por alguns alunos e ocorrem com determinados professores.
Os conflitos ocasionados por alunos indisciplinados dentro da sala de aula, ocasiona em desgastes emocional o professor, perda de autoridade, perdem até mesmo estimulo pela profissão, com isso, teria uma perda de tempo que deveria ser utilizado para a produção de conhecimento, e muitas vezes os educadores por mais que sejam grandes mestres, ainda são enxergados como mandões, autoritário e carrascos.
CAMINHOS FAVORÁVEIS PARA O ATO INDISCIPLINAR
O educando busca de modo espontâneo e não planejado o querer viver, com isso, torna a sala de aula marcada pela diferença, pela precariedade, eles são portadores contínuos de novidades, proveniente da família na falta de limites de seus filhos e na consequência disto para a escola e para a aprendizagem. “A indisciplina escolar se expande num intervalo de

variabilidade que bem pode ir do não querer emprestar a borracha ao colega até o extremo de falar quando não foi solicitado, passando, é claro pela conhecida resistência a sentar-se adequadamente na carteira”. (Lajonquiére, 1996, pág. 25)
Esse caminho pode se iniciar quando um aluno é humilhado, injustiçado, e se revolta contra as autoridades que os vitimizam, de modo não físico, em um xingamento, podendo chegar a forma física, encontra-se dificuldades em fazer amizades e socializar suas ideias com os demais colegas de classe, essas manifestações muitas vezes pode ser feitas pelo educando indisciplinado como uma forma de mostrar sua existência para o mundo, onde a rebeldia é uma forma de expressão. Essas questões sempre farão parte da escola, pois os conflitos felizmente sempre irão existir, caso contrário, a escola estaria produzindo seres passivos que sempre concordam com tudo.
“Portanto tenhamos cuidado em condenar a indisciplina sem ter examinado a razão de ser das normas impostas e dos comportamentos esperados, e sem, também, termos pensado na idade dos alunos: não se pode exigir as mesmas condutas e compreensão de crianças de 8 anos e de adolescentes de 13 ou 14”. (La Taille, 1996, pág. 20).
Se é desejável que os alunos desenvolvam uma postura de respeito, o fundamental é que isso seja tratado desde o início da escolaridade com base na idade de cada um, querendo ou não a indisciplina afetará o trabalho de todos, não adianta esconder ou mudar a coordenação de uma escola, sua direção ou equipe de professores, pois toda escola irá sempre existir tais atitudes de rebeldias, é necessário acima de tudo um novo olhar sobre quem são esses educando, como se desenvolvem, quais são suas necessidades, pois a sociedade mudou e a escola precisa se adaptar ao modo de ver esse novo mundo.
Tiba alerta: “O ambiente também interfere na disciplina” (Tiba, 2006, pág. 128).
A indisciplina em sala de aula se deve também ao lugar que a escola ocupa hoje na sociedade, muitas vezes estão mal preparadas para enfrentar a complexidade dos problemas atuais e acabam produzindo a sua própria indisciplina, como por exemplo: como são partilhados os espaços, o tempo, as redes de relações que, quando o professor não consegue perceber essa teia, pode ocorrer conflitos e divisões de opiniões do grupo. “Quando uma criança cai e não quer ser erguida, a indisciplina materna ocorre quando a mãe a levanta,

porque fez o que ela mesma queria, sem pesquisar qual era o desejo da criança. (Tiba, 2006, pág. 41).
No primeiro ano de vida a criança começa a dá seus primeiros passos, onde fica naquele cai e levanta até tentar se equilibrar, é algo novo para ela e precisa aprender o significado de tudo isso, e a mãe muitas vezes com todo aquele amor e medo de ver o filho se machucar, transmite a ela com seu olhar de medo que cair é perigoso, e não pode ver o filho cair que já o levanta, e isso o que torna a indisciplina, pois simplesmente a mãe não pensou qual era o desejo do filho onde muitas vezes era o de ficar no chão, e mais tarde acabará tendo um filho indisciplinado por fazer tudo pela criança, na hora certa em que pedir qualquer coisa para ela.
Tiba cita: “A fixação oral tem a ver com indisciplina nesse desenvolvimento e pode refletir na dependência do cigarro, da bebida e de tudo que provoque sensações na boca” (Tiba, 2006, pág. 36)
Muitos pais não podem ouvir o choro dos filhos quando pequeno, e tendem a oferecer comida a qualquer choro da criança, muitas vezes não é o remédio que ela precise, mas acaba proporcionando um certo alivio, mais tarde quando se transforma em jovem todo o exagero dos pais passa a refletir nos filhos, se tornando dependentes por tudo que provoca sensações na boca, como o uso da bebida, das drogas, onde elas agem diretamente no comportamento do jovem que vai perder o controle de se mesmo, provocar a desordem, bagunça dentro da sala de aula, pode chegar ao ponto de agredir o educador ou a não querer mais estudar, e se tornará uma pessoa diferente, desconhecida do que era antes.
A indisciplina está presente no desrespeito ao desenvolvimento biológico por parte dos pais: motivados pelo amor, pelo desejo de satisfazer todas as necessidades dos filhos, alguns pais não modificam seus comportamentos nem suas ofertas á medida que a criança cresce.
(Tiba, 2006, pág.37)
A ausência dos pais em casa acaba prejudicando na educação dos filhos, pois para compensarem os filhos de tal ausência, acabam atendendo os desejos, vontades das crianças para não ficarem com o sentimento de culpa, com isso, a educação, os limites e boas maneiras sempre é posta de lado.
“O manhoso que quer comida na boca, o folgado que não se mexe quando vê outras pessoas precisando de ajuda, o aluno que não estuda e cola na prova, os pais que dizem quando

crescer o filho melhora, todos eles deixam tudo por conta do alheio. É um estilo de indisciplina passiva, com a qual as pessoas se acomodam, não tem aspirações, nem ambições.” (Tiba, 2006, pág. 207,208.)
Pessoas assim, possuem muitas capacidades para fazer, mas ficam só na espera que os outros façam tudo por eles, acostumaram que para viver precisam sempre da ajuda do outro, não pensando eles, que estão prejudicando a si mesmo, estragando a capacidade de serem seres inteligentes, desenvolvidos e no futuro constituírem sua formação e um bom emprego.
Aquino afirma: “Estas tantas questões nos levam, enfim a considerar a indisciplina como um sintoma de outra ordem que não a estritamente escolar, mas que surte no interior da relação educativa”. (Aquino, 1996, pág. 41)
As tais condutas, rebeldias, desordens, e algumas indisciplinas mais, chega ao ponto de se considerar como um sintoma que a criança traz de casa, e que acaba levando diretamente para a instituição escolar.
10. LEI LUCAS E SUAS FINALIDADES
A Lei Lucas surgiu devido a morte do menino de 10 anos, por afogamento. Lucas Begalli Zamora, em setembro de 2017 estava sob supervisão dos funcionários da escola em um passeio escolar, se engasgou com um cachorro quente, teve asfixia mecânica, sete paradas cardíacas e depois de 50 minutos de tentativas fracassadas em lhe prestarem os primeiros socorros, veio a óbito (PROJETO DE LEI, 2018).
Portanto, a criação dessa Lei visa proporcionar e oferecer aos pais e mães de todo o país, um panorama de maior conforto e segurança, para que seus filhos não estejam expostos aos riscos de acidentes no âmbito educacional e recreativo. Acidentes ocorrem a todo lugar e momento, assim tornando-se obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimento de recreação infantil (PROJETO DE LEI, 2018).

De acordo com o Art 1º da Lei nº 13.722 (BRASIL, 2018) “Fica instituída a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e capacitarem seu corpo docente e funcional em noções básicas de primeiros socorros”, promulgada em 4 de outubro de 2018, entrando em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.
Assim torna-se necessário que a equipe escolar esteja preparada para lidar com eventuais situações que podem ocorrer dentro das escolas, e também estar preparadas para evitar possíveis eventos. Nesse aspecto segundo o Art 2º, se estabelece que esses cursos serão oferecidos por pessoas capacitadas das entidades municipais e estaduais com o objetivo de saber agir na prevenção de situações de urgência e emergência e saber agir durante o tempo em que o suporte especializado se torne possível.
Art. 2º Os cursos de capacitação em primeiros socorros serão ministrados por entidades municipais ou estaduais, especializadas em práticas de auxílio imediato e emergencial à população tais como Corpo de Bombeiros, Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, Defesa Civil, Forças Policiais, Secretarias de Saúde, Cruz Vermelha Brasileira ou serviços assemelhados, tendo como objetivo:
I - Identificar e agir preventivamente em situações de emergências e urgências médicas;
II - Intervir no socorro imediato do(s) acidentado(s) até que o suporte médico especializado, local ou remoto, torne-se possível. (BRASIL, Lei nº 13.722 de 04 de outubro de 2018.)
Compreende-se que cabe aos profissionais que atuam com crianças, adolescentes e jovens em instituições públicos e privados, o mínimo de capacitação prática para eventuais ocorrências. Portanto, a pratica dos conhecimentos em primeiros socorros torna-se essencial quando há o convívio com crianças, adolescentes e jovens no âmbito escolar e recreacional.
A Lei 13.722 de 4 de outubro de 2018 é apresentada da seguinte maneira:
Art. 1º Os estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública, por meio dos respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de ensino de educação básica e de

recreação infantil da rede privada deverão capacitar professores e funcionários em noções de primeiros socorros.
§ 1º O curso deverá ser ofertado anualmente e destinar-se-á à capacitação e/ou à reciclagem de parte dos professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino e recreação a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo de suas atividades ordinárias.
§ 2º A quantidade de profissionais capacitados em cada estabelecimento de ensino ou de recreação será definida em regulamento, guardada a proporção com o tamanho do corpo de professores e funcionários ou com o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes no estabelecimento.
§ 3º A responsabilidade pela capacitação dos professores e funcionários dos estabelecimentos públicos caberá aos respectivos sistemas ou redes de ensino.
Art. 2º Os cursos de primeiros socorros serão ministrados por entidades municipais ou estaduais especializadas em práticas de auxílio imediato e emergencial à população, no caso dos estabelecimentos públicos, e por profissionais habilitados, no caso dos estabelecimentos privados, e têm por objetivo capacitar os professores e funcionários para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível.
§ 1º O conteúdo dos cursos de primeiros socorros básicos ministrados deverá ser condizente com a natureza e a faixa etária do público atendido nos estabelecimentos de ensino ou de recreação.
§ 2º Os estabelecimentos de ensino ou de recreação das redes pública e particular deverão dispor de kits de primeiros socorros, conforme orientação das entidades especializadas em atendimento emergencial à população.
Art. 3º São os estabelecimentos de ensino obrigados a afixar em local visível a certificação que comprove a realização da capacitação de que trata esta Lei e o nome dos profissionais capacitados.
Art. 4º O não cumprimento das disposições desta Lei implicará a imposição das seguintes penalidades pela autoridade administrativa, no âmbito de sua competência:
I. - notificação de descumprimento da Lei;
II. - multa, aplicada em dobro em caso de reincidência; ou

III. - em caso de nova reincidência, a cassação do alvará de funcionamento ou da autorização concedida pelo órgão de educação, quando se tratar de creche ou estabelecimento particular de ensino ou de recreação, ou a responsabilização patrimonial do agente público, quando se tratar de creche ou estabelecimento público.
Art. 5º Os estabelecimentos de ensino de que trata esta Lei deverão estar integrados à rede de atenção de urgência e emergência de sua região e estabelecer fluxo de encaminhamento para uma unidade de saúde de referência.
Art. 6º O Poder Executivo definirá em regulamento os critérios para a implementação dos cursos de primeiros socorros previstos nesta Lei.
Art. 7º As despesas para a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais e em seu plano plurianual.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.
FONTE: BRASIL. Lei n. 13.722, de 4 de outubro de 2018. Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Brasília: Senado Federal, 2018a. Disponível em: http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13722.htm. Acesso em: 18. abr. 2019.
Portanto, o curso de Primeiros Socorros nas Escolas, deverá ser ofertado anualmente para a capacitação e/ou reciclagem de parte dos professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino e recreação.
Os estabelecimentos de ensino de educação básica e de recreação infantil terão até abril de 2019 para se adequarem às normas da Lei 13.722/2018. O não cumprimento pode acarretar em notificação, multa e até cassação do alvará de funcionamento ou da autorização concedida pelo órgão de educação, quando se tratar de creche ou estabelecimento particular de ensino ou de recreação, ou a responsabilização patrimonial do agente público, quando se tratar de creche ou estabelecimento público.

11. REFERÊNCIAS
COSTA, Allan J. S. Principais causas de acidentes na Educação Física e nos Esporte. Revista Virtual EF. Natal, RN, vol. 01, no, 08, Agosto, 2003.
FLEGEL, M. J. Primeiros socorros no esporte: o mais prático guia de primeiros socorros para o esporte. São Paulo: Manole, 2002.
FOLHA DE SÃO PAULO. Jovens têm se machucado mais no esporte, diz estudo, 26/08/2007.
HARADA, M. J. C. S., PUCCINI, R. F., SILVA, E. M. K., PEDREIRA M. L. G., Grupo de Estudo e Pesquisa: Segurança da criança e adolescente. Escolas promotoras de saúde: prevenção de morbidade por causas externas no município de Embu www.unifesp.br/núcleos/necad/segurança/projetos. 2003. Acessado em 2 de julho de 2009.
LORETE, Raphael. Entendo as lesões. Saúde na rede. www.saudeforum.com.br. Acessado em 25/08/2008.
MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS. Ed. Ática S.A., 1996.
MILLER TR, Spicer RS. How safe are our schools? Am J PUBL Health 1998; 88 (3): 413-8.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Educação BásicaEducação Física. Curitiba, 2008.
SANTOS, D. R. A responsabilidade Jurídica por lesões em atividade física nas academias de ginástica.in: jornal de medicina do exercício. Rio de Janeiro.janeiro de 2003.
SÃO PAULO (Município). Coordenação de Desenvolvimento de Programas e Políticas de Saúde. Manual de prevenção de acidentes e primeiros socorros nas escolas, 2007.
SEIXO, Luiz. Os acidentes em meio escolar: que intervenção? Revista Portuguesa de Clínica Geral, 20: 233-42, 2004.
SIMÕES, N. V. N. Lesões desportivas em praticantes de atividade física: uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Fisioterapia. v. 9, Nº2, 2005, 123-128.