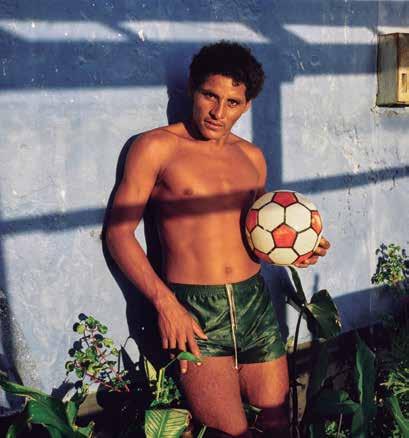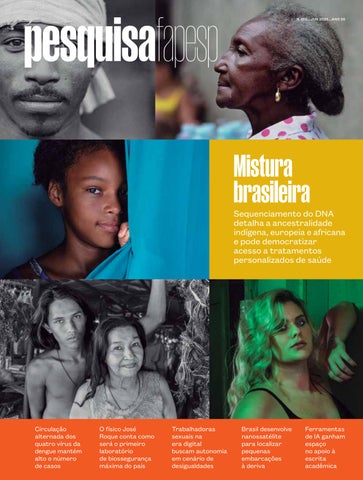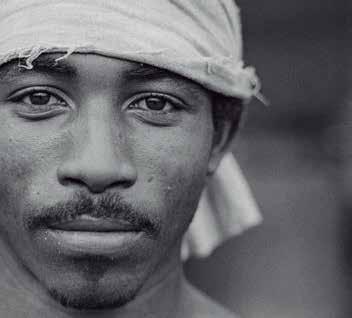
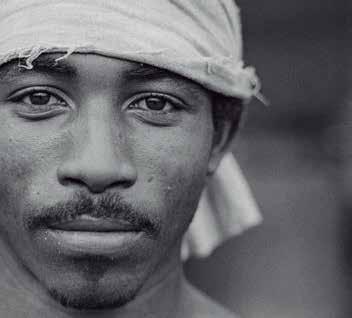
pesquisafapesp



Circulação alternada dos quatro vírus da dengue mantém alto o número de casos
O físico José Roque conta como será o primeiro laboratório de biossegurança máxima do país
Mistura brasileira
Sequenciamento do DNA detalha a ancestralidade indígena, europeia e africana e pode democratizar acesso a tratamentos personalizados de saúde

Trabalhadoras sexuais na era digital buscam autonomia em cenário de desigualdades
Brasil desenvolve nanossatélite para localizar pequenas embarcações à deriva
Ferramentas de IA ganham espaço no apoio à escrita acadêmica
podcast pesquisa brasil
ciência para os seus ouvidos

Spotify
Apple podcasts
Deezer
Um programa novo toda semana.
Ouça em sua plataforma favorita.


revistapesquisa.fapesp.br/podcasts
RÁDIO USP
FM 93,7 (São Paulo)
FM 107,9 (Ribeirão Preto) Sextas-feiras, às 13h
RÁDIO UNICAMP (www.sec.unicamp.br) Segundas-feiras, às 13h
RÁDIO UNESP
FM 105,7 (Bauru) Quartas-feiras, às 20h Reapresentação aos domingos, às 16h
revistapesquisa fapesp
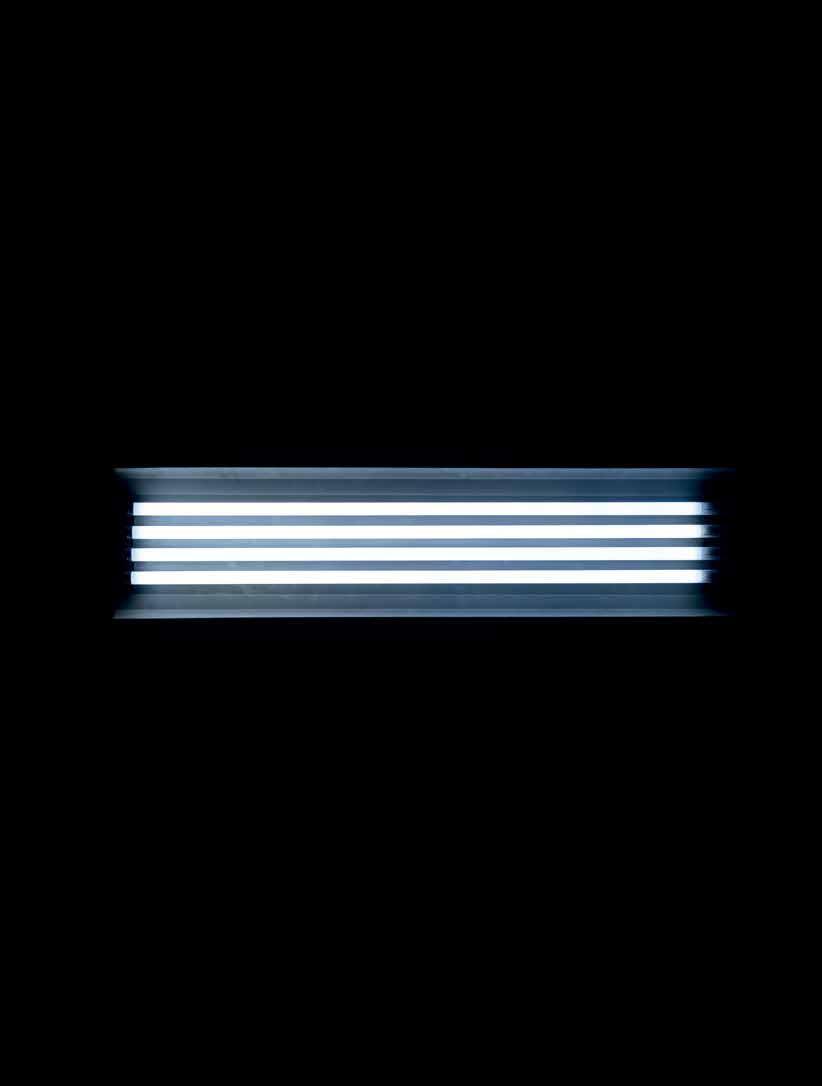
Lâmpadas LED: reciclagem promove a economia circular (SUSTENTABILIDADE, P. 70)
5 CARTA DA EDITORA 6 NOTAS
CAPA
12 Sequenciamento do DNA de 2.723 brasileiros lança luz sobre o processo de miscigenação
18 Informação genômica pode democratizar o acesso a tratamentos personalizados
ENTREVISTA
22 Regina Macedo, ornitóloga da UnB, ajudou a lançar conceitos sobre comportamento animal
PRODUÇÃO CIENTÍFICA
28 Ferramentas de inteligência artificial são usadas no suporte à escrita acadêmica
CIBERSEGURANÇA
32 Cresce o número de ataques hackers a instituições de ensino e pesquisa do país
INTEGRIDADE
36 USP cria órgão para prevenir conflitos de interesse e proteger docentes empreendedores
BOAS PRÁTICAS
38 Periódicos norteamericanos sofrem com cortes de verbas e ameaças do governo
DADOS
41 São Paulo como polo principal de atividades intensivas em conhecimento
VIROLOGIA
42 Alternância de sorotipos do vírus da dengue contribui para o grande número de casos da doença ➔

PALEOECOLOGIA
46 Pesquisa com microalgas em São Paulo mostra como um antigo lago se transformou em brejo
AGRICULTURA
49 Técnica de plantio do povo Waurá, no Alto Xingu, aumenta a diversidade genética da mandioca
ASTROFÍSICA
52 Simulação sugere que Mercúrio colidiu de raspão com um corpo de massa similar
ENTREVISTA
56 O físico José Roque fala sobre o primeiro laboratório de biossegurança máxima do país
INOVAÇÃO
60 Estudo analisa como evitar os fracassos em projetos de inovação radical
BIOTECNOLOGIA
66 Membranas de celulose bacteriana facilitam a cicatrização de feridas
ENGENHARIA ESPACIAL
69 Nanossatélite brasileiro tem como missão localizar náufragos
SUSTENTABILIDADE
70 Centro de pesquisa e empresa criam rota para reciclar lâmpadas LED
ANTROPOLOGIA
74 Plataformas digitais expandem escopo do trabalho sexual e aprofundam desigualdades
SOCIEDADE
80 Quintais fortalecem redes de relações na periferia de São Paulo
MÚSICA
82 Estudos revelam raridades e ampliam o acesso a coleções musicais pouco conhecidas
OBITUÁRIOS
86 Jacob Palis (1940-2025)
88 José Israel Vargas (1928-2025)
O ancião Kuratu Waurá comanda plantio de mandioca do povo Waurá, no Alto Xingu (AGRICULTURA, P. 49)

VÍDEOS
O TRUQUE VISUAL QUE SALVA BORBOLETAS DA PREDAÇÃO
Pesquisa mostra que o efeito “pisca-pisca” azul de Morpho helenor desorienta aves e reduz o risco de captura na floresta tropical
Plantas no quintal de uma casa de Guarulhos: espaço de sociabilidade, festas e jogos (SOCIEDADE, P. 80)
MEMÓRIA
90 Há 50 anos, o projeto RadamBrasil começava a fazer o maior mapeamento do país
ITINERÁRIOS DE PESQUISA
94 Diagnosticado como autista, o cientista da computação
André Ponce de Leon Carvalho busca novas conexões com a IA
RESENHA
96 Ilê Aiyê: A fábrica do mundo afro, de Michel Agier. Por Livio Sansone
97 COMENTÁRIOS
98 FOTOLAB 2 1

OS SEGREDOS DA FLORESTA
Projeto Amazônia Revelada descobre geoglifos, caminhos ancestrais e vila perdida, trazendo à luz o legado de povos originários

PODCAST
INCERTEZA NA CIÊNCIA NORTE-AMERICANA
O impacto dos cortes no financiamento à pesquisa nos Estados Unidos e dos embates do governo Trump com universidades. E mais: detecção de tumores; evento extremo triplo; distúrbios neurológicos
Este conteúdo está disponível em acesso aberto no site www.revistapesquisa.fapesp.br, que contém, além de edições anteriores, versões em inglês e espanhol e material exclusivo


Cartografia de vidas
Quando começaram os grandes projetos de sequenciamento do genoma humano, no final do século passado, pensava-se que as diferenças na composição genética de pessoas distintas seriam mínimas e estariam concentradas nos genes. A partir da combinação de amostras de alguns indivíduos, sem preocupação quanto à diversidade populacional, uma das metas era obter um genoma-padrão, de referência, para a humanidade.
No meio do caminho, um resultado inesperado foi a descoberta de que os seres humanos têm muito menos genes do que se pensava. Trechos do genoma responsáveis pela ativação dos genes que codificam proteínas ganharam relevância, e ficou claro que mesmo o DNA não codificante exerce funções importantes.
Avanços tecnológicos permitiram identificar milhões de pequenas alterações no genoma – os SNP, errinhos de digitação que ocorrem quando um dos nucleotídeos (A, T, C ou G) do DNA de uma pessoa troca de lugar. Conforme sua localização, essas variações podem alterar a forma e a função das proteínas ou o padrão de ativação e desativação dos genes que as codificam. Elas podem ser compartilhadas por populações e ter consequências para a saúde, como a propensão a desenvolver tal ou qual doença e a forma como o organismo reage a uma medicação.
Compreender melhor a diversidade genética dos brasileiros significa não apenas olhar para a história da formação do país pelo prisma da ancestralidade da população, uma mistura indígena, europeia e africana. Permite o avanço nacional na medicina de precisão, ao identificar as variantes associadas a doenças mais comuns nas diferentes regiões do país ou em grupos populacionais. Com esse objetivo, foi lançado em 2019 o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão – Genomas Brasil, do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde.
Esse é o contexto de estudo publicado na Science que aprofundou o retrato do brasileiro ao sequenciar o material genético de 2,7 mil pessoas de todas as regiões do país. O artigo científico repercutiu na imprensa, mas o tema merece uma cobertura mais aprofundada. Maria Guimarães, editora de Ciências Biológicas, conduz os leitores pelo caminho trilhado para o entendimento da relevância da diversidade genética e, especificamente, pelas etapas percorridas para montar o retrato genômico da população brasileira ( página 12) e tornar viável sua aplicação no sistema nacional de saúde ( página 18).
Nesse tema, cabe registrar o pioneirismo do geneticista Sergio Danilo Pena no estudo das origens genéticas do povo brasileiro. Quando procurado, declinou comentar o artigo para a nossa reportagem, dizendo que o trabalho falaria por si só. Vale conferir a entrevista que nos concedeu em 2021 (ver Pesquisa FAPESP nº 306 ).
Para ilustrar a reportagem e a capa, mergulhamos no arquivo do fotógrafo paraense Luiz Braga. Sua exposição Arquipélago imaginário, em cartaz no Instituto Moreira Salles Paulista, traz uma “cartografia de vidas”, nas palavras de Braga, que traduz em imagens a miscigenação mapeada dentro das células dos brasileiros.
A diversidade (de temas) é marca desta revista, e esta edição não se esgota no genoma humano. No cultivo da mandioca, a importância de práticas indígenas específicas para a manutenção das variedades genéticas e a segurança alimentar ( página 49); um choque ancestral que teria feito o planeta Mercúrio se configurar com um núcleo proporcionalmente bem maior que o da Terra ( página 52); e o depoimento de um cientista da computação que se descobriu autista aos 54 anos ( página 94) são alguns dos destaques possíveis, a depender do olhar do leitor. Fecho com a antropologia dos quintais (página 80), esses espaços mágicos e tão particulares.
ALEXANDRA OZORIO DE ALMEIDA diretora de redação

Depressão
e ansiedade entre estudantes
Entre os 748 entrevistados, um em cada quatro apresentou sinais de ansiedade grave ou depressão moderada 1
Um levantamento com 748 estudantes de nove universidades públicas do Brasil registrou alta prevalência de depressão (51%) e ansiedade (42,5%), de acordo com um estudo coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Como os questionários on-line que fundamentaram as conclusões foram respondidos entre agosto e novembro de 2022, durante a pandemia de Covid-19, a dificuldade para se adaptar às aulas on-line, conduzidas até o semestre anterior, pode ter contribuído para acentuar os distúrbios psíquicos. Participaram do levantamento estudantes de universidades públicas de Santa Maria (RS), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), Montes Claros (MG), Brasília (DF), Natal (RN), Castanhal (PA), São Cristóvão (SE) e Fortaleza (CE). A maioria era de mulheres, pretos e pardos, com renda familiar de menos de dois salários mínimos. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que 35% de uma amostra de 13.984 estudantes universitários de oito países (Austrália, Bélgica, Alemanha, México, Irlanda do Norte, África do Sul, Espanha e Estados Unidos) tinha pelo menos um dos sinais de depressão, ansiedade ou transtorno do pânico, em razão de problemas financeiros e dos desafios da vida acadêmica (Revista de Saúde Pública, fevereiro).
Forma rara de hélio abundante no Sol
A sonda Solar Orbiter, das agências espaciais norte-americana (Nasa) e europeia (ESA), registrou a maior concentração já vista de um raro isótopo (variação de um mesmo elemento químico) de hélio, o hélio-3 (3He), saindo do Sol. Nos dias 24 e 25 de outubro de 2023, o hélio-3, formado por dois prótons e um nêutron, afastava-se do Sol em concentrações 200 mil vezes maiores do que sua concentração normal na atmosfera solar, a velocidades mais altas do que a maioria das partículas mais pesadas. Nesses dias, o Observatório de Dinâmica Solar (SDO) da Nasa registrou jatos, a temperaturas relativamente baixas, próximas a 1,6 milhão de graus Celsius, saindo de um enorme buraco na atmosfera do Sol, formado por uma região de redução do campo magnético, indicando sua possível origem. Nos últimos 25 anos registraram-se apenas 19 eventos semelhantes. Normalmente, o 3He compõe 0,002% da atmosfera solar. Jatos solares podem aumentar sua concentração em cerca de 10 mil vezes. A Solar Orbiter está no meio do caminho entre a Terra e o Sol ( Astrophysical Journal, 7 de março).
Comer menos carne para reduzir o impacto ambiental
Limitar o consumo de carne a 255 gramas por semana, reforçando as fontes de proteína com grãos, leguminosas e nozes, mostrou-se a melhor forma de atender às exigências ambientais, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa, e nutricionais, de acordo com um estudo da Universidade Técnica da Dinamarca (UTD), do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e da Universidade de Michigan (UM), ambos dos Estados Unidos. O cálculo se apoia na análise de indicadores de impacto ambiental de 2.589 itens alimentares consumidos nos Estados Unidos e do efeito das dietas individuais sobre o uso da terra, o gasto de água e a perda de biodiversidade. Esse limite se refere apenas à carne suína e de aves. O estudo sugere que a carne vermelha não pode fazer parte de uma dieta ambientalmente sustentável, por causa do desmatamento necessário para criar pastagens e da alta emissão de metano e óxido nitroso. “Mesmo quantidades moderadas de carne vermelha na dieta são incompatíveis com o que o planeta pode regenerar de recursos com base nos fatores ambientais que analisamos no estudo”, comentou Caroline Gebara, da UTD, ao site ScienceAlert (Nature Food, 21 de março).
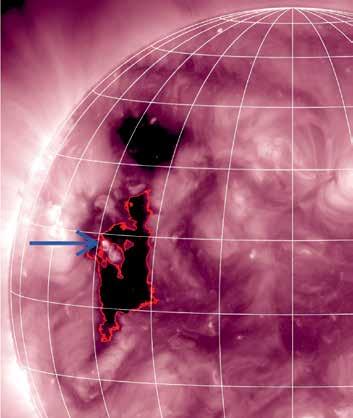
Uma rede dupla rígida e elástica
Nesta imagem em ultravioleta, a seta azul indica o buraco da atmosfera solar (contornado em vermelho) de onde deve ter saído uma concentração nunca antes vista de hélio-3
Um novo metamaterial sintético criado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) concilia duas propriedades incompatíveis nos materiais convencionais, a resistência e a flexibilidade –normalmente, quanto mais resistente um material, menos flexível ele é. Esse metamaterial combina estruturas microscópicas rígidas, em forma de grades ou treliças, e uma arquitetura tecida mais macia, na forma de espirais que se entrelaçam em torno de cada treliça. As duas redes são feitas com um polímero semelhante ao plexiglas, um tipo de plástico transparente derivado de petróleo, e impressas de uma só vez, usando uma técnica de impressão 3D a laser de alta precisão. A rede dupla pode esticar três vezes seu próprio comprimento sem se romper completamente, o que equivale a 10 vezes mais que o mesmo plástico em padrão de treliça. Furos estratégicos no material o tornam ainda mais resistente à ruptura. Esse material poderia ser usado para fabricar cerâmicas, vidros e metais elásticos ou tecidos resistentes a rasgos, semicondutores flexíveis, encapsulamento de chips eletrônicos e estruturas sobre as quais se cultivam células para reparo de tecidos (Nature Materials, 23 de abril).
Material funciona como fios de espaguete emaranhados em uma treliça
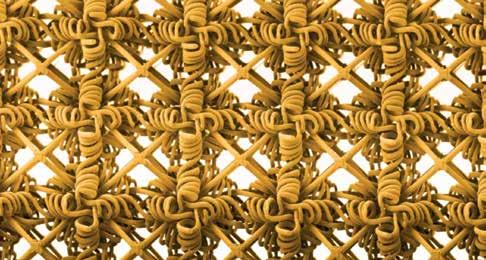
As oxilipinas, responsáveis pelo odor agradável, já eram conhecidas por serem capazes de amenizar a ansiedade

Por que uma rosa tem cheiro de rosa?
Ou, de modo mais formal: quais compostos orgânicos voláteis, responsáveis pela fragrância da rosa, a planta ornamental mais cultivada do mundo, geram uma resposta emocional positiva ou negativa? Pesquisadores das universidades de Lyon, Jean Monnet e Rennes, da França, convidaram 19 pessoas para avaliarem os aromas de rosas recém-colhidas de 10 variedades, em um teste às cegas. Entre os compostos voláteis associados ao aroma típico das rosas “havia moléculas que esperávamos encontrar, como fenilpropanoides, mas também outras que não prevíamos, como iononas e oxilipinas”, diz Nathalie Mandairon, da Universidade de Lyon, uma das coautoras do estudo, em um comunicado do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS). O teste mostrou que a maior concentração de iononas e oxilipinas torna o aroma de rosas mais agradável. O odor desagradável, por sua vez, era determinado por ésteres metílicos fenólicos, entre outros compostos. Na natureza, os compostos voláteis atraem polinizadores, predadores de parasitas e microrganismos (CNRS, 28 de abril; iScience, 21 de fevereiro).
Mais agilidade nas transações financeiras
Cientistas da computação da Universidade de Nova York (NYU), nos Estados Unidos, criaram o protótipo de uma tecnologia blockchain chamada Bounce, que pretende ser mais rápida e consumir menos energia que as equivalentes hoje em uso. Blockchain é um registro digital descentralizado de transações compartilhadas, usadas desde 2009 para pagamentos e contratos digitais. A nova abordagem se baseia em satélites, que ordenam cada conjunto de transações, os chamados blocos, e os devolve aos usuários. “Os satélites são de difícil acesso, seguros contra ataques e seu processamento pode ser protegido contra adulterações”, comentou Dennis Shasha, um dos autores da pesquisa, em um comunicado da NYU. Segundo a descrição dessa nova abordagem, o Bounce processa mais de 5 milhões de transações a cada 2 segundos, com tempo de resposta de confirmação de transação entre 3 e 10 segundos. Sua taxa de transferência é de 30 a 100 vezes maior que a de seu concorrente mais próximo, o Solana, sistema de última geração conhecido por sua velocidade (Network, 31 de março).
Água-benta da Etiópia leva cólera à Alemanha e ao Reino Unido
Em janeiro, duas pessoas etíopes viajaram para a Etiópia, adquiriram uma garrafa plástica de água do poço sagrado em Bermel Giorgis e voltaram para Berlim. Em fevereiro, as duas, além de uma terceira pessoa que pode ter ingerido um pouco da água, foram hospitalizadas com diarreia aquosa aguda e vômitos. Recuperaram-se, mas uma variedade do bacilo da cólera, Vibrio cholerae, foi isolada de amostras fecais dos três. Também em fevereiro, em Londres, a mesma cepa multirresistente foi isolada das fezes de três pessoas que haviam viajado para Bermel Giorgis e usado a água para preparar alimentos. Uma quarta adoeceu após beber água-benta trazida da Etiópia. Igualmente se recuperaram. De agosto de 2022 a fevereiro de 2025, o atual surto de cólera na Etiópia atingiu 58.381 pessoas e causou 726 mortes. Em fevereiro, uma fonte de contaminação foi identificada no poço sagrado de Bermel Giorgis, que atrai peregrinos de todo o mundo. A água-benta é consumida ou usada em banhos para cura física ou espiritual. Não é vendida, mas pode ser levada para casa (Eurosurveillance, 10 de abril).
Em fevereiro, o bacilo Vibrio cholerae viajou do leste da África para o norte da Europa 1 2
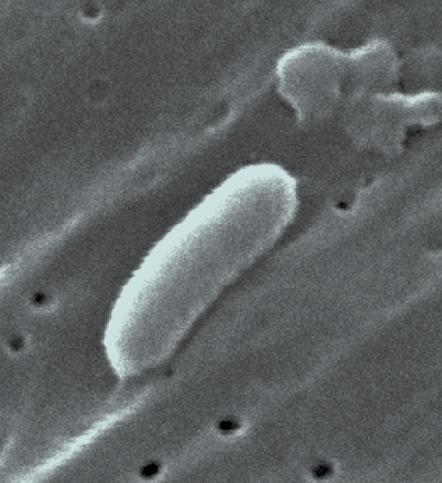
A perseguição que satisfaz o senso de predador dos cães também pode estressar as aves

Eles ainda são caçadores
Os cães e gatos de estimação – cerca de 1 bilhão e 500 milhões, respectivamente –, ainda que domesticados e eventualmente mimados, não deixaram de ser predadores. Quando passeiam sem coleira e sem os tutores, podem causar sérios danos a outras espécies. De acordo com um estudo da Universidade Curtin, da Austrália, os bichanos são os principais suspeitos da morte de 500 dos 900 kiwis-marrons (pássaro-símbolo da Nova Zelândia) de uma colônia e da redução na quantidade de pequenos pinguins
Diversidade de fungos em queda contínua
na Tasmânia. Podem também matar filhotes de aves que fazem ninhos na praia, incluindo aves ameaçadas de extinção, como o maçarico-de-capuz. Mesmo quando estão na coleira, podem ferir, espantar ou matar répteis e aves. Nos Estados Unidos, os veados correm por mais tempo quando veem uma pessoa com um cão na coleira do que uma pessoa sozinha. Fezes e urinas que deixam quando passeiam podem transferir zoonose para a vida selvagem e poluir cursos-d’água (Pacific Conservation Biology, 10 de abril).
Está caindo a diversidade de fungos, usados na produção de alimentos e responsáveis pela decomposição de plantas e animais mortos. Das 155 mil espécies já identificadas, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classificou 1.300 como ameaçadas e 411 em risco de extinção. A expansão de áreas agrícolas coloca 279 espécies em risco de desaparecimento. O uso excessivo de fertilizantes ameaça outras 91 espécies, entre elas Hygrocybe intermedia, do Reino Unido. Em razão do desmatamento podem desaparecer outras 198 espécies, como o cavaleiro-gigante (Tricholoma colossus), comestível, das florestas de pinheiros na Finlândia, Suécia e Rússia. Entre as 59 espécies brasileiras com graus variados de ameaça, a IUCN classifica cinco como criticamente em perigo: Bondarzewia loguerciae, das florestas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Wrightoporia araucariae, que cresce sobre troncos mortos de Araucaria angustifolia; Parmotrema bifidum, de Mato Grosso; P. pachydermum, do Rio Grande do Sul; e Fomitiporia nubicola, das áreas mais altas da Mata Atlântica. Anders Dahlberg, da IUCN, recomendou: “As práticas florestais devem considerar os fungos, deixando madeira morta e árvores espalhadas” (IUCN, 27 de março).

Amanita viscidolutea, espécie vulnerável do litoral brasileiro
Altar maia expõe conflitos entre povos antigos
Perto de Tikal, cidade maia de 2.400 anos no centro da atual Guatemala, um grupo de arqueólogos desenterrou um altar construído por volta do ano 300 d.C., decorado com quatro painéis pintados de vermelho, preto e amarelo, representando uma pessoa usando um cocar de penas e ladeada por escudos ou insígnias. O rosto tem olhos amendoados, uma barra no nariz e uma dupla concha nas orelhas. Ele se assemelha muito a outras representações de uma divindade apelidada de Deus da Tempestade no centro do México. Os especialistas da Guatemala e dos Estados Unidos que o descobriram asseguram que o autor do altar não foi um artista maia, mas algum artesão qualificado treinado na cidade de Teotihuacan, a mil quilômetros a oeste. “O altar confirma que líderes ricos de Teotihuacan vieram a Tikal e criaram réplicas de instalações rituais que teriam existido em sua cidade natal”,
Secas intensas, o maior inimigo dos anfíbios

Construção desenterrada na Guatemala é semelhante a outras do México
comentou Stephen Houston, em um comunicado da Universidade Brown. Os moradores de Tikal e da muito mais poderosa Teotihuacan começaram a interagir por volta de 300 d.C. Dentro do altar, os arqueólogos encontraram uma criança enterrada sentada, prática rara em Tikal, mas comum em Teotihuacan ( Antiquity, abril).
Uma doença causada pelo fungo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), a quitridiomicose, tem sido apontada como responsável pela redução populacional ou extinção de sapos, rãs e pererecas em quase todo o mundo. No Brasil, essa perda está ligada principalmente às mudanças climáticas, agravadas pelo desmatamento e pela fragmentação florestal. Biólogos de São Paulo, da Bahia e do Amazonas analisaram 90 espécies brasileiras de anfíbios de 1900 a 2014 e verificaram que o declínio populacional foi causado principalmente pelas mudanças climáticas graduais ou extremas, especialmente as associadas ao fenômeno El Niño. Em 2014, uma seca severa no sul de Minas Gerais resultou em uma redução acentuada das populações de 26 espécies de sapos. Os picos de quitridiomicose geralmente ocorrem anos após os episódios de declínio populacional, sugerindo que o Bd atua como um patógeno oportunista e não como a causa primária das perdas. Das espécies de sapo avaliadas, oito são consideradas possivelmente extintas; outras duas, Hylodes mertensi e Hylodes sazimai, são consideradas criticamente ameaçada e ameaçada, respectivamente, todas afetadas principalmente por oscilações do clima (Conservation Biology, 9 abril).

Para aprender nheengatu
“Purãga ara” quer dizer bom dia em nheengatu, idioma originado do tronco linguístico tupi com influência do português. Já foi o mais falado na Amazônia e ainda é usado por um total estimado entre 6 mil e 30 mil indígenas e ribeirinhos, principalmente no Brasil, Colômbia e Venezuela. Para aprender essa língua, agora há dois aplicativos. O primeiro, Nheengatu App (https:// nheengatu-app.web.app), foi lançado em 2021, com o apoio da Lei Aldir Blanc e da Secretaria de Cultura do Pará. Elaborado por Suellen Tobler Almeida, graduada em tecnologia de análise de sistemas, como parte de seu mestrado na Universidade Federal do Paraná (UFPR), contém exercícios, imagens, áudios e canções. O segundo, anunciado este ano, foi uma encomenda da IBM, concretizada pelo engenheiro da computação Tiago Fernandes Tavares e por um grupo de alunos do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper). Ainda sem site, o aplicativo integra tradutores, dicionários e corretores ortográficos para facilitar a produção de textos no idioma indígena. Nos dois casos, os desenvolvedores apresentaram as versões preliminares para indígenas voluntários, em busca de sugestões (Insper, 18 de fevereiro).
Haddadus binotatus, até agora sem sinais de infecção pelo fungo mortal
A missão Euclid mapeou 380 mil galáxias, com diferentes formas e tamanhos

Um esboço da organização do Universo
A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou os primeiros dados da missão Euclid, com uma classificação de mais de 380 mil galáxias de diferentes formas e tamanhos. Desse mapeamento constam também 500 candidatos a lentes gravitacionais, um tipo de distorção na trajetória da luz causada pela gravidade de objetos muito massivos. As novas imagens sugerem que as galáxias podem ter se formado e evoluído a partir de filamentos de matéria comum e matéria escura. Esse primeiro catálogo representa apenas 0,4% do número
total de galáxias com resolução semelhante que se espera que sejam registradas pela missão. Lançado em julho de 2023 com o propósito de compreender a energia escura e a matéria escura por meio da medição precisa da aceleração da expansão do Universo, o Euclid iniciou as observações de rotina em 14 de fevereiro de 2024. Em março de 2025, a missão havia mapeado 14% da área total prevista. Até sua conclusão, prevista para 2030, deverá capturar imagens de mais de 1,5 bilhão de galáxias (ESA, 19 de março).
Informações preciosas na cera de ouvido
Em cada pessoa, o cerúmen, material pegajoso alaranjado mais conhecido como cera do ouvido, pode conter compostos voláteis que ajudam a diagnosticar os estágios iniciais do câncer – caracterizados por uma inflamação que acelera o metabolismo do corpo e pela chamada displasia, o crescimento celular anormal – e diferenciar tumores benignos e malignos. Depois de usar os metabólitos voláteis derivados de espécies reativas de oxigênio (ROS) para rastrear doenças em cães e bovinos, o químico Nelson Roberto Antoniosi Filho e sua equipe da Universidade Federal de Goiás usaram a mesma técnica, a análise por cromatografia gasosa e espectrometria de massa, para detectar alterações metabólicas causadas pelo pré-câncer em seres humanos. As amostras de cerúmen de 751 voluntários com ou sem câncer evidenciaram compostos derivados do metabolismo de lipídios (gorduras) gerados por alterações no funcionamento de estruturas celulares, as mitocôndrias. Normalmente, o cerúmen protege o canal auditivo externo contra danos causados por água, infecções, traumas e corpos estranhos (Scientific Reports, 22 de abril).

Produzida no canal auditivo, a cera protege contra infecções

Pai europeu, mãe africana ou indígena
Novos resultados de sequenciamento do material genético de 2.723 pessoas ressaltam as marcas de violência no processo de miscigenação que formou o povo brasileiro
MARIA GUIMARÃES fotos LUIZ BRAGA
CAPA

Não é surpresa para ninguém que o povo brasileiro é miscigenado, mas os detalhes de como essa história se deu, e suas consequências, vêm sendo revelados aos poucos por geneticistas, além dos historiadores. O mais recente estudo, publicado em maio na revista científica Science, aprofunda e amplia o retrato do brasileiro a partir do sequenciamento do material genético de 2.723 pessoas de todas as regiões do país. Os resultados revelam uma forte ancestralidade africana e indígena na linhagem materna, resultado de uma dinâmica de violência contra as mulheres, e uma quantidade inesperada de variantes genéticas desconhecidas, com potenciais consequências na saúde.
“É muito bonito enxergar no DNA o que já sabíamos dos livros de história”, diz a geneticista Lygia da Veiga Pereira, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP) e idealizadora do projeto DNA do Brasil, que visa traçar um retrato genômico da população por meio do sequenciamento completo de amostras colhidas no país inteiro. Segundo ela, até cerca de 10 anos atrás, a diversidade genética amostrada
Um ensaio de retratos do fotógrafo paraense Luiz Braga ilustra as duas reportagens sobre genética brasileira, assim como a capa da edição. Uma retrospectiva de seu trabalho ao longo de 50 anos registrando os rostos da região amazônica está em cartaz até 7/9/2025 no Instituto Moreira Salles de São Paulo.
em populações humanas era muito baixa, com uma proporção em torno de 80% de ascendência europeia. Isso porque a maior parte dos estudos era feita no hemisfério Norte. No Brasil, o foco era nas regiões Sul e Sudeste, onde até agora foi encontrada menor presença de ancestralidade africana e indígena. O investimento na ampliação desse retrato foi o pontapé inicial do Programa Genomas Brasil do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), do Ministério da Saúde, e se iniciou no final de 2019 – embora o início da pandemia de Covid-19, poucos meses depois, tenha adiado as atividades por quase dois anos.
Pereira começou a se interessar pela diversidade genética da população quando percebeu, aproximadamente 20 anos atrás, que os embriões descartados em clínicas paulistanas de reprodução assistida, disponíveis para sua pesquisa com células-tronco, tinham ancestralidade 90% europeia. Não parecia correto em termos de país, mas refletia o público daquele atendimento. Enquanto isso, o geneticista Sérgio Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), espiava o DNA de brasileiros de várias regiões com as ferramentas disponíveis na época, muito mais limitadas do que as atuais. Em 2000, ele publicou – primeiro
A
miscigenação na história
Contextos de violência na formação do povo brasileiro deixaram marcas no genoma
1500
Ao chegarem, os europeus encontraram uma população de cerca de 10 milhões de indígenas, que foram depois dizimados; a violência sexual contra as mulheres foi a norma desde o início
Século XVII
Marcas genéticas de 16 gerações atrás evidenciam miscigenação entre mulheres indígenas e homens europeus
Século XVIII
O período da exploração de diamante, há quase 12 gerações, trouxe para o Brasil um grande fluxo de europeus; o tráfico de escravizados de origem africana aumentou 10 vezes
Início do século XIX
Até o encerramento do tráfico, cerca de 2 milhões de escravizados ainda vêm da África nesse século; é o período de maior miscigenação entre homens de ancestralidade europeia e mulheres afrodescendentes, oito gerações atrás
1822 – Independência
Casamentos entre libertos e europeus são estimulados como estratégia civilizatória: falava-se em europeizar a população mestiça
1850
Tráfico de escravizados é proibido 1871
Com a Lei do Ventre Livre, as crianças ainda podem ser exploradas até os 21 anos, mas não é mais permitido comercializá-las. Com a perda do valor de mercado, os senhores deixam de ter interesse na reprodução das escravizadas e a miscigenação cai
1888
Escravidão abolida
Final do século XIX, começo do XX
Governo brasileiro estimula a imigração de homens brancos, sobretudo italianos, alemães, espanhóis e portugueses. O aporte de cerca de 4 milhões de europeus é detectável na composição genética
Último século
Casamentos passam a se dar principalmente entre ancestralidades semelhantes

na revista Ciência Hoje, de divulgação de ciência, e depois no periódico acadêmico American Journal of Human Genetics – o resultado da análise de 200 amostras de pessoas brancas. Três em cada cinco tinham herança materna indígena ou africana, o que era mais do que se esperava, de acordo com ele. O estudo foi noticiado no segundo ano de atividade de Pesquisa FAPESP (ver nº 52).
Pena continuou a aprofundar os estudos e juntou forças com outro grupo pioneiro no estudo do DNA brasileiro – o do geneticista Francisco Salzano (1928-2018), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em parceria com o grupo mineiro, os geneticistas gaúchos perceberam, em trabalho liderado por Maria Cátira Bortolini que incluiu o mestrado de Tábita Hünemeier, que a contribuição africana era bem mais ampla do que apontavam os registros históricos sobre a escravização, que seria muito concentrada em Angola, no centro-oeste do continente. A região ocidental, onde ficam Senegal e Nigéria, também revelou um aporte expressivo no material genético – mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro, apontando assimetrias no comércio de pessoas, de acordo com artigo publicado em 2007 na revista científica American Journal of Biological Anthropology (ver Pesquisa FAPESP nº 134). “Não há outro país no mundo com tanta miscigenação quanto o Bra-

sil”, afirmou Pena em entrevista concedida em 2021 (ver Pesquisa FAPESP nº 306 ).
Agora os meios são muito distintos daquela época, o que permitiu o estudo publicado na Science. Nele, a herança europeia caiu para cerca de 60%, enquanto a ancestralidade africana aparece com 27% da contribuição e a indígena 13%, com a assimetria sexual apontada por Pena: a linhagem paterna, expressa no cromossomo Y, presente apenas nos homens, é predominantemente (71%) europeia. Enquanto isso, o DNA das mitocôndrias – parte das células transmitida apenas da mãe para os filhos – carrega 42% de ancestralidade africana e 35% indígena. “A única explicação são quatro séculos de violência em diversos sentidos”, resume Hünemeier, atualmente professora no IB-USP e uma das coordenadoras do trabalho. Ela ressalta que não é incomum ouvir de pessoas mais velhas relatos do tipo “minha avó foi pega no laço”, sem atenção ao que isso significa. Em gerações mais recentes, o característico passou a ser o casamento entre ancestralidades parecidas. Para a pesquisadora, os resultados ajudam a derrubar a farsa da democracia racial que compõe a identidade nacional, já que a miscigenação, em grande medida, não foi consentida.
“O Brasil precisa fazer uma exegese sobre sua história e parar de dizer que somos um país de mestiçagem voluntária”, completa a historiadora Maria Helena Machado, da USP, que não participou do trabalho. “Nossa mãe é africana, nossa avó é indígena e nosso avô é um europeu que não se casou com ela e teve filhos ilegítimos.” Ela é especialista em gênero e maternidade na escravidão, sistema que atravessou todo o período colonial e o Império. Entre outros trabalhos, em 2024 ela publicou, em parceria com o historiador Antonio Alexandre Cardoso, da Universidade Federal do Maranhão, o livro Geminiana e seus filhos: Escravidão, maternidade e morte no Brasil do século XIX (Bazar do Tempo). “A mulher escravizada – indígena ou africana – estava a serviço do escravizador, tornando corriqueiros os assédios e estupros”, afirma.
As mulheres eram, assim, duplamente escravizadas: funcionavam como trabalhadoras e reprodutoras. “No corpo da mulher escravizada se deu a colonização.” Machado explica que as políticas coloniais portuguesas e do país independente, a partir de 1822, foram sempre de estímulo à mestiçagem e ao branqueamento. Um exemplo: José Bonifácio de Andrada e Silva (1763 -1838), como deputado da Assembleia Constituinte em 1823, apresentava propostas para contribuir com a formação do povo brasileiro por meio de casamentos entre mulheres afrodescendentes e indígenas
com homens brancos. Era parte de um projeto “civilizatório” em que a população negra seria integrada à europeia. A continuidade da escravidão até 1888, porém, manteve as mulheres escravizadas sujeitas aos que detinham o controle de seus corpos. “Tudo isso leva à situação que os geneticistas agora descrevem”, conclui Machado.
Interessante também é a ampla diversidade de etnias africanas, como Hünemeier já vinha percebendo desde o início da carreira científica. Gente que nunca se encontraria na África, por viver em países e comunidades distantes, foi posta à força nos mesmos navios negreiros e agrupada nos contextos de trabalho escravizado. A ideia era reunir pessoas de culturas diferentes, que nem falavam a mesma língua, para minimizar o risco de elas se organizarem para combater seus “senhores”. O resultado é um amálgama de todo um continente, que só se encontra em terras brasileiras. “É o país com mais ancestralidade africana fora da África”, afirma a geneticista.
Além do afluxo inicial de portugueses a partir do século XVI, a diversidade europeia também se revela alta, com o grande aporte de imigrantes da Alemanha e da Itália nos séculos XIX e XX, além de uma amostragem mais esparsa de outros países. Um dado curioso foram 10 descendentes de japoneses amostrados em São Paulo, que não apresentaram sinais de miscigenação – e assim revelaram uma contribuição muito restrita e recente para a composição genética da população nacional.
O artigo define a colonização da América como o maior deslocamento populacional na história humana. No Brasil, foram por volta de 5 milhões de europeus e 5 milhões de africanos transplantados para a região até então povoada por cerca
A ancestralidade regional
de 10 milhões de indígenas que falavam mais de mil idiomas. Esses povos foram dizimados, com um declínio populacional de 83% no interior do país e 98% no litoral de 1500 até hoje.
“Esperávamos encontrar variantes genéticas novas, mas os resultados foram muito além”, afirma a geneticista Kelly Nunes, que se empenhou na análise dos dados durante o estágio de pós-doutorado no IB-USP no laboratório de Hünemeier, ao lado de três outros colegas com quem divide o posto de primeiros autores do artigo: Marcos Castro e Silva, Maira Ribeiro e Renan Lemes. As variantes são diferenças na sequência de uma pessoa em relação ao genoma de referência. “Detectamos 78 milhões de variantes, dos quais quase 9 milhões não tinham registro em nenhum outro banco de dados.” Ficou claro que o DNA que compõe a população brasileira inclui uma amostragem de populações negligenciadas do ponto de vista genômico, especialmente africanas e indígenas da América do Sul. Nos próximos tempos, com mais amostragem, será possível refinar a dimensão desse manancial de novidades genéticas. “Estabelecemos parcerias com colaboradores para conseguir amostras das cinco regiões brasileiras, o que permitiu maior acesso à ancestralidade africana e indígena”, detalha a pesquisadora.
Aproximadamente 36 mil entre os quase 9 milhões de novas variantes descritas aparentam ter efeitos nocivos por gerarem anomalias nas respectivas proteínas – com perda de sua função, por exemplo – e podem estar associadas a doenças como câncer, disfunções metabólicas ou doenças infecciosas. “O que descobrirmos sobre essas variantes pode vir a ser extrapolado para povos que não foram amostrados, como no continente africano”, propõe Nunes. O conhecimento da ancestralidade, e de como as propensões a doenças
Nordeste do país tem áreas mais africanas, enquanto Sudeste e Sul são europeus e a herança indígena é mais concentrada no Norte

AFRICANA INDÍGENA

estão distribuídas no genoma e nas populações do mundo, pode ajudar a democratizar o acesso à saúde de precisão, como detalha reportagem a partir da página 18.
Ao analisar genes com sinais de terem sido favorecidos pela seleção natural, geralmente um aumento de frequência em relação ao que se esperaria aleatoriamente, destacaram-se aqueles ligados à fertilidade, ou ao número de filhos gerados, com origem na ancestralidade europeia. É um traço que certamente trouxe benefícios durante o processo de colonização, em que os portugueses que aqui se instalaram rapidamente ampliaram sua presença. Além disso, genes de resposta imunológica de origem africana apresentam sinais de seleção, refletindo o histórico de um amplo cardápio de agentes patogênicos. Os resultados levantam, ainda, pistas genéticas para doenças metabólicas concentradas na ancestralidade indígena, aparentemente ligadas ao contexto gradual de mudança nos hábitos alimentares. “Passamos a consumir alimentos industrializados, o que gera um ambiente de seleção natural para certos genes”, explica Nunes. Um desafio do estudo foi a análise dos dados, que contou com infraestrutura de computação
em nuvem cedida pelo Google. “No Brasil não havia profissionais qualificados para lidar com esse volume de informações”, conta a geneticista, que afirma ter aprendido muito no projeto, que também qualificou muitas outras pessoas. Outros 7 mil genomas já estão sequenciados, ampliando a busca por representatividade. As autoras prometem novos resultados em breve.
Iniciativas semelhantes em outros países da região também poderão contribuir para o entendimento da história sul-americana. “Detectamos um componente específico de ascendência genética pré-colombiana, presente principalmente no centro-oeste da Argentina”, contou a Pesquisa FAPESP, por e-mail, o geneticista argentino Rolando González-José, pesquisador do Centro Nacional Patagônico (Cenpat) e coordenador do Programa de Referência e Biobanco Genômico da População Argentina (PoblAr), que não participa do projeto da USP. “As suposições de longa data sobre a dinâmica da população no período pós-contato com os colonizadores são insuficientes para explicar a história evolutiva subjacente à diversidade genética nas populações argentinas modernas.” As colaborações com pesquisadores brasileiros, a seu ver, podem render frutos. l
O projeto, os artigos científicos e o livro consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Precisão para todos
Informação genômica sobre a população brasileira pode democratizar o acesso a tratamentos personalizados e baratear o atendimento nacional
MARIA GUIMARÃES fotos LUIZ BRAGA
Asaúde de precisão nasceu dos projetos que sequenciaram o genoma humano, e não é um luxo. Ao contrário: ela permite o diagnóstico mais certeiro de algumas doenças e um planejamento melhor e mais seguro da medicação. É bom para o sistema de saúde, que deixa de desperdiçar recursos em procedimentos ineficazes, e para o paciente, que recebe o tratamento que funciona melhor para ele, com menos efeitos colaterais. O Brasil, no entanto, padece da escassez de parâmetros biológicos que permitiriam saber quais variantes genéticas causam doenças por aqui. Isso porque os sequenciamentos que funcionam como referência internacional foram obtidos, em sua maioria, a partir de pessoas de ascendência europeia do hemisfério Norte. O foco na diversidade local e regional não é bairrismo. Embora a maior parte do genoma seja semelhante entre pessoas diferentes, modificações pontuais podem fazer toda a diferença em como funcionam genes que, defeituosos, causam doenças (ver Pesquisa FAPESP nº 330). É crucial, por isso, entender a composição genética da população brasileira, e vem daí o interesse do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) do Ministério da Saúde em criar o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão – Genomas
Brasil. Além do DNA do Brasil (ver reportagem à página 12), ele abarca outros projetos, entre eles o Genomas SUS, que integra várias universidades para avaliar o impacto da genômica na saúde. Iniciado em abril de 2024, o projeto prevê terminar em novembro o sequenciamento de 21 mil genomas completos de brasileiros. Ao longo de três anos, o objetivo é atingir 80 mil genomas, com o cuidado de fazer uma amostragem de ancestralidades bem diversas. Adicionalmente, a FAPESP anunciou um edital para financiar o sequenciamento de mais 15 mil amostras. A ideia é selecionar projetos menores de pesquisadores que atualmente não participam do Genomas SUS. “Será uma contrapartida da Fundação para o projeto nacional”, explica o médico Leandro Machado Colli, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), coordenador do projeto. “As amostras poderão ser coletadas em qualquer lugar do Brasil, desde que os pesquisadores estejam radicados em São Paulo.”
Ele explica que a estratégia atual do Genomas SUS é usar a tecnologia de short reads, que consiste em ler o genoma a partir de pedaços curtos de 150 pares de bases, um método com custo mais viável. Com sequenciamentos mais completos para garantir o contexto, os benefícios são muito bons. “Das 21 mil amostras que já temos, vamos fazer 200 na tecnologia long reads, como referên-

CAPA

cia mais acurada”, diz o pesquisador. Trata-se de trechos maiores, que chegam a centenas de milhares de pares de bases. Nessa contextualização dos genes ligados a doenças, é fundamental saber a ancestralidade de cada trecho do DNA do paciente. “Podemos saber o que aquele pedaço do material genético, naquele local geográfico, permite dizer sobre a saúde da pessoa.” Isso porque, com os sequenciamentos – mesmo os menos precisos –, é possível saber em que parte de cada cromossomo estão variantes alteradas e, assim, possivelmente associá-las à propensão a doenças associadas a elas.
Para garantir a representação da diversidade nascida da miscigenação, o Genomas SUS tem nove centros-âncora espalhados pelo país – dois deles em São Paulo, os demais no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Paraná, em Pernambuco e no Pará. “A população brasileira tem uma grande representatividade de povos que se miscigenaram durante o processo de formação, entre eles indígenas e de ancestralidade africana”, diz a geneticista Ândrea Ribeiro-dos-Santos, coordenadora do único centro da região Norte, sediado na Universidade Federal do Pará e em atividade desde setembro de 2024. “Na região amazônica, mulheres indígenas eram muitas vezes acolhidas no estabelecimento de comunidades quilombolas por conhecerem os segredos e os modos de vida da floresta”, exemplifica, com base em resultados de pesquisas de seu grupo que identificaram essa assimetria sexual na contribuição genética. Assim como o centro da região Nordeste, o da Amazônia ainda não conta com aparelho de sequenciamento, de maneira que precisa enviar as moléculas de DNA já extraídas para serem analisadas em outros centros. Por enquanto, já são 1.800 amostras sequenciadas, a maioria do Pará. Mas isso deve mudar com a inclusão de outros estados da região. “Há duas semanas estivemos em uma missão de saúde no Amapá, onde coletamos amostras em parceria com as secretarias de Saúde do estado e do município, além da Universidade Federal do Amapá.” Acordos com instituições no Amazonas e no Acre estão em curso, com atenção a questões obrigatórias de ética que precisam ser cumpridas. Os desafios na região são significativos: chegar a certas comunidades tradicionais pode envolver trajetos feitos de avião e carro, seguidos de dias a bordo de um barco. Mas nesses recantos, justamente, está uma riqueza única do território brasileiro: a diversidade genética e cultural de sua população humana.
Ribeiro-dos-Santos ressalta a importância, para o Sistema Único de Saúde (SUS), do enten-

dimento das variantes genéticas regionais e raras para implementar protocolos de tratamento para doenças como diabetes e câncer. Em geral não há um único gene por trás dessas enfermidades, mas uma infinidade de caminhos que podem causar disfunções na replicação de células, levando ao câncer, ou no metabolismo, no caso do diabetes, e qualquer peça alterada pode desencadear a doença. A medicação bem-sucedida é aquela que atua no foco do problema. “Sem o conhecimento específico, a pessoa pode morrer em consequência do tratamento, ou ele não ter efeito nenhum.”
“É importante conhecer como aplicar a genômica para entender desigualdades sociais e atingir um melhor diagnóstico de doenças genéticas complexas”, completa o biólogo Eduardo Tarazona, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Ancestralidade genômica, doenças e bioinformática no Brasil (INCT-AncesGen) e um dos pesquisadores à frente do Genomas SUS. “Quanto menos europeia uma pessoa é, menos a ciência e a genética sabem sobre suas doenças.”
Um exemplo é o trabalho internacional, com participação de Colli, que mapeou áreas do genoma ligadas à suscetibilidade ao câncer renal, publicado em 2024 na revista científica Nature Genetics . “Nas fases anteriores do estudo não foram incluídas amostras brasileiras, por receio
de que a miscigenação reduzisse o poder de análise de associação”, afirma o médico. Mas foi o contrário: ao incluir uma coorte brasileira nas análises, surgiu uma variante genética até então desconhecida, presente em afrodescendentes.
Quando o geneticista norte-americano Francis Collins, então diretor dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) de seu país, apresentou uma conferência na sede da FAPESP em 2014, a médica geneticista Iscia Lopes-Cendes, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), pediu sua opinião sobre fazer um projeto genômico populacional no Brasil. Ele considerou desnecessário, pois a diversidade genética humana já estaria bem caracterizada. “Ele estava completamente equivocado, os norte-americanos não entendem que as outras populações latinas não são iguais à mexicana”, diverte-se ela, que não ficou convencida com a resposta. Em 2015, fundou a plataforma BIPMed (sigla em inglês para Iniciativa Brasileira em Medicina de Precisão). “É o primeiro banco de dados genômicos da América Latina”, afirma.
“Temos uma parceria com Angola, o projeto Genomas Angola (Genan), já colhemos 750 amostras”, completa a pesquisadora, que orienta uma estudante de doutorado angolana nesse projeto.

Lopes-Cendes espera encontrar variantes genéticas ainda não descritas, o que potencialmente terá utilidade prática para os dois países, ligados pela ancestralidade em consequência dos escravizados trazidos durante o período colonial.
“Se existe um lugar onde é possível ter a saúde de precisão disponível para todos, é no Brasil”, afirma ela. “Temos o SUS.” Ela refuta a noção de que a tecnologia só estaria a serviço de países e pessoas ricas. Ao contrário: segundo ela, pode ser uma importante ferramenta de medicina preventiva. “A saúde personalizada permite tratamentos mais eficientes, na dose certa, para as pessoas certas, com menos efeitos adversos e custos menores.”
Ela e a geneticista Thais de Oliveira, pesquisadora em estágio de pós-doutorado em seu laboratório, publicaram em janeiro um comentário na revista Annual Reviews of Genomics and Human Genetics defendendo a importância de bancos de dados públicos que reúnam informações genômicas sobre as populações latino-americanas. O geneticista argentino Rolando González-José, pesquisador do Centro Nacional Patagônico (Cenpat) e coordenador do Programa de Referência e Biobanco Genômico da População Argentina (PoblAr), faz coro. “É importante que os governos façam acordos para conectar bases genômicas da região”, sugeriu, por e-mail, a Pesquisa FAPESP. Assim como Colli, ele afirma que o sequenciamento com tecnologia de short reads traz benefícios, otimizando o orçamento disponível.
O projeto DNA do Brasil, que integra o Programa Genomas Brasil, visa contribuir para a saúde de precisão a partir de um retrato detalhado da variação genética brasileira. A indústria farmacêutica também poderá se beneficiar desses avanços. A geneticista Lygia da Veiga Pereira, da USP e fundadora do projeto, em 2021 aproveitou os conhecimentos que adquiriu ao longo da carreira acadêmica para criar uma startup, a gen-t, agora financiada pelo programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe) da FAPESP. “Estamos construindo uma infraestrutura de dados de saúde, estilo de vida e multiômicas, com 200 mil genomas, que poderá ser usada pela indústria para acelerar a busca por novos fármacos”, explica. Pode vir a ser um bom complemento a possíveis implementações de novas estratégias pelo SUS. “Estamos apenas no começo do entendimento do impacto da genômica na saúde populacional”, afirma Colli. l
Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Os voos de uma bióloga
Paulistana da UnB ajudou a lançar novos conceitos sobre o comportamento animal e desde o ano passado se dedica a outra paixão, a pintura
MARIA GUIMARÃES E CARLOS FIORAVANTI retrato DIEGO BRESANI
Durante o ensino médio, Regina Helena Ferraz Macedo passava as aulas fazendo desenhos. O professor de biologia não gostava e lhe deu uma nota baixa no final do ano, pelo que ele supunha ser falta de atenção. Ela manteve um pé na arte e outro na biologia. Estudou artes plásticas nos Estados Unidos, voltou e começou o curso de biologia na Universidade de Brasília (UnB).
Mais tarde, como pesquisadora e professora na mesma instituição, dedicou-se ao estudo de comportamento de aves – anu-branco (Guira guira), tiziu (Volatinia jacarina), curicaca (Theristicus caudatus), beija-flor (várias espécies), gralha-do-cerrado (Cyanocorax cristatellus), arara-canindé (Ara ararauna), pica-pau-do-campo (Colaptes campestris). Sua pesquisa ajudou a mostrar que as aves de regiões tropicais como o Brasil não têm os mesmos hábitos reprodutivos que as do hemisfério Norte sujeitas a invernos rigorosos. No ano passado, ao se aposentar na UnB, a ornitóloga se assumiu como artista e voltou a pintar. Paulistana, 66 anos, mora com o marido em uma casa espaçosa, com jardim, no Park Way, perto do aeroporto de Brasília. Suas duas filhas, Natasha e Chantal, às vezes servem de modelo para suas pinturas.
ESPECIALIDADE
Comportamento de aves
INSTITUIÇÃO
Universidade de Brasília (UnB)
FORMAÇÃO
Graduação em liberal arts pelo Pine Manor College (1979), nos EUA, e em biologia pela UnB (1983), mestrado em educação pelo Lesley University College of Art and Design (1984), mestrado (1986) e doutorado (1991) em zoologia pela Universidade de Oklahoma

Você estudou muitas espécies de aves. O que mais a impressionou?
Tive alunos trabalhando com muitas espécies, mas o que mais gostei foram aqueles em que tive uma participação mais direta, de ir para o campo fazer a pesquisa. O trabalho sobre o anu-branco foi meu doutorado, e depois o estudo persistiu por mais de 10 anos. Foi mais voltado para a interface entre competição e cooperação, que é a esfera maior de comportamento, essa questão de como a competição está inserida em um contexto cooperativo. O tiziu começou como um projeto pequeno que escolhi por ser mais fácil para uma aluna de mestrado que tinha receio de subir em árvores. Essa ave faz um display [exibição] fantástico, acrobático, e tem toda uma questão para a área de seleção sexual que eu ainda não tinha explorado e achava bem bacana. Eu me empolguei e comecei a explorar esse campo da seleção sexual, inicialmente com o tiziu. São duas grandes áreas bem separadas, evolução da cooperação e seleção sexual. Essas duas espécies, o anu-branco e o tiziu, acabaram sendo as grandes linhas de meu trabalho.
A competição e a cooperação não são forças opostas?
São forças opostas, mas, em qualquer sociedade, precisam encontrar um equilíbrio. Você nunca vai eliminar toda a competição e ter uma cooperação absolutamente pura. Era nessa interface que eu estava interessada. O anu-branco vive em grupos de até 13 adultos. Eles formam casais, nem sempre monogâmicos, e dentro do grupo tem várias fêmeas reprodutivas. Tanto os machos quanto as fêmeas competem pelo espaço do ninho. As fêmeas vão pondo os ovos e, com frequência, as que ainda não iniciaram a postura jogam fora os ovos das primeiras fêmeas. Além de jogar fora os ovos, eventualmente matam também os filhotes, quando eclodem. A disputa por espaço pode ser extremamente agressiva.
Em algum momento devem parar a matança, não? Senão a espécie acabaria. Claro, eles têm de parar de jogar fora os ovos para que o ninho evolua e os filhotes que sobraram cresçam. Uma das hipóteses que eu estava perseguindo é que os indivíduos que fazem isso são os
que não conseguiram se reproduzir naquela tentativa de nidificação. Geralmente a fêmea dominante na hierarquia é a última a começar a pôr os ovos. Até esse momento, ela joga fora qualquer ovo que aparecer no ninho para ter espaço quando for pôr seus próprios ovos. Os machos provavelmente jogam ovos fora e matam filhotes se não tiverem copulado, mas em geral eles não têm como saber se os ovos são deles ou não. São eventos reprodutivos nos quais o grupo inteiro tem que chegar em um momento em que decidem que vão para a frente com aquele ninho. A competição é maior no começo da estação reprodutiva, que aqui no Brasil Central é no início da chuva, lá por agosto, setembro. Nesse início a hierarquia do grupo ainda pode estar muito instável, mas, se o grupo não deixar filhotes no final da estação reprodutiva, perde a oportunidade: entra a seca, e para tudo. O próprio clima impõe uma limitação à competição. Há também a questão genética do grupo, porque alguns indivíduos são aparentados e isso muda a configuração hierárquica. Faltou entender muita coisa, eu gostaria que outras pessoas continuassem com esse trabalho.
Em que os anus-brancos cooperam?
Tem a ver com questão de socialidade [instinto social] versus predação. Quando eu subia nas árvores para observar um ninho desses, via que sempre ficava um indivíduo por perto, vigiando, enquanto os outros iam se alimentar longe. Esse que ficava dava os gritos de alarme e todo o bando se reunia e passava a vocalizar histericamente. Os anus-brancos forrageiam [buscam alimento] no chão, parecem uma manada, eles vão caminhando. Um dos maiores benefícios da socialidade é a proteção contra predadores. Existe também outro mecanismo, a reprodução cooperativa.
Como funciona?
Entre os pica-paus-do-campo, só um casal se reproduz e os ajudantes, que vigiam o ninho quando os pais saem, são filhotes antigos desse casal. É uma situação mais comum que o sistema dos anus-brancos, que só acontece de 12 a 15 espécies até hoje descritas, em mais de 9 mil espécies de aves. A reprodução cooperativa é mais comum nas regiões tropicais, talvez porque o ambiente seja mais estável, sem invernos tão rigorosos. Tive um aluno que trabalhou bastante com o pica-pau-do-campo, o Raphael Igor.
Qual é a importância de conciliar o trabalho de campo com os enfoques experimentais?
No Brasil inteiro, demorou até surgirem vagas em universidades para professores da área de comportamento animal
As pesquisas sempre começam com uma observação aleatória e curiosa no campo. Hoje mesmo, voltando para casa, perto do aeroporto, vi um lugar com centenas de quero-queros. É um prato cheio para tentar entender por que essa espécie é cooperativa, por que eles estão ali. Às vezes, têm 200, 300 andando no mesmo local, todo dia. A observação do campo é importante, inicialmente, para descrever algum fenômeno ou fazer algum tipo de pergunta ou, então, elaborar alguma hipótese.
Você fez também estudos em cativeiro, não?
Mantive um aviário no campus da UnB por 20 anos, onde mantínhamos tizius. É uma maneira mais rápida de responder perguntas, fizemos muitos experimentos legais. Vimos que o comportamento deles em cativeiro não era cem



por cento igual ao de quando estavam soltos. O tiziu dá um salto sem vocalizar, mas no campo eu nunca vi nenhum saltando sem emitir a típica vocalização. No campo, muitas vezes, eles ficam empoleirados e cantam sem saltar. No entanto, no cativeiro, era bem frequente eles saltarem sem cantar, talvez por não precisarem chamar a atenção, não terem predadores ou não quererem gastar energia.
Vocês também viram que a vocalização dos tizius varia conforme a região onde eles vivem. Foi o trabalho de um de meus últimos alunos de mestrado, o Edvaldo Silva-Jr. Começou quando eu estava ouvindo as vocalizações, nos arquivos da Universidade de Cornell, de um tiziu da região do Caribe. Era diferente do nosso. As aves, de modo geral, têm dialetos, mas, quando se espalham por uma área muito extensa, as vocalizações são levemente diferentes em cada lugar. Se, por exemplo, você introduz no Caribe um tiziu do Centro-Oeste para se reproduzir, podem acontecer duas coisas: as fêmeas vão achá-lo atraente ou não vão entender nada. As diferenças de vocalização são importantes para planejar a reintrodução de espécies ameaçadas de extinção. Podem ser decisivas para a sobrevivência e, mesmo, ser um dos fatores da especiação, a formação de novas espécies.
A comunicação vocal foi um de seus temas principais de pesquisa ou só entrou em trabalhos eventuais?
A bioacústica foi uma linha que introduzi no laboratório da UnB, quando não era muito comum aqui no Brasil. Mas foi por conta do interesse de um aluno, Pedro Diniz, que queria estudar o joão-de-barro. Eu não tinha equipamento, mas ele tinha um gravador – e muita empolgação. Avançou bastante, fez um bom doutorado e comecei a trabalhar com isso. Fiz o curso de bioacústica, trouxe gente de fora e aprendi a gravar. Outros grupos já trabalhavam com vocalização, mas não ligada diretamente ao comportamento.
Você fez o mestrado com um roedor. Por quê?
Quando terminei biologia na UnB, fui trabalhar, como secretária, na Embaixada do Canadá. Eu estava lá fazia quase um ano, quando um dia voltei à UnB para buscar documentos e encontrei um antigo professor, Cleber Alho. Ele me perguntou se eu queria ir para os Estados Unidos fazer mestrado, com uma bolsa. “Claro, quero sim. Mas o que eu tenho de fazer lá?”, perguntei. Fui para a Universidade de Oklahoma com um projeto fechado, que queriam que eu desenvolvesse, sobre taxonomia de roedores. Passei o mestrado visitando coleções de museus com um paquímetro [instrumento para medir espessura e distância]. Fazia isso
o dia inteiro. Eram 24 medidas em cada craniozinho de um ratinho, Bolomys lasiurus. No final do mestrado, desesperada, pensei: “Isso aqui para mim não é biologia, não é o que eu gosto”. Eu não sabia exatamente o que eu gostava, até que fiz uma disciplina de ornitologia com um professor chamado Douglas Mock, que falava muito sobre comportamento nas aulas. Me apaixonei: “É isso, descobri”. Meus orientadores em Oklahoma, Michael Mares, e na UnB, Cleber Alho, achavam que eu iria continuar na taxonomia, mas fugi do museu quando Michael foi para um congresso. Quando ele voltou, pedi mil desculpas e avisei que eu iria trabalhar com comportamento. Já tinha mudado para outro laboratório e arrumado outro orientador, Gary Schnell.
O que mudou desde que você começou a pesquisar comportamento animal na UnB?
Nos primeiros 10 anos, eu sentia como se estivesse no escuro. No Brasil inteiro, demorou até surgirem vagas para professores da área de comportamento animal. Uma vez um aluno entrou para fazer mestrado com outra professora, na área de genética, mas queria trabalhar com comportamento também. Fizemos um projeto em comum, com moscas. Quando esse projeto passou pela comissão da pós-graduação, uma professora de outra área começou a rir e perguntou: “Desde quan-
Arara-canindé, mais comum em Brasília; tiziu, cujo canto varia de acordo com o lugar (acima, à dir.); e anu-branco, destruidor de ninhos
do as moscas se comportam?”. Pensei: “Ai, meu Deus, estou na Idade Média, voltei no tempo”. Demorou até aparecerem mais grupos de pesquisa pelo Brasil e a área de comportamento animal se firmar.
Chocante o comentário de sua colega... Eu voltei ao Brasil com uma bagagem sobre sociobiologia, já difundida e aceita sem problemas, principalmente nos Estados Unidos [a sociobiologia estuda o comportamento social dos animais, incluindo o humano, com base em conceitos de psicologia, evolução e genética; ver obituário de E. O. Wilson em Pesquisa FAPESP nº 312 e no nº 317 a entrevista com Carlos Brandão]. No início de uma disciplina sobre comportamento animal e seleção sexual, eu sempre falava para os alunos que explicar comportamentos não é o mesmo que aprová-los, inclusive os humanos. Às vezes, as pessoas usam uma explicação biológica para um comportamento desagradável, como o infanticídio, que vemos em tantos animais e na nossa própria espécie. Podemos explicar com bases biológicas, o que não quer dizer que seja aceitável para nós. Simplesmente extrapolar para o ser humano as interpretações sobre como a evolução, o ambiente e a fisiologia induzem o comportamento não é adequado e não transmite uma mensagem boa. Essas questões sempre causavam confusão. Em 2011, quando criei uma disciplina chamada Seleção Sexual e Reprodução apareceram 130 candidatos, mas só havia 25 vagas. Levou um tempo até entenderem que eu não ia falar sobre algo como o Kama sutra e que era uma disciplina sobre o mundo animal.
Você estudou também o comportamento de libélulas, macacos, até baleias. O que há em comum entre animais tão diferentes?
Os princípios são os mesmos. Podemos gerar as mesmas hipóteses para o ser humano, para outros mamíferos, répteis ou insetos. O que muda é a biologia básica de cada espécie e a forma como as pressões são executadas. De modo geral, as coisas que norteiam a biologia de um organismo são basicamente sobreviver, encontrar alimentação e se reproduzir. Outro princípio comum, a socialidade, traz proteção contra a predação, mas também problemas de competição, de
alimentação e de disputa por parceiros. É um fenômeno universal, desde o calango que está ali fora, no jardim, até as baleias. Eu não gostava de entrar em outras espécies, mas os alunos insistiam até conseguirem. Diana Lunardi, uma aluna maravilhosa, queria estudar a baleia-jubarte. Perguntei: “Você está vendo baleia-jubarte aqui no Cerrado?”. Mas ela puxou para outras questões, como forrageamento, predação e acasalamento, e por fim conseguiu.
Em 2014, você e Glauco Machado, biólogo da Universidade de São Paulo, publicaram o livro Sexual selection –Perspectives and models from the neotropics [Oxford, UK] mostrando que a seleção sexual na região neotropical era diferente das zonas temperadas, do hemisfério Norte. O que é diferente?
Nos trópicos praticamente não temos a sazonalidade. Nas regiões temperadas, com frio extremo, as estações reprodutivas são muito mais curtas, o que modifica o comportamento dos animais. Aumenta, por exemplo, a competição por parceiros. Em florestas tropicais, como a Amazônia, os animais podem se repro -
duzir ao longo de todo o ano e a disputa por parceiros não é tão acirrada. O problema que Glauco e eu tínhamos nessa época e resolvemos transformar em livro é que, muitas vezes, pesquisadores norte-americanos e europeus, com os bichos que eles estudavam, achavam que as conclusões deveriam ser globais. Eles usavam poucas espécies, muitas vezes só no laboratório, e queriam fazer proclamações sobre como funcionava o comportamento dos animais, em geral. Glauco e eu não concordávamos, nos rebelamos e reunimos mais gente para contestar essas ideias. E conseguimos mostrar que o que víamos aqui no Brasil e outras regiões tropicais não se adequava aos resultados produzidos por norte-americanos e europeus. O problema é que era difícil publicarmos, porque nossos resultados não se enquadravam nos modelos que os pareceristas das revistas tinham. Eu argumentava que não se adequavam porque não trabalhamos com zebra finch, um passarinho que eles usam à exaustão, ou com os periquitinhos australianos, criados em laboratório nos Estados Unidos e na Europa, aos milhares. Estamos trabalhando com espécies tropicais e, em geral, na natureza. O livro foi um protesto contra as ideias que não serviam para nós e, aos poucos, à medida que aumenta nossa inserção internacional, os conceitos começaram a se ampliar [ver Pesquisa FAPESP nº 244].
Que outros conceitos você ajudou a mudar?
Em florestas tropicais, os animais se reproduzem ao longo de todo o ano e a disputa por parceiros não é tão acirrada
Participei da discussão sobre a investigação genética do parentesco, que foi muito importante para entender o comportamento animal e das aves em especial. Há uns 40 anos, sempre se dizia que as aves eram monogâmicas, enquanto os mamíferos não eram e os peixes às vezes sim, às vezes não. Certo, as aves viviam emparelhadas, um macho com uma fêmea, mas no ninho podia acontecer todo tipo de coisa. Às vezes, os filhotes não pertenciam àquele macho. Vimos até filhotes que não pertenciam à fêmea, que era dona do ninho. Do ponto de vista evolutivo, essa confusão no ninho é uma coisa ótima, porque gera diversidade genética. Percebemos que, em muitas espécies, a taxa do que chamamos de cópula ou paternidade extra par era altíssima. A meu ver, esse comportamento está associado à predação, uma das forças
mais brutais da seleção natural. Entre os tizius, 80% das ninhadas de uma área que estudávamos eram consumidas por predadores. Mas o tiziu se reproduz quatro, cinco vezes, durante a estação da chuva. Um macho cruza com a fêmea que está naquele ninho, mas também cruza com outras, de outros ninhos. Assim, espalha seus genes por uma área grande. Talvez algum dos seus filhotes sobreviva. A vantagem, nesse caso, seria evitar a predação e deixar algum sobrevivente. Para a espécie, aumenta a variabilidade genética, o que também é bom.
Você se interessa pelo comportamento das aves no contexto da urbanização?
Alguns alunos trabalharam com isso. Uma aluna em particular, Renata Alquezar, fez um trabalho muito bonito e importante no doutorado, mostrando como os aeroportos afetam a vocalização das aves ao redor. A poluição sonora tem um impacto enorme, não só sobre a vocalização, mas também na própria biologia do animal e na maneira como as aves são percebidas umas pelas outras. Algumas mudam o horário de cantar em função do horário que os aviões decolam. Outras espécies mudam um pouco a frequência dos cantos. Cantam numa frequência mais alta e tentam ampliar o som, porque assim conseguem se comunicar, como quando estamos em um bar barulhento e falamos cada vez mais alto.
Aqui em São Paulo os sabiás cantam de madrugada, às 2h.
Às 2h? Não é normal. Vimos também que algumas espécies não têm flexibilidade para continuar vivendo perto de áreas muito urbanas e desaparecem. Ficam apenas as que têm mais capacidade de adaptação para a urbanização. O joão-de-barro, a cambaxirra, o sabiá e o bem-te-vi são comuns em regiões urbanas porque se adaptam bem, enquanto outras desaparecem. Nos anos 1970, 1980, viam-se de forma abundante o pica-pau-do-campo e grupos de anus-brancos aqui em Brasília. Hoje são raríssimos. Mas começaram a aparecer, aos montes, as araras-canindé comuns na Amazônia. Algo está acontecendo para elas virem para cá.
Como está a vida, um ano depois de se aposentar da UnB?
Algumas aves mudam o horário de cantar em função do horário dos aviões. Outras mudam a frequência dos cantos
guém me corrigindo. Isso também foi uma adaptação. Continuo lendo muito sobre genética, fisiologia e biologia em geral. Sempre leio um livro mais científico e depois dois livros de literatura, gosto de contos que acabam bem, para restaurar a fé na humanidade. Gosto muito de pintar retratos. Paisagens também, mas é algo mais fácil. Se colocar um galho aqui ou ali, não tem nada de errado com a árvore. Mas pintar o ser humano é um desafio muito grande, é necessário exatidão para acertar a expressão, o olhar.
Desde quando você faz retratos?
Sair da universidade foi uma decisão difícil, porque eu ainda teria um caminho pela frente e alunos para orientar, mas acredito que devemos sair da festa quando ela está no melhor. E porque eu tinha, desde sempre, essa paixão pela arte para desenvolver. Saí da universidade pensando em forjar esse caminho novo e tem sido muito gostoso. Sem demandas, sem estresse. Estou me acostumando a não ter horários, é uma coisa um pouco bizarra, porque era sempre aquela correria.
Como é retomar um sonho antigo? A paixão pela pintura não desapareceu. Vivo a arte meio a meio. O tempo todo, mesmo quando estava na universidade, enquanto conversava com alguém via a luz que batia na orelha da outra pessoa e pensava “que cor linda”. Mantive uma atividade artística, ainda que baixa, ao longo dos anos. Pintava quando dava tempo e de vez em quando fazia uma exposição. Então não foi uma redescoberta total. Voltei a estudar e a fazer cursos, com professores que eram pintores muito jovens, de 30 anos... Precisei voltar novamente àquele ponto onde tem al-
Quando eu tinha uns 7, 8 anos, punha minhas irmãs mais novas sentadas na minha frente e mandava ficarem quietas para eu desenhá-las. Mas elas se rebelavam, não deu certo. Agora minhas filhas servem muito de modelos para mim. Quando querem me dar um presente de Natal, eu peço: “Quero uma hora para fotografar, aqui no estúdio”, e depois uso as fotos para pintar. É uma maneira que tenho de matar a saudade delas: uma mora em São Paulo e outra aqui em Brasília. Fiz algumas exposições quando estava na UnB. A mais recente foi no ano passado no STJ [Superior Tribunal de Justiça].
Como é que a biologia entrou na sua vida, que já estava rumando para a arte?
Meu pai, que era da Força Aérea, foi transferido para o Canadá quando eu era pequena, devia ter uns 6 anos. Quando voltei, estava com 9 anos. Não lia nem escrevia em português e falava mal. Minha mãe foi trabalhar na Escola Americana para que eu e minhas duas irmãs pudéssemos estudar lá. No finalzinho, com uns 16, 17 anos, eu adorava biologia. Quando me formei, com 18 anos, recebi uma proposta de bolsa de estudos para estudar artes plásticas nos Estados Unidos. Fui sozinha para Boston. Fiquei dois anos fazendo artes plásticas. Fiz também cursos optativos de biologia marinha, genética, introdução à biologia celular, eu gostava demais. Mas o meu negócio era artes plásticas. Quando voltei para Brasília, dois anos depois, olhei em volta e percebi: “Não vou conseguir me sustentar pintando”. Nem hoje em dia eu conseguiria. Fui pragmática. E decidi cursar ciências biológicas na UnB. Nunca me arrependi de ter tomado essa decisão. l

Assistente virtual

Pesquisadores discutem como usar ferramentas de inteligência artificial generativa em tarefas rotineiras da pesquisa acadêmica
SARAH SCHMIDT ilustrações JULIA JABUR
Ouso de ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa na pesquisa ainda é limitado e se concentra principalmente em tarefas relacionadas à escrita acadêmica, mas há uma percepção majoritária na comunidade científica de que deve se tornar disseminado já nos próximos dois anos, de acordo com um levantamento feito pela editora Wiley, com quase 5 mil pesquisadores de mais de 70 países, entre eles 143 do Brasil (ver infográfico na página 30). “Há ampla aceitação de que a inteligência artificial vai remodelar o campo da pesquisa”, disse à revista Nature Josh Jarrett, vice-presidente da Wiley e responsável pela área de IA da empresa.
Os entrevistados opinaram se a IA já é capaz de superar os seres humanos em atividades acadêmicas práticas. Mais da metade considerou que a tecnologia produz, sim, resultados melhores do que as pessoas em encargos como mapear possíveis colaboradores, gerar resumos ou conteúdos educacionais a partir de artigos científicos, verificar a existência de plágio em textos, preencher referências bibliográficas ou monitorar a publicação de artigos em áreas determinadas.
Mas, para a maioria dos participantes da pesquisa, os humanos são insubstituíveis em trabalhos como prever tendências, selecionar revistas para publicar artigos, escolher revisores, gerenciar tarefas administrativas e procurar oportunidades de financiamento. Apesar do interesse crescente, 81% dos entrevistados disseram ter preocupações quanto a possíveis vieses dos resultados, aos riscos à privacidade e à falta de transparência na forma como essas ferramentas são treinadas. Quase dois terços afirmaram que a falta de orientação e de treinamento os impede de usar a IA tanto quanto gostariam.
“Aqui no Brasil, muitos pesquisadores ainda ficam em dúvida sobre os caminhos éticos para o uso dessas ferramentas e seria importante que órgãos como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [Capes] e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico [CNPq] criassem diretrizes orientadoras”, afirma o cientista político Rafael Sampaio, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), um dos autores de um guia com diretrizes sobre o uso ético e responsável de IA generativa na pesquisa científica, lançado em dezembro em parceria com o administrador de empresas Ricardo Limongi, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e com Marcelo Sabbatini, especialista em educação digital da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Sampaio utiliza ferramentas de IA em seu trabalho como pesquisador. Um exemplo é uma plataforma do Google, o NotebookLM, que permite ao usuário fazer perguntas sobre temas de pesquisa e obter resumos com base no conteúdo compilado pelo programa. A ferramenta é capaz de “conversar” simultaneamente com até 50 arquivos, como artigos científicos em formatos de PDF, áudio e vídeo – por ora, está disponível gratuitamente.
“Uso esse serviço especialmente quando estou fazendo grandes varreduras, para uma primeira triagem e para selecionar o que vou ler de fato. Também ajuda quando preciso localizar rapidamente algum artigo que já li, mas não me lembro do título ou do autor”, conta. Uma funcionalidade do programa que impressiona os usuários são os resumos em formato de podcast com duas pessoas conversando – tudo gerado por IA – acerca dos arquivos analisados.
O guia reúne e descreve uma série de ferramentas que, a exemplo do NotebookLM, podem ser úteis aos pesquisadores, sempre fazendo a ressalva de que a checagem humana é essencial em todos os processos em que elas forem usadas, colocando a IA como uma assistente. Limongi, coautor do manual, utiliza com frequência dois softwares que ajudam a fazer a revisão da literatura em determinados temas – LitMaps e Scite. Eles permitem carregar um artigo científico em PDF e gerar mapas interativos, mostrando as conexões do trabalho com outros papers, além de mostrar os links e identificar referências precisas para aprimorar a argumentação.
Limongi ressalta que é preciso treinar pesquisadores para que conheçam as limitações das fer-
ramentas e adverte que o uso excessivo e sem um olhar crítico desses softwares pode fazer com que os futuros cientistas atrofiem habilidades essenciais, como fazer leituras complexas e organizar ideias em um texto articulado. “A IA é uma auxiliar, mas o pesquisador é quem planeja e conduz seu estudo. Ele não deve ser um apertador de botão”, reforça. Periódicos científicos não permitem que ferramentas de IA sejam consideradas autoras de trabalhos acadêmicos – o humano é sempre o responsável pelos resultados científicos e pelos textos que elabora com esse auxílio.
AClaude.ai, um chatbot (programa de IA que simula conversas humanas) concorrente do ChatGPT, pode ser útil para gerar estruturas de textos. A plataforma tem sido usada por Sabbatini, da UFPE, para desenvolver a estrutura inicial e revisar textos acadêmicos e de divulgação científica. “Peço sugestões de como abordar um tema e, depois, quais seriam os caminhos para desenvolvê-lo. A ferramenta cria uma estrutura e eu vou dialogando com ela, buscando, checando e complementando com meu conhecimento e visão pessoais.”
Criada pela startup norte-americana Anthropic, a ferramenta foi a mais bem avaliada em um estudo, publicado em maio na revista Royal Society Open Science, que analisou a capacidade de 10 programas de IA generativa, incluindo o ChatGPT e o DeepSeek, de gerar resumos fidedignos sobre
Uso ainda limitado
artigos científicos. O resultado geral do trabalho, contudo, foi desfavorável para o conjunto dos chatbots, que produziram conclusões imprecisas ou exageradas em até 73% dos 5 mil artigos científicos resumidos.
O engenheiro de materiais Edgar Dutra Zanotto, pesquisador da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), usa chatbots como o ChatGPT, DeepSeek, Claude, Perplexity e Gemini para múltiplas tarefas. As ferramentas o auxiliam, por exemplo, a revisar textos em inglês, a fazer cálculos (como calcular a composição molar de um vidro a partir do peso molecular dos elementos) e a selecionar possíveis revisores para artigos científicos da revista Journal of Non-Crystalline Solids, da qual é editor. “Levanto quem são os pesquisadores mais influentes no tópico que preciso”, conta. Zanotto já tinha experiência com inteligência artificial na área de aprendizado de máquina: ele e seu grupo no Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros (CeRTEV), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) financiados pela FAPESP, treinaram um algoritmo com dados de 55 mil composições de vidro, um banco de dados com um volume inédito na área, que é capaz de sugerir estruturas que nunca foram criadas. Antes da IA, o desenvolvimento de novas composições era feito por tentativa e erro. “Com isso, é possível criar um novo vidro em um mês. Antigamente, levava anos e qualquer novo vidro virava uma tese”, diz. Há usos da inteligência artificial para soluções matemáticas, que podem ser feitas em programas como o MathGPT. Há também aquelas que po -
Que aplicações ou soluções com inteligência artificial você já usou ou tentou usar no passado? Cinco mil pesquisadores de mais de 70 países responderam
Assistência na escrita
Detecção de erros ou vieses em trabalho próprio
Verificação de plágio não intencional em trabalho próprio
Coleta e processamento de dados
Resumos de artigos em linguagem simples
Revisão de estudos publicados
Preenchimento de referências
É preciso treinar pesquisadores sobre as limitações da IA

dem ser utilizadas como auxiliares na programação.
“Claude e o Gemini têm sido muito usados tanto para gerar quanto para avaliar códigos”, observa Limongi. Como essas ferramentas são treinadas por bancos de dados de informações já existentes na internet, elas podem reproduzir vieses. Às vezes, também geram “alucinações”, inventando termos, nomes e referências. Para evitar esses problemas, Zanotto, por exemplo, testa as respostas de que precisa em mais de um chatbot, a fim de cruzar os dados e chegar a informações mais confiáveis.
Uma das vocações de programas de uso popular como o ChatGPT é o brainstorming, ou exploração inicial de ideias, graças à capacidade deles de rastrear e combinar informações em gigantescos bancos de dados. Em uma “conversa” com a ferramenta, o pesquisador pode pedir sugestões de caminhos que poderia seguir sobre determinado tema. É preciso, no entanto, avaliar as possibilidades, uma vez que algumas ideias podem não ser exclusivas, já que os modelos são treinados com informações que já existem, embora também sejam capazes de sugerir novas variações.
O engenheiro de produção Roberto Antonio Martins, da UFSCar, tem experimentado softwares como o ChatGPT, o Copilot e o DeepSeek, usando a função de pesquisa profunda (deep research), incorporada recentemente a essas ferramentas. A funcionalidade faz buscas avançadas na web, inclusive em fontes acadêmicas, e gera relatórios, com uma síntese do tema e uma lista de fontes das informações levantadas, ele explica.
Nesse tipo de pesquisa, a ferramenta costuma fazer perguntas ao usuário antes de iniciar sua varredura e, assim, cria um prompt (comando dado pelo usuário para gerar uma resposta) bem estruturado. Martins sempre começa essa etapa com um questionamento à ferramenta sobre o tema que precisa explorar. “Não é uma busca por palavra-chave, como costumávamos fazer, mas por uma pergunta, e, diferente de palavras-chaves, uma pergunta tem mais contexto e pode trazer resultados mais precisos”, observa Martins, que tem ministrado palestras sobre o uso de IA generativa na pesquisa acadêmica.
O chatbot Perplexity conquistou usuários do mundo acadêmico por fornecer informações baseadas nos resultados mais recentes da internet e exibir notas de rodapé clicáveis nas fontes
de onde foram extraídas as informações. “Uso essas ferramentas quando começo a levantar informações e a criar hipóteses sobre um novo tema de pesquisa”, diz a brasileira Cyntia Calixto, professora de negócios internacionais na Leeds University Business School, no Reino Unido, que tem usado esses programas em sua pesquisa sobre o ativismo dos CEO de empresas que se posicionam sobre temas polêmicos nas redes sociais. “A IA funciona como um assistente, com quem vou discutir um tema conforme vou explorando.” Quando a tarefa é localizar artigos científicos de interesse do pesquisador, uma opção que Calixto costuma usar é a SciSpace, que faz a busca de papers e apresenta um resumo de cada um deles. O biomédico Aydamari Faria-Jr., da Universidade Federal Fluminense (UFF), destaca outras duas ferramentas, a Answer This e a Elicit, que permitem explorar múltiplas bases de dados científicos, como o PubMed e Scopus. “Elas oferecem filtros que otimizam o processo de busca e permitem restringir a procura, por exemplo, a ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas com ou sem meta-análises ou trabalhos transversais”, observa. Ele costuma complementar o trabalho com a consulta manual às bases de dados, com o intuito de garantir uma varredura ampla sobre o tema que está pesquisando no momento.
Oapoio de programas de inteligência artificial na escrita de artigos se estende a questões ligadas à integridade científica, como avaliar se as citações contidas em um paper são robustas e fidedignas. A plataforma Scite exibe o contexto original de uma citação de um artigo científico e mostra, por meio de uma classificação realizada por um modelo de aprendizado profundo, se ela se apoia mesmo no texto de referência ou se contrasta com seu conteúdo. A advogada Cristina Godoy, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP-USP), costuma usar a ferramenta. Por meio dela, encontrou um artigo publicado na revista Nature que complementou um trabalho de sua autoria sobre inteligência artificial. “A plataforma indica artigos científicos que dialogam com o tema e aponta o link para o paper. E dá para escolher o periódico no qual se quer fazer a busca”, conta ela, que costuma usar outras ferramentas de IA para analisar dados. Godoy toma um cuidado especial ao utilizar programas de inteligência artificial generativa: jamais faz buscas utilizando trechos de trabalhos que ainda não foram publicados, porque sabe que esse conteúdo pode ser usado para treinar a ferramenta – e nunca se sabe se as ideias podem parar nos resultados de pesquisas de outros usuários. l

Computadores vulneráveis
Ataques cibernéticos a instituições de ensino e pesquisa crescem nos últimos anos e trazem alerta para reforço em segurança da informação
SARAH SCHMIDT
Oprimeiro alerta veio na noite de uma sexta-feira, 28 de março, por meio de um software de segurança cibernética: havia um ataque hacker em curso na rede de computadores e servidores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), em São Paulo. Acionada, a equipe de tecnologia da informação percebeu que, para conter o avanço, que se espalhava para outras máquinas do instituto, toda a comunicação com o Ipen deveria ser cortada: o acesso à internet, ao telefone e à própria rede interna, interrompendo o fluxo de dados de seus computadores. Em consequência, o instituto paralisou todas as suas atividades, tanto as de pesquisa quanto a de produção de radiofármacos, essenciais ao tratamento de pessoas com câncer, por 10 dias. O rescaldo
dos danos ainda continua. “Vamos levar cerca três meses para avaliar tudo o que pode ter sido afetado e retornar às atividades de forma plena”, comenta Pedro Maffia, diretor de gestão institucional da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), da qual o Ipen faz parte.
Ainda não foi possível estimar todo o prejuízo causado pelo incidente, mas R$ 2,5 milhões deixaram de ser arrecadados com a venda dos insumos. O ataque desferido foi do tipo ransomware, que por meio de software malicioso controla e bloqueia arquivos computacionais da instituição, usando criptografia, e exige dinheiro para restabelecer o acesso. “Deixaram uma mensagem pedindo um resgate para ser pago em bitcoin. Em nenhum momento pensamos em negociar com os criminosos”, conta. Os pesquisadores cujas atividades podiam ser realizadas remotamente seguiram trabalhando, mas de forma parcial e com produtividade reduzida. “Todas as atividades que dependiam de sistemas conectados à rede do Ipen foram afetadas”, observa o físico Niklaus Wetter, coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento do instituto.
Tentativas de ataques como a enfrentada pelo Ipen são comuns em instituições de ensino e de pesquisa do país. A rede acadêmica Ipê, que conecta aproximadamente 1,8 mil instituições de pesquisa, inovação e ensino superior brasileiras e 4 milhões de usuários, lida com cerca de 20 mil tentativas de ataques por mês. A maioria é bloqueada de forma automática pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que administra a rede. Alguns desses ataques, por serem mais elaborados, exigem intervenção direta dos profissionais da equipe de cibersegurança.
“As instituições de ensino e pesquisa vêm ampliando a oferta de serviços digitais e isso naturalmente abre mais portas para ataques”, explica João Eduardo Ferreira, pesquisador do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP) e superintendente de Tecnologia de Informação da universidade. Segundo ele, a USP sofre e monitora continuamente tentativas de ataques cibernéticos, cujo perfil mudou nos últimos dois anos. “O que observamos é que os hackers não precisam mais dispor de equipamentos para atacar, pois muitos alugam máquinas de boa capacidade computacional na deep web. Outra mudança é que, na maioria das vezes, não se trata de um indivíduo, mas de grupos que se articulam em locais diferentes. E, por fim, eles exibem um conhecimento técnico cada vez mais sofisticado.” Para lidar com os ataques, a USP investe em várias estratégias, desde a construção e aperfeiçoamento de barreiras de conectividade (firewall) até a criptografia de dados sensíveis e a adoção de uma arquitetura de software em qua-
tro camadas, que permite o desenvolvimento de novas funcionalidades e a correção de problemas sem afetar outras partes do sistema. A pandemia também abriu flancos: as instituições passaram a receber centenas de acessos remotos de colaboradores trabalhando em casa.
É comum que criminosos tentem instalar softwares maliciosos em máquinas de instituições de pesquisa para minerar criptomoedas, processo que exige o uso de sistemas computacionais potentes para resolver problemas matemáticos – como recompensa, os hackers recebem moedas digitais. “Centros de pesquisa e universidades são alvo porque costumam ter computadores com alto poder de processamento. Além disso, podem guardar informações de valor, como segredos de patentes”, observa Dennis Campos, gerente de tecnologia da informação do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas.
O CNPEM teve um caso desse tipo, há alguns anos: seu sistema de monitoramento detectou um consumo de memória acima do normal e havia um software em um de seus computadores minerando criptomoedas. O centro reforçou sua equipe de segurança da informação após sofrer um outro ataque cibernético, em um final de semana em fevereiro de 2022. Assim como no caso do Ipen, foi um ataque do tipo ransomware. “Os criminosos já tinham conseguido criptografar algumas informações do nosso sistema, como dados administrativos e de pesquisa”, recorda-se. Como havia um backup, a maioria deles pôde ser recuperada.
Apenas em 2024, os sistemas de segurança do CNPEM bloquearam cerca de 1.800 ataques e 116 milhões de tentativas. “Caso haja um ataque forte bem-sucedido, o maior risco é precisar parar o funcionamento da infraestrutura da instituição e suspender a operação da fonte de luz síncrotron Sirius”, avalia.
A equipe do CNPEM descobriu que a invasão ocorreu devido à vulnerabilidade de um software. Após o incidente, definiu-se que atualizações de programas críticos devem ser feitas no mesmo dia em que forem liberadas. Outro procedimento que o centro está implementando é a instalação de um sistema de autenticação multifator, ou seja, o usuário da rede – colaborador ou visitante –deve fornecer mais de um tipo de verificação de identidade, em vez de apenas colocar sua senha. “É uma primeira barreira, permite que a gente identifique o horário, a localização e o que foi baixado. Isso ajuda no rastreamento da origem de eventuais incidentes”, diz Rogger de Lima, gerente de segurança da informação do CNPEM, contratado após o ataque de 2022.
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) sofreu uma tentativa de ataque em março passado. A investida hacker foi barrada, mas deixou a rede de computadores do campus mais lenta por quatro dias. Segundo Ricardo Dahab, diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Unicamp, os computadores da universidade são sondados diariamente por softwares maliciosos em busca de brechas para invasões. “O pior cenário seria ocorrer vazamentos de informações de pesquisas feitas em parceria com empresas, protegidas com contratos de sigilo. Ou, ainda, de dados sensíveis de pacientes do hospital da universidade”, afirma.
No início de 2020 e em 2024, a universidade sofreu grandes vazamentos de dados de funcionários, de alunos e de usuários de um sistema de avaliação a distância, resultantes de ataques cibernéticos. No primeiro, dados de 200 mil usuários foram vazados e, no segundo, 140 mil. Segundo Dahab, o ataque de 2020 foi o maior incidente da instituição até o momento.
“Descobrimos que houve uma configuração errada de um software. Depois disso, analisamos as vulnerabilidades e fechamos várias portas”, conta. Outra medida foi investir em infraestrutura na instituição. “Além de usar o serviço em nuvem da Amazon, temos a nossa nuvem própria,
Segurança da informação
da Unicamp, que armazena nossas bases de dados principais protegidas com backup.”
Um problema comum em universidades é que seus laboratórios têm autonomia para criar sites e páginas, abrigando-as nos servidores centrais. “Criam-se sites à vontade. É comum que sejam administrados por bolsistas e fiquem sem manutenção depois que a bolsa termina e eles vão embora. A desatualização abre flancos de segurança”, observa Dahab. Ele destaca que, caso não haja manutenção e ocorra alguma invasão, o departamento de TIC tem a liberdade de derrubar o site.
Para encontrar vulnerabilidades e ampliar a capacidade de se antecipar a ataques, a USP criou o programa Hackers do Bem, que oferece bolsas para cinco alunos do bacharelado de ciência da computação do IME-USP. O trabalho dos estudantes é atacar os sistemas da USP e encontrar flancos, a fim de que sejam corrigidos pela Superintendência de TI. “É um programa muito interessante, porque gera conhecimento novo, treina os alunos e ajuda a universidade a aperfeiçoar sua segurança”, explica Ferreira. “Os bolsistas não têm contato com os técnicos que monitoram os sistemas computacionais da USP. O trabalho deles é independente.”
Para ajudar a evitar perdas de dados sobre pesquisas em andamento ou de infraestrutura de ensino, a RNP criou em 2023 um Centro de Operações de Segurança (SOC), para acompanhar e neutralizar ataques. Por enquanto, o SOC contempla diversas camadas de proteção, e uma
Confira as medidas que podem melhorar a cibersegurança
Defesa em profundidade
Adote múltiplas camadas de proteção para dificultar a ação de invasores e detectar incidentes precocemente
Backup
Faça cópias de segurança regularmente para garantir a disponibilidade dos dados e recuperar sistemas após falhas ou ataques
Proteção contra vulnerabilidade
Monitore sistemas, aplique atualizações e acompanhe canais técnicos para prevenir falhas
Segmentação e controle de acesso
Use autenticação multifator e o modelo de confiança zero (nenhum usuário ou sistema é confiável e todos devem ser verificados continuamente, mesmo dentro da rede) para limitar acessos e isolar incidentes
Conscientização
Realize treinamentos para tornar os colaboradores agentes ativos na segurança da informação
Continuidade de negócios
Elabore planos para manter as operações mesmo diante de incidentes cibernéticos
Resposta e cooperação
Integre especialistas externos (como consultores, equipes de segurança ou órgãos especializados) aos processos de resposta a incidentes para agir com eficiência

Profissionais de cibersegurança monitoram tentativas de ataques ao CNPEM, em Campinas
delas monitora ataques de negação de serviço, em que é enviado um grande volume de solicitações de acesso, sobrecarregando e derrubando sistemas. O monitoramento é feito 24 horas por dia nas 97 instituições que até o momento passaram pelo processo de adesão ao centro, e na própria infraestrutura principal da rede, o backbone. Se bem-sucedido, esse tipo de ataque pode prejudicar a rotina de trabalho e de pesquisa das instituições.
“Não se trata de uma possibilidade. Incidentes cibernéticos vão acontecer”, destaca o especialista em cibersegurança Ivan Tasso Benevides, gerente de Operações de Segurança da RNP. Entre 2023 e 2024, o número de ataques à rede aumentou 56%.
Ocentro montado pela RNP fica em uma sala na sede da instituição em Brasília, com analistas que acompanham a rede e a deep web, para onde geralmente vão os dados vazados.
“Isso permite uma resposta mais rápida e mais efetiva nesses casos”, conta Benevides. “Lançamos um edital para montar mais três centros pelo Brasil até o final deste ano. Um deles será na cidade de São Paulo”, complementa. Antes de o centro entrar em operação, as instituições que sofriam ataques costumavam procurar o Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança (Cais), ao qual o SOC está vinculado, para pedir orientações sobre como proceder.
“Aguardávamos os chamados de apoio das instituições para suportá-los. Agora, adotamos uma postura ativa e conseguimos deter os ataques antes que aconteçam nas instituições associadas à Rede”, observa Benevides. Elas podem optar por
aderir ao sistema do SOC. Para isso, há pacotes –o primeiro, mais básico, é gratuito. Depois há o intermediário e o avançado, pagos.
Ele conta que, em um caso atendido recentemente pela RNP, uma instituição de ensino por pouco não teve sua rede invadida depois que um funcionário usou as credenciais da instituição –e-mail e senhas corporativos – para fazer cadastro em um outro site. Houve um vazamento e suas informações foram parar na deep web. Em outro caso, uma universidade da região Norte foi alvo de um ataque em que o hacker apagou dados e o backup estava desatualizado há dois meses. “Eles perderam tudo o que foi feito nesse intervalo.”
Os ataques de negação de serviço são os mais recorrentes que as instituições associadas à RNP sofrem, segundo Benevides. O segundo mais frequente é o phishing, golpe que tenta levar o usuário a clicar em formulários falsos e fornecer dados e senhas. O terceiro tipo mais comum é o ransomware, o que atingiu o Ipen.
O CNPEM foi uma das instituições que aderiu ao SOC da RNP como um serviço complementar às medidas internas de segurança. Campos, do CNPEM, destaca que a equipe tem buscado informações com outros centros de pesquisa internacionais para garantir a cibersegurança do projeto Orion, complexo laboratorial para pesquisas avançadas em vírus e bactérias, com instalações de máxima contenção biológica (NB4), que devem ser as primeiras do mundo conectadas a uma fonte de luz síncrotron (ver entrevista na página 56 ). Seus sistemas críticos, como o ar-condicionado, serão automatizados, e a proteção contra falhas e interferências vai ser essencial para preservar o material biológico. l
Blindagem na inovação

USP cria órgão para prevenir conflitos de interesse em colaborações acadêmicas e proteger docentes empreendedores
FABRÍCIO MARQUES
AUniversidade de São Paulo (USP) criou um órgão encarregado de analisar a conformidade tanto das atividades empreendedoras de seus docentes como das colaborações de pesquisa com empresas ou outras instituições. O objetivo é dar segurança a quem promove a inovação no ambiente acadêmico e garantir que a cooperação com o setor privado não seja comprometida por conflitos de interesse e desvios éticos. O Escritório de Integridade e Proteção da Pesquisa tem duas vertentes de atuação. Uma delas busca dar respaldo institucional a pesquisadores que abrem empresas, comercializam tecnologias ou mantêm parcerias com o setor industrial. “A ideia é que os docentes procurem o escritório e informem o escopo das iniciativas que querem desenvolver. Se não houver problemas, receberão a chancela da universidade para suas atividades”, diz o físico
Paulo Alberto Nussenzveig, pró-reitor de Pesquisa e Inovação da USP.
Segundo ele, a intenção é remover constrangimentos da rotina dos docentes empreendedores. “Pesquisadores que abrem negócio ou fazem parcerias com empresas às vezes são tratados como bandidos por colegas, como se estivessem prejudicando a população. Isso é uma falácia. Eles geram riqueza, devolvem o dinheiro que a sociedade investiu neles na forma de impostos e merecem ser apoiados pela universidade”, diz o pró-reitor, que quer reduzir incertezas no empreendedorismo acadêmico.
Uma segunda missão do escritório é garantir que as pesquisas na USP sigam padrões internacionais de integridade e proteção de dados, também definindo regras e avaliando a conformidade de projetos. “Em uma colaboração, ninguém quer ser o elo no qual informações sensíveis vazam. Para a USP permanecer relevante em cooperação internacional, precisamos seguir os mesmos mecanis-
mos de proteção do conhecimento dos nossos parceiros”, contextualiza Nussenzveig. Ele cita como exemplo a necessidade de proteger informações sobre biodiversidade. “Somos instados a informar o patrimônio genético usado em nossas pesquisas, mas a forma como tratávamos isso até recentemente era inadequada. Abria-se um documento no Google e se pedia aos colaboradores que enviassem as informações por um canal sem nenhuma segurança. Era como dizer: biopiratas do mundo, as informações estão centralizadas aqui para que vocês peguem tudo de uma vez só.” O propósito também é que o escritório atue em caráter consultivo, analisando demandas de pesquisadores sobre proteção de dados e exigências de redes internacionais.
De acordo com Nussenzveig, a criação do escritório é resultado da incorporação do tema da inovação aos propósitos da Pró-reitoria de Pesquisa da USP, que ocorreu em 2022. Ele e o pró-reitor-adjunto de inovação, o engenheiro Raúl González Lima, visitaram várias universidades para ver como tratar a questão da inovação e observaram que elas tinham escritórios com essas características.
Um exemplo foi um órgão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, encarregado de avaliar e atenuar os riscos das atividades de seus pesquisadores: ele analisa se existem conflitos de interesse em colaborações e estabelece controle sobre a transferência de tecnologia a entidades de outros países. Também confere se a cooperação está em conformidade com regulamentações federais: não são permitidas parcerias com países que sofrem sanções dos Estados Unidos, como Coreia do Norte, Irã e Cuba.
Visitas de pesquisadores do MIT a esses países devem ser informadas previamente e uma série de medidas de segurança precisam ser seguidas. Não se deve levar computadores ou celulares de uso pessoal, para evitar vazamento de informações – o instituto fornece equipamentos seguros para uso temporário. “Participei de uma conferência sobre integridade e proteção de dados nos Estados Unidos e fiquei impressionado com a agenda, que parecia da época da Guerra Fria. Depois me dei conta de que estávamos sendo ingênuos em relação à segurança das nossas informações”, relata Nussenzveig.
Os primeiros processos analisados pelo escritório tratam de casos de complexidade baixa. Uma das câmaras do escritório, a de conflito de interesses e conformidade, está debruçada sobre dois casos. Um deles é o de um professor que abriu uma empresa e gostaria de continuar atuando na USP como docente em regime de tempo integral, embora tenha de dividir seu tempo com os afazeres privados. O caso está sendo avaliado, mas existe uma provisão no estatuto da universidade permitindo que isso seja feito, desde que haja uma declaração de interesse da universidade.
“Como não havia nenhuma instância que fizesse esse tipo de declaração, o escritório deve assumir essa tarefa, em consonância com outras instâncias da universidade”, diz o pró-reitor. Outro caso é o de um pesquisador que mantém uma parceria com uma empresa sobre a qual pesam acusações de comportamentos questionáveis e desvios éticos. A câmara está analisando os benefícios da parceria versus dano reputacional que ela pode causar. O desafio, diz o pró-reitor, é estimular colaborações, evitando que empresas com comportamentos duvidosos usem a respeitabilidade da USP para limpar sua imagem.
Para Angela Kaysel Cruz, pesquisadora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, interessada em integridade científica, a criação do escritório é uma iniciativa bem-vinda, porque trata de problemas importantes da universidade. “Conheço o caso de um professor com dedicação em tempo integral que tinha uma empresa e agora enfrenta um processo na Justiça”, afirma. Ela considera, contudo, que uma estrutura robusta como a do escritório poderia tratar de assuntos abrangentes relacionados à integridade científica, como casos de plágio e de fraude. É certo que a USP mantém desde 2017 um comitê de Boas Práticas Científicas, para promover ações educativas, enquanto casos de má conduta são avaliados por comissões de ética. “É preciso investir ainda mais no fortalecimento da cultura de integridade. Já vi professores da USP demitidos por má conduta, mas, em outros casos que envolveram falhas graves, incluindo quem defendia tratamentos sem comprovação científica na pandemia, não aconteceu nada”, afirma.
OO objetivo do escritório é dar respaldo à interação da universidade com o setor privado
escritório, que é pioneiro no país, está sendo acompanhado por outras instituições. “A iniciativa da USP se antecipa e oferece resposta a uma preocupação crescente das universidades que mantêm parcerias com empresas. É fundamental garantir a conformidade de projetos na área de inovação”, afirma Jorge Audy, superintendente do Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Tecnopuc), que planeja criar uma estrutura semelhante na instituição gaúcha.
Além de criar o escritório, a USP é cofundadora do Consórcio Sul-americano de Segurança na Pesquisa (Sarsec), que reúne universidades do Brasil, Argentina, Chile e Peru. No país, as universidades Estadual de Campinas (Unicamp) e Federal de São Paulo (Unifesp) participam do consórcio. O primeiro encontro dos representantes do consórcio ocorreu, em maio, no campus da USP, e discutiu temas como segurança de pesquisa, transferência de tecnologia, precauções na assinatura de documentos legais e segurança em sistemas críticos. l

Revistas científicas sob artilharia pesada
Periódicos norte-americanos sofrem com cortes de verbas e ameaças do governo federal
Arevista Environmental Health Perspectives, uma das mais influentes do mundo na área da saúde ambiental, suspendeu o recebimento de novos estudos para publicação em resposta aos cortes no orçamento da ciência que vêm sendo implementados pelo governo dos Estados Unidos. O periódico de acesso aberto não cobra taxas nem dos leitores nem dos autores de artigos – isso era possível graças a seu vínculo com o Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental, um dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos Estados Unidos, patrocinador do título desde a sua criação, em 1972. Os editores decidiram suspender as atividades porque não sabem se haverá recursos para renovar contratos com fornecedores – o governo Trump propôs que o orçamento dos NIH seja reduzido de US$ 48 bilhões, em 2025, para US$ 27 bilhões, em 2026. A pausa atinge, igualmente, um título irmão, o Jour -
nal of Health and Pollution, editado desde 2011. Duas revistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) também podem deixar de circular, caso uma proposta de corte discutida na instituição seja aprovada. Uma delas é o Emerging Infectious Diseases, que divulga relatórios sobre ameaças de doenças infecciosas que são referência no mundo inteiro.
Intimidações do governo também preocupam a comunidade científica. Periódicos médicos de prestígio como The New England Journal of Medicine (NEJM ), JAMA, Chest Journal e Obstetrics and Gynecology receberam em abril uma carta de Edward R. Martin Jr., procurador federal interino no distrito de Columbia nomeado pelo governo Trump, sugerindo que estariam tomando partido em debates acadêmicos, o que feriria a legislação, e exigindo respostas a um conjunto de perguntas, tais como “aceitam submissão de artigos com pontos de vista concorrentes?” ou “são transparentes quanto à influência de apoiadores, financiadores e anunciantes?”.
O procurador também quis saber qual foi a influência dos NIH na produção dos artigos. A Obstetrics and Gynecology, editada pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, há tempos vem sendo alvo de grupos conservadores por publicar artigos sobre programas de saúde reprodutiva ou com foco em diversidade e gênero, que resultam de projetos com financiamento federal.
Eric Rubin, editor do NEJM, definiu como “ameaçador” o conteúdo da carta que recebeu. “Ficamos preocupados porque havia perguntas sugerindo que poderíamos ser tendenciosos. Não somos. Dedicamos muito tempo escolhendo os artigos certos para publicar e tentando transmitir a mensagem correta”, disse, segundo a organização de mídia NPR. A revista respondeu às indagações do procurador com uma declaração que contesta as insinuações e evoca o dispositivo da Constituição dos Estados Unidos que garante a liberdade de expressão e de imprensa: “Usamos rigorosos processos editoriais e de revisão por pares para garantir a objetividade e a confiabilidade das pesquisas que publicamos. Apoiamos a independência editorial das revistas médicas e seus direitos à liberdade de expressão garantidos pela Primeira Emenda”.
O bioquímico Jeremy Berg, ex-editor da Science, afirma que a estratégia do governo é forçar as revistas a publicarem artigos alinhados a suas convicções, em temas como vacinas e mudanças climáticas, mesmo que sejam de má qualidade. É certo que a carta do procurador está alinhada com o discurso de autoridades da saúde do governo Trump. O atual diretor dos NIH e pesquisador da Universidade Stanford, o médico e economista Jay Bhattacharya, foi bastante criticado durante a pandemia por combater o isolamento social – ele propôs deixar o vírus se espalhar naturalmente – e a obrigatoriedade do uso de máscaras. Recentemente, fundou uma revista, o Jour -
nal of the Academy of Public Health, aberta a estudos com avaliações alternativas sobre a pandemia, como um artigo, assinado pelo próprio Bhattacharya, que aponta falhas de planejamento nos ensaios clínicos sobre vacinas contra a Covid. Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, já vinha ameaçando processar periódicos médicos, que acusa de agirem em conluio com empresas farmacêuticas. Em um podcast de que participou em 2024, Kennedy disse que o NEJM “mentiu para o público” e promoveu retratações de artigos que continham “ciência real”.
Na avaliação de Amanda Shanor, jurista da Universidade da Pensilvânia, as informações divulgadas em publicações médicas respeitáveis são amplamente protegidas pela Constituição e amparadas pelos mesmos direitos robustos que se aplicam aos jornais. Ela disse ao The New York Times que a carta do procurador “parece querer gerar um tipo de medo e de apreensão que afetarão a liberdade de expressão das pessoas” – isso sim, segundo afirma, cria “uma preocupação constitucional”.
Oassédio do procurador causou perplexidade entre cientistas. “Os pesquisadores criticam uns aos outros o tempo todo e os periódicos estão cheios de divergências e reinterpretações de dados”, disse à revista Science o psicólogo Marcus Munafò, da Universidade de Bristol, no Reino Unido, um estudioso da integridade da pesquisa. Ele reconhece que a ciência pode ter falhas e falta diversidade política em certos ambientes acadêmicos. “Mas os cientistas estão sempre tentando determinar o que é verdadeiro para permitir o avanço do conhecimento. O que os formuladores de políticas decidem fazer com essas evidências é um assunto à parte.”
As ações do governo Trump não encontraram eco nem entre quem se queixa da falta de suporte a visões minoritárias na ciência. A socióloga Nicole Simovski, que é diretora da Heterodox Academy, entidade sem fins lucrativos que defende a garantia da diversidade de pontos de vista nas universidades, afirmou, no site da instituição, que há várias iniciativas sendo testadas para dar voz a opiniões científicas alternativas, como a criação de revistas dedicadas a tópicos relegados pelo mainstream e até um projeto que propõe cooperação entre pesquisadores com abordagens teóricas e ideológicas conflitantes a fim de produzir resultados mais precisos e livres de vieses ou ambiguidades (ver Pesquisa FAPESP nº 335).Essas novas ações, ela ressalta, são conduzidas por especialistas que buscam identificar problemas e resolvê-los com seus pares acadêmicos, o que é muito diferente de “intervenções governamentais feitas por não especialistas para impor pontos de vista em publicações científicas”. l FABRÍCIO MARQUES
Uma pesquisa de doutorado vai investigar a operação e os modelos de negócio das fábricas de papers
AUniversidade de Leiden, nos Países Baixos, e a editora científica norte-americana Wiley uniram-se para oferecer uma bolsa de doutorado a um estudante interessado em investigar o funcionamento das fábricas de papers, serviços que vendem artigos fraudulentos sob demanda. De acordo com Wolfgang Kaltenbrunner, pesquisador do Centro de Estudos de Ciência e Tecnologia (CWTS), vinculado à instituição holandesa, a pesquisa de doutorado com quatro anos de duração deverá gerar uma compreensão conceitual profunda desses serviços, que vicejaram principalmente entre autores de
alguns países, como China, Índia e Rússia, mas comprometeram a integridade da produção científica do mundo inteiro.
A ideia é que o doutorando analise de que forma as fábricas de papers operam e como seus modelos de negócio estão associados à cultura de publicação de diferentes países. Esses serviços podem produzir artigos com dados falsos sob encomenda, mas também comercializar a autoria de artigos já aceitos e, em alguns casos, conseguem até mesmo manipular o processo de revisão por pares de periódicos para tornar viável a publicação de seus manuscritos.
Um dos propósitos da iniciativa é que gere dados que ajudem a aperfeiçoar a triagem de trabalhos submetidos a revistas e recomendações para enfrentar o problema que sejam úteis para editoras e formuladores de políticas científicas. “Certamente haverá algum tipo de relevância prática da pesquisa”, disse Kaltenbrunner ao site Retraction Watch. Ele destacou que o trabalho não vai resultar na publicação de uma lista dos
Nova
regulamentação sobre assédio e violência sexual contra estudantes mobiliza universidades inglesas
Universidades da Inglaterra estão se adequando a uma nova regulamentação para prevenir e lidar com casos de assédio e violência contra estudantes que entra em vigor no segundo semestre. Segundo as regras definidas pelo Office for Students (OfS), órgão independente que regula o ensino superior no país, as instituições deverão tornar públicas suas políticas e procedimentos para receber denúncias de alunos, dar apoio a vítimas e mantê-las informadas sobre o andamento de investigações, além de reforçar programas de treinamento contra o assédio. Elas também foram encorajadas a proibir relações amorosas entre alunos e
professores ou funcionários – nem todas implementaram restrições.
De acordo com a revista Times Higher Education (THE ), cinco instituições, entre as quais a Universidade de Manchester, trabalham em um programa-piloto que criou uma estrutura de prevenção, intervenção e apoio em situações de violência sexual. Já a London School of Economics and Political Science implementou um treinamento on-line para os funcionários sobre assédio e reformulou seu programa de educação sobre consentimento, obrigatório para novos alunos. Algumas universidades se queixam de dificuldades para se adequarem às normas. Bridget Steele, pesquisadora da Universidade de Oxford, classificou como “inovadora” a regulamentação, mas disse que restrições orçamentárias podem comprometer a qualidade dos serviços. “Como podemos esperar que as universidades invistam o tempo necessário para fazer um trabalho ainda melhor na resposta à má conduta sexual se não houver recursos adicionais?”, indagou, segundo a THE.
serviços fraudulentos e na identificação de seus clientes. “Isso não seria eficaz, pois o cenário das fábricas de papers está em constante mudança”, disse ele. Caso o doutorando sofra ameaças ou enfrente processos judiciais associados à pesquisa, a universidade irá oferecer proteção.
A editora Wiley não vai participar da seleção do aluno ou de sua orientação, tampouco poderá influenciar ou vetar a publicação de resultados da pesquisa, mas trabalha com a equipe de Leiden para estabelecer os parâmetros do projeto. A empresa teve de lidar com uma grande proporção de artigos fraudulentos vendidos por fábricas de papers ao adquirir, em 2021, a editora Hindawi, e fazer uma depuração da produção de seus periódicos que levou à retratação de milhares de trabalhos científicos. O doutorando terá acesso a dados confidenciais de publicações e submissões da Wiley, mas não se concentrará exclusivamente na empresa, conforme explicou Mike Streeter, diretor de Estratégia e Política de Integridade de Pesquisa da editora.
CONTEÚDO EXTRA
Conhece a nossa newsletter de integridade científica?

Acesse o QR Code para assinar nossas newsletters

dados São Paulo como polo principal de atividades intensivas em conhecimento
Distribuição pelo país
Vínculo empregatício nos setores intensivos em conhecimento* no total de empregos formais EM % — UNIDADES DA FEDERAÇÃO: 2023
São Paulo
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio de Janeiro
Amazonas
Ceará
Goiás
Pernambuco
Distrito Federal Bahia
Espírito Santo
Mato Grosso
Pará
Mato Grosso do Sul
Maranhão
Paraíba Sergipe
Rio Grande do Norte Alagoas
Piauí
Rondônia
Tocantins
Acre
Concentração de Startups e Deep Techs
Startups Deep Techs
44,2
➔ A despeito da descentralização das atividades econômicas no Brasil, ao longo das últimas décadas, São Paulo mantém-se como principal polo de atividades intensivas em conhecimento
➔ O gráfico ao lado mostra que quase a metade dos empregos formais nessas atividades localizava-se em São Paulo, em 2023. Minas Gerais, a segunda unidade da federação no ranking, não chegava a sediar 10% desses empregos, seguida por Rio Grande do Sul (8,5%), Paraná (7,7%) e Santa Catarina (7,4%), com percentuais ainda menores
➔ Outra forma de medir essa centralidade é pela presença de startups no estado de São Paulo e, entre elas, das deep techs. Estudo da Associação Brasileira de Startups, realizado em 2024, mostrou que São Paulo, sozinho, sediava 40,7% das startups brasileiras, seguido por Minas Gerais (8,9%), Santa Catarina (8,5%) e Rio de Janeiro e Paraná (8,4%)
➔ Quando se trata de deep techs, a concentração é ainda maior, pois em 2024 mais da metade (55%) situava-se em São Paulo, segundo relatório da consultoria Emerge. Essas empresas, que atuam na vanguarda tecnológica e realizam intensas atividades de pesquisa e desenvolvimento para enfrentar os elevados riscos e complexos desafios característicos de sua atuação, têm potencial de gerar significativos impactos sociais e econômicos
➔ A concentração dessas empresas em São Paulo tem sido atribuída à presença de universidades e instituições de pesquisa relevantes no estado, muitas associadas a ambientes de inovação públicos e privados, além de iniciativas de fomento, em especial de âmbito estadual
* CORRESPONDEM AOS SETORES DE ALTA E MÉDIA ALTA INTENSIDADE TECNOLÓGICA PROPOSTOS PELA OCDE FONTES PRIMEIRO GRÁFICO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – RELAÇÃO ANUAL DE INDICADORES SOCIAIS (RAIS): 2023; SEGUNDO GRÁFICO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (ABSTARTUPS). MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA DE STARTUPS. 2024. DISPONÍVEL EM HTTPS://ABSTARTUPS.COM.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2024/11/MAPEAMENTO-DO-ECOSSISTEMA-BRASILEIRO-DE-STARTUPS-2024.PDF / EMERGE. “RELATÓRIO DEEP TECHS BRASIL 2024”. DISPONÍVEL EM HTTPS://EMERGEBRASIL.IN/PANORAMA-STARTUPS-DEEP-TECH-BRASILEIRAS ELABORAÇÃO FAPESP / DPCTA / GIP

O mosaico da dengue
Circulação alternada dos quatro sorotipos do vírus contribui para manter elevado o número de casos da doença este ano GISELLE SOARES
No fim de fevereiro, a estudante Dayane Machado, que faz doutorado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), começou a sentir os primeiros sintomas: dor de cabeça e na região atrás dos olhos, além de febre. No dia seguinte, foi a vez do marido, com dores no corpo, indisposição e temperatura elevada. O diagnóstico chegou em pouco tempo, após a realização dos exames: ambos estavam com dengue. Com uma filha de 2 anos, o casal precisou se revezar no cuidado da criança por quase duas semanas, enquanto passava pela recuperação, que exigia idas frequentes ao hospital para monitoramento e hidratação.
A família mora em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, uma das cidades brasileiras mais afetadas pela doença na epidemia deste ano. Até meados de abril, o município de 231 mil
2
Equipe do Centro de Controle de Zoonoses de Osasco em operação de combate ao mosquito transmissor em 2024 (à esq.) e larvas de Aedes aegypti
habitantes, situado a 560 quilômetros a noroeste da capital, contabilizava 15.473 casos prováveis de dengue e 19 óbitos, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. Presidente Prudente, assim como São José do Rio Preto e várias outras cidades do noroeste paulista, integrou a lista de 80 municípios com mais de 100 mil habitantes e alta transmissão de dengue selecionados pelo Ministério da Saúde para receber apoio da Força Nacional do SUS, com a criação de centros de hidratação e leitos temporários para aliviar a sobrecarga causada pela doença no sistema de saúde público local. O ano de 2025 é o nono em uma década e meia – e o quarto seguido – em que o total de casos prováveis de dengue no país supera a marca de 1 milhão (ver gráfico na página 44). Dados da série histórica do Ministério da Saúde iniciada em 2000 sugerem que a doença tem um comportamento cíclico: um ano com número elevado de casos costuma ser seguido de outros em que a frequência da doença cai de modo acentuado, provavelmente porque uma proporção grande da população se torna imune ao sorotipo do vírus em circulação em determinado momento.
Nos últimos tempos, porém, parece não estar sendo assim. Em 2025, havia 1,23 milhão de casos suspeitos registrados até o início de maio. É uma queda importante (de 81,3%) em relação ao anterior. O ano de 2024, no entanto, foi um recordista histórico. Houve 6,6 milhões de casos prováveis de dengue, além de 6.264 óbitos confirmados –outros 416 estão em investigação. Mesmo com a redução, o total de 2025 ainda se mantém próximo do de 2022, quando o país teve 1,42 milhão de casos, e de 2023, com 1,65 milhão.
Uma possível explicação para a frequência de casos se manter em patamar tão elevado é a presença simultânea no país dos quatro sorotipos do vírus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), situação chamada pelos especialistas de hiperendêmica. No caso brasileiro, entretanto, as quatro

guarda variações genéticas e estruturais importantes em relação aos outros, a resposta imunológica gerada contra um deles não necessariamente impede a infecção pelas demais. Além disso, infecções sucessivas por sorotipos diferentes favorecem a ocorrência da dengue grave, antes chamada de hemorrágica, e de mortes.
Com dificuldade de conter a disseminação dos mosquitos transmissores do vírus, cujo principal vetor é o Aedes aegypti, encontrado em todo o país, o Brasil tem servido de palco para uma dança de sorotipos. Dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do DataSUS acessados em maio pela equipe de Pesquisa FAPESP mostram que, nos últimos 12 anos, o DENV-1 foi o sorotipo predominante, responsável por mais da metade dos casos, em pelo menos dois momentos: de 2014 a 2017 e de 2021 a 2024. Entre um período e outro, ele foi superado pelo sorotipo DENV-2, que voltou a prevalecer neste ano. O sorotipo 4, responsável por até 20% dos casos há mais de uma década, submergiu há alguns anos. A partir de 2024, o DENV-3, que andava sumido, reapareceu e agora é o segundo mais frequente (ver gráfico na página 45).
São José do Rio Preto, município de 470 mil habitantes localizado a 440 quilômetros de São Paulo, está em uma região do estado em que a doença se tornou endêmica e testemunha há um bom tempo essa substituição de variantes. O médico e virologista Maurício Lacerda Nogueira e sua equipe na Faculdade de Medicina de São José Rio Preto (Famerp) monitoram há quase duas décadas, por meio de testes genéticos, as variantes do vírus que circulam na região, o que permite antecipar potenciais epidemias e orientar ações de saúde pública.
No final de 2023, os pesquisadores da Famerp e colaboradores do Departamento de Vigilância Epidemiológica de São José do Rio Preto começaram a notar o aumento de casos de dengue provocado pelo sorotipo 3 no noroeste do estado. Depois de sequenciar o genoma desses vírus, o grupo de Rio Preto comparou o perfil genético deles com o de variantes DENV-3 de outras partes do mundo. O sorotipo é semelhante ao que circulou um pouco antes no Caribe e na Flórida, no sul dos Estados Unidos, concluíram os pesquisadores, de acordo com artigo publicado em janeiro no Journal of Clinical Virology.
“Vivemos em um mundo globalizado, com uma dinâmica de transmissão viral complexa”, explica Lacerda. “O vírus do sorotipo 3 provavelmente saiu do Caribe, passou pelos Estados Unidos e chegou ao interior de São Paulo, onde está cau-
sando uma epidemia importante. É possível que nos próximos dois anos se espalhe pelo país.”
Antes de 2023, os últimos surtos associados ao DENV-3 – considerado o sorotipo mais virulento, com maior potencial de causar formas graves da doença – haviam ocorrido entre 2003 e 2008, período em que foi o mais prevalente no país. O crescimento recente no número de casos provocados por esse sorotipo na América do Sul, em especial no Brasil, levou a Organização Pan-americana da Saúde (Opas) a emitir em fevereiro deste ano um alerta recomendando aos países que aprimorassem a capacidade de realizar o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno, a fim de evitar as formas graves da doença e de reduzir o número de mortes.
Aintrodução ou o aumento da circulação de um sorotipo distinto do que predominava em uma região quase sempre provoca uma elevação importante no número e na gravidade dos casos. “O padrão de alternância dos sorotipos pode influenciar a severidade dos quadros clínicos”, explica a médica infectologista Cássia Estofolete, do Hospital de Base de São José do Rio Preto, coautora do estudo publicado no Journal of Clinical Virology. “No fim de 2022, tivemos muitos casos do sorotipo 1 na região de São José do Rio Preto e agora estamos vendo a chegada do 3. Quem tem menos de 17 anos provavelmente nunca teve contato com o DENV-3. As pessoas dessa faixa etária têm uma resposta imunológica muito robusta, que pode gerar inflamações mais intensas. Como os sinais da dengue decorrem
Avanço assustador
dessa resposta, elas podem desenvolver quadros mais graves da doença”, conta a médica. Assim como em 2024, o país aparentemente passa este ano por um mosaico de surtos regionais causados por sorotipos distintos do vírus. “O sorotipo que circulou na região metropolitana de São Paulo em 2024, por exemplo, não era o mesmo que estava em Belo Horizonte ou no interior paulista”, relata Nogueira. “Em 2025, o cenário permanece fragmentado. Há uma epidemia de dengue tipo 3 no noroeste do estado de São Paulo, enquanto outras regiões registram circulação dos sorotipos 2 e 4. São epidemias diferentes, com perfis distintos, mas que acontecem simultaneamente”, complementa o virologista.
“O fator que mais contribui para a dimensão de um surto é o número de pessoas suscetíveis à infeção, ou seja, que nunca tiveram contato com determinado sorotipo, e não a existência de mosquito e a circulação do vírus na área”, comenta a médica-veterinária e epidemiologista Andrea von Zuben, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp), que dirigiu o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) de Campinas de 2017 a 2024.“Se já houve um número alto de infecções pelo sorotipo 1 em uma população e ele continuar circulando, dificilmente causará uma epidemia de grande porte. Mas, se essa população for exposta a um sorotipo diferente, cresce o risco de muita gente adoecer ao mesmo tempo, sobrecarregando as unidades básicas de saúde, os prontos-socorros e os hospitais.”
O padrão irregular de distribuição dos sorotipos do vírus deixa vastas regiões do país, algumas delas com grande concentração populacional, como o Nordeste e o Sul, suscetíveis a epidemias
Nove anos registraram epidemias com mais de 1 milhão de casos depois de 2009
6.601.253
Pessoas com suspeita de dengue aguardam atendimento em UBS de Brasília em março de 2024

expressivas nos próximos anos. Esse quadro sombrio emerge de estimativas publicadas em maio na revista The Lancet Regional Health – Americas pelo físico Rafael Lopes, que faz pós-doutorado na Universidade Yale, nos Estados Unidos, e pelo epidemiologista Leonardo Bastos, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro.
Partindo do total de casos registrados e da distribuição dos sorotipos em cada município brasileiro de 2015 a 2024, a dupla calculou a proporção de pessoas em cada localidade que permanecia suscetível a infecções por um sorotipo distinto e reuniu tudo em um mapa indicando o risco de surto para as diferentes regiões do país. As regiões Centro-Oeste, Sudeste e parte da Sul apresentam
A dança dos sorotipos
Variantes DENV-1 e DENV-2 se alternam como as mais prevalentes a partir de 2014 e DENV-3 reaparece em 2024
probabilidade um pouco mais baixa de enfrentar surtos causados pelos vírus DENV-1 e DENV-2 nos próximos anos, uma vez que essas variantes circularam amplamente pelo país na última década. Praticamente todo o Brasil, porém, continua suscetível a epidemias disparadas pelos sorotipos 3 e 4, com exceção do noroeste de São Paulo e dos estados de Amapá e Roraima, onde o DENV-3 circulou mais. “A principal contribuição dessa análise é mostrar que ainda há risco de grandes epidemias e a dengue não é uma doença que se distribui de forma homogênea no Brasil”, conta Lopes.
Para Von Zuben, que não participou dos estudos, projeções, como essa, são importantes para aprimorar a comunicação de risco e o planejamento para os próximos verões, quando a frequência da doença aumenta. “Essas informações ajudam a organizar a assistência, reforçar a rede de saúde e orientar prefeitos e secretários na alocação de pessoal e equipamentos”, explica. Ela afirma, contudo, que isso só funciona se houver um plano de contingência bem definido e a participação ativa da população.
Na casa de Dayane Machado, apresentada no início deste texto, a família reforçou os cuidados para prevenir novas infecções. Além das janelas, que já eram teladas, instalaram telas também nas portas, compraram mosquiteiros e intensificaram o uso de repelentes. “Temos medo de pegar de novo, mas, sobretudo, não queremos que nossa filha adoeça”, comenta. “Conseguimos diminuir bastante a quantidade de mosquitos circulando dentro de casa, mas ainda há muitos no prédio e na vizinhança, que é cheia de terrenos baldios.” l
* Dados até abril
Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
A Mata Atlântica em camadas
Pesquisa com microalgas na zona sul de São Paulo mostra como um antigo lago se transformou em brejo
GUILHERME COSTA
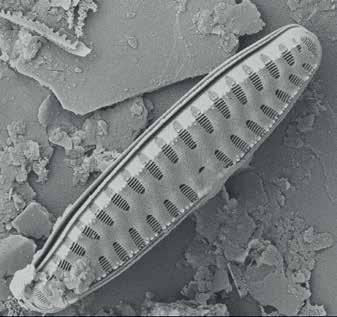
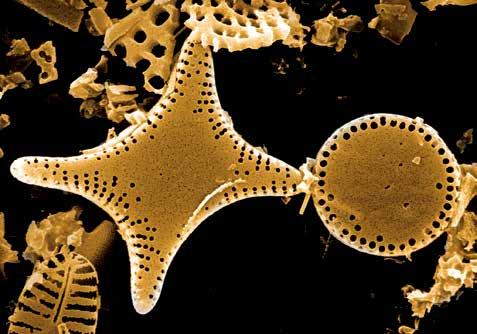
Microalgas unicelulares com 20 a 50 micrômetros de comprimento, aproximadamente, têm sido capazes de nos transportar mais de 500 mil anos no tempo para revelar como era o clima da Mata Atlântica no período Pleistoceno Médio. As diatomáceas, organismos encontrados em ambientes aquáticos, têm uma parede celular rígida feita de sílica (semelhante ao vidro) que garante a boa preservação de sua estrutura nos sedimentos ao longo de milhares de anos. Além disso, diferentes espécies de diatomáceas vivem em condições ambientais muito específicas no que diz respeito ao tipo de água, profundidade, acidez e concentração de nutrientes, por exemplo. Isso faz com que sua presença funcione como um indicador preciso das características daquele ecossistema.
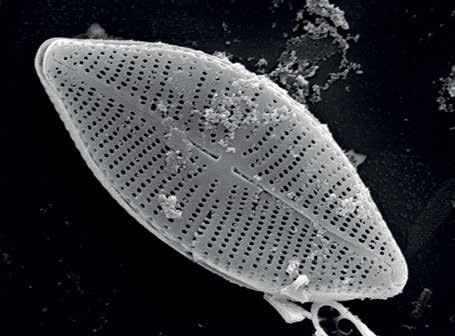
Foi com base nessas pistas microscópicas que a bióloga Gisele Marquardt, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), investigou as transformações ambientais ocorridas ao longo de centenas de milhares de anos na bacia de Colônia, situada na zona sul da cidade de São Paulo. A região, que abriga uma estrutura geológica circular de aproximadamente 3,6 quilômetros (km) de diâmetro, conhecida também como cratera de Colônia, é considerada um dos mais importantes sítios paleoclimáticos tropicais do planeta.
A análise dos sedimentos revelou um padrão recorrente ao longo dos ciclos climáticos: nos períodos glaciais, associados a temperaturas mais baixas e à expansão das calotas polares (que não chegaram à América do Sul), predominavam condições de maior umidade e expansão dos corpos-d’água, resultando em alagamentos. Em contraste, nos períodos interglaciais, com temperaturas maiores, o clima era mais seco e as águas mais contidas. “Conseguimos identificar como se deu a transformação do lago em turfeira na bacia de Colônia e que isto teria ocorrido em fases distintas, começando pela borda e só depois alcançando o centro”, destaca a pesquisadora, autora de um artigo publicado em dezembro na revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Além das variações climáticas, a transição para turfeira – ambiente encharcado em que a água impede que a matéria orgânica receba oxigênio, tornando mais lenta a sua decomposição –
A comunidade de diatomáceas ajuda a reconstruir a ecologia antiga de Colônia
também foi condicionada por fatores locais, como a geologia, a composição dos sedimentos e a cobertura vegetal, sugerindo que ecossistemas tropicais podem responder de formas diversas às mudanças no clima. “Isso indica que se trata de um processo mais antigo do que se sabia – os dados são de 500 mil anos atrás – e mais complexo do que uma resposta às mudanças climáticas globais”, explica Marquardt, destacando que o achado pode contribuir para a identificação de futuras transformações em áreas úmidas, além de reforçar a importância de sua conservação.
“A base de diatomáceas foi fundamental para entendermos como um lago se transforma ao longo do tempo. E isso é muito importante na atualidade: com as mudanças climáticas e o uso intenso da água para irrigação, muitos lagos estão evaporando e passando por processos semelhantes”, reforça a paleoecóloga francesa Marie-Pierre Ledru. Pesquisadora do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD), na França, ela é uma das autoras do artigo.
Para realizar a coleta das diatomáceas, os pesquisadores utilizaram um sistema de martelamento manual montado sobre um tripé, inserindo um tubo a 14,7 metros (m) de profundidade. As camadas mais antigas ficam no fundo do tubo e as mais recentes no topo. A partir desse núcleo de sedimento, foram retiradas amostras a cada 3 a 4 centímetros (cm), entre as profundidades de 14,7 m e 8 m. De cada segmento, foram extraídos pequenos volumes de solo, com apenas 0,5 cm³, totalizando 160 subamostras destinadas à análise das microalgas fossilizadas.
O material passou por um processo químico para remover matéria orgânica e carbonatos, permitindo a visualização ao microscópio das frústulas das diatomáceas – suas carapaças de sílica, cada uma composta por duas valvas. Em cada lâmina analisada, os cientistas contaram no mínimo 400 valvas, identificando espécies e classificando-as como planctônicas (que vivem

suspensas na coluna-d’água) ou bentônicas, que estão fixas no fundo ou sobre superfícies submersas como rochas, plantas e sedimento.
A presença das primeiras sugere que o ambiente era um lago ativo, com água abundante e movimentada, associado a períodos glaciais úmidos. Já a presença de bentônicas revela um ambiente raso ou em transição para turfeira, indicando fases mais secas ou com vegetação densa cobrindo a superfície da água. “Conseguimos determinar a identidade das espécies coletadas e descobrimos que há muita coisa nova na Colônia que nunca foi descrita. É um ambiente extremamente diverso”, destaca Marquardt.
Esse trabalho foi realizado quando a pesquisadora estava em estágio de pós-doutorado no então Instituto de Botânica de São Paulo, integrado em 2021 ao Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA). O projeto, financiado pela FAPESP, buscou avaliar as alterações nas comunidades de diatomáceas e utilizá-las como marcadores biológicos para reconstrução paleoambiental na bacia de Colônia.
Embora o foco da pesquisa estivesse no sítio paulista, os resultados publicados em dezembro foram comparados com registros do lago Titicaca, na região dos Andes. Apesar das diferenças em altitude e localização, ambos os ambientes apresentaram respostas climáticas convergentes diante das oscilações globais, com períodos mais frios coincidindo com maior disponibilidade hídrica e expansão dos corpos-d’água, enquanto os intervalos mais quentes foram marcados por redução da umidade e diminuição do nível das águas. No entanto, as diferenças nos tipos de diatomáceas encontradas revelam que nem tudo se explica apenas pelo clima global. Enquanto no lago Titicaca predominaram espécies bentônicas durante o período glacial, indicativas de águas rasas, na bacia de Colônia dominaram as planctônicas, associadas a ambientes mais profundos e turbulentos. Isso levou os pesquisadores a formular a hipótese de que fatores locais, como rele-
vo, vegetação e profundidade da água, podem ter influenciado a dinâmica ambiental tanto quanto, ou até mais do que, as variações climáticas globais.
“Os nossos modelos climáticos atuais contam com cerca de 40 anos de informação. Quando temos um testemunho como o apresentado nesse artigo, com toda essa história climática – inclusive revelando registros distintos dentro de uma mesma sub-bacia –, isso se torna extremamente valioso”, enfatiza a bióloga brasileira Luciane Fontana, da Universidade de Lanzhou, na China. Especialista em reconstruções paleoambientais, ela utiliza diatomáceas e outros marcadores em suas pesquisas, embora não tenha participado da publicação de Marquardt. Fontana ainda ressalta que “os modelos preditivos usados atualmente podem e devem incorporar esse tipo de informação para se tornarem mais robustos, uma vez que as diatomáceas são excelentes bioindicadores, pois respondem rapidamente a mudanças ambientais”.
Outro estudo, publicado em março na revista Review of Palaeobotany and Palynology, revela uma diversidade significativa de polens e esporos fósseis preservados nos sedimentos da bacia de Colônia, também datados do Pleistoceno Médio (entre 530 mil e 370 mil anos atrás). O artigo, assinado pela paleoecóloga paraguaia Olga Aquino-Alfonso e por Ledru, apresenta 146 tipos de palinomorfos (partículas microscópicas orgânicas) que documentam a vegetação da antiga Mata Atlântica antes do ciclo glacial de 100 mil anos se instaurar no planeta.
O estudo combina técnicas de microscopia e análises ecológicas para revelar uma floresta úmida e diversa, com a presença de espécies hoje raras, como araucárias e podocarpos, e a ausência de outras, como acaena e efedra, que indicam mudanças ambientais drásticas ao longo do tempo. “Encontramos e descrevemos uma mistura de espécies de Cerrado com espécies que hoje são consideradas como de frio, do Pampa”, ressalta Ledru.
Ela explica que, durante as eras glaciais, o nível do mar era cerca de 100 m mais baixo, o que afastava o litoral e reduzia a umidade necessária para a formação da Mata Atlântica. “O litoral era mais longe. E aí as espécies mais secas começaram a se desenvolver e a se expandir, até a umidade voltar e o nível do mar subir de novo”, detalha. Esses registros, segundo afirma, mostram que os biomas precisam ser monitorados com atenção ante as mudanças climáticas atuais, uma vez que seus limites podem se alterar com mais rapidez do que se imagina. l
Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
A cratera, localizada em Parelheiros, tem cerca de 4 km de diâmetro
AGRICULTURA
O plantio nativo da mandioca
Técnica de plantio do povo Waurá, no Alto Xingu, aumenta a diversidade da planta e pode ajudar a recuperar cultivos que sofreram erosão genética
GILBERTO STAM
Em uma roça de mandioca na aldeia Ulupuwene, no Alto Xingu, estado de Mato Grosso, um ancião do povo Waurá espeta na terra estacas retiradas de diferentes variedades de mandioca, bem perto uma da outra. De cada uma brotam folhas e raízes. Quando crescem e formam arbustos, as plantas cruzam entre si. A técnica de cultivo estimula a produção de sementes de novas variedades da planta, evitando o empobrecimento genético típico das plantas clonadas, segundo estudo publicado em março na revista Science.
“A mandioca foi domesticada por povos indígenas há cerca de 6 mil anos na borda sul da Amazônia, que hoje corresponde aos estados de Rondônia e Mato Grosso”, conta o etnobiólogo Fábio Oliveira Freitas, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Recursos Genéticos e Biotecnologia, que coordenou uma equipe de pesquisadores de oito países. A planta se tornou tão central na alimentação que foi sendo difundida na forma de estacas (partes do caule), desde antes do período colonial, por meio de trocas entre comunidades vizinhas, desde o sul dos Estados Unidos até a parte meridional da América do Sul.

Ritual de boas-vindas na aldeia Ulupuwene marca parceria entre indígenas e pesquisadores

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão a partir da análise do genoma de 282 amostras de mandioca domesticada (Manihot esculenta) e selvagem (Manihot flabellifolia) de coleções vivas de instituições de pesquisa ou de roças tradicionais, além de DNA extraído de coleções de herbários e artefatos encontrados em sítios arqueológicos. Além disso, usaram dados genômicos de 291 amostras de estudos anteriores, totalizando 573 genomas analisados.
“Muitos agricultores tradicionais, indígenas ou não, identificam as plantas que brotam de sementes e as deixam crescer”, relata Freitas. Se tiverem as qualidades que procuram – como um tamanho mais avantajado da raiz tuberosa ou um teor maior de amido –, passam a usá-las como fonte de estacas, que formam clones idênticos à planta-mãe. Segundo ele, o arbusto pode cruzar com espécies selvagens, que vivem nas cercanias das roças, incrementando a variabilidade no genoma.
“A clonagem fez com que todos os pés de mandioca das Américas tenham os mesmos marcadores genéticos de parentesco, como se fossem irmãos”, afirma o biólogo britânico Robin Allaby, da Universidade de Warwick, no Reino Unido, um dos autores do artigo. Em conversa com Pesquisa FAPESP, ele destacou que o padrão difere de culturas como o milho, que forma linhagens distintas.
“O estudo faz uma análise genética abrangente da mandioca, confirmando padrões genéticos que foram observados em estudos mais restritos”, avalia o etnobiólogo Nivaldo Peroni, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que não participou do estudo. “No entanto, poderia ter ressaltado com mais ênfase a importância das comunidades tradicionais não


indígenas na geração de diversidade – não apenas na Amazônia, mas em outros lugares do Brasil e das Américas.”
Segundo Peroni, existem mais de 7 mil variedades de mandioca, criadas por comunidades com preferências próprias na hora de selecionar as plantas. O pesquisador tem estudado a origem e a circulação de variedades no contexto das comunidades tradicionais brasileiras e destaca que agricultores de origem açoriana que vivem na costa atlântica do centro-sul do país, como no estado de Santa Catarina, aprenderam a plantar mandioca com povos indígenas locais.
“No Sul predominam variedades extremamente brancas, refletindo o desejo de produzir algo parecido com a farinha de trigo da Europa”, acrescenta Peroni. No litoral do estado de São Paulo, ele encontrou mais de 50 variedades no município de Cananéia e mais de 30 em Ubatuba, com características próprias – muitas delas geradas a partir da brotação de sementes em roças e quintais de comunidades caiçaras.
Por ser um alimento rico em nutrientes e de fácil reprodução e transporte, o tubérculo se tornou um dos principais itens da dieta indígena e parte da alimentação de 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
Freitas e Allaby visitaram a aldeia Ulupuwene diversas vezes entre 2018 e 2023 para investigar



ritual que acompanha o plantio. Os Waurá não se incomodam com as lagartas que comem as folhas da mandioca: na mitologia da aldeia, é Kukurro que se alimenta e assim cuida das plantas. As mudas que nascem de sementes são chamadas kukurromalacati e são consideradas plantas que caem do céu.
o cultivo tradicional da mandioca, coletar amostras das variedades e entrevistar os moradores. “É uma técnica única, dominada por poucas famílias”, relata Freitas, que estuda a agricultura dos Waurá desde 1997.
Depois de preparar a roça, os indígenas formam montes de terra afofada, para facilitar a colheita do tubérculo, e espetam ramos que representam elementos da lenda que rodeia a produção da mandioca. O conjunto de estacas, eles chamam de casa de Kukurro, deus representado pela lagarta que come as folhas da mandioca. O crescimento da planta seria fortalecido pelos cantos rituais para Kukurro. As sementes formadas por essa mistura de plantas são uma fonte importante de variedade genética e costumam ficar dormentes até que o fogo, usado para limpar o terreno antes do plantio da roça, estimule sua germinação a partir do ano seguinte.
“As mulheres desempenham um papel crucial nesse processo”, ressalta a bióloga Carolina Levis, da UFSC, que não participou do estudo. “Elas costumam ser as principais responsáveis por cuidar das roças. São curiosas e deixam crescer as plantas novas, observando suas características.”
“Os Waurá são bastante seletivos”, acrescenta Freitas. “Escolheram quatro variedades originadas por sementes no período de nossas visitas, mas descartaram todas por avaliar que não tinham características novas.” Se a planta é aprovada, eles a batizam e incorporam à coleção viva da aldeia.
O vídeo Casa de Kukurro, produzido pela Embrapa em 2019 e disponível no YouTube, mostra o
“Identificamos 19 variedades de mandioca-brava em Ulupuwene”, relata Allaby. Segundo os pesquisadores, ao contrário das variedades conhecidas como aipim, macaxeira ou mandioca-doce, esse tipo de tubérculo pode ser letal se não for processado para a eliminação do ácido cianídrico, que tem efeito tóxico. “É preciso descascar a raiz, ralar e prensar a polpa, ferver para o ácido cianídrico evaporar e pôr o polvilho ao sol para secar”, relata Freitas. O polvilho é usado para fazer biju, principal item da alimentação Waurá ao lado do peixe.
Ao se casarem, as mulheres costumam levar a coleção de plantas de sua família até o marido e seguem trocando as plantas quando voltam para visitar os parentes. “O casamento pode ser interétnico e envolver grandes distâncias, aumentando a circulação de estacas”, acrescenta Levis.
“O estudo mostra o quão importante é a agricultura de pequena escala para a segurança alimentar”, afirma Allaby. Segundo ele, das 20 variedades de banana que existem no Brasil, só a nanica, que está se deteriorando geneticamente e pode desaparecer em questão de décadas, resiste ao transporte de navio até a Europa. “Os indígenas conhecem muito mais sobre a lavoura da mandioca do que nós”, reconhece. Segundo ele, a casa de Kukurro é uma técnica que pode ajudar a rejuvenescer, do ponto de vista genético, a diversidade da mandioca e de outras plantas e representa um exemplo marcante de como a ciência acadêmica tem a ganhar no intercâmbio com a ciência dos povos indígenas e tradicionais. l
O artigo científico consultado para esta reportagem está listado na versão
O ancião Kuratu
Waurá monta
uma casa de Kukurro fincando estacas de mandioca
on-line.

Choque primordial
Mosaico de imagens do planeta Mercúrio: possível trombada no início do Sistema Solar
Simulação sugere que Mercúrio ganhou sua conformação atual depois de uma colisão de raspão com um corpo de massa similar
MARCOS PIVETTA
Um dos desafios dos modelos que tentam desvendar o processo de formação de Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar, é encontrar um cenário plausível capaz de explicar uma singularidade de sua geologia. O núcleo de Mercúrio, a camada mais interna de sua estrutura, é muito maior, em termos proporcionais, do que o da Terra, de Vênus e de Marte, os outros três planetas rochosos do Sistema. Devido a essa particularidade, a extensão de seu manto, a camada intermediária entre o núcleo e a crosta superficial, é muito pequena se comparada, sempre de forma relativa, à dos planetas rochosos. Tal característica faz com que os astrofísicos especulem que Mercúrio sofreu algum tipo de grande abalo que alterou sua estrutura geológica. Um estudo coordenado por brasileiros propõe uma variante desse modelo para explicar a gênese de Mercúrio e de seu núcleo avantajado, que abrange mais de 80% da extensão de seu raio. Segundo o artigo, disponibilizado na forma de preprint no repositório arXiv e aceito para publicação em uma revista científica, a constituição do planeta foi alterada nos primórdios do Sistema Solar em razão de um grande choque, ainda que de raspão, que lhe arrancou um pedaço. “Nossas simulações computacionais indicam que a estrutura geológica atual de Mercúrio pode ter sido o produto de uma colisão do tipo hit and run”, comenta o astrofísico brasileiro Patrick Franco, que faz estágio de pós-doutorado no Instituto de Física do Globo, em Paris, na França, autor principal do trabalho. Como um motorista imprudente que passa por cima de uma pessoa na rua e se evade da cena do crime, um acidente espacial no estilo hit and run envolve um objeto celeste que atropela outro e pode
acarretar danos em ambas as partes. Nessa hipotética trombada celeste, o motorista imprudente teria sido Mercúrio, segundo o trabalho.
“Não é novidade atribuir a estrutura geológica desse planeta a um cenário do tipo hit and run . Outros trabalhos já fizeram isso”, explica o astrofísico Fernando Roig, do Observatório Nacional (ON), do Rio de Janeiro, que também assina o paper e foi orientador da tese de doutorado de Franco sobre a formação de Mercúrio, defendida em 2023 na mesma instituição. “Esses estudos anteriores diziam que Mercúrio deveria ter se chocado com um objeto maior. Mas nossas simulações indicam que colisões entre corpos de tamanho muito diferentes são raras. Os resultados sugerem que o mais provável é ter havido um choque entre o planeta e um objeto de tamanho similar.” Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Guaratinguetá, e de instituições da França e da Alemanha também estão entre os coautores do trabalho.
Não é qualquer trombada celeste que teria o potencial de gerar um objeto com as principais características de Mercúrio. O planeta mais interno do Sistema Solar parece ter se originado em condições muito especiais que o levaram a apresentar peculiaridades. A começar por seu tamanho. Ele é pequeno e denso. Seu diâmetro representa 38% da Terra e a massa equivale a apenas 5,5% do nosso planeta.
Além das dimensões e da densidade, as simulações teriam de tentar reproduzir a estrutura interna de Mercúrio, formado por 70% de ferro, sobretudo no núcleo, e apenas 30% de silicatos – um composto derivado do silício, amplamente presente na natureza em diferentes formas, como rochas, argilas e minerais. “Encontramos um cenário nas nossas simulações em que, depois de ter colidido
de raspão com um corpo similar, um protoplaneta rochoso apresenta composição geológica e massa similares às de Mercúrio, dentro de uma margem de variação de 5%”, explica Othon Winter, da Unesp, colaborador do estudo.
Nas simulações, os melhores resultados foram obtidos quando a batida entre o corpo celeste e o proto-Mercúrio não ocorreu de frente, mas em um ângulo de 32 graus e a uma velocidade de impacto relativamente baixa, de 22 quilômetros por segundo. A massa estimada para o então nascente Mercúrio foi um pouco superior ao dobro da atual e a do outro corpo foi ainda ligeiramente maior. O planeta foi simulado com uma composição inicial de 70% de silicatos e 30% de ferro, mais ou menos o inverso do que atualmente. Todo esse cenário foi criado em um modelo computacional que roda no que seriam condições semelhantes aos primórdios do Sistema Solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos.
“Fizemos três rodadas de simulações de colisões alterando esses parâmetros críticos, a massa dos dois corpos e a velocidade relativa entre eles e o ângulo da batida”, conta Franco. “Apesar de não descartarmos a possibilidade de Mercúrio ter sofrido mais de uma colisão, conseguimos explicar sua constituição geológica com apenas uma.” O choque angulado teria sido forte e feito Mercúrio perder uma parte significativa do manto, onde se encontram basicamente os silicatos, alterando pouco ou quase nada seu núcleo ferroso.
Cerca de 48 horas após as simulações de colisão, Mercúrio já assumiria uma configuração relativamente estável e similar à atual, com um núcleo agigantado e um manto reduzido. Para efeito de comparação, a Terra, depois de Mercúrio, é o planeta terrestre com o maior núcleo em relação ao seu raio. Ele abrange 55% do diâmetro de nosso planeta e é, proporcionalmente, um terço menor do que o de Mercúrio.
Estudos sobre a origem de Mercúrio só podem ser realizados porque hoje, apesar de ainda existirem lacunas de conhecimento, os astrofísicos têm uma boa noção de como ocorre o processo de formação de planetas rochosos. Por estarem mais perto do Sol, eles se originam a partir da junção gradual de poeira e gás liberados pelo disco da matéria que gerou a estrela. Rica em carbono e ferro, a poeira se agrega e forma, inicialmente, pequenas pedras. Com o passar do tempo, devido a interações gravitacionais e outras forças, as pedras colidem umas com as outras.
Algumas rochas são destruídas. Outras continuam crescendo, agregando poeira e gás. As que permanecem se expandindo podem dar origem a corpos maiores, com quilômetros de extensão, os chamados planetesimais. Esses são os embriões dos futuros planetas rochosos, que serão formados pela adição de ainda mais matéria ao seu corpo. “A acreção de matéria é uma etapa essencial da formação dos planetas”, comenta Roig. A gênese dos chamados planetas gigantes gasosos (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno), situados em regiões mais frias e distantes da estrela, se dá por um processo similar. Mas, nesse caso, o mecanismo envolve mais gás e partículas de gelo do que matéria sólida. O processo de formação de um planeta não é linear. Há idas e vindas e nem todo planetesimal torna-se necessariamente um planeta. Perturbações gravitacionais e eventos com grande força destrutiva, sobretudo colisões com outros corpos, podem dar um fim precoce à história do que um dia poderia vir a ser uma Terra ou Marte. No caso de Mercúrio, segundo a hipótese mais aceita pela comunidade de astrofísicos, sua existência em si não foi abreviada por um grande
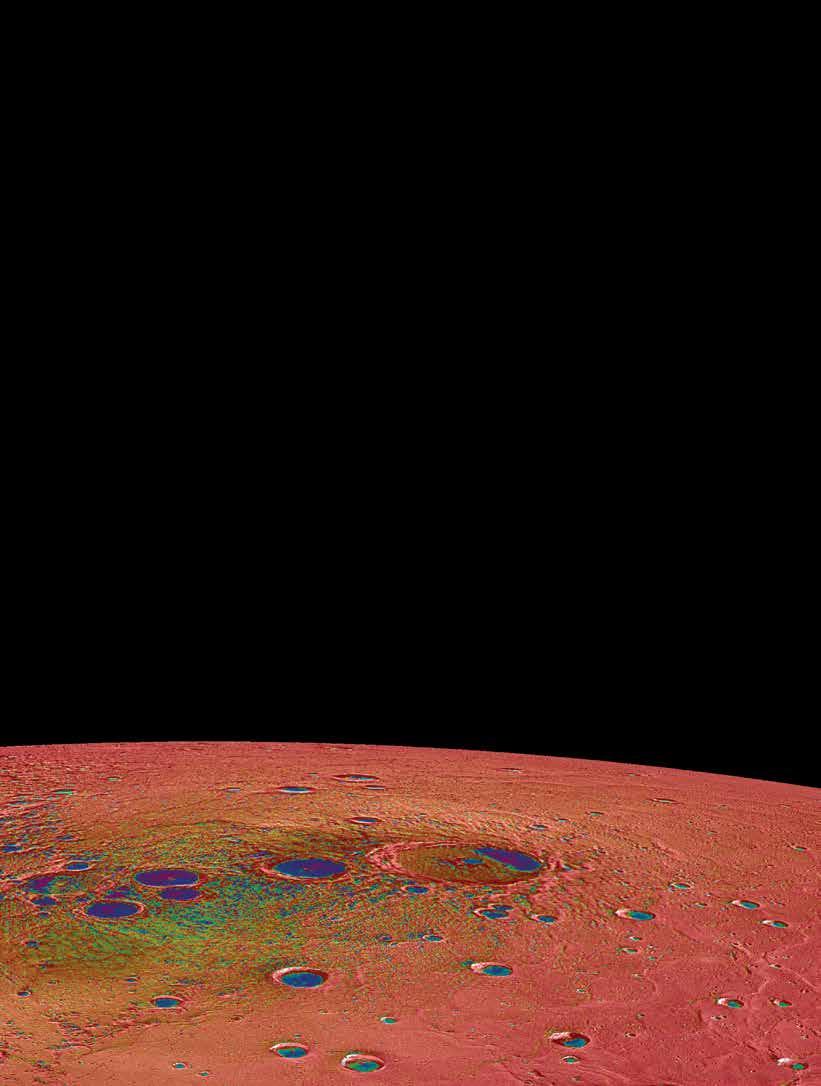
Imagem colorizada do polo norte de Mercúrio durante momento de grande variação de temperatura, que chega a ultrapassar os 200 oC nas áreas em vermelho e a atingir apenas 10 oC nos trechos azulados
O grande núcleo de Mercúrio
Proporção das camadas geológicas em relação ao raio dos planetas
Mercúrio Terra
1,5%

Núcleo sólido Núcleo líquido
choque, mas seu tamanho e constituição geológica foram modificados.
Para o astrofísico Matt Clement, do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o artigo coordenado pelos brasileiros dá uma importante contribuição para o entendimento do processo de gênese dos planetas terrestres, em especial de Mercúrio, que considera o mais incomum deles.
“O trabalho demonstra que a formação de Mercúrio por um ou mais impactos do tipo hit and run entre corpos de massa mais ou menos igual é um cenário mais plausível do que se pensava anteriormente”, diz Clement, que estuda a formação de Mercúrio e outros planetas, em entrevista por e-mail a Pesquisa FAPESP.
Op esquisador norte-americano, no entanto, comenta que o trabalho não aborda algumas questões ainda em aberto. Se uma parte de um nascente Mercúrio se rompeu e foi removida durante uma grande colisão, esse pedaço partido do planeta foi para algum lugar. As opções são limitadas para o destino final dessa fatia de Mercúrio, segundo ele: ela pode ter sido direcionada para o vizinho Sol; ter se incorporado a um dos outros planetas; ter sido ejetada completamente do Sistema Solar, onde encontraria uma órbita estável; ou ainda ter retornado ao próprio Mercúrio. “Na maioria dos casos, o resultado mais provável é a matéria ejetada voltar para Mercúrio”, comenta Clement.
Os próprios autores do artigo deixam claro que alguns pontos relacionados à origem e à consti-
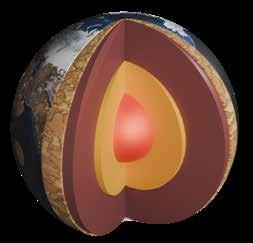
tuição de Mercúrio não foram explorados nas simulações. Um deles, por exemplo, diz respeito à quase ausência de uma atmosfera no planeta, característica incomum nos planetas rochosos.
A falta de uma camada significativa de gases em seu entorno, no entanto, não impediu a detecção de compostos voláteis em sua superfície, como água, sódio e dióxido de carbono.
É possível que a hipotética colisão com um corpo similar tenha arrancado também quase toda a atmosfera do planeta. Se isso ocorreu, os compostos voláteis podem ter retornado a Mercúrio de carona com outros objetos que caíram ou se chocaram depois com o planeta, ou mesmo com novas levas de matéria adicionada à sua estrutura ao longo de sua história evolutiva, argumentam os astrofísicos brasileiros.
Mercúrio é um planeta esquisito. Apesar de ser o mais próximo do Sol, não é o mais quente (essa característica é de seu vizinho Vênus). Mas é o que apresenta a maior variação térmica. Pode chegar a 430 graus Celsius (ºC) de dia e, como praticamente não tem atmosfera para reter o calor, a -180 ºC à noite. Em suas regiões polares, há água congelada, às vezes em buracos que permanecem constantemente em zonas de sombra. Como a Lua, é rico em crateras e falhas geológicas, das quais escapam vapores e outros compostos. Um mundo que talvez fosse muito diferente hoje se não tivesse tido um esbarrão com um objeto similar bilhões de anos atrás, como sugere o novo artigo. l
entrevista José Roque
Do Sirius ao Orion
Físico fala sobre o funcionamento da grande fonte de luz síncrotron e explica como ela vai ser integrada ao primeiro laboratório de biossegurança máxima do país
MARCOS PIVETTA
Em 2009, o paulistano Antônio José Roque da Silva assumiu a direção do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), em Campinas, São Paulo. Esse tipo de acelerador circular de partículas carregadas (elétrons) gera uma radiação, a luz síncrotron, que permite investigar a estrutura da matéria na escala dos átomos e das moléculas. Funciona como um microscópio gigante, capaz de “ver” o interior de materiais, tecidos biológicos e patógenos. Acadêmico com atuação nas áreas de física atômica, molecular e da matéria condensada, José Roque, como é conhecido, tinha a missão de dar uma sobrevida ao antigo UVX, fonte de luz síncrotron que fora a primeira a entrar em operação no hemisfério Sul, e tocar o projeto de construção de seu substituto: o Sirius, um novo acelerador de quarta geração, a mais avançada disponível. Pouco antes da inauguração do Sirius em dezembro de 2018, o físico passou a dirigir o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). Essa organização social faz a gestão do LNLS, dos laboratórios nacionais de Biociências (LNBio), de Nanotecnologia (LNNano) e de Biorrenováveis (LNBR), de sua unidade de Tecnologia (DAT) e da Ilum – Escola de Ciência, que mantém curso de bacharelado em ciência e tecnologia. “Todas essas unidades atuam de forma coordenada para executar a missão de um centro de pesquisa único no país”, diz. Em abril deste ano, José Roque, de 61 anos, ganhou o Prêmio Almirante Álvaro Alberto de 2025 na categoria Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. A honraria é concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Marinha do Brasil, para pesquisadores que deram uma importante contribuição para o país. Nesta entrevista, realizada em sua sala em Campinas, o físico fala do CNPEM, do funcionamento do Sirius e do projeto Orion, que vai ser o primeiro laboratório de biossegurança máxima (NB4) na América Latina.

José Roque ganhou o Prêmio Almirante Álvaro
Alberto de 2025 na categoria Ciências Exatas, da Terra e Engenharias
O prêmio foi um reconhecimento ao José Roque pesquisador ou ao seu lado gestor?
Deve ter sido uma mistura dos dois, mas acho que o peso do gestor foi maior. Obviamente, o Sirius é um destaque no contexto do CNPEM e da ciência nacional. Mas o centro é maior do que o Sirius e representa um lugar único de pesquisa no país, similar a poucos no exterior. O CNPEM tem uma missão institucional que se desdobra em diversas atividades transversais e multidisciplinares em nossas unidades de pesquisa. Fui escolhido porque entenderam que dei uma contribuição importante na gestão do CNPEM. É quase uma premiação para a capacidade técnica da ciência brasileira. Ela passa a mensagem de que o Brasil tem uma ciência que, às vezes, consegue fazer o que outros países não fazem. Com mais dificuldade e menos dinheiro do que os países mais ricos, tendo que fazer as escolhas certas, mostramos que temos

de 2026, todas as 14 linhas deverão estar funcionando. Apesar de alguns momentos de dificuldade, nunca interrompemos nenhuma atividade. Com o atual governo federal, negociamos uma verba de R$ 800 milhões do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a implantação de uma segunda fase do Sirius, que ganhará mais 10 linhas de luz. Algumas já começaram a ser construídas. Esperamos entregar as linhas da segunda fase até 2028.
Existe um usuário típico do Sirius ou cada linha tem um perfil diferente de usuário?
Diria que temos os usuários mais tradicionais que, há décadas, utilizavam a fonte UVX e agora usam o Sirius. Esse pessoal é mais da área de física, de ciência dos materiais e de química também, sobretudo os que trabalham com catálise. Temos feito um esforço, que vem dando resultado, para ampliar o uso para outras áreas, como saúde, ciências do solo, patrimônio cultural, materiais porosos. No ano passado, 437 projetos de pesquisa utilizaram alguma linha de luz do Sirius, dos quais 309 eram de pesquisadores externos, de fora do CNPEM.
Pesquisadores dos laboratórios do CNPEM têm prioridade?
Pela grandiosidade e nível de investimento, o projeto Sirius sofreu críticas de parte da comunidade científica em seu início. Essa fase foi totalmente superada?
Desde o primeiro síncrotron, houve um receio da comunidade científica de que um projeto tão grande como o Sirius pudesse receber todo o dinheiro que seria destinado à ciência nacional. Mas isso nunca se mostrou verdadeiro. O Sirius absorve um pedaço do orçamento da ciência brasileira. Recebemos cerca de R$ 2,5 bilhões ao longo de 13 anos, desde o início do projeto.
O Sirius já está operando em sua plena capacidade?
Ele está sempre crescendo e estará nessa situação ainda durante muitos anos.
Foi projetado para ter até 38 linhas de luz [estações experimentais para a realização de estudos sobre a estrutura de materiais a partir do emprego de faixas de frequências específicas do espectro eletromagnético, como raios x, ultravioleta ou infravermelho, que foram obtidas a partir da luz síncrotron]. Nenhum síncrotron começa a funcionar com capacidade máxima. Não se constrói essa quantidade de linhas de uma única vez. A primeira fase de operação do Sirius, que se iniciou em 2020, incluiu o desenho de 14 linhas de luz, que cobririam a maior parte das técnicas importantes usadas pela comunidade científica na fronteira do conhecimento. Atualmente, 10 linhas estão totalmente abertas para a utilização de usuários de qualquer instituição de pesquisa do Brasil – e não apenas de pesquisadores do CNPEM –e do exterior. Duas estão funcionando ainda em caráter experimental e duas estão em fase de conclusão. Até o final
Na época ainda do UVX, tinham um percentual de tempo para uso deles, mas atualmente não. A competitividade aqui é alta. De cada três ou quatro pedidos para uso de uma linha de luz, apenas um é aprovado. Pesquisadores do CNPEM têm de submeter seu projeto para análise, como qualquer pessoa de uma instituição de fora. Não há uso cativo para eles. Houve recentemente um aumento dos pedidos de uso do Sirius vindos dos Estados Unidos e da Europa. Antes, as submissões internacionais vinham basicamente da Argentina e de países da América do Sul. Em 2024, 16% dos projetos aprovados vieram do exterior. No passado, quase ninguém de fora da América do Sul vinha usar o UVX. Para usar o Sirius, eles vêm.
Quem são os concorrentes do Sirius no mundo?
Hoje, além do Sirius, há duas instalações com fonte de luz síncrotron de quarta geração abertas para usuários externos pessoas e empresas competentes. Cerca de 85% dos componentes do Sirius foram construídos no país.
no mundo. Uma é o Max IV, na Suécia, que começou a funcionar antes de nós, em 2016. A outra é o European Synchrotron Radiation Facility [ESRF], na França, que foi modernizado e se tornou um síncrotron de quarta geração em 2020. O Max IV é uma máquina na qual a energia dos elétrons é da ordem de 3 gigaelétrons-volt [GeV], a mesma do Sirius. O ESRF é uma máquina de 6 GeV, ou seja, com elétrons com o dobro da energia do Sirius. É outra categoria, que pode gerar raios x de energias mais altas, com maior brilho. Nessas frequências mais elevadas, o Sirius e o Max IV não conseguem ter o mesmo brilho. Entretanto, o Sirius foi desenhado para ter linhas de luz com fótons de alta energia também. Somos muito competitivos em energias mais intermediárias, que são importantes para estudos, por exemplo, de questões relacionadas à saúde e à agricultura. A escolha da energia dos elétrons do acelerador não é uma questão importante para definir a geração de um síncrotron. Um síncrotron de mais alta energia é, em geral, maior que um de menor energia. Portanto, mais caro de construir e de operar. A escolha da energia do acelerador envolve uma questão de custo-benefício. O Sirius foi desenhado para ser competitivo em uma ampla faixa de energia dos fótons, incluindo os raios X de alta energia.
O que determina a geração de um síncrotron?
O que realmente interessa é o brilho do feixe de luz síncrotron. Quanto maior for o brilho, mais fótons, partículas de luz, podem ser concentrados em um feixe muito pequeno, o que aumenta a capacidade experimental de o síncrotron ver o interior dos materiais. Um parâmetro importante para aumentar o brilho é a emitância, que determina o tamanho e o grau de concentração do feixe de elétron que circula pelo acelerador. Quanto menor for a emitância, maior o brilho. O próximo síncrotron de quarta geração a ser aberto para usuários externos deve ser o Advanced Photon Source [APS], no Laboratório Nacional Argonne, nos Estados Unidos. É uma máquina de 6 GeV, parecida com a da Europa. O Swiss Light Source [SLS], do Instituto Paul Scherrer, na Suíça, está sendo atualizado para ser um síncrotron de quarta geração de
2,7 GeV e a China está construindo um síncrotron de 6 GeV, o The High Energy Photon Source [HEPS]. Nos próximos anos, passaremos de 3 para 6 síncrotrons de quarta geração em operação.
Nesse cenário de maior concorrência, o Sirius continuará a ser competitivo?
Dependendo da energia utilizada e do problema a ser investigado, o Sirius é competitivo em relação a todos eles. Não é só a capacidade do síncrotron que faz a diferença. Depois que se tem uma máquina de um certo patamar, o que faz muita diferença é ter boas ideias de problemas científicos para serem estudados. Um desafio para a ciência brasileira é ter problemas sofisticados o suficiente que justifiquem a utilização do Sirius. Só assim ele vai entregar os resultados esperados. Precisamos de problemas científicos desafiadores para fazer trabalhos que, antes do Sirius, eram impossíveis de serem feitos aqui.
A comunidade científica sabe quais tipos de estudos podem ser feitos com o Sirius?
Esse é um dos nossos desafios, inclusive do ponto de vista da comunicação.
Pesquisadores de áreas como física da matéria condensada conhecem bem as capacidades do Sirius. Mas investigadores de outras áreas, como biologia e agricultura, costumam não ter ideia de como o Sirius poderia ser útil em seus estudos. Não adianta explicar para o pesquisador detalhes muito técnicos sobre o funcionamento do síncrotron. Ele não é especialista na técnica, é usuário dela. Temos de dar apoio para que ele possa entender como a luz síncrotron pode ajudá-lo a resolver um problema científico. Isso faz parte do nosso dia a dia aqui.
Até agora, quais trabalhos feitos com o Sirius destacaria?
É importante destacar que a maior parte das linhas de luz está em operação regular há dois anos, ou seja, os papers gerados por esses experimentos vão ser publicados de agora em diante. Mas já foram divulgados estudos importantes na área de biologia molecular estrutural, setor em que o país não tinha a capacidade de fazer esse tipo de estudo. Na área de materiais, foram feitas análises em células solares e de eletroquímica. Hoje temos a capacidade de fazer trabalhos em tomografia de raios x em materiais porosos, solos e rochas. Esperamos aumentar em breve a capacidade de fazer trabalhos em sistemas biológicos.
O prêmio é um reconhecimento da capacidade técnica e de gestão da ciência brasileira
Por que o projeto Orion vai construir um laboratório de biossegurança de nível 4, o NB4, acoplado ao Sirius? Durante a pandemia, era preciso ter laboratórios de nível 3 para lidar com o vírus Sars-CoV-2. Houve então um movimento do MCTI para financiar a construção de mais NB3. Ganhamos recursos naquela época para construir um. Mas algumas pessoas no ministério, que nem cientistas eram, participaram de conversas no passado e retomaram a discussão de que o país precisaria ter um laboratório de nível 4, capaz de lidar com patógenos de segurança máxima, como os vírus sabiá, descoberto no Brasil, ebola, junín, machupo e guanarito. Eles nos perguntaram se poderíamos fazer um NB4 conectado ao Sirius. Dissemos que sim, mas que uma série de desafios teriam de ser vencidos. Esse tipo de conexão nunca foi feito no mundo. Deveremos concluir o Orion até o fim de 2027.
É mais caro fazer um NB4 acoplado a uma fonte de luz síncrotron do que sem essa conexão?
Se tivéssemos que fazer tudo do zero, sim. Mas a estrutura principal do Sirius já está pronta. Essa decisão praticamente não encarece o Orion. O que eu vou gastar a mais? Um pedaço da construção civil do prédio que vai conectar o Orion ao Sirius, algo relativamente simples, e obviamente a construção de três novas linhas de luz do síncrotron dedicadas ao complexo laboratorial de biossegurança. A estrutura tem uma certa sofisticação, requer pisos especiais e outras coisas. Mas isso encarece em 10% ou 15% o valor do projeto como um todo, orçado em cerca de R$ 1,5 bilhão. O projeto aumentou de tamanho à medida que foi amadurecendo e avançando. O maior aumento de custo foi com espaços para experimentação animal. É importante destacar que as três linhas de luz do Orion farão parte do total de 38 possíveis do Sirius.
Como vai funcionar o Orion?
Vai ser uma instalação de uso aberto para pessoas de fora do CNPEM, como é o Sirius. Mas seu modelo de uso será diferente. É preciso ter um treinamento diferenciado para usar esse tipo de laboratório. Tivemos de estabelecer contato com os laboratórios de nível 4 no resto do mundo para aprender como se toca esse tipo de instalação. A área do prédio, de 28 mil metros quadrados, foi determinada não pela conexão com as três linhas de luz, mas por causa das atividades do complexo laboratorial, como a capacidade de fazer experimentos com animais-modelo e desenvolver vacinas.
O que haverá dentro do prédio, além do NB4?
Haverá um NB2 e também um laboratório de nível 3. Nas visitas que fizemos a laboratórios de nível 4 no exterior, fomos aconselhados a fazer um NB2 maior, se possível com o dobro do tamanho do NB4.
Por quê?
Porque o NB2 é usado para preparar quase tudo que será utilizado nos demais níveis. Sua operação é muito mais simples e barata. Não compensa usar um NB4 ou mesmo um NB3, que é o grau de segurança exigido para lidar com o vírus da Covid-19, para tarefas de risco pequeno.
Temos de dar apoio para o pesquisador entender como o síncrotron pode ajudá-lo a resolver um problema científico
No processo de desenvolvimento de uma vacina, precisamos, por exemplo, testar o imunizante em um camundongo. Vamos receber o animal e inocular a vacina nele no laboratório de nível 2, onde se pode entrar sem usar um traje especial todo fechado, que recebe ar externo filtrado, como ocorre no nível 4. Vamos usar o NB4 apenas se o animal vacinado for exposto deliberadamente a um vírus, para ver se a imunização confere alguma proteção, em um tipo de experimento denominado desafio. Posso também preparar culturas no nível 3 e subir com elas para fazer o experimento no 4.
Qual a vantagem de ter um NB4 e o Sirius junto?
Vamos poder fazer uma série de estudos e análises com os patógenos mais perigosos que conhecemos em um único lugar. Fizemos uma análise de quantas linhas de luz síncrotron faria sentido ter com o Orion e chegamos à conclusão de que precisaríamos de três. Uma para fazer uma tomografia de células individuais, para enxergar como os vírus e outros patógenos modificam a estrutura celular. Uma segunda linha para fazer uma tomografia de tecidos e órgãos, não necessariamente em nível intracelular, mas
capaz de olhar, célula por célula, como ocorreram os danos e o espalhamento de uma doença ou patógeno. E, finalmente, uma terceira linha de luz dedicada ao estudo da evolução de doenças em animais-modelo vivos. Seria uma tomografia com uma resolução muito maior do que a realizada por uma máquina de bancada.
Falando agora um pouco mais de sua trajetória, gostaria de saber como surgiu seu interesse pela ciência. Nasci em São Paulo, mas meus pais, funcionários públicos, se mudaram para Brasília entre 1963 e 1964. Eu tinha 7 meses de vida e acabei crescendo lá. Meu pai foi taquígrafo e minha mãe bibliotecária da Câmara dos Deputados. Havia então o programa espacial norte-americano, que levaria o homem à Lua em 1969. Ciência e tecnologia eram algo diferenciado. Meu pai gostava dessas coisas e eu escutava conversas sobre isso em casa. Naquela época, as pessoas iam a bancas de jornal e me lembro de ter ganho um kit de ciências, que tinha diferentes experimentos de física e de química. Com a ajuda de meu pai, eu e meu irmão [o físico Antônio Carlos Roque da Silva Filho, da USP de Ribeirão Preto], que é um ano mais velho, fazíamos os experimentos. Em 1981, meu irmão veio cursar física na Unicamp [Universidade Estadual de Campinas]. Vim junto para fazer cursinho e com a ideia de fazer engenharia. Mas achei a física mais interessante e entrei na Unicamp em 1983.
O que você estudava antes de ir para o síncrotron?
Comecei a construir minha carreira científica fazendo simulações computacionais, em colaboração estreita com Adalberto Fazzio [físico e hoje diretor da Ilum – Escola de Ciência, do CNPEM]. Montamos um grupo de trabalho e inicialmente fizemos alguns estudos na área de materiais semicondutores. Mas, logo em seguida, despontou muito a área de nanotecnologia. Quem não fizesse pesquisa com nanotecnologia entre o fim dos anos 1990 e início dos 2000, ficava estagnado. Fiz uma carreira na USP e acho que tive uma boa produtividade usando as técnicas de cálculo computacional para estudar materiais na escala nano. Isso até ser cedido em tempo integral para o LNLS em 2009. l
Fracassamos. E agora?
Preparar as equipes para os imprevistos e dialogar com outras áreas da empresa ajuda a superar a frustração e a evitar perdas desnecessárias
CARLOS FIORAVANTI


Quando por alguma razão naufragam, projetos de inovação radical, que buscam grandes avanços, resultam não apenas em frustração . Se não forem bem gerenciados, podem também levar a demissões, realocações de cargo, guinadas em carreiras profissionais, abalos na credibilidade pessoal dos responsáveis, trocas de acusações, punições, perda de dinheiro e projetos interrompidos – até mesmo aqueles que já haviam gerado produtos que seguiam uma trajetória aparentemente bem-sucedida.
“Há alguns anos”, conta o engenheiro de produção Leonardo Gomes, que estuda desde 2012 as causas, consequências e formas de prevenção

dos insucessos de projetos de inovação radical, “uma certa empresa de biotecnologia tinha feito um grande investimento em um projeto e implementou um novo processo de produção. No começo, tudo correu bem”.
Alguns anos depois, o rendimento do processo de fermentação começou a cair e se estabilizou em um patamar baixo, economicamente inviável, e ninguém entendia por quê. “A empresa poderia ter revertido a situação se retomasse a pesquisa, mas os diretores desmontaram a equipe de inovação, pararam tudo e saíram desse mercado”, observa Gomes. “A paciência com as falhas tinha acabado.”
Em um de seus trabalhos recentes, publicado em janeiro na revista Research Policy, Gomes, com sua equipe da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP), examina situações reais de projetos malogrados no país. O estudo teve como base 63 entrevistas com diretores e gerentes de inovação de empresas brasileiras com pelo menos 2 mil funcionários dos setores automobilístico,
Laminados da Aço Cearense, entre as commodities e a inovação; fundição da Tupy, base para negócios em outras áreas; o jato 737, com problemas quando já estava em uso comercial; e o post-it, exemplo de aplicação não planejada

de cosméticos, energético, siderúrgico e químico. O anonimato das informações foi garantido aos participantes.
Integrante do grupo de pesquisa, a administradora de empresas Rafaela Ferreira Maniçoba acompanhou algumas entrevistas. Ela notou que muitos entrevistados não queriam falar de falhas e custavam a se abrir. Outros expressavam incompreensão por meio de depoimentos (“o board [conselho] nunca nos apoiava”), decepção (“os diretores diziam que poderíamos experimentar, mas depois se queixavam dos custos e da demora”) e incertezas sobre a própria carreira profissional.
“Uma diretora de inovação de uma companhia da área da saúde foi transferida para um cargo
menos qualificado de outro setor”, conta a pesquisadora. “Ela se sentia punida porque a prova de conceito de um projeto que havia falhado tinha saído mais caro do que o previsto. O resultado não agradou a algumas pessoas.”
Aconclusão a que Gomes e sua equipe chegaram é de que o mal-estar e o mal-entendido resultam primeiramente da confusão entre os conceitos de erro e falha. “Erro é quando sei o que fazer e qual resultado esperar, mas por alguma razão o trabalho não saiu como eu queria”, define Gomes, que é também vice-diretor do Bridge: Gestão de Ecossistemas para Transições Sustentáveis, um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) apoiados pela FAPESP.
“Falha é quando não sei o que fazer, formulo uma hipótese e a testo, mas o resultado fica abai-
Para evitar decepções
Com base na análise de empresas inovadoras com atuação no país, a equipe da FEA-USP formulou um modelo de governança de falhas em projetos de inovação radical, dividido em quatro etapas, conforme detalhado no artigo da revista Research Policy
A primeira é de reconhecimento, quando se estabelece que erro é diferente de falha e se buscam caminhos apropriados para planejamento e avaliação dos projetos de inovação, não apenas em custos, prazos e resultados, como em outras áreas. “Inovação radical é uma maratona”, enfatiza Leonardo Gomes, líder do estudo. “Não pode entrar com fôlego de corrida de 100 metros.”
A segunda é a chamada emancipação conceitual, quando o líder de inovação define as novas formas de planejamento e gestão dos projetos, assume os riscos e ensina os integrantes da alta administração a ter paciência com as eventuais falhas. “O gestor da inovação tem de lidar com as expectativas de
xo do que esperava”, diz ele. “A falha faz parte da experimentação, quando não sabemos bem o que pode acontecer nem quanto vai demorar até chegar ao resultado desejado.” Sua pesquisa mostrou que interpretar a falha, em princípio inevitável, como erro que poderia ser evitado pode resultar em punições desnecessárias e desmotivar a busca por inovações radicais. Diferenciar erro de falha é a primeira de quatro etapas de processos de inovação radical elaborado pelo grupo da USP (ver quadro abaixo).
“A incerteza sempre existe”, reconhece o administrador de empresas Henrique Pereira, gerente de inovação do Aço Cearense, grupo que atua na siderurgia, metalurgia, florestal e logística, com sede em Fortaleza (CE) – esta e outras empresas ouvidas para a reportagem não participaram da pesquisa da USP. “Uma empresa que contratamos demorou para testar uma tecnologia que nos interessava e depois solicitou que congelássemos o 1
sua equipe, das outras áreas e da alta administração, explicando que o projeto tem incertezas e, portanto, pode não dar certo”, recomenda o administrador de empresas Felipe Borini, do grupo da USP.
A terceira é a do entendimento, com regras sobre como evitar e gerenciar as falhas e construir uma rede de aliados, dentro e fora da empresa, que apoiarão as novas regras. “As parcerias com outras empresas ou centros de pesquisa precisam ser feitas com muita atenção, definindo direitos e deveres de cada lado, porque são mundos distintos, com ritmos e objetivos diferentes”, comenta Anapatrícia Morales Vilha, da UFABC. Nessa fase, ressaltam-se as incertezas e a importância de tolerar as decepções, porque é difícil prever os movimentos dos concorrentes e do mercado. “Quando uma empresa falha, ainda tem chance de se recuperar e passar à frente de quem está momentaneamente com a saída vencedora”, comenta Gomes. “Há anos

a IBM lançou um novo tipo de tela de computador e construiu uma fábrica. Outra tela, de outra empresa, se mostrou melhor, mas a IBM lançou uma terceira tela e dominou o mercado. A Petrobras também teve persistência e capacidade de aprender até se tornar uma das maiores empresas de exploração de petróleo em águas profundas do mundo.”
O quarto passo é a incorporação de novas diretrizes para tratar a inovação radical, com práticas mais adequadas aos projetos de inovação radical, que permitam aprender a partir de falhas, adiamentos e custos inesperados. “Para evitar cobrança por resultados, é bom balancear o portfólio, com projetos radicais e incrementais, para ter sempre resultados de curto prazo para oferecer à alta administração”, sugere Ferrarese, da Tupy. Projetos que não chegam aos resultados esperados poderiam ser guardados e reavaliados meses ou anos depois, com outras perspectivas.

projeto por alguns meses. Mesmo assim, o capital perdido com o atraso sempre gera conhecimento sobre o que não fazer.”
Para evitar gastos desnecessários de tempo e dinheiro, Pereira procura testar as hipóteses o mais rapidamente possível, avaliar os resultados e, quando dá errado, formular outro plano até encontrar o caminho mais eficiente. “Dos 24 fornos, usamos apenas três para experimentos e nunca ampliamos a solução até ter certeza de que vai dar certo”, diz. As empresas do grupo assumem os riscos da inovação em paralelo à preocupação com a sobrevivência, por meio da fabricação de produtos simples, as chamadas commodities.
Mesmo que as hipóteses de trabalho estejam corretas, os testes tenham sido um sucesso e a ampliação da escala de produção corra bem, sempre pode ocorrer o que o grupo da USP chama de falha profunda: quando o problema só aparece anos depois de lançado o produto que se originou da pesquisa. Foi o que se deu com a empresa de biotecnologia citada por Gomes e já aconteceu com fabricantes de automóveis, medicamentos e aparelhos eletrônicos. O pesquisador usa como exemplo a Boeing e seus novos modelos 737-MAX. “Recentemente, a companhia teve de
É bom ter um planejamento flexível e estar atento às oportunidades, diz André Ferrarese, da Tupy

rever a engenharia de aviões que tinham sido vendidos e já estavam voando há anos”, conta.
OPORTUNIDADES
“É óbvio que nem todos os projetos de inovação vão dar certo”, constata o engenheiro mecânico André Ferrarese, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Tupy, que antes trabalhou 21 anos em outra grande fabricante de autopeças, a Mahle, no Brasil e na Alemanha. “É bom ter um planejamento flexível e estar atento às oportunidades que surgem no meio do caminho”, recomenda, lembrando do caso post-it. Desenvolvido pela 3M no final dos anos 1960 para funcionar como um adesivo industrial, foi um fracasso porque não colava direito. Até que alguém notou que os papeizinhos de cola fraca poderiam servir como marcadores de páginas, sem deixar resíduo. A novidade foi espalhada entre as secretárias, que o requisitaram e ressuscitaram a inovação. Outro exemplo é o Viagra, planejado inicialmente para tratar doenças do coração e depois redirecionado para disfunção erétil.
Representação do carro aéreo projetado pela Embraer e o Viagra, planejado para um uso e utilizado em outro
Por uma situação parecida passou a Tupy, fundada em 1938 em Joinville (SC). Ao entregar geradores de energia movidos a biogás para produtores rurais, os engenheiros da empresa observaram as dificuldades em operar o equipamento e detectaram uma oportunidade de negócio. De um trabalho em conjunto com outras áreas, nasceram as bioplantas, equipamentos de grande porte fabricados e gerenciados pela Tupy que processam dejetos de suínos e aves, recolhidos duas vezes por dia, e produzem fertilizantes, eletricidade e biometano, usado nos caminhões dos produtores rurais.
A empresa opera uma planta em Toledo, no oeste do Paraná, que reúne 27 criadores de 65 mil suínos, e planeja outras duas, uma em Divinópolis, Minas Gerais, para atender uma avícola, e outra em Seara, Santa Catarina, para tratar dejetos de 200 mil porcos e 1,7 milhão de aves.
Ao longo de 30 anos como líder de equipes de inovação na Aracruz e na Suzano, duas grandes produtoras de papel e celulose, o engenheiro-agrônomo Fernando Bertolucci, agora à frente da recém-criada consultoria
Inovitae, de São Paulo, reforça o fato de que nem sempre se chega de imediato ao objetivo desejado.
Na Suzano, ele participou do desenvolvimento de um novo produto, chamado fluff, feito com fibra curta de celulose, obtida de eucalipto. Usado em fraldas, esse material, feito até então apenas com celulose de fibra longa, de coníferas, transporta a urina até um polímero absorvente. “Quando ficou pronto, em 2020, mandamos para os fabricantes de fraldas, mas os testes não foram satisfatórios”, conta. “Não foi exatamente uma surpresa. Havíamos previsto o problema, mas não tínhamos como resolver sozinhos e precisávamos da interação com os potenciais clientes para aprender com eles.”
Com base nos comentários dos fabricantes de fraldas sobre o que não tinha funcionado, a equipe de inovação retomou a pesquisa até chegar a uma segunda versão, dois anos depois, que atendia às exigências dos clientes. “Agora a celulose de fibra curta tem propriedades parecidas com as de fibra longa e um preço competitivo”, comemora Bertolucci.
Disputas internas e boicotes às novas ideias ocorrem o tempo inteiro, alerta Bruno Moreira , da Inventta

Em 20 anos de consultoria de gestão de projetos de inovação, o engenheiro mecatrônico Bruno Moreira, da Inventta, uma consultoria de Campinas, interior paulista, observou que, com frequência, os líderes das áreas de inovação criam expectativas, mas depois não destinam recursos suficientes para sua equipe realizá-las. Em uma empresa química que ele atendeu, os diretores da área de negócios não estavam interessados em investir em inovação. Por essa razão, os projetos se tornaram menos ambiciosos, porque era grande a cobrança por resultados imediatos.
Moreira trouxe o problema à tona, ouviu todos os envolvidos e ajudou a implantar outro modelo de gestão: cada projeto de curto prazo destinaria 10% do orçamento para financiar os de longo prazo. Em três anos, a empresa conseguiu conciliar os projetos de inovação mais simples e os mais complexos.
Outro problema: “Disputas internas e boicotes às novas ideias ocorrem o tempo inteiro”, alerta. Um de seus alunos identificou uma oportunidade de inovação que poderia economizar alguns milhões de reais por mês em uma empresa de logística. O responsável pelo setor a quem ele apresentou a ideia, porém, deu-lhe uma bronca e disse que não tocaria a proposta adiante – se o fizesse, argumentou, poderia ser mandado embora por não ter ele próprio visto a solução que o novato lhe apontava.


A celulose fluff da Suzano, tanques da Raízen para produção de etanol de segunda geração, e o açaí, base para cosméticos da Natura
Quando promove as conversas de avaliação de projetos que terminaram em decepção, Moreira enfatiza que o objetivo é aprender com a situação e evitar novas falhas, sem apontar culpados ou deixar que os participantes apontem. “Ouvir a opinião dos opositores às ideias é importante, porque eles podem ter razão”, observa.
Além de ouvir, o líder da inovação precisa conversar sempre com todos, o tempo todo. Isso é fundamental para amenizar a pressão por prazos e resultados e para que as outras áreas da empresa possam receber e continuar o trabalho. “Muitos projetos não chegam ao mercado por causa da falta de comunicação e sintonia entre as equipes de inovação, produção e marketing, que precisam cooperar”, observa a administradora de empresas Anapatrícia Morales Vilha, da Universidade Federal do ABC (UFABC) e assessora da Diretoria Científica da FAPESP para a área de inovação.
O diálogo também evita que os fracassos se sedimentem. “Há uns dois anos”, conta Moreira, “uma empresa gastou muito em um projeto e deu tudo errado. O coordenador era da diretoria e não aproveitou o momento para fazer uma avaliação do que aconteceu. O silêncio deixou um imenso mal-estar, cristalizou a ideia de que não conse -
guiriam fazer mais nada e impôs resistência a qualquer outra iniciativa na área de inovação”. Bertolucci, da Inovitae, acrescenta: “A inovação só avança com uma equipe motivada, que não tenha medo de levantar a mão e dizer ‘não é por aí’, ‘está errado’ ou ‘errei’”. E Vilha sintetiza: “A cultura para inovação não combina com a cultura do medo”.
PERSPECTIVAS
Além de mostrar como desfazer equívocos conceituais como a confusão entre o erro e a falha e propor estratégias de governança da inovação, o grupo da USP procura formas de ampliar o número de empresas que se aventuram em projetos ousados e de longa duração, em vez de ficarem apenas nos de resultados a curto prazo.
“Ainda são poucas as que fazem inovação radical no Brasil”, observa Gomes. Em seguida, ele cita algumas delas: “Temos a Weg na área de motores, a Natura com cosméticos derivados da biodiversidade brasileira, a Raízen com o etanol de segunda geração, a Embraer com o eVTOL [carro voador]” (ver Pesquisa FAPESP nos 329 e 337).
Não é só no Brasil que promover a inovação radical é um desafio. Renate Kratochvil, da Escola de Economia de Estocolmo, na Suécia, fez 117 entrevistas com 37 diretores de grandes empresas daquele país de 2019 a 2023 e, em um artigo publicado em janeiro na Research Policy, apresentou sua conclusão: “Os líderes estratégicos tendem a favorecer a inovação incremental em detrimento da radical, não devido à escassez de ideias, mas porque temem fracassar”. l
O projeto e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
BIOTECNOLOGIA
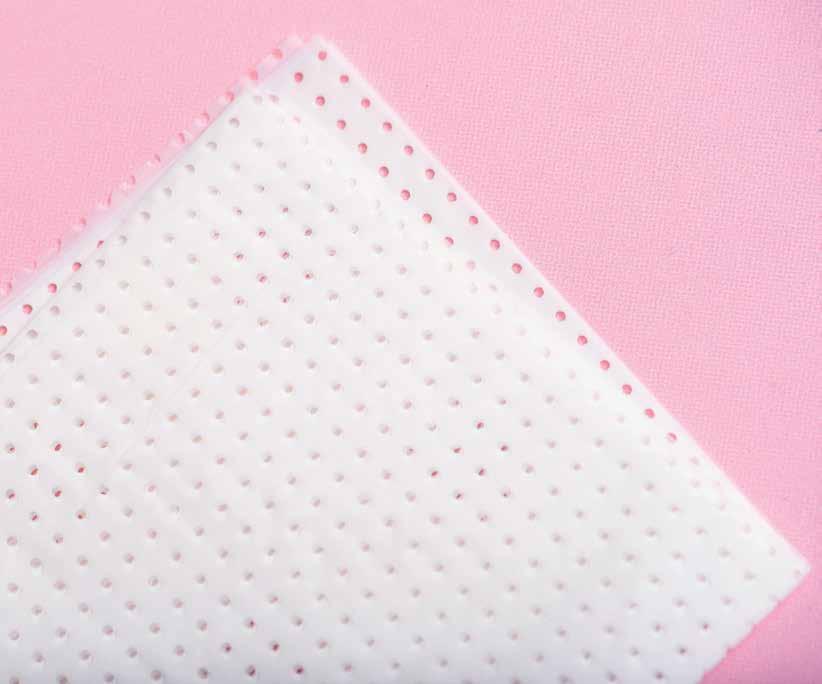
Dublês de pele
Membranas de celulose bacteriana facilitam tratamento de feridas de cicatrização lenta
CARLOS FIORAVANTI
Flexíveis e biocompatíveis, as membranas têm grande resistência mecânica
Oquímico Hernane Barud, da Universidade de Araraquara (Uniara), espera inaugurar em julho, em Santa Bárbara d’Oeste, interior paulista, a segunda unidade de produção de membranas de celulose bacteriana na HB Biotech, da qual é sócio. Resultado de investimentos próximos a R$ 1 milhão do grupo Amas Investimentos, que se integrou à empresa no ano passado, a nova fábrica deverá ampliar a produção mensal para 7 mil mantas de 50 centímetros (cm) por 30 cm. Flexíveis, biocompatíveis e com grande resistência mecânica, as membranas são produzidas por meio de fermentação controlada de linhagens selecionadas de bactérias Komagataeibacter raethicus (ver infográfico ao lado). Elas funcionam como suporte para a regeneração da pele e como
barreira à infecção bacteriana. Por essa razão, facilitam a cicatrização de ferimentos, queimaduras e feridas crônicas, substituindo produtos similares feitos com compostos derivados de petróleo. Completada a cicatrização, elas se soltam sozinhas, como as crostas escuras que se formam naturalmente sobre os ferimentos. Servem também para filtrar líquidos e como espessante de alimentos ou de cosméticos, como os condicionadores de cabelo, entre outras aplicações.
“Vamos produzir tanto membranas para uso médico quanto insumos, na forma de gel e microfibras, a serem utilizados como espessantes, para empresas do setor de cosméticos e alimentos”, diz Barud. “É um mercado crescente.” De acordo com a consultoria norte americana Business Research Insights, esse tipo de material representou um mercado global de US$ 480 milhões em 2024, com um crescimento estimado em 18% ao ano de 2025 a 2033.
Barud fez o mestrado e o doutorado sobre membranas bacterianas na Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araraquara, e foi sócio da Nexfill, fabricante desse tipo de material até 2017, quando fechou. Em seguida, ajudou a criar a HB Biotech, atualmente instalada na incubadora municipal de Araraquara, interior paulista.
Com apoio da FAPESP e colaboração com universidades paulistas, a HB investiga as possibilidades de incorporar fármacos à membrana produzida a partir da bactéria Gluconacetobacter xylinum . Uma das possibilidades é o reforço com o antibiótico rifampicina para tratamento de infecções de pele, como relatado em um artigo de abril de 2024 na revista Cellulose. Outra é o acréscimo de alginato de cálcio, em busca de um tratamento mais rápido contra queimaduras,
Películas para proteger ferimentos
como descrito na edição de julho de 2024 da Acta Cirúrgica Brasileira
Pesquisas em universidades têm ajudado a desenvolver essa área no Brasil. Em um dos prédios da Estação Experimental de Canadeaçúcar da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), campus de Carpina, a 45 quilômetros da capital, funciona o laboratório de produção de uma empresa de origem acadêmica, a Polisa Biopolímeros, criada em 2015. Feita a partir da bactéria G. hansenii , a membrana que sai dali, quando pronta, apresenta se como filme, com uma espessura variando de 0,01 milímetros (mm) a 0,03 mm, porosidade de 85% e alta capacidade de absorção e retenção de água (190%), como detalhado em março na revista científica Carbohydrate Polymer Technologies and Applications
“Já podemos vender, mas estamos adequando o processo para uma produção em maior escala”, conta a farmacêutica Girliane Regina da Silva. Em 2022, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu à empresa o registro de dois usos da membrana, para tratamento de unhas extraídas, favorecendo o crescimento de uma nova, e para lesões externas do aparelho urinário, ambos na classe I, que abarca produtos médicos que absorvem os líquidos liberados por lesões superficiais e podem ser usados por alguns dias.
A Polisa exemplifica a trajetória de muitas startups nascidas em universidades. A produção acadêmica tem sido intensa. Desde 1998, quando o engenheiro de produção Francisco Dutra, da UFRPE, encontrou a bactéria G. hansenii em tanques de fermentação de canadeaçúcar e descobriu que ela poderia produzir membranas de celulose, foram publicadas dezenas de artigos em revistas científicas nacionais e internacionais, indicando a capacidade da membrana de favorecer
Microrganismos produzem membranas poliméricas por meio de fermentação controlada
1. Bactérias selecionadas crescem sobre resíduos do processamento de frutas ou da produção de álcool e cerveja
2. Os microrganismos digerem os resíduos e liberam micro e nanofibras que se entrelaçam na superfície do líquido
3. A massa passa por um processo químico de branqueamento e forma um gel, unido por centrifugação
4. O gel é colocado em uma forma e, submetido a um processo de secagem, transforma-se em uma fina película polimérica
5. A lâmina é perfurada e cortada, resultando em membranas de diferentes tamanhos
FONTES
a cicatrização de feridas e de artérias em ratos, coelhos, cães e porcos. Em seres humanos, serviu para fechar perfurações do tímpano e ajudar na recuperação de feridas, incluindo as de pessoas com diabetes, de difícil tratamento.
A maior dificuldade da empresa é ampliar a escala de produção. “Para crescer, precisamos de investimentos, que não temos”, conta o cirurgião José Lamartine de Andrade Aguiar, professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e um dos sete sócios da empresa. Até agora, segundo ele, as conversas com possíveis investidores não deram certo. A empresa se mantém essencialmente com recursos de projetos de pesquisa de agências estaduais ou federais, além de desembolsos dos próprios sócios, todos com outras atividades.
Amembrana – um polímero, formado essencialmente por moléculas de glicose – tem uma história longa. Em 1886, quando estudava a fermentação do ácido acético, o principal componente do vinagre, pela bactéria G. xylinum, o químico britânico Adrian John Brown (1852 1919) identificou pela primeira vez esse tipo de película gelatinosa, formada por celulose pura, com a mesma estrutura química da celulose sintetizada pelas plantas. Nos anos seguintes, outras bactérias, como Azotobacter, Bacillus, Lactobacillus e Zooglea , revelaramse capazes de produzir esse material em larga escala.
Meios de cultura ricos em glicose, fósforo, nitrogênio e carbono, como cascas de café, palha de trigo, bagaço de frutas (como os citros, na HB Biotech) e resíduos da produção de cerveja ou queijo e de processamento da canadeaçúcar (o melaço, como

na Polisa) servem como nutrientes para as bactérias. “A bactéria elimina o polímero pelos poros após se alimentar dos açúcares do melaço”, conta a bióloga Layla Mahnke, da Polisa, enquanto mostra os frascos em que as bactérias são cultivadas.
EQUIVALÊNCIA COM MATERIAIS SINTÉTICOS
Tanto as membranas de fabricantes nacionais –incluindo a Bionext, Fibrocel, Innovatecs e Vuelo – quanto as produzidas nos Estados Unidos, Canadá, Suécia, Reino Unido, Alemanha, França e Japão propiciaram uma cicatrização de ferimentos e queimaduras mais rápida e com custo menor que a maioria dos equivalentes sintéticos, de acordo com um artigo de pesquisadores do Laboratório Químico farmacêutico da Aeronáutica e da Polisa, publicado em fevereiro de 2024 na Research, Society and Development. Enfrentam, porém, a concorrência de membranas aditivadas com goma xantana, etanol e ácido acético, ou feitas com alguns produtos sintéticos, como poliuretano e rayon.
Em outra pesquisa, um grupo da Unesp, campus de Botucatu, verificou que uma membrana produzida pela bactéria Acetobacter xylinum na Innovatecs, de São Carlos, interior paulista, estimula a produção de interleucina 10 (IL 10), uma proteína com ação antiinflamatória. Os resultados foram detalhados em um artigo publicado em fevereiro de 2022 na revista Materials Letters. Embora se trate de um material promissor, ainda há questões não resolvidas. Pesquisadores da Universidade Itmo (antes chamada de Universidade de São Petersburgo de Tecnologia da Informação, Mecânica e Ótica), na Rússia, alertam, porém, para a necessidade de mais estudos sobre a biocompatibilidade a longo prazo e eventuais reações indesejadas do organismo, além de protocolos padronizados para os testes de eficácia das membranas de celulose bacteriana, como argumentado em um artigo a ser publicado em junho na Carbohydrate Polymers
“Uma das grandes dificuldades é a ampliação da escala de produção, por se tratar de um processo fermentativo”, observa o químico Guillermo Castro, da Universidade Federal do ABC (UFABC), que participa de pesquisas com a HB Biotech. Com sua equipe, ele procura novas espécies de bactérias capazes de produzir membranas celulósicas e investiga as possibilidades de incorporação de fármacos antitumorais ao material. “Para evitar a concorrência com grandes empresas, deveríamos buscar aplicações específicas, como o uso de membrana para tratar queimaduras ou do gel para alguns tipos de câncer cerebral”, ele sugere. l
Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Biocelulose da HB Biotech usada na produção da membrana
Aldebaran-I: o cubesat projetado na UFMA é compacto e tem 10 cm de lado

Para localizar náufragos
Nanossatélite criado no país tem como missão resgatar pequenas embarcações em situações de emergência no mar
YURI
VASCONCELOS
Um nanossatélite feito na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com apoio da Agência Espacial Brasileira (AEB), poderá ajudar as autoridades costeiras do país em missões de busca e resgate de pequenas embarcações pesqueiras que enfrentam dificuldades no mar. O aparelho, um cubesat padrão 1U, dispositivo com formato cúbico e 10 centímetros de lado, também será empregado para identificar queimadas.
Cinco anos após o início do projeto, o satélite, batizado de Aldebaran-I, passou pelos testes finais em janeiro. “Um dos ensaios a que foi submetido foi o de vibração, essencial para nos certificar de que suportará as condições extremas de lançamento”, diz o engenheiro aeronáutico Carlos Alberto Brito Rios Junior, professor do curso de engenharia aeroespacial da UFMA e coordenador do

projeto. “O satélite está pronto para ser enviado à Índia, de onde será colocado em órbita.” O lançamento está previsto para ocorrer em junho.
O nome Aldebaran-I é uma referência à estrela mais brilhante da constelação de Touro. “O nome tem origem árabe e significa o seguidor, que tem a ver com sua missão. Ao mesmo tempo, algumas pessoas dizem que Aldebaran é o nome da estrela que vai na testa do boi, o protagonista da mais tradicional festa de nosso estado, o Bumba Meu Boi”, diz Brito.
O projeto integra uma iniciativa do Programa Nacional de Atividades Espaciais, cujo foco é a construção de nanossatélites acadêmicos, dispositivos de baixo custo e ciclo de desenvolvimento mais curto. “Temos diversos projetos de satélites no país, alguns liderados por centros de pesquisa governamentais, outros por empresas privadas. Um grupo de dispositivos está sendo projetado por universidades”, conta o diretor de Gestão de Portfólio da AEB, Rodrigo Leonardi. Além de fomentar o desenvolvimento tecnológico, ressalta Leonardi, o programa de nanossatélites tem como objetivo capacitar mão de obra no setor espacial e criar competências nas universidades brasileiras.
Esses dispositivos são usados para diversas finalidades, como observação da Terra, estudos científicos e desenvolvimento de tecnologias para emprego no espaço. “Os nanossatélites e os cubesats foram desenvolvidos pela primeira vez para fins educacionais”, informa artigo de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) publicado
na Revista Ambiente & Água , em 2020. “Embora ainda incipientes, as aplicações de nanossatélites e as missões propostas estão crescendo.”
O nanossatélite da UFMA é uma prova de conceito. Será usado para validar uma nova tecnologia. Para isso, pequenos barcos de pesca receberão um sistema de transmissão que mandará sinais com sua localização para o satélite. “Esses sinais serão reencaminhados para uma estação em terra, que enviará uma mensagem de emergência para serviços de salvamento”, explica o doutor em engenharia Luís Claudio de Oliveira Silva, líder do Laboratório de Eletrônica e Sistemas Embarcados Espaciais (Labesee) da UFMA, que abrigou o projeto.
No caso da prevenção de queimadas, plataformas de coleta de dados instaladas em regiões de mata transmitirão informações para o satélite, que as enviará para uma estação terrena. “Um sistema buscará indicadores de queimadas usando inteligência artificial”, esclarece Silva. Caso o Aldebaran-I seja bem-sucedido, será preciso construir uma constelação de nanossatélites para que os serviços de localização de náufragos e de queimadas sejam colocados em prática. “Apenas com uma constelação teremos sempre um satélite sobrevoando o Brasil”, explica Leonardi. “Estamos prospectando constelações de satélites de pequeno porte. Se essa prova de conceito funcionar, poderá dar origem a uma constelação desse tipo.” l
O artigo científico consultado para esta reportagem está listado na versão on-line.
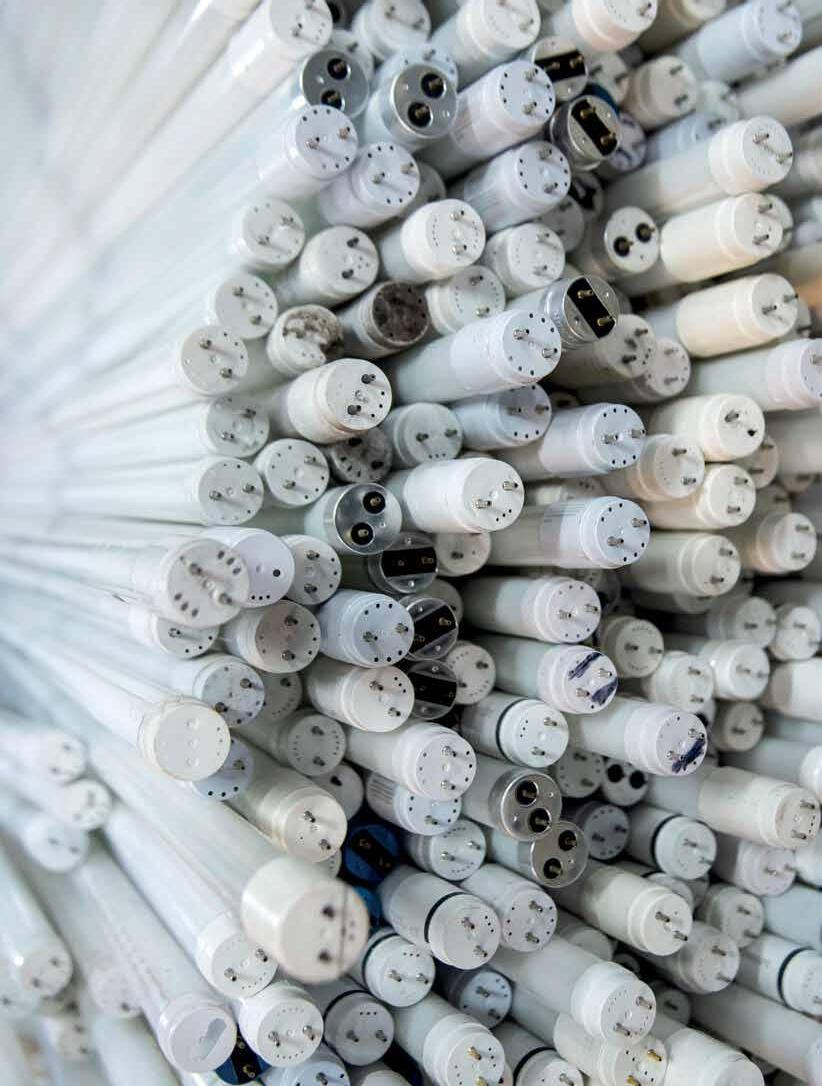
Vida nova para o LED
Lâmpadas LED tubulares inservíveis no depósito da Tramppo, em Osasco (SP)
Método para separação e reciclagem de lâmpadas com diodos emissores de luz poderá reduzir a geração de resíduos e promover a economia circular
YURI VASCONCELOS
Estima-se que em torno de 350 milhões de lâmpadas LED (diodo emissor de luz) sejam comercializados por ano no país. Mais econômicas e eficientes do que os modelos convencionais incandescentes e fluorescentes, elas têm vida útil de 25 mil a 50 mil horas de uso, segundo os fabricantes. Após esse período, são descartadas, muitas vezes de maneira inadequada. Para reduzir sua pegada ambiental e promover a economia circular, grupos de pesquisa no Brasil estudam formas de viabilizar a reciclagem dessas lâmpadas, que têm em sua composição metais raros e valiosos, como ouro, prata, cobre e os de terras-raras ítrio e cério.
Uma das investigações mais avançadas é liderada por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), vinculado ao governo paulista, e da empresa Tramppo Reciclagem, com sede em Osasco (SP). Juntos, eles desenvolveram um método de desmontagem e separação dos materiais e componentes de lâmpadas LED, empregando uma rota de processamento físico. O caráter inovador do trabalho levou ao registro de duas patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
“Em 2018, assinamos um contrato com o IPT para criar uma tecnologia para reciclagem de lâmpadas LED. Sete anos depois, temos um protótipo funcional que faz a desmontagem delas de maneira automatizada”, afirma Carlos Alberto Pachelli, sócio-fundador e diretor da Tramppo.
“Ao final do processo, cada um dos materiais que a compõem, basicamente polímeros, metais e cerâmicas, pode ser destinado à reciclagem. Até onde sabemos, somos pioneiros no desenvolvimento de um processo mecanizado. As poucas empresas do segmento fazem o desmantelamento das lâmpadas de forma manual, o que é um problema com o aumento do volume desse material.” O trabalho recebeu apoio da FAPESP por meio do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe), da Empresa Brasileira de Pesquisa
e Inovação (Embrapii) e do Serviço Brasileiro de Apoio à s Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
As lâmpadas LED são fabricadas em diferentes formatos, sendo os mais comuns o tubular, o bulbo – com a forma de pera – e o globo. Seus principais componentes são um invólucro de vidro ou plástico, uma fita com os diodos emissores de luz e um conjunto eletrônico formado por uma placa de circuito impresso contendo chips. O vidro é o material mais abundante, mas não o mais valioso. É na fita LED e na parte eletrônica que estão presentes os metais de interesse, conforme artigo da equipe do IPT focado na caracterização química de lâmpadas do tipo bulbo, publicado na revista Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração, em 2024.
Especialistas ouvidos pela reportagem dizem que a reciclagem de lâmpadas LED é importante do ponto de vista econômico e da sustentabilidade. “Permite a recuperação de metais raros, que podem ser usados em novos produtos, diminuindo a necessidade de extrair minérios da natureza e reduzindo os impactos ambientais”, destaca a engenheira química Sandra Lúcia de Moraes, diretora da Unidade de Materiais Avançados do IPT e gerente do projeto. Ao mesmo tempo, diz ela, contribui para reduzir a geração de resíduos eletrônicos. Lâmpadas LED contêm plástico e metais potencialmente tóxicos, como cobre, zinco e chumbo, que podem se acumular no solo e na água, causando danos à biodiversidade e à saúde humana.
SEPARAÇÃO FÍSICA
Até hoje, explica Moraes, as iniciativas de reciclagem ao redor do mundo têm sido focadas na extração de metais valiosos nos diodos emissores de luz, sem que haja estudos voltados para os processos de separação física que antecedem as operações de metalurgia extrativa. “Essas rotas tecnológicas, comuns na Europa, não se aplicam à realidade brasileira, pois não contemplam os processos de separação pelos quais podem ser recu-
Terminais com o circuito eletrônico (ao lado), fitas LED (ao centro) e vidro moído das lâmpadas descartadas (à dir.)

perados materiais como plástico, vidro, alumínio e cobre. Esses materiais, com valor agregado no mercado de reciclagem brasileiro, deixam de ser comercializados.”
Os métodos que aplicam diretamente a etapa de metalurgia extrativa recorrem a solventes para recuperar metais de interesse. Têm como passo prévio um processo de cominuição (redução de tamanho das partículas) das lâmpadas pelo qual todos os materiais presentes são triturados e transformados em partículas extremamente finas.
“Esse material alimenta os processos de extração, que usam alto volume de reagentes químicos, gerando grande quantidade de resíduos. O plástico e o vidro não são aproveitados”, diz Moraes.
A maior diferença do método criado por IPT e Tramppo reside na etapa que antecede a extração
O passo a passo do processo
Rota criada por pesquisadores paulistas faz a separação física dos componentes das lâmpadas facilitando a reciclagem
1. O primeiro passo é o corte dos terminais. Nas lâmpadas tubulares, um deles tem basicamente plástico e o outro abriga o circuito eletrônico
2. O terminal plástico é enviado a uma recicladora do material, enquanto o que contém a parte eletrônica segue no processo
3. O corpo cilíndrico de vidro, com a fita LED dentro, é triturado em uma prensa. Depois de peneirado, o vidro está pronto para ser reciclado

dos materiais valiosos, qual seja, o desmantelamento e a separação física dos materiais recicláveis. Para isso, os parceiros desenvolveram um aparelho que separa os componentes das lâmpadas LED. Nas lâmpadas tubulares, o processo começa com o corte dos terminais, contendo o circuito eletrônico. Uma das particularidades do processo é o uso de um moinho autógeno, dispositivo cilíndrico e giratório usado para desmantelar a parte eletrônica e, assim, permitir a recuperação posterior dos metais contidos nela (ver infográfico abaixo).
“Nosso maior desafio foi desenvolver uma tecnologia que permitisse a descaracterização das lâmpadas e a separação de seus componentes, inclusive da fita LED, em materiais mais grosseiros”, explica o engenheiro de minas do IPT Francisco Junior Batista Pedrosa. Essa etapa prévia do processo reduz a quantidade de materiais submetidos às operações de metalurgia extrati-
4. A fita LED é enviada a uma empresa para extração dos metais presentes por meio de um processo metalúrgico
5. Em um moinho cilíndrico giratório, o circuito eletrônico é desmantelado e peneirado. O suporte plástico é separado dos demais componentes, contendo metais valiosos
6. O material eletrônico restante é submetido à nova separação, agora magnética, em um tambor. Depois, segue para extração metalúrgica em uma empresa parceira


bientais. “Trata-se de um conceito conhecido no setor mineral como pré-concentração, que prevê o descarte do material que não é de interesse nas etapas iniciais do processo”, explica o pesquisador. Membro da equipe, Pedrosa é um dos autores de um artigo que investiga os mecanismos de desmantelamento de lâmpadas LED, publicado nos Anais do 76º Congresso Anual da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), em 2023.
Alinha produtiva da Tramppo, que há 10 anos havia desenvolvido um método para reciclar lâmpadas fluorescentes, também com apoio da FAPESP (ver Pesquisa FAPESP no 146 ), opera desde o início do ano em fase de testes. A capacidade do equipamento é de 500 quilos (kg) por dia. Melhorias e ajustes no processo poderão quadruplicar esse valor, estima Pachelli. O vidro, maior volume separado, é destinado à indústria cerâmica, enquanto o plástico segue para empresas recicladoras. Uma companhia estrangeira faz a retirada dos metais preciosos presentes na placa eletrônica. Tramppo e IPT têm interesse em criar uma rota para recuperar os metais presentes nos terminais eletrônicos e nas fitas LED.
A pesquisadora Lúcia Helena Xavier, do Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), instituto de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), avalia como inovador o processo criado por IPT e Tramppo. “O maquinário construído possibilita a separação dos materiais presentes nas lâmpadas de forma eficiente e automatizada, conferindo maior viabilidade econômica ao processo. Sem a separação e a concentração dos diversos componentes, as etapas subsequentes de reciclagem ficam comprometidas”, destaca Xavier, que não participou da pesquisa.
Especialista em logística reversa, mineração urbana e economia circular, Xavier é uma das
autoras de um estudo apresentado no 11º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, ocorrido em Porto Alegre, em 2020, que delineou um panorama das técnicas de reciclagem de lâmpadas LED inservíveis. Naquela ocasião, um dos principais problemas era a inexistência de um sistema de reciclagem padronizado para os diodos.
O Cetem investiga como recuperar metais valiosos e críticos presentes em lâmpadas LED. “Buscamos a caracterização físico-química desses resíduos e a aplicação de rotas de processamento que viabilizem a separação e a concentração seletiva de elementos de interesse, como cobre, prata, ouro”, explica a química Larissa Oliveira Alexandre, pesquisadora do centro. “O processo é simples, tem apenas duas etapas e não gera efluentes líquidos – não posso dar detalhes porque um pedido de patente ainda está em elaboração. Os produtos gerados têm teores de ítrio, gálio, cobre e prata bem superiores aos minérios naturais, reduzindo a dependência da extração primária.”
NOVA ROTA GAÚCHA
Na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, pesquisadores do Departamento de Engenharia Química apostaram em uma rota similar à da Tramppo e do IPT, baseada no processamento mecânico da lâmpada descartada. “Usamos diferentes técnicas, como moagem, separação magnética e eletrostática, para realizar o desmembramento dos principais constituintes desses resíduos”, relata o engenheiro químico Daniel Bertuol, coordenador do trabalho.
Assim como na tecnologia desenvolvida em São Paulo, após o processamento mecânico da lâmpada, alguns componentes já poderiam ser enviados à reciclagem, enquanto outros – as placas de circuito impresso e o LED – ainda precisariam passar por rotas metalúrgicas adicionais. Uma diferença entre os estudos paulista e gaúcho é que a rota proposta na UFSM não prevê o corte dos terminais das lâmpadas e não usa o moinho autógeno para desmantelar o circuito eletrônico. Um artigo detalhando o processo foi publicado no periódico Resources, Conservation and Recycling, em 2020.
“Na época em que fizemos esse trabalho, havia poucos estudos dedicados ao tema. Nosso artigo contribuiu para o entendimento da composição química dos diferentes componentes, além de apresentar uma rota mecânica de separação deles”, diz Bertuol. O grupo não chegou a construir um protótipo do maquinário para desmontagem das lâmpadas. “No desenvolvimento da rota de processamento, utilizamos equipamentos em escala-piloto.” l
O projeto, os artigos científicos e o livro consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
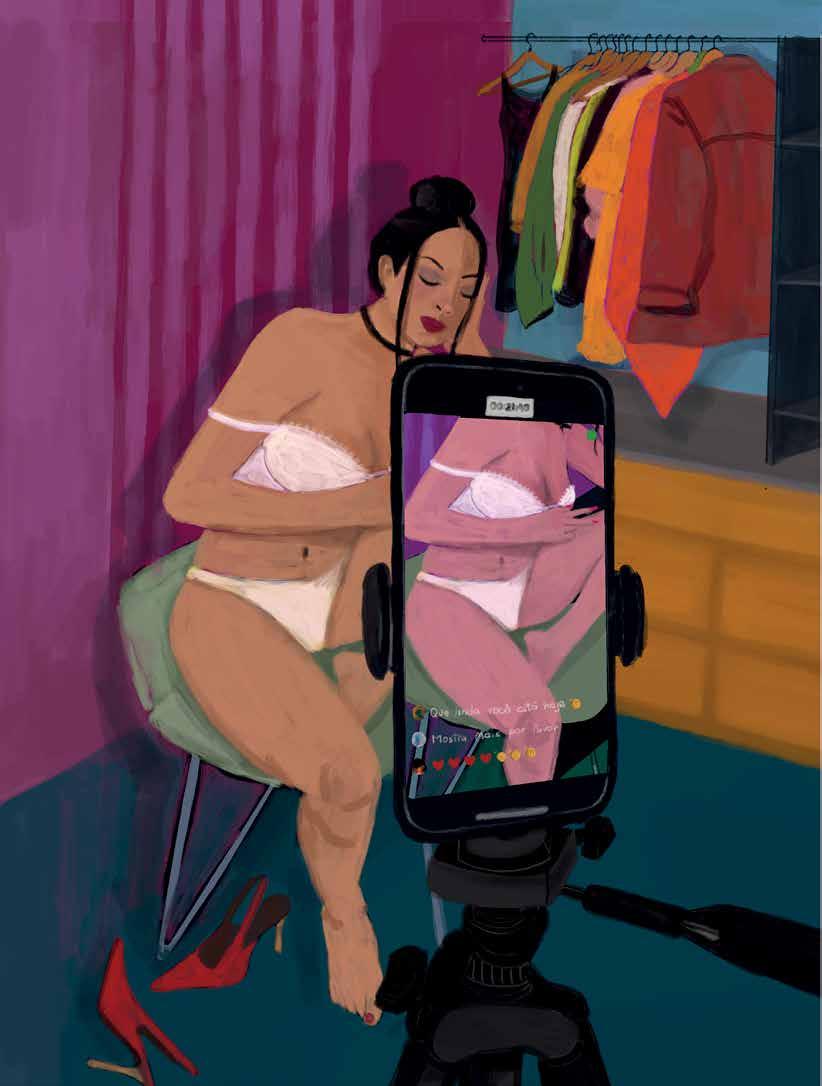
O mercado do desejo
Plataformas digitais ampliam escopo do trabalho sexual e aprofundam desigualdades entre quem oferece esse tipo de serviço
CHRISTINA QUEIROZ ilustrações VALENTINA FRAIZ
Angélica (nome fictício) criou seu perfil em uma plataforma digital de acompanhantes para ganhar novos clientes, trabalhar com mais autonomia e multiplicar seus ganhos financeiros. Desde então, quase todos os dias, ela se maquia no banheiro de casa, coloca uma roupa sensual e procura o melhor ângulo para posicionar a câmera instalada na sala de seu apartamento, onde transmite vídeos e faz fotos eróticas.
A história dessa mulher, que fez parte da pesquisa de doutorado defendida na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em 2024, pela socióloga Cristiane Vilma de Melo, ilustra como a era digital amplia o escopo de atuação de profissionais do mercado do sexo. O termo mercado sexual se refere às relações econômicas e sociais envolvendo a sexualidade, incluindo a exploração do corpo para fins econômicos.
Transmissões ao vivo, oferta de conteúdo por assinatura e venda de serviços eróticos on-line são alguns dos novos produtos propiciados pela emergência de canais de conteúdo adulto, como OnlyFans e Câmera Privê. Há profissionais do sexo que incorporam serviços desse tipo como fonte extra de renda e para divulgar seu trabalho presencial. Outros, somente atuam nas plataformas on-line. Esse contingente convive com pessoas que seguem atuando com a prostituição de rua, em bairros como a Luz, no centro de São Paulo, e a Vila Mimosa, no Rio de Janeiro.
No entanto, em um território virtual de aparente liberdade, as contradições também se impõem. No Brasil, o trabalho sexual não é proibido, mas tampouco é regulamentado. Por isso, as plataformas digitais estão livres para determinar o valor das tarifas cobradas, as performances permitidas e as formas de remuneração das profissionais, que são maioria na produção desse tipo de conteúdo em comparação com os homens. Em sua pesquisa de doutorado, Melo analisou a oferta de serviços eróticos em ambientes digitais. Segundo o estudo, financiado pela FAPESP, as novas tecnologias impulsionaram mudanças no
significado que as profissionais atribuem ao próprio ofício. “Elas começaram a produzir discursos para dar novos sentidos ao trabalho sexual como escolha consciente e experiência de autonomia”, afirma a pesquisadora. Essas narrativas, sustenta Melo, cumprem dupla função: são estratégias de marketing, mas também ferramentas que ajudam a conferir legitimidade a uma profissão historicamente marcada pelo estigma.
Na pesquisa, Melo entrevistou 31 trabalhadoras que atuam ou atuaram nas plataformas OnlyFans e Câmera Privê, bem como em redes sociais convencionais a exemplo do Instagram e Twitter, usadas para divulgação de serviços. De acordo com a socióloga, grande parte das 31 mulheres entrevistadas já eram trabalhadoras do sexo antes de entrar no universo digital. O ingresso delas em plataformas on-line ocorreu a partir de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Enquanto algumas entrevistadas optaram por atuar exclusivamente com serviços eróticos por meios digitais, outras começaram a usar essa exposição para atrair clientes para encontros presenciais. “Com as plataformas, muitas dessas mulheres passaram a ter mais controle sobre a dinâmica de atendimentos”, afirma.
Também interessada em compreender o papel de plataformas digitais nos mercados sexuais brasileiros, a pesquisadora Lorena Caminhas, da Universidade de Maynooth, na Irlanda, vem estudando esse cenário desde 2016. No doutorado em ciências sociais defendido na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 2020, ela analisou lives eróticas, ou seja, transmissões ao vivo de conteúdo sexual, chamadas de webcamming. Em 2010, foi inaugurada a Câmera Hot, primeira plataforma do gênero no país, seguida pela Câmera Privê, em 2013.
Para a pesquisadora, o estigma que recai sobre o webcamming é distinto daquele associado à prostituição de rua. “A mediação tecnológica cria uma separação simbólica entre os corpos, que influencia tanto a percepção social quanto a forma como as trabalhadoras sexuais se veem”, propõe Caminhas em artigo publicado este ano.
Ela relata que, nas plataformas de webcamming, a visibilidade das pessoas depende de um sistema automatizado. “As profissionais aparecem em fileiras, de cima para baixo, e quem está no topo tem mais chance de ser vista e contratada. Essa lógica é controlada por algoritmos, cujos critérios de funcionamento não são divulgados”, explica.
Ao longo da pesquisa, Caminhas entrevistou 15 profissionais, com idades entre 20 e 30 anos, sendo 13 mulheres brancas e duas negras. Onze delas eram novatas no mercado do sexo e, desse universo, a maioria havia saído do setor de serviços, sendo que algumas também trabalhavam como tatuadoras. As demais tinham experiência prévia como atrizes de filmes pornográficos ou garotas de programa. A entrada no universo digital foi uma estratégia para compensar perdas financeiras registradas durante a pandemia.
No estudo, a pesquisadora identificou a existência de uma estratificação de gênero, raça e corpo. “Mulheres cuja identidade de gênero corresponde ao sexo atribuído ao nascer, que são também jovens e brancas, são as que frequentemente ocupam o topo da página”, observa.
De acordo com Caminhas, essa lógica se repete em outras plataformas, como OnlyFans e Privacy, que foram objeto de sua pesquisa de pós-doutorado, finalizada em fevereiro deste ano na Universidade de São Paulo (USP), com financiamento da FAPESP. Ao contrário do webcamming, em que o espectador é cobrado por minuto assistido, nesses sistemas é oferecido um modelo por assinatura. Isso permite ao cliente pagar uma mensalidade para acessar todo o conteúdo postado em determinada conta, incluindo fotos e vídeos.
Caminhas destaca que essa forma de automação do trabalho sexual gera uma mudança em comparação à prostituição de rua. “As profissionais publicam o conteúdo de forma programada, automatizam mensagens e agendam postagens. Há quem organize o mês inteiro de publicações em uma única semana”, assegura.
Da mesma forma que Melo em seu doutorado, Caminhas constatou que, embora essas profissionais estejam inseridas no mercado do sexo, muitas não se reconhecem como trabalhadoras sexuais. Uma trabalhadora sexual é definida como alguém que presta serviços sexuais, que podem incluir a prostituição ou performances eróticas, em troca de dinheiro. “Apesar de oferecerem o mesmo tipo de serviço, algumas mulheres se identificam como stripper digital, ou trabalhadora sexual, enquanto outras se autodenominam influenciadoras ou criadoras de conteúdo”, observa. “A cultura do criador de conteúdo e do influenciador invadiu o espaço do sexo, diluindo as fronteiras entre a oferta de serviços sexuais e a performance digital erótica.”
De acordo com as duas pesquisadoras, as plataformas digitais estabelecem contratos com as profissionais que abarcam a coleta de dados sensíveis, como número de documentos, localização, histórico de pagamentos, curtidas, comentários e até os metadados das publicações. “Mesmo após o encerramento da conta, essas informações podem ser retidas pela plataforma por até seis meses”, afirma Caminhas.
Os canais também determinam como e quando os serviços prestados serão pagos às trabalhadoras. No caso do OnlyFans, considerada a maior plataforma mundial de conteúdo adulto, o pagamento é processado por sistemas estrangeiros de transferência de dinheiro, como o Wise, que cobram taxas de conversão, reduzindo o valor final recebido. “Apesar de longe do ideal, esses canais constroem, à sua maneira, um modelo de regulação privada do trabalho sexual digital, algo que o Estado brasileiro nunca se propôs a fazer”, critica a pesquisadora.
Segundo Caminhas, o rendimento médio das criadoras de conteúdo erótico por assinatura ouvidas pela pesquisa varia entre R$ 5 mil e R$ 7 mil mensais, podendo ultrapassar R$ 10 mil, em alguns casos. “Mas há uma exigência de dedicação intensa, entre 12 e 16 horas por dia, especialmente para administrar redes sociais”, explica. “Aquelas que se destacam no ambiente virtual montam equipes para desempenhar essa tarefa.” De acordo com o levantamento, a maioria das profissionais que atua com esse tipo de serviço pertence às classes sociais mais altas, enquanto o webcamming é mais comum entre pessoas de menor poder aquisitivo.
Como parte do doutorado, Melo realizou estudo de campo na Holanda, onde o trabalho sexual é regulamentado e organizações civis atuam na defesa dos direitos dessas profissionais. Ao comparar os cenários brasileiro e holandês, a socióloga identificou que, no Brasil, as trabalhadoras expõem sua identidade e rotina nas plataformas eróticas e em redes sociais para promo -
Plataformas dão mais visibilidade a mulheres jovens e brancas
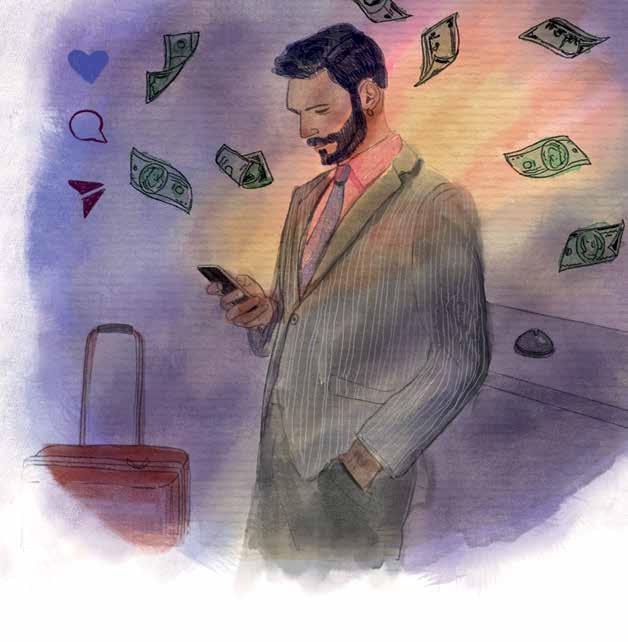
ver serviços. Por outro lado, organizações na Holanda recomendam que as profissionais façam exatamente o oposto, ou seja, não divulguem dados pessoais e mantenham o anonimato. No país europeu, as plataformas oferecem meios de pagamento mais seguros, como PayPal, e algumas mantêm sistemas internos de alertas à denúncia de experiências abusivas, além de providenciarem assistência jurídica, quando necessário.
Aantropóloga Adriana Piscitelli, do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), reconhece que o trabalho sexual oferecido por meio de plataformas representa um novo arranjo no mercado erótico, ampliando suas possibilidades. Porém a opção virtual não substitui as formas de atendimento presencial. “As mulheres que vendem serviços mediados por canais digitais não necessariamente atendem ao mesmo público da prostituição presencial”, afirma.
Em relação ao perfil de clientes que buscam atendimento presencial, a pesquisadora Natânia Lopes esclarece que, em geral, cliente rico não
frequenta bordéis baratos. Durante o doutorado em antropologia, finalizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) em 2016, ela pesquisou o mercado sexual na cidade carioca, incluindo atividades realizadas em lugares como ruas, bordéis e sites de prestação de serviços sexuais, a exemplo do Rio Sexy e do Barra Vips. “Esses espaços fazem parte de um universo hierarquizado. Em bordéis de luxo, por exemplo, os programas custam a partir de R$ 400, enquanto em regiões de prostituição de rua, como a Vila Mimosa, no Rio de Janeiro, o serviço custa entre R$ 30 e R$ 50”, informa.
A prostituição de rua no Parque da Luz, no centro de São Paulo, é o foco da pesquisa da antropóloga Ana Carolina Braga Azevedo, que faz doutorado na USP com financiamento da FAPESP. Segundo ela, fatores como analfabetismo funcional, dificuldade de produzir material audiovisual e exigência do pagamento de taxas criam barreiras para as profissionais da região oferecerem serviços por vias digitais. “Além disso, o perfil dominante nas plataformas não contempla a diversidade de corpos e idades das trabalhadoras da Luz, já que algumas delas têm entre 60 e 70 anos”, diz.
Inspirado pelo livro O negócio do michê – Prostituição viril em São Paulo (Fundação Perseu Abramo, 1987), do antropólogo e poeta argentino Néstor Perlongher (1949-1992), o também antropólogo Guilherme Rodrigues Passamani, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), vem investigando há nove anos o trabalho sexual de homens brasileiros. Seu foco de análise reside naqueles que imigram temporariamente para a Europa para se prostituir.
No momento, o antropólogo investiga o cenário da prostituição masculina em Portugal, que inclui internet, saunas, clubes noturnos e ruas. Dos 30 interlocutores brasileiros, mais de 25 deles têm curso superior. “São profissionais com alto nível cultural, que, além de sexo, oferecem serviços como a presença em jantares, festas corporativas, entre outros eventos”, conta. Um dos entrevistados, por exemplo, é pianista. Ou-
Tensões com o movimento feminista
tro, que se divide entre Bruxelas e Luxemburgo, especializou-se no atendimento a diplomatas de várias nacionalidades.
Um dos aspectos que chamaram a atenção do pesquisador foi a disseminação do chemsex, prática de relações sexuais sob o efeito de drogas, como metanfetamina, além de Viagra. “Essas substâncias potencializam a duração dos encontros, fazendo com que os programas se estendam por horas ou até dias”, relata o pesquisador. “O chemsex permite que os trabalhadores sexuais ampliem seus rendimentos de forma significativa. Uma única noite pode render até mil euros de remuneração.”
Contudo, a maioria dos entrevistados pelo pesquisador não planeja permanecer na Europa. “Esses homens costumam entrar no mercado europeu por Portugal e, depois, se transferem para países com maior poder aquisitivo, como a Bélgica”, relata. “Alguns voltam ao Brasil bem-sucedidos e investem o dinheiro em áreas como gastronomia, moda e turismo. Mas outros retornam doentes, com dependência química ou sem dinheiro.”
Trabalhadoras sexuais brasileiras contestam modelos jurídicos importados e propõem novas formas de pensar a identidade de prostituta
O ativismo de profissionais do sexo no Brasil começou nos anos 1980, por meio da ação de prostitutas como Gabriela Leite (1951-2013) e Lourdes Barreto. “Esse movimento se estruturou nacionalmente na década seguinte, fazendo oposição às narrativas que reduzem o trabalho sexual a situações de exploração ou vitimização”, comenta o antropólogo José Miguel Nieto Olivar, da Faculdade de Saúde Pública da USP.
Entre 2011 e 2013, Nieto Olivar participou de levantamentos que analisaram as posições do feminismo brasileiro sobre a prostituição. Na época dos estudos, segundo o pesquisador, militantes do movimento de prostitutas mantinham uma relação de desconfiança com o feminismo. “Esse ceticismo se fundamentava na omissão histórica de boa parte das feministas frente às pautas das trabalhadoras sexuais”, justifica.
A partir de 2013, esse cenário agravou-se, por um lado, por causa do fortalecimento de discursos
conservadores na política nacional, influenciados, entre outros, pelas demandas de segmentos religiosos. De acordo com Olivar, a guinada também foi acompanhada por uma aproximação, por parte de alguns grupos feministas brasileiros, de modelos jurídicos de regulação do trabalho sexual oriundos do Norte Global, especialmente da Suécia, que conta com um arcabouço legislativo conhecido por neoabolicionismo.
Os modelos abolicionista e neoabolicionista, embora compartilhem a premissa de que a prostituição é uma forma de violência contra as mulheres, diferenciam-se em suas abordagens práticas e jurídicas. O primeiro, formulado no século XIX e reforçado por convenções da Organização das Nações Unidas (ONU) ao longo do século XX, propõe a extinção da prostituição através da repressão de contextos de comércio sexual, incluindo cafetões e donos de bordéis, mas sem criminalizar diretamente as trabalhadoras sexuais.
Já o modelo neoabolicionista, que ganhou força a partir de reformas legislativas realizadas na Suécia nos anos 1990, criminaliza os clientes e qualquer forma de compra de serviços sexuais, sob o argumento de que toda relação sexual mediada por dinheiro é opressiva. “Essa proposta visa desencorajar a demanda pelo trabalho sexual e, assim, erradicar gradualmente a prática. Ela é criticada por movimentos de prostitutas por agravar a sua vulnerabilidade, ao empurrá-las para a clandestinidade”, pontua o antropólogo. Como resposta, prostitutas e ativistas brasileiras, a exemplo de Monique Prada, Amara Moira e Indianarae Siqueira, começaram a formular, a partir de 2010, o conceito de putafeminismo. “A ideia é defender que o feminismo e a prostituição são compatíveis”, resume Olivar. Na perspectiva do antropólogo, esse movimento tem contribuído para ampliar os horizontes do feminismo brasileiro, ao reconhecer a profissão como trabalho legítimo e dar mais visibilidade às suas demandas.

O trabalho sexual na Europa também atraiu a atenção de Piscitelli, da Unicamp. Nos anos 2000, ela realizou pesquisas na Espanha e na Itália, onde investigou a presença de brasileiras em distintos segmentos do mercado do sexo. Uma das descobertas do estudo envolveu o fato de que muitos dos aspectos discriminatórios enfrentados por essas mulheres eram comuns a outras brasileiras de origem humilde que também imigraram, mas não trabalhavam com prostituição. “No imaginário dos italianos, havia uma sexualização exacerbada das brasileiras, que resultava em preconceito e exclusão, mesmo entre aquelas que não eram prostitutas”, relata a antropóloga.
Essa percepção foi reforçada por outros estudos coordenados por Piscitelli em parceria com o Ministério da Justiça, realizados entre 2004 e 2005 no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Ali, a antropóloga e sua equipe monitoraram o retorno de mulheres brasileiras impedidas de entrar na Europa. “A quantidade de não admitidas era enorme. Muitas nem sequer estavam envolvidas com trabalho sexual, mas eram acusadas de migrar para se prostituir”, informa. Por outro lado, ainda no Brasil, a Polícia Federal também impedia mulheres negras, vistas como pobres e
sexualizadas, de embarcar para o exterior, sob o argumento de combater o tráfico de pessoas. Nessa época, Piscitelli procurou compreender as consequências da confusão conceitual entre trabalho sexual e tráfico de pessoas. “A partir da análise das condições de trabalho de brasileiras na Espanha, eu buscava entender se aquelas situações poderiam ser classificadas como tráfico”, explica. O estudo evidenciou um descompasso entre as normas jurídicas brasileiras e os marcos internacionais. De um lado, o Código Penal brasileiro definia tráfico como qualquer facilitação para o exercício da prostituição no exterior, o que englobava praticamente todas as trabalhadoras sexuais que imigravam. “É quase impossível uma pessoa viajar para se prostituir fora do país sem algum tipo de ajuda, um contato ou alguém que a receba”, diz. Em 2016, o cenário brasileiro mudou, com a promulgação da Lei 13.344, que passou a definir o que é tráfico internacional de pessoas com mais precisão e estabeleceu procedimentos para proteger as vítimas.
Por outro lado, a definição adotada pelo Protocolo de Palermo, criado em 2000, principal referência internacional no combate ao tráfico de pessoas, determina a existência de elementos como engano, violência, fraude ou coerção para definir que a situação envolve o tráfico de pessoas. “Com base nesse protocolo, quase nenhuma das mulheres com quem conversei podia ser considerada traficada. Mas, pela legislação brasileira, todas seriam”, compara a antropóloga. Segundo Piscitelli, misturar prostituição com tráfico humano de forma indiscriminada dificulta o reconhecimento do trabalho sexual como atividade legítima.
Como parte de um estudo mais amplo sobre gênero e migrações, finalizado em dezembro de 2024 com financiamento da FAPESP, Piscitelli analisou a presença de estrangeiras em casas de prostituição no Brasil. “Elas atuam, principalmente, em regiões de fronteira, em cidades como Tabatinga [AM], que faz divisa com a Colômbia e o Peru, e em municípios de fronteira no Sul do país”, informa. Em São Paulo, a pesquisa detectou um aspecto pouco falado sobre a realidade de bolivianas que vivem na cidade. “Essas mulheres são tradicionalmente associadas à exploração em oficinas de costura, mas o estudo registrou a percepção de presença de jovens bolivianas que atuam no trabalho sexual, algo raro até então fora de áreas fronteiriças”, finaliza. l
Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Universo particular N
Quintais fortalecem redes de relações na periferia de São Paulo
em Guarulhos (SP)
ascida no interior de São Paulo, dona Nilcéa casou-se aos 17 anos e levou na mudança para a capital um vaso de planta. A maranta (Calenthea zebrina), trazida há 70 anos como parte do enxoval de casamento, agora vive na terra, no quintal da casa que a moradora cultiva há mais de cinco décadas na Vila Regente Feijó, zona leste paulistana. Ao longo do tempo, o crescimento do bairro foi contornando o espaço de cerca de 500 metros quadrados (m²), que, segundo ela, já abrigou galinhas, patos, coelhos e até cavalo. Hoje, em meio a árvores frutíferas, ervas medicinais e plantas ornamentais, resistem os dois jabutis que chegaram quando seus filhos eram pequenos, há mais de 40 anos.
Dona Nilcéa é uma das pessoas ouvidas pela antropóloga Andréa Barbosa, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), durante pesquisa realizada entre 2022 e 2024. No estudo, apoiado
pela FAPESP, Barbosa percorreu cerca de 20 quintais no bairro dos Pimentas, situado em Guarulhos (SP), e também em localidades da zona leste paulistana para buscar entender qual é o papel desses espaços domésticos na vida daqueles moradores e como desafiam a urbanização acelerada das cidades. “Nos lugares que visitei, o quintal é fonte de cura, de produção de remédio caseiro, de sociabilidade, de festas, de jogos”, conta a pesquisadora. “Não vi um quintal igual a outro e eles costumam ser a cara do dono. Para os entrevistados, o quintal precisa ser bonito, mas é um bonito em movimento, com bastante diversidade.”
A maioria dos entrevistados é migrante e oriunda do meio rural. “Ao virem para São Paulo, eles trazem sementes, mudas e técnicas de cultivo”, comenta Barbosa. “Por meio do cultivo de plantas e da criação de pequenos animais, os moradores mantêm a conexão com a experiência da vida no campo. Isso a partir da própria experiência ou da vivência de seus pais e parentes com quem tiveram contato.”
De acordo com a antropóloga, o papel dos quintais nas localidades visitadas não está circunscrito ao ambiente doméstico. “Por meio desses espaços, os moradores criam ou fortalecem rede de relações na comunidade”, prossegue. “Itens como frutos, folhas, mudas e sementes circulam na vizinhança entre amigos e parentes, sendo, inclusive, muito aguardados por essas pessoas.”
É o que acontece com Eliane, nascida no interior do Rio de Janeiro, e o marido, o mineiro Toninho, que moram no bairro dos Pimentas desde o início do loteamento, na década de 1990. “Todo verão eles distribuem uvas para a vizinhança”, conta Barbosa. “A área de 100 m² onde hoje é o quintal deles está emparedada pelos muros dos vizinhos de trás e dos lados. Ali, cultivam parreiras e outros 20 pés de frutíferas, além da horta com plantas comestíveis e medicinais, a maioria em vasos”, conta a pesquisadora.
A transformação do lugar em quintal, na década de 2010, demandou muito trabalho. “Era um espaço entre os lotes por
Quintal da casa de Eliane e Toninho, no bairro dos Pimentas,
onde passava o córrego, que funcionava como esgoto a céu aberto”, relata Barbosa. Com a ajuda dos filhos e de alguns vizinhos, o casal canalizou o córrego e com oito caminhões de terra nivelou o solo. “O conflito entre vizinhos, embora ainda esteja presente na vida cotidiana, melhorou muito depois que o quintal foi construído. Os outros moradores deixaram de jogar lixo atrás da casa de Eliane e Toninho”, diz a antropóloga.
Algumas espécies, como a espada-de-são-jorge (Dracaena trifasciata), o capim-limão (Cymbopogon citratus), o caruru (Amaranthus spp.), a babosa (Aloe vera) e o guaco (Mikania glomerata), são recorrentes nos quintais visitados pela pesquisadora. “Nesses espaços circula um conhecimento imenso de biodiversidade e de práticas de cuidado com a saúde, que muitas vezes não é valorizado pelas gerações mais novas”, diz Barbosa.
O gestor ambiental Guilherme Reis Ranieri teve percepção parecida durante pesquisa de mestrado defendida em 2019, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP). Na ocasião, ele percorreu cidades como Areias e São José do Barreiro, no Vale do Paraíba (SP), para investigar de que maneira os quintais urbanos mantinham – ou começavam a perder – os saberes relacionados ao cultivo doméstico.
O pesquisador mapeou cerca de 200 espécies, algumas ignoradas pelas grandes redes de supermercados, hortifrútis e até feiras de rua. É o caso da taioba (Xanthosoma sagittifolium), de folhas largas e ricas em ferro e cálcio, da ora-pro-no -
bis (Pereskia aculeata), uma trepadeira de alto teor proteico, e da major-gomes (Talinum paniculatum), uma hortaliça folhosa conhecida por suas propriedades diuréticas. “Muitos idosos diziam: ‘Esse conhecimento de identificar, cultivar e utilizar essas plantas vai morrer comigo’. As gerações mais jovens associam o cultivo à pobreza ou ao atraso”, relata o pesquisador, que no momento finaliza pesquisa de doutorado na Faculdade de Medicina da USP. O estudo analisa a introdução de algumas dessas plantas alimentícias na merenda de escolas públicas de Jundiaí (SP).
De acordo com o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 171,3 milhões de pessoas no país, ou 84,8% da população, moram em casas. “O quintal é um elemento recorrente nos lares brasileiros e reflete muito da nossa diversidade cultural, ao reunir, em um mesmo ambiente, as quintas portuguesas, as plantas medicinais dos povos indígenas, as rodas de samba herdadas das tradições africanas, entre outras influências”, enumera a arquiteta Sonia Wagner de Ferrer, que defendeu em 2023 tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense (UFF) sobre os quintais urbanos em Jacarepaguá, região da zona oeste carioca. “Em casas mais humildes, ele exerce historicamente o papel de subsistência, não apenas por meio de hortas e criação de animais, mas também pela instalação de

um pequeno negócio ou pelo aluguel de ‘puxadinhos’, por exemplo.”
Em Jacarepaguá, as casas ainda são maioria, apesar do crescente avanço no número de prédios. Na ausência do quintal, muitos moradores passaram a adaptar outros lugares da moradia para assumir as funções desse espaço. É o caso de quem vive em apartamento. “Eles criam o que chamo na pesquisa de ‘quintais imaginários’ dentro das residências, como varandas que se tornam jardins e hortas verticais na cozinha”, descreve Ferrer.
Durante o levantamento de campo, a arquiteta se deparou com vários tipos de quintal: do quintal-luxo, com piscina, área gourmet e jardins paisagísticos, ao quintal-laje, das casas de favela, com piscina de plástico ou caixa-d’água, onde se empinam pipas e as mulheres fazem sessões de bronzeamento. “Ao contrário de cômodos como cozinha e banheiro, o quintal não tem função preestabelecida”, diz a pesquisadora. “Ele conta com total liberdade para os mais diversos usos, que são determinados pelas necessidades e vontades de quem dele se utiliza.”
Em sua pesquisa, Barbosa, da Unifesp, investigou também as hortas comunitárias criadas por coletivos conhecidos como “okupas” (ocupantes) em Barcelona, na Espanha. “É um movimento que tem forte viés político e desde a década de 1980 luta contra a crise de moradia e a gentrificação que expulsa os moradores tradicionais de seus bairros, transformando a cidade num objeto de exploração do mercado imobiliário e do turismo internacional”, diz a antropóloga.
Ione e Manoel, que vivem no bairro dos Pimentas e foram entrevistados pela antropóloga Andréa Barbosa
Exemplo disso é o grupo espanhol Desenruna, que atua em Vallcarca, região disputada pelo mercado imobiliário pela proximidade a um dos maiores pontos turísticos do país, o Parque Güell, projetado por Antoni Gaudí (1852-1926). Ali, os ativistas ocupam terrenos privados de construtoras que demoliram as casas da população local, num processo de gentrificação. “O movimento defende que essas áreas façam parte do direito à cidade”, explica a pesquisadora. “Seu objetivo é garantir a permanência da vizinhança, e a horta é o ponto central dessa articulação, pois produzir o próprio alimento fortalece os laços comunitários.” l
O projeto e o artigo científico consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
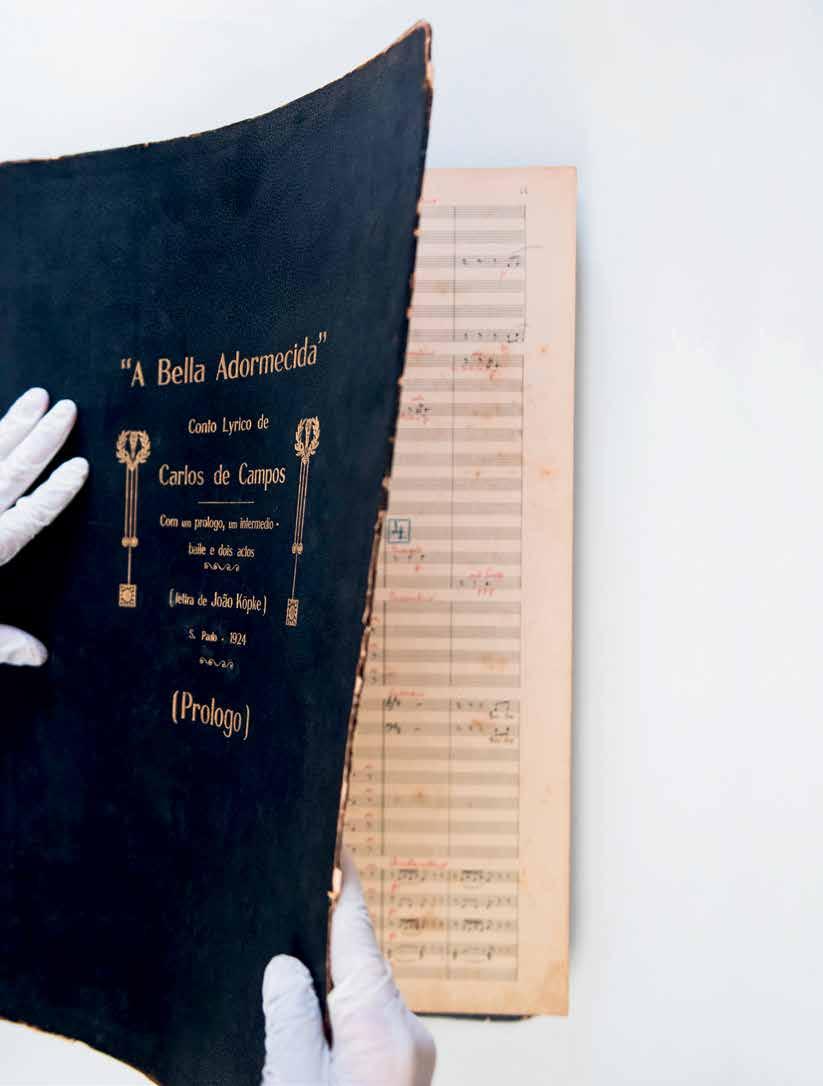
No compasso do tempo
Pesquisas revelam raridades e ampliam o acesso a coleções musicais pouco conhecidas
EDUARDO MAGOSSI
ORio de Janeiro foi uma das primeiras cidades fora da Europa a registrar a execução do Requiem, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Em 1819, a cidade sediou uma apresentação da missa fúnebre escrita em 1791 pelo compositor austríaco, segundo estudo do musicólogo Ayres de Andrade Júnior (1903-1974) publicado nos anos 1960. Entretanto, a obra circulou também por São Paulo na primeira metade do século XIX, como indica pesquisa recente coordenada pelo musicólogo Paulo Castagna, do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de São Paulo.
Durante os últimos três anos, dois deles com financiamento da FAPESP, o pesquisador e sua equipe catalogaram e organizaram todo o acervo musicográfico (ou seja, constituído por partituras) da antiga Biblioteca do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. O espaço funcionou entre 1906 e 2006 no centro da capital, onde hoje é a praça das Artes.
Entre as descobertas feitas na pesquisa, estava a cópia manuscrita da partitura do Requiem Embora sem data, o documento foi copiado pelo mestre de capela da Catedral de São Paulo, Antônio José de Almeida (1816-1876), que assumiu suas funções na década de 1840. “Estima-se que a cópia tenha sido feita em torno do ano de 1850”, diz Castagna. “Trata-se de um trabalho caro e que consumia muito tempo naquela época. Fazer a cópia e não executá-la seria um desperdício. Portanto, é muito provável que ela tenha sido cantada.”
Ao todo, Castagna e a equipe catalogaram cerca de 17 mil itens do acervo musicográfico do antigo conservatório, hoje pertencente à Fundação Theatro Municipal de São Paulo. Trata-se do terceiro
maior acervo do gênero no Brasil, atrás apenas daqueles depositados na Biblioteca Nacional (RJ) e na biblioteca Alberto Nepomuceno da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “É um acervo importante pela sua diversidade cronológica e estilística, que reúne peças compostas no Brasil e no exterior entre os séculos XVIII e XX, indo de ópera e música sacra a composições para banda e música popular”, enumera o pesquisador. De acordo com Castagna, embora a coleção tenha sido constituída por material comprado pelo próprio conservatório, a instituição recebeu também muitas doações. É o caso dos acervos pessoais de quatro compositores, que foram professores da instituição: João Pedro Gomes Cardim (1832-1918), Carlos de Campos (1866-1927), João Gomes de Araújo (1846-1943) e João Gomes Junior (1868-1963). “São autores pouco conhecidos, sem edições e gravações recentes”, comenta Castagna. “Cardim, por exemplo, compôs o Hino da Abolição em 1881 para ser executado e arrecadar fundos para campanhas do abolicionista Luís Gama [1830-1882].”
O pesquisador e sua equipe encontraram pelo menos 275 obras inéditas dos quatro compositores. Em março, nove peças escritas por Gomes de Araújo para piano solo ou canto e piano foram apresentadas em evento no auditório do Instituto de Artes da Unesp. “A ideia é disponibilizar esse material para que ele seja pesquisado, interpretado e gravado.”
A pesquisa localizou ainda duas obras do professor de música Presciliano Silva (1847-1897). São elas, Missa a 4 vozes e pequena orquestra, op. 17 Ganganelli, peça para rabeca e piano. “Ele foi um dos primeiros professores negros do sistema de ensino paulista e começou a trabalhar em 1891, na Escola Normal, atual Escola Estadual Caetano de Campos, no centro da cidade”, comenta Cas
Detalhe da cópia manuscrita da partitura do Requiem (à dir. Na outra página, partitura de obra composta por Carlos de Campos, que foi professor do Conservatório e Musical de São Paulo
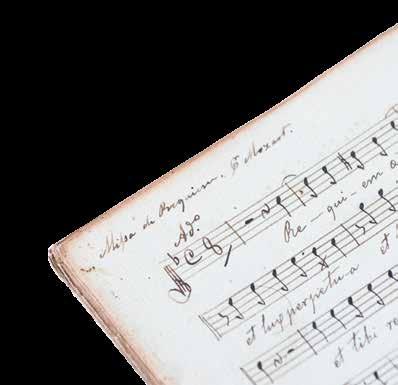
Abaixo, o historiador
Rafael Araújo, da Fundação Theatro Municipal de São Paulo, manuseia partituras catalogadas pela equipe do musicólogo
Paulo Castagna, da Unesp
tagna. “Há registros nos jornais da época de que essas duas composições foram executadas com muitos aplausos em várias cidades brasileiras.”
Outro pesquisador que busca difundir obras depositadas em acervos é o musicólogo Tadeu Moraes Taffarello, do Centro de Documentação de Música Contemporânea da Universidade Estadual de Campinas (CDMC-Unicamp). Desde 2021 ele vem organizando e editando partituras raras, depositadas no CDMC, de compositores como José Antonio Rezende de Almeida Prado (1943-2010) e Dinorá de Carvalho (1895-1980). Com apoio da FAPESP, Taffarello revisa, digitaliza e publica as partituras em e-books com download gratuito. O material traz também informações sobre a obra e o autor, bem como o processo de edição.
Criado em 1989 pela Unicamp e pelo Centre de Documentation de la Musique Contemporaine, da França, o CDMC brasileiro na época recebeu da matriz francesa partituras e gravações de músicas do século XX de várias partes do mundo. “Nesse intercâmbio vieram muitas partituras e música gravada em fitas que estamos terminando de digitalizar”, conta Taffarello. A parceria acabou 10 anos depois.
Hoje, o CDMC dispõe também de um acervo de música erudita brasileira dos séculos XX e XXI. “Dentre outros, contamos com acervos pessoais que foram doados, como a coleção de Almeida Prado, constituídos de obras do compositor”, explica. Aluno do compositor e regente Camargo Guarnieri (1907-1993) e da pianista Dinorá de Carvalho, Prado foi professor da Unicamp entre 1975 e 2000 e deixou mais de 570 composições.
Já Carvalho, entre outras realizações, fundou a Orquestra Feminina São Paulo, cuja primeira apresentação pública ocorreu em 1940. Seu

material também chegou ao CDMC por meio de doação. Taffarello conta que na ocasião do centenário de nascimento da pianista, em 1995, amigos e colegas músicos decidiram homenageá-la. Solicitaram, então, a quem tivesse partituras de composições da musicista que as doasse à Unicamp, para se criar ali uma coleção da autora.
Até agora, Taffarello publicou 12 e-books. O próximo a ser lançado, ainda neste semestre, será a partitura de Manhã radiosa, de Carvalho. Em artigo preprint (ainda sem revisão por pares) de 2025, Taffarello, o pianista e compositor Vitor Alves de Mello Lopes e a bibliotecária do CDMC Raquel de Souza observam que a peça para piano solo Lá vae a barquinha carregada de?, publicada em 1939 pela Editora Casa Wagner, saiu dois anos depois, em versão simplificada e com o mesmo título, por outra editora, a Ricordi Brasileira. Mesmo após essas duas publicações, a autora continuou trabalhando na peça e criou outras versões até chegar à Manhã radiosa, que estreou em 1946. “A prática composicional de Dinorá é atravessada por uma construção que, muitas vezes, perpassa anos de criação, com versões diferentes da mesma obra”, diz Taffarello. Nem sempre é fácil editar as partituras. “Como no caso de Dinorá, muitas vezes existem várias versões da uma peça”, reforça Taffarello. O CDMC tem parceria com a Orquestra Sinfônica da Unicamp, regida por Cinthia Alireti, que costuma executar as obras em suas apresentações. Segundo o pesquisador, isso ajuda a aprimorar o resultado final da edição.
Outro desafio é encontrar as partituras completas. Foi o que aconteceu durante a produção do e-book, hoje em estágio final de edição, sobre o espetáculo teatral Noite de São Paulo (1936), do dramaturgo Alfredo Mesquita (1907-1986) e trilha sonora de Carvalho. Faltava ao conjunto a partitura orquestral da canção Bamboleia, que se encontrava no fundo Mário de Andrade do Insti-
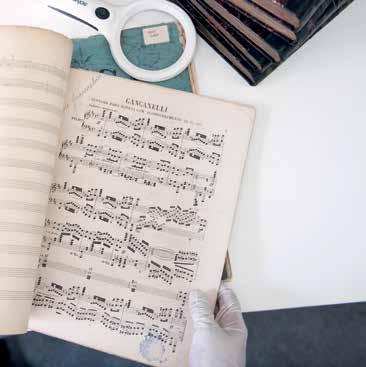
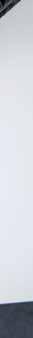

tuto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP). A coleção é formada por livros, partituras, manuscritos, discos e outros documentos do escritor, crítico e musicólogo paulista. “Dinorá foi contemporânea de Mário de Andrade [1893-1945], a quem dedicou várias de suas composições. É provável que ela própria tenha presenteado o amigo com a partitura”, conta a musicóloga Flávia Toni, do IEB-USP, especialista na obra andradina.
Um dos trabalhos de Toni foi organizar o acervo discográfico de Andrade em 1985, por meio de projeto coordenado pela pesquisadora Telê Ancona Lopez, da USP, com apoio da FAPESP. Professor do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, ele costumava anotar suas impressões de audição em capas de cartolina lisas que substituíam as capas originais de fábrica que embalavam os discos. Os registros foram contextualizados por cartas e artigos e geraram o livro A música popular brasileira na vitrola de Mário de Andrade, de 2004, que acaba de ser reeditado pelas Edições Sesc em versão ampliada e revista.
OColégio do Caraça, que funcionou entre 1820 e 1842, em Minas Gerais, e o Conservatório Imperial de Música, fundado em 1848, no Rio de Janeiro, figuram entre os primeiros repositórios de acervos musicais no Brasil.
Segundo Castagna, atualmente os estados de São Paulo e Minas Gerais abrigam o maior número dessas coleções – respectivamente, 63 e 57 delas, com predomínio de música sacra e de bandas.
O musicólogo Fernando Lacerda Duarte, da Universidade Federal do Pará (UFPA), já visitou 225 cidades por todo o país em busca desses acervos, sobretudo de música sacra. “Em geral, eles precisam de tratamento. Já encontrei uma coleção que continha, entre outros itens, partituras no forro da Catedral de Belém, por exemplo. Por

vezes, mudanças de gestão em uma determinada paróquia implicam o descarte do acervo, inclusive o musical”, lamenta.
Graças às suas pesquisas de campo, Lacerda comprovou, por exemplo, que o uso da língua local em cantos católicos já ocorria no Brasil desde o século XIX. Oficialmente, o Vaticano permitia apenas missas e hinos cantados em latim. O uso da língua local só foi oficialmente permitido a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965). “No Brasil, a língua local, ou vernácula, era utilizada de maneira contínua pelo menos desde a década de 1860”, afirma o pesquisador. “Como a Igreja proibia o canto em vernáculo, esses hinos apareciam como melodia popular ou tradicional, uma forma mais eficiente para divulgar a mensagem do evangelho.”
As partituras não são a única fonte de pesquisa musicológica. No acervo do musicólogo teuto-uruguaio Curt Lange (1903-1997), o destaque são as cartas, como explica a musicóloga Edite Rocha. Ela é coordenadora do espaço, que existe desde 1995 e pertence à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ali, ao lado de itens como discos e fotografias, estão mais de 100 mil correspondências trocadas por Lange com pesquisadores, intelectuais, políticos e instituições entre as décadas de 1920 e 1990.
A partir de sua estada entre 1944 e 1945 em Minas Gerais, o musicólogo realizou um vasto levantamento de partituras e manuscritos que se tornaram uma das principais fontes de música brasileira no mundo. “Lange organizou todas as cartas que recebia e também manteve uma cópia das que enviava”, explica Rocha, que é professora da Escola de Música da UFMG. “Sua correspondência, com muitas histórias de bastidores, faz dele uma figura incontornável para pesquisadores que se interessam pela música e musicologia do século XX do Brasil e da América Latina.” l
Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados
Ao lado, Dinorá de Carvalho nos anos 1920, e, acima, o musicólogo Curt Lange (o quarto sentado, a partir da esq.) em 1934, em encontro no Rio de Janeiro, que teve convidados como Mário de Andrade (de branco)
Por uma ciência brasileira mais internacional
Ex-diretor do Impa, matemático Jacob Palis transformou o instituto em um centro de excelência mundial
RENATA FONTANETTO
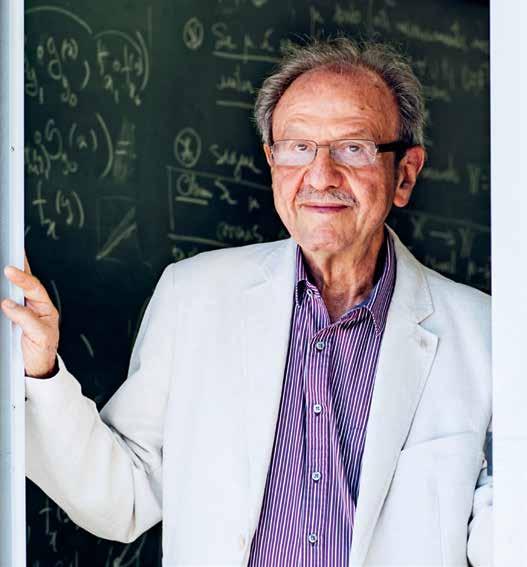
Para o matemático Jacob Palis, os jovens cientistas de países em desenvolvimento tinham que ter oportunidade. Era necessário treiná-los e fazê-los estudar para, então, formar as bases sólidas de futuras gerações preparadas para a liderança em pesquisa, formulação de políticas públicas e promoção da ciência. Ele mesmo foi um jovem que recebeu recursos para estudar fora, voltou ao Brasil e expandiu as fronteiras da matemática brasileira. Sua atuação teve importância internacional e deixou um legado. Palis, que estava internado desde março, morreu no Rio de Janeiro no dia 7 de maio, aos 85 anos, de causa não divulgada. Mineiro de Uberaba, filho de pai libanês e mãe síria, Palis foi para o Rio de Janeiro aos 16 anos estudar engenharia influenciado por um irmão engenheiro da então Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na qual ingressou em primeiro lugar no vestibular. Formou-se em 1962
e ganhou o prêmio de melhor aluno da universidade na época. “Pensei que quando eu terminasse engenharia iria estudar mais matemática e física e depois voltaria à engenharia, mas com uma formação básica muito mais forte. Esse ‘retorno’ nunca aconteceu”, contou em entrevista a Pesquisa FAPESP em 2009. Naquele início dos anos 1960, já frequentava os seminários que ocorriam aos sábados no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), onde faria sua carreira.
O interesse pela matemática o levou, entre 1964 e 1968, à Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, onde cursou mestrado e doutorado sob a orientação do matemático norte-americano Stephen Smale, que ganhou a Medalha Fields em 1966, o principal prêmio da matemática, por seu trabalho com espaços topológicos em altas dimensões, subárea da geometria que investiga estruturas complexas que vão além da tridimensionalidade. “Jacob era um grande líder em matemática. Nos tornamos bons
Mineiro nascido em 1940, Palis foi presidente da ABC, IMU e TWAS
amigos e sentirei muita falta dele”, afirmou Smale, de 95 anos, em depoimento por e-mail a Pesquisa FAPESP. Palis retornou ao Brasil em 1968, com uma tese de doutorado sobre sistemas dinâmicos, área em que se destacou. Sistemas dinâmicos são aqueles que evoluem com o tempo e apresentam uma regra que descreve a transição de um momento ao próximo. Embora possa ser muito simples, essa regra, a longo prazo, leva à emergência de comportamentos muito complicados, alguns deles chamados de caóticos. “À medida que um sistema dinâmico evolui e ocorrem pequenas imprecisões em suas variáveis, as alterações no sistema vão ficando cada vez maiores”, explica Marcelo Viana, ex-aluno de Palis e atual diretor do Impa.
O estudo desse comportamento caótico, que pode surgir em sistemas dinâmicos com o passar do tempo, levou à criação de métodos hoje empregados para explicar fenômenos complexos de muitas áreas, como na química (reações e processos industriais) e na física (turbulência, transição de fase e fenômenos ópticos).
As contribuições de Palis fluíram em várias direções. Uma delas foi a compreensão do papel matemático dos fractais, figuras geométricas com padrões que se repetem infinitamente em porções menores e maiores. Ele também foi um especialista na teoria das bifurcações, área dos sistemas dinâmicos que estuda turbulências ou variáveis que alteram o comportamento de um determinado sistema que antes tinha um fluxo ordenado. Por exemplo, um líquido que inicialmente escorre suavemente por um tubo e que passa a ter movimento turbulento quando se aumenta a temperatura.
Não foram poucos os reconhecimentos ao longo da carreira de Palis. Em seu currículo Lattes constam pelo menos duas dezenas de medalhas e prêmios, nacionais e internacionais, como o italiano Prêmio Balzan, de 2010, tendo sido o primeiro brasileiro a conquistá-lo; a Medalha Henrique Morize, de 2018, entregue pela Academia Brasileira de Ciências (ABC); e o Prêmio Spirit de Abdus Salam, de 2019, em reconhecimento ao trabalho realizado em prol da ciência nos países em desenvolvimento.
A o mesmo tempo que pesquisava, Palis estimulava uma política para internacionalizar a ciência brasileira. Por isso,
ocupou cargos de liderança em diferentes órgãos. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática (1979-1981) e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC, 1993-1996). Dirigiu o Impa (1993-2003), presidiu a ABC (2007-2016), a União Matemática Internacional (IMU, 1999-2002) e a Academia Mundial de Ciências (TWAS, 2007-2012).
“Ele deixa um legado que transcende o de ser um grande cientista, pois foi um excelente gestor”, relembra a biomédica Helena Nader, atual presidente da ABC. Ambos compartilhavam pautas e compromissos quando ele esteve à frente da ABC. Ela, naquela época, ocupava a diretoria da SBPC, primeiro como vice-presidente e, depois, como presidente. “Ele tinha o Brasil como o lugar certo para fazer ciência e, por isso, batalhou também pela educação”, complementa. De acordo com Nader e Viana, o Impa não seria o que é hoje sem a atuação de Palis, que o transformou num centro de excelência capaz de atrair talentos do mundo todo. Membro da IMU desde 1954, o Brasil passou a integrar em 2018 o grupo de elite dessa associação internacional de sociedades matemáticas. As bases para isso foram construídas ao longo de décadas. Outros matemáticos de peso do Impa também somaram esforços: Maurício Peixoto (1921-2019), Elon Lages Lima (1929-2017) e Manfredo do Carmo (1928-2018). “O Jacob tinha uma visão estratégica e extremamente ambiciosa sobre o que o Impa e a matemática brasileira poderiam almejar”, destaca Viana.
Na TWAS, Palis articulou ganhos para a pós-graduação. A quantidade de bolsas de pesquisa concedidas a estudantes durante seus dois mandatos aumentou em 89%, e os prêmios para pós-graduandos 102%. “Sua paixão por aprimorar os programas de pós-graduação entre os países do Sul Global era notável. Sob sua liderança, os programas de bolsas de estudo prosperaram”, reforça o sudanês e ex-presidente da TWAS Mohamed Hassan, em texto em homenagem a Palis divulgado pela entidade após a notícia de sua morte.
Dentro dessa perspectiva, Palis defendia que mais mulheres deveriam receber estímulos para fazer ciência. “A vida pode ser mais complexa para as mulheres, pois elas geralmente cuidam mais dos filhos. Mas de forma alguma têm menos talento”, afirmou numa entrevista divulgada em 2012 no site da TWAS. A matemática venezuelana Cristina Lizana, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), foi uma das beneficiadas por bolsa de estudo para realizar doutorado durante a gestão dele: “Eu sou uma neta acadêmica, porque meu orientador, Enrique Pujals, foi um de seus alunos. Palis explicava ideias complexas de forma simples e era muito acessível aos estudantes”.
Era especializado na área de sistemas dinâmicos, que evoluem com o tempo e seguem uma regra de transição
No contexto latino-americano, Palis foi um dos responsáveis pela criação da União Matemática da América Latina e do Caribe (Umalca), em 1995. As articulações políticas para conquistar esses espaços eram diversas. “Ele sabia dialogar com todos os governos, ministérios e agências de fomento”, avalia o matemático Paolo Piccione, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP). O pesquisador relembra algumas das pautas mais caras a Palis durante sua presidência na ABC: a defesa do investimento de 2% do PIB em ciência, tecnologia e inovação, para fazer o Brasil competir com os países mais ricos, e mais recursos para a educação.
Em 2010, o matemático se aposentou do Impa, mas continuou trabalhando na condição de pesquisador emérito. Ele orientou 42 alunos, que produziram 141 netos acadêmicos. Palis deixa a esposa, Suely Lima, os filhos Rebeca, Carlos Emanuel e Laura, bem como cinco netos. l
Estrategista da ciência
Especialista em energia nuclear, o químico e físico José Israel Vargas foi o ministro da Ciência e Tecnologia que passou mais tempo no cargo
FABRÍCIO MARQUES
Oquímico e físico mineiro José Israel Vargas, que morreu aos 97 anos em Belo Horizonte no dia 15 de maio, costumava dizer em entrevistas que se considerava um “pé frio” por só ser convidado a assumir cargos públicos em momentos de crise. Foi assim quando trocou a carreira acadêmica pela executiva, em 1963, ao assumir uma diretoria da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) no governo João Goulart. Acabou demitido após o golpe militar de 1964 e, embora tenha conseguido retornar à docência na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), amargou uma redução de salário que o obrigou a morar provisoriamente na casa da mãe aos 36 anos de idade. Também foi em um momento de confusão institucional que Vargas foi convocado em 1992 a recriar e a comandar o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, hoje MCTI), a convite do mineiro Itamar Franco (1930-2011), alçado à Presidência da República após o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello. Se as duas experiências ocorreram em momentos de crise, o balanço de sua passagem pelo ministério desautoriza a pecha de pé frio. A pasta, que completou 40 anos de existência, já teve 25 diferentes titulares – e 15 deles ficaram um ano ou menos no cargo (ver Pesquisa FAPESP nº 350). Vargas, o mais longevo de todos, foi responsável por um interregno de estabilidade e consolidação do ministé-
rio. Permaneceu no cargo até 1998, em todo o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, o sucessor de Itamar. “Ele teve um papel importante na consolidação da ciência, tecnologia e inovação no período. Além de ser um cientista de alto nível, Vargas pensava estrategicamente a ciência brasileira”, recorda-se o ecólogo José Galizia Tundisi, que presidiu entre 1995 e 1999 o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), principal agência de fomento à ciência do ministério. Segundo Tundisi, Vargas considerava o sistema de fomento à pesquisa excessivamente voltado ao atendimento de demandas individuais dos cientistas e pouco preocupado com o desenvolvimento de projetos estratégicos para o país – por isso, determinou que 60% do orçamento do CNPq fosse reservado para grandes projetos. Uma das iniciativas que coordenou a partir de 1995 foi o Programa de Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex), formado por redes de pesquisadores de alto nível. Também em sua gestão houve a criação da Agência Espacial Brasileira (AEB), e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) construiu e lançou os dois primeiros satélites CBERS, de sensoriamento terrestre, em parceria com a China. “Não fui lá para inventar a roda e parti do princípio de que meus antecessores não eram imbecis nem malévolos, mas pessoas que deram um balanço na oportunidade de realizar ou não
certos projetos e iniciar outros tantos. Então ocupei meu tempo terminando obras que tinham sido lançadas”, lembrou Vargas, em entrevista concedida a Pesquisa FAPESP em 2011.
Em seu período, houve o impulso final à construção do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, em Campinas, a que foram destinados recursos oriundos de privatizações. O embrião do que se tornariam mais tarde os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia, até hoje o principal mecanismo de financiamento da pasta, também surgiu em sua gestão, com a criação de um fundo de royalties provenientes da renda das concessões petrolíferas destinado à ciência e tecnologia.
“José Israel Vargas também teve uma atuação importante na diplomacia da ciência, que é o uso da ciência e da tecnologia como ferramentas da política externa”, afirma o ex-chanceler Celso Lafer, que foi seu colega de ministério no governo Fernando Henrique, referindo-se a seu trabalho como presidente da Academia Mundial de Ciências (TWAS), entre 1996 e 2000; no debate e nas negociações em torno do Protocolo de Kyoto, para redução de emissões de gases estufa, assinado em 1997; e como embaixador do Brasil na Unesco, em Paris, entre 2000 e 2003, quando participou de iniciativas como a Comissão para a Restauração da Biblioteca de Alexandria. “Ele foi um grande quadro do país”, completa Lafer.
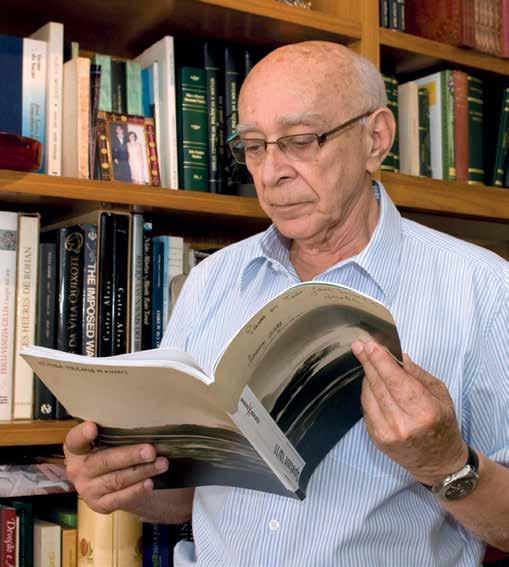
O ex-ministro nasceu em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, onde sua família se dedicava ao comércio – o avô fora caixeiro-viajante. Passou a adolescência em Belo Horizonte e em 1946 ingressou no curso de química da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais (Fafi-MG), precursora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Transferiu-se para a Universidade de São Paulo (USP) por dois anos para estudar física, mas retornou à capital mineira e concluiu a licenciatura em química em 1952. Foi lecionar em uma escola de ensino médio e, ainda em 1952, foi recrutado para um curso de aperfeiçoamento de professores de física oferecido pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos (SP). Em 1956, fez um curso de especialização em radioquímica e química nuclear na Universidade de Concepción, no Chile, que tinha a participação de professores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Lá conheceu o químico inglês Alfred Gavin
Vargas foi embaixador do Brasil na Unesco e presidiu a Academia Mundial de Ciências
Maddock (1917-2009), que havia trabalhado para o projeto Manhattan, responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica nos Estados Unidos. Maddock convidou Vargas para fazer doutorado em Cambridge e se tornou seu orientador. Em 1960, de volta ao Brasil, chefiou a Divisão de Física Nuclear do Instituto de Pesquisas Radioativas da Escola de
O ex-ministro em seu apartamento em Belo Horizonte, em 2011
Engenharia da UFMG e em 1963 se tornou um dos quatro diretores da CNEN. Na época, foi representante brasileiro em comissões da Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea), em Viena, na Áustria. Todo o grupo foi afastado da CNEN após o golpe de 1964. Como a UFMG rejeitou seu pedido para voltar a ser professor em tempo integral, impondo-lhe uma perda salarial importante, acabou aceitando um convite de um colega da Aiea para trabalhar no Centro de Estudos Nucleares de Grenoble, na França. Ficou lá por seis anos e meio e orientou estudantes de doutorado em temas ligados a técnicas nucleares aplicadas a problemas da química.
Em 1971, o então presidente da Financiadora de Estudos e Projetos José Pelúcio Ferreira (1928-2002) o contratou como consultor do órgão e em 1974 ele foi trabalhar com o governador de Minas Gerais, Aureliano Chaves (1929-2003), como presidente da Fundação João Pinheiro. Também foi o responsável pela criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado, que dirigiu. Na presidência do general João Figueiredo (1918-1999), tornou-se secretário de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio. Em 1981, assumiu a vice-presidência da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e, entre 1991 e 1993, foi presidente da entidade. Aposentado da UFMG, manteve o vínculo com a universidade. O químico Luiz Cláudio Almeida Barbosa, professor da UFMG, amigo pessoal de Vargas e coautor de um artigo recente sobre sua trajetória na revista Química Nova, contou ao site da UFMG que o ex-ministro até pouco tempo atrás aconselhava alunos de iniciação científica, apesar dos problemas de visão – chegou a contratar uma pessoa que lesse para ele. “Era incansável”, disse. l
Equipamentos a bordo de um avião Caravelle usados para mapeamento da superfície do território brasileiro, especialmente a Amazônia

memória
O Brasil no radar
“OHá 50 anos, começava o maior mapeamento de relevo, geologia, solos, clima e vegetação do território nacional
SUZEL TUNES
mais ousado projeto desenvolvido pelo homem depois do Apollo”, o conjunto de missões espaciais coordenadas pela Nasa, a agência espacial norte-americana, entre 1961 e 1972. Era assim que, em 23 de outubro de 1976, a revista Manchete descrevia, com o ufanismo da época, o projeto RadamBrasil. Divulgavam-se, então, os primeiros resultados do mapeamento da região amazônica. Implementado em 1975, o RadamBrasil era uma extensão do projeto Radam, sigla de Radar na Amazônia, criado cinco anos antes, e dava início a uma missão ainda mais audaciosa: mapear todo o território brasileiro e seus recursos naturais.
Ao explorar extensas áreas desconhecidas do país, os pesquisadores do projeto tinham motivos para se sentirem como os desbravadores do programa Apollo. “Estávamos em um vazio demográfico com a natureza intocada”, lembra o geólogo Pedro Edson Leal Bezerra, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) no Pará. Ele trabalhou no RadamBrasil de 1977 até sua conclusão, em 1986, quando o IBGE incorporou a equipe e o acervo de dados.
Bezerra participava da interpretação das imagens de radar. Um radar de visada lateral, da empresa norte-americana Goodyear, com resolução espacial de 16 metros, havia sido instalado em um avião Caravelle, um jato para curtas e médias distâncias, que voava a uma altitude de 12 quilômetros (km), a 700 km por hora. Na barriga do avião estava a antena para a emissão e recepção das ondas de micro-ondas do radar. “Fazíamos as interpretações visuais e escolhíamos os pontos de verificação de campo. O Departamento de Logística fazia um sobrevoo e escolhia um ponto onde era instalado o acampamento em que poderíamos ficar por até três meses”, ele relata.
Em campo, coletavam amostras de rochas, minérios e solos. Havia também quem olhava para a vegetação. “Fazíamos medições de árvores e coleta de amostras de plantas e depois um botânico as identificava e classificava”, resume a enge -
nheira florestal Joana D’Arc Ferreira, do IBGE do Pará, que trabalhou no Radam de 1974 a 1986. “O IBGE tinha um herbário na reserva ecológica do Roncador, no Distrito Federal, desde 1977, e depois absorveu o do RadamBrasil.” Desde 1980 em Salvador, essa coleção reúne cerca de 52 mil exemplares de plantas, principalmente do Norte e Nordeste.
O RadamBrasil reuniu cerca de 800 integrantes. “Éramos praticamente caçados nos programas de pós-graduação das universidades, principalmente as federais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco, além da Universidade de São Paulo”, conta Jurandyr Ross, geógrafo aposentado da USP que trabalhou no projeto de 1977 até 1983 no centro-oeste e sul da Amazônia.
Essa enorme mobilização levou a muitas descobertas – como a de uma reserva de nióbio estimada em quase 3 bilhões de toneladas, uma das maiores do mundo, em 1976, no morro dos Seis Lagos, no Amazonas – e indicou áreas suscetíveis à erosão ou as mais favoráveis à construção de hidrelétricas. “Não conhecíamos perfeitamente nem o traçado do rio Amazonas”, afirma o geólogo Mário Ivan Cardoso de Lima, que ingressou no Radam em 1971 e seguiu no projeto até a transferência para o IBGE, onde ainda trabalharia por mais 34 anos, até se aposentar. Lima reuniu suas memórias no livro Projeto Radam: Uma saga amazônica (Belém, Paka-Tatu, 2008).
PARCERIA COM A NASA
A relação do Radam com a Nasa vai além da simples comparação ufanista. Segundo Lima, a semente do projeto está em
Joaquim Barbosa, da Marinha, examina um mapa do RadamBrasil em meados dos anos 1970, para demarcar com precisão os limites do país
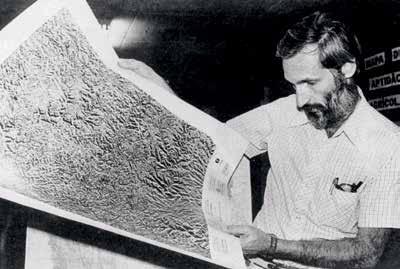
uma parceria feita em 1965 entre a agência norte-americana e a Comissão Nacional de Atividades Espaciais (CNAE), precursora do atual Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). “A Nasa propôs uma parceria no campo do sensoriamento remoto, que seria usado no estudo da Lua”, ele conta. Surgia, assim, o projeto Sere, sigla de Sensoriamento Remoto, tendo como alvo inicial o Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, utilizando dados de sensores remotos, incluindo o radar. Bem-sucedido, o trabalho embasou a decisão de expandir o projeto para a Amazônia e depois para todo o país.
“O Sere incluía o Radam, mas acabou por ser transferido para o Ministério de Minas e Energia”, diz a geógrafa do Inpe Evlyn de Moraes Novo, pioneira no monitoramento ambiental por satélite. Os dois projetos seguiram separados: o Programa

de Sensoriamento Remoto por Satélite, utilizando satélites da série ERTS (Earth Resources Technology Satellite, depois denominados Landsat, Land Satellite) e o Radar da Amazônia.
Aescolha do radar para a execução desse trabalho justificava-se por uma característica da região amazônica: a alta nebulosidade. “Os sensores ópticos dos satélites operam na faixa do visível, captando a luz solar refletida pela superfície, e não penetram nas nuvens”, explica o geógrafo do Inpe Hermann Kux, que trabalhou no RadamBrasil de 1977 a 1980. Já o radar emite ondas eletromagnéticas que, ao atingirem a superfície, sofrem reflexão e voltam ao receptor. Assim, podia ser utilizado em locais nublados, dia ou noite, já que não dependia da luz solar.

Os pesquisadores chegavam aos lugares indicados pelo radar guiando-se por bússola, como no rio Madeirinha (AM), em 1974, ou levados por helicóptero, como no rio Iriri (PA), em 1976
O mapeamento foi dividido em cinco eixos temáticos, cada um com sua equipe: cartografia, geologia, relevo, solos, vegetação e uso potencial da terra, que fazia o cruzamento dos dados para indicar o uso mais adequado do local. Conhecer as riquezas naturais do Brasil era uma prioridade para o governo militar, que em 1970 havia criado o Programa de Integração Nacional (PIN). Os lemas do programa, “Integrar para não entregar” e “Terra sem homens para homens sem terras”, explicavam seus objetivos: ocupar a Amazônia utilizando mão de obra de nordestinos desalojados pelas secas. A rodovia Transamazônica, que começou a ser construída em 1970, enquadra-se nesse propósito (ver Pesquisa FAPESP no 309).
O historiador Leandro Cruz, que pesquisa o Radam no doutorado em história da ciência e da saúde pela Casa de Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz (COC-Fiocruz), salienta que havia também o interesse em conceder o direito de exploração do território a empresas. “Os relatórios do projeto não ficavam disponíveis a qualquer pessoa, alguns eram sigilosos. Embora associações de empresários podiam solicitá-los ao governo”, observa. “A concessão do direito de exploração desses territórios a empresas privadas desonerava o Estado de algumas responsabilidades no processo de colonização.”
A INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS
Assim como as terras mapeadas, a interpretação das imagens de radar era um mistério a ser desvendado. “Não existia
uma metodologia bem definida. Fazíamos o complemento das interpretações das imagens com o avião em voo”, conta Lima. As imagens em preto e branco feitas pelo radar não podiam ser interpretadas da mesma forma que uma fotografia aérea convencional. “Você vê uma região clara e pode pensar que é areia, mas não é assim que trabalha o equipamento. O branco indica apenas uma área de grande reflectância [capacidade de um objeto refletir luz], que pode ser, por exemplo, um manguezal.”
Diferentes tipos de vegetação respondiam de forma distinta às ondas do radar. Durante seu doutorado, concluído em 1995 na Universidade Federal do Pará, Lima criou uma metodologia para amenizar os equívocos das imagens de radar, que ajudou a resolver problemas e gerou dois livros, Introdução à interpretação radargeológica (IBGE, 1995) e Radargeologia – Sistemática de elementos radargráficos (Edição do Autor, 2017).
O governo demonstrava ter grandes expectativas pelo trabalho de mapeamento. No livro recém-publicado O Brasil na era espacial (Editora Viseu, 2025), o geólogo Raimundo Almeida Filho, que acompanhou o projeto como pesquisador do Inpe, conta que em março de 1971, o então ministro de Minas e Energia, Antônio Dias Leite (1920-2017), apresentou o Radam ao presidente Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) com a promessa de facilitar a descoberta de petróleo: “O ministro afirmou ao presidente que o sinal de radar penetrava até 10 metros o terreno, o que não é verdadeiro. O sinal

de radar é refletido pela superfície e pela folhagem indistintamente”. Segundo ele, mesmo se fosse verdade, ajudaria muito pouco para a prospecção de petróleo. “Nessa época, tínhamos apenas imagens e elucubrações”, reforça Ross. Segundo ele, nas imagens de radar, feitas na escala 1:250.000 (em que 1 cm equivale a 2,5 km), o relevo se apresentava com rugosidades, que permitiam interpretar um padrão de superfície, associá-lo a um tipo de solo e inferir sobre possíveis minerais no subsolo. Não era possível, apenas a partir da imagem, saber o que efetivamente se encontrava ali. “Não existe mágica a partir da imagem”, diz ele. “A viagem a campo era uma etapa fundamental para se chegar a conclusões corretas.”
Otrabalho de campo é o que os especialistas em sensoriamento remoto chamam de “verdade terrestre”. E a verdade terrestre nas décadas de 1970 e 1980 envolvia muitas horas em barcos, helicópteros ou aviões em locais de difícil acesso. Quando o acampamento precisava ser instalado no meio da mata, uma equipe de apoio descia de rapel do helicóptero e abria uma clareira para que os pesquisadores pudessem se instalar depois. Com a expansão do projeto para além da floresta amazônica, foram usados muitos veículos com tração nas quatro rodas em estradas do Cerrado ou do Pantanal como apoio aos pesquisadores que faziam sobrevoos com aviões de


pequeno porte. “Usávamos um avião da Votec, com manutenção barata; tudo era barato”, comenta Kux, lembrando que as precárias condições de trabalho afligiam os familiares quando os pesquisadores saíam para o trabalho de campo. Os acidentes eram uma possibilidade real em cada viagem. Ross ainda se recorda do susto que passou quando, sobrevoando a Ilha do Bananal, no Tocantins, o helicóptero no qual estava perdeu potência e deu um mergulho no ar, tentando pegar velocidade. Foi só um susto, embora ocorressem acidentes graves e, alguns, fatais. Os relatórios re-



Acampamento da equipe de solos às margens do rio Von Den Steinen (MT) em 1979 e pista de pouso utilizada em 1977 (lugar não especificado)
Do geral para o detalhe: o território brasileiro era dividido em folhas (à esq.), cada uma levando a sucessivas subdivisões (no alto e acima). À direita, a imagem de radar da bacia de Mangaratiba, indicada no retângulo em azul acima 3
gistram a morte de 55 técnicos de nível superior, nível médio, auxiliares técnicos e militares, resultantes de acidentes com aviões, helicópteros, abertura de clareiras e doenças, principalmente malária. Os acidentes resultaram na perda de 10 helicópteros, seis aviões e dois barcos de 30 toneladas. Um dos mais chocantes ocorreu em 1980, quando um avião desapareceu entre o Rio de Janeiro e São Paulo com um grupo de cinco geógrafas.
Os relatórios técnicos e mapas do projeto RadamBrasil foram reunidos nos 38 volumes da série Levantamento de recursos naturais , disponíveis na Biblioteca do IBGE. As imagens de radar, impressas originalmente em papel comum e fotográfico, foram digitalizadas pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), por meio do projeto Radam-D, a partir de 2004. Estão disponíveis na página www. sgb.gov.br/radam-d.
Esse acervo ainda hoje é referência para estudos de impacto e monitoramento ambientais e trabalhos de zoneamento ecológico-econômico. Em 1989, Ross, então pesquisador do Laboratório de Geomorfologia da USP, utilizou dados do RadamBrasil para elaborar uma nova classificação de relevos do país. Na década de 1990, baseando-se em imagens de

radar captadas em 1976, coordenou um projeto que resultou na publicação, em 1998, do Mapa geomorfológico do estado de São Paulo, com apoio da FAPESP (ver Pesquisa FAPESP nº 35).
Em 2010, o geógrafo Ricardo Tavares Zaidan, da Universidade Federal de Juiz de Fora, também com base no RadamBrasil, fez um diagnóstico dos solos da bacia hidrográfica do rio Paraibuna, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele precisou digitalizar as imagens de radar – a digitalização do Radam-D não estava pronta. “Mesmo regiões mais conhecidas do Brasil, como o Sudeste, ainda não haviam sido mapeadas de forma sistematizada antes do projeto”, ressalta. Evlyn Novo lamenta que o mapeamento não tenha sido feito com a participação do Inpe, como planejado a princípio, o que poderia ter agregado mais conhecimento aos resultados. “Mesmo assim, os mapas temáticos do Radam até hoje são muito empregados como porta de entrada para o mapeamento em escalas maiores”, diz ela. “E os dados coletados em campo são utilizados como baseline para saber como era a Amazônia antes de ela ter sido ocupada pelo gado e sofrido desmatamentos, antes dos extremos climáticos e dos incêndios.” l
Os livros consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Lógica no caos

Diagnosticado como autista aos 54 anos, o cientista da computação André Ponce de Leon Ferreira de Carvalho busca novas conexões com a inteligência artificial
Em 2020, após uma bateria de testes aplicados por uma psicóloga, o psiquiatra confirmou o diagnóstico: autista. Foi um choque. Para piorar, o médico me aconselhou a manter segredo. Eu tinha 54 anos, uma carreira estabelecida, e talvez ele quisesse me proteger. Apesar de entender sua boa intenção, decidi fazer o contrário. Isso porque ser neurodivergente não é um problema e não deveria impedir ninguém de ser quem é. Somos diferentes, e isso é parte da beleza da vida. O Transtorno do Espectro Autista [TEA] tem origem multifatorial e forte componente genético. Manifesta-se na infância e apresenta grande variedade de características e níveis de intensidade. O diagnóstico ajudou a esclarecer muitas coisas. Quando eu era pequeno, na década de 1970, tive a sorte de estudar em
uma escola construtivista e fazia amigos com facilidade, mas era um pouco rebelde também. Após alguns embates com meu pai, fugi de casa três vezes.
Como eu falava rápido e ninguém entendia, passei a repetir automaticamente duas vezes a mesma frase. Por tudo isso, comecei a frequentar psicólogos e psiquiatras desde cedo. Mesmo assim, nenhum deles abordou comigo a possibilidade de eu estar dentro do espectro autista.
Durante a adolescência passei a me sentir muito diferente dos outros. Nos esportes eu era o último a ser escolhido e nunca saía do banco de reservas. Na natação virei “o fenômeno”, porque sempre chegava por último nas competições. Era eu aparecer, que alguém fazia uma piada. Eu tinha uma coleção de apelidos, e até hoje me faz mal lembrar deles. Sei que é natural jovens fazerem
Carvalho no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP de São Carlos
chacota, mas eu sentia que era mais comum comigo do que com os outros, e isso me afetava muito.
Tenho dificuldade de olhar nos olhos dos meus interlocutores, mas, como sei que as pessoas acham isso ruim, me esforço. Qualquer barulho me perturba. Em ambientes com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, procuro me acalmar contando mentalmente uma história – é uma estratégia que inventei para suportar o caos, mas nem sempre funciona. Quando o estímulo sonoro é intenso demais, meu corpo reage por conta própria: é como se arrancasse o plug da tomada para evitar um curto-circuito. Entro num vazio. As pessoas percebem. Um colega do doutorado na Inglaterra sempre notava essas ausências súbitas e me apelidou de “instantaneous sadness” [tristeza instantânea].
Já estou falando da Inglaterra, mas faltou contar como fui parar lá. Meus primeiros anos de vida foram no interior do Piauí, num canteiro de obras – meu pai era engenheiro civil e trabalhava na construção da Usina Hidrelétrica de Boa Esperança. A cidade era tão pequena que minha mãe teve que ir a Recife para eu nascer, em 1965. Quando eu tinha 4 anos, fomos morar na capital pernambucana. No ensino médio, fiz um teste vocacional que indicou afinidade com computação e engenharia elétrica. No início dos anos 1980, cheguei a fazer os dois cursos de graduação simultaneamente por um período. Mas um dia, na aula de engenharia, nos mandaram ir à lousa desenhar cubos. Logo eu, que mal consigo rabiscar uma casa. Fui embora e nunca mais voltei.
Durante minha formação em ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco [UFPE], iniciei minha trajetória com computadores ainda na época dos cartões perfurados. A inteligência artificial [IA] era praticamente desconhecida no Brasil, mas tive a sorte de participar de um dos primeiros cursos oferecidos sobre o tema no país – e foi ali que surgiu meu interesse sobre o assunto. Concluí a graduação em 1987 e, logo em seguida, iniciei o mestrado na mesma instituição, sobre o uso de redes neurais para reconhecimento de sequências. Finalizei a pesquisa em 1990.
Naquela época, havia apenas dois professores atuando em IA na UFPE.
A exemplo de muitos colegas da minha turma, segui para o doutorado no exterior, dado que o campo ainda era muito incipiente no Brasil. Fiz doutorado em engenharia eletrônica, pesquisando sobre o uso de redes neurais para reconhecimento de imagem, na Universidade de Kent, no Reino Unido. A ideia de morar em uma cidade pequena e tranquila logo me atraiu – o trânsito de Recife me deixava à beira de um colapso, o que hoje eu sei que tem relação com o TEA. Mas não foi só isso: confesso que também me empolguei ao ver fotos de pessoas tomando cerveja em uma praça medieval.
Fui morar com colegas de outros países em uma casa compartilhada. Cada um tinha seu quarto, mas dividíamos a cozinha – o que, no fim das contas, foi ótimo, pois me incentivava a socializar. Um ano antes de concluir o curso, vim ao Brasil em 1993 para decidir onde fixar residência e escolhi São Carlos [SP], tanto pela qualidade das universidades quanto por não ser uma cidade grande.
Além disso, alguns brasileiros que conheci durante o doutorado eram de lá. Uma colega me ofereceu a casa da família para eu me hospedar na volta – mal sabia que, seis meses depois, eu me casaria com sua irmã, engenheira civil. Temos três filhas, a primogênita é psicóloga e foi quem sugeriu que eu passasse por uma avaliação. Depois do meu diagnóstico,
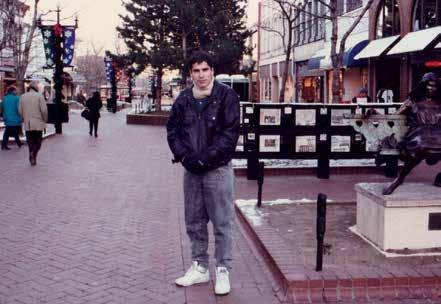

SAIBA MAIS
Iara –Inteligência Artificial Recriando Ambientes
nossa filha do meio, a mais parecida comigo, também descobriu ter TEA e lida muito bem com isso.
Ao chegar em São Carlos, eu contava apenas com uma bolsa do CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico], mas logo surgiu uma vaga para docente no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo [ICMC-USP] na cidade e fui contratado em 1994. Hoje sou diretor do ICMC, onde coordeno o centro de pesquisa Iara –Inteligência Artificial Recriando Ambientes, apoiado pela FAPESP e voltado à criação de cidades mais inclusivas e sustentáveis.
Participo de várias redes de pesquisa e nelas defendo o uso do aprendizado de máquina como ferramenta de inclusão social, não apenas como inovação técnica. Em colaboração com a psiquiatra Helena Paula Brentani, da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas da USP, e as cientistas da computação Fátima Nunes e Ariane Machado Lima, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades [EACH-USP], venho desenvolvendo, desde 2023, ferramentas de IA capazes de tornar os diagnósticos de TEA mais acessíveis, precoces e confiáveis. Para isso, nosso grupo investiga o uso de reconhecimento facial, análise de sinais cerebrais, biomarcadores moleculares e padrões de movimento em crianças pequenas.
No início dos anos 1990, na Inglaterra, durante o doutorado em engenharia eletrônica
Muitos dizem que os casos de autismo aumentaram nos últimos anos, mas, na verdade, apenas os quadros mais graves eram diagnosticados no passado. Hoje, com mais profissionais capacitados, maior conscientização e menos estigma, há mais identificações. Ainda assim, é fundamental diferenciar o autismo de outras condições, como o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), que também impactam significativamente a vida das pessoas. l
Instrumento de afirmação

Olivro Ilê Aiyê: A fábrica do mundo afro, fruto de pesquisa séria e detida sobre a organização e a lógica interna do paradigmático bloco afro Ilê Aiyê, insere-se no momento áureo da retomada dos estudos do contexto afro-baiano e das relações e hierarquias raciais em Salvador e sua Região Metropolitana nos anos de 1985 a 1995.
A publicação do livro, agora em português, veio a coroar tanto esse processo de colaboração, que, espero, prossiga, quanto a celebração dos 50 anos de existência do bloco, em 2025. Foi durante esse meio século que o “afro”, sob a forte inspiração do Ilê, tornou-se não só uma bandeira passível de múltiplas interpretações como um instrumento de afirmação do povo negro.
176 páginas
R$ 72,00
O antropólogo francês Michel Agier chega ao Ilê após pesquisar cor e classe nas novas indústrias atraídas pelo polo petroquímico, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na década de 1980. Munido de sua experiência prévia de pesquisa sobre novas formas de identidade étnica na África Ocidental, mas também com sua curiosidade pelos estilos de vida urbanos, ele pesquisou as consequências socioculturais da grande oportunidade de ascensão social proporcionada, pela primeira vez, para uma nova geração de homens negros e suas famílias que passam a ter um emprego que lhes assegurava uma relativa melhoria de vida comparativamente à geração precedente.
Uma mudança positiva de condição que possibilitou mobilidade urbana dos antigos bairros, vistos como predominantemente negros, a exemplo da Liberdade, para bairros melhores, tidos como mais modernos, caso do Cabula, assim como consumo conspícuo, novas formas de vida associativa e também uma percepção mais aguda das desigualdades sociorraciais apresentadas e defendidas pelas elites baianas. Elites estas que pouco se conformam com a crescente visibilidade desse grande grupo de “novos negros”.
É a partir desse sólido embasamento empírico que Agier desenvolve essa verdadeira socioantropologia de um bloco afro e de sua negritude. Lembro bem de quando Agier, já quase no final dos seus muitos anos de residência em Salvador, na década de 2000, e já bom conhecedor do bairro da Liberdade, onde ele chegou a morar durante dois anos, começou uma longa e complexa negociação com a direção do bloco para ter acesso aos filiados e às suas fichas de inscrição: também nisso Agier foi pioneiro e conseguiu estabelecer um justo código de conduta, centrado na reciprocidade e no retorno dos dados da pesquisa para seus interlocutores.
Por isso, ler esse livro é também aprender sobre a história contemporânea da negritude na Bahia. Agier traça essa história fugindo da camisa de força da suposta “magia” da Bahia como lente de interpretação de suas hierarquias raciais e esmiuçando, em cinco capítulos, o cenário; a história do bloco; o Ilê Aiyê como família e comunidade; as formas, estilo e projeto estético do bloco em sua redefinição da África na Bahia como luta pela afirmação; e, enfim, analisando o mundo afro como sistema cultural.
As páginas são embelezadas com 35 fotos de Milton Guran. A contracapa da antropóloga Maria Rosário de Carvalho e o posfácio do sociólogo Antônio Sergio Guimarães – ambos companheiros da jornada baiana de Agier – enriquecem o conjunto. Em seus 50 anos, o bloco obviamente passou por transformações, assim como o mundo do Carnaval e os processos identitários negros. De organização centrada em torno de uma família e de uma casa de santo, o bloco, aos poucos, transformou-se em uma associação cultural, algo parecido com uma ONG. Trata-se de um processo de paulatina institucionalização e até de incorporação das políticas públicas dos governos que têm atingido os movimentos sociais e a vida associativa em geral. Ao longo dessas décadas, o ícone “África” deixou de ser sempre um ônus, para se tornar, gradativamente, e em determinados momentos, até um bônus com o qual as elites baianas, brancas ou quase, têm que aprender a lidar. Nesse processo, o Ilê nunca perdeu seu protagonismo, antes inspirou a criação de muitos outros blocos em Salvador e outras cidades. Seu projeto estético e sonoro virou uma marca indistinguível do afro no Brasil e a sua busca incessante por respeito, dignidade e autoestima, uma fonte de inspiração para as novas gerações e para o futuro do mundo afro.
LIVIO SANSONE
Ilê Aiyê: A fábrica do mundo afro
Michel Agier Editora 34
Livio Sansone é professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDENTE
Marco Antonio Zago
VICE-PRESIDENTE
Carmino Antonio de Souza
CONSELHO SUPERIOR
Antonio José de Almeida Meirelles, Helena Bonciani Nader, Herman Jacobus Cornelis Voorwald, Marcílio Alves, Maria Arminda do Nascimento Arruda, Mayana Zatz, Mozart Neves Ramos, Pedro Luiz Barreiros Passos, Pedro Wongtschowski, Thelma Krug
CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
DIRETOR-PRESIDENTE
Carlos Américo Pacheco
DIRETOR CIENTÍFICO
Marcio de Castro Silva Filho
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Fernando Menezes de Almeida
pesquisafapesp
ISSN 1519-8774
COMITÊ CIENTÍFICO
Luiz Nunes de Oliveira (Presidente), Alexandre Xavier Falcão, Américo Martins Craveiro, Ana Claudia Latronico, Ana Claudia Torrecilhas, Ana Maria Fonseca de Almeida, Carlos Américo Pacheco, Celio Haddad, Dario Simões Zamboni, Daniel Scherer Moura, Deisy de Souza, Douglas Zampieri, Eduardo Zancul, Eduardo Magalhães Rego, Fernando Menezes de Almeida, Fabiana Cristina Komesu, Flávio Henrique da Silva, Flávio Vieira Meirelles, Gustavo Dalpian, Helena Lage Ferreira, João Pereira Leite, José Roberto de França Arruda, Liliam Sanchez Carrete, Luiz Vitor de Souza Filho, Marcio de Castro Silva Filho, Marco Antonio Zago, Maria José Giannini, Mariana Cabral de Oliveira, Marta Arretche, Michelle Ratton Sanchez Badin, Nina Stocco Ranieri, Paulo Schor, Reinaldo Salomão, Richard Charles Garratt, Rodolfo Jardim Azevedo, Sergio Costa Oliveira, Sydney José Lima Ribeiro, Sylvio Canuto, Vilson Rosa de Almeida
COORDENADOR CIENTÍFICO
Luiz Nunes de Oliveira
DIRETORA DE REDAÇÃO
Alexandra Ozorio de Almeida
EDITOR-CHEFE
Neldson Marcolin
EDITORES Fabrício Marques (Política Científica e Tecnológica), Carlos Fioravanti (Ciências da Terra), Marcos Pivetta (Ciências
Exatas), Maria Guimarães (Ciências Biológicas), Ricardo Zorzetto (Ciências Biomédicas), Ana Paula Orlandi (Humanidades), Yuri Vasconcelos (Tecnologia)
REPÓRTERES Christina Queiroz e Sarah Schmidt
ARTE Claudia Warrak (Editora), Júlia Cherem Rodrigues e Maria Cecilia Felli (Designers), Alexandre Affonso (Editor de infografia)
FOTÓGRAFO Léo Ramos Chaves
BANCO DE IMAGENS Valter Rodrigues
SITE Yuri Vasconcelos (Coordenador), Jayne Oliveira (Coordenadora de produção), Kézia Stringhini (Redatora on-line)
MÍDIAS DIGITAIS Maria Guimarães (Coordenadora), Renata Oliveira do Prado (Editora de mídias sociais), Vitória do Couto (Designer digital )
VÍDEOS Christina Queiroz (Coordenadora)
RÁDIO Fabrício Marques (Coordenador) e Sarah Caravieri (Produção)
REVISÃO Alexandre Oliveira e Margô Negro
REVISÃO TÉCNICA Américo Craveiro, Ana Maria de Almeida, Angela Krabbe, Daniel Martins de Souza, Deisy de Souza, Douglas Zampieri, Fabiana Komesu, Flávia Brito do Nascimento, Gustavo Romero, José Roberto Arruda, Reinaldo Salomão, William Wolf
COLABORADORES Adriana Abujamra, Diego Bresani, Eduardo Magossi, Gilberto Stam, Giselle Soares, Guilherme Costa, Joel Silva, Júlia Jabur, Kemily Nunes Moya, Livio Sansone, Sinésio Pires Ferreira, Suzel Tunes, Regiane Oliveira, Renata Fontanetto, Valentina Fraiz
MARKETING E PUBLICIDADE Paula Iliadis
CIRCULAÇÃO Aparecida Fernandes (Coordenadora de Assinaturas)
OPERAÇÕES Andressa Matias
SECRETÁRIA DA REDAÇÃO Ingrid Teodoro
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE TEXTOS, FOTOS, ILUSTRAÇÕES E INFOGRÁFICOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
TIRAGEM 28.200 exemplares
IMPRESSÃO Plural Indústria Gráfica
DISTRIBUIÇÃO RAC Mídia Editora
GESTÃO ADMINISTRATIVA FUSP – FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PESQUISA FAPESP Rua Joaquim Antunes, nº 727, 10º andar, CEP 05415-012, Pinheiros, São Paulo-SP
FAPESP Rua Pio XI, nº 1.500, CEP 05468-901, Alto da Lapa, São Paulo-SP
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO


APOSTAS PERIGOSAS
Excelente a reportagem “Como joga o brasileiro” (edição 351). Porém, como um pesquisador da área de jogos (os de verdade, que a gente se diverte jogando em vez de perder a casa), quero frisar que chamar apostas de “jogos” é prejudicial para nossa área. Desde reduzir a credibilidade de um setor que envolve tanto potencial artístico e tecnológico até aumentar a associação errada entre jogos (digitais ou de tabuleiro) com “jogos” de azar, que são apostas. Leonardo Pereira
É importante conhecer o perfil dos jogadores. O cansaço com a situação de pobreza e a (frágil) possibilidade de ganho rápido e vultuoso são muito tentadores para quem desconhece o mecanismo criminoso dos jogos de azar.
Rosa Sebinelli
DIVERSIDADE NA UNIVERSIDADE
É um avanço, sim, a nossa presença no ensino superior (“Via de mão dupla entre a universidade e a aldeia”, edição 351). Mas é triste também pensar que é um lugar, como qualquer outro, que deveríamos fazer parte desde o início.
Brenda Teixeira
COMPUTAÇÃO E AMBIENTE
Achei oportuna a reportagem “Os impactos do mundo digital no ambiente” (edição 349). No entanto, me parece que os autores do trabalho não levaram em consideração o custo ambiental das
ASSINATURAS, RENOVAÇÃO E MUDANÇA DE ENDEREÇO
Envie um e-mail para assinaturaspesquisa@fapesp.br
PARA ANUNCIAR
Contate: Paula Iliadis E-mail: publicidade@fapesp.br
EDIÇÕES ANTERIORES
Preço atual de capa acrescido do custo de postagem. Peça pelo e-mail: assinaturasrevista@fapesp.br
LICENCIAMENTO DE CONTEÚDO
Adquira os direitos de reprodução de textos e imagens de Pesquisa FAPESP E-mail: redacao@fapesp.br
obras civis necessárias para construir os grandes centros de computação dos bancos e das big techs. Aqui em Campinas temos o centro de computação de um banco que, para sua construção, provocou um grande movimento de terra para cavar os três andares de subsolo do “bunker” dos computadores, fora a terraplanagem do terreno. São muitos tratores e caminhões trabalhando por muito tempo, com a respectiva emissão de poluentes e alteração da topografia natural do terreno.
Marco Aurelio De Paoli
VÍDEOS
Legal o vídeo “O que são e como funcionam as moedas sociais”. Nunca tinha ouvido falar sobre bancos comunitários. De certa forma, promove o desenvolvimento local e social dos habitantes.
Camilly Elisa Cabral
O problema é que as soluções propostas, como essas que o vídeo apresentou, acabam sendo para poucos lugares ou até mesmo pessoas (“Ondas de calor e frio ameaçam a saúde”). As ondas de calor não ocorrem só em “comunidades” e qualquer providência para aumentar a refrigeração ambiental não só sai caro como também é um desafio. Raphael Rodrigues
Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas por motivo de espaço e clareza.
CONTATOS
revistapesquisa.fapesp.br
redacao@fapesp.br
PesquisaFapesp pesquisa_fapesp @pesquisa_fapesp PesquisaFapesp pesquisafapesp
cartas@fapesp.br
R. Joaquim Antunes, 727 10º andar
CEP 05415-012
São Paulo, SP
fotolab o conhecimento em imagens
Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br Seu trabalho poderá ser publicado na revista.
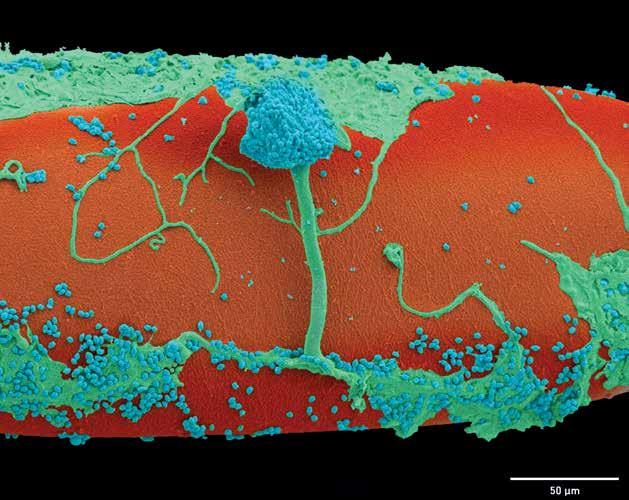
Um ovo parasitado
Na Amazônia, a fauna e a flora nem sempre são visíveis. Não só porque se escondem ou se estendem além da visão, mas porque a biodiversidade também é microscópica, como este fungo Aspergillus giganteus colonizando um ovo do mosquito Aedes aegypti (vermelho). Em verde se veem os filamentos fúngicos (hifas), e os esporos reprodutivos estão destacados em azul. A formação de um corpo de frutificação, ao centro, indica uma fase avançada do ciclo do fungo, já capaz de retirar nutrição do ovo – e, em consequência, impedir sua eclosão. O experimento com o microrganismo colhido no ambiente visa ao desenvolvimento de produto para controle biológico do mosquito transmissor da dengue e outras doenças.
Imagem enviada por Kemily Nunes Moya , doutoranda na Fiocruz Amazonas, produzida no Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos da Universidade do Estado do Amazonas e ganhadora da edição de 2023 do Prêmio de Fotografia – Ciência e Arte do CNPq




ACESSO LIVRE
AO CONHECIMENTO:
ACESSO LIVRE O CONHECIMENTO:
D ESAFIOS E OPORTUNIDADES NA ÁFRICA
D ESAFIOS E OPORTUNIDADES NA ÁFRICA
das 10h às 11h30 27 JUN 2025
EVENTO PRESENCIAL | FAPESP

A digitalização do ensino e da produção científica e a open science têm papel central na democratização do conhecimento. No entanto, na África e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, como é o caso de Cabo Verde, persistem desafios estruturais, como a desigualdade no acesso às tecnologias e à internet, as limitações infraestruturais, a necessidade de novas metodologias pedagógicas e a adaptação do corpo docente ao ambiente digital.
Na conferência, Eurídice Monteiro refletirá sobre esse problema e as suas implicações para a produção científica e a qualificação do sistema de ensino superior em contextos africanos.
EURÍDICE MONTEIRO

Eurídice Monteiro é socióloga e cientista política, doutorada em Sociologia pela Universidade de Coimbra. Possui formação executiva na Harvard Kennedy School, além de diploma em Gestão Pública pela Bridgewater State University. É professora universitária na área de estudos políticos e sociais na Universidade de Cabo Verde desde 2013. Foi diretora da Cátedra Amílcar Cabral da Universidade de Cabo Verde entre 2015 e 2018 e secretária de Estado do Ensino Superior no governo de Cabo Verde (2021-2025), com responsabilidade política e tutela das áreas de ensino superior e ciência, abrangendo a superintendência das universidades públicas e privadas, o desenvolvimento de políticas de reforma do ensino superior, a formulação do programa nacional da ciência, a cooperação científica internacional e a execução de políticas públicas de qualificação de quadros, de regulação e avaliação do ensino superior e de fomento à ciência e inovação.




Kennedy School, além de diploma em Gestão Pública pela Bridgewater State University. É professora universitária na área de estudos políticos e sociais na Universidade de Cabo Verde desde 2013. Foi diretora da Cátedra Amílcar Cabral da Universidade de Cabo Verde entre 2015 e 2018 e secretária de Estado do Ensino Superior no governo de Cabo Verde (2021-2025), com responsabilidade política e tutela das áreas de ensino superior e ciência, abrangendo a superintendência das universidades públicas e privadas, o desenvolvimento de políticas de reforma do ensino superior, a formulação do programa nacional da ciência, a cooperação científica internacional e a execução de políticas públicas de qualificação de quadros, de regulação e avaliação do ensino superior e de fomento à ciência e inovação.
Para mais informações e inscrições, acesse:
acesse:
www.fapesp.br/conferencias
www.fapesp.br/conferencias


Foto:
Arquivo pessoal