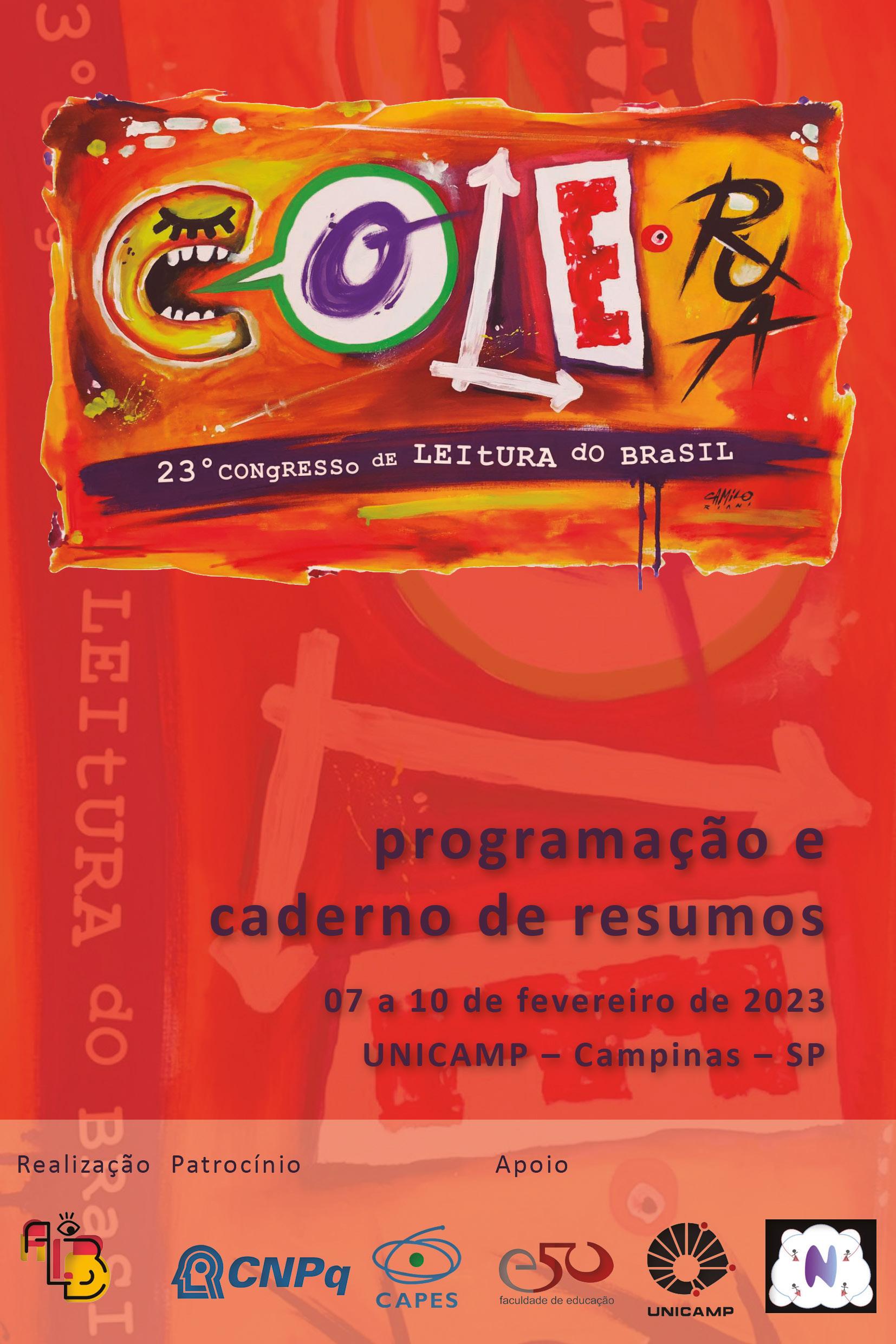
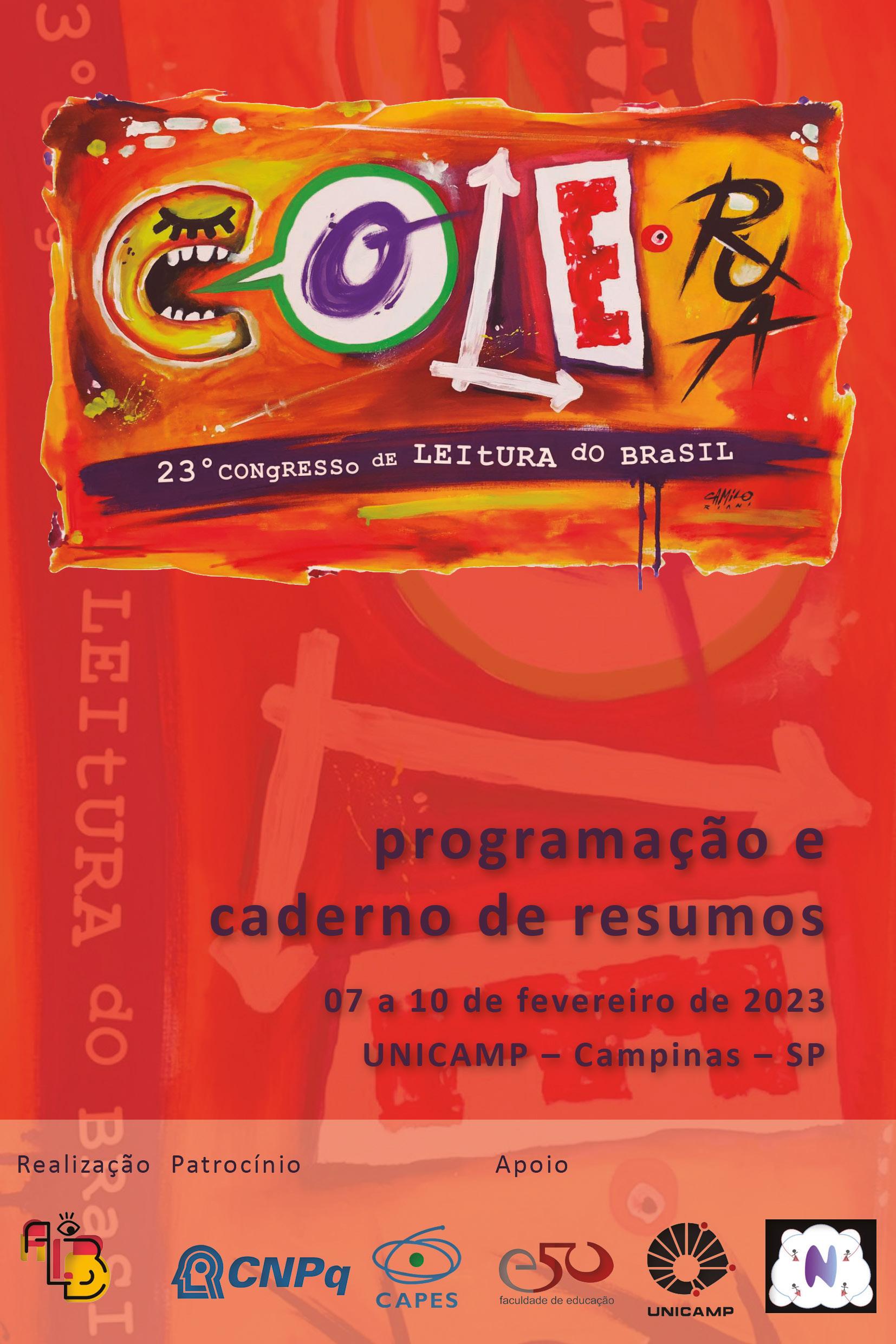
Caderno de resumos e atividades
DEDICATÓRIA
Para aquelas e aqueles que, em seus fazeres e suas vivências nas ruas, contribuem para difusão das práticas de leitura, apostando na invenção de múltiplos lugares de partilha que fortalecem diferenças que por sua vez reafirmam tudo o que é vivo em busca de fraternidade e dignidade.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
23º COLE - CONGRESSO DE LEITURA
Carlos Eduardo Albuquerque Miranda; Claudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Luis RufinoO COLE Rua aposta que a leitura acontece em múltiplos lugares, com diferentes potências que ativam forças que embaralham partilhas nas ruas, dos muros nas encruzas. Em um semáforo, a mendicância e a poesia, a artista e o desempregado invocam afetos decoloniais que fortalecem o comum em suas diferenças e clamam por justiça, por fraternidade, pela dignidade da vida e do que é vivo.
Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, de guerras e de ameaças à democracia, o 23º COLE propõe que desçamos dos carros, pousemos os drones e guardemos os mapas. Vamos caminhar pela RUA e deixar que ela se imponha, e com sua autoridade seremos conduzidos pela natureza dramática em suas diferenças. Na Rua procede o mundo que precede a leitura da palavra. A Rua é um mundo que não se acaba, é barricada, esperança e medo. A rua é risco, perigo de vida, perigo da vida. É passeata, poesia e teatro. É dança, maracatu e carnaval, é bêbada e equilibrista. A rua é triste, nem moço bonito e moça bonita; tem sangue, tem pedra e beijo no asfalto. É bicicleta ao meio-fio e pé descalço de terra. A Rua tem coturno, mas tem chinelo. Ocupemos a rua para lutar pela vida, pela paz e respeito à despedida. Rua que corre, que escorre, que derrama em si mesma e se acaba, que começa de novo em outra vida. O 23º COLE, o COLE Rua pede ajuda aos professores, aos artistas e aos movimentos sociais para pensar, e sermos pensados, pelas potências, pelos pesos, pelos perigos e pelos afetos que as Ruas nos impõem. Estejamos expostos ao seu comando, às suas leituras. O 23º COLE, o COLE Rua convida também professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias, alunos e alunas de graduação e de pós-graduação, profissionais da educação básica, educadores sociais, coletivos e movimentos educadores para se juntarem a nós, apresentando seus trabalhos, seus feitos, seus pensamentos que atravessam as calçadas, que criam pontes e cavam túneis, para entrar, mas também para sair das ruas.
O congresso traz ainda a oferta de 8 minicursos aos seus participantes. Os participantes com trabalhos aprovados e apresentados no 23° COLE ainda terão a opção de submeterem seus textos a publicação prevista para a revista Linha Mestra.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
COMISSÃO ORGANIZADORA
Carlos Eduardo Albuquerque Miranda - DELARTE/FE/UNICAMP
Marcus Pereira Novaes - ALB
Antonio Carlos Rodrigues Amorim - DELARTE/FE/UNICAMP
Claudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto - UNICAMP
Marcelo Vicentin - USF/UNICAMP
Ilsa do Carmo Vieira Goulart - UFLA
Alda Regina Tognini Romaguera - UABJO
Rosana Baptistella - UEMS/UNICAMP
Alan Victor Pimenta de Almeida Pales Costa - UFSCar
Luis Gustavo Guimarães - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
SECRETARIA
Lucy Rudék
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
AGRADECIMENTOS
Nossos agradecimentos às agências financiadoras, CAPES e CNPq, que viabilizaram a realização deste evento.
Agradecemos também à Faculdade de Educação da UNICAMP pela parceria.
COMITÊ CIENTÍFICO
COORDENAÇÃO
Claudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto - FE/Unicamp
Adriana Varani - FE/Unicamp
Alan Victor Pimenta de Almeida Pales Costa - UFSCar
Alda Regina Tognini Romaguera - UABJO, Oaxaca - México
Alexandra Garcia - UERJ-FFP
Alik Wunder - FE/Unicamp
Ana Cecília Cossi Bizon - IEL/Unicamp
Ana Cristina Ayres Motta - Colégio Fepi/Itajubá/MG
Andrea Rodrigues Dalcin - Supervisora de Ensino - Cajamar/SP
Andréa Tereza Brito Ferreira - UFPE
Atilio Bergamini - UFC
Betina Rezze Barthelson - Secretaria da Educação - Prefeitura Municipal de Campinas
Carla de Fátima Cordeiro - IFMT
Carlos Humberto Alves Corrêa - UFAM
Cecília M.A. Goulart - FE/UFF
Claudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto - FE/Unicamp
Cláudia de Oliveira Daibello - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’ Oeste
Cynthia Agra de Brito Neves - IEL/Unicamp
Dagoberto Buim Arena - UNESP/Marília
Daniel Silva - UFSC
Daniele Aparecida Alves Biondo - FE/Unicamp
Davi Henrique Correia de Codes - EJA na Rede Municipal de Florianópolis
Davina Marques - IFSP-HTO - Hortolândia/SP
Elaine Maria da Cunha Morais - UEMG
Elenise Cristina Pires de Andrade - UEFS
Eliana Ayoub - FE/Unicamp
Eliana Kefalás Oliveira - UFAL
Elisângela Silva Santos - UFJ
Érica Mancuso Schaden - FE/Unicamp
Ezequiel Theodoro da Silva - FE/Unicamp
Fabiana Freitas - UFAM
Fabiane Maia Garcia - UFAM
Fabiano Correa da Silva - Faculdade Santa Lúcia
Fabíola Ribeiro Farias -
Fátima Cabral - UNESP
Filomena Elaine Paiva Assolini - FFCLRP-USP/Ribeirão Preto/SP
Flávio Santiago - GEPSI/USP
Gabriela Barbosa Souza Xavier - FE/UNICAMP
Gesiel Prado Santos - Fundação Hermínio Ometto/FHO
Giovana Scareli - UFJF
Giovanna Carla Barreto -
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Giovanna Rodrigues Cabral - UFLA
Gisele Frighetto - (PPGLit - UFSCar)
Greice Ferreira da Silva - UEL
Guilherme do Val Toledo Prado - FE/Unicamp
Heloisa Andreia de Matos Lins - FE/Unicamp
Heloisa Helena Oliveira de Azevedo - PUC Campinas
Janaína de Souza Silva - Secretaria Municipal de Educação de Limeira - SME
Juliano Guerra Rocha - UFJF
Karen Cézar Baptista - FE/Unicamp
Kátia Maria Kasper - UFPR
Kenia Adriana de Aquino - UFR
Laisa Blancy de Oliveira Guarienti - Rede Municipal de Itajaí/SC
Larissa de Souza Oliveira - FE/Unicamp
Leandro Belinaso Guimarães - UFSC
Lilian Cristine Ribeiro Nascimento - FE/Unicamp
Lilian Lopes Martin da Silva - FE/Unicamp
Lucia de Fatima Dinelli Estevinho - UFU
Luciane Moreira de Oliveira - ALLE-AULA/ FE-Unicamp
Luis Gustavo Guimarães - Prefeitura Municipal de Valinhos
Luzmara Curcino - UFSCar
Maria Betanea Platzer - UNIARA
Maria Clara Gonçalves - UNESP-Assis/SP
Maria das Dores Soares Mazieiro - Faculdade de Paulínia/SP
Maria de Fátima Xavier da Anunciação de Almeida - UFMS
Maria Inês Ghilardi Lucena - PUC Campinas
Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo - UNESP/Rio Claro/SP
Mariana Bortolazzo Prezutti - Centro Universitário Senac - Águas de São Pedro
Mariana Miggiolaro Chaguri - IFCH/UNICAMP
Mauriceia Silva de Paula Vieira - UFLA
Mônica do Socorro de Jesus Chucre - ALLE-AULA/FE-Unicamp / IFAP
Nara Salles - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Núbio Delane Ferraz Mafra - UEL
Oton Magno Santana dos Santos - UNEB/Universidade do Estado da Bahia
Pamela Zacharias - USP
Patricia Amorim de Paula - FE/Unicamp
Patrícia da Silva Santos - UFPA
Raimundo Dutra - Universidade Estadual do Piauí - UESPI
Raquel Salek Fiad - IEL/Unicamp
Renata Aliaga - Instituto Federal de Campinas
Renata Junqueira de Souza - UNESP - Presidente Prudente/SP
Rita de Cassia Cristofoleti - UFES
Rosa Maria Hessel Silveira - FE/UFRGS
Rosana Baptistella - UEMS
Rosane de Paiva Felicio - Diretoria de Ensino de Piracicaba
Rosemary Lapa de Oliveira - UNEB
Sérgio Antonio da Silva Leite - FE/Unicamp
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Sonia Midori Takamatsu - ALLE-AULA/ FE-Unicamp
Telma Rubiane Rodrigues de Melo - ALLE-AULA/FE-Unicamp
Thais Gonçalves - UFC/Universidade Federal do Ceará
Thiago Antunes-Souza - DCET/Unifesp
Thiago Moura Camilo - Centro de Ensino Superior de São Gotardo
Tiago Samuel Bassani - UFPA
Wenceslao Machado de Oliveira Junior - FE/Unicamp
Yara Máximo de Sena
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
BC - Biblioteca Central (25)
Ciclo Básico (35)
FE - Faculdade de Educação
Restaurante Universitário (24)
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
MAPA DA UNICAMP

TELEFONES ÚTEIS
Secretaria do 23º Cole: (19) 3521.5560
Emergência: 192
Farmácia: (19) 3262.0075
Táxi (UNICAMP): (19) 3289.3300
Táxi (Ponto Hotel Matiz): (19) 99209.5529/97812.3333
Táxi (Ponto Shopping Dom Pedro): (19) 3224-2110
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
PROGRAMAÇÃO GERAL
07/02/23 (terça)
8h30 - Credenciamento
9h - Sessão Solene de Abertura
10h30 às 12h - Conferência de Abertura (on-line)
12h - Almoço
14h às 15h45 - Sessões de Comunicações (presencial)
16h às 17h30 - Mesas-Redondas 01, 02 e 03 (on-line)
08/02/23 (quarta)
8h30 - Credenciamento
9h às 10h30 - Mesas-Redondas 04, 05, 06 e 12 (on-line)
12h - Almoço
14h às 15h45 - Sessões de Comunicações (presencial)
16h às 17h30 - Mesas-Redondas 07, 08 e 09 (on-line)
Rapsódia documental: Linguagens [s]em ruas ruas [s]em linguagens. Adriana Alves
Silva, Ana Lúcia Goulart de Faria, Magda Pucci, Antonio Miguel, Marcelo Vicentim e Silvio Gallo (on-line)
09/02/23 (quinta)
8h30 - Credenciamento
9h às 10h30 - Mesas-Redondas 11 e 13 (on-line)
11 às 12h30 - Sessões de Comunicações (presencial)
12h - Almoço
14h às 15h45 - Conferência (on-line)
16h às 17h30 - Mesas-Redondas 14, 15 e 16 (on-line)
18h - Mesa-Redonda 10 (on-line)
10/02/23 (sexta)
8h30 - Credenciamento
9h às 10h15 - Conferência de Encerramento (on-line)
12h - Almoço
14h às 17h - Minicursos (presencial)
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Sumário
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
SUMÁRIO: CONFERÊNCIAS; MESAS-REDONDAS; MINICURSOS; COMUNICAÇÕES
Conferências
07/02/2023 (terça) - 10h30 às 12h - Conferência 1 – On-line
CONFERÊNCIA DE ABERTURA ................................................................................. cf2
Otávio Júnior (escritor e ator); mediador: Carlos Eduardo Albuquerque Miranda (FE/UNICAMP)
09/02/2023 (quinta) - 14h às 15h45 - Conferência 2 – On-line
A ESCOLA NA PANDEMIA: REFLEXÕES SOBRE A ESCOLA EM TEMPOS DE
DESLOCAMENTO .................................................................................................... cf3
Inés Dussel (Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav); mediador: Marcus Pereira Novaes (Associação de Leitura do Brasil)
10/02/2023 (sexta) - 9h às 10h15 - Conferência 3 (encerramento) – On-line
A NARRATIVA NA ILUSTRAÇÃO: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO COMPOSITIVA ....... cf4
Maria da Graça M. Lima (Laboratório de Representação Científica da UFRJ); mediadora:
Natália Manson
Mesas-redondas
07/02/2023 (terça) - 16h às 17h30 – On-line
MESA-REDONDA 01
VOZ NO POEMA, ASA NA VIDA: POÉTICAS ANDARILHAS ..................................... mr2
Lilian Carla Barbosa Marçaneiro (Universidade do Estado da Bahia); Lilian Lopes Martin da Silva (Faculdade de Educação – Unicamp); Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (Faculdade de Educação – Unicamp); mediadora: Alda Regina Tognini Romaguera (UNISO – Unicamp)
MESA-REDONDA 02
O BRASIL QUE LÊ: BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS
E RESISTÊNCIA CULTURAL NA FORMAÇÃO DE LEITORES mr2
Cida Fernandez (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro); Lídia Cavalcanti (Universidade Federal do Ceará); Carlos Wellington Soares Martins (Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão); mediadora: Ester Calland de Sousa Rosa (Universidade Federal de Pernambuco)
MESA-REDONDA 03
POESIA DE CORDEL E AS QUESTÕES DE GÊNERO mr3
Letícia Oliveira (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais); Bruna Paiva Lucena (Universidade de Brasília); Simone Santos (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri); Fanka Santos (Universidade Federal do Cariri); Julie Oliveira (Ganesha Edições e Produções Culturais); mediadora: Maria Gislene Carvalho Fonseca (Cátedra internacional José Saramago)
08/02/2023 (quarta) - 9h às 10h30 – On-line
MESA-REDONDA 04
VIDA SURDA NA CONTEMPORANEIDADE E AS LUTAS MENORES
NOS BECOS E EM ROTAS MARGINAIS NAS RUAS mr4
Maura Corcini Lopes (Universidade do Vale do Rio dos Sinos); Patrícia Luiza Ferreira Rezende (Universidade Estadual de Campinas); mediadora: Vanessa Regina de Oliveira Martins (Universidade Federal de São Carlos)
MESA-REDONDA 05
PROGRAMA BIBLIOTECA AMBULANTE E LITERATURA NAS ESCOLAS (BALE): EXPERIÊNCIA
EXITOSA DE RESISTÊNCIA E INCENTIVO À LEITURA NO SEMIÁRIDO POTIGUAR ............. mr4
Diana Maria Leite Lopes Saldanha (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte); Keutre Glaudia da Conceição Bezerra (PIBID Alfabetização do Curso de Pedagogia CAPF); Maria Gorete Paulo Torres (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte); Maria Eridan da Silva Santos (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte); mediadora: Maria Lúcia Pessoa Sampaio (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte)
MESA-REDONDA 06
ESCRITAS E LEITURAS ARRUACEIRAS .................................................................... mr5
Rafael Haddock-Lobo (UERJ); Luiz Rufino (UERJ); Adailton Moreira (UERJ); Fabiana Cozza (cantora); mediadora: Thamara Rodrigues (UEMG/CNPq)
MESA-REDONDA 12
‘É NÓIS: MINAS, BIXAS, PRETOS’: CORPOS-GESTOS-ARTES-FATOS
A INVADIREM OS NÃO-CONVITES DAS RUAS EM
(NÃO)SUB-VERSÕES ESTÉTICAS E POLÍTICAS ........................................................ mr5
Tiago Duque (Universidade Federal Fluminense); Tobias Arruda Queiroz (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte); mediadora: Elenise Cristina Pires de Andrade (UEFS)
08/02/2023 (quarta) - 16h às 17h30 – On-line
MESA-REDONDA 07
RAP E TECNOLOGIAS mr6
Rogério Pelizzari de Andrade (Secretaria Municipal de Educação de São Paulo); Flávio Eduardo da Silva Assis (Instituto Enraizados); Deni Ladi (Produtor Cultural); mediadora: Marcelo Vieira
Pustilnik (Universidade Federal de Santa Maria - UFSM - RS)
MESA-REDONDA 08
ROTAS E RUMOS: LEITURAS E OLHARES SOCIOEDUCATIVOS NAS RUAS .............. mr6
Josely Rimoli (Programa de Extensão: Colmeia); Renata Sieiro Fernandes (Centro de Estudos Multidisciplinar “Eduardo Kambwa”, de Luanda-Angola); Bruno Mariani de Souza Azevedo (Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp); mediadora: Helenice Yemi Nakamura (Conselho Nacional de Saúde)
MESA-REDONDA 09
POLÍTICAS DE LEITURA NO BRASIL ....................................................................... mr6
Larissa de Souza Oliveira (Faculdade de Educação – Unicamp); José Castilho Marques Neto (Universidade Estadual Paulista); Ezequiel Theodoro da Silva (Faculdade de Educação –Unicamp); mediadora: Lilian Lopes Martins da Silva (Faculdade de Educação – Unicamp)
09/02/2023 (quinta) - 9h às 10h30 – On-line
MESA-REDONDA 11
“EU ODEIO EXPLICAR GÍRIA”: SINTAXE PERIFÉRICA E A NORMA CULTA ............... mr7
Renata Mourão Macedo (Universidade de São Paulo); Ivan Russeff (Fundação Perseu Abramo/ Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais); Eliana Asche (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo); mediadora: Maria Nilda de Carvalho Mota (Universidade de São Paulo)
MESA-REDONDA 13
A CENA DA RUA E DO TEATRO NA RUA: RELAÇÕES E PROXIMIDADES NOS ESPAÇOS
ABERTOS DAS CIDADES mr7
Osvanilton de Jesus Conceição (Universidade Federal da Bahia);
Erika Carolina Cunha Rizza de Oliveira (Grupo Matula Teatro); José Amâncio Tonezzi Rodrigues Pereira (Grupo de Pesquisa COGITES – IEL-UNICAMP); mediadora: Rosana Baptistella (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
09/02/2023 (quinta) - 16h às 17h30 – On-line
MESA-REDONDA 14
LITERATURA INDÍGENA: METAMORFOSES ENTRE FLORESTA E CIDADE................ mr8
Daniel Munduruku (Unicapital/ Uniube); Auritha Tabajara (cordelista indígena cearense); Edson Kayapó (EcoUni); mediadora: Davina Marques (IFSP - Hortolândia)
MESA-REDONDA 15
A RUA COM MEIO: INTENSIDADES DESTERRITORIALIZAM IMAGENS mr8
Ana Maria Preve (Universidade do Estado de Santa Catarina); Verónica Hollman (Universidade de Buenos Aires); mediadora: Gisele Girardi (Unicamp)
MESA-REDONDA 16
A PRODUÇÃO IMAGÉTICO-LITERÁRIA DA PERIFERIA DO CAPITALISMO ............... mr8
Fábio Fonseca de Castro (Universidade Federal do Pará); Preto Michel (Movimento Hip Hop de Belém); Monique Malcher (UFSC); mediadora: Marina Ramos Neves de Castro (Universidade Federal do Pará)
09/02/2023 (quinta) - 18h às 19h30 – On-line
MESA-REDONDA 10
ATLAS PORTÁTIL DE LA REVUELTA CALLEJERA EN CHILE ..................................... mr10
Patricio Landaeta (Universidad de Playa Ancha – Valparaiso – Chile); Javiera Carmona Jiménez (Universidad de Playa Ancha – Valparaiso – Chile); Ari Jerrems (Australian National UniversityANU); mediador: Marcus Pereira Novaes (Associação de Leitura do Brasil)
Minicursos
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h – Local: Sala ED 01 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 01
CINEMA, AFETO E FLUXO DE REFUGIADOS .......................................................... mc2
Armando Martinelli Neto (Faculdade de Educação /Unicamp)
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h – Local: Sala ED 02 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 02
CURRÍCULO DE LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL .................................................................................................... mc4
Andrea Rodrigues Dalcin (Secretária Municipal de Educação/Prefeitura Municipal de Cajamar/SP)
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h – Local: Sala ED 04 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 03
HISTÓRIAS CANTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL mc6
Janaína de Souza Silva (Unicamp)
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h – Local: Sala ED 05 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 04
JOGOS PARA APRENDER MATEMÁTICA ................................................................ mc7
Gisela Savassa Gonçalves Sanches (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste); Leda Maria Torres Haddad Bittencourt (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste)
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h – Local: Sala ED 06 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 05
LEITORES À MARGEM: DO QUE SE ORGULHAM OU SE ENVERGONHAM AQUELES
QUE (NÃO) LEEM .................................................................................................. mc8
Luzmara Curcino (Universidade Federal de São Carlos)
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h – Local: Sala ED 07 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 06
O PAPEL DO MEDIADOR NA LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO ................................ mc9
Cláudia de Oliveira Daibello (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’ Oeste); Fernanda Aguiar Moreira (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’ Oeste)
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h – Local: Sala ED 09 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 07
SENTIDO, SENTIDOS E MAIS SENTIDOS AINDA: A LEITURA CRÍTICA E CRIATIVA mc10
Ezequiel Theodoro da Silva (FE/Unicamp)
Comunicações
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 1
Local: Sala ED 01 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
A EMERGÊNCIA DO ENSINO DA VARIAÇÃO PROSÓDICA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL ................................ com2
Valdete da Macena Pardinho (Universidade do Estado da Bahia); Josinéa Amparo Rocha Cristal (Universidade do Estado da Bahia)
PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA NA CONTEMPORANEIDADE
E OS DESAFIOS AOS EDUCADORES ..................................................................... com3
Valéria Rocha Aveiro do Carmo (Universidade Estadual de Campinas)
O CURRÍCULO CULTURAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA COMO POSSIBILIDADE DE POTENCIALIZAÇÃO DA DIFERENÇA ..................................................................... com4
Welington Santana Silva Júnior (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba);
Carolina Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba)
ENTRE O CONCRETO, O VIRTUAL E O IMAGINÁRIO: FREQUÊNCIAS NO MODO DE ENSINAR E APRENDER ........................................................................................ com5
Lara Jatkoske Lazo (E. M. A. Eng. Rubens Foot Guimarães)
CULTURA ESCRITA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: EXPLORANDO A RECONFIGURAÇÃO DE SABERES DOCENTES NO ENSINO REMOTO .................... com6
Nathalia Carolina Azevedo de Medeiros (USP); Patrícia Aparecida do Amparo (USP)
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 2
Local: Sala ED 02 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
COMPARTILHAR A DOCÊNCIA, CULTIVAR A DIFERENÇA: TRANÇANDO LEITURAS NA
DOCÊNCIA COMPARTILHADA DA EJA DE FLORIANÓPOLIS com7
Davi Henrique Correia de Codes (Unicamp)
LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL NAS VIDAS DE EDUCANDOS DA EJA com8
Miriam Martinez Guerra (UFNT)
”LITERATURA É BÚSSOLA”: UMA EXPERIÊENCIA COM O LETRAMENTO LITERÁRIO
DE ALUNOS IDOSOS NA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL ............................................ com9
Simone Lopes Benevides (CEFET-RJ)
MULHERES QUE LEEM MULHERES: A EXPERIÊNCIA DE OFICINAS DE LEITURA COM
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS com10
Débora Sara Ferreira (Prefeitura Municipal de Limeira); Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)
O (NÃO) LUGAR DA LITERATURA NA EJA: O QUE PROPÕEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS? .......................................................................................................... com11
Simone Lopes Benevides (CEFET-RJ)
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
O PNAIC E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORESFORMADORES DE LEITORES ........................................................................................................... com12
Giovanna Rodrigues Cabral (Universidade Federal de Lavras)
CONSIDERAÇÕES SOBRE HISTÓRIA DE LEITURA DE PROFESSORAS NO ÂMBITO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA com13
Giovanna Rodrigues Cabral (Universidade Federal de Lavras)
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 3
Local: Sala ED 04 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
#JUNTOSPELOLIVRO NA PANDEMIA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA PROMOÇÃO
DO LIVRO E DA LEITURA ................................................................................... com14
Laura Andreoli Mariano (UFSCar)
PARA AONDE ELAS SE VÃO? MAPEAMENTO DO PROCESSO DE MULHERES EM FORMAÇÃO EM FÍSICA, EM PANDEMIA com14
Marcelle Tacita de Oliveira Gomes (UFSCar); Carolina Rodrigues de Souza (UFSCar)
LINGUAGEM ESCRITA, INTERAÇÕES E A PANDEMIA (COVID-19): VIVÊNCIAS EM
CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ...................................................... com15
Maria Betanea Platzer (Universidade de Araraquara)
MARCAS INDELÉVEIS – REGISTROS DO MOMENTO DA PANDEMIA NA VIDA DE UMA
DOCENTE DE ESCOLA PÚBLICA ......................................................................... com16
Mariana Rezende Gontijo (Escola Estadual da Vila Boa Vista)
REGISTROS DOS ESTUDANTES EM QUESTÕES DISCURSIVAS: A BUSCA POR DADOS E CAMINHOS NO PÓS-PANDEMIA ....................................................................... com17
Rosangela Eliana Bertoldo Frare (Secretaria Estadual de Educação – SP); Cidinéia da Costa
Luvison (Secretaria Estadual de Educação – SP; Centro Universitário de Itapira – UNIESI)
A MEDIAÇÃO DA BIBLIOTECA NAS PRÁTICAS DE LEITURA DE ALUNOS DE CURSOS
TÉCNICOS INTEGRADOS ................................................................................... com18
Tatiane Aparecida Carneiro Teixeira (Centro Universitário de Araraquara); Maria Betanea Platzer (Centro Universitário de Araraquara)
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 4
Local: Sala ED 05 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
A LITERATURA E A BRINCADEIRA DE PAPÉIS SOCIAIS: DIREITOS DA INFÂNCIA . com19
Nathalia Martins Beleze (SME); Letícia Vidigal (PMC); Sandra Aparecida Pires Franco (Universidade Estadual de Londrina)
A IMAGINAÇÃO E A LINGUAGEM NA CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL com20
Rodrigo Luiz de Araujo (Prefeitura de São José dos Campos)
UM ENSAIO SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO ...................................... com21
Rosana Aparecida Motta Barcella (Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Educação de Ibaté)
VIVÊNCIAS DE BRINCAR/LETRAR DE UMA CRIANÇA COM AUTISMO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL ........................................................................................................... com22
Zélia Amorim de Proença (Prefeitura Municipal de Campinas); Ana Paula de Freitas (Universidade São Francisco)
A LEITURA DE LITERATURA COM BEBÊS COMO POSSIBILIDADE DE PROCEDER NO MUNDO ............................................................................................................ com23
Ana Cristina Ayres Motta (Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá); Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto (Universidade Estadual de Campinas)
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 5
Local: Sala ED 06 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
DA EXOTOPIA À UTOPIA: NARRAR A (RE)EXISTÊNCIA ....................................... com24
Alberto Fernando Gil Dias (Universidade Estadual de Campinas)
EU LUTO. POESIA EM PALAVRAS E POESIA EM IMAGENS: DO PARTICULAR PARA O UNIVERSAL com24
Gizele Cristina Rodrigues Caparroz de Almeida (Elos Educacional); Nadejda Ramirez Starikoff (Colégio Nossa Senhora do Morumbi)
PERMITA QUE EU FALE NÃO ÀS MINHA CICATRIZES ......................................... com25
Lívia Sgarbosa (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba); Carolina Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba)
DIÁRIO DE UMA LOUSA COMO ESCRITA DE UM MEMORIAL DE UMA PROFESSORA
EM FESTA com26
Lucia de Fatima Dinelli Estevinho (Universidade Federal de Uberlândia)
FABULANDO HISTÓRIAS MULTIESPÉCIES NO ANTROPOCENO.......................... com27
Luiza Dantas Benttenmüller Amorim (UFF)
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 6
Local: Sala ED 07 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
LITERATURA POR DENTRO DO CURRÍCULO: AÇÕES POTENCIAIS EM UM CONTEXTO
EDUCACIONAL ATRAVESSADO PELA BNCC com28
Luís Fernando Portela (Prefeitura Municipal de Passo Fundo/Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
DA “SOLIDÃO DA TERRA” ÀS “POÉTICAS DO VIVO”: A URGÊNCIA DE SE PENSAR
OUTROS MODOS DE RELAÇÃO EM EDUCAÇÃO................................................ com28
Michele Fernandes Gonçalves (UFSC)
O ENSINO DE HIP HOP NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO EM CAMPO GRANDE (MS) com29
Natália Mazzilli Dias (Unicamp)
JOGO & MITOLOGIA: BUSCANDO UMA ESTRATÉGIA PARA O LETRAMENTO
INFORMACIONAL.............................................................................................. com30
Renata de Mello Santos Leviski (MPPEB – Colégio Pedro II); Aira Suzana Ribeiro Martins (MPPEB – Colégio Pedro II)
ENTRE RUAS E RIOS – A (IN)VISIBILIDADE DA ALFABETIZAÇÃO COMO PROCESSO
DISCURSIVO ...................................................................................................... com31
Karen Cezar Baptista (UNICAMP); Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto (UNICAMP)
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 7
Local: Sala ED 09 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
UMA ANÁLISE DE REPRESENTAÇÕES DO LEITOR EM UMA ADAPTAÇÃO DE UM
CONTO DE FADAS DO ACERVO DISPONIBILIZADO PELO PROGRAMA ‘CONTA PRA
MIM’ (MEC – 2019) .......................................................................................... com33
Adriana Cícera Amaral Fancio (Universidade Federal de São Carlos); Luzmara Curcino (Universidade Federal de São Carlos)
EXPERIÊNCIA E LEITURA LITERÁRIA NA OBRA DE MIGUEL SANCHES NETO com34
Alzira Fabiana de Christo (Unicentro)
FORMAÇÃO LEITORA DA INTELECTUAL MARIA EUGENIA CELSO ..................... com35
Carla Bispo Azevedo (ProPEd/UERJ)
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
ABRINDO CAMINHOS PARA A LEITURA E A ESCRITA: DESAFIOS DE UMA ATIVIDADE DE EXTENSÃO ................................................................................................... com35
Heloisa Chalmers Sisla (UFSCar); Patrícia Andrea do Risso (UFSCar); Mariana Alves de Souza Gasparotto (UFSCar)
LEITURA E MULTIMODALIDADE EM UM LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS DOS
ANOS INICIAIS DO EF com36
Juliana Pimentel Ajala (Universidade São Francisco ); Luzia Bueno (Universidade São Francisco)
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 8
Local: Sala ED 10 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
CINEMA INDÍGENA: ARTE E EDUCAÇÃO ........................................................... com38
Luiz Felipe Medina (Unicamp); Alik Wunder (Unicamp)
COSMOFEMINISMO: ENGRAVIDAR ONTOEPISTEMOLOGIAS PARA PENSAR-AGIR
EDUCAÇÃO, FILOSOFIA, LITERATURA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL com39
Milena Bachir Alves (Unicamp)
HEAVY BAILE PARA PRIMEIRA INFÂNCIA? POSSIBILIDADES MÚLTIPLAS DO AUDIOVISUAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL ........................................................... com40
Isadora Franco Di Gianni (Prefeitura Municipal de Campinas)
BOCUYÁ MARÁ: PROCESSOS INVENTIVOS ENTRE DESENHO, ESCRITA POR MEIO DOS SABERES KARIRI-XOCÓ com41
Victor Hugo da Silva Iwakami (Unicamp)
PELAS RUAS DA CIDADE: A CONSTRUÇÃO DE UM ROTEIRO NEGRO COM
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA NA CIDADE DE CAMPINAS ........................................................................................................ com42
Ana Paula de Lima (Secretaria de Educação de São Paulo)
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 9
Local: Sala ED 11 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
A TEMÁTICA AMBIENTAL E A LITERATURA INFANTIL CONTEMPORÂNEA – BREVE
ENSAIO ............................................................................................................. com43
Gabriella Pizzolante da Silva (Universidade Federal de São Carlos); Carolina Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos)
O ENSINO DO ATO DE LER E DO ATO DE ESCREVER: DESAFIO DA ALFABETIZAÇÃO... com44
Greice Ferreira da Silva (Universidade Estadual de Londrina)
LEITURA DE LITERATURA: QUANDO OS ESTUDANTES SÃO OS LEITORES NA SALA DE AULA com45
Isis Parise Silva (FE/Unicamp)
A LEITURA LITERÁRIA EM AMBIENTES DIGITAIS: DISPOSITIVOS DIGITAIS UTILIZADOS NA MEDIAÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA NO CONTEXTO PANDÊMICO ............... com46
Josiele Vita da Silva Tavares (UFLA)
POLÍTICAS DE LEITURA NO BRASIL: VOZES MOBILIZADAS PELOS CONGRESSOS DE LEITURA DO BRASIL .......................................................................................... com47
Larissa de Souza Oliveira (Faculdade de Educação – Unicamp); Lilian Lopes Martin da Silva (Faculdade de Educação – Unicamp)
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 10
Local: Sala ED 12 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
”A RUA É NÓIS”: A MÚSICA NA SALA DE AULA COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DAS
IDENTIDADES DOS EDUCANDOS ...................................................................... com48
Karina Mayara Leite Vieira (Prefeitura Municipal de Campinas)
DAS LEITURAS DO MUNDO DA RUA PARA AS LEITURAS DO MUNDO ACADÊMICO:
UMA EXPERIÊNCIA NO CURSO DE PEDAGOGIA................................................ com49
Marielly Agatha Machado (UNICAMP); Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto (UNICAMP); Giovanna Santos de Freitas Caires (UNICAMP)
A VOZ DA RUA: O QUE AS CRIANÇAS PEQUENAS DIZEM SOBRE A LEITURA E A ESCRITA com49
Mellina Silva (UNICAMP)
DAS SALAS DE AULA PARA AS RUAS: AS VOZES DAS CRIANÇAS SOBRE SEUS TERRITÓRIOS .................................................................................................... com50
Sérgio Renato Lima Pinto (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Luiza Pereira da Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Maria Cleonice da Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Rita de Cássia Bastos Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Rosalina Albuquerque Henrique (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Simone de Jesus da Fonseca Loureiro (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Walter da Silva Braga (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Izafira de Souza Gregianin (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire)
O LIVRO NO MURO ........................................................................................... com51
Silvana Dias Cardoso Pereira (Unicamp – FE – Grupo ALLE/AULA); David da Silva Pereira (GPOPP – UTFPR CP e PPGEN)
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 11
Local: Sala ED 13 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
ENTRE LEITURA DE TEXTOS PROFISSIONAIS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: UM
RECORTE SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES .............................................. com53
Daniele Aparecida Alves Biondo (UNICAMP)
DOCÊNCIA E CURADORIA: PENSANDO OS ENCONTROS DAS AULAS ................ com54
Rafaely Carolina da Cruz (Unicamp); Davina Marques (IFSP Hortolândia)
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL: MAPEAMENTO
E ANÁLISE DE PESQUISAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 2011-2021 com54
Fernanda Maya Guimarães (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
BANQUETE LITERÁRIO: VIVÊNCIAS E PRÁTICAS FORMATIVAS PARA EDUCADORES .. com55
Rosalina Albuquerque Henrique (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Rita de Cássia Bastos Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Izabel Conceição
Nascimento Costa dos Santos (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Katia Cilene Nina Santos (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Sérgio Renato Lima Pinto (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Edilena Pinheiro Guerra (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Walter da Silva Braga (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Iza Cristina Prado da Luz Gaspar (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire – Universidade Federal do Pará)
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 12
Local: Sala ED 14 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
O LUGAR DO PROFESSOR DA PRIMEIRA INFÂNCIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
LEITURA: UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS DE LEITURA COM CRIANÇAS BEM
PEQUENAS com57
Denise Aparecida de Paulo Ribeiro Leppos (SME São Carlos – CEMEI Deputado Vicente Botta)
TENSÕES ENTRE OS SABERES DA ESCOLA AS VIVÊNCIAS DA RUA E A FORMAÇÃO
OMNILATERAL DA CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL ..................................... com57
Janaína de Souza Silva (Unicamp)
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
O PROGRAMA CONTA PRA MIM / MEC-BRASIL: INVESTIGANDO POLÍTICAS DE LEITURA PARA A INFÂNCIA NO BRASIL (2019-2022)......................................... com58
Naila de Figueiredo Portugal (Fundação Municipal de Educação de Niterói)
AS POTENCIALIDADES DA LITERATURA INFANTIL NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: AFETO E REPRESENTATIVIDADE com59
Isabela Ramalho Orlando (FE/Unicamp)
CRIANÇAS AUTORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA PEDAGOGIA FREINET ........................................................................................ com60
Isabela Ramalho Orlando (FE/Unicamp)
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 13
Local: Sala ED 15 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PESSOAL NA ESCOLA NA FORMAÇÃO DO LEITOR DE LITERATURA com61
Cláudia de Oliveira Daibello (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’ Oeste)
A TAREFA DO LEITOR DA TRADUÇÃO: ERRÂNCIAS NA EDUCAÇÃO ENTRE RASTROS DA TRADUÇÃO E DA LEITURA ........................................................................... com61
Davi Henrique Correia de Codes (Unicamp)
A FORMAÇÃO DO REPERTÓRIO LITERÁRIO DO ALUNO NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DOS REGISTROS DE CIRCULAÇÃO DE LIVROS NAS SALAS DE LEITURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS com62
Eduardo Ferrinha Alves Moreira (Unicamp)
MAPAS INTERPRETATIVOS E MONTAGENS MULTIMODAIS NA EXPERIÊNCIA DE LEITURA LITERÁRIA ........................................................................................... com63
Eliana Kefalás Oliveira (Universidade Federal de Alagoas)
O CORPO, O SENTIR, O SENTIDO: UMA PROPOSTA PARA O APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE DE LEITURA ................................................................................. com63
Fernanda Elias Zucarelli (Colégio Pequeno Príncipe)
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 14
Local: Sala ED 16 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
CARTAS E A POÉTICA DA VIDA: POR ENTRE FRONTEIRAS AUTOBIOGRÁFICAS ....... com65
Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo (Universidade Estadual Paulista)
LEITURAS (D)E ESCREVIVÊNCIA ........................................................................ com66
Marisa de Souza Cunha Moreira (Universidade Estadual Paulista)
CATANDO MALHADO NA CORRIDA: UMA EXPERIÊNCIA FILOSÓFICA DE UM JOVEM
PESCADOR DE MANJUBA com67
Paulo Cesar Franco (Secretaria de Educação de São Paulo)
ENCANTES PARA REFLORESTAR UM TEXTO CIDADE ......................................... com67
Rafael Caetano do Nascimento (Unicamp); Andrea Desiderio da Silva (Unicamp)
LIRISMO MEDIEVAL: DIVERSIDADE E CONEXÃO COM A ATUALIDADE ............. com68
Paulo Roxo Barja (UNIVAP); Cláudia Regina Lemes (Secretaria Estadual de Educação de São Paulo)
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 15
Local: Sala LL 01 (térreo) - Prédio Principal - FE/Unicamp
”SABER ANUNCIAR É TUDO”: CARTAZES ILUSTRADOS NAS PÁGINAS DO MAGAZINE
O MERCURIO (1898) ......................................................................................... com70
Aline Santos Costa de Lemos (SMEC Itaguaí); Márcia Cabral da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro); Soyane da Silva Santos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
LEITORES CHEIOS DE SOM E FÚRIA: RELATOS ORAIS SOBRE UM JORNAL APEDREJADO .................................................................................................... com70
José Carlos Fernandes (Universidade Federal do Paraná)
O PRÊMIO VAI PARA...: VOTANTES, EDITORAS E ARTISTAS NA COMPOSIÇÃO DO PRÊMIO FNLIJ (2001-2018) com71
Josiane de Souza Soares (CAP – UFRJ)
BIBLIOTECA ESCOLAR: LUGAR DE AÇÃO CULTURAL E INCENTIVO À LEITURA LITERÁRIA ......................................................................................................... com72
Luci Mary Corrêa Lopes (Universidade Federal de Rondônia); Monise Adriana Buso Velho (Universidade Federal de Rondônia)
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI: UMA REFLEXÃO ACERCA DAS AÇÕES DE MEDIAÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA ............................................................. com73
Sarah Cristina Costa Ferreira (Universidade Federal de Lavras)
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 16
Local: Sala LL 02 (térreo) - Prédio Principal - FE/Unicamp
O CINISMO E AS PRÁTICAS DE EXISTÊNCIA COMO ENSINO PARA A VIDA ........ com75
David da Silva Pereira (UTFPR); Silvana Dias Cardoso Pereira (GPOPP – UTFPR-CP e ALLE-AULA FE-UNICAMP)
DIÁLOGOS SOBRE LEITURA E AFETOS PARA TRANSFORMAR A EXPERIÊNCIA
ACADÊMICA com75
Adriana Maria de Assumpção (Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade Estácio de Sá); Carla Antunes Pereira (Programa de Pós-Graduação em Educação –Universidade Estácio de Sá)
JANELAS DO CAOS ............................................................................................ com76
Ivânia Marques (Prefeitura Municipal de Americana)
PRÁTICAS SITUADAS DE LETRAMENTO ACADÊMICO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA
EXITOSA NA UNICAMP ..................................................................................... com77
Maria Beatriz Gameiro Cordeiro (IFSP); Rafaely Carolina da Cruz (Unicamp); Kennedy Cabral Nobre (Unilab); Anna Christina Bentes (Unicamp)
LITERATURA, TRANSFORMAÇÃO E REALIDADE: UMA CONSTRUÇÃO A PARTIR DE TRAJETOS QUE SE ENTRECRUZAM ................................................................... com78
Débora Sara Ferreira (Prefeitura Municipal de Limeira); Eliane Aparecida Bacocina (IFSP); Lara Jatkoske Lazo (E.M.A Eng. Rubens Foot Guimarães)
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 17
Local: Sala LL 03 (térreo) - Prédio Principal - FE/Unicamp
A CONTRIBUIÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO DESENVOLVIMENTO DO GÊNERO PETIÇÃO INICIAL PARA INGRESSANTES DO CURSO DE DIREITO ....................... com80
Alessandra Gomes Varisco (Universidade São Francisco); Milena Moretto (Universidade São Francisco)
A ESCOLA DO FUTURO DE ISAAC ASIMOV: MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO, CURRÍCULO, COTIDIANO E IMAGINAÇÃO ............................................................................. com81
Alessandra Heckler Stachelski (UFRGS)
POR UMA DESTERRITORIALIZAÇÃO DOCENTE: EXPERIÊNCIAS MENORES NO
ENSINO DE QUÍMICA ........................................................................................ com82
Bruna Gabriela Nico Pereira Herculano (Wish School); Carolina Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos)
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
O BULLYING E SEU IMPACTO NO AMBIENTE ESCOLAR: O QUE INDICA A PESQUISA
NA ÁREA DA EDUCAÇÃO? ................................................................................. com83
Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia (Universidade Federal da Fronteira Sul)
A CRÔNICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DA
CATEGORIA DIALÉTICA PRÁXIS com84
Letícia Vidigal (Prefeitura Municipal de Cambé – PR); Nathalia Martins Beleze (SME); Sandra Aparecida Pires Franco (Universidade Estadual de Londrina)
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 18
Local: Sala do LAE (1 º and./Bl. D) - Prédio Principal - FE/Unicamp
VOOS POÉTICOS: PRÁTICAS DE LEITURA DE CECÍLIA MEIRELES NO 6º ANO DO CAP
UFRJ .................................................................................................................. com85
Lorenna Bolsanello de Carvalho (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
CONTOS PÁTRIOS: ESTUDO SOBRE OS NACIONALISMOS EM LIVROS ESCOLARES NA
PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930) .................................................................. com86
Luiz Fernando da Costa Soares (UERJ)
MODOS DE FALAR EM VIDA JUVENIL: ARTICULAÇÃO ENTRE IMPRENSA, CURRÍCULO
E ENSINO SECUNDÁRIO (1949-1959) ............................................................... com86
Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza (Universidade do Estado do Rio de Janeiro);
Victor Soares Rosa (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
LITERATURA EM REVISTA: ERICO VERÍSSIMO E O CASO DO PERIÓDICO A NOVELA
(1936-1938) ...................................................................................................... com87
Michele Ribeiro de Carvalho (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ GRUPEEL UERJ); Aline
Santos Costa de Lemos (Smec Itaguaí/GRUPEEL UERJ); Gabrielle Carla Mondêgo Pacheco
Pinto (SME Rio de Janeiro/GRUPEEL UERJ)
O TEXTO LITERÁRIO NA PERSPECTIVA DOS MULTILETRAMENTOS E
MULTIMODALIDADES: O CONTO O AMIGO DO REI, DE RUTH ROCHA COMO
INSTRUMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA.................................... com88
Renata de Mello Santos Leviski (MPPEB – Colégio Pedro II); Elaine de Barros Manhanini Sampaio (MPPEB – Colégio Pedro II)
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 19
Local: Sala ED 01 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
RUA E A ESCOLA: PALAVRA, PALAVRÃO ............................................................ com90
Cilene Maria Valente Silva (SEDUC – BELÉM – PA); Lorena Bischoff Trescastro (CEP Getúlio Vargas, Belém – PA)
PAISAGENS URBANAS: UMA LEITURA POÉTICA DAS RUAS............................... com90
Cláudia Regina Lemes (Secretaria Estadual de Educação); Paulo Roxo Barja (Universidade do Vale do Paraíba)
VOLTAR À RUA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: REFLEXÕES SOBRE O RETORNO À ESCOLA A PARTIR DO RELATO DE ESTUDANTES DE LICENCIATURA ....... com91
Érika Menezes de Jesus (Instituto Federal Fluminense)
CAMINHAR, CATAR, DESACELERAR: ATMOSFERAS, ESCRITAS E ENCONTROS COM AS RUAS ................................................................................................................. com92
Gabriela de Sousa Tóffoli (Universidade Federal do Paraná); Thalita Alves Sejanes (Universidade Federal do Paraná); Kátia Maria Kasper (Universidade Federal do Paraná)
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 20
Local: Sala ED 02 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
PROJETO LUGARES DE LER: NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOROCABA ..................................................................................... com94
Leila Regina Oliveira Chinelatto (Universidade de Sorocaba)
A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A UNIVERSIDADE E A LEITURA: CONTRIBUIÇÕES
DO PROJETO FUTURO UERJ .............................................................................. com95
Luiza Barboza Braz (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
EMOÇÕES E LEITURA: A VERGONHA DA CONDIÇÃO NÃO-LEITORA ................. com96
Luzmara Curcino (Universidade Federal de São Carlos)
LETRAMENTO LITERÁRIO E DECOLONIALIDADE: PRÁTICAS IDENTITÁRIAS ....... com96
Moema de Souza Esmeraldo (UFRR)
MEDIAÇÃO DE LEITURA: A LITERATURA NOS PARQUES E RUAS com97
Simone Cristiane Schiavon Ayres (Academia Popular de Letras de São Caetano do Sul)
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 21
Local: Sala ED 04 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
UM OLHAR SOBRE A SOBRE A ARTE URBANA E SUA PRESENÇA NO TRABALHO
PEDAGÓGICO .................................................................................................... com99
Aira Suzana Ribeiro Martins (Colégio Pedro II)
GESTOS MAIS QUE HUMANOS NO FIM DE MUNDO DO FILME NAUSICAÄ DO VALE
DO VENTO (1984) com99
Ana Paula Valle Pereira (Universidade Federal Fluminense); Shaula Maíra Vicentini de Sampaio (Universidade Federal Fluminense)
ARTE E LETRAMENTOS: DESENHANDO PALAVRAS PARA LER O MUNDO ....... com100
Elaine de Barros Manhanini Sampaio (Colégio Pedro II); Marta Patrícia Peixoto Duarte de Deco (Colégio Pedro II)
ARTE URBANA: REVERBERAÇÕES NO ESPAÇO ESCOLAR com101
Patricia Rita Cortelazzo (Colégio Técnico de Campinas); Mara Rosângela Ferraro Nita (Colégio Técnico de Campinas)
PARTICIPAÇÃO INFANTIL: MAPEAMENTO E ANÁLISE DE PESQUISAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 2011-2021 ................................................................................. com102
Tiago da Silva Abreu (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 22
Local: Sala ED 05 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E DIFUSÃO DA CULTURA AFRO-DESCENDENTE COMO
AUXÍLIO AO LETRAMENTO DISCENTE com104
Izabel Cristina Barbosa de Oliveira (IFAL – Piranhas)
LITERATURA NEGRO AFETIVA NA ESCRITA DE SONIA ROSA ........................... com105
Cláudia Fernandes de Amorim de Oliveira (UERJ); Márcia Cabral da Silva (UERJ)
LER PARA TRANSFORMAR: A FORMAÇÃO DO LEITOR E DA LEITORA ANTIRRACISTA, CONSTRUINDO PONTES COM A RELAÇÃO RACIAL ......................................... com105
Fernanda Camargo Dalmatti Alves Lima (Prefeitura Municipal de Campinas); Renata Barroso de Siqueira Frauendorf (Avisa Lá/Unicamp)
FORMAÇÃO DE LEITORES: CONSTRUINDO PERCURSOS DE LEITURA A PARTIR DOS
ESCRITORES AFRO-BRASILEIROS NO/DO ESTADO DO AMAPÁ ........................ com106
Monica do Socorro de Jesus Chucre (UNICAMP / IFAP);
Chrissie Castro do Carmo (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá )
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
PORTFÓLIO: REFLETINDO SOBRE NOVAS POSSIBILIDADES AVALIATIVAS ....... com107
Izabel Cristina Barbosa de Oliveira (IFAL – Piranhas)
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 23
Local: Sala ED 06 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
O GÊNERO ORAL EM QUESTÃO: DA CONSTRUÇÃO DO SLIDE AO DESENVOLVIMENTO DA LÍNGUA PADRÃO – APRENDENDO COM TEMAS DA DIVERSIDADE SOCIAL com109
Chrissie Castro do Carmo (IFAP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia); Mônica do Socorro de Jesus Chucre Costa (IFAP/ UNICAMP)
AS DIMENSÕES POLÍTICAS E SOCIAIS DA LITERATURA INFANTIL ENQUANTO MEIO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA: DO “DIREITO À LITERATURA” À PRODUÇÃO DE UM
DISCURSO ANTIRRACISTA E NÃO SEXISTA ...................................................... com110
Denise Aparecida de Paulo Ribeiro Leppos (SME São Carlos – CEMEI Deputado Vicente Botta)
FORMAS DE EDUCABILIDADE PARA AS JOVENS BRASILEIRAS: EXPERIÊNCIAS ENTRE
CUIABÁ E O DISTRITO FEDERAL (1946-1950) com111
Gabrielle Carla Mondego Pacheco Pinto (UERJ); Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza (UERJ)
PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CURRÍCULO, TERRITÓRIO E DECOLONIALIDADE ......................................................................................... com112
Jaqueline de Meira Bisse (Secretaria Municipal de Educação de Campinas – EMEFEI Padre
Francisco Silva); Mariana Roveroni (Secretaria Municipal de Educação de Campinas – FE/ UNICAMP)
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 24
Local: Sala ED 07 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
NARRATIVAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES: INTERLOCUÇÕES POSSIVEIS
ENTRE A FORMAÇÃO E PRÁTICA..................................................................... com113
Rita de Cássia Bento Manfrim (SME Campinas)
DISCURSOS SOBRE LEITURA NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO E NA FORMAÇÃO
DOCENTE: O QUE DIZEM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA com114
Rodrigo Soares Brito (Universidade São Francisco); Milena Moretto (Universidade São Francisco)
MEMÓRIAS E NARRATIVAS DE PROFESSORAS DO CAMPO: O CASO DA REGIÃO
SUDOESTE DO PARANÁ .................................................................................. com115
Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia (Universidade Federal da Fronteira Sul)
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 25
Local: Sala ED 09 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA ENQUANTO LUGAR DE FORMAÇÃO SOBRE FONTES
DE INFORMAÇÃO E LEITURA: RELATO DE EXPERIÊNCIA com116
Simone Lucas Gonçalves de Oliveira (Unicamp/Faculdade de Educação)
A AEL - ACADEMIA ESTUDANTIL DE LETRAS PELOS DISCURSOS DE PROFESSORES E ESTUDANTES................................................................................................... com117
Pamella Doria de Souza Martins (Universidade Estadual de Campinas)
CONFABULAÇÕES SOBRE LITERATURA, INFÂNCIA E MIGRAÇÕES................... com118
Adriana Maria de Assumpção (Universidade Estadual de Campinas); Harime de Jesus Arcenio Bonfim (Universidade Estácio de Sá); Patricia Batista Santos (Universidade Estácio de Sá)
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 26
Local: Sala ED 10 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
TANTOS ENCONTROS QUANTAS POSSIBILIDADES DE INVENTÁ-LOS – EXERCÍCIOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO .............................................................................. com119
Raphaela de Toledo Desiderio (Universidade Federal da Fronteira Sul)
Os
A LEITURA DA VERBO-VISUALIDADE PELO VIÉS DIALÓGICO........................... com120
Anderson Cristiano da Silva (SEDUC-SP)
CORPOS E(M) MOVIMENTOS EM UMA SALA DE AULA .................................. com120
Ariana Sousa de Moraes Sarmento (SED/SC – EEB Padre Anchieta)
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E EDUCAÇÃO CIDADÃ: QUAL CIDADÃO PARA QUAL
SOCIEDADE? com121
Bruna Gabriela Nico Pereira Herculano (Wish School); Carolina Rodrigues de Souza (UFScar); Marcelle Tácita de Oliveira (UFScar)
LIBERDADE, ALEGRIA E DIVERSÃO: AS BRINCADEIRAS DE RUA SÃO
MATERIALIZADAS NO RECREIO? ..................................................................... com122
Vania Maria Batista Sarmanho (SEMEC); José Anchieta de Oliveira Bentes (Universidade do Estado do Pará); Simone de Jesus da Fonseca Loureiro (Secretaria Municipal de Educação de Belém); Lorena Bischoff Trescastro (Secretaria Municipal de Educação de Belém); Lucia Cristina Azevedo Quaresma (Secretaria Municipal de Educação de Belém)
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 27
Local: Sala ED 11 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
PARTILHANDO EXPERIÊNCIAS: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DA OBRA LITERÁRIA
“NADANDO CONTRA A MORTE”, DE LOURENÇO CAZARRÉ ............................ com124
Kelly da Silva Oliveira (Colégio Multiplus); Susana Angelin Furlan (Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho)
QUEM É FLICTS? MEDIAÇÃO DE LEITURA E TEMÁTICA DA INCLUSÃO EM TEXTOS DE CRIANÇAS DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ....................................... com125
Lorena Bischoff Trescastro (CEP Getúlio Vargas, Belém – PA); Vania Maria Batista Sarmanho (SEDUC, Belém – PA); Cilene Maria Valente da Silva (SEDUC, Belém – PA); Simone de Jesus da Fonseca Loureiro (SEDUC, Belém – PA); Lucia Cristina Azevedo Quaresma (SEDUC, Belém – PA)
REPRESENTAÇÕES DE INFÂNCIAS MARAJOARAS EM “CHOVE NOS CAMPOS DE CACHOEIRA”, DE DALCÍDIO JURANDIR............................................................ com126
Lorenna Bolsanello de Carvalho (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
COLEÇÕES PARA JOVENS LEITORES: DICIONÁRIOS, ENCICLOPÉDIAS, BELAS LETRAS E COMPÊNDIOS NA BIBLIOTECA DO EXTERNATO DO COLÉGIO PEDRO II (1927-1929)..com127
Victor Soares Rosa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
ÍNDICE DAS COMUNICAÇÕES POR AUTOR ..................................................... com128
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Conferências
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
07/02/2023 (terça) - 10h30 às 12h - Conferência 1
On-line
CONFERÊNCIA DE ABERTURA
Otávio Júnior (escritor e ator);
mediador: Carlos Eduardo Albuquerque Miranda (FE/UNICAMP)
09/02/2023 (quinta) - 14h às 15h45 - Conferência 2
On-line
A ESCOLA NA PANDEMIA: REFLEXÕES SOBRE
A ESCOLA EM TEMPOS DE DESLOCAMENTO
Inés Dussel (Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav); mediador: Marcus Pereira Novaes (Associação de Leitura do Brasil)
A pandemia mudou a “domicilização” da escola, deslocando-a para o espaço doméstico. Este artigo questiona os efeitos dessa domesticação das escolas, principalmente quando considerada em sua intersecção com as desigualdades préexistentes e com as tecnologias e pedagogias disponíveis. O argumento central é que, ao contrário do que sustentam os argumentos tecnofílicos, essas mudanças trazem inúmeras tensões de difícil resolução, e nos permitem ver a relevância da estrutura material e simbólica da escola para a produção de outro espaço que abre espaço para uma autonomia intelectual e afetiva progressiva. Apresenta-se também a ideia de que a aula é um ambiente sociotécnico particular que possibilita modos de trabalhar com o conhecimento, ao mesmo tempo em que organiza corpos e tempos em atividades que devem propor desafios intelectuais; isso está fora de lugar nos arranjos educacionais improvisados na emergência, que mostram um deslocamento da ênfase e das hierarquias do trabalho escolar. Na parte final, as chaves são descritas para discutir algumas das lições aprendidas nesses tempos de deslocamento.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
10/02/2023 (sexta) - 9h às 10h15 - Conferência
On-line
3 (encerramento)
A NARRATIVA NA ILUSTRAÇÃO: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO COMPOSITIVA
Maria da Graça M. Lima (Laboratório de Representação Científica da UFRJ); mediadora: Natália Manson
A linguagem da ilustração é narrativa por excelência, tem vida própria, apesar de ter uma relação íntima com o texto não se utiliza deste para compor sua narrativa. Independente do texto que a acompanha, a imagem é carregada de narrativa. O ilustrador de livros infantis deve saber se expressar a partir de um texto, respeitando-o, mas interpretando-o livremente. A ilustração propicia o desenvolvimento da imaginação do leitor. Durante o processo de criação, o ilustrador dialoga com o texto, criando seu próprio discurso que não resulte em redundância ao texto. Este processo de invenção autônoma propõe junto ao texto uma série de possibilidades não contidas de forma explícita na obra. Deste modo, o ilustrador participa da reinvenção de uma nova realidade literária. A obra de um ilustrador é uma arte, porque, assim como os pintores, os escultores, os músicos ou qualquer outro tipo de artista, ele tem a necessidade de fazer compreensíveis seus sonhos e através de sua capacidade profissional interpretar o mundo em que vive dando sua visão imaginativa e real à sociedade. O livro infantil ilustrado pode ser encarado como uma espécie de ritual de iniciação que obedecerá a uma série de etapas progressivas na formação estética da criança.
(encerramento)
Mesas-redondas
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
07/02/2023
On-line
(terça) - 16h às 17h30
MESA-REDONDA 01
VOZ NO POEMA, ASA NA VIDA: POÉTICAS ANDARILHAS
Lilian Carla Barbosa Marçaneiro (Universidade do Estado da Bahia); Lilian Lopes Martin da Silva (Faculdade de Educação – Unicamp);
Antonio Carlos Rodrigues de Amorim (Faculdade de Educação – Unicamp);
mediadora: Alda Regina Tognini Romaguera (UNISO – Unicamp)
Inspirada na frase “Voz no poema, asa da vida”, do Centro de Experimentação Poética (CEP 20.000), esta mesa conversa com uma prática de poesia falada, que nomeamos poéticas andarilhas. Dialoga com os atravessamentos que a ocupação das ruas em experimentações propostas pelo CEP – tais como no projeto “Pô, ética!” - afetam tanto a produção acadêmica, quanto provocam encontros urbanos, nas suas performances em espaços públicos.
MESA-REDONDA 02
O BRASIL QUE LÊ: BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E RESISTÊNCIA CULTURAL NA FORMAÇÃO DE LEITORES
Cida Fernandez (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro); Lídia Cavalcanti (Universidade Federal do Ceará); Carlos Wellington Soares Martins (Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão); mediadora: Ester Calland de Sousa Rosa (Universidade Federal de Pernambuco)
As bibliotecas comunitárias são espaços de formação de leitores, de resistência e de afirmação da identidade cultural em territórios marcados pela exclusão de direitos e de acesso a bens culturais. Pesquisas na área destacam que esses espaços são, em sua maioria, organizados por iniciativa de lideranças locais e são mantidos por amplas redes de apoio, sem a intervenção regular do poder público em seu financiamento ou proposta de trabalho. São também espaços de formação de mediadores de leitura, majoritariamente mulheres e jovens moradores de comunidades localizadas em periferias urbanas. Nesses ambientes, a formação de leitores tem como foco o acesso à Literatura, entendida como direito humano, e ocorre através da realização de práticas em que predominam a leitura compartilhada, o exercício da autoria e vivências com diferentes linguagens artísticas. Conhecer essas experiências traz elementos importantes para o debate no campo da leitura e da formação leitora, em especial porque evidencia que o livro e a biblioteca são bens culturais valorizados e demandados por segmentos sociais que são, muitas vezes, categorizados na sociedade brasileira como sendo compostos por “não leitores”.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
MESA-REDONDA 03
POESIA DE CORDEL E AS QUESTÕES DE GÊNERO
Letícia Oliveira (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais); Bruna Paiva Lucena (Universidade de Brasília); Simone Santos (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri); Fanka Santos (Universidade Federal do Cariri); Julie Oliveira (Ganesha Edições e Produções Culturais); mediadora: Maria Gislene Carvalho Fonseca (Cátedra internacional José Saramago) Nesta mesa apresentamos uma reflexão histórica sobre as mulheres autoras de cordel, que foram invisibilizadas em suas produções, mas que atualmente reivindicam serem reconhecidas. Falamos sobre a trajetória das pesquisas acadêmicas – produzidas por mulheres – que questionam as antologias e os demais trabalhos que não identificaram as produções femininas; sobre o Movimento Cordel Sem Machismo, em que jovens autoras contemporâneas se unem para criar mecanismos de transformação; sobre como as mulheres foram descritas pelos chamados fundadores do cordel no Brasil.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 9h às 10h30
On-line
MESA-REDONDA 04
VIDA SURDA NA CONTEMPORANEIDADE E AS LUTAS MENORES
NOS BECOS E EM ROTAS MARGINAIS NAS RUAS
Maura Corcini Lopes (Universidade do Vale do Rio dos Sinos); Patrícia Luiza Ferreira Rezende (Universidade Estadual de Campinas);
mediadora: Vanessa Regina de Oliveira Martins (Universidade Federal de São Carlos)
Diante de uma explosão de informações, aparentes conquistas e certa visibilidade dada aos movimentos surdos na atualidade, sobretudo, a marcada presença da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em espaços institucionais formais, midiático e até presidenciais, ainda nos cabe falar em lutas marginais surdas? Há silenciamento e vulnerabilidade a certas formas de vida surdas na atualidade? Os direitos linguísticos e a expressividade surda na diferença, sobretudo, na escola após a alteração legal e inserção da modalidade bilíngue de ensino, incorporada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em agosto de 2021, atendem aos anseios surdos frente a educação? O que falta? Há movimentos menores surdos em becos e em vias marginais, por vezes não trazidos paras as rotas centrais e os caminhos tradicionais? Isso auxilia a resistência à normatização da vida na diferença? Com tantas perguntas abertas essa mesa objetiva analisar as formas contemporâneas dos movimentos surdos, a normatização educacional na ação da incorporação de uma educação bilíngue maior e a necessidade da ativação de potências menores postas nas ruas como forças que desterritorializam a padronização das vidas, do aprender e da expressividade que a diferença mobiliza.
MESA-REDONDA 05
PROGRAMA BIBLIOTECA AMBULANTE E LITERATURA NAS ESCOLAS
(BALE): EXPERIÊNCIA EXITOSA DE RESISTÊNCIA E INCENTIVO À LEITURA NO SEMIÁRIDO POTIGUAR
Diana Maria Leite Lopes Saldanha (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte);
Keutre Glaudia da Conceição Bezerra (PIBID Alfabetização do Curso de Pedagogia CAPF);
Maria Gorete Paulo Torres (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte);
Maria Eridan da Silva Santos (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte);
mediadora: Maria Lúcia Pessoa Sampaio (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte)
Esta mesa terá como esteio o panorama da atuação por quinze anos do Programa
Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas (BALE) na região do Alto Oeste potiguar, com base nas experiências das equipes que atuam em cinco cidades distintas. Visa, ainda, a refletir sobre as práticas de mediação de leituras utilizadas pelo Programa para formar e autoformar leitores, através da metáfora “Canteiros”:
Formação, Informação, Encenação, Contação e Ficção. Serão apresentadas na mesa as atividades realizadas e suas repercussões nas comunidades bem, como as experiências vivenciadas por esses sujeitos que coordenam as ações, tanto em espaços escolares como em espaços não-escolares.
MESA-REDONDA 06
ESCRITAS E LEITURAS ARRUACEIRAS
Rafael Haddock-Lobo (UERJ); Luiz Rufino (UERJ); Adailton Moreira (UERJ); Fabiana Cozza (cantora); mediadora: Thamara Rodrigues (UEMG/CNPq)
O livro “Arruaças: uma filosofia popular brasileira”, publicado em 2020 pela editora Bazar do tempo, é um projeto, nascido em mesas de bares, que pretende mostrar a relevância dos saberes populares, como os sambas, as capoeiras, as macumbas e outras manifestações culturais afroameríndiobrasileiras. Escrito por um pedagogo, um historiador e um filósofo, o livro traz textos de Luiz Rufino, Luiz Antonio Simas e Rafael Haddock Lobo, através de uma escrita que pretende dialogar, não com o leitor especializados, mas com aqueles que inspiram a escrita do livro e que são, eles, os produtores de saber. Nesse sentido, com a participação de dois autores do livro, a mesa pretende, em um primeiro momento, dialogar sobre a experimentação de uma escrita que seja, ela também, arruaceira. Em um segundo momento, a conversa acontecerá em torno das aventuras de leitura a que o livro conduz, com as falas da cantora, escritora, pesquisadora e intérprete Fabiana Cozza e do Babalorixá Adailton Moreira, mestre em educação, Doutorando no Programa de Bioetica da UFRJ e um dos grandes nomes do Candomblé.
MESA-REDONDA 12
A INVADIREM OS
DAS RUAS EM (NÃO)SUB-VERSÕES ESTÉTICAS E POLÍTICAS
Tiago Duque (Universidade Federal Fluminense);
Tobias Arruda Queiroz (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte); mediadora: Elenise Cristina Pires de Andrade (UEFS)
Convites invasivos que nos chegam pelas ruas dos pixels, dos muros: lives, cursos, reuniões, clipes inéditos, shows liberados, eventos, aulas. Que artes se expandem (ou não) a tais fatos? Quais gestos intensificam (ou não) alguns corpos? Velocidade da banda larga, uso de dados, smart phones, computadores, corredores, transportes públicos, pesquisas, escritas, músicas, respirações, máscaras. Que cansaços nos atingem? Questões/tensões envolvendo as relações singulares individuais e coletivas, nessa situação de fascismo e violência que acomete nosso país. O que podem artesfatos-gestos-corpos quando deslocades da, pela e na rua? O que pode uma rua e o que faz um corpo quando desloca a sensação de (des)obediência de formas de vida? Como pensarmos as corporeidades musicais e a gira poética para enfrentarmos o racismo? Como gestos-fatos-artes-corpos, assim re/des-locades, podem provocar outras (des) obediências em (não)sub-versões estéticas e políticas?
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
‘É NÓIS: MINAS, BIXAS, PRETOS’: CORPOS-GESTOS-ARTES-FATOS
NÃO-CONVITES
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 16h às 17h30
On-line
MESA-REDONDA 07
RAP E TECNOLOGIAS
Rogério Pelizzari de Andrade (Secretaria Municipal de Educação de São Paulo); Flávio Eduardo da Silva Assis (Instituto Enraizados); Deni Ladi (Produtor Cultural);
mediadora: Marcelo Vieira Pustilnik (Universidade Federal de Santa Maria - UFSM - RS)
A finalidade desta mesa é o debate com colegas professoras/es sobre leitura, smartphones e cultura de rua. A ideia é de estabelecer uma discussão na relação entre dispositivos móveis e leitura, direcionados para a cultura musical dos estudantes, mais especificamente, ao rap, dentro das práticas de leituras apoiadas nas novas tecnologias e nas referências musicais dos alunos. Pensar propostas a serem utilizadas no processo de aprendizagem incorporando a cultura da rua com a da sala de aula.
MESA-REDONDA 08
ROTAS E RUMOS: LEITURAS E OLHARES SOCIOEDUCATIVOS NAS RUAS
Josely Rimoli (Programa de Extensão: Colmeia); Renata Sieiro Fernandes (Centro de Estudos Multidisciplinar “Eduardo Kambwa”, de Luanda-Angola); Bruno Mariani de Souza Azevedo (Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp);
mediadora: Helenice Yemi Nakamura (Conselho Nacional de Saúde)
Leituras possíveis da rua através de ações multidisciplinaridades, nos campos da educação, da arte e da saúde, com população que se encontra em condições de vulnerabilidade. Enfrentamento à violência, trajetórias, vínculos, cuidados.
MESA-REDONDA
09 POLÍTICAS DE LEITURA NO BRASIL
Larissa de Souza Oliveira (Faculdade de Educação – Unicamp); José Castilho Marques Neto (Universidade Estadual Paulista);
Ezequiel Theodoro da Silva (Faculdade de Educação – Unicamp);
mediadora: Lilian Lopes Martins da Silva (Faculdade de Educação – Unicamp)
Nos últimos 40 anos, diversos segmentos da sociedade civil relacionados ao livro e a leitura, bem como esferas da administração pública vem somando esforços na busca de uma democratização da prática da leitura, compondo uma rede de vozes e ações que sustentam planos e programas de leitura e lutam pela garantia da Lei Nº 13.696, de 12 de julho de 2018. O Congresso de Leitura do Brasil (COLE) é parte fundamental dessa história desde seu surgimento em 1978. Mais recentemente, a pesquisa “O Brasil que lê” reuniu iniciativas de promoção à leitura de todo o país, trazendo à tona uma extensa malha fiada cotidianamente, na direção de democratizar essa prática cultural. Que futuro se delineia agora? Que forças estão em jogo? Esta mesa propõe uma reflexão acerca desses movimentos em torno das políticas de leitura no país.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
09/02/2023 (quinta) - 9h às 10h30
On-line
MESA-REDONDA 11
“EU ODEIO EXPLICAR GÍRIA”: SINTAXE PERIFÉRICA E A NORMA CULTA
Renata Mourão Macedo (Universidade de São Paulo);
Ivan Russeff (Fundação Perseu Abramo/Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais); Eliana Asche (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo);
mediadora: Maria Nilda de Carvalho Mota (Universidade de São Paulo)
Há alguns anos têm sido objeto de debate o confronto entre a produção literária considerada clássica e as produções literárias marginais ou periféricas. Esse confronto precisa ganhar mais substância, a partir da compreensão de que a linguagem não se realiza no plano das formalidades gramaticais, mas na sua execução cotidiana. Essa mesa pretende estimular uma conversa entre a gramaticabilidade e a função poética da linguagem. Para tanto, vamos abordar as questões relativas à construção do fazer poético, fora das normas gramaticais. O que significa o preconceito linguístico traduzido para a produção poética periférica? O que incomoda o mundo letrado? A linguagem ou o conteúdo que ela traz? Que marcas a linguagem das periferias expressam?
MESA-REDONDA 13
A CENA DA RUA E DO TEATRO NA RUA: RELAÇÕES E PROXIMIDADES NOS ESPAÇOS ABERTOS DAS CIDADES
Osvanilton de Jesus Conceição (Universidade Federal da Bahia);
Erika Carolina Cunha Rizza de Oliveira (Grupo Matula Teatro); José Amâncio Tonezzi Rodrigues Pereira (Grupo de Pesquisa COGITES – IEL-UNICAMP); mediadora: Rosana Baptistella (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)
As relações do teatro com a rua. Pesquisas e experiências na perspectiva de artistas cênicos que atuam, observam, estudam e refletem sobre/no espaço aberto das cidades. O texto lido, falado, encenado; o texto no corpo, na voz, no contexto da rua. Como se relacionam os múltiplos personagens da rua e o ator, a atriz, o performer?
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
09/02/2023 (quinta) - 16h às 17h30
On-line
MESA-REDONDA 14
LITERATURA INDÍGENA: METAMORFOSES ENTRE FLORESTA E CIDADE
Daniel Munduruku (Unicapital/ Uniube); Auritha Tabajara (cordelista indígena cearense); Edson Kayapó (EcoUni); mediadora: Davina Marques (IFSP - Hortolândia)
A mesa convida três escritores/as, acadêmicos/as e pensadores/as indígenas: Daniel Munduruku, Auritha Tabajara e Edson Kaiapó, que em suas trajetórias entre cidade e floresta, aldeias e universidades, literatura e narrativa oral, pesquisa acadêmica e atuação política produzem metamorfoses identitárias, existenciais, estéticas, literárias e no pensamento em diversas áreas de conhecimento. É pela força da metamorfose que se fazem nesses trânsitos entre mundos que o 23o COLE convida todxs a pensarem a potência da palavra, da presença criativa e do gesto político dos povos indígenas na literatura, na academia e na vida pública.
MESA-REDONDA 15
A RUA COM MEIO: INTENSIDADES DESTERRITORIALIZAM IMAGENS
Ana Maria Preve (Universidade do Estado de Santa Catarina);
Verónica Hollman (Universidade de Buenos Aires);
mediadora: Gisele Girardi (Unicamp)
A mesa se propõe como uma parada, uma desaceleração de um movimento que começa bem antes, começa agora, de trocas de leituras e experimentações a partir de movimentações em imagens e pelas imagens nas ruas de Florianópolis e Buenos Aires e outras que por aí atravessam. Se pensamos o espaço como encontro de trajetórias até então, quais leituras acontecem quando a rua se torna o meio que afeta, quando ela se torna a condição de experimentações que intensificam modos outros de habitá-la, quando ela começa a se nos apresentar como múltiplos intervalos que nos aproximam a outros humanos e não humanos?
MESA-REDONDA 16
A PRODUÇÃO IMAGÉTICO-LITERÁRIA DA PERIFERIA DO CAPITALISMO
Fábio Fonseca de Castro (Universidade Federal do Pará);
Preto Michel (Movimento Hip Hop de Belém); Monique Malcher (UFSC); mediadora: Marina Ramos Neves de Castro (Universidade Federal do Pará)
Imagens, leituras e intersubjetividades. As possíveis leituras na periferia urbana do capitalismo, a presença da cultura nas dimensões da intersubjetividade: sensorialidades, sensibilidades e afetividades. Diálogos e interpretações do mundo da vida, ordinário e quotidiano, na produção do imaginário social e seu reflexo na produção da literatura e da leitura do mundo da vida. Narrativas imagético-literárias de colonialidade e de decolonialidade na produção imagético-literária na articulação entre espaço, texto,
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
imagem, identidade, comunicação e cultura. Colocar em evidência as experiências imagético-literária de criadores da periferia do capitalismo.
09/02/2023 (quinta) - 16h às 17h30
09/02/2023
On-line
(quinta) - 18h às 19h30
MESA-REDONDA 10
ATLAS PORTÁTIL DE LA REVUELTA CALLEJERA EN CHILE
Patricio Landaeta (Universidad de Playa Ancha – Valparaiso – Chile);
Javiera Carmona Jiménez (Universidad de Playa Ancha – Valparaiso – Chile); Ari Jerrems (Australian National University - ANU);
mediador: Marcus Pereira Novaes (Associação de Leitura do Brasil)
La propuesta se inspira en diversos proyectos de producción colectiva de conocimiento que han surgido a raíz del levantamiento de octubre 2019 en las calles de Chile y pretende contribuir a ellos. Estos proyectos subrayan la necesidad de archivar, mapear y teorizar el evento, el modo en que subvierte el uso de la calle, como historia vivida. Estudiar el levantamiento como historia vivida no provoca un tipo de respuesta particular, sino que inicia una investigación sobre lo que hace posible. Discutiremos la figura del atlas como herramienta para dicha investigación. El objeto de estudio es el uso de la calle como superficie de inscripción. El atlas se emplea para conservar el archivo emergente del levantamiento mediante la composición de imágenes y textos, no para cerrar el significado sino para permitir que la imaginación entre en el ámbito del conocimiento.
Minicursos
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h
Local: Sala ED 01 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 01
CINEMA, AFETO E FLUXO DE REFUGIADOS
Armando Martinelli Neto (Faculdade de Educação /Unicamp)
Grupo de pesquisa: Laboratório de Estudos Audiovisuais/OLHO
Apoio Financeiro: Ministério Público do Trabalho (MPT/SP) e Núcleo de Estudos Populacionais (NEPO/Unicamp)
Na busca por lançar reflexões quanto a abordagem audiovisual sobre os fluxos de refugiados, tomando como objeto central de estudo, o documentário Fogo no Mar (Fuocoammare, Gianfranco Rosi, 2016), e sua representação das interações entre os moradores da ilha italiana de Lampedusa e os refugiados do Norte da África e do Oriente Médio, esta proposta de mini curso tem por objetivo apresentar possibilidades de compreensão quanto a mediação do outro a partir da construção de cenários opositivos, do uso de imagens complexas e reais, na geração de alteridade e afeto. Em pauta geral, as narrativas sobre os fluxos de refugiados, na chamada mídia jornalística de massa, tratam dos desastres, das vidas perdidas, dos efeitos políticos/ econômicos nos países em que eles aportam. Com influência relevante do Positivismo de Auguste Comte, a mídia jornalística, basicamente, procura eliminar a subjetividade dos raciocínios, e assim valorizar a razão como proeminente direta de uma “verdade”, deixando de lado o quimérico, o fantasioso, o lúdico (MEDINA, CREMILDA. 2008). Os refugiados, normalmente, fogem da violência física das terras natais para aportarem em territórios marcados pela violência moral.
Na contramão dessa retórica, a arte, no caso o Cinema, surge como antídoto, ao nos aproximar dos flagelos, em dimensões temporais que atravessam novos olhares. O cinema não apresenta apenas imagens, ele as cerca com um mundo. Não há verdade que antes de ser uma verdade, não seja a efetuação de um sentido ou a realização de um valor. Tudo depende do valor e do sentido do que pensamos. (DELEUZE, Gilles. Cinema 2 – Imagem-Tempo, 2007).
Edgard Morin ressalta a importância do pensamento complexo como forma a combater o que chama de império de disjunção, redução e abstração, cujo conjunto constitui o chamado “paradigma de simplificação” ou “hiperprosa” (MORIN, EDGARD. 2012, p. 40). Nesse sentido, o pensador salienta a necessidade de uma “hiperpoesia”, caminho traçado em profundas reflexões, como contraponto e escudo da superficialidade das narrativas padronizadas.
Em síntese, o minicurso tem por proposta discutir a importância do Cinema como caminho gerador de afeto, especialmente na temática dos fluxos de refugiados, tecendo análises sobre a obra Fogo no Mar, com reflexões baseadas em autores dos estudos sobre imagem, cinema, mídia e cultura.
Referências: ABAUMAN, Zygmunt. Estranhos entre nós. Rio de Janeiro: Zahar, 2016.
DELEUZE, Gilles. Cinema II: A Imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2007. ECO, Umberto. Migração e intolerância. Rio de Janeiro. Record, 2020. MACÉ, Marielle.
Siderar, considerar: migrantes, formas de vida. Rio de Janeiro. Bazar do tempo, 2018. MEDINA, Cremilda. Ciência e jornalismo: da herança positivista ao diálogo dos
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h
Local: Sala ED 01 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
afetos. São Paulo: Summus Editorial, 2008. MORIN, Edgar: Amor, poesia, sabedoria. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.
Filmografia: FOGO NO MAR. Itália/França. Direção: Gianfranco Rosi. 2016. (108 min), Título original: Fuocoammare.
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h
Os
mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Local: Sala ED 02 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 02
CURRÍCULO DE LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
E NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Andrea Rodrigues Dalcin (Secretária Municipal de Educação/Prefeitura Municipal de Cajamar/SP)
Os dados gerados pelo Relatório de Pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” (2021), mostrou que apenas 52% dos brasileiros tem hábitos de leitura, sendo esse resultado 4% menor do que o registrado em 2015. Nesse período (2015 a 2019), o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores e, ainda assim, a instituição escola e seus professores são os responsáveis por indicar diversas leituras para mais da metade das pessoas que se intitulam como leitoras. No entanto, quando se trata de leitura e livros, os adultos têm seus direitos garantidos já que fazem escolhas de diferentes naturezas: desde o suporte de leitura, aos modos, tempos e horários para se ler. Mas, e os pequenos leitores? A que eles têm direito? Entre o suporte de leitura e o pequeno leitor há um adulto! Quais leituras ele oferece? De que forma? Quais são os critérios para escolha de obras a serem lidas aos pequenos por seus professores? E se a leitura, em especial a literária, ocupasse um lugar central na escola e no currículo? Quais são as condições essenciais para que um currículo de leitura se efetive na prática? Essas e outras questões serão abordadas por meio de diálogos com concepções e perspectivas de autores e pesquisadores da área, discussões sobre práticas de leitura e análise de livros literários, considerando que não há neutralidade ao decidir o que ensinar e como atuar em sala de aula, pois a partir dessas ações podemos legitimar, potencializar ou transformar o currículo com outras formas de olhar, compreender e significar a preponderância da leitura na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Como principais referenciais teóricos teremos Chartier (2001), Goulemot (2001), Bajour (2012), Colomer (2003 e 2007), Petit (2009 e 2013), Oliveira (2008), Nikolajeva e Scott (2011), Linden (2011), Salisbury e Styles (2013).
Referências: ABAJOUR, Cecilia. Ouvir nas entrelinhas: o valor da escuta nas práticas de leitura. Trad. Alexandre Morales. São Paulo: Editora Pulo do Gato, 2012.
CHARTIER, Roger. Do livro à leitura. In: Práticas da Leitura (Org.). Tradução: Cristiane Nascimento. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. COLOMER, Teresa. A formação do leitor literário: narrativa infantil e juvenil atual. Trad. Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2003. COLOMER, Teresa. Andar entre livros: a leitura literária na escola. Trad. Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2007. GOULEMOT, Jean Marie. Da leitura como produção de sentidos. In: CHARTIER, Roger. Práticas da Leitura (Org.). Tradução: Cristiane Nascimento. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. LINDEN, Sophie Van der. Para ler o livro ilustrado. Trad. D. Bruchard. São Paulo: Cosac Naify, 2011. NIKOLAJEVA, Maria; SCOTT, Carole. Livro ilustrado: palavras e imagens. Tradução Cid Knipel. São Paulo: Cosac Naify, 2011. OLIVEIRA, Rui de. Pelos jardins Boboli: reflexões sobre a arte de ilustrar livros para crianças e jovens. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. PETIT, Michèle. A arte de ler ou como resistir à adversidade. Tradução: Arthur Bueno e Camila Boldrini. São Paulo: Ed. 34, 2009. PETIT, Michèle. Leituras: do espaço
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
íntimo ao espaço púbico. Tradução: Celina Olga de Souza. São Paulo: Ed. 34, 2013.
SALISBURY, Martin; STYLES, Morag. Livro infantil ilustrado: a arte da narrativa visual.
São Paulo: Rosari, 2013.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h
Local: Sala ED 04 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 03
HISTÓRIAS CANTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Janaína de Souza Silva (Unicamp)
Considerando a Educação Infantil como primeira etapa da modalidade de ensino da Educação Básica, bem como momento decisivo para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores da criança (PASQUALINE, 2010), esta proposta de minicurso tem por finalidade apresentar possibilidades de ações pedagógicas capazes de potencializar o desenvolvimento infantil. Vale dizer que esta proposta concebe a linguagem como propulsora do pensamento e do desenvolvimento humano (VIGOTSKI, 2002); reconhece a pertinência de se ter a compreensão da essência e da natureza da língua e da linguagem, bem como, ter clareza do lugar e do papel que estas ocupam na vida em sociedade (VOLÓCHINOV, 2019); E faz a defesa de que os modos de mediação são constitutivos do processo de aprendizagem do estudante que não simplesmente “age sobre a linguagem, mas nela e por ela se constitui (re)significando seu modo de ser e estar no mundo” (SAVIAN; OMETTO, 2016, p. 20). Em síntese, este minicurso tem por proposta desenvolver com os cursistas práticas educativas intencionais, orientadas para o público infantil considerando a articulação entre a teoria e a prática pedagógica utilizando as histórias cantadas como recurso para a potencialização do desenvolvimento da oralidade dos estudantes infantis.
Referências: PASQUALINI, J. C. Contribuições da psicologia histórico-cultural para a educação escolar de crianças de 0 a 6 anos: desenvolvimento infantil e ensino em Vigotski, Leontiev e Elkonin. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar) –Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Araraquara. SAVIAN, M. R. O; OMETTO, C. B. C. N. A alfabetização como prática dialógica de leitura e escrita. Revista Brasileira de Alfabetização, Vitória, v. 1, p. 159-180, 2016. VIGOTSKI, L. S. Psicologia, Educação e Desenvolvimento: escritos de L. S. Vigotski. Organização e tradução: Zoia Prestes e Elizabeth Tunes. 1ª Edição Expressão Popular. São Paulo, 2021. VOLÓCHINOV, V. A palavra na vida e a palavra na poesia: ensaios, artigos, resenhas e poemas. Organização, tradução, ensaio introdutório e notas: Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Editora 34, 2019.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h
Local: Sala ED 05 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 04 JOGOS PARA APRENDER MATEMÁTICA
Gisela Savassa Gonçalves Sanches (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste); Leda Maria Torres Haddad Bittencourt (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste)
Este minicurso pretende proporcionar reflexões sobre a importância dos jogos como um recurso potente para o ensino da matemática. No âmbito escolar, eles podem ser considerados um recurso didático que contribui para a construção do conhecimento matemático através das interações e reflexões que proporcionam, privilegiando um espaço de diálogo e de valorização dos diferentes conhecimentos em sala de aula. As situações de jogos são significativas para os alunos porque proporcionam vivenciarem situações desafiadoras, utilizando os próprios conhecimentos como ponto de partida, para colocá-los à prova, modificá-los e ampliá-los. Sendo assim, esse minicurso visa promover a vivência e análise de alguns jogos em que as crianças sejam instigadas, promovendo a observação das ações executadas e análise de suas consequências para que sejam capazes de compreender melhor o jogo, fazerem melhores antecipações, cometer menos erros, terem condutas estratégicas, ou seja, refletir sobre situações em que realizem atividades puramente matemáticas.
Referências: PANIZZA, Mabel (Org.). Ensinar matemática na educação infantil e séries iniciais: análise e propostas. Porto Alegre: Editora Artmed, 2006. MACEDO, Lino; PETTY, Ana Lúcia; PASSOS, Norimar Christe. Aprender com Jogos e Situações-Problema. Porto Alegre, Editora Artmed, 2007. PARRA, Cecília; SAIZ, Irma (Org.). Didática Da Matemática: Reflexões Psicopedagógicas. Porto Alegre: Editora Artmed, 2001.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h
Local: Sala ED 06 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 05
LEITORES À MARGEM: DO QUE SE ORGULHAM OU SE ENVERGONHAM AQUELES QUE (NÃO) LEEM
Luzmara Curcino (Universidade Federal de São Carlos)
Neste minicurso visamos fomentar a reflexão sobre o que é dito acerca dos leitores, em especial daqueles que se encontram à margem das condições para o exercício da leitura, de modo a abordar preconceitos de que são vítimas, estigmas culturais como o de analfabetos, iletrados, frívolos e não-leitores (Bayard, 2007). Pretendemos discutir diversas formas de marginalização dos sujeitos ligadas à leitura: como são descritos ou invisibilizados; quando e por que meios ganham certa visibilidade (ainda que temporária, estereotipada e inócua do ponto de vista de sua emancipação), e em que discursos sobre a leitura se ancoram essas formas de representar esses sujeitos? Em nosso minicurso abordaremos essas condições que determinam quem pode vir a ser leitor e quem, desde cedo, está estatisticamente condenado i) a não ser reconhecido (e a não se reconhecer) nessa condição, mesmo tendo aprendido a ler; ii) a não gozar dos benefícios simbólicos que o exercício dessa prática outorga a alguns; iii) a ser estigmatizado como não-leitor em função da ‘distância’, real ou pressuposta, do que faz quando lê, daquilo que lê, do modo como se pronuncia a respeito; iv) a ser esquecido, ignorado, por sua condição de leitor ‘infame’ (Foucault, 2003); v) a conviver com a vergonha e com os impactos dessa vergonha de não ser leitor. Desde as formas de expressão da inadequação ao modelo idealizado de leitor, até aquelas em que vigora a convicção de sua condição leitora, seja na condição de ‘herdeiros’, na de ‘trânsfugas’ (Bourdieu; Passeron, 2014) ou na de ‘ralé’ (cf. Souza, 2018), estamos diante de diversas formas de objetivação e de subjetivação dos sujeitos (Foucault, 2006), estamos diante de representações de uma prática (cf. Chartier, 2011), que dispõem de uma força simbólica em convencer de sua coincidência com o real (ou com uma idealização deste real), e em fornecer, alimentar e fortalecer as imagens coletivas e consensuais, com suas hierarquias, com sua ação estabilizante dos comportamentos, das crenças, das práticas e de seu reconhecimento social. As discussões propostas visam restituir à leitura sua condição de prática emancipatória e não de mais uma forma a serviço da distinção dos sujeitos.
Referências: BAYARD, Pierre. Como falar dos livros que não lemos? Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. Os Herdeiros: os estudantes e a cultura. Florianópolis: EdUFSC, 2014. CHARTIER, Roger. Uma trajetória intelectual: livros, leituras, literaturas. In: ROCHA, João Cesar de Castro (Org.). Roger Chartier – A força das representações: história e ficção. Chapecó: Argos, 2011. SOUZA, Jessé. A ralé brasileira: quem é e como vive. 3ª edição ampliada com nova introdução. São Paulo: Editora Contracorrente, 2018. FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infames. In: FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos IV – Estratégia, Poder-Saber. Organização de Manoel Barros da Motta. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h
Local: Sala ED 07 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 06
O PAPEL DO MEDIADOR NA LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO
Cláudia de Oliveira Daibello (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’ Oeste); Fernanda Aguiar Moreira (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’ Oeste)
Este minicurso pretende proporcionar reflexões sobre o papel dos mediadores de leitura (sejam eles educadores, professores, promotores de leitura ou interessados no tema) com o objetivo de discutir os modos como a mediação do texto literário pode contribuir para ampliar as possibilidades de compreensão, trazendo para a conversa que se realiza antes, durante ou depois da leitura espaços de debate sobre diferentes interpretações e pontos de vista, espaços de escuta das diferentes perspectivas leitoras e, consequentemente, de espaços que promovam a multiplicidade de vozes a partir do texto literário.
Buscando articular situações práticas de mediação de leitura com as mais recentes perspectivas sobre a leitura do texto literário, que procuram valorizar o leitor e sua relação com texto, este minicurso promove análise de situações de mediação reais, feitas em contexto escolar, bem como possibilita a vivência de propostas de mediação de leitura, pautadas nas reflexões teóricas de autores como Bajour (2012), Rouxel (2015) e Reys (2017).
Referências: BAJOUR, Cecília. Ouvir nas entrelinhas: o valor da escuta nas práticas de leitura. São Paulo: Ed. Pulo do Gato, 2012. REYS, Yolanda. O triângulo amoroso. In: LIMA, Érica; FARIAS, Fabíola; LOPES, Raquel. As crianças e os livros: reflexões sobre a leitura na primeira infância. Belo Horizonte: Fundação Municipal de Cultura, 2017. ROUXEL, Annie. Um sujeito leitor para a literatura na escola. Entrevista com Annie Rouxel. Tradução de Neide Luzia de Rezende e Gabriela Rodella de Oliveira. Revista Teias, UERJ, v. 16, n. 41, p. 280-294, 2015.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
10/02/2023 (sexta) - 14h às 17h
Local: Sala ED 09 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
MINICURSO 07
SENTIDO, SENTIDOS E MAIS SENTIDOS AINDA: A LEITURA CRÍTICA E CRIATIVA
Ezequiel Theodoro da Silva (FE/Unicamp)
Apresentação e justificativa: Por falta de estudos sobre teoria/prática de leitura durante o período de formação básica dos professores, o ensino e a orientação da leitura nas escolas geralmente seguem o caminho do acaso, da improvisação e/ou da imitação. Essa lacuna pode gerar várias consequências negativas, entre elas a própria morte do potencial de leitura dos estudantes ao longo da sua trajetória escolar e, no que se refere ao contexto brasileiro, conforme revelado por pesquisas e estatísticas, um quadro vergonhoso de índices de leitura pela grande maioria da população. Não a leitura, mas a lei-dura que representa as condições relacionadas à educação dos leitores, principalmente a adoção de didáticas sem fundamento – sem pé nem cabeça – por uma razoável quantidade de professores de todos os níveis do ensino. Afora aqueles que se escondem por detrás dos textos, adotando cegamente livros didáticos e/ou apostilas pré-programadas. Cabe ainda ressaltar que o programa de crises que se evidencia na esfera da leitura no Brasil atende à reprodução do status quo pelas classes hegemônicas. Isto porque, promovidas condignamente, as práticas de leitura, em especial as de natureza crítica, podem revelar a razão de ser das contradições existentes no país, conduzindo as pessoas ao questionamento e julgamento dos fatos, à contestação das mentiras, à ação das oligarquias, aos desmandos do poder, à gênese dos preconceitos e assim por diante. Nestes termos, um ensino consequente de leitura conduzindo à formação de leitores, portando e fazendo juízos de valor, é muitas vezes tomado como “perigoso”, pois que pode levar os cidadãos ao desejo de transformação social, de mudança de costumes, de conhecimento das causas primeiras dos fenômenos, da ciência a respeito da exploração capitalista e assim por diante. Isto posto, entendemos que uma sessão voltada ao conhecimento das bases teórico-práticas de uma nova pedagogia da leitura possa incrementar a ações docentes na área da leitura, conduzindo-os a uma análise sobre os seus comportamentos e atitudes voltados às lidas dos estudantes com textos em sala de aula e, quiçá, ao delineamento de novas maneiras de produzir a leitura. É nossa crença que os professores não são ou não deveriam ser repetidores nem copiadores de metodologias prontas, mas sim mediadores que usam criativamente a sua imaginação para arquitetar métodos consequentes para a fruição de textos pelas suas turmas de alunos.
Objetivo: Através de uma aula prática, envolvendo a leitura de um texto curto seguida de atividades grupais, apresentaremos um paradigma psicológico da leitura que possa sustentar teoricamente as ações pedagógicas dos professores da educação fundamental.
Plano da aula (3 h/a): Boas-vindas e apresentação da proposta. Leitura de um texto curso, seguida de 3 atividades de produção de sentidos. Exposição do paradigma: constatação-cotejo- transformação. Rodada de perguntas. Encerramento.
Texto recomendado: SILVA, Ezequiel T. O ato de ler – fundamentos psicológicos para uma nova pedagogia da leitura. SP: Cortez, 2008.
Comunicações
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 1
Local: Sala ED 01 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
A EMERGÊNCIA DO ENSINO DA VARIAÇÃO PROSÓDICA NO PROCESSO
Valdete da Macena Pardinho (Universidade do Estado da Bahia); Josinéa Amparo Rocha Cristal (Universidade do Estado da Bahia)
Como nosso tema encontra-se no limiar da leitura: alfabetizar/letrar, iniciaremos nossa discussão com o entendimento de Soares (2003) sobre o tema “Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler dentro de um contexto onde o texto tenha sentido(s)” Para além da proposta da prof. citada, incluímos neste processo um elemento fundamental: a variação prosódica, iniciando com os tons primários, “conforme o proposto por Massini e Cagliari 2012, (p. 126), já que, na fase infantil, os escolares não têm maturidade para atribuir aos textos variações mais sofisticadas. Compreendemos que o ensino de leitura deva agregar o ritmo, entoação a pausa, pois estes elementos promovem o(s) sentido (s) pretendido(s) seja no texto escrito ou oral. Em estudo sobre este tema, Cutler et al. (2003) compreendem que os aspectos prosódicos são indispensáveis ao ato de ler. Komeno et al., (2015), realizaram uma pesquisa para conhecer o desempenho da compreensão da leitura entre alunos do 9º ano do ensino fundamental II. Constituíram um corpus de fala de 32 escolares (50% do gênero masc. e 50 %, fem.), com a idade de 14 anos, matriculados no 9º ano de uma escola particular de São Paulo. Os resultados revelaram que os alunos que leram mais rápido e com variação prosódica adequada ao texto oferecido eram os que alcançavam notas bem mais elevadas do que o outro grupo. Deduzimos, então, que a velocidade e a entoação são sinalizadoras de um leitor proficiente que utiliza mais recursos cognitivos para a compreensão de textos, provavelmente, possibilita melhor desempenho acadêmico às disciplinas. Miller e Keenan (2009) postulam que quanto mais rápida for a identificação de palavras, mais recursos terá a memória de trabalho para realizar outras operações. Na sociedade hodierna, cada vez mais se produzem gêneros orais especialmente nas redes sociais, na mídia jornalística e televisiva onde a criança está sempre cerceada. Ensinar a ler é ensinar a pensar, ajudar o aprendiz a compreender a sociedade em que vive, é libertar-se das interpretações do outro, criar suas próprias opiniões a respeito do que se dizem e escrevem. Em entrevista semiestruturada, dialogamos com 30 alfabetizadoras de 3 estados e boa parte delas disseram que seus alunos não entendem o que leem e só compreendem um texto a partir da leitura delas. Inferimos, então, que uma das causas do fracasso escolar que os institutos avaliativos da leitura no Brasil vêm apontando, pode estar associado ao ensino de ler sem agregar os elementos prosódicos. Diríamos que tal questão possa estar relacionada com a má formação curricular do alfabetizador. Dados de nossa pesquisa informaram que 92% das entrevistadas não têm conhecimentos básicos sobre linguística: fonética, fonologia, prosódia. Para constituição de nossa pesquisa, trabalhamos com Soares; Cutler et al., Massini-Cagliari; Komeno et al. etc.
Palavras-chave: leitura; variação prosódica; fracasso escolar.
PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA NA CONTEMPORANEIDADE
E OS DESAFIOS AOS EDUCADORES
Valéria Rocha Aveiro do Carmo (Universidade Estadual de Campinas)
Este estudo objetiva refletir sobre os resultados de compreensão leitora em suporte digital e impresso a partir de revisões bibliográficas e de pesquisa participativa realizada em campo para composição de tese de doutorado. Frente aos diversos perfis leitores assumidos pelas crianças e jovens, na atualidade, e aos multiletramentos, socialmente correntes, muitos são os conflitos por que passam os professores. As capacidades envolvidas no ato de ler textos literários em livros físicos não são as mesmas requeridas quando se trata de um suporte eletrônico. Mas quais são as condições, sobretudo nas escolas públicas, para se constituírem situações de aprendizagem favoráveis ao hábito e desenvolvimento da leitura literária proficiente? A Base Nacional Comum Curricular (2018) preconiza o ensino através de estratégias de multiletramento para atender às demandas do contexto tecnológico e diverso de hoje. Na união entre os objetivos de leitura e o multiletramento, a literatura, fundamental para a formação humana, é uma arte que não pode ficar ausente do âmbito escolar, exigindo que o professor expanda o seu repertório e o domínio de práticas que vão do uso do texto impresso às dinâmicas do hipertexto. Porém, a compreensão do escrito, visando a atingir suas camadas mais profundas, pede que as estratégias de ensino sejam balizadas pelo entendimento de que o cérebro leitor exige as capacidades de atenção e memória, o que, no caso do meio digital, é mais desafiador. O acesso dos estudantes aos livros digitais passa pela necessidade de que os próprios educadores possam ser curadores e até produtores de objetos digitais em que se explorem as arquiteturas e linguagens disponíveis nos meios eletrônicos, inserindo-as em unidades de leitura facilitadoras da aprendizagem. Considera-se importante a existência de uma rede de apoio e procedimentos de formação continuada para que haja experiências inovadoras e formação cultural do educador na era digital. Essa proposta visa não só à autonomia, mas à democratização dos recursos compatíveis com o universo de um leitor que se faz complexo, em um tempo amplamente plural.
Referências: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. HAYLE, N. Katherine. Leitura eletrônica: novos horizontes para o literário. Tradução Luciana Lhulier e Ricardo Moura Buchwelz. São Paulo: Global, 2009. ROJO, Roxane. Escol@ conectada: os multiletramentos e as TICs. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. SILVA, Ezequiel Theodoro da. Unidades de leitura: trilogia pedagógica. São Paulo: Autores Associados, 2008. WOLF, Maryanne. O cérebro no mundo digital: os desafios da leitura na nossa era. Tradução Rodolfo Ilari, Mayumi Ilari. São Paulo: Contexto, 2019.
Palavras-chave: compreensão leitora; leitura literária; suporte digital; suporte impresso.
vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
O CURRÍCULO CULTURAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA COMO POSSIBILIDADE DE POTENCIALIZAÇÃO DA DIFERENÇA
Welington Santana Silva Júnior (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba); Carolina Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba)
Esse trabalho insere-se no campo do currículo, com foco no currículo cultural da educação física como possibilidade de potencialização da diferença. As discussões e embates sobre o currículo cultural concentram-se nas teorias culturais contemporâneas, em que professores e alunos são agenciados e atravessados por diversos acontecimentos. Segundo Neira e Nunes (2020), o currículo cultural através dos seus princípios ético-políticos e encaminhamentos didático-metodológicos possibilita a experimentação do dissenso para a vivência da diferença. Para isso, na própria diferença estão as múltiplas possibilidades de produzir outros códigos e fazer da aula um espaço de produção cultural. Essa vivência da diferença pode permitir experimentações outras aos corpos, que segundo Neira (2011), podem perceber os hibridismos e mestiçagens, adquirindo uma nova perspectiva sobre si próprios e seu grupo. Apoiado no campo teórico do pós-estruturalismo, essa perspectiva curricular busca envolver os corpos e toda comunidade escolar em uma proposta da pedagogia da diferença, que aqui destacamos. Uma pedagogia na qual o objetivo está na compreensão sobre como certas culturas foram desvalorizadas e outras valorizadas. É não ver a diferença como negação, mas sim, tê-la como afirmativa, como caminhos para viver outros modos de existência e fugir dos processos das amarras impostas para a cultura e seus participantes (NUNES; NEIRA, 2016). Entendemos que a diferença no currículo cultural não está na negação, não se faz na dialética, isto é, não se define o ser por aquilo que ele não é, menos ainda na relativização colocada pelo neoliberalismo e pelo conservadorismo que operam por exclusão. No currículo cultural a diferença é afirmada nas vivências que são atravessadas pelas relações de poder inseridas nas práticas da cultura corporal. É nesse processo que percebemos que a diferença é afirmada como condição de vida. Dessa forma, esse trabalho objetiva pensar uma educação física cultural que possibilita a cada sujeito viver a possibilidade de experimentar um processo de eterno refazer-se.
Referências: NEIRA, M. G. O currículo cultural e a afirmação das diferenças. In: BOTO, C.; SANTOS, V. M.; SILVA, V. B.; OLIVEIRA, Z. V. A escola pública em crise: inflexões, apagamentos e desafios. São Paulo: Livraria da Física, 2020. p. 183-201.
NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. As Dimensões Política, Epistemológica e Pedagógica do Currículo Cultural da Educação Física. In: LARA, L.; ATHAYDE, P.; BOSSLE, F. (Org.).
Ciências do Esporte, Educação Física e produção do conhecimento em 40 anos de CBCE. Educação Física Escolar, Natal, Edufrn, v. 5, p. 25-43, 2020. NUNES, M. L. F. Afinal, o que queremos dizer com a expressão “diferença” In: NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. (Org.). Educação Física Cultural: por uma pedagogia da(s) diferença(s). 1. ed.
Curitiba: CRV, v. 13, p. 15-66, 2016.
Palavras-chave: currículo; currículo cultural; diferença.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
ENTRE O CONCRETO, O VIRTUAL E O IMAGINÁRIO: FREQUÊNCIAS NO MODO DE ENSINAR E APRENDER
Lara Jatkoske Lazo (E. M. A. Eng. Rubens Foot Guimarães)
Este ensaio reflete e realiza análises sobre a estética das aulas de português no Ensino Fundamental II, em uma escola agrícola de período integral, e sobre o que é realidade e nãorealidade, no que diz respeito a pensamento, linguagem e cultura, na relação com práticas de leitura e escrita. Quais os limites? Em que “lugar” estão, realmente, os conectivos responsáveis pelo sentido na aprendizagem da língua portuguesa? Para pensar sobre essas questões, este estudo ensaístico se delineia pela pesquisa narrativa e pela análise do discurso no viés bakhtiniano e integra uma pesquisa de doutorado em andamento que tem como campo de pesquisa a própria prática de ensino de língua portuguesa. Por base teórica, parte-se de Bakhtin (2011, 2013), Calvino (2000), Simas (2018), Volóchinov (2019, p. 234-265), Winnicott (2019) e Wolf (2019). Conclui-se, até o momento, que as conexões lógicas dos níveis gramatical e semântico, ao fugirem da norma padrão na escrita, nem sempre se configuram, simplesmente, equívocos linguísticos, pois podem ser uma frequência de expressão de mais força imagética e espontânea do que narrativa a direcionar o modo de escrever e delinear um potencial estilístico, o que torna o imaterial mais sensível, com uma frequência mais próxima da sensibilidade do mundo concreto e da fala, a interferir na relação professora/estudantes e na estética de textos nas práticas de ensino. A força da imagem mental pode se tornar mais intensa do que a percepção do mundo concreto. Quais os limites entre coerência e incoerência, equívoco linguístico e estilo na escrita do adolescente? Eis a questão! Palavraschave: leitura e escrita; estilo e estética do discurso; ensino de português.
Referências: BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 6. ed. e 5. reimp. 2020.
Tradução: Paulo Bezerra. São Paulo: WMF/Martins Fontes, 2011. p. 475. BAKHTIN, Mikhail. Questões de estilística no ensino de língua. 1. ed. e 1. reimp. 2015. Trad., posf. e not. de Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Editora 34, 2013. CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. 2. ed. Tradução de Ivo Barroso. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. SIMAS, Maria Lúcia de Bustamante. Esquizofrenia: seus fenômenos perceptivos e cognitivos na primeira pessoa. [E-book] 1. ed. Curitiba – PR: Editora Appris, 2018. VOLÓCHINOV, Valentin. O que é língua/linguagem. In: VOLÓCHINOV, Valentin. A palavra na vida e a palavra na poesia: ensaios, artigos, resenhas e poemas. Tradução: Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Editora 34, 2019. p. 234-265. WINNICOTT, Donald Woods. O brincar e a realidade. Tradução de Breno Longhi. São Paulo: Ubu Editora, 2019. WOLF, M. O cérebro no mundo digital: os desafios da leitura na nossa época.
[E-book] São Paulo: Editora Contexto, 2019.
Palavras-chave: leitura e escrita; estilo e estética do discurso; ensino de português.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
CULTURA ESCRITA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: EXPLORANDO A RECONFIGURAÇÃO DE SABERES DOCENTES NO ENSINO REMOTO
Nathalia Carolina Azevedo de Medeiros (USP); Patrícia Aparecida do Amparo (USP) Sabemos que os processos de formação pedagógica envolvem uma construção progressiva de competências, aptidões e atitudes que caracterizam o saber profissional. Parte significativa de tal aprendizado ocorre por meio da participação na cultura escrita, uma vez que os materiais de preparação pedagógica, currículos, atividades escolares, entre outros materiais que caracterizam a vida escolar são produzidos e difundidos por meio da escrita, ou seja, fazem parte de uma forma de transmissão cultural organizada pela lógica da cultura escrita, como afirmam Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin. Assim, esta comunicação de pesquisa tem como objetivo compreender como docentes que lecionam no Ensino Fundamental reelaboraram seus conhecimentos pedagógicos, organizados por meio da escrita, em 2021, período de ensino remoto. Consideramos que em circunstâncias como essas, os docentes necessitam reestruturar seu saber fazer em razão das características dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem ou na interação entre eles e a sala de aula físicas. Se os saberes docentes são consolidados ao longo do tempo, como afirmam Maurice Tardif e Danielle Raymond, precisaremos pensar que eles reconfiguraram suas práticas a partir de estruturas já apropriadas a respeito das concepções de aula, lição, aluno, aprendizagem, entre outros, mobilizando suas representações em novo contexto. No sentido de alcançar os aspectos objetivados, enquanto recurso metodológico, foi empregado o levantamento de atividades postadas na plataforma Google Sala de Aula em 2021 por 4 professores atuantes em uma escola municipal de São Paulo, localizada na zona norte da cidade, sendo eles: Isabel, professora de português; Rebeca, professora do ciclo interdisciplinar; Anderson, professor de matemática; e Rafael, professor de informática. A coleta de dados ocorreu em maio de 2022 e, com o auxílio da coordenadora da escola, foi possível acessar as postagens efetuadas pelos docentes em questão. Nesse processo criativo de elaboração do trabalho, Rebeca chamou atenção pela forma com que integrou a sala de aula e o ambiente virtual e pela mobilização da cultura escrita. Em diversas postagens ela propôs atividades por meio de fotos da lousa da sala de aula. O exemplo da docente é representativo das articulações entre o fazer docente e as representações sobre a aula, o ensino e a cultura escrita. A análise das atividades revelou a maneira ímpar com que cada professor mobilizou seus conhecimentos, saberes e prática docentes em tal contexto e como utilizaram e pensaram o ambiente virtual de aprendizagem, aspectos da relação com as tecnologias digitais e a evidência da forma escolar apareceram em maior ou menor medida.
Palavras-chave: saberes docentes; cultura escrita; ensino remoto; ambiente virtual de aprendizagem.
e baixam nos corpos para avivar os seres
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 2
Local: Sala ED 02 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
COMPARTILHAR A DOCÊNCIA, CULTIVAR A DIFERENÇA: TRANÇANDO
LEITURAS NA DOCÊNCIA COMPARTILHADA DA EJA DE FLORIANÓPOLIS
Davi Henrique Correia de Codes (Unicamp)
Compartilhar a docência é um estar múltiplo em meio ao exercício docente. Se para ser docente é preciso estar presente, inteiro, atento e ser propositivo para toda uma série de encaminhamentos que irão gerir o tempo e o espaço de uma aula, fazer isso em associação a outros professores e professoras, é inevitavelmente abrir-se aos intervalos. Mas não apenas, é também deixar-se atravessar pelas negociações, pelas transversalidades, e pelas escutas quase que inaudíveis de um outro que assim como você, lida com o imprevisível do acontecimento. Contudo, esse outro assim como você, está também disposto a aprender ao passo que ensina. Confunde-se assim, quem é o outro e quem não o é. Alteridade docente que necessita ser exercitada. Reitero múltiplo, porque são reflexos da professoralidade que se apresentam lado a lado no mesmo espaço de uma sala de aula. E como reflexos, podem e quase sempre se mostram diferentes, por hora invertidos, em outros momentos difusos, ou ainda, dissonantes em seus modos de ser e estar na docência. Cada um e cada uma ali, carrega consigo um repertório muito particular e que não apenas é gerido pela sua bagagem disciplinar, material e imaterial do campo de sua formação inicial e curricular, mas para além disso, é povoado por uma série de modos e maneiras de se pensar e se apresentar como docente, de habitar a docência. Este ensaio visa abordar algumas percepções e experimentações frente ao formato de Docência Compartilhada que é exercitado na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) no município de Florianópolis-SC. Para isso, são articulados alguns fundamentos educativos oriundos da Filosofia da Diferença, tendo como bases, autores como Carlos Skliar (2014), Tomaz Tadeu da Silva (1999; 2014) e Gilles Deleuze (2020, 2010), na intercessão com autores que contribuem intensamente para pensarmos a EJA, como Gilvan de Oliveira (2004), Miguel Arroyo (2006) e Paulo Freire (1969, 2014). Começar pelo compartilhado como um pressuposto e não como um resultado a ser atingido. É marca mais que humana de uma coletividade real e desejada. Corpos, olhares, gestos e disponibilidades que tomam como ponto de partida o chão da solidária codocência como tarefa de educar. Sempre ao lado de, para que assim todos possam se arriscar uma vez mais no infinito da educação. Uma docência que não elege os (des)confortos da condução solitária, porque se entende desde o início contaminada pelo partilhar do comum e pela necessária e urgente tarefa de viver junto a diferença, são algumas das possibilidades nesta trança de leituras que fortalece cada vez mais as experiências na EJA de Florianópolis.
Palavras-chave: docência compartilhada; Educação de Jovens Adultos e Idosos; Filosofia da Diferença.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL NAS VIDAS DE EDUCANDOS DA EJA
Miriam Martinez Guerra (UFNT)Este estudo objetivou evidenciar como estudantes da EJA, dos anos finais do ensino fundamental de uma escola municipal pública da cidade de AraguaínaTO, mobilizam “eventos e práticas de letramento” (BARTON; HAMILTON, 2000) nos espaços urbanos diferentes dos da escola. É notório que os escritos tomam parte da paisagem cotidiana, especialmente no ambiente urbano e no mundo digital, espaços centrados em grafias “as ruas da cidade estão repletas de símbolos escritos, o comércio anuncia produtos e serviços, quer seja nos outdoors das ruas dos centros urbanos ou nas páginas acessadas na internet, visto que a escrita, de fato, faz parte de praticamente todas as situações do cotidiano da maioria das pessoas” (KLEIMAN, 2005, p. 5). As atividades que envolvem textos escritos são condicionantes das práticas de letramento de alguém ou um grupo, assim, tais práticas vivenciadas podem ser visualizadas com base nos eventos de letramento que a pessoa/grupo participa. “Ler e escrever são atividades que as pessoas fazem sozinhas ou em grupos, mas sempre num lugar e num tempo” (BARTON; HAMILTON, 2000, p. 23), por isto é relevante considerarmos: o que é lido? Onde? Para quê? Esses questionamentos, dentre outros, contribuem para o entendimento de como se constituem trajetórias leitoras do grupo investigado. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi construído um quadro teóricometodológico com base na concepção bakhtiniana de linguagem e no campo dos Estudos de Letramento (GALVÃO, 2010; KALMAN, 2003; BARTON, 1994; BARTON; HAMILTON, 2000; KLEIMAN, 1995; STREET, 2014), na perspectiva da Linguística Aplicada e da Educação. Este estudo, uma pesquisa qualitativa e do tipo estudo de caso, teve os dados gerados com base nas anotações de diário de campo, nas respostas de questionário de pesquisa e transcrições de entrevistas realizadas com os alunos do 5º e 6º Períodos da EJA municipal araguainense. Com base nos dados gerados, foi possível conhecer práticas de letramento desenvolvidas, pelo grupo de estudantes da EJA focalizados, nos “domínios” (BARTON, 1994): do cotidiano e do lar/familiar, da religião, do trabalho, revelando um pouco do “trânsito” que eles estabelecem entre o mundo do impresso e digital, para interação com escritos. As práticas de letramento nos distintos domínios revelam trajetórias leitoras, o gosto pela leitura, posse e acesso a escritos e expectativas com o mundo escolar. Tais práticas mostram aproximações e distanciamentos que o grupo da EJA estabelece com os “mundos do escrito” (GALVÃO, 2010) e isto pode ser importante para visualizarmos como as práticas de letramento desse grupo podem ser expandidas nos contextos escolarizados legalmente e historicamente responsáveis pelo ensino de leitura, tal qual a escola.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; letramentos; práticas de letramento.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
”LITERATURA É BÚSSOLA”: UMA EXPERIÊENCIA COM O LETRAMENTO
LITERÁRIO DE ALUNOS IDOSOS NA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
Simone Lopes Benevides (CEFET-RJ)
Assumir o ensino de Literatura sob a ótica do letramento literário (COSSON, 2016, 2018) implica a superação de abordagens formalistas e estruturalistas, que por focarem excessivamente nas especificidades formais da linguagem e dos gêneros literários, desconsideram os sentidos do texto em suas relações contextuais e intertextuais, além de negligenciarem a centralidade do leitor no processo de construção de sentidos. Em geral, tais abordagens têm prevalecido em muitas escolas, ainda que existam professores e instituições engajadas em uma proposta de ensino de Literatura efetivamente centrada nas especificidades desse campo de conhecimento (BENEVIDES, 2020). Nosso trabalho está focado na Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade de ensino e componente constitutivo da Educação Básica, mais especificamente em uma de suas realizações possíveis – a educação não formal (GADOTTI, 2005). Buscando compreender como se efetiva o ensino de Literatura a partir do letramento literário, traremos uma experiência bem-sucedida desenvolvida na educação não formal, com alunos idosos da EJA. Nosso objetivo é verificar como se efetiva o processo de letramento literário de idosos do PROALFA UERJ (Programa de Alfabetização, Documentação e Informação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Tal como Antonio Candido (2011), entendemos a literatura como um direito de todos, de modo que para esse público, também, a Literatura não seria apenas fonte de prazer, mas sobretudo fonte de conhecimento. No caso de alunos idosos, cuja tradição lhes circunscreve, tradicionalmente, a aspectos fisiológicos e patológicos, carecemos de um olhar científico sobre o seu processo de aprendizagem. Por isso, mesmo com diretrizes diferenciadas e um público alvo bastante diverso, acreditamos que a educação não formal nos moldes praticados no PROALFA pode contribuir com o sistema formal, tendo em vista a liberdade e a flexibilidade na produção de modos alternativos de ensino e aprendizagem que caracterizam os ambientes não formais de educação. Situamos nosso trabalho na abordagem qualitativa (CHIZZOTTI, 2006) sob a perspectiva de Bakhtin (2011) e adotamos a entrevista (ZAGO, 2003) como procedimento metodológico.
Referências: BAKHTIN, Mikail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2011. BENEVIDES, Simone Lopes. Entre ideias e palavras: o letramento literário de alunos idosos na educação não formal. 2020. Tese (Doutorado) – Instituto de Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. CANDIDO, Antônio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antônio. Vários escritos. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011. p. 169-191. COSSON, Rildo. Círculos de leitura e letramento literário.
São Paulo: Contexto, 2018. COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2016. CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis.
Palavras-chave: literatura; letramento literário; Educação Básica; Educação de Jovens e Adultos; educação não formal.
MULHERES QUE LEEM MULHERES: A EXPERIÊNCIA DE OFICINAS DE LEITURA COM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Débora Sara Ferreira (Prefeitura Municipal de Limeira); Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)
O trabalho que aqui apresento tem como campo empírico a educação de jovens e adultos- EJA e traz a reflexão acerca da preponderância de oficinas de leitura realizadas com um grupo de mulheres do 5° ano do ensino fundamental II, de uma escola pública, na cidade de Rio Claro-SP. Este resumo é recorte da Dissertação Intitulada Ser ou tornar-se mulher: por entre a EJA-Educação de Jovens e Adultos, a vida, o narrar e o reinventar de si, apresentada ao Instituto de Biociências da UNESP de Rio Claro, em 2019. As oficinas tiveram por objetivo: levantar e trazer à luz elementos que indiciam a condição da mulher, pensada por quem se encontra naquele lugar (sala de aula, na EJA), particularizando a condição da mulher pensada e dita por ela mesma; e assumir a narrativa de vida, particularizando a narrativa escrita e os relatos orais, como base material no registro de vida, e, nela, a possibilidade de (re)invenção de si. Nesse caminho, aporto-me na pesquisa narrativa (CONNELY; CLANDININ, 1995) e na pesquisa autobiográfica (DELORYMOMBERGER, 2011), pelas quais é possível focar as experiências humanas, bem como contar suas histórias, registrar e escrever relatos de experiência; entendese o ato de narrar, escrito ou oral, como potência para o pensamento da própria condição. Atualmente, questões de outras ordens surgem para o debate e que se faz o objetivo do presente resumo: aproximar sentidos e significados acerca da relevância da literatura em sala de aula, trazendo as narrativas das mulheres durante as oficinas, bem como elucidar a potência de obras escritas por mulheres, como Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus. Nesse caminho, compreendemos que o encontro com a leitura não é a busca pelo que o texto sabe, mas a reflexão sobre o que o texto nos leva a pensar. Os textos literários trabalhados nas oficinas mencionadas acima possibilitaram que as mulheres participantes refletissem sobre a própria condição, no exercício do movimento do pensamento. De acordo com Larrosa (2003), compreendemos que o professor, ao selecionar um texto para leitura, assim como no envio de uma carta, espera respostas dos que receberão o presente. Espera-se, neste trabalho, trazer a potência da leitura e partilha para o debate: nas travessias de mundo, das palavras, da vida, da poesia...
Referências: CONNELLY, F. M.; CLANDININ, D. J. Relatos de experiencia e investigación narrativa. In: LARROSA, J. (Org.). Déjame que te cuente: ensayos sobre narrativa y educación. Barcelona: Editorial Laertes, 1995. DELORY-MOMBERGER, C. Fundamentos Epistemológicos da Pesquisa Biográfica em Educação. Educação em Revista, BH, v. 27, n. 1, p. 333-346, 2011. DOI: https://dx.doi.org/10.1590/S010246982011000100015. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010246982011000100015&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 20 fev. 2019.
LARROSA, J. Pedagogia Profana. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
Palavras-chave: mulheres; leitura; educação de jovens e adultos-EJA.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
O (NÃO) LUGAR DA LITERATURA NA EJA: O QUE PROPÕEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS?
Simone Lopes Benevides (CEFET-RJ)
No Brasil, só é possível falar de forma substancial sobre educação de jovens e adultos a partir do século XX. Benvenuti (2012) revela que o ensino elementar não se difundiu, tampouco houve melhora na sua qualidade, uma vez que o povo ainda não sentia necessidade de se instruir e as elites permaneciam na modalidade domiciliar de educação. Desde então, educar jovens e adultos, restituir-lhes, ou instituir-lhes, a cidadania por meio do acesso a um direito que lhes fora negado “a educação de qualidade” tem sido um debate nos campos político e educacional. Mesmo após as importantes contribuições de Paulo Freire (1996, 2008) e com a existência de leis que a legitimam e a garantem como um direito, a Educação de Jovens e Adultos ainda é uma modalidade de ensino à margem de muitos avanços. Nesse contexto, o ensino de Literatura assume papel vital, pois ao chegarem à escola, jovens, adultos e idosos trazem consigo seus saberes prévios e intuitivos, visões de mundo talhadas a partir de suas origens e traços culturais, além de suas vivências familiar e laboral. Ao produzir mais perguntas do que gerar respostas, a Literatura promove a reflexão crítica e em se tratando da EJA, pode ser ainda mais transformadora, permitindo aos alunos ressignificar as experiências já vividas, despertando o senso estético e crítico a partir de um novo olhar sobre a palavra polissêmica “a palavra-arte”, palavra em “estado de Literatura” (BENEVIDES, 2020). Por meio de uma análise documental (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), buscamos compreender o lugar ocupado pela Literatura na EJA a partir do que dizem os documentos oficiais. Traremos considerações acerca dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que embora não tratem especificamente da EJA, referem-se à Educação Básica, da qual ela faz parte; na sequência, as propostas curriculares da EJA, referentes apenas ao primeiro e ao segundo segmentos do Ensino Fundamental.
Referências: BENEVIDES, Simone Lopes. Entre ideias e palavras: o letramento literário de alunos idosos na educação não formal. 2020. Tese (Doutorado) – Instituto de Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. BENVENUTI, Juçara. O dueto leitura e literatura na educação de jovens e adultos. São Paulo: Mediação, 2012.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (Brasil). Câmara de Educação Básica. Parecer
CNE/CEB nº 11, de 10 de maio de 2000. Aprovado em 10 de maio de 2000. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Disponível em: http:// confinteabrasilmais6.mec.gov.br/images/documentos/parecer_CNE_CEB_11_2000. pdf. Acesso em: 30 ago. 2019. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 49. ed. São Paulo: Cortez, 2008. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 39. ed. São Paulo: Paz e terra, 1996. LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Elisa D. A. de. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo, EPU: 1986. Palavras-chave: literatura; Educação de Jovens e Adultos; Parâmetros Curriculares Nacionais; Base Nacional Comum Curricular; Propostas Curriculares da Educação de Jovens e Adultos.
O PNAIC E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORESFORMADORES DE LEITORES
Giovanna Rodrigues Cabral (Universidade Federal de Lavras)
Este trabalho trata-se de um recorte de uma pesquisa que teve como objetivo compreender as relações que professoras que cursaram a formação do Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa (PNAIC) estabelecem com a leitura, tendo em vista suas práticas de letramento literário na família e na escola, para compreender de que forma essas vivências influenciam suas práticas de formação de leitores nas escolas onde atuam. Sabe-se que o Brasil não é propriamente um país de leitores, daí a necessidade crescente de estudos na área e esforços para que esse quadro seja modificado. A leitura, entendida como processo de compreensão dos significados dos textos, está em destaque, sendo muito discutida por pesquisadores, que alicerçaram este estudo: Chartier (1996); Kleiman (2007); Zilberman e Lajolo (1991) e Paulino (2004). No entanto, verificamos que, muitas vezes, no contexto escolar, ainda subsistem práticas de leitura centradas apenas na decodificação das palavras ou na identificação de informações básicas do texto. A metodologia desta pesquisa foi a qualitativa, com a observação participante, a consulta aos relatos no diário de campo e a aplicação de um questionário junto às alfabetizadoras como instrumentos de coletas de dados. A análise de conteúdo foi a estratégias utilizada para o tratamento e categorização dos dados, a partir da qual originaram três categorias: 1 – Sondagem dos conceitos iniciais; 2 – A história de leitura das cursistas e 3– A leitura na escola. O que foi possível perceber das histórias de leitura das professoras? As histórias de leitura estão diretamente relacionadas às condições de vida das professoras: o contexto, os fatos vividos, as relações familiares tiveram papel fundamental em sua constituição, enquanto leitoras. Na grande maioria dos relatos, na infância, havia sempre adultos, mãe, pai, atuando como mediadores dos livros, o que sugere, mesmo nas famílias menos favorecidas, o reconhecimento do valor simbólico das práticas de leitura. Por outro lado, as professoras que não tiveram acesso à leitura em casa, ou que viveram situações de desprazer em relação às práticas de leitura desenvolvidas na escola, apresentaram uma relação distante com os livros; apesar disso, destacam a importância da leitura no contexto escolar e declaram incentivar boas práticas de leitura em sala de aula. Por fim, a partir das trocas sobre as experiências de leitura pessoais e a leitura na escola, as professoras passaram a refletir sobre sua prática, enquanto professoras, compreendendo o reflexo de sua própria história em suas ações junto aos alunos.
Referências: CHARTIER, R. (Org.). Práticas da leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 1996. KLEIMAN, A. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas, SP: Pontes, 2007.
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. A leitura rarefeita: livro e literatura no Brasil.
São Paulo: Brasiliense, 1991. PAULINO, Graça (Org.). Leitura literária: a mediação escolar. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2004.
Palavras-chave: formação docente; práticas de ensino de leitura; experiências leitoras.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
CONSIDERAÇÕES SOBRE HISTÓRIA DE LEITURA DE PROFESSORAS NO ÂMBITO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Giovanna Rodrigues Cabral (Universidade Federal de Lavras)
Neste trabalho apresenta-se as relações que as professoras que participaram do Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa (PNAIC), em um município da zona da mata mineira, estabelecem com a leitura, tendo em vista suas práticas de letramento literário na família e na escola, no sentido de identificar em que ponto tais vivências influenciam suas práticas de formação de leitores nas escolas onde atuam. Os autores relevantes para o estudo sobre a leitura foram os trabalhos de Zilberman (1991) sobre a história da leitura no Brasil e os textos de Paulino (2004) sobre leitura literária. E, para o estudo da formação continuada de professores, recorremos a Nóvoa (1995), Tardiff (2002), Candau (1996), que apontam para a insuficiência da formação inicial para o desenvolvimento profissional do professor, para a necessidade de se levar em conta os saberes docentes e tornar a escola o local privilegiado de formação. O estudo desenvolvido foi de natureza qualitativa e os instrumentos de geração de dados foram a observação participante, a análise dos trabalhos elaborados pelas professoras no decorrer dos encontros de formação e os questionários aplicados junto às professoras. Para tratamento das informações foi utilizada a análise de conteúdo, a partir da categorização dos dados levantados. Com relação às histórias de leitura, verificou-se uma relação estreita entre os hábitos de leitura que as professoras trazem consigo e sua prática em sala de aula. Assim, as que transitam entre livros desde a infância, e receberam incentivos familiares, permanecem com hábitos de leitura consolidados. Dessa forma, a história de leitura de professores deve ser considerada ao se propor ações de formação continuada para eles. Por fim, com relação ao trabalho que as professoras desenvolvem com os alunos, argumentamos que é possível ensinar leitura, não só é possível, como necessário; que a leitura do professor não deve ser a única autorizada em sala de aula; que o papel do professor é mediar as relações entre alunos e textos, conferindo autonomia para que eles sejam capazes de realizar suas próprias leituras.
Referências: CANDAU, Vera Maria. Formação Continuada de Professores: Tendências Atuais. In: MIZUKAMI, Maria da Graça N.; REALI, Aline Maria de M. Rodrigues. Formação de Professores: Tendências Atuais. São Paulo: EDUFSCar e FINEP, 1996. NÓVOA, Antonio. Vidas de professores. Porto: Porto Codex, 1995. PAULINO, Graça (Org.). Leitura literária: a mediação escolar. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2004. ZILBERMAN, Regina; SILVA, Ezequiel Theodoro (Org.). Leitura: perspectivas interdisciplinares. São Paulo: Ática, 1991. TARDIFF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
Palavras-chave: formação continuada; história de leitura; práticas de ensino de leitura.
mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 3
Local: Sala ED 04 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
#JUNTOSPELOLIVRO NA PANDEMIA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA
Laura Andreoli Mariano (UFSCar)
É consenso entre nós a importância da leitura. É consensual também o maior prestígio, entre as várias formas de ler, que goza a leitura de livros impressos, em geral de obras ficcionais, feita de forma espontânea e regularmente, sem vinculação com demandas escolares ou profissionais. A leitura desinteressada, como forma de entretenimento é talvez a principal forma de leitura em campanhas de incentivo a essa prática e promoção do livro. Não sem razão, esses consensos, e outros, se encontram na campanha #juntospelolivro de 2020, idealizada por aproximadamente 100 pequenos e médios empreendedores do setor livreiro e editorial. Essa campanha, de circulação nacional via Instagram, teve por objetivo o incentivo da leitura, do hábito leitor e por extensão de melhoria do comércio de livros. Ela consistiu em uma série de publicações em formato de posts com essa hashtag, explorando uma série de discursos sobre a leitura. Tendo em vista o objetivo geral de nossa pesquisa, de depreender e analisar discursos sobre a leitura que circulam na atualidade, visamos com a análise das postagens dessa campanha, identificar e descrever o que se enunciou mais regularmente sobre a leitura, sobre os leitores e sobre o livro. Para isso, analisaremos tanto o que se enunciou pela linguagem verbal quanto pela linguagem imagética, de que forma e com vistas a quais efeitos de sentido. Para tanto, nos apoiamos, em nossa análise, em princípios da Análise do discurso bem como em estudos de pesquisadores brasileiros que se dedicaram à história da leitura, à análise das representações dos leitores, às formas de sua materialização e circulação, e a seu ensino. Entre as constatações das quais trataremos nesta apresentação, observamos a recorrência da representação da leitura de livros impressos como uma prática terapêutica em tempos de pandemia e de isolamento social. Assim, vimos ganhar força a exploração, na formulação dessas postagens, de um léxico do campo médico e terapêutico na caracterização dessa prática, tal como pretendemos demonstrar.
Palavras-chave: discursos sobre a leitura; pandemia; hashtag #juntospelolivro.
PARA AONDE ELAS SE VÃO? MAPEAMENTO DO PROCESSO DE MULHERES EM FORMAÇÃO EM FÍSICA, EM PANDEMIA
Marcelle Tacita de Oliveira Gomes (UFSCar); Carolina Rodrigues de Souza (UFSCar)
O campo de estudos relacionados a mulheres nas Ciências ditas “Exatas” traz contribuições importantes para o debate sobre a construção de um território que seja menos machista e patriarcal. Com a pandemia do Covid-19, algumas mulheres que se dedicam a estudar Física, continuaram o seu processo formativo em seus lares, pois esse passa a ocorrer em formato remoto. Um estudo feito no ano de 2021 pela Organização Governamental Plan International, mostrou que 95% de meninas, jovens e mulheres adultas tiveram suas vidas afetadas
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
pela pandemia do COVID-19. Nesse novo formato de “formar” professora/s de Física surgem algumas inquietações, referentes às respectivas performatividades: como esses corpos de mulheres, tradicionalmente em minoria nos cursos de Física, performam o processo formativo em Física durante a pandemia? Usando essa experiência social, esse trabalho visa pesquisar junto a essas mulheres, em tempos pandêmicos, como elas têm extraído dessa experiência muitas vezes solitária, esse novo modo de formar e continuar seus processos formativos. Para tal, o texto apresenta um mapeamento do processo de mulheres em formação em Física, em pandemia. Para o desenvolvimento da pesquisa, acompanhamos sete disciplinas ofertadas para o curso de Licenciatura em Física, algumas optativas para o curso de Bacharelado em Física, em uma Universidade Federal do Estado de São Paulo. Nessa pesquisa esboçamos linhas que esses corpos performam ao vivenciar essas disciplinas. Tabak (2002) fala sobre a necessidade de ações que influenciam a colocação das mulheres na ciência, principalmente em determinadas áreas. A autora ainda traz, em linhas gerais, que as mulheres que ingressam na universidade em cursos tradicionalmente masculinos não recebem durante os anos de graduação estímulos para realizar pesquisas, necessitando ainda conviver num ambiente hostil à sua identidade de gênero. Acrescido a isso, um relatório feito pela Organização Não Governamental, Sempre Viva Organização Feminista, disponível no site Mulheres na Pandemia, mostra com dados que confirmam estas dificuldades e revelam que a pandemia evidenciou ainda mais esse cenário. Mapear o processo das mulheres em formação em Física, em pandemia é contribuir para o campo que se dedica a estudar sobre mulheres na Ciência, analisando como as transformações sociais, econômicas e culturais afetam esses corpos.
Referências: PLAN INTERNATIONAL. Halting Lives: O impacto do COVID-19 em meninas e mulheres jovens. Organização Não Governamental. Disponível em: https://plan.org.br/wpcontent/uploads/2021/05/halting-lives-pt.pdf. Acesso em: 03 de novembro de 2022. TABAK, Fanny. O laboratório de Pandora: estudos sobre a ciência no feminino. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. SEMPRE VIVA ORGANIZAÇÃO FEMINISTA. Mulheres na Pandemia. Organização Não Governamental. Disponível em: https://mulheresnapandemia.sof.org.br/. Acesso em: 09 de novembro de 2022.
Palavras-chave: mulheres; física; cartografia; pandemia.
LINGUAGEM ESCRITA, INTERAÇÕES E A PANDEMIA (COVID-19): VIVÊNCIAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Maria Betanea Platzer (Universidade de Araraquara)
Inúmeros são os desafios diante da pandemia (Covid-19) e, entre eles, destacamos aspectos referentes ao âmbito educacional. A partir do exposto, neste trabalho, objetivamos enfatizar experiências no ensino remoto, em especial em cursos de formação de professores (Pedagogia e Ciências Biológicas), na condição de professora responsável por disciplinas de caráter pedagógico em uma instituição de Ensino Superior privada localizada no interior do estado de São Paulo. No decorrer das aulas remotas, nos anos letivos de 2020 e 2021, trabalhamos conteúdos específicos das disciplinas e, nesse processo, alunos manifestavam suas dúvidas em relação aos conhecimentos abordados, mas também foram evidentes seus
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
anseios e dilemas diante dos enfrentamentos gerados pela condição pandêmica mundial. Assim, usando e-mails e ferramentas como fóruns de discussão e mensagens instantâneas presentes nas plataformas on-line, a linguagem escrita aproximou educandos e educadora, possibilitando partilhas, aprendizagens e (re) construções perante o cenário instaurado. Sugestões de leituras pela professora e também pelos alunos fizeram-se presentes no sentido de compreensão de aspectos relacionados a possibilidades para lidar com os dilemas marcados pela pandemia, destacando os enfrentamentos da migração do ensino presencial para as aulas remotas. Por meio de práticas educativas fundamentadas em uma concepção dialógica (FREIRE, 2008) e na concepção de linguagem como interação (GERALDI, 1999), vivenciamos o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, intencionamos contribuir para os processos formativos de futuros docentes e, ao mesmo tempo, focamos nas possibilidades de por meio de práticas de leitura e escrita gerar interações e diálogos acerca das condições presentes. A experiência retratada neste trabalho revela as contribuições valiosas de linguagem escrita e os inúmeros sentidos proporcionados pelas especificidades de um momento histórico marcado por, entre outros aspectos, desafios e resiliência.
Referências: BRASIL. O que é a Covid-19? Ministério da Educação, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/ptbr/coronavirus/o-que-e-o-coronavirus. Acesso em: 21 nov. 2022. CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. v. 1. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 37. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In: GERALDI, J. W. (Org.). O texto na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Ática, 1999. p. 39-56. MELO, O. M. de F. C. A invenção da cidade: leitura e leitores. 2002. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Campinas, SP: UNICAMP. PIMENTA, S. G. Professor: formação, identidade e trabalho docente. In: PIMENTA, S. G. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 1999. p. 16-34. Palavras-chave: ensino superior; ensino remoto; linguagem; formação.
MARCAS INDELÉVEIS – REGISTROS DO MOMENTO DA PANDEMIA NA VIDA DE UMA DOCENTE DE ESCOLA PÚBLICA
Mariana Rezende Gontijo (Escola Estadual da Vila Boa Vista)
A proposta da escrita desse relato foi oferecida pela SRE – Secretaria da Educação de Divinópolis/MG – aos professores estaduais a fim de ter a oportunidade do registro de práticas pedagógicas vivenciadas pelos docentes durante o momento da pandemia. Os professores de Ensino Fundamental e Médio, das escolas estaduais, em especial, da Escola Estadual da Vila Boa Vista de Arcos/MG, tiveram a oportunidade de registrar vivências positivas e negativas no ambiente online, muito novo e, ao mesmo tempo, necessário. Ocorreram diversas aprendizagens em tempo curto e real. O texto escrito traz uma reflexão sobre as aulas no espaço interno da casa, juntamente com análises teóricas: literárias e filosóficas. O coronavírus trouxe o medo, a morte, o pânico, como também o resgate do ambiente familiar, da paz e da esperança. Muitos esforços foram realizados para alcançar o rosto do Outro; LEVINAS (1988), que poucas vezes ou nunca se mostrava por detrás das câmeras – do celular ou computador – quanto sofrimento
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
passado pelos alunos, e quanta aprendizagem em curto espaço de tempo. Marcas indeléveis que o tempo não conseguirá apagar. Palavras-chave: prática pedagógica; pandemia; rosto.
REGISTROS DOS ESTUDANTES EM QUESTÕES DISCURSIVAS: A BUSCA POR DADOS E CAMINHOS NO PÓS-PANDEMIA
Rosangela Eliana Bertoldo Frare (Secretaria Estadual de Educação – SP); Cidinéia da Costa Luvison (Secretaria Estadual de Educação – SP; Centro Universitário de Itapira – UNIESI)
O presente texto refere-se a uma experiência vivenciada por duas gestoras de uma escola pública da rede de ensino estadual paulista, ao final de 2022, diante dos desafios e do cenário instaurado após a retomada regular das atividades escolares. Com a pandemia de Covid-19 os estudantes ficaram praticamente dois anos afastados da escola, e com o retorno, vieram à tona as consequências para a aprendizagem. Chegando ao término do referido ano letivo, as gestoras deparamse com um sentimento de desconhecimento da real situação da aprendizagem nas turmas, bem como, de cada estudante em particular. Isso, em decorrência, tanto da predominância de avaliações externas com questões objetivas disponibilizadas em plataforma online, sem a oportunidade de realização de registros escritos, pouco ou nada contribuindo para a obtenção de elementos confiáveis, quanto dos entraves ao tentar levantar dados junto aos professores. Surge, então, a necessidade de encontrar recursos para obter informações mais precisas sobre as dificuldades e traçar caminhos para o desenvolvimento das próximas ações. A partir dos pressupostos da perspectiva histórico-cultural, considera-se a análise dos registros dos estudantes como fundamental para a avaliação da aprendizagem (MORAES, 2013; SFORNI, 2015). Desse modo, foram elaboradas avaliações para cada ano/série atendidos pela escola, contendo uma questão discursiva por área do conhecimento, com foco na percepção de indícios sobre: compreensão de diferentes gêneros textuais, organização e escrita de textos, realização de registros, resolução de problemas, mobilização de conhecimentos prévios, argumentação e tomada de decisão etc. Após a realização da avaliação pelos estudantes, os dados foram analisados qualitativamente pela equipe gestora e organizados para apresentação ao corpo docente. Evidencia-se a dificuldade dos estudantes em compreender as informações trazidas nos textos e em realizar os registros escritos, consequências dos anos que ficaram afastados da escola pela pandemia e do modo como as aulas e atividades foram propostas e realizadas, prejudicando a leitura e a escrita. Os dados apontam para a necessidade de um olhar especial para com os estudantes, na tentativa minimizar os impactos educacionais causados pela pandemia, e de ações pontuais e intensas para ampliar as possibilidades de acompanhamento e avanço da aprendizagem nas séries/anos seguintes.
Referências: MORAES, Silvia Pereira Gonzaga de. A concepção de aprendizagem e desenvolvimento em Vigotski e a avaliação escolar. In: Jornada do Histedbr: a pedagogia histórico-crítica, a educação brasileira e os desafios de sua institucionalização, 11. 2013, Cascavel, PR. Anais... Cascavel, PR: Histedbr, 2013. SFORNI, Marta Sueli de Faria. Interação entre Didática e Teoria Histórico-Cultural. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 40, n. 2, p. 375-397, abr./jun. 2015.
Palavras-chave: registros escritos; pós-pandemia; rede de ensino estadual paulista.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
A MEDIAÇÃO DA BIBLIOTECA NAS PRÁTICAS DE LEITURA DE ALUNOS DE CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS
Tatiane Aparecida Carneiro Teixeira (Centro Universitário de Araraquara); Maria Betanea Platzer (Centro Universitário de Araraquara)
O presente estudo, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Processos de Ensino, Gestão e Inovação da Universidade de Araraquara – UNIARA e ao Grupo de Pesquisa Formação Docente e Práticas Pedagógicas (CNPq – UNIARA), objetiva investigar práticas de leitura de alunos que frequentam o terceiro ano de cursos técnicos integrados (curso técnico em açúcar e álcool integrado ao ensino médio, curso técnico em alimentos integrado ao ensino médio e curso técnico em química integrado ao ensino médio) pertencentes a um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e, nessas vivências, aborda aspectos relacionados à frequência e ao uso da Biblioteca do IFSP pesquisado. Dentre os objetivos específicos estão: apresentar um diagnóstico de utilização do acervo de obras lidas pelos alunos e apontar propostas de incentivo à leitura disponíveis na bibliografia especializada. Por meio de estudos nas áreas de Educação e Linguagem, a pesquisa configura-se, sobretudo, como qualitativa. Como forma de analisar a utilização da Biblioteca pelos alunos, pesquisou-se os relatórios de empréstimo gerados pelo sistema e, além disso, 13 alunos responderam a um questionário online. Foi encaminhado também um questionário para a bibliotecária coordenadora, considerando o papel fundamental que desempenha nas ações promovidas pela Biblioteca. A pesquisa está em fase de análise dos dados, organizados em quatro Eixos Temáticos intitulados da seguinte forma: Leituras: gêneros preferidos; Leituras: incentivos e rituais; Leituras: acessos; e, Valor da leitura. Por meio dos resultados alcançados, pretende-se realizar discussões que possam agregar e contribuir para as práticas de leitura dos estudantes e o uso do acervo da Biblioteca.
Referências: CHARTIER, R. Do livro à leitura. In: CHARTIER, R. (Org.). Práticas de leitura.
2. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. p. 77-105. SILVA, E. T. da. Cidadania cultural: a importância e a necessidade de bibliotecas escolares e públicas. CRB-8 Digital, v. 1, n. 3, p. 19-27, dez. 2008. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/download/46344.
Acesso em: 19 nov. 2022.
Palavras-chave: cursos técnicos integrados; práticas de leitura; mediação; biblioteca.
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 4
Local: Sala ED 05 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
A LITERATURA E A BRINCADEIRA DE PAPÉIS SOCIAIS: DIREITOS DA INFÂNCIA
Nathalia Martins Beleze (SME); Letícia Vidigal (PMC); Sandra Aparecida Pires Franco (Universidade Estadual de Londrina)
Resumo: O objetivo do estudo foi compreender a literatura como repertório para a brincadeira de papéis sociais. Para isto, foram propostas atividades organizadas com pressupostos da Teoria Histórico-Cultural em uma turma com 16 crianças de 5 a 6 anos em um Centro Municipal de Educação Infantil do Paraná. Tal proposta teve o intuito de garantir os direitos aos eixos anunciados nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Infantil: interações e brincadeiras (2009). Os resultados apontaram que o direito ao acesso à literatura orientado pelos eixos norteadores das DCNs possibilita a ampliação de repertórios às crianças e o enriquecimento da brincadeira de papéis sociais.
Introdução: A idade pré-escolar pode ter como atividade dominante a brincadeira de papéis sociais, se as condições objetivas lhes foram promovidas. Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil apresentam uma visão da criança como um sujeito histórico e de direitos, que se desenvolve na interação e relações estabelecidas com adultos e com outras crianças (BRASIL, 2009).
Desenvolvimento: Destaca-se a responsabilidade da pré-escola na ampliação de saberes e conhecimentos das crianças pequenas, por meio do acesso a bens culturais, em especial a literatura, “um direito básico a todas as pessoas, sendo indispensável na infância [...]”. (CANDIDO, 1989, p. 180). Desse modo, é preciso desvelar a complexidade do processo do ato de ler para uma ação docente que vise o repertório estético.
Metodologia: Objetiva-se apresentar os resultados de atividades organizadas em um Centro Municipal de Educação Infantil do Paraná, tendo como participantes 16 crianças com idades de 5 a 6 anos. Foram trabalhadas obras clássicas e contemporâneas de “Chapeuzinho Vermelho” valorizando as interações e brincadeiras diante do repertório da literatura. Assim, foram realizadas observações das brincadeiras de papéis sociais antes e após as atividades organizadas. A pesquisa foi qualitativa e teve como delineamento a abordagem crítico-dialética.
Resultados: Os resultados indicaram que as atividades organizadas a partir do elo da literatura com os elementos de interações e brincadeiras possibilitaram repertórios estéticos e humanizadores que foram atribuídos na brincadeira de papéis sociais.
Considerações: Foi possível constatar que a literatura possibilitou o acesso das crianças à cultura acumulada historicamente e tal enriquecimento transpareceu nos diálogos e papéis assumidos no decorrer da brincadeira.
Referências: BRASIL. Ministério da Educação. Resolução n. 5/2009, de 17 de dezembro de 2009. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: Conselho
Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica – CEB. dez. 2009. CANDIDO, A. Direitos Humanos e literatura. In: FESTER A. C. R. (Org.). Direitos humanos. Ed. Brasiliense, 1989.
Palavras-chave: literatura; brincadeira; teoria histórico-cultural.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
A IMAGINAÇÃO E A LINGUAGEM NA CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Rodrigo Luiz de Araujo (Prefeitura de São José dos Campos)
Esta pesquisa tem como objeto a análise da atividade criadora e imaginação em crianças entre 5 e 6 anos. O interesse desse trabalho se vincula, mais diretamente, à investigação sobre a influência de fatores internos e externos que auxiliam no desenvolvimento da atividade criadora de histórias; todavia, ele deriva também de preocupações sobre a linguagem, especialmente em relação às elaborações que exigem mais detalhes. A proposta da investigação é identificar e caracterizar enunciados que se exprimem além da condição perceptual e imediata da ilustração. A partir daí, pretende-se averiguar aspectos linguísticos que podem demonstrar como experiência de ouvinte e/ou leitora de literatura influência na atividade criadora. O recorte de problema de verificação e as análises realizadas fundamentam-se na abordagem sócio-histórica, tendo como base as contribuições de L. S. Vigotski, sobretudo no que se refere às suas teses gerais sobre o desenvolvimento da atividade criadora e imaginação, mais especificamente, sobre os modos reconstituidor e combinatório da criação. Será adotada uma análise microgenética, baseada nas ideias de Góes (2000), em um microevento de criação de uma história, logo a observação ocorrerá pelas minúcias no momento da contação.
Referências: BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. 6. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011. CRUZ, M. N. da. Imaginação, linguagem e elaboração de conhecimento na perspectiva da psicologia histórico cultural de Vigotski. In: SMOLKA, A. L. B.; NOGUEIRA, A. L. H. Emoção, memória, imaginação: a constituição do desenvolvimento humano e na cultura. Campinas-SP: Mercado das Letras, 2011.
GIRROTO, C. G. G. S.; SOUZA, R. J. Literatura e educação infantil: livros, imagens e práticas de leitura. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2016. GÓES, M. C. R. de. A abordagem microgenética na matriz histórico-cultural: Uma perspectiva para o estudo da constituição da subjetividade. Cadernos Cedes, ano XX, n. 50, abril/00. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ccedes/a/3HgqZgZCCZHZD85MvqSNWtn/ abstract/?lang=pt. Acesso em 09 de jun./2021. SOUZA, R. J. et al. A arte narrativa na infância: práticas para o teatro da leitura e a contação de histórias. CampinasSP: Mercado de Letras, 2015. VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução Paulo Bezerra. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009a.
VIGOTSKI, L. S. Imaginação e criação na infância. São Paulo: Martins Fontes, 2009b. VIGOTSKI, L. S. Psicologia, educação e desenvolvimento: escritos de L. S. Vigotski. São Paulo: Expressão Popular, 2021. VOLÓCHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Editora 34, 2018. ZILBERMAN, Regina. Como e por que ler a literatura infantil brasileira. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. Palavras-chave: atividade criadora; imaginação; linguagem; sócio-histórica.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
UM ENSAIO SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Rosana Aparecida Motta Barcella
(Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Educação de Ibaté)
Eixo temático: Profissionais da Educação Básica Um Ensaio sobre Alfabetização e Letramento. A alfabetização é a articulação entre a leitura e a escrita por alunos de diferentes estágios educacionais. Promover uma aprendizagem significativa nesse processo é fundamental para evitar defasagem ao longo da vida educacional dos alunos. Logo, é necessário refletir sobre a alfabetização e letramento na busca de instrumentalizar os profissionais da educação com teorias que possam subsidiar a prática, no sentido de construir intervenções eficazes que possibilitem a iniciação, a retomada e a consolidação da alfabetização dos alunos na idade certa. Sabemos que o processo de alfabetizar e letrar são distintos, afirmar-se que os mesmos devem caminhar juntos. Nesse âmbito, a obra de Soares (2016) é a porta de entrada no contexto educacional brasileiro no que se refere a formação inicial e continuada de professores alfabetizadores desde a década de 80. Fomentar um aprendizado significativo durante a alfabetização é uma premissa necessária, porém, para isso, é primordial ao professor compreensão sobre a importância de seu papel no processo de alfabetizar letrando. O letramento é um conceito contemporâneo o qual não descarta o processo de alfabetização, mas que inclui conceitos e práticas para que facilitem o aprendizado do aluno e considere os avanços e modernidades ao processo trazendo novas perspectivas nessa importante etapa educacional. Os diferentes métodos utilizados pelos professores no processo de ensino e aprendizado são eficazes, porém faz-se necessário o conhecimento de tais metodologias, o domínio do professor de seu uso, e ainda o entendimento de que cada criança aprende de forma subjetiva. Soares (2003), adverte sobre a importância da compreensão de que alfabetização e letramento são práticas interdependentes e simultâneas e que cada uma delas tem suas especificidades e importância no espaço escolar. Durante toda a história da educação no Brasil, a alfabetização sempre esteve em pauta. Como etapa inicial da Educação Básica, o olhar de especialistas, professores e Poder Público sempre se voltaram para esse processo, ora discutindo sobre os métodos, priorizando um ensino com ênfase no código linguístico; ora focando na concepção construtivista e, portanto, enfatizando em como a criança se apropria deste sistema, de modo a inserir a mesma no mundo da escrita por meio de textos autênticos. O principal objetivo da alfabetização nos anos iniciais é ensinar as crianças a ler e escrever, e o letramento remete-se à aquisição da habilidade de fazer uso da leitura nos espaços sociais. Os processos de alfabetização e letramento são correlativos e, quando bem estruturados, levam a uma aprendizagem mais significativa.
Referências: SOARES, M. Alfabetização: a ressignificação do conceito. Alfabetização e Cidadania, n. 16, p 9-17, jul. 2003. SOARES, M. Alfabetização: A questão dos métodos. São Paulo: Contexto.
Palavras-chave: alfabetização; letramento; aprendizagem.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
VIVÊNCIAS DE BRINCAR/LETRAR DE UMA CRIANÇA COM AUTISMO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Zélia Amorim de Proença (Prefeitura Municipal de Campinas); Ana Paula de Freitas (Universidade São Francisco)
O estudo é recorte de uma pesquisa de mestrado que aborda o tema da brincadeira em crianças com transtorno do espectro do autismo. Está sendo desenvolvido em uma escola de educação infantil, pública, em uma turma com 20 crianças, sendo uma com diagnóstico de autismo, com quatro anos, que se comunica por meio de gestos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, da própria prática, orientada pelos pressupostos teórico-metodológicos histórico-cultural (VIGOTSKI 2021a, 2021b). Parte-se da premissa que crianças com autismo brincam, pois a função psíquica imaginativa desenvolve-se nas/pelas relações sociais. O estudo visa compreender como as estratégias pedagógicas impactam as condições de brincar da criança com autismo no contexto escolar. Em 2022, a professora-pesquisadora elaborou um projeto envolvendo o brincar e o letramento, entendido como prática social (KLEIMAN, 1995). Os alunos foram convidados a trazer um brinquedo de casa para compartilhar com os amigos. Semanalmente, durante a roda de conversa, há o momento de apresentar, compartilhar e brincar com os brinquedos. Com a mediação da professora-pesquisadora, as crianças pensam em outros modos de utilizá-los. Elas foram convidadas a registrar a atividade em desenhos que serão organizados em um livro com a foto de cada uma das crianças. Ao final do ano, as crianças levarão o brinquedo e livro para a casa. As atividades são registradas por meio de videogravação e pelas narrativas da professorapesquisadora. Está sendo realizada a análise microgenética dos registros gravados (GÓES, 2002). Benben (nome fictício), a criança com autismo, tem interagido e brincado, procurando atender às regras, tal como na brincadeira do ovo-choco. As análises permitem perceber que a estratégia pedagógica de incentivar as brincadeiras aliadas às práticas de letramento (o desenho, a narrativa oral das crianças, a confecção do livro) contribui para a interação social entre todas as crianças, incluindo o aluno com autismo; além disso, nestas atividades, as crianças operam com as atividades de imaginação e criação, contribuindo com o desenvolvimento psíquico superior.
Referências: GÓES, M. C. R. A abordagem microgenética na matriz históricocultural: uma perspectiva para o estudo da constituição da subjetividade. Cadernos CEDES [online], v. 20, n. 50, 2000. Acesso: 10 out. 2022. Disponível em: https://doi. org/10.1590/S0101-32622000000100002. KLEIMAN, A. B. (Org.). Os significados do letramento. 1. ed. Campinas: Mercado de Letras, 1995. VIGOTSKI, L. S. Psicologia, educação e desenvolvimento: escritos de L. S. Vigotski/Lev Semionovitch; organização e tradução de Zoia Prestes e Elisabeth Tunes. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2021a. VIGOTSKI, L.S. Problemas de defectologia v. 1/Lev Semionovitch Vigotski; organização, edição e tradução e revisão técnica de Zoia Prestes e Elizabeth Tunes. São Paulo: Expressão Popular, 2021b.
Palavras-chave: brincar; letramento; autismo; educação infantil; perspectiva histórico-cultural.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
A LEITURA DE LITERATURA COM BEBÊS COMO POSSIBILIDADE DE PROCEDER NO MUNDO
Ana Cristina Ayres Motta (Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá);
Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto (Universidade Estadual de Campinas)
Este artigo, desenvolvido no ALLE-AULA/FE/UNICAMP, é parte de uma pesquisa de doutorado desenvolvida por uma das autoras e aborda a leitura literária no âmbito da creche. O objetivo do estudo é compreender a importância da literatura na constituição da subjetividade de si e do outro, mediado pelo livro e pelas relações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos nos momentos de leitura. Neste texto destacamos a potência da literatura enquanto produto cultural e mediador de educação e desenvolvimento dos sujeitos, desde bebês, a fim de possibilitar um caminho de dentro da escola para fora, ou seja, para a rua, para o mundo, ainda que o sujeito (con)viva no mundo ainda antes de estar na escola. Ancoradas nos estudos de Bakhtin e sua perspectiva enunciativo-discursiva para compreensão da interação verbal instaurada pela leitura, em suas condições concretas de produção e no referencial teórico da perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano de Vigotski, a qual destaca os aspectos histórico, cultural e social de desenvolvimento humano. A análise do vivido incidirá sobre as interlocuções produzidas a partir da leitura e nas situações de leitura, na busca de indicadores dos sentidos em circulação no processo vivido pelos bebês e pelas professoras. Os dados produzidos até o momento indiciam a dimensão intersubjetiva, tanto do processo formação do leitor, vivido pelos bebês, quanto pela professora em relação ao seu papel de mediadora do processo. Destaca-se a tese de que a constituição da subjetividade, mediada pela leitura de literatura, amplia o conhecimento dos bebês em relação a si mesmos e ao mundo, envolvendo produções de sentidos e significados marcados por afetos e emoções despertadas pela leitura da literatura, uma vez que “as significações se manifestam em frases, unidades da língua, e, os sentidos, em enunciados, unidades da linguagem em uso, da [e na] atualização efetiva das possibilidades expressivas da língua” (SOBRAL; GIACOMELLI, 2018, p. 307). É no processo de interação verbal no qual o sujeito está inserido que se constituem individualidades e singularidades marcadas pela alteridade pois é através da palavra que nos definimos em relação aos outros, à coletividade (BAKHTIN, 2002).
Palavras-chave: literatura; subjetividade; alteridade.
vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 5
Local: Sala ED 06 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
DA EXOTOPIA À UTOPIA: NARRAR A (RE)EXISTÊNCIA
Alberto Fernando Gil Dias (Universidade Estadual de Campinas)
Ao estabelecer aproximações entre a abordagem bakhtiniana da criação artística, em particular aos conceitos de responsabilidade e exotopia (BAKHTIN, 2011; SOBRAL, 2005; AMORIM, 2001), e à relação entre narração e experiência, bem como ao conceito de aura, em Walter Benjamin (BENJAMIN, 1987, 2009; KRAMER, 1993, 2000), neste artigo o autor propõe-se a demonstrar como estes conceitos perpassaram as produções escritas de um grupo de estudantes de 8º e 9º anos da rede pública da cidade de Itu/SP, em uma situação adversa de isolamento social, no contexto de ensino remoto. Tendo como pergunta orientadora “qual o papel da narrativa no sentido de nos reaproximar de/ressignificar um mundo ou tempo que nos é hostil”, as atividades desenvolveram-se apoiadas na ideia de multiletramentos, visando, para além deste, a chamada continuidade-ruptura (SNYDERS, 1988, 1993), a qual considera a cultura na qual o estudante está inserido, desestabilizando assim discursos cristalizados e contribuindo para a construção da consciência e, consequentemente, autonomia.
Palavras-chave: narração; experiência; responsabilidade; exotopia; continuidaderuptura; escrita criativa.
EU LUTO. POESIA EM PALAVRAS E POESIA EM IMAGENS: DO PARTICULAR PARA O UNIVERSAL
Gizele Cristina Rodrigues Caparroz de Almeida (Elos Educacional); Nadejda Ramirez Starikoff (Colégio Nossa Senhora do Morumbi)
Como nasce a poesia? Do que fala a poesia? Onde está a poesia? A poesia está só nas palavras? A poesia está só na literatura? Qual é o papel das imagens nos poemas e nas diversas formas de arte, na contemporaneidade? Este trabalho tem, por objetivo, refletir sobre essas questões por meio do relato do processo de escrita e pintura de duas educadoras e artistas, uma poeta e outra artista plástica, que lutam para ressignificar seus lutos por meio da Poesia: a poesia em palavras e a poesia em imagens, materializadas em poemas e ilustrações do projeto Eu Luto. A poesia em palavras nasce da experiência do luto da educadora e poeta que, durante a pandemia, agrega ao fazer poético pesquisas sobre as várias manifestações do luto nas diversas culturas e escreve o livro “As cores do luto”. Das conversas por horas a fio entre as amigas, que fizeram parte de um processo de amadurecimento e de cura em suas vidas – amores que se findam, entes queridos que se vão – surge o convite para a produção das ilustrações, que ampliaram o significado do luto nas técnicas de pintura da artista plástica. Nasce a poesia em imagens Para Jung, a poesia nasce das experiências pessoais e vivências que transparecem na obra do artista. Por isso, a poesia pode falar de tudo, de todos e para todos. As temáticas abordadas nos poemas e nas obras de arte são universais, sejam o amor, a vida, a morte ou o luto. No projeto Eu Luto, a experiência individual e particular do luto das autoras
pode se desdobrar, na figura do leitor, para o coletivo, para o mundo. Por isso, este relato também pretende pensar sobre o lugar da poesia, hoje. A poesia está nos livros, nas telas, nas diversas mídias, mas antes está nas ruas, está no mundo. Segundo as palavras de Paulo Freire (1992, p. 11-12), a “leitura do mundo precede a leitura da palavra (...) Linguagem e realidade se prendem dinamicamente.” Podemos acrescentar que o mundo cada vez mais intermidiático não se prende exclusivamente ao verbal. A poesia está no verso, na prosa e nas outras linguagens. As artes não verbais com as quais as artes verbais estão em contiguidade. Propomos pensar sobre a relação entre o texto imagético e o texto escrito, entre os poemas e as ilustrações de uma obra, e repensar o processo da leitura nas diversas linguagens: as palavras gerando imagens e as imagens gerando textos verbais num processo de metonímias e metáforas, do particular para o universal.
Referências: FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 27. ed. São Paulo: Cortez, 1992. JUNG, Carl Gustav. O espírito na arte e na ciência. Petrópolis: Vozes, 1991. PAZ, Octavio. Signos em rotação. São Paulo: Perspectiva, 1972. SANTAELLA, L.; NÖTH, W. Imagem. Cognição, semiótica, mídias. São Paulo: Iluminuras, 1998. SANTAELLA, L.; NÖTH, W. A poesia e as outras artes. Cadernos de Semiótica Aplicada, v. 9, n. 2, dezembro de 2011.
Palavras-chave: luto; leitura; dialogia; poesia; semiótica; poesia e artes visuais.
PERMITA QUE EU FALE NÃO ÀS MINHA CICATRIZES
Lívia Sgarbosa (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba); Carolina Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba)
Permita que eu fale, não às minhas cicatrizes. “Desejar é criar mundos, construir modos de estar, ser, experimentar os verbos da vida!” (Fonseca). Este texto objetiva pensar mulheres e seus processos formativos, que estiveram distantes das renomadas universidades, e concluíram suas graduações na Educação à Distância (EAD), movidas pelo desejo. O pensamento em desenvolvimento, foca em corpos marginalizados das universidades públicas, por distâncias outras, filhos, dinheiro ou extensas jornadas de trabalho. Suas individualidades e as subjetividades procuraram então, de alguma maneira possível, acessar a graduação e romper as estruturas que as cercavam, e ainda que em lugares determinados, esses corpos estão dentro das instituições de ensino, e impactam o sistema educacional, ao longo do tempo. Assim como sinaliza a professora Margareth Rago (2013, p. 145): “vida escapa às malhas do poder, inventa novas formas ou, como diz Foucault, resiste ali onde o poder se manifesta”. Entendemos a potência que esses corpos desejantes tem, nesse sentido, Margareth Rago (2013, p. 28) acentua a importância de refletir sobre experiências que têm sido menos teorizadas e estudadas na área dos estudos feministas, experiências intensas, miúdas e constantes de construção de outros modos de pensar, agir e existir em prol da autonomia feminina. Inúmeras pesquisas, falam das professoras formadas na EAD, os estudos mapeados, classificam suas formações como precárias, abordam sobre a desintelectualização da formação docente e do grande número de diplomadas nessa modalidade sem qualificação adequada. Entendemos porém, que nesse contexto, onde os limites são tantos, a graduação é como linha de fuga, um acontecimento e Margareth Rago (2019, p. 40), esclarece a importância da luta
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
feminina na emersão de espaços, como um “acontecimento”, isto é, como forças que irrompem e alteram o curso da história. Essas professoras podem ser encorajadas a falar por si, como enfatiza hooks (2009, p. 260): “fomos socializadas a respeitar o medo mais do que nossas próprias necessidades de linguagem e definição, e enquanto esperamos em silêncio por esse luxo que é o destemor, o peso desse silêncio vai nos sufocar, a vários silêncios a serem quebrados”.
Referências: HOOKS, B. Ensinando Pensamento Crítico. São Paulo: Ação Educativa, 2009. HOOKS, B. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. Tradução: Ana Luiza Libâneo. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018. RAGO, Luzia Margareth. A aventura de contar-se: feminismos, escrita de si e invenções da subjetividade. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2013. Palavras-chave: mulheres; graduação; desejo.
DIÁRIO DE UMA LOUSA COMO ESCRITA DE UM
MEMORIAL DE UMA PROFESSORA EM FESTA
Lucia de Fatima Dinelli Estevinho (Universidade Federal de Uberlândia)
A ideia de escrever um Diário aconteceu enquanto frequentava o grupo de estudos Chão de Floresta no período de estágio de pós-doutorado. Este período coincidiu com a produção da escrita de um memorial para promoção na carreira do magistério superior para professora titular. A escrita do memorial foi ativada a partir de uma pergunta que acompanhou minha travessia enquanto professora: Como acontece o processo criativo e fazer disso um projeto de vida acadêmica? Foi pela ventania, em como ela tira os nossos pés do chão. Ventania provocada por um turbilhão de textos, falas, literatura, obras de arte, e com esses materiais em mãos fui constituindo um memorial que convoca a arte, os modos de fazer arteeducação em ninhos que foram sendo construídos a cada graveto, folha, linha, papel, colocados em caixinhas. Caixinhas como lugar de guardar palavras e fazerem elas proliferarem em escritas. E em cada voo em busca de algo novo, mas que logo percebia um encaixe nesses ninhos que brotavam e alimentavam vidas pelos afetos, em como habitar mundo em coexistências, em cocriações. Um mundo que se faz pela imediação, conceito trabalhado pela filósofa e artista Erin Manning, pois as coexistências são consequências das imediações, que não elabora suposições a priori, são aproximações que acontecem pela dobra do tempo, no entre. O que poderia fazer para que uma escrita diária brotasse não só pelas marcas, pelas lembranças? Perseguir algo que cotidianamente entra na minha docência e que saísse da perspectiva humana centrada. O que eu poderia colocar para falar? Os slides? O giz? A lousa? – Olá professora, bom dia! Quantos materiais você trouxe hoje? Como você, eu olho os/as estudantes, as vezes busco no brilho dos olhos deles uma razão para existir. Penso que se o brilho acontece, a luz ilumina a mim também. Me emocionei com o filme que você projetou em minha pele hoje, às vezes acho que aquilo que projeta em mim fica marcado feito tatuagem na pele. Camadas de tatuagem parecem compor a meu ser: Lousa. Com esse primeiro trecho escrito, todas as manhãs abria o caderno, escrevia a data do dia e deixava vir um ano e depois escrevia com as memórias de algo que aconteceu naquele ano. Anos aleatórios foram sendo incorporados no diário de uma professora em festa.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Referências: LAPOUJADE, D. William James, a construção da experiência. Tradução de Hortência Santos Lancaster. São Paulo: n-1 Edições, 2017. LOVELESS, N. (Org.).
Knots and Knowings: Methodologies and Ecologies in Research-Creation. Edmonton, Alberta, Canadá: The University of Alberta Press, 2020. MANNING, E. Em direção a uma política da imediação. DIAS, S. O.; WIEDEMANN, S.; AMORIM, A. C. R. (Org.).
Conexões: Deleuze e cosmopolítica e ecologias radicais e nova terra e... Coleção Conexões. Campinas, SP: ALB/ClimaCom, 2019.
Palavras-chave: pesquisa-criação; experienciar docências; escrita diária.
FABULANDO HISTÓRIAS MULTIESPÉCIES NO ANTROPOCENO
Luiza Dantas Benttenmüller Amorim (UFF)
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado, que ainda está em andamento, e se caracteriza pela busca por contar novas histórias mais inspiradoras em tempos de Antropoceno e mudanças climáticas. Pensando junto com as ideias de Donna Haraway (2016), Bruno Latour (2020) e Thom van Dooren e colaboradores (2016), entende-se que vivemos em um mundo que comporta uma pluralidade de modos de existências humanas e mais-que-humanas, as quais estão intimamente emaranhadas em entrelaçamentos multiespécies. Dessa forma, as mudanças climáticas passam a atingir todos os seres que habitam o planeta em diferentes medidas, causando fins de mundos para algumas espécies mais-que-humanas e sociedades tradicionais. Refletindo sobre essa questão, para vivermos de uma forma mais responsável com os seres com os quais nos relacionamos, já não basta contarmos histórias que sejam atravessadas por discursos de dominação, destruição e colonização que permeiam as sociedades ocidentais capitalistas. Ao invés disso, através da literatura de ficção e processos de fabulação especulativa, é possível imaginarmos outras realidades que nos ajudem a vislumbrar novos modos de habitar a Terra e lidarmos com as questões socioambientais do Antropoceno. Assim, neste trabalho, busco diálogos com literaturas de povos indígenas, como do povo Maraguá, para escrever histórias que possam provocar fissuras nos pensamentos amplamente difundidos pelas sociedades ocidentais de que a espécie humana deveria estar acima dos demais seres do planeta. Todos os organismos fazem parte do sistema complexo de Gaia, uma teoria proposta por James Lovelock (2000), e necessitam lidar com a realidade dos desastres ambientais. As histórias redigidas para esse trabalho não se propõem a serem soluções para as mudanças climáticas, mas são tentativas de encararmos esses problemas e, quem sabe, desacelerarmos o tempo dos fins.
Referências: HARAWAY, D. J. Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene.
Durham: Duke University Press, 2016. 296p. LATOUR, B. Diante de Gaia: oito conferências sobre a natureza no Antropoceno. Rio de Janeiro: Ubu Editora, 2020. 480p. LOVELOCK, J. Gaia: the practical science of planetary medicine. Reino Unido: Oxford University Press, 2000. 192p. VAN DOOREN, T.; KIRKSEY, E.; MÜNSTER, U. 2016. Estudos multiespécies: cultivando artes de atentividade. ClimaCom Cultura Científica, ano 3, n. 7, p. 39-66.
Palavras-chave: antropoceno; fabulações especulativas; estudos multiespécies.
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 6
Local: Sala ED 07 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
LITERATURA POR DENTRO DO CURRÍCULO: AÇÕES POTENCIAIS EM UM
CONTEXTO EDUCACIONAL ATRAVESSADO PELA BNCC
Luís Fernando Portela (Prefeitura Municipal de Passo Fundo/Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Este trabalho, que se apresenta como uma elaboração propositiva, ao refletir, essencialmente, sobre a inserção da literatura na escola, é resultado de pesquisa realizada durante curso de Mestrado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com apoio do CNPq. A partir da consideração do debate em torno da declarada crise da literatura e de seu ensino, especialmente em sua face voltada aos estudos curriculares, este trabalho pretende estabelecer uma discussão que tem como eixos o leitor, a leitura, a literatura e a escola. Essa discussão é realizada em dois movimentos que se entrelaçam: uma análise conjuntural destinada a pensar o perfil do jovem leitor e analisar a proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a literatura no Ensino Médio, vista em sua amplitude, e um segundo momento de reflexão sobre esse quadro e proposições para pensar a literatura por dentro e para além do currículo. De modo a dar conta desse percurso, este estudo tem como centro uma análise textual da BNCC. Além de constituir-se, essencialmente, como uma pesquisa bibliográfica, amparada na produção de alguns autores: Compagnon, Todorov, Colomer, Petit, Zilberman e Rösing para abordar questões relacionadas à literatura e seu ensino, Bauman, Chartier e mais detidamente Santaella, para tratar dos comportamentos de leitura, Goodson, em relação à teoria curricular, e Benjamin e Larrosa, em seu momento propositivo. Dessa forma, tem-se a percepção de um cenário de crise, menos da literatura e mais de seu ensino, em que, apesar de um certo caráter utilitário do documento curricular que passa a reger a educação nacional “com lugar difuso e volátil reservado à literatura”, foi possível identificar potencialidades e caminhos de ação. Torna-se viável, portanto, em um gesto de resistência, pensar um trabalho com literatura na escola que, ao considerar os diferentes perfis de leitores, vise a um leitor que se forma para a literatura e pela literatura, em uma educação literária pautada pela experiência.
Palavras-chave: educação literária; Comportamentos de leitura em mutação; Base Nacional Comum Curricular (BNCC); experiência; formação do leitor.
DA “SOLIDÃO DA TERRA” ÀS “POÉTICAS DO VIVO”: A URGÊNCIA DE SE PENSAR OUTROS MODOS DE RELAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Michele Fernandes Gonçalves (UFSC)
Este trabalho tem por objetivo problematizar uma temática recorrente no campo da Educação: a solidão, discutindo-a em termos do que aqui se define como solidão da terra e partindo dessa definição para refletir sobre a urgência de se pensar poéticas do vivo que sejam capazes de abrir espaço para a construção de novos modos de relação.
Utilizando-se de quatro situações particulares: a experiência temporária da docência universitária pública; a perda de um entre querido não humano; a leitura de dois livros;
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
e as reflexões tomadas a partir de um curso ministrado para alunos de licenciatura em uma Unidade de Conservação; pretende-se discutir: a) como os processos de neoliberalização da vida produzem o cansaço, a medicalização e a patologização de professores e alunos (MOURA et al., 2019), além de um tipo específico de solidão relacionada à perda da produção do comum (FEDERRICI, 2017) e dos afetos alegres nele implicados; e b) a necessidade de se abrir espaço para o contato intensivo entre reinos (HARAWAY, 2022; MARTÍN, 2022), de maneira a recuperar a terra entre nós ou de fundar uma nova terra (DELEUZE; GUATTARI, 1992) onde se conceba outros comuns possíveis, capazes de uma ressignificação eco-decolonial (FERDINAND, 2022) da solidão. Formula-se a hipótese de que a solidão decorre do despovoamento do indivíduo pela perda da ligação com o vivo (LISBOA, 2021) e com a terra, aqui compreendida como a matéria indeterminada cujo sentido é fixado pela contingência do encontro, constituindo-se como o que varia nesse contato e se revelando um modo de relação composto pela circulação dos afetos e pela partilha sensível (RANCIÉRE, 2005) produzidas no estar junto (SKLIAR, 2011) dos corpos, traduzindo-se, portanto, ao mesmo tempo como Planeta e território, Pacha Mama e paisagem, ancestralidade, tradição e contemporaneidade, palavra e linguagem e, enfim, todos os modos de fazer, ver, dizer, escutar e sentir capazes de conjugar, entre todos, a alteridade radical presente em cada ente ao qual se imprime a figura de um outro.
Referências: DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a filosofia. São Paulo: Ed. 34, 1992. FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017. FERDNAND, Malcom. Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho. São Paulo: UBU, 2022. HARAWAY, Donna. Quando as espécies se encontram. São Paulo: UBU, 2022. LISBOA, Adriana. O vivo. Belo Horizonte: Relicário, 2021. MARTÍN, Nastassja. Escute as feras. São Paulo: Editora 34, 2021. MOURA, Juliana da Silva et al. A precarização do trabalho docente e o adoecimento mental no contexto neoliberal. RPD (Revista Profissão Docente), Uberaba, Minas Gerais, v. 19, n. 40, p. 01-17, jan./abr. 2019. RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Ed. 34, 2005. SKLIAR, Carlos. Diez escenas educativas para narrar lo pedagógico. Plumilla Educativa, Universidad de Manizales, v. 8, n. 1, 2011. Palavras-chave: solidão; docência; educação, poéticas; relações multiespécies.
O ENSINO DE HIP HOP NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO EM CAMPO GRANDE (MS)
Natália Mazzilli Dias (Unicamp)
O presente trabalho tem por objetivo descrever e analisar uma prática pedagógica desenvolvida pela autora acerca do ensino de Hip hop. Quando atuava como professora de Língua Portuguesa em uma escola estadual do bairro Moreninha, periferia de Campo Grande (MS), a professora desenvolveu esta proposta com seis turmas do 1º ano do Ensino Médio. O interesse pela temática decorreu a partir da experiência de alguns minutos livres ao final das aulas, quando os alunos escolhiam músicas do Racionais MC’s e solicitavam que a professora os auxiliasse a interpretá-las. Levandose em consideração o interesse dos alunos pelo rap, a professora desenvolveu uma proposta de ensino de Hip hop a ser desenvolvida com essas turmas. Com base em Souza (2009), inicialmente foram realizadas aulas de discussão acerca do Hip hop,
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
do que se trata o movimento, o conhecimento dos alunos acerca do mesmo e as principais linguagens do Hip hop: o rap (músicas rítmicas com rimas e poesias), o DJ (artista que seleciona e conduz as batidas), a breakdance (dança específica do rap e hip hop, geralmente improvisada) e o graffiti (pintura/escrita artística). Após o primeiro momento, o grupo estudou sobre a história do Hip hop, desde sua origem nos EUA à sua chegada no Brasil, esclarecendo dúvidas que os alunos levantavam sobre termos como “resistência”, “periferia” e “favela”. Em seguida, debateram sobre vídeos e clipes com músicas e danças do movimento, selecionados pela professora e pelos alunos. Acrescentaram-se a esse momento as batalhas de rima e o slam, manifestações culturais apreciadas pelos alunos e em expansão, naquele momento, em Campo Grande. Após essa fase, a professora propôs um trabalho de produção cultural. Cada grupo de 3 ou 4 alunos deveria produzir uma manifestação cultural de Hip hop, fosse um rap, slam, graffiti ou um vídeo de dança. Na data combinada, cada grupo de alunos apresentou o trabalho realizado em sala de aula. O engajamento dos alunos, inclusive aqueles que demonstraram mais resistência ao início do projeto, foi nítido. Para além da sala de aula, alguns deles começaram a produzir textos de rap ou slam, os quais compartilharam com a professora em outros momentos. Alguns alunos ainda pediram espaço para reproduzir, na sala de aula, batalhas de rima. Os trabalhos mostraram-se críticos e bem elaborados, de modo a evidenciar o desenvolvimento da consciência crítica acerca de temas sociais e culturais, conforme descreveria Freire (2016). Conclui-se, portanto, a pertinência da prática pedagógica do ensino de Hip hop no Ensino Médio.
Referências: FREIRE, P. Conscientização. São Paulo: Cortez, 2016. SOUZA, A. L. S. Letramentos de Reexistência: culturas e identidades no movimento hip-hop. 2009. Tese (Doutorado) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.
Palavras-chave: ensino médio; hip hop; língua portuguesa.
JOGO & MITOLOGIA: BUSCANDO UMA ESTRATÉGIA
PARA O LETRAMENTO INFORMACIONAL
Renata de Mello Santos Leviski (MPPEB – Colégio Pedro II); Aira Suzana Ribeiro Martins (MPPEB – Colégio Pedro II)
Observa-se, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, grande dificuldade dos estudantes em buscar e delimitar material para a realização de pesquisas escolares. Os trabalhos apresentados por alunos da escola básica são, via de regra, simples cópias de textos, com informações além das necessárias. Essas constatações, também, podem ser lidas em estudos acadêmicos voltados para o letramento informacional. A facilidade do acesso à informação, a quantidade de recursos bibliográficos e multimidiáticos disponíveis e a dificuldade em se perceber a informação adequada e relevante para o conhecimento que se busca tornam o Letramento Informacional primordial para a Pesquisa Escolar. Diante dessa dificuldade, é urgente que a Escola Básica prepare o aluno para realizar pesquisas necessárias, para selecionar as informações de maneira mais independente; no início, com orientação do seu professor, com ajuda dos seus pares e, posteriormente, de forma individual expressando, de maneira crítica e criativa, suas descobertas e aprendizagens.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Não só para tarefas escolares como também para suas atividades futuras, sejam acadêmicas, sejam em atendimento às demandas de sua vida como cidadão. Letramento Informacional engloba os conteúdos de aprendizagem relacionados aos procedimentos de pesquisa, nas categorias de busca, uso e comunicação da informação. Ou seja, nesse tipo de letramento espera-se que os alunos desenvolvam competências e habilidades para lidar com a informação. Por se referir a um processo de aprendizagem, percebe-se que há falta de atenção, por parte da escola e dos professores, em relação ao desenvolvimento desse tipo letramento nos primeiros anos de escolaridade. Acredita-se que seja possível trazer ludicidade e desafios que estimulem essas primeiras descobertas no trabalho com a informação. Este texto apresenta relato de uma atividade desenvolvida com alunos do 5º ano que consistiu na criação de um jogo de cartas inspirado no jogo do Pokémon, cujo tema foi a Mitologia Egípcia. Para a confecção do jogo, os alunos tiveram de fazer uma série de pesquisas, finalizando com a criação de uma tabela com todas as informações que seriam utilizadas e com a definição das regras do jogo.
Referências: A atividade fundamentou-se, principalmente, nas pesquisas de Blank (2015), nas obras de Campello (2003), Fialho (2021), Gasque (2010), Antunes (2010) e Rojo (2009), entre outros.
Palavras-chave: pesquisa escolar; letramento informacional; ensino básico; jogo.
ENTRE RUAS E RIOS – A (IN)VISIBILIDADE DA ALFABETIZAÇÃO COMO PROCESSO DISCURSIVO
Karen Cezar Baptista (UNICAMP); Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto (UNICAMP)
Rios sem Discurso Quando um rio corta, corta-se de vez o discurso-rio de água que ele fazia; [...] Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária: [...] porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água por que ele discorria. [...] (MELO NETO, 1994). Neste artigo apresentaremos alguns conceitos-chave da perspectiva de alfabetização como processo discursivo (SMOLKA, 1989), tendo como referência a perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin (2014). Estabeleceremos um diálogo com as letras da cidade de Piracicaba, entre ruas e rio, como lugar da paisagem urbana e as possibilidades (in)visíveis de escritas presentes. Ao nascer nos inserimos na corrente ininterrupta da comunicação verbal e imergimos no rio da linguagem. “Somente quando [mergulhamos] nessa corrente [da linguagem] é que [nossa] consciência desperta e começa a operar” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2002, p. 108). Ao mesmo tempo em que, emersos nas ruas da cidade somos banhados por letras, palavras, frases, textos... Da nascente das palavras, aos discursos-rios... Tudo é rio. Tudo é linguagem. As escritas, gota a gota encharcam/penetram nossas vidas, somos 70% água, 100% linguagem. Nas ruas somos atravessadas por textos socialmente (in)visíveis nos mais diferentes suportes: postes, placas, muros etc. O processo de alfabetização carece de legitimar essas escritas de produção social, discursos presentes no cotidiano, tornando-as visíveis nas escolas, por isso, trabalhar com a linguagem escrita que vive e pulsa pela cidade. Nesse movimento o trabalho com a linguagem ganha evidencia ao trabalho sobre a linguagem que vai também se consolidando pela mediação do professor. Isso porque o movimento inverso sobrepõe “a compreensão
vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
passiva [pela] nítida percepção do componente normativo do signo linguístico, isto é, pela percepção do signo como objeto-sinal: correlativamente, o reconhecimento predomina sobre a compreensão” (BAKHTIN, 2014, p. 99)
Referências: BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem: Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2014. BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2002.
GERALDI, João Wanderley. O professor como leitor do texto do aluno. In: MARTINS, Maria Helena (Org.). Questões de Linguagem. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2001.
SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processor discursivo. 2. ed. São Paulo: Cortez; Campinas: Ed. Unicamp, 1989. Palavras-chave: linguagem; alfabetização; cultura das escritas.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 7
Local: Sala ED 09 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
UMA ANÁLISE DE REPRESENTAÇÕES DO LEITOR EM UMA ADAPTAÇÃO
Adriana Cícera Amaral Fancio (Universidade Federal de São Carlos); Luzmara Curcino (Universidade Federal de São Carlos)
Muitas são as discussões acerca da necessidade de políticas públicas de fomento à leitura no Brasil, sobretudo de iniciativas que atendam efetivamente o estrato da população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ao longo do tempo, muitos projetos, campanhas e programas foram formulados e divulgados para a população como meio de fomentar o interesse pela leitura e o hábito de seu exercício. Entretanto muitas delas não corresponderam efetivamente com a realidade social e cultural desse público-alvo que afirmavam contemplar e atender. O que muitos desses projetos, campanhas e programas desconsideram “por inconsciência, negligência ou estratégia” é a relação entre a realidade brasileira e as ações governamentais na promoção de práticas culturais legitimadas. Desse modo, muitas crianças, adolescentes e jovens continuam sem acesso ao aprendizado efetivo e eficaz da leitura, a livros de qualidade, a oportunidades no que tange sua formação cultural e leitora, afetando assim a promoção da igualdade e da equidade em nosso país e, evidenciando o abismo sociocultural entre “herdeiros” e “não herdeiros” (CHARTIER, 2019). Com vistas a contribuir para a melhor compreensão desses encontros e desencontros de políticas públicas relacionadas à promoção da leitura e as necessidades dos públicos para os quais afirmam se dirigir, temos realizado uma pesquisa qualitativa, de natureza teórica e analítica, ancorada em pressupostos teóricos da Análise do Discurso de Michel Foucault e da História Cultural da leitura, segundo Roger Chartier, especialmente aqueles dedicados à descrição das representações do leitor popular, ao longo da história. Nesta apresentação, objetivamos analisar as representações da leitura e do leitor popular a partir de análise discursiva de duas versões do conto “João e Maria”. A primeira versão é de autoria dos Irmãos Grimm traduzida para o português e publicada no Brasil em 1982. A segunda é uma adaptação de Rosana Mont’Alvernee publicada em 2020, especialmente para o acervo do programa Conta pra Mim do Governo Federal, de iniciativa do Ministério da Educação e, segundo o próprio material de divulgação do programa, trata-se de iniciativa engajada na promoção da prática de “Literacia Familiar”.
Discutiremos algumas diferenças e semelhanças observáveis na comparação entre duas versões do conto, assim como analisaremos alguns apagamentos evidenciados na versão adaptada mais recente, relativas a conflitos familiares, a temas polêmicos como a fome, a violência e o abandono parental, que foram suprimidos, indiciando, portanto, uma tutela quanto aos temas apropriados para a infância e um modo de edulcorar essa narrativa, em função da representação compartilhada pelo Programa em relação à leitura, à literatura, ao leitor adulto responsável pela leitura e ao público infantil a quem se destina essa narração na versão adaptada para o Programa.
Palavras-chave: leitura; programa “Conta pra Mim”; adaptação; contos de fadas.
EXPERIÊNCIA E LEITURA LITERÁRIA NA
OBRA DE MIGUEL SANCHES NETO
Alzira Fabiana de Christo (Unicentro)
Na presente pesquisa buscou-se analisar a maneira como memória, infância, leitura e formação de leitores são evocadas nos livros “Chove sobre minha infância” (2000), “Herdando uma biblioteca” (2004) e “Venho de um país obscuro” (2005), de Miguel Sanches Neto. A escola e a leitura são temáticas recorrentes nas obras do escritor, principalmente quando este se refere a experiências vividas na infância e adolescência. Deste modo, nos pareceu importante desenvolver a pesquisa a respeito deste tema na obra de Sanches Neto a fim de saber como esse processo de formação de leitor literário ocorreu e é representado em sua obra. O interesse principal foi analisar como objetos e ações relacionadas à leitura literária que aparecem nas obras do escritor, foram importantes para a formação do leitor Miguel Sanches Neto. Mais que isso, nosso interesse foi analisar de que maneira, por meio da análise das obras selecionadas, é possível formar leitores em espaços onde a circulação de livros e as condições de leitura são precarizadas. Em relação ao arcabouço teórico utilizado ao longo da pesquisa, destacam-se as obras de W. Benjamin (1994, 2002, 2011), G. Agamben (2005) e A. Assmann (2011). Nas narrativas do escritor, a infância aparece como força de evocação do passado, fonte de sabedoria e experiência. Ao se valer de personagens que se recordam de momentos vividos na infância, essas lembranças são redimensionadas e não fazem um apelo somente individual e subjetivo, mas se tornam, por meio de imagens do inconsciente, coletivas. Em seus livros, Miguel Sanches Neto reconhece que o passado não é algo tão distante, isto é, o passado não passou, é possível, ainda, encontrá-lo no presente. Seus personagens recorrem constantemente aos restos e retalhos “fragmentos” da infância e a momentos importantes da formação humana, aqui nos atentaremos especificamente sobre a temática da leitura literária e formação de leitores. E se a rememoração é a possibilidade de pensar sobre o presente e construir um futuro diferente e uma nova História, isto também é possível quando o assunto está relacionado aos livros e à leitura literária. Ao resgatar essas experiências de leitura, a obra de Miguel Sanches Neto insiste numa dinâmica de mudanças e na necessidade do despertar e da ação para um mundo que vem no futuro. Em “Chove sobre minha infância”, “Herdando uma biblioteca” e “Venho de um país obscuro”, o escritor assume a dor e o sofrimento humanos para propor um outro jeito de ver o que se tornou corriqueiro, habitual e oficial. Nessa perspectiva, nos interessa saber o papel ocupado pelos livros em nossa sociedade a fim de que possam contribuir para a implementação de políticas públicas relacionadas à formação do leitor literário, assunto tão em voga na atualidade. A partir disso, é possível refletir sobre questões acerca da leitura e suas práticas, em diferentes contextos, ao longo da História.
Palavras-chave: experiência; formação de leitores; leitura literária; Miguel Sanches Neto.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
FORMAÇÃO LEITORA DA INTELECTUAL MARIA EUGENIA CELSO
Carla Bispo Azevedo (ProPEd/UERJ)
Nas primeiras décadas do século XX, a escritora Maria Eugenia Celso (1886-1963) mostrou-se bem presente no espaço público com sua produção literária na imprensa e na publicação de livros. Provavelmente favorecida pelos contatos intelectuais com sua família, em especial com seu pai, Conde Afonso Celso, que possuía uma vasta biblioteca na qual Maria Eugenia Celso teve acesso privilegiado a publicações brasileiras e estrangeiras, como José de Alencar e Paul Verlaine. Em entrevista concedida à Revista Vida Doméstica, a escritora é interpelada sobre sua iniciação nas letras e como se revelou escritora. Sua resposta apresenta pontos pertinentes sobre sua formação cultural desde a infância, com a exposição de alguns motivos que possam ter influenciado sua condição de escritora. Desta forma, busca-se refletir sobre a formação leitora de Maria Eugenia Celso, destacando-se os autores de sua preferência e o ambiente letrado do qual fazia parte na infância e na juventude, e como esses fatores contribuíram para sua formação como escritora. O presente estudo configura-se como uma pesquisa documental e bibliográfica, ancorada nos pressupostos teóricos de Darnton (1990), que traz contribuições sobre formação de leitores em diferentes tempos históricos; Chartier (1996) a partir do conceito de apropriação e protocolos de leitura e Miceli (2001), cujas pesquisas problematizam o conceito de intelectual. As análises desenvolvidas basearamse em documentos da imprensa periódica, em especial, na Revista Vida Doméstica, e dados sobre as obras dos autores favoritos de Maria Eugenia Celso.
Referências: AZEVEDO, Carla. Bispo. Maria Eugenia Celso: Entre o impresso feminino, a casa e o espaço público (1920-1941). 1. ed. Moldova: Novas Edições Acadêmicas, 2018. v. 1. CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 1996. DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. MICELI, Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. https://www.academia.org.br/academicos/josedealencar/biografia. https://www.academia.org.br/eventos/eca-de-queiros-e-o-brasil. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1901/prudhomme/biographical/. Acesso em: 27 de outubro de 2022. https://www.britannica.com/biography/Verlaine-Paul. Acesso em: 27 de outubro de 2022. https://www.britannica.com/biography/AlphonseDaudet. Acesso em: 27 de outubro de 2022. https://www.britannica.com/biography/ Alfred-de-Musset. Acesso em: 27 de outubro de 2022. https://www.britannica.com/ biography/Francois-VI-duke-de-La-Rochefoucauld. Acesso em: 27 de outubro de 2022.
https://bibdig.biblioteca.unesp.br/items/f8927473-1fdf-421b-b7bd-9c5a77d11aa9.
Acesso em: 27 de outubro de 2022. Revista Vida Doméstica. Outubro de 1925, p. 43.
Palavras-chave: Maria Eugenia Celso; apropriação de leitura; formação de leitores.
ABRINDO CAMINHOS PARA A LEITURA E A ESCRITA: DESAFIOS DE UMA ATIVIDADE DE EXTENSÃO
Heloisa Chalmers Sisla (UFSCar); Patrícia Andrea do Risso (UFSCar); Mariana Alves de Souza Gasparotto (UFSCar)
Nas primeiras décadas do século XX, a escritora Maria Eugenia Celso (1886-1963) mostrou-se bem presente no espaço público com sua produção literária na imprensa
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
e na publicação de livros. Provavelmente favorecida pelos contatos intelectuais com sua família, em especial com seu pai, Conde Afonso Celso, que possuía uma vasta biblioteca na qual Maria Eugenia Celso teve acesso privilegiado a publicações brasileiras e estrangeiras, como José de Alencar e Paul Verlaine. Em entrevista concedida à Revista Vida Doméstica, a escritora é interpelada sobre sua iniciação nas letras e como se revelou escritora. Sua resposta apresenta pontos pertinentes sobre sua formação cultural desde a infância, com a exposição de alguns motivos que possam ter influenciado sua condição de escritora. Desta forma, busca-se refletir sobre a formação leitora de Maria Eugenia Celso, destacando-se os autores de sua preferência e o ambiente letrado do qual fazia parte na infância e na juventude, e como esses fatores contribuíram para sua formação como escritora. O presente estudo configura-se como uma pesquisa documental e bibliográfica, ancorada nos pressupostos teóricos de Darnton (1990), que traz contribuições sobre formação de leitores em diferentes tempos históricos; Chartier (1996) a partir do conceito de apropriação e protocolos de leitura e Miceli (2001), cujas pesquisas problematizam o conceito de intelectual. As análises desenvolvidas basearam-se em documentos da imprensa periódica, em especial, na Revista Vida Doméstica, e dados sobre as obras dos autores favoritos de Maria Eugenia Celso.
Referências: BUARQUE, Chico. Chapeuzinho amarelo. Ilustrações Ziraldo. 34. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2013. GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO, METODOLOGIA DE PESQUISA E AÇÃO (GEEMPA). Aula-entrevista: caracterização do processo rumo à escrita e à leitura. 2. ed. Porto Alegre: GEEMPA, 2013. SOARES, M. B. Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever. São Paulo: Contexto, 2020. Palavras-chave: leitura; escrita; contraturno.
LEITURA E MULTIMODALIDADE EM UM LIVRO
DIDÁTICO DE PORTUGUÊS DOS ANOS INICIAIS DO EF
Juliana Pimentel Ajala (Universidade São Francisco ); Luzia Bueno (Universidade São Francisco)
O presente trabalho visa apresentar resultados parciais de uma pesquisa de mestrado que tem como objetivos gerais problematizar, a partir da coleção de Livros Didáticos Ápis, de Língua Portuguesa, do EF I, da Editora Ática, distribuída em maior quantidade pelo PNLD 2019-2022, o trabalho com textos de gêneros multimodais do campo das práticas de estudo e pesquisa (BNCC); assim como verificar se as atividades propostas evidenciam possibilidades de desenvolvimento das capacidades de leitura conforme a perspectiva da Semiótica Sociointeracional (SSI), que, por sua vez, congrega conhecimentos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), de Bronckart (2009), com os ensinamentos da Gramática do Design Visual (GDV), de Kress e van Leeuwen (2021), propondo um quadro de análise para o trabalho com textos multimodais que envolvem signos verbais e imagéticos. Centramo-nos no campo de estudo e pesquisa, considerando a relevância de inserir os estudantes no mundo da ciência desde cedo, a fim de evitar o contexto brasileiro atual de negação dessa área. Entendemos ainda que a relação texto verbal e ato semiótico pode enriquecer fortemente a experiência leitora, ajudando a entender melhor o mundo letrado, bem como a desenvolver a criticidade a partir daquilo que é proposto na interação discursiva. Os resultados
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
parciais nos levam a perceber que a abordagem voltada para o ensino da leitura pela perspectiva multimodal é praticamente nula quando se trata de textos do campo da divulgação científica no livro didático analisado, o mesmo acontecendo com as orientações voltadas ao docente no manual que acompanha o livro. Palavras-chave: multimodalidade; livro didático; divulgação científica.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 8
Local: Sala ED 10 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
CINEMA INDÍGENA: ARTE E EDUCAÇÃO
Luiz Felipe Medina (Unicamp); Alik Wunder (Unicamp)Esta comunicação tem o objetivo de apresentar os resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica intitulada “Cinema indígena: arte e educação” e desenvolvida nos anos de 2020 e 2021 na Faculdade de Educação da Unicamp. Apresentaremos os caminhos de pensamentos percorridos com produções cinematográficas indígenas como ferramentas possíveis de diálogos entre lugares secularmente distanciados: a cidade e as diversas realidades indígenas brasileiras. Pela metodologia cartográfica, percorremos os catálogos do projeto Vídeo nas Aldeias (VNA), da Associação Cultural de Realizadores Indígenas (ASCURI) e demais festivais de cinema indígenas. Fomos guiados pelas seguintes perguntas: como são retratados os povos indígenas nas escolas não indígenas? Como o cinema indígena pode auxiliar no conhecimento sobre as realidades indígenas? As realidades retratadas no cinema indígena dialogam com o que é ensinado nas escolas não indígenas? Além das produções fílmicas, nos apoiamos também no material organizado pela equipe do projeto VNA – “Cineasta indígena para jovens e crianças” (CARELLI E et al., 2010). Ao longo do envolvimento com a pesquisa pelos catálogos dos projetos, selecionamos algumas obras e organizamos encontros virtuais de Cine-Debate em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Hortolândia por meio da pesquisadora Davina Marques. Foram escolhidas as seguintes produções para o diálogo: 1. “Já me transformei em imagem” (Zezinho Youtube e Ernesto Ignacio de Carvalho, 2008) – Projeto Vídeo nas Aldeias; 2. “Pirakuá, guardiões do Rio Apa” (Gilmar Galache, 2014) – ASCURI; 3. “Panambizinho, o fogo que nunca apaga” (Gilmar Galache, 2014) – ASCURI. O projeto Vídeo nas Aldeias (PVA) foi criado em 1986 pelo antropólogo, indigenista e documentarista Vincent Carelli. A concepção dos filmes do projeto foi de produção compartilhada com as aldeias que o VNA esteve em sua existência. Isso afirma o caráter participativo, inclusivo e formativo de cineastas indígenas na concepção das obras cinematográficas. A ASCURI é a reunião de jovens cineastas indígenas idealizada em 2008 na Bolívia em diálogo intercultural promovido pelo cineasta Quechua Ivan Molina. As nossas escolhas tiveram a intenção de proporcionar diálogos com as perspectivas de vida, com as cosmologias, modos de ser e viver dos povos Huni Kuin, Guarani e Kaiowá. Com Tim Ingold (2018) seguimos por caminhos teóricos para a compreensão dos sentidos de vida em fluxo que se expressam nas imagens e sons dos filmes escolhidos. Buscamos também por filmes que não só apresentassem as questões indígenas a partir de suas perspectivas, mas que apresentassem suas lutas e garantias dos direitos cívicos indígenas conquistados na redemocratização do Brasil em 1988. Consideramos que contribuímos com a formação dos estudantes do Instituto Federal, apresentando-lhes um caminho possível de diálogo com a diferença por meio dos filmes indígenas sobre as diversidades étnicas, territoriais e políticas do Brasil.
Palavras-chave: cinema indígena; arte; educação.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
COSMOFEMINISMO: ENGRAVIDAR ONTOEPISTEMOLOGIAS PARA PENSAR-AGIR EDUCAÇÃO, FILOSOFIA, LITERATURA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CULTURAL
Milena Bachir Alves (Unicamp)
O Antropoceno é brutalmente devastador para humanos e não humanos e por isso simplificar qualquer tipo ou aspecto de ciência e cultura, como educação e filosofia é uma grande armadilha que arranca os sentidos dos corpos, empobrece o pensamento, enfraquece encontros e práticas. Isabelle Stengers (2015), diz que Gaia é a que “faz intrusão, não nos pede nada, se quer uma resposta para a questão que impõe” e que nomeá-la é pensar a partir da realidade e da necessidade do presente, aprendermos a articular luta e engajamento. Engajar-se para alargar as dicotomias natureza-cultura, mulher-natureza, organismo-meio, teoria-prática, mentecorpo, sexogênero. Esse ensaio suscita pensamentos em ato e se coloca presente no movimento do corpo humano, da palavra e da escrita. A pandemia e o atual cenário político brasileiro como grandes fenômenos e barbáries estão em ruínas. A rua tornou-se, entristecida, escura. A partir da década de 1970, “o Brasil passa a ter a maioria da população vivendo nos aglomerados urbanos, sendo que entre as grandes nações, depois da Rússia, o Brasil é o país mais feminino do mundo” (BLAY; AVELAR, 2019, p. 19-22). Segundo Bruno Latour (2021) “talvez estamos aprendendo com a pandemia a durar um pouco mais sem ameaçar a habitabilidade” (LATOUR, 2021, p. 41). Emerge então, o cosmofeminismo que desloca as necessidades de se pensar com corpo, e propõem para o pensamento, a pesquisa, olhar para o corpo da palavra, da escrita, de outros corpos mais que humanos. Fazer essa conexão é “escapar de qualquer limite” (LATOUR, 2021, p. 55), reconhecer que temos muitas responsabilidades “pluriversais” (LAPOUJADE, 2017). Talvez perdemos o sentido de identidade, e reativamos os sentidos de superposição e apropriação (LATOUR, 2021), o chamado é para darmos atenção, ao cosmos, nos apropriarmos do que ainda resta, para reflorestar o que pode estar lucidamente vivo. É o que a Inadequada – rede de Educação Feminista, fluída de experimentações pensada por mulheres para humanos e não humanos tem como uma das práticas o exercício da oralidade, e propõe pensar um feminismo cósmico das práticas, em termos de ativar questões criem alianças, e objetivos comuns. Estamos interessadas e abertas a pensar práticas heterogêneas, para engravidar ontoepistemologias.
Referências: LAPOUJADE, David. Wlliam James, a construção da experiência. São Paulo: N-1 edições, 2017. LATOUR, Bruno. Onde estou? Lições do confinamento para uso dos terrestres. 1. ed. Rio de Janeiro: Ed. Bazar do tempo, 2021. STENGERS, Isabelle. No tempo das catástrofes – resistir à barbárie que se aproxima. São Paulo: Cosac Naify, 2015. BLAY, EVA Alterman; AVELAR, Lúcia. 50 anos de Feminismo: Argentina, Brasil e Chile: A construção das Mulheres como Atores Políticos e Democráticos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Fapesp, 2019.
Palavras-chave: ontoepistemologias; cosmofeminismo; educação; filosofias; práticas.
HEAVY BAILE PARA PRIMEIRA INFÂNCIA? POSSIBILIDADES
MÚLTIPLAS DO AUDIOVISUAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Isadora Franco Di Gianni (Prefeitura Municipal de Campinas)
O presente trabalho visa apresentar algumas observações acerca dos processos imaginativos e corporais das crianças de uma turma de educação infantil na periferia urbana durante a apreciação de filmes e vídeos que traziam diversidade de corporalidades, musicalidades e histórias, buscando sacudir as linhas de força do grupo de crianças e da professora-pesquisadora. O referencial metodológico adotado é a cartografia, tal qual sistematizada por PASSOS, KASTRUP, ESCÓSSIA; tal escolha por conta da cartografia possibilitar a análise da processualidade e de incorporação da brincadeira como prática de pesquisa. A escolha dos filmes partiu do princípio de que as crianças são espectadores emancipados a construir sentidos e significados a partir de sua própria leitura das obras apresentadas. Então, os filmes selecionados sob os seguintes critérios: tempo de duração máximo de 20 minutos; adequação da linguagem para as crianças pequenas; diversidade de corpos, raça/etnia e movimentação. Privilegiou-se nesta seleção também materiais cuja autoria não se limitasse a pessoas brancas, europeias, sem deficiências, etc., buscando formas de ver o mundo descolonizadas. Os vídeos selecionados foram projetados ao longo de 9 semanas na sala de referência da turma, uma vez na semana. Durante a projeção foi deixado um espaço atrás das cadeiras, possibilitando que as crianças assistissem de pé ou em movimento, caso quisessem. Durante a projeção, foram gravados trechos da movimentação das crianças e após a projeção foi produzido registro em caderno de campo. Para discussão nesta apresentação, serão destacados os eventos que envolveram apresentação de dois filmes. Um deles, o documentário Depois do Ovo, a Guerra, dirigido por Konomoi Panará, vem para este debate por se tratar de crianças em uma realidade muito distinta da turma que assiste e do clipe musical Ciranda, dirigido por Alex Tiernan, por se tratar de uma realidade mais próxima a das crianças retratada de uma forma positiva e muito diferente do que é habitualmente mostrado nos meios de comunicação em geral. Ambas as situações moveram os corpos e as falas das crianças para ouras formas de pensar as culturas ali retratadas.
Referências: KRENAK, Ailton. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. MIGLIORIN, C; PIPANO, I. Cinema de brincar. Belo Horizonte, MG: Relicário, 2019. PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virginia; ESCÓSSIA, Liliana da (Org.). Pistas do método da cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2015. RANCIÉRE, Jacques. O espectador emancipado. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012. SILVA, Maria José Lopes da. As artes e a diversidade étnicocultural na escola básica. In: MUNANGA, Kabengele (Org.). Superando o racismo na escola. 2. ed. Brasília: MEC/SECADI, 2005.
Palavras-chave: audiovisual; educação infantil; cinema; corpo.
BOCUYÁ MARÁ: PROCESSOS INVENTIVOS ENTRE DESENHO, ESCRITA POR MEIO DOS SABERES KARIRI-XOCÓ
Victor Hugo da Silva Iwakami (Unicamp)
Bocuyá Mará é uma palavra-ação na língua nativa Dzubukuá que significa “Vamos lutar”. Os Kariri-Xocó são uma etnia indígena que residem em diversas cidades do Brasil, mas se concentram em Porto Real do Colégio em Alagoas. O grupo-família Sabuká Kariri Xocó realiza viagens anuais à Campinas e São Paulo em busca da realização de atividades culturais, preservação e manutenção do patrimônio material e imaterial de sua cultura. Durante uma dessas “caçadas”, em 2017, tive a oportunidade de conhecê-los em um intenso encontro. Cada conjunto de batida de pé e traços de grafismo flutuaram e metamorfosearam-se em “flechas” que me instauraram linhas em devir (1). As sabedorias da etnia dialogaram comigo, principalmente por meio da luta da retomada. Aos Kariri-Xocó, a retomada não consiste em apenas ocupar um território geográfico, pois é necessário permanecer existindo pelas práticas do passado e do presente num contínuo. No constante diálogo com e a partir dos regimes conceituais Kariri-Xocó busco retomar territórios que me foram saqueados, dar continuidade a algo que foi interrompido, reocupar o território do desenhar e contar histórias. Por meio dos traços do lápis, nanquim e outras criações entre desenho e escrita, a pesquisa reflete sobre a retomada do desenho como conceito e força de pensamento, sobretudo como abertura para reencontros com formas narrativas e ficções. Para isso propus uma vertiginosa exploração das possibilidades do gênero das histórias em quadrinhos a partir de uma pesquisacriação cartográfica (1). Ou seja, como resgatar o desenho como força de pensamento na pesquisa? Que desenho é esse? Será que o desenho na busca pela ficcionalização do discurso uniforme da ciência pode ser uma nova partilha do sensível/ato político? Como o saber Kariri-Xocó, em diálogo com o conceitual acadêmico, pode reverberar na composição entre escrita e desenho para pensar uma ressonância não hegemônica na educação? Em um emaranhado teórico e experimental entre o conceito de devir (1); Tim Ingold (2); conhecimentos Kariri-Xocó e a possibilidade do desenho como nova partilha do sensível (3), explorei gestos e traços itinerantes. Na perspectiva da ficcionalização, narrativa e fabulação, observei textos, transcrições, fotografias e produções audiovisuais, já que a pandemia associada ao SARS-CoV-2 limitou muitos processos de encontros físicos durante a realização da pesquisa (2020-2022). Li desenhos nas palavras, imaginei histórias nas frases e colhi traços flutuantes nas fotografias. Assim, o desenho se mostrou a possibilidade de explorar uma educação sensível das coisas que nos cercam.
Referências: DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 4.
São Paulo: Ed. 34, 1997. INGOLD, T. Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2015. RANCIÈRE, J. A partilha do Sensível: estética e política. Tradução: Mônica Costa Netto. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009. Palavras-chave: desenho; história em quadrinhos; saberes indígenas; Kariri-Xocó; ficção; narrativa.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
PELAS RUAS DA CIDADE: A CONSTRUÇÃO DE UM ROTEIRO
NEGRO COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA NA CIDADE DE CAMPINAS
Ana Paula de Lima (Secretaria de Educação de São Paulo)
Esta apresentação pretende partilhar uma experiência de trabalho realizada com quinze estudantes da segunda série do Ensino Médio em uma escola pública estadual na cidade de Campinas e tem como objetivo aproximar estudantes da história negra, a partir da construção de um roteiro que teve como referência vinte locais de memória e cultura negra apontados pela comunidade e que foram objetos de pesquisa e registro, por meio de uma parceria entre a prefeitura municipal de Campinas e a Unesco que culminou na construção de texto e entrevista sobre cada um destes vinte locais que estão disponibilizados no site Campinas Afro. Pretendo com este trabalho contribuir ainda para novas abordagens da lei 10.639/03 na Educação Básica. Para a construção do roteiro, a princípio, fiz uma apresentação do site aos estudantes para em seguida abrir o debate sobre os pontos de memória. Depois, sugeri um primeiro roteiro, já que eu tinha participado do projeto. Ao mesmo tempo, considerei importante que os estudantes escolhessem outros locais que julgassem relevantes e que seriam utilizados na construção de um segundo roteiro, que faríamos meses depois. Na construção do primeiro roteiro levei em consideração tanto a relevância dos locais para a história da cidade, como a proximidade entre eles de modo a permitir a viabilidade de realizar o deslocamento com um grupo de estudantes. Enquanto professora, tratei com a gestão escolar a contratação de uma van para a realização do roteiro, já que em alguns lugares seria necessário desembarcar para exploração e posterior conversa, locais como a Praça Santa Cruz-Cambuí, a Igreja São Benedito e Estátua da Mãe Preta. Já outros, passaríamos apenas na frente por dois motivos. O primeiro deles é que lugares como Corporação Musical Campineira dos Homens de Cor e Clube Benedito Carlos Machado, embora em funcionamento, se encontram fechados na hora do roteiro. Já locais como o Museu do Negro e o jornal O Getulino apenas mostrariam a construção, pois não funcionam mais. O único local que faz parte do nosso roteiro, mas que não foi registrado no projeto Campinas Afro é o estádio da Ponte Preta. Contudo, pela história do clube e pela participação de ferroviários negros em sua fundação, considerei importante a inclusão neste roteiro. Deste modo, este projeto propõe refletir sobre o papel que o negro desempenhou nos modos de vida na cidade de Campinas, desde sua vinda como escravizado para trabalhar na lavoura cafeeira, a partir de meados do século XIX até o Pós-Abolição. O roteiro busca destacar as variadas formas que o associativismo negro se expressou, fosse através dos jornais, clubes dançantes ou bandas de músicas. Ao realizar este roteiro com os estudantes pretendo convidá-los a reflexão crítica sobre a presença negra na cidade de Campinas. Palavras-chave: negros; associativismo; educação; cidade; Campinas.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 9
Local: Sala ED 11 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
A TEMÁTICA AMBIENTAL E A LITERATURA INFANTIL CONTEMPORÂNEA – BREVE ENSAIO
Gabriella Pizzolante da Silva (Universidade Federal de São Carlos); Carolina Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos)
A escrita deste ensaio despontou a partir de algumas reflexões emergentes sobre a (re) produção de discursos e a construção de subjetividades no espaço formal de educação das crianças, considerando a temática ambiental. Para tanto, nos indagamos: como o discurso de crise ambiental – que praticamente define a gênese da necessidade de uma educação ambiental – foi postulado como verdade universal e se tornou uma demanda pedagógica? Os livros de literatura infantil são utilizados para sustentar esse discurso? Em diálogo com o referencial teórico-metodológico de inspiração pós-crítica, problematizamos a literatura produzida para crianças e sobre elas, e o uso de obras literárias na prática pedagógica com crianças. As reflexões teóricas indicam a veiculação de discursos que sustentam uma espécie de pedagogização do contato com a natureza, com vistas à promoção de um agir consciente de caráter preservacionista, que se preocupa em prescrever às crianças maneiras de ser, estar e agir no mundo, atualmente marcado fortemente pela ideia de crise ambiental. Nessa aventura de pensamento, esperamos contribuir para novas maneiras de se pensar uma literatura infantil para além da escolarização, que seja transgressora, inventiva de novos possíveis, estimuladora de encontros das crianças com e na natureza, de maneira livre, brincante e a partir de sua lógica infantil.
Referências: ABRAMOWICZ, A. Estudos da Infância no Brasil: encontros e memórias.
São Carlos: EDUFSCar, 2015. ABRAMOWICZ, A.; TEBET, G. G. de C. Infância e pósestruturalismo. São Paulo: Porto das Ideias, 2017. GARRÉ, B. H.; HENNING, P. C. Discurso da crise ambiental na mídia impressa. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 33, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-4698138587. Acesso em: 08 jan. 2021. MAGALHAES, C. da S. A literatura infantil e o discurso da Educação Ambiental escolarizada: lições de como cuidar do planeta. Dissertação (Mestrado em Educação Ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2016. PARAÍSO, M. A. Pesquisas Pós-Críticas em Educação no Brasil: esboço de um mapa. Cadernos de Pesquisa, v. 34, n. 122, p. 283-303, maio/ago. 2004. SANTOS, P. R. dos. Natureza e verdade: a pedagogização ambiental da sociedade contemporânea. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação. Fortaleza, 2012. SOUZA, C. R. de; FAGIONATO-RUFFINO, S.; PIERSON, A. H. C. As culturas infantis e a cultura científica: um possível diálogo. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 9., 2013, Águas de Lindóia. Anais... Florianópolis: ABRAPEC, 2013.
Palavras-chave: temática ambiental; literatura infantil; discursos.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
O ENSINO DO ATO DE LER E DO ATO DE ESCREVER: DESAFIO DA ALFABETIZAÇÃO
Greice Ferreira da Silva (Universidade Estadual de Londrina)
Este trabalho refere-se a uma pesquisa em andamento intitulada “Práticas de ensino do ato de ler e do ato de escrever de professores do 1º e 2º anos do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Educação de Londrina-PR”. Esta pesquisa busca compreender como são constituídas e organizadas as práticas do ensino do ato de ler e de escrever de professores no processo inicial de apropriação e objetivação da leitura e da escrita das crianças nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Educação de Londrina-PR. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca a compreensão e interação dos membros investigados e, para atender aos objetivos definidos, optou-se pela pesquisa-ação crítico-colaborativa. Esta pesquisa está ancorada no arcabouço teórico de Bakhtin e Volóchinov em diálogo com a Teoria
Histórico-Cultural preconizada por Vygotski e seus colaboradores e com estudiosos sobre a leitura, a escrita e a alfabetização como Arena (2010, 2017), Goulart (2014). Como instrumentos de geração de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, os relatos escritos dos professores e os enunciados proferidos durante as reuniões de estudo advindos das reflexões sobre as práticas. Para a análise de dados serão usados instrumentos como a análise microgenética fundamentada na Teoria Históricocultural e a análise discursiva na perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin e Volóchinov. Como resultados, espera-se identificar conceitos e concepções que sustentam as práticas alfabetizadoras e os aspectos que caracterizam e organizam o modo de ensinar a ler e a escrever. Pretende-se também promover um espaço de reflexão e problematização dessas práticas, bem como a possibilidade de reelaborar e/ou potencializar caminhos teóricos-metodológicos, na tentativa de contribuir com as pesquisas sobre a temática e com a formação continuada dos professores.
Referências: ARENA, D. B. O ensino da ação de ler e suas contradições. Ensino EmRevista, Uberlândia, v. 17, n. 1, p. 237-247, jan./jun. 2010. ARENA, D. B. Considerações em torno do objeto a ser ensinado: língua, linguagem escrita e atos culturais de ler e de escrever. In: MORAES, D. R. S.; GUIZZO, A. R. (Org.). Coletânea de artigos: Humanidades nas Fronteiras: imaginários e culturas latino-americanas, 09 a 11 de outubro de 2017. Foz do Iguaçu (PR): UNILA/UNIOESTE, 2017. p. 13-28. BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. GOULART, C. M. Perspectivas da alfabetização: lições da pesquisa e da prática pedagógica. Raído, Dourados, MS, v. 8, n. 16, p. 157-175, jul./dez. 2014. VOLÓCHINOV, Valentin. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Trad. do russo de Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Ed. 34, 2017. VYGOTSKI, L. S. Obras escogidas, v. 3. Madrid: Visor, 1995.
Palavras-chave: ato de ler; ato de escrever; alfabetização.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
LEITURA DE LITERATURA: QUANDO OS ESTUDANTES SÃO OS LEITORES NA SALA DE AULA
Isis Parise Silva (FE/Unicamp)
O seguinte trabalho faz parte de um projeto maior intitulado: “Leitores de Literatura: um estudo com estudantes do 6° ano de uma escola do Programa de Educação Integral do estado de São Paulo”, produzido com vistas à defesa de dissertação de mestrado desta pesquisadora. Temos observado estudantes de sexto ano desde o mês de agosto de 2022 e eles serão entrevistados no decorrer de outubro e novembro de 2022. As entrevistas e observações têm por objetivo conhecê-los enquanto sujeitos que leem literatura e estão em fase de formação escolar; interrogando a respeito do seu comportamento leitor, seus (des)gostos e preferências, competências, modos de ler, repertório de autores e livros, além dos valores atribuídos a essa prática específica de leitura. A pesquisa é de natureza qualitativa e a produção de material empírico foi conduzida no interior de um estudo de caso, partindo de uma comunidade específica de leitores. Observei e registrei em diário de campo, situações de leitura compartilhada que aconteciam na sala de aula, realizadas oralmente pela professora da disciplina de português, enquanto os alunos acompanhavam silenciosamente ou se revezavam lendo trechos para o restante da turma. Durante os momentos de leitura, pude verificar uma infinidade de comportamentos leitores que muitas vezes entravam em “choque” com minha expectativa quanto à postura do leitor (ideal). Posturas esperadas do corpo que lê, consolidadas pelas instituições como representações adequadas ao espaço e à condição de aprendizagem, colocaram-se em tensão com as práticas de leitura vivenciadas e percebidas pelo meu olhar enquanto pesquisadora. Das práticas e posturas, acentuo uma que me pareceu mais recorrente entre as turmas de estudantes observados: o corpo relaxado na cadeira durante a leitura. Curvado na carteira, o leitor deixa o livro e os cotovelos apoiados na mesa, sustenta sua cabeça com as mãos ou as usa para acompanhar o texto com o dedo. Atitude facilmente avaliada como negativa ao primeiro olhar, mas que provoca e suscita hipóteses para esse comportamento leitor: por que seguram a cabeça com a(s) mão(s)? Poderiam estar com sono ou cansados? Poderiam estar forjando um comportamento de desinteresse diante da câmera? Estariam os estudantes dispersos e talvez até “perdidos” no texto lido? Teriam de fato qualquer interesse pela prática de leitura desta maneira? Aproximar as nossas observações aos dizeres dos sujeitos observados e descrever essas cenas irá nos ajudar a analisar essa prática de leitura compartilhada, que está presente nos documentos oficiais do ensino de língua portuguesa, com a intenção específica de formar leitores na escola. Os fundamentos teóricos e metodológicos que orientam a descrição, narração e análise desses registros fazem parte dos estudos conduzidos pela História Cultural, especialmente os de Roger Chartier (2002); Goulemot (2009) e Certeau (1994).
Palavras-chave: História Cultural; leitura de literatura; leitores; sala de aula.
vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
A LEITURA LITERÁRIA EM AMBIENTES DIGITAIS:
DISPOSITIVOS DIGITAIS UTILIZADOS NA MEDIAÇÃO
DA LEITURA LITERÁRIA NO CONTEXTO PANDÊMICO
Josiele Vita da Silva Tavares (UFLA)
A pandemia da Covid-19 trouxe alguns desafios a toda a sociedade, inclusive a educação. Para a continuação das atividades educacionais durante a pandemia a proposta adotada pelo Governo Federal foi o Ensino Remoto Emergencial, na qual as atividades seriam mediadas pelas tecnologias digitais. Assim, as escolas necessitaram se adaptar a esse cenário para que o ensino pudesse ser ofertado, embora as tecnologias sempre estivessem presentes no contexto escolar, e com a pandemia, o impacto e a aplicabilidade deste recurso foram rápidos e urgentes. Desse modo, os professores, especificamente da educação básica, viram desafiados diante da inserção das tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas, pois temos um cenário de uma sociedade cada vez informatizada reflexo dos avanços tecnológicos que permeiam e influenciam os modos, a cultura e a linguagem em si, o que implica diretamente a educação e as práticas de ensino. Nessa perspectiva, este trabalho tem por objetivo apresentar parte dos resultados obtidos em uma pesquisa de mestrado que buscou investigar quais foram os desafios e os benefícios da mediação da leitura literária por meio de dispositivos digitais e recursos multimídias. Assim, teve como objetivos específicos descrever quais dispositivos digitais e como foram desenvolvidas as práticas pedagógicas para a mediação da leitura literária no contexto pandêmico. Desse modo, realizamos uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, com professores que lecionam no 3º e 4º ano do ensino fundamental, da rede municipal e privada de uma região no sul de Minas Gerais. Como instrumento de pesquisa, utilizamos um questionário online, disponibilizado pela plataforma google forms, na qual visamos obter informações sobre o perfil profissional de cada sujeito colaborador da pesquisa. No segundo momento, realizamos uma entrevista semiestruturada individual com cada professor, na qual buscamos investigar quais práticas foram desenvolvidas, quais dispositivos foram utilizados, quais os desafios e benefícios da inserção das tecnologias na mediação da leitura literária no contexto pandêmico. Como resultados parciais, destacamos que 82% das professoras utilizaram livros em formato PDF, e-books, disponibilizados em bibliotecas virtuais e em arquivos do google drive que podem ser acessados on line e off line; 5% utilizaram o google meet como ferramenta de vídeo para trabalhar com o livro impresso; 5% afirmaram que usaram o power point para práticas pedagógicas para a mediação da leitura literária; 3% fizeram uso de vídeos afirmando que após o dowload, a visualização do mesmo pode ser em modo on line e off line; 2% utilizaram App cap CUT; 2% do App ADV recorder e 1 % do App inshot Palavras-chave: leitura literária; ensino remoto emergencial; dispositivos digitais; práticas pedagógicas.
e baixam nos corpos para avivar os seres
POLÍTICAS DE LEITURA NO BRASIL: VOZES MOBILIZADAS
PELOS CONGRESSOS DE LEITURA DO BRASIL
Larissa de Souza Oliveira (Faculdade de Educação – Unicamp); Lilian Lopes Martin da Silva (Faculdade de Educação – Unicamp)
Os Congressos de Leitura do Brasil constituem uma das ações da Associação de Leitura do Brasil (ALB), cuja 1ª edição foi em 1978. Desde então, em edições bianuais, configura-se como um terreno fértil e prolixo para a enunciação de discursos sobre a leitura em múltiplas angulações, entre elas aqueles que versam explicitamente sobre as políticas de leitura, a necessidade de proposição de uma política nacional capaz de regulamentar o acesso, estimular a criação de espaços próprios para a prática, bem como incentivá-la e oferecer-lhe parâmetros de qualidade. A malha discursiva tecida nesse espaço, já concebido por alguns como uma arena de discussões e disputas sobre a leitura, possibilita àqueles que pesquisam sobre essa matéria no país, especialmente em relação à sua história recente, que recorram à massa documental dos congressos, buscando nela, manifestações de interesse. O objetivo maior do Projeto ALB: memórias (https://www.alleaula.fe.unicamp.br/grupos-de-pesquisas/ pesquisa-alb-memorias), vinculado ao Grupo de Pesquisa ”Alfabetização, leitura e escrita/trabalho docente e formação inicial” (ALLEAULA) da FE/ Unicamp, é tornar possível essa busca pelos pesquisadores, investindo na constituição e exploração do acervo histórico da ALB. O projeto visa classificar, digitalizar e disponibilizar, as fontes impressas, sonoras, iconográficas e fílmicas dos Congressos de Leitura do Brasil (Coles), cujo acervo encontra-se atualmente no Centro de Memória da Educação (CME) da FE/Unicamp (https://www.fe.unicamp.br/noticias/cole-memorias-daleitura-no-brasil). Ao projeto soma-se o trabalho que ora apresentamos e que remete à pesquisa ainda em desenvolvimento. Ele busca localizar e identificar os discursos sobre as políticas e programas de leitura no Brasil, entre 1978 e 2023. A despeito das diferentes diretorias que se sucederam nesse tempo, à frente da Associação de Leitura do Brasil (ALB), responsável pela organização dos congressos, essa discussão tem sistematicamente retornado como parte da programação. Comparece revestida de aspectos e de ênfases que dialogam com a situação de cada momento e, ao mesmo tempo, trata dos desafios que permanecem no tempo. De modo a conhecer melhor essa produção que envolve um conjunto diverso de vozes e mobiliza diferentes figuras num traçado incerto e inconcluso para a democratização da leitura no Brasil, recorremos aos cadernos de Resumos e Anais dos Congressos, bem como seus programas. Para auxiliar o estudo e servir como suporte teóricometodológico, a pesquisa busca se apoiar nas contribuições da História Cultural, especialmente em autores relacionados às pesquisas em torno das culturas e da leitura, como Chartier e Certeau, e acerca da linguagem, como Bakhtin.
Palavras-chave: política de leitura; Congresso de Leitura do Brasil; Associação de Leitura do Brasil; memória; história.
vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
07/02/2023 (terça) - 14h às 15h45 - Sessão 10
Local: Sala ED 12 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
”A RUA É NÓIS”: A MÚSICA NA SALA DE AULA COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DAS IDENTIDADES DOS EDUCANDOS
Karina Mayara Leite Vieira (Prefeitura Municipal de Campinas)
À luz da pedagogia freiriana, busco por práticas em sala de aula que respeitem os educandos e seus saberes, suas identidades, seus gostos culturais e suas variantes linguísticas. Como professora de Português de Ensino Fundamental regular e EJA, de uma região periférica da cidade de Campinas, compartilho as potencialidades da escuta de canções/leitura de letras de músicas, que se fazem presentes no cotidiano das aulas tanto para fruição estética, para estudo de recursos linguísticos-poéticos, para discussão de temas sociais relevantes, e, especialmente, como forma de valorização da cultura nacional e das identidades e gostos dos educandos. Os gêneros mais presentes nas aulas são o rap nacional, o funk, o sertanejo, a MPB e a nova MPB. O primeiro, o rap nacional, surge mais como uma escolha pedagógica que faço, pois se trata de um gênero/movimento musical que é patrimônio cultural imaterial brasileiro (ainda sem o reconhecimento devido). Das mensagens que ampliam a consciência negra, que trazem compreensão de questões de ordem social/política a letras que falam de amor e relacionamentos, o rap nacional discute, afirma e valoriza a identidade do ser negro, ser mulher, ser jovem no Brasil. Ainda como forma de ampliar o repertório musical dos educandos, e também na intenção de trazer o estudo de alguma temática e/ou de analisar recursos linguísticos-poéticos, apresento-lhes também músicas que fazem parte da chamada MPB e da nova MPB. O funk e o sertanejo e suas variantes (trap, feminejo) também entram na nossa playlist, pois são os principais gêneros que compõem o gosto musical da maioria dos educandos. São canções tanto para momentos de fruição, como também para motivar alguma discussão sobre temáticas da realidade de adolescentes, jovens e adultos. Destaco especialmente o funk, que para a maioria dos meus alunos é parte de sua identidade. A música/letra “Avisa que é o funk”, do artista MC Hariel é um bom exemplo do gênero, e traz tanto uma denúncia social como a valorização das identidades juvenis/periféricas. Considero que as práticas de leitura em sala de aula, para além de cumprir o papel de ampliar repertório e desenvolver habilidades de leitura, podem ser um espaço de respeito e valorização das identidades dos educandos e uma das formas de fazer a leitura cumprir essa função é por meio da música. Além disso, a apreciação de músicas e suas letras pode ampliar as possibilidades de expressão dos alunos: “na rua onde me inspiro para poder escrever” (Emicida).
Referências: FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 1. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.
Palavras-chave: práticas de leitura; música; ensino de Língua Portuguesa.
DAS LEITURAS DO MUNDO DA RUA PARA AS LEITURAS DO MUNDO ACADÊMICO: UMA EXPERIÊNCIA NO CURSO DE PEDAGOGIA
Marielly Agatha Machado (UNICAMP); Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto (UNICAMP); Giovanna Santos de Freitas Caires (UNICAMP)
Este artigo, desenvolvido no ALLE-AULA/FE/UNICAMP, é parte de uma pesquisa de mestrado que tem como objetivo estudar como a literatura tem sido abordada no contexto da formação inicial de professores, no curso de pedagogia da Universidade Estadual de Campinas, em diálogo com a pesquisa de iniciação científica cujo objetivo central foi identificar nas obras (editadas em português) de George Snyders aspectos relativos ao papel da arte na educação e, mais especificamente, ao modo como arte e cultura se manifestam nas práticas de leitura da literatura no ambiente escolar. O objetivo do presente artigo será identificar no material empírico produzido pelas pesquisadoras as impressões dos estudantes da disciplina “Educação, cultura e linguagens” sobre obrigatoriedade da leitura literária, realizada através do “Clube da Leitura”, no qual cada aluno deveria escolher e ler um livro, e relacionar os enunciados produzidos com o conceito de “extrair alegria do obrigatório”, com base na obra “A alegria na escola” (1988), publicada por Snyders. Em suas reflexões, o autor define “alegria” no entrecruzamento entre compreender, sentir e descobrir a realidade, além de induzir o sujeito à originalidade, à criatividade e ao crescimento constante. Segundo o autor, para que os estudantes desfrutem dessa alegria é necessário um modelo pedagógico que passe pela obrigatoriedade presente na cultura elaborada no ambiente escolar. Ainda, propaga a ideia de que existe a alegria no obrigatório, uma vez que os estudantes poderão se sentir contentes através da cultura, sendo que essa se dá por meio da política, da ciência, da economia, da literatura e da arte, estas duas últimas nosso enfoque no presente estudo. Os dados produzidos até o momento indicam que a presença obrigatória da literatura, durante as aulas de graduação, permite aos acadêmicos realizar a leitura de textos literários sem a sombra de uma narrativa utilitarista, tal como pensam a respeito da leitura de textos teórico-científicos. Percebese que ampliar o espaço para a literatura durante o período formal da aula permitiu aos estudantes entrar em contato com textos que despertaram um interesse maior pelas discussões realizadas em sala, acerca dos conteúdos previstos na ementa da disciplina. Referências: SNYDERS, Georges. A alegria na escola. São Paulo, SP: Manole, 1988. 284 p. SNYDERS, Georges. Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos literários. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 2005. 204p. Inclui bibliografia. SNYDERS, Georges. Feliz na universidade: estudo a partir de algumas biografias. São Paulo, SP: Paz e Terra, 1995. 189 p. Inclui bibliografia. ISBN 8521901240 (Broch.). Palavras-chave: literatura; leitura; obrigatoriedade; alegria.
A VOZ DA RUA: O QUE AS CRIANÇAS PEQUENAS
DIZEM SOBRE A LEITURA E A ESCRITA
Mellina Silva (UNICAMP)
Na Educação Infantil (EI) as crianças participam de atividades planejadas que envolvem a leitura e a escrita. Além destes encontros as crianças também trazem as suas dúvidas sobre o ler e o escrever, as suas interpretações, as suas vozes advindas da rua. Pensando
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
nessas vozes, este trabalho tem por objetivo apresentar e analisar a demanda que as crianças levam para as salas de EI em relação a leitura e a escrita e como essa demanda é acolhida e inserida na rotina escolar. Ao trazer as vozes das crianças para o centro deste estudo, concordamos com a perspectiva da História Cultural, em que a cultura é produzida pelos sujeitos e é movimentada pelas diversas práticas culturais e pelas relações sociais. Deste modo, rompemos com a visão positivista de compreender as formas culturais, reconhecendo as múltiplas práticas que se desenvolvem na escola oriundas das vozes das crianças. Vygotsky (2007) acentua o quão o meio sociocultural colabora com o desenvolvimento da linguagem e promove o que o autor denomina de desenvolvimento proximal, em outras palavras, a criança ao estar inserida em um mundo letrado e de signos constrói habilidades para compreender a leitura e a escrita. Sendo assim, as vozes das crianças, aqui apresentadas, foram ouvidas através dos dizeres das professoras. Por meio da perspectiva metodológica da História Oral, seis professoras da EI, que atuavam com crianças de 5 e 6 anos foram entrevistadas, e em suas falas as vozes das crianças ecoaram. As professoras descreveram quais eram as demandas que as crianças traziam para as salas de aula: “Eu acho que eles trazem a demanda e, assim, no último ano da EF é muito mais. Eles trazem a questão de aprender as letras. Porque começa a descoberta da escrita do nome, do nome do amigo.” “Tem criança que sai da atividade de leitura e escrita, elas querem papel, lápis para desenhar, para escrever do jeito delas, né. Então, tem criança que gosta muito, sim!” “Tem famílias que realmente incentivam em casa, então as crianças chegam, falam nome de embalagem “– Ah, professora, eu vi hoje Nescau, eu vi que começa com a letra N”. Analisamos as histórias orais das professoras reconhecemos as vozes das crianças e a demanda que elas apresentavam em relação à leitura e à escrita. Notamos, que as crianças apresentam curiosidades sobre a língua escrita e levam para a escola os conhecimentos que adquirem fora do ambiente escolar. Assim, de acordo com as falas das professoras, as vozes das crianças sobre leitura e escrita impulsionam o trabalho escolar, seja para introduzir uma nova atividade ou temática, seja em momentos de brincadeiras.
Referências: VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
Palavras-chave: Educação Infantil; leitura e escrita; vozes das crianças.
DAS SALAS DE AULA PARA AS RUAS:
AS VOZES DAS CRIANÇAS SOBRE SEUS TERRITÓRIOS
Sérgio Renato Lima Pinto (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Luiza Pereira da Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Maria Cleonice da Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Rita de Cássia Bastos Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Rosalina Albuquerque Henrique (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Simone de Jesus da Fonseca Loureiro (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Walter da Silva Braga (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Izafira de Souza Gregianin (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire)
À luz da concepção de uma práxis freiriana defensora da educação autônoma, crítica e reflexiva que permite educandos a formular posicionamentos que desconstruam discursos e práticas subalternizadas, nossa proposta considerou as condições de
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
vida, os contextos, as representatividades e as contradições de crianças e jovens da rede municipal de educação de Belém. Dialeticamente, isto é superação que exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora, pois, para Paulo Freire (1974, p. 21) “[a] práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo, sem ela, é impossível a superação da contradição opressoroprimidos”. Este trabalho objetiva trazer para o 23º COLE uma experiência com temas geradores balizados na convivência escolar, social e familiar dos estudantes que externaram o que querem, o que sonham e o que desejam para a sua cidade no 5º Congresso Mairí das Crianças (Mairí, significa o primeiro nome indígena da nossa cidade na língua Tupi-guarani) validando o seu protagonismo na construção de políticas públicas para Belém. O trabalho se originou nas discussões, propostas e vozes das crianças de 3 a 12 anos de idade acatadas pela Secretaria Municipal de Educação (Belém-PA) realizada nos meses de agosto e setembro com culminância em outubro do corrente ano em que todas as escolas municipais de Belém participaram do movimento ativamente a fim de discutir como melhorar seu bairro, sua rua, sua cidade, enfim seu território. Vale lembrar que este Congresso é a continuidade de outros realizados no final dos anos de 90, cuja dinâmica retomada, em 2022, pela atual gestão que nos marca pela oportunidade de fazer ecoar as vozes das crianças que saem dos muros da escola para as ruas de Belém, como práticas de participação ativa, de garantia de direitos e de proposição de ideias e sugestões para a melhoria da sua cidade. As plenárias das crianças iniciaram dentro de suas unidades de educação infantil, nas creches e nas escolas de ensino fundamental para depois serem mobilizadas numa escola sede distrital, cuja representatividade eleita seria ouvida pelo prefeito na plenária maior; visto que a capital Belém se divide em 8 distritos administrativos, compondo vários bairros distribuídos assim para melhor visualização geográfica. Particularmente, destacamos o Distrito Administrativo da Ilha do Mosqueiro, uma região insular pertencente à capital, distante de Belém 67 km, nessa discussão distrital foram eleitos os conselheiros, crianças escolhidas para discutirem sobre a saúde, transporte, lazer, cultura, segurança, esporte, educação, saneamento básico e meio ambiente.
Referências: CORAZZA, S. M. Tema gerador. 2003. DÍAZ M., C. Hacia una pedagogía en clave decolonial. 2010. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. 2001. FREIRE, P. Conscientização. 2018. FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 1974. HOOKS, B. Ensinando a transgredir. 2017. RUFINO, L. Pedagogia das encruzilhadas. 2019.
Palavras-chave: cidade alfabetizada; congresso das crianças; decolonial; educação libertadora; território; vozes.
O LIVRO NO MURO
Silvana Dias Cardoso Pereira (Unicamp – FE – Grupo ALLE/AULA);
David da Silva Pereira (GPOPP – UTFPR CP e PPGEN)
Este trabalho tem como objeto um estudo de textos que podem estar nos mais variados suportes que vão além do papel e, por essa razão, podem estar em qualquer esquina, em qualquer banco de praça, em todo muro que se dê a escrever, espalhados pelas ruas de todo lugar mobilizando maneiras de ler. Nessa perspectiva, o suporte em que o texto se dá a ler pode ser o muro, a parede, o asfalto, a calçada. Como exemplo dessa possibilidade, olharemos para o projeto Livro de Rua que “publica” o livro O menino
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
invisível num muro e, de uma só vez, estimula a leitura e promove a arte urbana. De autoria de Hugo Barros, esse livro está impresso em um muro na cidade de Brasília, o que é apontado como inédito por sua editora. Essa publicação em muro pode ser lida por todos que passam por ali. É um livro inteiro ilustrado e escrito, com início, meio e fim, disponível gratuitamente para qualquer leitor/transeunte interessado. Esse mesmo texto está publicado em forma de livro de papel pela editora Peirópolis no formato retangular e nas dimensões 21 x 19,4 x 0,6 cm e como epub. Para pensar essa iniciativa cujo foco é a leitura, utilizamos como referencial teórico o proposto pela Nova Escola Cultural e seus autores entre os quais Roger Chartier, que pensa o texto em seus mais variados suportes e a leitura como a tensão que se dá entre o texto, seu suporte e o leitor. Essa conceituação de leitura torna o suporte em que o texto é dado a ler essencial para sua compreensão. Dado que o leitor e o texto, neste caso, são os mesmos, a leitura será variável se houver mudanças quanto ao suporte.
Palavras-chave: livro; leitura; suporte; muro.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 11
Local: Sala ED 13 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
ENTRE LEITURA DE TEXTOS PROFISSIONAIS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS:
UM RECORTE SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Daniele Aparecida Alves Biondo (UNICAMP)
Acerca das práticas pedagógicas vividas no interior da escola, como o trabalho docente mediado pela leitura de textos profissionais é dado a ver no contexto formativo dos encontros de HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo)? Partindo desta indagação, este artigo, recorte de uma tese de doutorado em andamento, tem sua gênese nas relações que se tecem no espaço de formação continuada de professoras/es acompanhantes de alunos com necessidades educacionais especiais, na articulação que se tece entre: i. leitura de textos profissionais; ii. práticas pedagógicas; iii. cotidiano escolar. Procura-se evidenciar os professores como sujeitos produtores de práticas inventivas em uma sociedade da cultura em pedaços (CARVALHO; HANSEN, 2010). Assume-se, epistemologicamente: i. a perspectiva enunciativo-discursiva de Bakhtin para compreensão das elaborações dos processos de produção de sentidos da leitura; ii. o referencial da psicologia histórico-cultural de Vigotski para compreensão da mediação das professoras/es em suas práticas pedagógicas; iii. de práticas cotidianas de Certeau para compreensão do cotidiano escolar. A produção de dados se dá no movimento dialógico dos encontros formativos, pela mediação da leitura de textos profissionais, em articulação com os registros produzidos pelos participantes, professoras/es da rede municipal de Capivari/SP. A relevância da pesquisa está em trazer para o campo de discussão a produção e circulação de conhecimentos que se tece nas relações entre os sujeitos e no trabalho docente mediado pela prática formativa, através da leitura de textos profissionais, como um modo de elaboração das próprias experiências das professoras/es, singularizadas pelos anseios, dúvidas, compreensões, concordâncias e divergências quanto o discurso oficial e as vozes que lhes constituem nos tempos e espaços de atuação profissional e da pesquisa, que se fundem. Os achados da pesquisa nos permitem afirmar que os professores, inicialmente, ao se depararem com as leituras de textos profissionais, privilegiavam as informações de cunho prático, “como fazer?” fazendo aproximações com suas práticas cotidianas. No movimento dialógico e formativo, evidenciou-se uma mudança de comportamento do leitor, que passou a se preocupar com o “porquê fazer”, trazendo para suas narrativas o cotejamento com outros textos, outras fontes, para dialogar com o grupo e defender suas posições e concepções acerca dos saberes docente.
Referências: CARVALHO, Marta Maria Chagas de; HANSEN, João Adolfo. AnneMarie Chartier: historiadora das práticas culturais. Educação. Pedagogia contemporânea, n. 3, p. 12-27, 2010. Tradução. Acesso em: 10 out. 2022.
Palavras-chave: formação de professores; leitura; textos profissionais.
DOCÊNCIA E CURADORIA: PENSANDO OS ENCONTROS DAS AULAS
Rafaely Carolina da Cruz (Unicamp); Davina Marques (IFSP Hortolândia)
Partindo de uma ideia de curadoria do campo das Artes, estabelecemos aqui pontes para pensarmos uma docência como curadoria com vistas a uma educação pautada em encontros e na sensibilização para os conteúdos que precisamos ensinar nas nossas tantas aulas. Sílvio Gallo (2002; GRUPO TRANSVERSAL, 2013) já nos chamou a atenção para uma educação menor, uma educação pensada com a filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1977). Antonio Carlos R. de Amorim (2020) também nos convida a movimentos singulares e/ou aberrantes na educação, quando explora as imagens para nos deslocar do mesmo, com esses filósofos franceses, valorizando as sensações e os intervalos como forças potentes e potencializadoras da educação. Dentro desse contexto, trazemos aqui uma experiência em que nos colocamos como docentes a examinar uma proposta de apresentação de conteúdos de uma especialização em Letras, cujo programa envolvia, para além da leitura, a questão das africanidades e dos povos originários. Levantamos como questionamento “Como pensar e dar a pensar sobre uma temática tão ampla, de modo a sensibilizar para os conhecimentos e as causas desses grupos, enquanto se provoca a experimentar, ver com outros olhos, ouvir com outros ouvidos, enquanto nos abrimos a conexões com aquilo que ainda não sabemos nem conhecemos?”. Continuando a imaginar caminhos por entre filosofia, arte e ciência, matizamos a ciência da educação com tons de filosofia e especialmente de arte, explorando uma proposta de curadoria para estabelecer relações com o planejar das aulas. Para tanto, consideramos a imagem do/a docente curador/a, como aquele/a que não só socializa, mas também transita entre saberes, estando sempre desejante de povoar o mundo com ideias. Portanto, imersas nessa perspectiva, nós nos propomos a analisar a importância de uma curadoria de conteúdos para a sensibilização e ação, não só, mas especialmente aqui, a partir do tema das africanidades e dos povos originários.
Referências: AMORIM, Antonio Carlos R. de. Diagramas para um currículovida. Humanidades e Inovação, Educação hoje: reflexões críticas, Palmas, v. 8, n. 5, p. 406-420, 2020. Disponível em: https://revista.unitins.br/index.php/ humanidadeseinovacao/article/view/2603. Acesso em: 10 jul. 2021. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka: por uma literatura menor. Tradução de Julio C. Guimarães. Rio de Janeiro: Imago, 1977. GALLO, Sílvio. Em torno de uma educação menor. Educação & Realidade, v. 27, n. 2, p. 169-178, jul./dez. 2002. GRUPO TRANSVERSAL (Org.). Educação menor: conceitos e experimentações. Curitiba: Prismas/Appris, 2013. Palavras-chave: docência; curadoria; africanidades; povos originários.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL: MAPEAMENTO E ANÁLISE DE PESQUISAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 2011-2021
Fernanda Maya Guimarães (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Este texto apresenta discussões sobre a formação continuada na contemporaneidade. Contemporaneidade constituída pela lógica neoliberal que opera a partir de uma lógica empresarial, a qual reivindica sujeitos produtivos, criativos e inovadores. Para
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
isso, por meio das contribuições dos Estudos sobre Formação Continuada Docente e das pesquisas sobre docência na Educação Infantil, este trabalho objetiva discutir os sentidos que os(as) docentes atribuem à formação continuada na Educação Infantil. Nessa direção, o levantamento bibliográfico foi realizado no período entre 2011 e 2021 na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), sendo selecionado um conjunto de 19 pesquisas que constituem o corpus analítico. Metodologicamente é realizado um Estado do Conhecimento para a organização desses dados em três etapas denominadas Bibliografia Anotada, Bibliografia Sistematizada e Bibliografia Categorizada (MOROSINI, 2021). Desse modo, foram definidas três unidades analíticas, a saber: Formação Continuada, Educação Infantil e Docência; Formação Continuada, Currículo e Educação Infantil; Formação Continuada, Práticas Pedagógicas e Educação Infantil. Na primeira unidade percebe-se a inviabilidade de discutir formação e docência separadamente. Por sua vez, a segunda evidencia a relação da formação com as políticas curriculares que vêm se expandindo no Brasil. A última unidade apresenta os pontos de contato da formação continuada com as práticas pedagógicas. As análises apontam a relevância da formação continuada acontecer no lócus da escola. Ademais, considera-se o viés inventivo (DIAS, 2012) da formação na contramão do imperativo da sociedade da capacitação (SENNETT, 2006). Por fim, destaca-se a relevância da formação continuada estar relacionada com o cotidiano, refutando uma formação modelar e prescritiva que desconsidera o contexto político, econômico e social (CARVALHO, 2021). Posto isto, infere-se sobre a importância de discutir a ascensão da agenda neoliberal, a ascensão do mercado pedagógico pós-BNCC (e pós-pandemia de Covid-19), assim como o esmaecimento da docência como ofício profissional. Palavras-chave: Estado do Conhecimento; Educação Infantil; formação continuada docente.
BANQUETE LITERÁRIO: VIVÊNCIAS E PRÁTICAS FORMATIVAS PARA EDUCADORES
Rosalina Albuquerque Henrique (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire);
Rita de Cássia Bastos Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Izabel
Conceição Nascimento Costa dos Santos (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Katia Cilene Nina Santos (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire);
Sérgio Renato Lima Pinto (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Edilena
Pinheiro Guerra (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Walter da Silva
Braga (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Iza Cristina Prado da Luz
Gaspar (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire – Universidade Federal do Pará)
Este trabalho se propõe a compartilhar a vivência exitosa de uma prática formativa de professores alfabetizadores denominada de “Banquete Literário” que teve como público-alvo professores e coordenadores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC-Belém). Tal prática formativa aconteceu durante a I Festa Literária de Belém (FLIBE) cujo tema foi “Cidade Leitora: Belém das poéticas e saberes”. Momento de celebração viva da palavra tendo como proposta fomentar a leitura, arte, poesia, saberes e diversidades. A festa literária mobilizou várias programações como conferências, contação de histórias, rodas de conversa, palestras
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
e a inovação de levar para a festa, a formação de professores e coordenadores pedagógicos realizada originalmente no Centro de Formação de Educadores Paulo Freire. A formação desses professores é uma ação executada pelo Centro, desde o ano de 2005, inicialmente destinada apenas aos professores, sendo expandida para outras categorias na escola como é o caso dos coordenadores pedagógicos e gestores escolar, com a finalidade de fomentar uma educação de qualidade para todos os alunos dos Ciclos I e II do Ensino Fundamental. Foram cinco dias de formação com uma carga horária de 04 horas por turno ocorrida no mês de setembro do ano 2022, totalizando assim uma participação de 960 educadores no Banquete Literário. Este trabalho aconteceu dentro da pauta formativa dos professores alfabetizadores realizado por este coletivo de formadores do Centro de Formação de Educadores, ao introduzirmos o banquete literário pensamos em organizá-lo decorado com jarra, travessas, pratos, taças e copos como uma mesa posta, sendo distribuídos diversos gêneros textuais, como lendas, parlendas, narrativas, músicas, piadas, tirinhas, parábolas, fábulas e trava-línguas. No menu literário, tivemos como entrada, salada de parlendas, como bebidas: vinho de trava-línguas, suco de música e água de receitas e como sobremesa: sorvete de poema, pavê de piada e torta de provérbios. Referências: DÍAZ M., Cristhian James. Hacia una pedagogía en clave decolonial: entre aperturas, búsquedas y posibilidades. Tabula Rasa, Bogotá, n. 13, p. 217-233, jul./dez. 2010. FREIRE, Paulo. Conscientização. São Paulo: Cortez, 2018. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 19. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001. FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. HOOKS, B. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. 2. ed. São Paulo: WMF, Martins Fontes, 2017. RUFINO, Luiz. Vence-Demanda: educação e descolonização. 1. ed. Mórula Editorial, Rio de Janeiro, 2021. Palavras-chave: banquete literário; educadores; festa literária; gêneros textuais; prática formativa.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 12
Local: Sala ED 14 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
O LUGAR DO PROFESSOR DA PRIMEIRA INFÂNCIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LEITURA: UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS DE LEITURA COM CRIANÇAS BEM PEQUENAS
Denise Aparecida de Paulo Ribeiro Leppos
(SME São Carlos – CEMEI Deputado Vicente Botta)
A presente pesquisa tem como objetivo analisar o que se diz a respeito do lugar do professor da primeira infância no Plano Nacional do Livro e Literatura (doravante PNLL), segundo os fundamentos metodológicos da análise de discurso, que nos possibilita de identificar, a partir dos recursos enunciativos e textuais que são empregados no PNLL, o lugar desse professor nas políticas públicas. Conforme assevera Foucault (2006, p. 103), são esses expedientes que exercem uma espécie de poder em rede, na qual “os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão”. Entender, deste modo, a prática da leitura como um compromisso social do Estado, da Educação e da Sociedade Civil significa refletir o que as políticas públicas, principalmente, ao que se refere à leitura, dizem acerca da construção dos processos de democratização e de inclusão como um direito garantido à primeira infância. Segundo Reyes (2005), é necessário que os “mediadores”, compreendidos, neste trabalho, como os professores que atuam na primeira infância, possuam um conhecimento básico sobre o processo de desenvolvimento infantil do ponto de vista cognitivo, emocional e sociocultural, para que seja possível a construção e a expressão de ideias e de novas significações da realidade. Assim, pensaremos a prática de leitura na primeira infância enquanto um direito, que produz efeitos de sentido na formação do sujeito-criança leitor.
Referências: CHARTIER, R. A aventura do livro. Do leitor ao navegador. São Paulo: Editora Unesp, 1999. FOUCAULT, M. A ordem do discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 3. ed. São Paulo: Loyola, 1996. ORLANDI, E. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas: Editora da Unicamp, 1995.
Palavras-chave: primeira Infância; professor; PNLL; análise de discurso.
TENSÕES ENTRE OS SABERES DA ESCOLA AS VIVÊNCIAS DA RUA E A FORMAÇÃO OMNILATERAL DA CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Janaína de Souza Silva (Unicamp)
Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa maior de doutoramento em andamento desenvolvida com crianças da Educação Infantil. Objetiva-se apresentar as tensões existentes entre o que os estudantes aprendem na escola, suas experiências vivenciadas na rua na relação com a formação omnilateral. Apoiamonos em referenciais do materialismo dialético (VIGOTSKI, S/D); (PISTRAK, 2011); (MANACORDA, 2012); (PASQUALINI, 2015); (SOLOVIEVA; QUINTANAR, 2016) que compreende a formação omnilateral como formação completa. Os autores destacados declaram abertamente que a escola separada da vida, das ruas, ou da política é uma
grande farsa, uma hipocrisia (PISTRAK, 2011). O estudo toma como pano de fundo a atividade guia “Brincadeira de Papéis Sociais” defendidos por (ELKONIN, 2009), tendo em vista que as forças motrizes do desenvolvimento psíquico infantil devem ser verificadas, prioritariamente, no campo de comprovação da teoria da periodização. Isso exposto, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho compreende o conceito utilizado por Vigotski de perejivânie (vivência). Para Vigotski, o conceito vivência indica permanente relação do sujeito com o mundo representado pela unidade sistêmica da análise consciente do sujeito marcada por referências “ao corpo, às representações e ideias, ou ao mundo externo, com a atividade dominante desta ou daquela função psíquica” (TOASSA; SOUZA, 2010, p. 772). Os resultados indicam que o trabalho educativo intencional viabiliza tensões problematizadoras entre os conteúdos escolares e as práticas sociais vivenciados de modo a potencializar em suas máximas condições o desenvolvimento da formação omnilateral da criança.
Referências: MANACORDA, M. A. Marx e a formação do homem. Revista HISTEDBR On-line, Campinas-SP, v. 11, n. 41e, p. 6-15, 2012. DOI: https://doi.org/10.20396/ rho.v11i41e.8639891. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/ index.php/histedbr/article/view/8639891. Acesso em: 28 set. 2022. ELKONIN, D. Psicologia do jogo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. LUEDKE, A. M. S. A formação da criança e a ciranda infantil do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra). Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Florianópolis, 2013. SOLOVIEVA, Y.; QUINTANAR, L. La formación de las funciones psicológicas en el desarrollo humano. In: BARBOSA, V.; MILLER S.; MELLO, S. A. Teoria Histórico Cultural: Questões Fundamentais para a educação escolar. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016. TOASSA, G.; SOUZA, M. P. R. As vivências: questões de tradução, sentidos e fontes epistemológicas no legado de Vigotski. Psicologia USP, São Paulo, 2010, 21(4), 757-779. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pusp/a/ bPxr5fZsGdMtYv9XtNHTGdP/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 28/09/2022.
Palavras-chave: saberes da escola; formação omnilateral; educação infantil.
O PROGRAMA CONTA PRA MIM / MEC-BRASIL: INVESTIGANDO POLÍTICAS DE LEITURA PARA A INFÂNCIA NO BRASIL (2019-2022)
Naila de Figueiredo Portugal (Fundação Municipal de Educação de Niterói)
O presente artigo, escrito após uma eleição dificílima que definiu após quatro anos, a tão sonhada retomada da democracia no Brasil, pretende discorrer acerca de um dos programas criados pelo MEC durante o até então governo, do presidente Jair Messias
Bolsonaro. Inúmeros foram os ataques produzidos pela sua gestão em todas as esferas públicas de nossa sociedade e as políticas públicas voltadas para educação e leitura não ficaram à margem das investidas de propagação do ultraconservadorismo que se espalhou pelo nosso país. Por isso, este trabalho problematizará algumas questões acerca do programa Conta Pra Mim, apresentado em 2019; programa que investe no retrocesso das políticas de leituras construídas ao longo do tempo no Brasil. O atual governo, reforçando sua ideologia conservadora, baseada no familismo, no ultraconservadorismo e no fundamentalismo cristão, vê no Programa Conta pra mim, nos livros e no guia de literacia familiar ofertados no escopo do programa, como
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
uma espécie de código de conduta camuflado de “leitura em família” que devem ser realizadas e massificadas entre as famílias e crianças brasileiras. Implementado com finalidades moralizantes, o Programa investe fortemente em vias que caminham em oposição ao deleite que a arte literária produz, visando tão somente a manutenção das opções ideológicas do governo em questão.
Referências: ANDRUETTO, María Teresa. Por uma literatura sem adjetivos. São Paulo: Editora Pulo do Gato, 2012. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. BENJAMIN, Walter. O Anjo da História. Belo Horizonte: Autêntica, 2018. BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança e o brinquedo e a educação. São Paulo: Editora 34, 2009. BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Alfabetização. Conta pra Mim. 2022. Disponível em: https://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim. CANDIDO, Antonio. Vários Escritos. São Paulo/Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004. CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia? São Paulo: Abril Cultural; Brasiliense, 1984. FARIA, Ana Lúcia Goulart; BARREIRO, Alex; MACEDO, Eliana E. de; SANTIAGO, Flávio; SANTOS, Solange (Org.). Infâncias e pós-colonialismo: pesquisas em busca de pedagogias descolonizadoras. Campinas, SP: Leitura Crítica; Associação de leitura no Brasil, 2015. FARIA, Ana Lúcia Goulart. Ideologia no Livro Didático. São Paulo: Cortez, 2017. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 2011. LARROSA, Jorge. Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. MANGUEL, Alberto. À mesa com o Chapeleiro Maluco: ensaios sobre corvos e escrivaninhas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 2000.
Palavras-chave: literatura infantil; políticas públicas de leitura; Infâncias; Conta pra Mim.
AS POTENCIALIDADES DA LITERATURA INFANTIL NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: AFETO E REPRESENTATIVIDADE
Isabela Ramalho Orlando (FE/Unicamp)
Neste trabalho, será apresentado um recorte de pesquisa de doutorado em andamento sobre a inserção da literatura infantil no ensino de língua inglesa. Com base na Teoria Histórico-Cultural acerca do ser humano e ancorada nos estudos de Leite (2018) sobre afetividade e práticas pedagógicas, compreende-se que as relações entre sujeito e objeto de conhecimento são sempre mediadas, e que estas relações são, indissociavelmente, afetivas e cognitivas. Com base nessas premissas, realizou-se um curso de formação continuada com professoras de inglês da rede pública. Neste curso, as professoras tiveram a oportunidade construir planos de ensino para suas turmas e foram convidadas a inserir a literatura infantil neste processo. Ao final do curso, a pesquisadora acompanhou o desenvolvimento do plano de ensino de uma das professoras, em que se utilizou o livro As tranças de Bintou nas aulas de inglês de um 3º ano. No presente trabalho, serão apresentadas e discutidas as atividades realizadas pela professora, bem como a análise de entrevistas conduzidas com os estudantes sobre elas, realizadas por meio do procedimento de autoscopia (Leite e Colombo, 2006). A análise dos dados das entrevistas sugere uma aproximação afetiva das crianças com a língua inglesa, além da importância da representatividade de personagens negros nas histórias lidas em sala de aula.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Referências: LEITE, S. A. da S.; COLOMBO, F. A. (2006). A Voz do Sujeito como Fonte Primária na Pesquisa Qualitativa: a autoscopia e as entrevistas recorrentes. In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Santoro (Org.). Pesquisa em Educação: alternativas investigativas com objetos complexos. São Paulo: Edições Loyola. LEITE, S. A. S. (Org.) Afetividade: as marcas do professor inesquecível. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2018. VIGOTSKY, L. S. Obras escogidas. vol. III. Visor, 1997. VIGOTSKY, L. S. A Construção do Pensamento e da Linguagem. Tradução Paulo Bezerra. Martins Fontes, 2009a. VIGOTSKY, L. S. Imaginação e criação na infância. Ática, 2009b. Palavras-chave: afetividade; ensino de língua inglesa; literatura infantil.
CRIANÇAS AUTORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA PEDAGOGIA FREINET
Isabela Ramalho Orlando (FE/Unicamp)
Crianças autoras na educação infantil: práticas de leitura e escrita na Pedagogia Freinet Neste artigo, apresenta-se um relato de experiência da autora como professora de Educação Infantil, a qual será discutida a luz das teorias de Vigotski e de Freinet. Baseando-se nos princípios da Pedagogia Freinet e utilizando-se instrumentos e técnicas deste movimento, favoreceu-se a livre expressão das crianças por meio do ateliê de artes plásticas e a introdução do texto livre. Partindo de desenhos ou colagens criadas pelas crianças, transcreviam-se narrativas elaboradas por elas. Estes textos eram apresentados para a turma semanalmente e escolhia-se um deles para ser compor o livro de textos da turma, bem como para ser trabalhado por todos os educandos, por meio da leitura global, ilustração e estudo de questões linguísticas. Notou-se que esta prática incentivava as crianças a criarem desenhos e a buscarem o registro de suas narrativas. Além disso, possibilitou a oferta de um material de leitura significativo para as crianças, pois elas podiam ler e reler os textos escritos por seus colegas. Discute-se também a questão do desenvolvimento da imaginação, a partir dos trabalhos de Vigotski, uma vez que se observam os efeitos da leitura literária cotidiana, do brincar e do compartilhamento de ideias nas produções das crianças.
Referências: VIGOTSKI, L. S. Imaginação e criação na infância. Ática, 2009. FREINET, C. Para uma Escola do Povo: guia prático para a organização material, técnica e pedagógica da Escola popular. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
Palavras-chave: educação infantil; pedagogia Freinet; produção de textos; leitura.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 13
Local: Sala ED 15 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PESSOAL NA ESCOLA NA FORMAÇÃO DO LEITOR DE LITERATURA
Cláudia de Oliveira Daibello (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’ Oeste) Esse texto discute algumas questões levantadas a partir de uma pesquisa mais ampla, desenvolvida no grupo ALLE-AULA (Alfabetização, Leitura, Escrita e Trabalho Docente na Formação Inicial de Professores) da Faculdade de Educação da UNICAMP, que propõe discutir a formação de leitores de literatura no contexto escolar. Nesse texto, a partir da análise de situações observadas na pesquisa de campo em uma turma de segundo ano do Ensino Fundamental, propomos refletir sobre as leituras realizadas pelas crianças em momentos de escolha espontânea, ou através de estratégias que escapam ao controle dos professores, e as leituras indicadas e autorizadas por estes. As situações observadas nos permitem afirmar a importância das oportunidades de leitura pessoal – pautadas nos interesses e gostos da criança – na formação do leitor de literatura e problematizar as propostas realizadas em sala de aula a partir de objetivos pedagógicos que nem sempre favorecem o encontro entre texto e leitor. Também pretendemos discutir os motivos que levam a esse distanciamento entre as leituras prescritas e as leitu ras realizadas pelos alunos, buscando problematizar a importância da escola oportunizar às crianças experiências de leitura que atendam a seus interesses e desejos pessoais, especialmente quando se trata da leitura do texto literário. Nossa perspectiva ancora-se nas contribuições dos estudos de Bakhtin no campo da linguagem (2011, 2014) e também em autores franceses contemporâneos que abordam a especificidade da leitura de literatura, como Rouxel (2013, 2018) e Jouve (2013). Diante da importância que a escola assume em nossa sociedade no acesso a livros, acreditamos poder contribuir para a reflexão sobre as práticas possibilitadas nesse contexto, de forma a favorecer a formação do leitor de literatura. Palavras-chave: leitura; literatura; escola.
A TAREFA DO LEITOR DA TRADUÇÃO: ERRÂNCIAS NA EDUCAÇÃO ENTRE RASTROS DA TRADUÇÃO E DA LEITURA
Davi Henrique Correia de Codes (Unicamp)
Provocações que partem do texto de Walter Benjamin, A tarefa do Tradutor, e de outros autores advindos do campo dos Estudos da Tradução, possibilitam ensaiar o pensamento na busca por tarefas que cabem aos leitores de obras traduzidas e além, do próprio papel formativo no ler, enquanto interpretação e transcriação na experiência da leitura e suas múltiplas (in)traduzibilidades. Se encarado o traduzir como tarefa e lugar de variação nas línguas, a leitura e seus gestos operariam também com aproximações e distanciamentos nesta errância de (re)criar, multiplicar sentidos e outras sonoridades no mundo. São algumas travessias por entre Leitura e Tradução, processos formativos, estéticos e intelectuais na educação, quando há possibilidade de ler como traduzir e deixar acontecer a leitura como um lugar de experiência. Fazer surgir alguns rastros para o que se anuncia aqui como sendo a
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
tarefa do leitor da tradução. Para tanto, este ensaio articula autores dos Estudos da Tradução e da Filosofia da Diferença, para pensar a formação dos sujeitos através da leitura, não apenas por meio do que é escrito em língua vernácula, mas na feitiçaria do traduzir para uma outridade que habita a diferença que se expande da língua e transborda pelas fissuras do viver, interpretar e inventar. Deste modo, articula-se os pensamentos de autores como Daniel Pennac, Carlos Skliar, Walter Benjamin, Raul Antelo e Sandra Corazza. A tarefa do tradutor é árdua, mas a tarefa do leitor, despretensiosa talvez, e enquanto tarefa, objetive apenas o maior dos desafios para a Educação, a disponibilidade.
Palavras-chave: tradução; educação; experiência; leitura; formação.
A FORMAÇÃO DO REPERTÓRIO LITERÁRIO DO ALUNO NOS ANOS
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DOS REGISTROS DE CIRCULAÇÃO DE LIVROS NAS SALAS DE LEITURA EM ESCOLAS
Eduardo Ferrinha Alves Moreira (Unicamp)
MUNICIPAIS
Este resumo expandido descreve a pesquisa que estou desenvolvendo no Mestrado em Educação, a qual toma para estudo a circulação dos livros de literatura entre jovens nos Anos Finais do Ensino Fundamental e sua relação com os preceitos de qualidade dos especialistas que recomendam as obras ao MEC. Após a escola ser influenciada, durante décadas, por pesquisas que problematizaram a obrigatoriedade da leitura literária na escola, a formação do leitor e o fenômeno da leitura por prazer, qual o atual significado da sala de leitura para alunos, professores e profissionais responsáveis por esse espaço? O diferencial desta pesquisa é explorar a apropriação da literatura pelos estudantes de um segmento frequentemente preterido pelos anos iniciais nas investigações acadêmicas. Busca-se conhecer e problematizar a recepção e o circuito das obras, através dos registros presentes nas fichas de empréstimo e equacionar o repertório constituído, bem como indagar estudantes e agentes responsáveis por essa formação, trazendo para a discussão questões como os entendimentos sobre literatura, cultura e arte; formação de leitores; mediação de leitura; diversidade do acervo e escolarização da literatura. Se há 30 anos se reivindicava fortemente acervo de obras de leitura para as escolas, atualmente programas e campanhas nutriram as escolas de livros. Contudo, a validação, por agentes legitimadores, de uma obra literária estaria convergindo em sua efetiva circulação entre o público-alvo? E que lugar estaria ocupando a “literatura de entretenimento” na preferência dos alunos e por quê? A geração dos dados provém da pesquisa documental, pesquisa de campo “entrevistas semiestruturadas” e bibliográfica. Estima-se obter os documentos de fontes primárias nas fichas automatizadas de empréstimo das salas de leitura de escolas públicas de uma rede municipal paulista. Cabe analisar também as orientações oficiais destinadas aos profissionais encarregados das salas de leitura e a formação recebida por eles. O referencial teórico baseia-se em Chartier (história das práticas de leitura, representação e materialidade), Certeau (sentido das coisas não está nas coisas em si, mas no uso que as pessoas fazem das coisas, bricolagem e polemologia do fraco), Bourdieu (legitimidade, capital cultural objetivado e boa vontade cultural), Lahire e Petit (ambos refletindo sobre a leitura em meios populares), entre outros.
Referências: BOURDIEU, P. A leitura: uma prática cultural. Debate entre Pierre
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Bourdieu e Roger Chartier. In: Práticas da Leitura. CERTEAU, M. A invenção do cotidiano
I: as artes do fazer. CHARTIER, R. A História Cultural entre práticas e representações.
LAHIRE, B. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. PETIT, M. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. Palavras-chave: sala de leitura; práticas de leitura; capital cultural; formação de leitores.
MAPAS INTERPRETATIVOS E MONTAGENS MULTIMODAIS NA EXPERIÊNCIA DE LEITURA LITERÁRIA
Eliana Kefalás Oliveira (Universidade Federal de Alagoas)
Este trabalho pretende refletir sobre travessias de leitores universitários em elaborações de mapas interpretativos sobre microcontos e montagens multimodais entrelaçando microcontos a imagens e também a escolhas de tipos e cores de fontes. Foram realizadas atividades de leitura, interpretação de microcontos e práticas de montagem verbal e visual a partir das narrativas, as quais serão analisadas, articulando, na recepção da obra, imagem, palavra, layouts, na perspectiva multimodal (KRESS y VAN LEEUWEN, 2011; RIBEIRO, 2021). A partir das observações sobre as experiências de leitura de cada leitor (LARROSA, 2003) e do material de composição visual dos microcontos, será articulada a noção de jogo da leitura (ISER, 2002) a aspectos da recepção (LIMA, 1979) dos microcontos, atividade ligada a um projeto de extensão e à disciplina Atividade Curricular de Extensão 2. Considerase que os caminhos interpretativos e os percursos de elaboração de montagens multimodais permitem compor olhares múltiplos sobre os textos e sobre as imagens, além de contribuírem para a elaboração de prismas diferenciados sobre um mesmo texto ao inter-relacioná-lo com distintas fontes e imagens. Palavras-chave: leitura; literatura; multimodalidade; microcontos.
O CORPO, O SENTIR, O SENTIDO: UMA PROPOSTA PARA O APRIMORAMENTO
DA CAPACIDADE DE LEITURA
Fernanda Elias Zucarelli (Colégio Pequeno Príncipe)
Esta pesquisa propõe o aprimoramento da capacidade leitora a partir do desenvolvimento do que eu nomeio de leitor consciente. Defendo que a prática de atividades rítmicas com o corpo físico e de leituras em voz alta sensibilizam o corpo permitindo uma percepção consciente de ritmo e andamento e que essa sensibilização, por conseguinte, favorece a capacidade de leitura. O leitor consciente é ativo e conversa com as características do texto, permitindo o processamento do sentido, do sentir e da reflexão, componentes fundamentais para o aprimoramento da capacidade leitora. Defendo que essa condição é necessariamente construída por meio do corpo físico, visto que ele é a base sensitiva do ser humano e participa efetivamente do ato da leitura não só com componentes fisiológicos, pois “o corpo se transforma de acordo com o tipo de informação com o qual lida justamente porque a transforma em corpo” (KATZ; GREINER, 2015, p. 9). O desenvolvimento do leitor consciente já foi vivenciado por 32 estudantes (com idade entre 15 e 17 anos) do Colégio Pequeno Príncipe, em Ribeirão Preto (SP), por meio de um estudo-piloto com a intenção de conscientizá-los sobre a necessidade de ajustar-se perante as estruturas textuais e de
se orientar acerca desses ajustes. Os encontros iniciaram-se com atividades com o corpo físico, e foram gerando, a partir da vivência incorporada, reflexões, orientações e o aprimoramento da leitura. As informações coletadas no estudo-piloto mostram que o desenvolvimento do leitor consciente assegura não só a sobrevivência de um nível de reflexão e sensibilização pela leitura que se mostra muitas vezes anestesiado, mas também beneficia a atuação afetiva, social e política de um indivíduo porque revitaliza o sentir, o que permite encontros consigo, com o outro, com o texto.
Referências: GOLDSTEIN, Norma Seltzer. Versos, sons, ritmos. 14. ed. São Paulo: Ática, 2006. KATZ, Helena; GREINER, Christine. (Org.). Arte e cognição. São Paulo: Annablume, 2015. PASTORELLO, Lucila Maria. Leitura em voz alta e a produção da subjetividade: um caminho para a apropriação da escrita. São Paulo: Editora da USP, 2015. MASSINI-CAGLIARI, G.; CAGLIARI, L. C. Linguística Textual e Fonologia. In: SOUZA, Edson Rosa Francisco de; PENHAVEL, Eduardo; CINTRA, Marcos Rogério (Org.). Linguística Textual: interfaces e delimitações. Homenagem a Ingedores Grunfeld Villaça Koch. São Paulo: Cortez, 2017. p. 121-143. PETIT, Michèle. Ler o mundo: experiências de transmissão cultural nos dias de hoje. São Paulo: Editora 34, 2019. SALLES, R. O ritmo na vida, na escola e na sala de aula. [online] Disponível em: https://institutoruthsalles.com.br/9-ritmo-essencia-da-vida/. Acesso em: 24 de janeiro de 2022. SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: Paulus, 2004. SANTAELLA, L. Humanos hiper-híbridos: linguagens e cultura na segunda era da internet. São Paulo: Paulus, 2021. Palavras-chave: leitura; corpo; ritmo; andamento; atividades rítmicas.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 14
Local: Sala ED 16 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
CARTAS E A POÉTICA DA VIDA: POR ENTRE FRONTEIRAS AUTOBIOGRÁFICAS
Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo (Universidade Estadual Paulista)
A escrita de cartas tem um lugar muito especial nos trâmites da cultura escrita e tem sido objeto de estudos em tempos e espaços diversos, assim como diversos têm sido os aspectos postos em foco (materialidade, suporte e veículo de comunicação por escrito entre remetente e destinatário); ou os campos em que se inserem os estudos (no âmbito da história, como documento, na literatura, na linguagem como elo de comunicação, na formação-ensino-aprendizagem); além de estudos que focam conjuntos, ou arquivos, de cartas familiares (DAUPHIN et al., 1995). Ainda há a serem considerados os guardados afetivos (cartas têm presença marcante!). Elegem-se aqui, para análise, algumas cartas datadas, sem que se recorte temporalidade ou campo específico: Kafka escreve a Felice; Mario de Andrade escreve a Henriqueta Lisboa; Jorge Larrosa escreve “aos que vão nascer”; Dilce escreve para a filha relatando sua experiência como escriba de cartas; D. Maria, na EJA, escreve em busca de uma irmã que não conhece. Este trabalho vincula-se ao projeto, intitulado “Lugares da escrita: experimentação, linguagens, saberes e(m) formação”, que tem como uma das questões, entre outras, trazer à discussão e reflexão a escrita (e leitura) “também de cartas, estas entendidas como práticas culturais disseminadas” (CHARTIER, 1990). Como ancoradouro teórico para a análise, propõe-se: o apontamento de elementos que contribuam para uma perspectiva teórico-prática ancorada no conceito de experiência (LARROSA, 1996), a discussão do conceito de fronteira autobiográfica como invenção de si, entre ser ficcionalização e uma apresentação de si, que pode ser lido também nas cartas (IVANCOS, 2006), e a perspectiva voltada para uma configuração pautada na relação arte e a poética da vida, mediada pela palavra (VOLOSHINOV, 1997), que tornam quase palpáveis processos de criação (KAFKA, 2003). Os estudos de cartas escritas, enviadas, publicadas, continuam desafiando enquanto processos de compreensão do fazer humano e enquanto produção de saberes.
Referências: CAMARGO, Maria Rosa R. M. Cartas e escrita. Práticas culturais, linguagem e tessitura da amizade. São Pulo: Editora UNESP, 2011. CHARTIER, Roger. A história cultural. Entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. DAUPHIN, Cecile et al. Ces bonnes lettres. Une correspondence familiale au XIXe. Siècle. Paris: Albin Michel, 1995. IVANCOS, José M. P. De la autobiografia. Barcelona: Crítica, LS., 2006. KAFKA, Franz. Escritos sobre el arte de escribir. Madrid: Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja, 2003. LARROSA, Jorge. Narrativa, Identidad e desidentificación. In: LARROSA, Jorge. La experiencia de la lectura. Barcelona: Laertes, 1996. VOLOSHINOV, Valentin; BAJTÍN, Mijail M. La palabra en la vida y la palabra en la poesía. In: BAJTÍN, Mijail M. Hacia una filosofia del acto ético.
BARCELONA: Antthropos Editorial; SAN JUAN: Universidad de Puerto Rico, 1997.
Palavras-chave: cartas; fronteira autobiográfica; poética da vida.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
LEITURAS (D)E ESCREVIVÊNCIA
Marisa de Souza Cunha Moreira (Universidade Estadual Paulista)
Este texto pretende estabelecer um diálogo entre as experiências de escrita e leitura que possuo e, o conceito de escrevivência apresentado por Conceição Evaristo. De acordo com Evaristo (2020, p. 38), o termo escrevivência provém da prática literária “cuja autoria é negra, feminina e pobre.” Vejo-me nessa descrição e procuro um caminhar na escrita que revele quem sou e também desperte quem nem ao menos tenho ciência do que possa vir a ser. Parte-se de certas interrogações que surgem após vivências ou leituras que, em muitos casos, são reelaboradas e registradas como reflexão, contestação, constatação ou novas indagações. O tecer deste artigo é sobre a produção introspectiva, de autoanálise e autorreflexiva que, às vezes, deriva para uma socialização, em diferentes tipos (formais e informais) de publicação. Buscase apresentar mais o que angustia do que tecer respostas a tais perturbações sem, entretanto, deixar de desejar que essas elocubrações possam configurar na realidade. A metodologia compreenderá a (auto)biografia dialogada com a epistemologia da escrevivência. Pensar a respeito do que somos, o que fomos e o que seremos, por meio da escrita e expressar-se sem amarras, implica em, por assim dizer, começar na prosa e terminar em versos; descobrir circunstâncias rimadas que desembocam em realidades nada poéticas. Situações que não são finitas e que atingem não somente os pensamentos, mas também, os sentimentos. O que escrever, como escrever, para que e para quem escrever? Escrevivência, antes de qualquer domínio, é interrogação. É uma busca por se inserir no mundo com as nossas histórias, com as nossas vidas, que o mundo desconsidera. Escrevivência não está para a abstração do mundo, e sim para a existência, para o mundo-vida. Um mundo que busco apreender, para que eu possa, nele, me autoinscrever, mas, com a justa compreensão de que a letra não é só minha. (EVARISTO, 2020, p. 35). As minhas inquietações se unem a de tantas pessoas, na tentativa de existência, como bem coloca Evaristo (2020). O que pode o ser humano diante daquilo que o aflige, inquieta, motiva e o impulsiona? Por que algo, aparentemente, tão meu, acaba sendo expandido para além de mim? Dilemas da vida acadêmica, pessoal, profissional que chegam até nós por diferentes instâncias, levando-nos a escolher, encolher ou tomar alguma atitude. Como reagimos? Como interpelamos? Como respondemos? Olhamos? Lemos? Ouvimos?
Sentimos? Escrevemos? Desenhamos? Pintamos? Tocamos? Compomos? Ignoramos?
Adoecemos? As contribuições deste trabalho almejam proporcionar uma reflexão a respeito do que lemos e escrevemos; externalizar aquilo que ainda está latente e aguçar o público a experienciar a escrevivência ou a leitura de textos escreviventes.
Referências: EVARISTO, C. A Escrevivência e seus subtextos In: DUARTE, C. L.; NUNES, I. R. Escrevivência: a escrita de nós: reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020.
Palavras-chave: escrevivência; leitura; escrita; interlocuções.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
CATANDO MALHADO NA CORRIDA: UMA EXPERIÊNCIA FILOSÓFICA DE UM JOVEM PESCADOR DE MANJUBA
Paulo Cesar Franco (Secretaria de Educação de São Paulo)
Tapari queria fazer a experiência de catar malhado na corrida, pois toda prática que havia adquirido no mar de dentro o convencia de que estava preparado para enfrentar outra realidade, o mar de fora. Mas, o que seria essa experiência? Qual seu aspecto filosófico? Que aprendizado poderia ocorrer na sua experiência de pescador? Partindo da concepção de que cartografia é “acompanhar processos” (KASTRUP, 2012), este artigo pretende cartografar uma experiência filosófica de um jovem pescador de manjuba que almeja realizar seu oficio pesqueiro em outro lugar de pesca: em mar aberto. Para realização de tal experiência o jovem busca instrução com pescadores experientes que ao invés de encorajá-lo o fazem mais duvidoso e questionador. A insegurança que se apodera de Tapari não é capaz de fazê-lo desistir do desafio. Deixar o mar de dentro para ir ao mar de fora era o incômodo filosófico do devir (Deleuze, 1992). Deixar as águas paradas para se perder nas águas turbulentas. Nesse movimento de fuga, a experiência filosófica o perpassa e o faz pescador crítico de seu próprio ofício. Integrando parte da pesquisa de Doutorado em Educação na FE/Unicamp, grupo de pesquisa OLHO, este escrito dialoga com os conceitos de memória, identidade e resistência cultural. Tapari é um jovem pescador que cata malhado na pesca de manjuba em Iguape/SP. Manjuba é um peixe que existe no rio Ribeira de Iguape, catar malhado é retirar as manjubas que enroscam nas malhas das redes. Os jovens pescadores catam malhados (manjubas) para venderem e ajudar na economia da casa.
Referências: CARNEIRO, Rafaelle Rocha Souza. A pesca da Manjuba (Anchoviella lepidestotole) e o canal do Valo Grande: Uma relação de (dês)continuidade em Iguape/SP. 2005. Dissertação de mestrado – Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, São Paulo, 2005. DELEUZE, Gilles. O que é filosofia? Tradução de Bento Prado Jr. e Alberto Alonzo Munoz. Rio de Janeiro. Ed. 34, 1992. p.288. KASTRUP, Virginia. Pistas do método da cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto
Alegre: Sulina, 2012. LAPOUJADE, David. William James, a construção da experiência. São Paulo: n-1 edições, 2017. LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. INGOLD, Tim. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais. University of Aberdeen – Scotland. Horizontes
Antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n. 37, p. 25-44, jan./jun. 2012.
Palavras-chave: catando malhado; experiência filosófica; jovem pescador.
ENCANTES PARA REFLORESTAR UM TEXTO CIDADE
Rafael Caetano do Nascimento (Unicamp); Andrea Desiderio da Silva (Unicamp)
Dois doutorados em andamento atravessados pelo pensamento indígena saíram a campo por dois dias para uma visita à exposição “Antes que se apague: territórios flutuantes” do artista mestiço Xadalu Tupã Jekupé, na Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre/RS. Uma saída de campo não se faz apenas com hora marcada e objetivos fixos, mas também com a abertura de uma atenção aos encontros e afetos que se cruzam pelo caminho. Chegamos em uma noite de Lua Cheia e, em uma breve
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
parada, nos deparamos com uma mulher de mãos dadas com uma criança, ambas com um colete à prova de balas contendo a inscrição: GUARANI-MBYA. Começavam ali os encontros com as obras de Xadalu. Com a chegada do Sol, caminhamos em direção à galeria de artes. No trajeto, corpo atento aos monumentos, pichações, colagens e aos modos como uma arquitetura urbana conversa com quem por ela atravessa. Caminhada como ato multiperspectiva: ato político e também, no nosso caso e escolha, um método; modo de fazer, ocupar e conhecer; de se deixar-se chamar a compor uma cidade, se oferecer aos fluxos dos encontros e desencontros que ela nos convida. “Atenção área indígena”. Seguimos distraidamente atentos numa caminhada que, quase querendo não chegar ao seu ponto final, se abre para as bifurcações do caminho. “Atenção área indígena”. Imergimos pelas ruas da cidade e ela nos percebeu, tateamos sua pele, auscultamos seus chamados. “Atenção área indígena”, e outra mulher nos convida a buscar de onde surgiram os mais de 1000 lambe-lambes semeados em uma só noite. As obras reivindicam a visibilidade do povo guarani, e nos convidam a desconstruir cidade concreto e deixam entrever uma floresta cidade. Com esta inscrição no centro da cidade, Xadalu chama a atenção para os guaranis que ocupam este espaço vendendo seus artesanatos sentados ao chão. Este tem memória e ocupá-lo é honrar a ancestralidade, lembrar que uma aldeia vive sob essa cidade. Os chamados continuam por meio do sopro fumaça encantado de Denilson Baniwa; o Repovoamento de uma cidade Floresta está em curso e nós, no meio dele. Carregados desses afetos e encantamentos, com corpo de rua inundado de vida, indagamos: O que pode um devir-floresta em uma cidade? Que travessias as artes indígenas nos instigam a percorrer? Com que corpo elas nos pedem para ocupar uma cidade? No presente Jardim Guarani de Porto Alegre, fora das molduras, pelas ruas e escadas, pelo meio do caminho, as sementes brotaram lá onde tudo precisa brotar para nascer: no silêncio do coração. Um encanto guarani passou por nós.
Referências: Antes que se apague: territórios flutuantes/curadoria Cauê Alves.
Porto Alegre: Fundação Iberê Camargo, 2022. CEVALLOS, G. Denilson Baniwa –
Inípo: Caminho de Transformação. Disponível em: https://kinobeat.com/denilsonbaniwa-2/. Acesso em: 28 de out. de 2022. LABUCCI, A. Caminhar, uma revolução.
São Paulo: Martins Fontes, 2013. SIMAS, L. A.; RUFINO, L. Encantamento: sobre política de vida. Rio de Janeiro: Mórula, 2020.
Palavras-chave: arte indígena contemporânea; caminhar; corpo e escrita.
LIRISMO MEDIEVAL: DIVERSIDADE E CONEXÃO COM A ATUALIDADE
Paulo Roxo Barja (UNIVAP);
Cláudia Regina Lemes (Secretaria Estadual de Educação de São Paulo)
Estudar a arte medieval é o melhor antídoto contra a errônea expressão Idade das Trevas, utilizada por alguns para designar a Idade Média. Primeiro, porque se trata de um período de cerca de mil anos, com intensa diversidade de estilos nos campos artísticos; depois, porque o lirismo medieval (compreendido como a junção de poesia e música) é também diversificado em si, mesmo sob limites de tempo e espaço. Metodologia. No trabalho, efetuamos um recorte cronológico e geográfico, analisando composições da Baixa Idade Média, no período que vai de meados do século XII até o século XIV, no eixo França-Portugal. Além disso, para inclusão, a
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
obra deveria ser monofônica, passível de apresentação por artista solo. A seleção visou representar a diversidade de temas característicos da Idade Média: i) lirismo trovadoresco (Reis Glorios, de Giraut de Borneil, e Ay Mi, Guillaume de Machaut) ii) a religiosidade (Cantiga de Santa Maria 322, Alfonso X); e iii) o humor satírico (Non Quer´eu Donzela Fea, Alfonso X). Como recurso metodológico para melhor avaliar a sonoridade e a união entre texto e música, realizamos gravações pessoais com a interpretação cantada das obras. A partir da audição e análise crítica das canções, com o apoio de referências (BARJA, 2017; DANTAS, 2018; STEHMAN, 1978; TAVARES, 2018), nosso objetivo foi buscar conexões entre a produção musical medieval e a atual. Discussão. A audição e a leitura atenta das obras permitiram constatar os seguintes pontos de contato entre as composições medievais e a música atual: i) uso da música como suporte narrativo (letras que contam histórias); ii) divisão entre música religiosa e profana se estabelece essencialmente a partir das letras, mas não necessariamente a partir do estilo musical, muitas vezes semelhante; iii) na música profana, predominam canções de amor, mas também há diversas obras satíricas, com uso de palavras de duplo sentido, muitas vezes mesmo ofensivas; iv) nas obras líricas, observa-se indissociabilidade entre letra e música, compostas conjuntamente; v) a monofonia na canção prevalece ainda hoje: voz única, acompanhada por instrumento em geral de cordas (para trovadores modernos, é frequente o uso de voz e violão). O lirismo, concluímos, pode ter nascido nas tortuosas ruas medievais de chão batido, mas subsiste na urbanidade do século XXI.
Referências: BARJA, Paulo R. Poesia & Canção. In: BARJA, P. Música e(m) Sociedade.
Curitiba: Appris, 2017. p. 90-95. DANTAS, Bárbara. Cantigas de Santa Maria. Bárbara
Dantas, História e Arte, 2018. Disponível em: https://www.barbaradantas.com/ cantigas-cat/. Acesso em: 2 nov. 2022. STEHMAN, Jacques. História da Música Europeia.
Lisboa: Bertrand, 1978. TAVARES, Vanessa G. B. “Nom quer´eu donzela fea”: Misoginia nas Cantigas Satíricas de Afonso X. 2018. 126p. Dissertação de Mestrado. – Letras, UFES, Vitória, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/9222/1/ DissertacaoVanessa%20G.%20B.%20Tavares.pdf. Acesso em: 2 nov. 2022.
Palavras-chave: Idade Média; diversidade; lirismo; música; trovadorismo.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 15
Local: Sala LL 01 (térreo) - Prédio Principal - FE/Unicamp
”SABER ANUNCIAR É TUDO”: CARTAZES ILUSTRADOS
NAS PÁGINAS DO MAGAZINE O MERCURIO (1898)
Aline Santos Costa de Lemos (SMEC Itaguaí); Márcia Cabral da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro); Soyane da Silva Santos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) Neste estudo, busca-se examinar o efeito das ilustrações em anúncios veiculados em O Mercurio em 1898, ano de seu lançamento no Rio de Janeiro. Trata-se de publicação diária do Magazine Mercurio para commercio, indústria e artes, conforme registrado na primeira edição de 20 de julho, embora na segunda edição subtraia-se o subtítulo. Indicava-se, ali, inclinação publicitária, embora apresentasse também conteúdo literário, político e de entretenimento. A propriedade cabia à firma Gaston & Alves, com endereço à rua da Assembleia, 46, centro do Rio de Janeiro, onde também se localizavam pequenas editoras e outras firmas com interesse em desenvolver o ramo da edição de livros, revistas e jornais (EL FAR, 2004; HALLEWELL, 2012). Para dar maior visibilidade ao projeto editorial, o novo magazine contava com a colaboração de famosos cartazistas e ilustradores, como evidenciam os traços do poeta, dramaturgo, professor e caricaturista, Raul Pederneiras (1874-1953), que assinava Raul, o caricaturista e ilustrador, Arthur Lucas, que também utilizou o pseudônimo Bambino (LIMA, 1963), Calisto Cordeiro (1877-1957), que rubricava como K. Lixto e o caricaturista, ilustrador, capista, figurinista e teatrólogo, Julião Machado (1863-1930), nascido em São Paulo de Luanda, Angola, colaborador dos principais jornais cariocas como caricaturista e que já havia sido diretor artístico das revistas ilustradas A Cigarra e A Bruxa. Nos limites deste estudo, examinaram-se as 20 primeiras edições de 1898, as quais permitem notar estratégias de convencimento por parte dos editores, com o claro intuito de que os comerciantes contratassem os serviços publicitários: anúncios ilustrados e litografado a cores (técnica de impressão utilizada até os anos finais do século XIX), pareciam ser a garantia certa de venda dos produtos ofertados. Nessa direção, os cartazes facultavam um tipo de leitura atraente que seduziria o leitor-consumidor. Ao lado desse exame, identificaramse os vestígios nos discursos e a paisagem de uma cidade que buscava associar-se ao ideário europeu de modernidade “que era essencialmente burguês, urbano e pautado na racionalidade advinda do século XVIII” (PLUM, 1979; TOURAINE, 1994) no âmbito do governo (1894-1898) do então presidente Prudente de Morais. Palavras-chave: O Mercurio; anúncios ilustrados; Julião Machado.
LEITORES CHEIOS DE SOM E FÚRIA: RELATOS ORAIS SOBRE UM JORNAL APEDREJADO
José Carlos Fernandes (Universidade Federal do Paraná)
O presente trabalho está integrado a um projeto de pesquisa desenvolvido desde 2012 no Departamento de Comunicação, da Universidade Federal do Paraná, sobre as resistências de jornalistas paranaenses durante a ditadura civil-militar instalada no Brasil em 1964. O projeto formou um acervo de mais de 40 depoimentos de
profissionais de imprensa. Faz-se, aqui, um recorte no período em que funcionou na cidade de Curitiba (PR), entre 1959 e 1964, uma sucursal do jornal Última Hora, do publisher Samuel Wainer, posicionado na defesa do governo de João Goulart, sendo perseguido politicamente por suas posições. Os primeiros resultados indicam que a qualidade da cobertura esportiva, social e policial do UH compensava a estranheza do consumidor diante do noticiário político mais à esquerda. Há indicativos de que o Última Hora curitibano tenha atingido 40 mil exemplares diários, o que representa até 200 mil leitores. Era, à época, a maior parcela do público leitor de jornais da cidade, um feito em se tratando de um município servido por dois títulos conservadores de porte, como Gazeta do Povo e o Diário do Paraná. O artigo se baseia em história oral “a partir de seis entrevistas em profundidade com remanescentes do UH na capital”; análise de conteúdo – fase “leitura flutuante” – das aproximadas 1,8 mil edições locais do jornal, depositadas em acervo digital da Biblioteca Nacional; pesquisa bibliográfica sobre o periódico, a exemplo da autobiografia Minha razão de viver (1987), de Samuel Wainer, e a biografia Samuel Wainer: o homem que estava lá (2020), de Karla Monteiro e Alceu Chierosin Nunes. Some-se à fundamentação autores estruturantes da sociologia e da história da leitura – a exemplo de Robert Darnton, Roger Chartier, Michèle Petit, Alberto Manguel – e clássicos da estética de recepção, como Iser, Jauss, Barthes e Eco. O objetivo é captar as relações entre público curitibano e imprensa do final dos anos 1950, início dos 1960, tendo como matéria prima um acontecimento singular: no dia 13 de maio de 1964, um grupo de aproximados 200 secundaristas da rede particular católica de Curitiba, Paraná, fez um protesto e atirou pedras contra a sede do jornal Última Hora, no Centro da capital. O episódio do apedrejamento popular é cercado de versões – não raro dissonantes. Mas é fato que a “fúria de leitores” apressou o fim da sucursal de um dos mais importantes periódicos brasileiros, que teve em suas fileiras nomes como Nelson Rodrigues e o cronista Antonio Maria.
Houve episódios de pilhagem do UH em outras partes do país, mas no Paraná a situação foi agravada pelo enquadramento por ato institucional militar dos repórteres e editores. Restou a nomes como Walmor Marcelino, Luiz Geraldo Mazza, Celina Luz, o hoje cineasta Sylvio Back e Adherbal Fortes de Sá, o exílio ou as escassas possibilidades de trabalho no semanário A voz do Paraná, ligado à Cúria Metropolitana, e a Grafipar Edições, que produzia revistas eróticas, trazendo, à paisana, conteúdos libertários. Palavras-chave: leitura de jornais; história da imprensa; ativismo de leitores.
O PRÊMIO VAI PARA...: VOTANTES, EDITORAS E ARTISTAS NA
COMPOSIÇÃO DO PRÊMIO FNLIJ (2001-2018)
Josiane de Souza Soares (CAP – UFRJ)
Este estudo procurou compreender o papel da FNLIJ na regulação e legitimação da produção literária infantil brasileira, analisando os livros que receberam o prêmio O Melhor para a Criança entre os anos de 2001 e 2018. Abordam-se três instâncias – o júri, a produção material e a criação artístico literária, com o intuito de entender se o Prêmio FNLIJ é representativo da literatura infantil produzida em território brasileiro. Para tanto, caracterizou-se o júri a partir da filiação institucional, da formação acadêmica e da localização geográfica; a produção material, elencando as editoras, suas recorrências e localização; e a criação artístico literária, com base na naturalidade, no local de
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
residência à época da pesquisa, e a formação profissional dos escritores e ilustradores. Tem-se como fundamentos, os estudos da História Cultural (CHARTIER, 1997); da Teoria Literária (COMPAGNON, 2014), da Teoria Discursiva (BAKHTIN, 1986) e da Literatura Infantil (ZILBERMAN; LAJOLO, 1986). A respeito do júri, observou-se que o grupo é formado, prioritariamente, por profissionais de Letras (62%). A universidade pública é o local preferencial de atuação desse grupo; em seguida, aparecem os membros da FNLIJ e, em menor número, profissionais de bibliotecas públicas. Quanto à representatividade dos estados brasileiros, predominam os do Sudeste, totalizando 58% do júri. Sobre a produção material, a pesquisa indica que as editoras se localizam, principalmente, no Sudeste, com destaque para São Paulo, que concentra 82% das empresas. Quanto à instância da produção artístico literária, evidencia-se a preponderância de escritores e ilustradores do sexo masculino. A presença de autores indígenas foi outro aspecto relevante na caracterização do grupo. Ao cotejar a naturalidade dos escritores e ilustradores, as regiões Sudeste e Sul aparecem em destaque novamente, sendo que a primeira registra mais de 50% dos nascimentos. Ao focalizar o local de residência dos artistas, observa-se que quase 80% vivem no Sudeste, prioritariamente, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A partir do exposto, conclui-se que o Prêmio FNLIJ revela certa limitação no julgamento das obras literárias brasileiras endereçadas a crianças, sobretudo, no que refere à representatividade das instâncias envolvidas na premiação. Tal conclusão apoia-se no fato de que os artistas premiados se concentram no eixo Rio de Janeiro – São Paulo, as editoras também se acumulam nos mesmos locais, e o corpo de votantes não consegue romper com essas fronteiras, concentrando-se no Sudeste.
Referências: BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1986. CHARTIER, Roger (Org.). Práticas de leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011. COMPAGNO, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2014. ZILBERMAN, Regina; LAJOLO, Marisa. Um Brasil para Crianças: para conhecer a literatura infantil brasileira –histórias, autores e textos. São Paulo: Global, 1986. Palavras-chave: literatura infantil; prêmios literários; FNLIJ.
BIBLIOTECA ESCOLAR: LUGAR DE AÇÃO CULTURAL E INCENTIVO À LEITURA LITERÁRIA
Luci Mary Corrêa Lopes (Universidade Federal de Rondônia); Monise Adriana Buso Velho (Universidade Federal de Rondônia)
O principal escopo deste estudo visa a promoção de discussões e o delineamento das trocas de experiências com docentes efetivados na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Raimundo Agostinho da Silva, localizada na zona urbana de Porto Velho – RO, tendo como aparato o direcionamento para a importância da biblioteca escolar com foco em atividades de mediação cultural e de incentivo à leitura literária. Dessa forma, todos os aportes realizados consistirão em contribuir com a promoção, ampliação e aprofundamento dos conhecimentos específicos que fazem parte da prática docente e culminará com a organização de uma ação de incentivo à leitura de forma conjunta com os docentes, equipe pedagógica e gestores da escola voltada para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Objetivos: Objetivo Geral: Contextualizar a importância da biblioteca como espaço
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
para mediação cultural e incentivo à leitura na EMEF Raimundo Agostinho da Silva. Objetivos Específicos: a) discorrer acerca da biblioteca como espaço didáticopedagógico; b) realizar encontros para sensibilização dos docentes da EMEF Raimundo Agostinho da Silva sobre a importância da biblioteca escolar e atividades de incentivo à leitura na escola; c) planejar e fazer oficinas que contribuirão com as futuras práticas pedagógicas dos docentes da escola voltadas para incentivo à leitura; d) promover campanha de arrecadação de livros de Literatura Infantil para o acervo da escola; e) executar em parceria com os docentes, equipe pedagógica e gestores da escola uma ação de incentivo à leitura em alusão à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca voltada para os alunos.
Metodologia: os procedimentos metodológicos estão sendo executados em três etapas. 1ª etapa: sensibilização e discussão em encontros com professores da escola sobre a importância da biblioteca escolar e da mediação cultural e de ações de incentivo à leitura no espaço educativo; 2ª etapa: desenvolvimento das oficinas e organização da biblioteca escolar; 3ª etapa: uma atividade de mediação cultural e de leitura planejada com os docentes, equipe pedagógica e gestora da escola.
Referenciais teóricos: Campelo (2012), Kuhlthau (2013), Milanesi (2013), entre outros. Resultados e discussões: Ainda não foram obtidos resultados finais sobre a pesquisa. Seguindo o cronograma proposto, o projeto está em fase de desenvolvimento e ainda está passando por alterações.
Considerações finais: Acreditamos que a Biblioteca Escolar é capaz de melhorar significativamente o processo de ensino aprendizagem e, através das práticas de leitura que é característica da mesma, assim sendo possa despertar nos alunos o pensamento crítico e o desejo de adquirir conhecimentos, tornando-os aptos a exercer a cidadania de forma consciente.
Palavras-chave: biblioteca escolar; mediação cultural; incentivo à leitura.
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI: UMA REFLEXÃO
ACERCA DAS AÇÕES DE MEDIAÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA
Sarah Cristina Costa Ferreira (Universidade Federal de Lavras)
Ao concebermos as bibliotecas como espaços que garantem a preservação do patrimônio material e imaterial de um povo, é fundamental compreendermos acerca de sua historicidade, bem como seus espaços, acervos e mediações. Desse modo, esse estudo tem por objetivo investigar a implementação da primeira Biblioteca Pública de Minas Gerais, inaugurada no ano de 1827, na cidade de São João Del Rei. Dessa forma, preocupada com a formação de pequenos leitores da comunidade e das escolas municipais, a biblioteca conta com um espaço exclusivo destinado ao público infantil em que, promove ações de mediação da leitura, contações de histórias, saraus e visitas guiadas, permitindo que as crianças possam fazer parte desse espaço mesmo antes de adquirir uma linguagem verbal ou o processo de leitura e escrita convencionais. Diante do exposto, essa pesquisa buscará compreender as ações destinadas a infância dentro do espaço da biblioteca desde sua fundação em 1824 e suas reverberações atualmente para o letramento literário dos pequenos leitores. Desse modo, a problemática do estudo se balizou por: Como as ações promovedoras do letramento literário, para o público infantil, ocorreram e ocorrem em uma biblioteca centenária? Nesse sentido,
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
essa pesquisa se justifica para compreender e investigar as ações de leitura para o público infantil em uma biblioteca histórica, haja vista que, os espaços de promoção da leitura e de compreensão leitora se ressignificaram com o passar das décadas. Sabendo das especificidades dessa pesquisa, ela se desenvolveu por meio de uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória por intermédio de uma pesquisa de campo realizada na referida biblioteca. Já no que se concerne ao processo de coleta de dados, estes foram colhidos por anotações em diário de campo e entrevistas com bibliotecários, crianças e familiares envolvidos no contexto da biblioteca, tendo como método de análise dos dados a ação interpretativista proposta por Moita Lopes (1998). Por fim, no que se refere ao referencial teórico utilizado, ele se pautou primordialmente, nos seguintes autores: Chartier (1999), Cosson (2018) e Klebis (2006). Em suma, esse estudo buscou investigar e intervir de modo a fomentar a mediação da leitura para os pequenos leitores por meio de ações significativas e contextualizadas.
Referências: CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo, SP: Editora UNESP, 1999. COSSON, R. Letramento literário: teoria e prática. 2. ed. São Paulo, SP: Contexto, 2018. KLEBIS, C. E. O. Leitura e envolvimento: a escola, a biblioteca e o professor na construção das relações entre leitores e livros. 2006. 165p. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP. MOITA LOPES, L. P. A transdisciplinaridade é possível em linguística aplicada? In: SIGNORINI, I. (Org.). Linguística aplicada e transdisciplinaridade: questões e perspectivas. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1998.
Palavras-chave: biblioteca pública infantil; mediação da leitura; letramento literário.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 16
Local: Sala LL 02 (térreo) - Prédio Principal - FE/Unicamp
O CINISMO E AS PRÁTICAS DE EXISTÊNCIA COMO ENSINO PARA A VIDA
David da Silva Pereira (UTFPR);
Silvana Dias Cardoso Pereira (GPOPP – UTFPR-CP e ALLE-AULA FE-UNICAMP)
Trata-se de uma investigação das práticas de existência como ensino para a vida. A releitura da Coragem da Verdade, último Curso de Michel Foucault ministrado no Collège de France em 1984, revela um caminho possível de resgate dessa questão na relação mestre-discípulo filosófica que encontra reflexões na ideia de Filosofia como armadura para a vida. Cuida-se, portanto, de um escrito teórico acerca das possibilidades de reflexão levantadas pelo filósofo francês nesse Curso, mas, por outro lado, diz respeito ao que somos, ao que podemos, ao que dispomos nesse encontro com o outro. Com raiz na prática socrática, essa derivação cínica da Filosofia Antiga levou às últimas consequências o dizer-verdadeiro, à custa da própria vida. Esse é o sentido específico da parrhesía foucaultiana resgatada como prática de existência, mas que, com Bárcena (2020), pode ser pensada como uma atividade de ensino em meio à rua, em campo aberto, desprovido de quaisquer proteções inerentes ao exercício da docência. Isso tensiona, por outro lado, a discussão acerca dos meios, instrumentos, tecnologias, mecanismos demandados ao ensino pandêmico (vez que não superada totalmente a pandemia da Covid 19) em meio a uma universidade pública brasileira que, no início desta terceira década, enfrenta o desafio da hibridização de seu ensino ou mesmo da transferência do encontro presencial para o regime de Educação a Distância, o que defendemos aqui como um não-encontro. Dessa forma, pretende-se resgatar elementos dos cínicos para pensar o presente das práticas de ensino e problematizar o dizer-verdadeiro do mestre dentro e fora da sala de aula. Palavras-chave: cinismo; Foucault; práticas; ensino; dizer-verdadeiro.
DIÁLOGOS SOBRE LEITURA E AFETOS PARA TRANSFORMAR A EXPERIÊNCIA ACADÊMICA
Adriana Maria de Assumpção (Programa de Pós-Graduação em Educação –Universidade Estácio de Sá); Carla Antunes Pereira (Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade Estácio de Sá)
O estudo trata de um projeto desenvolvido com estudantes que participam do grupo de pesquisa coordenado por uma das autoras em uma universidade no Rio de Janeiro. O problema foi identificado a partir da dificuldade relatada pelos discentes no seu caminhar em cursos de graduação e mestrado, no que diz respeito à leitura e escrita acadêmica. Os estudantes narraram experiências prazerosas com a leitura quando ela se configura fora do espaço acadêmico. Nesse sentido, apesar do prazer pela leitura ao entrarem na academia, se distanciam dessa prática em virtude das leituras exigidas para os seus projetos. Nas reuniões do grupo foram abordados temas como a leitura do mundo, a formação docente, práticas educativas e cultura visual. Esse estudo se constitui na análise das narrativas desses estudantes sobre a leitura de textos literários e as relações dessas experiências com sua formação. Todos foram convidados a escrever
um texto que foi compartilhado no grupo e o caminho metodológico privilegiou a escuta das narrativas construídas pelos estudantes. Nas conversas construídas nas reuniões do grupo de pesquisa, os estudantes puderam dialogar sobre modos de ler e os sentidos envolvidos nessas leituras, além das relações percebidas entre a experiência com a leitura literária e as relações com a vida acadêmica. Os diálogos com Paulo Freire e outros autores, nos possibilitaram o exercício da educação pautada na liberdade, estimulando a troca de saberes por meio da partilha e da escuta do outro. Os frutos dessa experiência foram os textos produzidos de forma criativa e transformadora, possibilitada pela potência dos encontros. Entendemos que esse exercício reafirma a possibilidade de resistir e lutar pela justiça social, pois como nos diz Mia Couto (2011) “lemos emoções nos rostos, lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o Mundo, lemos a vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da intenção de descoberta do nosso olhar.” Caminhamos em direção a Boaventura Sousa Santos para articular a questão social e a democracia com a construção do conhecimento, entendendo que essas reflexões possibilitam questionar o status epistemológico e criar estratégias para que os estudantes exercitem a formação para a democracia, promovendo-a e criando formas de visibilidade, visto que durante o século XX essa história foi narrada por aqueles que tinham interesses, não necessariamente democráticos (Santos, 2016).
Referências: COUTO, Mia. (2011). E se Obama fosse africano? E outras intervenções. São Paulo: Companhia das Letras. FREIRE, Paulo. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1997. FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014. SANTOS, Boaventura S. A difícil democracia. Reinventar as esquerdas. São Paulo: Boitempo, 2016. Palavras-chave: leitura; literatura; narrativas; práticas educativas.
JANELAS DO CAOS
Ivânia Marques (Prefeitura Municipal de Americana)
Sempre que se está numa época pobre, a filosofia se refugia na reflexão “sobre”... Gilles Deleuze. Este trabalho relata como a literatura marca a resistência e a criatividade diante do caos. São possibilidades que os filósofos Deleuze e Guattari conceituam. Em meio à pandemia, abrir janelas se fez necessário. Roubaram paz, saúde e alegrias da população. Mergulhada na solidão víamos o caos. Das improváveis buscas a Literatura possibilitou desvios. Conceitos deleuzianos de vazio, solidão e caos criaram desvios singulares para resistir e criar. Os desvios foram oportunizados pelas leituras de escritoras de protagonistas mulheres. Literaturas de escritoras fora do cânone habitual abriram janelas. Primeiro, para o caos diante da leitura. Segundo, como resistência e força de cada protagonista da leitura. Terceiro, para re-criar e entender nossas semelhanças e diferenças. Afinal, somos mulheres. Livros de diferentes países e autoras nos defrontaram com verdades íntimas que só a Literatura é capaz de expor. Uma leitura de multiplicidade da Filosofia como mostram Deleuze e Guattari com a produção de conceitos através da imanência. Uma imensa janela, que faz e desfaz o pensamento. Um abre e fecha contínuo. Um pensamento que vai longe e volta. Durante a leitura passamos pelas três ordens de saberes: a arte, criando afetos e múltiplas sensações; a ciência criando conhecimentos; e, finalmente, a filosofia criando conceitos. De uma janela a outra, dialogando e se complementando. Um período de leitura buscando um mínimo de ordem diante do
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
caos. Mas não há domínio do caos. Impossível vencer o caos. Só a morte venceria o caos. Para cada livro, uma reação buscando uma proteção. Mas a filosofia, na luta contra a opinião que nos prende e nos engessa, cria. Cria novos conceitos. Na leitura de escritoras mulheres os detalhes são percebidos. Brotam acontecimentos que divergem da rotina e ideias socialmente construídas ao longo do tempo. Do mergulho ao caos percorrido pelas narrativas femininas não fraquejamos. Assumimos que precisamos de outras para nos recriar. Precisamos da escrita das mulheres, protagonistas mulheres e da filosofia para imaginar outros futuros. Um empenho criativo em/para nossas vidas. Referências: DELEUZE, Gilles. Conversações. Tradução de Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992. p. 152.
Palavras-chave: filosofia; literatura; resistência.
PRÁTICAS SITUADAS DE LETRAMENTO ACADÊMICO:
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA NA UNICAMP
Maria Beatriz Gameiro Cordeiro (IFSP); Rafaely Carolina da Cruz (Unicamp); Kennedy Cabral Nobre (Unilab); Anna Christina Bentes (Unicamp)
Este trabalho apresenta, em caráter de relato de experiência, reflexões teóricopráticas concernentes à disciplina “Laboratório de Produção textual II”, oferecida na grade do curso de Letras do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp, a fim de suscitar discussões acerca da importância de práticas e eventos de letramento, isto é, mediadas pela escrita. O embasamento parte da perspectiva de Street (1984, 2000), que concebe o Letramento como prática social, bem como de Hanks (2008), que postula a Língua como prática social, investigando funções, usos e sentidos da escrita tanto para sujeitos como para grupos sociais. Resultados das três primeiras edições da disciplina “que propõe, em caráter laboratorial, a escrita de gêneros acadêmicos, tais como resenhas, resumos e outros gêneros da comunicação, como entrevistas, vídeos e podcasts” sugerem que a elaboração de textos situados na esfera acadêmica corroboram não só para o aprendizado dos gêneros pelos estudantes, mas promovem uma espécie de imersão nas características estruturais, estilísticas e temáticas dos textos, além de possibilitarem uma reflexão metalinguística sobre a escrita. O fato de os estudantes produzirem seus textos para uma finalidade específica situada, divulgando no site oficial da disciplina “Comunica IEL”, fomenta seu empenho e sua dedicação, contribuindo para contextualização do evento na esfera universitária e científica, distinguindo-se de práticas linguísticas artificiais. Ademais, o viés pragmático-discursivo em que se inserem as práticas de letramento da disciplina intensifica essa motivação pessoal, a qual por sua vez, é potencializada pela mediação entre docente e estudantes, os quais têm voz e autonomia. Assim, a docente responsável não se coloca como única detentora do saber, a despeito de sua sólida formação e produção científica; ao contrário, permite que os graduandos desenvolvam autoria, autonomia e reflexão, estabelecendo um percurso dialógico no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, destaca-se, como um resultado positivo, o trabalho dos professores orientadores que, na interação com os alunos, compartilham conhecimentos sobre o processo de escrita. Dessa maneira, constróise a reflexividade acerca da língua e incorpora-se um conjunto de princípios sobre a centralidade da produção escrita na escola e de um saber prático sobre processos
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
de escrita e reescrita, obtida, também, pela autoavaliação propiciada por questões (de múltiplas escolhas e dissertativas, disponibilizadas em formulários) sobre a escrita, o aprendizado e as dificuldades durante o processo de leitura e escrita. A análise dos comentários dessa autoavaliação sinaliza o aprendizado da estrutura e de estratégias metodológicas das teses ou dissertações, a aquisição de vocabulário técnico, dentre outros, como resultados práticos da leitura. Tais dados revelam a importância e a necessidade de realizar práticas de letramento acadêmico logo nos anos iniciais da formação dos discentes.
Palavras-chave: letramento; gêneros acadêmicos; leitura; escrita.
LITERATURA, TRANSFORMAÇÃO E REALIDADE: UMA
CONSTRUÇÃO A PARTIR DE TRAJETOS QUE SE ENTRECRUZAM
Débora Sara Ferreira (Prefeitura Municipal de Limeira); Eliane Aparecida Bacocina (IFSP); Lara Jatkoske Lazo (E.M.A Eng. Rubens Foot Guimarães)
Este artigo apresenta a literatura como método e instrumento de transformação e conhecimento. Visa refletir sobre a literatura enquanto não apenas um elemento ficcional, mas intrínseco à realidade e, potencialmente, transformador. A literatura como método e instrumento no Ensino Fundamental II, como instrumento na EJA e como expressividade profissional e artística na rua, é real como o mundo concreto. Três pesquisas que envolvem a literatura como elemento de transformação do sujeito apresentam inquietações, descobertas e desafios que partem de seus trajetos construídos de pesquisas de pós-graduação e se entrecruzaram em um grupo de pesquisa, do qual caminham, lado a lado, e se ampliam das partilhas que realizaram ao longo de seus processos. Como embasamento teórico, têm Bakhtin, Winnicott, Larrosa, Rolnik, Deleuze e Guattari e autores de obras literárias, com e dos quais se construíram interlocuções. Por metodologia, utilizam a pesquisa narrativa, a análise do discurso e a cartografia (a partir do olhar de Rolnik, 2011), essa, com a influência do paradigma indiciário. Ao observar coletivamente essas pesquisas, que seguiram diferentes rotas, as pesquisadoras apresentam um texto teórico-poético, em forma de ensaio, que busca responder a questões como: Qual a potência da literatura? Como podemos transformar realidades a partir de um livro que se abre e um verso ou conto que se escreve? Quais os recantos escondidos por essas ruas e becos? Como é possível incentivar leitores a desvendá-los? Convidamos cada participante deste evento a nos acompanhar nesta caminhada exploratória.
Referências: BAKHTIN, Mikhail; VOLOSHINOV, V. N. Discurso na Vida e Discurso na Arte.
Tradução Carlos Alberto Faraco e Cristóvão Tezza. Revista Zvezda, n. 6, 1926. BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1990. BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec, 2013. BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 4. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2003. DELEUZE, Gilles.; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. vol. 4. 2. ed. Tradução de Suely Rolnik. São Paulo: Editora 34, 2012.
DELEUZE, Gilles.; GUATTARI, Félix. Kafka: para uma literatura menor. Lisboa: Assírio e Alvim, 2003. FREIRE, P. A importância do ato de ler em três artigos que se completam. 28. ed. São Paulo: Cortez, 1993. GINZBURG, Carlo. Sinais. Raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. Tradução
Frederico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, jan./fev./mar./ abr. 2002. ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental: transformações contemporâneas do desejo. Porto Alegre: Sulina; Editora da UFRGS, 2011. WINNICOTT, Donald Woods. O brincar e a realidade. São Paulo: Ubu Editora, 2019. Palavras-chave: literatura; educação; transformação.
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 17
Local: Sala LL 03 (térreo) - Prédio Principal - FE/Unicamp
A CONTRIBUIÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO DESENVOLVIMENTO DO GÊNERO PETIÇÃO INICIAL PARA INGRESSANTES DO CURSO DE DIREITO
Alessandra Gomes Varisco (Universidade São Francisco); Milena Moretto (Universidade São Francisco)
Vários estudantes ingressam no ensino superior com dificuldades em relação à leitura e à produção de textos e, para o curso de Direito, essa dificuldade se mostra relevante, uma vez que poderá prejudicar o estudante durante o curso ou até mesmo no desenvolvimento profissional. Ainda mais que o bacharel vai se deparar com inúmeros e variados gêneros textuais da área jurídica, que, num primeiro momento, é trabalhado em nível acadêmico e, num segundo momento, constituirão as próprias ações profissionais. Um dos gêneros acadêmicos a serem trabalhados é a petição inicial. Se o estudante não obtiver um domínio da escrita desse gênero, por exemplo, no caso de um processo, pode levar a um indeferimento do pedido pelo juiz, o que muito pode prejudicar na jurisprudência do futuro profissional. Nesse sentido, o objetivo geral dessa pesquisa é compreender se o trabalho com uma sequência didática do gênero petição inicial a ser realizada com ingressantes do curso de Direito pode auxiliar no desenvolvimento do letramento jurídico. Como objetivos específicos temos: 1) analisar o desenvolvimento argumentativo dos sujeitos da pesquisa, na produção inicial e, após a realização da sequência didática, na produção final; 2) analisar, na produção inicial, que capacidades de linguagem os alunos já dominavam antes da realização da sequência; 3) analisar, na produção final, as capacidades de linguagem desenvolvidas pelos alunos. O trabalho foi realizado com alunos do primeiro ano do curso de Direito do Centro Universitário de ItapiraUniesi, na disciplina Comunicação Jurídica, ministrada pela pesquisadora. Pautamonos nos didaticistas de Genebra para a construção e realização da sequência didática e nas considerações de autores que levam em consideração os Novos Estudos do Letramento. A pesquisa de doutorado que ainda está em andamento tem suscitado reflexões sobre a importância do trabalho com a sequência didática para que a argumentação, oral e escrita, seja desenvolvida, de forma sistematizada, logo no início do curso, para que os estudantes sintam-se inseridos no meio acadêmico e, consequentemente, no contexto profissional em que vão atuar.
Referências: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 2. ed. São Paulo: Wmf Martins
Fontes, 1997. KLEIMAN, A. B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social escrita. Campinas: Mercado de Letras, 2008. SCHNEUWLY, B.;
DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2010
STREET, B. Letramentos sociais. São Paulo: Parábola Editorial, 2014. VOLÓCHINOV. V. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2018.
Palavras-chave: letramento jurídico; sequência didática, petição inicial.
A ESCOLA DO FUTURO DE ISAAC ASIMOV: MATEMÁTICA, EDUCAÇÃO, CURRÍCULO, COTIDIANO E IMAGINAÇÃO
Alessandra Heckler Stachelski (UFRGS)
Ainda hoje Isaac Asimov (1920-1992) é conhecido mundialmente por suas histórias de ficção-científica, principalmente aquelas que envolvem robôs (como a série literária “Fundação” e a coletânea de contos “Eu, Robô”). Em 1957 uma coletânea de contos de Asimov, intitulada “Earth Is Room Enough” (“Terra é Espaço Suficiente”, em inglês), foi publicada nos Estados Unidos. A história a ser analisada aqui é uma contida nessa coletânea, mas nela a presença do robô não parece ser muito apreciada pela personagem principal, Margie. O conto, intitulado “The Fun They Had” (“A Diversão que Tiveram”, em inglês), possui apenas três páginas na edição de 1960 e narra um momento inusitado na vida de Margie, o qual ela escreveu em seu diário no dia 17 de maio de 2157, em que ela descobre como era a vida escolar do avô de seu avô. Utilizando como base as ideias acerca dos conceitos de currículo e cotidiano de Sacristán (2000), as ideias acerca de imaginação pedagógica, adentrando no campo teórico da Educação Matemática Crítica, por meio dos escritos de Lima (2022) e Skovsmose (2011), uma discussão sobre utopia e distopia por meio das ideias de Jacoby (2005), e trazendo citações da autobiografia do autor (ASIMOV, 1994), busca-se analisar o conto “The Fun They Had” com o intuito de desenvolver uma discussão que se inicia na literatura (na leitura do conto), mas que se ramifica, formando uma teia de possíveis problematizações, em diferentes assuntos: matemática, educação matemática, futuro, política, currículo. A análise inicia pelas possíveis perguntas que surgem da leitura do conto: o que é escola para Margie? Em que currículo ela está inserida? O conto é uma distopia ou utopia? Ou será que nenhum dos dois? Há vantagens e desvantagens de existirem professores mecânicos? Esse trabalho de questionar (e analisar) tangencia e relaciona Literatura, Educação, Matemática, Currículo e Imaginação. Por meio disso, é possível perceber as potencialidades da literatura, mesmo que de um conto de apenas três páginas, para fomentar discussões (que podem se tornar profundas) no campo acadêmico. Explorar as perguntas que podem ser feitas a partir da leitura do conto é um passo interessante para começar a se discutir currículo, por exemplo, de maneira mais crítica e descolada da ideia engessada de currículo formal e programado, estudo importante para a formação de professores. Isso é alcançado pelo processo de imaginação, de um futuro que é muito diferente da realidade que se está inserido. Referências: ASIMOV, I. Earth Is Room Enough. St Albans (UK): Panther Books Ltd, 1960. ASIMOV, I. I, Asimov: a memoir. 1. ed. New York: (US): Doubleday, 1994. JACOBY, R. Picture Imperfect: Utopian Thought for an Anti-Utopian Age. New York: Columbia University Press, 2005. SACRISTÁN, J. G. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2000. SKOVSMOSE, O. Critique, generativity, and imagination. For the Learning of Mathematics. New Brunswick, Canada, v. 31, n. 3, p. 19-23, 2011. Palavras-chave: matemática e literatura; Isaac Asimov; educação matemática; currículo; imaginação.
mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
POR UMA DESTERRITORIALIZAÇÃO DOCENTE: EXPERIÊNCIAS MENORES NO ENSINO DE QUÍMICA
Bruna Gabriela Nico Pereira Herculano (Wish School); Carolina Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos)
Sou do Espírito Santo, moro na Bahia e sou professora em uma escola em São Paulo. É isso que eu respondo quando me perguntam em qual instituição eu leciono, e logo em seguida começo a esmiuçar os pormenores dessa experiência docente interestadual. Com a pandemia, comecei a fazer um curso sobre aprendizagem autodirigida ofertado por uma escola de São Paulo. Nesse período pandêmico, as distâncias territoriais passaram a ser mensuradas não pelo espaço e pelo tempo, mas muitas vezes pela velocidade e sinal do provedor de internet. Após um ano de curso fui convidada para fazer parte de um projeto que consistia em ministrar aulas de Química remotamente, para uma turma multietária de alunos do Ensino Médio cujo a rotina escolar se desenvolve no formato presencial. Com a perspectiva de que depois da experiência escolar pandêmica o formato on-line estaria cada vez mais presente no cotidiano dos alunos, a gestora da escola entendeu que aulas nesse online poderiam continuar fazendo parte da rotina escolar dos estudantes. Esclarecidos os distanciamentos referentes ao território geográfico, seguimos com os outros territórios, que aqui chamarei de territórios docentes. Para além das polegadas da tela do computador, outras delimitações também acompanharam essa experiência. A escola é bilíngue, pautada em uma educação holística cujos eixos estruturantes são: mente, espírito, corpo, mundo e relações, trabalhados a partir de diversificadas propostas que incluem o protagonismo dos alunos. Entendendo que a educação é um campo atravessado pelas multiplicidades, pelas diferenças, pelo diferenciar-se dos outros e de si mesmo. Neste trabalho me propus a olhar para as minhas experiências docentes no ensino de química sob a lente teórica de Félix Guattari e Gilles Deleuze. Autores como Gallo (2013) e Vieira (2022) já utilizaram esse referencial para pensar a educação e experiências docentes no ensino de educação física. Influenciada por tais pesquisadores e norteada pela questão “O que pode uma professora de Química?”, busquei analisar os movimentos de desterritorialização e reterritorialização provocados por experiências menores, a partir do conceito de menoridade. Imbricada pelas linhas de fuga que foram criadas a partir dos encontros vivenciados, a pretensão foi trazer conceitos e provocações que nos permitissem pensar de novo a educação, a docência, o ensinar e o aprender com a química, pelo viés do educador militante. A desterritorialização de práticas docentes da educação maior possibilitou perceber a potência dos acontecimentos que rompem com a lógica pragmática do ser professor. Não há modelo, há movimento, há ruptura, há desconstrução, há (com)posição docente.
Referências: GALLO, Sílvio D. de O. Deleuze e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. VIEIRA, Rubens A. G. Educação física menor. Jundiaí: Paco, 2022.
Palavras-chave: desterritorialização; experiência docente; ensino de química; ensino de ciências.
vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
O BULLYING E SEU IMPACTO NO AMBIENTE ESCOLAR: O QUE INDICA A PESQUISA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO?
Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia (Universidade Federal da Fronteira Sul)
No presente projeto de pesquisa abordamos o bullying e seu impacto no ambiente escolar. O termo bullying corresponde a práticas de violência física ou psicológica, intencionais e repetidas, cometidas por um ou mais agressores, contra uma determinada vítima de modo contínuo e causando sofrimento à pessoa por determinado período de tempo. Em outras palavras, é um tipo de agressão física ou verbal que atinge um grande número de vítimas no Brasil e também no mundo. O bullying pode ocorrer em qualquer ambiente, no qual exista o contato interpessoal, seja em clubes, nas igrejas, nas próprias famílias ou nas escolas. É um ato muito presente no ambiente escolar, pois é nele que se encontram pessoas distintas, em intensa convivência. A escolha do tema relaciona-se com os constantes relatos de professores e estagiários dos cursos de licenciatura que percebem o aumento desse tipo de situação nas escolas. Além de comprometer a aprendizagem, as vítimas desse tipo de agressão podem carregar sequelas e sofrimentos psíquicos para sua vida adulta. A pesquisa consistiu no levantamento de artigos publicados nos últimos dez anos (2002 a 2022) em três revistas de abrangência nacional e com tradicional e consolidado projeto editorial. As revistas envolvidas foram: Educação e Sociedade (UNICAMP); Revista Brasileira de Educação (ANPED) e Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas). O objetivo da investigação foi compreender como o bullying foi identificado nos artigos, bem como indicações de possíveis ações que poderiam ser implementadas por professores, gestores e demais funcionários, tanto para a prevenção como a intervenção em situações ocorridas. Além disso, pretende-se identificar o tamanho que o tema apresenta nas respectivas revistas. Os referenciais teóricos aqui adotados contemplam as discussões atuais da temática nos campos da educação, psicologia e sociologia. A análise dos artigos foi feita por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) que permite identificar as categorias a priori, bem como identificar outras que a partir do estudo do corpus emergiram. Os resultados da pesquisa indicaram que o problema está muito presente nas instituições escolares e muitas vezes efetivamente identificado e devidamente combatido. Diversas experiências envolveram projetos de formação continuada de professores em serviço e só começou a ser enfrentado a partir do momento que foi devidamente localizado. Daí a importância de os profissionais da educação estarem atentos para o que está ocorrendo na escola, apoiando devidamente as vítimas e envolvendo a família e responsáveis nas medidas de combate e enfrentamento do problema. Tratase de uma pesquisa em fase de conclusão e redação do relatório final. Na sequência o objetivo do grupo de pesquisa é contribuir com a redução da incidência desse tipo de prática violenta por meio de ações extensionistas e de formação continuada. Palavras-chave: bulliyng; periódicos da educação; escola; violência física e psicológica; pesquisas educacionais.
A CRÔNICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DA CATEGORIA DIALÉTICA PRÁXIS
Letícia Vidigal (Prefeitura Municipal de Cambé – PR); Nathalia Martins Beleze (SME); Sandra Aparecida Pires Franco (Universidade Estadual de Londrina)
Resumo: O objetivo deste trabalho foi compreender a importância da crônica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental à luz da categoria dialética práxis. O estudo, com pesquisa-ação e abordagem crítico-dialética, foi realizado com estudantes do 5º ano de uma escola municipal localizada no Estado do Paraná. Os resultados apontaram que a reflexão, a criticidade e o pensar sobre a realidade estiveram presentes nas ações em torno do gênero literário.
Introdução: A partir do entendimento de que a literatura é um meio adequado para que sujeitos entrem em contato com situações humanas e conhecimento de mundo para compreenderem sua realidade (ADOLFO, 2007), este trabalho objetivou compreender a importância da crônica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, à luz da categoria dialética práxis.
Desenvolvimento: De acordo com Kosik (2002), a dialética trata da essência das coisas, a qual não se manifesta imediatamente. A práxis, enquanto categoria, meio para alcançar a dialética, é uma atividade propriamente humana, cujas ações são acompanhadas de uma finalidade resultante da consciência, o que a torna uma atividade teórico-prática (VÁZQUEZ, 1990). Para Sales (2009), a realidade é mascarada e, portanto, a arte é quem propicia a mediação entre essa realidade e o indivíduo com a finalidade de seu esclarecimento.
Metodologia: Para alcançar o objetivo do estudo, foram realizadas atividades organizadas de leitura em uma escola municipal do Estado do Paraná, tendo como participantes 22 estudantes do 5º ano. Por meio de pesquisa-ação, numa abordagem crítico-dialética, trabalhamos com a crônica “Clientes, go home!”, de Martha Medeiros, por meio da leitura da crônica, diálogo sobre os fatos e ações das personagens e relação as práticas sociais dos estudantes.
Resultados: As atividades organizadas de leitura com a crônica revelaram que este gênero literário permitiu que os estudantes entrassem em contato com a reflexão, a criticidade e o pensar sobre a realidade posta, elementos essenciais capazes de superar a aparência dos fenômenos e possibilitar sujeitos transformadores.
Considerações: Consideramos, portanto, que a literatura, em especial a crônica, é fundamental enquanto instrumento capaz de aproximar os sujeitos a diferentes realidades de modo que a eles sejam dadas as oportunidades de tomada de consciência sobre suas próprias ações no mundo.
Referências: ADOLFO, Sérgio Paulo. Literatura e visão de mundo. In: REZENDE, Lucinea Aparecida de (Org.). Leitura e Visão de Mundo: Peças de um quebra-cabeça. Londrina: EDUEL, 2007. p. 25-36. KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. SALES, Rafael dos Santos Fernandes. A sociologia da literatura de Georg Lukács. Senso Comum, Goiás, n. 1, p. 67-75, 2009. VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
Palavras-chave: crônica; práxis; anos iniciais do Ensino Fundamental.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 18
Local: Sala do LAE (1º and./Bl. D) - Prédio Principal - FE/Unicamp
VOOS POÉTICOS: PRÁTICAS DE LEITURA DE CECÍLIA MEIRELES NO 6º ANO DO CAP UFRJ
Lorenna Bolsanello de Carvalho (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Em 2022, muitas escolas brasileiras se depararam com desafios do retorno integral ao ensino presencial após o período de isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19. A necessidade de ressocialização de estudantes e trabalhadores foi atravessada pelas urgências do cotidiano escolar. Dificuldades inúmeras se interpunham nas relações não apenas com o chão da escola, mas também com seus atores. Na busca por produzir paraquedas coloridos para que pudéssemos aterrissar melhor da constante queda que parecia se impor à educação (KRENAK, 2019), acreditamos em práticas pedagógicas que pudessem resgatar o sensível. Com essa perspectiva, durante o 3º trimestre do ano letivo, os estudantes do 6º ano do Colégio de Aplicação da UFRJ realizaram práticas de leitura de poemas de Cecília Meireles. O presente trabalho tem como objetivo compartilhar os percursos traçados no contato com a autora e com sua poesia, proposta que se revelou uma potente experiência de ressignificação do olhar para o coletivo. As práticas de leitura partiram do livro As palavras voam, organizado por Bartolomeu Campos de Queirós, com poemas de autoria de Cecília Meireles. Com o incentivo do PNLD Literário, cada estudante pode receber um exemplar desse livro (devolvido ao final do ano letivo para reutilização pelos estudantes do ano seguinte). Com o livro físico em mãos, pudemos realizar práticas de leitura de conscientização e valorização do objeto-livro (CHARTIER, 2011); declamações e trabalhos de leitura em voz alta individuais e em grupos (ZUMTHOR, 2018); práticas “corpoéticas”, que envolvem a conscientização da relação entre corpo e leitura poética. Além disso, os estudantes tiveram a oportunidade de produzir poemas a partir de questões e de estímulos diversos. Essas práticas se relacionaram com os conteúdos curriculares de Língua Portuguesa do 6º ano. Assim, foi possível aprender e ensinar conteúdos como onomatopeia, interjeição e pontuação como recursos expressivos para a composição de poemas. A possibilidade de expressão a partir do sensível incentivou a integração das turmas e a ressignificação dos conflitos que vivenciávamos. O estudo da poética de Cecília foi extremamente interessante para o momento por que passávamos, já que a poeta expressa em seu lirismo temas sensíveis que marcaram também nosso tempo presente: a efemeridade da vida, a dor da perda e a permanência da esperança. Foi relevante para o trabalho o fato de que a múltipla Cecília era também educadora, sendo suas perspectivas pedagógicas inspirações para o projeto desenvolvido. Espero, com este trabalho, compartilhar voos que contribuam com a formação de leitores literários capazes de repensar criativamente o mundo.
Referências: CHARTIER, R. Práticas de leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2011.
KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. MEIRELES, C. As palavras voam. São Paulo: Global, 2018. ZUMTHOR, P. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Ubu Editora, 2018.
Palavras-chave: práticas de leitura; Cecília Meireles; educação.
CONTOS PÁTRIOS: ESTUDO SOBRE OS NACIONALISMOS
EM LIVROS ESCOLARES NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930)
Luiz Fernando da Costa Soares (UERJ)
A Primeira República (1889-1930) foi o período em que o Brasil vivenciou um forte movimento de reconstrução da identidade nacional, do fortalecimento dos símbolos da pátria e dos costumes esperados por uma nação modernizada. Com esse esforço, muitos autores fizeram o movimento de criar livros escolares de leitura para tornar esse conteúdo palpável, criando um conjunto de símbolos a fim de nutrirem no leitor um sentimento de unidade. A justificativa é que por meio da educação, temas como a moral e a civilidade pudessem tornar a sociedade mais modernizada. Com o intuito de entender essa escrita e como esse material pode ter impactado as gerações futuras e a formação dos jovens no período estudado, o presente trabalho visa estudar o livro escolar de leitura intitulado Contos Pátrios (para as crianças) (1906) de Olavo Bilac (1865-1918) e Coelho Netto (1864-1934). Ao analisar os 23 contos, busca-se entender como o conteúdo ajudou a difundir a visão sobre nacionalismo, símbolos e, também, entender como a obra desenha e justifica o papel dos negros e indígenas na história da pátria. Os contos abordam, de forma geral, temas como o cultivo de virtudes e o civismo, além de mostrar a preocupação dos autores em direcionar a leitura para o cultivo de figuras heroicas, a noção de unidade espacial com a descrição das belas paisagens que pertencem ao Brasil. Quais problemas para a educação esse tipo de material pode trazer? Será que o desenho nacionalista contempla a história indígena e dos negros de forma verdadeira ou como uma proposta de justificar e explicar a exclusão social dessas pessoas na época? Sob a luz da abordagem de Roger Chartier (1988), a pesquisa visa entender como a construção de um imaginário social a partir de parcela dominante da população pode gerar conteúdo escolar que acaba por excluir e florear assuntos que não eram bem resolvidos e respeitados pelos detentores do poder durante a Primeira República.
Referências: BILAC, Olavo Brás Martins dos Guimarães; COELHO NETTO, Henrique Maximiano. Contos Pátrios (Para as crianças). Rio de janeiro: Francisco Alves, 1906.
CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1988. CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. 2. ed. Brasília: EUB, 1999.
Palavras-chave: identidade nacional; história cultural; literatura infantil; livro escolar; Primeira República.
MODOS DE FALAR EM VIDA JUVENIL: ARTICULAÇÃO ENTRE
IMPRENSA, CURRÍCULO E ENSINO SECUNDÁRIO (1949-1959)
Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza (Universidade do Estado do Rio de Janeiro); Victor Soares Rosa (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Este trabalho busca compreender e analisar modos de se ensinar conteúdos da gramática da língua portuguesa no âmbito de uma revista destinada à juventude entre os anos de 1949 e 1959. Trata-se da coluna Modos de Falar que compõe a revista Vida Juvenil. O problema consiste em compreender quais conteúdos de língua portuguesa constam na Lei Orgânica do Ensino Secundário e são veiculados em Modos de Falar,
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
de Vida Juvenil, de modo a observar aproximações e afastamentos entre ambas as fontes adotadas. Dois objetivos principais pautam a elaboração deste estudo, a saber: a) analisar a materialidade, as estratégias de mobilização de seu público leitor e o caráter instrutivo de Vida Juvenil; e b) cotejar as orientações educativas concernentes ao ensino de língua portuguesa presentes na referida coluna à luz do currículo do ensino secundário vigente. De modo a solucionar o problema e atingir os objetivos, empreende-se uma pesquisa histórica e documental, descritiva e qualitativa, cujo campo empírico de análise consiste nos próprios números de Vida Juvenil disponibilizados na Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional. No plano teórico-metodológico, opera-se com trabalhos que discorrem sobre impressos e educação (NUNES; CARVALHO, 1993), história das disciplinas e dos conteúdos escolares (CHERVEL, 1990), ensino secundário e escolarização da juventude brasileira (ARAÚJO, 2019) com ênfase no ensino de língua portuguesa (RAZZINI, 2000). Percebese, por meio da articulação proposta, que os saberes circulados em Modos de Falar, de Vida Juvenil, buscam orientar os jovens leitores a que se destinam sobre conteúdos como norma-culta, concordâncias verbal e nominal, transitividade e intransitividade verbal, regência, entre outros. Tais conteúdos, por sua vez, mostram importante aproximação com o currículo sugerido para o ensino secundário brasileiro.
Referências: ARAÚJO, Marta Maria de. Frente e verso do debate da educação secundária e do ensino secundário (1942-1961). In: CASTRO, Cesar Augusto (Org.). Ensino secundário no Brasil: perspectivas históricas. São Luís, MA: EdUFMA, 2019. p. 59-78. CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Teoria e educação, Porto Alegre, n. 2, p. 177-229, 1990. NUNES, Clarice; CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Historiografia da educação e fontes. Cadernos ANPEd, Porto Alegre, n. 5, p. 7-66, 1993. Disponível em: https://anped. org.br/sites/default/files/caderno_anped_no.5_set_1993.pdf. Acesso em: 25 out. 2022. RAZZINI, Marcia de Paula Gregorio. O espelho da nação: a antologia nacional e o ensino de português e de literatura (1838-1971). 2000. Tese (Doutorado em Teoria Literária) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2000. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalhe/199827. Acesso em: 25 out. 2022. Palavras-chave: modos de falar; vida juvenil; ensino secundário; ensino de língua portuguesa; impresso.
LITERATURA EM REVISTA: ERICO VERÍSSIMO E O CASO DO PERIÓDICO A NOVELA (1936-1938)
Michele Ribeiro de Carvalho (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ GRUPEEL UERJ);
Aline Santos Costa de Lemos (Smec Itaguaí/GRUPEEL UERJ); Gabrielle Carla
Mondêgo Pacheco Pinto (SME Rio de Janeiro/GRUPEEL UERJ)
Este estudo tem por objetivo analisar a atuação de Erico Veríssimo (EV) como um intelectual mediador (RODRIGUES, 2016) ao longo da década de 1930, momento em que iniciou uma longa parceria com a Editora Globo (EG), de Porto Alegre. Para o alcance dos objetivos, algumas perguntas emergem: Como a atuação de Erico Veríssimo na década de 1930 pode ser compreendida? Havia um projeto literário do escritor e da EG? Para além destes questionamentos, também cabe problematizar a materialidade do impresso e o tipo de público leitor esperado pela equipe
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
editorial. As análises teóricas e a abordagem metodológica do estudo ancoram-se em pressupostos extraídos da História do Impresso e da Leitura, notadamente, nas pesquisas realizadas por Chartier (1996), assim como nas pesquisas de Luca (2017) e Martins (2008). A década de 1930 viu surgir periódicos de caráter comercial, que disputavam a preferência do leitor. Essa efervescência pode ser, em parte, explicada pelas condições de exercício da atividade intelectual, cujas possibilidades ampliaram-se significativamente nestes anos (LUCA, 2017). Pouco se fala sobre a atuação de EV a frente da revista A Novela, um projeto de difusão da literatura, que tinha como um dos objetivos oferecer traduções de romances às camadas mais populares. Assim, a análise da revista torna-se imperativo, já que, entendida como um espaço de educação não-formal, visava seduzir e formar leitores, além de ser eficaz instrumento de propagação de valores culturais, dado seu caráter condensado, ligeiro e de fácil consumo (MARTINS, 2008). A revista circulou de 1936, quando EV começava a se afastar da direção da Revista do Globo, a 1938, somando 27 meses. De circulação mensal, o periódico tinha um número fixo de páginas – 192 –, utilizava papel de segunda linha, além de apresentar margens estreitas, capa mole e sem orelhas, em formato aproximado de 22x15 cm. Isso lhe garantia um valor de capa de 2$000 (dois mil réis), bem abaixo dos 8 mil réis cobrados pelos livros da EG. Cada edição apresentava um texto principal, que servia como atrativo de capa ao ser base para sua ilustração, além de outros menores, traduzidos dos idiomas francês e inglês. A intenção de Veríssimo e da EG era de fazer a revista literária circular por todo o país, aumentando o número de leitores e, consequentemente, o de compradores. De acordo com a divulgação evidenciada nas páginas da revista, tratava-se de uma publicação que prezava por romances bem escritos e bem traduzidos, apostando também em contos e notícias sobre a literatura brasileira, tudo isso sem adentrar em questões políticas, filosóficas ou religiosas. Como a materialidade do impresso também é ponto de análise, procura-se demonstrar como a equipe editorial da EG, incluindo EV, buscava alternativas de barateamento dos impressos, sem descuidar do design e das ilustrações (RAMOS, 2016). Por fim, espera-se, com essa análise, contribuir com o campo da História da Educação, dos Impressos e da Leitura. Palavras-chave: impresso; Editora Globo; revista literária.
O TEXTO LITERÁRIO NA PERSPECTIVA DOS MULTILETRAMENTOS E
MULTIMODALIDADES: O CONTO O AMIGO DO REI, DE RUTH ROCHA
COMO INSTRUMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA
Renata de Mello Santos Leviski (MPPEB – Colégio Pedro II); Elaine de Barros Manhanini Sampaio (MPPEB – Colégio Pedro II)
Na prática escolar da educação básica, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, o texto literário é um gênero cada vez mais presente nas propostas escolares. Sobre isso, Colomer (2007) afirma que é “evidente que a leitura literária acessível aos alunos ganhou espaço nas aulas” (p. 31) pois “formar os alunos como cidadãos da cultura escrita é um dos principais objetivos educativos da escola” (p. 30). Além disso, a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), enquanto documento normativo, expressa que as atividades que compõem os eixos da oralidade, leitura e escrita não podem ser tomadas como um fim em si mesmas, devendo envolver
os alunos em práticas de reflexão que lhes permitam ampliar suas capacidades de uso da língua e das linguagens. O presente relato de experiência narra uma proposta pedagógica desenvolvida com crianças do terceiro ano do ensino fundamental, em uma escola da rede federal de ensino, na cidade do Rio de Janeiro. As atividades partem de uma narrativa literária e se desdobram em ações que envolvem a oralidade, a leitura e a escrita, permeadas pelas reflexões acerca do racismo, de práticas de reconhecimento, representatividade e valorização da cultura africana. Uma Sequência Didática (SD) foi desenvolvida apresentando possibilidades de interações múltiplas entre as crianças e professores, com o livro de literatura infantil e também com outros instrumentos utilizados para registros de imagens e textos, tais como o celular e o computador. Os objetivos e desenvolvimento das propostas se orientaram pelo entendimento de três eixos teóricos: multiletramentos, multimodalidades e a educação para as relações étnico raciais. O livro escolhido para o trabalho foi “O amigo do Rei” onde a autora Ruth Rocha apresenta uma relação de amizade interracial entre duas crianças, que, dado ao contexto histórico, não seria comum. É evidente que a escola, enquanto instituição social, ainda precisa avançar muito nas escolhas curriculares, estratégias e avaliações, enfim, em toda sua macro e microestrutura de modo a aumentar sua contribuição na formação de indivíduos negros e brancos que conheçam, respeitem e valorizem as contribuições culturais africanas para além dos padrões etnocentrados. Sendo assim, por todas as possibilidades que o livro literário oferece, tanto pela dimensão estética, ética, como pela compreensão da importância do letramento literário (COSSON, 2021) para a formação leitora das nossas crianças, é a partir dele que toda proposta de ensino narrada nesse relato foi pensada. A atividade fundamentou-se, principalmente, nas obras de BRAUM (2009), COLOMER (2007), COSSON (2021), KENSKI (2011), LIMA (2019), ROJO (2018) e ZABALA (1998). Palavras-chave: relato de experiência; literatura infantil; multiletramentos, Sequência Didática.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 19
Local: Sala ED 01 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
RUA E A ESCOLA: PALAVRA, PALAVRÃO
Cilene Maria Valente Silva (SEDUC – BELÉM – PA);
Lorena Bischoff Trescastro (CEP Getúlio Vargas, Belém – PA)
Esta investigação fundamentada em B foi organizado com o objetivo de investigar a expressiva incidência do uso do Palavrão na linguagem dos alunos do Ensino Médio, longe de considerar o uso do palavrão na perspectiva da moralidade ou como um tabu e seguir reprimindo a linguagem dos alunos no ambiente escolar como sendo um local de excelência que simplesmente necessita de um vocabulário acadêmico, a ideia foi problematizar o intenso uso do palavrão na perspectiva de desvelar o sentido que ele assume nas relações, nas interações que os alunos estabelecem no ambiente de educação formal e suas relações como a Rua o lugar que se materializa o mundo que precede a leitura da palavras. Assim organizamos as seguintes questões norteadoras: por que os alunos usam o palavrão em suas interações sociais no ambiente escolar? Qual o sentido do uso do palavrão na linguagem proferida pelos alunos no ambiente escolar? Os alunos fazem uso do palavrão fora do espaço escolar? A população investigada foi de 90 alunos que compõem 3 turmas do Ensino Médio em escola localizada no norte do país em Belém do Pará. A metodologia utilizada se constituiu inicialmente pela problematização da incidência do uso de palavrão pelos alunos, elaboração e aplicação de questionário nas turmas, tabulação e análise dos questionários, divulgação dos resultados aos alunos, escuta dos alunos, elaboração do glossário dos sentimentos de quem escuta o palavrão, leitura em voz alta do texto sobre o uso do palavrão. O resultado da investigação revelou que o uso do palavrão é um instrumento de agressão ao outro, sendo uma expressão da violência, assim, foi possível refletir sobre a banalização da violência que consiste ao usar o palavrão para agredir, pois como nos diz Hannah Arendt (1999) o mal banal é realizado por indivíduos que pensam sem as devidas reflexões, sem apreciações ou análises, indivíduos que não pensam em direção ao ambiente público e a coletividade, dos outros. Palavras-chave: palavrão, linguagem; escola; violência.
PAISAGENS URBANAS: UMA LEITURA POÉTICA DAS RUAS
Cláudia Regina Lemes (Secretaria Estadual de Educação); Paulo Roxo Barja (Universidade do Vale do Paraíba)
Os movimentos acelerados das pessoas no meio urbano (atravessar ruas, parar nos faróis, seguir trajetos determinados rumo ao destino) são muitas vezes automáticos e levam a uma invisibilidade do entorno. Por outro lado, o flaneur benjaminiano encontra tempo para ler os detalhes da paisagem. A fotografia, em particular, recorta a realidade que se escolheu interpretar; a imagem não é “a verdade integral”, mas um testemunho (necessariamente parcial) da verdade. Nas ocasiões sociais em que se tira fotos indiscriminadamente, fotografar pode ser quase uma agressão; por outro lado, quando as fotos são casuais, a imagem pode efetivamente traduzir uma experiência. Assim, conforme o contexto, a câmera pode ser comparada
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
a uma arma e fotografar alguém pode ser algo como um assassinato sublimado (SONTAG, 2004), mas as fotos também podem traduzir uma leitura do mundo. Já que o homem metropolitano desenvolveu um modelo de vida em que o olhar frio, racional, substitui a capacidade de olhar com a surpresa infantil de quem vê pela primeira vez, nosso trabalho busca resgatar este olhar de surpresa. Partimos da ideia de que todas as expressões humanas podem ser concebidas como linguagem e, assim, pensadas em sua dimensão simbólica. Utilizamos então as lentes de Benjamin (2018) para perceber a poesia visual urbana que brota das imagens diárias a que somos submetidos na cidade. O presente trabalho teve por objetivo realizar registros fotográficos durante caminhadas em meio urbano, buscando ressignificar imagens cotidianas a partir da prática do olhar sensível.
Metodologia: Utilizou-se a câmara de um aparelho celular para fotografar pessoas e elementos da arquitetura urbana. As imagens foram registradas ao longo de três dias de caminhada, seguindo o trajeto normal das atividades diárias e buscando construir uma espécie de crônica visual da urbanidade para leitura posterior. Utilizou-se um aparelho celular Samsung Galaxy J6; os registros foram feitos em São José dos Campos e São Paulo. Foram feitas pouco mais de 100 fotos, efetuando-se posteriormente a seleção de 15 imagens. Para cada uma destas, criou-se uma frase poética que foi sobreposta à fotografia com uso de aplicativo de edição de imagem, buscando chamar a atenção do leitor/espectador para algum aspecto inusitado.
Discussão: Ainda que a indústria cultural tenha dado à fotografia (em certos contextos) o status de arte, a atividade fotográfica acaba por dar a sensação de que se pode reter o mundo; assim, para a maioria das pessoas, fotografar é um rito obrigatório e, no contexto de redes sociais, fotografias podem revelar-se instrumentos de afirmação e de poder. Isso não impede, no entanto, a sobrevivência do olhar flaneur de Benjamin, nestes tempos em que o olhar lírico, em plena rua, é atividade de resistência.
Referências: BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Porto Alegre: L&PM, 2018. SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Palavras-chave: cidade; fotografia; poesia; paisagem.
VOLTAR À RUA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO:
REFLEXÕES SOBRE O RETORNO À ESCOLA A PARTIR
DO RELATO DE ESTUDANTES DE LICENCIATURA
Érika Menezes de Jesus (Instituto Federal Fluminense)
Não é mais novidade que, a partir de março de 2020, as instituições de ensino precisaram modificar seu modus operandi a fim de se adaptarem à necessidade de distanciamento social. Em relação aos cursos de graduação de licenciatura, não foi diferente. Nesse contexto específico, houve ainda a necessidade de rearranjar o Estágio Curricular Supervisionado, parte obrigatória da formação. Por essa razão, os cursos de Licenciatura no Instituto Federal Fluminense, campus Campos Centro – localizado no Estado do Rio de Janeiro, município de Campos dos Goytacazes – desvincularam a prática do estágio à ida ao campo, ou seja, às escolas de educação básica e atividades aproximadas ao cotidiano escolar foram pensadas e desenvolvidas durante os semestres dos anos de 2020 e 2021. O retorno às
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
atividades presenciais se deu a partir do primeiro semestre de 2022. Desse modo, emprestando à palavra “rua” o sentido conotativo de “após período pandêmico que ocasionou o afastamento das pessoas e profissionais de seus espaços de convivência e trabalho” volta à presencialidade das relações e, neste caso específico, o retorno ao espaço escolar, este trabalho objetiva a partir do relato escrito de licenciandas do curso de Licenciatura em Letras “Português e Literaturas” o refletir sobre esse impacto em seus processos formativos e na própria constituição do estágio. Trata-se de um pequeno recorte da experiência, no trabalho docente, desenvolvida em dois momentos distintos: durante atividades não presenciais e no retorno das atividades presenciais ocorridas na disciplina responsável pelo estágio tendo como base a escrita das “considerações finais” dos relatórios. Entendendo que o relato expressa a leitura que essas estudantes fizeram desses períodos no processo de formação acadêmicoprofissional (DINIZPEREIRA, 2021), que a constituição da docência, e de si, envolve também o período em que se cursa a licenciatura (NÓVOA, 2022) e que reflexãoação, bem como teoria-prática são processos imbricados e constituintes do sujeito em processo de libertação (FREIRE, 2017), faz-se necessária a reflexão de como essas pessoas vivenciaram as modificações do contexto e também como atribuem sentido a si, aos contextos e à escola como espaço legítimo de formação docente.
Referências: DINIZ-PEREIRA, J. E.; FLORES, M. J. B. P.; FERNANDES, F. S. Princípios gerais para a reforma dos cursos de licenciatura no Brasil. Interfaces da Educação, Paranaíba, v. 12, n. 34, p. 589-614, 2021. FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 64. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017. NÓVOA, A. Escolas e professores: proteger, transformar, valorizar. Salvador: SEC/IAT, 2022.
Palavras-chave: relatos; estágio Supervisionado; formação de professores; ensino remoto; ensino presencial.
CAMINHAR, CATAR, DESACELERAR: ATMOSFERAS, ESCRITAS E ENCONTROS COM AS RUAS
Gabriela de Sousa Tóffoli (Universidade Federal do Paraná); Thalita Alves Sejanes (Universidade Federal do Paraná); Kátia Maria Kasper (Universidade Federal do Paraná) Caminhar e parar. Caminhar e parar e caminhar, atravessando a cidade, tempos brutos, emergências, rios invisíveis, sendo atravessadas por intensidades, e, e, e. Por trajetos, ficcionalizar, colocando o corpo em jogo, a cidade em jogo. Caminhar se delineia com uma prática filosófica (GROS, 2010). Como experimentar escritas, aprendizagens, com as ruas, acolhendo o imprevisto e a invenção? Gestos que abrem outras possibilidades de vida. Como não deixar de agir (DELIGNY, 2015)? Esse trabalho se desenha com o encontro de pesquisas que envolvem perambulações e criações com a cidade. Propõem-se a invenção de procedimentos, jogos para ampliar possibilidades, ocasiões, atenções outras que façam tropeçar a razão e produzir variações, corpos capazes de serem afetados (LATOUR, 2018). Operar dissensos, cosmopolíticas (STENGERS, 2018). Caminhar e cartografar (ROLNIK, 2006) encontros e leituras, singularidades, inventividades e processos de subjetivação. Inventando mapas por vir. Catar, verbo que convoca movimento, encontrar objetos, coisas, nas praças, nas ruas, nas sarjetas. Inservíveis. Escrever a partir da disponibilidade, movidas pela abertura radical para a cidade e suas intensidades. (SEJANES, 2020). Tomar as
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
ruas como espaços de experimentação (KASPER, 2016). Escrever com os restos e com os afetos que surgem, entre nós, entre as coisas, entres as ruas, compondo no entre, compondo com o que encontramos e o que nos encontra (TOFFOLI, 2019).
Referências: DELIGNY, Fernand. O aracniano e outros textos. Tradução de Lara de Malimpensa. São Paulo: n-1 edições, 2015. GROS, Frédéric. Caminhar, uma filosofia.
Tradução de Lília Ledon da Silva. São Paulo: É Realizações, 2010. KASPER, Kátia Maria. Perambulações entre travessias e devires em cartografias de-formativas. VICENTINI, Paula Perin; CUNHA, Jorge Luiz da; CARDOSO, Lilian Auxiliadora Maciel. (Org.). Experiências formativas e práticas de iniciação à docência. 1. ed. Curitiba: CRV, 2016, v. 2. p. 295-314. LATOUR, Bruno. Como falar do corpo? A dimensão normativa dos estudos sobre a ciência. In: NUNES, João Arriscado; NUNES, Ricardo. Objectos
Impuros: Experiências em Estudos sobre a Ciência. Porto: Afrontamento, 2008. ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. Porto Alegre: Sulina, 2006. TÓFFOLI, Gabriela de Sousa. Hortas urbanas e modos de vida minoritários. Orientadora: Kátia Maria Kasper. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e em Matemática) – Setor de exatas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019. SEJANES, Thalita Alves. Trajetos – processos de uma criação selvática pela cidade. Orientadora: Kátia Maria Kasper. 2020. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e em Matemática) – Setor de exatas, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2020. STENGERS, Isabelle. A proposição cosmopolítica. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 69, p. 442-464, abr. 2018. Palavras-chave: cidade; caminhar; escrever.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
08/02/2023 (quarta) - 14h às 15h45 - Sessão 20
Local: Sala ED 02 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
PROJETO LUGARES DE LER: NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOROCABA
Leila Regina Oliveira Chinelatto (Universidade de Sorocaba)O objetivo da pesquisa é o de refletir sobre as contribuições da literatura infantil para os estudantes, por meio dos projetos de leitura da Rede Municipal de Educação de Sorocaba, em especial o Projeto Lugares de Ler, e investigar as contribuições para o desenvolvimento dos estudantes da educação infantil e formação de professores. Como desenvolver comportamento leitor dos estudantes, desde a primeiríssima infância? As atividades de manuseio de livros literários ainda na primeiríssima infância não têm a intenção de alfabetização e nem de leitura formal, mas sim de desvendar e adentrar o mundo letrado por meio de olhar infantil. Descobrir de onde vêm as histórias, materializa o alicerce dessa casa, que mesmo imaginária pode abrigar um gigantesco edifício, lúdico e criativo, conforme relata Reyes (2010). Encontrar livros em meio às fraldas, brinquedos e mamadeiras, têm se tornado algo normal nas escolas de educação infantil da rede municipal de Sorocaba. Projetos de leitura foram implantados desde 2014, ano em que foi inaugurada a primeira bebeteca, no Centro de Referência em Educação. Buscando informações sobre políticas públicas, deparamo-nos com o histórico de algumas legislações e programas de leitura, como o PNBE (Programa Nacional Biblioteca na Escola), e o Plano Nacional de Educação (PNE). No PNE (Lei 13.005/2014), a meta 5 trata da alfabetização de todas as crianças de seis a oito anos de idade, no ensino fundamental. Aponta como necessária a elaboração de projetos e métodos pedagógicos, assegurando resultados na alfabetização e incentivando a práticas de leitura. O desenvolvimento tecnológico proporciona contato com as mídias e mesmo essas, precisam ser interpretadas por um leitor competente. Para garantir espaços adequados às atividades de leitura, a rede municipal de educação mantém e amplia as ações com recursos próprios e advindos dos programas de políticas públicas. A inovação no Projeto Lugares de Ler no ano de 2022 foi a criação de 44 bebetecas, nos Centros de Educação infantil, atendendo crianças de 0 a 6 anos. Essa pesquisa foi elaborada por meio de consulta bibliográfica específica da literatura infantil, investigação documental relacionada às políticas públicas nacionais e municipais. Utiliza ainda fontes primárias, relatórios e depoimentos dos professores integrados ao projeto.
Referências: BRASIL. Plano Nacional de Educação, PNE, 2014. Disponível em: https:// pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-deeducacao/543-plano-nacional-deeducacao-lei-n-13-005-2014. Acesso em: 10 de agosto de 2022. BRASIL. Ministério da Educação. Programa Nacional Biblioteca na Escola, 2022. Disponível em: http:// portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola. Acesso em: 03 de set. 2022. REYES, Yolanda. A casa imaginária. Leitura e literatura na primeira infância.
São Paulo: Global Editora, 2010.
Palavras-chave: literatura infantil; bebeteca; políticas públicas.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A
E A LEITURA: CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO FUTURO UERJ
UNIVERSIDADE
Luiza Barboza Braz (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Este estudo busca refletir sobre as desigualdades sociais no âmbito da literatura, analisando a proposta do projeto Futuro UERJ, cujo objetivo é garantir o direito dos indivíduos mais afetados por essa realidade, promovendo a leitura completa do livro de redação do Vestibular Estadual 2023. Criado no contexto pandêmico, esse projeto tem como pressuposto democratizar o acesso à universidade pública, em específico, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), oferecendo um ambiente de acolhimento para os estudantes das classes populares aptos às vagas reservadas. Seu compromisso está ligado à função de garantir a continuidade e acesso ao ensino superior, previsto no artigo 205 da Constituição Federal. Partindo do conceito de capital cultural (BOURDIEU, 2010) e dialogando com o projeto de extensão Rodas de Leitura Literária na EDU, a equipe do Futuro UERJ idealizou as Rodas de Leituras Compartilhadas, que visam garantir o direito democrático dos estudantes de acessar o livro e a cultura. O projeto desenvolve-se por meio de rodas de leitura compartilhada que ocorrem mensalmente. O objetivo desses encontros é familiarizar os vestibulandos com a linguagem acadêmica, promover a leitura crítica do livro Não me abandone Jamais, estabelecer um espaço de acolhimento e diálogo das experiências com a leitura, e, por último, democratizar o acesso ao livro, um instrumento cultural ainda inacessível para a maior parte da população. No artigo científico O desafio da democratização da leitura, Neide Mendonça reflete sobre como a desigualdade social e a falta de acesso ao livro atinge diversos sujeitos, incluindo os alfabetizados. O aluno brasileiro de maneira geral jamais foi orientado a ler de uma maneira proveitosa, considerando-se a defasagem linguística e a falta de interesse governamental de fazer o livro chegar às classes menos favorecidas (MENDONÇA, 2000). A partir dessa perspectiva, o alcance do projeto está destinado a jovens, adultos e idosos em processo de inserção no meio acadêmico. Tendo como base a lei nº 13.696 de julho de 2018, nomeada por Política Nacional de Leitura e Escrita.
Referências: BOURDIEU, P. Os três estados de capital cultural. Anais de Pesquisa em Ciências Sociais, c. 30, p. 3-6, 1979b. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, Art. 205. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. BRASIL. Lei n. 13.696, de 12 de julho de 2018. Institui a Política Nacional de Leitura e Escrita. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/Lei/L13696.htm Acesso em: 23 de outubro de 2022. MENDONÇA, Neide. O desafio da democratização da leitura. Maxwell PUCRio, 2000. Disponível em: https:// www.maxwell.vrac.puc-rio.br/3096/3096.pdf. Acesso em: 05 de outubro de 2022.
Palavras-chave: democratização do acesso à universidade; futuro UERJ; rodas de leitura compartilhada.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
EMOÇÕES E LEITURA: A VERGONHA DA CONDIÇÃO NÃO-LEITORA
Luzmara Curcino (Universidade Federal de São Carlos)
Em consonância com as pesquisas que venho realizando e orientando junto ao Laboratório de Estudos da Leitura (LIRE/CNPq – UFSCar), dedicadas à análise de discursos sobre a leitura, neste trabalho objetivo descrever e interpretar enunciados que materializam certas emoções relacionadas ao ato de ler e à condição leitora. Dentre as emoções que mais regularmente tenho observado frequentar esses enunciados, e que, por essa razão, tem sido objetivo privilegiado de minhas pesquisas atuais, encontram-se a “vergonha” e o “orgulho”. Tenho buscado depreender nas análises as propriedades mais constantes dessas emoções que constituem os discursos hegemônicos sobre a leitura e o leitor, como também eventuais dissidências discursivas em sua materialização, descrevendo e interpretando processos, formas e fenômenos da constituição, da formulação e da circulação desses discursos – e dos estados anímicos por eles previstos – em nossa sociedade na atualidade. A partir desse pressuposto sobre a atuação discursiva na constituição das práticas de leitura e na identificação dos sujeitos com a condição leitora, vou apresentar uma breve análise de enunciados obtidos juntos a textos da mídia impressa de grande circulação do Brasil, nos quais se exploram a emoção da “vergonha” de (não) ler. Para a execução desta proposta, apoio-me teórica e metodologicamente em postulados e noções da Análise do discurso, sobretudo, daquela derivada de Michel Foucault, na História cultural da leitura, em especial, a empreendida por Roger Chartier, assim como em reflexões provenientes do campo da Sociologia da distinção cultural, concebida por Pierre Bourdieu. A essas perspectivas, associo a recente abordagem das emoções empreendida pela História das sensibilidades, tal como ela tem sido praticada por Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine e Georges Vigarello, entre outros.
Palavras-chave: discursos sobre a leitura; leitor brasileiro; emoções; vergonha; orgulho.
LETRAMENTO LITERÁRIO E DECOLONIALIDADE:
PRÁTICAS IDENTITÁRIAS
Moema de Souza Esmeraldo (UFRR)
Este trabalho tem como objetivo discutir a importância da literatura e do letramento literário no que tange ao ensino uma vez que promover o acesso à literatura se torna um direito alienável, como assegura Candido (2004, 1972), especialmente, na perspectiva decolonial cujos indivíduos – de quaisquer grupos sociais – e suas respectivas identidades são respeitados. Giroux (1999) admite que as escolas são como espaços de luta e os sujeitos envolvidos no processo educacional são os responsáveis por usar o conhecimento crítico para a tomada de consciência das condições de dominação. Portanto, problematizar práticas pedagógicas que envolvem a articulação entre a perspectiva de letramento literário como prática social de exercício de leitura e escrita, tendo como referência Rildo Cosson (2006) e Kleiman (2005), bem como a representatividade dos diversos grupos sociais é fundamental no processo de construção de uma sociedade mais justa e de uma educação mais inclusiva e menos excludente. Para Mignolo (2007), os pressupostos da decolonialidade investigam o sistema eurocêntrico e hierarquizado com o
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
qual busca-se romper. Nesse sentido, Kleiman (2005), por exemplo, expõe que o letramento envolve práticas sociais que usam a leitura em seu determinado contexto histórico, respeitando as diversidades que constituem a sociedade brasileira. Desse modo, o próprio conceito de letramento e o de letramento literário trazem em si a ideia de contato com as diferentes situações comunicativas e de apropriar-se do texto, ou seja, torná-lo, de algum modo, mais próximo, algo de seu e de sua realidade. Trata-se, portanto, de ampliar espaços para: dialogar, conhecer (-se) e, principalmente, conviver com o diverso – e também o que já é familiar, pois há espaço para todos. Nesse sentido, pensamos que a literatura como instrumento de emancipação do sujeito (SOARES, 1988) por possibilitar a ressignificação de discursos padronizados impostos pela sociedade. Para tanto, é necessário propor práticas pedagógicas de letramento literário a partir de diferentes autores, provenientes de diferentes corpos sociais invisibilizados historicamente (HOOKS, 2017).
Palavras-chave: literatura; letramento; educação.
MEDIAÇÃO DE LEITURA: A LITERATURA NOS PARQUES E RUAS
Simone Cristiane Schiavon Ayres (Academia Popular de Letras de São Caetano do Sul)
Introdução: Ao se pensar na literatura nos parques da cidade de São Caetano do Sul, torna-se essencial pensar nas mediações de leitura. Objetivo: O objetivo foi desenvolver mediações de leitura no parque, para despertar o gosto pela leitura literária.
Metodologia: Parafraseando Candido (2004), a literatura é de suma importância para o indivíduo, ou seja, é essencial como um alimento. Com este propósito, a literatura foi concebida nos parques da cidade, através das mediações de leitura. De acordo com Vygotsky (2010), vemos na mediação de leitura um caminho possível, o termo “mediação de leitura” refere-se à interação entre o leitor e o texto, mediada por um leitor experiente. Por este motivo, as mediações foram mensais nos parques e mediadas por um leitor experiente. A primeira mediação “Brincadeiras Literárias”: livro atrás, dado literário, boliche das letras, batata-quente do saber, amarelinha da leitura e lençol da leitura. A segunda mediação foi relacionada com as Olimpíadas no Japão “A Roda de Leitura Japonesa”. De acordo com Cosson (2016), a roda de leitura ajuda a desenvolver a formação do leitor e o prazer de ler. Com essa finalidade, a estratégia foi “O Patinete Literário” que percorria os parques com livros de Literatura para as famílias terem acesso a literatura. A próxima mediação “Pipoca Literária”, saco de pipoca com um texto literário, que era entregue às crianças e às famílias para a leitura. A mediação seguinte foi “A Caça ao Tesouro Literário”. As crianças no parque procuravam o tesouro com pistas literárias. A sexta mediação foi a “Árvore de Livros” e o “Guarda-Chuva Literário”, as famílias liam os livros de literatura que estavam pendurados. A mediação seguinte foi o “Piquenique Literário” com livros e frutas. A penúltima mediação foi realizada em julho “Arraial dos Livros” as barracas foram: boca do livro, argola literária, tomba livros, pesca livro e correio elegante. Para finalizar as mediações “A Cabana Literária Acessível” com livros em braile, audiolivros, livros de fácil compreensão, livros com imagens. Livros para todos. Portanto, a mediação de leitura no parque é necessária, pois a leitura favorece o desenvolvimento humano, estimulando-o em sua capacidade crítica e de reflexão, Jouve (2002).
Resultados obtidos: Com a execução deste projeto, pôde-se observar que a mediação
realizada nos parques, traz a criança e as famílias o conhecimento da literatura, de modo a ressignificar a leitura pelo gosto, fruição e deleite.
Considerações finais: A leitura de literatura tem por objetivo desenvolver, na criança, o gosto pela leitura. Por meios de estratégias e mediação, traz novos olhares para a leitura e, também para o incentivo da leitura pelo mediador. Assim, o gosto pela leitura torna-se realidade possível a todos.
Referências: CANDIDO, A. O direito à Literatura. 4. ed. São Paulo: Duas Cidades, 2004. COSSON, R. Letramento Literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2016.
Palavras-chave: mediação; leitura; literatura; inclusão; Círculos de Leitura.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 21
Local: Sala ED 04 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
UM OLHAR SOBRE A SOBRE A ARTE URBANA E SUA PRESENÇA NO TRABALHO PEDAGÓGICO
Aira Suzana Ribeiro Martins (Colégio Pedro II)
O homem, ciente de suas limitações e de seu desequilíbrio com o mundo, busca maneiras de preencher as incompletudes com experiências que possam promover sua integração com esse espaço, sendo a Arte uma delas. A necessidade de Arte já se observa nos desenhos encontrados as cavernas. Isso mostra que o homem, desde os tempos remotos, tinha a necessidade de se comunicar e de se expressar. Considerando a importância da Arte no trabalho pedagógico, este texto faz uma reflexão sobre a Arte Urbana que está ao alcance de todos, instalada nos espaços mais inusitados e, muitas vezes, despercebida pela falta de um olhar sensível sobre ela. Com o objetivo de educar o olhar do aluno para perceber a Arte, presente não só nas paredes e muros da cidade como também no interior do espaço escolar, este texto pretende discorrer sobre a importância dessa modalidade artística, sua influência na Arte Contemporânea e a possibilidade de seu aproveitamento no trabalho em sala de aula, pois o olhar atento poderá admirar mural instalado em instituição de ensino do Rio de Janeiro. Além do estudo do mural, será possível pesquisar sobre a obra das personalidades homenageadas: Ivone Lara, Lima Barreto e Adelina Gomes. Para a compreensão das produções artísticas da atualidade e para o suporte teórico necessário ao trabalho em sala de aula, buscou-se o auxílio nas reflexões de Morin (2011), de Kaminski (2019) e na teoria semiótica de extração peirceana, presente em estudos de Santaella (2001, 2003, 2015) e de Simões (2007).
Referências: KAMENSKY, A. P. dos S. O. (2019). Cultura popular e imaginário urbano na região metropolitana. Interação – Revista de Ensino, Pesquisa E Extensão, 20 (2), 54-62. Disponível em: https://doi.org/10.33836/interacao.v20i2.155. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2011.
OLIVEIRA, João Vicente Ganzarolli de. Arte e Beleza em Gerd Bornhein. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2003. PAULINO, Roseli. Street Art (Arte Urbana) em 04.09.2016.
Disponível em: http://www.arteeartistas.com.br/street-art-arte-urbana/. Acesso em: 12/10/2022. PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1975. SANTAELLA, Lúcia. As matrizes da linguagem e pensamento. Sonora, visual, verbal. São Paulo: FAPESP/Iluminuras, 2001. SANTAELLA, Lúcia. Semiótica Aplicada.
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.
Palavras-chave: arte; arte urbana; linguagens; universo escolar.
GESTOS MAIS QUE HUMANOS NO FIM DE MUNDO DO FILME NAUSICAÄ DO VALE DO VENTO (1984)
Ana Paula Valle Pereira (Universidade Federal Fluminense);
Shaula Maíra Vicentini de Sampaio (Universidade Federal Fluminense)
Este resumo nasce de uma pesquisa de Mestrado em Educação que buscou pensar com filmes que exploram o fim de mundo. Um deles, é o filme Nausicaä do Vale
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
do Vento (1984), uma animação japonesa que se passa em um momento pósapocalíptico mil anos após uma grande devastação da Terra pelos humanos. A partir desta, a vida prosperou de forma diferente e foi formado o Mar da Podridão em que vivem animais e plantas que liberam esporos tóxicos para a vida humana. Nos são apresentados três povos humanos, entre eles, o povo do Vale do Vento, o qual a princesa Nausicaä integra. Os habitantes do deste possuem uma relação mais próxima da terra e não desejam a morte, seja dos outros povos como dos outros seres, por isto, evitam a guerra. Os outros dois povos surgem na história buscando um confronto com os seres da floresta, já Nausicaä busca lançar gestos de encantamento, empatia e compreensão para estes. A pesquisa buscou lançar um olhar para estes gestos de fim de mundo entre os personagens humanos e mais que humanos no filme. Como cada ser reage ao gesto do outro? Quais gestos são possíveis no fim de mundo? Para Wiedemann (2021), os gestos nos desafiam “a pensar desde a margem de maneiras alternativas de ser movido e de se mover pelo mundo para além de uma imagem do pensamento humana demasiado humana que segrega ou aniquila modos de existência” (p. 6). Foram selecionados três gestos do filme. O primeiro nomeado de “Diferentes encontros mais que humanos” detalha uma cena em que Nausicaä se abre a um diálogo com os animais da floresta em comparação a outro personagem Asbel que, quando cai na floresta, ataca os insetos e eles reagem com fúria. Quem não reagiria a um ataque a partir da mesma lógica? Por que apenas os humanos podem responder com raiva? O segundo “Abertura ao outro” é uma cena de sacrifício de Nausicaä. Este é o ápice da sua abertura ao outro: ela entrega o próprio corpo como forma de pacificar os insetos que iriam atacar o Vale colocando-se na frente deles. Olhar para esta cena de sacrifício da personagem pode ser pensar que, para além de divergir desta forma de tornar matável os outros seres, ela se coloca enquanto matável para mediar o confronto. E o terceiro gesto “Germinar nos fins de mundo” foca nas plantas e a liberação de seus esporos, afinal, eles reagem e também fazem gesto: a germinação. Em um ambiente de guerra eles tem como resposta uma matéria tóxica. Já em um ambiente com água e terra profundas, que Nausicaä planta em seu quarto, eles dão como resposta a não toxicidade. O que sobressai destes gestos é perceber como Nausicaä se faz ponte entre os humanos e os mais que humanos, pois é a única que busca criar um diálogo com eles. Ela se dispõe a compor com os outros seres e a imaginar um mundo com essa compostagem de relações.
Referências: WIEDEMANN, S. Disposições para uma ativação dos possíveis. Cuidados para acolher o Azul profundo como berçário especulativo de mundos.
Revista ClimaCom, Coexistências e Cocriações, ano 8, n. 20, 2021.
Palavras-chave: cinema; cosmopolítica.
ARTE E LETRAMENTOS: DESENHANDO PALAVRAS PARA LER O MUNDO
Elaine de Barros Manhanini Sampaio (Colégio Pedro II);
Marta Patrícia Peixoto Duarte de Deco (Colégio Pedro II)
Dos diversos espaços onde usamos as linguagens para nos relacionar com o mundo, a instituição escolar desataca-se pelo seu potencial formativo, que possibilita a experimentação por meio de uma grande variedade de práticas. Dentre essa multiplicidade de ações, muitas delas se voltam para o cumprimento de uma
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
inegável responsabilidade atribuída à escola: a formação de leitores críticos, que passa, necessariamente pela formação de cidadãos capazes de se comunicar com o mundo por meio da oralidade, da leitura e da escrita. Todavia, tais demandas vêm sendo percebidas pelos professores como grandes desafios, especialmente se considerarmos o momento pós-pandêmico, no qual o processo de ensino e aprendizagem parece ter sido severamente afetado pela necessidade de isolamento social e consequente distanciamento do espaço escolar. Diante disso, o presente relato visa compartilhar uma experiência realizada com estudantes do primeiro segmento do ensino fundamental, em uma escola da rede pública federal de ensino, localizada na cidade do Rio de Janeiro e que vem trazendo bons momentos de descobertas e entrosamento entre as crianças e as diversas linguagens presentes no cotidiano. Trata-se de uma oficina pedagógica, cujos encontros semanais propõem uma integração entre práticas de letramentos e o componente curricular de Artes por meio da interação com criações de artistas que usam variados suportes e materiais para fazerem intervenções na sociedade. Desde a observação de uma palavra escrita num cartaz fixado no poste até a leitura de um livro literário, por exemplo, as crianças vêm tendo oportunidade de interagir com textos, percebendo-os como palavra viva, que enuncia e não como um código abstrato e isolado. Para tanto, as propostas convidam as crianças a conhecerem e experimentarem práticas com bordado de palavras (Bispo do Rosário), poesia urbana e intervenção com palavras (Márcio de Carvalho), ilustração de livros literários (Martha Werneck) e rodas de leitura literária. A diversidade cultural de produção e circulação dos textos e a expansão das narrativas literárias por meio da expressão artística são os eixos norteadores deste trabalho, que apresenta interlocuções teóricas e metodológicas com a Linguagem (BAKHTIN, 2011;2016), Multiletramentos e Multimodalidades (ROJO e MOURA, 2012), Letramento Literário (COSSON, 2021) e as Leituras Elásticas (SANCHES). As oficinas têm como objetivos: formar leitores e ampliar o repertório literário por meio do diálogo com diferentes textos visuais e verbais; estimular as possibilidades desenhísticas e escriturísticas das crianças; enunciar por meio da experimentação, de suportes e materiais variados e criar projetos estéticos a partir de pesquisas singulares. Através das apreciações e experiências com as variadas linguagens, acredita-se que os estudantes possam estabelecer relações diversas, mais criativas e autônomas com o universo letrado, ampliando suas relações com o mundo.
Palavras-chave: artes; linguagem; multimodalidades; leituras elásticas.
ARTE URBANA: REVERBERAÇÕES NO ESPAÇO ESCOLAR
Patricia Rita Cortelazzo (Colégio Técnico de Campinas);
Mara Rosângela Ferraro Nita (Colégio Técnico de Campinas)
A arte urbana, com o grafite e a pintura mural, pelo seu teor democrático, crítico e atual, pela sua monumentalidade e efemeridade, costuma ser recebida de maneira entusiasmada pelo público juvenil, ávido por vozes dissonantes, bem como os artistas da arte contemporânea. No entanto, por uma questão de segurança em meio à violência dos grandes centros e de regras que envolvem a preservação dos bens patrimoniais, extrapolar literalmente os muros da escola e produzir arte nos espaços citadinos envolve uma série de obstáculos que precisam ser contornados. A presente
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
pesquisa-ação teve por objetivo refletir, planejar e viabilizar possibilidades de leitura e produção da arte urbana junto a estudantes do ensino médio regular. O projeto foi realizado na disciplina de Arte de uma escola técnica de Campinas-SP, no ano de 2022. Primeiramente discutimos com as turmas algumas obras de intervenção artística, dentre as quais, os projetos de Eduardo Srur, Nele Azevedo, Christo e Jeanne-Claude, bem como suas similaridades e distinções em relação ao grafite e à pintura mural. Posteriormente, os alunos produziram curtas-metragens sobre diversos artistas do grafite paulistano e carioca: Os Gêmeos, Kobra, Nina Pandolfo, Zezão, Joana Cesar, Alexandre Órion e Mag Magrela. Criamos ainda um padlet com o objetivo de realizar um levantamento dos grafites que mais impactaram os estudantes, na cidade e região. Por fim, durante a Gincana Cultural intitulada “1822, 1922 e 2022. Que país é esse?”, os alunos, divididos em equipes, realizaram pinturas coletivas de 16 bancos de concreto inspirados em alguns recortes da arte brasileira, sendo: arte dos povos indígenas; matriz afro-brasileira; artistas participantes da Semana de 22 (Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Victor Brecheret e Rego Monteiro) e a arte contemporânea feminina (Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Leda Catunda e Rosana Paulino). Os bancos, localizados no espaço de uma rua, dentro do colégio, antes cinzas, ganharam cor, formas e sentidos festejados pelos estudantes, educadores e funcionários. Concluímos que extrapolar os limites da folha sulfite e das paredes da sala de aula e ganhar os espaços de circulação do colégio, resultou em dizeres potentes que se estenderam para além da relação professor-aluno e tocaram toda a comunidade escolar, produzindo um sentimento de pertencimento ao espaço. Priorizar a arte urbana, ao invés da arte de museu, serviu como estímulo para uma leitura mais abrangente, pelos jovens, do discurso poético das artes visuais.
Referências: WCANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2006. HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montsserat. A organização do currículo por projetos de trabalho. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa.Mediação cultural para professores andarilhos na cultura. São Paulo: Intermeios, 2012.
Palavras-chave: arte urbana; intervenção; ensino médio.
PARTICIPAÇÃO INFANTIL: MAPEAMENTO E ANÁLISE DE PESQUISAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 2011-2021
Tiago da Silva Abreu (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
A participação infantil é um direito político das crianças, conforme a Convenção dos Direitos das Crianças (1989). Desse modo, o presente trabalho, a partir do campo dos Estudos Sociais da Infância (CUSSIÁNOVICH, 2006, QVORTRUP, 2010), tem como objetivo discutir o conceito de participação infantil mediante a análise de um conjunto de teses e dissertações que discutem essa temática. Metodologicamente, trata-se de um Estado do Conhecimento (MORISINI, 2021) de pesquisas realizadas no período de 2011-2021. A fonte de pesquisa para o levantamento das investigações foi a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Desse modo, a materialidade investigativa é constituída por um conjunto de 12 pesquisas, sendo elas: 4 teses e 8 dissertações. Nessa direção, o foco analítico do trabalho são os modos como os autores das investigações mapeadas atribuem sentidos às noções de participação infantil. Mediante o exame
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
1) Participação infantil como sinônimo de protagonismo infantil;
das investigações mapeadas, foram definidas as seguintes unidades analíticas:
2) Participação infantil relacionada à gestão democrática;
3) Participação infantil como representação das “vozes das crianças”. A análise dos dados evidencia que a participação entendida como sinônimo de protagonismo, oblitera a diferenciação entre os conceitos. A participação infantil associada a gestão democrática, focaliza a discussão nos processos de tomada de decisão dentro do âmbito das instituições de Educação Infantil. Por fim, o entendimento de participação como representação das vozes das crianças, as situa como atores sociais de pleno direito. Mediante o exposto, vale destacar que conforme Cussiánovich (2006), é importante diferenciar os conceitos de participação e protagonismo. O protagonismo está relacionado ao amplo direito e oportunidade de decisão dos sujeitos. Ou seja, não há partilha de poder entre criança e adultos. Já o conceito de participação conforme Bordenave (1994), relaciona-se ao direito de tomar parte e de fazer parte. Desse modo, não é possível entender os conceitos de participação e protagonismo como sinônimos. Com base no exposto, é possível inferir sobre a relevância de se discutir o conceito de participação infantil no contexto da Educação Infantil, visto que se trata de um direito das crianças, através do qual elas são reconhecidas como cidadãs. Portanto, diferenciar a participação de outros conceitos e termos é também uma postura política em defesa dos direitos das crianças. Palavras-chave: estado do conhecimento; educação infantil; participação infantil.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 22
Local: Sala ED 05 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E DIFUSÃO DA CULTURA AFRODESCENDENTE COMO AUXÍLIO AO LETRAMENTO DISCENTE
Izabel Cristina Barbosa de Oliveira (IFAL – Piranhas)
Resumo: A literatura afrodescendente tem sido negligenciada por muitos anos. Os objetivos deste trabalho foram: explorar aspectos da cultura afrodescendente, incentivar a leitura de livros com personagens negros e aprimorar o letramento dos estudantes.
Introdução: Este trabalho baseia-se na Lei 10.639/03 a qual determina o ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira em todos os níveis escolares. Desta forma, a contação de história das obras As tranças de Bintou e O cabelo de Lelê têm por objetivos explorar aspectos da cultura africana, incentivar a leitura de livros com personagens negros e aprimorar o letramento dos estudantes. Este trabalho é um relato de experiência e foi desenvolvido no 5º ano do Fundamental I, em três aulas de Língua Portuguesa, em uma instituição pública de ensino no Estado de Alagoas. Desenvolvimento: Os livros infantis constituídos de apenas um padrão de referência acabam por valorizar um modelo em detrimento a tantos outros, limitando as culturais que existem no mundo a apenas uma, a única, a padrão, a do dominante europeu. A partir do momento em que exploramos a leitura de obras que expressam outros padrões culturais, podemos oportunizar a valorização da diversidade cultural existente em nosso país, evitando, assim seus possíveis apagamentos. De acordo com Turchi (2004, p. 38) a literatura infantil, como conceito, teve que romper barreiras impostas pela hegemonia do estudo da literatura estabelecida para ganhar algum reconhecimento. Consolidada como gênero e expandindo-se em autores e obras, a literatura infantil faz parte do mapa da crítica institucional e ocupa hoje um espaço importante no mercado de livros literários. Escolheu-se a aula de Língua Portuguesa (LP) para o desenvolvimento do projeto de contação de história uma vez que também se pretendia articular com o desenvolvimento do letramento discente, comprometido pela pandemia. A ligação entre a contação de história, das obras As tranças de Bintou e O cabelo de Lelê, e as aulas de LP puderam potencializar a interação dos estudantes. As atividades de compreensão leitora a partir de pinturas, desenhos, contação da história pelos estudantes beneficiaram os mesmos tanto na aprendizagem de aspectos culturais afrodescendentes, quanto em suas produções, orais e escritas.
Considerações finais: Espera-se que este trabalho venha a estimular a leitura de obras e o desenvolvimento de atividades voltadas às culturas afrodescendentes a fim de promover maior valorização social e reconhecimento.
Referências: Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. D.O.U. de 10/01/2003. Brasília, 2003. TURCHI, Maria Zaira. O estético e o ético na literatura infantil. In: CECCANTINI, João Luís C. T. (Org.). Leitura e literatura infanto-juvenil: memória de Gramado. São
Paulo: Cultura Acadêmica; Assis: ANEP, 2004.
Palavras-chave: contação de história; cultura afrodescendente; letramento discente.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
LITERATURA NEGRO AFETIVA NA ESCRITA DE SONIA ROSA
Cláudia Fernandes de Amorim de Oliveira (UERJ); Márcia Cabral da Silva (UERJ)
Neste estudo, aborda-se o protagonismo negro na escrita da Sonia Rosa. Conforme Duarte (2014), esta tendência se manifesta na perspectiva literária, nos séculos XIX e início do XX, no Brasil, nos manuais canônicos de maneira rarefeita e opaca, com poucos personagens, versos, cenas ou histórias relacionadas ao repertório literário nacional, sem voz autoral. A homologação da Lei 10639/2003, que tornam obrigatórios o Ensino de História e a cultura afro-Brasileira na Educação Básica, representou um marco do movimento negro brasileiro na construção de uma educação que visa à equidade e à justiça social. A literatura negro afetiva emerge, então, no âmbito da Educação Básica e na escola, sendo incluída no currículo oficial. A criança e o jovem negro puderam ser alçados à condição de protagonistas, visto que representados conforme a sua origem social e racial na história. A formação leitora torna-se distinta na perspectiva teórico-metodológica da identidade que se constrói na relação do sujeito com o mundo (FREIRE, 2009). Na escola, local de construção identitária por excelência, destaca-se a literatura da escritora Sonia Rosa. A autora evidencia um tipo de literatura apoiada em formação étnico-racial, personificada no protagonismo da criança negra em grande parte de sua obra e, em particular, no livro de sua autoria O Menino Nito (ROSA, 2011). Trata-se de literatura negro afetiva de fortalecimento afro que reflete a sua vivência pessoal no subúrbio carioca, local onde passou a infância, e na família, com raízes afrodescendentes. De tal modo, a escrita de Sonia Rosa acentua a literatura apoiada na representatividade e na resistência negras diante da sociedade brasileira discriminatória e racista em grande medida. Em sua obra e, em O Menino Nito (2011), objeto deste estudo, a escritora dedica-se ao letramento racial e à literatura, em especial, à literatura negro afetiva para crianças e jovens, conceito que a autora criou para nomear a sua própria literatura. Segundo a perspectiva da escritora, em seus livros, os leitores vão encontrar amor e muita identidade negra em forma de protagonismo.
Referências: DUARTE, Eduardo de Assis. Faces do negro na literatura brasileira.
In: BELMIRO, Celia Abicalil et al. (Org.). Onde está a literatura? Seus espaços, seus leitores, seus textos, suas leituras. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 50. ed. São Paulo, Cortez, 2009. ROSA, Sonia. O Menino Nito. 4. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2011.
Palavras-chave: literatura negro afetiva; letramento racial; representatividade negra.
LER PARA TRANSFORMAR: A FORMAÇÃO DO LEITOR E DA LEITORA ANTIRRACISTA, CONSTRUINDO PONTES COM A RELAÇÃO RACIAL
Fernanda Camargo Dalmatti Alves Lima (Prefeitura Municipal de Campinas); Renata Barroso de Siqueira Frauendorf (Avisa Lá/Unicamp)
O curso “Ler para transformar: A formação do leitor e da leitora antirracista, construindo pontes com a relação racial”, foi organizado pelo GRUPAD – Grupo de Estudos Alfabetização em Diálogo, vinculado ao GEPEC – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada, da FE/UNICAMP. O curso parte da resposta não indiferente ao outro (BAKHTIN, 2017), no caso às necessidades de professores(as) da escola básica
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
se debruçarem sobre essa temática, identificada nos encontros do GRUPAD ao longo dos últimos anos. Teve como propósito vivenciar experiências de leitura antirracista, ampliar o repertório de autores(as) pretos(as) conhecidos, apresentar narrativas com diferentes modos de conceber o mundo, dialogar sobre a prática docente acerca da temática, bem como tecer rodas de conversa para refletir o quanto o ato de ler (FREIRE, 1991) pode nos ajudar a construir pontes na constituição de uma escola e uma sociedade mais justa e antirracista. As principais temáticas foram: concepção de leitura (LERNER, 2002 alfabetização antirracista (VENÂNCIO, 2020), letramento racial (ALMEIDA, 2017), entre outras. Em diálogo com Gomes (2017), compreendemos que a ausência da temática nos cursos de formação inicial e continuada de professores(as), torna-se para nós emergência. Nesta apresentação pretendemos partilhar como, fomos afetadas e transformadas como pessoas e formadoras durante esta experiência vivida a partir de narrativas produzidas por nós, entretecidas às narrativas produzidas pelos(as) participantes. Ao narrar como fomos afetadas enquanto mulheres brancas, também expomos nossas limitações, nossos enganos, desconhecimentos em como lidar com essa temática ainda tão pouco explorada na prática escolar. Ao comunicar para tantos outros o que aprendemos bem como as estratégias e táticas utilizadas por professores(as) para encontrar nas brechas espaços de (trans)formações desejamos contribuir para construção de pontes com a relação racial no cotidiano escolar.
Referências: ALMEIDA, Neide A. de. Letramento racial: um desafio para todos nós. 2017. Disponível em: https://www.geledes.org.br/letramento-racial-um-desafio-paratodosnos-por-neide-de-almeida/. Acesso em: 28 mar. 2022. BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do Ato Responsável. São Carlos: Pedro & João Editores, 2017. FREIRE, Paulo. A Importância do Ato de Ler – em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez Editora & Autores Associados, 1991. Coleção Polêmicas do Nosso Tempo, v. 4, 80 páginas. GOMES, Nilma Lino. O Movimento Negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. p. 40-46. LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002. VENÂNCIO, Ana Paula. Alfabetização antirracista: movimentos de pensamento, experiências e narrativas infantis. In: XX ENDIPE, 2020, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2020. Palavras-chave: leitura antirracista; narrativas; formação de professores.
FORMAÇÃO DE LEITORES: CONSTRUINDO PERCURSOS DE LEITURA A
PARTIR DOS ESCRITORES
Monica do Socorro de Jesus Chucre (UNICAMP / IFAP);
Chrissie Castro do Carmo (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá )
Contribuir para construção de um repertório de leitura literária apenas com as páginas eurocêntricas do livro didático não é dar visibilidade à cultura do povo negro a partir da Lei N° 10.639/03. Trabalhar com autores afrodescendentes em sala de aula é um ato de cidadania e promoção do direito à literatura (CANDIDO, 2017), uma vez que a educação literária deve promover um olhar de compreensão do mundo e das pessoas, além de ser um forte instrumento político-pedagógico de combate ao preconceito e à desinformação sobre a história do negro. Desse modo, a partir do tema da Literatura afro-brasileira e a construção de percursos de leitura em sala de aula, problematizou-se que não havia um espaço-tempo para leituras literárias
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
afro-brasileiras além do livro didático, por isso o objetivo em promover a prática leitora, além de dar visibilidade à poética afro-brasileira produzida no estado do Amapá. Desse modo, aporta-se, teoricamente, na atuação do texto literário em sala de aula (DURÃO, 2022); os estudos sobre as relações, saberes escolares e realidade social/diversidade étnico-cultural na escola (LINO, 2005); a função da literatura na escola (MACEDO, 2021), entre outros. E ainda, para a proposta de Unidade de Leitura, o trabalho tem por suporte o paradigma da hermenêutica, uma didática de leitura proposta por Silva (2003). Os procedimentos de aplicação organizaramse em Unidade Temática de Leitura, intitulada: Quilombo e resistência. O gênero envolvido foram poemas de autores negros amapaenses com a temática negritude. O público-alvo foram alunos do 1º ano do Ensino Médio Técnico do Instituto Federal do Amapá. Organizada em 6 aulas, a proposta da atividade permitiu abrir um espaço de discussão temática alicerçando melhor o assunto, na defesa, como assegura Silva (2003), de desenvolver um posicionamento crítico nas aulas de língua portuguesa e de literatura. Os resultados colaboraram para mostrar que as leituras acolhidas pelos alunos no espaço-tempo da sala de aula promoveram um início de currículo ativo que pode (re)construir conceitos, permitindo a discussão de temas necessários à escola como racismo, preconceito e resistência; sendo assim, indispensável que as aulas continuem promovendo esse espaço para a leitura além das entrelinhas.
Referências: CANDIDO, A. Vários escritos. 6. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2017. DURÃO, F. A; CECHINEL, A. Ensinando literatura – a sala de aula como acontecimento. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2022. LINO, N. G. Educação e relações raciais: refletindo sobre algumas estratégias de atuação. In: MUNANGA, K. (Org.). Superando o racismo na escola. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 143-154. MACEDO, M. S. A. N. (Org.). A função da literatura na escola: resistência, mediação e formação leitora. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2021. SILVA, E. T. Unidades de leitura. Trilogia Pedagógica. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. Palavras-chave: unidades de leitura; literatura afro-brasileira; formação de leitores.
PORTFÓLIO: REFLETINDO SOBRE NOVAS POSSIBILIDADES AVALIATIVAS
Izabel Cristina Barbosa de Oliveira (IFAL – Piranhas)
Resumo: Este trabalho teve por objetivos: observar o conhecimento discente sobre portfólio; incentivar a construção de um portfólio como instrumento avaliativo; perceber como a mediação docente auxilia no desenvolvimento do portfólio. Observou-se interesse e personalização no desenvolvimento do portfólio pelos estudantes, sem a mediação docente o trabalho não teria sido concluído, por desconhecimento do gênero trabalhado.
Introdução: A efetivação do portfólio na educação básica pode auxiliar no amadurecimento sobre o processo avaliativo pelo próprio estudante. Para tanto, é fundamental ampliar as pesquisas a temática.
Desenvolvimento: O portfólio era inicialmente utilizado no mundo das artes, ele começou a ser explorado na Educação, nos Estados Unidos, na década de 90. Segundo Hernández, “o portfólio é visto como: (...) um continente de diferentes tipos de documentos (...) que proporciona evidências do conhecimento que foram construídos” (2000, p. 166). É um instrumento avaliativo explorado em diversos países, porém no
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Brasil, não há muitos trabalhos que expliquem sua efetivação na educação básica. Nesta perspectiva, Gonçalves, Pacheco e Bittencourt (2018, p. 215) ressaltam sobre “a importância de novos estudos” para aprofundamento esta reflexão. Soares (2012, p. 5) entende que o portfólio é um instrumento e uma metodologia de avaliação. Costa e Cotta, explicam que deve ser compreendido “como método inovador de ensino, aprendizagem e avaliação [...] uma práxis educativa diferenciada” (2014, p. 772). Este trabalho é uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório e foi aplicado nas turmas do 3º e 4º anos, dos cursos médio-técnico de uma instituição pública federal do Estado de Alagoas. Observou-se que, inicialmente, muitos estudantes não conheciam o portfólio. Ao longo das aulas, os mesmos começaram a personalizar suas anotações. A mediação docente foi primordial para a construção do portfólio físico pelos discentes.
Considerações finais: Espera-se que este trabalho possa ampliar a utilização do portfólio como ferramenta pedagógica avaliativa. Foi possível perceber que a mediação docente é crucial, principalmente quando se refere à utilização de novas formas de avaliação do discente.
Referências: COSTA, Glauce Dias da; COTTA, Rosângela Minardi Mitre. O aprender fazendo: representações sociais de estudantes da saúde sobre o portfólio reflexivo como método de ensino, aprendizagem e avaliação. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu [online], v. 18, n. 51, p. 771-784, 2014. GONÇALVES, Fabiane N.; PACHECO, Daniela F.; BITTENCOURT, Ricardo L. de. Uso do portfólio como instrumento de avaliação na educação superior. Rev. Int. de Form. de Professores (RIFP), Itapetininga, v. 3, n. 4, p. 209-221, out./dez. 2018. SOARES, Silvia Lúcia. Avaliação formativa, portfólio e a autoavaliação. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO, ENDIPE, 16. UNICAMP, Campinas, 2012.
Palavras-chave: portfólio; avaliação; instrumento pedagógico.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os
vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 23
Local: Sala ED 06 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
O GÊNERO ORAL EM QUESTÃO: DA CONSTRUÇÃO DO SLIDE AO DESENVOLVIMENTO DA LÍNGUA PADRÃO –
APRENDENDO COM TEMAS DA DIVERSIDADE SOCIAL
Chrissie Castro do Carmo (IFAP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia); Mônica do Socorro de Jesus Chucre Costa (IFAP/ UNICAMP)
A busca por uma cultura que promova a compreensão da diversidade social e combata o preconceito no ambiente escolar entre os grupos de convivência (NEGREIROS, 2018) foi o fator preponderante que motivou a construção deste Projeto de Ensino. Os alunos ingressantes no primeiro ano do Ensino Médio Profissionalizante do Instituto Federal do Amapá formaram o grupo alvo que se voltou para a discussão de temáticas, como: diversidade linguística, socioeconômica, religiosa, étnico-racial, de gênero e sexual, etária e de pessoas com deficiência. Faz-se necessária a abordagem desses temas a fim de que sejam estabelecidos os seus respectivos conceitos, características entre outros pontos de reconhecimento para identificação de cada conteúdo. Problematizouse a construção do gênero oral do nosso alunado para fazer inserções em temáticas complexas com a criticidade (BRASIL, 2013) embasada em informações e dados que sustentem suas oratórias e respectivas escritas. Com base nisso, como tratar de temas que abordem a tolerância com a diversidade e questione os (pre)conceitos estabelecidos socialmente? Desse modo, o percurso teórico-metodológico adotado ancorou-se numa sequência didática de aulas, de cunho participativo, realizadas no primeiro semestre de 2022, distribuídas em: orientação teórica sobre a construção dos temas, sensibilização e construção metodológica do gênero seminário. Adotou-se como referencial teórico, os estudos linguísticos de Schneuwly e Dolz (2004), referendando a condução dos trabalhos de apresentação em sala de aula. A Língua Portuguesa infere neste projeto a partir das orientações didático-pedagógicas necessárias para que o aluno se sinta preparado e apto para a adequação ao gênero oral, um perfil teórico que abrange Marcuschi (2008). Outro ponto da interação no campo linguístico, é o estudo do gênero seminário mediante a compreensão da produção estrutural de tal gênero e os usos da língua padrão que envolvem o eixo da exposição oral. No que tange aos resultados desta prática, verificou-se que os discentes tendem a se permitir uma organização didática e centrada na língua padrão quando adentram o universo conteudístico desta pluralidade social, assim como compreendem as diferenças e o respeito às diversidades (TOSI, 2005).
Referências: BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos, 2013. MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo, Parábola, 2008. NEGREIROS, Fauston, PROENÇA, Marilene (Org.). Práticas em psicologia escolar: do ensino técnico ao superior. Teresina: EDUFPI, 2018. SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução e Organização de Roxane Rojo.
Campinas: Mercado de Letras, 2004. TOSI, Giuseppe (Org.). Direitos humanos: história, teoria e prática. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2005.
Palavras-chave: gênero oral; seminário; diversidade social; língua padrão.
AS DIMENSÕES POLÍTICAS E SOCIAIS DA LITERATURA INFANTIL ENQUANTO
MEIO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA: DO “DIREITO À LITERATURA” À PRODUÇÃO DE UM DISCURSO ANTIRRACISTA E NÃO SEXISTA
Denise Aparecida de Paulo Ribeiro Leppos (SME São Carlos – CEMEI Deputado Vicente Botta)
Em Direito à Literatura, Candido (2011, p. 193) expõe que o respeito dos direitos humanos bem como seu acesso a eles vai além dos bens básicos e indispensáveis, “como casa, comida, saúde, coisas que ninguém bem formado admite que sejam privilégio de minorias.” (CANDIDO, 2011, p. 174). Para esta pesquisa, propomos demonstrar como práticas de leitura nas escolas de educação infantil e no ambiente familiar são eficazes para a formação leitora de bebês. Nosso enfoque se voltará na especificidade e relevância de se ler obras que tragam discussões não sexistas e antirracistas desde cedo e para isso formularemos algumas questões norteadoras, como: há produções literárias infantis com esses temas? São produções reconhecidas e premiadas? São adotadas nas creches? Exigem por parte dos mediadores dessa leitura alguma formação específica? São obras com qualidade estética e não meramente obras com finalidade pedagógica instrumental no trato desses temas? Todavia, as práticas de leitura são realizadas de forma a contemplar certos tipos textuais em detrimento de outros. Evidenciando, desta forma, que as ideologias linguísticas podem reforçar a clássica discussão de que há um gênero literário melhor que outro, cristalizando preconceitos linguísticos etc. Por essas razões, a leitura na Educação Infantil, enquanto prática social, é um dos meios mais eficazes de desenvolvimento da linguagem e da personalidade, pois trabalhar com a linguagem é lidar com o ser humano (JOLIBERT, 1994). Soa estranho pensar que em creches, compostas majoritariamente por bebês negras, não possuam a cultura de realizar leituras de obras antirracistas, por exemplo. Fúlvia Rosemberg (s/d, p. 38), levanta, ainda, o seguinte questionamento: “a política de creche brasileira sustenta e provoca desigualdade racial?”, e ela responde que sim, não apenas discriminação contra a criança e/ou sua família estão presentes como também as “desigualdades regionais, econômicas, de gênero e, sem dúvida, de idade”. O que percebemos, desse modo, é essa triste realidade naturalizada em nossa sociedade e, por isso, vista também em creches e pré-escolas, instituições que, em sua grande maioria, exercem a função disciplinar e normatizadora, promovendo ainda mais as desigualdades, reforçando preconceitos e estereótipos cristalizados.
Referências: CANDIDO, A. O direito à literatura. In: CANDIDO, A. Vários escritos. 5. ed.
Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2011. JOLIBERT, J. Formando crianças leitoras. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1994. LIMA, E. A. de; VALIENGO, A. Literatura infantil e caixas que contam histórias: encantamentos e envolvimentos. In: CHAVES, M. (Org.). Práticas pedagógicas e literatura infantil. Maringá: Eduem, 2011. p. 55-67. ROSEMBERG, F. Criança pequena e desigualdade social no Brasil. Disponível em: https://educacaoinfantil.ceert. org.br/pdf/artigos/CRIAN%C3%83%E2%80%A1A_PEQUENA_E_DESIGUALDADE_ SOCIAL_NO_BRASIL_F%C3%83%C2%BAlvia_Rosemberg.pdf.
Palavras-chave: leitura antirracista; feminismo; bebê leitor; política; sociedade.
vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
FORMAS DE EDUCABILIDADE PARA AS JOVENS BRASILEIRAS: EXPERIÊNCIAS ENTRE CUIABÁ E O DISTRITO FEDERAL (1946-1950)
Gabrielle Carla Mondego Pacheco Pinto (UERJ); Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza (UERJ)
O presente estudo se debruça na compreensão de formas de se educar moças brasileiras à luz dos preceitos defendidos na década de 1940, em especial, no que concerne à educação feminina. Com vistas ao objetivo, analisam-se elementos das revistas Vida Juvenil (DF, 1949-1959) e A Violeta (MT, 1916-1950) que concorrem com a discussão em pauta. Ademais, fazem parte do horizonte deste trabalho observar a criação, a organização e pontos de convergência entre os impressos elencados e a Escola Doméstica Dona Júlia, que funcionou de 1946 a 1950 em Cuiabá (MT). Deste modo, busca-se observar aproximações e afastamentos entre o que era discutido no Distrito Federal, à época, e em Cuiabá, no final da década de 1940 e início de 1950. A hipótese é de que os discursos localizados em Vida Juvenil e os propósitos de criação da Escola Doméstica Dona Júlia, amplamente divulgados em A Violeta, convergiam. Contudo, importa observar os enunciados e os modos de operação das fontes analisadas. Para tanto, o trabalho teórico-metodológico se pautará nas discussões de Bakhtin (2014) no que se refere à compreensão dos enunciados observados, de Martins (2001) e Buitoni (2009), no que cerne a imprensa, e ainda de Moura & Vieira (2020) e Pinto (2021), nos diálogos sobre a educação doméstica. Por se tratar de uma pesquisa de cunho histórico documental, a metodologia será pautada na análise das fontes primárias, tendo como local privilegiado de pesquisa a Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional. Espera-se, assim, que seja possível observar e compreender modos de educabilidade de jovens brasileiras, com ênfase nas experiências cuiabana e carioca, de forma a se forjar algumas representações do que era ser mulher no período destacado.
Referências: BAKHTIN, M. M. Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico da linguagem. 16. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.
BUITONI, Duicília Helena Schoroeder. Mulher de papel: a representação da mulher pela imprensa feminina brasileira. São Paulo: Summus, 2009. MARTINS, Ana Luiza. Revistas em Revista: Imprensa e Práticas Culturais em Tempos de República, São Paulo (18901922). São Paulo: EDUSP, 2001. MOURA DA SILVA, G.; VIEIRA CAMPOS FERREIRA, N. Formação feminina na escola doméstica dona Júlia – Cuiabá-MT (1946-1949). Linhas Críticas, [S. l.], v. 26, p. e31382, 2020. DOI: https://doi.org/10.26512/lc.v26.2020.31382.
Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/31382. Acesso em: 27 out. 2022. PINTO, Gabrielle Carla Mondêgo Pacheco. A liberdade feminina assistida: a educação para mulheres na escola doméstica “Dona Júlia” (19461950). BRESSANIN, César Evangelista Fernandes; BALDINO, José Maria; ALMEIDA, Maria Zeneide Carneiro Magalhães de (Org.). Educação, História, Memória e Cultura em Debate – Volume IV: Educação e cultura em diferentes espaços sociais [e-book].
Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2021.
Palavras-chave: educação feminina; Vida Juvenil; A Violeta; Escola Doméstica Dona Júlia.
vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CURRÍCULO, TERRITÓRIO E DECOLONIALIDADE
Jaqueline de Meira Bisse (Secretaria Municipal de Educação de Campinas – EMEFEI Padre Francisco Silva); Mariana Roveroni (Secretaria Municipal de Educação de Campinas – FE/ UNICAMP)
O presente texto traz problematizações realizadas por um grupo de educadoras, trabalhadoras em uma escola de educação integral de uma rede pública municipal no Estado de São Paulo. O chamado para elaborar o projeto piloto dessa escola, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, potencializou o desejo de envolver toda a comunidade escolar a pensar sobre o projeto políticopedagógico, repensar o tempo, o espaço, o currículo e as formas de ensinar. Quais as potencialidades de formação humana essa escola, situada neste território, poderia oferecer? Reconhecer quais as características do território em que a escola se situa se fez fundamental para entendermos as diferentes condições de vida e os diferentes saberes produzidos pela comunidade. É importante destacar que as políticas de zoneamento territorial não são naturalmente estabelecidas. Pelo contrário, são produtos históricos e podem revelar dados de uma realidade contraditória e bastante desigual coexistindo, o que as torna espaço permanente de disputas, como nos aponta Santos (1994). Sodré (2019) nos apresenta importantes contribuições para pensar sobre espaço e territorialidade. Para o autor, espaço é resultante de um ordenamento simbólico, enquanto que territorialidade engendra regimes de relacionamento, relações de proximidade e distância. Com a experiência de trabalhar em uma escola situada em território negro, provocadas diariamente a lidar com as situações de privação de direitos e racismo, entre outras violências, compreendemos que era preciso mudar nosso olhar e ação, reposicionandonos como educadoras para/ com as infâncias e juventudes das classes populares trabalhadoras da periferia. Infâncias e juventudes pretas. Hall (2018) indica que a luta comprometida, política e epistemológica, do Movimento Negro abriu espaço para as culturas e os grupos étnico-culturais se construírem e se desenvolverem, ainda que em contextos cheios de contradições, de disputas e resistências, implicando negociações das disposições e configurações do poder cultural. Decorre dessa condição a necessidade da escola desenvolver um currículo que priorize a heterogeneidade dos conhecimentos e a diferença, reconhecendo que é importante estar sensível às práticas que permeiam o cotidiano da comunidade que possibilitam descentrar as identidades e os discursos hegemônicos, trazendo seu patrimônio, desconstruindo discursos preconceituosos, potencializando saberes excluídos historicamente e ressignificando as formas de ser.
Referências: BHALL, Stuart. Da diáspora. Identidades e mediações culturais. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018. SANTOS, M. O retorno do território. In: SANTOS, M.; SOUZA, M. A. A.; SILVEIRA, M. L. (Org.). Território: globalização e fragmentação. São Paulo, Hucitec/ANPUR, 1994. SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Mauad X, 2019.
Palavras-chave: educação integral; currículo; território; decolonialidade.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 24
Local: Sala ED 07 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
NARRATIVAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES:
INTERLOCUÇÕES POSSIVEIS ENTRE A FORMAÇÃO E PRÁTICA
Rita de Cássia Bento Manfrim (SME Campinas)
O que se propõe neste trabalho, recorte de pesquisa de doutorado em educação em andamento, é uma reflexão sobre como os professores recém-formados ou em formação continuada, vão se constituindo professores da área de alfabetização e quais concepções de alfabetização estes professores que atuam com as turmas do ciclo I do ensino fundamental I, assumem e como eles narram as suas práticas de sala de aula a partir dessas concepções, considerando os inúmeros desafios vividos pela educação, nas últimas décadas, sobretudo pelas instituições públicas. Neste sentido, pautamo-nos nos pressupostos teóricos e metodológicos da perspectiva históricocultural, da teoria enunciativo-discursiva e nas considerações de autores que têm como foco o método autobiográfico. O estudo se dá a partir de entrevistas narrativas com seis professores da rede de ensino do município Campinas que atuam nos anos iniciais do ciclo de aprendizagem de nove anos. Como procedimento de análise, estabelecemos algumas unidades temáticas derivadas das entrevistas para auxiliar na compreensão dos dados os quais emergiram a partir da transcrição das entrevistas: 1)
A trajetória escolar dos docentes que trabalham nos ciclos iniciais de aprendizagem do Ensino Fundamental I, da Rede de ensino do município de Campinas, e 2) As relações existentes, a partir das narrativas dadas por eles, entre as concepções teóricas assumidas e como eles contam sobre suas práticas desenvolvidas em sala de aula. Os resultados obtidos a partir das análises contribuem para reflexão acerca da formação inicial e continuada do professor alfabetizador que está na escola pública.
Referências: BAKHTIN, M.; VOLOCHÍNOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2010. FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. BAKHTIN, M.; VOLOCHÍNOV, V. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014. LURIA, Alexander R. Desenvolvimento cognitivo: seus fundamentos sociais e culturais. São Paulo: Ícone, 1990. NÓVOA, A. Os professores na virada do milênio: do excesso dos discursos à pobreza das práticas. Educação e Pesquisa, v. 25, n. 1, 1999. SMOLKA, Ana Luisa Bustamante. O (im)próprio e o (im)pertinente na apropriação das práticas sociais. Cadernos Cedes, ano XX, n. 50, abril 2000. VIGOTSKI, Levy S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. VIGOTSKI, Levy S. Os métodos de investigação reflexológicos e psicológicos. In: VIGOTSKI, Levy S. Teoria e método em psicologia. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. VIGOTSKI, Levy S.. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2000. Palavras-chave: leitura; escrita; formação de professor; alfabetização.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
DISCURSOS SOBRE LEITURA NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO E NA
FORMAÇÃO DOCENTE: O QUE DIZEM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Rodrigo Soares Brito (Universidade São Francisco); Milena Moretto (Universidade São Francisco)
A presente discussão se insere no contexto de estudos sobre leitura e formação de professores. Partimos da concepção de leitura como prática social, culturalmente produzida nas relações entre pessoas, compreendendo que a leitura, no contexto da prática docente, é também reconhecidamente valorizada, atravessada por discursos que significam e impactam a constituição e formação do professor. Partindo desse contexto, propusemo-nos a desenvolver uma pesquisa de abordagem qualitativa cujo objetivo principal é compreender quais discursos sobre leitura emergem das vozes dos professores e como essas leituras vão constituindo e auxiliando no seu desenvolvimento profissional. A pesquisa ainda tem como objetivos específicos: 1) Compreender como os professores interagem com as propostas de leitura apresentadas em contextos de formação; e 2) Identificar quais leituras os professores buscam para o seu desenvolvimento profissional. Como fundamentação teórica, para abordar a leitura e sua centralidade na formação docente, pautamo-nos na perspectiva enunciativodiscursiva, nos aportes dos Novos Estudos sobre o Letramento e nas considerações do método (auto)biográfico. Foram realizadas entrevistas narrativas com quatro professoras da educação básica da Rede Municipal da cidade de Itatiba-SP. A discussão dos dados aponta que, diante das leituras realizadas durante a trajetória de vida e nos cursos de formação, os professores são impactados sobretudo pela finalidade das leituras e pelo processo de mediação conduzido pelos formadores, o que desvela a relevância da dimensão dialógica da leitura, com o desenvolvimento profissional se constituindo a partir das trocas dialógicas entre os professores e com formadores.
Referências: BAKHTIN. M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2010. BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2013. FREITAS, M. T. A. Educação, arte e vida em Bakhtin. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. GOULART, I. do C. V. Relato de experiência: a entrevista como um processo de interação dialógica. Cadernos da Pedagogia, São Carlos, ano 7, v. 7 n. 13, p. 87-100, jul./dez. 2013. JOVCHELOVITCH, Sandra; BAUER, Martin W. Entrevista narrativa. In: BAUER, M. W.; GASKELL, G. (Org.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. KLEIMAN, Angela B.; MATENCIO, Maria de Lourdes Meirelles (Org.). Letramento e formação do professor: Práticas discursivas, representações e construção do saber. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2005. VOLOCHÍNOV, Valentin. Marxismo e filosofia da linguagem: Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2018.
Palavras-chave: educação básica; formação de professores; desenvolvimento profissional; discursos sobre leituras.
e baixam nos corpos para avivar os seres
MEMÓRIAS E NARRATIVAS DE PROFESSORAS DO CAMPO: O CASO DA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ
Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia (Universidade Federal da Fronteira Sul)
No final da década de 1960 havia registros de cursos ministrados para as professoras das escolas do campo do sudoeste paranaense, um deles foi de matemática moderna. Além desta, houve outras formações. A oferta de cursos visava, ainda que precariamente, dar uma formação básica às professoras. Uma vez que a maioria das docentes eram leigas. A implantação da escola nesta região esteve atrelada aos projetos de ocupação de áreas até então pouco exploradas e que de certa forma, representava um desafio para consolidação das fronteiras. Paralelo a isto, é importante considerar a nova fase de expansão do capitalismo mundial que transferia para as nações periféricas, como a nossa, parte importante de suas indústrias. Em pouco mais de trinta anos (1950-1980) o Brasil vivenciou transformações significativas na sua matriz produtiva. Houve uma expansão urbana sem precedentes e um crescente rápido, esvaziamento os campos. Na verdade, antigos problemas tornaram-se mais visíveis e outros surgiram, como a concentração demográfica nas cidades, precarização das condições de moradia, saúde, educação e outros. A expansão da indústria de bens duráveis e de produção exigiu uma grande concentração de capitais. Em contexto de intensa urbanização e industrialização, a região sudoeste do Paraná se constituía em uma área que precisava ser inserida no modelo econômico vigente, ainda que na condição de fornecedora de matérias-primas e mercado consumidor. Assim, a constituição da escola tinha como objetivo a formação de novos trabalhadores e consumidores que pudessem responder aos interesses da expansão do capital multinacional e, ao mesmo tempo, consolidar a ocupação de áreas, previsto nos projetos de colonização que vinham sendo implementados pelo Estado brasileiro desde as primeiras décadas do século XX. Garantir a presença da escola, mesmo que inicialmente em condições precárias, improvisadas, com professores sem formação adequada era uma forma de inserir a nação no mundo industrial e urbano. Conhecer a memória e as práticas docentes das professoras que participaram deste momento é um dos objetivos da presente pesquisa. Além disso, identificar a epistemologia das práticas desenvolvidas nas escolas espalhadas pelos campos, em locais de difícil acesso e poucos recursos. O projeto coletou cerca de dez relatos de professoras que concordaram em escrever por meio de narrativas uma pouco das suas histórias de vida. Outras que não se sentiam em condições de escrever, tiveram suas experiências registradas por meio dos recursos da história oral. A investigação nos permitiu compreender o contexto das escolas multisseriadas do campo e as diferentes estratégias desenvolvidas pelas professoras para complementarem a sua formação e conduzir o trabalho de sala de aula que estava sob sua responsabilidade.
Palavras-chave: memória de professoras; escolas do campo; narrativas; história da educação; epistemologia da prática docente.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 25
Local: Sala ED 09 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA ENQUANTO LUGAR DE FORMAÇÃO SOBRE FONTES DE INFORMAÇÃO E LEITURA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Simone Lucas Gonçalves de Oliveira (Unicamp/Faculdade de Educação)
A universidade é um ambiente onde a produção de informação e de conhecimento é um processo permanente. Tal produção precisa estar relacionada a informações pré-existentes. Gerenciar e mediar fontes de informação, abrindo o seu acesso e permitindo o seu uso à comunidade acadêmica é o papel central das bibliotecas universitárias. Segundo Nunes e Carvalho (2016), essas unidades de informação têm como proposta o atendimento das necessidades da comunidade acadêmica da qual fazem parte com o intuito de agir interativamente para ampliar o acesso à informação e contribuir para a missão da universidade. Assim, numa perspectiva de contemplação das necessidades de informação da comunidade universitária, especialmente para as práticas de leitura, pesquisa, ensino, aprendizagem, extensão e cultura, as bibliotecas universitárias da Unicamp atuam, disseminando informações e educando os seus usuários a partir de relações interativas entre os mesmos e as fontes de informação. Portanto, essa dinâmica de relação com a comunidade usuária coloca para as bibliotecas o desafio de estarem sempre mobilizadas em torno de ações que proporcionem a interação, a disseminação da informação e a formação contínua. Os investimentos da Universidade na aquisição de recursos de informação por meio do SBU (Sistema de Bibliotecas da Unicamp) são alinhados às atividades fins da instituição, que são ensino, pesquisa, extensão e inovação, porém, nem sempre as fontes de informação são de fato conhecidas ou consultadas pela comunidade universitária. Diante disso, no ambiente universitário, as bibliotecas têm buscado um protagonismo na mediação da informação e do conhecimento com o seu público usuário. Nesse movimento, muitas práticas de interação com a comunidade têm emergido nas bibliotecas, sobretudo as ações que transformam o espaço de informação em território de formação contínua em leitura para o correto manejo das fontes de informação. Isto posto, este trabalho consiste na apresentação de uma reflexão sobre as interações nascidas entre os profissionais da biblioteca universitária e a sua comunidade usuária com o objetivo de suscitar novas discussões em torno da promoção da leitura e do uso das fontes de informação. O recurso metodológico adotado foi o relato de experiência. Esperase que o compartilhamento dessas experiências venha a contribuir com os estudos sobre o papel da biblioteca universitária e a sua dinâmica de atuação perante as necessidades de informação da sua comunidade nos tempos atuais.
Referências: AGUIAR, V. T.; BORDINI, M. G. Literatura e formação do leitor. Porto alegre: Mercado Aberto, 1993. NUNES, M. S. C.; CARVALHO, K. C. As bibliotecas universitárias em perspectiva histórica. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 21, n. 1, p. 173-193, 2016. SILVA, E. T. Leitura na escola e na biblioteca. 11. ed.
Campinas: Leitura Crítica, 2010.
Palavras-chave: biblioteca universitária; interações com a comunidade usuária; formação em leitura; uso de fontes de informação.
A AEL - ACADEMIA ESTUDANTIL DE LETRAS PELOS DISCURSOS DE PROFESSORES E ESTUDANTES
Pamella Doria de Souza Martins (Universidade Estadual de Campinas)
O Projeto Academia Estudantil de Letras (AEL) da Rede Municipal de Educação de São Paulo existe desde o ano de 2005 e acontece no contraturno das aulas regulares, com foco nos estudantes do ensino fundamental. Através de oficinas literárias e teatrais, tem o objetivo de promover a inclusão social, o interesse pela literatura e o desenvolvimento da competência de leitura e escrita, assim como ampliar o universo cultural dos estudantes acadêmicos. Com uma agenda bastante dinâmica, a AEL promove experiências que geralmente não estão acessíveis pelos demais estudantes. Conforme observado por Chartier (1998), cada espaço de leitura acaba por instituir suas próprias normas e convenções e tende, portanto, a legitimar certos objetos e modos peculiares de ler em seu próprio grupo. A AEL ao mesmo tempo que compartilha objetivos, diferencia-se dentro do que podemos considerar um guarda-chuva do ensino literário escolar. Importa-nos observá-la nessa sua distinção e na própria complexidade que há numa proposta mais lúdica e abrangente no trato com a leitura. Na ocasião deste trabalho, procuramos identificar algumas representações sobre a leitura e sobre práticas literárias escolares, forjadas por professores e estudantes da AEL. E, como objeto de análise, selecionamos a edição comemorativa de 15 anos da AEL da Revista Magistério da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, publicada no ano de 2020, na qual estão reunidos vários depoimentos. É a partir desses discursos que procuraremos pistas sobre as vivências literárias mais significativas, os sentimentos e as concepções comungadas mais frequentemente por este grupo de acadêmicos literários da escola. Para nossas articulações tomamos também as contribuições de Bourdieu (2015), Chartier (1995), e Charlot (2013), entre outros. A convivência harmônica, o protagonismo, a elevação da autoestima e os sonhos realizados são alguns dos destaques dados por professores e acadêmicos sobre suas experiências na AEL. Tendo o otimismo como regra e a emoção como fio condutor, os depoimentos podem causar aos leitores tanto a curiosidade quanto a desconfiança. Tomados os devidos critérios, revelam-se pistas interessantes na investigação sobre estratégias e modalidades possíveis para o trabalho de formação de jovens leitores na escola pública.
Referências: BORDIEU, Pierre. Escritos de educação. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio (Org.). Escritos de educação. 16 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber às práticas educativas. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2013. CHARTIER, Anne-Marie. Leitura escolar: entre pedagogia e sociologia. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, n. 0, p. 17-52, 1995. CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. 2. ed. Tradução de Mary Del Priore. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.
Palavras-chave: AEL; formação de leitores; leitura escolar.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
CONFABULAÇÕES SOBRE LITERATURA, INFÂNCIA E MIGRAÇÕES
Adriana Maria de Assumpção (Universidade Estadual de Campinas);
Harime de Jesus Arcenio Bonfim (Universidade Estácio de Sá);
Patricia Batista Santos (Universidade Estácio de Sá)
O objetivo é investigar a literatura produzida para crianças, especificamente livros que abordam o tema da migração, bem como as imagens impressas nestas publicações. Consideramos a produção de livros voltados para o público infantil com imagens sobre refúgio e migração, editados no Brasil durante o período de uma década (2009-2019).
A reflexão conceitual vai exigir a problematização de infância, narrativas imagéticas, migração transnacional. Nosso interesse é suscitar reflexões para a compreensão da questão migratória e como ela é tratada por meio das imagens presentes nos livros de literatura. Dessa maneira, o caminho metodológico envolve: o mapeamento e análise dos livros de literatura infantil editados no Brasil com essa temática; seleção dos livros que serão analisados, particularmente no que diz respeito à narrativa imagética; análise dos livros selecionados, incluindo reflexão a respeito do suporte utilizado. Será necessário identificar os processos de produção desses livros, buscando entender quem são os atores sociais envolvidos – considerando editoras, autores, ilustradores – e como estes títulos são criados e que linguagens e suportes são utilizados. Para esta pesquisa, tomamos como referência, os estudos de Roland Barthes – particularmente no que diz respeito aos conceitos de denotação, conotação, punctum e studium – e Alberto Manguel para refletirmos sobre a leitura de imagens. Pretendemos nos pautar também nos estudos de linguagem, particularmente em Walter Benjamin. Referências: ASSUMPÇÃO, A. O Tempo do Olhar e a Leitura de Imagens na Contemporaneidade. In: ENCONTROS DE FOTOGRAFIA, CINEMA E ARTES DIGITAIS, 2017, Pirenópolis – Goiás. Anais... Goiânia: Gráfica UFG/UEG, 2017. v. 1. ASSUMPÇÃO, A. M.; TEIXEIRA COELHO, J. P. R. Crianças migrantes e o direito à educação: leituras e conversas com equatorianos na atuação voluntária do grupo DIASPOTICS. Revista interdisciplinar de Mobilidade Humana, v. 28, p. 167-185, 2020. ASSUMPÇÃO, A. M.; AGUIAR, G. A. – Você precisa falar português com seu filho – Desafios para o processo de inclusão de crianças imigrantes em escolas do Rio de Janeiro. Revista Iberoamericana de Educación (impresa), v. 81, p. 167-188, 2019. BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. BARTHES, Roland. O Óbvio e o Obtuso. Lisboa, Portugal: Edições 70 Ltda., 2009. BRASIL, Lei de Imigração. Lei número 13.443, de 24 de maio de 2017. BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2002. MANGUEL, Alberto. Lendo Imagens. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. UNESCO, 2018. Resumen del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2019: Migración, desplazamiento y educación: Construyendo puentes, no muros. Paris, UNESCO. Palavras-chave: infância; migrações transnacionais; imagens; literatura.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 26
Local: Sala ED 10 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
TANTOS ENCONTROS QUANTAS POSSIBILIDADES DE INVENTÁ-LOS – EXERCÍCIOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO
Raphaela de Toledo Desiderio (Universidade Federal da Fronteira Sul)
Em “Geografias de Encontros Geografias Fictícias”, a pesquisadora Karina Rousseng Dal Pont propõe, a partir da obra da artista brasileira Mayana Redin, intervenções criativas em ambientes de formação. O que pode a arte frente aquilo que parece estável nos mapas escolares? (DAL PONT, 2014). Este trabalho tem por objetivo, refletir sobre a problemática da cartografia escolar na formação inicial de educadoras. O exercício proposto para pensar essa problemática deriva de um encontro entre duas pesquisadoras e formadoras de educadoras com uma turma de estudantes do curso de Pedagogia –Licenciatura da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Erechim/RS. Atlas, papel A4, papel vegetal, revistas, tesoura, cola e o desejo de tratar das limitações presentes na cartografia científica travando encontros capazes de movimentar e provocar reflexões sobre essas imagens que participam de nossas imaginações geográficas (MASSEY, 2017). No primeiro momento da aula, a professora Karina apresentou sua pesquisa trazendo reflexões a respeito da formação do pensamento espacial que se inicia junto com o processo de escolarização de nossos corpos. No segundo momento, as estudantes desenharam suas geografias de encontros: o Rio Grande do Sul se encontra com a China com o objetivo de “conhecer a diversidade cultural entre o RS e a China”; “De bah tchê para arriba”... a bandeira do Brasil, a erva mate e a imagem do gaúcho encontram-se com imagens de um coqueiro, duas caveiras e a fotografia de uma praia acompanhadas pelos contornos do Rio Grande do Sul e do México. Também há um encontro entre municípios do Alto Uruguai – Aratiba, Itatiba do Sul, Erechim – que seguem o que parecem ser os limites de cada município acompanhados por uma colagem de palavras que informam “Caminhos que se cruzam no Alto Uruguai” e por linhas que “ligam” as cidades. No desenho de Itatiba do Sul, o rio Uruguai é destacado em cor azul. Ao analisar os encontros que as estudantes produziram em suas obras, encontramos fortes referências à escala regional, não só pela presença do município ou do estado como “ponto de partida” para o “encontro” mas pelas imagens que acompanhavam os traçados, como a fotografia do “gaúcho”, da criação de gado, do churrasco e do chimarrão. Além de um cuidado com a manutenção dos limites territoriais, os desenhos também vieram acompanhados de fotografias que ilustravam dos lugares que se desejava conhecer. A força do mapa como representação da superfície tão presente nas obras didáticas, permaneceu presente nos desenhos. Em cada movimento do encontro com a imagem há inquietações, questões e reflexões que tecem esse exercício de pesquisa em educação.
Referências: DAL PONT, K. R. Geografia de Encontros Geografias Fictícias. Revista Geografares, [S.l.], n. 17, p. 66-80, jan./ago. 2014. MASSEY, D. A mente geográfica.
GEOgraphia – Revista do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, Niterói, v. 19, n. 40, p. 36-40, 2017.
Palavras-chave: educação; encontro; cartografia escolar.
A LEITURA DA VERBO-VISUALIDADE PELO VIÉS DIALÓGICO
Anderson Cristiano da Silva (SEDUC-SP)
Esta pesquisa analisa a constituição de sentidos de uma charge a respeito do dono da rede de lojas Havan e a polêmica causada por sua publicação dentro do cenário nacional. Justifica-se esta investigação pelo impacto que o corpus elegido despertou a respeito da liberdade de imprensa e pelo poder que a verbo-visualidade pode causar na constituição dos enunciados concretos. Em termos metodológicos, esta pesquisa adota a perspectiva qualitativa, tendo como estofo teórico as contribuições da Análise Dialógica do Discurso. Para tanto, recorremos aos conceito-chaves de enunciado concreto e relações dialógicas. Em nossas considerações, ratificamos a função da charge em despertar a criticidade em seus interlocutores. No caso específico, além de fazer essa função, acabou levantando mais atenção a partir da polêmica instaurada pela personagem alvo da crítica, que quis, por meio da justiça, mover um processo de danos morais contra o cartunista. Essa atitude acabou chamando ainda mais a atenção da mídia, fazendo com que a charge ganhasse uma repercussão nacional, sendo ampliada sua circulação, aumentando o número de leitores. Palavras-chave: enunciado concreto; relações dialógicas; análise dialógica do discurso.
CORPOS E(M) MOVIMENTOS EM UMA SALA DE AULA
Ariana Sousa de Moraes Sarmento (SED/SC – EEB Padre Anchieta)
O que há em cima, embaixo e por todos os lados são intensidades buscando expressão. (ROLNIK, 2011). Que intensidades despontam no espaço da sala de aula quando meu corpo se põe à escuta? Que movimentos dançamos diariamente nas salas de aula? Como perceber os mínimos gestos que atravessam e nos atravessam nesse espaço? Essas perguntas despontaram em mim quando realizei oficinas no Marista Escola Social Lúcia Mayvorne como parte de minha Pesquisa de Mestrado, pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa escola é um projeto social que oferece educação gratuita e em período integral para crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social em Florianópolis/SC. Movida pelo desejo de descobrir belezas, insignificâncias (Barros, 2018) e capturar movimentos no espaço escolar, frequentei aulas de ciências de duas turmas de oitavo ano por algumas semanas. Tendo a cartografia como aporte metodológico, tinha minha atenção em suspensão. Como comenta Kastrup (2015), uma atenção aberta e sem focalização específica, que permitiu também a captura de materiais desconexos e em aparente desordem. Aos poucos, compreendi que eu não estava ali apenas observando. Sem a necessidade de analisar a escola, deixei que memórias, sonhos, imaginação e desejos se misturassem em meu corpo habitante e participante desse espaçotempo. Mochilas, brincadeiras, risadas, ruídos, sussurros e corpos dançantes emergiram desse espaço. A partir das anotações feitas em um diário, cenas de uma sala de aula repleta de intensidade e vida escorreram pelos cantos e ECOOARAMM sonoridades. Tal gesto contribuiu para que os ritmos capturados na escola fossem impressos graficamente em narrativas criadas com/na sala de aula. Nas narrativas, fotografei movimentos de conversa, toques, gestos entre estudantes, estudantes e professora, estudantes e eu. Fotografei não com a câmera, mas com os meus ouvidos, meus olhos, minhas mãos. Transcrevi a meu modo, com palavras e desenhos, fragmentos desses instantes efêmeros
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
pulsantes de vida. Na surdina, entre os regramentos e as ordens, fizeram-se outras comunidades. Momentos em que o brincar e a escuta aconteceram. A comunicação se estabeleceu de diferentes formas e, na intensidade dessas expressões, se instaurou uma possibilidade de criação. Acontecimentos singulares teceram-se no coletivo e inauguraram relações entre corpos vivos, brincantes e Re-Existentes.
Referências: BARROS, Manoel de. Memórias inventadas. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2018. KASTRUP, Virgínia. O funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. In: PASSOS, Eduardo et al. (Org.). Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre/RS: Sulina, 2015. p. 32-51. ROLNIK, Suely.
Cartografia Sentimental: transformações contemporâneas do desejo. 2. ed. São Paulo:
Editora UFRGS e Editora Sulina, 2011.
Palavras-chave: corpo; cartografia; estudos culturais; escola.
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E EDUCAÇÃO CIDADÃ: QUAL CIDADÃO PARA QUAL SOCIEDADE?
Bruna Gabriela Nico Pereira Herculano (Wish School); Carolina Rodrigues de Souza (UFScar); Marcelle Tácita de Oliveira (UFScar)
Discursos e reflexões sobre o contexto educacional muitas vezes trazem a ideia de uma educação para a cidadania que, por vezes, almeja um “modelo” de cidadão para um ambiente social idealizado. Devido seu caráter polissêmico não podemos afirmar que diferentes interlocutores falam da mesma cidadania quando utilizam essa mesma palavra (CARDOSO, 2009). Totti (2011) afirma que apesar de ser uma categoria que abriga diversos conceitos, a cidadania refere-se a dois elementos centrais: o espaço público e a coletividade política e, devido às variações nas concepções desses elementos, o termo varia igualmente. No contexto da educação científica, a educação cidadã é entendida como o domínio do conhecimento nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. No entanto, pouco se debruça sobre qual concepção de cidadania é pensada para ser trabalhada pela educação e em que concepção de sociedade essa projeção vai operar. Qual cidadão para qual sociedade? Tomamos esse questionamento para desenvolver esse pensamento inicial que comporá uma tese de doutorado. Para tal exercício investigativo, foi realizada uma revisão bibliográfica nos periódicos da área de Ensino classificados nos estratos A1 e A2 de acordo com o sistema Qualis – CAPES, cujo recorte abrangeu os trabalhos relacionados ao Ensino de Ciências. Selecionamos as revistas que tinham como foco o Ensino de Ciências, Educação em Ciências ou Educação Científica e buscamos em todas as publicações disponíveis on-line, os trabalhos que citaram ao menos uma vez os descritores: cidadania, cidadão e/ou cidadã, no título, no resumo e/ou nas palavras-chave. Diante dos trabalhos selecionados, mapeou-se o uso do termo cidadania e suas derivações, para conhecer a concepção de cidadania que vem sendo utilizada na área. Após essa investigação inicial, buscou-se problematizar o “modelo” de cidadão posto pela educação científica, dialogando com referenciais teóricos relacionados ao pós-estruturalismo, estudos culturais, colonialismo e descolonização. Essa investigação nos deu pistas sobre a concepção de cidadania que tem sido apropriada pelos pesquisadores da área e como ela dialoga, ou não, com as pluralidades que atravessam o contexto da educação científica.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Referências: CARDOSO, Oldimar Pontes. A Educação Para a Cidadania Entre Passado, Presente e Futuro. Educação e Realidade, [s. l], v. 1, n. 34, p. 137-154, 2009. Disponível em: https:// seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/8462/4927. Acesso em: 13 nov. 2022. TOTTI, Frederico Augusto. Educação científica e cidadania: as diferentes concepções e funções do conceito de cidadania nas pesquisas em Educação em Ciências. 2011. 267 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ handle/ufscar/2263/3740.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 nov. 2022. Palavras-chave: cidadania; educação científica; educação cidadã.
LIBERDADE, ALEGRIA E DIVERSÃO: AS BRINCADEIRAS DE RUA SÃO MATERIALIZADAS NO RECREIO?
Vania Maria Batista Sarmanho (SEMEC); José Anchieta de Oliveira Bentes (Universidade do Estado do Pará); Simone de Jesus da Fonseca Loureiro (Secretaria Municipal de Educação de Belém); Lorena Bischoff Trescastro (Secretaria Municipal de Educação de Belém); Lucia Cristina Azevedo Quaresma (Secretaria Municipal de Educação de Belém)
Este artigo tem como objeto ressaltar o interesse dos alunos pelas brincadeiras vivenciadas na hora do recreio, que passam de geração em geração. A partir dos textos nosso estudo permite perceber como as crianças expressam suas impressões sobre as brincadeiras no recreio de turmas do Ciclo I – 3º ano do ensino fundamental do município de BelémPA. Tem como objetivo analisar como na era digital, as brincadeiras de rua, que aqui denominamos como populares, continuam vivas. A questão norteadora: as brincadeiras populares/rua são ainda vivenciadas pelas crianças? As brincadeiras de rua resistem ou coexistem com as digitais? As brincadeiras no recreio são a extensão das brincadeiras vivenciadas com os amigos próximos de suas residências? A hipótese desse estudo é que o brincar é um dos pilares da infância, que mesmo com o advento da tecnologia, as brincadeiras de rua continuam dentro das preferências das crianças. Trata-se de uma pesquisa do tipo documental a partir da análise de quarenta (40) textos escritos pelas crianças em duas escolas da rede municipal de Belém. Os textos foram escritos no ano de 2016 com fins de avaliação diagnóstica da aprendizagem escolar dos alunos, realizada pelo Grupo Base da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belém. Textos que versam sobre a rotina escolar – as brincadeiras no recreio. Esta análise se fundamenta em Vigotski (2009,); Kramer (1998); Sarmento (2003). Na escrita dos textos das crianças foram constatadas 138 ocorrências de brincadeiras, no qual agrupamos em 8 brincadeiras, a saber: (1) Brincadeiras de “pira”; (2) Brincadeira de “bola”; (3) Brincadeiras de “saltar” ou “rebolar”; (4) Brincadeiras de “tabuleiros” ou de “memória” e “agilidade”; (5) Brincadeira de “polícia e ladrão” ou de “bandeirinha”, ou de “suco envenenado”; (6) Brincadeiras de “boneca”; (7) Brincadeiras com “equipamentos públicos de lazer”; (8) Brincadeiras de “luta”. Nos resultados da pesquisa, os dados coletados nos conduzem a uma repensar que, mesmo na contemporaneidade, no oferecimento de tecnologias inovadoras quanto à inserção de jogos eletrônicos sofisticados, há um espaço privilegiado na escola em que as brincadeiras de rua são visivelmente aceitas e materializadas pelas crianças. Quando a criança foi instigada a escrever sobre a rotina do recreio, elas registraram um número expressivo de brincadeiras, de um legado temporal, histórico, uma marca de transmissão oral, uma variedade de brincadeiras que cruzam várias gerações.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Referências: SARMENTO, M. Imaginário e Culturas da Infância. Cadernos de Educação (Revista da Fac. Educação da Univ. de Pelotas, RS, Brasil), 2003, ano 12, n. 21, p. 51-69. VIGOTSKI, L S. Imaginação e criação na infância: ensaio psicológico. Livro para professores. Apresentação e comentário: Ana Luiza Smolka. Trad. Zoia Prestes. São Paulo: Ática, 2009. Palavras-chave: brincadeiras de rua; criança; textos infantis; relações sociais.
09/02/2023 (quinta) - 11h às 12h30 - Sessão 27
Local: Sala ED 11 - Prédio Anexo 1 - FE/Unicamp
PARTILHANDO EXPERIÊNCIAS: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DA OBRA LITERÁRIA “NADANDO CONTRA A MORTE”, DE LOURENÇO CAZARRÉ
Kelly da Silva Oliveira (Colégio Multiplus); Susana Angelin Furlan (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) Partilhando experiências: a importância da leitura da obra literária “Nadando contra a morte”, de Lourenço Cazarré. Kelly da Silva Oliveira Susana Angelin Furlan Este trabalho relata experiências de duas educadoras-pesquisadoras a partir da leitura da obra literária “Nadando contra a morte”, de Lourenço Cazarré (2005). Utiliza-se metodologicamente da pesquisa autobiográfica (DELORY-MOMBERGER, 2011) e da pesquisa narrativa (LIMA; GERALDI; GERALDI, 2015). As reflexões apresentadas são resultantes da leitura da obra e de proposições de trabalho a partir dela em sala de aula, bem como da reflexão de ela pode enriquecer outros textos, como de uma tese de doutorado. O encontro das autoras que aqui propõem esse relato proporcionou que esse mergulho, que se deu também com a personagem Maria do Amparo, pudesse ser transformador, o que nos levou a escrever sobre as diversas possibilidades de aproveitamento dessa literatura nas reflexões sobre a educação e sobre a vida. A partir das narrativas, foi possível delinear algumas reflexões no campo da educação: a experiência de uma professora do 9º ano do Ensino Fundamental e a experiência de uma doutoranda que utilizou da obra como inspiração metodológica para a escrita de um dos capítulos de sua tese. O relato da professora é fruto do apresentar aos estudantes literatura de diferentes autores. Nessa leitura, os estudantes, indignados com o final da história, decidiram criar um desfecho para Maria do Amparo e o fizeram em busca da justiça. Nesse relato, o desejo é o de compartilhar aquilo que ecoou naquela sala de aula: ideais de justiça e de respeito ao próximo na identificação com a personagem que tanto sofre e que tanto cala, ao longo da trama. Os jovens deram voz à menina e a ouviram, ao permitir que ela tivesse um novo destino. Na experiência advinda da doutoranda, a pesquisa sobre o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e a intergeracionalidade traz como metodologia a pesquisa cartográfica e, dessa forma, utilizamos, durante a tese, diversas inspirações, uma delas é o romance-reportagem “Nadando contra a morte” em um dos capítulos que foi construído contando a história dos grupos socioeducativos observados através dos relatos das pessoas que participaram, assim como no modo de escrita do livro, que conta sua história através das experiências das pessoas que estavam próximas à Maria do Amparo. Destacamos a leitura para inspirar a escrita criativa. Neste caminhar de narrativas-poéticas, encontramo-nos com reflexões sobre a importância da literatura na vida de pesquisadores, de educadores e de estudantes como um caminho para a construção de ideais de respeito e de empatia, visto que o leitor é concebido como construtor de sentidos e, desse modo, contribui para o desenvolvimento da leitura como prática humanizadora (CANDIDO, 2004).
Palavras-chave: narrativas; experiências; literatura.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
QUEM É FLICTS? MEDIAÇÃO DE LEITURA E TEMÁTICA DA INCLUSÃO
EM TEXTOS DE CRIANÇAS DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Lorena Bischoff Trescastro (CEP Getúlio Vargas, Belém – PA); Vania Maria Batista Sarmanho (SEDUC, Belém – PA); Cilene Maria Valente da Silva (SEDUC, Belém –PA); Simone de Jesus da Fonseca Loureiro (SEDUC, Belém – PA); Lucia Cristina Azevedo Quaresma (SEDUC, Belém – PA)
Este estudo, fundamentado em Bakhtin (2009), Colomer (2007) e Vigotski (2009), tem por objetivo investigar a representação do personagem Flicts, por crianças do 3º ano do Ensino Fundamental, na produção e ilustração de textos a partir da mediação de leitura da obra literária Flicts, de Ziraldo (1969). Como forma de abordar a temática da diversidade e da inclusão em sala de aula, a escolha da obra se justifica porque o livro mostra a cor Flicts, com um tom terroso bege, que se sente excluída por não ser tão forte quanto o vermelho, não ter a imensidão do amarelo e nem a paz do azul (CRUZ, 2020). O locus é uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública municipal de Belém – PA, Brasil, composta por 21 crianças, de 8-11 anos de idade, sendo 7 meninas e 14 meninos. A mediação de leitura iniciou com a questão: Quem é Flicts? para instigar a imaginação das crianças nas atividades de oralidade, leitura, produção de desenhos e escrita de histórias no contexto da sala de aula. Em seguida, foi feita a apresentação das ilustrações do livro, página a página, acompanhada de leitura em voz alta da história pela professora. Por fim, foi solicitada às crianças a produção de desenhos e escrita da história. Flicts narra a história de uma cor diferente, que não consegue se encaixar em nenhum lugar. Para as crianças, quem seria Flicts? De cunho qualitativo, essa foi a questão que instigou a análise das 21 produções infantis. Na análise, observou-se que, em seus desenhos, predominaram a representação do personagem na cor marrom e a ilustração do arco-íris colorido, assim como o autor apresentou nas ilustrações da obra. Na escrita, as crianças se posicionaram de maneira respeitosa e solidária ao Flicts, revelando percepção da diversidade das cores e sensibilidade para a inclusão e/ou exclusão do diferente. Afinal, esse diferente pode ser qualquer um de nós ou um coleguinha da turma, pois a temática possibilita abordar a temática com respeito às diferenças. No que se refere ao trabalho de literatura e educação, o estudo mostra que entre a obra literária escolhida e lida pela professora à turma se interpõe um outro leitor – a criança – que interpreta e representa o texto literário tanto de modo reprodutivo quanto de modo singular, indicando, também sua compreensão acerca da temática da diversidade e inclusão social.
Referências: BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 13. ed. Tradução de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 2009. COLOMER, Teresa. Andar entre livros: a leitura literária na escola. Tradução de Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2007. CRUZ, Felipe Branco. Os 50 anos de Flicts. Disponível em: https://entretenimento. uol.com.br/reportagens-especiais/50-anos-de-flicts-do-ziraldo/. Acesso em: 25/09/2020. VIGOTSKI, Lev Semionovich. Imaginação e criação na infância: ensaio psicológico. Tradução de Zoia Prestes. São Paulo: Ática, 2009.
Palavras-chave: mediação de leitura; representação imagética; produção escrita. literatura; inclusão social.
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
REPRESENTAÇÕES DE INFÂNCIAS MARAJOARAS EM “CHOVE NOS CAMPOS DE CACHOEIRA”, DE DALCÍDIO JURANDIR
Lorenna Bolsanello de Carvalho (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
O presente trabalho analisa representações de infâncias marajoaras no romance inaugural de Dalcídio Jurandir, intitulado “Chove nos Campos de Cachoeira”. Esta pesquisa se inscreve na área de História da Educação, sob o enfoque dos estudos da infância e dos impressos. A pesquisa tem como recorte temporal o período de 1909 a 1941, ano de nascimento do autor e ano de publicação da primeira edição da obra estudada, respectivamente. Tal período abarca não apenas o momento final de crescimento econômico do Ciclo da Borracha na Amazônia, mas também o seu colapso. Dalcídio Jurandir nasceu no dia 10 de janeiro de 1909, na Vila de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó. Atuou em cargos públicos no interior do Pará, além de contribuir para diversos impressos ao longo de sua permanência no estado. Ganhou o prêmio Dom Casmurro, pela Editora Vecchi, pelo seu primeiro romance. Ao conjunto de dez romances dalcidianos que retratam a História da Amazônia a partir da narrativa da vida de sujeitos comuns do Marajó e da capital, a crítica literária denominou Ciclo do Extremo Norte. Ao narrar vivências da “aristocracia de pé no chão”, titulação dada por Jurandir ao conjunto de seus personagens, ganha destaque uma população pouco visibilizada na literatura brasileira. Para Farias (2009, p. 69), “Ao criar um espaço e personagens em uma localidade, Dalcídio procura aproximar-se da realidade objetiva dos indivíduos ali representados. Seu ofício, amargamente realizado, passou a significar a possibilidade de ‘eco’ a voz de um povo sempre esquecido e sofrido”. É importante destacar que os estudos da infância no âmbito da História da Educação trazem à cena pesquisas acerca de novos sujeitos históricos e a consequente necessidade de ampliação de fontes analisadas para abarcar a multiplicidade de vivências e sua diversidade social e cultural. Muitas são as possibilidades de experiências infantis, frequentemente atravessadas por fatores interseccionais de gênero, raça e classe, por exemplo. Nesse sentido, a Literatura tem revelado interessante potencial para a análise de representações pouco evidentes em fontes históricas convencionais (cf. GALVÃO, 1996). Com este trabalho, buscamos contribuir para o debate sobre a pertinência da Literatura como fonte histórica, além de trazer à cena infâncias amazônicas pouco visibilizadas. Apesar de sua relevância estética e social, a obra de Dalcídio ainda é pouco divulgada no âmbito da Literatura Nacional, sendo necessário um resgate memorialístico do conjunto de romances do autor.
Referências: FARIAS, Fernando Jorge dos Santos. Representação de Educação na Amazônia e Dalcídio Jurandir: (des)caminhos do personagem Alfredo em busca da educação escolar. Orientadoras: Profª. Drª. Josebel Akel Fares e Profª. Drª. Denise Simões Rodrigues. Universidade do Estado do Pará. Dissertação de Mestrado, 2009.
GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Problematizando fontes em História da Educação. Educação e Realidade, v. 21, n. 2, p. 99-118, 1996.
Palavras-chave: infâncias; história da educação; romance; Dalcídio Jurandir.
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
COLEÇÕES PARA JOVENS LEITORES: DICIONÁRIOS, ENCICLOPÉDIAS, BELAS LETRAS E COMPÊNDIOS NA BIBLIOTECA DO EXTERNATO DO COLÉGIO PEDRO II (1927-1929)
Victor Soares Rosa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)
Este estudo trata dos impressos destinados ao jovem leitor do final da década de 1920 abrigados na biblioteca escolar do ensino secundário. Objetiva conformar a coleção da biblioteca do Colégio Pedro II por meio da identificação dos materiais que circulam no Externato, sua unidade no Centro do Rio de Janeiro. Para atingilo, empreendeu-se uma pesquisa histórica e documental que analisou as fontes históricas salvaguardadas no Núcleo de Documentação de Memória da instituição, especialmente o relatório administrativo produzido pelo bibliotecário do Externato. A análise desse relatório (BIBLIOTHECA..., 1930) aponta a presença de alguns determinados tipos de materiais. Ressalta-se, por exemplo, a aquisição de dicionários e enciclopédias, gerais e temáticos, e em diferentes línguas. Isso, tendo em vista os objetivos e características desses gêneros, se articula ao objetivo pedagógico da instituição de promover uma formação científica e afrancesada (DARNTON, 2020; MOLLIER, 2008). Não obstante, sublinha-se as obras de literatura, classificadas como belas letras ou edições clássicas, que, por sua vez, resvalam na proposta de formação clássica, humanística, de cultura geral e erudita (RAZZINI, 2000). Por fim, compêndios e livros escolares também compõem a coleção do Externato do Colégio Pedro II. Identifica-se a presença de compêndios de História, de Física, entre outras matérias. Nesse sentido, considera-se que as coleções para o jovem leitor estudante do ensino secundário brasileiro consistem de tais obras que podem ser conformadas pelos seus tipos – dicionários, enciclopédias, belas letras e compêndios – em diálogo com a formação científica, humanística e de cultura geral desse nível de ensino.
Referências: BIBLIOTHECA: relatorios apresentados a esta directoria pelo Dr. João José Fernandes Veiga, bibliothecario do Externato, relativos aos annos de 1927, 1928 e 1929. In: COLLEGIO PEDRO II. Externato. Relatorio concernente aos annos lectivos de 1927 a 1929: apresentado ao Exmo. Snr. Director Geral do Departamento Nacional do Ensino: pelo Prof. Euclides de Medeiros Guimarães Roxo Director do mesmo Extenato. Rio de Janeiro, 1930. p. 213-224. DARNTON, Robert. Os filósofos podam a árvore do conhecimento: a estratégia epistemológica da Encyclopédie. In: DARNTON, Robert. O grande massacre de gatos: e outros episódios da história cultural francesa. 5. ed.
São Paulo: Paz e Terra, 2020. p. 247-276. MOLLIER, Jean-Yves. Biblioteca de Babel: coleções, dicionários e enciclopédias. In: MOLLIER, Jean-Yves. A leitura e seu público no mundo contemporâneo: ensaios sobre História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 129-139. RAZZINI, Marcia de Paula Gregorio. O espelho da nação: a Antologia Nacional e o ensino de português e de literatura (1838-1971). 2000. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2000.
Palavras-chave: bibliotecas escolares; Colégio Pedro II; ensino secundário, história da leitura.
ÍNDICE DAS COMUNICAÇÕES POR AUTOR A
Adriana Cícera Amaral Fancio (Universidade Federal de São Carlos); Luzmara Curcino (Universidade Federal de São Carlos) com33
Adriana Maria de Assumpção (Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade Estácio de Sá); Carla Antunes Pereira (Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade Estácio de Sá) .................................................................................................................... com75
Adriana Maria de Assumpção (Universidade Estadual de Campinas); Harime de Jesus Arcenio Bonfim (Universidade Estácio de Sá); Patricia Batista Santos (Universidade Estácio de Sá)..................... com118
Aira Suzana Ribeiro Martins (Colégio Pedro II) .................................................................. com99
Alberto Fernando Gil Dias (Universidade Estadual de Campinas) com24
Alessandra Gomes Varisco (Universidade São Francisco); Milena Moretto (Universidade São Francisco) com80
Alessandra Heckler Stachelski (UFRGS) com81
Aline Santos Costa de Lemos (SMEC Itaguaí); Márcia Cabral da Silva (Universidade do Estado do Rio de Janeiro); Soyane da Silva Santos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) ............... com70
Alzira Fabiana de Christo (Unicentro) ................................................................................ com34
Ana Cristina Ayres Motta (Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá); Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto (Universidade Estadual de Campinas) com23
Ana Paula de Lima (Secretaria de Educação de São Paulo) com42
Ana Paula Valle Pereira (Universidade Federal Fluminense); Shaula Maíra Vicentini de Sampaio (Universidade Federal Fluminense) com99
Anderson Cristiano da Silva (SEDUC-SP) .......................................................................... com120
Ariana Sousa de Moraes Sarmento (SED/SC – EEB Padre Anchieta) ............................... com120
Bruna Gabriela Nico Pereira Herculano (Wish School); Carolina Rodrigues de Souza (UFScar);
Marcelle Tácita de Oliveira (UFScar) ................................................................................ com121
Bruna Gabriela Nico Pereira Herculano (Wish School); Carolina Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos) com82
Carla Bispo Azevedo (ProPEd/UERJ) com35
Chrissie Castro do Carmo (IFAP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia); Mônica do Socorro de Jesus Chucre Costa (IFAP/ UNICAMP) com109
Cilene Maria Valente Silva (SEDUC – BELÉM – PA); Lorena Bischoff Trescastro (CEP Getúlio
Vargas, Belém – PA) ........................................................................................................... com90
Cláudia de Oliveira Daibello (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’ Oeste) ................ com61
Cláudia Fernandes de Amorim de Oliveira (UERJ); Márcia Cabral da Silva (UERJ) .......... com105
Cláudia Regina Lemes (Secretaria Estadual de Educação); Paulo Roxo Barja (Universidade do Vale do Paraíba) com90
Daniele Aparecida Alves Biondo (UNICAMP) com53
David da Silva Pereira (UTFPR); Silvana Dias Cardoso Pereira (GPOPP – UTFPR-CP e ALLE-AULA FE-UNICAMP) .................................................................................................................... com75
Davi Henrique Correia de Codes (Unicamp) ........................................................... com7, com61
Débora Sara Ferreira (Prefeitura Municipal de Limeira); Eliane Aparecida Bacocina (IFSP); Lara
Jatkoske Lazo (E.M.A Eng. Rubens Foot Guimarães) ......................................................... com78
Débora Sara Ferreira (Prefeitura Municipal de Limeira); Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) com10
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Denise Aparecida de Paulo Ribeiro Leppos (SME São Carlos – CEMEI Deputado Vicente Botta) ........................................................................................................................... com57
Denise Aparecida de Paulo Ribeiro Leppos (SME São Carlos – CEMEI Deputado Vicente Botta) ............................................................... ................................................. com110
Eduardo Ferrinha Alves Moreira (Unicamp) ...................................................................... com62
Elaine de Barros Manhanini Sampaio (Colégio Pedro II); Marta Patrícia Peixoto Duarte de Deco (Colégio Pedro II) com100
Eliana Kefalás Oliveira (Universidade Federal de Alagoas) com63
Érika Menezes de Jesus (Instituto Federal Fluminense) com91
Fernanda Camargo Dalmatti Alves Lima (Prefeitura Municipal de Campinas); Renata Barroso de Siqueira Frauendorf (Avisa Lá/Unicamp) .................................................................... com105
Fernanda Elias Zucarelli (Colégio Pequeno Príncipe)......................................................... com63
Fernanda Maya Guimarães (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) ........................ com54 G
Gabriela de Sousa Tóffoli (Universidade Federal do Paraná); Thalita Alves Sejanes (Universidade Federal do Paraná); Kátia Maria Kasper (Universidade Federal do Paraná) ................. com92
Gabriella Pizzolante da Silva (Universidade Federal de São Carlos); Carolina Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos) com43
Gabrielle Carla Mondego Pacheco Pinto (UERJ); Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza (UERJ) com111
Giovanna Rodrigues Cabral (Universidade Federal de Lavras) ............................. com12, com13
Gizele Cristina Rodrigues Caparroz de Almeida (Elos Educacional); Nadejda Ramirez Starikoff (Colégio Nossa Senhora do Morumbi) .............................................................................. com24
Greice Ferreira da Silva (Universidade Estadual de Londrina) ........................................... com44
Heloisa Chalmers Sisla (UFSCar); Patrícia Andrea do Risso (UFSCar); Mariana Alves de Souza Gasparotto (UFSCar) com35
Isabela Ramalho Orlando (FE/Unicamp) com59, com60
Isadora Franco Di Gianni (Prefeitura Municipal de Campinas) com40
Isis Parise Silva (FE/Unicamp) com45
Ivânia Marques (Prefeitura Municipal de Americana) ....................................................... com76
Izabel Cristina Barbosa de Oliveira (IFAL – Piranhas) ........................................ com104, com107
Janaína de Souza Silva (Unicamp)...................................................................................... com57
Jaqueline de Meira Bisse (Secretaria Municipal de Educação de Campinas – EMEFEI Padre
Francisco Silva); Mariana Roveroni (Secretaria Municipal de Educação de Campinas – FE/ UNICAMP) com112
José Carlos Fernandes (Universidade Federal do Paraná) com70
Josiane de Souza Soares (CAP – UFRJ) com71
Josiele Vita da Silva Tavares (UFLA) com46
Juliana Pimentel Ajala (Universidade São Francisco ); Luzia Bueno (Universidade São
Francisco) ............................................................... ................................................. com36
Karen Cezar Baptista (UNICAMP); Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto (UNICAMP) ....... com31
Karina Mayara Leite Vieira (Prefeitura Municipal de Campinas) ....................................... com48
Kelly da Silva Oliveira (Colégio Multiplus); Susana Angelin Furlan (Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho) ..................................................................................... com124
Lara Jatkoske Lazo (E. M. A. Eng. Rubens Foot Guimarães) ................................................. com5
Larissa de Souza Oliveira (Faculdade de Educação – Unicamp); Lilian Lopes Martin da Silva (Faculdade de Educação – Unicamp) ................................................................................. com47
Laura Andreoli Mariano (UFSCar) ...................................................................................... com14
Leila Regina Oliveira Chinelatto (Universidade de Sorocaba) com94
Letícia Vidigal (Prefeitura Municipal de Cambé – PR); Nathalia Martins Beleze (SME); Sandra Aparecida Pires Franco (Universidade Estadual de Londrina) com84
Lívia Sgarbosa (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba); Carolina Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba) ................................ com25
Lorena Bischoff Trescastro (CEP Getúlio Vargas, Belém – PA); Vania Maria Batista Sarmanho (SEDUC, Belém – PA); Cilene Maria Valente da Silva (SEDUC, Belém – PA); Simone de Jesus da Fonseca Loureiro (SEDUC, Belém – PA); Lucia Cristina Azevedo Quaresma (SEDUC, Belém – PA).................. com125
Lorenna Bolsanello de Carvalho (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) com85, com126
Lucia de Fatima Dinelli Estevinho (Universidade Federal de Uberlândia) com26
Luci Mary Corrêa Lopes (Universidade Federal de Rondônia); Monise Adriana Buso Velho (Universidade Federal de Rondônia) com72
Luís Fernando Portela (Prefeitura Municipal de Passo Fundo/Universidade Federal do Rio Grande do Sul) ................................................................................................................... com28
Luiza Barboza Braz (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) ....................................... com95
Luiza Dantas Benttenmüller Amorim (UFF) ....................................................................... com27
Luiz Felipe Medina (Unicamp); Alik Wunder (Unicamp) com38
Luiz Fernando da Costa Soares (UERJ) com86
Luzmara Curcino (Universidade Federal de São Carlos) com96
M
Marcelle Tacita de Oliveira Gomes (UFSCar); Carolina Rodrigues de Souza (UFSCar) com14
Maria Beatriz Gameiro Cordeiro (IFSP); Rafaely Carolina da Cruz (Unicamp); Kennedy Cabral Nobre (Unilab); Anna Christina Bentes (Unicamp) ............................................................ com77
Maria Betanea Platzer (Universidade de Araraquara) ....................................................... com15
Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza (Universidade do Estado do Rio de Janeiro);
Victor Soares Rosa (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) com86
Mariana Rezende Gontijo (Escola Estadual da Vila Boa Vista) com16
Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo (Universidade Estadual Paulista) com65
Marielly Agatha Machado (UNICAMP); Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto (UNICAMP); Giovanna Santos de Freitas Caires (UNICAMP) .................................................... com49
Marisa de Souza Cunha Moreira (Universidade Estadual Paulista) ................................... com66
Mellina Silva (UNICAMP) ................................................................................................... com49
Michele Fernandes Gonçalves (UFSC) ............................................................................... com28
Michele Ribeiro de Carvalho (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ GRUPEEL UERJ); Aline
Santos Costa de Lemos (Smec Itaguaí/GRUPEEL UERJ); Gabrielle Carla Mondêgo Pacheco
Pinto (SME Rio de Janeiro/GRUPEEL UERJ) com87
Milena Bachir Alves (Unicamp) com39
Miriam Martinez Guerra (UFNT) ......................................................................................... com8
Moema de Souza Esmeraldo (UFRR) ................................................................................. com96
Monica do Socorro de Jesus Chucre (UNICAMP / IFAP); Chrissie Castro do Carmo (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá ) .................................................. com106
Naila de Figueiredo Portugal (Fundação Municipal de Educação de Niterói).................... com58
conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Natália Mazzilli Dias (Unicamp) com29
Nathalia Carolina Azevedo de Medeiros (USP); Patrícia Aparecida do Amparo (USP) ........ com6
Nathalia Martins Beleze (SME); Letícia Vidigal (PMC); Sandra Aparecida Pires Franco (Universidade Estadual de Londrina) ............................................................................................... com19
Pamella Doria de Souza Martins (Universidade Estadual de Campinas) ......................... com117
Patricia Rita Cortelazzo (Colégio Técnico de Campinas); Mara Rosângela Ferraro Nita (Colégio Técnico de Campinas) com101
Paulo Cesar Franco (Secretaria de Educação de São Paulo) com67
Paulo Roxo Barja (UNIVAP); Cláudia Regina Lemes (Secretaria Estadual de Educação de São Paulo) com68
Rafael Caetano do Nascimento (Unicamp); Andrea Desiderio da Silva (Unicamp) ........... com67
Rafaely Carolina da Cruz (Unicamp); Davina Marques (IFSP Hortolândia) ........................ com54
Raphaela de Toledo Desiderio (Universidade Federal da Fronteira Sul) .......................... com119
Renata de Mello Santos Leviski (MPPEB – Colégio Pedro II); Aira Suzana Ribeiro Martins (MPPEB – Colégio Pedro II) ................................................................................................ com30
Renata de Mello Santos Leviski (MPPEB – Colégio Pedro II); Elaine de Barros Manhanini Sampaio (MPPEB – Colégio Pedro II) com88
Rita de Cássia Bento Manfrim (SME Campinas) com113
Rodrigo Luiz de Araujo (Prefeitura de São José dos Campos) ........................................... com20
Rodrigo Soares Brito (Universidade São Francisco); Milena Moretto (Universidade São
Francisco) ............................................................... ............................................... com114
Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia (Universidade Federal da Fronteira Sul) ........ com83, com115
Rosalina Albuquerque Henrique (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Rita de Cássia Bastos Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Izabel Conceição Nascimento Costa dos Santos (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Katia Cilene Nina Santos (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Sérgio Renato Lima Pinto (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Edilena Pinheiro Guerra (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Walter da Silva Braga (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Iza Cristina Prado da Luz Gaspar (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire – Universidade Federal do Pará) ....... com55
Rosana Aparecida Motta Barcella (Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Educação de Ibaté) com21
Rosangela Eliana Bertoldo Frare (Secretaria Estadual de Educação – SP); Cidinéia da Costa Luvison (Secretaria Estadual de Educação – SP; Centro Universitário de Itapira – UNIESI) com17
Sarah Cristina Costa Ferreira (Universidade Federal de Lavras) com73
Sérgio Renato Lima Pinto (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Luiza Pereira da Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Maria Cleonice da Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Rita de Cássia Bastos Silva (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Rosalina Albuquerque Henrique (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Simone de Jesus da Fonseca Loureiro (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Walter da Silva
Braga (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire); Izafira de Souza Gregianin (Centro de Formação de Educadores Paulo Freire) com50
Silvana Dias Cardoso Pereira (Unicamp – FE – Grupo ALLE/AULA); David da Silva Pereira (GPOPP – UTFPR CP e PPGEN) com51
Simone Cristiane Schiavon Ayres (Academia Popular de Letras de São Caetano do Sul) ......... com97
Simone Lopes Benevides (CEFET-RJ)....................................................................... com9, com11
Simone Lucas Gonçalves de Oliveira (Unicamp/Faculdade de Educação) ....................... com116
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres
Tatiane Aparecida Carneiro Teixeira (Centro Universitário de Araraquara); Maria Betanea
Platzer (Centro Universitário de Araraquara) .................................................................... com18
Tiago da Silva Abreu (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) ................................ com102
Valdete da Macena Pardinho (Universidade do Estado da Bahia); Josinéa Amparo Rocha
Cristal (Universidade do Estado da Bahia) ........................................................................... com2
Valéria Rocha Aveiro do Carmo (Universidade Estadual de Campinas) ............................... com3
Vania Maria Batista Sarmanho (SEMEC); José Anchieta de Oliveira Bentes (Universidade do Estado do Pará); Simone de Jesus da Fonseca Loureiro (Secretaria Municipal de Educação de Belém); Lorena
Bischoff Trescastro (Secretaria Municipal de Educação de Belém); Lucia Cristina Azevedo Quaresma (Secretaria Municipal de Educação de Belém) com122
Victor Hugo da Silva Iwakami (Unicamp) ........................................................................... com41
Victor Soares Rosa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)......................... com127
Welington Santana Silva Júnior (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba); Carolina
Rodrigues de Souza (Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba).............................. com4
Zélia Amorim de Proença (Prefeitura Municipal de Campinas); Ana Paula de Freitas (Universidade São Francisco) com22
Os conhecimentos vagueiam mundo e baixam nos corpos para avivar os seres

