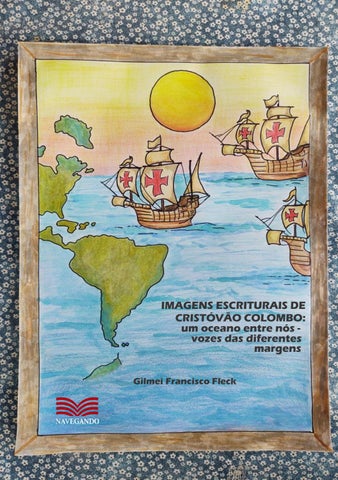9 minute read
PALAVRAS FINAIS
Frente ao exposto ao longo deste estudo, fica evidente que há, no contexto das produções de imagens escriturais sobre Cristóvão Colombo e suas ações, um oceano de discursos dissonantes que evocam o passado que registrou o “descobrimento” da América por Cristóvão Colombo: um projeto exaltador, apologético e mitificador da imagem do marinheiro e suas ações e outro crítico/desconstrucionista que, em algum momento, abandona os experimentalismos linguísticos e formais que estruturavam obras impugnadoras dos discursos históricos e ficcionais benevolentes ao marinheiro para, então, transformar-se em um discurso crítico/mediador. Nesse sentido, embora se edifiquem aspectos da tendência contemporânea crítica/mediadora – como o uso de relatos feitos em primeira pessoa centrados em vozes ex-cêntricas e a subjetivação da história –, os recursos escriturais aplicados à ficção pela grande maioria dos romancistas espanhóis na tessitura das obras romanescas da temática colombina distanciamse, ainda, do discurso paródico, irônico, carnavalizado, polifônico e dialógico empregado na grande maioria das obras dessa temática no contexto da literatura hispano-americana e já, em partes, também, na anglo-saxônica estadunidense. O diálogo entre as distintas correntes encontra no romance histórico contemporâneo de mediação a sua via mais frutífera. Tal modalidade crítica/mediadora de escrita híbrida de história e ficção já não precisa desconstruir imagens e discursos de modo tão ferrenho, pois essa necessária etapa de enfrentamento para a descolonização já foi realizada pela literatura hispano-americana das décadas do boom e do princípio do pós-boom. A ação crítica, ideológica e discursiva dos romances de mediação centra-se em evidenciar perspectivas muitas vezes marginalizadas, com discursos críticos ancorados em visões periféricas daqueles sujeitos que vivenciaram as ações do passado, mas não integram a galeria das personagens cujas vozes ressoam nos documentos e fontes oficiais que serviram à história tradicional hegemônica como “concretudes” para a escrita de sua versão unívoca do passado. No universo latino-americano, repetir, na atualidade, a configuração heroica de Colombo, mais de um século e meio depois da inauguração da temática na narrativa norte-americana anglo-saxônica, para avalizar o discurso colonizador de dentro mesmo do espaço colonizado é uma atitude escritural questionável, que revela a ainda forte presença de setores firmemente ancorados nos procedimentos seculares da colonização. A produção contemporânea do brasileiro Paulo Novaes (2006), e toda a ideologia colonizadora que dela ainda emana, destoa do cenário artístico literário crítico e consciente dos romancistas brasileiros que ressignificam o passado da colonização portuguesa em nossas letras. Tais escritores se unem
aos tons críticos/desconstrucionistas das demais nações latino-americanas que olham para o passado de colonização com intenções descolonizadoras, uma realidade que, por sorte, já vivemos na atualidade latino-americana como um todo.
Advertisement
Assim, a literatura brasileira apresenta uma série de escritas híbridas de história e ficção que são críticas e desconstrucionistas com relação à colonização portuguesa, mas, em se tratando das imagens escriturais de Colombo, as poucas ocorrências alinham-se à produção de imagens mitificadoras, exaltadoras e apologéticas do “descobridor”, ecoando, no século XXI, as imagens heroificadas primeiras do marinheiro na literatura estadunidense do século XIX. O discurso edificante da vida e feitos de Colombo, proferido na voz do narrador da obra de Paulo Novaes (2006), parece reflexo daquele idealizador romântico, presente na obra de Washington Irving (1992, p. 13); “[...] las rigurosas y varias lecciones de su juventud le dieron aquellos conocimientos prácticos, [...] aquella indomável resolución, [...] que tanto le distinguieron después307”; ferozmente combatido pelo narrador de The memoirs of Christopher Columbus (1987), de Stephen Marlowe, porém, parafraseado pela personagem narrador frei Gorriccio em A caravela dos insensatos (2006). Essa diversidade das imagens escriturais sobre Colombo no espaço antes colonizado da América revela os diferentes estágios de conscientização da população do continente frente aos ditames e paradigmas coloniais vistos na atualidade. A produção de romances históricos tradicionais em terras latinoamericanas, no século XXI, com esse tom que se harmoniza com o discurso hegemônico da história tradicional sobre os europeus conquistadores da América, assinala como os processos de descolonização não são homogêneos e, além disso, revela setores culturais que seguem ainda mantendo em nossas terras as ideologias colonizadoras do passado. Assim, não se pode negar que ainda há no Brasil – como em outros países latino-americanos – resquícios fortes de colonialismo que possibilitam a escrita e publicação de obras com o teor de A caravela dos Insensatos (2006). Desse modo, os romances de tendência tradicional, como os de Luiza López Vergara (1988), de Francés Vidal (1999), de Edward Rosset (2002), e de Paulo Novaes (2006) são exemplos que provam a atualidade do emprego dos traços mais conservadores do gênero híbrido de história e ficção nas elaborações romanescas históricas feitas em nossos dias. Além do mais, nessas obras, podem-se destacar não só antigas ideologias europeias ainda em vigor entre os povos outrora dominados, como a supervalorização dos aspectos religiosos da empreitada “descobridora” de Colombo, assim como o fato do
307 Nossa tradução: [...] as rigorosas e várias lições de sua juventude deram-lhe aqueles conhecimentos práticos, [...] aquela indomável resolução, [...] que tanto lhe distinguiram depois […]. (IRVING, 1992, p. 13).
discurso ficcional servir ainda como aval das imagens consagradas pelo discurso histórico de sujeitos políticos que exerceram o poder, quase sem limites. A ocorrência ainda contemporânea de escritas romanescas híbridas de história e ficção em tom edificador e apologético com relações às ações dos colonizadores na América comprova, também, nossa afirmação de que, com exceção da modalidade clássica scottiana, todas as demais, constituintes das três fases – acrítica, crítica/desconstrucionista e crítica/mediadora –, mantêm sua produção até nossos dias. Nesse contexto, as modalidades críticas/desconstrucionistas da segunda fase da trajetória do gênero são as que promovem a desterritorialização do imaginário latino-americano – espaço vital da formação ideológica de um povo – e que foi habilmente conquistado pelo poder colonizador no contexto da América Latina. A eficiência das ações colonizadoras empreendidas nesse sentido de não somente se apossar do território geográfico, mas, também, do imaginativo, é tanta que a grande maioria da população latino-americana ou não sabe que segue intelectualmente colonizada ou nega absolutamente tal condição, defendendo, desse modo, o próprio persistente sistema colonialista. A leitura de obras críticas/experimentalistas como The memoirs of Christopher Columbus (1987), de Stephen Marlowe, Vigilia del Almirante (1992), de Augusto Roa Bastos, ou Meu querido Canibal (2010), de Antonio Torres –expoentes da modalidade da metaficção historiográfica em cada uma das línguas em que se dão as expressões romanescas por nós examinadas –, não encontram na América em partes ainda colonizadas um número expressivo de leitores hábeis o bastante para conceber nelas as ressignificações contidas na arte literária nesse ambiente imaginário ainda territorializado das mentes não formadas adequadamente à leitura literária. Ao ressignificar o passado – incorporando ao tecido narrativo muitas das escritas oficiais pela intertextualidade e a paródia, dando um tratamento carnavalizado ou mediador à configuração dos heróis instituídos pelo discurso historiográfico tradicional –, o romance histórico, em suas vertentes críticas, reterritorializa esse espaço imaginário do sujeito latino-americano com perspectivas pluralizadas dos fatos passados. Isso se dá pelo emprego de um discurso paródico, polifônico e dialogizante, construído com uma linguagem heteroglóssica que revela, pelo amálgama das múltiplas variantes linguísticas, as distintas camadas sociais envolvidas nos acontecimentos que levaram aos fatos históricos consagrados nos anais da história. Efeitos de uma leitura com tal caráter crítico vão, aos poucos, atuando como vias de descolonização na mente do leitor ao desterritorializar o espaço imaginário fortemente dominado ao longo dos séculos de colonialização pela imposição de um discurso unívoco, assertivo e, em muitos aspectos, patriarcalista e hegemônico. Conforme muito bem assinala Antônio Esteves (2010, p. 25),
[...] como leitora privilegiada dos signos da história, a literatura é cerne de renovação. Com ela, no que diz respeito a esse intrincado circuito de dupla relação formado pela América e pela Europa, os escritores anunciam sempre novos caminhos que garantam a pluralidade das culturas organizadas em um mundo multipolar.
São essas as escritas romanescas nas quais ecoam as vozes silenciadas de todas as camadas sociais marginalizadas e excluídas das escritas hegemônicas do passado da América Latina, cujas bases ideológicas estiveram submissas aos centros irradiadores do poder e às suas ações coercivas. Frutos desse processo não foram apenas a anexação das terras às coroas europeias a partir do século XV em diante, mas, também a exploração de seus tesouros, o uso produtivo das terras e, muito eficazmente, a aculturação dos povos nativos e dos escravizados inseridos à força nesse espaço já plural. A territorialização das mentes foi tão, ou mais eficaz, que a posse das terras, cuja liberdade se conseguiu com a força das armas, em muitos dos territórios e com as negociatas políticas em outros. A liberdade das mentes, contudo, segue em pauta nas ações descolonizadoras das sociedades latinoamericanas que ainda lutam por direitos básicos como a educação e a saúde. Nesses territórios antes colonizados, floresceram, mesmo a contragosto, sociedades híbridas, enraizadas em etnias diferentes, com línguas, culturas e hábitos distintos que, aos poucos foram se infiltrando na hegemonia imposta pelo sistema colonizador para, hoje, revelarem-se como plurais, múltiplos, transculturais. As mentes latino-americanas, vagarosamente, encontram, também, suas vias para esse processo. Entre elas, está a leitura, seguida da escrita, que são ferramentas indispensáveis a esse processo. Nele, a produção de escritas híbridas de história e ficção tem sido profícua, transitando do tradicionalismo ao criticismo desconstrucionista e, desse necessário enfrentamento “quase bélico” nas letras, chegamos até as vias mediadoras da atualidade para possibilitar o acesso dessas obras a um público mais abrangente. As ressignificações críticas/mediadoras ficcionais hodiernas sobre o processo conflitivo dos encontros e dos choques que a eles se sucederam entre as culturas europeias – no intuito da dominação e colonização – e entre as autóctones da América – como atos de defesa e resistência – revelam a constante adequação que o gênero romance histórico tem empreendido ao longo dos tempos para acompanhar a trajetória sócio-histórica das diferentes nações envolvidas nesse passado que tantas mortes e desavenças causou ao longo de séculos. A literatura segue, assim, sendo um espaço privilegiado de diálogos nos quais as controvérsias, as angústias, as aflições, os embates e os enfrentamentos seguem ainda vigentes e necessitados do processo de catarse que a arte literária produz até nossos dias. As múltiplas imagens escriturais que se depreende da figura histórica de Colombo, revisitada pela ficção, bem como as distintas
visões a respeito de seu empreendimento, tanto na literatura estadunidense, na hispano-americana, na espanhola como na brasileira em cada uma das obras abordadas em nosso estudo, sublinha a importância que esse tema adquiriu nas últimas décadas, bem como o tratamento estético diferenciado dado à “poética do descobrimento” por seus distintos expositores. Assim, observamos que a literatura segue sendo o espaço no qual as distintas ondas do oceano de imagens ficcionais de Colombo seguem seu curso entre nós, ora tranquilo e sereno, ora revoltoso e agitado. Nele, contudo, as atrocidades e os enfrentamentos passam a ser ressignificados e podem cooperar para um futuro menos trágico e sangrento do que foi o passado efetivamente vivenciado, colaborando para, talvez, vivenciarmos um verdadeiro encontro com o “outro”. A catarse contida nesse mar de imagens escriturais dissolve, lenta e progressivamente, os antagonismos extremos e as paixões incontidas, revelando, na atualidade, um contorno já mediador às paisagens entrelaçadas pelo hibridismo, pela multiplicidade, pelos sincretismos e olhares diferenciados. Esse é o papel da literatura, espaço único em que tantas e contrastantes realidades podem ser ressignificadas, na busca de um futuro com vistas à alteridade, que nos possibilita o entrecruzamento dos olhares e a visão mais ampla de nós mesmos no(s) outro(s).