

















THAIS AGUIAR
PAULA BERTOLI






Pesquisa histórico-cultural: Neusa Lopes
THAÍS AGUIAR
PAULA BERTOLI
Itapoá - Tempo presente
Idealizadores
Maria Helena Aguiar e Carlinhos Aguiar
Ilustrações
André Ducci
Imagem de capa
André Ducci
Pesquisa histórico-cultural
Neusa Lopes
Pesquisa histórica
Andrey Hamann e Matilde Silva
Revisão
Márcia Campos
Cartografia
Helton Kravicz
Projeto gráfico e Diagramação
Camila Ribeiro Fava
Itapoá - Tempo presente
Paula Bertoli e Thaís Aguiar
1a ed.
Itapoá, SC: Editora Gaumen Conteúdo - 2024
Contribuições por tema
A Floresta e o Território
Gustavo Halfen e Lucio Machado
Caçadores-Coletores
Beatriz Ramos da Costa
Sambaquianos
Julio Cesar de Sá
A chegada do europeu
Gleison Vieira
Uma casa que habita nosso imaginário
Neusa Lopes e Ana Crhistina Vanali
O fandango de Itapoá
José Augusto Pereira Navarro Lins
A ocupação e o Progresso
Ademar Ribas do Valle e Vitorino Paese
Itapoá do futuro – um tempo presente
Ricardo Haponiuk
1 Mata atlântica, 2 Caçadores-coletores, 3 Sambaquianos, 4 Povo Guarani, 5 A chegada do europeu no Sul do Brasil, 6 Negros escravizados na baía da Babitonga, 7 Fandango Chimarrita, 8 Formação do município de Itapoá e emancipação política.
“Ontem eu ganhei um sonho. Um sonho desses que não é só uma impressão de estar vendo coisas enquanto dorme. Foi um sonho de verdade, um sonho verdadeiro. Sonho de verdade é quando você sente, comunica, recupera a memória da criação do mundo onde o fundamento da vida e o sentido do caminho do homem no mundo são contados pra você. Você aprende como se estivesse dentro de um rio. Este rio, você fica olhando para ele. Enquanto você fica olhando o rio, a alma dele está correndo, passando, passando... e o rio está ali. Então ele sempre é, ele não foi, sempre é. Não existiu uma criação do mundo e acabou!
Todo instante, todo momento, o tempo todo é a criação do mundo.”
(Ailton Krenak)
10.000
Anos antes do presente Caçadores Coletores

6.000
Anos antes do presente Sambaquianos
2.000
Anos antes do presente Povo JêIndígenas Kaingang e Xokleng
1.000
Anos antes do presente P ovo Guarani –indígenas
Ano 1.504
Chegada do Navegador francês Binot Paulmier de Goneville na Baia da Babitonga
Ano 1.540
Passagem da Expedição de Cabeza de Vaca por Itapoá
Ano 1.650
O Registro de ouro no Saí Guaçu e a criação do Distrito do Saí
Ano 1.700
O Primeiro mapa de Itapoá
Ano 1.804
1ª concessão de Sesmaria em Itapoá

Ano 1.820
A passagem do naturalista francês Saint-Hilaire em Itapoá
Ano 1.842
O Falanstério do Saí
Ano 1.966
Criação do Distrito de Itapoá
Ano 1.958
Abertura da Estrada da Serrinha
Ano 1.970
Abertura da estrada João Cornelsen
Ano 1.989
Emancipação do Município de Itapoá
Ano 2011
Inauguração do Porto de Itapoá

10
11 Prefácio A Floresta e o Território O Povo Pré-histórico A Chegada do Europeu A Cultura A Ocupação e o Território O Futuro Referências Índice 13 15 31 63 103 133 153 189
 Capela São Judas Tadeu - Jaguaruna (Jaca)
Capela São Judas Tadeu - Jaguaruna (Jaca)
Olá, caro leitor, cara leitora!
Esperamos que você esteja bem e que, como nós, tenha um carinho especial pela cidade de Itapoá. Somos Maria Helena e Carlinhos e nossas histórias se cruzaram nessas terras em 1967. Itapoá nos acolheu e se tornou um cenário onde construímos memórias preciosas e descobrimos, junto com nossas filhas, Lis, Thaís e Fernanda, um sentido de pertencimento.
Refletindo sobre a nossa história e a gratidão que sentimos por Itapoá, decidimos que era nosso dever retribuir a esta cidade e suas futuras gerações. Por isso, é com imenso prazer que entregamos a vocês este registro escrito, fruto do projeto “Itapoá Tempo Presente”. Este projeto nasceu do nosso desejo de preservar e celebrar a rica história e a cultura de Itapoá, garantindo que seja não apenas apreciada por nós, mas também por nossos descendentes e todas as gerações que virão.
Quando lançamos o olhar para este projeto, pensamos que seria um extrato do que Itapoá é hoje, mas, vendo os primeiros esboços, percebemos que era algo mais importante, tratava-se da busca pelo desconhecido por nós que desfrutamos suas águas límpidas e sua natureza exuberante. Constatamos, com alegria, que o projeto era sobre origens, história e gente – e é esse resgate que esse trabalho traz.
Saiba que, ao entregar os frutos deste projeto, nossos corações estão cheios de esperança. Juntos, podemos assegurar que o espírito de Itapoá, sua história, suas belezas naturais e seu progresso sejam apreciados por muitas pessoas. E, mais do que isso, ao olharmos para o futuro, vemos Itapoá não apenas como a cidade maravilhosa que conhecemos hoje, mas como uma cidade inteligente, vibrante e sustentável, liderando o caminho com inovação e harmonia entre a natureza e o progresso tecnológico.
Com carinho,
Maria Helena Aguiar e Carlinhos Aguiar
13


FLORESTA
TERRITÓRIO
A
E O

“Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com faca.”
(Manoel de Barros)
17

18
O lugar antes de nós
Antes de haver presença humana nestas redondezas, a natureza já gestava um belo espetáculo para nos receber.
A luz foi separada da escuridão.
Água e terra ganharam lugares próprios.
Espécies de plantas de inúmeras cores e formas cresciam exuberantes, tanto na terra quanto nas águas.
Matizes, texturas e aromas eram lentamente preparados, numa efervescência de criatividade. A flora era múltipla e logo se desdobrava em abrigo e alimento para os animais.
Bichos de todos os tipos surgiam. Havia os das águas, da terra e do ar.
Logo desvendaram uma infinidade de possibilidades para brincar, se exercitar e relaxar.
Insetos, pequenos pássaros e morcegos uniam-se ao vento e à chuva numa coreografia fantástica para garantir a polinização.
Mares e rios emprestavam tons dos céus para ofertar belíssimas cores às suas águas.
Os pássaros entoavam majestosas melodias para saudar os dias.
As estrelas apontavam caminhos para os que estavam despertos durante à noite.
Era o pulso da vida, em todo seu fulgor!
19

Mata Atlântica
Com a colaboração de Gustavo Halfen e Lucio Machado
Tesouro verde na encruzilhada entre Santa Catarina e Paraná, a cidade de Itapoá compõe a Baía da Babitonga, enraizada no Bioma Mata Atlântica. Com quase 30 quilômetros de costa, o município ostenta uma paisagem diversa, onde planícies costeiras brincam ao lado de morros graníticos da Serra do Mar, num mosaico de microclimas e solos que dão vida a uma exuberante vegetação nativa.
Com uma cobertura verde que preserva em torno de 80% de sua flora original, Itapoá se destaca como uma das últimas fortalezas florestais do estado de Santa Catarina. Este oásis natural tornou-se um polo de turismo, atraindo visitantes em busca de suas praias serenas e encantos rurais, impulsionando o desenvolvimento local com a promessa de areias douradas e águas calmas. A pesca artesanal e a agricultura pintam o quadro econômico da região com tons de tradição e simplicidade.
Entretanto, a última década testemunhou uma transformação acelerada. Com a chegada do Porto em 2011, o município viu-se lançado a uma era de
crescimento sem precedentes, mas a um custo. O brilho do progresso trouxe consigo uma maré de mudanças, alterando a paisagem com o avanço implacável da urbanização. Florestas viraram memória em nome do desenvolvimento, fragmentando o último santuário da Mata Atlântica no norte catarinense.
Itapoá hoje se equilibra entre preservar seu legado natural e navegar as ondas do crescimento econômico, um desafio que evidencia o dilema de muitas belezas naturais frente ao avanço humano.
A Mata Atlântica, além de ser vital para a biodiversidade, é essencial para a vida humana, fornecendo água e regulando o clima. Graças a ela, rios como o Saí Guaçu e o Saí Mirim fluem por Itapoá, enquanto grandes rios, a exemplo do Iguaçu, geram energia. Esta floresta, que sustenta metade da produção alimentar do país, também é o palco para a polinização e a regulação das chuvas, fundamentais para a agricultura.
21
Estamos imersos em um ambiente originalmente conhecido como Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, ou seja, numa área de planície, que foi um antigo depósito de areia do mar. O que imprime em nossa paisagem uma vegetação única de planície, bastante rara no estado de Santa Catarina. Temos aqui duas formações básicas de floresta: a de solos de areias (podzólicos) e a de solos orgânicos. São florestas bem distintas, ambas de médio porte, com alta densidade de bromélias no chão e com uma estrutura muito frágil de raízes. Por isso uma vegetação muito sujeita a impactos, que pode facilmente ser bastante alterada. E qualquer alteração provoca consequências de longuíssimo prazo, já que sua recuperação é lenta.
Falando em vegetação, a rainha das árvores em solos de areia são as Tapirira guianensis, as cupiúvas, absolutamente dominantes nestes ambientes. E nas áreas de solos orgânicos existem os guanandis, que são os Calophyllum brasiliense, uma planta muito densa e presente em solos encharcados. Os nossos solos são orgânicos porque são encharcados, uma consequência dos canais de drenagem nos bancos de areia, ali fica acumulada matéria orgânica que pode chegar a 8 metros de profundidade.
Vale lembrar que os troncos e galhos das nossas árvores são geralmente preenchidos por outras espécies, que são as epífitas. Entre elas a mais abundante por aqui é a Bromélia, que abriga um ecossistema próprio baseado no acúmulo de água em suas folhas.
Aqui somos guardiões de um dos últimos redutos de verde em Santa Catarina, um refúgio onde a floresta ainda tem voz, e a possibilidade de permanecer de pé não é apenas um desejo, mas uma realidade palpável. Nessas terras, cada árvore, cada raiz que se aprofunda na terra úmida e arenosa carrega consigo a promessa de um amanhã em que o verde não seja apenas uma lembrança. Nós nos destacamos como um farol de esperança, mostrando ao mundo que é possível, sim, coexistir; que o progresso não precisa ser sinônimo de destruição, mas de convivência harmoniosa com o pulso vivo da terra.
22

Para pensar
Como podemos encontrar um equilíbrio sustentável entre o desenvolvimento econômico e a preservação da rica biodiversidade de Itapoá, considerando o impacto do porto e o avanço da urbanização
sobre as últimas áreas de Mata Atlântica no Norte Catarinense?
De que maneira as comunidades locais de Itapoá podem se envolver na conservação da Mata Atlântica, valorizando as práticas tradicionais de pesca artesanal e agricultura, frente às mudanças rápidas impulsionadas pelo crescimento econômico?
Refletindo sobre a singularidade da vegetação e dos ecossistemas de Itapoá, de que forma podemos promover a conscientização sobre a importância da conservação desses habitats únicos, especialmente em áreas de solos orgânicos encharcados e florestas de solos de areias, para as gerações futuras?
23

A lenda de Itapoá
Em uma terra onde os horizontes se fundem e a natureza dança alegremente, vive Itapoá, uma figura maternal que, com braços estendidos entre o mar e a floresta, acolhe seus filhos de forma generosa, possibilitando que a vida siga seu rumo. Seus olhos contemplam o vasto mar salgado, cujas ondas brincam ao sopro do vento, espelhando o brilho do sol em uma sinfonia de luz. Em seu coração pulsa a floresta, o mar verde de vida pulsante, no qual cada folha, cada criatura, entoa uma canção de existência interligada. E correndo por suas veias, os rios Saí Guaçu e Saí Mirim, irmãos de água doce, trazem a promessa de renovação e sustento.

Certa vez, ao alvorecer, quando o céu ainda pintava de laranja o horizonte, Itapoá refletiu sobre a missão de seus filhos. O mar salgado, com suas ondas incansáveis, ensinava a persistência e a força, berço de histórias de navegantes e pescadores que, em suas águas, buscavam o sustento e o mistério dos mundos submersos. A floresta, vasta e impenetrável, guardava os segredos da terra, um refúgio de serenidade e sabedoria, onde cada ser vivia em harmonia sob a densa cobertura de suas copas.
Os rios Saí Guaçu e Saí Mirim, com suas águas claras e tranquilas, entrelaçaram-se pela terra. Eles eram os mensageiros, transportando a vitalidade da mãe para todo o povoado, irrigando as plantações, saciando a sede e banhando as almas em suas correntezas.
Numa manhã especial, Itapoá convocou seus filhos, desejando compartilhar uma revelação. Com voz suave, porém firme, ela falou: “Meus queridos, cada um de vocês carrega uma força única, um dom que nutre e protege nosso povoado. Mas, lembrem-se: o verdadeiro poder reside na união. Assim como as águas dos rios encontram seu caminho para o mar, e o mar abraça a terra, alimentando a floresta, vocês também devem encontrar harmonia em suas diferenças”.
Os filhos de Itapoá, tocados pelas palavras da mãe, juraram proteger uns aos outros e todo o povoado com um amor renovado. E assim, dia após dia, eles cumpriam seu juramento, mantendo vivo o equilíbrio e a beleza da terra que os acolhia.

Onde moramos
A Mata Atlântica é o útero que gesta o solo de Itapoá,
É a fonte que nutre com água e vegetação abundante,
É o quintal com sombra fresca e acolhedora,
É o berço de nossas boas colheitas.
Restingas, manguezais, banhados e florestas compõem um mosaico de oportunidades para os habitantes destas redondezas.
Centenas de espécies de aves, peixes e animais terrestres encontram aqui sua morada.
Não é à toa que os olhos acordados fiquem impressionados!
27

28
Floresta ombrófila densa de terras baixas
Bancos de areia são a base para fixação de nossas raízes.
Dizem que somos frágeis. Porém, o que é fragilidade?
Somos impactadas pela ação das chuvas e dos ventos.
Mas nos reerguemos após eventos naturais.
Levamos um certo tempo, é verdade. Mas, quem está com pressa?
A natureza não tem pressa.
Cupiúva
Rainha dos solos arenosos, abundante em nossas terras.
De crescimento rápido, é queridinha das abelhas, pois garante sua produção de mel.
Amada pelos macacos e saguis, que se alimentam da goma de seus troncos, deixando neles suas marcas.
É morada de pássaros que se deliciam com seus frutos.
29


O POVO PRÉ HISTÓRICO

Caçadores-coletores: o sonho
“Não sou nada. Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.”
Há cerca de 10 mil anos os povos que aqui viviam eram conhecidos como caçadores-coletores. Não existem muitas afirmações categóricas sobre eles, visto que como humanos eram recheados de peculiaridades, costumes e sonhos. As pistas que temos vêm dos vestígios materiais que foram encontrados e estudados pela Arqueologia. Também da memória coletiva, que sobrevive aos sujeitos e, de alguma forma, acessamos.
Arqueologia é a ciência que estuda o passado por meio do resgate de objetos antigos deixados pela população que habitou determinada localidade em um tempo anterior ao atual. Ela se concentra em descobrir e compreender a história e a cultura de civilizações antigas pela análise de artefatos, paisagens, estruturas, restos humanos e outros
(Fernando Pessoa)
vestígios deixados por essas sociedades. Mediante escavações, análises laboratoriais, estudos de campo e métodos científicos, os arqueólogos buscam reconstruir a vida e as práticas das pessoas em diferentes períodos com o objetivo de compreender a história humana. A origem da palavra Arqueologia é grega e vem do prefixo “arché” mais o sufixo “logos”. Arché significa origem, início, começo. E logos quer dizer estudo, ciência.
Estudo multidisciplinar que está sempre em movimento, é premissa da Arqueologia se manter aberta ao novo, fluida, e revisitar seus saberes de acordo com novas evidências encontradas.
Cada descoberta leva a novas interpretações e deduções. Quanto mais objetos são desvelados e contemplados, mais complexa vai ficando a teia
33

34
Sítio Estaleiro - Vila da Glória
histórica a ser tecida. E o que tomamos por verdade hoje, a partir do que sabemos, pode ser uma falácia a partir de novos achados e interpretações, visto que novas descobertas nos levarão a novas
conclusões e leituras daquela realidade. Tudo o que descobrimos sobre o homem pré-histórico, por exemplo, são fragmentos de uma história que ainda não conseguimos decifrar totalmente.
Em um contexto vasto e complexo, no qual diferentes forças históricas e interpretações se entrelaçam, não há uma única grande história que possa juntar os diversos fragmentos que realmente iniciaram os temas e as práticas específicas que influenciam as pessoas neste mundo. Uma Arqueologia autêntica não se concentra só na busca por “verdades”, mas também na tentativa de identificar algumas das complexas tensões que atravessam a história em seus esforços para delinear um sujeito.
Dito isso, voltemos ao que conhecemos hoje sobre as sociedades passadas que habitaram nosso território. Há aproximadamente 10 mil anos, a região onde hoje é Itapoá abrigava indivíduos em seu território. Sabemos isso por causa de vestígios deste período encontrados na região pela arqueóloga Beatriz Ramos da Costa em dois sítios arqueológi-
cos estudados. Estes sítios eram oficinas líticas, ou seja, locais em que estes grupos produziam artefatos a partir de estruturas rochosas. Foram identificadas nestas oficinas peças em quartzo, a maioria provavelmente era usada como instrumento para confeccionar as pontas de flecha, além disso foram identificados raspadores e furadores.
Este grupo de caçadores-coletores, como o nome sugere, tinha o hábito de caçar e coletar alimentos na floresta para garantir sua sobrevivência. Viviam em pequenos círculos, de 10 a 15 pessoas, e não permaneciam grandes períodos em um mesmo local. Sua organização social, acreditamos, era complexa, pois tinham a habilidade de transmitir com riqueza de detalhes o conhecimento de entalhe em rocha, por exemplo. As pontas de flecha que esculpiam e que hoje podemos estudar, seguiam o mesmo padrão estético e, provavelmente, eram utilizadas para identificar a qual grupo pertencia a caça. Estas pessoas já modificavam suas realidades pela diferenciação da construção de artefatos. Certamente, antes de iniciarem este trabalho manual, imaginaram como seria se tais objetos existissem. Todo sonho é um desejo de transformação da realidade e um motor propulsor desta mudança!
35


Sambaquianos: a água
Com a contribuição de Julio Cesar de Sá
Apaziguar, conhecer, encontrar alimento, brincar, navegar e finalmente se tornar água. Os povos, construtores de sambaquis, antigos habitantes do litoral brasileiro, centravam suas vidas em torno da água, moldando sua rotina e se desenvolvendo ao redor dela desde a infância. A influência da água em suas vidas era tão significativa que essa simbiose, homem - água, se compreendeu em um organismo único e natural.
“Ali nas águas não se sabe quem é homem e quem foi árvore canoa e canoeiro são um só parte um do outro feito nó.”
(Leila Plácido – A Canoa e o Canoeiro)
Este foi o caminho percorrido pela humanidade há mais ou menos 8 mil anos. Há cerca de 5-6 mil anos, os povos que habitavam a região de Itapoá eram conhecidos como construtores de sambaquis ou sambaquianos. Hoje sabemos que os sambaquianos caçavam, se alimentavam de vegetais, tinham grandes habilidades manuais para escultura e confecção de adornos, sabiam nadar e eram construtores de canoas que utilizavam para navegação.
38
A definição da palavra Sambaqui, também conhecido como casqueiros, concheiros, birbigueiras e senambis, é de origem tupi, onde “tamba” significa conchas e “ki” significa amontoado.
Sabemos hoje que os sambaquis são decorrentes da acumulação intencional e organizada de materiais diversos, como conchas, moluscos, material lítico, sedimentos arenosos, material vegetal, fogueiras, restos alimentares da fauna, sepultamentos humanos, cerâmica, entre outros.
Considerados monumentos funerários e marcadores de paisagem, os sítios sambaquis são artefatos resultantes da manufatura coletiva dos sambaquianos.
As baías da Babitonga e de Guaratuba, juntas, possuem mais de 350 sambaquis, constituindo-se em uma das maiores concentrações mundiais destes sítios. É provável que assim como nós escolhemos um lugar para morar que tenha uma bela paisagem, que seja de fácil acesso aos locais que frequentamos diariamente, que nos proporcione uma boa qualidade de vida, a decisão dos sambaquianos de ocupação do território também orbitava em torno destes critérios.
Além disso, outros fatores que podem explicar a enorme população deste povo na região são a
riqueza do bioma, o clima ameno e a abundância de água, tanto doce quanto salgada.
Diversos autores retratam as sociedades sambaquianas como sendo um grupo social estável, e com uma complexidade não reconhecida anteriormente, porém não temos informações sobre a integração política entre os grupos. A vida social dos sambaquianos apresenta registros de solidariedade e cooperação.
Este registro está presente na elaboração de artefatos como as cordas e algumas técnicas de pesca,
39

40
Sambaqui da Estrada João Cornelsen
cuja realização, necessariamente, exige atividades coletivas. As fibras vegetais de cipó imbé (Philodendron corcovadense Schott – Araceae), trançadas ou na forma de cordas torcidas, utilizadas na produção de cestarias, esteiras, são de extrema resistência à tração, com delicada precisão dimensional e de grande complexidade construtiva, demonstrando ser uma atividade realizada de forma comunitária.
Do período pré-colonial, temos identificados 16 sítios tipo sambaquis em Itapoá. As localizações são dispersas no município ao longo dos cursos d’água, na linha de costa e nas áreas de restinga e manguezais. Os principais rios que drenam o município foram utilizados pelos sambaquianos, deixando seus registros culturais em cada um destes locais. Vale lembrar que neste período, enquanto humanidade, estreitamos nossa relação com as águas.

41
Sambaqui da Reserva Volta Velha










O dilúvio
Os deuses não estavam felizes com o rumo que a humanidade andava tomando. Resolveram, então, preencher tudo com água para limpar o passado e estabelecer uma chance de recomeço.
Um homem bom foi escolhido e ficou sabendo do que aconteceria. Construiu uma grande embarcação e separou exemplares de todas as espécies de vida animal, para que pudessem ficar a salvo.
Choveu muito. Rios e mares se juntaram. Dias e noites se passaram. Quando a água começou a baixar, a terra começou a secar.
Novas formas puderam ser vistas na paisagem. Montanhas, vales, grandes planícies. Será que já estavam antes ali e não tínhamos percebido?
45
A crença de que a existência dos sambaquis está ligada a passagens bíblicas é compartilhada pelos moradores mais antigos e durante muito tempo serviu para explicar muitos fenômenos até então inexplicáveis.
O morador Jair Cabeção relatou essa ideia ainda nos dias atuais. “Na verdade, o sambaqui, o pessoal acha que foi coisa do dilúvio, não era coisa de índio.
O pessoal mais antigo, eles não chamavam Bíblia, chamavam História Sagrada. O fato de o formato do sambaqui ser bem redondinho, com um aspecto de cone, com conchas onde nem tinha mar, eles acreditavam que era dilúvio. Lá tinha pedra bem redondinha, que foi esculpida pela água, osso de gente, osso de baleia, osso de animais que nem conhecemos. A gente fica na dúvida de como foram feitos. Conheço 3 sambaquis dentro de banhado, de terreno encharcado. Como que os indígenas iriam construir aquilo?”
Essa perspectiva revela como as tradições orais e crenças locais se confundem com interpretações históricas e religiosas para explicar fenômenos arqueológicos. A relação entre a existência dos
sambaquis e o dilúvio foi propagada por Jesuítas como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que percorreram diversas regiões no sul do Brasil. Em suas atividades missionárias, passaram por localidades como a Ilha de São Francisco, em Santa Catarina, e também outras regiões ao longo do litoral sul do Brasil.
A ligação entre os sambaquis e o dilúvio reflete a busca por explicações profundas e simbólicas para as presenças desses vestígios ancestrais, trazendo as religiões e a espiritualidade para o centro das relações de conhecimento na compreensão do passado.
Essa conexão entre as crenças religiosas e a explicação do mundo nos convida a refletir sobre o papel fundamental que a espiritualidade desempenha na busca por significado e compreensão. A necessidade humana de atribuir sentido ao desconhecido muitas vezes se manifesta por meio de narrativas religiosas que transcendem gerações, influenciando a forma como vemos e interpretamos vestígios ancestrais, como os sambaquis.
46
Ao considerar as crenças religiosas na análise de fenômenos históricos, somos convidados a explorar não apenas as evidências materiais, mas também as narrativas simbólicas que moldam a identidade cultural e espiritual das comunidades.
Essa reflexão nos leva a apreciar a complexidade das interpretações históricas e arqueológicas,
enriquecendo nossa compreensão do passado com uma perspectiva mais holística e inclusiva.

Ilustração de Jesuítas catequizando os indígenas
47

Os indígenas: a memória
“A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro.
Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.”
(Jacques Le Goff)
O povo que sucedeu os sambaquianos, cronologicamente, é denominado de povo Jê. São os indígenas que conhecemos como Kaingang e Xokleng. Temos registro de sua atividade na região de Santa Catarina há cerca de 2000 a 1500 anos antes do presente, perdurando até os dias atuais. Aqui temos 3 hipóteses. Eles podem ter vindo de outras terras e se misturado aos sambaquianos, podem ter chegado e exterminado os sambaquianos ou podem ser apenas descendentes dos sambaquianos. Não podemos afirmar que eles habitaram a região apenas após o desaparecimento dos sambaquianos, é provável que tenham dividido o mesmo espaço por algum tempo. Vale lembrar que nas camadas superiores dos sambaquis estão presentes cerâmicas Jês, o que indica esta interação entre os povos.
Aceitamos hoje a hipótese que eles desceram do planalto para as terras litorâneas e trouxeram com eles a técnica de esculpir em cerâmica, desconhecida dos sambaquianos. Desta forma a relação com o consumo de alimento também passa a ser outra, já que agora existe a possibilidade de armazenamento em vasilhas, panelas e jarras.
Seguindo a linha do tempo, depois dos Jê, a população que cultivava os exuberantes jardins de Itapoá eram os indígenas Guarani – chamados de Carijós pelo colonizador europeu. Essa fase teve início entre 1000 e 800 anos antes do presente. Tratava-se de uma sociedade distinta. Da mesma forma que o povo Jê, os guaranis podem ter sido descendentes dos sambaquianos, porém se diferenciavam dos Jês em muitos aspectos. Neste sentido há quem defenda que tiveram interação
49
com os Jês e houve certo grau de miscigenação entre eles, já que dividiram o mesmo território por um período. Na cultura material, o que os diferenciava era o aspecto da cerâmica, que agora leva uma tintura vermelha ou branca por fora e preta no seu interior. Cultivavam roças de alimentos com mandioca e milho, e praticavam a caça e a pesca.
Tinham um sistema social estruturado, com papeis definidos para seus membros e uma hierarquia. Temos subsídios que sugerem que esta era uma sociedade ainda mais complexa que as anteriores.
Os dados apontam que houve disputa pelos mesmos territórios, com os Jê chegando antes, ocupando os vales de grandes rios e a beira-mar. Essa disputa teve uma dinâmica que culminou na abertura de brechas territoriais consideráveis entre os Jê, preenchidas pelos Guarani e pelos Tupinambá. Os Jê foram empurrados para os biomas com predomínio de campo, enquanto os dois conjuntos Tupi conquistaram as áreas do bioma Mata Atlântica (Brochado, 1984; Noelli, 2004). A densidade populacional dos Jê do Sul aparentemente foi menor do que a dos grupos Tupinambá e Guarani. A dinâmica social e política faccionalista dos Jê do Sul (Fernandes, 2002) enfraquecia os laços entre as aldeias e aumentava a fragilidade nas disputas territoriais com os Guarani e os Tupinambá, que se organizavam em redes de aldeias aliadas para atuar em grandes grupos, quando disputavam novos territórios. Entretanto, há algumas áreas que tiveram sucesso na resistência contra os Guarani, gerando a necessidade de se procurar perceber onde ocorreu isso (Souza; Merencio, 2013; Souza et al., 2016).
50
Sabemos também que o povo Guarani era itinerante, que circulava pelo seu território. Toda a costa brasileira, do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, era terra Guarani. Muitas vezes estes indivíduos saiam em grupos para caminhadas que levavam anos para serem concluídas. O Guata Porã (Caminho Bonito) era indicado pelo guia espiritual para a conquista de uma terra sagrada, a Yvy Maraey, a Terra sem Males. O Guata Porã é considerado ainda uma atividade propulsora da cultura Guarani, que mantém vivas práticas de conhecimentos medicinais, espirituais, geográficos e históricos. A caminhada preserva saberes que atravessam gerações e assume caráter econômico, político e social.
Nossos avôs antigos, nossos parentes antigos, não viviam como agora. Naquela época, era tudo mato. Desde o começo eles já começaram a caminhar. Mas não era como agora. Nossos avôs antigos rezavam muito e, então, Nhanderu já mostrava o caminho para o filho. Dizia: “agora vai”. Kuaray, no nascer do Sol, sempre iluminava para ele. Várias pessoas, antigamente, vieram, mas não era para ficar por aqui. Vieram para atravessar, atravessar o mar, chegar em Yvy Marã e’y. Sempre vinham. Muitos. Vinham, vinham, vinham. Mas, depois que começaram as cidades e os países –Paraguai, Argentina, Brasil –, aí já não conseguiam mais, pois já não era mais como antigamente. As cidades com suas cercas impediam a caminhada deles.
Xeramõi João Silva – Vera Mirim (Tekoa Xapukai/Brakui)
51

Fato é que a população que habitava Itapoá quando da chegada do colonizador europeu, era Guarani. Amigáveis, dóceis e curiosos, foram excelentes anfitriões para os estrangeiros. Dividiam seu abrigo e seu alimento, ofereciam suas ervas para curar doenças, mostravam quais frutos eram comestíveis e atuavam como guias, auxiliando nas caminhadas por entre a mata.
É provável que a sua hospitalidade os tenha levado ainda a desempenhar todo tipo de trabalho para os exploradores estrangeiros. Sabemos que foram a primeira mão de obra a ser escravizada em nosso território, antes mesmo dos africanos. Não só o trabalho pesado e os severos castigos físicos a que eram submetidos, como também as doenças trazidas de outras terras pelos não-indígenas e para as quais o povo Guarani não tinha imunidade, foram reduzindo o número de indivíduos desta importante sociedade nas areias de Itapoá.

53
Casa de reza guarani

“Vivemos em perfeita harmonia com a natureza,
Pedimos permissão antes de entrar numa mata.
Nossas crianças não se banham no rio todos os dias.
Temos o dia certo para brincar no rio e o dia que deixamos que ele fique em paz.
Assim como nós precisamos de descanso, a natureza também precisa destes momentos para se regenerar.
Nossa ligação com o mar é muito forte, É no mar que nos despedimos de nossos parentes que fazem a passagem para o mudo espiritual.
Não é um decreto assinado que vai cortar nossos laços com o litoral.
Nós estávamos perto do mar antes dos não-indígenas chegarem. Fomos forçados a sair.
Não tem como o não-indígena dizer para o indígena que território ele pode ocupar!
Quando saímos em nossa caminhada, não sabíamos para onde estávamos indo.
Ouvimos o chamado do nosso guia espiritual e seguimos.
O lugar era mostrado em sonho para mim.
Nossa caminhada durou cinco anos.
Quando chegamos aqui fomos recepcionados por nuvens de saíras, havia água, mata, cachoeira, exatamente como eu havia sonhado.
Sentimos paz.
Não quero acreditar que somos ingênuos,
Mas percebo que temos um modo de vida peculiar.
Estamos muito próximos do mundo espiritual, isso nos enche de confiança e coragem.
Ainda que percamos a nossa vida, não perderemos a esperança.
Esperançar não é racional, é ancestral!”
(Pajé Guarani Elsa Fernandes, da terra indígena Kuaray Haxa )
55 Indígenas Guarani - Fotografia de Tatiana Zanon na Unsplash


A menina-lua
Em uma aldeia esquecida pelo tempo, onde as árvores dançavam ao som dos ventos e os rios embalavam antigos mistérios, nasceu uma menina. Não uma criança qualquer, mas uma filha da lua, com pele alva como a luz que banha a noite. Seu nome era Mani, e seu sorriso era capaz de acender estrelas no céu escuro.
Mani cresceu livre, entre as brincadeiras dos ventos e as histórias reveladas pela terra, mas nem mesmo a lua, que a trouxera ao mundo, poderia protegê-la dos fantasmas, que espreitam entre os dias. Uma tristeza inexplicável a tomou, e sem razão aparente, a vida se esvaiu de seu ser, deixando para trás apenas a memória de seu sorriso.
Onde seu corpo foi enterrado, a terra, transformou-se. Não houve monumento, nem flores, apenas um broto, tímido e persistente, que cresceu onde as lágrimas de uma mãe haviam regado o solo. Da terra, nasceu uma planta desconhecida, com raízes robustas e nutritivas.
A aldeia, que chorou a partida de Mani, descobriu naquela planta um novo tipo de sustento. Ao desenterrarem a raiz, encontraram uma substância branca, como a pele de Mani, e doce, como sua essência. E assim, a mandioca nasceu, um presente da menina-lua, um mistério que brotou da terra para alimentar seu povo.

58
Há aproximadamente 9 mil anos nossos ancestrais aprenderam uma maneira confiável de consumir a mandioca mansa. Esta raiz, que é a mesma que compramos hoje em feiras ou mercados, contém baixo teor de substâncias tóxicas. Entretanto, deve ser descascada e aquecida – torrada ou cozida – para consumo. Acredita-se que até mesmo as populações nômades manejavam algumas espécies de mandiocas mansas perto das unidades familiares. Estes grupos, por serem pouco numerosos, obtinham ali alimento por um bom tempo.
Por outro lado, a mandioca brava, raiz em sua forma selvagem, não era largamente consumida até então, por ser altamente tóxica e potencialmente letal. Hoje sabemos que esta espécie possui grandes quantidades de substâncias precursoras do ácido cianídrico, fato que deve ter sido observa-
A mandioca
“Mani Mani
É tão rica em sua simplicidade
Mani Mani
Agradeço sua prosperidade” (Leo Meneguzzo)
do empiricamente naquela época. Provavelmente depois de muita experimentação, os humanos que nos antecederam descobriram que descascando, ralando e prensando, cozinhando ou torrando a raiz, seu consumo era seguro.
O fato de a mandioca brava ter sido domesticada em um momento de aumento de população das aldeias, que ocorreu há cerca de 4 mil anos, levanta uma questão ainda sem solução. Teria sido a necessidade de produzir mais alimento que obrigou nossos ancestrais a procurar novas formas de alimentação, acabando, em última instância, por desenvolver técnicas de desintoxicação para poder consumir a mandioca brava ou foi a maior oferta de alimento decorrente da domesticação da mandioca brava que possibilitou o adensamento populacional?
59

60
Antigo engenho de farinha - Samambaial, próximo à localização dos quilombos
Temos registros minuciosos do consumo da mandioca nestas terras após a chegada dos portugueses. Eles, que não conheciam a raiz, a chamavam de inhame. Contudo, não havia inhame no Brasil, apenas mandioca. De todo modo, descreveram a
mandioca como essencial para a alimentação do povo que aqui vivia, sendo consumida principalmente em forma de farinha, como complemento para qualquer outro alimento, de carnes a frutas.
Para pensar
Como os sonhos e a imaginação dos povos caçadores-coletores de 10 mil anos atrás, revelados pela criação de seus artefatos, podem hoje nos inspirar na forma como interagimos com nossa própria realidade e ambiente?
Em que nossa relação atual com a água e o meio ambiente difere da simbiose profundamente respeitosa e integrada que os antigos sambaquianos tinham com os recursos hídricos e naturais ao seu redor? Quais as semelhanças possíveis nessa relação?
De que modo as histórias e práticas dos povos Jê e Guarani que viveram na região de Itapoá antes da chegada dos colonizadores europeus podem nos ensinar sobre a importância de respeitar e aprender com diferentes culturas e modos de vida em nosso mundo atual?
61


A CHEGADA DO EUROPEU

“Apropriação cultural é um mecanismo de opressão por meio do qual um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significados suas produções, costumes, tradições e demais elementos.”
(Rodney William)
Nos idos de 1500
Vamos olhar para o ano de 1494, na Espanha. Divergências, intrigas, desconfianças e conspirações dão o tom no relacionamento entre as coroas de Portugal e Castela (Espanha). E o que eles estão discutindo? Disputas territoriais e o domínio do mundo conhecido por eles até então.
A situação era tão caótica que a Igreja precisou intervir. Não que isso fosse novidade, já que a Igreja estava sempre às voltas com os mandatários reais que governavam em nome de Deus. A Coroa portuguesa andava extremamente irritada porque a Coroa espanhola queria se apossar de tudo depois da chegada de Cristóvão Colombo nas Américas, em 1492. Foi uma confusão diplomática que parecia não ter fim. Então surge a ideia – proposta pelo papa – de desenhar uma linha imaginá-
ria no mapa, o famoso meridiano de Tordesilhas. Portugal ficaria com tudo a Oeste dessa linha e a Espanha com tudo a Leste. Dá para imaginar, dois reinos se juntando para dividir o mundo que estão descobrindo? Dizem que os ânimos estavam muito exaltados por lá e a conversa não foi nada tranquila. Inúmeros cartógrafos, inclusive, deslocaram a linha para Leste e Oeste, a favor de um ou outro reino. O que acabou causando um sem-número de controvérsias e levou os dois reinos a firmar outro acordo em 1506 com a intenção de acalmar os ânimos.
E o Brasil nessa história toda? Bom, Pedro Álvares Cabral aportou por aqui em 1500, mas dizem que ele não foi o primeiro europeu a botar os pés nessas terras. Já haviam navegantes portugueses
65
visitando nossa costa antes disso, só que ninguém fez tanto barulho quanto Cabral.
Com o “descobrimento” do Brasil, começou aquela corrida desenfreada pela exploração. Os portugueses logo trataram de assumir o controle e começaram a explorar o território, primeiro arrendando as terras para comerciantes e depois tomando as rédeas da situação.
Para administrar essa terra nova, o rei de Portugal dividiu o Brasil em quinze partes, as famosas Capitanias Hereditárias. Dizem que foram os nossos primeiros latifúndios. Cada uma dessas partes ficou sob o comando de um capitão-donatário, que tinha o dever de colonizar e explorar a região em nome da Coroa.
E assim começava a saga da colonização do Brasil. Uma história cheia de reviravoltas, intrigas e, é claro, muita aventura pelo caminho. E olha que isso é só o começo! Essas terras guardam muitas histórias ainda não contadas.
A chegada de Gonneville à região do Saí
Texto de Gleison Vieira
Em janeiro de 1504, o navegador francês Binot Paulmier de Gonneville realizou uma descoberta significativa para a história do Brasil. Após navegar por dois meses, desde a Ilha de Tristão da Cunha, sua expedição avistou uma exuberante cordilheira verde e decidiu ancorar nas margens de um rio que lhe lembrava o Orne, em sua terra natal na Normandia, França. Este momento marcava a chegada
de Gonneville ao sul do Brasil, mais precisamente à região da baía da Babitonga, no litoral de Santa Catarina, próxima à divisa com o Paraná. Esse lugar, posteriormente identificado como a foz do rio São Francisco do Sul, seria emblemático por se tornar um dos primeiros pontos de contato entre europeus e indígenas na região.
66
Quando chegaram, Gonneville e sua tripulação foram recebidos de maneira pacífica pelos indígenas locais, com quem permaneceram por seis meses. Esse encontro amistoso permitiu uma rica troca cultural e de recursos. Os nativos, identificados pelos estrangeiros como carijós, forneceram aos franceses alimentos como carne de caça, frutas e pinhões, produtos naturais da região.
O local exato onde Gonneville ancorou seu navio, o L’Espoir, é objeto de debate entre historiadores. Há hipóteses de que poderia ser na região do Pontal de Itabuan (atualmente Itapoá) ou na própria ilha de São Francisco do Sul. Ambas as localidades apresentam condições navegáveis para a época e estão estrategicamente posicionadas para acessar o interior pela Serra do Mar. A escolha do local de ancoragem foi crucial não apenas para as interações imediatas entre franceses e indígenas, mas também para as futuras explorações e assentamentos na região.
O encontro com os carijós teve implicações significativas. O cacique local, buscando vantagem sobre os tupinambás de Cananeia, uma região ao Norte, viu na aliança com os franceses uma oportunidade estratégica. Os carijós ofereceram apoio logístico aos franceses, evidenciando uma complexa rede de relações interpessoais e geopolíticas já existentes entre os povos indígenas da região.
Para os carijós, a ligação terrestre pelo norte era justamente pelo rio Saí-Guaçu, pelas planuras da margem esquerda do rio São João ou, ainda, pelas Três Barras, escalando os contrafortes da Serra do Mar. Com efeito, faz sentido que esses carijós fossem indígenas “itapoaenses”. Isso pode legitimar, em hipótese, que os carijós de Binot Paulmier fossem da atual região de Itapoá, por sua ligação continental com a muralha da Serra do Mar.
67


Içá-Mirim e o
encontro
Ainda em 1504, época de grandes mudanças nestas terras, a história de Içá-Mirim se desenrola como uma pequena jangada à deriva, transportando sonhos, desejos e a inevitável tristeza que acompanha o encontro de mundos. Binot Paulmier de Gonneville foi audacioso, abraçou o vasto oceano em busca de riquezas e terras desconhecidas. Seu caminho, marcado pelas estrelas e pelas correntes do destino, o levou até a costa do que hoje conhecemos como Brasil, mais precisamente o que ele pensou ser um ponto que se assemelha ao paraíso, a baia de São Francisco do Sul.
Neste lugar, onde a natureza convida os visitantes à permanência, Gonneville encontrou mais do que esperava. Entre a generosidade da terra e a curiosidade mútua que unia os estrangeiros aos nativos, ele conheceu Içá-Mirim, filho de Arosca, líder dos Tupinambás. O jovem Içá, com olhos que refletiam tanto a sabedoria de seu povo quanto a inocência de sua idade, tornou-se um símbolo de uma ponte entre mundos.
Gonneville, movido por um misto de ambição e genuína admiração, convenceu-se e convenceu a outros de que levar o jovem
de dois mundos
Içá à França seria um gesto de amizade, a personificação de um embaixador vivo entre as culturas. Prometeu solenemente seu pai que o traria de volta, um elo entre o Novo e o Velho Mundo.
Içá-Mirim, cujo nome foi cristianizado e passou a ser chamado de Essomericq, atravessou o oceano numa viagem que era ao mesmo tempo uma aventura e um exílio.
Na França, foi recebido com fascinação; sua presença era um testemunho vivo da vastidão do mundo, um espelho onde os franceses viam refletidas suas próprias curiosidades e medos. Educado como um nobre, Içá aprendeu sobre a Europa, mas seu coração permaneceu entrelaçado às memórias de sua terra natal.
A história de Içá-Mirim, no entanto, é tramada com fios de promessa e traição. A volta para casa, jurada sob o céu estrelado da baía da Babitonga, nunca aconteceu. O jovem tupinambá se tornou uma nota de rodapé nas crônicas da História, uma lenda de um passado onde os mundos se encontraram, mas falharam em se entender plenamente.
A história de Içá-Mirim pode ser conhecida com riqueza de detalhes no livro Vinte Luas, da historiadora Leyla Perrone-Moisés.

Cabeza de Vaca e sua possível relação com estas terras
Texto de Gleison Vieira
A atmosfera de exploração e o encantamento da busca por novas terras dominavam o imaginário europeu. Nesse cenário surge Álvar Núñez Cabeza de Vaca, um explorador lendário cuja aventura poderia ser digna de um filme de ação e suspense. No século XVI, esse destemido viajante se aventurou pelas terras desconhecidas do que hoje identificamos como o sul do Brasil, mais precisamente pela região de Itapoá, segundo as pesquisas de Olavo Quandt.
Em 1540, liderando uma expedição épica composta por 400 homens – entre pilotos, marinheiros, soldados e funcionários –, Cabeza de Vaca estava equipado com tudo o que precisava para uma grande aventura: mantimentos, armas, munição, roupas, ferramentas, objetos pessoais e até cavalos. Seu objetivo? Chegar à distante Assunção, no Paraguai, uma terra repleta de promessas e desafios. Com três embarcações sob seu comando, a expedição zarpou de Cádiz, na Espanha, em
novembro de 1540, iniciando uma jornada que os levaria para além dos limites do mundo conhecido.
Após uma parada estratégica nas Canárias e em Cabo Verde, a tripulação enfrentou o vasto Oceano Atlântico, seguindo a rota conhecida como “volta do mar”, uma viagem que os levaria finalmente às costas sul-americanas. Mas a verdadeira aventura começou ao desembarcar. Cabeza de Vaca narrou uma expedição terrestre árdua desde a misteriosa Baía de Ytabuan até Assunção, atravessando territórios inexplorados e enfrentando desafios inimagináveis.
Esta jornada não foi apenas uma viagem física, mas também uma viagem no tempo, atravessando um mundo no qual o Império Inca já havia caído nas mãos dos conquistadores espanhóis e as cidades de Lima e Assunção começavam a se estabelecer como novos centros de poder.
71
Olavo Quandt desvendou esse capítulo fascinante da história ao propor que Cabeza de Vaca não apenas passou pela região de Itapoá, mas também pode ter sido o primeiro europeu a testemunhar as magníficas Cataratas do Iguaçu. Ao navegar pelos
misteriosos canais e rios, Cabeza de Vaca e sua expedição encontraram a entrada para um mundo novo pela baía da Babitonga, que ele chamou de Bahía do Ytabuan.
A origem do termo Itapoá e Saí
Texto de Gleison Vieira
Em uma viagem no tempo, mergulhamos na origem de um nome que ecoa os mistérios e as belezas naturais do Brasil: Ytabuan. Este termo, imortalizado no documento “Informaciónes”, por Álvar Núñez Cabeza de Vaca, é uma chave que nos abre portas para entender não apenas a geografia, mas também o rico caldo cultural lentamente preparado pelos povos indígenas que habitaram estas terras.
A palavra Ytabuan é uma viagem sonora ao passado, em que o tupi-guarani era a língua da terra, falada e entendida em um vasto território. Nesse idioma, palavras carregam em si não só nomes, mas histórias e descrições do mundo natural. Ytabuan, ou Itapoá como conhecemos hoje, revela-se por
duas interpretações fascinantes: “pedra redonda” e “pedra que surge” – imagem poética que nos permite visualizar uma paisagem na qual as pedras
dançam com as marés, ora emergindo majestosamente, ora se escondendo nas águas.
Antonio Ruiz de Montoya, um jesuíta que estudou profundamente as línguas indígenas, nos ajuda a entender essa dança das pedras com seu significado de “levantar-se”, “alçar-se”. Essa interação mágica entre terra e mar, sólido e líquido, é capturada nas palavras dos povos originários, oferecendo-nos uma visão de um mundo onde natureza e cultura estão intrinsecamente ligadas.
Explorando mais a fundo, descobrimos que Itapoá
72
não é o único lugar a carregar encantamento e poesia em seu nome. A Praia de Itapema, com seus rochedos formando um cabo, e a ilha Itapeva, conhecida como a “ilha da pedra rasa”, compartilham essa herança linguística. Além disso, a sonoridade de Ytabuan ressoa em outros cantos do Brasil, como na Ponta de Itapuã, em Viamão (RS), e na famosa Praia de Itapuã em Salvador (BA), eternizada na canção de Toquinho e Vinicius de Moraes.
Avançando na jornada, nos deparamos com o intrigante rio Saí-Mirim. Aqui, o eterno jogo de contrastes e paradoxos se faz presente novamente. O termo “saí”, que à primeira vista sugere pequenez, na verdade esconde um rio de proporções notáveis, desafiando as expectativas e nos convidando
a olhar além das aparências. Esse rio, rico em afluentes e história, carrega o nome do belíssimo pássaro Guit-guit sahy, tecendo mais uma camada na complexa relação entre linguagem, natureza e cultura.
Esta exploração etimológica de Ytabuan e Saí-Mirim é um convite para reconhecermos a profundidade e a riqueza dos nomes que ecoam pela paisagem local, cada um carregando histórias, descrições e a sabedoria dos povos que com eles conviveram. De um tempo em que não havia pressa e, da observação cuidadosa, emergia sentido para dar nome aos lugares e objetos. Em cada nome, uma janela para um passado repleto de beleza, mistério e conexão profunda com a terra.

73

74
“Peloponeso”: o primeiro nome de Itapoá
Texto de Gleison Vieira
Na trama do tempo encontramos mapas que guardam em seus traços a memória de terras que hoje chamamos de Itapoá. Essas terras, nos idos do século XVI, eram conhecidas pelo nome de Peloponeso, uma homenagem poética aos sertões misteriosos que repousam sob o mesmo céu que hoje contemplamos, mas em uma época em que o mundo era um vasto mapa a ser descoberto.
Em uma viagem pela cartografia dessa era de descobrimentos, nos deparamos com três mapas, como se fossem três estrelas a guiar os navegantes do tempo. Primeiro, “Meridionalis Americæ” e “Haec pars Peruvianæ”, ambos desenhados pela mão do cartógrafo flamengo Petrus Plancius no ano de 1592, um tempo em que o mundo se desdobrava em novas cores e contornos sob os olhares ávidos por compreender a vastidão da terra. E, então, “Delineartio Totius Australis Partis Americæ”, uma criação de Arnold Florent van Langren, flamengo como Plancius, datada de 1596,
que nos fala dos contornos ainda imprecisos, mas já tão cheios de promessas e mistérios.
Foi Plancius, em colaboração com Joannes van Doetechum, que nos legou “Meridionalis Americæ pars in quinque regiones ab Hispanis dividitur, quae sunt Castella aurea, ut vocant: Popaianum, Peruvia, Chila & Brasilia”. Esse mapa, mais do que uma representação geográfica, é uma narrativa visual daquela época, dividindo o novo mundo em regiões que os espanhóis sonhavam em conquistar, entre elas, uma terra chamada Brasília, não a capital que hoje conhecemos, mas um eco antigo de um Brasil selvagem e indomável.
Nesses mapas, as terras Itapoá e Garuva são marcos de uma história maior, fragmentos de um mundo que estava sendo descoberto, nomeado e reivindicado por europeus distantes de seus próprios peloponesos.
75
O primeiro mapa de Itapoá
Texto de Gleison Vieira
Nos idos de 1700, surge o primeiro mapa que desenha o rosto das terras de Itapoá. O responsável por essa revelação cartográfica foi Diogo Soares, um padre jesuíta e cartógrafo que carregava em suas mãos não apenas o compasso e o pergaminho, mas a tarefa de medir o pulso do imenso território brasileiro pelas latitudes e longitudes que até então dançavam incógnitas ao ritmo da Terra.
No ano de 1737, Diogo Soares compilou uma coletânea de mapas que eram verdadeiras obras de arte, entre elas, a Carta 6.ª da Costa do Brasil, a qual, além de um espetáculo visual que desafiava os olhos e a imaginação, era um retrato pintado
com a paleta da natureza, cujas cores vibrantes davam vida à vegetação exuberante e ao relevo ondulante de Itapoá. Em estilo barroco, característico da época, esta carta fazia parte de uma coleção de sete peças cartográficas que juntas narravam a epopeia da costa brasileira.
Essa obra não era apenas um mapa, era uma janela aberta para o mundo, um convite para se perder nas linhas e cores que definiam a terra e o mar, um diálogo entre o homem e a natureza. Estão ali presentes traços de uma terra que resiste a ser simplificada em meras coordenadas.
76
Brilho escondido: o lendário ouro no Saí-Guaçu
Texto de Gleison Vieira
Nas veias da terra que hoje conhecemos, correu ouro; um sussurro de riqueza que atravessou as sombras da mata e as águas do rio Saí-Guaçu. No coração do século XVII, a notícia de ouro em Paranaguá acendeu um lampejo nos olhos daqueles que, sedentos por fortuna, migraram para o sul em busca de suas promessas douradas. As canoas, carregadas de sonhos e ambição, deslizavam pela Barra do Saí, cortando as águas como flechas rumo ao desconhecido.
Nesse cenário, o governo colonial, com olhos de águia sobre o tesouro recém-descoberto, ergueu na Barra do Saí, em terras que hoje pertencem a Itapoá, um bastião de controle: o Registro. Era ali que o quinto do ouro era coletado, um tributo ao reino distante que sonhava com a riqueza de suas colônias. Esse relato, entalhado na edição de 1920 da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nos conta sobre um passado no qual a terra, o rio e o ouro teciam uma história de cobiça e controle.
Por caminhos entrelaçados na mata, uma trilha indígena antiga tornou-se a artéria pela qual pulsava a vida e o comércio entre o Campo dos Ambrósios e a vila de Guaratuba. Essa via, trilhada por pés que buscavam ouro, conectava mundos: dos campos de Ambrósios aos mineiros do Saí, das Minas Velhas do Iquiririm ao Morro das Minas, já beijando o mar.
Antes mesmo do mapa de Diogo Soares em 1737, que apontava para o rio das Minas, havia Maria Baraharas, uma figura que, se a lenda se mistura à verdade, caminhou por essa trilha indígena testemunhando a aurora da vila de Guaratuba. Sua história, entrelaçada ao ciclo do ouro de Paranaguá, viu nascer uma comunidade que, mesmo antes de sua fundação oficial em 1771, pulsava com vida própria, abrigando uma paróquia desde 1670.
Esse episódio, mais do que a história de um lugar, é a memória de um tempo em que a terra escondia segredos e promessas, em que o rio Saí-Guaçu carregava não apenas água, mas o destino de muitos.
77

78
Passagem do naturalista
Saint-Hilaire por Itapoá
Texto de Gleison Vieira
Em 1817, uma aventura sem precedentes começou a ser traçada pelos sertões ainda misteriosos do Brasil, uma jornada que iria cobrir uma distância impressionante de 12 mil quilômetros, desde as ricas minas de Minas Gerais até as terras distantes da Cisplatina, hoje conhecida como Uruguai. A expedição, liderada pelo ilustre naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, a mando da Coroa portuguesa, não era feita apenas de mapas e compassos, mas de um rico mosaico humano: tropeiros com a alma dos antigos exploradores, escravos trazidos pelas autoridades locais e indígenas que conheciam cada sopro do vento e cada curva dos rios. Entre eles estava o indígena botocudo Firmiano Durães, cujo conhecimento das trilhas abriu caminhos por territórios inexplorados.
Saint-Hilaire, com sua visão científica refinada pelo Iluminismo, não apenas buscava catalogar a flora e a fauna, mas capturar a essência dos lugares e dos povos que encontrava. Ele era um homem entre dois mundos: o da exploração e o da análise crítica,
compreendendo que a verdadeira descoberta vinha com a partilha de seu olhar sobre o Brasil para o mundo. Suas observações meticulosas, que levaram décadas para serem publicadas, nos revelam não apenas a natureza, mas a cultura e o modo de vida dos habitantes da então Capitania de Santa Catarina, mostrando-nos um povo cuja vida estava intrinsecamente ligada ao mar, moldada pelas águas que cercavam suas terras.
Nas entrelinhas dessas expedições e estudos emergem as intrigas e disputas sobre os limites provinciais, uma discussão que já fervilhava nos corredores do poder em tempos coloniais. O olhar estrangeiro de Saint-Hilaire, perspicaz e detalhista, nos dá pistas sobre essas tensões, especialmente nas menções feitas pelo Visconde de São Leopoldo em 1838, destacando a precisão do naturalista em distinguir os rios que demarcavam territórios e identidades.
79
Auguste de Saint-Hilaire não era apenas um visitante. Em suas viagens, de 1816 a 1822, ele imergiu nas realidades brasileiras, coletando mais de 30 mil espécies, muitas das quais nunca catalogadas. Sua herança é tão rica que, séculos depois, ainda somos convidados a revisitá-la em seminários e exposições que celebram seu legado, revelando a profundidade de seu impacto na ciência e na compreensão do Brasil.
Ao atravessar os rios Saí-Guaçu e Saí-Mirim em abril de 1820, Saint-Hilaire e sua comitiva de sete homens, incluindo o jovem Firmiano, teciam mais um capítulo da intricada tapeçaria da nossa história. Eles viajaram em carroças puxadas por bois, por caminhos que, à luz de hoje, nos contam histórias de um Brasil que estava se formando, de suas comunidades caiçaras que, entre o mar e a montanha, forjaram uma existência única.
Essas narrativas não são meras curiosidades do passado. Elas são ecos de uma herança viva, um fio que conecta o presente ao tempo em que exploradores europeus, indígenas botocudos e as primeiras comunidades locais moldavam a identidade de uma terra rica em diversidade e cultura. São histórias que transformam cada canto de Itapoá,
cada rio e cada trilha em uma oportunidade para redescobrir e valorizar a singularidade de um lugar onde o passado ainda pulsa, convidando-nos a olhar para nossa terra com o mesmo espírito de maravilhamento e respeito que moveu Saint-Hilaire e sua comitiva pelos vastos sertões e coxilhas.
No início do século XIX, o litoral de Santa Catarina era marcado por uma paisagem quase selvagem, pontilhada apenas por três vilas: Nossa Senhora do Desterro, Santo Antônio da Laguna e São Francisco do Sul. Esses núcleos de civilização, habitados principalmente por aventureiros, náufragos e algumas dezenas de famílias, se tornaram o berço da nova identidade local com a chegada dos primeiros imigrantes açorianos. Esses pioneiros, trazendo consigo novas tradições e modos de vida, desempenharam um papel fundamental na povoação e desenvolvimento de diversas áreas do estado.
Entre esses desbravadores, algumas famílias aventuraram-se ainda mais, cruzando de canoa
São Francisco do Sul até Itapoá. Aqui encontraram uma comunidade incipiente, com poucas residências caiçaras construídas de pau a pique e cobertas com palha espalhadas pela extensão da praia.
Essas habitações abrigavam uma população nativa
80
que vivia em harmonia com o ambiente litorâneo, praticando a pesca, a caça e cultivando bananas e mandioca como meios de subsistência.
A vida caiçara era simples, mas rica em conhecimento e práticas adaptadas ao ambiente. As casas, iluminadas pelo óleo natural das sementes de bucuva, eram centros de uma vida comunitária e religiosa, em que até o ato de acender uma luz era acompanhado de orações e bênçãos. O isolamento, agravado pela densa mata ao redor, tornava a obtenção de querosene um desafio, evidenciando a resiliência e a criatividade desse povo em seu cotidiano.
Nas comunidades como Saí-Mirim e no entorno do cemitério de Itapoá, assim como nas áreas próximas das 3 Pedras, de Pontal do Norte e da Barra do Saí, a cultura caiçara florescia. Em meio à mata
nativa, algumas famílias isoladas dedicavam-se ao cultivo de arroz, milho, feijão, aipim, batata e abóbora, consumindo e trocando os excedentes.
A mandioca, um dos pilares de sua economia, era transportada a cavalo ou de carroça até a vila da Glória e de barco para São Francisco do Sul, onde era processada nos engenhos.
Esses novos habitantes se depararam com uma vida que, comparada ao que conheciam em Portugal, era dura. Exigia construir todas as soluções para a manutenção da própria subsistência, lidando com a escassez de recursos. Entretanto, tiveram a oportunidade de trocar experiências com os habitantes que chegaram nessas terras antes deles e assim encontrar soluções para problemas complexos. A união dos membros da comunidade e a busca por respostas conjuntas até hoje marcam a identidade desse povo.
81

Projeto
ser implementado
82
de inspiração para
na região do Saí - Vue d’un Phalanstère, Village Français - de Charles Fourier
O falanstério do Saí
Início do século XIX. Na Europa a exploração do homem pelo homem era sentida na pele pela classe trabalhadora. O sistema capitalista era apontado como a principal fonte geradora das mazelas sociais. Alguns pensadores sugeriam novos modos de vida, onde seria possível uma divisão mais equitativa dos recursos. Charles Fourier, na França, desenvolveu um modelo de socialismo chamado cooperativismo. Para colocar em prática seus ideais de equilíbrio social, ele propõe a criação de comunidades em que várias famílias moram num espaço comum, dividindo trabalho, custos e lucros de forma proporcional. Estas comunidades seriam os falanstérios. Este modo de vida daria origem a uma nova fase social, que ele chamou de Harmonia.
Convencido de que poderia criar um falanstério, o médico homeopata francês, Benoit Mure, tem acesso a informações sobre a possibilidade de que este projeto se concretize no Brasil. Mure vem ao Brasil em 1840 e tem um encontro com dom Pedro para expor suas ideias e pedir apoio financeiro e terras. A contrapartida oferecida por ele
seria promover a industrialização destas terras por meio de mão de obra qualificada. Seu projeto foi bem recebido, visto que o Brasil há tempos buscava atrair talentos que pudessem alavancar o desenvolvimento do país.
Em 1841, Mure expressa sua preferência pelo rio São Francisco como local ideal para a Colônia Industrial, entre os motivos para a escolha estão um vasto terreno fértil, cachoeiras abundantes, um seguro porto e acesso fácil ao interior do Império pelo caminho de Curitiba. Ele destaca a conveniência do terreno na península do Saí, situada defronte à ilha de São Francisco, elogiando a visão do local do alto do morro das Três Barras. O morro oferece uma vista panorâmica da península, com o rio Palmital, baía, ilhas e vegetação exuberante, criando uma paisagem marcada por formas, volumes e luzes que simbolizam a complexidade da criação.
O próximo passo é delimitar a terra e conseguir o título concessão do governo. Enquanto isso, em Paris, mais de quarenta famílias, em sua maioria
83
trabalhadores, estão ansiosas para emigrar e fundar a colônia no Brasil, em busca da felicidade que não encontram na França e, a partir disso, mudar o mundo.
Os trâmites levam um tempo para acontecer no Brasil, mas finalmente Benoit Mure consegue viabilizar junto ao governo brasileiro os recursos necessários para estabelecer a colônia nas terras catarinenses.
Em fevereiro de 1842, chega ao Brasil um grupo de 217 franceses para estabelecer o falanstério nas terras da baía da Babitonga, inclusive Itapoá – na região onde hoje é o Saí-Mirim, parte do Saí-Guaçu, bairro do Jaguaruna e parte do Pontal. Essas regiões estavam dentro da área em que seria compreendida a comunidade falansteriana.
Entretanto, esses imigrantes chegam na região já com uma briga, pois descobrem que o contrato com a Corte brasileira havia sido assinado em nome de Benoit Mure e não em nome do coletivo.
Este fato criou uma cisão no grupo, parte das pessoas se sentiram traídas por Mure e outra parte entendeu que ele agiu pelo bem do projeto. Desta forma as pessoas se separaram em duas subcomu-
nidades. A liderada por Mure se estabeleceu na região da vila da Glória e parte de Itapoá; e outra, liderada por Michel Derrion, partiu para a região do rio Palmital, onde hoje é Garuva.
O desembarque na Baía da Babitonga foi marcado por enormes contrastes. Ao chegarem a vila, os franceses se viram diante de uma paisagem desafiadora: nenhuma estrutura, mata fechada e uma imensidão de mosquitos num ambiente claramente selvagem. Essa realidade contrastava fortemente com ambientes mais controlados e desenvolvidos a que estavam acostumados.
As pessoas que vieram para o Saí eram profissionais altamente especializados, devido a industrialização vivida na França. Com uma promessa de receber ajuda de custo do governo brasileiro até que pudessem se estabelecer, foram surpreendidos pelo corte de recursos quando o governo tomou ciência da cisão experimentada pelo grupo.
A vida, de repente, se tornou muito dura. Havia muito a ser feito e pouca, ou nenhuma, estrutura para executar as tarefas que a nova realidade exigia, até ferramentas para a realização do trabalho eram escassas.
84
A exaustão e a fome eram companheiras constantes nestes dias. Administrar a realidade tão diferente da expectativa criada e sem vislumbrar uma possibilidade de mudança de cenário foi insuportável para Benoit Mure. Desta forma, após 2 anos, Mure desiste de seu sonho, parte para o Rio de Janeiro e abandona a comunidade em Santa Catarina. Michel Derrion persiste no sonho e agora passa a liderar as duas comunidades, a do Saí e do Palmital. Mas as dificuldades, principalmente materiais, são inúmeras. O que leva, em 1946, a ser decretado o fim do falanstério.
A experiência foi uma pitada de sonho em solos itapoaenses. Olhar para estas terras e vislumbrar que aqui seria possível construir um novo modo de vida foi a aposta deste grupo de franceses. Esta nova sociedade, que buscavam, seria mais igualitária, mais justa, mais fraterna, e com uma economia baseada no amor. Este tempero utópico semeou nossas terras, nutriu nossas raízes e ainda hoje podemos sentir seu aroma.

85
Navio Le Caroline, que trouxe os imigrantes franceses ao Brasil

Tesouro cultural
Em Itapoá, na região da Jaca, Beatriz Costa, com seus olhos de antropóloga e espírito de desbravadora, desvelou os segredos de um solo que guardava histórias antigas. Em um recanto que ela pressupõe já ter servido de refúgio para almas viajantes, ela percebeu, não um simples pedaço de terra, mas um emaranhado de vidas e sonhos enterrados. Chamou-o de “lugar de paragem”, provável pensão onde, em períodos históricos diferentes, o descarte se tornava ouro para os arqueólogos.
Deste sítio, registrado como OCH18, emergiram relíquias de mundos amalgamados. Da Europa distante vieram à luz louças e faianças, fundos de vasilhas e xícaras cujas bordas contam histórias de saudades e encontros, garrafas de vidro moldadas pela mão do artesão em formatos inéditos. Metais que narram viagens transoceânicas e uma louça que, com sua pintura em azul cobalto, finge ser da Companhia das Índias, um reflexo de desejos europeus em abraçar também aquela cultura.
Além disso, a mesma terra, sábia e generosa, guardava os sussurros dos primeiros habi-
tantes. Fragmentos cerâmicos da cultura Itararé, com sua fina espessura e cores que dançavam entre o enegrecido e o avermelhado, falam de uma sabedoria milenar, de um povo que moldava a argila com a leveza do vento.
E dos filhos da África, arrancados de sua terra, mas jamais de sua essência, emergiram cerâmicas adornadas com apliques e alças, vasos de fundo plano que desafiavam o costume indígena de criar recipientes que bailam com a terra, não sobre ela. Estes objetos, marcados pela resistência e pela reinvenção, ecoam canções de liberdade e de um pertencer que ultrapassava oceanos e correntes.
Beatriz Costa, em Itapoá, revelou uma tapeçaria de histórias entrelaçadas, um mosaico de humanidade que, mesmo fragmentado, revela a unidade profunda de nossas existências. Aqui, no solo da Jaca, repousam não apenas objetos, mas pedaços de almas que, juntas, compõem o caldo cultural de uma cidade que se redescobre a cada escavação, a cada olhar atento que se recusa a ver apenas a superfície.

A delimitação de terras em Itapoá
Quando o Rei Dom João III de Portugal decidiu implementar no Brasil o sistema de Capitanias Hereditárias, inspirado no sucesso desse modelo nas Ilhas da Madeira e Cabo Verde, o território brasileiro foi dividido em quinze partes. Essas capitanias foram entregues a um grupo diversificado de nobres, burocratas e comerciantes próximos à Coroa, conhecidos como Capitães-donatários.
Esses donatários tinham a tarefa de desenvolver suas capitanias com recursos próprios, podendo cobrar impostos dos colonos, explorar recursos naturais e governar praticamente como pequenos reis, desde que pagassem uma parte dos lucros à Coroa.
As relações desses donatários com o rei eram reguladas por duas cartas: a Carta de Doação, que lhes dava posse da terra, e a Carta Foral, que estabelecia os direitos e deveres, incluindo a coleta e repasse de tributos.
Neste contexto, a região onde hoje se encontra Itapoá fazia parte de uma capitania que se estendia da baía de Paranaguá, no Paraná, até Laguna, em Santa Catarina, conhecida por suas vastas terras que iam do litoral até o limite do Tratado de Tordesilhas. Com o tempo, essa área viu o surgimento de povoados e a concessão de terras, como as sesmarias, que eram lotes de terras dadas para o desenvolvimento agrícola e povoamento.
Um marco importante para Itapoá foi a criação do Distrito do Sahy em 1650, seguindo a fundação da Capitania de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá em 1656, que envolvia terras até a Província de Misiones na Argentina. Ao longo dos séculos, essa região foi palco de diversas mudanças administrativas e políticas, incluindo a criação de vilas e o desmembramento de territórios, até a formação dos municípios como os conhecemos hoje.
A ocupação do litoral catarinense foi intensificada pelas “bandeiras”, expedições que buscavam
88
metais preciosos e indígenas para trabalho braçal, marcando profundamente a história e a configuração territorial da região.
Itapoá, especificamente, teve seu 1º título de terras oficializado a partir de um pedido de sesmaria em 1804. Ao longo dos anos, a área que compreende o município atual foi palco de diver-
sos desenvolvimentos, desde a concessão de mais sesmarias até a criação do Distrito de Itapoá em 1966, culminando em sua emancipação como município em 1989. Este processo reflete a complexa história de ocupação, administração e desenvolvimento não apenas da nossa cidade, mas de todo o território brasileiro, desde os tempos coloniais até a formação do Brasil contemporâneo.

89

Caim e Abel no Sahy
Jornal O Despertador
O texto jornalístico de 1877 relata a história de um indivíduo chamado Thomaz Francisco de Souza, que vivia escondido nas matas da planície do Saí Mirim. Ele era acusado de homicídio, sendo uma das acusações ter assassinado seu tio e padrinho Thomaz Antonio de Lemos.
O criminoso havia buscado refúgio nas matas e estabelecido um rancho, longe do conhecimento de todos, exceto de sua família. Um homem chamado Wenceslau Justino da Rocha foi à caça e, ao chegar ao rancho, viu Pacífico Francisco de Souza com uma faca ensanguentada e um escravo, chamado Adão, limpando o sangue do chão. Ao questionar Pacífico, este afirmou que tinha ido encontrar seu irmão morto.
Wenceslau então descobriu o corpo de Thomaz Francisco de Souza no rancho, com ferimentos graves. Após ajudar a enterrar o cadáver a pedido de Pacífico, Wenceslau contou o ocorrido a seu irmão Lino Fidêncio dos Santos em segredo.
Mais tarde, Lino e outros descobriram a sepultura de Thomaz Francisco de Souza no local do crime. A autoridade policial foi informada e exumou o cadáver, confirmando ser o de Thomaz Francisco de Souza.
Pacífico Francisco de Souza foi preso na cidade e Adão, o escravo envolvido, foi procurado em outra província. O inquérito policial contou com o depoimento de oito testemunhas.

Desterro, 6 de abril de 1877

Gazeta de Joinville

No dia 12 deste mês, ocorreu a primeira sessão ordinária do Júri neste termo, na qual foi apresentado um importante processo. O réu, Pacífico Francisco de Souza, acusado de ter auxiliado o liberto Adão no assassinato de seu irmão Thomaz Francisco de Souza, foi julgado.

Após minuciosos interrogatórios e uma acusação enérgica por parte da Promotoria Pública, as testemunhas foram inquiridas até as primeiras horas do dia 14. A defesa durou até a tarde, e o Júri de sentença absolveu os acusados por unanimidade, o que levou o Presidente do Tribunal a apelar da decisão, considerando-a injusta. A absolvição unânime foi criticada como um ato injusto e encorajador para a repetição de crimes semelhantes.

Joinville, 25 de março de 1878
Uma casa que habita nosso imaginário
Texto de Neusa Lopes
Na rua Otávio Cipriano, próximo ao memorial dos Pioneiros, antigo cemitério de Itapema, existem ruínas de uma casa que povoa as histórias dos moradores mais antigos de Itapoá e que é guardiã de muitas memórias.
Quando chegou a Itapoá, Ismael Bento da Silva ouviu de seu tio as histórias sobre os antigos moradores daquela casa. Este tio compartilhava relatos sobre os habitantes da residência, incluindo Ana Adão, que era filha de escravos que pertenciam à família dona da casa. Ana Adão serviu na casa como sinhá e, após a abolição da escravidão, acabou sendo abandonada quando suas “donas” partiram para o Rio de Janeiro.
Ismael recorda de sua infância, quando Ana Adão vivia em um modesto rancho próximo à antiga casa. Ele a descreve como uma mulher baixa, de pele morena, que havia desempenhado o papel de parteira e curandeira na comunidade. Ele fre-
quentava a região de sua casa para observar os pássaros e os dois acabavam conversando nestes encontros fortuitos.
As histórias sobre a antiga casa e as terras em que estava construída também são contadas por outros moradores locais. A uma certa altura, correu o boato, reforçado pelo sonho de uma moradora da região, de que havia ouro escondido nas sapatas da casa. Foi o que bastou para que os 4 pilares que restavam da edificação fossem destruídos, um a um, sempre durante o breu da noite. Nada foi encontrado, dizem.
Outra narrativa que ouvimos muito é que a propriedade tinha sido construída por escravos, sendo um dote recebido por um casal que veio colonizar a região. Há ainda uma história que envolvia um suposto herdeiro que tentou reivindicar as terras, mas acabou sendo considerado um grileiro.
92
Diversas famílias foram associadas à posse das terras ao longo do tempo. Alguns mencionaram os Correia de Freitas como os primeiros proprietários, enquanto outros lembravam dos Martins e dos Correia de Freitas como figuras importantes na história local. No entanto, a verdadeira origem e posse das terras ainda são alvo de debate e controvérsia.
Em pesquisas levantadas sobre os proprietários da casa, está comprovado que os Correia de Freitas eram os moradores da famosa residência. A construção, que permaneceu em ruínas até cerca de 1970, infelizmente, não existe mais. Seus vestígios materiais poderiam ajudar a desvelar mais camadas desta história composta por muitas nuances, algum tempero e muita curiosidade.

Ilustração alusiva a partir de pesquisas e relatos dos moradores, Neusa Lopes
93
Quem eram os proprietários
A casa foi construída por Domingos Correia de Freitas, natural de São Francisco do Sul, nascido em 1810 e que morreu aos 54 anos em Paranaguá, onde constituiu uma tradicional família da região.
Um estudo sobre a família Correia de Freitas revela um aspecto complexo de sua história, marcado pela contradição entre suas atividades republicanas e sua relação com a escravidão. Embora Manoel Correia de Freitas, um dos filhos de Domingos, seja reconhecido em Guaratuba e Curitiba pelos movimentos intensos a favor da abolição, documentos indicam que o ramo da família ao qual ele pertencia era escravocrata e não aderiu à abolição voluntária de seus cativos.
A falta de registros sobre a libertação dos escravos da família Correia de Freitas contrasta com documentos que evidenciam a utilização dos cativos como parte do patrimônio familiar.
A presença de escravos, terras e outros bens materiais na lista de espólio de Domingos Correia de Freitas demonstra a posição elevada da família na
sociedade da época. Seus herdeiros, incluindo a viúva e os filhos, compartilhavam a propriedade dos cativos, indicando não apenas a prática da escravidão, mas também sua manutenção como elemento central da riqueza familiar.
Os antigos moradores da região de Itapoá recordam os últimos descendentes que habitaram a casa próxima às pedras. Segundo relatos, as netas de Domingos, Josepha e Soledade, permaneceram na residência até partirem para estudar no Rio de Janeiro. Essas irmãs, juntamente com a mãe, Luíza Correia de Freitas, esposa de José, filho de Domingos, desempenharam papéis significativos no ensino no Paraná. Foi Luiza quem alfabetizou
Enedina Alves Marques, uma pioneira a se formar engenheira no Paraná e a primeira mulher negra a se graduar em engenharia no Brasil. As irmãs
Josepha e Soledade, juntamente com sua mãe, deixaram um legado importante na história da educação e contribuíram para o avanço da igualdade de gênero no espectro do conhecimento e da educação no estado do Paraná.
94
Essas relações sociais e políticas da época evidenciam a presença e a influência da escravidão mesmo entre indivíduos engajados em movimentos republicanos e aqueles que lutavam por direitos sociais. A história da família Correia de Freitas ser-
ve como um lembrete das contradições e ambiguidades que permeiam o tecido social e político de períodos históricos passados.
Entre paredes e memórias –quando as pesquisas se complementam
Texto de Ana Crhistina Vanali
Uma casa, uma simples casa pode revelar tantas coisas das pessoas que nelas habitaram, bem como da cidade e de suas histórias. É certo que existam casas de diferentes tipos, mas a casa que foi de Ana Adão guardava algo de muito especial não apenas para a cidade de Itapoá, mas particularmente para mim.
Para Ana Adão ela foi seu lar, um espaço onde ela viveu sua vida e construiu sua história com os outros que a cercavam. Para Itapoá, a casa é o registro de uma época antiga do Brasil, marcada pelas grandes famílias patriarcais que demons-
travam a sua importância conforme a quantidade de escravos que possuíam. No Brasil, no início do século XX, a temática da família é tratada de forma diferente, e a preocupação central estava voltada para examinar a família e a sua relação com o Estado, procurando entender o processo de formação da nação brasileira.
Para mim, essa casa foi a prova concreta do resultado de cinco anos de pesquisa a respeito da família Correia de Freitas. A família Correia de Freitas possuía um considerável capital político nos litorais do Paraná e de Santa Catarina que
95

96
Bairro de Itapema, Itapoá - SC
permitia sua circulação nas altas posições sociais convivendo entre os membros das outras famílias que compunham a classe dominante tradicional.
Manoel Correia de Freitas (pai) foi alferes em São Francisco do Sul, Santa Catarina, e seu filho
Domingos Correia de Freitas foi capitão em Paranaguá. Ambos fizeram parte do poder estruturado, ocupando postos de oficiais militares, o que lhes conferia certo capital político e econômico que acabou se associando ao nome da família. Pois, para ser escolhido e nomeado para essas posições, o indivíduo deveria dispor de certos capitais (político, econômico, cultural) para “serem lembrados”, o que demonstra que a família Correia de Freitas era uma das principais famílias históricas de Paranaguá, reconhecida também em São Francisco do Sul, visto que eram funcionários da alta burocracia e ocupantes titulares de cargos públicos. E essa
influência se estendia para a região de Itapoá onde a família tinha um sítio no Distrito de Sahy, num lugar chamado de Itapema, que fazia limites com a propriedade de Maria Correa da Graça. Eis aqui a casa de Ana Adão!
O presente trabalho é uma prova concreta da importância da história oral que pode contribuir de maneira muito significativa para a preservação da memória, nesse caso, do município de Itapoá, pois foi através desse método, da coleta de depoimentos que carregam o conhecimento do povo local, que se fez a relação daquele sítio do inventário de 1880 de um dos membros da família Correia de Freitas, com a casa de Ana Adão. E, assim, muitas lacunas de parte da história dessa família, que estava silenciada, ganhou voz.
97
 Negros praticando danças tradicionais de suas tribos africanas. Gravura de Jean-Baptiste Debret. Dança de selvagens da Missão de São José
Negros praticando danças tradicionais de suas tribos africanas. Gravura de Jean-Baptiste Debret. Dança de selvagens da Missão de São José
Os africanos não chegaram aqui por escolha
A presença dos sujeitos escravizados e as formas de exploração e opressão que os afetaram ao longo da história do Brasil continuam a ecoar em diferentes aspectos da sociedade contemporânea. Mesmo após a abolição da escravidão, os resquícios desse sistema persistem e se manifestam de maneiras complexas nos dias de hoje.
A existência e o legado dos sujeitos escravizados também estão profundamente enraizados na região de Itapoá, Santa Catarina. Cada curva do rio Saí-Guaçu tem um nome fundado por ex-escravos, como as curvas da Volta Velha, Poço dos Paus, Volta da Roça, Massaranduba, Três Barras, Volta da Murta, Caporinha, Volta Escura, Bulandeira e muitas outras. Os moradores locais destacam a importância de preservar e catalogar esses locais como parte fundamental da história de Itapoá.
Além disso, relatos dos moradores indicam a existência de dois quilombos em Itapoá: o Quilombo de Baixo e o Quilombo de Cima, localizados às margens do rio Saí-Guaçu. Nessas áreas, havia
árvores frutíferas como goiabeiras, laranjeiras, abacateiros e casas de moradia. Até cerca de 50 anos atrás, ainda havia os últimos moradores nessas localidades, evidenciando a importância histórica e cultural desses espaços.
A herança da escravidão também está intrinsecamente ligada à formação dos crioulos, ou seja, dos afrodescendentes nascidos no Brasil durante o período escravista. A identidade crioula é marcada pela resistência cultural, pela preservação de tradições africanas e pela luta por liberdade e igualdade.
A localização, pesquisa e preservação desses quilombos são de extrema importância para a manutenção da memória local. Durante pesquisas de campo, é possível que arqueólogos encontrem artefatos significativos que revelam mais sobre a herança africana presente nos solos de Itapoá, como é o caso dos cachimbos e cerâmicas. Em Santa Catarina, pequenos cachimbos encontrados nos quilombos, na região de São Francisco do Sul, são
99
comuns e representam um verdadeiro tesouro da arqueologia, pois fornecem informações valiosas sobre a cultura, o estilo de vida e as práticas cotidianas dos habitantes desses locais.
Como artefatos arqueológicos, os cachimbos oferecem evidências tangíveis das tradições tabagísticas, das técnicas de fabricação e até mesmo das conexões culturais e comerciais que os quilombolas mantinham com outras comunidades. Essas descobertas contribuem significativamente para uma compreensão mais profunda da história e da identidade cultural das comunidades afrodescendentes no contexto da escravidão e pós-abolição.
Refletir sobre a persistência dessas formas de
Para pensar
opressão é fundamental para promover uma sociedade mais justa e equitativa. Reconhecer o legado da escravidão atualmente é um passo crucial para combater o racismo e lutar pela igualdade racial.
É necessário criar espaços para ouvir as vozes das comunidades afrodescendentes, valorizar sua cultura, história e contribuições para a nossa sociedade. A luta contra as formas contemporâneas de opressão, herdadas do período onde a escravidão foi normalizada, exige um compromisso coletivo com a justiça social, apoiando a promoção de políticas inclusivas. Falhamos, enquanto humanidade, quando fomos capazes de comparar uma vida humana a uma mercadoria, e fizemos isso sistematicamente, coletivamente e legalmente.
Como a história de Içá-Mirim nos ajuda a refletir sobre os impactos e as consequências do encontro entre culturas diferentes, e o que podemos aprender hoje sobre respeito e compreensão mútuos a partir desses encontros históricos?
A memória das histórias e pessoas ligadas à antiga casa de Ana Adão em Itapoá pode nos inspirar a reconhecer e a valorizar as muitas camadas da nossa história coletiva, incluindo as vozes muitas vezes silenciadas pelo passado, como também a agir conscientemente para construir uma realidade mais inclusiva e respeitosa com todas as heranças culturais. De que forma é possível realizar esse trabalho?
100
As vozes silenciadas
Precisamos colocar luz em páginas deixadas à sombra da nossa biografia. Ao ouvirmos o sussurro do vento que assopra histórias esquecidas, encontramos o fio que tece uma das tramas da existência de Itapoá, sob as asas de São Francisco do Sul. Nesta região, onde a brisa do mar entrelaça o destino de povos, a memória do passado ecoa as vozes daqueles arrancados de terras distantes, trazidos à força pelo desejo voraz de riqueza que cegava os corações dos homens.
Desde o alvorecer do século XVI, quando as caravelas desbravavam o desconhecido e os mapas eram pontilhados de mistérios, a presença africana, imposta pela corrente e pelo ferro, marcou a terra com a cicatriz profunda da escravidão. Em São Francisco do Sul, uma das mais antigas testemunhas da história brasileira, os primeiros sujeitos negros escravizados podem ter tocado o solo

ainda nas primeiras manhãs do século XVI, vítimas de um comércio nefasto que via no homem, na mulher, na criança, não mais que mercadorias.
Neste mesmo tecido, Itapoá se entrelaça, refletindo o espectro da escravidão que se estendia por toda a região de Santa Catarina.
Aqui, a terra, banhada pelo suor e pelo sangue daqueles forçados a chamá-la de lar, viu surgir quilombos, testemunhos de resistência, de lutas silenciosas e declaradas contra as correntes que buscavam aprisionar não apenas os corpos, mas os espíritos. Nos tornamos um lugar de acalento, devido ao difícil acesso por terra, para almas que buscavam a liberdade, um esconderijo natural onde os escravizados fugidios encontravam um sopro de esperança, uma possibilidade para sonhar sob um céu de liberdade.


CULTURA

“Cultura é o que fica depois de se esquecer tudo o que foi aprendido.”
(Selma Lagerlöf)
Cambira
Ingredientes
– 2 kg de peixe seco ou defumado (preferencialmente tainha);
– 6 bananas da terra;
– 8 tomates bem maduros sem pele;
– 2 cebolas;
– 1 pimentão pequeno;
– 1 maço de alfavaca;
– 1 maço de coentro;
– 3 colheres de sopa de extrato de tomate;
– Pimenta a gosto;
– 2 colheres de sopa de óleo;
– Farinha branca de mandioca para o pirão.
Modo de preparo
Lavar bem o peixe seco e deixar de molho, trocando a água por várias vezes para tirar o excesso de sal. Preparar o molho colocando numa panela rasa o óleo, depois a cebola, o pimentão, o tomate, a alfavaca, o coentro, a pimenta e o extrato de tomate. Pronto o molho, juntar o peixe, tampar e deixar ferver por alguns minutos. As bananas são colocadas em seguida, cobrindo o peixe. A panela deve ser tampada mais uma vez, para uma nova fervura. Para servir, é recomendado que as bananas sejam
tiradas e oferecidas em outro recipiente. Para o pirão, colocar numa panela parte do molho do peixe. Fazer um mingau com água fria e depois derramar aos poucos no molho fervendo, mexendo sempre. O prato completo é servido com arroz branco e saladas.
Sem geladeira ou freezer para a conservação, e com a abundância da tainha no inverno, os moradores de Itapoá aprenderam a salgar o peixe e secá-lo ao sol para que pudessem ter acesso a esse alimento durante todo o ano. Uma das formas de preparo do peixe seco, que continua viva entre a população local, é a Cambira. O prato, que leva o nome do cipó em que o peixe costumava ser seco, traz uma combinação de sabores única e exótica. Frequentemente mencionada como parte da história da alimentação dos moradores locais, as gerações mais novas têm pouco contato com a Cambira. Entretanto, ela é parte importante da formação da identidade local.
105
Pão por Deus

“Te mando este pão por Deus num papel branco dobrado
Um laço de amor tecido
Para nunca ser desmanchado”
(Elisa dos Santos da Silva)
“Vai este pão por Deus, vai chegar em tuas mãos
Recebe com alegria e guarda estimação
Com um sorriso no rosto e um aperto de mão”
(Elisa dos Santos da Silva)
“Aqui vai meu Pão-Por-Deus

Nas assa de um beija-flor
Se não tiver o que mandar
Mande um pouco de Amor”
(Maria de Souza)
106
O “Pão por Deus”, uma tradição tipicamente portuguesa, chegou a Santa Catarina com os imigrantes e descendentes açorianos. Mais do que uma partilha de pão, este ritual, criado para celebrar o Dia de Todos os Santos, ganhou aqui nova roupagem, construindo histórias de amor e celebração.
A história do “Pão por Deus” em Itapoá é um exemplo fascinante de como as tradições culturais e religiosas são transportadas, transformadas e continuamente reinventadas ao longo do tempo e do espaço. Costume guardado com carinho na memória dos moradores mais antigos da cidade, o “Pão por Deus” praticamente desapareceu após
1950. Entretanto, segue vivo na memória de quem o vivenciou, como um testemunho da incessante dança entre culturas que se encontram, uma narrativa da contínua reinvenção de nossas raízes num solo fértil de diversidade.
Com o passar dos anos, a prática do “Pão por Deus” no Brasil foi se adaptando às realidades locais. As formas de comemoração e os itens distribuídos foram incorporando elementos da rica e diversificada cultura brasileira. Em Itapoá, por exemplo, os jovens aproveitavam a troca de versos para iniciar uma paquera. Quem entregava o verso esperava por uma prenda, se ela viesse, era sinal de que o sentimento era correspondido, do contrário, a paquera não havia dado certo. Outra mudança que aconteceu em Itapoá é que o “Pão por Deus” acontecia em outubro e não no dia 1º de novembro, como em Portugal.


107

108
Família Cunha - Uma das últimas produtoras de farinha de mandioca de Itapoá - Água Branca
A farinha de mandioca
A farinha de mandioca, peça central na alimentação e cultura dos povos indígenas do Brasil, desempenha um papel importante não apenas na nutrição diária, mas também em práticas culturais e rituais. Este alimento, enraizado nas tradições indígenas, é valorizado pela sua energia, facilidade de transporte e durabilidade, tornando-se essencial em longas caminhadas realizadas pelos povos Guarani e em momentos de conflito entre tribos, simbolizando resistência e preparação. Além de ser um sustento físico, a farinha de mandioca carrega significados culturais e espirituais, reforçando a coesão e identidade tribal.
Em Santa Catarina, a produção de farinha de mandioca é um legado das práticas indígenas enriquecido pela contribuição de africanos, açorianos e outros imigrantes. Este processo artesanal, passado de geração em geração, começa com o cultivo e segue para a casa de farinha, onde a mandioca é transformada em uma farinha crocante e nutritiva, essencial na culinária local e fonte de orgulho cultural.
A produção em Itapoá reflete um compromisso com a sustentabilidade e o respeito pela terra, com práticas que asseguram a continuidade dessa cultura alimentar. Assim, a farinha de mandioca de produção local é mais do que um alimento: é uma expressão da tradição, inovação e da conexão profunda com a terra, testemunhando a capacidade do povo em preservar e adaptar seu rico patrimônio cultural.
Observamos isso em visita ao sítio do Tonho da Cunha, atualmente morador do bairro Água
Branca, na região rural de Itapoá. Lá, Tonho produz atualmente poucos quilos de farinha, considerada, por muitos, a melhor da região.
Antonio José da Cunha, o Tonho como é conhecido, herdou da sua família o ofício e o amor pelo plantio e produção da farinha de mandioca. Até 11 anos atrás, Tonho e sua família moravam onde hoje é a região retroportuária, na Estrada José Alves. Com a vinda das grandes empresas de cargas e logística, eles buscaram alternativas em áreas próprias para moradia. A família, vinda de Barra
109
Velha, Santa Catarina, chegou em Itapoá ainda nos anos 1970.
Maria Flora, mãe de Tonho, hoje com 86 anos, conta que desde menina dividia o trabalho, ainda em São João do Itaperiú, Santa Catarina, com sua irmã, nas fornadas de farinha, revelando que a arte do engenho está na família há muitas décadas.
O plantio da mandioca geralmente ocorre entre os meses de agosto e novembro, pois a planta se desenvolve bem em climas quentes e úmidos. Após o plantio, a mandioca leva de 8 a 12 meses para atingir o ponto ideal de colheita, quando as raízes estão maduras e prontas para serem transformadas em farinha. Tonho conta que os melhores meses para a colheita, o que confere uma melhor qualidade ao produto, é entre junho e julho, após essa época, as mandiocas se tornam mais aguadas e isso interfere na farinha. O respeito ao ciclo de plantação e colheita nas épocas certas é, para ele, o segredo de uma boa farinha.
Quando chega o momento da colheita, as raízes de mandioca são cuidadosamente retiradas do solo. Em seguida, elas são descascadas e lavadas para remover a casca e a terra. Esse processo é
chamado de raspagem, antes feito manualmente, sempre entre familiares e vizinhos e hoje com a ajuda de máquinas próprias. Depois disso, as raízes são raladas ou moídas para obter uma massa úmida, que é então prensada para extrair o excesso de líquido, resultando em uma massa mais seca, espalhada em grandes superfícies para secar em fornos especiais. Durante o processo de secagem, a massa é constantemente mexida e quebrada para garantir que seque uniformemente. Após a secagem completa, ela é peneirada para obter a farinha de mandioca final.
Esse tipo de processo exige cuidado e atenção durante aproximadamente dois anos. E Tonho e sua família temem que não haja futuro para essa pequena atividade mantida há várias gerações. Contudo, a transmissão do conhecimento e das tradições agrícolas de geração em geração é crucial para a preservação das culturas locais e para garantir a continuidade da produção de alimentos tradicionais, livre de agrotóxicos, como, neste caso, esta produção familiar.
É compreensível que as novas gerações enfrentem desafios e considerem outros caminhos profissionais. No entanto, há que se considerar os aspectos
110
positivos e valiosos desse tipo de produção, como a preservação do meio ambiente, o cultivo livre de agrotóxicos e a manutenção da qualidade e autenticidade dos alimentos, para a segurança alimentar em todo o mundo.
Uma maneira de incentivar as novas gerações a se interessarem pela produção tradicional é promo-
ver a educação sobre os benefícios da agricultura sustentável, também é essencial valorizar o conhecimento dos produtores mais experientes e criar espaços para que eles compartilhem suas técnicas com os jovens interessados.

111

Do outro lado do rio
Encravada na fronteira de Itapoá com Guaratuba, com acesso quase secreto, encontramos a comunidade do Saí-Guaçu. Como um segredo velado pela névoa do tempo, a comunidade é conhecida localmente como “do outro lado do rio”. Uma atmosfera de mistério envolve esta vila centenária que parece ter sido esquecida pelos próprios moradores de Itapoá.
Para chegar ao local, é necessário percorrer a estrada Cornelsen, ultrapassando o posto de vigilância da Polícia Rodoviária Estadual, em uma jornada de cerca de 4,5 quilômetros, na direção de Garuva. Ali, à espreita, uma pequena entrada, não sinalizada, convida os mais curiosos a embrenharem-se por uma trilha de terra que se estende por mais dois quilômetros até o coração de Saí-Guaçu.
A travessia do rio Saí-Guaçu, um guardião, marca a entrada nesse reino esquecido. Pouco além da ponte, os vestígios de civilização se resumem à igreja Sagrado Coração de Jesus – uma igreja secular, um galpão, um cemitério silencioso, uma casa e uma chácara, traços solitários de memórias de uma época
em que trinta e três famílias compartilhavam esse solo.
Ali ainda é possível sentir um eco de 150 anos atrás, quando as famílias de pescadores e agricultores de mandioca moldaram a terra. Hoje, as marcas de dezesseis engenhos de farinha se perderam no tempo, como as casas que enchiam de vida aquela comunidade, restam apenas as almas do cemitério, testemunhas de um povoado que deixou suas marcas.
Por anos a fio, este pedaço de paraíso permaneceu esquecido, abandonado ao capricho do tempo, até fiéis católicos decidirem respirar vida de volta a essas terras, movidos pela fé e pelo amor a esse local.
O renascimento veio com a festa do padroeiro, um evento comemorativo no mês de junho, que reaviva a alma da comunidade, atraindo centenas de pessoas para celebrar uma tradição que atravessa séculos. A festa, repleta de iguarias e alegria, é um testemunho da resiliência desse lugar.
Atualmente, Saí-Guaçu é um refúgio de paz, raramente perturbado, salvo por alguns poucos que visitam o cemitério ou os aventureiros em busca dos tesouros que o rio esconde. Hoje esse pedaço de terra é um

paraíso a ser redescoberto, um mistério que convida à exploração, à admiração, à preservação de uma herança que se esconde “do outro lado do rio”.

A essência dessa cidade vai muito além da beleza natural; está, acima de tudo, nas mãos calejadas e nos corações ardentes de sua gente. É a população itapoaense que traça o verdadeiro contorno desta terra vibrante.
Cada indivíduo, seja ele pescador, empresário, professor ou artista, contribui para a identidade da cidade. É nos encontros, nas trocas de olhares, no dia a dia que o desenho vai ficando completo. Se tentássemos nomear todos aqueles que desempenham um papel nesta construção coletiva, falharíamos miseravelmente, pois é a soma das incontáveis contribuições que faz Itapoá ser o que é.
Vejamos, por exemplo, o trabalho árduo dos que cultivam a terra, enriquecendo nossa mesa e nosso solo; a generosidade dos que acolhem calorosamente tanto os visitantes quanto os novos moradores, fazendo de Itapoá um lar para todos que aqui chegam; a dedicação dos educadores, que moldam o futuro ao transmitir conhecimento e valores; e, claro, o espírito comunitário que emerge nos momentos de desafio, provando que juntos somos mais fortes.
Nossa gente
Cada cidadão de Itapoá, com seu esforço diário e amor por este pedaço de paraíso, ajuda a pavimentar o caminho para um amanhã mais próspero e justo. Os verdadeiros pilares desta comunidade, sem dúvida, sustentam a cidade não apenas com suas mãos, mas com suas almas. A cidade reflete a força e a resiliência de seu povo, evidenciando o imenso poder da colaboração e do compartilhamento de sonhos.
Portanto, quando você passear por nossas ruas, sentir a brisa do mar ou se maravilhar com as belas paisagens, lembre-se: Itapoá é muito mais do que um destino; é o lar de uma comunidade que constrói todos os dias um legado de união e prosperidade. Sem essa gente maravilhosa, Itapoá simplesmente não existiria. Valorizar nosso povo é valorizar a essência de Itapoá.
115

116
Izael nascimento da Silva - Lelé - em frente a sua peixaria da Figueira do Pontal
Lelé - Figueira do Pontal
Izael Nascimento da Silva, mais conhecido por Lelé, da peixaria na Figueira do Pontal, contribuiu imensamente para o desenvolvimento daquela localidade. Segundo o Sr. Lelé, o nome “Figueira do Pontal” se originou da presença de uma Figueira e uma Tajubeira na região, local onde os moradores eram, desde sempre, muito unidos ao redor das atividades da pesca e outras ocupações, uma verdadeira vila de pescadores. Naquela época, havia abundância de peixes, e os pescadores usavam sol e sal para conservar seus produtos, a conhecida Cambira, já que não havia energia elétrica ou gelo disponível. A eletricidade chegou à região por meio de uma cooperativa chamada ERUSC, proporcionando luz rural, mas tinha um alto custo. Para obter gelo, gasolina, gás, óleo e materiais de construção, os moradores precisavam atravessar em canoas a remo até São Francisco do Sul. Eles dependiam dessa cidade para vender seus produtos, buscar assistência médica, fazer compras e acessar serviços.
O Sr. Lelé desempenhou um papel crucial na comunidade de Figueira do Pontal, sendo uma alma generosa a quem todos recorriam em momentos de necessidade. As pessoas da região contavam com ele para atravessar de canoa até São Francisco do Sul em busca de medicamentos, insumos para alimentação e até mesmo levar as gestantes para parirem em São
Francisco, pois até a década de 50, as mulheres davam à luz com a ajuda de parteiras em suas próprias casas.
Sua importância era tamanha que as comunidades vizinhas se dirigiam até Figueira para que o Sr. Lelé ajudasse na resolução dos problemas enfrentados pelos moradores. Além disso, ele era uma fonte de conhecimento e tradição, transmitindo habilidades como a confecção artesanal de redes de pesca de geração em geração. A comunidade contava com diversos canoeiros e mantinha práticas como a caça, hoje proibida, trocas entre moradores e cultivo de arroz, café e mandioca. A vida em Figueira do Pontal era marcada pela autossuficiência e pela cooperação mútua entre os moradores, num movimento coletivo que pautava uma época em busca da sobrevivência e harmonia. O Sr. Lelé era uma figura central nesse contexto, oferecendo suporte e orientação para as necessidades cotidianas da comunidade. Hoje a peixaria ainda existe, e, ao passar pela frente, na belíssima vista do mar, é possível avistar o Sr. Lelé sentado em sua varanda na peixaria, contemplando a natureza e as transformações do município.
117

118
Evaldo Speck e família - foto de 1935 - Saí-Mirim
Evaldo Speck - Saí-Mirim
Na região do Saí-Mirim encontramos o Sr. Evaldo Speck, o patriarca nascido em 1932 que testemunhou as mudanças da região. O Sr. Evaldo ainda reside na casa onde nasceu e criou os filhos. Em visita, ele nos contou que veio jovem para o Saí-Mirim. Em 1914, seus pais vieram de navio de Florianópolis até São Francisco, o navio Carlos, e a partir de São Francisco se estabeleceram na região do Saí-Mirim com o objetivo de desenvolver a agricultura e desbravar terras com determinação na região. O cultivo de arroz e mandioca, o engenho de farinha e outras atividades paralelas impulsionaram o progresso da família, que prosperou ao longo do tempo.
O Sr. Evaldo acompanhou as movimentações políticas de administração da localidade e também os projetos realizados pelos familiares. Ele e alguns irmãos chegaram a estudar em Joinville, no bairro Cristo Rei, em escola particular. Anos depois foi sua família a responsável em conseguir trazer uma escola para a região. Orgulhoso, nos mostrou a sua sala de troféus, do time de futebol Cruzeiro, do Saí-Mirim. Seus livros e álbuns de fotos são as companhias constantes que mantêm viva a memória da família na companhia da cachorra Lola.
Na foto de 1935, o pequeno Evaldo Speck, com apenas três anos, posa para o fotógrafo nos braços de sua avó, Emília Witthinrich Gerke, enquanto uma constelação familiar se forma ao seu redor, incluindo seu irmão Erich, seus pais Elsa e Alberto, seus avós maternos João Gerke e Emília, seus avós paternos
Ana Junglas e Germano Speck, sua irmã Ilda e até mesmo seu tio Fredolin na janela, ansioso para não perder a pose. A casa de barro e taquaras entrelaçadas fixadas com cipós, conhecida como pau a pique, era o cenário perfeito para essa grande família de origem alemã que tentava a vida nas terras do Saí-Mirim.
Hoje, são muitas gerações dos Speck. A casa que um dia abrigou Evaldo agora floresce com a presença constante de filhos, netos e bisnetos. A história desses pioneiros é um legado que deve ser sempre preservado.
119

120
Casa de Elisa dos Santos Silva e família - Barra do Saí
Elisa - Barra do Saí
Na Barra do Saí, a foto de uma casa conta a história de uma parte de Itapoá, não somente da sua construção, feita com madeira de caxeta, coberta de palha e chão batido, mas da família que ocupou esse lar tão especial. O rancho, que já era habitado por Ezebina Leocadio e seu cunhado Antonio Franco, recebeu a família de Elisa, vinda da comunidade do Saí- Guaçu. Com o passar dos anos, mudanças ocorreram, a família de Elisa foi para outra casa na mesma região e alguns anos depois Álvaro Emídio da Silva adquiriu o velho rancho, casando-se, posteriormente, com Elisa. Juntos, eles viveram na antiga casa e ampliaram parte do rancho com tábuas encontradas soterradas na areia – vestígios de um navio naufragado na costa. Hoje, aos 90 anos, Elisa mantém viva a memória dos momentos vividos na casa e se tornou uma referência importante para a história de Itapoá.
Dona Elisa e suas irmãs Lica e Pureza relembram as histórias da família e do quanto viram na cidade de Itapoá em diferentes períodos e possibilidades de recursos. Pioneira da costura, dona Elisa foi a primeira merendeira da antiga Escolinha da Barra e a primeira a trabalhar no Posto de Saúde da Barra. Por sua vez, Pureza dedicou trinta anos à arte da confeitaria, fornecendo pães, doces e bolos para toda a comunidade. Enquanto isso, Maria, também conhecida como
Lica, trabalhou em um restaurante, em uma banca de camarão e como zeladora das casas dos turistas.
Em 2018, contaram, em entrevista a Ana Beatriz Machado (Revista Giro Pop), que as lendas e contos populares também eram parte das suas infâncias. Nas histórias narradas pelo povo, apareciam o Homem da Mão Peluda, oculto na mata, capturando crianças distraídas na noite, e do Boitatá, a cobra colossal que exalava chamas. Ela também relembra uma noite em que seguia sua mãe à beira-mar para contemplar um barco encalhado: “No trajeto, desviei de pontos rubros reluzentes, julgando ser brasas do cachimbo da mamãe. Mais tarde, ao conversar com ela, descobri que seu cachimbo jazia apagado e suspeitamos ser diamantes”. Naquela era, muito se conjecturava sobre pratas, ouros e gemas próximos aos sambaquis, contudo, nunca alguém as encontrou de fato.
Ao compartilhar e recontar essas lendas, os moradores mais antigos mantêm vivas as tradições e crenças que moldaram suas comunidades ao longo do tempo. As narrativas folclóricas também fortalecem o senso de pertencimento e coesão social, promovendo um vínculo entre os membros da localidade que, apesar de carentes de recursos e dependentes da natureza, impulsionavam a criatividade.
121

122
O Farol de Itapoá foi inaugurado em 18 de outubro de 1948, pela Marinha do Brasil
Uma teia simbólica
Lévi-Strauss, antropólogo francês do século XX, revolucionou a maneira como compreendemos a cultura. Para ele, a cultura vai além de costumes e crenças, configurando-se como uma teia simbólica complexa que molda nossa percepção do mundo e influencia profundamente nossas ações e pensamentos.
Em sua visão, a cultura não se resume a um conjunto de elementos isolados, mas sim a um sistema interligado de símbolos, mitos e rituais que expressam a lógica subjacente à sociedade. Essa lógica, segundo Lévi-Strauss, é universal e opera no inconsciente humano, moldando a maneira como organizamos o mundo e as relações entre nós.
A Festa de São Gonçalo, por exemplo, acontece para homenagear o padroeiro dos pescadores e das comunidades litorâneas. Procissões, missas e manifestações culturais para honrar o santo a fim de pedir proteção dentro do mar são comuns no município.
Em Itapoá, diversos elementos tradicionais da cultura caiçara como a Cambira, o Pão por Deus e o Fandango são aspectos reconhecidos na manutenção das heranças locais. As festas religiosas também compõem esse caldeirão cultural que nos apresenta a identidade dessas comunidades. Ricas em detalhes, envolvem desde a devoção aos santos, culinária local, tradições orais, identidade estética, música e danças. Nas festas, a comunidade expressa os usos e costumes ao mesmo tempo em que a religiosidade do povo mantém viva a tradição.
A Festa do Bom Jesus no Pontal acontece desde 1908, no mês de novembro, sendo a festa mais tradicional de Itapoá. Realizada há mais de cem anos, é composta por um tradicional desfile de barcos pela baía da Babitonga. Atualmente, em função do porto, o desfile vai somente até a praia de Capri, em São Francisco do Sul.
A Festa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é realizada desde 12 de outubro de 1950, sendo que atualmente o ponto culminante da festa é a carreata que tem início na Barra do Saí e segue até a capela da comunidade Saí-Mirim.
123
Outra manifestação tradicional é a Festa do Padroeiro São Judas Tadeu, da comunidade Jaguaruna, que vem sendo realizada desde 10 de novembro de 1950.
Além disso, temos a Festilha em São Francisco do Sul – festa tradicional dos caiçaras que ocorre em algumas comunidades litorâneas. Nela, os moradores promovem um evento para compartilhar comidas típicas e dançar ao som do fandango. Nesse evento, eles comemoram a cultura caiçara e celebram seus antepassados a partir de um ambiente coletivo e harmonioso entre a comunidade e seus visitantes. A cultura desempenha um papel fundamental na comunidade caiçara. Ela reforça a identidade comunitária e mantém viva essa ancestralidade.
Pesquisas baseadas em documentos históricos e literários sobre a formação e colonização de Itapoá possuem lacunas significativas, dificultando a compreensão da trajetória e da ocupação dos antigos habitantes locais. Até meados de 1957, Itapoá era uma região vasta, com pequenas comunidades distantes entre si, compostas principalmente por pescadores e agricultores lutando pela sobrevivência em um ambiente isolado da civilização. Inúmeras famílias enfrentam dificuldades em obter
informações precisas sobre seus ancestrais devido à limitada disponibilidade de registros históricos, muitas vezes apenas acessíveis através de certidões de óbito encontradas em cemitérios que remontam ao século XIX. Nesse cenário, a criação do Memorial dos Pioneiros representou um marco significativo no resgate da história desse período. Desde sua inauguração, residentes de Itapoá tiveram a oportunidade de descobrir dados sobre seus antepassados, um feito que este projeto tornou possível, solidificando assim o respeito e a valorização da história dos pioneiros que desbravaram a região.
Os assentamentos locais em Itapoá, por exemplo, só começaram a ser registrados a partir da década de 1960, coincidindo com a chegada da Estrada da Serrinha e de mudanças ambientais significativas. Isso demonstra que grande parte da história antiga se perdeu ao longo do tempo, transmitida apenas oralmente por moradores mais idosos, cujas memórias fragmentadas não são suficientes para reconstruir completamente o passado. Pesquisas acadêmicas e trabalhos sobre a história e a cultura de Itapoá, incluindo o Fandango, contribuem para preencher as lacunas deixadas pela falta de registros formais.
Os próprios habitantes de Itapoá desempenham
124
um papel crucial na preservação e transmissão da história local, com lembranças guardadas dos tempos passados. Seus testemunhos refletem a coragem e a resiliência de um povo que enfrentou
desafios incalculáveis, desbravando a Mata Atlântica, suportando perigos no mar e na terra, e sustentando suas famílias com os elementos naturais disponíveis.

125
Casa de Maria da Graça Neres do Rosário

126
Mestre Chico com o grupo Fandango Chimarrita do Pontal e Figueira
Minha jornada com o fandango de Itapoá
Texto de José Augusto Pereira Navarro Lins (Jozé Navarro)
Desde que o Fandango Caiçara foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN em 2012, muitas águas passaram debaixo dessa canoa... Sinto uma conexão profunda com essa expressão que transcende a mera arte, mergulhando nas raízes da minha própria existência. Eu, José Augusto Pereira Navarro Lins, tenho minha vida entrelaçada com a tradição do fandango, sendo não só um músico, musicoterapeuta, professor e pesquisador, mas, acima de tudo, um filho da baía da Babitonga. Nascido em Joinville e criado no litoral de Santa Catarina, minha infância foi um retrato vívido da cultura caiçara, entre manguezais e sambaquis, onde o cheiro de ova de tainha frita se misturava às memórias dos beijus de minha avó Ondina.
A mudança para Curitiba marcou uma ruptura, mas, paradoxalmente, me trouxe para mais perto do fandango caiçara. Foi lá, enquanto trabalhava
com meio ambiente, que meu caminho se cruzou com o livro Museu Vivo do Fandango, uma descoberta que reacendeu as chamas da minha herança cultural. As histórias e paisagens descritas me soavam familiares, ecoando as memórias de meu avô Jorge Pereira. Isso me impulsionou a mergulhar mais fundo na cultura caiçara, uma jornada que me
levou a Paranaguá, onde me juntei à Associação de Cultura Popular Mandicuera, por convite do mestre Aorelio Domingues.
Minha busca pela essência do fandango me apresentou a Neusa Lopes, uma artista apaixonada pela cultura popular de Itapoá, e me deu a oportunidade de explorar as marcas únicas do fandango nesta região. Descobri uma comunidade vibrante, com a qual desenvolvi laços de amizade e compromisso, em especial com o grupo Fandango Chimarrita do Pontal e Figueira de Itapoá.
127
A experiência me ensinou que, embora Itapoá compartilhe elementos fundamentais com o fandango caiçara de outras regiões, há peculiaridades que o tornam singular.
O baile, que era um pagamento por um mutirão de roça, de pesca, de levantar casa, de desvarar canoa do mato; a Dança de São Gonçalo, que pagava promessa e abria o baile; a viola fandangueira e a rabeca construídas de caixeta (Tabeluia cassinoides) pelos fabriqueiros caiçaras da região; as danças tamanqueadas, a Tonta... Todos são elementos de identificação do Fandango de Itapoá com o patrimônio imaterial registrado: Fandango Caiçara.
O grupo Fandango Chimarrita do Pontal e Figueira de Itapoá deve ser cada vez mais celebrado e valorizado, pois durante anos vem dançando e salvaguardando a dança do fandango se utilizando de uma gravação antiga realizada durante uma das edições da Festilha, no ano de 1996 pelo sr. Clarel Falcão Lopes – mestre do Boi de Mamão da Vila da Glória. O fato é que é extremamente difícil dançar o batido acompanhando uma gravação. A dança batida é um acontecimento onde os limites entre a dança e a música são desfeitos, os dançadores dançam as diferentes coreografias fazendo seus balanceios e volteios intercalados com o tamanqueio. Este tamanqueio dançado é mais um instrumento de percussão que acompanha a música, o violeiro e cantador canta seus versos e toca a viola junto com o batido rítmico e sincopado dos tamancos. Quando essa viola e este canto são executados por uma gravação, perdemos o fator orgânico e vivencial do batido, assim este diálogo orgânico, esta polifonia bailada, parece que perde sua essência e sua conexão.
Por isso, devo agradecer e reverenciar o trabalho de salvaguarda desempenhado por este grupo de artistas populares desta comunidade, em especial o Sr. Bertoldinho (Bertoldo da Silveira), violeiro e cantador que por anos conduzia os bailes de fandango, as danças de São Gonçalo, também folias do Divino Espírito Santo e Terno de Reis – outrora foram tão presentes em Itapoá.
Além de detentor de saberes tradicionais, era conhecido como um excelente improvisador de versos. Improvisar versos no fandango, cantando acontecimentos do baile, causos da comunidade ou inspirações pessoais com versos criados na hora, é considerado uma habilidade de mestres muito respeitados em outras comunidades caiçaras.
128
Devo destacar outra característica musicológica, especificamente sobre a viola fandangueira de Itapoá, que coloca o fandango desta comunidade em lugar de destaque no que diz respeito às violas fandangueiras e, ainda mais, as violas brasileiras: sua afinação.
A afinação da viola de Bertoldinho era uma afinação tradicional de violas caiçaras chamada Pelas Três, extremamente rara e que, hoje em dia, só é realizada nos bailes onde Fandango Chimarrita do Pontal e Figueira de Itapoá se apresenta – cujo tocador é este que vos escreve.
Quando as músicas do fandango de Itapoá foram gravadas, Bertoldinho utilizava um violão adaptando a afinação em Pelas Três e isso imprimiu um importante elemento na tradição do fandango: sua tonalidade de Lá Maior, diferente de outras comunidades nas quais é comum a tonalidade situar-se entre Dó sustenido Maior e Mi Maior, dependendo da região ou cantador.

129
Tamanco de fandango
 130 Maria da Graça Neres do Rosário, fandangueira
130 Maria da Graça Neres do Rosário, fandangueira
Atualmente, Itapoá vive um momento especial, revitalizando o fandango com a inclusão de músicos ao vivo nas apresentações. Esse avanço enriquece a tradição e reforça os laços comunitários. Através de oficinas de música e dança, busco não apenas preservar, mas também disseminar essa cultura fascinante para as futuras gerações.
Nesse caminho, celebro o legado e a vida dos caiçaras de Itapoá, defendendo a valorização e promoção do fandango, não apenas como uma expressão artística, mas como um pilar de nossa identidade e história. Viva Itapoá, viva o fandango caiçara e viva as comunidades que mantêm ativa essa tradição tão rica e vibrante. Viva!
Para pensar
Na perspectiva de Lévi-Strauss sobre a cultura e os esforços da comunidade de Itapoá para preservar sua rica herança cultural, até que ponto a transmissão oral e as celebrações tradicionais, na ausência de registros históricos formais, são suficientes para garantir a continuidade e a integridade dessa cultura única ao longo das gerações?
Tendo em mente a narrativa da produção artesanal da farinha de mandioca na família de Tonho da Cunha e a aparente falta de interesse das novas gerações em dar continuidade a essa tradição, como podemos equilibrar a inevitável marcha do progresso com a preservação das práticas culturais que nos conectam profundamente às nossas raízes e ao ambiente natural?
Considerando as memórias de Dona Elisa e sua família, que ilustram não apenas a evolução de Itapoá, mas também a importância das tradições, contos e ofícios na formação da identidade comunitária, de que maneira essas histórias pessoais e folclóricas, enraizadas nas experiências diárias e na interação com o ambiente, contribuem para a compreensão da nossa própria história e lugar no mundo?
131


OCUPAÇÃO E O PROGRESSO
A

“O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens.
Faz andar uma coisa esmagando sempre alguém.”
(Victor Hugo)
A abertura da 1ª estrada
Nos idos de 1957, a família Paese tomou conhecimento de uma praia inexplorada, um lugar paradisíaco, na baía da Babitonga. Ao conhecerem Itapoá, a vontade de possibilitar o acesso por terra a esta pequena comunidade costeira tomou forma. Em pouco tempo, um grupo de indivíduos, que tinha o objetivo de ver realizado um projeto de grande porte, se associou à já constituída SIAP –Sociedade Industrial Agrícola e Pastoril Ltda. para construir uma estrada que possibilitasse que mais pessoas conhecessem, frequentassem e habitassem a região. A sua primeira grande obra seria a abertura da Estrada da Serrinha, para ligar por terra Itapoá a Garuva. O projeto representava não apenas a busca por novos horizontes, mas também uma oportunidade de transformação para a pequena comunidade costeira.
Com determinação e espírito empreendedor, a
SIAP mobilizou recursos, já que o apoio prometido pelo então governador do estado Jorge Lacerda tinha escorrido por entre os dedos feito areia fina. Pouco depois de eleito, o governador sofreu um acidente, juntamente com o ex-presidente da República, Nereu Ramos. Ambos perderam a vida neste desastre aéreo.
À época, a enorme área de terras onde a estrada passaria era localizada nos distritos de Garuva e Saí, pertencentes ao município de São Francisco do Sul, que declarou, em cartório, o não apoio à obra de tamanha grandeza, assinada pelo então prefeito Alfred Darcy.
Era um projeto audacioso e sem qualquer verba ou apoio do estado. Com recursos próprios, a princípio, a SIAP conseguiu engajar pessoas para trabalhar lado a lado, desbravando trilhas e desviando
135

136
riachos para criar acesso à praia. Quando faltavam três quilômetros para a conclusão da obra, os moradores de Itapoá contribuíram com um mutirão voluntário para que o projeto fosse concluído.
Culminando assim, em 1958, na possibilidade de o primeiro automóvel percorrer a rodovia. Estava oficialmente inaugurado o acesso por terra a Itapoá.
A história da construção desta estrada pode ser lida com riqueza de detalhes no livro Itapoá e Garuva – Memórias Históricas de Itapoá e Garuva, de autoria do senhor Vitorino Paese, testemunha ocular deste projeto.
Uma segunda estrada
Em 1963, começaram estudos para a abertura de um novo acesso a Itapoá. A proposta era ter um traçado mais moderno e superar alguns desafios geográficos para proporcionar maior conforto ao motorista.
Em 1964 foram abertas as primeiras picadas. Em abril de 1969, João Cornelsen, Ademar Pereira,
Nelson Bergonse, Mario Spyra e outros deram início às obras que foram finalizadas em 17 de novembro de 1970. A estrada – que desde a inauguração foi chamada de Estrada Cornelsen devido ao grande envolvimento de João Cornelsen com o projeto –, em 2012, passa oficialmente a ser chamada de João Cornelsen após aprovação de um projeto de lei.
137

138
Valdemar Cotia na abertura da Estrada João Cornelsen, em 1967
A transformação da paisagem
À medida que as estradas se abriam e a praia antes remota se tornava acessível, Itapoá testemunhou uma transformação gradual. O turismo floresceu, trazendo consigo oportunidades de negócios e crescimento econômico para a região.
Novos moradores chegaram em busca de oportunidades. Os rostos e costumes foram ganhando cores e formas renovadas. A comunidade local viu-se beneficiada com mais empregos e com uma maior diversificação de atividades econômicas.
No entanto, o aumento do fluxo de pessoas também trouxe desafios, pois quebrar o equilíbrio delicado entre o desenvolvimento e a preservação da identidade única da região não permite descuidos. Medidas de manejo ambiental estão sendo
ainda implementadas, cerca de 60 anos depois, para proteger os ecossistemas frágeis e garantir a sustentabilidade a longo prazo.
A história dos desbravadores e seu projeto de abertura de estradas para acessar a praia inexplorada de Itapoá é um testemunho do poder da visão, da colaboração e do compromisso com o progresso. A iniciativa não apenas abriu caminho para um novo capítulo na história de Itapoá, mas possibilitou que a comunidade caiçara que habitava o local tivesse a escolha de ir e vir, estudar, visitar parentes distantes, realizar tratamento médico em cidades maiores ou mesmo conhecer outras paisagens. Uma sensação de pertencimento e integração foi sentida por todos os pioneiros.
139
A emancipação política
Estávamos no final da década de 1950 e nossas terras eram parte dos domínios de São Francisco do Sul. Em Itapoá, podíamos sentir os ventos da mudança que chegavam com a abertura da Estrada da Serrinha, como se uma nova identidade estivesse se desenhando. Dentro desse cenário, em nossa comunidade, três núcleos estavam estabelecidos e pulsavam fortemente: a Colônia da Barra do Saí, ao norte; a Colônia de Itapema, ao centro; e a Colônia do Pontal, ao sul, espreitando o horizonte de São Francisco do Sul.
O crescimento desse corpo social tecia uma trama de necessidades e sonhos, mas as distâncias e os desafios geográficos tornavam a atenção de São Francisco do Sul um eco distante, difícil de alcançar. A necessidade de uma voz mais próxima, que pudesse ecoar diretamente dessas terras, se tornou cada vez mais evidente. Assim, em 1964, a emancipação de Garuva acendeu uma faísca de esperança em Itapoá, que, dois anos mais tarde, passaria a ser reconhecida como Distrito Administrativo de Garuva, um passo significativo graças à visão do prefeito Dórico Paese e à Lei nº 08/66, de 1º de março de 1966.
Mas a população local ansiava por mais. A comunidade, dotada de um espírito resiliente e visionário, sabia que era o momento de reivindicar seu lugar como um município independente. Foram necessários dois plebiscitos, em 18 de outubro de 1987 e 4 de setembro de 1988, momentos de ansiedade, esperança e determinação, em que o futuro de Itapoá estava nas mãos de sua gente.
A trajetória da localidade de Itapoá rumo à emancipação foi orquestrada por espíritos de valor e visão, entre eles Ademar Ribas do Valle, Hélio Valmor Corrêa e muitos outros cujos nomes se tornaram pilares na fundação de um novo município. Eles formaram a comissão de emancipação, a alma desse movimento, lutando com coragem e determinação pela autonomia de Itapoá.
O ponto alto dessa jornada chegou com a Lei Estadual nº 7.586, de 26 de abril de 1989, um dia que entrou para a história como o nascimento político de Itapoá, agora elevada à categoria de município. Esse ato não foi apenas uma mudança administrativa, mas a materialização de sonhos e esforços.
140
A primeira eleição municipal, realizada em 15 de novembro de 1989, foi o início de um novo tempo para a cidade, delineando um horizonte de possibilidades inéditas. Ademar Ribas do Valle, eleito primeiro prefeito, não era apenas um líder, mas um símbolo da perseverança e da esperança que guia-
ram Itapoá à emancipação. Essa história de soberania é um lembrete vivo do poder da comunidade unida por um sonho comum, um farol de inspiração para gerações futuras que continuam a escrever os próximos capítulos desta jornada.

141
Ademar Ribas do Vale e o governador de Santa Catarina Esperidião Amin na primeira eleição após a emancipação do município - 1989

142
1. Armazém Secos e Molhados, João Batista Velem, Helena Mafalda Velem e turistas ; 2. Casa que pertenceu a Alfredo Vicente Estevão - no Saí-Mirim; 3. Serraria dos Irmãos Zagonel
Gente que abriu as portas para a ocupação
Inúmeras famílias deixaram sua marca na história do município, dedicando-se para que Itapoá figurasse no mapa como uma cidade promissora e socialmente estruturada. Desde os pioneiros, que, num trabalho coletivo, se reuniam para fortalecer a agricultura e a pesca familiar, até os desbravadores das estradas conectando as regiões e possibilitando a chegada do progresso.
Entre tantas famílias, destacamos algumas, como Paese e Cornelsen, que abriram as estradas; Machado, que segue um papel importantíssimo na preservação da natureza e dos biomas essenciais para o futuro; Serafini, crucial para o desenvolvimento da parte central de Itapoá e que continua pensando num futuro que inclua a preservação da natureza; Velém, na figura do Sr. João Batista, muito referenciado como alguém extremamente solidário à comunidade entre os anos 1960 e 1970; e a família Zagonel, que, com sua serraria, construiu, trouxe empregos e girou a economia.
Foram muitas as famílias que abriram comércios e criaram estruturas para que a cidade fosse o que ela é hoje, que viram oportunidades de negócios em estabelecimentos de materiais para construção, claramente também no mercado imobiliário – até hoje um importante ramo do município –, no setor alimentício, com mercados e panificadoras, e no de alimentação fora do lar, composto por bares e restaurantes.
A família Aguiar também esteve presente no desenvolvimento da região desde 1958. Mesmo com pouca idade - estavam na faixa dos 20 anos - os irmãos entenderam que esta era uma região próspera e tinha muito a ser feito. Zeca Aguiar foi uma figura fundamental para o município, destacando-se por suas ações solidárias e importantes para a comunidade. Somada à sua contribuição significativa para a urbanização da cidade, ele também se dedicou a iniciativas altruístas, como a manutenção de uma farmácia gratuita nos anos 60, doações de terrenos para infraestrutura e para a abertura
143

144
Primeira Pedra em Itapoá, casa da família Martins
da Estrada Cornelsen. Além de ter aberto, juntamente com seu irmão mais novo, Carlinhos Aguiar, mais de 100 km de ruas e valetas nos loteamentos da cidade, empregou centenas de famílias que não só aqui moravam, mas também vieram acreditando neste próspero município. Aos 24 anos, Carlinhos também organizava excursões com pessoas interessadas em se estabelecer no município, apresentando o sonho de uma terra promissora. João Aguiar ficou conhecido por abrir, ainda nos
anos 80, o bar, hotel e restaurante Continental, uma importante referência no setor que ainda estava engatinhando naquele período. Anibal Aguiar seguiu no setor imobiliário deixando sua marca na implantação de alguns balneários.
Cada uma dessas famílias desempenhou um papel fundamental na construção da identidade e no progresso social e econômico de Itapoá ao longo do tempo.

145
Carlinhos e Zeca Aguiar

Hotel Pérola. Se suas paredes falassem certamente contariam histórias fascinantes. O Hotel Pérola é um observador da história recente e da evolução da cidade de Itapoá. Fundado na década de 1960 por Anésio de Barros Júnior, este estabelecimento foi pioneiro na hospedagem na região, destacando-se por sua arquitetura única que captura a essência de uma época. Em 1970, o hotel começou um novo capítulo sob o comando de Nair Soares Mertens e Marcos Sebastião Mertens, que abraçaram a missão de perpetuar o legado do Pérola que é um dos guardiões de importantes capítulos da formação do município. Acervo Marco Mertens.
146

147
1. Lanchonete, bar, hotel e restaurante Continental; 2.Primeiro ônibus de Itapoá

O Porto de Itapoá
Em 2011, a inauguração do Porto de Itapoá marcou um divisor de águas na história da região, trazendo tanto oportunidades de crescimento quanto desafios inéditos para esta tranquila cidade catarinense. O empreendimento não apenas redefiniu o perfil econômico de Itapoá, mas também alterou a dinâmica social e ambiental da área.
Desde a sua chegada, o Porto de Itapoá foi um motor propulsor do desenvolvimento econômico, impulsionando a economia local e regional de maneira significativa. A criação de empregos diretos e indiretos foi talvez a mudança mais imediata, oferecendo novas oportunidades de trabalho para os residentes de Itapoá e áreas vizinhas. Com a necessidade de mão de obra qualificada, muitos encontraram no porto uma fonte de renda estável e promissora.
Além disso, o porto estimulou o crescimento de setores como o de serviços e construção civil, dada à crescente demanda por infraestrutura e comodidades para suportar a atividade portuária e a chegada de novos residentes e empresários.
Negócios locais, desde restaurantes a lojas de conveniência, viram um aumento significativo em seus faturamentos.
O porto também contribuiu para o aumento da conectividade da região com mercados nacionais e internacionais. Facilitando o comércio de produtos locais, permitiu que empresas da região expandissem seus horizontes comerciais, melhorando a competitividade e abrindo novas oportunidades de negócios.
Contudo, o rápido crescimento e desenvolvimento trazido pelo porto não vieram sem desafios. A urbanização acelerada, necessária para acomodar a infraestrutura relacionada ao empreendimento e seus trabalhadores, pressionou os recursos naturais e o tecido social da cidade. A transformação de áreas verdes em zonas urbanizadas e industriais suscitou preocupações sobre a sustentabilidade ambiental, especialmente considerando a localização de Itapoá dentro de uma área de rica biodiversidade na Mata Atlântica.
149

150
Outro desafio significativo tem sido o aumento do tráfego e da pressão sobre as infraestruturas locais. As estradas que levam ao porto enfrentam um fluxo crescente de veículos, especialmente caminhões, elevando o risco de acidentes e descaracterizando antigas comunidades, com a consequente deterioração da qualidade de vida em certas áreas.
Além disso, a chegada do porto acirrou questões sociais, como a especulação imobiliária, que levou a um aumento nos preços dos imóveis, tornando mais difícil para a população local acessar habitação adequada. Isso também gerou uma crescente disparidade socioeconômica entre os beneficiários
diretos do crescimento e aqueles marginalizados por ele.
A chegada do Porto de Itapoá representou uma era de progresso e transformação para a região, impulsionando a economia local e trazendo uma nova dinâmica à comunidade. No entanto, os desafios que acompanham esse crescimento exigem uma abordagem equilibrada, que harmonize os benefícios econômicos com a preservação ambiental e a coesão social. O futuro de Itapoá dependerá de como a cidade, seus residentes e gestores enfrentam esses desafios, buscando um desenvolvimento que seja não apenas econômico, mas também sustentável e inclusivo.
Para pensar
Recapitulando a determinação da família Paese e da SIAP na construção da Estrada da Serrinha, sem apoio estatal e enfrentando adversidades, até a colaboração comunitária que levou à conclusão do projeto, que lições podemos extrair sobre a importância da resiliência e do empreendedorismo na superação de desafios e na transformação de uma região?
À luz do impacto transformador do Porto de Itapoá, tanto em termos de avanço econômico quanto dos desafios ambientais e sociais apresentados, como podemos buscar um equilíbrio entre o crescimento econômico, impulsionado por grandes empreendimentos, e a preservação da identidade comunitária, do meio ambiente e da qualidade de vida dos residentes?
151


O FUTURO

“Vivemos pouco tempo e morremos depressa. Já a floresta, se não for destruída sem razão, não morre nunca, não é como o corpo dos humanos.
Ela não apodrece para depois desaparecer. Sempre se renova.
É graças à sua respiração que as plantas que nos alimentam podem crescer. Então, quando estamos doentes, tomamos seu sopro de vida emprestado, para que nos sustente e nos cure.“
(David Kopenawa, A queda do céu)
155

156
Itapoá do futuroum tempo presente
Colaboração de Ricardo Haponiuk
No solo de Itapoá, nas curvas de seus rios, nos seus mangues, na beira da praia, no colo da Mata Atlântica, ou em suas construções de madeira, concreto e pedras, nasce um projeto: “Itapoá Tempo Presente”. Este trabalho buscou desvendar a alma de uma comunidade, revelando as camadas de sua história, aquelas marcadas tanto pela mudança quanto pela constância. É uma tentativa de entender as complexas relações sociais e culturais que compõem a vida nestas terras, de olhar além do óbvio, além do apressado, e compreender como, no encontro de nossas ações, tecemos o futuro de nossa coletividade.
Se perguntássemos “Como está a nossa cidade hoje?”, não nos surpreenderíamos ao escutar um eco de respostas que falam de lacunas e de carências. Itapoá, como um espelho de tantas outras cidades, reflete desafios em sua estrutura: saneamento básico, moradia digna, segurança alimentar, acesso à saúde, educação de qualidade, oportunidades de trabalho. A estes, somam-se os desafios contemporâneos de gestão de resíduos, mobilidade urbana e as urgentes questões das mudanças
climáticas. São os pilares para uma existência digna as demandas de uma cidade que sonha em ser mais.
E em meio a este cenário, observamos Itapoá crescer em um ritmo acelerado. No último censo do IBGE, realizado em 2022, Itapoá despontou como o município que mais cresceu em Santa Catarina e o quinto que mais cresceu em todo o Brasil. Este aumento exponencial do número de habitantes é um chamado, não só ao poder público, mas a cada habitante dessa terra, a se adaptar ao novo, a apurar as expectativas quanto ao futuro, a atualizar a consciência ambiental, a ampliar a visão, a agir.
“Itapoá Tempo Presente” é um registro de uma história que é viva, que pulsa e que contagia quem a conhece. Além disso, é também um manifesto, uma declaração de intenções. É um convite a olhar para esta cidade não como um mero espaço geográfico, mas como um lar, um lugar representativo e cheio de possibilidades. Precisamos entender que hoje, no aqui e agora, em cada decisão, em cada gesto, estamos desenhando o amanhã.
157

158
Segurança alimentar
Imaginem uma cidade onde cada pessoa tem acesso a alimentos de qualidade, nutritivos e saborosos, que não apenas satisfazem a fome do corpo, mas nutrem a sua confiança. Isso é segurança alimentar – não apenas um conceito, mas um direito fundamental, que assegura a todos os cidadãos a possibilidade de se alimentarem bem, viverem com vigor e saúde, e olharem para o futuro com esperança, sem temer que o alimento venha a faltar ou que sua produção comprometa as gerações futuras.
As prefeituras desempenham um papel fundamental na promoção da segurança alimentar nos municípios, implementando uma série de iniciativas que visam não apenas aumentar o acesso a alimentos saudáveis, mas também educar a população sobre práticas alimentares nutritivas.
Entre as ações mais eficazes está o fomento à agricultura urbana e às hortas comunitárias. A educação alimentar é outro pilar, com programas destinados a ensinar os princípios de uma alimentação balanceada, enfatizando a importância de evitar o desperdício de alimentos. Além disso, o
apoio às feiras de produtores locais é uma estratégia que beneficia tanto os consumidores, que têm acesso a alimentos frescos e de qualidade, quanto os pequenos agricultores, que encontram nessas feiras um espaço vital para a comercialização de seus produtos. Por fim, o incentivo à distribuição de alimentos excedentes, feitos com parcerias com supermercados, restaurantes e outras instituições, é uma medida eficaz para combater o desperdício, ao mesmo tempo em que se oferece suporte às famílias em situação de vulnerabilidade social.
A integração de medidas pela gestão pública pode significar um avanço substancial na segurança alimentar. Ao adotar uma abordagem integrada, é possível enfrentar desafios complexos de forma efetiva. A segurança alimentar é uma questão que vai além da mera disponibilidade de alimentos; trata-se de garantir acesso contínuo a alimentos nutritivos e de qualidade para todos. Quando as prefeituras se comprometem com essa causa, elas não apenas nutrem seus cidadãos, mas também cultivam comunidades mais fortes, saudáveis e resilientes.
159
Tratamento de esgoto
A questão do esgotamento sanitário representa um desafio crucial para a prefeitura de Itapoá, especialmente após a concessão pública recente para esse serviço. Embora a licença de instalação da estação de tratamento coletivo de esgoto tenha sido finalmente concedida em dezembro de 2022, ainda prevalecem os sistemas individuais de fossa e filtro em todas as residências e empreendimentos do município.
Essa concessão abrange uma projeção de aproximadamente 30 anos para atender à demanda da população. Durante esse período de transição, é imperativo que medidas cautelosas sejam adota-
das em relação ao esgotamento sanitário. Uma alternativa promissora seria a implementação de programas pela prefeitura, com o intuito de monitorar a eficácia desses sistemas individuais.
Além disso, é essencial conduzir operações especiais para conter o lançamento clandestino de esgoto no sistema de drenagem urbana. Paralelamente, é fundamental investir em ações de conscientização e educação ambiental no âmbito do saneamento básico. Essas iniciativas não apenas promovem a preservação do meio ambiente, mas também contribuem para a saúde pública e o bem-estar da comunidade.
160
Existem várias alternativas sustentáveis para o tratamento de esgoto em pequenos municípios como Itapoá. Algumas dessas opções incluem:
• Fossas sépticas: sistema simples e eficaz que separa e trata os resíduos sólidos e líquidos do esgoto, permitindo a infiltração do efluente tratado no solo.
• Filtros biológicos: utilizam camadas de material filtrante para remover impurezas do esgoto por meio de processos biológicos e físico-químicos.
• Tanques sépticos melhorados: variação das fossas sépticas que inclui sistemas de aeração ou outras tecnologias para aumentar a eficiência do tratamento.
• Biorremediação: utilização de microrganismos para decompor substâncias poluentes no esgoto, podendo ser aplicada em pequena escala para tratamento localizado.
• Compostagem de resíduos orgânicos: transformação dos resíduos orgânicos do esgoto em composto para uso agrícola.
• Sistemas Simplificados de Tratamento de Esgoto (SSTE): alternativas de baixo custo e manutenção, como filtros de areia, que podem ser adaptados para comunidades rurais.
• Revestimento de fossas e sumidouros: medidas para prevenir a contaminação do solo e das águas subterrâneas pela infiltração de esgoto.
161



164
Resíduos sólidos urbanos (lixo)
É interessante observar como a relação entre o homem e o lixo evoluiu ao longo da história, desde as práticas das civilizações pré-históricas até os impactos da cultura do consumo em massa. Essa mudança na dinâmica da relação com o lixo destaca a importância de repensar nossos hábitos de consumo e descarte e buscar soluções mais sustentáveis para lidar com os resíduos gerados nas sociedades modernas.
Não sabemos ao certo quando a reciclagem começou, mas há indícios de que algumas civilizações já faziam isso há muito tempo. Em 400 a.C., evidências sugerem que os gregos praticavam a reciclagem, separando os resíduos e reutilizando materiais. A escassez de recursos em determinadas áreas incentivava a reutilização de materiais como metais, cerâmicas e outros itens. Durante a Idade Média, a reciclagem era uma prática comum, especialmente com metais como o bronze e o ferro, que eram frequentemente refundidos e transformados em novos objetos.
A escassez de recursos e a dificuldade de extração de novos materiais faziam da reciclagem uma necessidade econômica. No século XIX, a indus-
trialização trouxe um aumento significativo na produção de resíduos. No entanto, também nesse período, surgiram as primeiras iniciativas organizadas de coleta de materiais para reciclagem, especialmente de metais e papel. Na Europa e nos Estados Unidos, o papel usado começou a ser coletado e reprocessado em novos produtos.
A reciclagem como parte de uma política ambiental mais ampla ganhou força na segunda metade do século XX, especialmente após a crise do petróleo nos anos 1970, que destacou a importância da conservação de recursos. A década de 1970 também foi palco de um crescente movimento ambientalista que pressionava por práticas mais sustentáveis, incluindo a reciclagem de lixo.
Você já se deu conta da quantidade de lixo que geramos todos os dias? Quando vamos a um supermercado, a uma loja de brinquedos ou simplesmente pedimos uma pizza, consumimos não somente o que está dentro da embalagem, consumimos também um produto de descarte que não tem um destino adequado à construção do futuro de desejamos.
165
Com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é um dos maiores geradores de lixo urbano no mundo. No entanto, somente 4% desse lixo é reciclado, resultando em uma perda de aproximadamente R$ 14 bilhões por ano devido à falta de reaproveitamento dos resíduos. Ainda reciclamos pouco do lixo que é coletado pelas prefeituras. O país produz cerca de 78 milhões de toneladas de lixo por ano, sendo que mais de 50% são resíduos de alimentos e 32% são resíduos de embalagens. A reciclagem varia de estado para estado e de região para região.
Em Itapoá, com o crescimento da população, os resíduos também aumentaram. E para onde vai esse lixo? A prefeitura de Itapoá cobra hoje, dos moradores, uma taxa pela coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos que viajam 180 km até a cidade de Mafra, no planalto norte de Santa Catarina. O lixo gerado pela população ainda não é tratado pelo poder público como oportunidade de geração de renda para a população.
No website dos Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Itapoá (https://surbi.eng.br), é possível acompanhar os dias e horários da coleta de lixo orgânico e recicláveis e se informar sobre o destino do lixo que você descarta na sua lixeira.
Nós podemos vislumbrar uma cidade onde o lixo não é apenas um problema a ser resolvido, mas uma oportunidade para criar soluções inovadoras e sustentáveis bem aqui diante de nossos olhos.
Entre essas soluções está o uso dos Biodigestores, um recurso que transforma o que descartamos em biogás, uma fonte de energia limpa que pode iluminar escolas públicas e aquecer nossas casas.
E não para por aí. Os restos de comida das nossas refeições e as folhas caídas das árvores, em vez de serem esquecidos, encontram um novo propósito. Eles se tornam parte do ciclo da vida ao nutrir hortas comunitárias, onde nossas crianças, os pequenos guardiões do futuro, aprendem a colocar as mãos na terra e a ver de perto o ciclo de crescimento dos alimentos. Essa é uma experiência transformadora, que não só aproxima da natureza, mas ensina sobre responsabilidade, sustentabilidade e o valor da comida no prato.
Esta abordagem não só nos ajuda a lidar com um dos nossos maiores desafios, mas também contribui para a segurança alimentar da comunidade, criando um círculo virtuoso de educação, nutrição e respeito pelo planeta.
166
Planejamento Urbano e Mobilidade
Quando falamos de mobilidade e planejamento de cidades, não podemos deixar de citar a escritora Jane Jacobs, que revolucionou o entendimento do planejamento urbano com suas ideias inovadoras.
Em sua obra, ela enfatiza a importância da diversidade e vitalidade das cidades, destacando a necessidade de bairros mistos e espaços públicos bem projetados para promover a coesão social. Sua teoria do “olhar de rua” argumenta que a presença de pessoas nas ruas ajudava a prevenir o crime e a promover a segurança urbana. Jacobs também defendia a descentralização do planejamento urbano e a participação ativa das comunidades locais na tomada de decisões sobre o desenvolvimento de seus bairros, enfatizando a importância de abordagens mais holísticas e orientadas para as pessoas.
Itapoá ainda detém um vasto potencial de de-
senvolvimento urbano, tanto em suas áreas já consolidadas quanto nas regiões em expansão que enfrentam diversos desafios. É essencial manter
uma visão orientada para o futuro no planejamento urbano, compreendendo que as decisões tomadas hoje moldarão diretamente o cenário da cidade nos próximos anos.
Outro grande desafio enfrentado pela cidade diz respeito à mobilidade. Observa-se um aumento nos congestionamentos em locais conhecidos, como os acessos à Rua Celso Ramos, o cruzamento com a Rua Ana Maria e também com a Rua André Rodrigues, especialmente durante o período preparatório para a temporada de verão, que é o feriado de 7 de setembro.
Este aumento no tráfego é atribuído ao crescimen-
167
to populacional e ao fluxo de veranistas. Diante desse cenário, a Prefeitura tem delineado planos para abordar a mobilidade urbana. No entanto, tais planos, embora abordem os eixos estruturantes e de serviço, carecem de uma consideração mais orgânica do desenvolvimento da cidade. É crucial explorar alternativas de transporte, aproveitando o relevo plano do município, como o investimento em infraestrutura para o transporte de bicicletas. Além de melhorar a mobilidade, tal medida beneficia o meio ambiente e a qualidade de vida da população.
O início das operações do Porto em Itapoá marcou uma transição significativa para o município, anteriormente caracterizado predominantemente pelo turismo. A chegada do Porto trouxe uma mudança substancial para a dinâmica local, já que vários outros empreendimentos têm surgido e continuam a se instalar na região para atender às necessidades decorrentes dessa atividade. O aumento populacional resultante desse desenvolvimento trouxe consigo desafios, sendo a questão da mobilidade urbana uma das mais urgentes.
O crescente número de veículos, incluindo automóveis, motocicletas e caminhões, tem gerado
congestionamentos e dificuldades de tráfego, especialmente nas áreas retroportuárias, mas também nas áreas urbanas. Diante dessa situação, uma medida em discussão é a intensificação do controle da circulação de caminhões na nossa área urbana.
Essa iniciativa busca mitigar o impacto do tráfego de caminhões na cidade, aliviando congestionamentos e melhorando a fluidez do trânsito. Adicionalmente, pretende-se reduzir os riscos de acidentes e danos às vias urbanas causados pelo tráfego pesado de carga. Contudo, implementar esse controle requer um planejamento meticuloso e uma análise abrangente dos potenciais impactos sobre o transporte de mercadorias e o funcionamento das atividades portuárias.
Além disso, é fundamental que essa medida seja integrada a um plano mais amplo de mobilidade urbana, que inclua investimentos em infraestrutura viária alternativa e transporte público eficiente. Também é importante considerar os interesses de todos os setores envolvidos, buscando soluções que equilibrem as necessidades de mobilidade, segurança e desenvolvimento econômico sustentável da cidade.
168
• Educação e conscientização da população sobre práticas de mobilidade sustentável e segurança no trânsito. Algumas propostas podem e devem ser consideradas pelos gestores públicos do município para melhorar significativamente a questão da mobilidade em Itapoá:
• Implementação de ciclovias e infraestrutura para bicicletas, incentivando o uso desse meio de transporte sustentável.
• Introdução de sistemas de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos.
• Melhoria e expansão do transporte público, com aumento da frequência de ônibus e adoção de tecnologias mais limpas, como ônibus elétricos.
• Integração de diferentes modos de transporte, como ônibus, bicicletas e táxis, em um sistema de transporte multimodal.
• Criação de rotas e horários específicos para o transporte escolar, reduzindo a demanda nos horários de pico.
• Estímulo ao uso de veículos compartilhados, como caronas solidárias e serviços de carona remunerada.
• Investimento em calçadas acessíveis e seguras para pedestres, incentivando o deslocamento a pé.
• Desenvolvimento de aplicativos e plataformas de mobilidade que ofereçam informações em tempo real sobre transporte público, trânsito e opções de trajeto.
169

170
Censo IBGE 2022
De acordo com o último censo realizado em 2022 pelo IBGE, o município catarinense de Itapoá apresentava uma população de 30.750 pessoas, resultando em uma densidade demográfica de 125,31 habitantes por quilômetro quadrado.
Trabalho
Em 2021, o salário médio mensal dos trabalhadores formais era equivalente a 3 salários-mínimos, enquanto o número de pessoas ocupadas atingia a marca de 6.489 indivíduos. Este contingente representava cerca de 29,81% da população economicamente ativa do município.
Em relação ao rendimento nominal mensal per capita, em 2010, uma parcela significativa da população, cujo percentual não foi especificado, recebia até meio salário-mínimo por mês. Este dado reflete uma realidade socioeconômica que pode impactar diretamente a qualidade de vida e o acesso a recursos básicos para essa parte da comunidade.
Educação
Em 2010, a taxa de escolarização para a faixa etária de 6 a 14 anos de idade atingiu 98,7%, evidenciando um alto índice de acesso à educação.
No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), nos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede pública, o município alcançou a marca de 6,3 em 2021, enquanto nos anos finais do Ensino Fundamental, o IDEB foi registrado em 5,4 no mesmo ano.
Quanto às matrículas, em 2021, foram contabilizadas 3.638 matrículas no Ensino Fundamental e 1.103 matrículas no Ensino Médio. O corpo docente também foi quantificado, com 136 professores atuando no Ensino Fundamental e 147 no Ensino Médio no mesmo ano.
171
Além disso, o município abriga nove escolas de Ensino Fundamental e duas escolas de Ensino Médio, fornecendo infraestrutura educacional para a comunidade local. Esses dados refletem os esforços e investimentos em educação, visando garantir um ambiente propício ao desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes.
Economia
No ano de 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município atingiu a cifra de 77.581,19 reais, destacando-se como um indicador econômico significativo para a região.
Em 2015, cerca de 47,1% das receitas do município provinham de fontes externas, ou seja, de fora do território municipal.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010 foi registrado em 0,761, refletindo o nível de desenvolvimento social, econômico e humano alcançado pela comunidade local naquela época.
Em relação às finanças municipais, em 2017, o total de receitas realizadas foi de 107.481,67 milhões de reais, enquanto o montante de despesas empenhadas alcançou 84.940,55 milhões de reais,
indicando uma gestão financeira ativa e a expectativa de um compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da população.
Saúde
A estrutura de saúde do município, com apenas um estabelecimento para atendimento de emergência, é claramente deficitária para uma população de 30 mil habitantes.
Dos 10 estabelecimentos de saúde disponíveis, apenas dois são de natureza privada, enquanto oito são públicos. Em relação à modalidade de prestação de serviço, apenas três estabelecimentos aceitam planos de saúde particulares, enquanto os demais estão voltados para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A maioria dos estabelecimentos oferece serviços ambulatoriais, com poucos voltados para diagnóstico e terapia. A quantidade de equipamentos médicos é limitada, com apenas um eletrocardiográfico e um ultrassom doppler colorido disponíveis. Não há leitos disponíveis para internação nos estabelecimentos de saúde do município, evidenciando uma séria carência de recursos na área da saúde.
172
O abastecimento de água na região de Itapoá tem apresentado melhorias significativas nos últimos anos, especialmente durante a temporada de verão, quando historicamente havia escassez. O desenvolvimento de obras tem contribuído para resolver esses problemas. No entanto, é essencial considerar o crescimento populacional projetado até 2037, conforme indicado pelo último censo de 2022, que antecipou aproximadamente 13 a 14 anos de crescimento populacional. Essas projeções devem ser integradas ao planejamento municipal de saneamento básico, especialmente em relação ao abastecimento de água.
Destacamos a importância da preservação do manancial de abastecimento, o rio Saí-Mirim, que atravessa a região retroportuária da cidade, nascendo no município de São Francisco do Sul. É crucial garantir medidas de licenciamento ambiental para proteger esse recurso hídrico e evitar acidentes ambientais que possam comprometer sua qualidade. A ocupação irregular de Áreas de Preservação Permanente (APPs), juntamente com a supressão da vegetação, aumenta o transporte
Abastecimento
de sedimentos para o rio, afeta o abastecimento de água e intensifica o risco de alagamentos.
Preservar os rios adjacentes ajuda ainda a minimizar a contaminação e a manter a qualidade da água. Esses rios também sustentam ecossistemas aquáticos importantes, que fornecem serviços essenciais como purificação de água e habitat para espécies aquáticas. Proteger esses ecossistemas contribui para a conservação dos sistemas de água doce.
Investir na preservação da qualidade da água não apenas beneficia o abastecimento, mas também contribui para reduzir os riscos ambientais e os impactos nas comunidades locais. Além disso, ao priorizar recursos para a limpeza e preservação da água, mais recursos ficam disponíveis para outras áreas de necessidade prioritária do município.
173



A área territorial do município de Itapoá é de 245,394 km², composta por 27 km de faixa de praia e uma extensa área verde.
A ocupação do território representa um desafio histórico não apenas para Itapoá, mas para todo o litoral brasileiro. Nossa relação com o local onde vivemos é complexa e crucial. Na gestão pública, compreender profundamente o território municipal é essencial para desenvolver um planejamento urbano eficaz, com a devida atenção às questões ambientais e suas peculiaridades locais.
Os desafios naturais, como o relevo e a suscetibilidade à inundação, ao alagamento e à erosão costeira, são preocupações constantes. Profissionalizar a ocupação do território, considerando todas essas especificidades locais, é fundamental para uma gestão futura mais sustentável. O poder público deve concentrar-se não apenas na gestão a curto prazo, mas principalmente em uma visão de médio e longo prazos.
A ocupação do território Mudanças climáticas
É essencial monitorar e revisar regularmente as previsões climáticas para uma compreensão mais precisa dos impactos das mudanças climáticas no litoral sul do Brasil.
Ao planejar o desenvolvimento urbano, é crucial considerar uma perspectiva de longo prazo, especialmente em relação à adaptação às mudanças climáticas. Os municípios resilientes serão aqueles
que adotarem estratégias proativas para enfrentar os desafios ambientais e sociais decorrentes dessas mudanças. Devemos antecipar e mitigar os efeitos adversos das mudanças climáticas na população, garantindo assim um ambiente urbano sustentável e seguro para as gerações futuras.
Segundo o website do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), as projeções
177
de mudanças climáticas para o litoral sul do Brasil variam de acordo com diferentes modelos climáticos e cenários de emissões de gases de efeito estufa. No entanto, algumas tendências comuns podem ser
destacadas:
Aumento da temperatura
Espera-se um aumento geral na temperatura média ao longo do tempo. Isso pode resultar em temperaturas mais altas durante todo o ano, com impactos potenciais na saúde humana, na biodiversidade e nos ecossistemas costeiros.
Mudanças nos padrões de precipitação
As projeções indicam uma possível alteração nos padrões de chuva, com períodos de seca mais intensa e prolongada intercalados com eventos de chuva mais intensa. Isso pode aumentar o risco de enchentes e deslizamentos de terra, além de afetar a disponibilidade de água doce.
Elevação do nível do mar
Espera-se que o aumento do derretimento das calotas polares e a expansão térmica dos oceanos levem a um aumento do nível do mar. Isso pode resultar em erosão costeira, intrusão de água salgada em aquíferos costeiros, inundações costeiras mais frequentes e graves, e perda de habitat costeiro.
Aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos
Projeções indicam um aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como tempestades tropicais, furacões e eventos de precipitação intensa. Isso pode aumentar o risco de danos à infraestrutura, interrupções nos serviços públicos e riscos à segurança humana.
178
Os municípios costeiros estão entre os mais vulneráveis às mudanças climáticas devido à sua localização em uma zona altamente dinâmica, onde os elementos água e terra se encontram, caracterizando a zona costeira, especialmente a faixa de praia de Itapoá, assim como muitas outras regiões do litoral brasileiro, que têm sido severamente afetadas pela erosão costeira. O planejamento urbano e a ocupação do território têm contribuído para a intensificação desse problema ao longo do tempo, não apenas em Itapoá, mas em todo o litoral.
É urgente implementar políticas públicas específicas para enfrentar a erosão costeira, um problema que tende a se agravar com o passar dos anos devido ao aumento do nível do mar, conforme indicado por projeções do IPCC e outras fontes confiáveis. Com o avanço do mar em direção à costa, é neces-
Erosão costeira
sário adotar uma nova abordagem para lidar com esse desafio.
Essa mudança de paradigma envolve reconhecer a importância de proteger as áreas costeiras, mesmo diante de interesses diversos, como a especulação imobiliária. É essencial enfrentar o problema de
frente e considerar as consequências a longo prazo, pois a falta de ação pode resultar em problemas cada vez mais intensos de erosão costeira e outras questões, como a salinização do lençol freático.
Portanto, é fundamental que o poder público assuma uma postura proativa ao trazer esse problema para discussão e implemente medidas eficazes para lidar com os desafios relacionados às mudanças climáticas, garantindo a sustentabilidade das áreas costeiras e o bem-estar da população.
179
Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA)
O Plano Municipal da Mata Atlântica em Itapoá surgiu como uma obrigação legal, porém o município percebeu que também representava uma alternativa estratégica para lidar com alguns problemas enfrentados, especialmente o embargo de loteamentos. Foi uma iniciativa bem-sucedida, pois permitiu abordar uma série de questões e apresentar soluções com estratégias coordenadas. Estabeleceu-se uma série de metas a curto, médio e longo prazos que o município deveria alcançar.
Destacam-se duas dessas metas, sendo a primeira delas o sistema municipal de conversão florestal. Esse sistema transferiu a responsabilidade para a municipalidade na gestão da flora local, permitindo que pequenos lotes transferissem para a prefeitura a responsabilidade pela conservação da vegetação nativa, principalmente do bioma da Mata Atlântica. As compensações individuais foram reunidas para formar uma grande área a ser desapropriada ou adquirida, transformando-a em uma Unidade de Conservação de Proteção Inte-
gral. Essa abordagem se mostrou tecnicamente viável e legalmente robusta, servindo de exemplo para outras cidades e rendendo prêmios nacionais de gestão ambiental para Itapoá.
Outra estratégia relevante do plano da Mata
Atlântica foi o desenvolvimento do plano municipal de arborização urbana. Apesar de termos uma
grande área rural preservada, reconheceu-se a importância de planejar o futuro da urbanização. As árvores trazem uma série de benefícios para a cidade, como a redução da temperatura, da poluição sonora e o conforto estético. Além disso, a criação de corredores ecológicos e a manutenção da biodiversidade são fundamentais para tornar o município mais resiliente aos impactos das mudanças climáticas que já se fazem presentes e tendem a se intensificar.
O PMMA é uma oportunidade para refletirmos sobre o futuro de Itapoá. Temos uma valiosa reserva de recursos naturais a ser explorada e estamos
180
em um momento crucial para definir o modelo de desenvolvimento que desejamos seguir. Muitas vezes, tendemos a replicar modelos de outras cidades, mas por que não criar o nosso próprio?
O sistema de conversão florestal nos convida a essa reflexão. Como a cidade pode enfrentar os desafios ambientais hoje e no futuro? Do ponto de vista público, a prefeitura estará desapropriando grandes áreas para transformá-las em Unidades de Conservação de Proteção Integral. Isso garantirá a preservação do bioma da Mata Atlântica em nossa cidade, o que, por sua vez, assegurará a biodiversidade e nos preparará para as mudanças climáticas.
Por outro lado, o setor privado pode se beneficiar dessas compensações, adquirindo essas áreas e colaborando com questões como pagamentos por serviços ambientais e compensações. Ao proteger nosso bioma, fortaleceremos nossa biodiversidade e nos preparamos melhor para os desafios futuros que nos aguardam.
181

182
O horizonte nos presenteia com um futuro brilhante, e Itapoá pode se tornar uma cidade inteligente e sustentável, cujo planejamento estará intrinsecamente ligado à natureza e às necessidades dos moradores que compõem a cidade. Inspirados pela sabedoria ancestral e pelas lições do presente, os gestores públicos devem traçar um caminho que respeite e promova a harmonia entre o desenvolvimento urbano e o meio ambiente.
Ailton Krenak, renomado líder indígena e ambientalista, nos lembra que “precisamos sair da ilusão de que somos seres separados da natureza”. Essa frase ressoa profundamente em Itapoá, impulsionando os esforços para integrar a cidade ao seu entorno natural, em vez de tentar dominá-lo e gentrificá-lo.
Nesse contexto, enquanto município, poderemos investir em tecnologias inovadoras para melhorar a qualidade de vida da população, promovendo a eficiência energética, a mobilidade sustentável e o uso inteligente dos elementos naturais. Por meio de sistemas de energia renovável, transporte
público eficiente, parques e espaços verdes bem planejados, poderemos desfrutar de um ambiente urbano saudável e equilibrado.
Além disso, para acompanhar o crescimento da cidade, o planejamento urbano de Itapoá deve ser moldado por princípios de inclusão social e respeito ambiental. Projetos voltados para a habitação digna, a educação ambiental e o empoderamento das comunidades locais devem sempre ser priorizados, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a oportunidades e recursos essenciais para uma vida plena.
À medida que avançamos em direção a esse futuro que já começou, precisamos olhar para nossas raízes e celebrar a conexão com a natureza. Como disse Krenak, “não somos donos da terra, somos parte dela”. Assim, ao abraçar essa verdade fundamental, Itapoá segue sua jornada para se tornar uma cidade onde a natureza floresce e as pessoas prosperam em harmonia.
Após explorar as páginas deste livro e adentrar na
183
O amanhã
história deste município, somos conduzidos a contemplar a riqueza e a complexidade desta região ao longo dos séculos. Desde os tempos remotos, quando os caçadores-coletores percorriam essas terras, até os dias atuais, marcados pela chegada do porto e o movimento intenso da economia local, cada capítulo revela uma faceta única dessa jornada.
A cada descoberta dessa história desvendamos os desafios enfrentados pelos povos indígenas e africanos. Ao percorrer a cidade, seja encontrando os amontoados de conchas que guardam vestígios de tradições culturais que preservam a história dos povos dos sambaquis ou ainda às margens serenas do rio Saí-Mirim, o visitante se depara com as marcas silenciosas daqueles que há muito tempo ocupavam Itapoá. Os quilombos que se estabeleceram, refúgios de liberdade para os escravizados fugidos, são testemunhas de uma luta pela dignidade e pelo direito à própria identidade. No local, materiais antropológicos imbuídos de significado podem contar histórias de coragem, esperança e resiliência que ecoam pelo tempo.
A cultura, nosso patrimônio imaterial, manifestada por meio da arte, do fandango, da pesca e dos costumes alimentares, permanece viva nas comunidades tradicionais, em busca de estímulos que fortaleçam e preservem a identidade deste povo.
A construção da estrada inaugurou uma nova fase, trazendo oportunidades e desafios, enquanto a intocada Mata Atlântica testemunhava as transformações ao seu redor. Hoje, olhamos para o futuro com esperança e determinação, conscientes de que a preservação da floresta e o desenvolvimento sustentável são pilares fundamentais para construir um amanhã melhor.
Neste mundo em constante mudança, é possível fazer a diferença, e Itapoá nos mostra que preservação e prosperidade podem caminhar juntas, rumo a um futuro mais justo e equilibrado. Que este projeto, “Itapoá – Tempo Presente”, inspire novas gerações a honrar sua história e a cuidar dessa terra.
184

Para pensar
Considerando as iniciativas para o tratamento do esgotamento sanitário em Itapoá, desde a concessão pública para uma estação de tratamento coletivo até a utilização de sistemas individuais e alternativas sustentáveis, o que você considera mais adequado?
Refletindo sobre as ideias de Jane Jacobs aplicadas ao contexto de Itapoá, especialmente em relação à diversidade urbana, espaços públicos e a promoção da mobilidade sustentável diante do crescimento acelerado e desafios trazidos pelo desenvolvimento portuário, como podemos integrar efetivamente a participação comunitária e as práticas de mobilidade sustentável no planejamento urbano para garantir uma cidade mais coesa, segura e inclusiva?
Diante do crescente problema da erosão costeira em municípios como Itapoá, exacerbado pelas mudanças climáticas e pelo planejamento urbano inadequado, que estratégias podemos adotar para proteger nossas zonas costeiras, equilibrando a necessidade de desenvolvimento com a preservação ambiental e a segurança das comunidades locais?
185



AFFONSO, Ana Maria Ramo y. LADEIRA, Maria Inês. (Orgs). Guata Porã/Belo Caminhar. São Paulo/SP: Centro de Trabalho Indigenista, 2015.
ANDRADE, Josiane Nascimento; GALVÃO, Diogo Cavalcanti. O conceito de smart cities aliado à mobilidade urbana. REVISTA HUM@NAE, v. 10, n. 1, 2016.
ANGULO, R. J. & Souza, M. C. 2004. Mapa Geológico da Planície Costeira entre o Rio Saí-Guaçu e a Baía de São Francisco, Litoral Norte do Estado de Santa Catarina. Boletim Paranaense de Geociências, n. 55, p. 09-23.
ATORRE, Tiago Penna. Por uma Arqueologia Marginal: As ocupações peri-sambaquieiras no entorno do sambaqui da Figueirinha II, Jaguaruna- SC, examinadas através do radar de penetração de solo. 2015. Dissertação (Mestrado em Arqueologia) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
BANDEIRA, Dione da Rocha et al. Mudança na estratégia de subsistência: O sítio arqueológico Enseada I: Um estudo de Caso. 1992.
Referências
Boeger, M.R.T., Alves De Brito, C.J.F., Negrelle, R.R.B.
1997. Relação entre características morfo-anatômicas foliares e esclerofilia em oito espécies arbóreas de um trecho de Floresta Pluvial Atlântica. Arquivos Biogia
Tecnologia 40(2): 493-503.
BORBA, Fernanda Mara. Arqueologia da escravidão numa vila litorânea: vestígios negros em São Francisco do Sul. Joinville/SC: Editora da Univille, 2014.
Brasil. 2007. Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira: Atualização - Portaria MMA n°9, de 23 de janeiro de 2007. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas. – Brasília: MMA, 2007.
CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Santa Catharina: história-evolução. Companhia Editora Nacional São Paulo SP, 1937.
CALAZANS, Marília Oliveira. Os sambaquis e a arqueologia no Brasil do século XIX. Dissertação (Mestrado em História Social) - Universidade de São Paulo, SP, 2016.
189
CAMPANILI, M.; SCHAFFER, W. B. Mata Atlântica: manual de adequação ambiental. Brasília: MMA/SBF, 2010.
CANDAU, Joël. Memória e identidade. Tradução: Maria Leticia Ferreira, São Paulo, SP: Contexto, 2011.
CARDOSO, J. T. A Mata Atlântica e sua conservação. Revista Encontros Teológicos, [s. l.], ano 2016, v. 31, n. 3, p. 441-458, 2016.
CASCUDO, Luis da Camara. História da Alimentação no Brasil. São Paulo/SP: Companhia Editora Nacional, 1967.
CORMIER, Nathaniel S.; PELLEGRINO, Paulo Renato Mesquita. INFRAESTRUTURA VERDE: UMA ESTRATÉGIA PAISAGÍSTICA PARA A ÁGUA URBANA. Paisagem Ambiente: ensaios, [s. l.], v. 25, p. 125, 2008.
CUSTÓDIO, V. et al. Espaços públicos nas cidades brasileiras. Revista Geográfica de América Central. Costa Rica, Número Especial EGAL, p. 1-31, set. 2011.
DAVIS, Luise. A Handbook of Constructed Wetlands. Washington, DC: U.S. G.P.O., Supt. of Docs, 1994.
DEBLASIS, Paulo; GASPAR, MaDu; KNEIP, Andreas.
Sambaquis from the Southern Brazilian Coast: Lands-
cape Building and Enduring Heterarchical Societies throughout the Holocene. Land, v. 10, n. 7, p. 757, 2021. DOI: 10.3390/land10070757
DEBLASIS, Paulo; KNEIP, Andreas; SCHEEL-YBERT, Rita; GIANNINI, Paulo; GASPAR, MaDu. Sambaquis e Paisagem: Dinâmica natural e arqueologia regional no litoral do sul do Brasil. Arqueología Suramericana, v. 3, n. 1, p. 29-61, 2007.
Evangelista, P.H.L., 1997. Pteridófitas epífitas de um segmento de Floresta Atlântica da Reserva Volta
Velha, Itapoá - SC. Tese de Mestrado, Departamento de Botânica UFPR, Curitiba.
FARIAS, Vilson Francisco de. Dos Açores ao Brasil
Meridional, uma viagem no tempo. Centro de Educação, UFSC, Departamento de Metodologia de Ensino, Florianópolis SC, 1998.
FARR, Douglas. Urbanismo Sustentável - Desenho Urbano Com A Natureza. Tradução Alexandre Salvaterra. Brasil: Bookman, 2013.
FILHO, José Valentim dos Santos; COELHO, Alvaro Vinicius de Souza. Cidades Inteligentes: Desafios e Tecnologias. Revista de Tecnologia da Informação e Comunicação. V. 8, N.2, 2018.
190
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das Ciências Humanas. 8 ed. Tradução de Salma Tannus Muchail. São Paulo/SP: Martins Fontes, 1999.
FRANTZESKAKI, N. Seven lessons for planning nature-based solutions in cities. Environ. Sci. Policy, 93 (October 2018) pp. 101-111, 2019.
FRISCHENBRUDER, Marisa T. Mamede; PELLEGRINO, Paulo. Using greenways to reclaim nature in Brazilian cities. Landscape and urban planning, [s. l.], v. 76, n. 1, p. 67–78, 2006.
FUNDAÇÃO SOS MATA ATL NTICA (Brasil). Observando os Rios 2022: O Retrato da Qualidade da Água nas Bacias Hidrográficas da Mata Atlântica. RELATÓRIOS, [s. l.], março/ 2022.
GASPAR, MaDu. Aspectos da organização social de pescadores-coletores: região compreendida entre a Ilha Grande e o delta do Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. 1991. Tese (Doutorado em Antropologia) –Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.
IBGE. Mapa de Biomas do Brasil; primeira aproximação. Rio de Janeiro: IBGE. 2004.
Klein RM. 1978. Mapa fitogeográfico do estado de
Santa Catarina. Flora Ilustrada Catarinense 5:1-24.
Klein, R. M. 1984. Aspectos dinâmicos da vegetação do sul do Brasil. Sellowia, Itajaí, v. 36, n. 36, p. 5-54, 1984.
KLOKLER, Daniela. Consumo ritual, consumo no ritual: festins funerários e sambaquis. Habitus, v. 10, n. 1, p. 83-104, 2012.
KNEIP, Andreas; FARIAS, Deisi; DEBLASIS, Paulo. Longa duração e territorialidade da ocupação sambaquieira na laguna de Santa Marta, Santa Catarina.
Revista de Arqueologia, v. 31, n. 1, p. 25-51, 2018. DOI: 10.24885/sab.v31i1.526
LAUTERJUNG, M. B. Evidências genéticas da ação antrópica pré-colombiana sobre a expansão da Araucária angustifólia. 2017. Dissertação (MESTRADO)
- Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais da Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de Mestre em Recursos Genéticos Vegetais., [S. l.], 2017.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo/ SP: Companhia das Letras, 1996.
Lolis, L. F. 1997. Análise fitossociológica de uma subsérie de Floresta Ombrófila Densa das Terra Baixas,
191
Reserva Volta Velha, Itapoá. Tese de mestrado do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Paraná.
MELO, G. et al. Licenciamento Ambiental Portuário: Avaliação dos programas ambientais na Baía Babitonga - Santa Catarina. Revista Metodologias e Aprendizado, [s. l.], 2021.
MERENCIO, Fabiana. Arqueologia dos encontros no litoral sul de Santa Catarina: os sambaquis tardios e os sítios Jê entre 2000 a 500 cal AP. 2021. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.
PINTO, L. F. G.; METZGER, J. P.; SPAROVEK, G. Produção de Alimentos na Mata Atlântica: Desafios para uma agropecuária sustentável, saudável e com neutralização de carbono no bioma que é o maior produtor de alimentos no Brasil. RELATÓRIOS SOS MATA ATL NTICA, [s. l.], novembro/2022 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ. Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Itapoá - SC. [S. l.], agosto/2018 2018. Disponível em: http://pmma.etc.br/mdocs-posts/pmma-itapoa-sc/. Acesso em: 28 set. 2023.
SÁ, Julio Cesar de. Etnoarqueologia e arqueologia
experimental: desatando informações sobre nós e amarrações em fibras do sambaqui Cubatão I, em Joinville – SC. Monografia (Especialização em Arqueologia) – Universidade da Região de Joinville, Joinville, 2015.
SÁ, Julio Cesar de. Sambaquis, patrimônio arqueológico na costa leste de São Francisco do Sul/SC: reflexões sobre o território, variações do nível relativo do mar (NRM) no quaternário e tensões atuais. 2017. 230 f. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade) – Universidade da Região de Joinville, Joinville, 2017.
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à Província de Santa Catharina (1820). Tradução: Carlos da Costa Pereira. Companhia Editora Nacional, São Paulo SP, 1936.
SCHÄFFER, Wigold B. et al. Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação X Áreas de Risco. O que uma coisa tem a ver com a outra? Brasília: MMA, 2011.
VIDAL, Laurant. Eles sonharam um outro mundo: história atlântica dos fundadores do Falanstério do Saí.
Tradução: Gilson Cesar Cardoso de Sousa. São Paulo/ SP: Editora da Universidade de São Paulo, 2019.
WILLIAM, Rodney. Apropriação cultural. São Paulo/SP: Pólen, 2019.
192
YU, Kongjian. This man is turning cities into giant sponges to save lives | Pioneers for Our Planet. 2019. (4m27s). Publicado pelo canal World Economic Forum.
Disponível em: www.weforum.org/agenda/2019/08/ sponge-cities-china-flood-protection-nature-wwf (Acesso: 03/02/2023).
SCHLEE, M., Nunes, M. J., Rego, A., Rheingantz, P., Dias, M. ngela, & Tangari, V. Sistema de Espaços Livres nas Cidades Brasileiras – Um Debate conceitual. Paisagem E Ambiente, 2009.
WEISS, M. C.; BERNARDES, R. C., & CONSONI.
F. L. Cidades inteligentes como nova prática para o gerenciamento dos serviços e infraestruturas
urbanos: a experiência da cidade de Porto Alegre.
Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 7, n. 3, p. 310-324, 2015.
Todas as fotos aqui publicadas são de acervos públicos, acervo pessoal da família Aguiar, Ademar Ribas do Vale, Vitorino Paese, Marcos Mertens, Família Speck, Elisa Silva, Ticiano Monteiro e Tatiana Zanon.
193


Este livro foi composto utilizando as famílias tipográficas Lato e Insignia LT e teve uma impressão de 500 exemplares impressos em papel Couche Fosco 150 g/m2 , 4x4 cores com capa em papel Couché Fosco 170 g/m2, 4x0 cores.
Impresso pela gráfica Mult-Graphic em abril de 2024, em Curitiba.
196
















Nas terras de Itapoá, onde o verde da Mata Atlântica se embrenha com o azul dos rios Saí-Guaçu, Saí-Mirim e Jaguaruna, é possível testemunhar um conto ancestral de conexão entre homem e natureza. Nestas terras, as águas correm como narradoras de antigas lendas, enquanto a floresta sussurra segredos milenares aos ouvidos atentos dos viajantes. Desenrola-se um diálogo perene entre as árvores de todas as idades, cujas raízes mergulham nas areias, e o céu vasto que protege este pedaço de terra.


Cada instante entre a vegetação nativa é uma jornada rumo ao coração pulsante do novo, onde as cupiúvas e guanandis reinam soberanos, contando histórias de resistência e adaptação. E na sofisticada anatomia das folhas, as bromélias abrigam um universo particular, onde a água cria um microcosmos e sustenta toda uma cadeia de vida.



Em Itapoá, somos navegantes deste oceano verde, guardiões de um legado que transcende o tempo e o espaço. Assim como os contadores de histórias da tradição oral, ao preservar e compartilhar estas memórias vivas da natureza, da ocupação humana e do afeto que nos antecedeu, queremos manter a chama da esperança acessa. Quando uma população pode honrar seu passado, o futuro é tecido com respeito e admiração.





























 Capela São Judas Tadeu - Jaguaruna (Jaca)
Capela São Judas Tadeu - Jaguaruna (Jaca)




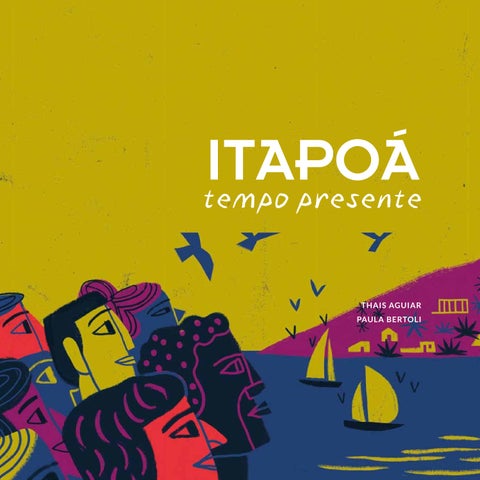






















































 Negros praticando danças tradicionais de suas tribos africanas. Gravura de Jean-Baptiste Debret. Dança de selvagens da Missão de São José
Negros praticando danças tradicionais de suas tribos africanas. Gravura de Jean-Baptiste Debret. Dança de selvagens da Missão de São José




















 130 Maria da Graça Neres do Rosário, fandangueira
130 Maria da Graça Neres do Rosário, fandangueira















































