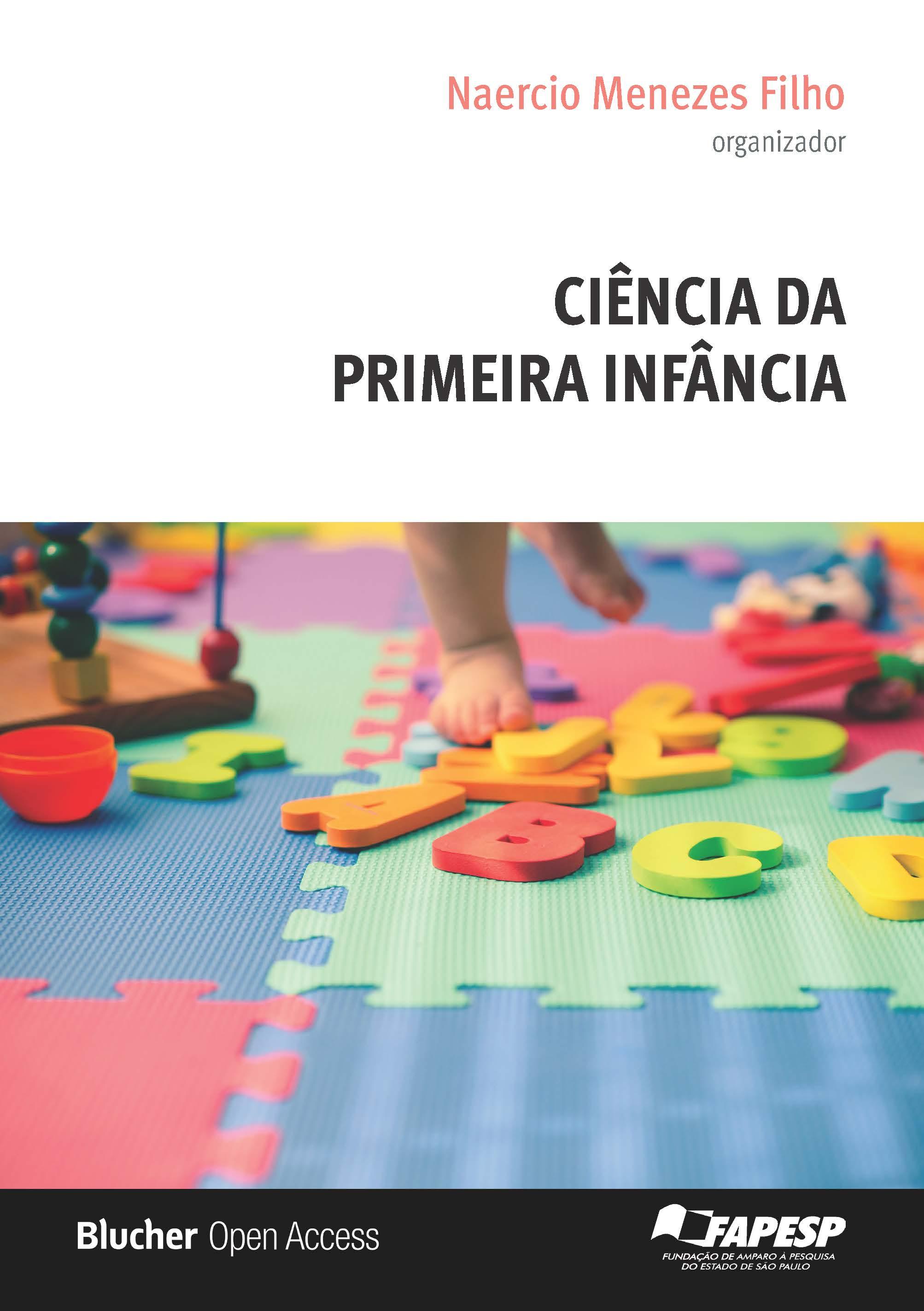
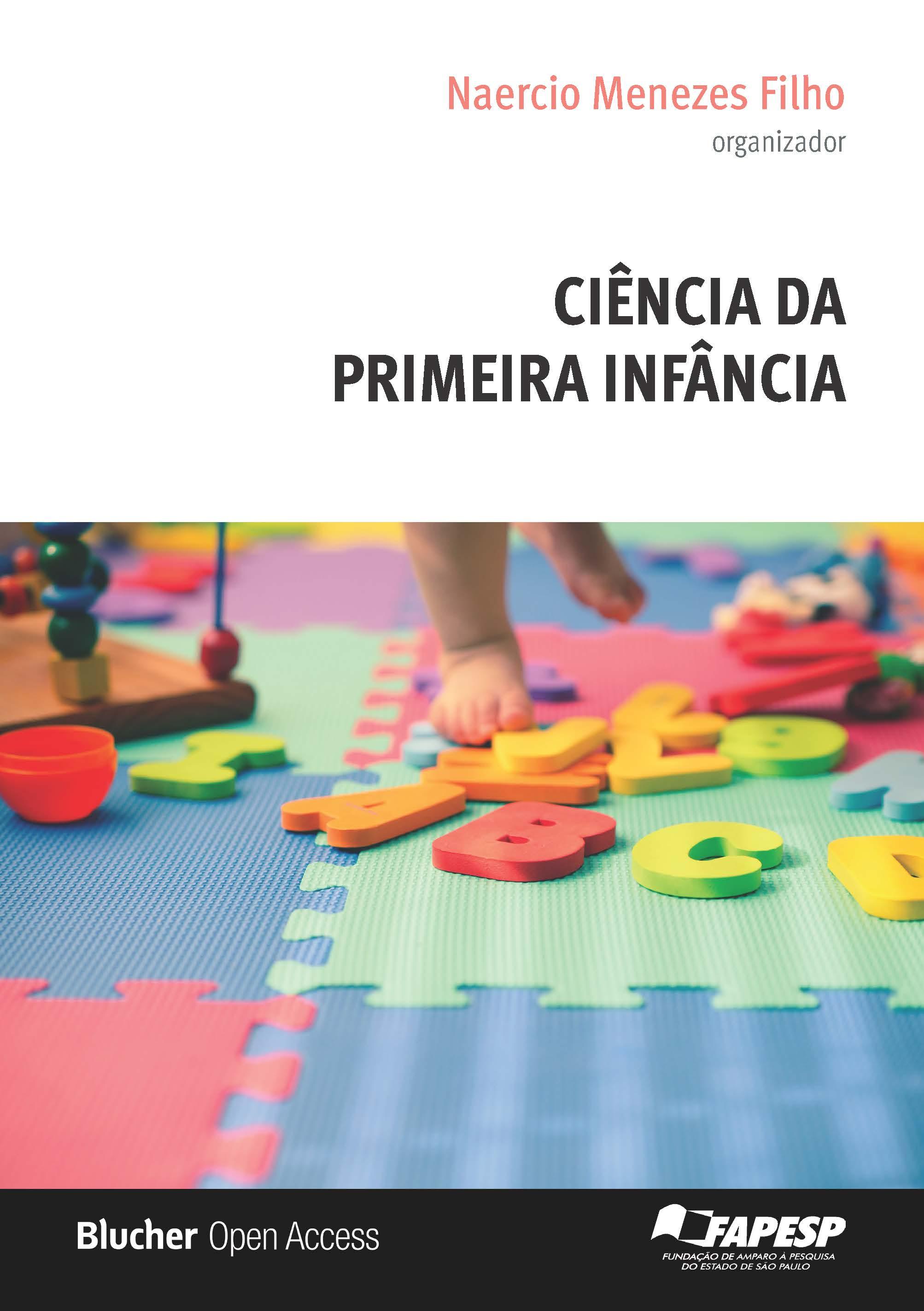
CIÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA
CONSELHO EDITORIAL
André Luiz V. da Costa e Silva
Cecilia Consolo
Dijon De Moraes
Jarbas Vargas Nascimento
Luís Augusto Barbosa Cortez
Marco Aurélio Cremasco
Rogerio Lerner
Open Access
CIÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Naercio Menezes Filho organizador
Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância
Ciência da primeira infância
© 2025 Naercio Menezes Filho (organizador)
Editora Edgard Blücher Ltda.
Publisher Edgard Blücher
Editor Eduardo Blücher
Coordenador editorial Rafael Fulanetti
Coordenadora de produção Ana Cristina Garcia
Produção editorial Andressa Lira
Preparação de texto Rodrigo Botelho
Diagramação Thaís Pereira
Revisão de texto Lígia Alves
Capa Laércio Flenic
Imagem da capa iStockphoto
Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4o andar 04531-934 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br
Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021.
É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.
Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Angélica Ilacqua CRB-8/7057
Ciência da primeira infância [livro eletrônico] / Naercio Menezes Filho (org.) ; Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância. -- São Paulo : Blucher, 2025.
Bibliografia
ISBN 978-65-5550-289-3 (PDF) ISBN 978-65-5550-293-0 (Epub)
1. Desenvolvimento infantil 2. Criança – Condições sociais – Brasil 3. Nutrição infantil 4. Educação infantil 5. Políticas públicas –Brasil I. Menezes Filho, Naercio II. Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância
25-1955
CDD 305.231
Índice para catálogo sistemático: 1. Desenvolvimento infantil
Agradecimentos
O Centro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI) é uma iniciativa do Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI), que reúne cinco instituições com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida na primeira infância: Insper, Fundação Bernard van Leer, David Rockefeller Center for Latin American Studies da Universidade de Harvard, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) e Porticus América Latina.
A produção deste livro foi viabilizada pelos trabalhos desenvolvidos no CPAPI (https://www.cpapi.org.br/) e no NCPI (https://ncpi.org.br/), financiados pela FMCSV e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP; processo 2019/12553-0), que incentivaram os autores a disseminar a importância da primeira infância e a produzir pesquisas na fronteira da ciência. Além disso, a publicação contou com o cofinanciamento da FAPESP (processo 2024/16786-8) e do Insper, possibilitando a concretização deste projeto.
Agradecemos a essas instituições e a todos que contribuíram para a realização deste livro.
Conteúdo
Apresentação
A importância da primeira infância ....................................................................................... 9
Prefácio
A ciência como bússola para a proteção das múltiplas primeiras infâncias brasileiras ................................................................................................................. 11
Mariana Luz
1. Desigualdade e pobreza na primeira infância ............................................................ 13
Bruno Kawaoka Komatsu e Naercio Menezes Filho
2. Plasticidade epigenética e desenvolvimento infantil .............................................. 35
Gisele Rodrigues Gouveia, Caroline Camilo e Helena Brentani
3. Impactos da alimentação e nutrição no desenvolvimento infantil ...................... 49
Juliana Araujo Teixeira e Sonia Isoyama Venancio
4. Sono e desenvolvimento infantil ................................................................................... 71
Rebeca Buest de Mesquita Silva, Vitor Lacerda , Adrielle Pykoc, Helena Schmidt, Julia Fernandes da Silva, Gustavo Santos e Fernando Louzada
5. Desenvolvimento infantil e parentalidade ................................................................. 83
Rogerio Lerner, Izabella Lopes de Arantes e Caroline Martins Dias
6. Experiências adversas na infância e suas consequências para o desenvolvimento ................................................................................................. 99
Maria Beatriz Martins Linhares e Elisa Rachel Pisani Altafim
7. A importância da Puericultura para o desenvolvimento na primeira infância ........................................................................................................ 113
Débora Falleiros de Mello, Lislaine Aparecida Fracolli e Maria de La Ó
Ramallo Veríssimo
8. Educação infantil ...........................................................................................................
Daniel Domingues dos Santos e Luiz Guilherme Scorzafave
9. Políticas públicas de primeira infância ...................................................................... 151
Claudia Cerqueira do Nascimento e Bruno Kawaoka Komatsu
os autores ....................................................................................................................
A importância da primeira infância
O desenvolvimento humano pode ser definido como um processo de transformação contínua, envolvendo mudanças quantitativas e qualitativas que ocorrem ao longo do ciclo da vida e que depende de fatores genéticos e ambientais. Os marcos do desenvolvimento nas suas etapas evolutivas seguem uma ordenação hierárquica, do mais simples para o mais complexo, das habilidades nas diferentes áreas do desenvolvimento. Cada etapa evolutiva tem a sua relevância para o pleno desenvolvimento e desempenha o papel de preparar as pessoas para as etapas subsequentes.
A primeira infância é a fase que vai da gestação até os seis anos de idade. Este é o período mais sensível na trajetória do desenvolvimento, pois é nele que as aquisições e domínios de habilidades ocorrem de forma mais rápida. A primeiríssima infância, por sua vez, é o período dentro da primeira infância que vai da gestação até os três primeiros anos de idade, que é especial pela importância das experiências das fases pré-natal, perinatal e neonatal na vida das pessoas.
O desenvolvimento infantil também ocorre em etapas evolutivas, organizadas em idades, que visam a aquisição e domínio de habilidades motoras, cognitivas, de linguagem, emocionais e sociais. Nesta fase, o desenvolvimento cerebral apresenta grande plasticidade, o que aumenta o potencial de aprendizagem e de mudanças comportamentais. Portanto, deve-se cuidar da qualidade da estimulação ambiental e das interações sociais para que elas sejam adequadas para promoção do desenvolvimento infantil. Nessa fase estabelecem-se os primeiros vínculos afetivos com o cuidador, o reconhecimento de emoções alheias e das próprias emoções.
Por ser um período sensível, a primeira infância é uma janela de oportunidades para que a criança possa se desenvolver plenamente, o que pode levá-la a obter um maior aprendizado na escola, ser maior produtiva quando adulta e realizar seus sonhos. Por outro lado, também é um período em que ela pode ser negativamente afetada por fatores de risco, tais como pobreza, fome, violência doméstica e condições de moradia e saneamento básico inadequadas. Neste sentido, políticas públicas são necessárias para bloquear ou ao menos atenuar a ação destes fatores de risco. Neste livro, fazemos um resumo sobre as evidências científicas recentes sobre a primeira infância. No primeiro capítulo, Naercio Menezes Filho e Bruno Kawaoka Komatsu resumem o que sabemos sobre as desigualdades na primeira infância, mostrando como elas impedem que a sociedade brasileira tenha mais igualdade de oportunidades, para que as nossas crianças possam realizar seus sonhos independentemente da sua origem social. Em seguida, Gisele Rodrigues Gouveia, Caroline Perez Camilo, Helena Brentani explicam o fenômeno de plasticidade epigenética e o desenvolvimento infantil, mostrando de modo muito interessante como a biologia é importante para a primeira infância.
No terceiro capítulo, Sonia Venancio e Juliana Teixeira discutem os impactos da nutrição no desenvolvimento infantil, um tema fundamental, especialmente tendo em vista o aumento na proporção de crianças com insegurança alimentar que houve recentemente no Brasil, durante a pandemia. Em seguida, Rebeca Buest, Vitor Lacerda, Julia Fernandes da Silva, Helena Schmidt, Adrielle Pykocz, Gustavo Santos e Fernando Louzada mostram como a qualidade do sono é importante para que a criança consiga evoluir satisfatoriamente pelos estágios de desenvolvimento.
No quinto capítulo, Rogério Lerner, Izabella Lopes de Arantes e Caroline Martins Dias destacam a importância dos pais no processo de desenvolvimento, discutindo as evidências trazidas por programas que buscam melhorar a parentalidade. Em seguida, Maria Beatriz Martins Linhares e Elisa Rachel Pisani Altafim mostram como experiências adversas na infância afetam o desenvolvimento na primeira infância, analisando também o impacto de programas direcionados para reduzir a sua ocorrência.
No sétimo capítulo, Débora Falleiros de Mello, Lislaine Aparecida Fracolli e, Maria de La Ó Ramallo Veríssimo destacam a importância da Puericultura para o desenvolvimento, mostrando a importância da prevenção e dos cuidados nos primeiros anos de vida. Em seguida, Daniel Santos e Luiz Scorzafave discutem as diferentes teorias e debates atuais sobre o papel da educação infantil, analisando também as qualidades e deficiências da educação infantil no Brasil. Por fim, Claudia Cerqueira do Nascimento e Bruno Kawaoka Komatsu fecham o livro trazendo evidências sobre os impactos das políticas públicas voltadas à Primeira Infância no Brasil nas últimas décadas.
Boa leitura!
A ciência como bússola para a proteção das múltiplas primeiras infâncias brasileiras
Medir para melhorar, acertar, expandir. A máxima “não se pode melhorar o que não se consegue medir” é um chavão do campo da avaliação e uma espécie de mantra que adotamos na defesa da primeira infância, fase que vai da gestação aos 6 anos. Esse recorte da vida da criança foi reconhecido como um período crítico ao desenvolvimento humano graças à capacidade da ciência de medir o que ocorre nessa fase e suas consequências ao longo da vida do indivíduo. Ciência e primeira infância têm caminhado juntas, e os frutos dessa parceria têm possibilitado o avanço nos cuidados das crianças e de suas famílias de forma exponencial. Nesse contexto se insere a importância tanto do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI) como desta publicação, que reúne assuntos tão atuais quanto críticos para o aprimoramento dos programas e cuidados desde o começo da vida.
O saber construído pelas diversas áreas do conhecimento – como biologia, pediatria, educação, neurociências, economia e psicologia – deve culminar no aprimoramento de políticas públicas, na focalização de investimentos e no aumento dos programas de prevenção e intervenção precoce. Um marco importantíssimo para a proteção da infância foi o entendimento com base em evidências do efeito da pobreza no desenvolvimento infantil. A pobreza tem um impacto muito maior nas crianças do que nos demais membros de uma família por uma série de fatores que vão dos
mais tangíveis (como exposição a doenças por falta de infraestrutura básica e insegurança alimentar) aos mais complexos (como a ausência de uma parentalidade positiva, de interações que promovam a formação de vínculos, de educação de qualidade ou de proteção física e emocional). O combate à pobreza se torna mais eficiente quando há uma ação integrada, intersetorial e interfederativa que alcance as crianças e suas famílias, considerando as diversas pressões e ameaças do dia a dia, entre muitos outros aspectos, às quais estão expostas nos diferentes contextos.
Um dos resultados práticos dessa comprovação foi a criação de um benefício extra, dentro do Programa Bolsa Família – a maior iniciativa de transferência de renda do mundo –, para as famílias com crianças na primeira infância. A conscientização sobre o impacto do atendimento escolar nessa fase, também baseado em pesquisas, foi fundamental para inserir a creche como parte da educação básica e como um direito assegurado a todas as famílias com crianças até 3 anos, e para consolidar a pré-escola como fase obrigatória para crianças de 4 e 5 anos. Esses são alguns dos exemplos da potência da pesquisa de qualidade aplicada às políticas públicas.
A ciência produzida no Brasil, com base em dados e experiências daqui, ainda que dialogue com experiências internacionais, é a bússola mais confiável para que o país possa agir rapidamente e de forma assertiva na mitigação dos riscos que ameaçam os direitos das crianças. Um país em que 1 em cada 4 domicílios ainda sofre com o risco da fome não pode se permitir errar em seus investimentos ou embicar na direção errada.
As próximas páginas mostram que os maiores riscos às múltiplas primeiras infâncias do Brasil estão no radar dos especialistas. O conjunto de artigos a seguir não só traz o mapeamento desses desafios, como apresenta também hipóteses e proposições maduras para lidar com eles. Todas essas experiências foram ou estão sob a mira de pesquisas robustas que buscam entender seus efeitos, suas possibilidades de aplicabilidade em escala e as peculiaridades que precisam ser observadas. É com entusiasmo, portanto, que celebramos esta publicação. Que ela sirva ao propósito de compartilhar saberes, inspirar ações e construir pontes entre gestores públicos, pesquisadores e toda a sociedade em prol da primeira infância.
Mariana
Luz
CEO da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial, Presidente do Conselho do Instituto Escolhas e membro do Comitê Intersetorial de Primeira Infância e do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (Conselhão).
CAPÍTULO 1
Desigualdade e pobreza na primeira infância
Bruno Kawaoka Komatsu Naercio Menezes Filho
O objetivo deste capítulo é destacar como a desigualdade de oportunidades afeta o desenvolvimento infantil, usando dados e estudos recentes que mostram como a desigualdade de renda, a pobreza, o desemprego e a baixa mobilidade intergeracional podem afetar o pleno desenvolvimento das crianças no Brasil. Para fazê-lo, usaremos pesquisas domiciliares divulgadas recentemente e novas pesquisas acadêmicas que têm sido desenvolvidas mensurando a mobilidade de renda no Brasil com dados inéditos e relacionando o nascimentos de crianças e o desemprego com a criminalidade. Também será enfatizado o papel das políticas públicas no sentido de atenuar o efeito das adversidades no desenvolvimento.
Desigualdade de renda e pobreza na primeira infância no Brasil O desenvolvimento infantil pode ser visto como um processo de interação entre os genes e o ambiente, em que as relações sociais em que os bebês estão inseridos possuem grande importância. As relações sociais que acontecem de forma permanente (por exemplo, entre os bebês e seus pais ou cuidadores) são especiais, porque elas afetam o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Nessa fase, é fundamental que as crianças tenham um ambiente familiar com cuidados de saúde e nutrição adequados,
segurança e proteção contra violência e discriminação, um cuidado responsivo pelas mães e pais, com oportunidades de aprendizado e exploração[1].
A pobreza pode afetar o desenvolvimento infantil de várias formas. Ela é a “causa das causas” dos fatores de risco ao desenvolvimento infantil[2], estando associada de forma complexa a diversos outros fatores de risco, como a insegurança alimentar e desnutrição, a exposição à violência e ao risco ambiental, a discriminação e situações de estresse familiar[1]. Famílias pobres no geral também têm maior dificuldade de acessar serviços de saúde e educação de qualidade. Além disso, a pobreza está associada à falta de informação de mães e pais sobre o quanto o investimento na criança tem efeitos positivos sobre o seu desenvolvimento, e consequentemente, os pais com menor nível econômico tendem a fazer menos atividades estimulantes com suas crianças[3].
A pobreza no início da vida está associada a grandes diferenças de saúde e capital humano na vida adulta. Um estudo reuniu dados de pesquisas de países de baixa e média renda – Filipinas (Cebu), Índia (Delhi), Brasil (Pelotas), Guatemala e África do Sul (Soweto) – que acompanharam grupos de pessoas nascidas em períodos semelhantes (coortes) ao longo da vida, desde a primeira infância[2]. Esse estudo mostra que, entre homens e mulheres, menores níveis socioeconômicos no nascimento se relacionam com menor crescimento aos 2 anos de idade, menor estatura aos 4 anos de idade e menor habilidade cognitiva entre os 4 e os 8,5 anos de idade. Há associações também com desfechos na vida adulta: as pessoas mais pobres no nascimento tinham menor estatura, menos anos de escolaridade, menor quociente de inteligência (QI), e entre as mulheres, mais maternidade durante a adolescência.
Alguns grupos socioeconômicos específicos são atingidos mais fortemente pela pobreza, o que gera atrasos no desenvolvimento infantil de forma diferenciada e pode manter ou ampliar as desigualdades entre as gerações[1]. As desigualdades sociais na primeira infância podem ser ainda mais agravadas por comportamentos discriminatórios, como o racismo, que interfere no desenvolvimento infantil no momento em que as crianças pequenas estão formando suas identidades[4]. Mesmo quando o racismo não gera violência física, ele pode afetar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil criando situações em que a criança negra é atingida por sofrimento em decorrência do seu pertencimento racial, em um momento em que é importante que ela se sinta acolhida e valorizada. Por exemplo, o racismo pode se apresentar em relações sociais em que a imagem do negro é criada a partir de referências negativas, como inferioridade intelectual ou com a negação de capacidades intelectuais de negros. A exposição ao racismo pode levar crianças negras pequenas a passar por estresse prolongado, o estrese tóxico, que interfere no desenvolvimento
saudável do cérebro e do funcionamento do corpo e está associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes na fase adulta[4].
Como está o Brasil atualmente em relação às desigualdades sociais e à pobreza na primeira infância? O Brasil é hoje um dos países mais desiguais do mundo e com uma taxa de pobreza extrema relativamente grande. Fazendo uma comparação entre os países com dados recentes (entre 2019 e 2023), disponíveis e consolidados pelo Banco Mundial[5], a América Latina e o Caribe formam a região do mundo com a maior desigualdade de renda, seguida pela África Subsaariana.1 Em relação à pobreza extrema, a região da América Latina e Caribe está em uma posição intermediária: a situação é melhor do que a da África Subsaariana, do Sul da Ásia e do Oriente Médio e Norte da África, porém pior do que da América do Norte, da Europa e da Ásia Central e do Leste Asiático e Pacífico. Entre os países da América Latina e Caribe, o Brasil é o terceiro com a maior taxa de pobreza extrema (atrás da Colômbia e Honduras), e o 29º país com a maior taxa de pobreza no conjunto total de países. Nesse conjunto, o Brasil é o segundo país mais desigual entre 17 países da América Latina e Caribe e também no conjunto total de 106 países (nos dois casos, à frente somente da Colômbia).2
A situação é especialmente precária entre as crianças pequenas no Brasil. Além de viverem sob um nível extremamente alto de desigualdade, as crianças pequenas são o grupo etário com as maiores taxas de pobreza[6]. As crianças pequenas nas famílias com menor renda sofrem maior exposição a fatores de risco ao seu pleno desenvolvimento, como habitações inadequadas, exposição à poluição, calor extremo e enchentes, exposição à violência, menor acesso à saúde, educação e alimentação adequada. Elas estão mais sujeitas aos impactos imediatos e de longo prazo da pobreza sobre o desenvolvimento infantil, incluindo maior risco de mortalidade, atrasos de crescimento e de desenvolvimento, baixa escolaridade e gravidez na adolescência[1,2]. As grandes desigualdades sociais podem gerar experiências de discriminação por raça ou cor da pele, gênero, local de moradia ou de origem e são um fator de risco para o desenvolvimento infantil em si[4,7].
Apesar de a desigualdade no Brasil já ter sido maior no passado, recentemente ela tem aumentado mais entre as pessoas em famílias com crianças pequenas do que no total da população. Uma das formas mais comuns de se medir a desigualdade de
1 Para cada país, o Banco Mundial calcula o índice de Gini da renda domiciliar per capita (que é o total das rendas de todas as fontes, dividido pelo total de pessoas em cada domicílio). Fizemos uma média do Índice de Gini dos países para cada região, ponderada pela população.
2 Consideramos a classificação do Banco Mundial de regiões. Entre os países da América Latina e Caribe com dados disponíveis, além do Brasil, estão a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai.
renda entre as pessoas de um país é o Índice de Gini, que pode ter valores entre 0 e 1, com a renda domiciliar per capita. 3 Valores mais próximos de 0 indicam menor desigualdade de renda, enquanto valores mais próximos de 1 representam maior desigualdade. A Figura 1.1 mostra a evolução do Índice de Gini da renda domiciliar per capita entre 2001 e 2023 no Brasil, calculado para o total da população e entre as pessoas que vivem com crianças pequenas. O Índice para os dois grupos diminuiu entre 2001 e 2014, a partir de quando começou a aumentar novamente, em conexão com as recessões econômicas enfrentadas pelo Brasil nos últimos anos. Apesar de o índice ter sido menor entre as pessoas que vivem com crianças pequenas nos primeiros anos, mais recentemente a desigualdade aumentou mais nesse grupo, um fato preocupante, uma vez que a desigualdade gera resultados indesejáveis sobre o desenvolvimento infantil.
Com crianças
Total
Figura 1.1 Índice de Gini da renda domiciliar per capita entre todas as pessoas e entre pessoas de domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade. Brasil, 2001-2023.
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/IBGE). Elaboração própria. Nota: a figura mostra o Índice de Gini calculado para a renda domiciliar per capita entre todas as pessoas e entre as pessoas em domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade.
As famílias com crianças pequenas também são mais sujeitas às situações de pobreza e pobreza extrema no Brasil. A Figura 1.2 mostra a proporção de pessoas pobres, considerando a linha de pobreza internacional do Banco Mundial, de US$ 6,85 por dia (aproximadamente R$ 16,30 por dia ou R$ 489,00 por mês, a preços de
3 A renda domiciliar per capita de uma pessoa ou domicílio é a razão entre a soma da renda de todas as fontes das pessoas do domicílio, dividida pelo número de pessoas residentes no mesmo domicílio.
2023),4 que reflete o nível de renda mínimo por pessoa para se satisfazer as necessidades básicas de alimentação, vestimenta e abrigo. A Figura mostra duas linhas, uma para as pessoas que vivem com crianças pequenas e outra linha para as demais. Observamos que a pobreza teve um período de redução contínua ao longo dos anos 2000, até 2014, e que ela foi sempre maior entre as pessoas que vivem com crianças pequenas. Em 2023, a pobreza chegou a 30% entre as pessoas que vivem com crianças pequenas, nível que o grupo das demais pessoas possuía no início dos anos 2000. Esse grupo tinha uma proporção de 12% de pobres em 2023.
Com crianças Outros
Figura 1.2 Taxa de pobreza entre todas as pessoas e entre pessoas de domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade. Brasil, 2001-2023.
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/ IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Elaboração própria. Nota: a figura mostra a proporção de pessoas classificadas como pobres, usando a linha de pobreza internacional do Banco Mundial, de US$ 6,85 (em Paridade de Poder de Compra de 2017), entre todas as pessoas e entre as pessoas em domicílios com crianças entre 0 e 6 anos de idade.
Quando consideramos a pobreza extrema, as pessoas que vivem com crianças pequenas também são mais afetadas. A pobreza extrema representa a situação em que a pessoa vive com menos de US$ 2,15 por dia (aproximadamente R$ 5,12 por dia ou R$ 153,47 por mês, a preços de 2023) e não possui renda que seria suficiente para satisfazer as necessidades básicas nos países mais pobres do mundo. A Figura 1.3 mostra que a proporção de pessoas nessa situação diminuiu fortemente entre as famílias com crianças pequenas entre 2001 e 2023, passando de 18% para 4%. No grupo das pessoas nas demais famílias, essa taxa também diminuiu, passando de
4 O valor da linha internacional de pobreza é expresso em dólares em paridade de poder de compra de 2017, uma taxa de conversão que considera as variações de preços dos países.
6% para 2%. Apesar dessas tendências, as famílias com crianças ainda possuem o dobro da proporção de pessoas extremamente pobres, e esse quadro é preocupante, uma vez que a pobreza extrema é um grande fator de risco de atrasos no desenvolvimento infantil[1,3].
2001 2006 2011 2016 2021 Com crianças Outros
Figura 1.3 Taxa de pobreza extrema entre todas as pessoas e entre pessoas de domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade. Brasil, 2001-2023.
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/ IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Elaboração própria. Nota: a figura mostra a proporção de pessoas classificadas como extremamente pobres, usando a linha de pobreza internacional do Banco Mundial, de US$ 2,15 (em Paridade de Poder de Compra de 2017), entre todas as pessoas e entre as pessoas em domicílios com crianças entre 0 e 6 anos de idade.
Cabem algumas observações sobre como a pobreza está sendo medida. Em primeiro lugar, a pobreza pode ser considerada uma situação em que falta à pessoa ou à família coisas que são consideradas minimamente necessárias pela sociedade, e que podem ser de dimensões diversas. A medida da pobreza por meio de linhas de pobreza é uma simplificação que possibilita contabilizar o número de pessoas que estão em uma situação em que falta algum item minimamente necessário. Além disso, apesar de a linha de pobreza extrema do Banco Mundial não considerar as especificidades regionais do Brasil, ela permite comparações com outros países, e o total de pessoas identificadas nessa situação no Brasil é semelhante ao daqueles que se encontram em insegurança alimentar grave[8].
As tendências observadas nas Figuras 1.2 e 1.3 marcam uma continuidade da tendência de longo prazo de redução da pobreza no Brasil. A implementação do Plano Real em 1994 fez a inflação, à qual as pessoas com menor renda são mais
vulneráveis, se estabilizar em níveis baixos. Além disso, apesar das baixas taxas de crescimento da economia como um todo, houve um aumento da renda real dos mais pobres na segunda metade dos anos 1990, devido à baixa inflação dos alimentos, o crescimento mais acelerado dos rendimentos mais baixos no setor de serviços e câmbio desvalorizado, que favorecia a remuneração das atividades de serviços. A partir de 1996, a política de valorização do salário mínimo favoreceu o aumento mais acelerado dos salários menores no mercado de trabalho – sem que houvesse um aumento do desemprego ou da informalidade – e dos benefícios sociais constitucionais: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as aposentadorias. Essas mudanças também favoreceram a redução da desigualdade de renda, a partir de 1997[9].
Entre 2000 e 2014, que ocupam a primeira parte das Figuras 1.1 a 1.3, houve um aumento, em todas as regiões brasileiras, da renda entre os mais pobres acima da renda média da população[10], o que é explicado por três componentes principais. Em primeiro lugar, houve uma expansão do mercado de trabalho e da formalização no período, sustentada pelo crescimento da atividade econômica em níveis maiores do que o da década anterior, e as taxas de desemprego e de inatividade reduziram nesse período entre as pessoas com crianças pequenas no domicílio[9,7]. Com isso, o rendimento do trabalho aumentou, especialmente entre aqueles com os menores salários, com a manutenção da política de valorização do salário mínimo acima da inflação[9]. Como os rendimentos do trabalho representam uma parte importante da renda total dos domicílios[11], as dinâmicas do mercado de trabalho geram efeitos sobre o nível de pobreza e desigualdade[7]. Além disso, o governo federal também ampliou os benefícios sociais nesse período. Houve um aumento da quantidade e do valor dos benefícios constitucionais e, efetivamente, a partir de 2004, o Programa Bolsa Família foi instituído, alcançando grande parte das famílias com as menores rendas[9,12–14]. Essas transformações contribuem para explicar como o período de crescimento econômico da primeira década dos anos 2000 resultou em uma forte redução da pobreza e da desigualdade.
O período de 2014 a 2019 introduziu uma mudança nas tendências de redução da pobreza e da desigualdade. A recessão econômica ocorrida no início desse período fez com que as condições do mercado de trabalho piorassem, de maneira que o desemprego aumentou de forma geral e as políticas sociais não foram capazes de conter o aumento da pobreza[7,12]. No mercado de trabalho, os rendimentos ficaram mais concentrados[11].
Apesar de o emprego diminuir ainda mais quando a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil em 2020 e os governos locais impuseram medidas de isolamento
social com o objetivo de conter o espalhamento da doença, a taxa de pobreza e a desigualdade diminuíram em conexão com a transferência de renda do Auxílio Emergencial, transferência de renda para pessoas de baixa renda, sem trabalho formal, e com valores relativamente altos[12,15]. A recessão econômica desse período fez com que houvesse redução das ocupações com os menores rendimentos, como os trabalhadores informais e com jornada parcial, aumentando a concentração dos rendimentos, especialmente entre os empregados e os autônomos[16,17]. Com a redução dos valores desse benefício no final de 2020 e uma recuperação do mercado de trabalho, principalmente com ocupações informais e valores de rendimentos relativamente baixos, a pobreza e a desigualdade aumentaram novamente em 2021, porém reduziram a partir de 2022, com a recuperação da atividade econômica e do mercado de trabalho.
Além dessas tendências mais gerais, há desigualdades importantes entre as famílias com crianças pequenas. Na Figura 1.4, mostramos como a pobreza evoluiu entre as pessoas que vivem com crianças pequenas por grupos de raça/cor da pessoa responsável pelo domicílio (painel 1.4a), pela escolaridade da pessoa responsável pelo domicílio (painel 1.4b) e por região brasileira (painel 1.4c). As taxas de pobreza evoluíram de forma aproximadamente paralela entre as famílias negras ou indígenas e as famílias brancas ou amarelas no período, e foram maiores entre as primeiras em cerca de 20 pontos percentuais. Em 2023, a taxa de pobreza era de 36% entre famílias negras ou indígenas e de 17% entre as famílias brancas ou amarelas. No painel 1.4b, observamos que a taxa de pobreza se manteve no mesmo patamar ao longo dos anos entre as pessoas em domicílios mais escolarizados (variando entre 18% e pouco mais de 20% na maior parte do período), enquanto entre as pessoas em domicílios menos escolarizados, a pobreza diminuiu fortemente de cerca de 70% em 2001 para 44% em 2023, um patamar ainda muito maior do que o do outro grupo.
a) Raça/Cor
b) Escolaridade
c) Região
2006 2011 2016 2021 EM Incompleto EM Completo
2011 2016 2021 N NE SE S CO
Figura 1.4 Taxas de pobreza entre pessoas de domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade. Brasil, 2001-2023. Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/ IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Elaboração própria. Nota: a figura mostra a proporção de pessoas classificadas como pobres, usando a linha internacional de pobreza do Banco Mundial, de US$ 6,85 (em Paridade de Poder de Compra de 2017), entre as pessoas em domicílios com crianças entre 0 e 6 anos de idade. As séries foram divididas pela raça/cor da pessoa responsável pelo domicílio (nos painéis a e b), pela escolaridade da pessoa responsável pelo domicílio (nos painéis c e d) e pela região.
O painel 1.4c mostra as diferenças regionais da incidência de pobreza, e podemos separar as regiões em dois grupos, um deles com taxas mais baixas ao longo de todo o período (com as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e o outro com as taxas mais altas (com as regiões Norte e Nordeste). Considerando o período como um todo, as taxas diminuem em todas as regiões, porém de forma menos acentuada na região
Norte. Em 2023, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste tinha percentuais de, respectivamente, 19%, 14% e 17%, ao passo que as regiões Norte e Nordeste apresentaram taxas de, respectivamente, 40% e 50%.
Como no caso da pobreza, há também grandes diferenças de incidência da pobreza extrema entre grupos socioeconômicos entre as pessoas que vivem com crianças pequenas. A Figura 1.5 mostra a evolução da taxa de pobreza extrema entre as famílias com crianças pequenas por grupos definidos por raça/cor, escolaridade e região, respectivamente nos painéis 1.5a, 1.5b, 1.5c. No painel 1.5a, a figura mostra uma clara diferença por raça/cor, com percentuais entre famílias negra ou indígena aproximadamente duas vezes maior que aqueles entre as famílias brancas ou amarelas em todo o período. Em 2023, 5% das pessoas em famílias negras ou indígenas viviam em pobreza extrema, enquanto entre as pessoas em famílias brancas ou amarelas, a incidência era de 2%.
As desigualdades por escolaridade diminuem ao longo do tempo. O painel 1.5b mostra que o grupo com até o ensino médio incompleto apresenta a maior taxa ao longo de todo o período, que diminui ao longo do tempo (passando de 21% em 2001 para 6% em 2023), enquanto o grupo com ensino médio completo mantém uma taxa com menor variação (passando de 2,8% em 2001 para 2% em 2023, com um pico de 5,3% em 2021). Essa taxa menor se manteve apesar do aumento da proporção de pessoas em domicílios cuja pessoa responsável tinha ao menos o ensino médio completo (de 18% em 2001 para 56% em 2023).
Por último, o painel 1.5c mostra que enquanto as taxas de pobreza extrema foram semelhantes nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste no período como um todo, as taxas das regiões Norte e Nordeste foram maiores, mas a diferença diminuiu. Em 2023, as taxas eram de 2,1%, 1,1% e 1,6%, respectivamente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e de 4,9% e 7,7%, respectivamente nas regiões Norte e Nordeste.
a) Raça/Cor
b) Escolaridade
c) Região
2001 2006 2011 2016 2021 EM Incompleto EM Completo
2001 2006 2011 2016 2021 N NE SE S CO
Figura 1.5 Taxas de pobreza extrema entre pessoas de domicílios com crianças de 0 a 6 anos de idade. Brasil, 2001-2023. Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/ IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Elaboração própria. Nota: a figura mostra a proporção de pessoas classificadas como extremamente pobres, usando a linha internacional de pobreza extrema do Banco Mundial, de US$ 2,15 (em Paridade de Poder de Compra de 2017), entre as pessoas em domicílios com crianças entre 0 e 6 anos de idade. As séries foram divididas pela raça/cor da pessoa responsável pelo domicílio (nos painéis a e b), pela escolaridade da pessoa responsável pelo domicílio (nos painéis c e d) e pela região.
No geral, os dados desta seção indicam que mesmo depois de um período de diminuição das desigualdades de renda no Brasil, no período mais recente essas taxas voltaram a aumentar com as recessões econômicas, a pandemia da Covid-19 e seus efeitos sobre o mercado de trabalho, especialmente entre as famílias com crianças pequenas. A pobreza e a pobreza extrema entre as famílias com crianças pequenas também apresentaram uma diminuição nos anos 2000 e aumento nos anos mais recentes, enquanto as diferenças entre grupos de raça/cor e região em relação às
taxas de pobreza e de pobreza extrema das famílias com crianças pequenas se mantiveram durante todo o período. Essas diferenças persistentes podem estar associadas a diferenças de desenvolvimento e à pequena mobilidade social que se tem no Brasil, como veremos na próxima seção.
Novas evidências sobre mobilidade de renda, desemprego e crime no Brasil
Novos artigos que usam grandes bases integradas de registros administrativos brasileiros (como informações do Cadastro de Pessoas Físicas, da Receita Federal do Brasil, do Cadastro Único e do DataSUS) trazem evidências inéditas sobre desigualdades relacionadas a temas como mobilidade de renda, os impactos do desemprego e de ter filhos. Esses estudos são importantes, porque possuem informações detalhadas do comportamento das pessoas em áreas diversas, como saúde, educação, emprego e renda, rastreando as mesmas pessoas em diversos registros e ao longo do tempo. Com isso, é possível obter um quadro detalhado sobre como e quanto a renda dos pais afeta a renda dos filhos, sobre como o custo econômico do nascimento de uma criança gera efeitos sobre crimes em famílias com menor renda, e quais são os efeitos de uma demissão sobre o ambiente familiar em que se cuida de uma criança.
Primeira infância e mobilidade de renda
As desigualdades observadas na seção anterior tendem a se perpetuar ao longo do tempo, porque a mobilidade de renda no Brasil é baixa no geral e especialmente pequena para alguns grupos específicos. Um artigo recente estima o quanto a renda dos pais influencia na renda das pessoas nascidas no Brasil entre 1988 e 1990[18]. Os autores usam grandes bases de registros administrativos de forma integrada, para identificar as mães e pais de pessoas, locais de residência e os rendimentos formais de cada um. Eles também treinam modelos de aprendizado de máquina com dados de pesquisas domiciliares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD – e os Censos Demográficos) para prever os rendimentos informais. Com essa riqueza de informações, os autores classificam pais e filhos em rankings de renda com posições que variam de 1 a 100 (em que 1 é a menor renda e 100, a maior) e estimam que uma diferença de 10 posições na renda dos pais está associada a uma diferença na renda dos filhos de 5,5 posições. Essa associação é mais forte no Brasil do que nos Estados Unidos (cuja estimativa é um avanço de 3,4 posições na renda dos filhos para uma diferença de 10 posições na renda dos pais) e países desenvolvidos como Austrália, Canadá, França, Itália e os países escandinavos (cujas estimativas ficam entre 1,9 e 2,4 posições). Isso significa que a mobilidade no Brasil é menor, porque aqui a renda dos pais influencia mais a renda dos filhos.
Visto de outra forma, o estudo mostra que, no Brasil, somente 2,5% das crianças nascidas entre os 20% mais pobres da população chegam ao grupo dos 20% mais ricos quando se tornam adultas, um percentual baixo em comparação aos Estados Unidos, Itália e Suécia, cujos percentuais são de, respectivamente, 7,5%, 11,2% e 15,7%. Além disso, cerca de metade das pessoas nascidas entre os 20% mais ricos ou entre os 20% mais pobres no Brasil se encontram nesses mesmos grupos quando se tornam adultas. O estudo também encontra que a mobilidade de renda varia amplamente de acordo com gênero, raça e áreas geográficas. A mobilidade ascendente é menor entre as mulheres, em comparação aos homens, e entre os negros, em comparação aos brancos. Por exemplo, entre os brancos que nasceram entre os 20% mais pobres, 33,7% permanecem nesse grupo de renda quando se tornam adultos, enquanto entre os negros, o percentual correspondente é de 52,8%.
O mesmo estudo mostra que as diferenças na renda dos pais também se refletem em diferenças de desfechos de longo prazo dos filhos. Dividindo os pais em 20 grupos de renda de tamanhos semelhantes, filhos do grupo com menor renda possuem uma probabilidade próxima a zero de ter entrado no ensino superior, uma proporção que cresce até cerca de 80% no grupo com a maior renda. A proporção de filhos que dependem do Programa Bolsa Família tem o padrão inverso, é de pouco mais de 60% entre os filhos dos pais no menor grupo de renda e próximo a zero entre os filhos de pais no maior grupo de renda. Os filhos de pais com maior renda também tiveram menos gravidez na adolescência (especialmente as mulheres), foram menos vítimas de crimes e possuem uma mortalidade menor (especialmente os homens).
Esses resultados nos remetem à importância da primeira infância no combate às desigualdades. Os efeitos negativos da pobreza podem fazer com que ela seja transmitida para a geração seguinte, porque as famílias que vivem sob a pobreza extrema normalmente estão mais sujeitas a adversidades e possuem maior dificuldade de criar um ambiente propício ao desenvolvimento pleno das crianças, de modo que há maior probabilidade de haver déficits de desenvolvimento entre elas[1]. Crianças com maior déficit de desenvolvimento têm uma probabilidade menor de terem o aprendizado adequado na escola e de obterem os maiores salários quando forem adultos. Déficits como esses podem gerar uma perda de renda importante em relação ao que poderiam ganhar caso tivessem tido um desenvolvimento pleno[19].
Um aspecto adicional de como a renda dos pais pode afetar o desenvolvimento e a renda dos filhos está relacionado à atividade criminal do pai. Há evidência recente de que, no Brasil, o nascimento de uma criança aumenta a necessidade de renda no domicílio e faz com que os pais aumentem atividades criminosas com motivação econômica, mas não as mães[20]. Segundo esse estudo, o nascimento de um filho
aumenta a atividade criminosa do pai em 18% dois anos depois do nascimento, um efeito que aumenta para cerca de 30% seis anos depois do nascimento. Os crimes cometidos são por motivação econômica5 ou crimes violentos que podem ter motivação econômica,6 e não há efeitos sobre crimes sem motivação econômica clara.7
Os impactos são mais fortes entre os homens que não tinham emprego formal, entre aqueles que tinham menores salários antes do nascimento da criança, entre os mais jovens, que normalmente têm os menores salários e filhos de forma não planejada, e entre aqueles que moravam com os pais ou outros parentes antes da concepção do filho e que tiveram que constituir um novo domicílio com a chegada da criança. Entre as mulheres, ter um filho reduz temporariamente as atividades criminais, em torno do período do nascimento.
Além de crimes por motivação econômica, ter a chegada de uma criança também aumenta a violência doméstica. A chegada de uma nova criança aumenta o tempo de convivência entre os pais, devido à formação de novos domicílios, e dentro deles também aumenta o estresse devido à divisão da renda com uma pessoa a mais. O efeito do nascimento da criança é de aumentar o envolvimento do pai com violência doméstica em 215% depois de dois anos[20].
Esses resultados indicam que ter um filho quando não há recursos ou dispositivos de proteção para acomodar o impacto econômico da criança na família, aumenta a chance de os pais incorrerem em atividades criminais e violência doméstica, que podem afetar o desenvolvimento dos filhos. Em conjunto, eles mostram um mecanismo pelo qual a pobreza dos pais pode afetar o desenvolvimento infantil e ser transmitida para a geração seguinte.
Entretanto, a política de assistência social Salário-Maternidade tem o efeito de reduzir a atividade criminosa dos pais decorrente do nascimento de crianças. O Salário-Maternidade faz transferências de renda durante 120 dias para a mulher que é segurada do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e que se afastou do trabalho devido ao nascimento do filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. O estudo de Britto et al. (2024)[20] compara pais de baixa renda em famílias com mães que receberam e que não receberam o benefício e estima que a transferência reduz a atividade criminal em 37%. Esse resultado reforça o argumento de que a motivação para o aumento da atividade criminosa é meramente econômica, de forma que uma transferência de renda para auxílio da família em torno do momento do nascimento faz uma diferença importante.
5 Incluindo tráfico de drogas, roubos, furtos, comércio de bens roubados, fraude, corrupção, sonegação fiscal, extorsão.
6 Crimes como agressões, homicídios, sequestros e ameaças.
7 Crimes de trânsito, calúnia, posse ilegal de armas, posse de pequena quantidade de drogas, desobediência, danos à propriedade, crime ambiental, conspiração, linchamento, racismo e discriminação.
Embora o Brasil tenha baixa mobilidade de renda, há locais em que a mobilidade de renda é alta. O estudo de Britto et al. (2022)[18] encontra que a mobilidade ascendente é concentrada nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, não somente nas áreas metropolitanas, mas também no interior dos estados. Há, além disso, uma concentração de locais onde há maior mobilidade ascendente nos três estados da região Sul. Em uma comparação mais sofisticada, o estudo também traz evidências de que esses locais geram um efeito causal de convergência de renda que explica 57% das diferenças de mobilidade positiva entre as regiões.
O estudo também mostra que entre vários fatores que se relacionam com a mobilidade nas regiões, aqueles com maior poder explicativo para a mobilidade ascendente são os relacionados à maior qualidade da educação daquelas regiões (por exemplo, notas de matemática e português possuem relação positiva com a mobilidade, a taxa de abandono da escola tem uma relação negativa). Outros fatores também se relacionam com a mobilidade de forma relevante, como aqueles relacionados à estrutura familiar (por exemplo, as proporções de domicílios grandes ou de domicílios de mães solteiras têm relação negativa com mobilidade), características demográficas (por exemplo, proporções de domicílios em áreas rurais e a proporção de pessoas negras no município têm relação negativa com mobilidade), assim como as características dos domicílios (por exemplo, a proporção de domicílios em favelas tem uma relação negativa com mobilidade, enquanto a proporção de domicílios com uma única família tem uma relação positiva) e a infraestrutura local (por exemplo, o acesso à internet banda larga tem uma relação positiva com mobilidade).
Como discutimos na seção “Novas evidências sobre mobilidade de renda, desemprego e crime no Brasil”, as flutuações do mercado de trabalho afetam a pobreza e a desigualdade de renda dos domicílios, o que pode ter efeitos negativos sobre o desenvolvimento das crianças pequenas. Quando as mães e pais perdem o emprego, a família pode enfrentar mais dificuldades de criar um ambiente adequado para as crianças pequenas e, com isso, vários aspectos das suas vidas são impactados. Como isso acontece?
A perda do emprego leva a uma redução relevante e duradoura da renda da família. Um estudo mostra que a perda do emprego de um dos pais leva à redução dos rendimentos do trabalho em 45%, em média, após um período de dois anos, uma redução grande na comparação com países desenvolvidos[21]. Na Itália, Espanha e Portugal, por exemplo, a perda de emprego leva a uma redução entre 30% e 40% na renda dois anos após a demissão em comparação ao salário antes da demissão[22].
A redução da renda da família se desdobra em dois efeitos. Por um lado, as famílias recorrem a estratégias que envolvem os filhos, reduzindo as despesas com educação e aumentando a oferta de tralhado dos filhos. Nesse sentido, a demissão de um dos pais faz com que os filhos comecem a fazer trabalhos informais e, entre
os meninos, as atividades criminosas aumentam em 33% em relação ao período antes da demissão, na tentativa de compensar pela perda de renda da família. Entre as famílias mais ricas, a demissão de um dos pais leva à transferência dos filhos de escolas particulares para escolas públicas. Por outro lado, o estresse no interior do domicílio aumenta. A redução da renda faz com que os membros da família tenham que diminuir seus gastos, aumentando os níveis de estresse e gerando conflitos[21]. Há uma série de consequências para esses efeitos.
Em primeiro lugar, com a redução da renda, a perda do emprego dos pais faz com que os filhos piorem na escola. Dois anos depois da demissão, a taxa de abandono aumenta 6% e a taxa de distorção idade-série aumenta em 18%. Esses efeitos são mais fortes entre as famílias mais pobres e se acumulam ao longo do tempo: seis anos depois da demissão, eles triplicam em relação ao tamanho que tinham dois anos após a demissão. Os efeitos também variam conforme a idade das crianças. Entre as mais jovens, o impacto sobre a distorção idade-série é mais intenso, enquanto entre as mais velhas, o impacto sobre o abandono escolar é maior[21].
Uma segunda consequência é a piora da saúde dos homens que foram demitidos e dos filhos, por causas relacionadas a comportamentos de risco. No primeiro ano após a demissão, os homens têm 33% mais internações e 54% mais óbitos do que homens muito semelhantes, mas que não foram demitidos. Esses efeitos são explicados pelo aumento de comportamentos de risco, não criminais, que aumentam as internações por doenças isquêmicas do coração, violência e ferimentos, e a mortalidade por causas relacionadas a uso de álcool, drogas e cigarros, ferimentos, acidentes com veículos e violência. O estresse no interior do domicílio devido às demissões também pode explicar o impacto delas no número de internações dos filhos de até 18 anos por causas externas em 186% no primeiro ano após a demissão[23].
Uma terceira consequência é o aumento da violência doméstica nos domicílios em que há demissões de homens ou de mulheres. Esse resultado também é produto de outro efeito intermediário da demissão, o aumento do tempo de contato entre a possível vítima e o possível agressor no interior dos domicílios. Comparando pessoas semelhantes que perderam o emprego formal com pessoas que não o perderam, antes e depois da demissão, um estudo encontra que no Brasil as demissões de homens e mulheres causam aumentos de, respectivamente, 32% e 56% nas ocorrências de violência doméstica contra as mulheres. Esse efeito é pervasivo e ocorre em todas as classes de renda, faixas etárias e renda do agressor e em todas as áreas geográficas[24].8
8 O capítulo 6 deste livro apresenta detalhadamente modelos teóricos sobre como experiências adversas durante a primeira infância (como episódios de violência contra a criança) impactam negativamente o desenvolvimento infantil.
O desenvolvimento integral das crianças durante a primeira infância depende da construção de um ambiente familiar seguro e estável, em que os pais mantêm um cuidado responsivo aos filhos, geram oportunidades de exploração e aprendizado e garantem uma boa nutrição. Quando a criança passa por situações de estresse continuado no ambiente familiar, a resposta biológica a esses estímulos pode interferir no desenvolvimento da criança, gerando consequências negativas para toda a sua vida. Os efeitos de demissões no ambiente familiar geram alguns dos grandes riscos ao desenvolvimento infantil: falta de renda, que pode gerar situações de insegurança alimentar, o aumento do estresse e da violência entre as pessoas do domicílio.
O seguro-desemprego, uma política pública desenhada para aliviar algumas das consequências negativas das transições no mercado de trabalho, também acaba atenuando alguns dos efeitos negativos das demissões sobre o ambiente familiar. Entre os empregados formais, esse benefício realiza pagamentos mensais durante até cinco meses após a demissão, com o valor médio dos três últimos salários anteriores à demissão. Estudos recentes comparam empregados formais demitidos que eram elegíveis àquele benefício com aqueles que não eram, devido a restrições de tempo mínimo de pedido devido a pedidos anteriores, mas que eram muito semelhantes aos primeiros.
O seguro-desemprego reduz os efeitos negativos das demissões dos pais sobre a educação dos filhos, porém só parcialmente. Entre as crianças cujas mães ou pais foram demitidos, o seguro-desemprego é capaz de aumentar a taxa de matrícula entre as crianças mais velhas três anos após a demissão e de diminuir a atividade criminal dos filhos nesse período, porém ele não afeta a distorção idade-série nem a incidência de gravidez entre adolescentes. O seguro-desemprego também reduz o efeito de os pais que foram demitidos tirarem os filhos de escolas privadas para colocá-los em escolas públicas[18].
O seguro-desemprego também atenua os impactos negativos das demissões sobre a saúde dos homens adultos um ano após a demissão. Fazendo uma comparação entre os demitidos, aquele benefício reduz em 24% a mortalidade por causas externas dos homens mais jovens (com menos de 35 anos de idade) que foram demitidos e, entre os mais velhos que foram demitidos, reduz as internações e a mortalidade por causas externas em, respectivamente, 60% e 24%[23].
Em relação à violência doméstica, no entanto, o seguro-desemprego tem um efeito de aumentar a violência depois de alguns meses. Isso acontece porque, embora esse benefício reduza o efeito intermediário de diminuição da renda, ele também aumenta o tempo de desemprego e, com isso, o tempo em que os potenciais vítima e agressor convivem no domicílio. Em consequência, no primeiro semestre depois da demissão, o seguro-desemprego não tem nenhum efeito sobre a violência doméstica, mas no semestre
seguinte, aqueles que receberam o benefício têm uma probabilidade maior de estarem envolvidos com violência doméstica do que aqueles que não o receberam[24].
Em contraste, a multa paga pela empresa quando o trabalhador é demitido sem justa causa torna o efeito da demissão sobre a violência doméstica menor. Como a multa é paga de uma só vez, ela provavelmente não estende o período de desemprego e, por isso, só reduz o estresse da demissão devido à diminuição da renda. Há evidência de que quanto maior é a multa paga pela empresa em decorrência da demissão, menor é a probabilidade de ocorrência de violência[24].
Políticas públicas para o desenvolvimento infantil: evidências internacionais O papel de mães, pais e cuidadores é fundamental para o desenvolvimento infantil (DI). O DI pode ser visto como um processo de obtenção de habilidades diversas (motoras, de linguagem, cognitivas e socioemocionais), realizado em diversas fases conforme a idade da criança. Esse processo depende, a cada etapa, de vários insumos –por exemplo, alimentação adequada, abrigo adequado, tempo de interações com os mães e pais, a forma como as interações são realizadas –, e mães, pais e cuidadores possuem um papel fundamental, porque são eles quem escolhem os insumos e constroem o ambiente em que as crianças terão acesso a eles. Uma revisão de literatura traz evidências de que o investimento dos pais no desenvolvimento dos filhos de fato gera um aumento nas habilidades cognitivas e socioemocionais, saúde e renda quando a criança se torna adulta[3].9
O investimento de recursos e tempo das mães e dos pais não somente determina em grande parte o DI, mas também pode afetar desfechos de bem-estar, saúde, educação e renda na vida da criança quando ela se torna adulta. Isso acontece porque as habilidades adquiridas em algumas idades servem como alicerce para a obtenção de outras habilidades em idades maiores, o que pode acontecer entre tipos diferentes de habilidades. Por exemplo, níveis mais altos de habilidades socioemocionais (como autocontrole e a habilidades de estar focado em uma atividade) em crianças pequenas permitem que elas explorem oportunidades educacionais e então tenham maiores níveis de habilidades cognitivas em idades maiores[3].
Por conta dessa natureza escalonada da dinâmica do DI, programas de promoção da parentalidade que alteram os investimentos dos pais quando os filhos são ainda bebês geram efeitos sobre a escolaridade, renda e outros desfechos socioeconômicos quando esses filhos chegam na fase adulta. Um ponto fundamental é que esses programas não precisam necessariamente ter grandes quantidades de recursos fi-
9 Podemos diferenciar as práticas parentais entre positivas e negativas, dependendo da sua associação com o DI. As práticas de parentalidade positiva atendem às necessidades da criança de afeto, apoio, cuidados e sensibilidade. Veja o capítulo 5 deste livro para mais detalhes.
nanceiros por criança para gerar bons resultados de desenvolvimento. Eles podem ser implementados por pessoas não especialistas e que residem nas áreas em que o programa será implementado, o que reduz o custo e facilita a escalabilidade[3].
Para ilustrar esses pontos de forma concreta, discutiremos o Reach Up Early Childhood Parenting Program (vamos chamá-lo somente de Reach Up), um programa de promoção da parentalidade que foi baseado no programa Jamaica Home Visit, elaborado pela pesquisadora Sally Grantham-McGregor e implementado na Jamaica nos anos 1980.10 Desde então, o currículo desse programa foi adaptado e replicado em outros países em desenvolvimento: Bangladesh, China, Colômbia, Guatemala, Índia e até no Brasil. O programa foi desenhado para ser oferecido por pessoas não especialistas, que periodicamente fazem visitas domiciliares ou encontros em centros comunitários. Nessas sessões, as agentes do programa encorajam as mães a responder à vocalização das crianças pequenas e ensinam atividades que elas podem realizar com as crianças, que ajudam a promover o desenvolvimento infantil. As atividades são realizadas com o uso de materiais diversos disponíveis no domicílio e de baixo custo, como livros, brinquedos criados com garrafas de plástico e tecido. Elas também estimulam as mães a comemorar as pequenas conquistas de desenvolvimento dos filhos[3,25]
O Reach Up tem como princípios agir por meio dos pais, criando uma relação positiva para apoiá-los a reforçar habilidades para promover o desenvolvimento infantil; construir habilidades, promover a autoestima e a alegria das mães em ajudar seus filhos a brincar e aprender; treinar o visitador para ouvir as mães, perguntar sobre suas opiniões e sobre práticas com a criança, reconhecendo, encorajando e elogiando essas práticas; usar um currículo de práticas adequadas para cada fase do desenvolvimento; usar uma abordagem de demonstração e prática de atividades para construir as habilidades parentais.
O programa implementado na Jamaica é aquele que acompanhou as crianças por um período mais longo, até 20 anos depois da implementação. Nessa versão, o programa teve uma duração de 2 anos (1986 e 1987), abrangia crianças com entre 9 meses e 2 anos de idade que tinham déficit de crescimento e, além do pacote de promoção de parentalidade, o programa contava com uma suplementação nutricional. Avaliações desse programa encontraram efeitos positivos sobre habilidades cognitivas, motoras, de linguagem e de comportamento no final do programa, e um impacto positivo em habilidades motoras dois anos após o programa[26,27]. Além disso, uma avaliação feita 20 anos depois do programa encontra que o programa aumentou a renda dos participantes em 25%[19].
10 Para aqueles que têm interesse sobre o assunto, o capítulo 5 deste livro apresenta uma série de outros programas voltados para a parentalidade.
Uma revisão da literatura compara os programas Reach Up implementados em cinco países (Jamaica, Colômbia, Bangladesh – quatro cidades –, Índia – duas cidades – e China – dois períodos)[3]. Esse estudo indica que no geral os programas tiveram impactos positivos sobre o DI, mas até o momento há somente avaliações de curto prazo sobre eles. Há uma grande diversidade nas magnitudes de impactos e dos tipos de habilidade impactados, conforme o país em que ocorreu o programa, e essas diferenças podem decorrer da forma como ocorreu a implementação dos programas em cada contexto. Por exemplo, na Jamaica, o programa teve um impacto três vezes maior sobre as habilidades cognitivas do que na Colômbia ou em Bangladesh, e na Colômbia só houve efeitos significantes sobre as habilidades cognitivas e de compreensão de linguagem, mas não sobre habilidades motoras. As diferenças entre a implementação do programa nos países incluem:
● População-alvo: crianças desnutridas ou gravemente desnutridas na Jamaica e Bangladesh, crianças de famílias de baixa renda na Colômbia, Índia e China.
● Forma de entrega: em alguns locais, as sessões foram feitas em visitas domiciliares (Colômbia, uma das cidades da Índia, duas das cidades de Bangladesh) e em outros, em sessões em grupo ou em sessões em centros comunitários.
● Agentes do programa: em cada local, a escolha das agentes foi feita conforme a sustentabilidade e escalabilidade do programa no contexto local. Por exemplo, na Jamaica, foram paraprofissionais de saúde, na Colômbia, líderes comunitárias locais, e em Bangladesh, mulheres que residiam na comunidade.
Entre essas diferenças, a característica que parece ser mais relevante é a da população-alvo. Nos locais onde as crianças atendidas tinham déficits de crescimento, os efeitos foram maiores. Por exemplo, em uma das cidades da Índia, a comparação entre os efeitos entre crianças com déficits e outras crianças de famílias de baixa renda mostra que os efeitos sobre as primeiras foram o dobro em comparação às últimas. Outra característica que parece ser relevante para os efeitos é a educação das mães, porque mães mais educadas têm uma probabilidade maior de adaptar suas práticas parentais àquelas do programa[3].
Além disso, há evidência de que o programa parece agir principalmente por meio do aumento do investimento dos pais, em termos de tempo passado juntos, fazendo atividades adequadas para o desenvolvimento. Há uma mudança sobre o quanto os pais acreditam que o investimento nos filhos faz diferença em relação ao DI. Com a participação no programa, os pais passam a achar que aqueles investimentos fazem mais diferença e, com isso, melhoram o ambiente familiar, tornando-o mais propício ao DI[3].
No Brasil, o currículo do Reach Up foi adaptado ao contexto brasileiro por uma pesquisa no município de São Paulo (SP) em 2015, e essa adaptação foi escalada no município de Boa Vista (RR) desde 2017, complementando o Programa Criança Feliz. O estudo de São Paulo comparou crianças bebês com entre 9 e 17 meses de idade nascidas em um hospital público cujos pais receberam com aqueles cujos pais não receberam o programa. Nessa edição, o programa foi entregue por meio de visitas domiciliares a cada duas semanas, de forma diferenciada para famílias atendidas ou não pela Estratégia Saúde da Família (ESF). As famílias cadastradas na ESF receberam visitas de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da própria ESF, enquanto as demais famílias receberam visitas de agentes de desenvolvimento infantil (ADI) contratados para o estudo. Essa pesquisa encontra um efeito relevante do programa no sentido de melhorar habilidades cognitivas e de linguagem das crianças atendidas pelos ADI[28]. Em Boa Vista, apesar de a implementação do programa indicar que pode haver efeitos sobre o DI[29], ainda não há estudos de impacto publicados. As evidências sobre o programa Reach Up, especialmente no Brasil, mostram que programas que procuram aprimorar as habilidades parentais podem beneficiar as crianças pequenas e contribuir com o seu desenvolvimento. Iniciativas como essa são de relativo baixo custo e podem fazer uma grande diferença ao longo da vida das crianças beneficiadas.
Considerações finais
As desigualdades sociais no Brasil são grandes e os desafios parecem ainda maiores para as famílias com crianças pequenas. O período mais sensível e com maior retorno ao investimento no capital humano das crianças é durante a primeira infância e, apesar disso, as famílias com crianças pequenas são aquelas com a maior incidência de pobreza e pobreza extrema no Brasil. Entre essas famílias, ainda há grupos que passam por maiores privações, como as famílias cujas pessoas responsáveis têm baixa escolaridade ou são negros ou indígenas, e as famílias das regiões Norte e Nordeste. O Brasil tem baixos níveis de mobilidade de renda, que se refletem na perpetuação das desigualdades ao longo do tempo. Atrasos de desenvolvimento infantil também contribuem para a manutenção das desigualdades. Apesar dessas dificuldades, em alguns locais no Brasil condições como maiores níveis de educação estão associadas a maior mobilidade de renda. Além disso, há programas e intervenções que foram efetivos no sentido de reduzir atrasos de desenvolvimento. Com custo relativamente baixo, versões do Reach Up foram implementadas em múltiplos contextos e países em desenvolvimento e tiveram sucesso em melhorar as habilidades das crianças, mesmo sem intervir na renda das famílias. Uma combinação de programas, além disso, pode potencializar esses efeitos.
Há algumas evidências de que programas de promoção da parentalidade combinados com transferências de renda têm impactos positivos sobre as práticas parentais e sobre o desenvolvimento infantil[30]. As transferências de renda possuem um impacto sobre a família como um todo, aliviando as restrições orçamentárias, de forma que a família pode investir para melhorar as condições de vida (como ter acesso a saneamento, eletricidade ou alimentos), os adultos podem passar mais tempo brincando e interagindo com as crianças, ou podem investir mais na saúde, educação e nutrição da criança. Elas também atuam como uma proteção contra oscilações da renda da família, porque representam um fluxo contínuo, e contra a pobreza extrema[31].
As demissões e choques negativos de renda também podem ter efeitos negativos sobre o ambiente familiar e, com isso, sobre o desenvolvimento dos filhos. Medidas para aliviar a redução imediata de renda, como o seguro-desemprego e a multa, em casos de demissões de empregos formais sem justa causa, podem temporariamente reduzir alguns desses efeitos negativos, especialmente sobre a saúde dos pais e sobre o investimento na educação dos filhos. No entanto, é necessário ter atenção especial quando se trata de violência doméstica, que pode ter efeitos extremamente negativos sobre as crianças pequenas. Nesse sentido, um conjunto de estratégias de prevenção de violência contra crianças lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), chamado INSPIRE, pode contribuir para evitar esse tipo de ocorrência. São sete estratégias, cujas iniciais em inglês formam a sigla INSPIRE: implementação e cumprimento de leis, normas e valores, ambientes seguros, apoio a pais e cuidadores, reforço econômico e de renda, serviços de apoio e resposta, educação e habilidades de vida. As estratégias são interdependentes e, em conjunto, promovem prevenção primária e atuam sobre fatores de risco e de proteção, relacionados a quatro dimensões (social, comunitária, das relações interpessoais e individuais)[32].
Apesar dos grandes e múltiplos desafios de um país em desenvolvimento, a primeira infância no Brasil pode ser melhor para cada criança, menos desigual entre elas e pode criar uma sociedade com disparidades menores no futuro. É preciso interromper o ciclo de transmissão de pobreza e desigualdades investindo hoje nas crianças que mais precisam e garantindo condições para que as famílias consigam criar o melhor ambiente para que seus filhos atinjam o seu pleno desenvolvimento.
CAPÍTULO 2 Plasticidade epigenética e
desenvolvimento infantil
Gisele Rodrigues Gouveia
Caroline Camilo
Helena Brentani
Programação fetal e desenvolvimento infantil
A teoria denominada Origens Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença (DOHaD)[33] foi descrita pelo pesquisador David Barker, que observou que bebês de gestantes que sofreram restrições alimentares, por exemplo, poderiam apresentar crescimento inadequado e baixo peso ao nascer, que estão associados à maior probabilidade de desenvolver doenças crônicas como distúrbios metabólicos, obesidade, câncer e transtornos psiquiátricos na vida adulta[34]. O desenvolvimento infantil se refere às mudanças físicas, sociais, psicológicas e emocionais da criança que marcam cada etapa da vida. A primeira infância, que se inicia durante a gestação e vai até os 6 anos de idade, é uma etapa crucial no desenvolvimento humano, especialmente os primeiros mil dias de vida, que compreendem a gravidez e os 2 primeiros anos de idade. Inserido no contexto da DOHaD surge o conceito de programação fetal. Existe uma plasticidade biológica dos organismos que tenta ajustar o seu fenótipo, ou seja, as características observadas do indivíduo, ao seu ambiente a curto e longo prazo[35] para maximizar sua adaptabilidade e sobrevivência. Assim podemos entender que
os primeiros mil dias representam duas janelas de vulnerabilidade para o neurodesenvolvimento: (1) A gestação, pois é quando ocorre todo o processo de geração, divisão e diferenciação celular, fundamental para o desenvolvimento do feto, sendo o cérebro muito vulnerável dada sua velocidade de crescimento e grande complexidade estrutural e funcional a ser atingida; (2) O início da vida extraútero também é um momento de vulnerabilidade, pois muitos sistemas orgânicos como a conectividade intra e entre áreas cerebrais vão se organizar, dependendo de exposições ambientais. Além disso, o momento da gestação em que ocorre a exposição ao fator ambiental, bem como a sua duração, podem se associar com desfechos diferentes do desenvolvimento infantil[36]. Um estudo que seguiu gestantes durante a Fome Holandesa, por exemplo, demonstrou que os bebês das gestantes que passaram por alta restrição calórica no meio ou final da gestação tiveram menor peso ao nascer e, na idade adulta, apresentaram tolerância reduzida à glicose. Já aqueles cujas mães passaram pela fome no início da gestação tinham peso normal ao nascer e na idade adulta apresentavam um perfil lipídico mais aterogênico e um índice de massa corporal (IMC) mais elevado[37]. Também é importante ressaltar que o sexo do bebê interfere com os diferentes desfechos do desenvolvimento, com possíveis respostas diferentes ao expossoma gestacional[38]. Normalmente não pensamos na placenta com sexo específico, mas ela vai ter o mesmo sexo que o feto, respondendo diferentemente ao estresse de acordo com seu sexo.
Além da fome e desnutrição, outras adversidades durante a gestação já foram associadas a piores desfechos de saúde, incluindo exposição a glicocorticoides (hormônios esteroides) e agentes químicos, baixa concentração de oxigênio, estresse, inflamação, infecção, baixo status social, ansiedade e depressão (Figura 2.1). Foi mostrado, por exemplo, que a exposição pré-natal à ansiedade, depressão ou estresse materno influencia negativamente o desenvolvimento neurocomportamental da prole[39]. Variações do ambiente externo podem levar a alterações metabólicas, do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) e sistema inflamatório do corpo da mãe, que são percebidas pelo feto e podem gerar alterações em seu funcionamento e crescimento. Assim, as respostas do organismo fetal tentam “programar” o desenvolvimento do feto para prepará-lo ao ambiente após o nascimento, ou seja, “pensando que as adversidades continuem a acontecer”. Uma teoria importante nesse contexto considera o “mismatch” do ambiente intrauterino com o extraútero, fator que pode influenciar no aparecimento de doenças. Por exemplo, a resposta do feto à mãe que passa fome é mudar seu crescimento e regular seu organismo para estar preparado para um ambiente com pouca comida. Quando durante a vida ele não encontra pouca comida, mas sim o que para ele é um excesso, seu corpo estaria menos preparado para isso e ele pode acabar doente, ficando obeso.
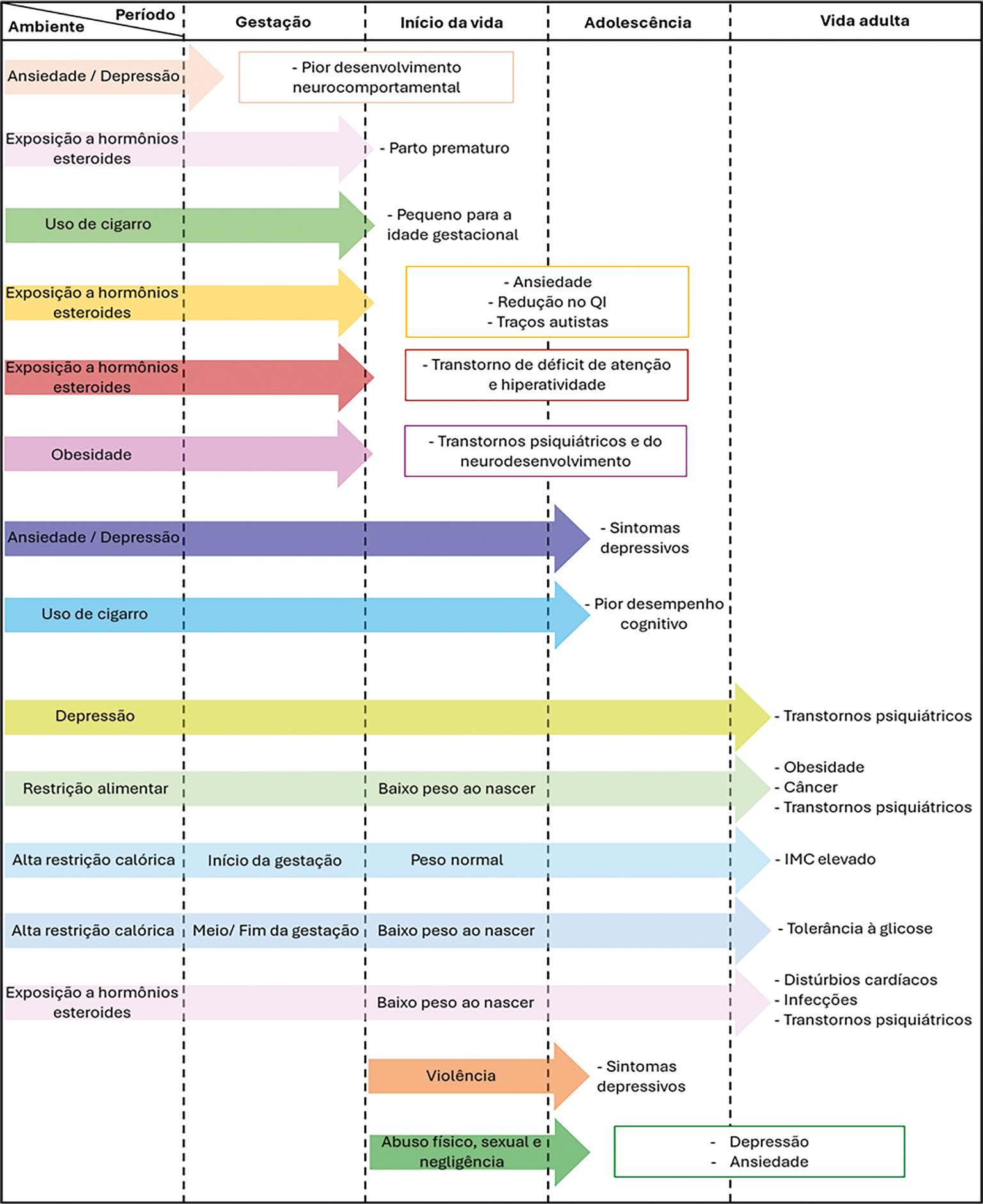
Figura 2.1 A exposição a diferentes adversidades durante a gestação e primeira infância pode aumentar o risco de diferentes desfechos nos descendentes. Não apenas o tipo de adversidade, mas o momento em que ela ocorre e a duração também estão relacionados com os resultados de saúde ao nascimento, infância e idade adulta. Fonte: elaboração própria.
Epigenética
Após diversos estudos sobre a teoria DOHaD, os pesquisadores começaram a buscar os mecanismos moleculares envolvidos nessa programação da saúde ao longo do desenvolvimento infantil. Durante muito tempo acreditou-se que o desenvolvimento era determinado apenas pela herança genética dos pais. Mas há alguns anos tem sido discutido o quanto o ambiente ao qual a criança está exposta durante a gestação e após o nascimento pode fornecer experiências que modificam quimicamente o controle da expressão dos genes do seu genoma, definindo quando, o quanto e onde eles serão expressos. O termo “epigenética” foi descrito pela primeira vez na década de 1940 pelo pesquisador Conrad Waddington. Ele observou que os fenótipos poderiam ser estabelecidos permanentemente no pool genético da população, por ação de fatores ambientais, ou seja, a variabilidade genética e o ambiente podiam interagir e definir o destino de uma célula.
A epigenética é o campo da ciência que investiga os processos moleculares que regulam o nível de atividade (controle da expressão) dos genes sem alterar a estrutura do DNA (sigla para ácido desoxirribonucleico)[40]. Dessa forma, enquanto a genética está associada à sequência do DNA, a epigenética nos permite compreender, por exemplo, como as células de diferentes tecidos, que possuem o mesmo DNA, expressam genes e proteínas diferentes, resultando em morfologias e funções diferentes (Figura 2.2).
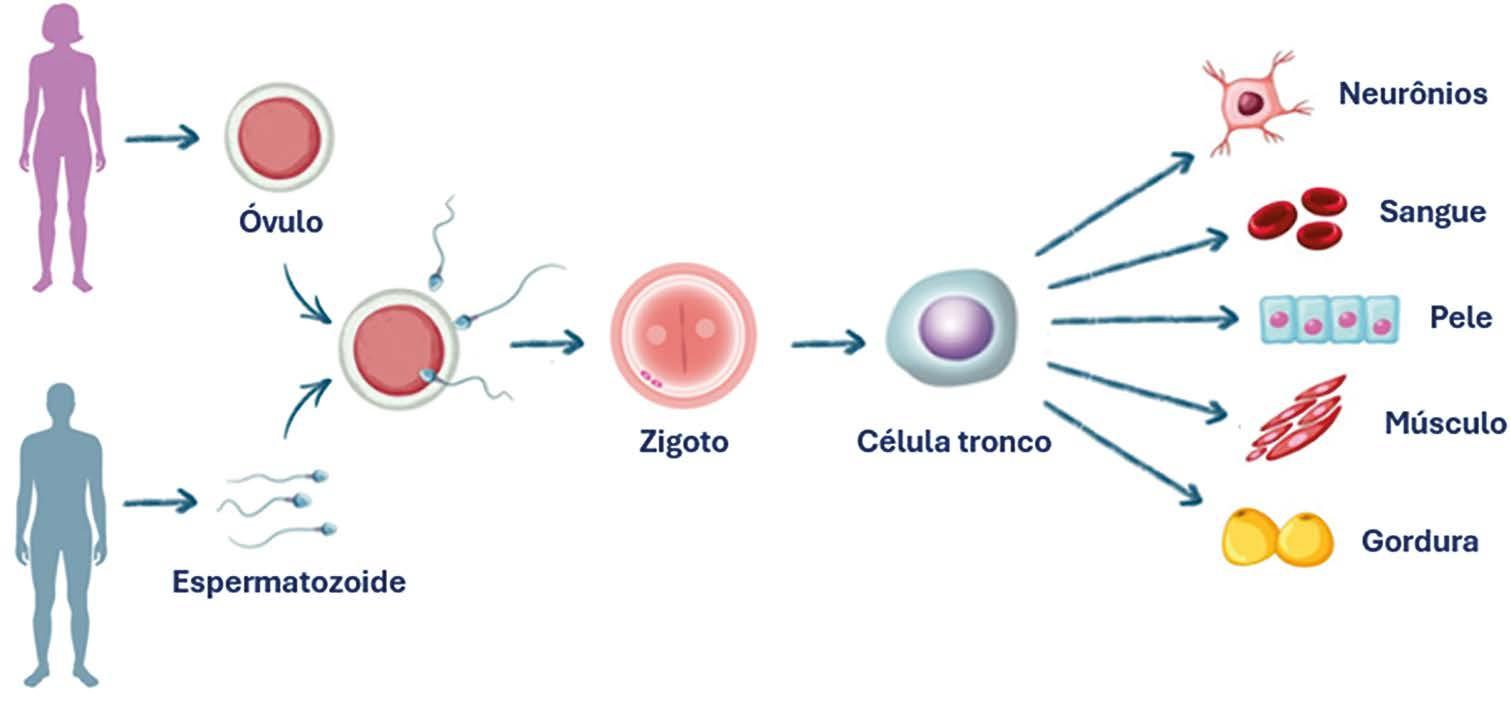
Figura 2.2 Após a fecundação (junção do óvulo com o espermatozoide) ocorre a formação do zigoto. As células formadas possuem sempre o mesmo DNA e, por meio de mecanismos epigenéticos, diferentes genes são expressos, formando células com morfologias e funções diferentes.
Fonte: elaboração própria.
Os processos epigenéticos não são restritos a uma fase específica da vida, ou seja, são modificações que ocorrem desde a formação dos gametas e continuam a acontecer
durante a vida. Toda vez que uma célula do nosso corpo precisa tomar a decisão de se ela vai se dividir dando origem a células iguais à original ou se ela vai se diferenciar, ou seja, se tornar mais específica para uma atividade, existem mecanismos epigenéticos associados. Assim, durante o desenvolvimento, o DNA acumula marcas químicas que deixam uma assinatura epigenética única, conhecida como epigenoma. Nem todas as assinaturas epigenéticas são permanentes. As experiências vividas podem reorganizar essas marcas químicas, o que explica, por exemplo, por que gêmeos idênticos podem mostrar comportamentos, habilidades e condições de saúde diferentes[40].
Ainda que mais recentemente a ação de microRNAs também possa ser entendida como um mecanismo epigenético, vamos nos concentrar nas modificações das histonas e metilação do DNA. As modificações epigenéticas ocorrem principalmente na estrutura conhecida como “cromatina”, que envolve o DNA, proteínas conhecidas como “histonas” e outras proteínas, e está localizada no núcleo de todas as células. O genoma humano contém mais de 3 milhões de pares de bases de DNA, por isso, para estar no núcleo da célula, ele precisa estar compactado. Formam-se octâmeros de histonas (conjuntos de oito histonas), e o DNA fica enrolado nelas, ou nucleossomos, por isso muitas vezes falamos que o DNA no núcleo parece um “colar de pérolas”. Os nucleossomos também sofrem modificações para que o material genético fique compactado no núcleo. Assim, modificações químicas nas histonas são responsáveis pela abertura e fechamento da cromatina. Na maioria das vezes, quando a cromatina está fechada, ou compactada, ela é inativa, ou seja, não permite a expressão dos genes. Já em seu estado aberto, a cromatina está ativa e permite acesso de toda uma maquinaria de regulação das células com o DNA, promovendo a expressão dos genes. Além das modificações das proteínas das histonas, a estrutura da cromatina também é regulada por outro mecanismo, conhecido como “metilação do DNA”. A metilação do DNA é a modificação epigenética mais conhecida e mais bem estudada até o momento. Nela, ocorre uma reação química com a adição de um grupo metil (CH3) em uma das bases que formam o DNA (citosina)[41] (Figura 2.3). Assim como todo o epigenoma, a metilação do DNA é um processo dinâmico por natureza, e seus padrões podem mudar em resposta a influências ambientais e fatores de estilo de vida, tanto por experiências negativas, como exposição a toxinas, falta de nutrientes ou circunstâncias estressoras, como por experiências positivas, como relacionamentos de apoio e oportunidades de aprendizagem.
Voltando ao exemplo citado acima da criança cuja mãe passou fome na gestação, alterações epigenéticas associadas a maquinaria de controle de expressão gênica preparam as células do feto para funcionar no modo “pouca comida”; assim, genes expressos quando há muita comida seriam programados para serem menos ativos.
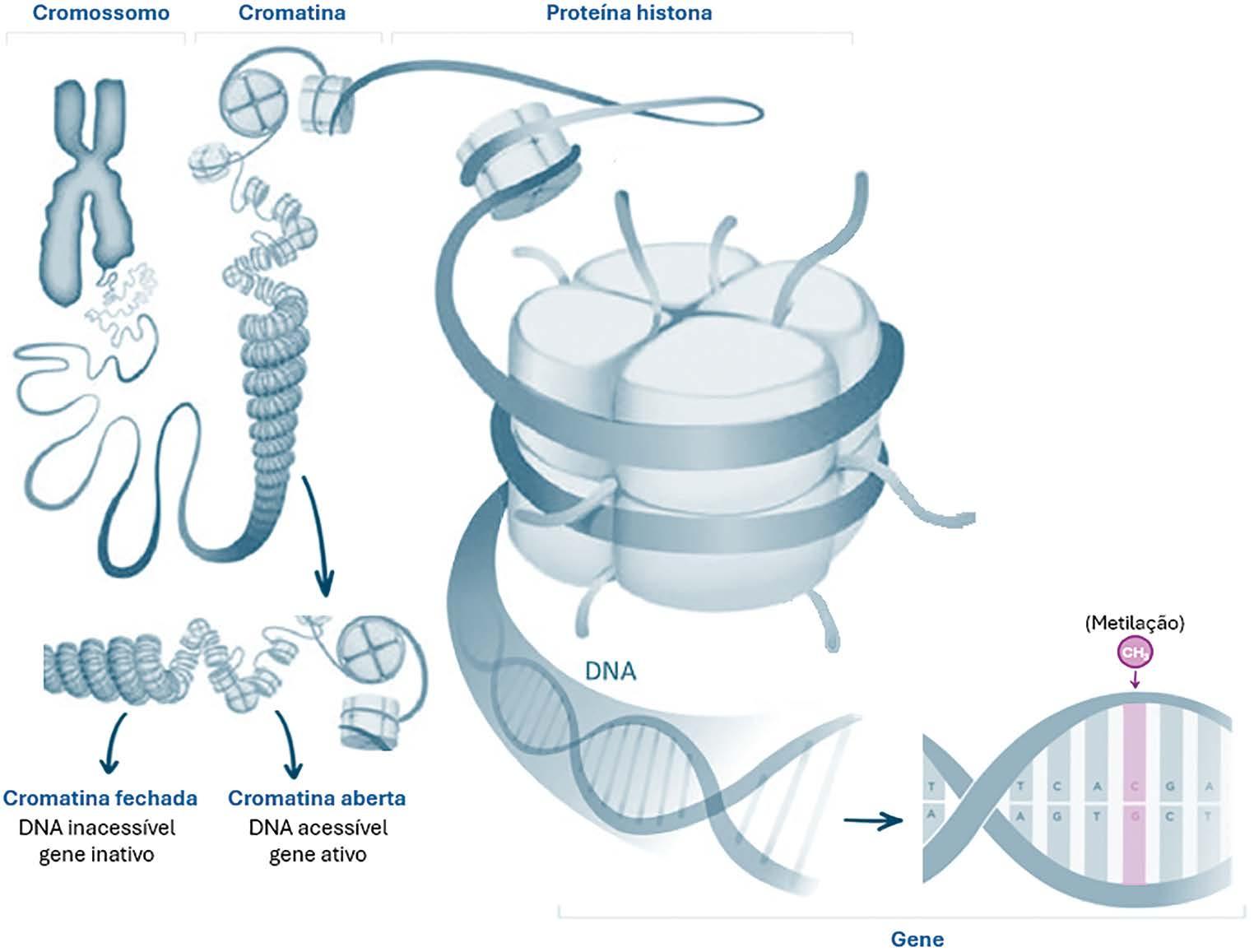
Figura 2.3 Esquema da compactação do DNA até a formação dos cromossomos. O DNA se enrola em um conjunto de proteínas histonas, formando a cromatina, que em seu estado aberto fica acessível permitindo o acesso ao DNA e a expressão dos genes, e em seu estado fechado fica inativa, tornando o DNA inacessível e não permitindo a expressão do gene. Em seu maior estado de empacotamento, a cromatina se compacta formando os cromossomos. As caudas na cor laranja representam as caudas das histonas, que sofrem modificações químicas. Também em laranja podemos ver a adição de um grupo metil (CH3) na base C da fita de DNA.
Fonte: traduzida e adaptada de Haarhaus et al. (2020).[42]
Períodos de programação epigenética ao longo do desenvolvimento
O epigenoma garante a plasticidade do nosso genoma ao longo da vida, mas também é suscetível à desregulação ao longo da vida. No entanto, durante a embriogênese, processo por meio do qual o embrião é formado e se desenvolve, ocorre uma remodelação epigenética muito importante, tornando a gestação um momento de grande vulnerabilidade[43].
A reprogramação do epigenoma durante essa fase inicial do desenvolvimento pode ser dividida em três etapas principais: a primeira começa com os espermatozoides do pai e óvulos da mãe por meio da gametogênese, processo de formação das células reprodutivas (F0); a segunda ocorre após a fecundação (F1), em que padrões de metilação do DNA provenientes do epigenoma dos pais são apagados, reprogramados, para dar origem aos diferentes tecidos e órgãos do concepto. É importante
notarmos que o processo de metilação das células que vão dar origem a células reprodutivas no embrião (F2) é diferente, pois sua reprogramação começa intraútero mas vai terminar após o nascimento, em idades diferentes para meninos e meninas (Figura 2.4)[43].
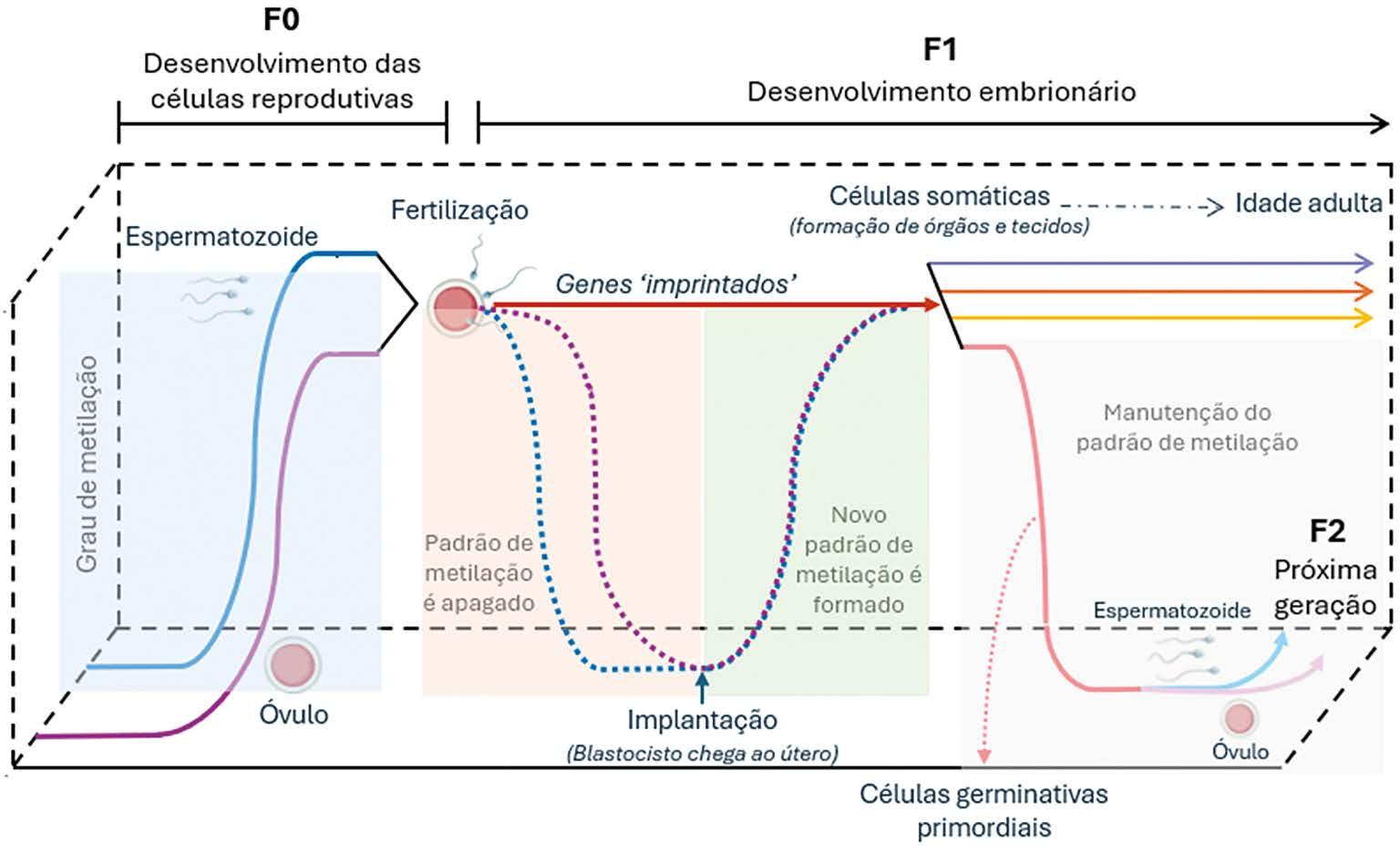
Figura 2.4 Esquema ilustrando as três fases de programação epigenética no início da vida: em F0, ocorre a formação das células reprodutivas do pai (espermatozoides) e da mãe (ovócitos); F1 é a segunda etapa, que ocorre após a fecundação, em que padrões de metilação do DNA herdados dos pais são apagados e reprogramados; F2 é a fase em que ocorre a manutenção da metilação e desenvolvimento de células reprodutivas no embrião.
Fonte: traduzida e adaptada de Perera e Herbstman (2011).[43]
Após a fecundação e antes da implantação (F1), momento que o embrião chega até o útero e se fixa ao endométrio para dar início à gestação, os genomas de origem paterna e materna são submetidos a um processo de reprogramação: após a formação do zigoto, célula formada após a união do espermatozoide com o óvulo, os cromossomos de ambos os pais são desmetilados por um mecanismo que apaga a maior parte das marcas de metilação, com exceção de um grupo de genes chamados “genes imprintados”, que retêm o perfil de metilação da mãe ou do pai. A maioria dos genes imprintados conhecidos são expressos na placenta e, embora representem apenas 0,1% a 0,5% do genoma, eles têm um papel essencial no desenvolvimento inicial. Como a placenta é a principal fonte de nutrientes para o crescimento do feto, ao regular o crescimento da placenta e a transferência de nutrientes, os genes imprintados podem influenciar a alocação de recursos materno-fetais e a resposta adaptativa da placenta aos desafios ambientais que alteram a disponibilidade de nutrientes no útero. Assim, a desregulação da expressão desses genes pode causar,
por exemplo, anormalidades de desenvolvimento da placenta ao atuar como sensores de nutrientes na regulação epigenética. Alterações no padrão de metilação desses genes podem gerar o que chamamos de doenças de imprinting, normalmente associadas com distúrbios de crescimento do feto e na programação do desenvolvimento infantil[44,45].
No próximo estágio, chamado de blastocisto (quinto dia após a fecundação) e antes da implantação na parede uterina (cerca de sete dias após a fecundação), os padrões de metilação são iniciados[46,47]. Como dito anteriormente, toda vez que uma célula decide se ela cresce ou se divide, existem mecanismos epigenéticos associados. Assim, após a implantação, mecanismos epigenéticos são fundamentais para diferenciação dos tecidos e formação dos órgãos (organogênese). A manutenção das marcas epigenéticas adquiridas é crucial para a manutenção da identidade celular, desenvolvimento e crescimento do feto[47]. Erros no processo de reprogramação e/ ou manutenção das marcas epigenéticas podem ocorrer por exposições ambientais, tendo diferentes impactos dependendo da fase do desenvolvimento fetal em que ocorrem[48]. Além disso, mecanismos epigenéticos são importantes para modular os mecanismos hormonais maternos, reduzindo comportamentos sexuais, aumentando a ingestão de alimentos e começando a preparar o organismo materno para o parto, a amamentação e os comportamentos de maternagem, que é o vínculo necessário entre mãe e bebê para atender às necessidades físicas e psíquicas para um desenvolvimento emocional saudável.
Porém, a história da programação epigenética do desenvolvimento não termina no nascimento, pois essa programação ainda pode ocorrer no período pós-natal por eventos como alimentação, cuidados maternos e experiências nos primeiros anos de vida, especialmente, durante a primeira infância. Muitas das diferenças epigenéticas que surgem durante o desenvolvimento podem contribuir para respostas ao estresse ao longo da vida. Influências ambientais durante o início da vida pós-natal podem se associar, por exemplo, a alterações na metilação do DNA nas regiões promotoras dos receptores de glicocorticoides, um dos principais hormônios do estresse[48]. Estudos em animais mostraram que filhotes cuidados por ratas que não são suas mães biológicas (garantindo que esse não é um efeito exclusivamente genético), mas que apresentam comportamentos de cuidados maternos, como lamber, tocar, amamentar e construir o ninho adequado, apresentam maior plasticidade nas respostas fisiológicas a novos estressores, ou seja, menor vulnerabilidade ao estresse ao longo da vida. O cuidado materno é importante fator de modulação epigenética e tem sido considerado um importante determinante da resiliência ou vulnerabilidade dos bebês e crianças a eventos estressores[49].
Um estudo que avaliou ratos como modelo biológico de maus-tratos na infância mostrou que, após o nascimento, filhotes recém-nascidos expostos a cuidadores estressados exibiram comportamentos abusivos e várias diferenças de metilação em genes relacionados ao estresse[48]. Estudos em humanos também relataram que o abuso infantil ou a negligência na infância estão associados com alterações epigenéticas, em genes importantes para o desenvolvimento e maturação da conectividade cerebral, e efeitos potencialmente graves e deletérios a longo prazo no desenvolvimento cognitivo, socioemocional e comportamental da criança[50]. Estima-se que 2 em cada 10 crianças sofram alguma forma de abuso durante a infância, incluindo maus-tratos, abuso, violência, negligência e separação ou perda de um dos pais, por exemplo[51]. No Brasil, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2024) mostram um aumento da violência na primeira infância entre os anos de 2022 e 2023, incluindo maus-tratos (aumento de 25,1%), estupro (11,1%), abandono (34%) e agressões (9,4%)[52].
Alterações do eixo HPA, sistema inflamatório e sistema ocitonérgico fazem a mediação da exposição ao estresse e mecanismos celulares epigenéticos, podendo alterar trajetórias do neurodesenvolvimento
Durante a gravidez, primeira infância e adolescência ocorrem o desenvolvimento e a maturação do sistema nervoso central. Assim, por um período de tempo longo, a plasticidade cerebral pode ser influenciada por exposições ambientais positivas e negativas. A exposição a fatores adversos está associada com o maior risco de desenvolver transtornos mentais em etapas posteriores da vida[53]. O estresse materno, por exemplo, é uma importante exposição ambiental, já que estudos demonstram que cerca de 30% das mulheres grávidas relatam estresse social, emocional e de saúde mental na sua vida quotidiana, incluindo tensão no trabalho e sintomas depressivos ou de ansiedade[54]
O estresse pode causar desde alterações benéficas ou inofensivas até consequências prejudiciais, dependendo de muitos fatores, como duração e intensidade do estresse, tipo de estresse e diferenças genéticas individuais. O cortisol é um hormônio muito importante para a regulação metabólica dos indivíduos, tendo também um papel fisiológico na gestação. Assim, existe naturalmente um aumento de cortisol no fim da gestação, que é muito importante para, por exemplo, preparar o pulmão do bebê para respirar quando ele nasce e não tem mais um cordão umbilical. Diante de uma situação de estresse, o corpo libera mais cortisol do que o normal para promover uma reorganização metabólica, física e psíquica do indivíduo, garantindo que ele possa ter uma resposta à exposição ambiental para, por exemplo,
se proteger de situações de perigo. No entanto, uma desregulação da liberação de cortisol pode fazer com que após o estresse o corpo não consiga voltar ao seu estado basal, e consequentemente pode sofrer alterações.
O aumento desse hormônio pode levar ao desenvolvimento de várias condições adversas, como maior risco de parto prematuro, aumento do risco de desenvolvimento de transtornos mentais como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) ou ansiedade desde a infância até a adolescência, além de reduções pequenas, mas significativas, nas pontuações do quociente de inteligência (QI), desenvolvimento menos avançado da linguagem aos 5 anos de idade, bem como maior probabilidade de traços autistas em crianças em idade escolar[48,54].
Transtornos psiquiátricos maternos, além de contribuírem para uma suscetibilidade genética, também podem afetar a saúde mental dos filhos, por vias de programação comportamental e/ou hormonal. A ansiedade e depressão maternas, por exemplo, já foram associadas a anormalidades comportamentais em crianças de 6 a 7 anos e sintomas depressivos em adolescentes de 14 e 15 anos[48]. Um estudo observou uma associação entre traumas maternos na infância, ansiedade e depressão com os níveis de cortisol da mãe durante a gestação. A ansiedade materna e os níveis de cortisol durante a gestação também estavam relacionados com o cortisol infantil e a metilação do DNA de genes de resposta ao estresse nos filhos aos 12 meses de idade[55].
Durante a gravidez, a resposta do feto ao estresse é imatura e depende fortemente de informações do organismo materno e da placenta. Apenas no final da gestação o feto torna-se capaz de produzir hormônios em resposta ao estresse[56]. Um componente importante da resposta ao estresse é o eixo HPA, um mecanismo neuroendócrino (constituído por uma porção do sistema nervoso e uma porção do sistema endócrino) que regula diversos processos fisiológicos, como metabolismo, resposta imune e sistema nervoso autônomo. O eixo HPA começa a se desenvolver já na vida fetal. Porém, quando ocorre a exposição precoce do feto ao excesso de hormônios de resposta ao estresse, podem ocorrer alterações no desenvolvimento adequado do eixo HPA, o que pode ser prejudicial para o feto mais tarde na vida, pois leva a alterações fisiológicas anormais, aumentando assim o risco de doenças[56].
A placenta possui um mecanismo de barreira para controlar a passagem desse aumento de cortisol da mãe para o bebê, protegendo o feto de uma superexposição durante o desenvolvimento inicial e permitindo uma regulação rigorosa da transferência de cortisol materno-fetal[57]. Mas, diante de situações estressoras como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e HIV, essa barreira pode ficar comprometida, o que pode causar, por exemplo, prejuízos ao desenvolvimento do cérebro dos bebês, com risco aumentado para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos e dificuldades
cognitivas[58–60]. O estresse materno durante a gravidez também pode alterar permanentemente a sensibilidade e a resposta ao estresse ao longo da vida, por meio de efeitos na metilação do DNA de genes relacionados à plasticidade cerebral e regulação endócrina[48].
Diversos estudos demonstraram que gestantes submetidas ao estresse crônico apresentaram elevação de marcadores inflamatórios sanguíneos, que, em conjunto com a regulação do eixo HPA, contribuem para aumento da vulnerabilidade do sistema nervoso central do feto em desenvolvimento. Seja intraútero ou nos primeiros anos de vida, a desregulação do eixo HPA ou de citocinas inflamatórias que ocorrem em função do estresse podem exercer efeitos tóxicos no desenvolvimento da conectividade em diferentes áreas cerebrais. O hipocampo, que desempenha um papel crítico no condicionamento do medo, possui uma alta densidade de receptores de glicocorticoides e é, portanto, particularmente vulnerável aos efeitos prejudiciais do estresse. Já o córtex pré-frontal, que regula o comportamento direcionado a objetivos e está envolvido na inibição de impulsos e na regulação emocional, apresenta-se reduzido em crianças que foram expostas a estresse ou maus-tratos. Alterações também foram observadas na amígdala, região do cérebro que desempenha um papel crítico no condicionamento do medo, processamento emocional e na memória para eventos emocionais. É importante considerar que o desenvolvimento e a maturação das conexões entre e intra-áreas cerebrais também é muito dinâmico. Mais uma vez o tipo e quando ocorre a exposição a estressores vai afetar de forma diferente áreas ou circuitos cerebrais mais ou menos vulneráveis, de acordo com seu estágio de desenvolvimento[51].
Outro fator importante no desenvolvimento cerebral é o hormônio ocitocina, envolvido na regulação e no estabelecimento do importante vínculo entre mãe e bebê citado anteriormente, além de comportamentos sociais positivos como confiança e empatia. Estímulos físicos, táteis e olfativos, essenciais no vínculo materno-infantil, atuam na programação epigenética do sistema ocitonérgico, e seus efeitos no cérebro[50]. Assim, a programação do sistema ocitonérgico no início da vida estará relacionado com a variabilidade das nossas respostas sociais.
Relógios epigenéticos
A metilação do DNA também tem sido utilizada como uma importante ferramenta para determinar a “idade biológica” (ou “idade epigenética”) dos indivíduos. Diferentemente da idade cronológica, medida desde o nascimento, a idade epigenética reflete o impacto de fatores ambientais no processo de envelhecimento biológico. O “relógio epigenético”, que permite estimar essa idade epigenética com base nos níveis de metilação do DNA, fornece informações sobre como influências ambientais e
fatores de estilo de vida podem influenciar no envelhecimento epigenético. À diferença entre a idade cronológica e a idade epigenética damos o nome de “aceleração de idade epigenética”, capaz de predizer com mais precisão resultados prospectivos de saúde, fatores de risco de envelhecimento, doenças relacionadas à idade na vida adulta e morbidade/mortalidade[61]
Relógios epigenéticos também foram desenvolvidos para estimar com precisão a idade gestacional, medida usada como um indicador fundamental do desenvolvimento neonatal, e a aceleração da idade gestacional, buscando avaliar o desenvolvimento fisiológico do feto e todo o ambiente perinatal, desde a gestação até o período pós-parto. As características pré-natais e do nascimento podem afetar a aceleração da idade gestacional dos recém-nascidos[62]. Características maternas como tabagismo na gravidez, peso, índice de massa corporal (IMC) e nível de colesterol podem estar associadas com alterações na aceleração da idade epigenética do feto ao nascimento, podendo ter efeitos até a adolescência, por exemplo na maturação sexual[62–68]. É importante notar que enquanto alguns estudos relatam a aceleração da idade epigenética, outros relatam uma desaceleração desta, considerando diferentes expositores, assim como diferenças entre sexos. Recentemente, usando os níveis de metilação de diferentes genes de forma agregada, foram criados índices de exposição materna à inflamação e cortisol durante a gestação. Esses índices foram associados à aceleração da idade epigenética do feto, com efeitos diferentes entre os sexos, ou seja, a aceleração da idade metilômica ao nascimento ou sua desaceleração podem indicar respostas diferentes entre os sexos, maximizando ou não sua adaptabilidade frente à exposição a estressores[61].
A exposição a adversidades na primeira infância também foi associada a alterações da aceleração da idade epigenética. Crianças expostas à violência, por exemplo, apresentaram aceleração de idade epigenética, que por sua vez estava associada com o desenvolvimento precoce da puberdade e maiores sintomas depressivos[69]. Maior aceleração da idade epigenética também foi observada em crianças expostas ao bullying, abuso e negligência emocional, abuso físico, abuso sexual e problemas relacionados aos pais[70]. Outro estudo observou não só o aumento da aceleração da idade epigenética em crianças expostas a abuso físico, abuso sexual e negligência como também uma associação entre esse aumento da aceleração da idade com sintomas graves de depressão e ansiedade[71].
Implicações práticas e desafios científicos
Como discutido ao longo deste capítulo, a literatura atual nos mostra a importância da união entre a genética e o ambiente no desenvolvimento infantil. As suscetibilidades genéticas têm um papel importante mesmo nas respostas epigenéticas. As
alterações epigenéticas fornecem uma “memória” das respostas adaptativas do desenvolvimento, tanto na vida intrauterina como nos primeiros anos de vida, e são fundamentais para as diferentes trajetórias do desenvolvimento infantil.
Essas pesquisas sobre estudos epigenéticos são essenciais na busca de marcadores biológicos de resultados de saúde a longo prazo, como o risco de piores resultados de neurodesenvolvimento e desenvolvimento de doenças crônicas. Além disso, como essas alterações genéticas não são modificações definitivas, esses conhecimentos são essenciais para estudos de intervenções precoces, que podem ser importantes para reverter os riscos de piores resultados de saúde e melhorar o desenvolvimento infantil[72].
Por fim, na prática clínica, as alterações epigenéticas, especialmente a metilação do DNA, têm sido sugeridas como potenciais marcadores pré-sintomáticos precoces de risco do neurodesenvolvimento. Em distúrbios neurocomportamentais que se manifestam na primeira infância, como o transtorno do espectro autista (TEA) e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), intervenções precoces são importantes para melhorar a saúde mental a longo prazo. O estudo sobre a metilação do DNA pode oferecer novas possibilidades para rastrear o estado da doença e a saúde ao longo do tempo, o que pode ser útil para a detecção precoce de riscos, estratificação dos pacientes e resposta ao tratamento[73,74]. No entanto, alguns pontos como tamanho da amostra, técnicas específicas, definição do que é e como medir estresse, inclusão de diferentes ancestralidades e modelos matemáticos para avaliar a interação da genética com o ambiente ainda são desafios científicos importantes. Espera-se que os avanços de conhecimento na pesquisa epigenética revolucionem cada vez mais a prática clínica, proporcionando, além de novas ferramentas de diagnóstico e tratamento, a prevenção por meio da adoção de intervenções precoces e da implementação de programas de saúde pública.
CAPÍTULO 3
Impactos da alimentação e nutrição
no desenvolvimento infantil
Juliana Araujo Teixeira Sonia Isoyama Venancio
Este capítulo aborda a alimentação e nutrição como aspectos essenciais para a saúde e desenvolvimento infantil, destacando a alimentação saudável como direito humano e como um dos componentes dos cuidados integrais propostos pela OMS, UNICEF e Grupo Banco Mundial (Nurturing Care Framework). O conceito dos primeiros 1.000 dias de vida é explorado, com ênfase na importância da nutrição desde o período pré-gestacional até os primeiros anos da infância.
A seção sobre nutrição materna aborda os períodos pré-gestacional e gestacional, ressaltando a importância de uma alimentação saudável para mães e pais antes e durante a gravidez. Em relação à nutrição infantil, o capítulo discute o papel da amamentação e da introdução de alimentos complementares saudáveis na garantia da nutrição adequada na primeira infância.
O texto também examina as desigualdades sociais e os desafios para a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável no Brasil. Insegurança alimentar, desvios nutricionais em gestantes e crianças, bem como impactos no desenvolvimento infantil, são analisados à luz de dados científicos. A influência da indústria de alimentos e de práticas de marketing também é abordada.
Além disso, o capítulo explora estratégias de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável no Brasil. Isso inclui ações como a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, os bancos de leite humano, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL), as Salas de Apoio à Amamentação e as legislações trabalhistas favoráveis à maternidade.
Em resumo, o capítulo oferece uma visão abrangente dos aspectos essenciais da nutrição infantil, bem como os desafios e estratégias para promover uma alimentação saudável e o desenvolvimento infantil no Brasil.
Introdução
O desenvolvimento na primeira infância (DPI), que abrange o período desde o nascimento até os 6 anos de idade, é fundamental para estabelecer as bases de uma vida saudável. As crianças que atingem seu pleno potencial de desenvolvimento nesse estágio apresentam melhores indicadores de saúde física e mental, além de um desempenho escolar superior. Na vida adulta, são mais produtivas no trabalho e experienciam um maior bem-estar social[1]. Durante esses primeiros anos de vida, o crescimento físico e cerebral ocorre de maneira intensa e acelerada. Cerca de 90% do crescimento cerebral acontece até os 5 anos de idade, com a formação de bilhões de novas conexões neurais. Além disso, é nesse período que as crianças começam a se relacionar com as pessoas e aprendem rapidamente explorando o mundo ao seu redor. Porém, infelizmente, algumas crianças não têm a oportunidade de se desenvolver plenamente. Nos países de baixa e média renda, 43% das crianças com menos de 5 anos estão em risco de ter seu desenvolvimento em atraso[75].
A Organização das Nações Unidas (ONU) propôs, em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esse documento representa uma agenda global ambiciosa que visa promover, até 2030, o equilíbrio entre os três pilares do desenvolvimento sustentável: social, econômico e ambiental. Considerando a importância do desenvolvimento infantil, um dos 17 ODS é “assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. Uma das metas desse objetivo é “garantir, até 2030, que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância”.
Para garantir que a meta dos ODS relacionada ao desenvolvimento infantil seja atingida, é essencial compreender os fatores que influenciam esse processo. O Nurturing Care Framework, ou Modelo de Cuidados Integrais, lançado em 2018 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Banco Mundial, oferece um guia abrangente para apoiar o desenvolvimento infantil desde o nascimento até os 5 anos de idade(3). Esse modelo promove
a criação de um ambiente familiar que atenda às necessidades nutricionais e de saúde das crianças, seja receptivo e emocionalmente acolhedor, protegido de violências e adversidades, que forneça estímulos adequados ao desenvolvimento, além de oportunidades para brincar e explorar. O objetivo é ajudar as crianças a sobreviverem e prosperarem, transformando, assim, a saúde e o potencial humanos. Os cuidados integrais consistem em cinco componentes essenciais para o desenvolvimento infantil: boa saúde, nutrição adequada, segurança e proteção, oportunidades de aprendizado desde o início da vida e cuidados responsivos.
A nutrição adequada é um dos pilares fundamentais do Modelo de Cuidados Integrais. A nutrição dos pais antes da gravidez e da mãe durante a gravidez afetam a saúde e bem-estar de ambos, bem como a nutrição e o crescimento da criança em desenvolvimento. Quando as mulheres grávidas apresentam deficiência de micronutrientes, elas precisam de suplementos, incluindo ferro. Crianças pequenas prosperam com amamentação exclusiva – desde imediatamente após o nascimento até os 6 meses de idade – juntamente com o contato pele a pele. A partir dos 6 meses de idade, as crianças pequenas necessitam de alimentos complementares que sejam diversos e em quantidade suficiente, e que contenham os micronutrientes necessários para o rápido crescimento do corpo e do cérebro, juntamente com o leite materno, que deve ser continuado pelo menos até os 2 anos. A alimentação de uma criança pequena deve ser oferecida de uma maneira que acomode a interação social e emocional envolvida nesse processo, o que chamamos de alimentação responsiva, que também é um dos pilares fundamentais do Modelo de Cuidados Integrais dentro dos cuidados responsivos. Além disso, a segurança alimentar das famílias é essencial para uma nutrição infantil adequada[76].
Alimentação e nutrição dos pais
Quando se pensa na concepção de um bebê, vários fatores de risco individuais e ambientais podem contribuir para resultados adversos, tanto na mãe como na criança. Esses fatores de risco incluem saúde mental dos pais comprometida, uso de substâncias (como álcool e tabaco), ausência de imunização, toxinas ambientais, condições genéticas desfavoráveis, infecções (como HIV e infecções sexualmente transmissíveis), infertilidade, pouco espaçamento entre filhos, violência (tanto dentro quanto fora de casa) e nutrição (como deficiências de micronutrientes, desnutrição e excesso de peso)[77]. O estado nutricional das mulheres no período periconcepcional, ou seja, logo antes da concepção e/ou durante o início da gravidez (< 12 semanas de gestação), quando as mulheres geralmente ainda não sabem que estão grávidas, pode influenciar processos críticos de desenvolvimento[78]. Durante esse período ocorrem mudanças significativas na forma do embrião, modificações epigenéticas e mudanças no metabolismo (ajuste dos reguladores para o crescimento e fornecimento de
energia). A qualidade da dieta materna, a desnutrição e outros aspectos fisiológicos como hiperglicemia ou hiperlipidemia podem afetar o potencial do embrião e aumentar o risco de doenças crônicas na prole, como doenças cardiometabólicas, imunológicas e neurológicas[79]. Deficiências nutricionais antes da concepção e durante a gravidez podem resultar em distúrbios do tubo neural, baixo peso e comprimento ao nascer e atrasos no desenvolvimento ao longo da vida[1,80].
O aumento global da obesidade materna está ligado à redução da fertilidade feminina e a um maior risco de obesidade na prole. Dados do ENANI 2019 registraram uma prevalência de obesidade de 26,3% entre as mães de crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo que a região Norte apresentou a menor prevalência (19,0%), estatisticamente diferente da região Nordeste (25,0%). Altos índices de massa corporal (IMC) maternos elevam as concentrações de glicose e insulina, promovendo crescimento fetal e adiposidade, resultando em maior peso ao nascer e na infância. Isso também pode aumentar o risco de condições alérgicas e atópicas na prole[79]. A má nutrição no útero e o baixo peso ao nascer, prevalentes em países de baixa e média renda, estão associados a riscos aumentados de doenças crônicas na vida adulta, especialmente se seguidos por ganho de peso acelerado na infância. Exposições à fome, como na Fome Holandesa de 1944-45 e na Grande Fome Chinesa de 1959-61, também resultaram em consequências cardiometabólicas e neurológicas adversas nas crianças, com maior risco de hipertensão na idade adulta quando a exposição à fome ocorreu no primeiro trimestre da gestação[79].
Embora a conexão entre a dieta da mãe e a saúde a longo prazo de sua prole tenha sido estudada detalhadamente, o entendimento de como a dieta do pai afeta as crianças permanece limitado. No entanto, estão surgindo conexões entre o estilo de vida paterno, a qualidade do esperma e a saúde da prole. Tanto em humanos quanto em roedores, pais com excesso de peso demonstraram ter espermatozoides com menor motilidade e mais anormalidades. Uma dieta ocidental, rica em açúcar e gordura, também mostrou reduzir a motilidade do esperma em homens, e dietas densas em energia reduzem a motilidade, a morfologia e a integridade do DNA espermático. A redução da integridade do DNA espermático, presente na obesidade e no diabetes, está ligada a taxas de gravidez reduzidas em humanos[79].
A ideia de se preparar nutricionalmente para a gravidez é crucial, incluindo um estado nutricional adequado, atividade física e alimentação saudável para ambos os pais, reduzindo o risco de doenças crônicas na criança[79].
As respostas endócrinas e metabólicas maternas que ocorrem no início da gravidez, por sua vez, influenciam o fornecimento e a utilização dos nutrientes disponíveis para o feto em rápido crescimento mais tarde na gravidez [78]. Todos os nutrientes desempenham um papel importante no desenvolvimento e funcionamento
do cérebro, mas alguns têm um impacto particularmente significativo durante os estágios iniciais do desenvolvimento cerebral. Isso inclui macronutrientes como proteínas e ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa, além de micronutrientes como ferro, zinco, iodo e vitamina B12.
A importância da ingestão de proteínas durante os estágios iniciais da vida foi destacada em um estudo conduzido por Pollitt et al. (1995)[81], que descobriu que crianças cujas mães consumiram uma bebida rica em proteínas e alto teor energético durante a gravidez e continuaram a consumi-la até os 2 anos de idade apresentaram melhorias em diversas habilidades intelectuais, incluindo processamento de informações, aptidões numéricas e vocabulário, em comparação com crianças expostas a uma bebida sem proteínas[81].
Os efeitos da suplementação de ácidos graxos de cadeia longa no desenvolvimento infantil têm sido extensivamente estudados. Embora algumas metanálises não tenham encontrado benefícios significativos em termos de cognição e atenção, estudos menores sugerem que há benefícios em tarefas mais específicas, avaliadas em crianças mais velhas[82–84].
A deficiência de ferro é uma das deficiências nutricionais mais comuns no mundo e uma das principais causas de perda de potencial de desenvolvimento em crianças de países de baixa e média renda, sendo mais prevalente durante a gravidez e a primeira infância, períodos em que há uma alta demanda de ferro para o desenvolvimento cerebral fetal e infantil[84–86].
A deficiência de iodo é a principal causa evitável de comprometimento da função mental em todo o mundo, afetando cerca de dois bilhões de pessoas. O impacto prejudicial da deficiência grave de iodo no desenvolvimento cerebral é bem estabelecido, com crianças nascidas de mães residentes em áreas com alta prevalência dessa deficiência frequentemente apresentando cretinismo, uma forma grave de deficiência intelectual[86,87].
Uma metanálise sobre os efeitos da suplementação de zinco em crianças menores de 5 anos não encontrou um impacto significativo nos resultados cognitivos e motores da criança[88], mas evidências sugerem que fetos de mães com deficiência de zinco apresentam alterações no desenvolvimento fetal[84].
Por fim, a vitamina B12 é crucial para o desenvolvimento neuronal e a mielinização. Estudos sobre a suplementação materna de B12 mostraram resultados mistos em relação ao desenvolvimento cognitivo das crianças, destacando a importância de manter níveis adequados de B12 durante a gravidez[84].
É importante ressaltar que o impacto das deficiências de macro e micronutrientes é mais significativo durante o período fetal e pós-natal inicial, devido às altas demandas metabólicas do cérebro nessa fase[84]. Portanto, é essencial garantir uma
ingestão adequada de nutrientes durante a gravidez e fornecer um adequado suporte nutricional para as crianças, especialmente nos primeiros dois anos de vida.
Amamentação
A importância do aleitamento materno e das práticas de alimentação complementar é amplamente reconhecida. O leite materno contém nutrientes essenciais que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento cerebral. Além disso, a amamentação promove o vínculo emocional entre mãe e filho e oferece proteção contra doenças, o que também pode beneficiar o desenvolvimento infantil. O Guia Alimentar das Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos, ratificando as recomendações internacionais, destaca a relevância de iniciar a amamentação logo após o nascimento, manter a amamentação exclusiva até os 6 meses e continuar amamentando até os 2 anos ou mais[89].
A partir da década de 1980, as evidências científicas sobre a importância da amamentação aumentaram significativamente. A revista The Lancet publicou, em 2016, uma série sobre amamentação e, em um de seus artigos, Victora et al. (2016)[90] reuniram informações sobre a associação entre amamentação e desfechos em crianças ou mães a partir de 28 revisões sistemáticas e metanálises[90]. Como impactos de curto prazo, os autores identificaram que práticas adequadas de amamentação previnem a morbidade infantil devido a diarreias, infecções respiratórias e otite média: cerca de metade das diarreias e um terço das infecções respiratórias poderiam ser evitadas pela amamentação[91]. Onde doenças infecciosas são causas comuns de morte, a amamentação oferece proteção significativa, mas mesmo em populações de alta renda, ela reduz a mortalidade por causas como enterocolite necrosante e síndrome da morte súbita infantil. Em países de baixa e média renda, crianças menores de 6 meses que não eram amamentadas tinham entre 3,5 e 4,1 vezes mais chance de morrer do que as amamentadas[92]. Mesmo em países de alta renda, o fato de estarem sendo amamentadas esteve associado com uma redução de 36% (IC 95% 19-49) nas mortes súbitas[93]. A ampliação das práticas de amamentação a níveis quase universais é estimada para prevenir 823 mil mortes anuais, ou 13,8% de todas as mortes de crianças com menos de 24 meses nos 75 países do Countdown to 2015.
A revisão ainda sugere que há uma proteção contra otite média em crianças menores de 2 anos, principalmente em países de alta renda, e contra maloclusões dentais em países de baixa e média renda: amamentação se associou a uma redução de 68% (IC 95% 60-75) das maloclusões[94]. Evidências crescentes também sugerem que a amamentação pode proteger contra o sobrepeso e o diabetes mais tarde na vida: períodos mais longos de amamentação estiveram associados a 26% de redução na chance de sobrepeso ou obesidade[90–95].
A amamentação esteve consistentemente associada a um melhor desempenho em testes de inteligência em crianças e adolescentes, com um aumento médio de 3,4 pontos de quociente de inteligência (QI) (IC 95% 2,3-4,6), com base nos resultados de 16 estudos observacionais que controlaram vários fatores de confusão, incluindo a estimulação em casa[96]. As evidências disponíveis mostram que, ao aumentar a inteligência, a amamentação aprimora o capital humano. Um estudo realizado no Brasil, com trinta anos de acompanhamento, sugeriu um efeito da amamentação na inteligência, escolaridade alcançada e renda na idade adulta, sendo que 72% do efeito da amamentação sobre a renda foi explicado pelo aumento no QI[97].
Além dos benefícios à saúde das crianças proporcionados pela amamentação, há evidências sugerindo que eventos cruciais de impressão genética ocorrem durante a amamentação, influenciando a saúde e o desenvolvimento a longo prazo. Esses eventos podem ser mediados pelo impacto da amamentação no microbioma infantil. Bebês amamentados mantêm diferenças microbianas persistentes, independentemente do modo de parto, devido aos oligossacarídeos do leite humano (HMOs). O leite humano contém uma variedade muito maior de açúcares que outros leites de mamíferos, atuando como prebióticos para o crescimento de bactérias específicas. Além disso, o leite materno transfere elementos do microbioma e respostas imunológicas da mãe e fornece prebióticos que promovem o crescimento de bactérias benéficas. A interação específica entre o leite materno e o microbioma infantil provoca efeitos distintos no metabolismo e na imunidade do bebê. Assim, o leite materno é não apenas um suprimento nutricional ideal, mas também uma forma de medicina personalizada, fornecida em um momento crucial para a regulação da expressão gênica. Essa oportunidade de impressão de saúde não deve ser desperdiçada[90].
Apesar dos benefícios da amamentação, infelizmente, em alguns casos, ela não é recomendada, como em situações de mães infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana e vírus-T linfotrópico humano do tipo 1 e do tipo 2 (HIV, HTLV1 e HTLV2, respectivamente), em uso de medicamentos incompatíveis com amamentação ou uso regular de álcool ou drogas ilícitas[89]. Mulheres com hepatite A, B e C podem amamentar, exceto com mamilos machucados no caso de hepatite C. Em situações como algumas infecções, consumo eventual de álcool/drogas, vacinação contra febre amarela (em mães de crianças menores de 6 meses) ou exames com radiofármacos, é necessária a programação da interrupção temporária da amamentação, preferencialmente com orientação profissional. A amamentação da criança por outra mulher que não seja a mãe (amamentação cruzada) é contraindicada devido ao risco de transmissão de doenças.
Alimentação complementar
A partir dos 6 meses de idade, o bebê entra em uma fase em que sua dieta se expande para além do leite materno. Nesse momento, a introdução de uma variedade de alimentos é importante para suprir as crescentes necessidades nutricionais da criança. Mesmo sem dentes, muitos bebês demonstram habilidades de mastigação e interesse em explorar diferentes sabores, texturas, cheiros e cores dos alimentos, muitas vezes participando das refeições familiares. O Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos[89] propõe doze passos para uma alimentação complementar saudável:
1. Amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até 6 meses;
2. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses;
3. Oferecer água própria para o consumo à criança em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas;
4. Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno;
5. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança de até 2 anos de idade;
6. Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança;
7. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família;
8. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família;
9. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição;
10. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família;
11. Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa;
12. Proteger a criança da publicidade de alimentos.
A alimentação da criança e de toda a família deve ser baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, ou seja, a maior parte dos alimentos consumidos deve pertencer a esse grupo. Alimentos in natura são obtidos diretamente de fontes vegetais ou animais e não passam por alterações após serem colhidos ou obtidos da natureza. Já os alimentos minimamente processados sofrem pequenas modificações, como limpeza, remoção de partes indesejadas, corte, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração ou congelamento, sem adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias.
Evitar alimentos ultraprocessados e açúcares é fundamental, pois seu consumo pode contribuir para o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade, afetando nega-
tivamente a saúde física e emocional das crianças, bem como seu desempenho acadêmico e qualidade de vida[98]. Exemplos de alimentos ultraprocessados incluem refrigerantes, bebidas adoçadas, salgadinhos de pacote, sorvetes, chocolates, balas, pães doces, biscoitos, bolos, cereais matinais, achocolatados, farinhas de cereais instantâneas com açúcar, iogurtes com sabores, queijos processados, temperos instantâneos, produtos congelados prontos para aquecer e empanados de carne, frango ou peixe. A alimentação complementar não é apenas sobre nutrição, mas também desempenha um papel vital no desenvolvimento da identidade da criança, proporcionando-lhe experiências sensoriais e educativas importantes. As práticas alimentares dentro da família – o que é oferecido, como é oferecido e quando – têm um impacto significativo na formação de hábitos alimentares saudáveis que podem perdurar por toda a vida. O conceito de alimentação responsiva embasou os passos 8 e 9 do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos[89]. A alimentação responsiva refere-se a uma abordagem de alimentação infantil em que os cuidadores respondem de maneira adequada, atenta e consistente aos sinais de fome e saciedade das crianças. Esse conceito enfatiza a importância da interação positiva entre o cuidador e a criança durante as refeições. Os elementos chave dessa abordagem são: (i) a capacidade de reconhecer quando a criança está com fome, quando está satisfeita e quando precisa de uma pausa; (ii) responder de maneira apropriada e oportuna a esses sinais, ou seja, oferecer alimentos quando a criança mostra sinais de fome e parar de alimentar quando a criança indica que está satisfeita; (iii) criar um ambiente tranquilo e encorajador durante as refeições – os cuidadores devem interagir de maneira positiva, sem forçar a criança a comer ou usar métodos coercitivos; (iv) encorajar a criança a explorar diferentes alimentos e texturas, promovendo a autoalimentação conforme a criança desenvolve habilidades motoras[99]. Portanto, é importante considerar que o modo como a criança é alimentada e os exemplos observados em casa influenciarão diretamente sua relação com a comida no futuro.
Intervenções que integram as diferentes dimensões do desenvolvimento infantil, como as que incorporam estimulação (interação entre cuidadores e crianças, que está relacionada ao desenvolvimento cerebral) e nutrição, são particularmente bem-sucedidas[100], especialmente entre aqueles que são mais vulneráveis e desfavorecidos[101]. Em um estudo de intervenção conduzido na Jamaica, o desenvolvimento mental de crianças com baixa estatura para a idade que receberam tanto suplementação alimentar como estimulação psicossocial foi praticamente igual ao das crianças sem atraso de crescimento (Figura 3.1)[26,102,103]. Embora várias intervenções de saúde e nutrição tenham demonstrado eficácia na redução da morbidade e no estímulo ao crescimento infantil, poucos estudos abordaram diretamente o impacto dessas intervenções no desenvolvimento das crianças[104].
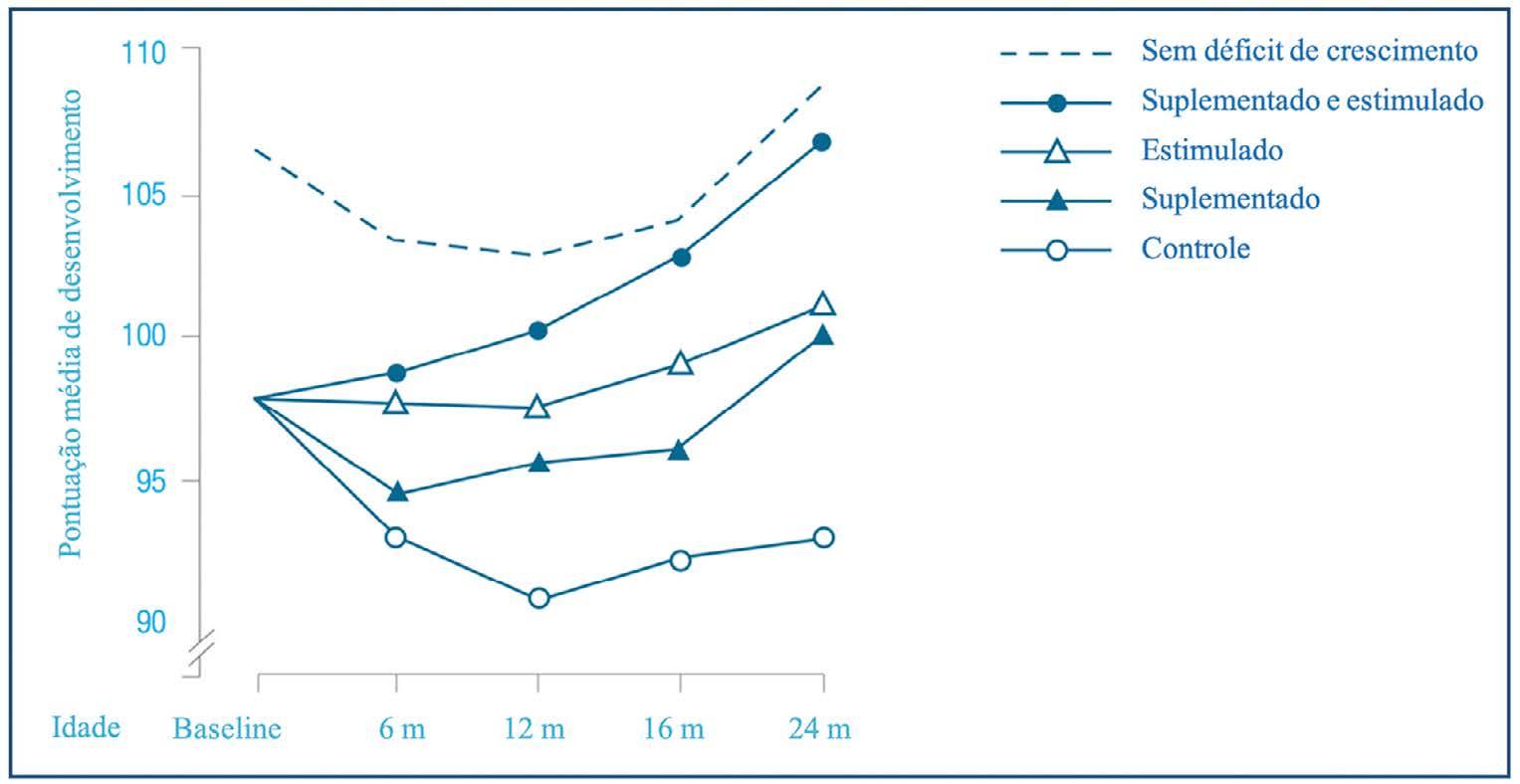
Figura 3.1 Efeitos da combinação entre suplementação nutricional e estimulação psicossocial em crianças com déficit de crescimento (controle) em um estudo de intervenção de 2 anos na Jamaica. Fonte: Comission on Social Determinants of Health, & World Health Organization (2008)[105]
Amamentação e alimentação complementar no Brasil: desafios
Além de ser uma prática biológica, o aleitamento materno é influenciado por diversos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais. De 1940 a 1980, o Brasil observou um declínio significativo na prática da amamentação. Em 1974-75, a duração mediana da amamentação atingiu seu ponto mais baixo, de apenas 2,5 meses. Esse declínio pode ser atribuído ao aumento da renda, urbanização, maior participação das mulheres no mercado de trabalho, uso crescente de chupetas, medicalização da gravidez e do parto e intensificação das práticas de marketing pela indústria de alimentos para bebês[106].
No entanto, o fortalecimento do compromisso com políticas e programas para promover o aleitamento materno, tanto internacionalmente como no Brasil, levou a um ressurgimento dessa prática. A duração mediana da amamentação aumentou para 6,8 meses em 1986, 9,9 meses em 1999 e 14 meses em 2006-07. Estratégias políticas importantes incluem a adoção da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL) e a inclusão, na Constituição Brasileira, do direito de todas as mulheres a 120 dias de licença-maternidade[106].
A partir de meados dos anos 2000, os avanços na amamentação no Brasil começaram a desacelerar. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), realizado em 2019, foi um inquérito populacional de base domiciliar que contou com uma amostra probabilística de crianças menores de 5 anos distribuídas em 123 municípios dos 26 estados e no Distrito Federal. O ENANI revelou que quase todas as crianças brasileiras foram amamentadas em algum momento (96,2%) e metade
delas mamou por pelo menos 15,9 meses. No entanto, as taxas de aleitamento materno exclusivo (AME) (45,8%) e de aleitamento materno continuado no primeiro ano de vida (43,6% entre crianças de 12 a 23 meses), embora significativas, ainda estão abaixo do recomendado pela OMS. Além disso, uma grande proporção de crianças menores de 2 anos usava chupeta (43,9%) ou recebia alimentos por mamadeiras (52,1%), o que pode comprometer a continuidade do aleitamento materno[107].
Esse período de desaceleração da expansão da amamentação no Brasil coincide com um aumento expressivo nas vendas de fórmulas lácteas comerciais (FLC), que cresceram 750% entre 2006 e 2020. Essas fórmulas incluem produtos padrão para crianças de 0 a 6 meses, produtos de transição para crianças de 7 a 12 meses, fórmulas para crianças pequenas de 13 a 36 meses e fórmulas especializadas ou “leites terapêuticos”. A categoria de fórmulas especializadas cresceu 23 vezes nesse período, de R$ 14 milhões para R$ 307 milhões[106]. Com a regulamentação mais rigorosa, a indústria passou a promover agressivamente as FLC para crianças mais velhas e jovens, além das fórmulas especializadas.
Uma estratégia de venda é a promoção cruzada entre fórmulas infantis e compostos lácteos. As fórmulas infantis são destinadas a substituir total ou parcialmente o leite materno ou humano em situações específicas e devem ser prescritas por profissionais de saúde. A venda dessas fórmulas é regulamentada pela NBCAL, que proíbe a promoção de fórmulas para crianças de 0 a 12 meses e restringe a promoção para crianças de até 6 anos. Por outro lado, os compostos lácteos são alimentos ultraprocessados, maléficos à saúde, que devem conter pelo menos 51% de ingredientes lácteos, com os demais 49% podendo incluir óleos vegetais, açúcar e aditivos alimentares. A venda desses compostos é regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e o Ministério da Saúde contraindica seu uso para crianças menores de 2 anos devido à presença de açúcar e aditivos. A indústria mantém semelhanças nas embalagens de fórmulas infantis e compostos lácteos, causando confusão entre os consumidores[108]. Características como cores, formato das embalagens, tipo de fonte e nomes similares são usados para provocar engano, especialmente entre pais e cuidadores. Esses produtos são frequentemente colocados estrategicamente juntos nas prateleiras das lojas e podem ser alvo de promoções. O Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) ressalta que a semelhança nos rótulos de fórmulas infantis e compostos lácteos visa associar esses produtos distintos para incentivar os consumidores a trocar um pelo outro[108]. Essa prática, no entanto, viola o Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como publicidade enganosa e abusiva, além de desrespeitar o direito à informação adequada. Também infringe leis de proteção à maternidade e desrespeita a Constituição Federal[108].
A indústria de alimentos para bebês, fortalecida por associações com grupos industriais poderosos e lobistas influentes, utiliza o marketing e a atividade política
para promover e sustentar os mercados de FLC, em detrimento da amamentação. Isso justifica a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa da indústria por parte dos reguladores[106].
De acordo com dados do ENANI 2019, aproximadamente 86,3% das crianças brasileiras começam a receber alimentação complementar entre os 6 e 8 meses de idade[109]. Entretanto, as práticas alimentares para uma parcela significativa da população de crianças brasileiras menores de 5 anos estão distantes das recomendações estabelecidas: a frequência alimentar mínima foi de 39,2%; a diversidade alimentar mínima foi de 57,1% (6 a 23 meses) e 54,8% (24 a 59 meses); o consumo de alimentos fonte de ferro foi de 84,6% (6 a 23 meses) e 94,9% (24 a 59 meses); o consumo de alimentos fonte de vitamina A foi de 38,6% (6 a 23 meses) e 29,7% (24 a 59 meses); o consumo de ovos e/ou carnes foi de 71,4% (6 a 23 meses) e 88,9% (24 a 59 meses); o consumo de alimentos ultraprocessados foi de 80,5% (6 a 23 meses) e 93,0% (24 a 59 meses); o não consumo de frutas e hortaliças foi de 22,2% (6 a 23 meses) e 27,4% (24 a 59 meses) e o consumo de bebidas adoçadas foi de 24,5% (6 a 23 meses) e 50,3 (24 a 59 meses). Indicadores mais preocupantes foram observados para a faixa etária de 6 a 11 meses, ou seja, logo no início da alimentação complementar, nas regiões Norte e Nordeste, domicílios rurais e entre famílias em posição socioeconômica mais desfavorável[109].
As taxas de aleitamento materno e as práticas alimentares entre crianças menores de 5 anos se refletem em seu estado nutricional. Corroborando os dados sobre alimentação complementar, as prevalências de deficiências de micronutrientes em crianças brasileiras entre 6 e 59 meses variam segundo macrorregião, faixa etária ou posição socioeconômica. A prevalência de anemia foi de 10,0%, sendo esse agravo mais prevalente na região Norte (17,0%), entre crianças de 6 a 23 meses de idade (19,0%) e entre aquelas em posição socioeconômica mais desfavorável (13,1%)[110]. A prevalência de crianças com baixo peso e estatura para idade foi de 2,9% e 7,0%, respectivamente[111]. A baixa estatura para a idade, ou stunting, é um dos principais preditores de atrasos no desenvolvimento e vem sendo utilizado, juntamente com a informação sobre pobreza, para obter estimativas globais de problemas no desenvolvimento. Nos países de baixa e média renda, aproximadamente uma a cada duas crianças com menos de 5 anos está em risco de ter seu desenvolvimento em atraso, segundo essas medidas[75]. Dados do ENANI também mostram que a prevalência de risco de sobrepeso (1 < Z IMC/I ≤ 2) foi de 18,3%, sendo maior nas regiões Sul (22,2%) e Sudeste (18,4), em comparação à região Centro-Oeste (14,5%); e em domicílios situados em áreas urbanas (18,6%) em comparação aos situados em área rural (11,8%). A prevalência de sobrepeso (2 < Z IMC/I ≤ 3) foi de 7,0% e de obesidade (Z IMC/I > 3) foi de 3,0%[111]. Os dados do ENANI 2019 revelam um cenário
preocupante de desigualdade e comprometimento nutricional entre as crianças brasileiras, evidenciando tanto baixa estatura como excesso de peso.
As instabilidades socioeconômicas geradas pelas crises política e econômica vividas principalmente a partir de 2016 no Brasil agravaram-se com a pandemia da Covid-19, acentuando as desigualdades alimentares entre uma parcela da população brasileira, sobretudo quanto ao acesso a alimentos de forma regular e em quantidade e qualidade satisfatórias, resultando no aumento da insegurança alimentar e do consumo de alimentos ultraprocessados. Segundo o art. 3º da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, “a Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis”. Entretanto, o Relatório das Nações Unidas intitulado “O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo”, lançado em 2022, revelou que aproximadamente duas em cada três crianças não conseguem alcançar a diversidade mínima na dieta[112]. Alarmantemente, 45 milhões de crianças com menos de 5 anos sofriam de desnutrição grave, enquanto 149 milhões enfrentavam atrasos no desenvolvimento e 39 milhões apresentavam excesso de peso. Esses números destacam um quadro sombrio, sugerindo impactos negativos significativos no futuro desta geração.
“A fome faz cessar o amor”
(Eurípedes, V a.C.)
O 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil expõe uma realidade alarmante: apenas 4 em cada 10 famílias têm acesso pleno à alimentação[113]. Em um curto período entre 2021 e 2022, cerca de 14 milhões de brasileiros foram adicionados à triste estatística da fome. Aproximadamente 58,7% da população brasileira enfrenta algum nível de insegurança alimentar, números que remetem aos índices da década de 1990. Em contrapartida, em 2020, os dados apontavam para um retrocesso aos níveis de 2004. Contudo, a persistência do desmantelamento das políticas públicas, o cenário econômico adverso e a crescente desigualdade social, aliados ao segundo ano de pandemia, exacerbaram ainda mais a crise no Brasil. Desde 2018, houve um aumento de 60% no número de pessoas afetadas pela insegurança alimentar. A impossibilidade de comprar alimentos básicos, como arroz, feijão, vegetais e frutas, está diretamente ligada à insegurança alimentar moderada ou grave. Uma nova geografia da fome emerge, em que a fome se tornou uma questão nacional, não relacionada apenas à seca, mas também à alta ingestão de alimentos ultraprocessados[113].
O estudo empregou a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), composta de oito perguntas, abrangendo desde aqueles que temem não ter alimentos no futuro até os que enfrentam a fome atualmente. As regiões Norte (72%) e Nordeste (68%) foram as mais impactadas, com uma média nacional de 59%. A fome afeta 26% e 21% das populações dessas regiões, respectivamente, enquanto a média nacional é de 15%, e no Sul, de 10%. Os habitantes das áreas rurais são os mais afetados, com 60% sofrendo de insegurança alimentar e 18,6% enfrentando fome. A fome tem uma clara dimensão racial, com 65% dos lares chefiados por pessoas pretas ou pardas enfrentando insegurança alimentar, um salto significativo de 10,4% para 18,1% entre 2020 e 2022. Da mesma forma, a fome tem uma dimensão de gênero, com lares chefiados por mulheres enfrentando uma taxa de fome de 19,3%, em comparação com 11,9% nos lares liderados por homens. A presença de crianças agrava a situação, com um aumento significativo da fome em famílias com crianças menores de 10 anos, passando de 9,4% em 2020 para 18,1% em 2022. Quando há três ou mais pessoas menores de 18 anos na família, a taxa de fome atinge 25,7%[41].
Os desafios descritos, em que há uma desaceleração da expansão da prática do aleitamento materno, o crescente consumo de fórmulas infantis e a inadequação de alguns aspectos da alimentação complementar, impactam diretamente o estado nutricional das crianças e não podem ser ignorados. Em um contexto de insegurança alimentar agravada pelas desigualdades, torna-se evidente a necessidade de ações concretas para promover e proteger tanto o aleitamento materno como uma alimentação complementar saudável. Essas medidas não apenas garantirão o desenvolvimento adequado das crianças, mas também contribuirão para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.
Proteção, promoção e apoio à alimentação infantil adequada e saudável no Brasil
O Brasil tem diversas legislações, portarias e regulamentações destinadas a proteger a saúde, alimentação e nutrição das crianças. Entre os marcos gerais estão a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) e o Marco Legal da Primeira Infância. Desde a década de 1980, o país demonstra um compromisso significativo com a promoção, proteção e apoio à alimentação infantil adequada e saudável, reconhecendo sua importância para a saúde e o desenvolvimento infantis.
O modelo conceitual proposto por Rollins et al. (2016) sugere intervenções de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno[114]. No Brasil, as ações de proteção incluem a NBCAL e a legislação trabalhista (Consolidação das Leis Trabalhistas –
CLT e Programa Empresa Cidadã). As ações de promoção incluem campanhas de doação de leite humano, o Agosto Dourado e a Semana Mundial da Amamentação (SMAM). As ações de apoio abrangem a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), o Método Canguru, os Bancos de Leite Humano, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) e as Salas de Apoio à Amamentação, que serão descritas a seguir.
Ações de proteção ao aleitamento materno
A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) é uma adaptação do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, adotado pela Assembleia Mundial da Saúde em 1981. Implementada no Brasil em 1988, a NBCAL regula a comercialização de alimentos para lactentes e crianças pequenas, abordando promoção, publicidade, rotulagem e distribuição. Seu objetivo é proteger o aleitamento materno e garantir a segurança dos alimentos complementares. Entre suas diretrizes estão a proibição de publicidade desses produtos, regulamentação de rotulagem, restrições à distribuição de amostras e brindes e a regulamentação da venda de mamadeiras e chupetas.
Outra ação de proteção ao aleitamento materno é a legislação trabalhista brasileira, que assegura direitos importantes para mães e pais, incluindo licença-maternidade de 120 dias (prorrogável por duas semanas ou estendida a seis meses pelo Programa Empresa Cidadã) e licença-paternidade de cinco dias (ou vinte dias pelo mesmo programa). Em um estudo transversal com dados da II Pesquisa Nacional de Prevalência do Aleitamento Materno de 2008, foi constatado que 63,4% das mães no Brasil não trabalhavam fora de casa. Entre as que trabalhavam, 69,8% usufruíam de licença-maternidade. A ausência de licença-maternidade aumentou em 23% a chance de interrupção do aleitamento materno exclusivo[115]. Ao retornar ao trabalho, as mães têm direito a duas pausas de 30 minutos para amamentar ou sair uma hora mais cedo nos primeiros seis meses de vida de seu filho. Estabelecimentos com mais de trinta mulheres devem fornecer local adequado para cuidados infantis. Já as mulheres que se encontram em situação informal de trabalho não podem contar com esses direitos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) do IBGE, as trabalhadoras informais representam 37,5% da população de mulheres ocupada. Muitas dessas trabalhadoras retornam ao trabalho mais cedo por não terem direito à licença-maternidade. A informalidade, caracterizada pela falta de carteira assinada e ausência de contribuições previdenciárias,
contribui para o desmame precoce devido à separação entre mãe e filho, agravada em cidades maiores pelos grandes deslocamentos entre local de trabalho e residência. As mulheres privadas de liberdade constituem outra população que deve ter especial atenção para a garantia de direitos. A Lei n. 11.942/2009 exige que estabelecimentos penais femininos possuam berçários e creches, permitindo que mães privadas de liberdade cuidem e amamentem seus filhos até, no mínimo, 6 meses de vida. Apesar de o Brasil possuir a quarta maior população carcerária feminina do mundo, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) de 2018 revelou que apenas 16% das penitenciárias femininas tinham celas para gestantes e 14% contavam com berçários. Em 2017, um censo realizado pela FIOCRUZ mostrou que, entre as 241 mães entrevistadas, 26% não haviam amamentado seus bebês nas últimas 24 horas, indicando que muitos bebês estavam sendo desmamados precocemente[116].
Políticas públicas inclusivas são essenciais para proteger o aleitamento materno e garantir direitos a todas as mulheres.
Ações de promoção ao aleitamento materno
Desde a década de 1990, o Brasil tem implementado diversas ações de promoção do aleitamento materno. Campanhas de doação de leite humano vêm sendo implementadas no Brasil para incentivar mães a doarem leite excedente para bancos de leite. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em 2020, os bancos de leite humano no Brasil coletaram mais de 227 mil litros de leite, beneficiando mais de 160 mil recém-nascidos.
Outra ação de destaque é a Semana Mundial da Amamentação (SMAM), celebrada anualmente na primeira semana de agosto. A SMAM mobiliza governos, organizações e a sociedade para promover a amamentação, aumentando a conscientização sobre seus benefícios e a importância do apoio às mães que amamentam. Durante essa semana, diversas atividades são realizadas, como palestras, oficinas e campanhas publicitárias, todas focadas em criar um ambiente favorável ao aleitamento materno. Complementando a SMAM, o Agosto Dourado foi instituído para reforçar a conscientização ao longo do mês de agosto, simbolizando a luta pelo aleitamento materno. O “dourado” faz referência ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Em 2021, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) reportou que o Agosto Dourado incluiu mais de 500 eventos em todo o país, abrangendo seminários, caminhadas e eventos comunitários, todos promovendo a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e continuado até os 2 anos ou mais.
Essas iniciativas são essenciais para fortalecer a cultura do aleitamento materno no Brasil, promovendo um ambiente que apoia e facilita essa prática, além de educar a população sobre os benefícios a longo prazo para a saúde infantil.
Ações de apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar adequada e saudável
Iniciativa Hospital Amigo da Criança
A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é um programa global lançado pela OMS e UNICEF em 1991 para promover o aleitamento materno e melhorar os cuidados neonatais nas maternidades[117]. Para obter o título de “Hospital Amigo da Criança”, os hospitais devem cumprir critérios de cuidado humanizado, incluindo o cuidado amigo da mulher, o livre acesso dos pais ao recém-nascido internado e cumprimento da NBCAL. A iniciativa é composta de dez passos:
1. Ter uma política de aleitamento materno escrita que seja rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados de saúde;
2. Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias na implementar esta política.
3. Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno.
4. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno primeira meia hora após o nascimento, conforme nova interpretação, e colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães, imediatamente após o parto, por pelo menos uma hora e orientar a mãe a identificar se o bebê mostra sinais que está querendo ser amamentado, oferecendo ajuda se necessário.
5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação mesmo se vierem a ser separadas dos filhos.
6. Não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica.
7. Praticar o alojamento conjunto - permitir que mães e recém-nascidos permaneçam juntos 24 horas por dia.
8. Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda.
9. Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.
10. Promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar as mães a esses grupos após a alta da maternidade.
Os Hospitais Amigos da Criança (HAC) aumentam as taxas de aleitamento materno e contribuem para a saúde infantil. Bebês nascidos em HAC são menos
sujeitos a intervenções desnecessárias e têm maior contato pele a pele com as mães, amamentação precoce e alojamento conjunto. A duração média do aleitamento materno exclusivo até os seis meses é maior em HAC (60,2 dias) em comparação com outras maternidades (48,1 dias). Além disso, nascer em um HAC aumenta em 9% a probabilidade de amamentação na primeira hora de vida[118]. No Brasil, a iniciativa HAC foi amplamente adotada, desempenhando um papel crucial na promoção do aleitamento materno em hospitais e maternidades.
Método Canguru
O Método Canguru é uma prática de cuidado neonatal voltada para bebês prematuros ou de baixo peso ao nascer, que tem demonstrado ser uma eficaz ação de apoio ao aleitamento materno. Esse método encoraja o contato pele a pele entre a mãe (ou outro cuidador próximo) e o bebê, frequentemente iniciado logo após o nascimento e continuado pelo maior tempo possível durante a internação e após a alta hospitalar. Essa prática tem múltiplos benefícios para a promoção e sustentação do aleitamento materno por sua relação com o estímulo à produção de leite, estímulo à sucção e deglutição (habilidades de amamentação mais eficazes), fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e bebê e redução de infecções e complicações. Um estudo de revisão integrativa da literatura incluindo 21 estudos realizados no Brasil entre os anos de 2000 e 2017 concluiu que o Método Canguru impacta positivamente o aleitamento materno e o estabelecimento de vínculo entre mãe-filho[119].
Bancos de leite humano (BLH)
A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) é uma estratégia crucial de apoio ao aleitamento materno, abrangendo a coleta, processamento e distribuição de leite humano para bebês prematuros ou de baixo peso que não podem ser amamentados por suas mães. Além disso, oferece atendimento e orientação para promover o aleitamento. O Brasil possui a maior e mais avançada rBLH do mundo, reconhecida internacionalmente pela eficiência e tecnologia de baixo custo. Com 233 BLH em todos os estados e 240 postos de coleta, a rede é amplamente acessível. O BLH mais próximo do domicílio pode ser identificado ligando para 136 ou consultando a localização dos BLH por meio do website: https://rblh.fiocruz.br/localizacao-dos-blhs.
As atividades dos BLH têm impacto positivo na saúde materno-infantil, especialmente nas orientações oferecidas para sustentar o aleitamento durante a internação de prematuros. Estudos mostram ganho de peso significativo em bebês prematuros que recebem leite humano. Os BLH também promovem e apoiam o aleitamento materno, influenciando a decisão das mães de doar leite humano para
essas instituições[120]. De acordo com o ENANI 2019, 4,8% das mães de crianças menores de 2 anos no Brasil fizeram doações para BLH, enquanto 3,6% das crianças nessa faixa etária receberam leite humano ordenhado e pasteurizado desses bancos[107].
Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
Resultado da integração da Rede Amamenta Brasil e da Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), do Ministério da Saúde, tem como compromisso formar mais recursos humanos na atenção básica, promovendo educação permanente em saúde por meio de atividades teóricas e práticas, leituras e discussões de texto, troca de experiências, dinâmicas de grupo, conhecimento da realidade local, sínteses e planos de ação. A formação de tutores visa qualificar profissionais de referência que serão responsáveis por disseminar a estratégia e realizar oficinas de trabalho nas suas respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBS). As oficinas de trabalho nas UBS têm o propósito de discutir a prática do aleitamento materno e alimentação complementar saudável com os profissionais da UBS e planejar ações de incentivo à alimentação saudável na infância, de acordo com a realidade local. As oficinas são essenciais para disseminar a estratégia e planejar ações específicas de incentivo à alimentação saudável na infância, adaptadas à realidade local, com enfoque no aleitamento materno e na alimentação complementar saudável.
Existem poucos estudos sobre o impacto da EAAB, algumas pesquisas demostram melhora dos índices de aleitamento materno, outras não encontram aumento da prevalência em unidades que aderiram à Rede Amamenta Brasil, hoje denominada Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Esses resultados aparentemente contraditórios podem ter relação com as diferenças no grau de implementação da EAAB[121].
Ação Mulher Trabalhadora que Amamenta
A Ação Mulher Trabalhadora que Amamenta (MTA) visa promover a saúde materno-infantil no ambiente de trabalho, oferecendo suporte e orientação às mulheres que retornam ao trabalho após a licença-maternidade. A MTA inclui iniciativas como horários flexíveis, capacitação de empregadores e colegas sobre a importância do aleitamento materno e sobre como apoiar a amamentação no ambiente profissional e salas de apoio à amamentação.
Um estudo realizado em Taiwan investigou o impacto de um ambiente de trabalho favorável à amamentação sobre a intenção de mães trabalhadoras de uma fábrica de eletrônicos em continuar amamentando. Os autores encontraram que uma escolaridade mais alta (razão de chances [OR] = 2,66), 8 horas de trabalho por dia, comparado a mais horas (OR = 2,66), salas de apoio à amamentação (OR = 2,38),
uso de pausas para extração de leite (OR = 61,6) e encorajamento de colegas (OR = 2,78) e supervisores (OR = 2,44) para usar as pausas para extração de leite foram preditores significativos da continuidade da amamentação por mais de seis meses após o retorno ao trabalho[122]. Um estudo brasileiro que analisou o perfil das salas de apoio à amamentação nos estados do Sul do Brasil identificou que apenas 17% das mulheres que tiveram licença-maternidade no ano anterior ao estudo utilizaram essas salas. Os principais desafios das salas de apoio à amamentação dizem respeito à padronização dos processos internos e sua utilização pouco frequente, enquanto seus benefícios incluem o incentivo ao aleitamento materno e a valorização das mães trabalhadoras[123].
Ações envolvendo outros setores
Programa Nacional de Alimentação Escolar
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado pela Lei n. 11.947, de 16 de junho de 2009, é o programa socioeducacional brasileiro com a mais longa história no campo de segurança alimentar e nutricional. O objetivo do PNAE é contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial dos alunos, além de promover práticas alimentares saudáveis. Segundo a Resolução n. 6/2020, o cardápio deve atender às necessidades nutricionais por faixa etária, cobrindo 20% a 70% das necessidades nutricionais diárias, conforme o período escolar. A oferta inclui frutas, verduras, legumes, promove variedade e diversidade. Pelo menos 30% dos recursos do PNAE devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, priorizando assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas. Ainda, o PNAE limita produtos processados e proíbe gorduras trans industrializadas e ultraprocessados para crianças até 3 anos de idade. A participação da sociedade civil é incentivada por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar, que fiscalizam a execução do programa, garantindo a qualidade e a sustentabilidade da alimentação escolar. O CAE desempenha um papel fundamental no acompanhamento e avaliação das refeições, assegurando o cumprimento das diretrizes do PNAE. Para saber mais, acesse: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/controle-social-cae/sobre-cae.
Cesta básica de alimentos
A cesta básica alimentar busca garantir o direito humano à alimentação adequada, saudável e acessível, considerando aspectos biológicos, culturais, de gênero, raça e etnia. Deve ser composta de alimentos que atendam às necessidades nutricionais e sejam acessíveis financeiramente, equilibrados e prazerosos.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) propôs mudanças na cesta básica, priorizando alimentos in natura ou minimamente processados para reduzir a ingestão de ultraprocessados, contribuindo para a saúde pública e a proteção ambiental. Baseada no Guia Alimentar para a População Brasileira, a proposta visa criar sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, promover a geração de renda para pequenos produtores rurais e priorizar alimentos agroecológicos e regionais. A nova composição inclui feijões, cereais, raízes, legumes, frutas, oleaginosas, carnes, ovos, laticínios, açúcares, sal, óleos, café, chá e especiarias, com exceções específicas.
Programa Bolsa Família
O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil, reconhecido internacionalmente pelo seu papel no combate à fome. O atual modelo de benefício considera o tamanho e as características familiares, em que famílias maiores recebem um valor maior do que famílias menores. Para ter direito ao Bolsa Família, a renda de cada pessoa da família deve ser, no máximo, de R$ 218 por mês. A manutenção da família como beneficiária no programa depende do cumprimento de algumas condicionalidades: realização de pré-natal, cumprimento do calendário nacional de vacinação, acompanhamento do estado nutricional para beneficiários de até 7 anos de idade e frequência escolar mínima de 60% para beneficiários de 4 a 6 anos de idade. Além disso, o programa inclui benefícios específicos para lactantes e crianças na primeira infância, como estratégias importantes para garantir a segurança alimentar e nutricional das crianças de 0 a 6 anos.
Um estudo avaliou o impacto do Bolsa Família nas compras de alimentos de famílias de baixa renda no Brasil, utilizando dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009 com uma amostra de 55.970 domicílios. Dos 11.282 domicílios elegíveis, 48,5% eram beneficiários do Bolsa Família. Comparando-se domicílios beneficiários e não beneficiários com renda per capita mensal de até R$ 210,00, verificou-se que os beneficiários apresentaram despesa 6% maior com alimentos e disponibilidade total de energia 9,4% maior. Também houve despesa 7,3% maior com alimentos in natura ou minimamente processados e despesa 10,4% maior com ingredientes culinários. Não foram observadas diferenças significativas nas despesas e disponibilidades de alimentos processados e ultraprocessados. Entre os alimentos in natura ou minimamente processados, os beneficiários do Bolsa Família gastaram mais e tiveram maior disponibilidade de carne, tubérculos e vegetais. O programa resultou em maior despesa com alimentos, maior disponibilidade de alimentos frescos e ingredientes culinários, melhorando a qualidade e a diversidade da dieta[124].
Considerações finais
O direito à alimentação adequada, consagrado em diversos tratados internacionais, exige uma ação conjunta de governos, comunidades e famílias para garantir que todas as crianças tenham acesso a alimentos nutritivos e seguros. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2 e 3 destacam essa necessidade, reconhecendo que a nutrição adequada é essencial para o crescimento físico, cognitivo e emocional das crianças, e para o desenvolvimento sustentável das sociedades.
O leite materno é parte vital do primeiro sistema alimentar e a forma mais sustentável de alimentação infantil. Apoiar a amamentação e reconhecer o leite materno como parte fundamental desse sistema traz benefícios tanto para as crianças como para a sociedade, contribuindo para a redução das mudanças climáticas devido à sua pegada ecológica menor em comparação com substitutos do leite materno. Compreendendo a importância da alimentação saudável e das intervenções nutricionais adequadas, podemos trabalhar em conjunto para promover o desenvolvimento infantil e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assegurando um futuro melhor para todas as crianças.
CAPÍTULO 4
Sono e desenvolvimento infantil
Rebeca Buest de Mesquita Silva
Vitor Lacerda
Adrielle Pykoc
Helena Schmidt
Julia Fernandes da Silva Gustavo Santos
Fernando Louzada
Apresentação
Abordar o tema sono não é uma tarefa difícil, pois temos a certeza de que você, leitora ou leitor, sabe do que estamos falando. Você dorme, bem ou mal, mais ou menos, mais cedo ou mais tarde. Uma criança recém-nascida passa aproximadamente 2/3 de seu tempo dormindo. No adulto esse tempo é reduzido para cerca de 1/3, número ainda nada desprezível. Não só nós, seres humanos, dormimos. Todos os animais dormem. Isso sugere que o sono seja essencial para a sobrevivência, e pesquisas das últimas décadas confirmam essa suposição. Atualmente sabemos que o sono é importante para a manutenção da integridade do sistema imunológico, para a regulação do metabolismo energético, para a neuroproteção, para a cognição e para a regulação emocional. Em crianças, existem inúmeras evidências da associação entre sono insuficiente e prejuízos no desempenho cognitivo. Diante dessas evidências, temos como objetivos mostrar a importância do sono para o desenvolvimento, descrever as modificações do ciclo sono/vigília ao longo dos primeiros anos
de vida, apresentar alternativas para avaliação do sono infantil e discutir as implicações para a organização de creches e escolas de educação infantil, procurando fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas na área.
A importância do sono na infância
Na infância, a manutenção dos hábitos de sono é fundamental para que ocorra um desenvolvimento físico e mental saudável. Um sono de má qualidade pode ter impacto no desenvolvimento, aprendizagem, no comportamento e na saúde geral da criança, incluindo seu bem-estar físico e mental[125]. Dificuldades de concentração, irritabilidade, prejuízo no crescimento, função imunológica comprometida, ansiedade e depressão têm sido associados a alterações de sono na criança[126].
Estudos recentes têm mostrado que a diminuição da duração de sono durante a infância pode ocasionar problemas de sono na adolescência[127]. Dessa maneira, é essencial que hábitos adequados de sono sejam estabelecidos desde os primeiros anos de vida, a fim de preservar a saúde na infância e consolidar hábitos saudáveis que se mantenham nos anos seguintes.
Padrões de sono alterados na primeira infância, principalmente nos dois primeiros anos de vida – por exemplo, redução da duração total de sono e/ou proporção de sono diurno aumentada em relação ao sono noturno – estão associados a menor desempenho em diversos testes de avaliação cognitiva realizados ao final da primeira infância ou mesmo mais tardiamente[128]. Problemas de sono relatados pelos pais na primeira infância foram associados a prejuízos em dimensões das funções executivas, como a memória de trabalho e o controle inibitório. A menor duração de sono durante o início da infância foi associada com notas menores que a média nos anos escolares do ensino fundamental[129].
Essas associações descritas anteriormente, entre alterações de sono e desfechos cognitivos desfavoráveis, podem sugerir que a primeira infância é uma fase mais vulnerável, na qual problemas de sono podem afetar negativamente o desenvolvimento. Entretanto, essas associações não significam necessariamente uma relação de causa e efeito, ou seja, que as alterações de sono desencadeariam prejuízos cognitivos. Outra possibilidade é que as alterações de sono identificadas nos primeiros anos de vida seriam manifestações precoces de possíveis problemas no neurodesenvolvimento, que se manifestariam de maneira mais evidente após o ingresso da criança no ensino regular. De qualquer maneira, esses resultados chamam a atenção para a necessidade de mais estudos longitudinais que sejam comparáveis e indicam que a avaliação do sono pode fornecer subsídios importantes para o acompanhamento do desenvolvimento infantil.
Além da relação com o desempenho cognitivo e com a regulação emocional[130], a menor duração de sono tem sido associada com um risco maior de desenvolvimento de obesidade na infância e na adolescência, ressaltando a íntima relação entre o ciclo sono/vigília e a regulação do metabolismo energético.
O sono nos primeiros anos de vida
Os principais parâmetros utilizados para descrição do sono, tanto na infância como na idade adulta, são a sua duração (quantidade), sua qualidade e os horários dos episódios de sono. O número e a duração dos despertares noturnos em geral são utilizados para mensuração da qualidade de sono.
Um bebê recém-nascido dorme entre 14 e 17 horas diárias. Aos 6 anos de idade, espera-se que a criança durma entre 10 e 12 horas por dia[131]. Além disso, ao nascer, um bebê apresenta um padrão polifásico de sono, ocorrem vários episódios de sono e vigília distribuídos ao longo das 24 horas[132–134]. A trajetória em direção ao padrão monofásico, ou seja, um episódio de sono noturno, presente na vida adulta, é marcada por uma diminuição gradual dos episódios de sono diurno, redução que ocorre de maneira muito variável entre as crianças e dependente de inúmeros fatores, genéticos e ambientais. Essa redução do número e duração dos episódios de sono diurno ocorre paralelamente à consolidação do sono noturno – o número e a duração dos despertares noturnos diminui ao longo dos primeiros anos de vida[135]. Em geral, inicialmente desaparece o episódio de sono da parte da manhã e posteriormente o episódio de sono da tarde, conhecido como sesta.
A idade de desaparecimento da sesta é muito variável, podendo ocorrer já no segundo ano de vida ou apenas após os 6 anos de idade. Na verdade, discute-se se a ocorrência da sesta não seria uma característica da espécie humana e seu total desaparecimento teria influências culturais, já que esse hábito é preservado na vida adulta em diferentes países. De qualquer forma, a necessidade da sesta na primeira infância deve ser considerada na organização espacial e temporal de creches e escolas de educação infantil.
Os horários preferenciais de sono podem variar entre as crianças nos primeiros anos de vida. Algumas crianças têm mais facilidade para iniciar o sono mais cedo, outras têm preferência por horários mais tardios de dormir e acordar, caracterizando o chamado cronotipo. Aquelas que dormem e acordam mais cedo são chamadas de matutinas e aquelas com hábitos de sono mais tardios são chamadas de vespertinas. Apesar de esses horários serem influenciados por fatores ambientais relacionados à rotina da criança, fatores genéticos também influenciam o cronotipo. Por esse motivo, algumas crianças podem apresentar dificuldade persistente em iniciar o sono mais cedo, mesmo quando o ambiente e a rotina são favoráveis para que esse comportamento ocorra.
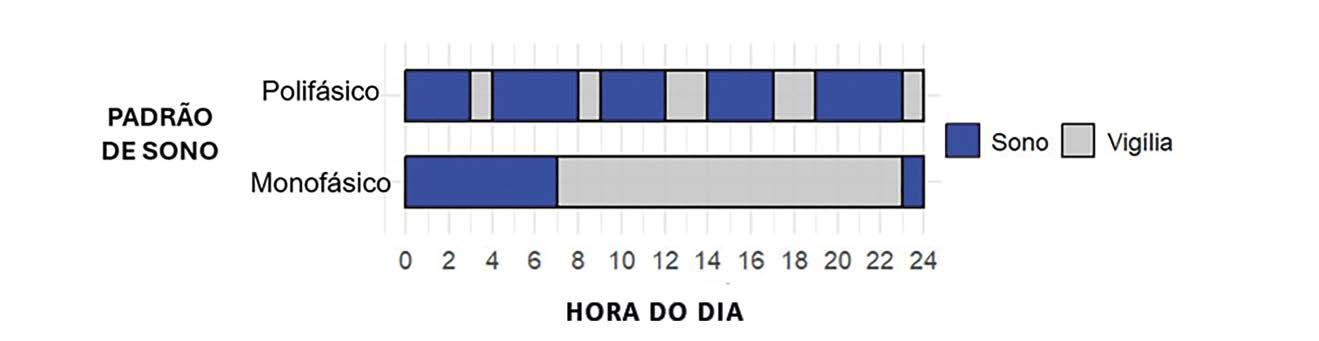
4.1 Padrão polifásico do ciclo sono/vigília versus padrão monofásico do ciclo sono/vigília.
Fonte: produzida pelos autores.
Diante das enormes diferenças individuais na duração total de sono, duração de sono diurno, duração de sono noturno, idade de desaparecimento da sesta e horários preferenciais de início do sono noturno, é importante ressaltar que os valores médios devem ser usados como parâmetros, mas jamais como referências de normalidade. Essa enorme variabilidade pode ser observada na Figura 4.3. Por esse motivo, é fundamental a observação de possíveis manifestações da restrição crônica de sono que, quando presentes, devem ser motivo de investigação por profissionais da área médica. Algumas delas são: alterações comportamentais como maior agressividade e irritabilidade, aumento da sonolência diurna e maior suscetibilidade a doenças infecciosas como gripes e outras viroses.
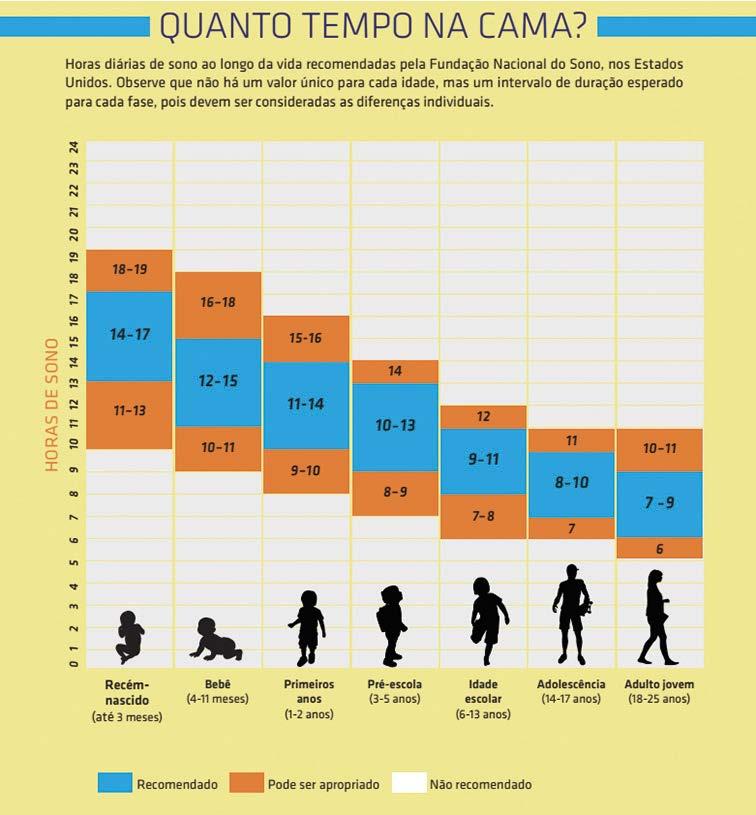
Figura
Figura 4.2 Necessidades de sono da infância à vida adulta.
Fonte: produzida pela Revista Neuroeducação em artigo de nossa autoria; uso autorizado pela editora.
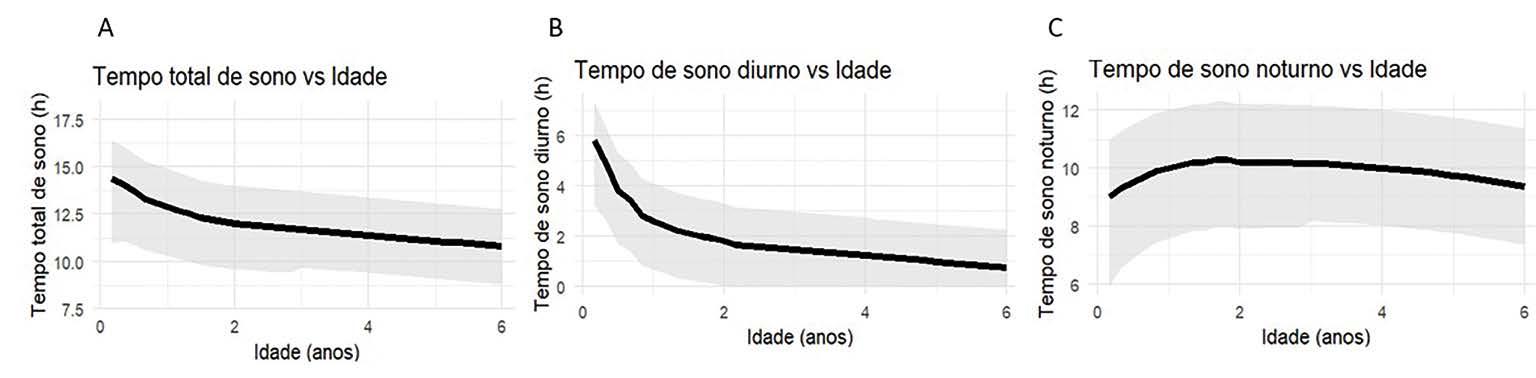
Figura 4.3 Variação da duração de sono total (A), do sono noturno (B) e do sono diurno (C) nos primeiros seis anos de vida. A linha representa a média, e a faixa sombreada, a variabilidade presente no processo. Fonte: produzida pelos autores.
Regulação do sono e da vigília
Ao contrário do que se pensava antigamente – na verdade até hoje muitos acreditam nisso –, durante o sono o cérebro não está desligado, mas funcionando de uma forma diferente. Ele continua ativo e essa atividade está a serviço da consolidação de nossas experiências. Atualmente já conhecemos os circuitos neurais que nos mantêm acordados e quais são aqueles responsáveis por mudar a atividade desses circuitos e promover o sono. Um conhecimento um pouco mais recente na história da ciência do sono é de como esses circuitos são temporizados e nos permitem sincronizar nosso ritmo sono/vigília com o dia e a noite. Essa temporização é fruto da atividade de um conjunto de estruturas que formam o sistema de temporização circadiana, mais conhecido como relógio biológico. O relógio biológico não controla apenas os horários de dormir e acordar, mas a secreção de hormônios e o funcionamento de todos os órgãos. A manutenção de uma organização temporal entre os diferentes sistemas do organismo e sua sincronização com o ciclo claro/escuro do ambiente é essencial para a manutenção da saúde.
Uma das principais estruturas do sistema de temporização circadiana está localizada no hipotálamo. A sincronização dos nossos ritmos ao ciclo claro/escuro é possível pois o hipotálamo recebe informações da retina sobre a presença ou ausência da luz e as transmite para todo o organismo de diversas maneiras. A mais importante é por meio do controle da secreção de um hormônio, a melatonina, pela glândula pineal. Na presença da luz, a secreção de melatonina é inibida, sinalizando ao corpo que é dia. Na ausência da luz, a pineal passa a secretar melatonina, criando a chamada “noite biológica”, desencadeando alterações em todo o organismo. No caso da espécie humana e de todos os outros mamíferos diurnos, a noite biológica coincide com o sono noturno. O advento da luz artificial, à qual estamos expostos diariamente após o anoitecer, faz com que a secreção de melatonina seja inibida, atrasando o horário de início do sono. A compreensão do funcionamento do sistema
de temporização nos permite compreender o papel da luz na regulação do sono e de como a modificação da exposição à luz é capaz de alterar os padrões de sono. Assim como ocorre com outros sistemas do organismo, o sistema de temporização circadiana ainda não está maduro ao nascimento. Ao longo dos primeiros meses de vida, por meio da interação com as pistas ambientais – a mais importante é o ciclo claro/escuro –, ocorre a consolidação do ritmo sono/vigília e sua sincronização com os outros ritmos do organismo. O aumento da duração do sono noturno e a redução do sono diurno, como já descrito anteriormente, reflete a consolidação da ritmicidade circadiana. Por esse motivo, é essencial que a criança seja exposta a pistas regulares, seja nos horários de exposição à luz, seja nas interações sociais, incluindo as refeições. Isso não significa que pequenas mudanças no horário de uma refeição, meia hora, por exemplo, seja prejudicial, mas é importante ter em mente que a regularidade das pistas ambientais contribui para o amadurecimento do sistema de temporização e, consequentemente, para uma maior regularidade do ciclo sono/ vigília, o que é desejável para uma melhor saúde física e mental.
Fatores associados à qualidade de sono
A obtenção de um sono infantil de qualidade vem com seus desafios, pois muitos fatores podem interferir na qualidade de sono. Situações nas quais os recursos são mais escassos podem representar desafios adicionais, tais como a exposição a ruídos excessivos ou a falta de um espaço apropriado para o descanso. Contudo, é vital reconhecer que tais adversidades não são determinantes intransponíveis. É necessário, de qualquer forma, procurar a criação de rotinas e espaços que favoreçam o sono reparador.
Existem muitos fatores que podem influenciar a duração de sono infantil, alguns deles relacionados ao uso de tecnologias, como o uso de telas. Aspectos culturais também imprimem sua influência[136]. Por exemplo, crianças uruguaias apresentam horários tardios de dormir e crianças mais vespertinas são prevalentes nessa população.
O compartilhamento da cama, uma prática cada vez mais debatida, é um fator que merece atenção[137]. Comum em diversas culturas e frequentemente associada à facilitação da amamentação e ao fortalecimento dos laços afetivos, essa prática carrega consigo também preocupações quanto à segurança do bebê durante o sono, bem como pode afetar a independência do sono da criança a longo prazo[138]. Os riscos aumentam diante de certas condições, como o consumo de álcool ou drogas pelos pais, o tabagismo, o uso de superfícies de sono excessivamente macias, além da presença de roupas de cama soltas. Além dos riscos físicos, a interação noturna pode, paradoxalmente, perturbar o sono tanto das crianças como dos adultos, devido às diferenças nos padrões de sono[139].
A amamentação noturna também desempenha um papel crucial, tanto na saúde geral das crianças como em seu padrão de sono, especialmente nos primeiros meses de vida[140]. Por um lado, há estudos que apontam para o potencial benefício da amamentação para o sono dos bebês. Por outro lado, a amamentação noturna pode, por vezes, levar a despertares mais frequentes, levantando questões sobre seus possíveis impactos negativos, tópico que permanece aberto à pesquisa e ao debate, com muitos defendendo que esses despertares são normais e parte integrante do desenvolvimento infantil[141].
Por fim, não se pode negligenciar a importância do ambiente emocional e do contexto familiar no sono das crianças. Ambientes familiares harmoniosos, rotinas previsíveis e um cuidado responsivo e sensível às necessidades do bebê tendem a favorecer um sono mais tranquilo, enquanto situações de conflito familiar, instabilidade ou negligência podem perturbar o sono infantil. Um lar harmonioso, que pratica rotinas consistentes e responde de forma empática às necessidades dos pequenos, é fundamental para criar uma atmosfera de segurança e serenidade. Em contrapartida, a presença de tensões ou negligência pode semear insegurança e agitação, prejudicando significativamente a qualidade do sono.
Além dos fatores já apresentados, a contaminação ambiental também pode influenciar a qualidade do sono. Ela ocorre quando substâncias poluentes atingem níveis que causam efeitos nocivos na saúde humana. Nesse caso, são conhecidos os efeitos causados no sono pela contaminação com metais pesados, pela poluição do ar e também pela exposição à fumaça de tabaco. Em relação à exposição aos metais pesados, estudos demonstram que a exposição precoce ao chumbo na infância está relacionada a problemas posteriores de sono e sonolência diurna na pré-adolescência. Além disso, a exposição a esse metal foi associada de forma consistente à insônia e à duração mais curta do sono. O mercúrio está associado a distúrbios no sono e perturbação do ciclo sono/vigília, além de estar associado a uma duração mais curta do sono, já que essa substância pode se acumular na glândula pineal.
Tratando-se dos efeitos relacionados à poluição do ar, foram avaliados poluentes como dióxido de nitrogênio, ozônio, dióxido de enxofre e produtos da combustão, que foram associados com uma curta duração e má qualidade do sono, além de distúrbios respiratórios do sono. Em relação à exposição à fumaça do tabaco, ela pode influenciar o sono, principalmente na população pediátrica, sendo relacionada com insônia, pior qualidade do sono, curta duração do sono, bruxismo do sono, pesadelos e sonambulismo. Além disso, a exposição pré-natal à fumaça do tabaco por meio do tabagismo materno durante a gravidez está associada ao aumento da apneia do sono e ronco em recém-nascidos.
Avaliação do sono na infância
A polissonografia é o método padrão ouro de avaliação do sono, sendo considerado o mais completo para a análise de seus parâmetros. Por envolver registro de atividade muscular e movimentação dos olhos, é capaz de diferenciar as duas principais fases do sono, o sono REM (do inglês Rapid Eyes Movement) e o sono nREM (do inglês non Rapid Eyes Movement), assim como a identificação de diversos distúrbios de sono. Contudo, apesar de ser um método eficiente na análise do sono, seu uso é oneroso e se restringe predominantemente ao contexto laboratorial. O uso do polissonígrafo depende do correto manuseio de múltiplos eletrodos que são acoplados ao corpo do indivíduo – destacando-se as monitorizações por meio do eletroencefalograma, do eletromiograma e do eletro-oculograma, dentre outros. Isso implica, invariavelmente, a retirada da criança de seu ambiente habitual de sono, além de limitar o número total de noites analisadas. Ou seja, ao lidarmos com o público infantil, essa pode não ser a melhor ferramenta de análise de sono – seja por causar desconforto para as crianças, seja por dificultar o aceite dos pais e/ou responsáveis para a participação de seus filhos nas coletas ou ainda por não fornecer informações a respeito dos padrões de sono no cotidiano.
Assim, uma das ferramentas mais utilizadas dentro das pesquisas com crianças e bebês são os questionários – ou diários – do sono, em que os pais e/ou responsáveis podem preencher diariamente os dados percebidos sobre o sono diurno e noturno dos filhos por alguns dias[142]. Entretanto, diversos fatores contribuem para que essa também seja uma ferramenta de análise que apresenta limitações. Os principais questionários de sono utilizados atualmente são Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ), Infant Sleep Questionnaire (ISQ) e Brief Infant Sleep Questionnaire (BISQ). Existem ainda outros questionários presentes na literatura, como Children’s chronotype questionnaire (CCTQ), Children’s report of sleep patterns (CRSP), Adapted of Avon longitudinal study of parents and children (ALSPAC) questionnaire, Sleep timing questionnaire (STQ), Pediatric sleep questionnaire (PSQ)[143]. Desses questionários, o CSHQ (4 a 10 anos), BISQ e PSQ (2 a 18 anos) são validados em língua portuguesa, sendo utilizados em pesquisas nacionais[144–146]. Outros estudos utilizam questionários próprios desenvolvidos diretamente pelos pesquisadores e compostos de perguntas direcionadas ao foco do estudo em questão.
Os componentes principais de um questionário de sono são estimativas de horário do início do sono noturno, final do sono noturno, momento em que a criança deitou na cama para dormir e levantou ao acordar, número de despertares ao longo da noite e sua duração e número de cochilos diurnos, entre outras variáveis. Essa abordagem proporciona uma avaliação durante dias, de forma não invasiva e sem interferir na rotina de sono das crianças. Uma das principais limitações desse método
é a percepção sobre o sono da criança depender da presença dos pais nesses momentos. Por exemplo, um bebê que acorda durante a noite por alguns segundos e não chora antes de voltar a dormir provavelmente não teria esse despertar percebido pelos pais. Outro ponto importante é a memória sobre esses eventos e o registro de tempo exato, podendo interferir na precisão dos dados obtidos.
Outra ferramenta atualmente disponível para a análise do sono infantil é o uso de acelerômetros. No caso de estudos de sono, os acelerômetros são chamados de actígrafos ou actímetros. A actigrafia é uma ferramenta objetiva, que possibilita uma avaliação longitudinal e não invasiva de coleta de dados de atividade e repouso de seus usuários. O actígrafo é um dispositivo de aparência semelhante a um relógio de punho que apresenta, em seu interior, um acelerômetro responsável por registrar movimentos, além de sensores de luz e temperatura, devendo ser alocado no punho não dominante de seus usuários. No caso de bebês e crianças pequenas, pode ser colocado no tornozelo.
Para que os dados de atividade e repouso coletados pela actigrafia sejam corretamente traduzidos em dados de sono e vigília, é necessário um algoritmo. Atualmente, existe uma grande variedade de algoritmos disponíveis comercialmente, por exemplo, os algoritmos de Cole-Kripke e de Sadeh[147–149]. Entretanto, é importante mencionar que a maior parte dessas ferramentas foi desenvolvida e validada com base na interpretação de dados de indivíduos adultos, sem considerar as particularidades de movimentação de cada faixa etária – o que denota um grande viés para a análise do sono infantil. Nesse contexto, uma alternativa para avaliação da ritmicidade circadiana de crianças se dá por meio da análise direta dos dados de atividade e repouso coletados pelo actígrafo, sem haver a necessidade do uso de um algoritmo para conversão dos dados. É possível estudar essas informações por meio da actigrafia, que permite a estimativa da atividade noturna, a atividade diurna e a amplitude relativa entre elas – fornecendo, assim, informações sobre a consolidação dos ritmos circadianos na criança.
Com isso, a escolha dos instrumentos utilizados para avaliação do sono infantil depende dos objetivos estabelecidos. A polissonografia, por exemplo, é muito útil para detecção de síndromes clínicas, enquanto a actigrafia permite a análise de ritmicidade de forma longitudinal e não invasiva. Cabe a cada profissional, portanto, ponderar quais informações devem ter prioridade em sua avaliação, dentro dos parâmetros desejados.
Problemas de sono na infância
Nos primeiros anos de vida, estima-se que entre 15% e 30% das crianças apresentam problemas de sono que resultam num sono insuficiente e/ou de má qualidade. Dificuldade de iniciar o sono e despertares noturnos são queixas bastante frequentes.
A dificuldade de iniciar o sono pode vir acompanhada de comportamentos como choro ou birra, sair da cama, solicitar bebida ou comida, agarrar-se ao cuidador, os quais podem atrasar ainda mais o início do sono.
A Fundação Nacional de Sono, dos EUA, estabelece alguns parâmetros para identificação de problemas de sono. Após os primeiros meses de vida, espera-se que a criança inicie o sono em menos de 30 minutos após ir para a cama e permaneça ao menos 85% do tempo dormindo até o final do sono na noite seguinte e que não tenha mais do que um despertar prolongado durante a noite.
A insônia, dificuldade de iniciar e/ou manter o sono noturno, ou ainda despertar antes do desejado mesmo que tenha oportunidades adequadas para dormir, pode estar presente na criança e o quadro deve ser avaliado pelo(a) pediatra, já que seu diagnóstico é clínico.
Distúrbios respiratórios do sono, caracterizados por irregularidades na respiração durante o sono, respiração laboriosa e/ou presença de roncos e pausas respiratórias também merecem atenção por parte do(a) pediatra.
Algumas parassonias – fenômenos ou experiências que ocorrem ao adormecer, durante o sono ou ao despertar – são bastante frequentes durante os primeiros anos de vida. São raras as crianças que não apresentam nenhum tipo de parassonia em algum momento da vida, e na maioria dos casos são eventos temporários. Sonambulismo, terror noturno, pesadelos e sonilóquio (falar dormindo) são exemplos de parassonias que ocorrem na infância. Parassonias persistentes (com duração de anos) podem ser um indicativo de algum sofrimento emocional, como a ansiedade. Esses quadros merecem maior atenção do(a) pediatra, notadamente se estiverem afetando o funcionamento diurno da criança.
Os episódios de terror noturno, caracterizados por despertares acompanhados de choro, gritos e ativação simpática – aumento da frequência cardíaca e respiratória – diferem dos pesadelos pois terminam subitamente, a criança apresenta maior resistência a ser consolada e ocorrem em geral no início da noite. Nos pesadelos, na maioria das vezes a criança desperta completamente. Ao despertar, a criança é capaz de se lembrar de um pesadelo, mas não tem lembrança dos episódios de terror noturno e de sonambulismo.
O diagnóstico de enurese, eliminação involuntária de urina durante o sono, é realizado após os 5 anos de idade, no caso de a criança ainda molhar a cama ao menos duas vezes na semana.
Recomendações para a organização familiar
Sono, alimentação e atividade física adequados são pilares do desenvolvimento e devem ser tratados com a mesma prioridade. Assim como soa absurdo uma criança
passar o dia na escola sem se alimentar, deveria soar tão absurdo quanto o fato de ela não dormir ou não realizar atividade física durante sua permanência na creche ou na escola.
Para a família, podem ser feitas algumas recomendações gerais. O sono deve ser tratado com a mesma importância da alimentação. O dia e a noite devem ser bem sinalizados, ou seja, durante a dia é desejável a maior exposição possível à luz – não é recomendável escurecer o ambiente para que a criança durma a sesta – e durante a noite a menor exposição à luz, com a redução da intensidade luminosa.
A criança deve ir acordada para a cama, para que ela adquira autonomia relacionada ao sono. Procedimentos como fazer a criança dormir no carrinho – em muitas situações a criança é levada direto do carro para a cama – devem ser evitados.
A hora de dormir não pode ser um momento estressante, pois o estresse aumenta a atividade cerebral, dificultando o início do sono. Brincadeiras que envolvam atividade física mais intensa, essenciais para a manutenção do desenvolvimento saudável, devem ser feitas durante o dia. Após o anoitecer sugere-se atividades mais tranquilas, como leitura e contação de histórias.
O consumo de substâncias estimulantes, como chás, café e refrigerantes, deve ser evitado, principalmente nas horas que antecedem o horário de dormir.
É fundamental que sejam estabelecidas rotinas relacionadas ao horário de acordar, horário das refeições e horários de dormir – respeitando-se as necessidades de cada criança. Há várias propostas que fornecem subsídios para a construção de uma rotina de sono e que podem trazer benefícios para o sono da criança.
Uma rotina de sono bem estruturada pode reduzir a latência de sono – o tempo que a criança demora para dormir –, reduzir o número de despertares noturnos e ainda aumentar a segurança emocional da criança, contribuindo para que ela adquira autonomia em relação ao sono. Entende-se por rotina de sono um conjunto consistente de atividades previsíveis antes do apagar das luzes. Uma das abordagens propõe que a rotina possua quatro componentes. O primeiro, a alimentação, que pode ser o jantar, um lanche, a mamadeira, o que se adequar melhor aos hábitos da família e à idade da criança. O segundo componente é o momento da higiene, que envolve o banho e a escovação dos dentes. O terceiro seria a comunicação, no qual se conta uma história, se lê um livro, canta-se uma canção de ninar, preferencialmente sem o uso de telas. O quarto componente envolve o contato físico, que pode ser uma massagem, um abraço, um cafuné.
Finalmente, um dos maiores desafios: seguir as recomendações dos pediatras associadas ao uso de dispositivos eletrônicos. Crianças de até 2 anos não devem usar em nenhuma situação. Crianças de até 5 anos de idade devem usar no máximo uma
hora por dia. A partir dos 5 anos, no máximo duas horas por dia, sempre com a supervisão de uma pessoa adulta.
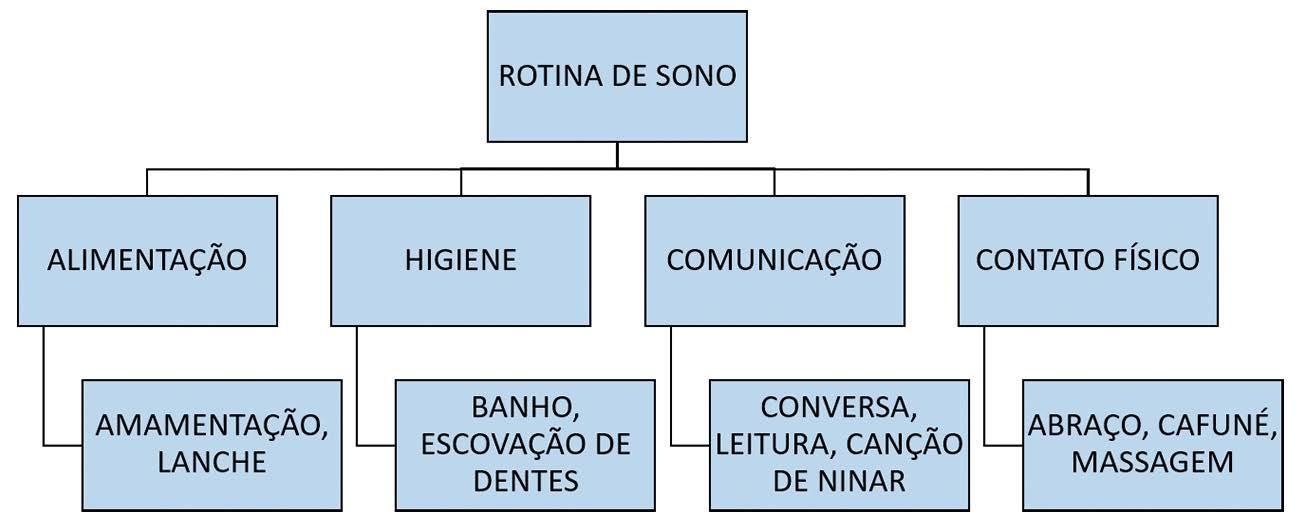
Figura 4.4 Componentes de uma rotina de sono estruturada. Fonte: produzida pelos autores.
Implicações para a organização escolar e para as políticas públicas
Diante das necessidades de sono na primeira infância que foram apresentadas, é fundamental que creches e escolas de educação infantil tenham um espaço dedicado ao sono. Como a redução dos episódios de sono diurno é muito variável, algumas crianças têm necessidade da soneca após o almoço até 5 ou 6 anos de idade, enquanto outras já deixam de dormir aos 2 ou 3 anos; o ideal é que existam dois espaços – aquele dedicado ao sono e outro para atividades de leitura ou brincadeiras para crianças que permanecem acordadas durante a sesta. O planejamento do espaço físico da creche deve prever a existência desses espaços, assim como a aquisição de insumos como colchonetes e travesseiros.
O acesso a informações a respeito da importância do sono, as necessidades na primeira infância e de medidas que favorecem um sono de qualidade devem estar disponíveis para as famílias e para profissionais que trabalham em creches e instituições de educação infantil.
Deve-se incluir, em documentos oficiais como a caderneta da criança, informações sobre a importância do sono, assim como dados sobre as necessidades de sono para cada faixa etária e orientações que auxiliem os responsáveis a construir uma rotina de sono adequada.
CAPÍTULO 5
Desenvolvimento infantil e parentalidade
Rogerio Lerner
Izabella Lopes de Arantes
Caroline Martins Dias
Desenvolvimento infantil
A primeira infância compreende desde a gestação até os 6 anos de idade e é um período bastante sensível para o desenvolvimento humano, pois o que é estimulado positiva ou negativamente durante essa etapa poderá ter impactos que se refletirão ao longo da vida. É nessa etapa inicial que são construídas bases fundamentais para a aquisição de futuras habilidades em diversos âmbitos da vida, por exemplo, a capacidade de aprender (cognitivo) e de lidar com relações e sentimentos (socioemocional), saúde física (somático), entre outros[150].
As conquistas da criança não se refletem apenas nas mudanças perceptíveis na sua aparência física e no crescimento, mas também em diversas outras habilidades que, embora possam parecer mais sutis, merecem toda a nossa atenção. Transformações importantes que ocorrem de maneira discreta se expressam na forma de comunicação da criança, nas experiências emocionais e suas manifestações, na sua maneira de movimentar-se e brincar, no manuseio de coisas do cotidiano e na sua interação com as pessoas do seu meio[150].
O desenvolvimento do cérebro e de todo o sistema nervoso começa antes do nascimento e pode sofrer com condições vivenciadas nessa etapa, como saúde física
e
e mental da mãe e do pai, ingestão de drogas e álcool por parte deles, exposição à violência no ambiente, com consequências importantes para a evolução cerebral do bebê.
A exposição intensa aos chamados fatores de risco, frequente e duradoura, sem apoio e proteção adequados, pode desencadear um tipo tóxico de estresse, afetando negativamente o cérebro e com prejuízos para o desenvolvimento. São considerados fatores de risco preconceito, exposição a violência e drogas, negligência, abusos psicológicos, abusos físicos, pobreza, cuidadores que apresentam transtornos mentais[151].
Nos anos iniciais, o cérebro humano passa por grande plasticidade. Isso significa que as experiências da criança nos vínculos com quem cuida dela têm impacto na sua estrutura e funcionamento, formando-se inúmeras novas conexões entre os neurônios (células que formam o sistema nervoso), que são chamadas de sinapses. O processo de parentalidade envolve a construção que mulheres e homens fazem da sua identidade como mães e pais de bebês antes mesmo que estes venham ao mundo. Esses papéis parentais começam a ser construídos ainda na infância a partir das brincadeiras e das experiências dessas pessoas nas suas famílias, sendo transformados até a vida adulta, quando passam a exercer suas funções parentais com suas próprias filhas e filhos[152].
É a partir da família, mais precisamente de mães e pais ou quem exerce tais funções, que a criança poderá se estruturar psiquicamente e se desenvolver. O desenvolvimento infantil está associado ao ambiente parental em que a criança está inserida, com suas características positivas e negativas[153]. É importante ressaltar que o ambiente em que a parentalidade é exercida é influenciado pela história e pela cultura tanto em sentido amplo, ao pensarmos em nossa sociedade com seus valores e regras que influenciam nossas ações, como por questões individuais e construídas a partir das vivências de cada pessoa[154].
Para promover o desenvolvimento saudável, precisamos considerar a integralidade do cuidado: é necessário que haja alimentação adequada, ambiente que ofereça segurança e afeto, estímulos favoráveis, relações de apoio e educação com qualidade. Por isso, família, sistema de saúde, creches, escolas de educação infantil e a sociedade como um todo devem trabalhar em conjunto para garantir que a infância seja um período saudável e seguro.
Investimentos que promovem melhorias de parentalidade e das condições de vida na primeira infância são essenciais para atuar sobre a pobreza, enfrentando desigualdades injustas na distribuição dos recursos de saúde, educação, trabalho entre diferentes grupos populacionais, decorrentes das condições sociais em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem[155]. Possibilitam cresci-
mento e desenvolvimento saudáveis a fim de construir um futuro mais sustentável como sociedade. Afinal, em algumas décadas, as crianças que hoje vivenciam a primeira infância estarão à frente da economia, assumindo postos de trabalho, ocupando as universidades e cuidando de outras crianças.
Pesquisas científicas com evidências sobre parentalidade e primeira infância devem ser utilizadas para embasar políticas públicas que busquem democratizar oportunidades para um bom desenvolvimento infantil.
Aprofundando a compreensão sobre parentalidade
A parentalidade envolve um conjunto de atitudes ligado a crenças, sentimentos e hábitos das pessoas que são cuidadoras principais da criança, não se restringindo a mães e pais biológicos, dado que a família pode ser considerada uma organização que existe a partir dos afetos e cuidados entre as pessoas que fazem parte dela sem necessariamente envolver laços consanguíneos[156]. Existem diversos tipos de famílias: biparentais (com pai e mãe), monoparentais (com apenas um cuidador), famílias com mães e pais separados, reconstituídas, com casais homoafetivos, com filhos adotivos, entre outras.
Práticas de parentalidade positiva estão associadas ao melhor desenvolvimento infantil, e devemos percebê-las como uma parte da promoção da saúde e como uma forma de prevenção de problemas futuros que as crianças poderão enfrentar.
A parentalidade positiva atende às necessidades da criança com afeto, apoio, cuidado e sensibilidade[153]. Um ambiente afetuoso, em que a criança é apoiada e incentivada a desenvolver suas habilidades, está ligado a manifestações mais frequentes de comportamentos cooperativos e exploratórios das crianças. Contudo, a parentalidade negativa, com comportamentos violentos e punitivos e falta de sensibilidade para os sentimentos das crianças, está associada a uma frequência e intensidade maiores de comportamentos agressivos e inibidos por parte delas.
A formação do vínculo seguro entre bebês, mães e pais inicia-se ainda durante a gestação. Enquanto o feto está em desenvolvimento, pai e mãe começam a atribuir significados às sensações provocadas antes mesmo de sentirem os movimentos dentro do útero. Nesse momento, ele já começa a ser pensado e sentido como uma pessoa a partir das falas e interações dos integrantes da família. Após o nascimento, a aproximação afetiva entre eles gera sentimentos de pertencimento e empoderamento materno e paterno nos cuidadores. Esse sentimento é crucial para o estabelecimento de confiança e, posteriormente, de vinculação entre eles e o bebê. Olhares, falas e toques afetuosos e responsivos dirigidos ao bebê e seu corpo durante a amamentação, no banho, nas brincadeiras e em outros momentos são muito importantes nessa etapa[152].
As primeiras experiências do bebê após o nascimento são fundamentais para o estabelecimento da confiança que é essencial para a formação dos seus vínculos. A
e
criança precisa desenvolver um senso de confiança tanto nas pessoas que a rodeiam como nos objetos do seu cotidiano, de maneira equilibrada, permitindo a formação de vínculos íntimos e de proteção[157]. Confiança surge a partir da educação sensível, responsiva, coerente e consistente entre a criança e sua família.
O ambiente familiar na primeira infância pode influenciar a qualidade da estimulação da criança, o que é muito importante no seu processo de aprendizagem. Muitos aspectos do ambiente influenciam o desenvolvimento cognitivo e psicossocial: incentivo à exploração do ambiente; supervisão do desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais; elogios às realizações; orientação para a prática de habilidades; proteção contra preconceitos, provocações e punições; enriquecimento da comunicação e responsividade; e orientação e limitação do comportamento[157].
Nos anos 1960, teóricos já discutiam sobre os modelos parentais e qual seria o mais benéfico para a criação de uma criança[158]. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)[159] ressalta que as práticas parentais podem ser divididas em quatro tipos de estilos segundo suas características:
1. Pais permissivos: há pouca comunicação de regras e prevalece uma tolerância exagerada com comportamentos inadequados dos filhos. Por acreditarem que a criança já sabe do que necessita, acabam por não a orientar nem criam formas positivas de disciplina.
2. Pais ausentes: caracteriza-se por uma tendência de os pais voltarem-se a si mesmos, levando mais em consideração suas próprias necessidades em comparação com as da criança, seus desejos e vontades. Pode haver maior negligência e descuido, pouca demonstração de afeto e dificuldades em compreender as necessidades básicas da criança, como a importância do afeto, amor e apego.
3. Pais autoritários: tendem a ter uma postura mais rígida e controladora quanto aos comportamentos da criança, com pouca demonstração de afeto e forte uso da punição para controle do comportamento. Este estilo é oposto ao permissivo, com pais que acreditam saber o que é melhor, mantendo uma relação unilateral, com pouco respeito à personalidade da criança e uso de medo, castigo e força para controle.
4. Pais participativos ou autoritativos: este é considerado o estilo mais desejável de parentalidade. Leva em consideração os sentimentos e ideias da criança, valoriza seus esforços e comportamentos positivos e promove uma comunicação aberta e empática. Há uma conciliação entre o reconhecimento da individualidade da criança e a percepção da responsabilidade de quem cuida em educar e orientar, estabelecer regras e limites condizentes às necessidades da criança e incentivando sua criatividade, curiosidade e independência.
Desde a gestação e até mesmo antes dela, as crenças, valores e sentimentos parentais alimentam suas expectativas sobre o estilo de cuidado que adotarão e sobre as características físicas e psicológicas da criança[152]. No entanto, após o nascimento, é importante que o casal desenvolva a percepção de que o bebê tem características diferentes das imaginadas durante a gestação e desenvolva a aceitação de como ele é. Adaptar-se a partir da interação com o bebê, protegê-lo, compreendê-lo e reconhecê-lo como filha ou filho são aspectos fundamentais para um vínculo saudável[160].
Depressão e parentalidade
Cerca de 3,8% da população mundial apresenta sinais depressivos, sendo mais comum em mulheres do que em homens. A depressão é um transtorno multifatorial que envolve fatores sociais, psicológicos e biológicos, como violência, desemprego, luto, histórico familiar e condições físicas limitantes[161]. A depressão se apresenta por um conjunto de sinais, entre eles a perda de prazer pelas atividades, estado geral deprimido, sensação de inutilidade, culpa e desvalia, cansaço constante, dificuldade na concentração, entre outros[162]. Alguns comportamentos de pessoas com depressão podem não ser percebidos como sua manifestação e levarem a uma culpabilização indevida de quem está em sofrimento e precisa de ajuda. A melhora do quadro está associada ao acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico, mas também à identificação de fatores ambientais que podem afetar as pessoas em sofrimento.
A depressão perinatal pode acontecer desde a gestação até os 12 meses após o parto e é um problema de Saúde Pública muito importante no nosso país. A cada quatro mulheres, pelo menos uma demonstra sinais depressivos, totalizando cerca de 26,3%[163]. A chance de sua ocorrência é maior na população negra, em classes econômicas desfavorecidas, pessoas com histórico de transtorno mental, episódios de gravidez não planejada, multiparidade (mulheres que já possuem três filhos ou mais), rede de apoio reduzida, eventos estressores e mães solo[163,164]. Seus sinais são semelhantes aos da depressão comum, com mais intensidade e frequência de irritabilidade, desinteresse sexual e choro[165,166]. Muitos dos casos possuem intensidade moderada, permanecendo mascarados pelo cansaço ou dificuldades para dormir típicos da maternidade, passando despercebidos pelos familiares próximos e profissionais de saúde[163].
A depressão perinatal está associada a diversas questões relacionadas à própria saúde da mulher e ao desenvolvimento da criança, como risco de nascimento prematuro e/ou baixo peso ao nascer, prejuízos no desenvolvimento global, dificuldades cognitivas, comportamentais e motoras, baixa autoestima e problemas de comportamento[164,166,167]. Pode afetar diretamente os cuidados voltados à criança, como a qualidade de vínculo mãe-bebê, sentimentos de incompetência por parte
da mãe e dificuldade na compreensão dos sinais emitidos pelo bebê, dificultando assim a constituição da parentalidade[166–168].
Apesar da possível associação com a depressão perinatal, dificuldades no desenvolvimento infantil devem ser vistas de maneira singular pela rede de apoio e pelos profissionais de saúde envolvidos. Seu trabalho, com o diagnóstico correto, auxílio quanto a dúvidas relativas à maternagem segura e a própria saúde da mulher, são fundamentais para que se favoreça a construção dos cuidados com o filho[168].
Assim como a depressão materna, o estresse parental também é um fator de risco, podendo afetar a parentalidade em construção e os laços com a criança. Esse tipo de estresse está relacionado às dificuldades que permeiam o exercício da parentalidade e que estão presentes no dia a dia da família. A mulher, durante o período gestacional, passa por uma série de mudanças fisiológicas e corporais que podem acarretar situações estressoras se não tiver um ambiente familiar acolhedor e que propicie uma gestação a mais tranquila, segura e saudável possível. Estresse aumentado na gestação pode afetar diretamente a vinculação da mãe com seu bebê, dificultando a parentalidade positiva[169].
O estresse gestacional está relacionado ao estresse parental, ou seja, mulheres que tiveram uma gestação conflituosa por razões emocionais, sociais ou financeiras, tais como ambiente familiar violento, psicopatologia na família, desemprego, criminalidade, abuso de álcool e outras drogas, possuem maior probabilidade de continuar com sintomas de estresse no período pós-parto e no primeiro mês de vida do bebê[169].
Burnout parental
A sobrecarga resultante do excesso de tarefas durante os cuidados parentais pode levar a um tipo de esgotamento emocional denominado burnout parental. Mães, pais ou mães solo, mães e pais de crianças pequenas, mães e pais com mais de um filho, mães e pais de crianças com deficiências ou doenças, mães e pais que sofrem de depressão ou excessivamente perfeccionistas podem ser mais suscetíveis a sofrer burnout.
Senso de autoeficácia e boa autorregulação emocional, bom relacionamento conjugal, relacionamentos interpessoais satisfatórios e rede de apoio também podem proteger mães e pais contra o burnout parental[170].
Entrevistas clínicas, sobretudo em um contexto de psicoterapia, podem servir para diagnosticar e para possibilitar um espaço de elaboração do burnout parental[170,171].
O Inventário de Burnout Parental (Parental Burnout Assesment) considera três sintomas principais: exaustão relacionada às tarefas como mãe ou pai, distância emocional em relação aos filhos e ineficiência no exercício da parentalidade. Para
ser utilizado com a população brasileira, houve um processo de tradução e retradução, adaptação para o contexto brasileiro e culturalização, além de estudos com amostras brasileiras[172].
A Avaliação de Burnout Parental consiste em um questionário de 23 itens com 4 subescalas voltadas a avaliar exaustão emocional, sentimentos negativos em relação ao convívio com os filhos, diferenças entre a forma como os pais se sentiam antes de ter filhos e como se sentem agora e afastamento emocional em relação aos filhos.
As consequências do burnout parental podem ser bastante prejudiciais tanto para mães e pais quanto para as crianças. Acometidos pelo esgotamento, podem buscar meios de escapar do exercício da parentalidade pelo distanciamento psicológico, alcoolismo ou, em casos extremos, pensamentos ou tentativas de suicídio. Na relação com os filhos, podem ter dificuldade em dar suporte emocional e acolhimento, tornando-se impacientes e menos tolerantes às necessidades das crianças, chegando até a negligenciar os cuidados e adotar comportamentos mais violentos[171].
As crianças podem vir a se sentir mais desamparadas, ansiosas e inseguras ante à indisponibilidade emocional de seus pais. Afetando a qualidade das interações entre mães, pais e filhos, o burnout parental tem potencial para alterar negativamente toda a dinâmica familiar[173]
Uma vez que o quadro de burnout esteja instalado, é importante buscar tratamento para cuidar de seus sintomas e restabelecer o bem-estar e a qualidade de vida. Psicoterapia individual, psicoterapia familiar e acompanhamento psiquiátrico são algumas estratégias de cuidados em saúde mental. Atividades que reduzam o estresse, como a prática de exercícios físicos, atos de autocuidado, prática de hobbies e interação social também são importantes aliados na luta contra o burnout parental. A participação em grupos sobre parentalidade e fortalecimento de rede de apoio, formada por pessoas próximas, são iniciativas importantes[174].
Parentalidade, regulação emocional e funções executivas
Os estímulos recebidos na primeira infância estão diretamente ligados à aquisição de habilidades mais complexas que serão cruciais para o futuro da criança. Entre essas habilidades, estão as funções executivas que, quando apresentam bom funcionamento, permitem que a pessoa seja capaz de perceber suas emoções, lidar melhor com os próprios impulsos, pensar a respeito de um mesmo assunto por diferentes pontos de vista, conseguir refletir antes de adotar uma ação, manter a atenção e lidar com desafios.
Funções executivas e regulação emocional estão interligadas, uma vez que podem se influenciar mutuamente. Por exemplo, uma emoção desregulada pode afetar de
maneira negativa a possibilidade de tomar decisões, enquanto habilidades bem desenvolvidas de controle inibitório podem contribuir na regulação de uma resposta emocional e evitar que esta aconteça de forma exacerbada ou inadequada. Um bom funcionamento executivo pode favorecer habilidades necessárias para regulação emocional ao permitir que uma pessoa reflita, pense considerando diversos pontos e, dessa forma, consiga lidar melhor com situações emocionalmente desafiadoras em que precisa se autorregular. Em suma, regulação emocional e funções executivas são cruciais para uma vida adulta funcional no cotidiano[175].
O controle inibitório, uma das habilidades que compõem as funções executivas, é fundamental para que uma pessoa consiga ter comportamentos socialmente adequados, orientados a objetivos e com capacidade de adaptação, tornando-se mais apta para uma vida autônoma[176]. A ausência ou o déficit no controle inibitório resultam em impulsividade, respostas e comportamentos potencialmente inadequados. Na vida cotidiana, o controle inibitório pode ser requerido para emitir respostas adequadas em situações diversas, por exemplo: na tomada de decisões que necessitam de racionalidade e até mesmo na renúncia a impulsos momentâneos a fim de evitar consequências negativas futuras; na regulação das próprias emoções diante de situações muito estressantes e desafiadoras; na capacidade de ter foco em tarefas e projetos, resistindo a distrações e conseguindo manter-se na atividade, o que pode privilegiar ações favoráveis ao rendimento acadêmico, profissional e também nos compromissos diários; nas relações com outras pessoas, favorecendo interações mais bem adaptadas às necessidades de cada situação com posturas mais harmoniosas e menos reativas[177].
No que diz respeito à parentalidade, o controle inibitório pode auxiliar mães e pais na gestão das próprias emoções e na forma como reagem diante dos desafios apresentados por suas crianças. A regulação das emoções permite a percepção de sentimentos de raiva, estresse e frustração, que auxilia a recobrar o equilíbrio e favorece comportamentos mais assertivos, mesmo perante situações bastante desafiadoras. A capacidade de mães e pais de manterem-se estáveis pode propiciar um ambiente emocionalmente seguro e com previsibilidade às crianças, que não serão surpreendidas por reações parentais agressivas, descontroladas ou abruptas[178], educando de maneira positiva, sem punições causadas por impulsividade, raiva e descontrole[179].
Sendo capazes de ter mais autocontrole, foco e atenção, mães e pais conseguem gerir melhor as próprias tarefas e conciliar diversas responsabilidades concernentes à parentalidade e a outras áreas da vida, melhorando sentimentos de autoeficácia e autoestima. Esses comportamentos parentais assertivos e apropriados às situações, mesmo àquelas mais difíceis, podem, além de promover um ambiente seguro e protetor para o desenvolvimento saudável das crianças, servir de estímulos para elas
terem comportamentos futuros apropriados. Tendo mães e pais como exemplos, poderão aprender a gerir melhor as próprias emoções e apresentar ações mais positivas. Em outras palavras, a parentalidade positiva tende a favorecer o bom desenvolvimento de funções executivas e regulação emocional das crianças, ao passo que a parentalidade negativa pode representar obstáculos significativos para isso.
Instrumentos para avaliar a qualidade da interação entre mães e bebês e práticas de parentalidade
Alguns instrumentos se destinam a avaliar a qualidade da interação entre mães e bebês e práticas de parentalidade. Esses instrumentos reúnem diretrizes importantes para avaliar condições que podem favorecer aspectos saudáveis para o desenvolvimento na primeira infância.
O Coding Interactive Behavior (CIB), desenvolvido por Feldman em 1998, avalia a qualidade da interação mãe-bebê observando seu registro em vídeo ao longo de cinco minutos. Durante esse período, são identificados e registrados os diferentes tipos de comportamentos observados. A observação é direcionada por uma série de itens relevantes para o desenvolvimento da relação parental, tais como: o direcionamento do olhar materno para a criança; a expressão do afeto e sua manifestação; a vocalização materna e seu tom, que pode ser afetuoso, sem modulação vocal ou caracterizado pelo silêncio; o modo como o toque é aplicado no corpo do bebê em situações cotidianas, como a troca de fraldas ou o ato de acalentar; e o posicionamento da criança no colo da mãe ou se ela permanece por longos períodos sem ser segurada[180].
O Parenting and Family Adjustment Scales (PAFAS) é uma ferramenta concebida para avaliar as práticas parentais e a qualidade da dinâmica familiar. Dentro das suas dimensões, destaca-se a relevância do relacionamento entre pais e filhos, abrangendo o apoio, incentivo e afeto oferecidos à criança. Além disso, avalia-se o nível de satisfação dos pais com suas vidas e as responsabilidades parentais, aspectos que influenciam diretamente na promoção de uma parentalidade saudável. Não menos importante é a análise da qualidade da rede de apoio familiar disponível para esses pais, entre outros aspectos[181].
Piccolo (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes) é uma ferramenta utilizada para avaliar interações parentais. São consideradas as seguintes dimensões: estimulação (como as interações parentais estimulam aprendizagem), responsividade (respostas dos pais a necessidades das crianças), afeto (demonstrações afetuosas e contato físico) e encorajamento (estímulo à autonomia e suporte)[182].
Um estilo de criação orientado por práticas positivas de parentalidade deve considerar a afeição entre pais e crianças, que engloba contato físico positivo, expressões positivas demonstradas à criança e manifestações emocionais calorosas; a responsividade dos pais em relação a emoções, comportamentos e interesses da criança; uma postura de encorajamento à criança, com apoio para que possa explorar, conhecer, ter iniciativa, ser criativa e brincar; e o ensino, que deve abranger interações, brincadeiras, estímulos e perguntas que favoreçam as aprendizagens da criança[182].
Programas voltados para a parentalidade
A violência vivenciada, seja diretamente sofrida e/ou presenciada pela criança, pode estimulá-la a agir de forma semelhante aos comportamentos violentos dos adultos. As diferentes violências que ocorrem durante a infância podem gerar impactos profundos ao longo de toda a vida, já que a violência é potencialmente ameaçadora ao pleno desenvolvimento[150]. A exposição repetida e prolongada à violência, sem o apoio e proteção genuínos de uma pessoa adulta, pode produzir estresse tóxico, que tende a desencadear agravos à memória, aprendizagem, imunidade, entre outros. Prevenir a ocorrência de danos à infância é a maneira mais eficaz de combater a violência contra crianças[183].
São consideradas formas de violência contra crianças: agressões físicas, que consistem em causar sofrimento físico à criança; abuso sexual, que consiste em praticar atos sexuais com a criança ou fazê-la presenciar a realização destes; violência psicológica, que equivale a humilhações, constrangimento, depreciação, discriminação; negligência, isto é, não ofertar cuidados, proteção e se omitir diante das necessidades de proteção e zelo[183].
O que afeta negativamente e de forma substancial a infância afeta também toda a sociedade. Falar sobre o potencial do desenvolvimento humano não significa classificar nem tampouco segregar crianças com dificuldades para seu desenvolvimento. Trata-se, na verdade, de alertar profissionais, gestores de políticas públicas, famílias e sociedade para a importância de que todos reúnam esforços para zelar e prover às crianças uma infância saudável a fim de que cada uma, de acordo com suas próprias características, possa alcançar seu potencial de desenvolvimento o mais plenamente possível, o que fica ameaçado pelos estilos de parentalidade considerados negativos[184].
Nos últimos anos, a prevenção de práticas parentais negativas e a promoção de positivas têm ocorrido em vários países a partir de diferentes propostas.
O programa ACT (palavra do inglês que, em português, significa Ação), desenvolvido pela American Psychological Association (APA), é destinado ao fortalecimento da parentalidade positiva e prevenção de violências contra crianças de 0 a 8 anos.
Há uma versão traduzida para o português com a finalidade de alcançar o público brasileiro intitulada Programa ACT – Para Educar Crianças em Ambientes Seguros[185] . O ACT consiste em um treinamento para mães e pais para prevenção de ocorrências de parentalidade negativa e aumento das de parentalidade positiva transmitindo informações sobre desenvolvimento infantil, fatores de risco e proteção, oferecendo orientações para a melhora de habilidades sociais, construção de comunicação mais assertiva e para que lidem com situações de conflito sem fazer uso de violência. São desenvolvidas estratégias para administrar a raiva dos pais ou das crianças, entender o comportamento da criança, resolver conflitos e aplicar disciplina positiva.
Por meio da promoção de práticas de parentalidade positiva, o ACT é um programa eficaz para melhorar os níveis de estresse parental[186]. No Brasil, o trabalho com o ACT teve início em 2012 com etapas de adaptação, validação e pesquisas demonstrando sua eficácia[187].
Fortalecendo Laços[188,189] é um programa criado no Laboratório de Pesquisa em Prevenção de Problemas de Desenvolvimento e Comportamento da Criança – FMRP USP (LAPREDES) a fim de incentivar o desenvolvimento saudável na infância aprimorando as relações entre mães e crianças com idades entre 2 e 6 anos. Tem uma etapa presencial que consiste em observação e sessão em grupo e, posteriormente, outra com formato remoto por meio de vídeos compartilhados via smartphone. Os conceitos que fundamentam o programa são responsividade – que entende a importância de haver cuidado, amor, presença e disponibilidade de mães e pais em relação às crianças; reciprocidade – compartilhamento de momentos, ideias e auxílio às crianças de maneira colaborativa que favorecem que tenham modelos positivos influenciando seu comportamento; diretividade – estimular a criança para que possa aprender e construir sua autonomia.
No Brasil, alguns programas são voltados a intervenções envolvendo a família, com destaque para o manejo de situações conflituosas e a prevenção de comportamentos negativos, sendo conduzidos de maneira bilateral[190]. O Programa de Treinamento de Pais promove práticas educacionais positivas, habilidades de comunicação e enfrentamento ao estresse[191], enquanto o Trabalho de Intervenção com Foco em Práticas de Socialização é direcionado para os problemas internalizantes na infância[192].
O Programa Criança Feliz, instituído a partir do Decreto n. 8.869, de 5 de outubro de 2016, propõe a promoção do desenvolvimento integral de crianças na primeira infância (de 0 a 6 anos). É uma iniciativa governamental, intersetorial e uma política do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)[193], que está em consonância com o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), que traz a relevância das
formulações de diretrizes e implementações de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento infantil nos seus primeiros anos de vida[194].
A participação no programa é ofertada pela inscrição e atualização dos dados no Cadastro Único, e as famílias cadastradas recebem visitas domiciliares realizadas pelas equipes de profissionais de saúde de seu território com a finalidade de receber o acompanhamento necessário e as orientações de forma a fortalecer o vínculo entre a família e a comunidade[194]. O programa possui como principais objetivos a promoção do desenvolvimento infantil integral, apoio à gestante e sua família durante o período anterior ao nascimento do bebê, cuidado com crianças em situação de vulnerabilidade, fortalecimento do vínculo e papel da família no desenvolvimento global da criança, estímulo da prática de atividades lúdicas e facilidade de acesso às políticas e serviços de que necessitam[194].
Segundo dados coletados pelo governo de São Paulo, essa política alcançou, até o mês de maio de 2023, 219 dos 645 municípios do estado, totalizando cerca de 22.815 pessoas beneficiadas, o que evidencia que a iniciativa ainda necessita de muitos avanços na sua expansão[195].
No Brasil, foi sancionada recentemente a Lei n. 14.826/2024, que defende a parentalidade positiva e o direito de brincar como formas de prevenção à violência contra crianças. A lei destaca que não só a família, mas o Estado e a sociedade como um todo devem prezar pela segurança e boas condições para que a infância seja vivida com qualidade. Entre as estratégias e práticas para parentalidade positiva, a lei institui a promoção de: ações de prevenção e manutenção da vida da criança, resguardando saúde física e mental, garantindo direitos e protegendo da exposição à violência; suporte emocional à criança a fim de proteger o desenvolvimento psicológico; práticas educacionais não violentas, que sejam refletidas em relações saudáveis entre pais e crianças; estímulos à construção da autonomia respeitando as fases do desenvolvimento infantil; entre outras[196].
A importância da Caderneta da Criança como instrumento de fortalecimento à parentalidade positiva
A Caderneta da Criança (CC) é um instrumento importante de vigilância para acompanhamento e registro de informações sobre a saúde das crianças de 0 a 9 anos, preenchido pelos profissionais envolvidos, que destaca que é assegurado a toda criança o direito a uma infância com segurança e proteção e fornece diretrizes para o exercício de uma parentalidade adequada[150]. Todos os bebês nascidos no Brasil em maternidades públicas ou privadas têm direito ao seu recebimento gratuito.
A CC[150] recomenda ações práticas que podem ser adotadas por mães e pais ao longo de cada fase do desenvolvimento da criança para ofertar um tipo de cuidado consistente e afetuoso desde seu nascimento: evitar gritos e outros tipos de violência;
expressar carinho e afetividade ao lidar com sua filha ou filho; atentar-se às necessidades de cuidado da criança; conversar e interagir de acordo com a idade da criança. Além disso, orienta os adultos a não praticarem atitudes agressivas na presença de crianças, evitando, assim, influenciá-las a reproduzir comportamentos violentos presenciados ou vividos.
Os marcos do desenvolvimento encontrados na CC são um conhecimento importante para que profissionais, mães e pais compreendam melhor a criança em cada fase. Seu desconhecimento pode trazer riscos porque dificuldades ou atrasos podem não ser percebidos, ao passo que, caso fossem identificados precocemente, receberiam intervenções de profissionais da saúde que minimizam eventuais danos. A atenção aos marcos do desenvolvimento da infância presentes na CC também é uma forma de cuidado.
Se há alguma suspeita, por parte das pessoas que cuidam da criança, de que ela não está atingindo algum dos marcos do desenvolvimento esperados para sua faixa etária, é necessário que a equipe de saúde seja informada. Profissionais da saúde que têm especialização em infância têm capacitação adequada para realizar uma avaliação minuciosa e, se necessário, intervir para cuidar.
A CC é produzida pelo Ministério da Saúde como uma fonte de informações sobre desenvolvimento infantil segura, qualificada e confiável, que ganha ainda mais importância no momento atual, em que notícias falsas prejudiciais estão tão disseminadas. Os registros contidos na CC são detalhados e documentam a trajetória de cuidados de saúde ofertados durante a infância. Os dados sobre cada fase do desenvolvimento são baseados em evidências científicas sobre crescimento e saúde da criança atualizadas de acordo com as diretrizes dos órgãos de saúde.
As notícias falsas, conhecidas como fake news, propagam inverdades que podem gerar grandes danos às pessoas que abandonam comportamentos benéficos ou adotam novos hábitos danosos à própria saúde ou à de quem cuidam por terem acreditado em boatos sem fundamentos científicos. Quando se pensa em fake news ligadas ao desenvolvimento infantil, a situação tende a ser ainda mais grave, pois podem influenciar negativamente os estilos de cuidado parental e até mesmo a oferta de prevenção e promoção de saúde a crianças. Um exemplo recente desse problema é a disseminação massiva de notícias falsas espalhando desinformação sobre as vacinas, influenciando negativamente sua procura mesmo nos períodos de campanhas largamente anunciadas. Ressalte-se sempre que vacinas salvam vidas e impedem a disseminação de doenças.
Se notícias falsas podem gerar agravos significativos à saúde, orientações pautadas pela ciência como as existentes na CC podem auxiliar na construção de uma infância mais segura.
Então, o que vimos até aqui?
● O desenvolvimento do cérebro do bebê começa antes do nascimento e é influenciado pela saúde materna. A primeira infância é um período crucial para o desenvolvimento humano com impactos duradouros. Durante essa fase, são construídas as bases fundamentais para habilidades cognitivas, físicas e emocionais. São fatores de risco para o desenvolvimento infantil o preconceito, a violência e a pobreza, que podem causar estresse tóxico, prejudicando o desenvolvimento cerebral.
● O desenvolvimento infantil também é influenciado por fatores sociais, históricos e culturais. A integralidade do cuidado é essencial, incluindo alimentação adequada, segurança, afeto, estímulos favoráveis, apoio e educação de qualidade. Famílias (biparentais, monoparentais, reconstituídas e homoafetivas), sistemas de saúde, creches, escolas e a sociedade devem trabalhar em conjunto para garantir um desenvolvimento saudável.
● A formação de vínculos seguros começa na gestação e se fortalece com experiências afetivas pós-nascimento. A confiança e a vinculação são essenciais para o desenvolvimento, sendo influenciadas por uma educação sensível e responsiva. A estimulação no ambiente familiar é primordial para o desenvolvimento cognitivo e psicossocial.
● O processo de parentalidade começa antes do nascimento, com os papéis parentais sendo influenciados pela estrutura familiar e pela sociedade. O desenvolvimento da criança é influenciado por mães, pais e cuidadores, com o ambiente familiar desempenhando um papel importante. Práticas de parentalidade positiva, caracterizadas por afeto, apoio, cuidado e sensibilidade, estão associadas ao melhor desenvolvimento infantil e à prevenção de dificuldades futuras.
● O ambiente familiar deve evitar práticas negativas que aumentam o risco de comportamentos desafiadores.
● Investir na parentalidade é fundamental para o enfrentamento de iniquidades e promoção do desenvolvimento saudável. Nesse sentido, as evidências científicas embasam as políticas públicas como forma de democratização de oportunidades em prol do bom desenvolvimento infantil.
● A depressão materna pode afetar negativamente o desenvolvimento infantil, destacando a necessidade de apoio profissional.
● O estresse parental é um fator de risco significativo, podendo continuar no pós-parto. Já o burnout parental resulta do excesso de tarefas. Ambos têm consequências prejudiciais tanto para cuidadores como para crianças, pois
afetam as relações, e podem ser prevenidos com autoconfiança, boa rede de apoio e cuidado com as emoções.
● Instrumentos de avaliação podem ser utilizados para identificar e tratar o burnout parental.
● As funções executivas auxiliam os pais na gestão das emoções e reações aos desafios da parentalidade. O controle inibitório, quando bem desenvolvido, pode influenciar positivamente na regulação de alguns sentimentos, como raiva, estresse e frustração, promovendo, assim, comportamentos assertivos e um ambiente emocionalmente seguro e previsível para as crianças.
● Programas de prevenção de parentalidade negativa e promoção da positiva são benéficos para a família e para o desenvolvimento infantil.
● A regulação emocional e funções executivas se influenciam mutuamente. Emoções desreguladas podem afetar negativamente a tomada de decisões. Já as habilidades bem desenvolvidas de controle inibitório ajudam na regulação emocional e são importantes para uma vida adulta funcional no cotidiano por permitirem a possibilidade de reflexão e melhor manejo frente a situações desafiadoras.
● A Caderneta da Criança (CC) é um documento oficial e seguro contra a desinformação por ser baseada em evidências científicas e conter atualizações de saúde. Serve como um guia prático para a parentalidade a partir de recomendações como a relevância do carinho e atenção frente às necessidades da criança, interações de acordo com a faixa etária, os malefícios de gritos e violência, entre outros. Ressalta a importância dos marcos do desenvolvimento, evitando que atrasos e dificuldades passem sem ser percebidos e cuidados.
Dessa maneira, mães, pais e cuidadores têm o direito de ter acesso à CC para cuidar do desenvolvimento junto com profissionais de saúde envolvidos.
CAPÍTULO 6
Experiências adversas na infância e suas consequências para o desenvolvimento
Maria Beatriz Martins Linhares Elisa Rachel Pisani Altafim
O presente capítulo aborda o tema das experiências adversas na infância, que ameaçam a trajetória de desenvolvimento sadia e plena. Com o objetivo de compreender as “experiências adversas na infância” (Adverse Childhood Experiences – ACEs), primeiramente, apresenta-se uma fundamentação teórica e conceitual sobre desenvolvimento infantil e seus diferentes contextos. Em segundo lugar, encontram-se uma síntese dos achados de estudos empíricos e revisões da literatura demonstrando os efeitos negativos das adversidades na infância (maus-tratos e disfunções familiares) no desenvolvimento e na saúde, que podem ser consideradas “estressores tóxicos” em “contextos caóticos”. Finalmente, são apresentadas algumas estratégias protetoras por meio do fortalecimento da parentalidade, que possibilitam quebrar o ciclo intergeracional das violências e promover processos de resiliência nas trajetórias de desenvolvimento.
Desenvolvimento da criança e importância dos contextos sociais
O desenvolvimento humano é definido como um processo de transformação, envolvendo mudanças, tanto quantitativas como qualitativas, que ocorrem ao longo do ciclo vital[157]. O desenvolvimento depende de fatores biológicos, da maturação
e da aprendizagem e encontra-se organizado em fases que têm seus respectivos marcos do desenvolvimento em diferentes áreas (motora, cognitiva, linguagem, emocional e social). As etapas incluem tarefas evolutivas, com aquisições e domínio de competências organizadas hierarquicamente, que se desenvolvem do nível mais simples para o mais complexo de forma ordenada e integrada. A trajetória do ciclo vital deve ser concebida dentro de um processo histórico, em que as fases vão se organizando e oferecendo a base estruturante e funcional para as etapas seguintes, e dos contextos sociais.
O estudo do desenvolvimento humano inclui diferentes abordagens teórico-conceituais, e no presente capítulo serão destacados três modelos teóricos que contribuem sobremaneira para a compreensão do desenvolvimento e a importância dos contextos ambientais em que as crianças vivem. Primeiramente, o Modelo Transacional do Desenvolvimento preconiza uma integração dialética no desenvolvimento humano entre nature (natureza/aspectos biológicos e maturacionais) e nurture (estimulação/ aspectos ambientais), incluindo os seguintes componentes: a pessoa, o contexto, a regulação e a representação[197]. A pessoa inclui a progressão de competências sensório-motoras, cognitivas, afetivas e sociais, e os desempenhos nessas áreas nas suas formas mais simples para as mais complexas. O contexto, por sua vez, integra as influências bidirecionais entre a pessoa e os seus diversos contextos ambientais de desenvolvimento, desde o mais próximo ao mais distal. Os processos de regulação, que são organizadores que visam atingir a autorregulação, por meio da mediação social e da corregulação dos outros, principalmente dos cuidadores principais das crianças. Finalmente, a representação envolve o esquema cognitivo-abstrato formado a partir das experiências vividas, que permite que a pessoa possa interpretar novas experiências e criar expectativas em relação ao mundo circundante, cumprindo uma função adaptativa relevante[197]
Em segundo lugar, a Teoria Biossocioecológica de Bronfenbrenner concebe o desenvolvimento humano em meio a diferentes sistemas interrelacionados, que incluem desde o microcontexto até o macrocontexto[198]. Nessa teoria há um foco e detalhamento das influências ambientais no desenvolvimento. O microssistema se refere às relações proximais realizadas face a face, em geral observadas na família, creches e escolas, sendo essas influências reconhecidas como bidirecionais. O mesossistema envolve a interação entre dois ou mais microssistemas nos quais a criança participa ativamente, podendo ser ampliado sempre que novos contextos sejam experimentados, por exemplo, as relações entre a família e a escola. No exossistema, a criança pode não ter relação direta com determinado contexto, mas eventos que ocorram nesse ambiente podem afetar indiretamente seu desenvolvimento, por exemplo as
condições de trabalho dos pais. O macrossistema representa a abrangência de sistemas culturais, crenças, valores, ideologias e funcionamentos político e econômico do país em que a pessoa vive. Finalmente, o cronossistema consiste no sistema mais amplo por incluir a dimensão temporal que influencia nas mudanças (ou constância) a que a pessoa e o ambiente estão sujeitos, a exemplo de mudanças familiares estruturais, troca de residência, mudança de emprego, períodos econômicos do país e ocorrências adversas no contexto maior[198].
Em terceiro lugar, a Teoria do Caos e sua influência no desenvolvimento trata de uma releitura da teoria do Bronfenbrenner analisando os eventos negativos que ameaçam o desenvolvimento humano, por exemplo, altos níveis de barulho, excesso de pessoas, instabilidade temporal e estrutural dos ambientes em que a criança vive, instabilidade nas relações e pobreza[199]. Os contextos caóticos podem estar localizados desde o microcontexto até o macrocontexto[199,200]. Os ambientes caóticos impactam negativamente nos aspectos biológicos e psicossociais do desenvolvimento das crianças, assim como podem afetar a qualidade dos cuidados parentais, levando a maior irritabilidade, ansiedade e depressão. Considerando-se a dinâmica do caos nas famílias e sua relação com o bem-estar socioemocional das crianças, o caos no microssistema pode operar em diferentes níveis[201], a saber: construção do tempo familiar, frequência e disrupção das atividades de rotina e irregularidades das atividades no cotidiano. No macrossistema, componentes do caos associam-se com a condição de pobreza e baixo nível socioeconômico[202]. A perspectiva do desenvolvimento em contextos caóticos examina o efeito do caos em idades específicas, assim como o efeito em cascata nas etapas subsequentes do desenvolvimento[197]. Além disso, oferece fundamentação e subsídios para intervenções de proteção ao desenvolvimento considerando-se a perspectiva do ecossistema, que focaliza do microssistema ao macrossistema.
Portanto, verifica-se que essas três abordagens apresentam um caráter complementar, tendo como um eixo comum norteador a importância dos contextos sociais no desenvolvimento das crianças. O microcontexto familiar representa um fator importante no desenvolvimento na primeira infância, na medida em que nesse contexto ocorrem as interações face a face entre pais e crianças e as oportunidades de aprendizagens fundamentais, que contribuem para as regulações emocionais e comportamentais das crianças, assim como para seu processo de socialização[203]. No contexto familiar, os pais (ou outros cuidadores principais com a função parental) desempenham um papel fundamental na construção da personalidade das crianças. Define-se como parentalidade (parenting) os comportamentos dos pais baseados no melhor interesse da criança, que asseguram a satisfação de suas principais necessidades e sua capacitação; envolve cuidar, proteger e guiar a criança para
a trajetória até a maturidade, com investimento e compromisso[203–206]. A parentalidade envolve um processo contínuo de promoção e suporte ao desenvolvimento integral e à socialização da criança[187]. Para promover o desenvolvimento integral das crianças, é crucial que os pais e cuidadores foquem em três aspectos: satisfazer as necessidades básicas da criança e garantir sua saúde e bem-estar; manter uma conexão emocional, demonstrando atenção e receptividade e ser referência de segurança, sendo estáveis e consistentes na vida da criança[187].
No entanto, a parentalidade pode envolver práticas parentais negativas com dificuldades no estabelecimento de vínculos e interações adequadas, levando ao apego inseguro, com práticas parentais coercitivas e maus-tratos, e a consequências negativas no desenvolvimento e comportamento das crianças[207–209,187]. Na parentalidade, a regulação emocional e comportamental materna é um fator crucial para o engajamento e suporte parental, enquanto a desregulação emocional materna constitui-se em um fator de risco para maus-tratos e disciplina rígida e punitiva, levando a comportamentos agressivos das crianças e adolescentes[203,179].
Os estudos na área da parentalidade contribuem para entender os processos de interação pais-criança, práticas e estilos parentais e sentimentos, crenças e atitudes parentais[203]. Os programas de parentalidade oferecem suporte aos pais para fortalecer seus conhecimentos e habilidades ou para melhorar aspectos da parentalidade, a fim de promover o desenvolvimento saudável das crianças[187,207–209].
As experiências adversas na infância e impactos no desenvolvimento
Considerando-se a importância de prevenir as práticas parentais negativas, torna-se importante compreender o histórico das adversidades na infância dos pais. No desenvolvimento humano é importante atentar para os “ciclos intergeracionais de adversidades”, tais como os ciclos da pobreza e da violência contra crianças, pois constituem-se em fatores de risco à integridade física e psicológica do indivíduo. Ambas as condições adversas da pobreza e da violência caracterizam como um “ambiente caótico” no desenvolvimento das crianças[199]. Nesse ambiente, o indivíduo tem experiências de eventos estressores tóxicos, em que o percebe como potencialmente ameaçador, desencadeando determinadas reações de estresse nos níveis fisiológico e psicológico, o que causa danos à saúde quanto mais intensas e crônicas forem as adversidades[210,211]. O estresse tóxico pode ocorrer na presença de eventos adversos, sem a devida proteção para neutralizar seus efeitos negativos, ajudar no enfrentamento das adversidades e mudar o curso da história desenvolvimental. No caso da violência contra crianças, a parentalidade negativa é um potencial estressor tóxico, com consequências deletérias ao desenvolvimento a curto, médio e longo prazo[203,212,213].
A violência contra crianças é um grave problema mundial, que impacta negativamente o desenvolvimento das crianças e precisa ter respostas de enfrentamento efetivas e urgentes[32,214]. Destaca-se que um recente e relevante estudo discute sobre o que as agências globais podem fazer para solucionar o problema das violências interpessoais contra as crianças, que incluem: violência doméstica, violência na comunidade (bullying e punição corporal nas escolas, trabalho infantil e violência institucional) e violência coletiva (conflitos armados, práticas baseadas em tradições, religiões e superstições e violência de gênero)[215]. Focalizando especificamente as violências interpessoais no contexto intrafamiliar, os dados no Brasil são alarmantes quando se analisam as denúncias do Disque 100 e os registros do Anuário de Segurança Pública, que foram apresentados no working paper do Núcleo de Ciência pela Infância[183]. Os dados mostram que 84% dos casos de violência contra crianças na primeira infância envolvem os próprios cuidadores familiares. Portanto, as violências contra as crianças no microssistema familiar consistem em uma grave violação de direitos, sendo que na realidade as crianças precisam de garantias dos direitos para uma infância protegida e segura.
Com o objetivo de prevenir as violências contra as crianças com respostas efetivas, diversas organizações internacionais e grupos de trabalho apresentaram modelos e estratégias para acabar com a violência. Pode-se destacar algumas estratégias: a) fortalecimento das capacidades individuais das crianças, por meio de os cuidadores manejarem agressão e resolução de conflitos, reduzirem estresse e garantirem cuidado com segurança e proteção; b) prevenção da violência de forma integrada em serviços e instituições que atendem crianças e mulheres (por exemplo, escolas, hospitais); c) eliminar a raiz da causa do problema da violência, especialmente em comunidades de maior risco, promovendo normas sociais positivas não violentas; espaços públicos seguros[215]. Em 2016, a Organização Mundial da Saúde, associada à Parceria Prevenção de Violência contra Crianças, lançou o INSPIRE, com as sete estratégias para acabar com a violência contra crianças globalmente[32]. O INSPIRE é um acrônimo que significa: I de implementação e reforço da lei; N de normas e valores; S de segurança; P de pais e cuidadores garantindo suporte; I de income, fortalecimento de renda e economia; R de resposta e suporte dos serviços; E de educação e habilidades de vida.
As consequências das violências mostram efeitos deletérios no desenvolvimento humano, que deixam atrasos no desenvolvimento e necessitam de tratamento e prevenção[216]. A parentalidade negativa, tais como punições corporais, gritos, ameaças, humilhações, abusos sexuais, tem efeitos negativos para o desenvolvimento e comportamento das crianças[212,217]. As práticas de palmadas e punição corporal provocam problemas de comportamento externalizantes (por exemplo: agressividade
e dificuldades de atenção) e internalizantes (por exemplo: sintomas de ansiedade, retraimento e depressivos)[212] e alteram o funcionamento cerebral[213,218].
O problema da parentalidade negativa se agrava quando ocorre a transmissão intergeracional das violências na família. As experiências adversas na infância formam um ciclo vicioso de violências, impactando as práticas parentais e a interação mãe-criança futuras, as quais, por sua vez, provocam problemas de comportamento nas crianças[184, 212,219,220]. Os problemas de comportamento das crianças se expressam no âmbito familiar, assim como no contexto escolar, interferindo negativamente nos relacionamentos com pares e habilidades sociais e estimulando o bullying na fase escolar. Portanto, deve-se considerar que os efeitos negativos das violências contra crianças podem ser identificados nos âmbitos pessoal, familiar e comunitário.
As experiências de adversidades na infância são geralmente avaliadas por questionários de autorrelato sobre a memória dos eventos que ocorreram até os 18 anos de idade, porém podem ser avaliadas também por eventos notificados e confirmados de maus-tratos na infância. Os questionários Adverse Childhood Experiences
Questionnaire (ACE-Q), Child Abuse and Trauma Scale, Child Trauma Questionnaire, Conflict Tactiles Scale, Traumatic Experience Checklist e Childhood Experiences Scales podem ser utilizados para avaliar as experiências de adversidades na infância. O ACE-Q[221] é amplamente usado e mostra uma forte “dose resposta”, na medida em que diferentes ACES mostram relação com mais problemas de comportamento e saúde[222]. O ACE-Q inclui dois componentes, a saber: um contra o indivíduo (maus-tratos) e outro voltado para o funcionamento familiar (ambiente disfuncional). Nos maus-tratos incluem-se os abusos emocionais, físicos e sexuais e as negligências emocional e física; no ambiente familiar disfuncional, encontram-se a exposição a abuso de substâncias, transtorno mental, tentativa de suicídio, violência doméstica, divórcio/separação parental e comportamento criminoso/prisão por parte de adulto que morasse na mesma casa. Importante destacar que as experiências adversas no desenvolvimento inicial vão moldando como as crianças interagem e percebem seu ambiente e as pessoas circundantes. Importante lembrar que, na perspectiva do estresse traumático, o conceito de ACE pode ser considerado expandido, incluindo outras adversidades do tipo: ser testemunha de violência, sentimento subjetivo de discriminação, vizinhança, viver em abrigos, guerras, desastres naturais, entre outros[223]. O Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ) avançou como um instrumento padronizado para a avaliação e vigilância internacional das experiências adversas, permitindo formular programas e políticas públicas de prevenção de maus-tratos na infância no âmbito mundial[224]. Destaca-se que nessa versão houve um avanço pela inclusão de itens sobre violência comunitária, violência coletiva e bullying e conta com uma versão brasileira[225]. Importante ob-
servar que os questionários lidam com a lembrança de eventos adversos no histórico de vida até 18 anos e, portanto, o processo de rememoração pode estar sujeito a um viés de memória.
Os ACEs são considerados estressores tóxicos, na medida em que há um desencadeamento de reatividade intensa e prolongada frente a adversidades, prejudicando a capacidade de respostas do organismo ao estresse, com consequências prejudiciais ao desenvolvimento e saúde, especialmente na ausência de suporte de relações positivas dos cuidadores[210,211]. As experiências de adversidades na infância têm consequências relacionadas a problemas de saúde física (obesidade, doenças imunes, gastrointestinais, pulmonares e cardiovasculares, câncer) e saúde mental (sintomas depressivos, comportamento agressivo, estresse pós-traumático, abusos de substâncias nicotina, álcool e outras drogas ilícitas, suicídio), que estão amplamente documentadas em um estudo de revisão da literatura[222].
A presença de ACEs na infância é considerada um dos mais potentes fatores de risco para psicopatologias ao longo do ciclo vital[226,227]. Os maus-tratos aumentaram o risco de indivíduos terem diminuição da responsividade a recompensas e apresentarem déficits no reconhecimento e compreensão das emoções[226]. A exposição a ACEs pode levar a piores desfechos em múltiplas áreas do desenvolvimento, incluindo dificuldades na resolução de problemas, comunicação, habilidades pessoal-sociais e habilidades motoras no desenvolvimento inicial até 24 meses[228], assim como problemas de desempenho escolar, pobre qualidade do sono, problemas emocionais e comportamentais nas crianças e adolescentes[229]. Crianças que tinham mães que sofreram maus-tratos na infância apresentaram um risco 3,55 vezes maior de sofrer punição física do que crianças que tinham mães sem histórico de ACEs, sendo o risco ainda mais elevado quando as mães haviam sofrido abusos graves na infância[230]. Estudos de revisão da literatura destacam que a exposição a ACEs aumenta significativamente o risco de comportamentos parentais negativos em gerações posteriores, nas práticas parentais[203] e nas interações mãe-criança[220].
A quantidade de ACEs importa, a presença de três ou mais ACEs (versus < 3 ACEs) associou-se com maior risco de suspeita de atraso no desenvolvimento das crianças em diversas áreas[228]. O histórico de quatro ou mais ACEs associa-se com maior risco para apresentar baixo nível de escolaridade, problemas de saúde e criminalidade; os efeitos negativos se intensificam na presença da pobreza e do gênero masculino[231]. O estudo de Dong et al. (2004)[232] mostrou a coocorrência de múltiplas adversidades, na medida em que 81% de 8.629 respondentes que relataram experimentar um tipo de maus-tratos tinha mais de um tipo associados.
Os achados ressaltam a importância de reconhecer e interromper o ciclo de transmissão intergeracional de comportamentos parentais abusivos e violentos. No
entanto, deve-se considerar que existem continuidades e descontinuidades da transmissão intergeracional da violência. Como exemplo, um estudo longitudinal de longo prazo investigou a relação das ACEs com psicopatologias nos filhos na fase adulta jovem, comparando grupos de filhos com experiências de maus-tratos (com pais que quebraram o ciclo ou pais que mantiveram, respectivamente) e sem experiências de maus-tratos (controle)[233]. Os resultados mostraram que aqueles que romperam o ciclo da violência apresentaram menos psicopatologias do que os que mantiveram os padrões de violência nas práticas parentais, sendo em nível semelhante ao do grupo controle. Esses achados demonstram que as práticas parentais positivas podem atuar como fator de proteção à saúde mental dos filhos, diminuindo os riscos para o desenvolvimento de psicopatologias encontrado até mesmo no início da vida adulta. Em outro estudo, o comportamento interativo materno observado em situação lúdica com crianças na fase da primeira infância mostrou aspectos positivos de afetividade, engajamento, responsividade e estimulação, independentemente da presença das experiências adversas na infância materna[234]. De modo interessante, as mães desse estudo apresentavam um fator protetor do bom senso de competência parental. Portanto, deve-se atentar para a possibilidade de descontinuidades do ciclo de violência, compreendendo que existe um balanço entre fatores de risco e mecanismos de proteção nas trajetórias de desenvolvimento, que podem explicar processos de resiliência de superação de impactos negativos de adversidades. Diante da literatura apresentada verifica-se que as experiências adversas na infância, como abuso, negligência e outras formas de violência têm um impacto negativo no desenvolvimento das crianças. Essas experiências, conhecidas como estresse tóxico, podem prejudicar significativamente o desenvolvimento de uma criança nas suas diferentes áreas, como a física, socioemocional e cognitiva. Quando uma criança está exposta a níveis elevados e persistentes de estresse, sem o apoio de um adulto cuidador, isso pode resultar em alterações no cérebro e outros órgãos, afetando negativamente a saúde física e mental ao longo da vida.
Intervenções centradas na parentalidade como estratégia de proteção ao desenvolvimento e prevenção da violência
O suporte aos pais na forma de intervenções parentais é uma estratégia importante e eficaz para reduzir a violência contra as crianças e promover a quebra do ciclo intergeracional das violências[235]. O INSPIRE recomenda sete estratégias para acabar com a violência contra as crianças, sendo uma delas as intervenções centradas na parentalidade[32,236]. Além disso, destaca que os programas de parentalidade relacionados aos de transferência de renda são recomendáveis devido ao efeito sinérgico positivo para o desenvolvimento das crianças em condições de vulnerabilidade psicossocial[31,32,236]. As intervenções podem ocorrer no nível de prevenção primária
ou universal, que é dirigida à população em geral, no nível de prevenção secundária ou seletiva, orientada para famílias em condição de riscos identificados (por exemplo, famílias em risco de abuso infantil, enfrentando pobreza, comunidades economicamente desfavorecidas) e no nível de intervenção terciária ou indicada, quando as famílias têm os problemas instalados (por exemplo, maus-tratos contra as crianças na família) que vão requerer intervenções individualizadas e terapêuticas[237]. Os programas de parentalidade na modalidade de intervenção preventiva universal contribuem para oferecer orientações aos pais para fortalecimento da parentalidade positiva e redução de violências contra crianças, mesmo em famílias com experiências de adversidades no ambiente.
Estudos de revisão demonstram que os programas de parentalidade constituem-se em um fator de proteção ao desenvolvimento ao reduzir práticas negativas de maus-tratos e incrementar as práticas de cuidado positivo ao desempenhar a função parental[207-209]. Destaca-se que os programas de parentalidade efetivos são os estruturados em sessões, manualizados com currículo e procedimentos definidos com um conjunto de atividades organizadas, em que os pais aprendem a aplicar estratégias no seu contexto familiar com as crianças. Além de fortalecimento da parentalidade, os programas contribuem para melhorar a saúde mental dos cuidadores, reduzindo sintomas de depressão, ansiedade e estresse parental[238]. Intervenções centradas na parentalidade foram efetivas em reduzir a violência contra crianças mesmo em ambientes que até mesmo enfrentavam graves de crises humanitárias (guerras, desastres naturais ou industriais, refugiados) em países de baixa e média renda[238]. Nessa revisão da literatura, foi verificada a efetividade de 19 programas de parentalidade que visavam reduzir a violência contra crianças, mudando as crenças negativas, atitudes e comportamentos relacionados à violência, discussão sobre poder, redução da disciplina física, perigos da punição física, estratégias alternativas de manejo do comportamento sem violência e promoção da resiliência familiar frente a adversidades.
De acordo com a UNICEF[239], os programas de parentalidade visam as informações sobre interações positivas pais-crianças, uso de encorajamento positivo, técnicas de disciplina não violenta, resolução de problemas, suporte socioemocional e supervisão responsiva. Os principais componentes da parentalidade envolvem as interações, relacionamentos e vínculos afetivos entre pais e filhos, as práticas de disciplina e afetos e os estilos parentais e sistema de sentimentos e crenças relativos ao papel parental[203]. Em geral, os programas de parentalidade focalizam a parentalidade positiva, que engloba os seguintes aspectos: vínculos afetivos positivos estabelecendo o apego e a base segura ao desenvolvimento; interações positivas com sincronia, sensibilidade, responsividade e estímulo à autonomia e aprendizagens da
criança; práticas parentais de disciplina positiva no estabelecimento de limites em equilíbrio com afeto; regulação emocional e comportamental com controle inibitório de impulsos; bom senso de competência parental e autoeficácia; prazer no desempenho das funções parentais. As modalidades de entrega dos programas de parentalidade podem ser presenciais ou remotas, com estratégias de grupo ou individuais, aplicadas em serviços de saúde ou assistência social, centros comunitários, escolas ou por meio de visita domiciliar e aplicadas por profissionais de diferentes áreas relacionadas a desenvolvimento infantil e atendimento familiar.
Portanto, os programas de parentalidade com evidências científicas são recomendados para a implementação em larga escala em políticas públicas orientadas para a família. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em países de baixa e média renda, intervenções parentais baseadas em evidências devem ser disponibilizadas de forma acessível a todos os pais ou outros cuidadores principais de crianças de até 17 anos, em formatos de grupo ou individualizados, realizadas por meio de organizações governamentais das áreas da Saúde, Educação ou Proteção Social, assim como de organizações não governamentais[235]. Quando os programas demonstram eficácia, resultados obtidos por meio de estudos randomizados e controlados, e efetividade, resultados obtidos por meio de estudos aplicados no contexto do “mundo real”, significa que estão validados e recomendados para a implementação em larga escala. O INSPIRE destaca que a implementação dos programas em larga escala é o grande desafio, na medida em que precisa manter os efeitos encontrados em estudos com amostras menores de participantes em condições mais controladas pelos pesquisadores.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde[235], a adaptação cultural dos programas de parentalidade pode ser necessária para garantir alta relevância cultural e altos níveis de engajamento e satisfação dos participantes. Cada cultura possui valores, práticas e crenças específicas que influenciam a dinâmica familiar e a parentalidade. A adaptação de programas pode incluir vários passos, conforme delineado no INSPIRE, sendo fundamental identificar os componentes essenciais do programa (core components), suas características de melhores práticas, que envolvem uma revisão cuidadosa da literatura científica relevante. As adaptações recomendadas incluem a tradução de materiais para os idiomas locais e a alteração do vocabulário, modificação de imagens para que crianças e adultos se assemelhem ao público-alvo, substituição de referências culturais; alteração de aspectos das atividades, como o contato físico, para estarem em conformidade com as normas locais e adição de conteúdo local baseado em evidências para aumentar a relevância para os participantes[235]. Por outro lado, adaptações arriscadas e não recomendadas incluem: reduzir o tempo de envolvimento dos participantes no programa, cortando o número
das sessões; eliminar mensagens-chave ou habilidades que devem ser aprendidas; remover tópicos importantes; alterar a abordagem teórica; tentar implementar o programa com profissionais ou voluntários inadequadamente treinados[235]. Além disso, adaptar culturalmente não significa aceitar ou concordar com práticas parentais negativas, como as que envolvem a violência contra as crianças. As consequências do uso da violência em determinada cultura devem ser abordadas de maneira sensível e educativa, focando na proteção e direitos das crianças e não na culpabilização dos cuidadores. Essa abordagem respeitosa e inclusiva pode aumentar a confiança e a cooperação entre os facilitadores do programa e as comunidades atendidas, facilitando a adoção de novas estratégias parentais e a sustentabilidade das intervenções a longo prazo.
Os programas de parentalidade para prevenção de violência não devem julgar ou estigmatizar os pais, e sim engajá-los em estratégias que vão ajudá-los a lidar com os comportamentos dos filhos, fortalecendo a parentalidade positiva. Muitos pais ou outros cuidadores principais participam dos programas de parentalidade visando romper o ciclo intergeracional de violência que vivenciaram na infância. Um estudo demonstrou que 81% das mães participantes do programa de parentalidade ACT para Educar Crianças em Ambientes Seguros relataram ter vivenciado um ou mais atos violentos na infância, principalmente cometidos por membros da família[240]. Após a participação no programa, as mães melhoraram suas práticas parentais, independentemente de seu histórico de violência na infância. Dentre essas mães, 63% experimentaram mais de um tipo de violência, sendo as combinações mais comuns a violência física com exposição à violência familiar e a violência física com a violência psicológica. O abuso físico foi o tipo de violência mais frequente (por exemplo, puxões de orelha e de cabelo, palmadas, beliscões e socos), muitas vezes envolvendo o uso de objetos (por exemplo, vara, cinto e chinelo), resultando em severos maus-tratos. A exposição à violência familiar, especialmente brigas entre pais, também foi prevalente. Esses achados destacam a necessidade de que programas de parentalidade incluam facilitadores capacitados para lidar com as complexas demandas emocionais dos participantes, muitas vezes resultantes de experiências adversas na infância. Isso é essencial para oferecer suporte adequado e eficaz durante as intervenções, promovendo um ambiente seguro e acolhedor para as famílias. Um programa de prevenção universal tem a vantagem de engajar pais com históricos de violência e riscos para práticas parentais negativas, sem preconceitos ou estigmatização.
O programa ACT – Raising Safe Kids (para Educar Crianças em Ambientes Seguros) encontra-se entre os programas de parentalidade centrados na prevenção de violência recomendado pelo INSPIRE[32,215] e encontrado em revisões da literatura
como um programa de prevenção universal de parentalidade[207,208]. Caracteriza-se por ser um programa com evidências científicas e tem uma versão em português do Brasil (ACT – para Educar Crianças em Ambientes Seguros; American Psychological Association). O ACT foi validado para o Brasil e reúne diversos estudos em uma trajetória de onze anos de pesquisa[187]. O ACT é um programa estruturado que inclui oito sessões de intervenção altamente interativas e dinâmicas, com evidências de fortalecimento da parentalidade positiva, prevenção de violências contra crianças e redução de problemas de comportamento em crianças de 0 a 8 anos de idade[187].
Os conteúdos do programa abordam os temas sobre o desenvolvimento infantil, práticas e estilos parentais, como lidar com a raiva e comportamentos desafiadores e monitoramento de mídias, com o grande diferencial de abordar os tipos e consequências no desenvolvimento das violências contra as crianças. O Programa ACT tem um custo baixo, pois envolve apenas o investimento no treino e certificação de profissionais, porém sem custo para as famílias, facilitando sua implementação em países de média e baixa rendas.
As pesquisas com o Programa ACT no Brasil demonstraram a eficácia e efetividade do programa para promover os seguintes aspectos: o fortalecimento da parentalidade positiva (disciplina positiva, regulação emocional e comportamental e comunicação positiva) e da estimulação parental no ambiente familiar; a redução de práticas parentais negativas coercitivas e de inconsistência parental; e a redução de problemas de comportamento externalizantes e internalizantes das crianças na primeira infância[159,241].
Após o alcance de evidências científicas da efetividade do programa nos âmbitos internacional e nacional, o programa ACT foi implementado em larga escala de forma integrada a políticas públicas no Brasil, a saber: a) no município de Pelotas (RS) na área de Educação a partir de 2019[242]; b) no Estado do Ceará em 18 municípios na área de Proteção Social ou combinada de forma intersetorial com Educação e Saúde[241] a partir de 2020; c) no município de Osasco (SP) na Secretaria da Família em parceria com a Secretaria de Educação a partir de 2023. No estado do Ceará, o planejamento estratégico tinha um dos componentes centrado no enfrentamento das violências, o que levou a um projeto desenvolvido no âmbito de uma coalizão entre o Governo do Estado e fundações do terceiro setor. O projeto apresentou um modelo inovador de prevenção de violências contra crianças incluindo seis componentes: a) sensibilização e articulação com gestores e tomadores de decisão; b) formação qualificada em programa de parentalidade com evidências científicas (Programa ACT); c) nucleação de equipes de profissionais; d) implementação com as famílias; e) pesquisa de avaliação de impacto com as famílias, de formação profissional e implementação nos municípios; f) sustentabilidade[186,241]. A
implementação do ACT foi realizada com famílias em condição de vulnerabilidade social de muito baixa renda mensal (menos de R$ 1.000,00) e beneficiárias de programas de transferência de renda (Bolsa Família e/ou Cartão Mais Infância Ceará). As evidências científicas, obtidas por meio de um estudo randomizado e controlado com grupo controle de lista de espera realizado com 1.310 cuidadores participantes e seus filhos de até 6 anos de idade, mostraram os seguintes resultados: alta taxa de retenção dos cuidadores ao programa ACT; mudanças significativas após a realização do programa, revelando um aumento da parentalidade positiva e a redução das práticas negativas coercitivas e de inconsistência parental; redução dos problemas emocionais e comportamentais externalizantes e internalizantes das crianças[241]. Portanto, por meio de programa de parentalidade aplicado em larga escala pode-se contribuir para a quebra do ciclo intergeracional de violências nas famílias ao trazer padrões mais adaptativos de cuidados às crianças que viviam em condições de vulnerabilidade psicossocial.
Em conclusão...
Pode-se verificar a gravidade do problema das adversidades na infância relativas a maus-tratos e disfunções familiares, que impactam na parentalidade e, consequentemente, no desenvolvimento e comportamento das crianças. No sentido de quebrar o ciclo intergeracional da violência, recomenda-se como prioridade políticas públicas intersetoriais em diferentes níveis para contribuir efetivamente para enfrentar o problema da violência contra crianças[32,215]. O estudo de revisão de Rakotomalala et al. (2023)[214] realizou um mapeamento das políticas de suporte à parentalidade para acabar com a violência contra crianças, no contexto de 194 países, e encontrou a necessidade de ter mais claramente definida a relação entre políticas e práticas assim como as modalidades de implementação dos programas. Apesar das leis e responsabilidades governamentais, um levantamento realizado em 2018-2019 com 155 países mostrou que as intervenções para prevenir violência contra crianças ainda têm grande dificuldade de alcançar a larga escala[236]. Portanto, no âmbito de políticas públicas, deve-se ter uma abordagem ecossistêmica e intergeracional do problema da violência, a fim de assegurar estratégias em diferentes níveis e contextos (família, escola, comunidade) com uma integração de diferentes áreas (Saúde, Educação, Proteção Social e Justiça) integrando planos, ações e protocolos. Investimento em programas de parentalidade, com foco na prevenção universal da violência contra crianças e com evidências científicas de impacto nas famílias e nas crianças, apresentam poder significativo de modificabilidade sem estigmatizar as famílias, ao fortalecerem a parentalidade positiva, reduzirem as práticas parentais negativas e, consequentemente, protegerem a saúde física e mental das crianças e dos pais/cuidadores principais.
CAPÍTULO 7
A importância da Puericultura para o desenvolvimento na primeira infância
Débora Falleiros de Mello
Lislaine Aparecida Fracolli
Maria de La Ó Ramallo Veríssimo
Introdução
As preocupações com a sobrevivência e a boa saúde das crianças levaram à criação de um conjunto de ações que foi chamado de Puericultura. O termo “Puericultura” surgiu no século XIX, na França, refere-se aos cuidados de criação das crianças e vem das palavras em latim puer (criança) e cultur (criação). Naquela época, a intenção era introduzir na sociedade hábitos de cuidado considerados mais seguros, propostos a partir dos conhecimentos científicos existentes.
Inicialmente, a Puericultura caracterizou-se como um movimento de médicos pediatras, ligado às preocupações com as precárias condições de vida, urbanização crescente, altos índices de natalidade e mortalidade infantil[243]. Naquele momento, constituiu-se como uma nova abordagem nas consultas pediátricas, com foco nos cuidados diários para manter e promover a saúde infantil, para além da atenção em situações de doença.
Esse movimento foi difundido em vários países, com implicações nas áreas da Saúde e da Educação. No Brasil, o movimento da Puericultura começou seguindo o modelo da França e Europa e foi se construindo com características próprias em
função dos aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos do país. Assim, passou a compor as ações básicas de saúde da criança, especialmente na primeira infância, isto é, nos primeiros 6 anos de vida.
Nas últimas décadas, a Puericultura tem sido reiterada como um importante pilar da atenção à saúde da criança, dado que a preocupação com o desenvolvimento infantil passou a ter mais destaque.
Os saberes construídos em vários campos do conhecimento, como a psicologia, neurociências, pediatria, sociologia, educação, entre outros, mostraram a importância dos primeiros anos para o desenvolvimento das capacidades humanas e para a saúde da pessoa por toda a vida. Também foi comprovado que os incrementos para a saúde, bem-estar e desenvolvimento na primeira infância são interdependentes de políticas públicas com investimentos em programas de qualidade[1], com diretrizes informadas cientificamente a favor da prevenção de agravos, da promoção da saúde e do desenvolvimento, e da garantia dos direitos das crianças.
Assim, este capítulo apresenta o papel da Puericultura na garantia de direitos das crianças no Brasil, dado que compõe uma política pública que abrange estratégias sistemáticas voltadas à promoção da saúde, desenvolvimento integral e prevenção de agravos, bem como prevê atenção a todas as crianças, com incrementos de ações às mais vulnerabilizadas.
Puericultura e recomendações de organismos internacionais e nacionais
A Agenda 2030, composta de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), inclui objetivos direcionados à promoção do desenvolvimento da criança, saúde e erradicação da pobreza, colocando a garantia do acesso universal aos serviços de saúde como primordial para o desenvolvimento infantil e para a proteção e cuidados com a infância[244]. O acesso universal ao desenvolvimento e cuidados de qualidade na primeira infância é uma parte fundamental para o alcance dos ODS. Nesse sentido, a prática da Puericultura tem muito a contribuir para atingir os ODS vinculados à primeira infância saudável. Nos primeiros anos de vida, a busca pelos ODS está interligada à garantia de cuidados adequados, organizados no modelo do Nurturing Care – Modelo de Cuidados Integrais – para as crianças, nos domínios da boa saúde, nutrição adequada, cuidados responsivos, aprendizagem desde o início da vida, proteção e segurança[104,245]. Nessa abordagem, é enfatizada a responsabilidade do setor de Saúde, entre outros setores, com importante papel para apoiar os cuidados de criação oferecidos pelas famílias para o desenvolvimento da criança na primeira infância. Portanto, configura-se como uma diretriz de recomendações às famílias, aos profissionais de saúde e outros trabalhadores, e aos formuladores de políticas, particularmente importantes para a prática da Puericultura na Atenção Primária à Saúde (APS).
No Brasil, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) –Portaria n. 1.130, de 5 de agosto de 2015 – tem o objetivo de promover e proteger a saúde da criança, abrangendo os cuidados da gestação aos 9 anos de idade, com especial atenção à primeira infância e aos grupos de maior vulnerabilidade. Trata-se de política pública com a finalidade de orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território nacional, considerando os determinantes sociais e condicionantes para garantir o direito à vida e à saúde[246].
Os preceitos da PNAISC precisam estar interligados ao Marco Legal da Primeira Infância[247], que estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil. Cabe destacar também que foi instituído o Mês da Primeira Infância, agosto, por meio da Lei n. 14.617, de 10 de julho de 2023, para a promoção de ações com sensibilização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até 6 anos de idade e suas famílias[248].
A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) teve sua primeira edição em 2006, e posteriormente teve atualizações. A PNAB é um mecanismo de fortalecimento da APS, e tem o papel de manter, em funcionamento ordenado, o acesso prioritário ao Sistema Único de Saúde (SUS). A APS é responsável por prestar assistência e resolver de 80% a 90% dos problemas de saúde das pessoas ao longo da vida. A PNAB, apesar das várias alterações que tem sofrido, ainda constitui uma base bastante favorável para a sustentabilidade da PNAISC, com diretrizes que envolvem a adscrição de usuários e famílias, a busca pela construção de vínculos de cuidado e a responsabilização da equipe de saúde[249].
Os princípios que orientam o SUS afirmam a garantia do direito à vida e à saúde, o acesso universal de todas as crianças à saúde, equidade, integralidade do cuidado, humanização da atenção e gestão participativa. A PNAISC, no intuito de orientar os gestores sobre as ações e serviços de saúde da criança no território, a partir dos determinantes sociais e condicionantes, propõe a organização das redes de atenção à saúde (RAS), em busca de garantir a efetivação de medidas que permitam a integralidade da atenção e o pleno desenvolvimento das crianças. As RAS se conformam como redes temáticas e têm a APS como ordenadora e coordenadora das ações e do cuidado no território. Na operacionalização da RAS Materno-infantil, foi inserida a Linha de Cuidado em Puericultura, que preconiza o atendimento às crianças por meio de um conjunto de ações, procedimentos e processos de trabalho centrado na criança e suas famílias.
Na Puericultura, a compreensão do cuidado longitudinal, pela continuidade da relação clínica, permite verificar os efeitos das intervenções oferecidas e monitorar
a saúde e outras condições presentes na vida das famílias e principalmente das crianças. Dessa forma, o acompanhamento do desenvolvimento e do crescimento na Puericultura, com vistas ao cuidado integral da criança, tem total alinhamento com a APS, na qual a promoção da saúde, a prevenção de agravos e as intervenções em saúde da criança possibilitam acesso e cobertura universais com cuidados de saúde abrangentes[250,251].
Puericultura: acompanhamento e promoção da saúde e do desenvolvimento da criança
Ações realizadas na Puericultura
A Puericultura compõe as práticas das unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada do sistema de saúde. É operacionalizada em consultas realizadas por médicos(as) e enfermeiros(as), atendimentos em grupos e visitas domiciliares, nos quais podem ser incluídos outros profissionais dessas unidades.
A finalidade da atenção em Puericultura é o acompanhamento contínuo e global do crescimento e do desenvolvimento da criança. O processo contínuo de observação, registro e interpretação de dados e informações sobre o crescimento e desenvolvimento infantil é o eixo do acompanhamento da saúde da criança[246]. Mediante procedimentos de avaliação do crescimento e do desenvolvimento, os profissionais podem avaliar o desempenho das crianças ao longo do tempo e tomar decisões sobre intervenções para promover e manter a boa saúde, prevenir os agravos, realizar diagnósticos precocemente, estabelecer medidas terapêuticas e melhor recuperação da saúde, cumprindo seu compromisso com o bem-estar da criança e seu cuidado integral.
A Puericultura é operacionalizada em ações, que incluem:
● Acompanhamento articulado do processo de crescimento e desenvolvimento da criança;
● Vigilância do desenvolvimento da criança, em especial na primeira infância;
● Apoio, promoção e avaliação do aleitamento materno e alimentação complementar saudável;
● Avaliação e atualização da vacinação;
● Atenção integral a crianças com agravos prevalentes, como infecções respiratórias agudas e outras doenças infecciosas;
● Ações de educação em saúde voltadas às necessidades de crescimento e desenvolvimento da criança.
Tais ações devem ocorrer em todos os atendimentos às crianças. Elas compõem, principalmente, a APS, oferecida nas unidades básicas de saúde, ambulatórios, ou
nos consultórios pediátricos. O cenário da APS é o mais propício porque é o contexto primordial da promoção da saúde e prevenção de agravos, as principais metas da Puericultura.
Assim, nos atendimentos de Puericultura, o profissional levanta dados importantes relacionados à saúde infantil, conversando com os familiares sobre a composição e funcionamento da família, suas condições de vida e sua rede de suporte, e sobre o histórico de saúde da criança e hábitos diários; faz o exame clínico, verifica peso, comprimento, perímetro cefálico, condições da pele, higiene corporal, higiene bucal, funcionamento dos sistemas corporais, sinais de doenças ou agravos de saúde; verifica as vacinas realizadas; e faz a avaliação do desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional. Os atendimentos podem incluir, ainda, a solicitação e avaliação de exames laboratoriais, geralmente de sangue, relacionados aos agravos de saúde mais comuns nos primeiros anos de vida. Aspectos de saúde mental também compõem a atenção na Puericultura.
A partir de todos os dados levantados, o profissional analisa as condições físicas, mentais, sociais e culturais da criança e da sua família, e identifica focos de cuidado que ele deve fornecer e intervir, bem como intensificar as ações de educação em saúde e, caso necessário, realizar o encaminhamento a especialistas ou outros serviços. Isso se refere tanto a questões específicas da criança, como a identificação de provável atraso no desenvolvimento, como às situações do contexto familiar potencialmente vulneráveis para o desenvolvimento da criança, como a depressão materna, ou determinantes socioeconômicos.
Nesse movimento, as ações profissionais na Puericultura apoiam as famílias a: ofertar cuidados que favorecem o desenvolvimento integral da criança e previnem maus-tratos/violência; manter ações de prevenção de acidentes; ofertar aleitamento materno e alimentação saudável, prevenindo desnutrição, anemia, sobrepeso e obesidade infantil; manter as imunizações atualizadas; manter cuidados de saúde bucal; e contribuir para o fortalecimento e ampliação das competências familiares para o cuidado da criança. Ainda, possibilita a detecção precoce, prevenção e tratamento dos agravos prevalentes, com destaque para as infecções respiratórias e outras doenças infecciosas, e atenção à criança com deficiência.
Todas essas ações apoiam muito as famílias para o cuidado da criança, tendo em vista as mudanças significativas que ocorrem nos primeiros anos de vida. A detecção oportuna de problemas e a identificação e análise das potencialidades ao desenvolvimento saudável são elegíveis para serviços de cuidados primários de saúde.
A Puericultura tem um papel importante para contribuir com as ações do Nurturing Care para efetivar o cuidado integral da criança no contexto da família e comunidade.
Calendário de atendimentos da criança em unidades básicas de saúde
O Ministério da Saúde brasileiro preconiza um calendário mínimo de atendimentos da criança em unidades de saúde, que compõem a Puericultura: primeira semana de vida da criança, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses de idade, e, a partir dessa idade, as consultas devem ser, no mínimo, anuais[246]
No processo de acompanhar as crianças, além de um número mínimo de atendimentos, é importante ter atenção aos fatores que podem expor e aumentar as vulnerabilidades na infância, envolvendo: residentes em áreas vulneráveis; baixo peso ao nascer (< 2.500 g); prematuros (< 37 semanas gestacionais); asfixia grave (APGAR < 7 no quinto minuto vida); crianças egressas de UTI neonatal; mãe/cuidadores adolescentes (< 18 anos idade); mãe/cuidadores com baixa instrução (< 8 anos de estudo); cuidados especiais de saúde; e história na família de mortes de crianças menores de 5 anos.
Outras situações que demandam atenção especial, e que podem ser identificadas no decorrer dos atendimentos, são: crianças que não tiveram atendimento de saúde na primeira semana de vida; que não fizeram o teste do pezinho; menores de 1 ano sem acompanhamento; menores de 6 meses que não mamam no peito; desnutridos ou crianças com ganho de peso insuficiente, ou com perda de peso recente sem acompanhamento; egressos hospitalares (prioridade para o menor de 5 anos); crianças com atendimento frequente em serviços de urgências; crianças com asma sem acompanhamento; crianças com vacinas em atraso; crianças vítimas de violência doméstica; crianças explicitamente indesejadas; crianças com diarreia persistente ou recorrente, anemia ou sinais de hipovitaminose A; história de desnutrição em outras crianças da família; crianças com sobrepeso/obesidade; mães sem suporte familiar; famílias sem renda; mãe/pai/cuidador com problemas psiquiátricos ou com deficiência que impossibilite o cuidado da criança; mãe/pai/cuidador em dependência de álcool/drogas.
Tais situações prioritárias são as que envolvem fatores comprovados que aumentam a chance de prejuízos no desenvolvimento e no crescimento, bem como a ocorrência de doenças e até a morte. Por essa razão, devem ser investigados em todos os atendimentos da criança na Puericultura. É importante destacar que efeitos cumulativos de várias adversidades combinadas são sempre mais danosos.
As situações apontadas são cruciais para atender necessidades e diminuir vulnerabilidades na primeira infância, e a organização da Puericultura pode contribuir sobremaneira para o cuidado integral da criança.
A Caderneta da Criança
A Caderneta da Criança é um documento elaborado pelo Ministério da Saúde, cujos conteúdos abrangem todas as ações de Puericultura para a criança de 0 a 9 anos de idade[150,252].
A PNAISC enfatiza a importância de garantir o uso da Caderneta da Criança como o principal instrumento para a vigilância do crescimento e desenvolvimento saudáveis e, para tanto, ela deve ser entregue à família após o nascimento da criança, na maternidade.
A caderneta surgiu como caderneta de saúde, para ser utilizada somente pelos profissionais de saúde, nas consultas na APS. Com a perspectiva ampliada sobre os fatores envolvidos na saúde e desenvolvimento infantil, ela passou a ser intersetorial desde 2019, contemplando sua utilização também pelos profissionais da educação e do desenvolvimento social.
A Caderneta da Criança é composta de duas partes:
● A primeira parte apresenta informações e orientações que podem auxiliar os cuidadores parentais e familiares para o cuidado e bem-estar da criança, como direitos da criança, amamentação e alimentação saudável, vacinação, crescimento, desenvolvimento, sinais de perigo de doenças graves, prevenção de violências e de acidentes.
● A segunda parte é destinada à avaliação da criança e ao registro das informações pelos profissionais, como o preenchimento da ficha de vigilância do desenvolvimento, dos gráficos de crescimento, controle das vacinas, atendimentos realizados e das ações articuladas com os setores de educação e proteção social.
A recomendação do uso de uma caderneta da criança como um instrumento de registro de informações de saúde e orientações às famílias vem de longa data, em muitos países. A Organização Mundial da Saúde recomenda sua implementação, com vistas a fortalecer a saúde neonatal e infantil[253]. O registro de saúde infantil mantido e utilizado por mães e/ou pais é considerado uma intervenção de saúde pública para promover o acesso a serviços de saúde[254].
Em países de baixa e média renda, mães e/ou pais que informaram utilizar a caderneta tiveram, aproximadamente, duas vezes mais probabilidade de utilizar os cuidados pré-natais, aderir à vacinação infantil e ter melhores práticas de amamentação[254].
Especificamente quanto ao acompanhamento e promoção do desenvolvimento da criança, a caderneta traz várias recomendações sobre estimulação de acordo com a idade, nas atividades cotidianas, e aborda a importância das relações afetivas, bem
como inclui a ficha de acompanhamento do desenvolvimento da criança, um instrumento de vigilância que sistematiza a avaliação, observação e classificação da criança quanto ao desenvolvimento. A ficha de acompanhamento do desenvolvimento da criança possibilita aos profissionais realizarem uma avaliação breve, que considera desde os fatores de risco até as habilidades da criança por faixa etária, mediante um. Nos atendimentos de Puericultura é essencial valorizar o diálogo com a família, perguntar sua percepção do desenvolvimento da criança, realizando observação e avaliação. Com base nessa avaliação, pode-se classificar a situação como provável atraso no desenvolvimento, alerta para o desenvolvimento ou desenvolvimento adequado para a idade, e seguir as recomendações de intervenções para cada classificação (manter e fortalecer o cuidado, ou encaminhar para avaliação especializada), também incluídas na ficha. Portanto, enfermeira(os) e médica(os) atuantes em unidades de cuidados primários de saúde necessitam incrementar as ações de vigilância do desenvolvimento infantil a partir da avaliação apropriada das crianças. Por tudo isso, é fundamental que os profissionais utilizem a Caderneta e incentivem seu uso pelas famílias como fonte de leitura e busca de informações confiáveis sobre o cuidado da criança, como abordado no Capítulo 5, demonstrando seus conteúdos nos atendimentos de Puericultura.
Puericultura e cuidado longitudinal na APS
O acompanhamento contínuo da saúde da criança proposto pela Puericultura possibilita identificar demandas de atenção diferenciada, como um menor espaçamento dos atendimentos de rotina, a busca ativa para atendimento da criança e família, o acompanhamento com profissionais ou serviços especializados, a busca de parceiros na rede social de suporte da família e a organização de ações intersetoriais.
A Puericultura, tradicionalmente realizada nas consultas de acompanhamento de saúde, por médicos ou enfermeiros, é potencializada quando se agregam às consultas, os atendimentos por meio de visita domiciliar (VD) e/ou de grupos educativos. A inclusão dessas estratégias de abordagem e acompanhamento da criança trazem, adicionalmente, à gestão do cuidado, uma análise aprofundada e ampliada das informações sobre a criança, e uma consolidação das intervenções de saúde e intersetoriais, mediante uma discussão multiprofissional dos condicionantes e determinantes da saúde da criança e seu contexto familiar e social.
A organização da Puericultura com base em ações de cuidado diversificadas e na articulação intersetorial torna-se fundamental para o cuidado integral da criança, para atender a necessidades e diminuir vulnerabilidades na primeira infância e para compor de maneira eficaz as redes de atenção à saúde (RAS).
Intervenções com base na VD focadas no desenvolvimento infantil têm sido utilizadas com muito sucesso na APS. As VD podem ser entendidas não meramente
como uma técnica de intervenção, mas como uma maneira de se aproximar do contexto familiar, ecologicamente falando. A VD, quando estruturada a partir de objetivos bem delineados, pode ser muito eficaz para agir em situações complexas, que impactam o desenvolvimento e o crescimento infantil e não são alcançadas pela atenção usual nas unidades de saúde, muitas vezes limitada à assistência médica e/ ou curativa.
Há alguns anos, o ambiente, em geral, e o ambiente domiciliar, especificamente, ocupam posições de destaque nos estudos sobre desenvolvimento infantil. Considerando como ambiente “tudo o que cerca a criança, inclusive as relações familiares e sociais”, a organização do ambiente físico (elementos que compõem a casa, como cômodos, móveis, objetos) e social (onde se desenvolvem as relações, como diálogos, momentos juntos, períodos de recreação) e a interação entre cuidador principal e criança interferem no desenvolvimento infantil, tornando-se um importante determinante de saúde e do processo de desenvolver[255,256].
O ambiente em que a criança e seus cuidadores estão inseridos revela componentes essenciais para a existência de um padrão positivo de desenvolvimento infantil. Quando uma pessoa se interessa pela outra e demonstra esse interesse realizando uma atividade conjunta, tem-se não apenas condições especialmente favoráveis para a aprendizagem, mas também proporciona-se a busca e o aprimoramento da relação. Sendo assim, ambiente física e socialmente empobrecido, somado à ausência de estimulação e brincadeiras, limita as oportunidades da criança de interagir com o meio em que vive[257].
Por outro lado, há fatores que são protetores e podem minimizar o efeito dos fatores de risco, tais como a resiliência da criança e da família, o amor/afeto familiar, a coesão comunitária e o acesso a serviços e profissionais qualificados conforme necessário[246]. Assim, na Puericultura, é importante os profissionais considerarem os fatores de proteção como aspectos que devem ser estimulados e fortalecidos.
Abordagens com base em VD bem conduzidas apresentam resultados positivos em diferentes dimensões do cuidado, como na alimentação saudável, vínculo afetivo, higiene, brincadeiras, disciplina positiva e a saúde. A VD bem utilizada dentro de um acompanhamento de Puericultura pode produzir benefícios tanto para os cuidadores como para as crianças, ajudando no estabelecimento de confiança, encorajamento e suporte às mães, pais e cuidadores, e impactar positivamente no desenvolvimento socioemocional, na aprendizagem e ganho de peso e estatura das crianças. A finalidade de uma VD na Puericultura distancia-se do “ensinar as famílias a cuidarem de suas crianças”, mas trabalha na perspectiva de compreendê-las e empoderá-las em relação às necessidades singulares de cada faixa etária, favorecendo especialmente as famílias socialmente vulneráveis[258].
A estratégia de grupos educativos como uma ação dentro da atenção em Puericultura pode ser muito eficaz, considerando que a longitudinalidade do cuidado busca favorecer a construção de ambientes familiares protetores e ricos em estimulação adequada e afetiva, o que, muitas vezes, é um desafio. As abordagens em grupos educativos podem ser utilizadas de maneira complementar às consultas e às VD. As estratégias de grupo educativos realizadas no interior da unidade de saúde ou em espaços da comunidade são importantes para o diálogo e as trocas de experiências entre pares (mães, pais e cuidadores). A educação em saúde configura um mecanismo potente para alcançar melhores resultados em saúde na APS, com o propósito de educação emancipatória, para busca de uma relação de troca de saberes; o que, na perspectiva da Puericultura e da saúde infantil, contribui para fortalecer o vínculo da população com os profissionais de saúde, sendo importante enquanto ação de promoção da saúde para apoio aos cuidados saudáveis[259].
Outra característica importante de uma Puericultura bem-sucedida é a intersetorialidade. A intersetorialidade abrange os mecanismos de gestão e integração de ações, saberes e esforços de diferentes setores, com o objetivo de construir objetos comuns de intervenção, para o enfrentamento mais articulado dos problemas sociais.
A intersetorialidade envolve os profissionais das diversas áreas que compõem os serviços disponíveis no território, com o objetivo de estabelecer contato direto com a população no seu dia a dia, trabalhar pelo empoderamento das famílias, principalmente nos casos em que há vulnerabilidades, e promover o desenvolvimento integral das crianças, particularmente na primeira infância, considerando suas famílias e seu contexto de vida.
A intersetorialidade é necessária porque parte do entendimento de que a pessoa que acessa o serviço de saúde para si ou para suas crianças é a mesma que acessa a creche ou a pré-escola na comunidade, o campo de esportes, o serviço social e os demais equipamentos disponíveis no território. Portanto, a atenção integral e integrada favorece a garantia dos direitos fundamentais, sendo essencial envolver políticas sociais que dialoguem entre si, com ações coordenadas e articuladas entre diferentes profissionais e setores convivendo com a visão do todo[260]. Desse modo, as diversas áreas de políticas setoriais devem trabalhar alinhadas e de forma complementar.
A intersetorialidade requer uma nova cultura de desenvolvimento das políticas sociais e públicas, com diálogo frequente e contínuo, uma prática constante de reflexão e decisão conjunta, compreendendo as potencialidades de cada área e as habilidades de cada equipamento e suas equipes. Por isso, torna-se ainda mais necessária a articulação de redes eficazes e capazes de proteger as crianças e garantir que tenham acesso aos recursos disponíveis para um desenvolvimento sadio e para a construção de um futuro melhor.
A educação permanente em saúde também é muito importante para atualização contínua e reflexão das práticas, contribuindo para incrementar e valorizar as melhorias nos processos da equipe[261]. Estudo que avaliou a atuação de agentes comunitários de saúde como membros da equipe de cuidados infantis identificou maior número de mães e pais que tiveram preocupações com o desenvolvimento e comportamentais suscitadas e abordadas, maior frequência às consultas de Puericultura e mais experiências parentais na utilidade dos cuidados recebidos[262].
As intervenções nos primeiros anos de vida para prevenir resultados adversos e a eficaz integração dos serviços, uma vez identificados os problemas, podem reduzir a prevalência e a gravidade de certos resultados, contribuindo também para uma utilização eficiente e eficaz dos recursos de saúde[263].
A Puericultura e o desenvolvimento integral da criança
Nas últimas décadas, as políticas e serviços para a primeira infância vêm mostrando que os resultados de desenvolvimento podem ser melhorados com intervenções que, em grande parte, compõem as ações de Puericultura.
Um primeiro elemento de destaque é que a Puericultura se define como um processo de acompanhamento regular, com atendimentos planejados. A continuidade garante a vigilância do desenvolvimento e o maior apoio às famílias com orientações e reforços dos cuidados promotores do desenvolvimento integral da criança. Especificamente quanto ao desenvolvimento da criança, a vigilância é amplamente recomendada, caracterizando-se como um processo longitudinal, flexível, contínuo e cumulativo de observação, coleta, registro e interpretação de informações pelos profissionais ao longo do tempo, incluindo a tomada de decisão com os cuidadores[264].
A triagem do desenvolvimento permite a detecção de problemas de desenvolvimento e encaminhamento para diagnósticos específicos, serviços terapêuticos e suporte, sendo fundamental um sistema coeso para melhorar a triagem e otimizar os resultados de saúde para as crianças[261]. Essas duas ações juntas – vigilância (developmental surveillance) e triagem do desenvolvimento (developmental screening) – apresentaram maior probabilidade de as crianças receberem intervenções oportunamente, destacando a relevância de estratégias que se complementam para melhorar a identificação de problemas desenvolvimentais em crianças pequenas[265].
Considerando as ações de vigilância e triagem, a Puericultura é, ainda, uma estratégia valiosa para o acompanhamento de saúde de crianças com deficiência. Existem variados tipos de deficiência, como mental, física, auditiva ou visual; deficiência múltipla; transtorno global do desenvolvimento; dificuldades de aprendizagem. O acompanhamento possibilita identificar as alterações em tempo propício para encaminhamentos a serviços especializados e adequação do plano de cuidado no seguimento de saúde. Cabe lembrar que quando se trata de desenvolvimento
infantil quase sempre teremos intervenções compartilhadas com outros setores e profissionais além do setor de Saúde, por isso a importância de redes intersetoriais como complemento imprescindível a Puericultura.
Estudos científicos sobre os cuidados primários de saúde, ressaltando o papel da Puericultura, apresentaram resultados importantes na avaliação do desenvolvimento infantil, do crescimento e da saúde socioemocional, com aumento das taxas de rastreio, registro e identificação de riscos para a saúde infantil[266], bem como na prevenção de lesões não intencionais, triagem de atraso de linguagem e triagem do transtorno do espectro autista (TEA)[267]. Intervenções dos profissionais de saúde nos atendimentos de Puericultura contribuíram para melhorar os resultados cognitivos em crianças de 0 a 36 meses de idade[268].
Por outro lado, há evidências de que crianças que apenas comparecem ao serviço de saúde em visitas não programadas, geralmente por motivo de doenças, apresentaram menores escores de desenvolvimento do que as acompanhadas rotineiramente na Puericultura[269].
No Brasil, a continuidade do cuidado teve um importante reforço com a implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF), a qual ampliou muito a oferta de ações da Puericultura no país. Comparando unidades tradicionais de atenção básica à saúde e unidades com ESF, a oferta das ações de Puericultura ocorreu intensamente nas unidades de saúde da família no Sul (97%) e no Nordeste (95%), enquanto nas unidades tradicionais essa oferta foi muito menor tanto no Sul (67%) como no Nordeste (79%)[270].
A maior oferta de ações contínuas de Puericultura resultou em efeitos positivos, como a ampliação do acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento das crianças[271], redução da mortalidade infantil[272], e redução das internações por condições sensíveis à APS em crianças menores de 1 ano de idade[273].
As intervenções em Puericultura são importantes ao oferecer uma abordagem promissora para melhorar as práticas parentais essenciais para a promoção do desenvolvimento nos primeiros anos de vida[274,275], bem como um espaço para aprendizagem e apoio às competências maternas, especialmente para mães pela primeira vez[276].
Intervenções centradas em famílias com crianças pequenas necessitam abordar de modo aprofundado as questões sobre a qualidade das práticas parentais e do relacionamento adulto-criança[277]. Tais aspectos podem contribuir para reduzir disparidades e mediar o impacto das dificuldades e incertezas no desenvolvimento infantil.
Desafios para a efetividade da Puericultura
Atualmente, ainda há várias questões que se constituem como desafios que dificultam a implantação efetiva da Puericultura e todo o seu alcance potencial.
Sabe-se que há necessidade de muitos avanços, já que estudos têm encontrado poucas ações e atenção à aprendizagem desde tenra idade, cuidados responsivos, segurança e proteção das crianças[278,279]. A maioria das crianças em países de baixa e média renda não recebe cuidados de criação minimamente adequados durante os primeiros mil dias de vida, sendo necessários mais investimentos na medição de indicadores, especialmente para as populações vulneráveis e nos domínios dos cuidados responsivos, da aprendizagem precoce, segurança e proteção[280].
Um aspecto importante a ponderar é sobre o modelo conceitual que sustenta a Puericultura. Como foi inicialmente ancorada no modelo higienista, suas ações caracterizavam-na como um projeto que visava à regulamentação da vida, sobretudo das pessoas de classes trabalhadoras, objetivando a imposição de regras de higiene, comportamentos e hábitos[281]. Embora hoje seja possível dizer que a Puericultura está sustentada na perspectiva dos direitos humanos, traços da visão higienista persistem nas concepções dos profissionais, cujas práticas prescritivas, ao invés de serem dialogais, prejudicam a construção de relações de confiança e de parceria, sendo desfavoráveis à adesão das famílias. Assim, esforços são necessários para práticas profícuas junto aos cuidadores parentais, para superar essa perspectiva e realizar práticas responsivas no cuidado integral à criança e sua família.
Cuidadores de crianças entre menores de 2 anos de idade apreciaram o apoio que receberam dos profissionais de saúde, mas expressaram o desejo de que esse apoio fosse mais específico, prático e adequado às suas necessidades, desejos, preferências pessoais e culturais[275]. Também se verificou a importância de os profissionais de saúde abordarem tópicos específicos sobre promoção de estilo de vida saudável das crianças pequenas com mais detalhes e fornecer aconselhamento direcionado[282].
Isso mostra a relevância de os profissionais de saúde reconhecerem as experiências e demonstrarem interesse pelas considerações das famílias, abordar as necessidades parentais e prestar apoio, criando relações de confiança[275].
As ações de Puericultura na atualidade precisam também extrapolar os “muros” das unidades básicas de saúde e dialogar inclusive com creches e pré-escolas. Nesses espaços, as crianças têm sido inseridas bem precocemente, o que faz assumirem (os espaços) um papel importante na vigilância e oferta de cuidados infantis.
Nesse sentido, o desafio é a educação permanente dos profissionais: a melhoria da qualidade das intervenções profissionais sobre o processo de rastreio e a utilização de ferramenta padronizada, sendo apontada a relevância de ciclos para planejar-fazer-estudar-agir, incentivando e avaliando as práticas e análise de dados relativos à vigilância do desenvolvimento infantil[261].
Quanto ao uso da Caderneta da Criança, também se observam fragilidades significativas. Estudos, tanto internacionais como nacionais, sobre livreto ou caderneta de registros de dados da criança, têm apontado as barreiras para o seu uso. A utilização ideal da caderneta (quando leram todas as seções e registraram comentários) foi associada à idade de mães e pais mais velhos, com escolaridade superior, bom nível de conhecimentos sobre saúde geral das crianças e entre aquelas que deram à luz em hospitais públicos[283]. Outro aspecto a destacar é a quase inexistência de registros sobre a vigilância do desenvolvimento infantil e detecção precoce de distúrbios neurodesenvolvimentais, sendo apontadas barreiras acerca da escassez de tempo e disponibilidade de profissionais para a sua implementação[284].
Um estudo encontrou que as mães, em geral, ficaram satisfeitas com a utilização da caderneta, mas o seu envolvimento dependia da forma como os registros eram comunicados e utilizados pelos profissionais de saúde[285]. Outro estudo encontrou que visitadores sanitários, enfermeiras e parteiras eram mais propensos a utilizar o livreto ou caderneta para registros[254]. Isso sugere que a satisfação com os serviços de saúde é influenciada pelos compromissos dos profissionais de saúde na utilização da caderneta e com a efetiva comunicação com as famílias.
No Brasil, apesar de o Ministério da Saúde ter formalizado a vigilância do desenvolvimento infantil desde 1984, os registros da vigilância na Caderneta da Criança vêm se mostrando insuficientes e irregulares[286,287]. Os estudos mostram que nem todas as famílias levam a Caderneta da Criança aos atendimentos da criança nas unidades de saúde, há fragilidades no preenchimento de todos os itens dela, os dados mais anotados são relativos à vacinação, mostrando baixas taxas de utilização e uma manutenção insatisfatória de registros[287,288]. Esses resultados reforçam a necessidade de incrementar a sensibilização dos profissionais para a caderneta da criança como um instrumento eficaz para promoção da saúde e prevenção de agravos, particularmente na primeira infância.
A prevalência baixa da utilização da caderneta de saúde infantil sugere a necessidade de melhorar os conhecimentos das famílias sobre esse material e sobre a saúde geral da criança, especialmente entre mães e pais mais jovens, com níveis educacionais mais baixos[283].
Outro fator que pode influenciar a baixa adesão das famílias às ações de Puericultura são as concepções dos cuidadores que expressam pouca compreensão sobre o desenvolvimento infantil e incerteza sobre as práticas cotidianas de cuidado para estímulos adequados à criança, bem como seus efeitos sobre o desenvolvimento do cérebro[289].
Ainda como desafios são as ações intersetoriais integradas, para buscar satisfazer necessidades complexas de promover o desenvolvimento da primeira infância e
abordar os determinantes e as desigualdades da saúde, visto que nos municípios brasileiros foram identificadas fragilidades da colaboração intersetorial e na formação de redes, praticamente inexistentes, sobre o desenvolvimento infantil, com potencial local ignorado ou subutilizado[260]. A abordagem do desenvolvimento na primeira infância não é analisada de forma sistemática e tem ficado atrás de outros esforços na área da saúde infantil[290].
Diante desses desafios, cabe reforçar que o acesso sistematizado das crianças aos cuidados de saúde em Puericultura, com apoio, avaliação e intervenção no desenvolvimento infantil, é de suma importância.
Considerações finais
A Puericultura possibilita ofertar o cuidado integral à saúde, que é vital para o desenvolvimento saudável, um direito fundamental de todas as crianças. A integralidade e a longitudinalidade da atenção são imprescindíveis para garantir as melhores oportunidades na construção da boa saúde, pois individualiza o cuidado com intervenções em tempo oportuno. Dada a importância dos primeiros anos no processo de saúde e desenvolvimento, os efeitos de um bom acompanhamento de Puericultura repercutem diretamente na primeira infância, bem como impactam ao longo da vida. Os esforços para aprimoramento das ações a favor da promoção do desenvolvimento nos primeiros anos de vida são necessários em diversos âmbitos. Na saúde, é preciso superar práticas fragmentadas com foco no crescimento, vacinação ou na atenção somente quando a criança está doente e fisicamente vulnerável. Nos demais setores, é iminente incluir a pauta da promoção do desenvolvimento infantil integral, como preconiza o Marco Legal da Primeira Infância. Para tanto, os profissionais devem assumir sua corresponsabilidade na atuação com as famílias e no cuidado interprofissional e intersetorial, tal como previsto na Atenção Primária à Saúde. Os gestores públicos precisam priorizar na agenda política propostas e diretrizes que privilegiem as práticas com foco na primeira infância, como estratégia de construção de uma sociedade com valores solidários e elevado capital humano.
CAPÍTULO 8 Educação infantil
Daniel Domingues dos Santos
Luiz Guilherme Scorzafave
Introdução
No mundo contemporâneo, a Educação Infantil (EI) representa cada vez mais uma das principais apostas para a promoção do Desenvolvimento Infantil (DI), em termos de políticas públicas. O objetivo deste capítulo é mostrar como se estrutura a política de EI no Brasil e no mundo, e a partir disso discutir que tipo de consequência se espera que tenha sobre as trajetórias de crianças e jovens em termos de seus desenvolvimentos.
A crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, juntamente com a abundante evidência de que o acesso à educação infantil, em particular pré-escolas de qualidade, tem grande potencial para proporcionar uma melhora nas trajetórias de desenvolvimento infantil e reduzir desigualdades na primeira infância, impeliram governos de todo o mundo a expandir o acesso à educação infantil, incentivar o ingresso de crianças cada vez mais cedo em instituições educacionais e, em muitos casos, aumentar a duração média das jornadas letivas nessas instituições. Em nível mundial, por exemplo, a proporção de crianças matriculadas na pré-escola cresceu quase 50% nos últimos dez anos, passando de 46% em 2010 para 61% em 2020,
número apontado como ainda insuficiente para uma população na qual ao menos um quarto das crianças está sob suspeita de precisar de apoio para atingir sua trajetória de pleno potencial de desenvolvimento[291].
O caso brasileiro é emblemático e reflete bem os dilemas do cenário contemporâneo. Por aqui, a taxa bruta de matrícula na pré-escola cresceu de 81,5% para 99,4% no mesmo intervalo considerado pela Unesco, em grande parte devido ao fato de que, nesse período, a matrícula na pré-escola passou a ser obrigatória no Brasil. Também nesse período, o Plano Nacional de Educação de 2014 (Meta 1) estipulou uma meta de 50% de matrícula para crianças entre 0 e 3 anos de idade, ampliando o alcance da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação (arts. 4º e 30) e da Constituição Federal (art. 208), que estabeleciam a matrícula nessa faixa etária como um direito das famílias e um dever do Estado. Esse regramento seguramente coloca o Brasil como um dos campeões mundiais de políticas de acesso à EI no âmbito normativo. Se, por um lado, a obrigatoriedade da pré-escola ainda não é realidade na maioria dos países, no caso das metas e responsabilidades do Estado para o atendimento a creches nossa situação é praticamente única. Nossa taxa de matrícula nesse segmento, que, em 2005, era de 10%, superou pela primeira vez os 40% em 2023.
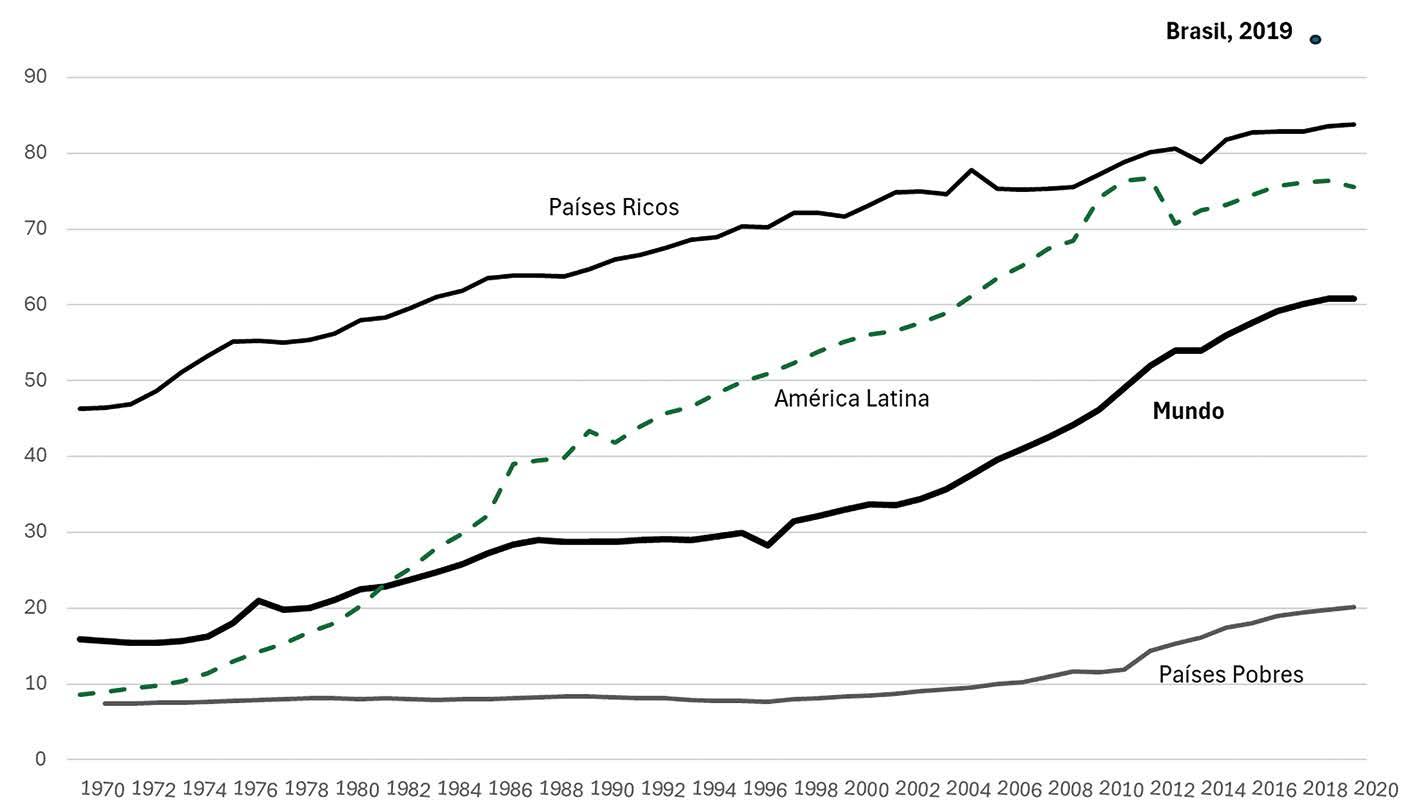
Figura 8.1 Evolução da taxa bruta de matrícula na pré-escola (%).
Fonte: elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial. A série histórica do Brasil possui quebras devido à alteração de 2007, quando o último ano da pré-escola passou a ser considerado o primeiro ano do ensino fundamental.
Tanto em nosso país como no resto do mundo, a expansão da EI atende a duas demandas sociais importantes: i) a necessidade de os pais compartilharem com o Estado responsabilidades ao longo da criação dos filhos, na maioria das vezes devido
à conciliação com seus horários de trabalho; ii) o apoio ao desenvolvimento infantil, por meio da provisão de oportunidades de aprendizagem, vivências e convivências propostas por profissionais especializados em um ambiente propício para que a criança se desenvolva.
Nesse ponto, é preciso destacar que apesar de nossa espécie, tal como a conhecemos, ter algumas centenas de milhares de anos, foi apenas nos últimos dois séculos que a educação de massa de fato se estabeleceu, e apenas nas últimas quatro décadas que a EI de fato foi reconhecida na maioria dos países como um direito de famílias e crianças e com objetivo explicitamente educacional. Essa constatação indica, portanto, que a partilha entre Estado e famílias nas responsabilidades pelo cuidado e desenvolvimento das crianças ocorre em um contexto histórico e social único. Cada sociedade, e em cada momento, molda seu sistema educacional para atender às suas necessidades específicas em um particular modelo de compartilhamento de responsabilidades. É, desse modo, crucial para nossa análise reconhecer que os efeitos da EI sobre DI, tanto na magnitude e perenidade como nas dimensões onde ocorre, deve variar em consonância com as escolhas sociais e culturais que ditam a função social da EI em cada território. Ao mesmo tempo em que é útil revisar a literatura internacional a respeito de tais efeitos, cabe sempre colocar a limitação intrínseca em se transpor tais expectativas para o contexto da sociedade brasileira do século XXI. Dito isso, vamos discutir um pouco sobre as origens e evolução de nosso sistema de EI, e dessa forma especular sobre qual a sua função social no contexto atual e expectativas de como deveria influenciar o desenvolvimento infantil.
No caso das creches, sua origem no Brasil e no mundo é eminentemente associada a objetivos assistencialistas, seja por conta da necessidade de as mães trabalharem (especialmente após a intensificação da industrialização), seja como forma de combater a mortalidade infantil e subnutrição[292]. A partir dos anos 1970, começam a surgir no Brasil reivindicações de acesso a creches também para fins de socialização da criança, especialmente por parte de pais que não dispunham no contexto doméstico de oportunidades para tal. Ao longo dos anos seguintes, uma abundância de novas evidências indicando a efetividade da EI como forma de promover o desenvolvimento infantil culminaram na mudança do marco legal em 1996, quando a LDB definitivamente indicou que as creches seriam parte do sistema educacional brasileiro e com finalidades eminentemente voltadas ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças pequenas e muito pequenas. Apesar disso, foi apenas em 2006 que o prazo de implementação da mudança se concluiu, e ainda hoje é razoável considerar nossa situação como a de um modelo em transição, visto que tanto a infraestrutura como a composição das equipes escolares ainda são influenciadas por decisões relacionadas a finalidades anteriores à LDB.
Já no caso da pré-escola, o surgimento e ampliação iniciais estão muito relacionados à demanda de algumas famílias, em geral abastadas, pela antecipação do processo de escolarização formal da criança, especialmente a alfabetização. Em muitos casos, as primeiras turmas de pré-escola estavam inclusive inseridas em escolas criadas para atender ao ensino fundamental. Após a Constituição Federal de 1988, fortemente influenciada pela demanda para ampliação do direito à escola e por uma visão da criança como também um sujeito de direitos[293], começa a se formar no Brasil um novo consenso sociointeracionista e que influencia bastante a aceleração da expansão do acesso que ocorre desde então. Ainda hoje convivem na maioria das redes de ensino turmas de pré-escolas inseridas em escolas de ensino fundamental com outras pertencentes a escolas exclusivamente destinadas à EI. Também no âmbito curricular, disputam o espaço posições educacionais mais voltadas à alfabetização (por exemplo, expressas na Política Nacional de Alfabetização de 2019) e outras inspiradas em conceitos sociointeracionistas (tal como a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, de 2018).
A partir da BNCC, torna-se ainda mais explícito um esforço que se consolida a partir da LDB de conciliar os objetivos da creche e pré-escola em um mesmo percurso formativo da criança, mas muitas vezes ainda contendo modelos de atendimento diferentes. Em muitas escolas a creche é ofertada em tempo integral, mas sem a presença de um professor diplomado em pedagogia acompanhando as crianças durante toda a rotina. Já na pré-escola o modelo predominante é de tempo parcial, e quase sempre liderado por professores formados em pedagogia.
Como a discussão sobre os efeitos da creche e pré-escola está organizada na literatura?
Há bem mais produção a respeito dos impactos da pré-escola sobre desfechos posteriores do que para creches (ou outras intervenções em idades menores). Duas razões podem ser apontadas para isso. Primeiro, porque a função social da escola na pré-escola é mais bem estabelecida e semelhante entre países e sociedades. Segundo, porque para muitos analistas a pré-escola deveria ter como principal consequência a prontidão para a aprendizagem no ensino fundamental.
Assim sendo, também é fato que muito dessa produção utiliza como desfechos relevantes os resultados de proficiência em níveis posteriores de ensino, instrumentos de prontidão para a aprendizagem e alfabetização e, em menor quantidade, medidas de inteligência e resultados amplos de desenvolvimento infantil. Em uma perspectiva mais moderna, hoje se reconhece: i) que a pré-escola pode ter influência muito mais ampla do que impulsionar a proficiência, ii) que é inclusive discutível se a antecipação da escolarização da criança tem benefícios de longo prazo, e iii) que a qualidade das experiências vividas pela criança é tanto um meio para atingir
objetivos mais amplos de desenvolvimento como fim em si mesma, na medida em que também desperta a vontade de aprender e amplia a consciência da criança sobre a própria utilidade da aprendizagem em sua trajetória. Exemplos dessa tradição mais antiga que sumariza o impacto da EI sobre notas e testes de inteligência incluem estudos do tipo metanálise[293–305]. Um curto mas influente artigo também resume essa literatura[306]. Tipicamente, esses estudos concordam em apontar que a passagem pela pré-escola gera um ganho médio em desempenho escolar entre 0,2 e 0,35 desvio padrão. Uma limitação desses resultados se deve ao fato de que a composição dos grupos de controle (ou seja, daqueles que não frequentaram pré-escola) varia substancialmente entre os estudos disponíveis, dificultando a análise conjunta dos impactos, mesmo quando o foco se restringe a ensaios aleatorizados. Assim, estudos em que a amostra é composta de indivíduos mais vulneráveis tendem a exibir impactos maiores, pois o grupo de controle apresenta indicadores, em geral, piores. A Figura 8.2 traz alguns desses resultados internacionais e os compara com estudos brasileiros, indicando que em nosso país o impacto da pré-escola tende a ser similar ao observado no restante do mundo.
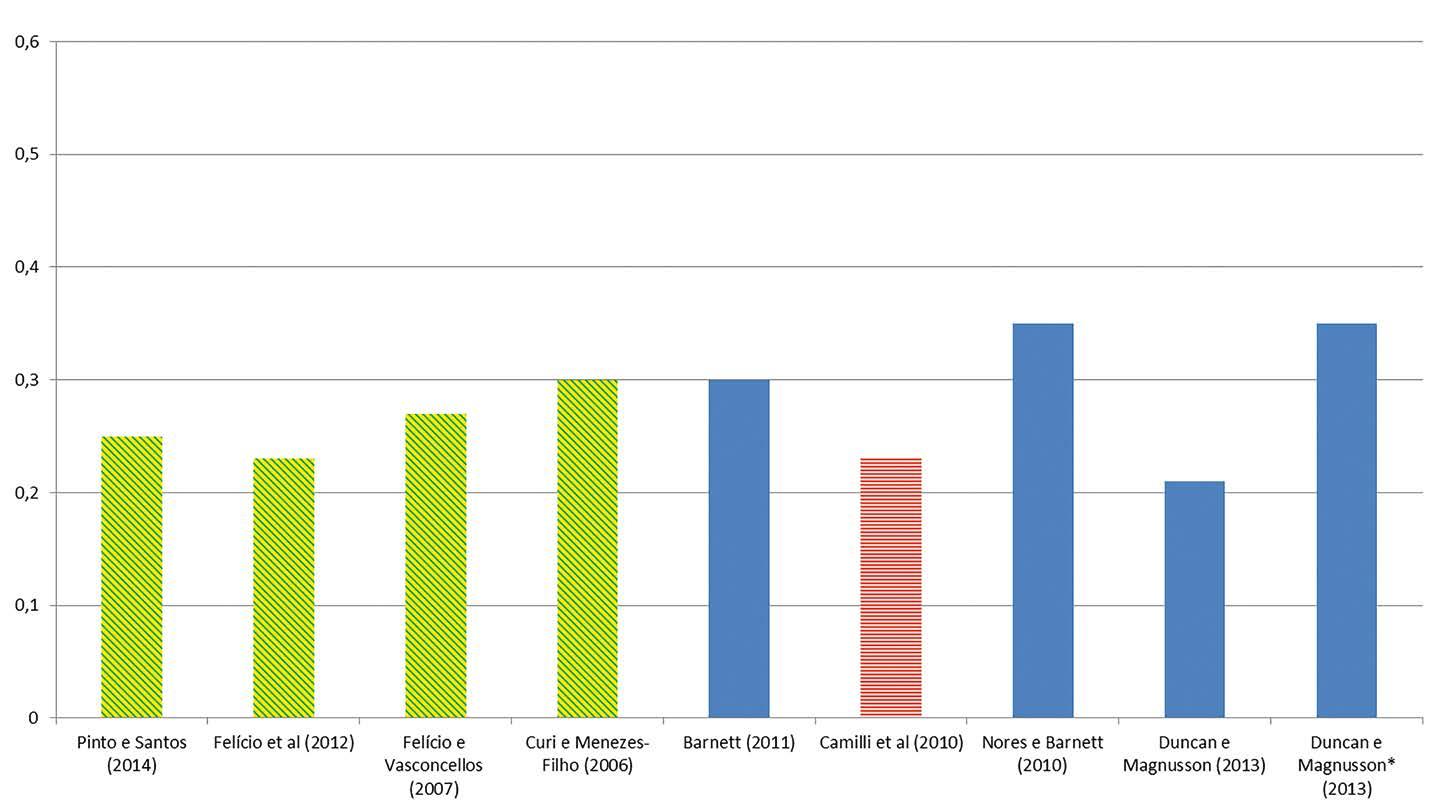
Figura 8.2 Impacto da pré-escola sobre o aprendizado durante o ensino fundamental (d.p.). Fonte: Santos (2016)[308]. As barras à esquerda, em verde , mostram resultados de estudos brasileiros. A barra vermelha vem de metanálise apenas de estudos para os Estados Unidos, ao passo que as demais contêm resultados de todo o mundo. * Refere-se ao efeito médio dos 84 estudos analisados por Duncan e Magnuson (2013)[304], sem levar em consideração o desvio padrão das estimativas (que reflete o fato de que cada estudo tem diferentes tamanhos de amostra) no cálculo da média do efeito.
Algumas considerações são importantes ao ler esses resultados. Primeiramente, as metanálises costumam priorizar ensaios aleatorizados (RCT) e por isso têm forte predominância de estudos de intervenções-modelo, para as quais foi feito um esforço
de garantir a qualidade (validade interna) do estudo. A predominância desse tipo de estudo se deve, em parte, ao fato de que gestores de escolas-modelo têm incentivos para provar que suas instituições são boas e com frequência não precisam prestar satisfações a terceiros caso decidam aleatorizar o acesso a suas escolas. Por outro lado, os gestores de programas de larga escala têm dificuldade em convencer a população ou seus representantes a aleatorizar o acesso aos equipamentos, ao mesmo tempo em que nem sempre estão dispostos a correr o risco de descobrir que suas intervenções não funcionam de forma apropriada[306]. Como resultado, vários autores de metanálises ressaltam que, possivelmente, a literatura baseia-se, predominantemente, em intervenções de qualidade acima da média e que, portanto, os impactos podem estar superestimados ao se tentar extrapolá-los para programas em larga escala.
De fato, as pesquisas com dados observacionais para políticas públicas em larga escala geralmente encontram resultados inferiores aos dos estudos incluídos nas metanálises. Porém, não fica claro se as diferenças nos impactos se devem ao uso de metodologias de estimação distintas ou ao fato de que as intervenções-modelo investigadas por meio de RCT são melhores do que a média das pré-escolas efetivamente ofertadas à população.
Em relação a esse ponto, uma metanálise[308] focando apenas em políticas públicas de larga escala mostra que os efeitos desse tipo de política são heterogêneos entre si. Embora focados apenas em países desenvolvidos, os resultados indicam algumas características de programas universais que estão associados a melhores resultados: a qualidade da oferta de EI importa, programas em tempo integral têm resultados melhores do que em tempo parcial e o benefício da EI é maior para crianças mais pobres. Também encontram maiores efeitos em habilidades cognitivas do que em habilidades socioemocionais e não encontram decaimento do efeito da EI ao longo do tempo. Já Evans, Jakiela e Acosta (2024)[309] realizam revisão sistemática focada em países em desenvolvimento. Alguns dos resultados se assemelham aos de van Huizen e Plantenga (2018)[308], como o fato de que o efeito no desenvolvimento da criança não está associado à idade de ingresso na EI. Por outro lado, encontram que meninas se beneficiam mais do que meninos, mas não encontram maior benefício para as crianças mais pobres.
Também é importante dizer que, ao longo do tempo, o gasto médio por estudante em programas pré-escolares avaliados por RCT aumentou substancialmente. Não obstante, o impacto médio desse tipo de programa sobre os beneficiários tem consistentemente declinado ao longo do tempo, e esse fato constitui um dos principais puzzles da literatura atual sobre o tema, resumido na Figura 8.3.
A: Duncan e Magnuson (2013)
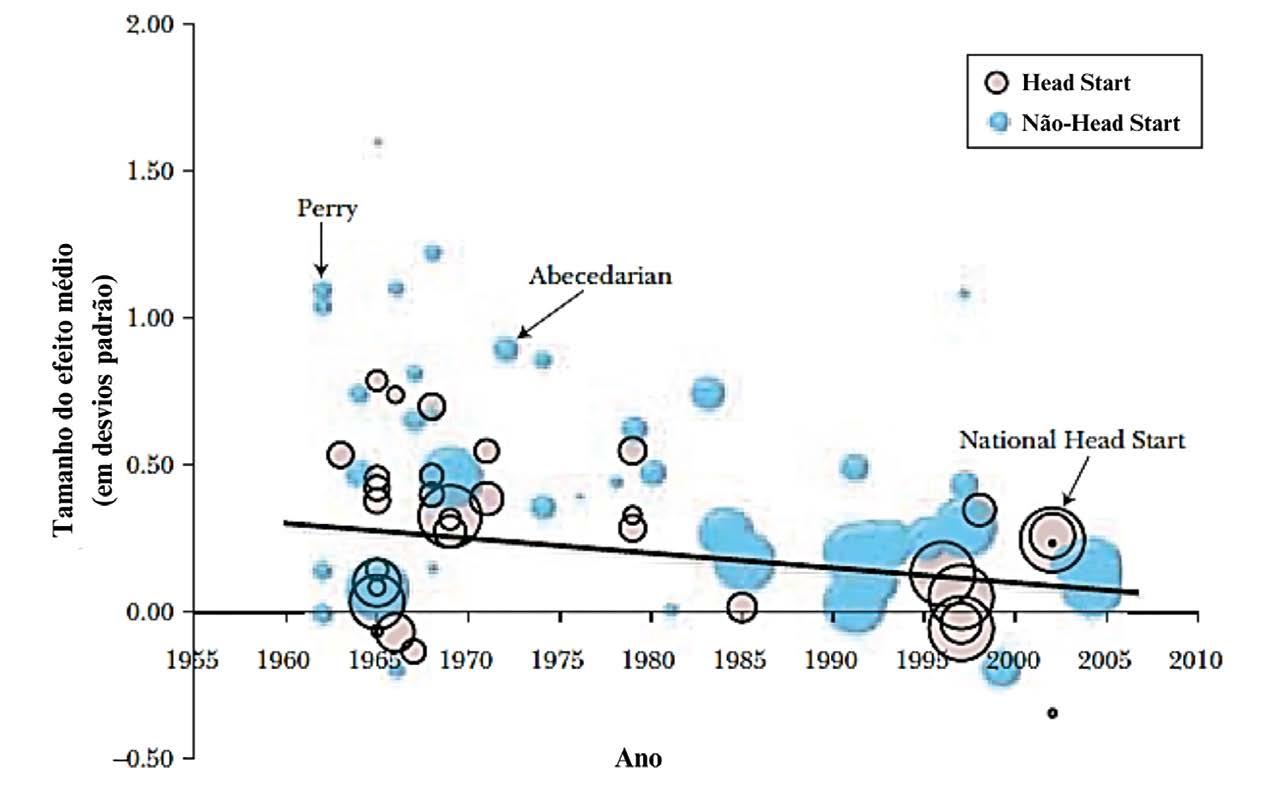
B: Huizen e Plantenga (2018)
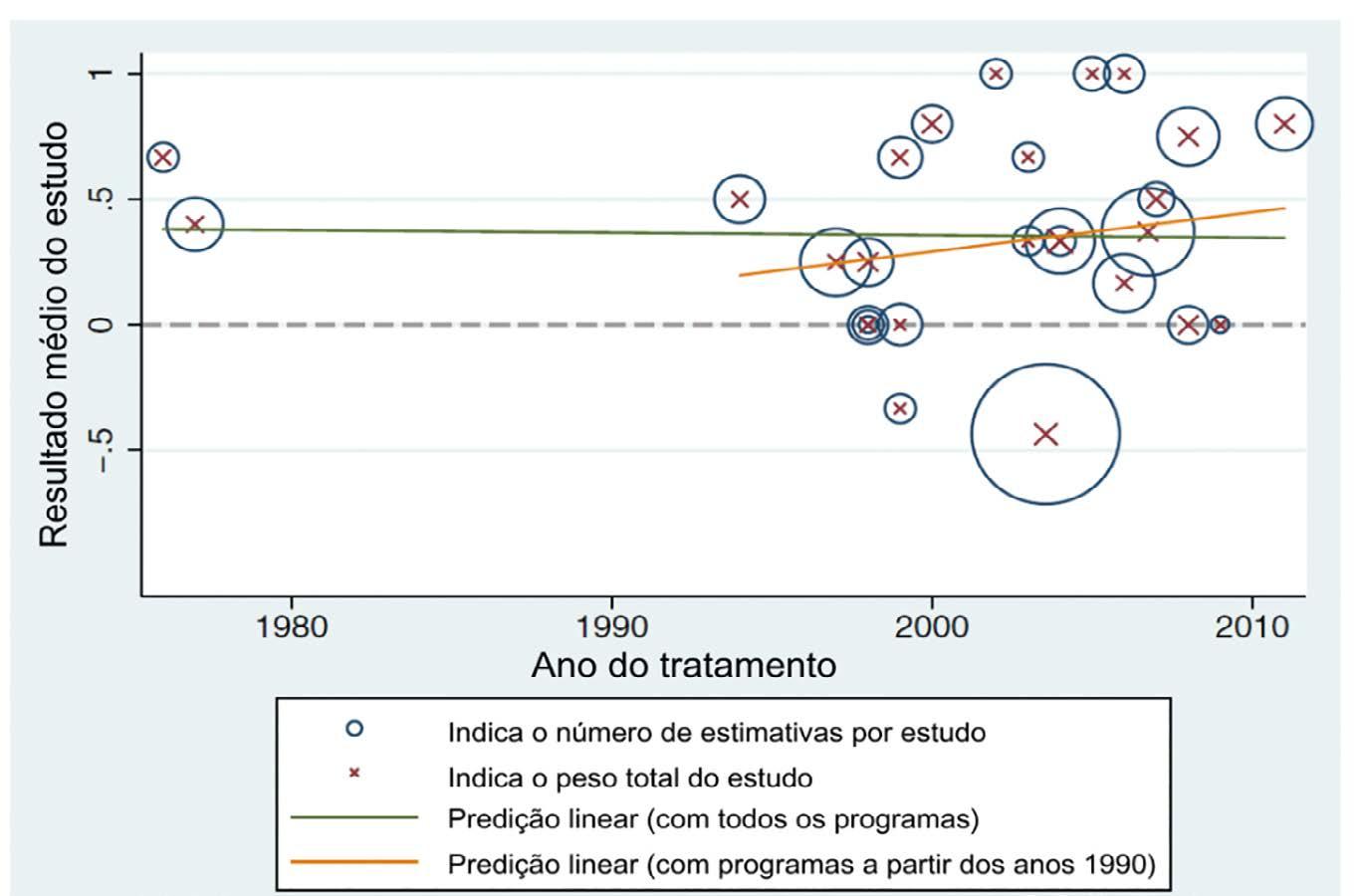
Figura 8.3 Impacto médio (em desvio padrão) de programas desenvolvidos na primeira infância ao final do tratamento. Nota: a Figura 8.3A mostra a distribuição de 84 tamanhos de efeito médio de tratamento de programas para indicadores cognitivos e para resultados de realização, medido no fim do período de tratamento de cada programa, por ano em que o programa começou. Refletindo suas contribuições aproximadas aos resultados ponderados, as bolas azuis têm tamanhos proporcionais ao inverso do quadrado do erro padrão do impacto estimado no programa. Há uma linha de regressão linear ponderada do tamanho do efeito por ano. Análise similar é feita na Figura 8.3B, mas note que os trabalhos avaliados nesta figura diferenciam as avaliações a partir dos anos 1990.
Fonte: Duncan, Magnuson (2013)[304] e Huizen, Plantenga (2018)[308]
Em estudos mais recentes em diferentes estados norte-americanos[310–312] são inclusive frequentes as situações de que o grupo de comparação acaba por superar
o grupo de tratamento em termos de desempenho escolar no longo prazo. Um exemplo característico desse fenômeno são as sucessivas avaliações do programa Head Start, que é o programa americano de mais ampla cobertura e que vem sendo sucessivamente avaliado praticamente desde suas primeiras gerações, nos anos 1960.
A despeito do crescente gasto por estudante, os impactos positivos e estatisticamente significantes encontrados para as gerações que participaram até o final do século passado já não são verificados para as gerações mais recentes[313–315].
Nesse sentido, alguns motivos poderiam explicar esse menor efeito nas gerações mais recentes: fatores como melhor qualidade da análise estatística nos estudos mais recentes, bem como problemas psicométricos relacionados à confiabilidade das escalas de avaliação da qualidade da EI (tanto em termos de poder de discriminação de boas práticas, quando elas não são muito boas ou muito ruins, como em termos da variabilidade da avaliação da qualidade das práticas na EI quando realizadas por diferentes observadores) são duas potenciais explicações para a redução do efeito da EI nas gerações mais recentes[316].
Outro aspecto discutido na literatura é o declínio do impacto da passagem pela pré-escola sobre a aprendizagem subsequente. Já de longa data se verifica que, para grande parte das intervenções educacionais, os impactos decaem conforme o instante em que a intervenção terminou se distancia no passado. Esse fenômeno, chamado de fading out (desaparecimento) é relativamente bem documentado na literatura. Um dos programas mais estudados, o norte-americano Perry School, apresenta impacto sobre quociente de inteligência (QI) logo após o término do programa, mas, alguns anos mais tarde, já não havia tal efeito (a despeito de os elevados impactos em diversas outras dimensões de bem-estar dos indivíduos perdurarem no longo prazo)[317]. Da mesma forma, outros programas como o Head Start, Carolina Abecedarian e tantos outros que foram rigorosamente avaliados no longo prazo sugerem que elevados ganhos em medidas cognitivas (QI, proficiência, notas do boletim) no curto prazo tendem a declinar, muitas vezes desaparecendo completamente antes do final da educação básica.
Explicações para isso incluem uma atitude compensatória de professores em direção ao grupo menos favorecido (que serviu de grupo de controle), efeitos motivacionais que fazem com que os recém-tratados estejam particularmente mais engajados do que seus pares de controle em realizar as testagens logo após o término da intervenção, complementaridades dinâmicas (boas experiências precisam ser seguidas de outras boas experiências para seus efeitos perdurarem) e efeitos estatísticos decorrentes da mudança na composição da amostra (se, por exemplo, a pré-escola induzir indivíduos que de outro modo desistiriam de estudar, devido a dificuldades cognitivas, a persistir nos estudos)[318]. Nesse caso, o grupo de controle tem seus resultados de longo prazo artificialmente inflados devido ao desaparecimento
da cauda inferior de proficiência do cômputo de suas médias). A Figura 8.4 mostra o efeito fading out tipicamente encontrado na literatura, e como a curva que associa efeitos de curto, médio e longo prazos tem evoluído ao longo do tempo, mostrando que o fenômeno existe mesmo para os estudos mais antigos (que apresentam impactos em geral mais elevados), e que hoje acaba por tornar os impactos de médio prazo de programas pré-escolares bem menores do que foram no passado.
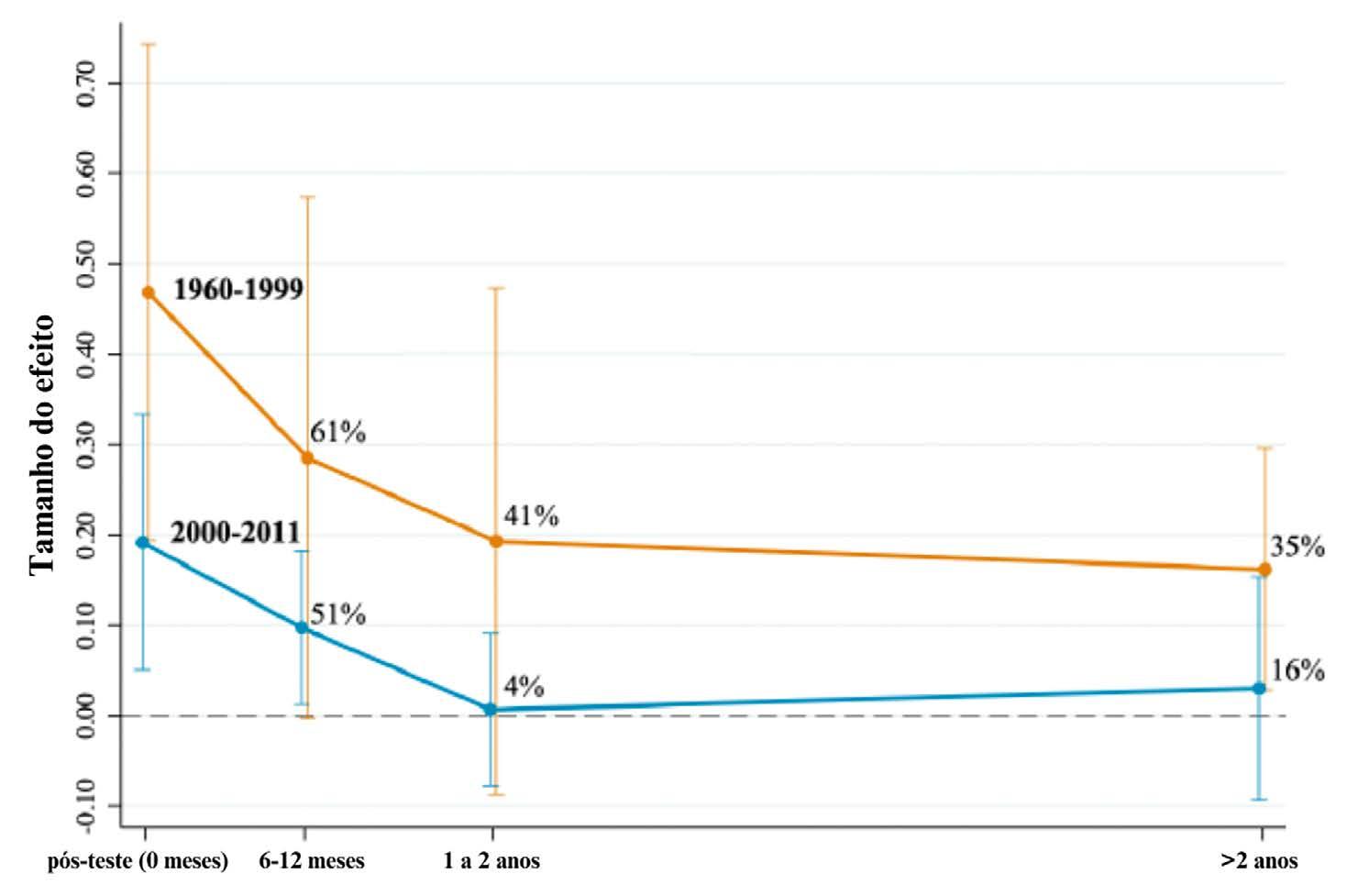
Figura 8.4 Evolução dos efeitos médios de tratamento de programas pré-escolares ao longo do tempo.
A figura exibe os impactos médios do tratamento ao seu final e nas avaliações de follow-up para alfabetização/linguagem, matemática, cognição geral e resultados socioemocionais para intervenções educacionais na primeira infância. Linhas laranjas representam trajetórias para intervenções que começaram entre 1960-1999. Linhas azuis representam trajetórias para intervenções que começaram entre 20002011. O eixo x apresenta o tempo médio decorrido desde o final do tratamento para cada intervalo (por exemplo, o tempo médio desde o pós-teste para uma avaliação de acompanhamento superior a 2 anos foi de 76 meses. O eixo x é escalado de acordo). As porcentagens refletem a porcentagem do efeito médio do pós-teste observado em cada onda de acompanhamento.
Fonte: Whitaker et al. (2023)[319]
Algumas explicações têm sido aventadas para racionalizar esses fatos. Primeiramente, muitos desses estudos vêm de países desenvolvidos e que experimentaram significativa melhora nas condições em que crianças se desenvolvem ao longo da segunda metade do século XX, fazendo com que os resultados do grupo de comparação subissem e que a margem de ganhos para intervenções pré-escolares diminuísse. Essa explicação é coerente com a constatação de que metanálises para países em desenvolvimento tendem a mostrar impactos maiores do que para países desenvolvidos[306,319]. Relacionada a essa explicação, pesquisadores apontam que a expansão do acesso à pré-escola faz com que muitas crianças do grupo de comparação na
verdade acabem tendo outros tipos de atendimento, que podem até ser melhores do que o tratamento proposto[320] ou estarem expostas a bons programas de fortalecimento pedagógico da parentalidade[321].
Em segundo lugar, alguns autores apontam que os programas mais recentes têm foco excessivo em alfabetização e conhecimentos acadêmicos, e acabam sendo redundantes com oportunidades que tipicamente ocorrem posteriormente, ao passo que os programas mais antigos focavam no desenvolvimento integral e em dimensões mais relacionadas à socialização, autonomia e autocuidado[316,322,323]. Agrava esse quadro o fato de que, mesmo os conteúdos acadêmicos deixaram de ser trabalhados em formatos em que a criança se envolvia de forma mais ativa para outro em que o professor ensina e a criança aprende passivamente e em turmas maiores[324,325]. Aqui se misturam defensores de que na pré-escola deveriam ser trabalhadas competências menos trabalhadas posteriormente[314], com outros que argumentam que competências básicas como a autonomia, autocontrole e raciocínio têm consequências mais duradouras do que matemática e alfabetização[326].
No Brasil, um dos únicos estudos longitudinais em larga escala (N = 3.600) que se dispõe a comparar egressos e não egressos da EI, ainda que de forma correlacional, verifica que as diferenças de desempenho entre egressos e não egressos declina, mas se mantém estatisticamente significante ao final da 3ª série do ensino fundamental[327]. Curi e Menezes-Filho (2009)[328] utilizam dados da avaliação externa do governo federal (SAEB) em corte transversal para mostrar que as diferenças de desempenho entre egressos e não egressos da EI são maiores no início da educação básica e praticamente desaparecem ao final do ensino médio. Porém, essa metodologia é criticada por Fonseca (2015)[329], que, a partir de resultados do estudo longitudinal de Sertãozinho, mostra que há importante mudança na composição da amostra por conta de distorções de fluxo escolar, o que provavelmente infla os resultados médios ao longo do tempo dos que não frequentaram EI. Ao levar em consideração essa mudança na composição, Fonseca (2015)[329] sugere que os possíveis efeitos da pré-escola se mantêm (ao menos ao longo do ensino fundamental), ou seja, não há decaimento do efeito da EI.
Conforme já mencionado, e a grosso modo, é possível dividir os estudos disponíveis sobre impactos da pré-escola em dois grandes blocos que abrigam a quase totalidade das pesquisas disponíveis. Em um primeiro conjunto, agrupam-se estudos de intervenções-modelo implementadas para um grupo pequeno de indivíduos, com elevadas qualidade e gasto por aluno, muitas vezes focalizadas em grupos ex-ante vulneráveis, e que passam por um desenho avaliativo bastante rigoroso, em geral ensaios aleatorizados (do inglês randomized controlled trial – RCT). Um segundo grupo contém estudos de intervenções em escala, que quase sempre avaliam populações mais amplas e heterogêneas, contam com menor investimento por criança e
funções mais restritas às típicas da escola, e que muitas vezes são avaliadas por desenhos quase experimentais ou mesmo correlacionais. O primeiro grupo é sobrerrepresentado nas metanálises científicas, que valorizam especialmente o rigor metodológico, e encontra impactos substancialmente maiores do que o segundo grupo. Com tantas diferenças entre os estudos, é difícil precisar onde está a principal fonte de diferenças, mas os estudos mais rigorosos certamente inspiraram o redesenho das políticas públicas em direção a um aumento da qualidade, focalização, e acompanhadas de avaliações mais rigorosas.
No que diz respeito à focalização, a maioria dos estudos se divide entre não encontrar impactos distintos para pessoas de diferentes origens socioeconômicas,1 raça/etnia e outros marcadores associados à vulnerabilidade; ou em encontrar impactos maiores para os menos favorecidos. Por exemplo, a avaliação sistemática da literatura voltada a países em desenvolvimento encontra que metade dos trabalhos têm efeitos maiores para os mais vulneráveis, enquanto a outra metade não encontra efeitos diferentes da EI por nível socioeconômico[309]. Por outro lado, o mesmo estudo encontra efeitos maiores para meninas do que para meninos.
Já a qualidade da EI parece ser de fato um moderador importante dos efeitos da educação infantil sobre o desenvolvimento e resultados futuros. Entre os próprios estudos com intervenções-modelo, já se percebe que programas mais bem desenhados, multidimensionais e que utilizam currículos e paradigmas pedagógicos alinhados às melhores práticas apresentam melhores resultados[308]. Ao tentar isolar quais seriam esses elementos de qualidade que fariam maior diferença, os estudos em geral mostram que bons processos (interações pedagógicas e afetivas; organização dos tempos e espaços pedagógicos na rotina escolar) importam mais do que insumos (infraestrutura, qualificação dos professores). Bons insumos estão associados a melhores resultados de aprendizagem, mas parecem só ter impactos substanciais sobre o desenvolvimento da criança se mediados pela concomitante melhoria de processos.2
Aprofundando o entendimento de quais seriam processos particularmente associados a melhores resultados na EI, vale destacar:
● Aprendizagem baseada no brincar. Brincar no sentido pedagógico se relaciona a uma proposta mediada pelo professor em que a criança se engaja voluntariamente em uma atividade de seu interesse. Esse tipo de oportuni-
1 Beneficiários de programas de transferência, riqueza ou educação da mãe. Ruhm e Waldfogel (2012)[330] fazem uma revisão de literatura e encontram maiores benefícios para crianças vulneráveis, chamando a atenção para o fato de que os efeitos só são substanciais se os programas tiverem padrões mínimos de qualidade.
2 Aqui é preciso notar a exceção da razão professor-aluno, que parece ter um efeito direto sobre a aprendizagem para além daquele mediado pela melhoria das interações.
dade de aprendizagem já parte de um elemento motivacional em que a criança, por ver um significado, se envolve de forma concentrada e engajada. Se bem planejada, essa estratégia permite a mobilização e o desenvolvimento de diversas habilidades, tais como imaginação e criatividade, resolução de problemas, capacidades interpessoais (tais como assertividade, respeito pelo outro e empatia), talentos físicos relacionados às coordenações motoras ampla e fina, entre outras.
● Adequação das oportunidades ao estágio de desenvolvimento da criança. Na escola infantil, tanto a infraestrutura como as oportunidades de aprendizagem precisam estar adequadas ao estágio de desenvolvimento da criança, não oferecendo riscos e desconfortos, e com nível de dificuldade apropriado (nem tão difícil, que frustre ou desencoraje; nem tão simples, que cause desinteresse). As propostas também devem ser contextualizadas, como forma de aumentar o significado e engajamento. Os espaços devem comportar cantinhos semiestruturados, que facilitam a interação criança-criança, e é preciso haver cuidado com os tempos e transições, evitando que algumas crianças fiquem excluídas por se desinteressarem de algo que lhes foi sugerido ou por terminar uma atividade mais cedo.
● Individualização. Crianças aprendem em ritmos diferentes, e nessa idade o desenvolvimento muitas vezes dá saltos em espaço curto de tempo. O professor precisa estar atento aos ritmos e aos momentos em que, com sua mediação (andaime), pode facilitar descobertas e saltos no desenvolvimento e aprendizagem.
● Criança no centro do processo de aprendizagem. Interações dialógicas, em que o adulto fala e escuta a criança, potencializam o desenvolvimento. Esse tipo de interação muitas vezes é particularmente marcado pelo uso de perguntas abertas nas interações verbais, que são aquelas sem resposta predeterminada (ou certa). Interações dialógicas estimulam a criança a refletir sobre a resposta e criam laços afetivos. Relacionada também ao protagonismo infantil estão as possibilidades de escolha durante as oportunidades oferecidas, tais como o material usado para desenhar, a personagem que se quer interpretar em uma peça de teatro ou o jogo que se quer disputar.
Dentre insumos que podem facilitar bons processos, o destaque vai para a escolha dos materiais pedagógicos, que devem preferencialmente ser disponibilizados para a criança durante todo o tempo em que esteja na escola; e a qualificação dos
professores como proxy para seu repertório no planejamento e execução pedagógica dos planos de aula, e manejo do comportamento de sua turma.3
A importância da qualidade como moderadora dos impactos que a EI tem sobre a criança levou diversos governos a experimentarem o escalonamento de intervenções-modelo ou a propor políticas em larga escala inspiradas nelas. Exemplos bem-sucedidos nos Estados Unidos incluem o Chicago Child-Parent Care Center (CPC) e, especialmente, o programa Head Start. Em ambos os casos houve rigorosas avaliações experimentais e quase experimentais que demonstraram substanciais impactos de curto prazo. Contudo, para o único caso em que houve seguimento de longo prazo (Head Start), o declínio do impacto é nítido. Estudos[332-334] concluíram que a persistência do impacto parece estar relacionada à qualidade das escolas frequentadas posteriormente à EI, corroborando a hipótese de complementaridades dinâmicas[335]. Segundo esse raciocínio, de nada adianta frequentar uma escola de qualidade por apenas um curto período da educação básica e em seguida ir para uma escola ruim. No longo prazo prevalece o nível mais baixo, indicando que investimentos educacionais precisam ser constantes ao longo do tempo.
De um modo geral, programas pré-escolares em larga escala passaram a receber mais investimento ao longo do tempo, mas não ao ponto de replicar os valores das melhores intervenções-modelo. Também ficaram cada vez mais comuns avaliações desses programas por RCT, dentre os quais se destacam os casos de Boston, Tennessee, Carolina do Norte e Geórgia. Essas avaliações replicaram os resultados mais baixos encontrados em estudos correlacionais, e, no caso do Tennessee, diversos dos desfechos investigados demonstraram inclusive efeitos negativos da participação na pré-escola (especialmente em dimensões comportamentais e aprendizagem no médio prazo)[336]. Já o caso de Boston[337] encontra efeitos de longo prazo em conclusão do ensino médio, matrícula no ensino superior e redução de problemas de indisciplina ao longo do ensino médio. Na mesma linha, a metanálise de McCoy et al. (2016)[338] encontra efeito da EI no aumento da taxa de conclusão do ensino médio e redução da repetência escolar.
Se por um lado grande parte da literatura sobre impactos da EI foca em resultados acadêmicos da pré-escola, especialmente durante o ensino fundamental, por outro é importante considerar que a função social dessa etapa de ensino tem sido
3 Barnett e Frede (2010)[331] aprofundam essa discussão e trazem referências que substanciam essa análise. Os autores acrescentam como elemento de qualidade o estabelecimento e monitoramento de metas claras de aprendizagem, inclusive como forma de não subestimar as enormes capacidades de aprendizagem e desenvolvimento das crianças nessa faixa etária. Esse tema, contudo, encontra pouca adesão no Brasil, especialmente pelo receio de estigmatização da criança e pressão exagerada pelo alcance de algumas metas selecionadas, o que pode comprometer um desenvolvimento integral.
transformada ao longo do tempo, e entre diferentes culturas. É nítida a expansão do acesso e extensão do dia letivo e, em diversas localidades, a incorporação de serviços não estritamente educacionais no ambiente escolar, fazendo com que o papel da escola não se restrinja à promoção do desenvolvimento acadêmico-cognitivo. Por outro lado, também é verdade que a pré-escola surge em muitos países como forma de antecipação da escolarização formal das crianças e que, ao longo do tempo, sofreu pressão por currículos mais acadêmicos como forma de reagir à sensação de que as exigências contemporâneas são maiores. Em muitos casos as avaliações de impacto da EI, acompanhando essa diversidade, levaram em conta desfechos de desenvolvimento socioemocional, comportamento e saúde mental. No que diz respeito aos impactos da EI sobre o desenvolvimento socioemocional dos indivíduos, em geral, as metanálises apontam para um impacto médio positivo, mas de menor magnitude (0,16 desvio padrão para estudos americanos[302] e 0,27 desvio padrão para estudos internacionais[339]) sobre diversos construtos psicológicos, porém com durabilidade maior (impactos socioemocionais apresentam menos decaimento ao longo do ciclo educacional). Entre os construtos mais frequentemente investigados e sobre os quais há evidência de impactos positivos do ensino infantil, incluem-se autoestima, estabilidade emocional (comportamentos internalizantes e externalizantes), depressão, hiperatividade e ansiedade, extroversão e sociabilidade e lócus de controle (tendência a crer que eventos ocorridos consigo são fruto de suas próprias ações versus acreditar que são fruto de sorte ou outras causas externas)[301].
Também no caso do impacto da EI sobre o desenvolvimento socioemocional há divergências na literatura relacionadas à dicotomia entre metanálises baseadas apenas em estudos de elevado rigor metodológico versus estudos observacionais de programas de larga escala. Enquanto as metanálises sugerem impacto positivo da EI no desenvolvimento socioemocional, nos estudos observacionais, são encontrados efeitos bem menores ou até adversos (especialmente, sobre a agressividade). Em uma série de pesquisas lideradas pelo National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), com apoio da National Institutes of Health (EUA), foi constatado que a passagem pelo ensino infantil, especialmente aos 2 e 3 anos, está associada a problemas de comportamento nas séries subsequentes. Esses resultados corroboram outros documentados desde o início dos anos 1970[340-342], mas que são criticados por não controlarem pela seletividade (famílias que matriculam os filhos no ensino infantil são, em média, mais vulneráveis e convivem em ambientes familiares mais conturbados)[343]. Pesquisas mais rigorosas conduzidas nos anos 1990 confirmam essas conclusões, porém mostram que a matrícula precoce está associada ao emprego materno e a um menor grau de atenção à criança; por conseguinte, os efeitos adversos não seriam, necessariamente, fruto da EI[344,345].
Os estudos do NICHD ressaltam ainda que as conclusões obtidas não são particulares do contexto americano, uma vez que foram também obtidas na Suécia[346], Itália[347], Noruega[348] e nos próprios EUA[349,350]. Por outro lado, outros pesquisadores[301] rebatem, dizendo que tais resultados socioemocionais adversos não são confirmados por estudos experimentais com algumas intervenções em larga escala, sugerindo que de fato esses resultados seriam fruto apenas de deficiências metodológicas.
É importante destacar que creches americanas e canadenses típicas têm pequeno efeito negativo sobre desenvolvimento socioemocional e comportamental[318,351,352].
Centros de alta qualidade (medida pela qualidade do envolvimento do cuidador com a criança – acolhimento, estimulação de linguagem e cuidado responsável – impulsionam ainda mais o aprendizado e o desenvolvimento socioemocional[352-355]. Intervenções compensatórias tais como o Carolina Abecedarian e Head Start (este em larga escala) também não apresentam efeitos socioemocionais adversos. Finalmente, mesmo nos poucos estudos mais rigorosos em que parece haver efeito socioemocional adverso, este apresenta forte decaimento e, eventualmente, tende a desaparecer ao longo do ciclo educacional[301].
Ainda descrevendo possíveis impactos de curto prazo da EI que podem beneficiar a criança, Cascio e Schanzenbach (2013)[356] exploram a forte expansão do acesso à pré-escola que segue a iniciativa Preschool for All, do presidente Barack Obama, para verificar que o convívio familiar foi fortemente afetado na ocasião com o tempo que pais e filhos gastam em atividades educativas, tais como a leitura e investigação, crescendo substancialmente.
O caso do programa Perry School tem sido exaustivamente analisado para verificar impactos sobre resultados de desenvolvimentos cognitivos e socioemocionais, bem como sobre resultados de bem-estar na vida adulta e até nas gerações seguintes às dos beneficiários. Apesar de contar com uma amostra relativamente pequena, de pouco mais de 100 indivíduos em cada um dos grupos de tratamento e controle, o programa ganhou destaque graças a seu desenho experimental (RCT) e longitudinal, em que os membros dos grupos de tratamento e controle vêm sendo acompanhados desde 1962 com taxas relativamente baixas de atrito.
Heckman, Pinto e Savelyev (2013)[317], por exemplo, mostram que os impactos do programa sobre QI desaparecem após sete anos da intervenção, mas os impactos sobre o desenvolvimento social e comportamento pessoal perduram, sendo este último o mecanismo responsável por impressionantes resultados dessa intervenção sobre salários, saúde, envolvimento com violência e formação de família. Recentemente, inclusive, García, Heckman e Ronda (2023)[357] detectaram a presença de efeitos intergeracionais, com os filhos dos participantes do programa apresentando resultados significativamente melhores de escolaridade e emprego do que os filhos
dos não participantes, configurando um mecanismo concreto de ruptura do processo de transmissão intergeracional da pobreza.4
Em análise de mediação, Heckman, Pinto e Savelyev (2013)[317] também mostram que grande parte dos benefícios de longo prazo são mediados pelos efeitos que o programa teve no desenvolvimento socioemocional dos participantes. A Tabela 8.1 abaixo resume os principais resultados de longo prazo e transbordamentos que o programa teve para filhos e irmãos dos participantes. Na tabela, percebe-se nítido impacto positivo da participação no programa sobre a saúde dos homens, escolaridade das mulheres, e sobre a inserção econômica de ambos os gêneros.
Tabela 8.1 Impactos de longo prazo do programa Perry School
Atividade econômica
Educação
governamental**
Escolaridade**
Proficiência**
Diagnóstico de atraso cognitivo** (-)
Aprisionamento**
Estabilidade conjugal***
Outros
Transbordamento
Terminou ensino médio***
ou aprisionamento***
Fonte: (*) Conti, Heckman, Pinto (2016)[358]; (**) Heckman et al. (2010)[359]; (***) García, Heckman, Ronda (2023)[357]
Já impactos sobre resultados de saúde e violência são raramente investigados, mas vale dizer que outros programas além do Perry School apresentam esse tipo de
4 Aqui é importante lembrar que o Perry School foi um programa pré-escolar implementado em um pequeno município de Michigan (EUA), de maioria negra e economicamente vulnerável, e onde à época se verificava prevalência surpreendentemente elevada de crianças com diagnóstico de atraso cognitivo.
Eixo
desfecho.5 Por exemplo, García, Heckman e Ziff (2019)[362] encontram efeito do ABC/ CARE na redução de crimes, sendo o efeito maior entre meninas do que meninos e para crianças em pior situação socioeconômica na infância.
Finalmente, o último grande tema deste capítulo investiga se o tempo que a criança passa na EI (dosagem) apresenta impactos moderadores importantes. Primeiramente, tanto a literatura internacional como a nacional são inconclusivas a respeito do assunto, e mesmo quando encontram um efeito adicional associado ao fato de a criança passar um ano adicional na EI, este é modesto se comparado ao efeito de ter alguma passagem por esse tipo de equipamento.6
Examinando a idade de ingresso e separando esse efeito da duração do programa, metanálise de Li et al. (2020)[365] concluiu que programas que começam aos 3 anos de idade têm impactos maiores do que aqueles que começam em idades posteriores. Os estudos sobre efeitos de programas em idades menores são de difícil interpretação, pois quanto mais novas as crianças, mais heterogêneos são o foco e prioridades, alternando entre educar e cuidar, além de muitas vezes conterem componentes únicos contemplando aspectos nutricionais e de parentalidade.
No Brasil, poucos estudos encontram efeitos significativos de frequentar creche, para além do efeito estimado para a pré-escola. Exceções são Pinto, Santos e Guimarães (2017)[366], que estimam efeitos positivos porém heterogêneos da passagem pela creche sobre aprendizagem de matemática ao final dos anos iniciais do ensino fundamental em um desenho quase experimental, e Attanasio et al. (2022)[367], que fazem uso de uma loteria de acesso ocorrida no Rio de Janeiro em 2007 para constatar que crianças que conseguiram acesso à creche tiveram importantes ganhos nutricionais, além de ganhos cognitivos de curto prazo.
Considerações finais
Este capítulo tem como objetivo sintetizar o conhecimento científico a respeito dos potenciais impactos que a EI pode ter sobre a vida dos indivíduos, relacionando
5 Campbell et al. (2014) e Englund et al. (2014)[360,361] mensuram esses impactos para o programa ABC –Carolina Abecedarian, ao passo que o último estende a análise para o programa Chicago Child-Parent Care Center (CPC). Deming (2009)[313] encontra resultados semelhantes para o programa Head Start.
6 Yoshikawa et al. (2013)[363] encontram efeitos positivos associados à permanência na EI por mais de um ano, se comparado àqueles que ficam apenas um ano, mas ressalvam que essa conclusão vale para programas focalizados em crianças vulneráveis. Zaslow et al. (2016)[364] confirmam o estudo anterior no que se refere à margem extensiva da dosagem, e acrescentam a essa conclusão que a margem intensiva também importa, ou seja, crianças que faltam pouco ou que frequentam escolas em tempo integral percebem maiores ganhos em linguagem e matemática do que as que atendem parcialmente a EI. Recente metanálise de Li et al. (2020)[365] encontra o resultado oposto: programas mais curtos parecem ter benefícios de curto prazo maiores do que programas mais longos.
essas descobertas ao desenho da EI enquanto política pública, em especial no contexto brasileiro.
● Qualquer revisão sistemática ou metanálise da literatura deve ser feita e lida com ressalvas. A função social da EI varia em cada cultura e contexto social e histórico, fazendo com que os objetivos dessa política (e consequentemente seu desenho e desfechos esperados) sejam heterogêneos. Em primeiro lugar, a motivação para criar e expandir a EI é em geral relacionada à necessidade de as mães terem onde deixar seus filhos durante o dia para poder trabalhar e/ou à demanda de algumas famílias, em geral escolarizadas, por antecipar o processo de escolarização formal de seus filhos. É justo dizer, contudo, que existe maior homogeneidade no segmento voltado às crianças de 4 e 5 anos, que costumamos chamar de pré-escola, para as quais, na maioria dos lugares, a finalidade é educacional, e por isso focamos nossa discussão nessa etapa educacional.
● Por se tratar de um segmento com finalidade eminentemente educacional, é natural que a maioria dos estudos de impacto tenha como desfechos medidos as aprendizagens em áreas como linguagem e matemática, ainda que haja substancial literatura, especialmente a partir de meados dos anos 1990, considerando também a função executiva, desenvolvimento motor e socioemocional.
● Mesmo considerando apenas a pré-escola, é relevante dizer que, com as primeiras avaliações de impacto realizadas de forma um pouco mais rigorosa, bem como outros estudos mostrando forte relação entre a participação nessa etapa e a melhoria do desempenho educacional futuro, houve um forte redirecionamento no foco desse tipo de política na direção da alfabetização precoce entre meados dos anos 1970 e fins dos anos 1990 nos Estados Unidos, país que mais fornece estudos acadêmicos com elevado rigor científico.
A análise em perspectiva dessa literatura deve, portanto, considerar um tipo de intervenção que, além de ter como prioridade a escolarização precoce, passou por uma transição para um ambiente muito mais estruturado em certa época, com prováveis reflexos nos efeitos encontrados em estudos de impacto ao longo do tempo.
● Em termos do principal foco da literatura, que explora o impacto da participação na pré-escola sobre medidas de aprendizagem em etapas subsequentes, a principal mensagem é a de que há um aumento importante em resultados de proficiência no início do ensino fundamental, mas que muitas vezes se dissipa com a progressão educacional, eventualmente desaparecendo (ou seja, com o grupo de comparação alcançando o grupo de tratamento) ao final dessa
etapa de ensino. Esse fenômeno também é encontrado no Brasil[328], mas contestado por Fonseca (2015)[329]. Metanálises recentes também documentam que o benefício da pré-escola em termos de aprendizagem é bem menor para as gerações mais novas, fenômeno intrigante, uma vez que o investimento por criança parece ter em média aumentado com o passar do tempo.
● É importante notar que os estudos mais citados em geral priorizam metodologias rigorosas, especialmente ensaios aleatorizados caso-controle (RCT). Nesses estudos, contudo, quase sempre a intervenção em questão é um programa pré-escolar modelo, que trabalha outras dimensões além da puramente educacional (tais como parentalidade, saúde e nutrição), e muitas vezes focalizado em populações vulneráveis. Pesquisas que têm como foco políticas de EI em larga escala na maioria das vezes encontram impactos significativamente menores do que os documentados nas metanálises que priorizam RCT, mas não é claro se tais diferenças derivam do público-alvo (na maioria das vezes toda a população em idade pré-escolar), da metodologia, ou do desenho dos programas. De todo modo, mesmo estes, em geral, contêm resultados positivos e significativos sobre a aprendizagem.
● Devido à abundância de evidências de que a EI pode impulsionar a aprendizagem, entre outros desfechos, percebe-se, ao longo do tempo, uma acelerada expansão no acesso, redução nas idades obrigatórias de ingresso no ensino formal e aumento substancial nos investimentos públicos na EI. No caso brasileiro esses três fenômenos estão bastante presentes, caracterizando parte das transformações observadas nos últimos 25 anos.
● Paralelamente, e com o simultâneo aumento na participação da mulher no mercado de trabalho, a EI passou a assumir responsabilidades mais amplas, anteriormente atribuídas à família, e tem ganhado força o discurso de que sua missão é promover o desenvolvimento integral da criança. Esse discurso avança concomitantemente à disseminação de estudos mostrando que a EI produz impactos relevantes sobre outras dimensões do desenvolvimento humano que não a proficiência escolar em etapas posteriores. Dentre estas, a mais evidente é o desenvolvimento socioemocional. Nesse sentido, a literatura mostra que bons programas pré-escolares não apenas produzem impactos sobre características relacionadas à autorregulação, desenvolvimento social, função executiva e regulação emocional como também que o impacto sobre essas dimensões não parece declinar com o passar dos anos. Em ao menos um estudo influente[317], importantes impactos de longo prazo de um programa pré-escolar sobre envolvimento com violência e criminalidade, uso de álcool e tabaco, estabilidade familiar e salários são predominantemente mediados por mecanismos socioemocionais. Já os estudos que investigam
políticas em larga escala são bem menos conclusivos sobre eventuais benefícios da EI sobre o desenvolvimento socioemocional.
● No Brasil ainda não temos estudos rigorosos que documentem impactos de médio e longo prazos da EI sobre o desenvolvimento socioemocional, mas Barros et al. (2011)[368] e Santos (2016)[307] trazem indícios de que tais benefícios podem estar presentes a partir de abordagens correlacionais. Attanasio et al. (2022)[367] trazem evidências a partir de um RCT de potenciais impactos de curto prazo da creche sobre regulação emocional de crianças. Quanto a eventuais consequências de longo prazo, Curi e Menezes-Filho (2009)[328] trazem evidências de que a participação na pré-escola está associada a resultados melhores na vida adulta, tais como aumento na probabilidade de conclusão do ensino médio e salários.
● A discussão brasileira sobre EI nos últimos trinta anos espelha movimentos percebidos no resto do mundo. Por aqui também se nota uma tendência crescente de escolha das famílias por compartilhar com o Estado o cuidado de seus filhos pequenos, bem como iniciativas da política pública de expandir o acesso e torná-lo obrigatório como forma de garantir o direito à aprendizagem e à igualdade de oportunidades. As discussões identitárias acerca da função social da EI também são profundas e envolvem grupos engajados e que nem sempre concordam. Primeiramente, no Brasil é também verdade que as creches surgiram como política de assistência e cuidado, visando dar às mães a oportunidade de trabalhar e deixar a criança em ambiente seguro e protegido. Foi apenas em 2006, no bojo do processo de implementação das diretrizes previstas na LDB, que as creches passaram a ser de responsabilidade do sistema educacional e ter, portanto, objetivos explicitamente relacionados à aprendizagem e desenvolvimento infantis. No entanto, a pressão política e a demanda da sociedade por esse tipo de serviço ainda são predominantemente impulsionadas por pais que precisam trabalhar, e existe carência de referenciais e normas de qualidade para garantir que os direitos das crianças sejam efetivados. A qualidade dos serviços ofertados nem sempre é boa, e mesmo crianças menores de 1 ano são matriculadas (muitas vezes em tempo integral) sem que haja nenhum tipo de avaliação sobre riscos à construção de vínculos com os pais ou necessidades de atenção especial devido à sua precocidade. Ou seja, ainda que no regramento geral pareça se tratar de um serviço primordialmente destinado a garantir direitos das crianças, na prática parece ser entendido como direito preponderantemente das famílias e com identidade educacional ainda em construção.
● No caso das pré-escolas, os debates são de cunho distinto, com um polo da sociedade advogando para a escolarização precoce das crianças, aceitando inclusive ambientes mais estruturados, presença de materiais didáticos e tarefas para fazer em casa; e outro polo se recusando até mesmo a discutir a possibilidade de iniciar o processo de alfabetização nessa faixa etária, defendendo que a prioridade é a brincadeira espontânea. No meio do caminho, e ocupando posição atualmente majoritária e refletida principalmente na Base Nacional Comum Curricular, estão aqueles que creem que as especificidades da faixa etária precisam ser respeitadas, que as principais aprendizagens são transversais e devem ser preferencialmente trabalhadas por meio do brincar mediado pelo professor. Em 2019, o Governo Federal decretou o lançamento da Política Nacional de Alfabetização, prevendo forte envolvimento da EI. No ano seguinte, o Programa Nacional do Livro Didático abre a possibilidade de utilização de livros didáticos para crianças da pré-escola. Ambas as iniciativas foram controversas e acabaram revogadas quando o governo foi substituído em 2023, mas os movimentos ilustram o quanto a identidade da pré-escola ainda não está consolidada e como nossas expectativas quanto aos resultados esperados da EI podem mudar nos próximos anos. Dessas discussões depende também o futuro da integração entre as creches e pré-escolas em um único segmento educacional, ou um distanciamento com potenciais consequências adversas sobre o desenvolvimento da criança, uma vez que esse processo é contínuo e deve ser promovido de forma coerente e harmônica.
● Finalmente, existe um debate importante e efervescente em grande parte do mundo, mas com pouca repercussão no Brasil que diz respeito a políticas educacionais compensatórias. É sabido que a EI tende a exigir um custo por estudante maior do que os demais segmentos educacionais, especialmente por requerer turmas relativamente pequenas para que o serviço seja ofertado com qualidade e, no caso das crianças muito pequenas, que mais de um adulto esteja na sala de referência para conseguir mediar oportunidades com muitas crianças. Adicionalmente, muitas das intervenções bem-sucedidas ao redor do mundo em reduzir hiatos de desenvolvimento e aprendizagem de crianças muito vulneráveis reconheciam que essas vulnerabilidades eram, na maioria das vezes, multidimensionais, e requeriam ações que envolvessem também aspectos de nutrição, saúde, parentalidade e acompanhamento domiciliar do progresso das crianças. Oferecer a essas crianças o mesmo que uma criança com família estruturada (recursos materiais, proteção e afeto) é, muitas vezes, insuficiente para permitir a superação da pobreza e outras
vulnerabilidades. Tudo isso evidentemente envolve maior investimento em quem mais precisa e o reconhecimento de que precisamos tratar desigualmente os desiguais. Porém, esse argumento muitas vezes enfrenta resistência em um país onde, quando se permitiu tratar pessoas desigualmente, acabou por beneficiar os ricos e delegar aos menos favorecidos serviços de baixa qualidade. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, de tradição familiarista, o acesso à pré-escola não é necessariamente um direito de crianças e famílias, mas para camadas vulneráveis existe o Head Start, amplo programa educacional com componentes de saúde, nutrição e parentalidade e que apresenta resultados significativamente importantes na redução de desigualdades com relação às crianças de famílias não vulneráveis[294,332].
Ainda assim, Barnett (2011)[306] chama a atenção para o fato de que componentes educacionais de qualidade podem beneficiar a todos, ainda que se reconheça que crianças em desvantagem possam precisar de complementos para aproveitar plenamente tais oportunidades. Berčnik e Rožman Krivec (2023)[369] oferecem uma ampla e recente revisão sobre os resultados de programas pré-escolares focalizados em crianças vulneráveis.
● Em termos de perspectivas para o futuro próximo, o Brasil enfrenta uma série de desafios na EI. Precisamos consolidar os marcos legais que garantam um padrão mínimo de qualidade da Educação Infantil e que esses marcos sejam aceitos e incorporados pelos profissionais da EI em suas práticas. Também é fundamental que se garanta uma formação continuada de qualidade e contextualizada dos profissionais da EI, que assegure a oferta de qualidade e que dê conta das múltiplas realidades vivenciadas pelas crianças em nosso território (quilombolas, indígenas, ribeirinhas, áreas rurais, áreas urbanas de pequenas cidades, áreas periféricas de médias e grandes cidades etc.). Também é importante que se criem mecanismos governamentais que incentivem a oferta de uma EI de qualidade, indo muito além do objetivo de zerar a fila de vagas. Nesse sentido, frente ao impulsionamento que a EI em tempo integral vem tendo nos últimos anos, esses desafios se tornam ainda mais importantes. Se nos preocuparmos simplesmente em resolver a oferta de vagas, sem um olhar focado na qualidade da EI, corremos o risco de continuarmos não oferecendo oportunidade para o pleno desenvolvimento das crianças em uma fase tão importante do seu ciclo de vida.
CAPÍTULO 9
Políticas públicas de primeira
infância
Claudia Cerqueira do Nascimento Bruno Kawaoka Komatsu
Introdução
“Políticas públicas” são ações realizadas com finalidade de resolver um problema público – é o que diz uma das definições possíveis para esse termo[370]. Considerando o papel do Estado e as demandas cada vez mais complexas de diferentes grupos da sociedade, podemos entender que políticas públicas são ferramentas de gestão dos governos para respostas às demandas diversas da sociedade como um todo. As políticas públicas podem ser propulsoras de transformações sociais e econômicas, visando, por exemplo, a promoção do desenvolvimento humano e social, proporcionando igualdade de oportunidades, inclusão e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. A primeira infância, que vai do nascimento até os 6 anos de idade, é considerada uma “janela de oportunidades” pois é nesse momento que ocorre o mais importante processo de desenvolvimento de nossas vidas. Porém, crianças que enfrentam adversidades ao longo desse período (como pobreza extrema, desnutrição, falta de acesso a serviços de saúde, violência, discriminação, desastres ambientais) podem ter seu desenvolvimento, sua saúde física e mental e seu bem-estar afetados por esses fatores, como é discutido no capítulo 6 deste livro. Como consequência, seu presente e seu futuro, além do futuro das sociedades em que vivem, podem ser comprometidos.
Por isso, investir na primeira infância é essencial não apenas para construir bases sólidas para o futuro das crianças, mas também para garantir um presente saudável e enriquecedor. As políticas públicas desempenham um papel crucial nesse processo, promovendo de forma abrangente o desenvolvimento integral das crianças. Ao assegurar as condições adequadas hoje, contribuímos também para que elas sejam cidadãs saudáveis, ativas, produtivas e participativas na sociedade, tanto agora como no futuro.
O objetivo deste capítulo é discutir as principais políticas públicas de primeira infância no Brasil, a partir de seus arranjos institucionais e formas de atuação, para pensar como podemos avançar nessa agenda tão importante para o país. Para tanto, organizamos este capítulo da seguinte forma: além desta introdução, a segunda seção argumenta sobre a necessidade de políticas públicas específicas para a primeira infância; a terceira seção aborda os marcos legais existentes, enquanto a quarta apresenta aspectos institucionais e formas de atuação das principais políticas brasileiras voltadas para as crianças. A quinta seção destaca o que aprendemos com essas políticas a partir do conhecimento científico produzido sobre elas, e a sexta seção discute, à luz desse conhecimento adquirido, como ainda podemos avançar. A última seção traz as considerações finais.
Por que são necessárias políticas de primeira infância?
A primeira infância se constitui em um alicerce importante para o desenvolvimento humano. Isso porque o cérebro, cuja construção começa antes do nascimento e segue em um processo contínuo ao longo da vida adulta, tem um pico de proliferação de neurônios justamente nos primeiros anos de vida. Os bilhões de conexões entre neurônios (as chamadas sinapses) em diferentes áreas do cérebro permitem uma comunicação extremamente rápida entre neurônios especializados em diferentes tipos de funções cerebrais. As ligações formadas nesse período mais ativo constituem uma base forte ou fraca para as conexões futuras e o desenvolvimento da aprendizagem, saúde e comportamento ao longo da vida[371].
A formação do cérebro humano não é reflexo apenas de processos biológicos, mas também fruto da interação entre os genes, que modulam a formação dos circuitos cerebrais e as experiências do indivíduo, ajudando a moldar o cérebro em formação. Por isso, as emoções, as interações, o contexto e o ambiente experienciados nesse período são muito importantes, uma espécie de “tijolos e argamassa” para a configuração da arquitetura cerebral[372]. O estresse é também imprescindível para o desenvolvimento saudável, já que toda vez que as crianças pequenas passam por situações de estresse, seu organismo produz uma ampla gama de reações fisiológicas que preparam o corpo para lidar com uma ameaça.
No entanto, quando a criança é exposta ao estresse por muito tempo (também conhecido como “estresse tóxico”), mesmo quando ainda está na barriga da mãe, isso implica alterações genéticas que alteram a formação do cérebro (conforme abordado no capítulo 2), gerando efeitos fisiológicos e psicológicos, compromete seu desenvolvimento saudável e afeta de forma permanente a aprendizagem, o comportamento e a saúde física e mental. O estresse tóxico está relacionado com as adversidades vividas, tais como problemas familiares, saúde mental dos pais e cuidadores, abuso, ou negligência infantil, insegurança alimentar, viver em locais vulneráveis, exposição à violência, ao racismo e à pobreza[1,373–377].
Mais do que qualquer outro grupo, as crianças formam uma população vulnerável em maior desvantagem, expostas ao risco desde muito cedo na vida – especialmente em países de baixa e média rendas, como é o caso do Brasil. Relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) sobre desenvolvimento na primeira infância mostrou que 36,8% das crianças de 3 a 4 anos de idade em 35 países de baixa e média rendas não apresentam habilidades cognitivas e sociais básicas, como seguir direções e inibir agressões[338].
Ainda não temos, no Brasil, indicadores que permitem aferir e acompanhar, de forma sistemática, os níveis de desenvolvimento infantil e sua evolução ao longo do tempo, mas sabemos que a situação da primeira infância é precária: as crianças são desproporcionalmente as mais afetadas pela pobreza entre todas as faixas etárias: cerca de 3,7 milhões das crianças de 0 a 4 anos (ou 25% do total) estavam em situação de pobreza no país[378]. Essa condição atinge mais profundamente alguns grupos (crianças negras, crianças cujos pais possuem baixa escolaridade e aquelas que vivem nas regiões Norte e Nordeste) do que outros, aprofundando a desigualdade no desenvolvimento infantil entre grupos populacionais e gerando disparidades regionais e sociais que precisam ser consideradas na elaboração de políticas para mitigação desses problemas[7].
Para as crianças, a pobreza significa o agravamento da sua condição de vulnerabilidade, restringindo ainda mais as possibilidades de alcançar seu pleno desenvolvimento. Isso porque a condição da pobreza quase sempre vem acompanhada de outras adversidades, como a fome (produzindo insegurança alimentar nos lares das crianças mais pobres), o estresse nos pais (causado pela constante restrição, que repercute na qualidade da parentalidade), o domicílio em bairros com mais violência, menos infraestrutura (como uma rede deficiente ou ausente de saneamento básico) e menor oferta de serviços públicos. O capítulo 1 aborda de forma ampla as consequências da pobreza para o desenvolvimento das crianças. Vale ainda destacar mais uma faceta da pobreza no Brasil: ela tem cor. Em 2023, a proporção de domicílios pobres com crianças pequenas e cujo responsável era negro ou indígena
chegou a 32% – o dobro da proporção entre domicílios cuja pessoa responsável era branca ou amarela.1 A confluência entre tantas adversidades pode contribuir para um ciclo de pobreza difícil de romper, impactando negativamente a qualidade de vida e limitando o acesso a oportunidades de ascensão social – o chamado “ciclo intergeracional da pobreza”[10,379].2
Com relação à oferta e acesso a serviços públicos, merecem destaque as áreas da Saúde e da Educação, que, embora sejam direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), nem sempre chegam da mesma forma a todas as camadas da população. O acompanhamento pré-natal e a Puericultura, vacinação infantil e os programas contra a desnutrição, por exemplo, são atendimentos disponíveis na Rede Primária de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e grandes aliados no combate à mortalidade das mães, dos bebês e das crianças de até 5 anos[380]. Contudo, quando as mães não conseguem atendimentos básicos como esses na rede pública, isso põe em risco a vida e a saúde de seus filhos, evidenciando que as dificuldades no acesso aos serviços de saúde podem resultar em condições de saúde mais precárias tanto da mãe como das crianças pequenas.
A educação infantil, que abrange tanto as creches (para atendimento de crianças de 0 a 3 anos) como a pré-escola (para atendimento de crianças entre 4 e 5 anos), pode afetar o desenvolvimento infantil, na medida em que, além de atividades educativas, também pode construir ambiente com segurança, cuidado, acesso à cultura, alimentação adequada[381]. O número de creches, no entanto, é insuficiente em relação à demanda das famílias, e essa escassez de vagas na educação infantil pode impossibilitar que as mães, que são as principais cuidadoras, entrem em postos de trabalho formais, com maior restrição de horários[382]. Em 2018, havia uma parcela de 16% das crianças de 0 a 3 anos que necessitavam de vagas em creches, mas não eram atendidas[383]. Apesar dessa demanda por vagas em creches, o Brasil é um caso particular no mundo em relação ao crescimento da taxa de escolarização bruta na pré-escola, impulsionado por políticas de educação infantil. Para uma discussão aprofundada sobre as políticas de educação infantil no Brasil, sugerimos a leitura do capítulo 8 deste livro.
Mitigar as adversidades e seus efeitos, oferecendo condições favoráveis ao pleno desenvolvimento durante a primeira infância, é crucial para garantir que todas as crianças tenham oportunidades iguais desde o início de suas vidas – produzindo,
1 Calculamos esses percentuais usando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de divulgação anual, da primeira entrevista de 2023. Para a classificação de pobres, utilizamos as linhas de pobreza regionais, elaboradas por Rocha, Franco e IETS (s.d.) e ajustamos seus valores para preços de 2023 usando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
2 O capítulo 1 deste livro descreve em detalhes as desigualdades de pobreza e pobreza extrema entre as famílias com crianças pequenas.
em última instância, uma sociedade melhor e socialmente menos desigual. Mas a formulação de políticas de primeira infância para a promoção do desenvolvimento é uma tarefa complexa, que deveria: i) abranger as cinco dimensões interrelacionadas do cuidado integral proposto pelo Nurturing Care Framework (ou Modelo do Cuidado Integral)[104,377]: saúde, nutrição, cuidado responsivo, proteção e segurança, e aprendizagem desde os primeiros anos de vida, ou seja, proporcionar ambientes estimulantes, protegidos contra violência, discriminação e racismo, com oportunidades para a criança brincar e explorar; e ii) oferecer condições estruturais mais amplas, que afetam as famílias das crianças, como medidas de proteção social para situações de alta vulnerabilidade, por exemplo, ou programas de promoção da saúde e de habitação adequada.
As políticas públicas são as ferramentas mais adequadas para lidar com a complexa tarefa de promover o desenvolvimento infantil. Isso porque, considerando o caráter multifatorial do desenvolvimento na primeira infância, a necessidade de ações setoriais conjugadas (em consonância com o modelo do cuidado integral) e o contexto brasileiro frente às condições de suas crianças, as políticas públicas são o meio pelo qual as ações podem ser oferecidas de forma sistêmica e universal, por meio das áreas já abarcadas pela atuação, cooperação e expertise do Estado, garantindo que todas as crianças e suas famílias tenham acesso a serviços essenciais (como saúde, educação, nutrição, proteção social e apoio psicossocial) que promovam seu desenvolvimento integral – reduzindo a chance serem deixadas para trás.
A importância dos marcos legais para a agenda da primeira infância
O cenário descrito na seção anterior dá a dimensão do desafio a ser enfrentado pelo Brasil. Ainda que nos últimos trinta anos tenhamos avançado muito na provisão e ampliação de políticas de proteção social, saúde e educação, o campo da primeira infância não acompanhou essa evolução. O tema, contudo, vem ganhando força por meio de um crescente reconhecimento da importância dos primeiros anos de vida para toda a nossa trajetória. Foi ao longo da última década que muitas ações proliferaram pelo país, traduzidas em leis, programas e políticas federais, estaduais e municipais, que culminaram no Decreto n. 12.083, assinado em 2024 para criação da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância (PNIPI).
Em uma breve incursão pelo arcabouço legal, destacamos os principais dispositivos que passaram a incorporar a perspectiva da primeira infância no âmbito federal. Há um motivo para destacar a regulamentação antes de chegar nas políticas públicas: é que aquela confere respaldo legal para os grupos protegidos por um determinado conjunto de leis. E o motivo pelo qual priorizamos o âmbito federal é que a legislação nesse nível tem um papel de indução ao conferir diretrizes gerais para os outros entes subnacionais (estados e municípios), além de ter um caráter de
sinalização do que é importante para a nação em termos de agenda e provisão de políticas públicas.
O primeiro deles, a CF/88, reconhece as crianças pequenas como sujeitos de direitos e deixa clara a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade pela garantia de seus direitos, tais como direito à vida, saúde, alimentação, educação, dignidade, respeito, entre outros. A partir da CF/88, várias reformas no campo das políticas sociais contemplaram a primeira infância para a garantia dos direitos previstos. No campo da educação, podemos citar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), de 1993, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, e a inclusão da educação infantil no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), de 2006. Políticas do SUS também ampliaram as ações da atenção básica para gestantes, mães e crianças nos primeiros anos de vida.
Esses movimentos de ampliação das políticas sociais ajudaram a colocar a primeira infância pela primeira vez na agenda governamental, e isso reforçou a criação e atuação de entidades da sociedade civil em prol dessa temática: dentre elas surge, em 2006, a Rede Nacional Primeira Infância (RNPI), que conseguiu aprovar o Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI) em 2010 junto ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome[384]. O PNPI é um documento orientador para a construção de uma política nacional para a primeira infância, que contém diretrizes, propostas de ações, financiamento e monitoramento dessas ações, e que orientou a construção de planos municipais e estaduais de primeira infância[385].
A repercussão desse plano reverberou em novas conquistas para essa agenda, tais como a alteração da LDB para inclusão da obrigatoriedade da pré-escola (crianças de 4 a 5 anos) na educação básica em 2013, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), de 2015, que promove a Puericultura no âmbito da Atenção Primária à Saúde com intuito de promover e garantir a saúde da criança e o aleitamento materno (conforme apresentado no capítulo 7), e o Plano Nacional de Educação (PNE), de 2014, com intuito de ampliar a cobertura escolar da educação infantil.3 Além disso, foi ainda instituída uma série de leis relacionadas com a prevenção e a proteção à violência contra a criança[183], como a Lei do Menino Bernardo (2014), a Lei da Escuta Protegida (2017), a Lei Henri Borel (2021) e a Lei da Parentalidade Positiva (2024).
3 O capítulo 8 deste livro mostra como metas de matrículas na educação infantil colocam o Brasil na fronteira mundial em relação ao regramento sobre o acesso à educação infantil.
O Brasil assinou, em 2015, com outros 192 países, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelece os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Entre esses objetivos, há 48 indicadores diretamente relacionados às crianças. A participação do Brasil nesse acordo internacional destaca a importância de investir na primeira infância como uma estratégia essencial para alcançar um desenvolvimento sustentável a longo prazo.
O Marco Legal da Primeira Infância, sancionado em 2016, trouxe consigo uma abordagem mais detalhada e específica sobre os princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas, priorizando ações que garantem o direito ao desenvolvimento saudável e pleno. As políticas de saúde, educação, assistência social, cultura e lazer passaram a ser vistas de maneira integrada, reconhecendo a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento humano.
Fundamentado pelo relatório “Recomendações para a construção da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância”, que foi formulado por especialistas e organizações da sociedade civil e tem como base os domínios previstos pelo modelo do cuidado integral[386], o Governo Federal decretou, em junho de 2024, a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância (PNIPI), que prevê as diretrizes para a implementação dos dispositivos previstos no Marco Legal e a criação de um comitê intersetorial – ao qual caberá, entre suas principais atribuições, elaborar o plano de ações, estabelecer indicadores e estratégias de monitoramento e avaliação do PNIPI. Leis são importantes instrumentos para regulamentação, garantia de direitos e prática institucional para estruturação de políticas. Algumas vezes, contudo, uma lei pode extrapolar seu caráter meramente regulador e induzir ações práticas. Esse parece estar sendo o caso do Marco Legal da Primeira Infância: quando olhamos para os programas estaduais criados por meio de dispositivos legais ao longo das duas últimas décadas no Brasil, é possível observar que há um salto no número de políticas nos últimos anos. Para ilustrar: até 2000, foram criados seis programas de primeira infância nos estados brasileiros; entre 2001 e 2010, dez novos programas estaduais surgiram; e, finalmente, entre 2011 e 2022, chegamos à marca de 84 programas – sendo 38 só no ano de 2021[387]. Resta saber, nesse caso, se toda a legislação foi realmente capaz de traduzir a matéria jurídica em ação, programa ou política pública destinada à primeira infância – o que requer esforços de pesquisa e gestão pública em prol do tema.
O que sabemos sobre as políticas de primeira infância no Brasil
Antes de entrar no campo das “ações”, ou seja, o que está sendo feito em termos de políticas públicas para crianças no país, vale uma distinção: é comum que políticas públicas, como o Bolsa Família, por exemplo, levem a nomenclatura de “Programa”, gerando confusão entre os conceitos. As políticas são, grosso modo,
diretrizes; além disso, assumem um caráter mais perene, sendo fruto de articulação entre atores do Executivo e Legislativo, e dispõem de regulamentação. Programas, por outro lado, são modos de operacionalizar uma política, por meio de ações e intervenções de curto ou médio prazo com vistas a providenciar melhorias ao longo da sequência de desafios a serem enfrentados.
No Brasil, as políticas públicas podem ser federais, estaduais ou municipais. O desenho federalista brasileiro permite que cada um dos níveis da federação tenha autonomia para criar suas próprias políticas, mas, também decorrente desse desenho, é muito provável que haja necessidade de cooperação entre os entes subnacionais para implementação das políticas – as chamadas “políticas multinível”. Ou seja: uma política federal precisará de apoio dos municípios, por exemplo, para que as ações aconteçam em nível local. Além disso, as políticas podem ser setoriais (cada órgão cuida de políticas relacionadas à sua área de atuação), multissetoriais (um conjunto de órgãos elabora um conjunto de ações de suas respectivas áreas para integrarem uma mesma política) ou intersetoriais (um conjunto de ações coordenadas entre múltiplos órgãos e atores estatais e não estatais para solucionar problemas complexos da sociedade).
Considerando o cenário brasileiro atual, faz sentido pensar em dois níveis de relação de políticas públicas com a primeira infância: o primeiro deles consistiria em políticas sensíveis à primeira infância – cujas ações procuram transformar condições que afetam problemas mais amplos, como a pobreza e a fome, mas que geram impactos positivos para a promoção do desenvolvimento infantil – e o segundo, em políticas voltadas para a primeira infância, com ações especificamente direcionadas aos determinantes do desenvolvimento infantil.
No âmbito das políticas sensíveis à primeira infância, é importante destacar duas ações setoriais que, embora não sejam voltadas especificamente para as crianças pequenas, têm se mostrado políticas valiosas na tentativa de mitigar a pobreza, suas consequências para as famílias e a desigualdade: o Programa Bolsa Família e a Estratégia Saúde da Família. Sem essas ações de saúde e proteção social, as famílias mais vulneráveis não teriam condições de proporcionar um ambiente minimamente adequado e seguro para o desenvolvimento de suas crianças.
O Programa Bolsa Família, um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, é uma política federal de transferência de renda condicionada ao acompanhamento de saúde e frequência escolar das crianças, e que visa garantir uma renda mínima às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Atualmente, o programa conta também com um benefício variável específico para cada criança
de 0 a 6 anos de idade. O primeiro e o mais importante feito do programa foi a redução da pobreza[388–390]. Além desse, outros resultados, como melhorias na saúde das crianças, redução da mortalidade infantil (de bebês de menos de 1 ano) e de crianças de menos de 5 anos, especialmente por diarreia ou desnutrição, foram alcançados[391–395]. O PBF também melhorou a saúde das mães e reduziu o número de grávidas que não vão a nenhuma consulta pré-natal[395,396].
A Estratégia Saúde da Família é um programa de atenção primária à saúde (o nível mais simples dos cuidados médicos), parte integrante do SUS, que consiste na realização de visitas aos domicílios das famílias cadastradas por uma equipe de agentes comunitários. Parte da estratégia desse programa consiste justamente no acompanhamento das famílias pelo mesmo grupo de agentes, construindo um laço de confiança entre eles. A ESF melhorou o acesso da população aos serviços públicos de saúde no geral e, em particular, das gestantes e bebês, reduzindo consideravelmente a mortalidade infantil, com o aumento de comparecimentos às consultas pré-natal, especialmente entre famílias e regiões com renda mais baixa[397–399].
A combinação dessas políticas assegura um suporte essencial para as famílias, contribuindo para que estas tenham a mínima condição de ter um ambiente propício ao crescimento saudável e ao desenvolvimento integral das crianças. A continuidade e o fortalecimento de programas como o Bolsa Família e a Estratégia Saúde da Família são fundamentais para garantir que as políticas de primeira infância alcancem seus objetivos de forma eficaz e sustentável.
Construído esse alicerce para garantia de condições mínimas para as famílias, o segundo nível consiste em políticas especificamente voltadas para o desenvolvimento da primeira infância. Existem, no Brasil, diversos programas e políticas públicas já implementados e estabelecidos[385–387]. Vale ressaltar que, além de políticas multi- ou intersetoriais, há políticas setoriais voltadas para a primeira infância. Um exemplo de uma política extremamente importante desse tipo é a Caderneta da Criança, que funciona tanto como fonte de informação e orientação para as famílias quanto como instrumento de avaliação da saúde e do desenvolvimento infantil. Os capítulos 5 e 7 discutem em detalhes essa política.
Contudo, neste capítulo abordaremos políticas públicas que: i) tenham como público-alvo as crianças pequenas (de 0 a 6 anos); ii) tenham ações multi- ou intersetoriais, pressupondo atendimento integral para as crianças e suas famílias; e iii) que estejam devidamente documentadas em literatura científica especializada e documentos oficiais governamentais. Essa delimitação resultou no seguinte conjunto de políticas: Brasil Carinhoso (Governo Federal, 2012-2015), Programa Criança Feliz (PCF; Governo Federal, 2016-vigente), Primeira Infância Melhor (PIM; Rio Grande do Sul,
2003), Mais Infância Ceará (Ceará, 2015-vigente), Mãe Coruja Pernambucana (Pernambuco, 2008-vigente), Família Que Acolhe (FQA; Boa Vista/RR, 2013-vigente) e São Paulo Carinhosa (município de São Paulo/SP, 2013-2016) – analisadas com relação aos seus arranjos institucionais e aos modelos de atuação adotados.
Arranjos institucionais
Os arranjos institucionais são a forma como as regras, mecanismos, processos e coordenação dos atores envolvidos são organizados para a implementação de uma política pública. Olhar para esses arranjos permite compreender como questões como intersetorialidade, relações federativas e de coordenação influenciam na implementação e nos resultados das políticas.
Devido ao caráter complexo do tema da primeira infância, as políticas voltadas para esse público demandam ações de múltiplos setores. Assim, o modelo de gestão adotado pelas políticas selecionadas é baseado na coordenação dos programas por uma secretaria (ou ministério), cujas ações são articuladas entre pelo menos três áreas: Saúde, Educação e Assistência Social. Políticas como Brasil Carinhoso, São Paulo Carinhosa e Mais Infância Ceará instituíram uma camada extra de governança com um comitê intersetorial como instância deliberativa entre todos os atores envolvidos. Mas o que se observa, na maioria dos casos, é que mesmo a atuação conjunta de órgãos de diferentes áreas não resultou na intersetorialidade das políticas: a falta de clareza sobre os papéis dos atores envolvidos nos programas reverbera em falta de comprometimento, confusão e sobreposição de ações[400–403], evidenciando dificuldades de coordenação e da adoção de um modelo efetivo de governança. Políticas federais e estaduais dependem de instâncias subnacionais para implementação das ações, como já mencionado. Nesse caso, instâncias decisórias e deliberativas são hierarquizadas por nível territorial, ou seja: é preciso ter estruturas institucionais em cada um dos níveis nos quais a política vai operar – como ocorre com o PCF, PIM, Mais Infância Ceará e Mãe Coruja Pernambucana, e como ocorreu com o Brasil Carinhoso, que foi descontinuado. Esforços de coordenação tendem a ser proporcionalmente maiores conforme o número de entes federativos envolvidos na política, e isso se deve principalmente aos seguintes fatores: i) dificuldades de coordenação por parte dos responsáveis pela política reverberam na qualidade da implementação[402–404]; ii) as disparidades regionais e heterogeneidades nos territórios, que implicam, por vezes, ter desenhos diferentes para implementação das políticas[400,403,405,406]; e iii) as limitações em termos de capacidade estatal do estado ou município, o que pode comprometer a implementação, o andamento das ações e, consequentemente, o alcance dos objetivos previstos. O PCF, maior programa de visitas domiciliares do mundo, é um caso emblemático: embora abranja cerca de
55% dos municípios brasileiros, uma avaliação de impacto mostrou que o programa ainda não conseguiu ter o efeito esperado no desenvolvimento infantil; em grande medida, o comprometimento dos resultados esperados foi ocasionado pelos problemas de implementação, tais como problemas de coordenação e falta de apoio aos municípios e equipes de atendimento[402,403,407].
Outro aspecto de destaque nas relações federativas é a adesão voluntária dos entes (de estados e municípios, no caso das políticas federais; e municípios, no caso das políticas estaduais) a uma determinada política, que aparece como uma estratégia comum entre os casos selecionados. Isso assegura que apenas os entes interessados em participar adiram por meio de um termo de compromisso/colaboração que explicita os deveres do ente nessa parceria – garantindo maior empenho e comprometimento na implementação e maior chance de execução dessas políticas públicas. Nesse sentido, chama a atenção a capacidade de coordenação e indução do estado do Ceará, no qual todos os 184 municípios têm seu próprio plano de políticas para a primeira infância, o que denota grande engajamento dos entes no âmbito da política estadual Mais Infância Ceará.
Modelo de atuação
Em alguma medida, a maioria dessas políticas foram baseadas em evidências científicas e experiências de outros programas. Mesmo o PIM, programa pioneiro que inspirou muitos modelos de atuação de outras políticas de primeira infância no Brasil, teve como modelo inspirador o Educa a tu Hijo, de Cuba, e o PCF teve como exemplo o programa Família Que Acolhe, que incorporou elementos do programa Reach Up Early Childhood Parenting Programme. O Reach Up foi implementado em diversos países em desenvolvimento, e é discutido com mais detalhes no capítulo 1 deste livro, no contexto de programas de parentalidade que possuem efeitos positivos sobre o desenvolvimento infantil. Isso significa que há muitas similaridades entre as diretrizes gerais das políticas analisadas neste capítulo.
A mais comum entre elas é a realização de visitas domiciliares às famílias cadastradas nos respectivos programas. Visitas domiciliares consistem em idas periódicas de profissionais responsáveis até a residência das famílias beneficiadas. Em linhas gerais, durante essas visitas, os profissionais avaliam as condições de vida, monitoram o cumprimento das condições do programa, fornecem orientações e apoio necessário, além de identificarem necessidades adicionais que possam surgir. As ações realizadas, orientações e apoios devem estar em linha com o tipo de intervenção prevista no programa (por exemplo: ações de promoção de parentalidade, com apresentação de formas de identificar os sinais das crianças e de atividades educativas, atividades para promoção e vigilância do desenvolvimento infantil, ações de
apoio às gestantes – entre outros). Esse contato direto é essencial para garantir a eficácia dos programas, promover a confiança mútua e assegurar que os benefícios estejam realmente chegando às famílias que mais precisam[408].
A estruturação de um modelo de visitas domiciliares requer esforços financeiros e em recursos humanos. É necessário investir na capacitação de profissionais especializados, como assistentes sociais, enfermeiros, agentes comunitários, psicólogos e outros, que realizarão as visitas. Além disso, é preciso garantir a alocação de recursos para transporte e materiais de apoio. A implementação de um sistema eficiente de registro e acompanhamento das visitas também é fundamental, para assegurar que todas as informações relevantes sejam coletadas e analisadas adequadamente. Esses esforços são essenciais para criar um programa sustentável e capaz de atender de maneira efetiva às necessidades das famílias beneficiadas.
Outra modalidade de interação entre os profissionais dos programas e as beneficiárias são os grupos de apoio – geralmente combinados com as visitas domiciliares, como ocorre no PCF, a partir de três modalidades: i) crianças de 0 a 3 anos recebem visitas domiciliares semanais; ii) crianças de 4 a 6 anos recebem visitas domiciliares periódicas, que podem ocorrer semanal, quinzenal ou mensalmente; e iii) gestantes participam de reuniões quinzenais organizadas pelos visitadores para, entre outros, aconselhamento sobre cuidados pré-natais adequados[409].
Cuidados integrais requerem políticas multi- ou intersetoriais; por isso, ações de saúde, educação, proteção social (pelo menos) devem ser combinadas. Nesse sentido, políticas setoriais – novas ou já existentes – podem ser conectadas com a política de primeira infância instituída. Um exemplo é o programa Brasil Carinhoso, cuja atuação previa ações de diferentes setores: no âmbito da Assistência Social, o Programa Bolsa Família foi reformulado para que famílias com crianças de até 6 anos recebessem um benefício mínimo per capita. Adicionalmente, a observação da vulnerabilidade social como critério para focalização do público-alvo, característica comum entre as políticas selecionadas, demanda, muitas vezes, que políticas de primeira infância sejam associadas a programas de proteção social, como o Bolsa Família, ou criem benefícios no âmbito estadual por meio da utilização do CadÚnico[387], como realizou o Mais Infância Ceará devido à pandemia da Covid-19.
Nos campos da Saúde e Nutrição, o Programa da Saúde na Escola (PSE) foi conectado ao Brasil Carinhoso e ampliado a fim de atender crianças da educação infantil, e incluída a distribuição do NutriSUS para prevenir e controlar deficiências nutricionais, além do fornecimento de vitamina A, sulfato ferroso e medicamentos para asma na rede de atenção básica de saúde. Por fim, na área da Educação, conjugada ao financiamento para construção de novas creches, houve o estímulo financeiro aos municípios para incentivar a ampliação da quantidade de vagas em creches públicas ou conveniadas para crianças com até 4 anos[410,411]
A educação infantil tem um importante papel nas políticas de primeira infância. Parte dessa importância pode ser explicada pela previsão legal da provisão de educação de qualidade para crianças de 4 a 5 anos no Brasil, como já mencionamos. A outra parte diz respeito à possibilidade de alcançar e acompanhar crianças pequenas (3-6 anos), concentrando serviços e ações na própria escola (ou creche). Pensando nisso, além do Brasil Carinhoso[410–412], o Mais Infância Ceará e o São Paulo Carinhosa também investiram na educação infantil como um dos pilares dos respectivos programas, buscando universalizar o acesso à educação ampliando a oferta de pré-escola e a disponibilidade de creches[401,413], e reforçando e ampliando serviços inerentes ao âmbito da educação, como a alimentação escolar, e acoplando nas escolas e creches programas setoriais, como o de saúde infantil (como o Programa Saúde na Escola (PSE)), e na assistência social, a criação da “fila social”, que priorizava crianças em situação de maior vulnerabilidade na fila para acessar creches[401,414].
O que não se pode perder de vista, contudo, é que todo desenho de política pública, incluindo suas diretrizes, ações previstas, conexão entre diferentes setores para atuação conjunta, deve ser baseado, além de experiências e evidências científicas, em diagnósticos. Esses diagnósticos devem partir do levantamento de dados e informações sobre o público-alvo pretendido, seu território, além de considerar as particularidades culturais, sociais e econômicas das comunidades atendidas, permitindo assim a formulação de estratégias que sejam verdadeiramente eficazes e adaptadas às necessidades específicas da população. Somente com uma compreensão aprofundada e contextualizada é possível desenvolver políticas públicas que promovam mudanças significativas e duradouras.
O que aprendemos com as políticas públicas de primeira infância do Brasil
A produção e disseminação de conhecimento e evidências sobre as políticas públicas é um passo essencial para a formulação de outras políticas, e até de reformulação da própria política pública. Esse conhecimento, gerado por meio da produção e divulgação de documentação oficial e pesquisas científicas, fornece uma base sólida para a tomada de decisões dos gestores públicos, permitindo ajustes e melhorias contínuas nas políticas implementadas.
Com relação aos documentos oficiais, é possível dizer que o Brasil tem produzido informações a respeito de suas políticas de primeira infância. Algumas iniciativas mais estruturadas, geralmente federais e estaduais, dispõem de website, cartilhas e relatórios sobre os programas. Municípios maiores, provavelmente devido à sua maior capacidade estatal, conseguem disponibilizar material semelhante. Municípios menores, por sua vez, nem sempre conseguem publicizar suas políticas – inviabilizando o conhecimento sobre possíveis iniciativas locais.
A disponibilidade de informações oficiais nem sempre coincide com uma maior disponibilidade de dados sobre a sua população-alvo. Isso se deve, em parte, à falta de sistematização e integração dos dados coletados, além de possíveis lacunas na abrangência e na precisão das informações. A ausência de dados detalhados e com possibilidade de desagregação territorial impede uma análise aprofundada das necessidades e das condições específicas dos grupos atendidos, dificultando o avanço das políticas públicas e das condições de vida e de desenvolvimento das crianças pequenas.
O avanço na compreensão sobre as políticas e seus efeitos pressupõe também a realização de avaliações de impacto. Ainda que tenha sido cada vez mais frequente a discussão sobre a importância da realização desse tipo de estudo no Brasil, é pequeno o número de políticas avaliadas. Dentre as políticas selecionadas para este capítulo, apenas o PIM, o PCF e o FQA dispõem de avaliações de impacto. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (Padin), parte integrante de um dos eixos do Programa Mais Infância Ceará, por exemplo, parece ter sido objeto de uma avaliação desse tipo – mas cujo resultado nunca foi divulgado[415]. Sem saber os efeitos das políticas, é possível que muitas ações sem eficácia estejam sendo disseminadas e “copiadas”, gerando um desperdício de recursos e de tempo, valiosos na corrida para o alcance do desenvolvimento de nossas crianças.
Ao longo dessas duas décadas de operação, o PIM passou por avaliações para entender seus efeitos no desenvolvimento infantil, e estudos mais recentes indicam que o programa teve um impacto positivo sobre o desenvolvimento infantil e práticas parentais dos beneficiários, especialmente entre os bebês cujas mães começaram a participar do programa durante a gravidez[416–418] ou cujas famílias eram de baixa renda[409]. Também houve resultados positivos quanto ao acesso aos serviços públicos[418], a redução da mortalidade infantil[419] e em aspectos da vida escolar do beneficiário[420,421]. Ponto comum entre as avaliações realizadas e que merece ser destacado é que quanto mais cedo a mãe gestante ingressa no programa, maior parece ser a probabilidade de haver efeitos positivos nos resultados almejados. Por ser uma política intersetorial de larga escala em operação no “mundo real”, o PCF é um importante estudo de caso para a produção de evidências para outras políticas públicas. A maioria dos trabalhos que trataram do PCF abordou avaliações qualitativas quanto às dimensões do modelo do cuidado integral e fatores de risco associados ao desenvolvimento infantil[407,422,423]: elementos como a baixa escolaridade da mãe, depressão materna e a prematuridade aparecem como os principais fatores de risco. Um estudo realizado com beneficiários do Mais Infância Ceará[424] identificou também que a alta escolaridade das mães é um fator de proteção contra atrasos de desenvolvimento, mesmo entre famílias que vivem em situação de pobreza.
A única avaliação de impacto realizada sobre o PCF até o momento, conduzida utilizando um método experimental em 30 municípios, mostra que não houve efeito no desenvolvimento infantil das crianças beneficiárias[47]. Por conta da falta de evidências quanto ao impacto positivo do programa, pesquisadores se debruçaram sobre elementos da política que poderiam comprometer seus resultados. Vale ressaltar que o PCF nasceu em 2016 e, com apenas quatro anos de existência, passou pela pandemia da Covid-19, deflagrada em 2020. Estruturado em forma de visitas domiciliares, a implementação e execução do PCF foram fortemente comprometidas pelas restrições sanitárias impostas pela pandemia, reduzindo e alterando o escopo das visitas, o que impediu que avaliações precisas sobre os efeitos do programa fossem realizadas.
Nos estudos levantados[402,403,407,409,423], foram identificados problemas relacionados às ações intersetoriais que, na prática, não se materializaram; à atuação dos visitadores, entendida como um ponto crítico tanto nas análises do PCF como do PIM, e até da São Paulo Carinhosa[401,414]; e os desafios inerentes à alta vulnerabilidade social dos beneficiários, que demandam combinações com outros programas de proteção social.
Isso revela dois problemas no que tange à execução das políticas públicas: um está relacionado com seu planejamento, e o outro com sua implementação. A questão da intersetorialidade, inserida no âmbito do planejamento, destaca a necessidade de uma coordenação eficiente entre diferentes setores e órgãos governamentais e não governamentais, além de um comitê de governança intersetorial para interlocução entre os atores[425]. A falta de integração e comunicação entre os diferentes níveis de governo e áreas envolvidas pode resultar em políticas fragmentadas e menos eficazes, incapazes de abordar de forma abrangente e integral os problemas a serem enfrentados no campo da primeira infância.
Ainda sobre o planejamento das políticas, a partir do levantamento realizado, foi possível observar que heterogeneidades territoriais representam um desafio significativo para a implementação de ações eficazes na primeira infância. Essas diferenças (que podem ser estaduais, regionais ou até mesmo intramunicipais, considerando dicotomias como urbano e rural, territórios indígenas ou de grupos específicos, ou até bairros que abarcam distintas classes sociais) exigem abordagens específicas e adaptadas às particularidades de cada localidade, levando em consideração fatores como infraestrutura, acesso a serviços essenciais e características socioculturais. Dessa forma, é fundamental que as políticas públicas sejam flexíveis e sensíveis às realidades locais, garantindo que todas as crianças, independentemente de onde vivam, possam se beneficiar de iniciativas voltadas para o seu desenvolvimento integral.
Chama a atenção a pouca relevância e debate sobre o papel dos municípios, suas capacidades estatais para execução das políticas e, principalmente, sobre o orçamento disponível para tal. Sendo detentor dos equipamentos por meio dos quais se viabilizam as ações (por exemplo, escolas, unidades básicas de saúde – UBSs, centros de referência de assistência social – CRASs, entre outros), o município tem um papel fundamental de executor local, embora nem sempre sua estrutura administrativa e orçamentária permita que sua participação seja plenamente eficaz. A descentralização das políticas públicas para os municípios muitas vezes não é acompanhada de um repasse adequado de recursos financeiros e capacitação administrativa. Isso pode resultar em disparidades significativas na mesma política executada em diferentes territórios.
Já a implementação, que tem um papel primordial, mas muitas vezes relegado no ciclo das políticas públicas, demanda atenção contínua para que problemas e intercorrências ocorridos nessa fase não acarretem uma “saída dos trilhos” rumo ao resultado esperado. As chances de esse descarrilamento ocorrer aumentam exponencialmente quando os programas são expandidos para abarcar um maior número de beneficiários ou territórios atendidos. Como os estudos sobre o PCF mostram, diretrizes, mesmo que muito bem elaboradas e ancoradas em evidências, não são suficientes para manter um programa de qualidade – é preciso acompanhamento contínuo e muito suporte para que este tenha o andamento esperado. A implementação pode ser também um momento de mudanças de rumos, cujos sinais vão aparecendo conforme a execução ocorre – é importante estar atento para que o rumo da política seja corrigido a tempo de não inviabilizar suas ações ou resultados.
Como ainda podemos
avançar
Ao longo das seções anteriores, argumentamos como o Brasil vem construindo, por pelo menos duas décadas, um ambiente institucional-legal mais sólido para o tema da primeira infância. Temos leis robustas em diversas áreas e matérias de interesse (como Saúde, Educação, Segurança e Proteção) e temos políticas públicas consolidadas, que contemplam ações multissetoriais, reconhecendo a importância de uma abordagem abrangente para alcançar o pleno desenvolvimento das crianças. No decorrer de sua operação, essas políticas vêm nos mostrando que ainda enfrentam desafios significativos de implementação e, também por isso, por vezes os resultados esperados não são atingidos. As dificuldades advêm de fatores como a necessidade de maior capacitação dos profissionais envolvidos e a insuficiente articulação entre os diferentes setores e níveis de governo, evidenciando a importância de um monitoramento contínuo e de ajustes constantes para que as políticas possam, de fato, cumprir seu papel. Mas já temos um ponto de partida.
O decreto assinado em junho de 2024 para a criação da PNIPI foi um grande passo para o avanço da agenda, e o relatório organizado pelo Todos pela Educação e pela Fundação Maria Cecília Vidigal[386] contendo sugestões de ações será uma base para a elaboração dos programas setoriais que comporão essa política. As sugestões contidas no relatório foram fruto do esforço prospectivo de diversos pesquisadores, instituições e até da participação de crianças, e partem de uma estrutura geral para orientar a construção da política e, consequentemente, a integração de esforços e recursos a partir de três eixos: 1) a criação de um sistema de informação integrado da primeira infância; 2) a prestação de serviços setoriais fortalecidos e integrados nas áreas da Saúde, Assistência Social, Educação e Proteção e Justiça; e 3) a comunicação com as famílias e cuidadores. Uma política nacional integral enfrentará desafios, os quais podem ser mitigados a partir do conhecimento adquirido a partir das experiências prévias. Dois desses desafios merecem destaque: a intersetorialidade e a implementação.
A intersetorialidade é um conhecido desafio enfrentado pelas principais políticas de primeira infância em curso no país. Como esta depende de esforços de coordenação e cooperação entre os atores, temos como resultado programas com ações multissetoriais, mas que não chegam a desenvolver a intersetorialidade. Para tanto, é recomendada a criação e manutenção de instâncias decisórias e deliberativas, como comitês intersetoriais e governança colaborativa[425], que devem ser instituídos desde o planejamento da política até sua execução, além da criação e utilização de um sistema de metas compartilhadas pelos órgãos envolvidos, a fim de gerar um senso de responsabilidade coletiva e uma visão integrada sobre a política e seus resultados. Outro gargalo das políticas de primeira infância é a implementação. Esse momento é crítico pois é quando o planejamento sai do papel e é posto em prática; nem tudo o que foi planejado pode ou consegue ser executado como tal, exigindo flexibilidade para ajustes conforme necessário. A falta de supervisão adequada e de mecanismos para resolver problemas rapidamente pode comprometer o andamento da política, desperdiçando recursos e deixando de atender adequadamente a população-alvo, e por isso a implementação requer acompanhamento ao longo de todo o processo de execução. Um bom processo de implementação depende de dois fatores: monitoramento das atividades e alinhamento constante. O monitoramento pode ser realizado por meio de avaliações periódicas da própria implementação, que consistem na análise do conteúdo da formulação, do contexto e processo de implementação, do acompanhamento dos recursos (humanos e financeiros), atores sociais envolvidos e alcance das ações. E o alinhamento, por sua vez, está relacionado com uma comunicação clara e constante entre todos os atores envolvidos, treinamento dos agentes, disponibilização de instâncias de apoio para as equipes – tanto as técnicas como as operacionais.
Há meios pelos quais ainda podemos avançar, mas ainda são pouco explorados. Destacamos cinco deles aqui: o papel dos municípios, a incorporação de ações específicas para promoção da diversidade, a discussão sobre o orçamento, a criação de um sistema integrado de dados que permite acompanhar e avaliar as políticas e a comunicação com a sociedade.
Papel dos municípios: o município tem um papel fundamental na formulação e na implementação, visto que é o responsável pela execução das políticas na ponta e também é o detentor dos principais equipamentos utilizados na viabilização das atividades (como as escolas e as unidades básicas de saúde). Mas os municípios, cerca de 69% com menos de 20 mil habitantes[378], esbarram no problema da baixa capacidade administrativa e gerencial para realizar essas tarefas[426]. Planos municipais de primeira infância são instrumentos que podem (e devem) ser utilizados para orientar as ações locais e estabelecer diretrizes específicas para a promoção da saúde, educação e proteção infantil. Com isso, os municípios seriam capazes de adaptar políticas públicas de outras esferas de governo às necessidades, capacidades e realidades locais. Um exemplo é o regime de colaboração na área de Educação no Ceará, um estado reconhecidamente difusor de políticas interinstitucionais (do estado para os municípios). Esse modelo facilita a integração de esforços entre estado, municípios e outras instituições envolvidas na política, promovendo uma gestão mais eficiente por meio do estabelecimento dos objetivos comuns, compartilhamento de responsabilidades e troca de experiências, resultando em iniciativas mais coordenadas e adaptadas (contribuindo também para o processo de implementação). Ao fortalecer os municípios, não apenas se melhora a qualidade e a efetividade das políticas públicas, mas também se promove uma maior justiça social e igualdade de oportunidades para todas as comunidades.
Promoção da diversidade: a promoção da diversidade nas políticas públicas de primeira infância no Brasil deve incorporar um compromisso explícito com o antirracismo e a valorização das diferentes etnias e culturas que compõem a sociedade brasileira. Essas políticas devem combater não apenas as desigualdades econômicas, mas também as disparidades de ordem social e cultural que afetam as crianças desde os primeiros anos de vida. Iniciativas de primeira infância que sejam desenhadas para enfrentar o racismo estrutural, promovendo a inclusão e o respeito às identidades culturais diversas, devem incluir ações concretas, por exemplo, em espaços institucionais como as escolas[4]. As escolas podem ser espaços que valorizam e reforçam a diversidade da sociedade, incorporando práticas antirracistas e materiais didáticos que representem de forma justa e inclusiva as diferentes culturas e etnias. Além disso, é fundamental capacitar professores e funcionários para reconhecer e combater o racismo em todas as suas formas, promovendo um ambiente de apren-
dizagem no qual todas as crianças se sintam respeitadas, valorizadas e seguras. Ao abordar essas questões, o Brasil pode estabelecer um contexto em que todas as crianças, independentemente de cor, origem ou cultura, tenham iguais oportunidades de crescimento e desenvolvimento, ajudando na construção de uma sociedade mais justa e equitativa.
Importância do orçamento: orçamentos são assuntos “espinhosos” mas que precisam ser abordados. É durante o planejamento de uma política pública que são previstos os recursos financeiro-orçamentários necessários para sua realização. Isso inclui a necessidade de discussões sobre linhas orçamentárias próprias para o financiamento das políticas de primeira infância, como uma forma de assumir um compromisso e garantir que esses recursos não sejam absorvidos por outras ações –já que muitas políticas associam, por exemplo, crianças e adolescentes, ou têm as crianças contidas em um grande guarda-chuva de ações, como geralmente ocorre em políticas de saúde. Instrumentos de planejamento e orçamento, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA) devem ser utilizados como parte dos planos de primeira infância, a fim de estabelecer a forma da alocação dos recursos para os programas.
Sistema integrado de dados e criação de uma cultura de evidências: a terceira direção em que podemos avançar é a construção de um sistema nacional integrado de informações sobre primeira infância – ação proposta no relatório do PNIPI[386] e reforçada devido à sua grande importância. Uma boa política nasce de um bom diagnóstico, das evidências científicas e experiências de outras políticas similares, de um planejamento robusto e participativo e do acompanhamento dos resultados obtidos pelas ações propostas. Um diagnóstico detalhado e preciso fornece as bases para entender os problemas a serem enfrentados, identificando suas causas e as melhores formas de intervenção, enquanto o acompanhamento de indicadores permite aferir o desempenho das políticas públicas. Se não temos dados sobre o desenvolvimento das crianças no país, como podemos estabelecer onde queremos chegar? O Brasil tem boas experiências na elaboração de sistemas integrados, tal como o portal Gov.br, o que denota expertise para a criação de mais um – agora voltado para as crianças. Essa plataforma seria parte integrante de um ambiente de produção sistemática e periódica de evidências, o qual permitiria a realização de monitoramento, avaliação das políticas e produção de estudos rigorosos a fim de avaliar o impacto das políticas implementadas. Nesse sentido, parcerias com universidades e centros de pesquisa poderiam ser realizadas. Ao colaborar com esses parceiros, os órgãos públicos não apenas enriqueceriam suas análises com uma perspectiva acadêmica e científica robusta e imparcial, mas também aumentariam a credibilidade e a confiança nos resultados obtidos. Por outro lado, a realização
desse trabalho ampliaria o impacto social das instituições de ensino e pesquisa, reforçando seu compromisso com a sociedade.
Comunicação com a sociedade: por fim, e de forma complementar ao relatório de recomendações do PNIPI, o engajamento e mobilização de atores relevantes (como famílias e empresas, pesquisadores e acadêmicos, lideranças políticas e gestores públicos, veículos de comunicação e organizações da sociedade civil) é imprescindível para que a agenda da primeira infância tenha notoriedade, legitimidade e a devida relevância, fazendo com que esta seja um compromisso de toda a sociedade com as crianças e permita um ambiente de apoio e conscientização. A pauta da primeira infância já dispõe de instituições da sociedade civil relevantes e reconhecidas a seu favor, como é o caso da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, da Rede Nacional pela Primeira Infância, do Todos Pela Educação, entre outras, mas ainda podemos avançar na pauta da comunicação massiva e para diferentes públicos – tal como vem realizando o estado do Ceará, que considera que a promoção do desenvolvimento infantil demanda bem mais esforços do que apenas os empregados junto às famílias: é preciso mobilizar toda a sociedade e instâncias políticas para que haja pactuação e adesão dos múltiplos atores envolvidos (mais na linha do que prega a CF/88).
Considerações finais
Políticas públicas voltadas para a primeira infância enfrentam muitos desafios. De um lado, o desenvolvimento integral da criança tem uma natureza multifacetada, porque um ambiente saudável, seguro, adequado e estimulante em que a criança possa se desenvolver de forma plena depende de múltiplos determinantes, que podem ser mais próximos do ambiente familiar (como as práticas parentais, de saúde e higiene, as condições dos domicílios) ou mais estruturais (como a disponibilidade de serviços de saúde, creches, ou programas sociais). Por outro lado, os fatores de risco que provocam atrasos de desenvolvimento também podem ocorrer em múltiplas dimensões e tendem a se acumular. Um exemplo é a situação de pobreza extrema das famílias, que pode ocorrer simultaneamente com situações de insegurança alimentar e desnutrição das crianças, condições inadequadas de moradia, discriminação e comunidades inseguras em relação à violência e a riscos ambientais.
É notório que a agenda da primeira infância tem avançado nos últimos anos, mas ainda há muito o que construir – e uma série de ações pode ajudar a alcançar um cenário no qual todas as crianças consigam atingir seu pleno desenvolvimento. Já temos, no Brasil, políticas públicas consolidadas que nos ajudam dando pistas sobre como podemos avançar. Esse conhecimento acumulado leva a identificar que elementos como intersetorialidade, comunicação com as partes interessadas, o papel dos municípios, promoção da diversidade, o planejamento de orçamento específico
para ações de primeira infância e a construção de um ecossistema de produção sistemática e periódica de evidências são fundamentais para o sucesso de políticas públicas voltadas para a primeira infância.
Para garantir a eficácia das políticas públicas de primeira infância, é crítico que estas sejam acompanhadas por avaliações periódicas de impacto e de implementação. Essas avaliações devem ocorrer de forma paralela, assegurando que as estratégias sejam ajustadas conforme necessário e que os resultados desejados sejam alcançados. Além disso, ao expandir uma política para uma maior escala, a avaliação de implementação torna-se ainda mais imprescindível para identificar e corrigir possíveis desafios antes que se tornem generalizados.
O caminho é árduo, mas possível, e começa com o reconhecimento da precariedade da situação atual das crianças pequenas no Brasil, da urgência da necessidade de ação e da importância da primeira infância para uma sociedade mais saudável, com maior aprendizado, mais produtiva e inovadora.
1. Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C. H., Andersen, C. T., Digirolamo, A. M., Lu, C., Mccoy, D. C., Fink, G., Shawar, Y. R., Shiffman, J., Devercelli, A. E., Wodon, Q. T., Vargas-Barón, E., & Grantham-Mcgregor, S. (2017). Early Childhood Development Coming of Age: Science Through the Life Course. The Lancet, 389(10064), 77–90. https:// doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31389-7
2. Victora, C. G., Hartwig, F. P., Vidaletti, L. P., Martorell, R., Osmond, C., Richter, L. M., Stein, A. D., Barros, A. J. D., Adair, L. S., Barros, F. C., Bhargava, S. K., Horta, B. L., Kroker-Lobos, M. F., Lee, N. R., Menezes, A. M. B., Murray, J., Norris, S. A., Sachdev, H. S., Stein, A., … Black, R. E. (2022). Effects of Early-Life Poverty on Health and Human Capital in Children and Adolescents: Analyses of National Surveys and Birth Cohort Studies in Lmics. The Lancet, 399(10336), 1741–1752. https://doi.org/10.1016/ s0140-6736(21)02716-1
3. Attanasio, O., Cattan, S., & Meghir, C. Early Childhood Development, Human Capital, and Poverty. Annual Review Of Economics, 14(1), 853–892.(2022). https://doi.org/10.1146/ annurev-economics-092821-053234
4. Dias, L. R., Januário, E., Pereira, N. S., Oliveira, W. T. F., & Tripodi, Z. F. (2021). Racismo, educação infantil e desenvolvimento na primeira infância. Estudo N° 7 - Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância (NCPI). Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
5. The World Bank. World Development Indicators | Databank. ([S.D.]). Disponível em: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
6. Komatsu, B. K., Nascimento, C. C., & Menezes Filho, N. (2024). O desafio da intersetorialidade em políticas públicas para a primeira infância. Estudo N° 12 - Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância (NCPI). Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
7. Komatsu, B. K., Calu, J. C., & Bartholo, T. L. (2022). Impactos da desigualdade na primeira infância. Estudo N° 9 - Comitê Científico Do Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI). Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
8. Delever, N., Veronesi, V., Peron, F., Menezes Filho, N., & Komatsu, B. K. (2023). Como medir a pobreza extrema no Brasil? Uma revisão metodológica. Centro de Gestão e Políticas Públicas – Insper (Policy Paper N. 70).
9. Rocha, S. (2013). Pobreza no Brasil: a evolução de longo prazo (1970-2011). Instituto Nacional De Altos Estudos (INAE). Estudos e Pesquisas N. 492.
10. Barros, R. P. De, Carvalho, M. De, Franco, S., & Mendonça, R. S. P. De. (2007). Determinantes imediatos da queda da desigualdade de renda brasileira. Disponível em: https:// repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2161
11. Hoffmann, R. (2020). Desigualdade de renda no Brasil, 1995-2019: diversas distribuições e o impacto do desemprego. RBEST: Revista Brasileira de Economia Social e do Trabalho, 2, e020007. https://doi.org/10.20396/rbest.v2i.14205
12. Souza, P. H. F. (2022). Nota de Política Social 2: a evolução da pobreza monetária no Brasil no século XXI. Em Políticas sociais: acompanhamento e análise (Vol. 1). Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA).
13. Hoffman, R. (2014). Transferências de renda e desigualdade no Brasil (1995-2011). Em T. Campello & M. Neri (orgs.), Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2082
14. Saad, M. G., Bortoluzzo, A. B., Menezes Filho, N. A., & Komatsu, B. K. (2020). Os determinantes da queda da desigualdade de renda nas regiões brasileiras entre 2001 e 2015. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 35(104), e3510313. https://doi.org/10.1590/3510313/2020
15. Menezes Filho, N., Komatsu, B. K., & Rosa, J. P. (2021). Reducing Poverty And Inequality During the Coronavirus Outbreak: the Emergency Aid Transfers in Brazil. Centro de Gestão e Políticas Públicas – Insper (Policy Paper N. 54).
16. Barbosa, A. L. N. De H., Costa, J. S. De M., & Hecksher, M. D. Mercado de trabalho e pandemia da Covid-19: ampliação de desigualdades já existentes? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).(2020). Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10186
17. Hoffmann, R., & Jesus, J. G. D. (2022). A relevância do auxílio emergencial na redução da desigualdade em 2020. RBEST – Revista Brasileira de Economia Social e do Trabalho, 4, e022001. https://doi.org/10.20396/rbest.v4i00.16072
18. Britto, D., Fonseca, A. D. A., Pinotti, P., Sampaio, B., & Warwar, (2022) L. Intergenerational mobility in the land of inequality. SSRN Electronic Journal. (2022). https://doi. org/10.2139/ssrn.4237631
19. Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-Mcgregor, S. Labor Market Returns to an Early Childhood Stimulation
Intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998–1001.(2014). https://doi.org/10.1126/ science.1251178
20. Britto, D. G. C., Rocha, R. H., Pinotti, P., & Sampaio, B. (2024). Small Children, Big Problems: Childbirth and Crime. Cesifo Working Papers, N. 11083. Disponível em: https:// docs.iza.org/dp16910.pdf
21. Britto, D. G. C., MELO, C., & SAMPAIO, B. The Kids Aren’t Alright: Parental Job Loss and Children’s Outcomes Within And Beyond Schools. Institute Of Labor Economics, IZA Discussion Paper Series N. 15591.(2022). Disponível em: https://docs.iza.org/ dp15591.pdf
22. Bertheau, A., Acabbi, E. M., Barcelo, C., Gulyas, A., Lombardi, S., & Saggio, R. (2022). The Unequal Consequences Of Job Loss Across Countries (Working Paper No. 29727). National Bureau Of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w29727
23. Amorim, G., Britto, D. G. C., Fonseca, A., & Sampaio, B. (2024). Job Loss, Unemployment Insurance, And Health: Evidence From Brazil. Institute Of Labor Economics, IZA Discussion Paper Series N. 16790. Disponível em: https://docs.iza.org/dp16790.pdf
24. Bhalotra, S., Britto, D. G. C., Pinotti, P., & Sampaio, B. (2023). Job Displacement, Unemployment Benefits And Domestic Violence. Institute Of Labor Economics, IZA Discussion Paper Series N. 14543. Disponível em: https://repec.iza.org/dp14543.pdf
25. Walker, S. P., Chang, S. M., Smith, J. A., Baker-Henningham, H., & The Reach Up Team. (2018). The Reach Up Early Childhood Parenting Program: Origins, Content, And Implementation. Zero To Three, V. 38, N. 4. Disponível em: https://www.bluetoad.com/publication/?m=45474&i=483158&p=1&ver=html5
26. Grantham-Mcgregor, S. M., Powell, C. A., Walker, S. P., & Himes, J. H. (1991). Nutritional Supplementation, Psychosocial Stimulation, And Mental Development Of Stunted Children: The Jamaican Study. The Lancet , 338 (8758), 1–5. https://doi. org/10.1016/0140-6736(91)90001-6
27. Grantham-Mcgregor, S., Walker, S., Chang, S., & Powell, C. (1997). Effects Of Early Childhood Supplementation With And Without Stimulation On Later Development In Stunted Jamaican Children. The American Journal Of Clinical Nutrition, 66(2), 247–253. https://doi.org/10.1093/ajcn/66.2.247
28. Brentani, A., Walker, S., Chang-Lopez, S., Grisi, S., Powell, C., & Fink, G. (2021). A Home Visit-Based Early Childhood Stimulation Programme In Brazil—A Randomized Controlled Trial. Health Policy And Planning, 36(3), 288–297. https://doi.org/10.1093/ heapol/czaa195
29. Brentani, A., Ferrer, A. P. S., Bessa, L., Chang, S., Walker, S., Powell, C., Hamadani, J., Grisi, S., & Fink, G. (2020). Survive And Thrive In Brazil: The Boa Vista Early Childhood Program: Study Protocol Of A Stepped-Wedge, Randomized Controlled Trial. Trials, 21(1), 390. https://doi.org/10.1186/s13063-020-4217-3
30. Arriagada, A. M., Perry, J., Rawlings, L., Trias, J., & Zumaeta, M. (2018). Promoting Early Childhood Development Through Combining Cash Transfer And Parenting Programs [Text/HTML]. World Bank. Disponível em: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/489331538646764960/promoting-early-childhood-development-through-combining-cash-transfer-and-parenting-programs
31. Arriagada, A. M., Rawlings, L. B., Trias, J., & Zumaeta-Aurazo, M. (2020). Combining Cash Transfers And Parenting Programs: Operational Design Considerations. Global Social Policy, 20(1), 15–20. https://doi.org/10.1177/1468018120902597
32. World Health Organization. (2018). INSPIRE Handbook: Action For Implementing The Seven Strategies For Ending Violence Against Children. Geneve: World Health Organization. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/272996/9789241514095-eng. pdf?sequence=1
33. Gluckman, P. D., Hanson, M. A., & Mitchell, M. D. (2010). Developmental Origins Of Health And Disease: Reducing The Burden Of Chronic Disease In The Next Generation. Genome Medicine, 2(2), 14. https://doi.org/10.1186/gm135
34. Barker, D. J. P. (2004). The Developmental Origins Of Adult Disease. Journal Of The American College Of Nutrition, 23(Sup6), 588S-595S. https://doi.org/10.1080/07315724.2 004.10719428
35. Leenen, F. A. D., Muller, C. P., & Turner, J. D. (2016). DNA Methylation: Conducting The Orchestra From Exposure To Phenotype? Clinical Epigenetics, 8(1), 92. https://doi. org/10.1186/s13148-016-0256-8
36. Calkins, K., & Devaskar, S. U. (2011). Fetal Origins Of Adult Disease. Current Problems In Pediatric And Adolescent Health Care, 41(6), 158–176. https://doi.org/10.1016/j. cppeds.2011.01.001
37. Roseboom, T. J., Van Der Meulen, J. H. P., Ravelli, A. C. J., Osmond, C., Barker, D. J. P., & Bleker, O. P. (2001). Effects Of Prenatal Exposure To The Dutch Famine On Adult Disease In Later Life: An Overview. Molecular And Cellular Endocrinology, 185(1–2), 93–98. https://doi.org/10.1016/s0303-7207(01)00721-3
38. Robinson, O., & Vrijheid, M. (2015). The Pregnancy Exposome. Current Environmental Health Reports, 2(2), 204–213. https://doi.org/10.1007/s40572-015-0043-2
39. Vaiserman, A. M., & Koliada, A. K. (2017). Early-Life Adversity And Long-Term Neurobehavioral Outcomes: Epigenome As A Bridge? Human Genomics, 11(1), 34. https:// doi.org/10.1186/s40246-017-0129-z
40. Kaneko, K., & Choudhuri, S. (2017). Epigenetics In Reproduction And Development. Em Reproductive And Developmental Toxicology (P. 1005–1021). Elsevier. https://doi. org/10.1016/b978-0-12-804239-7.00052-4
41. Fitz-James, M. H., & Cavalli, G. (2022). Molecular Mechanisms Of Transgenerational Epigenetic Inheritance. Nature Reviews Genetics, 23(6), 325–341. https://doi.org/10.1038/ s41576-021-00438-5
42. Haarhaus, M., Gilham, D., Kulikowski, E., Magnusson, P., & Kalantar-Zadeh, K. (2020). Pharmacologic Epigenetic Modulators Of Alkaline Phosphatase In Chronic Kidney Disease: Current Opinion In Nephrology And Hypertension, 29(1), 4–15. https://doi. org/10.1097/mnh.0000000000000570
43. Perera, F., & Herbstman, J. (2011). Prenatal Environmental Exposures, Epigenetics, And Disease. Reproductive Toxicology, 31(3), 363–373. https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2010.12.055
44. Fowden, A. L., Coan, P. M., Angiolini, E., Burton, G. J., & Constancia, M. (2011). Imprinted Genes And The Epigenetic Regulation Of Placental Phenotype. Progress In Biophysics And Molecular Biology, 106(1), 281–288. https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio. 2010.11.005
45. Keverne, E. B. (2015). Genomic Imprinting, Action, And Interaction Of Maternal And Fetal Genomes. Proceedings Of The National Academy Of Sciences, 112(22), 6834–6840. https://doi.org/10.1073/pnas.1411253111
46. Foley, D. L., Craig, J. M., Morley, R., Olsson, C. J., Dwyer, T., Smith, K., & Saffery, R. (2008). Prospects For Epigenetic Epidemiology. American Journal Of Epidemiology, 169(4), 389–400. https://doi.org/10.1093/aje/kwn380
47. Stuppia, L., Franzago, M., Ballerini, P., Gatta, V., & Antonucci, I. (2015). Epigenetics And Male Reproduction: The Consequences Of Paternal Lifestyle On Fertility, Embryo Development, And Children Lifetime Health. Clinical Epigenetics, 7(1), 120. https://doi. org/10.1186/s13148-015-0155-4
48. Babenko, O., Kovalchuk, I., & Metz, G. A. S. (2015). Stress-Induced Perinatal And Transgenerational Epigenetic Programming Of Brain Development And Mental Health. Neuroscience &Biobehavioral Reviews, 48, 70–91. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.11.013
49. Noro, G., & Gon, M. C. C. (2015). Epigenética, Cuidados Maternais e Vulnerabilidade ao Estresse: Conceitos Básicos e Aplicabilidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, 28(4), 829–839. https://doi.org/10.1590/1678-7153.201528422
50. Nagasawa, M., Okabe, S., Mogi, K., & Kikusui, T. (2012). Oxytocin And Mutual Communication In Mother-Infant Bonding. Frontiers In Human Neuroscience, 6. https://doi. org/10.3389/fnhum.2012.00031
51. Heim, C. M., Entringer, S., & Buss, C. (2019). Translating Basic Research Knowledge On The Biological Embedding Of Early-Life Stress Into Novel Approaches For The Developmental Programming Of Lifelong Health. Psychoneuroendocrinology, 105, 123–137. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2018.12.011
52. Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSP. (2024). 18° Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/253
53. Hantsoo, L., Kornfield, S., Anguera, M. C., & Epperson, C. N. (2019). Inflammation: A Proposed Intermediary Between Maternal Stress And Offspring Neuropsychiatric Risk. Biological Psychiatry, 85(2), 97–106. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2018.08.018
54. Walsh, K., Mccormack, C. A., Webster, R., Pinto, A., Lee, S., Feng, T., Krakovsky, H. S., O’Grady, S. M., Tycko, B., Champagne, F. A., Werner, E. A., Liu, G., & Monk, C. (2019). Maternal Prenatal Stress Phenotypes Associate With Fetal Neurodevelopment And Birth Outcomes. Proceedings Of The National Academy Of Sciences, 116(48), 23996–24005. https://doi.org/10.1073/pnas.1905890116
55. Wiley, K. S., Camilo, C., Gouveia, G., Euclydes, V., Panter‐Brick, C., Matijasevich, A., Ferraro, A. A., Fracolli, L. A., Chiesa, A. M., Miguel, E. C., Polanczyk, G. V., & Brentani, H. (2023). Maternal Distress, DNA Methylation, And Fetal Programing Of Stress Physiology In Brazilian Mother–Infant Pairs. Developmental Psychobiology, 65(1), E22352. https://doi.org/10.1002/dev.22352
56. Sheng, J. A., Bales, N. J., Myers, S. A., Bautista, A. I., Roueinfar, M., Hale, T. M., & Handa, R. J. (2021). The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis: Development, Programming Actions Of Hormones, And Maternal-Fetal Interactions. Frontiers In Behavioral Neuroscience, 14, 601939. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2020.601939
57. Jensen Peña, C., Monk, C., & Champagne, F. A. (2012). Epigenetic Effects Of Prenatal Stress On 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase-2 In The Placenta And Fetal Brain. Plos ONE, 7(6), E39791. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0039791
58. Gumusoglu, S. B., Chilukuri, A. S. S., Santillan, D. A., Santillan, M. K., & Stevens, H. E. (2020). Neurodevelopmental Outcomes Of Prenatal Preeclampsia Exposure. Trends In Neurosciences, 43(4), 253–268. https://doi.org/10.1016/j.tins.2020.02.003
59. Ma, R., Liu, J., Wu, L., Sun, J., Yang, Z., Yu, C., Yuan, P., & Xiao, X. (2012). Differential Expression Of Placental 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenases In Pregnant Women With Diet-Treated Gestational Diabetes Mellitus. Steroids, 77(7), 798–805. https://doi.org/10.1016/j. steroids.2012.03.007
60. Shallie, P. D., Margolis, D., Shallie, O. F., & Naicker, T. (2020). Placental 11β-HSD2 Downregulated In HIV Associated Preeclampsia. Journal Of Reproductive Immunology, 142, 103185. https://doi.org/10.1016/j.jri.2020.103185
61. Horvath, S., & Raj, K. (2018). DNA Methylation-Based Biomarkers And The Epigenetic Clock Theory Of Ageing. Nature Reviews Genetics, 19(6), 371–384. https://doi. org/10.1038/s41576-018-0004-3
62. Bozack, A. K., Rifas-Shiman, S. L., Gold, D. R., Laubach, Z. M., Perng, W., Hivert, M.F., & Cardenas, A. (2023). DNA Methylation Age At Birth And Childhood: Performance Of Epigenetic Clocks And Characteristics Associated With Epigenetic Age Acceleration In The Project Viva Cohort. Clinical Epigenetics, 15(1), 62. https://doi.org/10.1186/ s13148-023-01480-2
63. Simpkin, A. J., Hemani, G., Suderman, M., Gaunt, T. R., Lyttleton, O., Mcardle, W. L., Ring, S. M., Sharp, G. C., Tilling, K., Horvath, S., Kunze, S., Peters, A., Waldenberger, M., Ward-Caviness, C., Nohr, E. A., Sørensen, T. I. A., Relton, C. L., & Smith, G. D. (2016). Prenatal And Early Life Influences On Epigenetic Age In Children: A Study Of Mother–Offspring Pairs From Two Cohort Studies. Human Molecular Genetics, 25(1), 191–201. https://doi.org/10.1093/hmg/ddv456
64. Suarez, A., Lahti, J., Czamara, D., Lahti-Pulkkinen, M., Girchenko, P., Andersson, S., Strandberg, T. E., Reynolds, R. M., Kajantie, E., Binder, E. B., & Raikkonen, K. (2018). The Epigenetic Clock And Pubertal, Neuroendocrine, Psychiatric, And Cognitive Outcomes In Adolescents. Clinical Epigenetics, 10(1), 96. https://doi.org/10.1186/s13148018-0528-6
65. McGill, M. G., Pokhvisneva, I., Clappison, A. S., Mcewen, L. M., Beijers, R., Tollenaar, M. S., Pham, H., Kee, M. Z. L., Garg, E., De Mendonça Filho, E. J., Karnani, N., Silveira, P. P., Kobor, M. S., De Weerth, C., Meaney, M. J., & O’Donnell, K. J. (2022). Maternal Prenatal Anxiety And The Fetal Origins Of Epigenetic Aging. Biological Psychiatry, 91(3), 303–312. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2021.07.025
66. Khouja, J. N., Simpkin, A. J., O’Keeffe, L. M., Wade, K. H., Houtepen, L. C., Relton, C. L., Suderman, M., & Howe, L. D. (2018). Epigenetic Gestational Age Acceleration: A Prospective Cohort Study Investigating Associations With Familial, Sociodemographic And Birth Characteristics. Clinical Epigenetics, 10(1), 86. https://doi.org/10.1186/s13148018-0520-1
67. Bright, H. D., Howe, L. D., Khouja, J. N., Simpkin, A. J., Suderman, M., & O’Keeffe, L. M. (2019). Epigenetic Gestational Age And Trajectories Of Weight And Height During Childhood: A Prospective Cohort Study. Clinical Epigenetics, 11(1), 194. https://doi. org/10.1186/s13148-019-0761-7
68. Simpkin, A. J., Howe, L. D., Tilling, K., Gaunt, T. R., Lyttleton, O., Mcardle, W. L., Ring, S. M., Horvath, S., Smith, G. D., & Relton, C. L. (2017). The Epigenetic Clock And Physical Development During Childhood And Adolescence: Longitudinal Analysis From A UK Birth Cohort. International Journal Of Epidemiology. https://doi.org/10.1093/ ije/dyw307
69. Sumner, J. A., Colich, N. L., Uddin, M., Armstrong, D., & Mclaughlin, K. A. (2019). Early Experiences Of Threat, But Not Deprivation, Are Associated With Accelerated Biological Aging In Children And Adolescents. Biological Psychiatry, 85(3), 268–278. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2018.09.008
70. Tang, R., Howe, L. D., Suderman, M., Relton, C. L., Crawford, A. A., & Houtepen, L. C. (2020). Adverse Childhood Experiences, DNA Methylation Age Acceleration, And Cortisol In UK Children: A Prospective Population-Based Cohort Study. Clinical Epigenetics, 12(1), 55. https://doi.org/10.1186/s13148-020-00844-2
71. Zhang, Z. Z., Moeckel, C., Mustafa, M., Pham, H., Olson, A. E., Mehta, D., Dorn, L. D., Engeland, C. G., & Shenk, C. E. (2023). The Association Of Epigenetic Age Acceleration And Depressive And Anxiety Symptom Severity Among Children Recently Exposed To Substantiated Maltreatment. Journal Of Psychiatric Research, 165, 7–13. https://doi. org/10.1016/j.jpsychires.2023.07.007
72. Euclydes, V. L. V., Gastaldi, V. D., Feltrin, A. S., Hoffman, D. J., Gouveia, G., Cogo, H., Felipe-Silva, A., Vieira, R. P., Miguel, E. C., Polanczyk, G. V., Chiesa, A., Fracolli, L., Matijasevich, A., Ferraro, A., Argeu, A., Maschietto, M., & Brentani, H. P. (2022). DNA Methylation Mediates A Randomized Controlled Trial Home-Visiting Intervention During Pregnancy And The Bayley Infant’s Cognitive Scores At 12 Months Of Age. Journal Of Developmental Origins Of Health And Disease, 13(5), 556–565. https://doi. org/10.1017/s2040174421000738
73. Cecil, C. A. M., Neumann, A., & Walton, E. (2023). Epigenetics Applied To Child And Adolescent Mental Health: Progress, Challenges And Opportunities. JCPP Advances, 3(1), E12133. https://doi.org/10.1002/jcv2.12133
74. Lesseur, C., Paquette, A. G., & Marsit, C. J. (2014). Epigenetic Regulation Of Infant Neurobehavioral Outcomes. Medical Epigenetics , 2 (2), 71–79. https://doi. org/10.1159/000361026
75. Lu, C., Black, M. M., & Richter, L. M. (2016). Risk Of Poor Development In Young Children In Low-Income And Middle-Income Countries: An Estimation And Analysis At The Global, Regional, And Country Level. The Lancet Global Health, 4(12), E916–E922. https://doi.org/10.1016/s2214-109x(16)30266-2
76. World Health Organization. (2018). Nurturing Care For Early Childhood Development: A Framework For Helping Children Survive And Thrive To Transform Health And Human Potential. World Health Organization. Disponível em: https://iris.who.int/handle/10665/272603
77. Barker, M., Dombrowski, S. U., Colbourn, T., Fall, C. H. D., Kriznik, N. M., Lawrence, W. T., Norris, S. A., Ngaiza, G., Patel, D., Skordis-Worrall, J., Sniehotta, F. F., Steegers-Theunissen, R., Vogel, C., Woods-Townsend, K., & Stephenson, J. (2018). Intervention Strategies To Improve Nutrition And Health Behaviours Before Conception. The Lancet, 391(10132), 1853–1864. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)30313-1
78. Ramakrishnan, U., Grant, F., Goldenberg, T., Zongrone, A., & Martorell, R. (2012). Effect Of Women’s Nutrition Before And During Early Pregnancy On Maternal And Infant Outcomes: A Systematic Review. Paediatric And Perinatal Epidemiology, 26(S1), 285–301. https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2012.01281.x
79. Fleming, T. P., Watkins, A. J., Velazquez, M. A., Mathers, J. C., Prentice, A. M., Stephenson, J., Barker, M., Saffery, R., Yajnik, C. S., Eckert, J. J., Hanson, M. A., Forrester, T., Gluckman, P. D., & Godfrey, K. M. (2018). Origins Of Lifetime Health Around The
Time Of Conception: Causes And Consequences. The Lancet, 391(10132), 1842–1852. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)30312-x
80. Georgieff, M. K. (2007). Nutrition And The Developing Brain: Nutrient Priorities And Measurement. The American Journal Of Clinical Nutrition, 85(2), 614S-620S. https://doi. org/10.1093/ajcn/85.2.614s
81. Pollitt, E., Gorman, K. S., Engle, P. L., Rivera, J. A., & Martorell, R. (1995). Nutrition In Early Life And The Fulfillment Of Intellectual Potential. J Nutr, 125((4 Suppl)), 1111S-1118S. https://doi.org/10.1093/jn/125.suppl_4.1111s
82. Jasani, B., Simmer, K., Patole, S. K., & Rao, S. C. (2017). Long Chain Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation In Infants Born At Term. Cochrane Database Of Systematic Reviews, 2017(3). https://doi.org/10.1002/14651858.cd000376.pub4
83. Delgado-Noguera, M. F., Calvache, J. A., Bonfill Cosp, X., Kotanidou, E. P., & Galli-Tsinopoulou, A. (2015). Supplementation With Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids (LCPUFA) To Breastfeeding Mothers For Improving Child Growth And Development. Cochrane Database Of Systematic Reviews, 2015(7). https://doi.org/10.1002/14651858. cd007901.pub3
84. Georgieff, M. K., Ramel, S. E., & Cusick, S. E. (2018). Nutritional Influences On Brain Development. Acta Paediatrica, 107(8), 1310–1321. https://doi.org/10.1111/apa.14287
85. Zhang, J., Guo, S., Li, Y., Wei, Q., Zhang, C., Wang, X., Luo, S., Zhao, C., & Scherpbier, R. W. (2018). Factors Influencing Developmental Delay Among Young Children In Poor Rural China: A Latent Variable Approach. BMJ Open, 8(8), E021628. https://doi. org/10.1136/bmjopen-2018-021628
86. Walker, S. P., Wachs, T. D., Meeks Gardner, J., Lozoff, B., Wasserman, G. A., Pollitt, E., & Carter, J. A. (2007). Child Development: Risk Factors For Adverse Outcomes In Developing Countries. The Lancet, 369(9556), 145–157. https://doi.org/10.1016/s01406736(07)60076-2
87. Skeaff, S. A. (2011). Iodine Deficiency In Pregnancy: The Effect On Neurodevelopment In The Child. Nutrients, 3(2), 265–273. https://doi.org/10.3390/nu3020265
88. Gogia, S., & Sachdev, H. S. (2012). Zinc Supplementation For Mental And Motor Development In Children. Cochrane Database Of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858. cd007991.pub2
89. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde. (2019). Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/documentos/pdf/guia-alimentar-para-criancas-brasileiras-menores-de-2-anos.pdf/view
90. Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J. D., França, G. V. A., Horton, S., Krasevec, J., Murch, S., Sankar, M. J., Walker, N., & Rollins, N. C. (2016). Breastfeeding In The 21st Century:
Epidemiology, Mechanisms, And Lifelong Effect. The Lancet, 387(10017), 475–490. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(15)01024-7
91. Horta, B. L., & Victora, C. G. (2013). Short-Term Effects Of Breastfeeding: A Systematic Review On The Benefits Of Breastfeeding On Diarrhoea And Pneumonia Mortality. World Health Organization. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/ item/9789241506120
92. Sankar, M. J., Sinha, B., Chowdhury, R., Bhandari, N., Taneja, S., Martines, J., & Bahl, R. (2015). Optimal Breastfeeding Practices And Infant And Child Mortality: A Systematic Review And Meta‐Analysis. Acta Paediatrica, 104(S467), 3–13. https://doi. org/10.1111/apa.13147
93. Ip, S., Chung, M., Raman, G., Chew, P., Magula, N., Devine, D., Trikalinos, T., & Lau, J. (2007). Breastfeeding And Maternal And Infant Health Outcomes In Developed Countries. Evidence Report/Technology Assessment, 153, 1–186.
94. Peres, K. G., Cascaes, A. M., Nascimento, G. G., & Victora, C. G. (2015). Effect Of Breastfeeding On Malocclusions: A Systematic Review And Meta‐Analysis. Acta Paediatrica, 104(S467), 54–61. https://doi.org/10.1111/apa.13103
95. Horta, B. L., Loret De Mola, C., & Victora, C. G. (2015). Long‐Term Consequences Of Breastfeeding On Cholesterol, Obesity, Systolic Blood Pressure And Type 2 Diabetes: A Systematic Review And Meta‐Analysis. Acta Paediatrica, 104(S467), 30–37. https:// doi.org/10.1111/apa.13133
96. Horta, B. L., Loret De Mola, C., & Victora, C. G. (2015). Breastfeeding And Intelligence: A Systematic Review And Meta‐Analysis. Acta Paediatrica, 104(S467), 14–19. https:// doi.org/10.1111/apa.13139
97. Victora, C. G., Horta, B. L., De Mola, C. L., Quevedo, L., Pinheiro, R. T., Gigante, D. P., Gonçalves, H., & Barros, F. C. (2015). Association Between Breastfeeding And Intelligence, Educational Attainment, And Income At 30 Years Of Age: A Prospective Birth Cohort Study From Brazil. The Lancet Global Health, 3(4), E199–E205. https://doi. org/10.1016/s2214-109x(15)70002-1
98. Sahoo, K., Sahoo, B., Choudhury, A., Sofi, N., Kumar, R., & Bhadoria, A. (2015). Childhood Obesity: Causes And Consequences. Journal Of Family Medicine And Primary Care, 4(2), 187. https://doi.org/10.4103/2249-4863.154628
99. Pérez-Escamilla, R., Jimenez, E. Y., & Dewey, K. G. (2021). Responsive Feeding Recommendations: Harmonizing Integration Into Dietary Guidelines For Infants And Young Children. Current Developments In Nutrition, 5(6), Nzab076. https://doi.org/10.1093/ cdn/nzab076
100. Engle, P. L., Fernald, L. C., Alderman, H., Behrman, J., O’Gara, C., Yousafzai, A., De Mello, M. C., Hidrobo, M., Ulkuer, N., Ertem, I., & Iltus, S. (2011). Strategies For Reducing Inequalities And Improving Developmental Outcomes For Young Children In
Low-Income And Middle-Income Countries. The Lancet, 378(9799), 1339–1353. https:// doi.org/10.1016/s0140-6736(11)60889-1
101. Irwin, L. G., Siddiqi, A., & Hertzman, C. (2007). Early Child Development: A Powerful Equalizer. Final Report Of The Early Child Development Knowledge Network Of The Commission On Social Determinants Of Health. Worls Health Organization. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/early-child-development-a-powerful-equalizer-final-report-for-the-world-health-organization-s-commission-on-the-social-determinants-of-health
102. Walker, S. P., Chang, S. M., Powell, C. A., & Grantham-Mcgregor, S. M. (2005). Effects Of Early Childhood Psychosocial Stimulation And Nutritional Supplementation On Cognition And Education In Growth-Stunted Jamaican Children: Prospective Cohort Study. The Lancet, 366(9499), 1804–1807. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(05)67574-5
103. Powell, C., Baker-Henningham, H., Walker, S., Gernay, J., & Grantham-Mcgregor, S. (2004). Feasibility Of Integrating Early Stimulation Into Primary Care For Undernourished Jamaican Children: Cluster Randomised Controlled Trial. BMJ, 329(7457), 89. https://doi.org/10.1136/bmj.38132.503472.7c
104. Britto, P. R., Lye, S. J., Proulx, K., Yousafzai, A. K., Matthews, S. G., Vaivada, T., Perez-Escamilla, R., Rao, N., Ip, P., Fernald, L. C. H., Macmillan, H., Hanson, M., Wachs, T. D., Yao, H., Yoshikawa, H., Cerezo, A., Leckman, J. F., & Bhutta, Z. A. (2017). Nurturing Care: Promoting Early Childhood Development. The Lancet, 389(10064), 91–102. https:// doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31390-3
105. Comission On Social Determinants Of Health, & World Health Organization. (2008). Closing The Gap In A Generation: Health Equity Through Action On The Social Determinants Of Health. Final Report Of The Commission On Social Determinants Of Health. World Health Organization.
106. Robles, C. A. P., Mialon, M., Mais, L. A., Neri, D., Silva, K. C., & Baker, P. (2024). Breastfeeding, First-Food Systems And Corporate Power: A Case Study On The Market And Political Practices Of The Transnational Baby Food Industry In Brazil. Globalization And Health, 20(1), 12. https://doi.org/10.1186/s12992-024-01016-0.
107. Universidade Federal do Rio de Janeiro. (2021). Aleitamento Materno: Prevalência e Práticas de Aleitamento Materno em Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. ENANI, 2019.
108. IDEC. (2022). Idec Processa Nestlé, Mead Johnson e Danone por Promoção Cruzada entre Fórmulas Infantis e Compostos Lácteos. Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC. Disponível em: https://idec.org.br/release/idec-processa-nestle-mead-johnson-e-danone-por-promocao-cruzada-entre-formulas-infantis-e
109. Universidade Federal do Rio de Janeiro. (2021). Alimentação Infantil I: Prevalência de Indicadores de Alimentação de Crianças Menores de 5 Anos. ENANI, 2019.
110. Universidade Federal do Rio de Janeiro. (2021). Biomarcadores do Estado de Micronutrientes: Prevalências de Deficiências e Curvas de Distribuição de Micronutrientes em Crianças Brasileiras Menores de 5 Anos. ENANI, 2019.
111. Universidade Federal do Rio de Janeiro. (2021). Estado Nutricional Antropométrico da Criança e da Mãe: Prevalência de Indicadores Antropométrico de Crianças Brasileiras Menores de 5 Anos de Idade e suas Mães Biológicas.
112. FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2022). The State Of Food Security And Nutrition In The World 2022. Repurposing Food And Agricultural Policies To Make Healthy Diets More Affordable. Rome, FAO. Disponível em: https://www.who.int/publications/m/item/ the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world-2022
113. PENSSAN. (2022). II Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil (VIGISAN). Relatório Final. Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar.
114. Rollins, N. C., Bhandari, N., Hajeebhoy, N., Horton, S., Lutter, C. K., Martines, J. C., Piwoz, E. G., Richter, L. M., & Victora, C. G. (2016). Why Invest, And What It Will Take To Improve Breastfeeding Practices? The Lancet, 387(10017), 491–504. https://doi. org/10.1016/s0140-6736(15)01044-2
115. Monteiro, F. R., Buccini, G. D. S., Venâncio, S. I., & da Costa, T. H. M. (2019). Influence Of Maternity Leave On Exclusive Breastfeeding: Analysis From Two Surveys Conducted In The Federal District Of Brazil. Journal Of Human Lactation, 35(2), 362–370. https:// doi.org/10.1177/0890334418783715
116. Fioratti, C., & Rodrigues, F. (2022). Como Prisões Limitam a Amamentação dos Filhos das Detentas. Nexo Jornal. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/01/16/ como-prisoes-limitam-a-amamentacao-dos-filhos-das-detentas
117. Ministério Da Saúde. ([S.D.]). Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aleitamento-materno/ihac
118. Venancio, S. I., Saldiva, S. R. D. M., Escuder, M. M. L., & Justo Giugliani, E. R. (2012). The Baby-Friendly Hospital Initiative Shows Positive Effects On Breastfeeding Indicators In Brazil. Journal Of Epidemiology And Community Health, 66(10), 914–918. https:// doi.org/10.1136/jech-2011-200332
119. Alves, F. N., Azevedo, V. M. G. D. O., Moura, M. R. S., Ferreira, D. M. D. L. M., Araújo, C. G. A., Mendes-Rodrigues, C., & Wolkers, P. C. B. (2020). Impacto do Método Canguru Sobre O Aleitamento Materno De Recém-Nascidos Pré-Termo no Brasil: Uma Revisão Integrativa. Ciência & Saúde Coletiva, 25(11), 4509–4520. https://doi. org/10.1590/1413-812320202511.29942018
120. Fonseca, R. M. S., Milagres, L. C., Franceschini, S. D. C. C., & Henriques, B. D. (2021). O papel do banco de leite humano na promoção da saúde materno-infantil: uma revisão sistemática. Ciência & Saúde Coletiva, 26(1), 309–318. https://doi.org/10.1590/141381232020261.24362018
121. Machado, P. Y., Baraldi, N. G., Silveira-Monteiro, C. A., Nery, N. G., Calheiros, C. A. P., & Freitas, P. S. (2021). Rede Amamenta Brasil e Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil: Impacto nos Índices de Aleitamento Materno. Research, Society And Development, 10(10), E339101018941. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i10.18941
122. Tsai, S.-Y. (2013). Impact Of A Breastfeeding-Friendly Workplace On An Employed Mother’s Intention To Continue Breastfeeding After Returning To Work. Breastfeeding Medicine, 8(2), 210–216. https://doi.org/10.1089/bfm.2012.0119
123. Souza, C. B. D., Venancio, S. I., & Silva, R. P. G. V. C. D. (2022). Breastfeeding Support Rooms, Benefits And Challenges For Implantation: Cross-Sectional Study. Research, Society And Development, 11(17), E238111737973. https://doi.org/10.33448/rsd-v11i17.37973
124. Martins, A. P. B., & Monteiro, C. A. (2016). Impact Of The Bolsa Família Program On Food Availability Of Low-Income Brazilian Families: A Quasi Experimental Study. BMC Public Health, 16(1), 827. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3486-y
125. Schlieber, M., & Han, J. (2021). The Role Of Sleep In Young Children’s Development: A Review. The Journal Of Genetic Psychology, 182(4), 205–217. https://doi.org/10.1080/00 221325.2021.1908218
126. Qiu, S.-Y., Yin, X.-N., Yang, Y., Li, T., Lu, D., Li, J.-M., Yang, W.-K., Wen, G.-M., Zhang, J.-Y., Zhang, Y., Lei, H.-Y., Wang, X., & Wu, J.-B. (2024). Relationship Between Bedtime, Nighttime Sleep Duration, And Anxiety Symptoms In Preschoolers In China. Frontiers In Psychology, 15, 1290310. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1290310
127. Spruyt, K. (2019). A Review Of Developmental Consequences Of Poor Sleep In Childhood. Sleep Medicine, 60, 3–12. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2018.11.021
128. Tham, E. K. H., Xu, H.-Y., Fu, X., Goh, R. S. M., Gluckman, P. D., Chong, Y.-S., Yap, F., Shek, L. P.-C., Teoh, O. H., Gooley, J., Goh, D. Y.-T., Schneider, N., Meaney, M. J., Cai, S., & Broekman, B. F. P. (2023). Associations Between Sleep Trajectories Up To 54 Months And Cognitive School Readiness In 4 Year Old Preschool Children. Frontiers In Psychology, 14, 1136448. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1136448
129. Zhou, J., Zhu, L., Teng, Y., Tong, J., Gao, G., Yan, S., Tao, F., & Huang, K. (2023). Early Sleep Duration Trajectories And Children’s Cognitive Development: A Prospective Cohort Study. European Journal Of Pediatrics, 182(12), 5353–5365. https://doi.org/10.1007/ s00431-023-05195-7
130. Fulfs, T., Poulain, T., Vogel, M., Nenoff, K., & Kiess, W. (2024). Associations Between Sleep Problems And Emotional/Behavioural Difficulties In Healthy Children And Adolescents. BMC Pediatrics, 24(1), 15. https://doi.org/10.1186/s12887-023-04487-z
131. Galland, B. C., Taylor, B. J., Elder, D. E., & Herbison, P. (2012). Normal Sleep Patterns In Infants And Children: A Systematic Review Of Observational Studies. Sleep Medicine Reviews, 16(3), 213–222. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2011.06.001
132. Agostini, A., & Centofanti, S. (2021). Normal Sleep In Children And Adolescence. Child And Adolescent Psychiatric Clinics Of North America, 30(1), 1–14. https://doi.org/10.1016/j. chc.2020.08.011
133. Paavonen, E. J., Saarenpää-Heikkilä, O., Morales-Munoz, I., Virta, M., Häkälä, N., Pölkki, P., Kylliäinen, A., Karlsson, H., Paunio, T., & Karlsson, L. (2020). Normal Sleep Development In Infants: Findings From Two Large Birth Cohorts. Sleep Medicine, 69, 145–154. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2020.01.009
134. Paruthi, S., Brooks, L. J., D’Ambrosio, C., Hall, W. A., Kotagal, S., Lloyd, R. M., Malow, B. A., Maski, K., Nichols, C., Quan, S. F., Rosen, C. L., Troester, M. M., & Wise, M. S. (2016). Recommended Amount Of Sleep For Pediatric Populations: A Consensus Statement Of The American Academy Of Sleep Medicine. Journal Of Clinical Sleep Medicine, 12(06), 785–786. https://doi.org/10.5664/jcsm.5866
135. Petit, D., Touchette, E., Pennestri, M., Paquet, J., Côté, S., Tremblay, R. E., Boivin, M., & Montplaisir, J. Y. (2023). Nocturnal Sleep Duration Trajectories In Early Childhood And School Performance At Age 10 Years. Journal Of Sleep Research, 32(5), E13893. https://doi.org/10.1111/jsr.13893
136. Valencia, D. Y., Gorovoy, S., Tubbs, A., Jean-Louis, G., & Grandner, M. A. (2023). Sociocultural Context Of Sleep Health: Modeling Change Over Time. Sleep, 46(1), Zsac258. https://doi.org/10.1093/sleep/zsac258
137. Volkovich, E., Ben-Zion, H., Karny, D., Meiri, G., & Tikotzky, L. (2015). Sleep Patterns Of Co-Sleeping And Solitary Sleeping Infants And Mothers: A Longitudinal Study. Sleep Medicine, 16(11), 1305–1312. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2015.08.016
138. Baddock, S. A., Purnell, M. T., Blair, P. S., Pease, A. S., Elder, D. E., & Galland, B. C. (2019). The Influence Of Bed-Sharing On Infant Physiology, Breastfeeding And Behaviour: A Systematic Review. Sleep Medicine Reviews, 43, 106–117. https://doi.org/10.1016/j. smrv.2018.10.007
139. Mileva-Seitz, V. R., Bakermans-Kranenburg, M. J., Battaini, C., & Luijk, M. P. C. M. (2017). Parent-Child Bed-Sharing: The Good, The Bad, And The Burden Of Evidence. Sleep Medicine Reviews, 32, 4–27. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2016.03.003
140. Madar, A. A., Kurniasari, A., Marjerrison, N., & Mdala, I. (2024). Breastfeeding And Sleeping Patterns Among 6–12-Month-Old Infants In Norway. Maternal And Child Health Journal, 28(3), 496–505. https://doi.org/10.1007/s10995-023-03805-2
141. Doan, T., Gay, C. L., Kennedy, H. P., Newman, J., & Lee, K. A. (2014). Nighttime Breastfeeding Behavior Is Associated With More Nocturnal Sleep Among First-Time Mothers At One Month Postpartum. Journal Of Clinical Sleep Medicine, 10(03), 313–319. https:// doi.org/10.5664/jcsm.3538
142. Nascimento-Ferreira, M. V., Collese, T. S., De Moraes, A. C. F., Rendo-Urteaga, T., Moreno, L. A., & Carvalho, H. B. (2016). Validity And Reliability Of Sleep Time Ques-
tionnaires In Children And Adolescents: A Systematic Review And Meta-Analysis. Sleep Medicine Reviews, 30, 85–96. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2015.11.006
143. Dias, C. C., Figueiredo, B., & Pinto, T. M. (2018). Children’s Sleep Habits Questionnaire –Infant Version. Jornal De Pediatria, 94(2), 146–154. https://doi.org/10.1016/j.jped. 2017.05.012
144. Del-Ponte, B., Xavier, M. O., Bassani, D. G., Tovo-Rodrigues, L., Halal, C. S., Shionuma, A. H., Ulguim, K. F., & Santos, I. S. (2020). Validity Of The Brief Infant Sleep Questionnaire (BISQ) In Brazilian Children. Sleep Medicine, 69, 65–70. https://doi.org/10.1016/j. sleep.2019.12.018
145. Gios, T. S., Owens, J., Mecca, T. P., Uchida, R. R., Belisario Filho, J. F., & Lowenthal, R. (2022). Translation And Adaptation Into Brazilian Portuguese And Investigation Of The Psychometric Properties Of The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ-BR). Sleep Medicine, 100, 550–557. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2022.10.001
146. Martins, C. A. N., Deus, M. M. D., Abile, I. C., Garcia, D. M., Anselmo-Lima, W. T., Miura, C. S., & Valera, F. C. P. (2022). Translation And Cross-Cultural Adaptation Of The Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ*) Into Brazilian Portuguese. Brazilian Journal Of Otorhinolaryngology, 88, S63–S69. https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2021.03.009
147. Cole, R. J., Kripke, D. F., Gruen, W., Mullaney, D. J., & Gillin, J. C. (1992). Automatic Sleep/Wake Identification From Wrist Activity. Sleep, 15(5), 461–469. https://doi. org/10.1093/sleep/15.5.461
148. Sadeh, A., Sharkey, M., & Carskadon, M. A. (1994). Activity-Based Sleep-Wake Identification: An Empirical Test Of Methodological Issues. Sleep, 17(3), 201–207. https:// doi.org/10.1093/sleep/17.3.201
149. Bélanger, M.-È., Bernier, A., Paquet, J., Simard, V., & Carrier, J. (2013). Validating Actigraphy As A Measure Of Sleep For Preschool Children. Journal Of Clinical Sleep Medicine, 09(07), 701–706. https://doi.org/10.5664/jcsm.2844
150. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Gestão do Cuidado Integral. Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente. (2024). Caderneta da Criança – Menina. Passaporte da Cidadania. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menina_6ed.pdf
151. Núcleo Ciência pela Infância. (2019). Impactos da Estratégia Saúde da Família e Desafios para o Desenvolvimento Infantil. Estudo N° 5 - Comitê Científico Do Núcleo Ciência pela Infância (NCPI). Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
152. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. (2013). Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso (Método Canguru): Manual Técnico. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Disponível em: https://www.gov.
br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca/publicacoes/atencao_humanizada_recem_nascido_canguru.pdf/view
153. Bolsoni-Silva, A. T., Pizeta, F. A., & Loureiro, S. R. (2023). Parenting Practices, Maternal Depression And Behavior Problems: Associations, Prediction And Moderation. Paidéia (Ribeirão Preto), 33, E3334. https://doi.org/10.1590/1982-4327e3334
154. Pires Coltro, B., Paraventi, L., & Vieira, M. L. (2020). Relações entre Parentalidade e Apoio Social: Revisão Integrativa de Literatura. Contextos Clínicos, 13(1), 244–269. https://doi.org/10.4013/ctc.2020.131.12
155. World Health Organization. ([S.D.]). Health Inequities And Their Causes. Disponível em: https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/health-inequities-andtheir-causes
156. Abuchaim, B. O., Lerner, R., Campos, M. M. M., & Mello, D. F. (2016). Importância dos Vínculos Familiares na Primeira Infância. Estudo N° 2. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Primeira Infância.
157. Papalia, D. E., & Martorell, G. (2022). Desenvolvimento Humano (14o Ed). AMGH.
158. Baumrind, D. (1966). Effects Of Authoritative Parental Control On Child Behavior. Child Development, 37(4), 887. https://doi.org/10.2307/1126611
159. Altafim, E. R. P., Souza, M., Teixeira, L., Brum, D., & Velho, C. (2023). O Cuidado Integral e a Parentalidade Positiva na Primeira Infância. UNICEF. Disponível em: https:// www.unicef.org/brazil/media/23611/file/o-cuidado-integral-e-a-parentalidadepositiva-na-primeira-infancia.pdf
160. Chagas, C. S. (2014). Bebé imaginário vs. bebé real: qual a influência na percepção materna dos comportamentos do recém-nascido e no nível de confiança nos cuidados a prestar ao bebé? [Dissertação de Mestrado. Secção de Psicologia Clínica e da Saúde, Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica, Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia]. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/handle/10451/18233
161. World Health Organization. ([S.D.]). Depressive Disorder (Depression). Recuperado 20 de Agosto de 2024. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ depression
162. American Psychiatric Association. (2021). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5. Porto Alegre: Artmed.
163. Theme Filha, M. M., Ayers, S., Gama, S. G. N. D., & Leal, M. D. C. (2016). Factors Associated With Postpartum Depressive Symptomatology In Brazil: The Birth In Brazil National Research Study, 2011/2012. Journal Of Affective Disorders, 194, 159–167. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.01.020
164. Matijasevich, A., Faisal-Cury, A., Giacomini, I., Rodrigues, J. D. S., Castro, M. C., & Cardoso, M. A. (2023). Maternal Depression And Offspring Mental Health At Age 5: MINA-Brazil Cohort Study. Revista De Saúde Pública, 57(Supl.2), 1–13. https://doi. org/10.11606/s1518-8787.2023057005560
165. Schwengber, D. D. D. S., & Piccinini, C. A. (2003). O impacto da depressão pós-parto para a interação mãe-bebê. Estudos de Psicologia (Natal), 8(3), 403–411. https://doi. org/10.1590/s1413-294x2003000300007
166. Schwengber, D. D. D. S., & Piccinini, C. A. (2005). A experiência da maternidade no contexto da depressão materna no final do primeiro ano de vida do bebê. Estudos de Psicologia (Campinas), 22(2), 143–156. https://doi.org/10.1590/s0103-166x2005000200004
167. Charrois, J., Côté, S. M., Paquin, S., Séguin, J. R., Japel, C., Vitaro, F., Kim-Cohen, J., Tremblay, R. E., & Herba, C. M. (2020). Maternal Depression In Early Childhood And Child Emotional And Behavioral Outcomes At School Age: Examining The Roles Of Preschool Childcare Quality And Current Maternal Depression Symptomatology. European Child & Adolescent Psychiatry, 29(5), 637–648. https://doi.org/10.1007/s00787019-01385-7
168. Lino, C. M., Ribeiro, Z. De B., Possobon, R. De F., & Lodi, J. C. (2020). O impacto da depressão pós-parto no aleitamento materno e no desenvolvimento infantil: uma revisão integrativa. Nursing Edição Brasileira, 23(260), 3506–3510. https://doi.org/10.36489/nursing.2020v23i260p3506-3510
169. Ribeiro, C. S. Z., Gondim, E. C., Scorzafave, L. G. D. S., Gomes-Sponholz, F. A., Santos, D. D. D., & Mello, D. F. D. (2023). Parental Stress During Pregnancy And Maternity. Revista Da Escola De Enfermagem Da USP, 57, E20220351. https://doi.org/10.1590/ 1980-220x-reeusp-2022-0351en
170. Bornstein, M. H. (2020). “Parental Burnout”: The State Of The Science. New Directions For Child And Adolescent Development, 2020(174), 169–184. https://doi.org/10.1002/ cad.20388
171. Mikolajczak, M., & Roskam, I. (2020). Parental Burnout: Moving The Focus From Children To Parents. New Directions For Child And Adolescent Development, 2020(174), 7–13. https://doi.org/10.1002/cad.20376
172. Matias, M., Aguiar, J., César, F., Braz, A. C., Barham, E. J., Leme, V., Elias, L., Gaspar, M. F., Mikolajczak, M., Roskam, I., & Fontaine, A. M. (2020). The Brazilian–Portuguese Version Of The Parental Burnout Assessment: Transcultural Adaptation And Initial Validity Evidence. New Directions For Child And Adolescent Development, 2020(174), 67–83. https://doi.org/10.1002/cad.20374
173. Roskam, I., Raes, M.-E., & Mikolajczak, M. (2017). Exhausted Parents: Development And Preliminary Validation Of The Parental Burnout Inventory. Frontiers In Psychology, 8, 163. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00163
174. Vigouroux, S. L., & Scola, C. (2018). Differences In Parental Burnout: Influence Of Demographic Factors And Personality Of Parents And Children. Frontiers In Psychology, 9, 887. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00887
175. Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion Regulation: Conceptual Foundations. Em Handbook Of Emotion Regulation (P. 3–24). The Guilford Press.
176. Ridderinkhof, K. R., Van Den Wildenberg, W. P. M., Segalowitz, S. J., & Carter, C. S. (2004). Neurocognitive Mechanisms Of Cognitive Control: The Role Of Prefrontal Cortex In Action Selection, Response Inhibition, Performance Monitoring, And Reward-Based Learning. Brain And Cognition, 56(2), 129–140. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2004.09.016
177. Verbruggen, F., Best, M., Bowditch, W. A., Stevens, T., & Mclaren, I. P. L. (2014). The Inhibitory Control Reflex. Neuropsychologia, 65, 263–278. https://doi.org/10.1016/j. neuropsychologia.2014.08.014
178. Barkley, R. A. (2012). Executive Functions: What They Are, How They Work, And Why They Evolved. Guilford Press.
179. Lotto, C. R., Altafim, E. R. P., & Linhares, M. B. M. (2024). Maternal Emotional And Behavioral Regulation/Dysregulation And Parenting Practices: A Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse, 15248380241253036. https://doi.org/10.1177/15248380241253036
180. Lucion, M. K. (2017). Relação mãe-bebê: comportamento, cognição e inflamação. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento.
181. Santana, L. (2018). Adaptação transcultural e validação da Parenting And Family Adjustment Scales (PAFAS). Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Grande Dourados (MS).
182. Roggman, L. A., Cook, G. A., Innocenti, M. S., Jump Norman, V., & Christiansen, K. (2013). Parenting Interactions With Children: Checklist Of Observations Linked To Outcomes (PICCOLO) In Diverse Ethnic Groups. Infant Mental Health Journal, 34(4), 290–306. https://doi.org/10.1002/imhj.21389
183. Linhares, M. B. M., Altafim, E. R. P., & Lotto, C. R. (2023). Prevenção de violência contra crianças. Estudo N° 10 - Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância (NCPI). Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
184. Lotto, C. R., Altafim, E. R. P., & Linhares, M. B. M. (2023). Maternal History Of Childhood Adversities And Later Negative Parenting: A Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse, 24(2), 662–683. https://doi.org/10.1177/15248380211036076
185. Silva, J. (2011). ACT Facilitator Manual: ACT Raising Safe Kids Program. Washington, DC: American Psychological Association.
186. Altafim, E. R. P., & Linhares, M. B. M. (2022). Programa de parentalidade: da evidência científica para a implementação em escala. Revista Brasileira de Avaliação, 11(3 Spe), E111122. https://doi.org/10.4322/rbaval202211011
187. Altafim, E. R. P., Magalhães, C., & Linhares, M. B. M. (2024). Prevention Of Child Maltreatment: Integrative Review Of Findings From An Evidence-Based Parenting Program. Trauma, Violence, & Abuse, 25(3), 1938–1953. https://doi.org/10.1177/15248380231201811
188. Linhares, M. B. M., Altafim, E. R. P., Gaspardo, C. M., & Oliveira, R. C. De. (2022). A Personalized Remote Video-Feedback Universal Parenting Program: A Randomized Controlled Trial. Psychosocial Intervention, 31(1), 21–32. https://doi.org/10.5093/pi2021a9
189. Laboratório de Pesquisa em Prevenção de Problemas de desenvolvimento E Comportamento da Criança – FMRP USP (LAPREDES). Universidade de São Paulo. ([S.D.]). Fortalecendo Laços. Disponível em: https://lapredes.fmrp.usp.br/fortalecendo-lacos/
190. Guisso, L., Bolze, S. D. A., & Viera, M. L. (2019). Práticas parentais positivas e programas de treinamento parental: uma revisão sistemática da literatura. Contextos Clínicos, 12(1), 226–255. https://doi.org/10.4013/ctc.2019.121.10
191. Coelho, M. V., & Murta, S. G. (2007). Treinamento de pais em grupo: um relato de experiência. Estudos de Psicologia (Campinas), 24(3), 333–341. https://doi.org/10.1590/ s0103-166x2007000300005
192. Oliveira, J. M. D., & Alvarenga, P. (2015). Efeitos de uma intervenção com foco nas práticas de socialização parentais sobre os problemas internalizantes na infância. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 17(2), 16–32. https://doi.org/10.31505/ rbtcc.v17i2.747
193. Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social. ([S.D.]). Interação entre o SUAS e o Sistema de Justiça. Ministério do Desenvolvimento Social. Disponível em: https://www.mds.gov. br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/cadernos/interacao_suas_cf.pdf
194. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. ([S.D.]). O que é o Programa Criança Feliz. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Disponível em: https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/crianca-feliz/o-que-e-pcf-2
195. Criança Feliz. ([S/D]). Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/crianca-feliz/ 196. Brasil. Lei no 14.826, de 20 de março de 2024 (2024). Institui a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias intersetoriais de prevenção à violência contra crianças; e altera a Lei nº 14.344, de 24 de maio de 2022. Disponível em: https://www. planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14826.htm
197. Sameroff, A. (2010). A Unified Theory Of Development: A Dialectic Integration Of Nature And Nurture. Child Development, 81(1), 6–22. https://doi.org/10.1111/j.14678624.2009.01378.x
198. Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (1998). The Ecological Of Developmental Processes. Em W. Damon & R. M. Lerner (Orgs.), Handbook Of Child Psychology: Theoretical Models Of Human Development (Vol. 1, P. 993–1028). John Wiley & Sons.
199. Evans, G. W., & Wachs, T. D. (Orgs.). (2010). Chaos And Its Influence On Children’s Development: An Ecological Perspective. https://doi.org/10.1037/12057-000
200. Wachs, TD & Evans GW (2010). Chaos in context. (3-14 pp.) In: Gary W. Evans & Theodore D. Wachs (Eds). Chaos and its influence on children’s development: An ecological perspective. Psychological Association.
201. Fiese, B. H., & Winter, M. A. (2010). The Dynamics Of Family Chaos And Its Relation To Children’s Socioemotional Well-Being. Em G. W. Evans & T. D. Wachs (Orgs.), Chaos And Its Influence On Children’s Development: An Ecological Perspective. (P. 49–66). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/12057-004
202. Evans, G. W., Eckenrode, J., & Marcynyszyn, L. A. (2010). Chaos And The Macrosetting: The Role Of Poverty And Socioeconomic Status. Em G. W. Evans & T. D. Wachs (Orgs.), Chaos And Its Influence On Children’s Development: An Ecological Perspective. (P. 225–238). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/12057-014
203. Linhares, M. B. M., Altafim, E. R. P., & Lotto, C. R. (2023). Parentalidade, regulação emocional e comportamental materna e desenvolvimento da criança. Em O. M. P. Rodrigues & V. A. Oliveira (Orgs.), Parentalidade (Responsável): Investigações, Intervenções e Programas (Vol. 1). Editora CRV.
204. Barroso, R. G., & Machado, C. (2015). Definições, dimensões e determinantes da parentalidade. Em Fundamentos da Família como Promotora do Desenvolvimento Infantil: Parentalidade em Foco (1ª ed., p. 16–33). Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
205. Brooks, R. B. (2023). The Power Of Parenting. Em S. Goldstein & R. B. Brooks (Orgs.), Handbook Of Resilience In Children (P. 377–395). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14728-9_21
206. Linhares, M. B. M. (2015). Família E desenvolvimento na primeira infância: processos de autorregulação, resiliência e socialização de crianças pequenas. Em Fundamentos da Família como Promotora do Desenvolvimento Infantil: Parentalidade em Foco (1ª ed.).
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
207. Altafim, E. R. P., & Linhares, M. B. M. (2016). Universal Violence And Child Maltreatment Prevention Programs For Parents: A Systematic Review. Psychosocial Intervention, 25(1), 27–38. https://doi.org/10.1016/j.psi.2015.10.003
208. Branco, M. S. S., Altafim, E. R. P., & Linhares, M. B. M. (2022). Universal Intervention To Strengthen Parenting And Prevent Child Maltreatment: Updated Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse, 23(5), 1658–1676. https://doi.org/10.1177/15248380211013131
209. Jeong, J., Franchett, E. E., Ramos De Oliveira, C. V., Rehmani, K., & Yousafzai, A. K. (2021). Parenting Interventions To Promote Early Child Development In The First Three Years Of Life: A Global Systematic Review And Meta-Analysis. PLOS Medicine, 18(5), E1003602. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003602
210. Branco, M. S. S., & Linhares, M. B. M. (2018). The Toxic Stress And Its Impact On Development In The Shonkoff’s Ecobiodevelopmental Theorical Approach. Estudos De Psicologia (Campinas), 35(1), 89–98. https://doi.org/10.1590/1982-02752018000100009
211. Shonkoff, J. P., Garner, A. S., The Committee On Psychosocial Aspects Of Child And Family Health, Committee On Early Childhood, Adoption, And Dependent Care, And Section On Developmental And Behavioral Pediatrics, Siegel, B. S., Dobbins, M. I., Earls, M. F., Garner, A. S., Mcguinn, L., Pascoe, J., & Wood, D. L. (2012). The Lifelong Effects Of Early Childhood Adversity And Toxic Stress. Pediatrics, 129(1), E232–E246. https://doi.org/10.1542/peds.2011-2663
212. Avezum, M. D. M. D. M., Altafim, E. R. P., & Linhares, M. B. M. (2023). Spanking And Corporal Punishment Parenting Practices And Child Development: A Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse, 24(5), 3094–3111. https://doi.org/10.1177/15248380221124243
213. Cuartas, J., Weissman, D. G., Sheridan, M. A., Lengua, L., & Mclaughlin, K. A. (2021). Corporal Punishment And Elevated Neural Response To Threat In Children. Child Development, 92(3), 821–832. https://doi.org/10.1111/cdev.13565
214. Van Tuyll Van Serooskereken Rakotomalala, S., Stok, F. M., Yerkes, M. A., & De Wit, J. B. F. (2023). A Mapping Of Parenting Support Policies Worldwide To Prevent Violence Against Children. Child Abuse & Neglect, 146, 106484. https://doi.org/10.1016/j. chiabu.2023.106484
215. Raman, S., Muhammad, T., Goldhagen, J., Seth, R., Kadir, A., Bennett, S., D’Annunzio, D., Spencer, N. J., Bhutta, Z. A., & Gerbaka, B. (2021). Ending Violence Against Children: What Can Global Agencies Do In Partnership? Child Abuse & Neglect, 119, 104733. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104733
216. Kendall-Tackett, K. (2024). Childhood Adversity And Trauma: Child And Adult Sequelae, Treatment, And Implications For Practice. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, And Policy, 16(Suppl 1), S1–S1. https://doi.org/10.1037/tra0001703
217. Gershoff, E. T. (2002). Corporal Punishment By Parents And Associated Child Behaviors And Experiences: A Meta-Analytic And Theoretical Review. Psychological Bulletin, 128(4), 539–579. https://doi.org/10.1037/0033-2909.128.4.539
218. Gershoff, E. T. (2016). Should Parents’ Physical Punishment Of Children Be Considered A Source Of Toxic Stress That Affects Brain Development? Family Relations, 65(1), 151–162. https://doi.org/10.1111/fare.12177
219. Madigan, S., Cyr, C., Eirich, R., Fearon, R. M. P., Ly, A., Rash, C., Poole, J. C., & Alink, L. R. A. (2019). Testing The Cycle Of Maltreatment Hypothesis: Meta-Analytic Evidence Of The Intergenerational Transmission Of Child Maltreatment. Development And Psychopathology, 31(1), 23–51. https://doi.org/10.1017/s0954579418001700
220. Ongílio, F. L., Gaspardo, C. M., & Linhares, M. B. M. (2023). Maternal History Of Adversity And Subsequent Mother–Child Interactions At Early Ages: A Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse, 24(5), 3412–3432. https://doi.org/10.1177/15248380221130355
221. Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (1998). Relationship Of Childhood Abuse And Household
Dysfunction To Many Of The Leading Causes Of Death In Adults. American Journal Of Preventive Medicine, 14(4), 245–258. https://doi.org/10.1016/s0749-3797(98)00017-8
222. Zarse, E. M., Neff, M. R., Yoder, R., Hulvershorn, L., Chambers, J. E., & Chambers, R. A. (2019). The Adverse Childhood Experiences Questionnaire: Two Decades Of Research On Childhood Trauma As A Primary Cause Of Adult Mental Illness, Addiction, And Medical Diseases. Cogent Medicine, 6(1), 1581447. https://doi.org/10.1080/2331205x.2019.1581447
223. Weems, C. F., Russell, J. D., Herringa, R. J., & Carrion, V. G. (2021). Translating The Neuroscience Of Adverse Childhood Experiences To Inform Policy And Foster Population-Level Resilience. American Psychologist, 76(2), 188–202. https://doi.org/10.1037/ amp0000780
224. World Health Organization. (2018). Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ). Geneva: World Health Organization. Disponível em: hhtps://www.who. int/publications/m/item/adverse-childhood-experienes-international-questionnaire
225. Pereira, F. G., & Viana, M. C. (2021). Adaptação transcultural do Adverse Childhood Experiences International Questionnaire. Revista de Saúde Pública, 55, 79. https://doi. org/10.11606/s1518-8787.2021055003140
226. Jaffee, S. R. (2017). Child Maltreatment And Risk For Psychopathology In Childhood And Adulthood. Annual Review Of Clinical Psychology, 13(1), 525–551. https://doi. org/10.1146/annurev-clinpsy-032816-045005
227. Mclaughlin, K. A. (2016). Future Directions In Childhood Adversity And Youth Psychopathology. Journal Of Clinical Child & Adolescent Psychology, 45(3), 361–382. https://doi. org/10.1080/15374416.2015.1110823
228. Folger, A. T., Eismann, E. A., Stephenson, N. B., Shapiro, R. A., Macaluso, M., Brownrigg, M. E., & Gillespie, R. J. (2018). Parental Adverse Childhood Experiences And Offspring Development At 2 Years Of Age. Pediatrics, 141(4), E20172826. https://doi.org/10.1542/ peds.2017-2826
229. Qu, G., Liu, H., Han, T., Zhang, H., Ma, S., Sun, L., Qin, Q., Chen, M., Zhou, X., & Sun, Y. (2024). Association Between Adverse Childhood Experiences And Sleep Quality, Emotional And Behavioral Problems And Academic Achievement Of Children And Adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry, 33(2), 527–538. https://doi. org/10.1007/s00787-023-02185-w
230. Jaffee, S. R., Bowes, L., Ouellet-Morin, I., Fisher, H. L., Moffitt, T. E., Merrick, M. T., & Arseneault, L. (2013). Safe, Stable, Nurturing Relationships Break The Intergenerational Cycle Of Abuse: A Prospective Nationally Representative Cohort Of Children In The United Kingdom. Journal Of Adolescent Health, 53(4), S4–S10. https://doi.org/10.1016/j. jadohealth.2013.04.007
231. Giovanelli, A., Mondi, C. F., Reynolds, A. J., & Ou, S.-R. (2020). Adverse Childhood Experiences: Mechanisms Of Risk And Resilience In A Longitudinal Urban Cohort.
Development And Psychopathology, 32(4), 1418–1439. https://doi.org/10.1017/s095457941 900138x
232. Dong, M., Anda, R. F., Felitti, V. J., Dube, S. R., Williamson, D. F., Thompson, T. J., Loo, C. M., & Giles, W. H. (2004). The Interrelatedness Of Multiple Forms Of Childhood Abuse, Neglect, And Household Dysfunction. Child Abuse & Neglect, 28(7), 771–784. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2004.01.008
233. Islam, S., Jaffee, S. R., & Widom, C. S. (2023). Breaking The Cycle Of Intergenerational Childhood Maltreatment: Effects On Offspring Mental Health. Child Maltreatment, 28(1), 119–129. https://doi.org/10.1177/10775595211067205
234. Ongílio, F. L., Gaspardo, C. M., Altafim, E. R. P., & Linhares, M. B. M. (2024). Maternal Interactive Behaviors, Mothers’ History Of Childhood Adversities, And Parental Sense Of Competence. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-024-06201-3
235. World Health Organization. (2022). WHO Guidelines On Parenting Interventions To Prevent Maltreatment And Enhance Parent–Child Relationships With Children Aged 0–17 Years. Geneve: World Health Organization. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/ handle/10665/365814/9789240065505-eng.pdf?sequence=1
236. World Health Organization, UNICEF, UNESCO, UN Secretary-General’s Special Representative On Violence Against Children, & Global Partnership To End Violence Against Children. (2020). Global Status Report On Violence Against Children 2020. Geneva: World Health Organization. Disponível em: https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020
237. Department Of Health & Human Services USA. Administration For Children And Family. ([S.D.]). Prevention Resource Guide (2021/2022). Department Of Health And Human Services. Disponível em: https://cwig-prod-prod-drupal-s3fs-us-east-1.s3. amazonaws.com/public/documents/guide_2021.pdf
238. Backhaus, S., Blackwell, A., & Gardner, F. (2024). The Effectiveness Of Parenting Interventions In Reducing Violence Against Children In Humanitarian Settings In Low- And Middle-Income Countries: A Systematic Review And Meta-Analysis. Child Abuse & Neglect, 106850. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106850
239. UNICEF. (2020). Designing Parenting Programmes For Violence Prevention: A Guidance Note. New York: UNICEF. Disponível em: https://www.unicef.org/media/77866/file/ parenting-guidance-note.pdf
240. Altafim, E. R. P., De Oliveira, R. C., & Linhares, M. B. M. (2021). Maternal History Of Childhood Violence In The Context Of A Parenting Program. Journal Of Child And Family Studies, 30(1), 230–242. https://doi.org/10.1007/s10826-020-01868-1
241. Altafim, E. R. P., & Linhares, M. B. M. L. (2024). Parentalidade e infância protegida: implementação de programa com evidências científicas no estado do Ceará (1a ed). IVEPESP.
242. Prefeitura De Pelotas. (2019). ACT Pelotas Política Pública: Relatos de Experiência. Prefeitura de Pelotas.
243. Ricco, R. G., Del Ciampo, L. A., & Almeida, C. A. N. (2000). Puericultura: princípios e práticas. Atenção integral à saúde da criança. São Paulo: Editora Atheneu.
244. As Nações Unidas No Brasil. (2015). Agenda 2030. Disponível em: https://brasil.un.org/ pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentável
245. Black, M. M., Behrman, J. R., Daelmans, B., Prado, E. L., Richter, L., Tomlinson, M., Trude, A. C. B., Wertlieb, D., Wuermli, A. J., & Yoshikawa, H. (2021). The Principles Of Nurturing Care Promote Human Capital And Mitigate Adversities From Preconception Through Adolescence. BMJ Global Health, 6(4), E004436. https://doi.org/10.1136/ bmjgh-2020-004436
246. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. (2018). Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: Orientações para Implementação. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Disponível em: https:// portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/07/pol%c3%adtica-nacional-de-aten%c3%a7%c3%a3o-integral-%c3%a0-sa%c3%bade-da-crian%c3%a7a-pnaisc-vers%c3%a3o-eletr%c3%b4nica.pdf
247. Brasil. Lei no 13.257, de 8 de março de 2016. Marco Legal da Primeira Infância (2016). Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei no 12.662, de 5 de junho de 2012. Disponível em: https:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
248. Brasil. Lei n° 14.617 de 10 de julho de 2023. Institui o mês de agosto como o mês da primeira infância. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20232026/2023/lei/l14617
249. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria no 648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília, DF: Diário Oficial da União
250. Gross, R. S., Messito, M. J., Klass, P., Canfield, C. F., Yin, H. S., Morris, P. A., Shaw, D. S., Dreyer, B. P., & Mendelsohn, A. L. (2021). Integrating Health Care Strategies To Prevent Poverty-Related Disparities In Development And Growth: Addressing Core Outcomes Of Early Childhood. Academic Pediatrics, 21(8), S161–S168. https://doi.org/10.1016/j. acap.2021.04.005
251. Carai, S., & Weber, M. W. (2021). Primary Health Care For Children: Evidence For Prevention. BMC Pediatrics, 21(S1), 328, S12887-021-02787-W. https://doi.org/10.1186/ s12887-021-02787-w
252. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Gestão do Cuidado Integral. Coordenação de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente. (2024). Caderneta da Criança – Menino. Passaporte da Cidadania. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_menino_passaporte_cidadania.pdf
253. WHO, UNICEF, & JICA. (2022). Strengthening Implementation Of Home-Based Records For Maternal, Newborn And Child Health: A Guide For Country Programme Managers. World Health Organization And The United Nations Children’s Fund. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240060586
254. Chutiyami, M., Wyver, S., & Amin, J. (2019). Are Parent-Held Child Health Records A Valuable Health Intervention? A Systematic Review And Meta-Analysis. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 16(2), 220. https://doi.org/10.3390/ ijerph16020220
255. Macedo, L. G., Schult, N. C. W., Queiroz, A. H., Crepaldi, M. A., & Cruz, R. M. (2010). Reflexões sobre os parâmetros psicométricos do inventário HOME Versão Infant Toddler. Aval Psic [Internet], 9(2), 233–241.
256. Wallerich, L., Fillol, A., Rivadeneyra, A., Vandentorren, S., Wittwer, J., & Cambon, L. (2023). Environment And Child Well-Being: A Scoping Review Of Reviews To Guide Policies. Health Promotion Perspectives, 13(3), 168–182. https://doi.org/10.34172/ hpp.2023.20
257. Bradley, R. H. (2002). Environment And Parenting. em M. Bornstein (Org.), Handbook Of Parenting (Vol. 2). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
258. Siqueira, L. D., Reticena, K. D. O., Nascimento, L. H. D., Abreu, F. C. P. D., & Fracolli, L. A. (2019). Estratégias de avaliação da visita domiciliar: uma revisão de escopo. Acta Paulista de Enfermagem, 32(5), 584–591. https://doi.org/10.1590/1982-0194201900081
259. Bektas, G., Boelsma, F., Seidell, J. C., & Dijkstra, S. C. (2023). Development Of A Health Promotion Action With Mothers Aiming To Support A Healthy Start In Life For Children Using Participatory Action Research. International Journal Of Qualitative Studies On Health And Well-Being, 18(1), 2223415. https://doi.org/10.1080/17482631.2023.222 3415
260. Chiari, A. P. G., Senna, M. I. B., Gomes, V. E., Freire, M. D. S. M., Soares, A. R. D. S., Alves, C. R. L., Cury, G. C., & Ferreira, R. C. (2023). Intersectoral Collaboration To Promote Child Development: The Contributions Of The Actor-Network Theory. Qualitative Health Research, 33(5), 451–467. https://doi.org/10.1177/10497323231153534
261. Meurer, J., Rohloff, R., Rein, L., Kanter, I., Kotagiri, N., Gundacker, C., & Tarima, S. (2022). Improving Child Development Screening: Implications For Professional Practice And Patient Equity. Journal Of Primary Care &Community Health, 13, 215013192110626. https://doi.org/10.1177/21501319211062676
262. Coker, T. R., Liljenquist, K., Lowry, S. J., Fiscella, K., Weaver, M. R., Ortiz, J., Lafontaine, R., Silva, J., Salaguinto, T., Johnson, G., Friesema, L., Porras-Javier, L., Guerra, L. J. S., & Szilagyi, P. G. (2023). Community Health Workers In Early Childhood Well-Child Care For Medicaid-Insured Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA, 329(20), 1757. https://doi.org/10.1001/jama.2023.7197
263. Doyle, L. W., Anderson, P. J., Battin, M., Bowen, J. R., Brown, N., Callanan, C., Campbell, C., Chandler, S., Cheong, J., Darlow, B., Davis, P. G., Depaoli, T., French, N., Mcphee, A., Morris, S., O’Callaghan, M., Rieger, I., Roberts, G., Spittle, A. J., … Woodward, L. J. (2014). Long Term Follow Up Of High Risk Children: Who, Why And How? BMC Pediatrics, 14(1), 279. https://doi.org/10.1186/1471-2431-14-279
264. Lipkin, P. H., Macias, M. M., Council On Children With Disabilities, Section On Developmental And Behavioral Pediatrics, Norwood, K. W., Brei, T. J., Davidson, L. F., Davis, B. E., Ellerbeck, K. A., Houtrow, A. J., Hyman, S. L., Kuo, D. Z., Noritz, G. H., Yin, L., Murphy, N. A., Levy, S. E., Weitzman, C. C., Bauer, N. S., Childers Jr, D. O., Levine, J. M., … Voigt, R. G. (2020). Promoting Optimal Development: Identifying Infants And Young Children With Developmental Disorders Through Developmental Surveillance And Screening. Pediatrics, 145(1), E20193449. https://doi.org/10.1542/ peds.2019-3449
265. Barger, B., Rice, C., Wolf, R., & Roach, A. (2018). Better Together: Developmental Screening And Monitoring Best Identify Children Who Need Early Intervention. Disability And Health Journal, 11(3), 420–426. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2018.01.002
266. Alexander, K. E., Brijnath, B., Biezen, R., Hampton, K., & Mazza, D. (2017). Preventive Healthcare For Young Children: A Systematic Review Of Interventions In Primary Care. Preventive Medicine, 99, 236–250. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.02.024
267. Jullien, S., Huss, G., & Weigel, R. (2021). Supporting Recommendations For Childhood Preventive Interventions For Primary Health Care: Elaboration Of Evidence Synthesis And Lessons Learnt. BMC Pediatrics, 21(S1), 356. https://doi.org/10.1186/s12887-02102638-8
268. Hirve, R., Adams, C., Kelly, C. B., Mcaullay, D., Hurt, L., Edmond, K. M., & Strobel, N. (2023). Effect Of Early Childhood Development Interventions Delivered By Healthcare Providers To Improve Cognitive Outcomes In Children At 0–36 Months: A Systematic Review And Meta-Analysis. Archives Of Disease In Childhood, 108(4), 247–257. https:// doi.org/10.1136/archdischild-2022-324506
269. Martin, K. J., Copeland, K. A., Xu, Y., Deblasio, D., Burkhardt, M. C., Morehous, J. F., & Beck, A. F. (2022). Association Between Unscheduled Pediatric Primary Care Visits
And Risk Of Developmental Delay. Academic Pediatrics, 22(2), 244–252. https://doi. org/10.1016/j.acap.2021.08.014
270. Piccini, R. X., Facchini, L. A., Tomasi, E., Thumé, E., Silveira, D. S. D., Siqueira, F. V., Rodrigues, M. A., Paniz, V. V., & Teixeira, V. A. (2007). Efetividade da atenção pré-natal e de puericultura em unidades básicas de saúde do Sul e do Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, 7(1), 75–82. https://doi.org/10.1590/s151938292007000100009
271. Silva, P. L. R., Aleluia, I. R. S., Santana, A. F., & Ribeiro, L. T. (2024). Avaliação da puericultura na estratégia saúde da família em município-sede de macrorregião de saúde. Physis: Revista De Saúde Coletiva, 34(E34007).
272. Aquino, R., Oliveira, N. F., & Barreto, M. L. (2009). Impact Of The Family Health Program On Infant Mortality In Brazilian Municipalities. American Journal Of Public Health, 99(1), 87–93. https://doi.org/10.2105/ajph.2007.127480
273. Pinto Junior, E. P., Aquino, R., Medina, M. G., & Silva, M. G. C. D. (2018). Efeito da estratégia Saúde da Família nas internações por condições sensíveis à atenção primária em menores de um ano na Bahia, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 34(2). https://doi. org/10.1590/0102-311x00133816
274. Shah, R., Kennedy, S., Clark, M. D., Bauer, S. C., & Schwartz, A. (2016). Primary Care–Based Interventions To Promote Positive Parenting Behaviors: A Meta-Analysis. Pediatrics, 137(5), E20153393. https://doi.org/10.1542/peds.2015-3393
275. Boelsma, F., Bektas, G., Wesdorp, C. L., Seidell, J. C., & Dijkstra, S. C. (2021). The Perspectives Of Parents And Healthcare Professionals Towards Parental Needs And Support From Healthcare Professionals During The First Two Years Of Children’s Lives. International Journal Of Qualitative Studies On Health And Well-Being, 16(1), 1966874. https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1966874
276. Vasconcelos, V. M., Frota, M. A., Martins, M. C., & Machado, M. M. T. (2012). Puericultura em enfermagem e educação em saúde: percepção de mães na estratégia Saúde da Família. Escola Anna Nery, 16(2), 326–331. https://doi.org/10.1590/s1414-81452012000 200017
277. Roby, E., Shaw, D. S., Morris, P., Canfield, C. F., Miller, E. B., Dreyer, B., Klass, P., Ettinger, A., Miller, E., & Mendelsohn, A. L. (2021). Pediatric Primary Care And Partnerships Across Sectors To Promote Early Child Development. Academic Pediatrics, 21(2), 228–235. https://doi.org/10.1016/j.acap.2020.12.002
278. Jeong, J., Bliznashka, L., Sullivan, E., Hentschel, E., Jeon, Y., Strong, K. L., & Daelmans, B. (2022). Measurement Tools And Indicators For Assessing Nurturing Care For Early Childhood Development: A Scoping Review. PLOS Global Public Health, 2(4), E0000373. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000373
279. Abboah-Offei, M., Amboka, P., Nampijja, M., Owino, G. E., Okelo, K., Kitsao-Wekulo, P., Chumo, I., Muendo, R., Oloo, L., Wanjau, M., Mwaniki, E., Mutisya, M., Haycraft,
E., Hughes, R., Griffiths, P., & Elsey, H. (2022). Improving Early Childhood Development In The Context Of The Nurturing Care Framework In Kenya: A Policy Review And Qualitative Exploration Of Emerging Issues With Policy Makers. Frontiers In Public Health, 10, 1016156. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1016156
280. Mccoy, D. C., Seiden, J., Cuartas, J., Pisani, L., & Waldman, M. (2022). Estimates Of A Multidimensional Index Of Nurturing Care In The Next 1000 Days Of Life For Children In Low-Income And Middle-Income Countries: A Modelling Study. The Lancet Child & Adolescent Health, 6(5), 324–334. https://doi.org/10.1016/s2352-4642(22)00076-1
281. Rocha, S. M. M. (1987). Puericultura E Enfermagem. São Paulo: Cortez.
282. Krijger, A., Schiphof-Godart, L., Lanting, C., Elstgeest, L., Raat, H., & Joosten, K. (2024). A Lifestyle Screening Tool For Young Children In The Community: Needs And Wishes Of Parents And Youth Healthcare Professionals. BMC Health Services Research, 24(1), 584. https://doi.org/10.1186/s12913-024-10997-y
283. Abdul Halim, S. H., & Mohd Zulkefli, N. A. (2021). Prevalence And Factors Associated With Child Health Record Book Utilization Among Parents Attending Government Health Clinics In Putrajaya, Malaysia. Child: Care, Health And Development, 47(4), 509–516. https://doi.org/10.1111/cch.12863
284. Hirota, T., Nishimura, T., Mikami, M., Saito, M., & Nakamura, K. (2022). The Role Of The Maternal And Child Health Handbook In Developmental Surveillance: The Exploration Of Milestone Attainment Trajectories. Frontiers In Psychiatry, 13, 902158. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.902158
285. Carandang, R. R., Sakamoto, J. L., Kunieda, M. K., Shibanuma, A., Yarotskaya, E., Basargina, M., & Jimba, M. (2022). Effects Of The Maternal And Child Health Handbook And Other Home-Based Records On Mothers’ Non-Health Outcomes: A Systematic Review. BMJ Open, 12(6), E058155. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-058155
286. Caminha, M. D. F. C., Silva, S. L. D., Lima, M. D. C., Azevedo, P. T. Á. C. C. D., Figueira, M. C. D. S., & Batista Filho, M. (2017). Vigilância do desenvolvimento infantil: análise da situação brasileira. Revista Paulista de Pediatria, 35(1), 102–109. https://doi. org/10.1590/1984-0462/;2017;35;1;00009
287. Teixeira, J. A., Oliveira, C. D. F., Bortoli, M. C. D., & Venâncio, S. I. (2023). Estudos sobre a caderneta da criança no Brasil: uma revisão de escopo. Revista de Saúde Pública, 57(1), 48. https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2023057004733
288. Palombo, C. N. T., Duarte, L. S., Fujimori, E., & Toriyama, Á. T. M. (2014). Use And Records Of Child Health Handbook Focused On Growth And Development. Revista Da Escola De Enfermagem Da USP, 48(Spe), 59–66. https://doi.org/10.1590/s0080-623420140000600009
289. Yakuwa, M. S., Pancieri, L., Neill, S., & De Mello, D. F. (2022). Mothers’ Understanding Of Brain Development In Early Childhood: A Qualitative Study In Brazil. SAGE Open, 12(2), 215824402210961. https://doi.org/10.1177/21582440221096131
290. Ertem, I., Dogan, D. G., Srinivasan, R., Yousafzai, A. K., & Krishnamurthy, V. (2022). Addressing Early Childhood Development In Healthcare: Putting Theory Into Practice. BMJ Paediatrics Open, 6(1), E001743. https://doi.org/10.1136/bmjpo-2022-001743
291. Global Report On Early Childhood Care And Education: The Right To A Strong Foundation. (2024). UNESCO. https://doi.org/10.54675/fwqa2113
292. Kishimoto, T. M. (1988). Os jardins de infância e as escolas maternais de São Paulo no início da República. Cadernos de Pesquisa, 64, 57–60.
293. Oliveira, R. P. De. (1999). O direito à educação na Constituição Federal de 1988 e seu restabelecimento pelo sistema de justiça. Revista Brasileira de Educação, 11, 61–74.
294. Currie, J. (2001). Early Childhood Education Programs. Journal Of Economic Perspectives, 15(2), 213–238. https://doi.org/10.1257/jep.15.2.213
295. Gorey, K. M. (2001). Early Childhood Education: A Meta-Analytic Affirmation Of The Short- And Long-Term Benefits Of Educational Opportunity. School Psychology Quarterly, 16(1), 9–30. https://doi.org/10.1521/scpq.16.1.9.19163
296. Nelson, G., Westhues, A., & Macleod, J. (2003). A Meta-Analysis Of Longitudinal Research On Preschool Prevention Programs For Children. Prevention & Treatment, 6(1). https://doi.org/10.1037/1522-3736.6.1.631a
297. Karoly, L. A., Kilburn, M. R., & Cannon, J. S. (2005). Early Childhood Interventions: Proven Results, Future Promise. RAND Corporation. Disponível em: https://www.rand. org/pubs/monographs/mg341.html
298. Anderson, S. E. (2006). The School District’s Role In Educational Change. International Journal Of Educational Reform, 15(1), 13–37. https://doi.org/10.1177/105678790601500102
299. Blau, D., & Currie, J. (2006). Pre-School, Day Care, And After-School Care: Who’s Minding The Kids? Em Handbook Of The Economics Of Education (Vol. 2, P. 1163–1278). Elsevier. https://doi.org/10.1016/s1574-0692(06)02020-4
300. Karoly, L. A., Ghosh-Dastidar, B., Zellman, G. L., Perlman, M., & Fernyhough, L. (2008). Prepared To Learn: The Nature And Quality Of Early Care And Education For Preschool-Age Children In California. RAND Corporation. Disponível em: https://www.rand.org/pubs/ technical_reports/tr539.html
301. Pianta, R. C., Barnett, W. S., Burchinal, M., & Thornburg, K. R. (2009). The Effects Of Preschool Education: What We Know, How Public Policy Is Or Is Not Aligned With The Evidence Base, And What We Need To Know. Psychological Science In The Public Interest, 10(2), 49–88. https://doi.org/10.1177/1529100610381908
302. Camilli, G., Vargas, S., Ryan, S., & Barnett, W. S. (2010). Meta-Analysis Of The Effects Of Early Education Interventions On Cognitive And Social Development. Teachers College Record: The Voice Of Scholarship In Education, 112(3), 579–620. https://doi. org/10.1177/016146811011200303
303. Currie, J., & Almond, D. (2011). Human Capital Development Before Age Five. Em Handbook Of Labor Economics (Vol. 4, P. 1315–1486). Elsevier. https://doi.org/10.1016/ s0169-7218(11)02413-0
304. Duncan, G. J., & Magnuson, K. (2013). Investing In Preschool Programs. Journal Of Economic Perspectives, 27(2), 109–132. https://doi.org/10.1257/jep.27.2.109
305. Magnuson, K. A., Kelchen, R., Duncan, G. J., Schindler, H. S., Shager, H., & Yoshikawa, H. (2016). Do The Effects Of Early Childhood Education Programs Differ By Gender? A Meta-Analysis. Early Childhood Research Quarterly, 36, 521–536. https://doi.org/10.1016/j. ecresq.2015.12.021
306. Barnett, W. S. (2011). Effectiveness Of Early Educational Intervention. Science, 333(6045), 975–978. https://doi.org/10.1126/science.1204534
307. Santos, D. D. (2016). Impactos do ensino infantil sobre o aprendizado: benefícios positivos, mas desiguais. Tese de Livre Docência. Faculdade de Economia E Administração de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP).
308. Van Huizen, T., & Plantenga, J. (2018). Do Children Benefit From Universal Early Childhood Education And Care? A Meta-Analysis Of Evidence From Natural Experiments. Economics Of Education Review, 66, 206–222. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.08.001
309. Evans, D. K., Jakiela, P., & Acosta, A. M. (2024). The Impacts Of Childcare Interventions On Children’s Outcomes In Low- And Middle-Income Countries: A Systematic Review. AEA Papers And Proceedings, 114, 463–466. https://doi.org/10.1257/pandp.20241015
310. Peisner-Feinberg, E., Kuhn, L., Zadrozny, S., Foster, T., & Burchinal, M. (2020). Kindergarten Follow-Up Findings From A Small-Scale RCT Study Of The North Carolina Pre-Kindergarten Program. The University Of North Carolina, School Of Education.
311. Durkin, K., Lipsey, M. W., Farran, D. C., & Wiesen, S. E. (2022). Effects Of A Statewide Pre-Kindergarten Program On Children’s Achievement And Behavior Through Sixth Grade. Developmental Psychology, 58(3), 470–484. https://doi.org/10.1037/dev0001301
312. Woodyard, H. T., Sass, T. R., & Fazlul, I. (2023). Assessing The Benefits Of Education In Early Childhood: Evidence From A Pre-K Lottery In Georgia. Annenberg Institute At Brown University. Disponível em: https://edworkingpapers.com/ai23-880
313. Deming, D. (2009). Early Childhood Intervention And Life-Cycle Skill Development: Evidence From Head Start. American Economic Journal: Applied Economics, 1(3), 111–134. https://doi.org/10.1257/app.1.3.111
314. Bailey, D., Duncan, G. J., Odgers, C. L., & Yu, W. (2017). Persistence And Fadeout In The Impacts Of Child And Adolescent Interventions. Journal Of Research On Educational Effectiveness, 10(1), 7–39. https://doi.org/10.1080/19345747.2016.1232459
315. Pages, R., Lukes, D. J., Bailey, D. H., & Duncan, G. J. (2020). Elusive Longer-Run Impacts Of Head Start: Replications Within And Across Cohorts. Educational Evaluation And Policy Analysis, 42(4), 471–492. https://doi.org/10.3102/0162373720948884
316. Burchinal, M. (2018). Measuring Early Care And Education Quality. Child Development Perspectives, 12(1), 3–9. https://doi.org/10.1111/cdep.12260
317. Heckman, J., Pinto, R., & Savelyev, P. (2013). Understanding The Mechanisms Through Which An Influential Early Childhood Program Boosted Adult Outcomes. American Economic Review, 103(6), 2052–2086. https://doi.org/10.1257/aer.103.6.2052
318. Magnuson, K. A., Ruhm, C., & Waldfogel, J. (2007). The Persistence Of Preschool Effects: Do Subsequent Classroom Experiences Matter? Early Childhood Research Quarterly, 22(1), 18–38. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2006.10.002
319. Whitaker, A. A., Burchinal, M., Jenkins, J. M., Watts, T. W., Duncan, G. J., Hart, E. R., & Peisner-Feinberg, E. (2023). Why Are Preschool Programs Becoming Less Effective? Edworkingpaper, N° 23-885. Annenberg Institute For School Reform At Brown University.
320. Cascio, E. (2021). Early Childhood Education In The United States: What, When, Where, Who, How, And Why. Em B. P. Mccall (Org.), The Routledge Handbook Of The Economics Of Education (P. 30–72). Routledge.
321. Kline, P., & Walters, C. R. (2016). Evaluating Public Programs With Close Substitutes: The Case Of Head Start*. The Quarterly Journal Of Economics, 131(4), 1795–1848. https:// doi.org/10.1093/qje/qjw027
322. Bassok, D., Latham, S., & Rorem, A. (2016). Is Kindergarten The New First Grade? AERA Open, 2(1), 233285841561635. https://doi.org/10.1177/2332858415616358
323. Cohen-Vogel, L., Little, M., Jang, W., Burchinal, M., & Bratsch-Hines, M. (2021). A Missed Opportunity? Instructional Content Redundancy In Pre-K And Kindergarten. AERA Open, 7, 233285842110061. https://doi.org/10.1177/23328584211006163
324. Markowitz, A. J., & Ansari, A. (2020). Changes In Academic Instructional Experiences In Head Start Classrooms From 2001–2015. Early Childhood Research Quarterly, 53, 534–550. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.06.008
325. Burchinal, M., Garber, K., Foster, T., Bratsch-Hines, M., Franco, X., & Peisner-Feinberg, E. (2021). Relating Early Care And Education Quality To Preschool Outcomes: The Same Or Different Models For Different Outcomes? Early Childhood Research Quarterly, 55, 35–51. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.10.005
326. Mccormick, M., Weiland, C., Hsueh, J., Pralica, M., Weissman, A. K., Moffett, L., Snow, C., & Sachs, J. (2021). Is Skill Type The Key To The Prek Fadeout Puzzle? Differential Associations Between Enrollment In Prek And Constrained And Unconstrained Skills Across Kindergarten. Child Development, 92(4). https://doi.org/10.1111/cdev.13520
327. Neubauer, R., Davis, C., & Espósito, Y. L. (1996). Avaliação do processo de inovações no ciclo básico e seu impacto sobre a situação de ensino-aprendizagem na Região Metropolitana de São Paulo. Estudos em Avaliação Educacional, 13, 35–64. https://doi. org/10.18222/eae01319962290
328. Curi, A. Z., & Menezes-Filho, N. A. (2009). A relação entre educação pré-primária, salários, escolaridade e proficiência escolar no Brasil. Estudos Econômicos (São Paulo), 39(4), 811–850. https://doi.org/10.1590/s0101-41612009000400005
329. Fonseca, G. Do C. (2015). Investigação da durabilidade do benefício gerado pela Educação Infantil [Text, Dissertação de Mestrado. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP)]. https://doi.org/10.11606/d.96.2015.tde-22072015-152122
330. Ruhm, C., & Waldfogel, J. (2012). Long-Term Effects Of Early Childhood Care And Education. Nordic Economic Policy Review, 53(9), 1335–1357.
331. Barnett, W. S., & Frede, E. (2010). The Promise Of Preschool: Why We Need Early Education For All. American Educator, 34(1), 21.
332. Currie, J., & Thomas, D. (1995). Does Head Start Make A Difference? The American Economic Review, 85(3), 341–364.
333. Currie, J., & Thomas, D. (2000). School Quality And The Longer-Term Effects Of Head Start. The Journal Of Human Resources, 35(4), 755. https://doi.org/10.2307/146372
334. Garces, E., Thomas, D., & Currie, J. (2002). Longer-Term Effects Of Head Start. The American Economic Review, 92(4), 999–1012.
335. Cunha, F., Heckman, J., & Schennach, S. M. (2010). Estimating The Technology Of Cognitive And Noncognitive Skill Formation. Econometrica, 78(3), 883–931. https:// doi.org/10.3982/ecta6551
336. Lipsey, M. W., Farran, D. C., & Durkin, K. (2018). Effects Of The Tennessee Prekindergarten Program On Children’s Achievement And Behavior Through Third Grade. Early Childhood Research Quarterly, 45, 155–176. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.03.005
337. Gray-Lobe, G., Pathak, P. A., & Walters, C. R. (2022). The Long-Term Effects Of Universal Preschool In Boston. The Quarterly Journal Of Economics, 138(1), 363–411. https:// doi.org/10.1093/qje/qjac036
338. Mccoy, D. C., Peet, E. D., Ezzati, M., Danaei, G., Black, M. M., Sudfeld, C. R., Fawzi, W., & Fink, G. (2016). Early Childhood Developmental Status In Low- And Middle-Income Countries: National, Regional, And Global Prevalence Estimates Using Predictive Modeling. PLOS Medicine, 13(6), E1002034. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002034
339. Nores, M., & Barnett, W. S. (2010). Benefits Of Early Childhood Interventions Across The World: (Under) Investing In The Very Young. Economics Of Education Review, 29(2), 271–282. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2009.09.001
340. Belsky, J. (1988). The “Effects” Of Infant Day Care Reconsidered. Early Childhood Research Quarterly, 3(3), 235–272. https://doi.org/10.1016/0885-2006(88)90003-8
341. Belsky, J. (1990). Parental And Nonparental Child Care And Children’s Socioemotional Development: A Decade In Review. Journal Of Marriage And The Family, 52(4), 885–903.
342. Belsky, J. (1994). The Effects Of Infant Day Care: 1986–1994. Invited Plenary Address To The British Psychological Association Division Of Developmental Psychology, University Of Portsmouth, England.
343. Phillips, D., & Howes, C. (1987). Indicators Of Quality In Child Care: Review Of The Research. Em D. Phillips (Org.), Quality In Child Care: What Does The Research Tell Us? (P. 1–19). Washington, DC: National Association For The Education Of Young Children.
344. Baydar, N., & Brooks-Gunn, J. (1991). Effects Of Maternal Employment And Child-Care Arrangements On Preschoolers’ Cognitive And Behavioral Outcomes: Evidence From The Children Of The National Longitudinal Survey Of Youth. Developmental Psychology, 27(6), 932–945. https://doi.org/10.1037/0012-1649.27.6.932
345. Belsky, J., & Eggebeen, D. (1991). Early And Extensive Maternal Employment And Young Children’s Socioemotional Development: Children Of The National Longitudinal Survey Of Youth. Journal Of Marriage And The Family, 53(4), 1083. https://doi.org/10.2307/353011
346. Sternberg, K. J., Lamb, M. E., Hwang, C.-P., Broberg, A., Ketterlinus, R. D., & Bookstein, F. L. (1991). Does Out-Of-Home Care Affect Compliance In Preschoolers? International Journal Of Behavioral Development, 14(1), 45–65. https://doi.org/10.1177/01650254 9101400103
347. Varin, D. (1994). Critical Periods In The Growth Of Attachment And The Age Of Entry Into Day Care. Annual Conference Of The Developmental, Section Of The British Psychological Society. University Of Portsmouth, UK
348. Borge, A. I. H., & Melhuish, E. C. (1995). A Longitudinal Study Of Childhood Behaviour Problems, Maternal Employment, And Day Care In A Rural Norwegian Community. International Journal Of Behavioral Development, 18(1), 23–42. https://doi.org/10.1177/ 016502549501800102
349. Vandell, D. L., & Corasaniti, M. A. (1990). Child Care And The Family: Complex Contributors To Child Development. New Directions For Child And Adolescent Development, 1990(49), 23–37. https://doi.org/10.1002/cd.23219904904
350. Park, K. J., & Honig, A. S. (1991). Infant Child Care Patterns And Later Teacher Ratings Of Preschool Behaviors. Early Child Development And Care, 68(1), 89–96. https://doi. org/10.1080/0300443910680108
351. Cobley, S., Abraham, C., & Baker, J. (2008). Relative Age Effects On Physical Education Attainment And School Sport Representation. Physical Education & Sport Pedagogy, 13(3), 267–276. https://doi.org/10.1080/17408980701711983
352. National Institute Of Child Health And Human Development Early Child Care Research Network, & Duncan, G. J. (2003). Modeling The Impacts Of Child Care Quality On Children’s Preschool Cognitive Development. Child Development, 74(5), 1454–1475. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00617
353. Peisner-Feinberg, E. S., & Burchinal, M. R. (1997). Relations Between Preschool Children’s Child-Care Experiences And Concurrent Development: The Cost, Quality, And Outcomes Study. Merrill-Palmer Quarterly, 43(3), 451–477.
354. Burchinal, M. R., & Cryer, D. (2003). Diversity, Child Care Quality, And Developmental Outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 18(4), 401–426. https://doi.org/10.1016/j. ecresq.2003.09.003
355. Mccartney, K., Dearing, E., Taylor, B. A., & Bub, K. L. (2007). Quality Child Care Supports The Achievement Of Low-Income Children: Direct And Indirect Pathways Through Caregiving And The Home Environment. Journal Of Applied Developmental Psychology, 28(5–6), 411–426. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2007.06.010
356. Cascio, E. U., & Schanzenbach, D. W. (2013). The Impacts Of Expanding Access To High-Quality Preschool Education (Working Paper No. 19735). National Bureau Of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w19735
357. García, J. L., Heckman, J. J., & Ronda, V. (2023). The Lasting Effects Of Early-Childhood Education On Promoting The Skills And Social Mobility Of Disadvantaged African Americans And Their Children. Journal Of Political Economy, 131(6), 1477–1506. https:// doi.org/10.1086/722936
358. Conti, G., Heckman, J. J., & Pinto, R. (2016). The Effects Of Two Influential Early Childhood Interventions On Health And Healthy Behaviour. The Economic Journal, 126(596), F28–F65. https://doi.org/10.1111/ecoj.12420
359. Heckman, J. J., Moon, S. H., Pinto, R., Savelyev, P. A., & Yavitz, A. (2010). The Rate Of Return To The Highscope Perry Preschool Program. Journal Of Public Economics, 94(1–2), 114–128. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.11.001
360. Campbell, F., Conti, G., Heckman, J. J., Moon, S. H., Pinto, R., Pungello, E., & Pan, Y. (2014). Early Childhood Investments Substantially Boost Adult Health. Science, 343(6178), 1478–1485. https://doi.org/10.1126/science.1248429
361. Englund, M. M., White, B., Reynolds, A. J., Schweinhart, L. J., & Campbell, F. A. (2014). Health Outcomes Of The Abecedarian, Child–Parent Center, And Highscope Perry Preschool Programs. Em A. J. Reynolds, A. J. Rolnick, & J. A. Temple (Orgs.), Health And Education In Early Childhood (1o Ed, P. 257–292). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781139814805.014
362. García, J. L., Heckman, J. J., & Ziff, A. L. (2019). Early Childhood Education And Crime. Infant Mental Health Journal, 40(1), 141–151. https://doi.org/10.1002/imhj.21759
363. Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J., Burchinal, M. R., Espinosa, L. M., Gormley, W. T., Ludwig, J., Magnuson, K. A., Phillips, D., & Zaslow, M. J. (2013). Investing In Our Future: The Evidence Base On Preschool Education. Society For Research In Child Development. Disponível em: https://eric.ed.gov/?id=ed579818
364. Zaslow, M., Anderson, R., Redd, Z., Wessel, J., Daneri, P., Green, K., Cavadel, E. W., Tarullo, L., Burchinal, M., & Martinez‐Beck, I. (2016). Quality Thresholds, Features,
And Dosage In Early Care And Education: Introduction And Literature Review. Monographs Of The Society For Research In Child Development, 81(2), 7–26. https://doi. org/10.1111/mono.12236
365. Li, W., Duncan, G. J., Magnuson, K., Schindler, H. S., Yoshikawa, H., & Leak, J. (2020). Timing In Early Childhood Education: How Cognitive And Achievement Program Impacts Vary By Starting Age, Program Duration, And Time Since The End Of The Program. Annenberg Institute For School Reform At Brown University. Edworkingpaper No. 20-201. Disponível em: https://eric.ed.gov/?id=ed610271
366. Pinto, C. C. D. X., Santos, D., & Guimarães, C. (2017). The Impact Of Daycare Attendance On Math Test Scores For A Cohort Of Fourth Graders In Brazil. The Journal Of Development Studies, 53(9), 1335–1357. https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1224849
367. Attanasio, O. Ricardo Paes de Barros, Pedro Carneiro, David K. Evans, Lycia Lima, Pedro Olinto, & Norbert Schady, Public Childcare, Labor Market Outcomes of Caregivers, and Child Development: Experimental Evidence from Brazil, NBER Working Paper No. 30653 November 2022, revised June 2024.
368. Barros, R. P., Olinto, P., Lunde, T., & Carvalho, M. (2011). The Impact Of Access To Free Childcare On Women’s Labor Market Outcomes: Evidence From A Randomized Trial In Low-Income Neighborhoods Of Rio De Janeiro [Text/HTML]. World Bank. Disponível em: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/672391468231860498/the-impact-of-access-to-free-childcare-on-womens-labor-market-outcomes-evidence-from-a-randomized-trial-in-low-income-neighborhoods-of-rio-de-janeiro
369. Berčnik, S., & Rožman Krivec, L. (2023). Compensatory Programs In Preschool Education. Em M. Sardoč (Org.), Handbook Of Equality Of Opportunity (P. 1–25). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52269-2_74-1
370. Secchi, L. (2021). Políticas Públicas: Conceitos: Esquemas De Análise E Casos Políticos. Cengage Learning.
371. Center O The Developing Child At Harvard University. (2007). Brain Architecture. Center On The Developing Child At Harvard University. Disponível em: https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/
372. Center On The Developing Child At Harvard University. (2007). Inbrief: The Science Of Early Childhood Development. Center On The Developing Child At Harvard University. Disponível em: https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-science-of-ecd/
373. Mcewen, B. S. (1998). Stress, Adaptation, And Disease: Allostasis And Allostatic Load. Annals Of The New York Academy Of Sciences, 840(1), 33–44. https://doi.org/10.1111/j. 1749-6632.1998.tb09546.x
374. Clark, R., Anderson, N. B., Clark, V. R., & Williams, D. R. (1999). Racism As A Stressor For African Americans: A Biopsychosocial Model. American Psychologist, 54(10), 805–816. https://doi.org/10.1037/0003-066x.54.10.805
375. Geronimus, A. T., Hicken, M., Keene, D., & Bound, J. (2006). “Weathering” And Age Patterns Of Allostatic Load Scores Among Blacks And Whites In The United States. American Journal Of Public Health, 96(5), 826–833. https://doi.org/10.2105/ajph.2004.060749
376. Pachter, L. M., & Coll, C. G. (2009). Racism And Child Health: A Review Of The Literature And Future Directions. Journal Of Developmental & Behavioral Pediatrics, 30(3), 255–263. https://doi.org/10.1097/dbp.0b013e3181a7ed5a
377. Heard-Garris, N. J., Cale, M., Camaj, L., Hamati, M. C., & Dominguez, T. P. (2018). Transmitting Trauma: A Systematic Review Of Vicarious Racism And Child Health. Social Science & Medicine, 199, 230–240. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.04.018
378. IBGE. Pesquisa Nacional De Amostra De Domicílios Contínua (Pnadc). (2022). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/
379. Grantham-Mcgregor, S., Cheung, Y. B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., & Strupp, B. (2007). Developmental Potential In The First 5 Years For Children In Developing Countries. The Lancet, 369(9555), 60–70. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(07)60032-4
380. Brasil. Ministério Da Saúde. Secretaria De Atenção À Saúde. Departamento De Atenção Básica. (2012). Atenção Ao Pré-Natal De Baixo Risco. Brasília, DF: Editora Do Ministério Da Saúde.
381. Castilho, P. C., Ogando, L. D., & Gil, M. O. G. (2022). Educação Infantil de qualidade Estudo N° 8 - Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância (NCPI). Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
382. Resende, A. M., Taioka, T., Pires, L. N., & Saliba, C. (2024). Custo da maternidade no Brasil: as múltiplas consequências do trabalho de cuidado não remunerado realizado por mulheres. Nota de Política Econômica n° 51. MADE - Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades.
383. Bernardini, R., Kang, T., & Wink Jr, M. V. (2022). A Daycare Need Index For Brazilian Municipalities, 2018-2020. Estudos Em Avaliação Educacional. https://doi.org/10.18222/ eae.v33.8675_en
384. Rede Nacional Primeira Infância. (2020). Plano Nacional pela Primeira Infância (2010-2022 | 2020-2030). Disponível em: https://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2020/10/ pnpi.pdf
385. Rede Nacional Primeira Infância. (2015). A intersetorialidade nas políticas para a primeira infância.
386. Relatoria Técnica do Grupo de Trabalho Primeira Infância do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, Todos pela Educação, & Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal. (2024). Recomendações para a construção da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. Relatório. Disponível em: https://todospelaeducacao.org.br/ wordpress/wp-content/uploads/2024/06/relatorio-pnipi-2024.pdf
387. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. (2024). Panorama das Políticas de Primeira Infância dos Estados Brasileiros
388. Souza, P. H. G. F. De, Osorio, R. G., Paiva, L. H., & Soares, S. S. D. (2019). Os efeitos do Programa Bolsa Família sobre a pobreza e a desigualdade: um balanço dos primeiros quinze anos. Texto para discussão (TD) 2499. Disponível em: https://repositorio.ipea. gov.br/handle/11058/9356
389. Kalichman, D., Komatsu, B. K., & Menezes Filho, N. (2023). Desigualdades na Primeira Infância. Em M. França & A. Portella (Orgs.), Números da discriminação racial: desenvolvimento humano, equidade e políticas públicas. São Paulo: Editora Jandaíra.
390. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. (2024). Perfil Síntese da Primeira Infância e Famílias no Cadastro Único.
391. Denes, G., Komatsu, B. K., & Menezes Filho, N. (2018). Uma avaliação dos impactos macroeconômicos e sociais de programas de transferência de renda nos municípios brasileiros. Revista Brasileira de Economia, 72(3). https://doi.org/10.5935/0034-7140. 20180014
392. Silva, E. S. A. (2019). Programa Bolsa Família e a redução da mortalidade infantil nos municípios do Semiárido brasileiro. Ciência & Saúde Coletiva, 24(2), 623–630.
393. Ramos, D., Da Silva, N. B., Ichihara, M. Y., Fiaccone, R. L., Almeida, D., Sena, S., Rebouças, P., Júnior, E. P. P., Paixão, E. S., Ali, S., Rodrigues, L. C., & Barreto, M. L. (2021). Conditional Cash Transfer Program And Child Mortality: A Cross-Sectional Analysis Nested Within The 100 Million Brazilian Cohort. PLOS Medicine, 18(9), E1003509. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003509
394. League, R., & Fitz, D. (2023). Early-Life Shocks And Childhood Social Programs: Evidence Of Catch-Up In Brazil. The Journal Of Development Studies, 59(12), 1905–1926. https://doi.org/10.1080/00220388.2023.2250131
395. Alves, F. J. O., Ramos, D., Paixão, E. S., Falcão, I. R., De Cássia Ribeiro-Silva, R., Fiaccone, R., Rasella, D., Teixeira, C., Machado, D. B., Rocha, A., De Almeida, M. F., Goes, E. F., Rodrigues, L. C., Ichihara, M. Y., Aquino, E. M. L., & Barreto, M. L. (2023). Association Of Conditional Cash Transfers With Maternal Mortality Using The 100 Million Brazilian Cohort. JAMA Network Open, 6(2), E230070. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.0070
396. Rasella, D., Aquino, R., Santos, C. A., Paes-Sousa, R., & Barreto, M. L. (2013). Effect Of A Conditional Cash Transfer Programme On Childhood Mortality: A Nationwide Analysis Of Brazilian Municipalities. The Lancet, 382(9886), 57–64. https://doi.org/10.1016/ s0140-6736(13)60715-1
397. Bastos, M. L., Menzies, D., Hone, T., Dehghani, K., & Trajman, A. (2017). The Impact Of The Brazilian Family Health On Selected Primary Care Sensitive Conditions: A Systematic Review. PLOS ONE, 12(8), E0182336. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182336
398. Hone, T., Mirelman, A. J., Rasella, D., Paes-Sousa, R., Barreto, M. L., Rocha, R., & Millett, C. (2019). Effect Of Economic Recession And Impact Of Health And Social Protection
Expenditures On Adult Mortality: A Longitudinal Analysis Of 5565 Brazilian Municipalities. The Lancet Global Health, 7(11), E1575–E1583. https://Doi.Org/10.1016/S2214109X(19)30409-7
399. Bhalotra, S., Rocha, R., & Soares, R. (2020). Can Universalization Of Health Work? Evidence From Health Systems Restructuring And Expansion In Brazil. IEPS Working Paper Series N° 3. Instituto De Estudos Para Políticas De Saúde - IEPS.
400. PROCERGS. (2007). A intersetorialidade na prática: Programa Primeira Infância Melhor. Boletim de Saúde - ESP/RS. Disponível em: http://www.boletimdasaude.rs.gov.br/ conteudo/1402/ensaios-e-reflexoes-?-a-intersetorialidade-na-pratica:-programa-primeira-infancia-melhor
401. Bichir, R. M., Haddad, A. E., Lotta, G., Hoyler, T., Canato, P., & Leão Marques, E. C. (2018). A Primeira Infância na cidade de São Paulo: o caso da implementação da São Paulo Carinhosa no Glicério. Cadernos Gestão Pública e Cidadania, 24(77). https://doi. org/10.12660/cgpc.v24n77.72695
402. Buccini, G., Venancio, S. I., & Pérez‐Escamilla, R. (2021). Scaling Up Of Brazil’s Criança Feliz Early Childhood Development Program: An Implementation Science Analysis. Annals Of The New York Academy Of Sciences, 1497(1), 57–73. https://doi.org/10.1111/ nyas.14589
403. Buccini, G., Gubert, M. B., De Araújo Palmeira, P., Godoi, L., Dal’Ava Dos Santos, L., Esteves, G., Venancio, S. I., & Pérez-Escamilla, R. (2024). Scaling Up A Home-Visiting Program For Child Development In Brazil: A Comparative Case Studies Analysis. The Lancet Regional Health - Americas, 29, 100665. https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100665
404. Girade, H. A., Venancio, S. I., Bachur, J., Duarte, C., Sousa, R. M. S., Leônicas, F., & Alencar Sousa, M. S. (2018). “Criança Feliz”: A Programme To Break The Cycle Of Poverty And Reduce The Inequality In Brazil. Early Childhood Matters (127).
405. Woodhead, M., Feathersone, I., Bolton, L., & Robertson, P. (2014). Early Childhood Development: Delivering Inter‐Sectoral Policies, Programmes And Services In Low‐Resource Settings: Vol. November. Health & Education Advice & Resource Team (HEART). Disponível em: http://www.heart-resources.org/wp-content/uploads/2015/05/early-child hood-development-topic-guide.pdf?588474
406. Torres, A., Lopez Boo, F., Parra, V., Vazquez, C., Segura‐Pérez, S., Cetin, Z., & Pérez‐Escamilla, R. (2018). Chile Crece Contigo: Implementation, Results, And Scaling‐Up Lessons. Child: Care, Health And Development, 44(1), 4–11. https://doi.org/10.1111/ cch.12519
407. Santos, I. S., Munhoz, T. N., Barcelos, R. S., Blumenberg, C., Bortolotto, C. C., Matijasevich, A., Salum, C., Santos Júnior, H. G. D., Marques, L., Correia, L., Souza, M. R. D., Lira, P. I. C. D., Pereira, V., & Victora, C. G. (2022). Avaliação do Programa Criança Feliz: um estudo randomizado em 30 municípios brasileiros. Ciência & Saúde Coletiva, 27(12), 4341–4363. https://doi.org/10.1590/1413-812320222712.13472022
408. Peacock, S., Konrad, S., Watson, E., Nickel, D., & Muhajarine, N. (2013). Effectiveness Of Home Visiting Programs On Child Outcomes: A Systematic Review. BMC Public Health, 13(1), 17. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-17
409. Costa, G. W. (2022). Interventions On Human Capital Formation Among Vulnerable Populations: Experimental Evidence From Two Large-Scale Programs In Brazil [Tese De Doutorado. Escola De Economia De São Paulo Da Fundação Getulio Vargas]. Disponível em: https://hdl.handle.net/10438/32296
410. Silveira, A. D., & Pereira, S. T. (2015). The Brasil Carinhoso Action As A Strategy To Expand The Provision And Reduce The Educational Inequalities In Nursery Schools.
FINEDUCA - Revista De Financiamento Da Educação, 5. https://doi.org/10.17648/fineduca-2236-5907-v5-67578
411. Cruz, M. Do C. M. T. (2017). Implementação da política de creches nos municípios brasileiros após 1988: avanços e desafios nas relações intergovernamentais e intersetoriais [Tese de Doutorado. Programa de Administração Pública e Governo. Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getulio Vargas]. Disponível em: https://hdl.handle.net/10438/19039
412. Cruz, M. Do C. M. T., Marcondes, M. M., & Farah, M. F. S. (2024). Intersetorialidade e transversalidade: análise do Brasil Carinhoso (2012-2015). Cadernos de Pesquisa, 54, E10394–E10394.
413. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Estado da Educação - SEDUC. (2022). Programa Mais Infância Ceará: de programa a política. Disponível em: https://www.sps. ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/16/2023/09/livro-mais-infancia-digital.pdf
414. Bichir, R. M., & Canato, P. C. (2019). Solucionando problemas complexos? Desafios da implementação de políticas intersetoriais. Em R. Pires, A. Gomide, & Instituto de Pesquisa Econômico-Social Aplicada (Orgs.), Implementando desigualdades: reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas. Rio de Janeiro: Ipea.
415. Governo do Estado do Ceará. Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE. (2020). Avaliação de impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil — PADIN. Apresentação no Glocal Evaluation Week 2020. Disponível em: https:// www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2021/01/apresentacao_glocal_ipece_ jimmy.pdf
416. Viegas da Silva, E., Hartwig, F. P., Barros, F., & Murray, J. (2022). Effectiveness Of A Large-Scale Home Visiting Programme (PIM) On Early Child Development In Brazil: Quasi-Experimental Study Nested In A Birth Cohort. BMJ Global Health, 7(1), E007116. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-007116
417. Healy, M. R., Viegas da Silva, E., Lundborg, A. R., Hartwig, F. P., Munhoz, T. N., Arteche, A. X., Ramchandani, P. G., & Murray, J. (2024). Towards A Better Understanding Of Real-World Home-Visiting Programs: A Large-Scale Effectiveness Study Of Parenting
Mechanisms In Brazil. BMJ Global Health, 9(2), E013787. https://doi.org/10.1136/ bmjgh-2023-013787
418. Viegas da Silva, E., Hartwig, F. P., Yousafzai, A., Bertoldi, A. D., & Murray, J. (2024). The Effects Of A Large-Scale Home Visiting Programme For Child Development On Use Of Health Services In Brazil. Health Policy And Planning, 39(4), 344–354. https:// doi.org/10.1093/heapol/czae015
419. Ribeiro, F. G., Braun, G., Carraro, A., Teixeira, G. D. S., & Gigante, D. P. (2018). An Empirical Assessment Of The Healthy Early Childhood Program In Rio Grande Do Sul State, Brazil. Cadernos De Saúde Pública, 34(4). https://doi.org/10.1590/0102311x00027917
420. Gonçalves, T. R., Duku, E., & Janus, M. (2019). Developmental Health In The Context Of An Early Childhood Program In Brazil: The “Primeira Infância Melhor” Experience. Cadernos De Saúde Pública, 35(3), E00224317. https://doi.org/10.1590/0102-311x00224317
421. Wink Junior, M. V., Ribeiro, F. G., & Paese, L. H. Z. (2022). Early Childhood Home-Based Programmes And School Violence: Evidence From Brazil. Development In Practice, 32(2), 133–143. https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1862764
422. Munhoz, T. N., Santos, I. S., Blumenberg, C., Barcelos, R. S., Bortolotto, C. C., Matijasevich, A., Santos Júnior, H. G., Santos, L. M. D., Correa, L. L., Souza, M. R. D., Lira, P. I. C., Altafim, E. R. P., Macana, E. C., & Victora, C. G. (2022). Fatores associados ao desenvolvimento infantil em crianças brasileiras: linha de base da avaliação do impacto do Programa Criança Feliz. Cadernos de Saúde Pública, 38(2), E00316920. https://doi. org/10.1590/0102-311x00316920
423. Santos, L. M. T. D., Godoi, L., de Andrade e Guimarães, B., Coutinho, I. M., Pizato, N., Gonçalves, V. S. S., & Buccini, G. (2023). A Qualitative Analysis Of The Nurturing Care Environment Of Families Participating In Brazil’s Criança Feliz Early Childhood Program. PLOS ONE, 18(7), E0288940. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288940
424. Rocha, H. A. L., Machado, M. M. T., Santana, O. M. M. L. D., Rocha, S. G. M. O., Aquino, C. M. D., Gomes, L. G. A., Albuquerque, L. D. S., Soares, M. D. D. A., Leite, Á. J. M., Correia, L. L., & Sudfeld, C. R. (2023). Association Of Sociodemographic Factors And Maternal Educational Attainment With Child Development Among Families Living Below The Poverty Line In The State Of Ceará, Northeastern Brazil. Children, 10(4), 677. https://doi.org/10.3390/children10040677
425. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. (2023). Governança colaborativa para a Primeira Infância. Uma proposta para os governos estaduais brasileiros. Disponível em: https:// biblioteca.fmcsv.org.br/biblioteca/governanca-colaborativa-para-a-primeira-infancia/
426. Grin, E. J., Demarco, D. J., & Abrucio, F. L. (2021). Capacidades estatais municipais: o universo desconhecido no federalismo brasileiro. Editora da UFRGS. Disponível em: https:// lume.ufrgs.br/handle/10183/236393
Sobre os autores
Adrielle Holler Pykocz. Graduanda em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e aluna de Iniciação Científica no Laboratório de Cronobiologia Humana da UFPR.
Bruno Kawaoka Komatsu. Pesquisador na Cátedra Ruth Cardoso e professor no Programa Avançado em Gestão Pública do Insper. Participa do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI) e contribui com o Núcleo Ciência pela Infância (NCPI). Doutor e mestre em Teoria Econômica (2019 e 2013) pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), possui graduação em Ciências Sociais (2006) pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (FFLCH-USP).
Caroline Camilo. Biomédica. Mestre e Doutora em Ciências (Área: Psiquiatria) pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Atualmente é pós-doutoranda na FMUSP (FAPESP) com foco em marcadores biológicos de exposição ao estresse gestacional e transtornos do neurodesenvolvimento e pós-graduanda em gestão em saúde pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).
Pesquisadora colaboradora do Laboratório de Psicopatologia e Terapêutica Psiquiátrica do Hospital das Clínicas da FMUSP (LIM/23 HCFMUSP) na área de Genética e Biologia molecular, com ênfase em Genética Psiquiátrica.
Caroline Martins Dias. Psicóloga pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Especialista em Neonatologia pelo Programa de Residência Multiprofissional da Universidade Federal do Maranhão. Doutoranda em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (PSA-IP-USP). Bolsista pela CAPES.
Claudia Cerqueira do Nascimento. Economista e doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Varga (EAESP). É gestora executiva do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI).
Daniel Domingues dos Santos. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC). Doutor em Economia pela Universidade de Chicago. Atualmente é professor associado em Economia da Universidade de São Paulo –Campus Ribeirão Preto e coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação e Economia Social (LEPES). É membro do Núcleo Ciência pela Infancia (NCPI) e da Rede Ciência pela Educação (Rede CpE[1] ).
Débora Falleiros de Mello. Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. Membro do Grupo de Pesquisa Enfermagem no Cuidado da Criança e Adolescente, do Núcleo Ciência Pela Infância e do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância.
Elisa Rachel Pisani Altafim. Psicóloga. Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem pela UNESP (Bauru). Doutorado em Saúde Mental na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), com Doutorado Sanduíche na School of Education da Harvard University (FAPESP). Pós-doutorado na FMRP-USP com foco na primeira Infância e parentalidade. Atualmente, é pesquisadora colaboradora da FMRP-USP, docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental da FMRP-USP, supervisora de pós-doutorado em parceria com o Brazil Office do David Rockefeller Center for Latin American Studies da Harvard University. Membro do Instituto para Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo (IVEPESP). Consultora de Treinamento, Desenvolvimento e Pesquisa na área de desenvolvimento da primeira infância e parentalidade e prevenção de violência contra crianças.
Fernando Louzada. Mestre e doutor em Neurociências pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutor pela Harvard Medical School,
EUA. Atualmente é professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) onde coordena o Laboratório de Cronobiologia Humana. É também coordenador adjunto da rede Ciência pela Educação (CpE).
Gisele Rodrigues Gouveia. Bióloga. Doutora em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Gerente do Laboratório de Patologia Clínica e do Biobanco do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP (HC-FMUSP) e responsável técnica pelo Núcleo Multiusuário de Serviços Especializados de Biorrepositório para Investigação em Psiquiatria, Neurologia e Neurodesenvolvimento (BIOB-04) na FMUSP. Pesquisadora colaboradora no Centro de Matemática Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC Paulista (CMCC - UFABC) na área de genética, epigenética, biomarcadores dos transtornos psiquiátricos e marcadores biológicos de exposição ao estresse gestacional e transtornos do neurodesenvolvimento.
Gustavo Santos. Graduado em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Mestre em Fisiologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Atualmente é doutorando em Fisiologia pela UFPR e professor auxiliar do curso de medicina da PUC-PR.
Helena Brentani. Psiquiatra. Mestre em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Doutora em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP); Professora Doutora do Departamento de Psiquiatria da FMUSP; Orientadora do Programa Interunidades de Pós-Graduação em Bioinformática da USP; Pesquisadora Bolsista de Produtividade –Nível 2 do CNPq; Coordenadora de pesquisa do Programa de Transtornos do Espectro Autista (PROTEA) e do Biobanco do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP (IPq HCFMUSP); Coordenadora do Laboratório de Genética Psiquiátrica e Bioinformática (PsysBio - IPq HCFMUSP); Co-responsável pelo Laboratório de Psicopatologia e Terapêutica Psiquiátrica do HCFMUSP (LIM/23); Membro do conselho do Departamento de Psiquiatria e da Comissão de Pesquisa da FMUSP; Membro do Conselho Científico da associação Autismo e Realidade; Pesquisadora associada do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI- FAPESP/FMCSV).
Helena Schmidt. Graduanda em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e aluna de Iniciação Científica no Laboratório de Cronobiologia Humana da UFPR.
Izabella Lopes de Arantes. Graduada em Psicologia e Comunicação Social, com mestrado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente, é doutoranda no programa de pós-graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da USP. Bolsista pela CAPES.
Julia Fernandes da Silva. Graduanda em Biomedicina pela Universidade Federal do Paraná e aluna de Iniciação Científica no Laboratório de Cronobiologia Humana da UFPR.
Juliana Araujo Teixeira. Nutricionista. Doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Sua trajetória acadêmica inclui estágio de pesquisa no exterior na School of Population Health, The University of Auckland, na Nova Zelândia, além de ter recebido bolsas de estudo da FAPESP e do David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University. Atuou como nutricionista em equipe multiprofissional na Atenção Primária à Saúde e como coordenadora de nutrição e equipes no Programa SP Educação com Saúde. Atualmente, é pesquisadora pós-doutoranda no Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI-Insper), docente colaboradora do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde e consultora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal em cooperação técnica com o Ministério da Saúde, apoiando o IBGE na elaboração do suplemento sobre desenvolvimento infantil da PNAD contínua 2022. Sua expertise concentra-se em Saúde Coletiva, com foco em epidemiologia nutricional, avaliação do consumo alimentar, alimentação materna e saúde materno-infantil, primeira infância e atenção primária à saúde.
Lislaine Aparecida Fracolli. Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Titular da Escola de Enfermagem da USP. Lider do Grupo de Pesquisa Modelos Tecnoassistenciais e a promoção da saúde. Membro do Núcleo Ciência Pela Infância e do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes.
Luiz Guilherme Scorzafave. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (1997). Mestre em Teoria Econômica pela USP (2001) e doutor em Economia pela USP (2004). Atualmente é professor associado da Universidade de São Paulo, no Campus de Ribeirão Preto. Possui mais de quinze anos de pesquisa em Economia da Educação e em avaliação de impacto de políticas públicas. Coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação e Economia Social. É membro do Núcleo Ciência pela Infancia (NCPI) e da Rede Ciência pela Educação (Rede CpE).
Maria Beatriz Martins Linhares. Psicóloga. Especialista certificada em Psicologia Clínica Infantil e Psicologia Hospitalar. Mestre em Educação Especial pela UFSCar. Doutora em Psicologia Experimental pelo Instituto de Psicologia da USP. Pós-doutorado junto à University of British Columbia. Livre-docente na FMRP-USP. Professora Associada Sênior da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento). Coordenadora do LAPREDES/FMRPUSP – Laboratório de Pesquisa em Problemas de Desenvolvimento e Comportamento da Criança. Pesquisadora do CNPq nível Sênior. Pesquisadora principal do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI – FAPESP/FMCSV). Membro do Instituto para Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo (IVEPESP). Consultora de Treinamento, Desenvolvimento e Pesquisa na área de desenvolvimento da primeira infância, parentalidade e prevenção de violência contra crianças (MBMLinhares).
Maria De La Ó Ramallo Veríssimo. Enfermeira. Mestre em Enfermagem Pediátrica e Doutora em Enfermagem. Professora Associada 3 da Escola de Enfermagem da USP. Líder do Grupo de Pesquisa Cuidado em Saúde e Promoção do Desenvolvimento Infantil.
Naercio Menezes Filho. Professor Titular da Cátedra Ruth Cardoso no Insper, Professor Associado da FEA-USP, Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências e da Ordem Nacional do Mérito Científico, Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira-Infância e Colunista do Valor Econômico. Naercio é PhD em Economia pela Universidade de Londres e desenvolve pesquisas nas áreas de educação, primeira-infância, mercado de trabalho, distribuição de renda, produtividade e comércio internacional.
Rebeca Buest de Mesquita Silva. Bacharel em Biomedicina pela Universidade Positivo. Especialista em Engenharia Genética pela Universidade Positivo. Mestre em Fisiologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Doutoranda em Fisiologia pela UFPR.
Rogerio Lerner. Professor Associado Livre-docente do Instituto de Psicologia e Professor subsidiário do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Investigador principal do Centro Brasileiro para o Desenvolvimento da Primeira Infância. Membro do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância (INSPER/ FMCSV/HARVARD), Membro do Comitê Científico da Associação Psicanalítica Internacional (IPA), Co-chair do Research Training Programme da Associação
Internacional de Psicanálise e da Joseph Sandler Psychoanalytic Research Conference, ex Membro do Comitê Científico da Federação Psicanalítica Latinoamericana (FEPAL), Editor Associado da Revista Psicologia USP e membro do editorial board do Psychoanalytic Quarterly. Prêmios recebidos: Prêmio Comunidade e Cultura da Federação Psicanalítica da América Latina (2012); Terceiro lugar no Prêmio César Ades do Conselho Federal de Psicologia (2013); Prêmio Contribuição Excepcional na Investigação Psicanalítica da IPA (2019). Membro Associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo.
Sonia Isoyama Venancio. Médica pediatra. Doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP). Desde 1994, atua como Pesquisadora Científica no Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (IS-SES-SP), onde alcançou a posição de Pesquisadora Científica VI. Durante sua trajetória, exerceu funções de liderança como Vice-Diretora e Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva do IS-SES-SP. Coordenou vários projetos de pesquisa, com financiamento do CNPq, FAPESP, OPAS, JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão) e Ministério da Saúde. Atualmente, é docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Nutrição em Saúde Pública da FSP-USP. De 2007 a 2022, atuou como consultora do Ministério da Saúde na área de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Atualmente, ocupa o cargo de Coordenadora-Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens (CGCRIAJ) no Ministério da Saúde. Sua produção científica e acadêmica foca em Saúde Coletiva, com ênfase em saúde da criança, aleitamento materno, alimentação complementar, desenvolvimento infantil, avaliação em saúde e políticas informadas por evidências.
Vitor Lacerda. Psicólogo formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Mestrando em Fisiologia pela UFPR.

