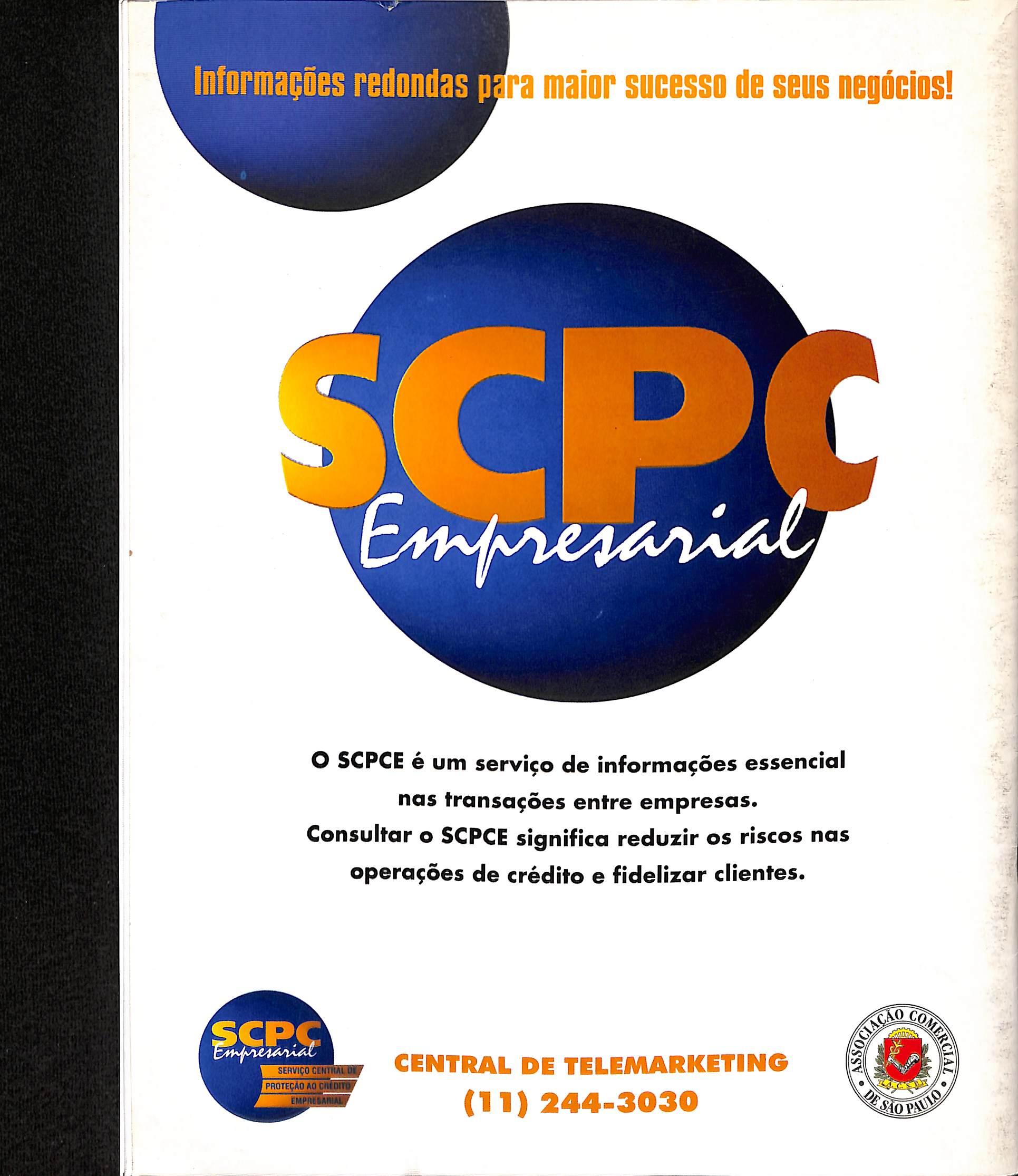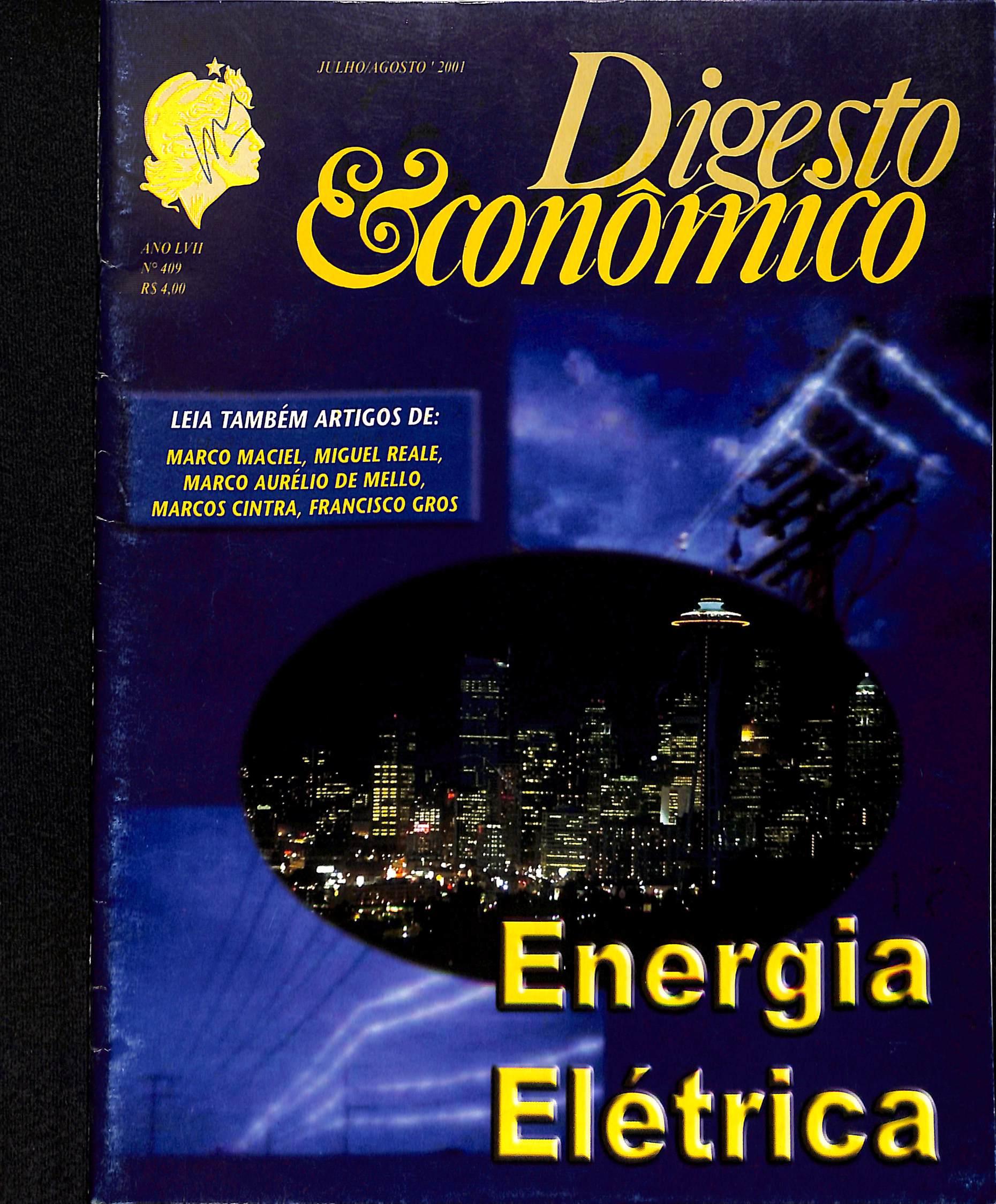
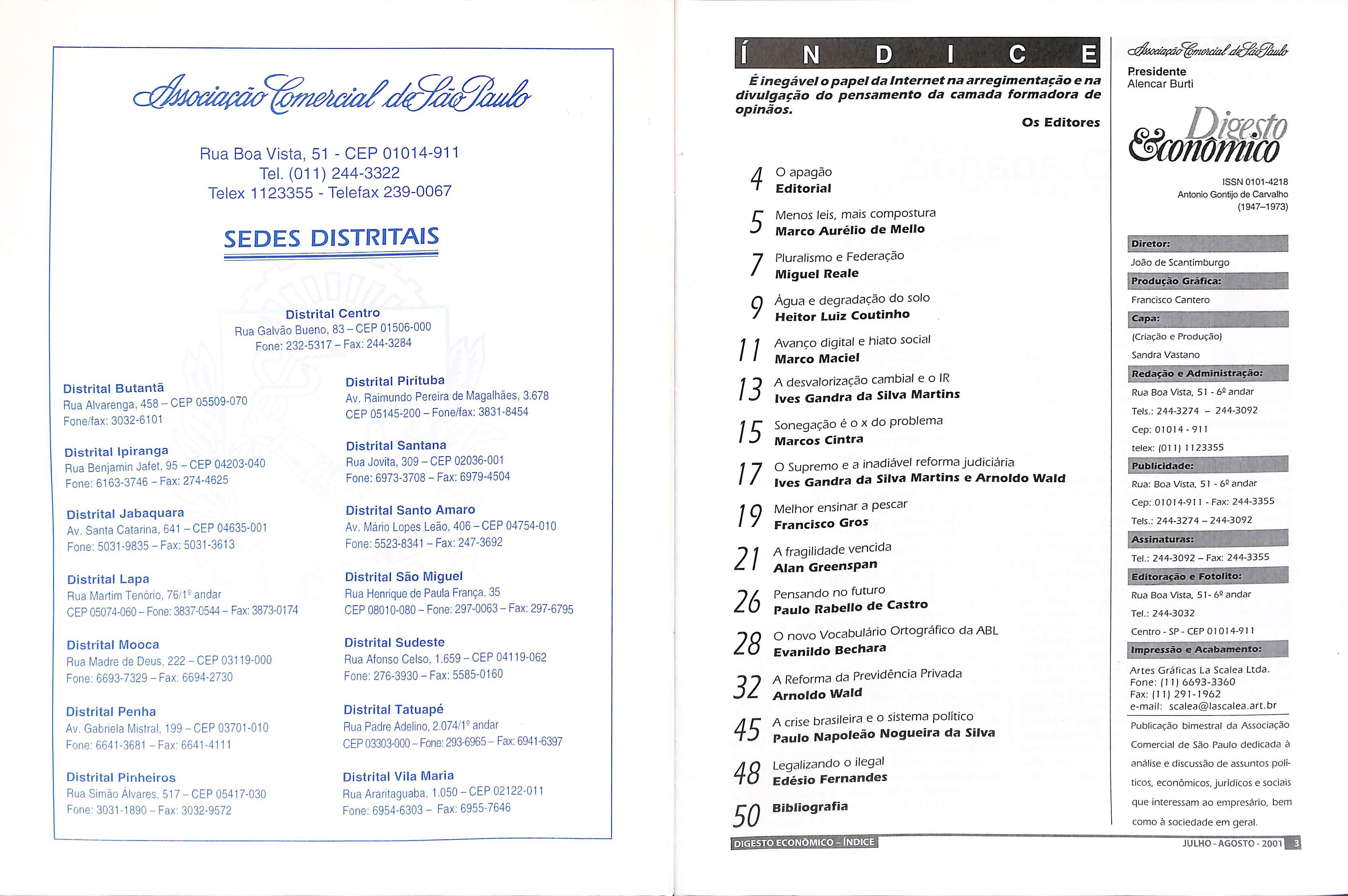
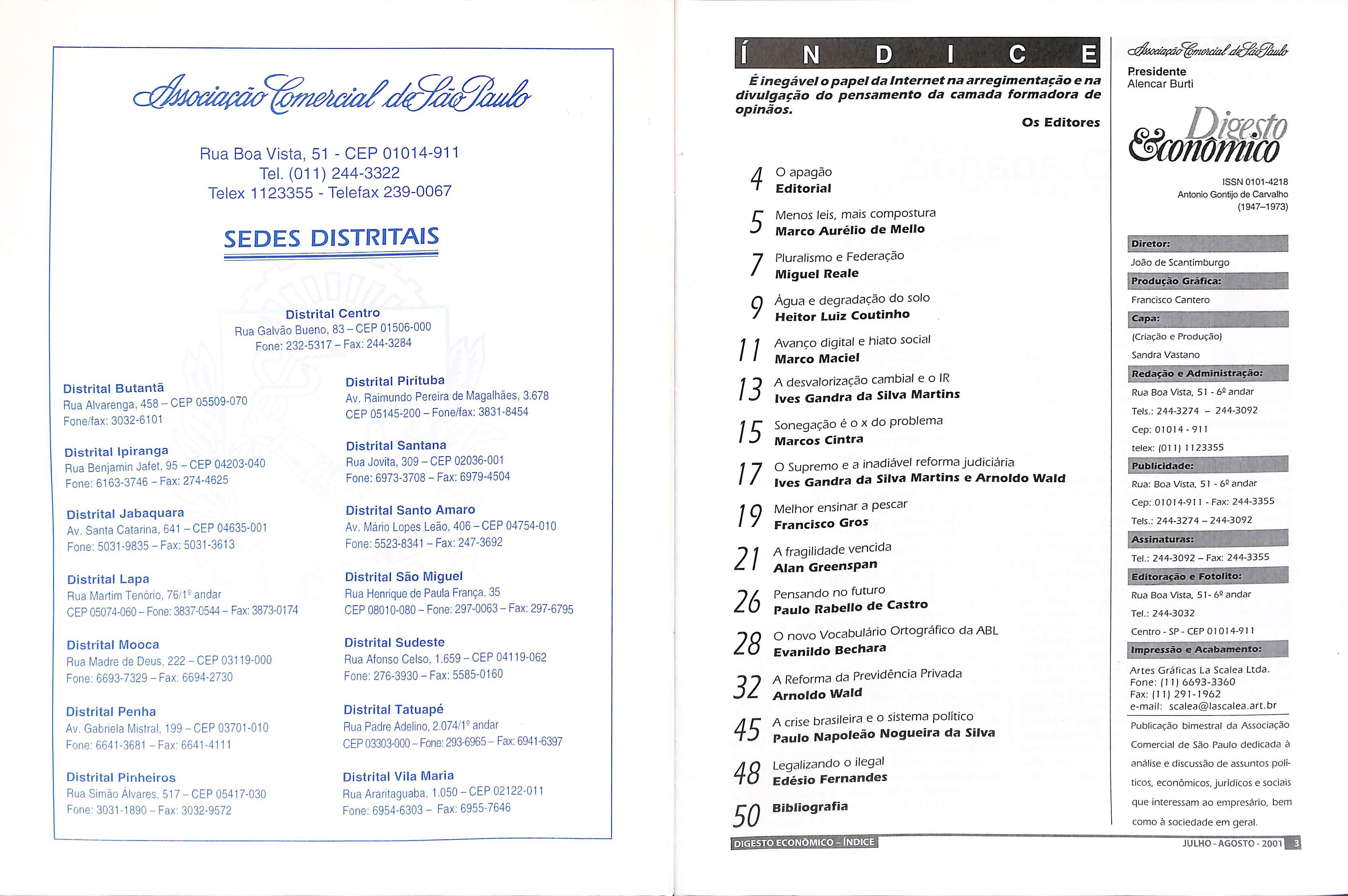
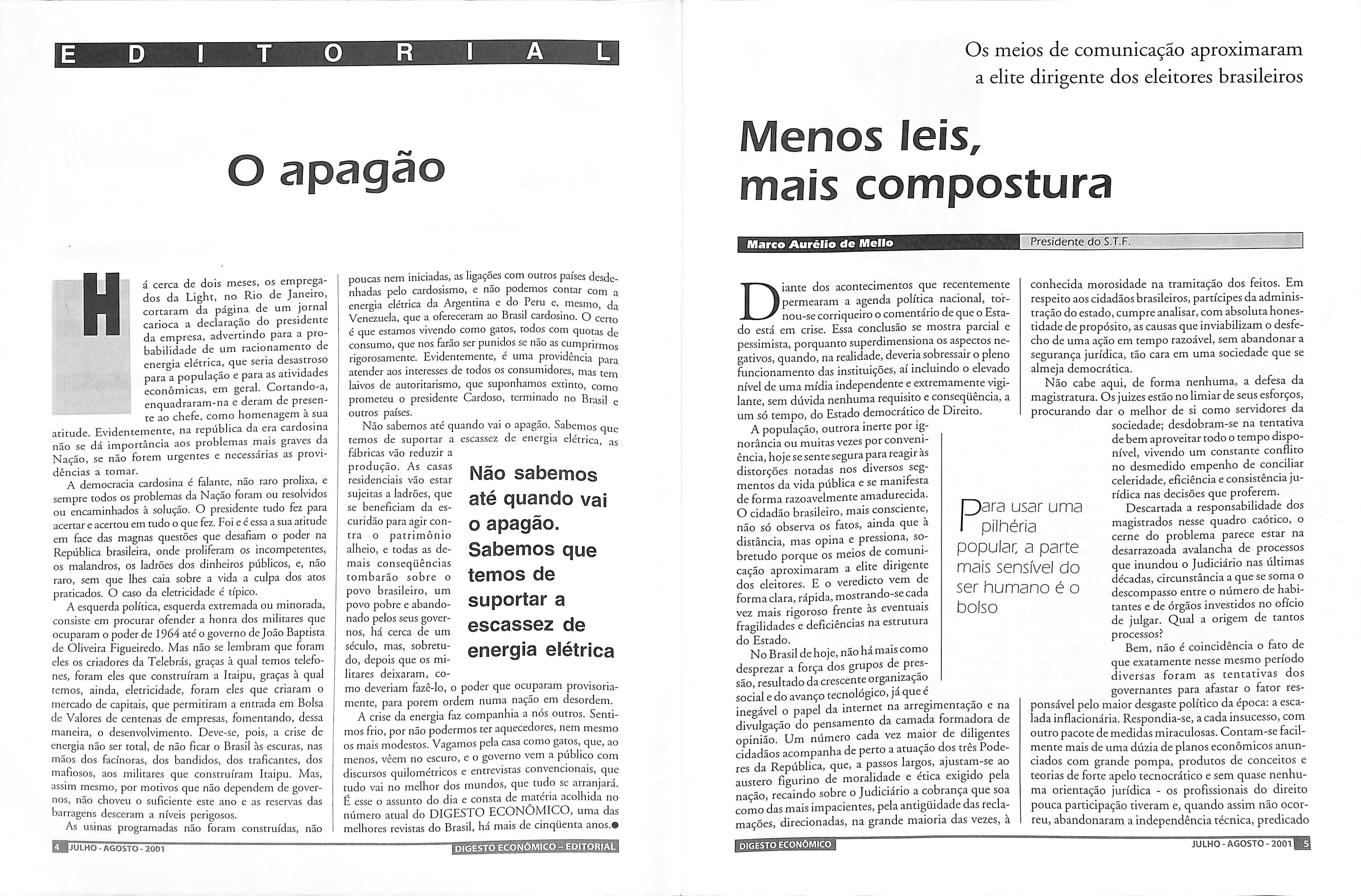
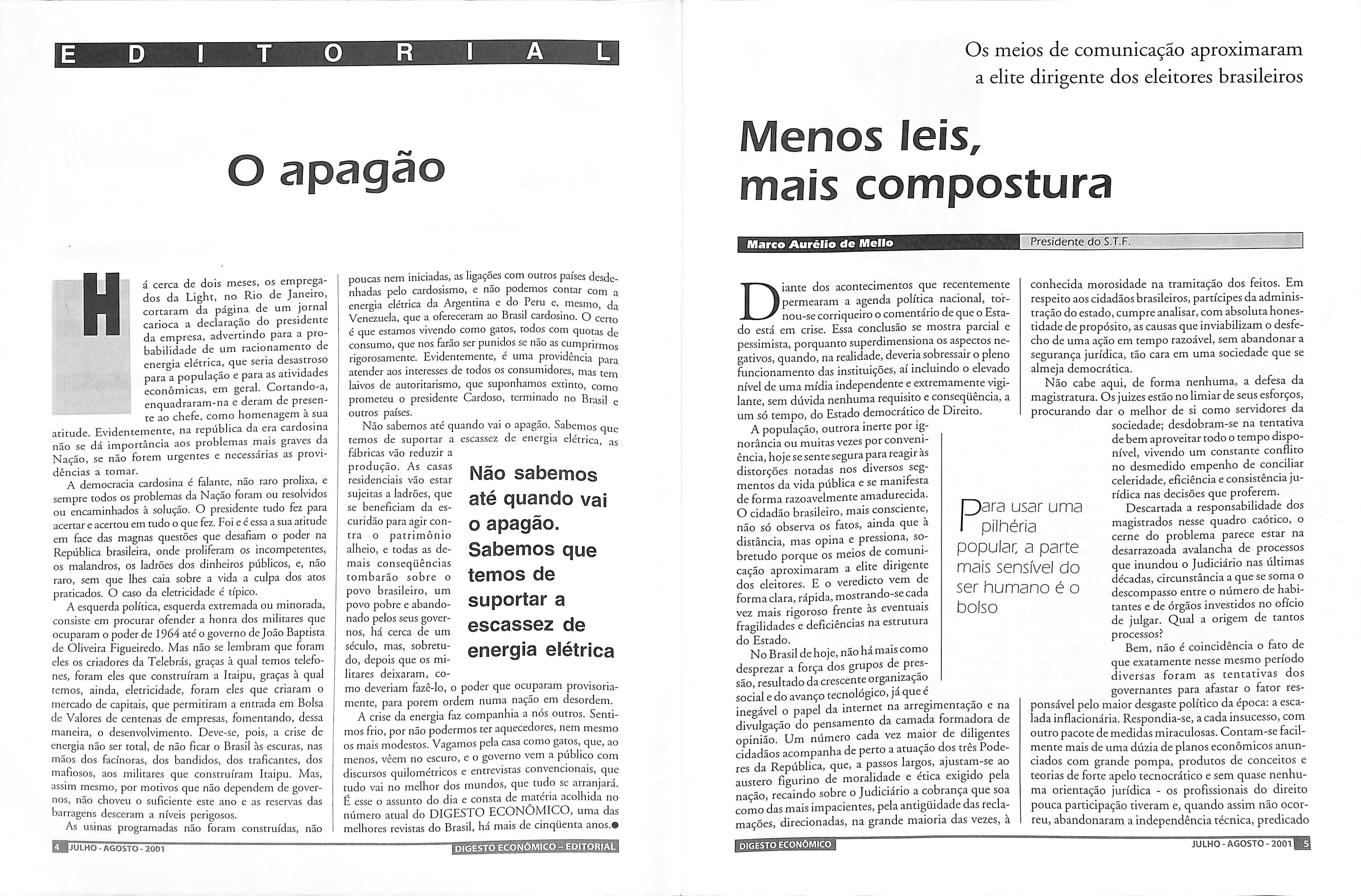
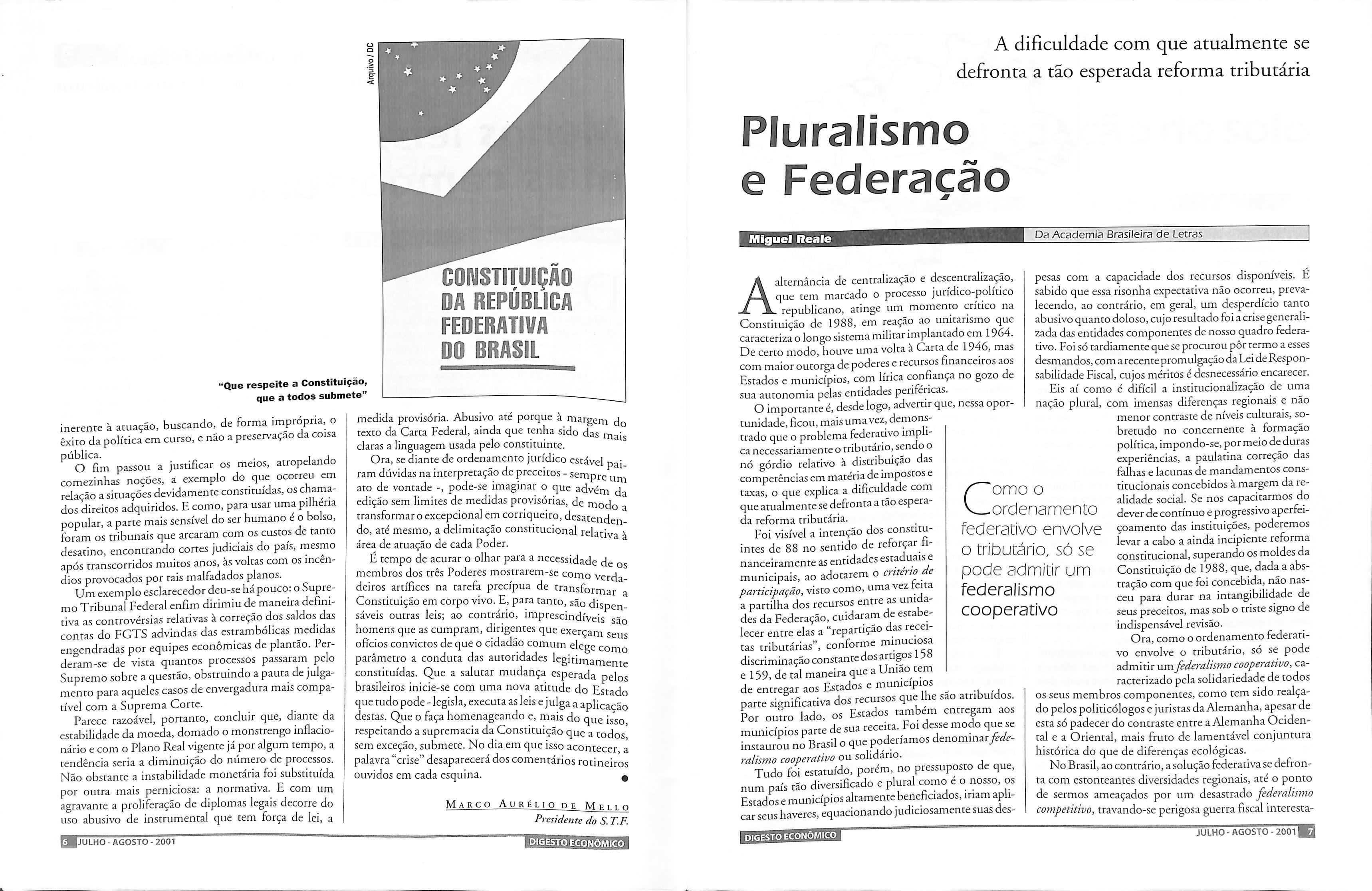
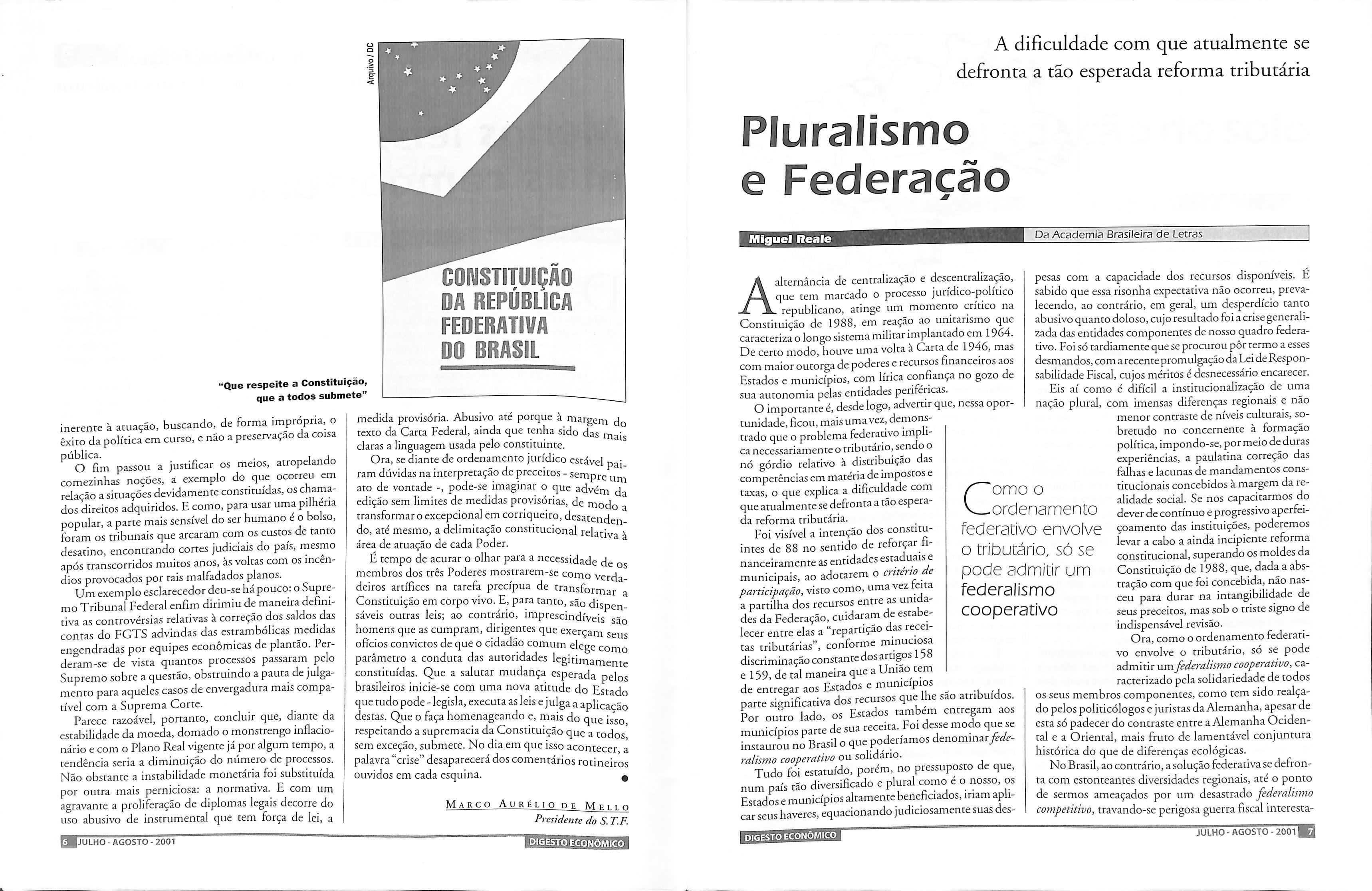
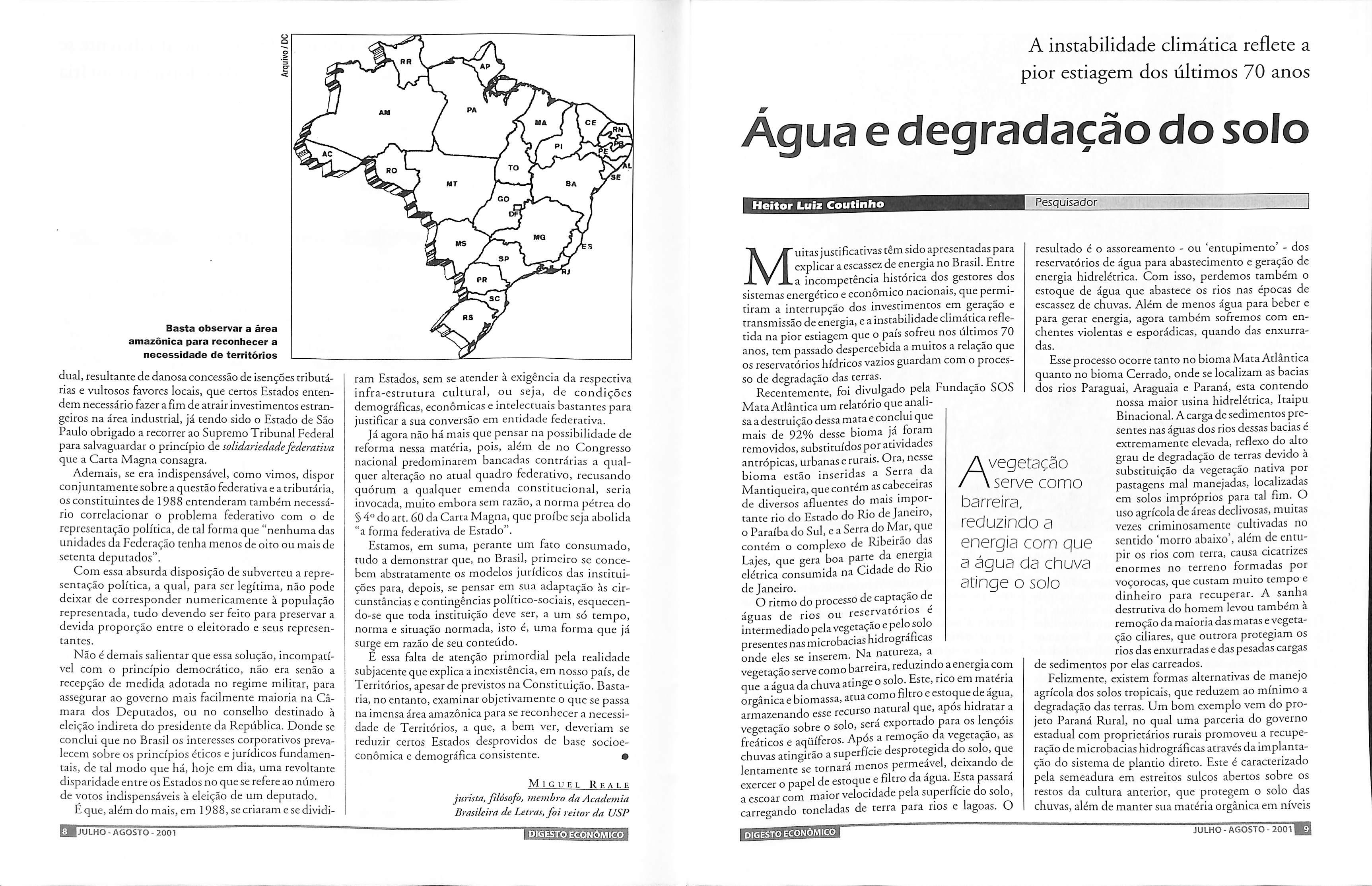
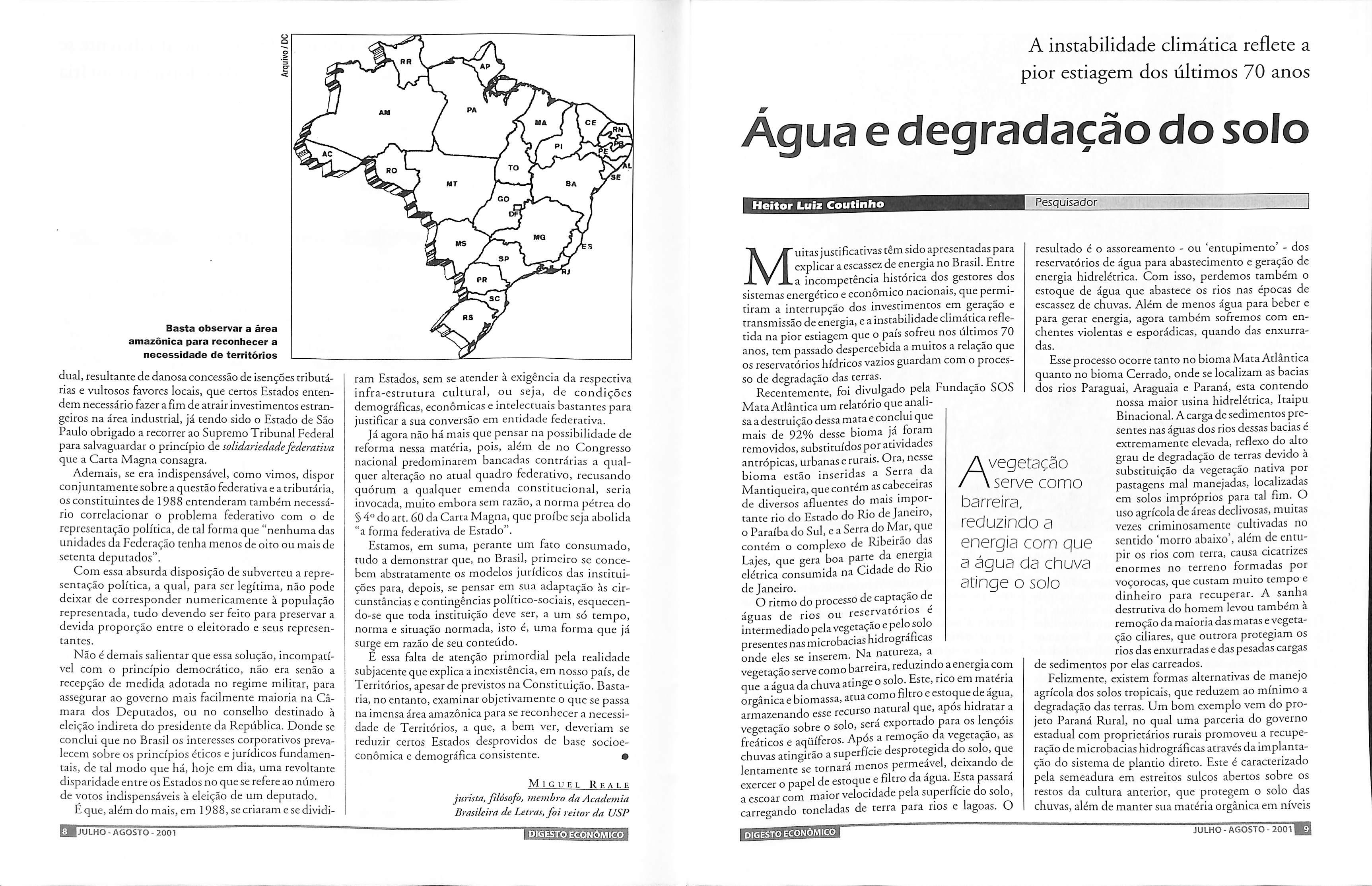
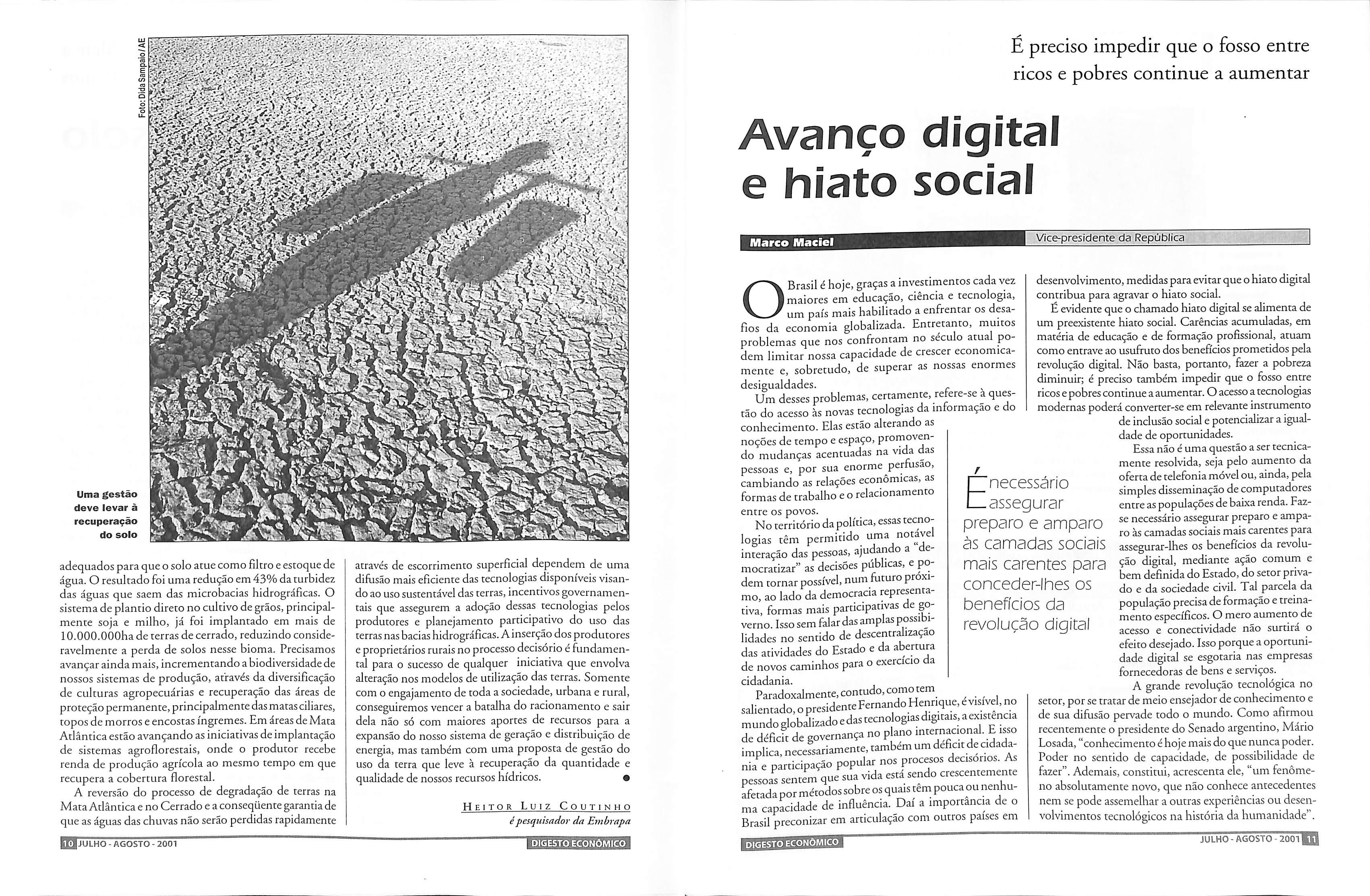
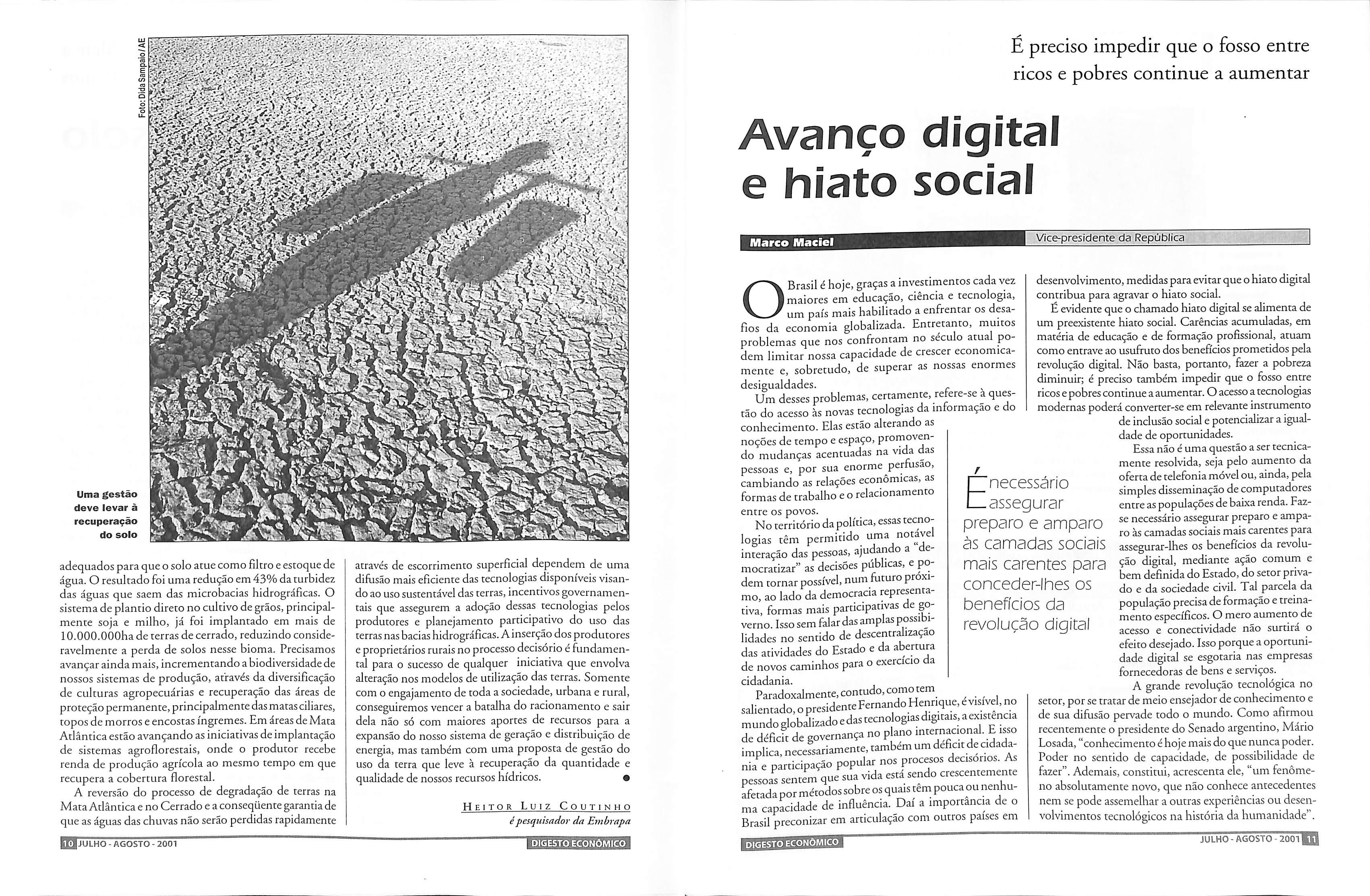
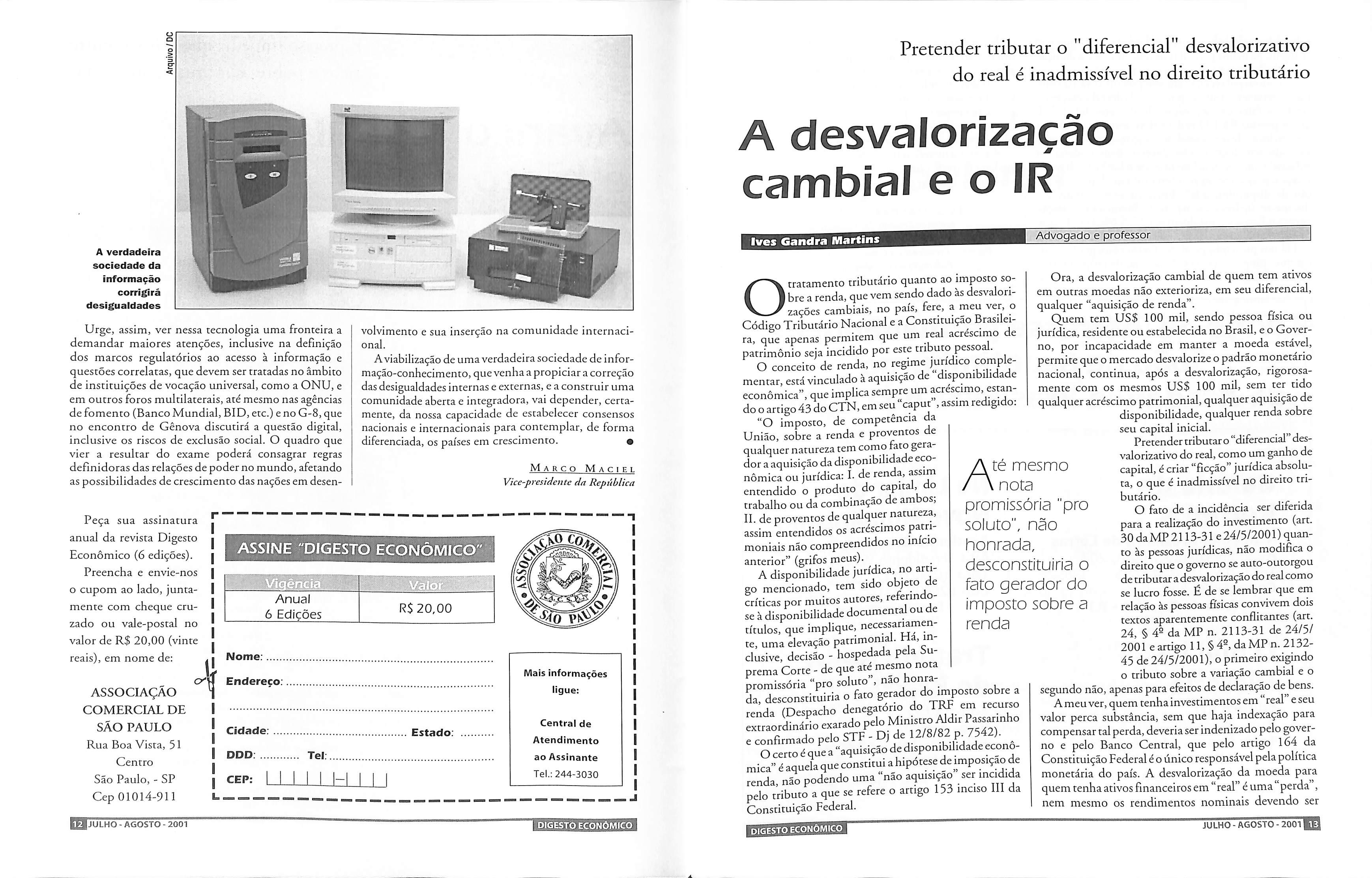
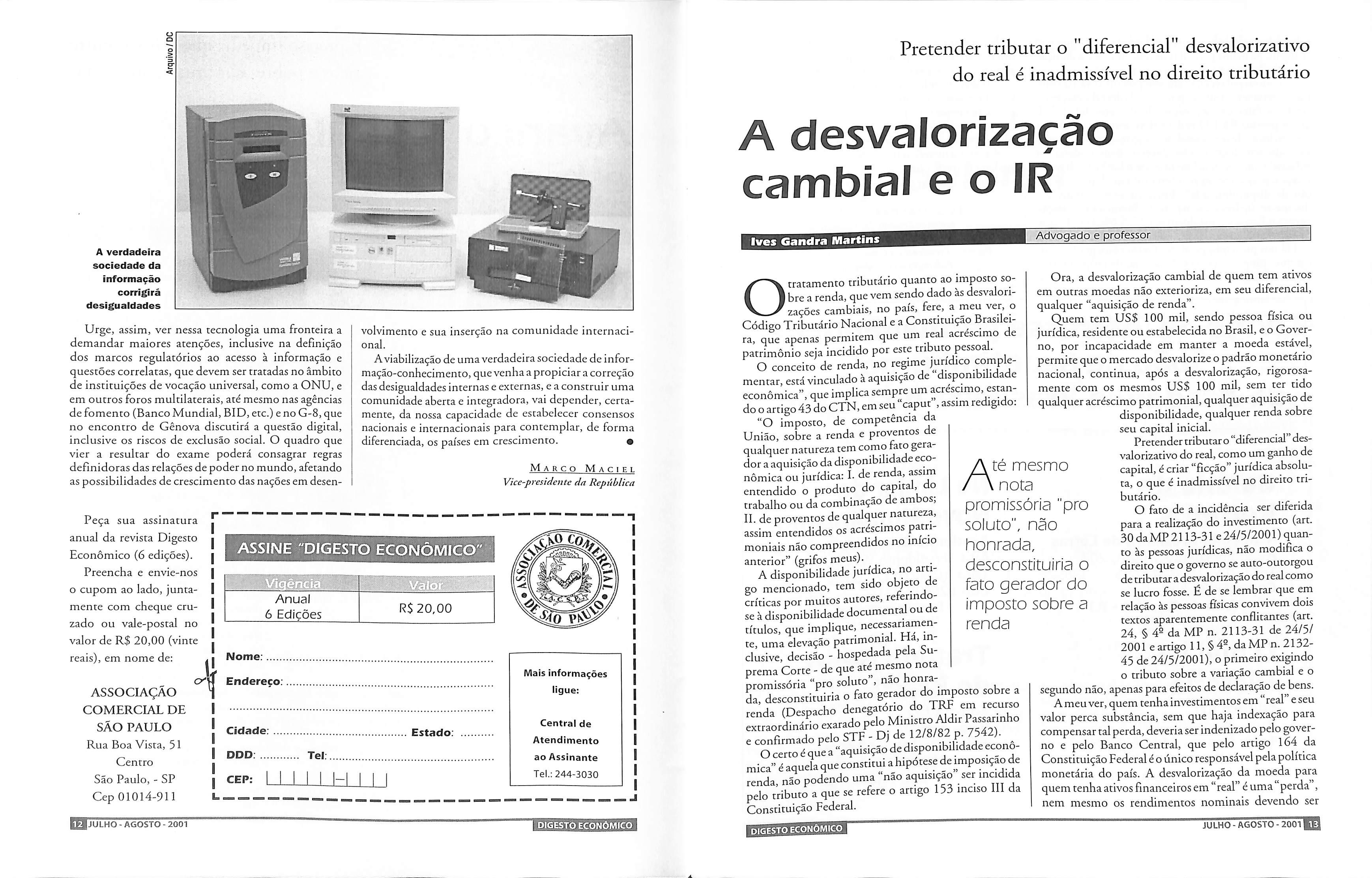
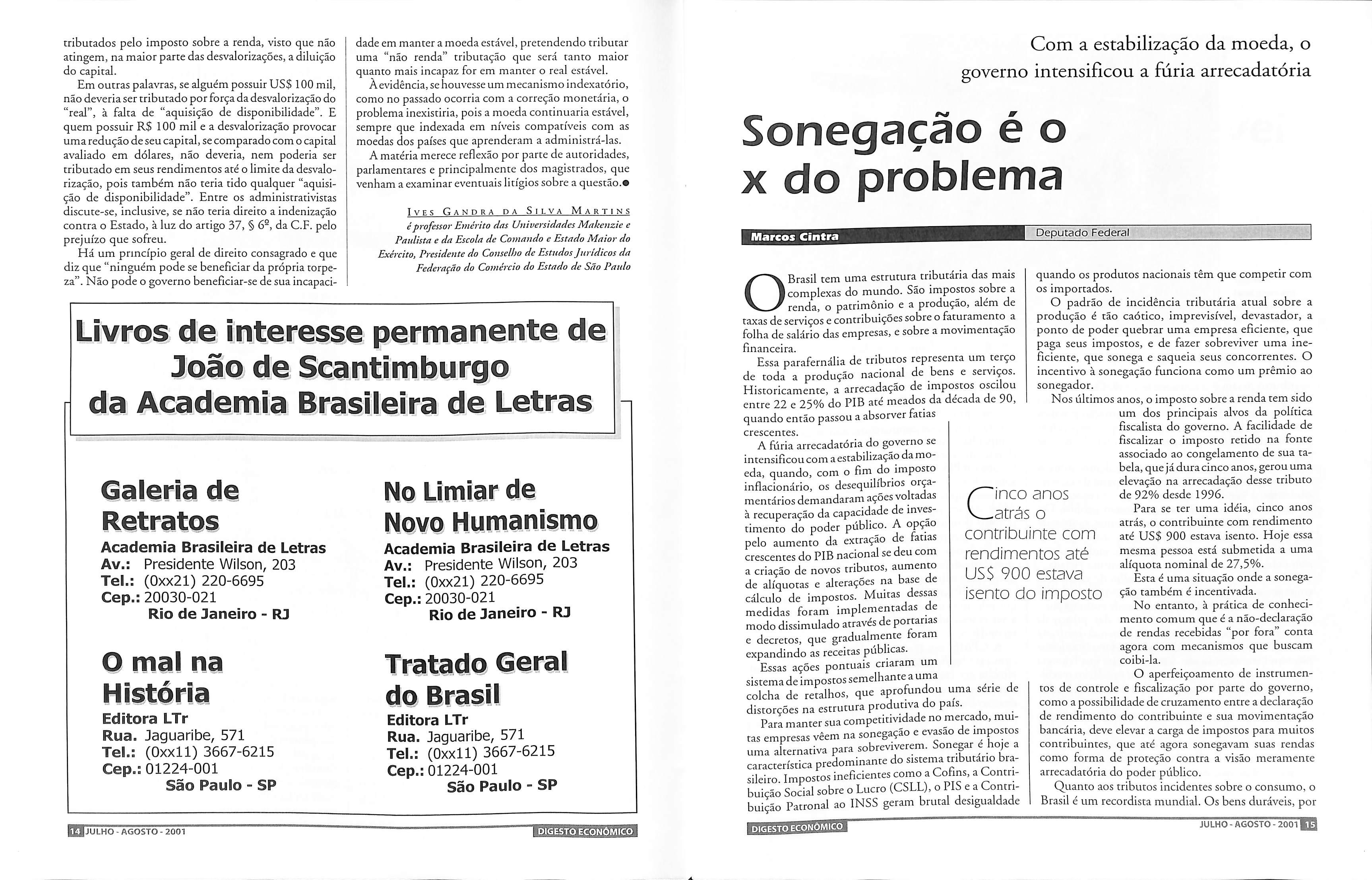
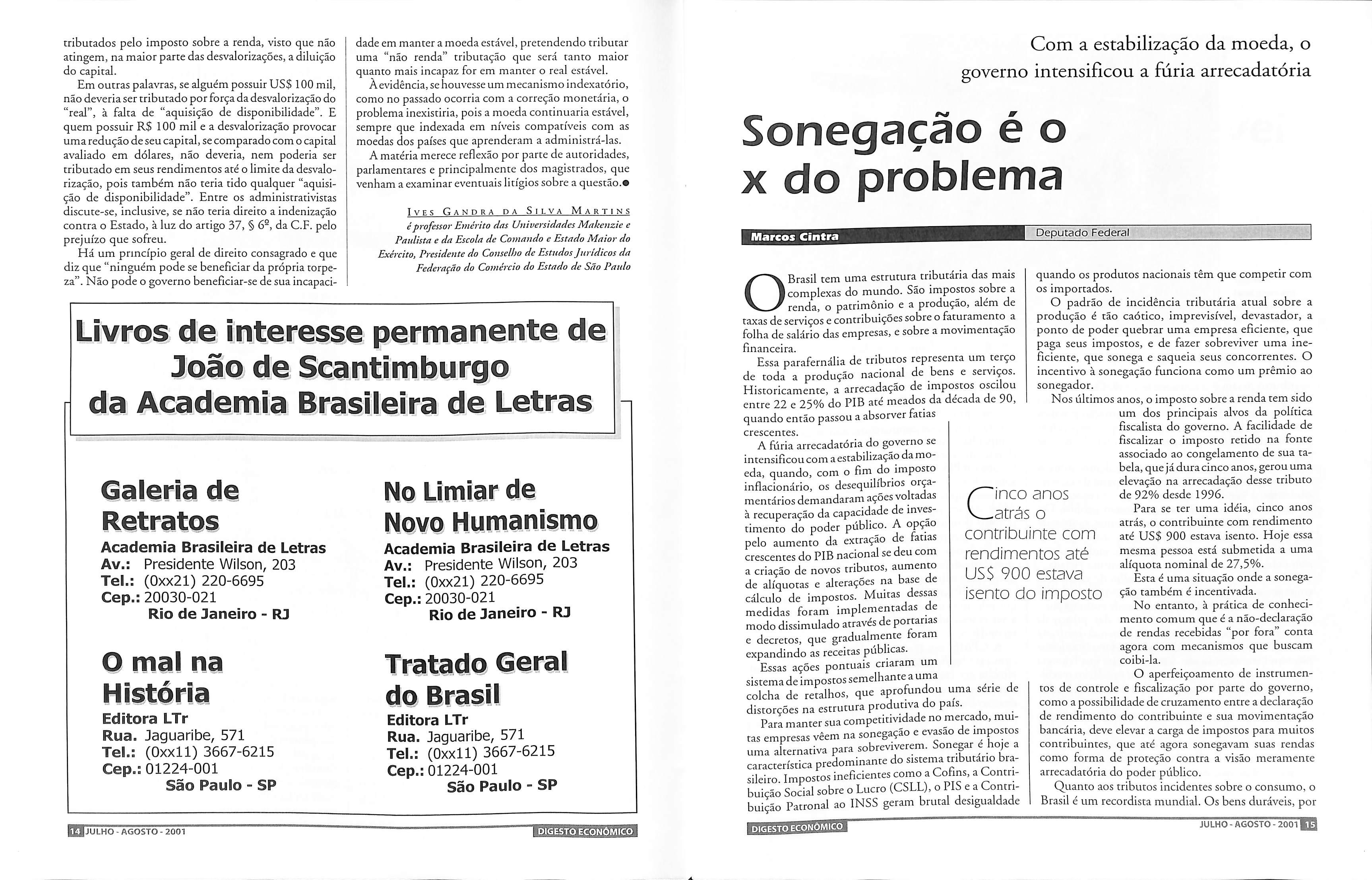
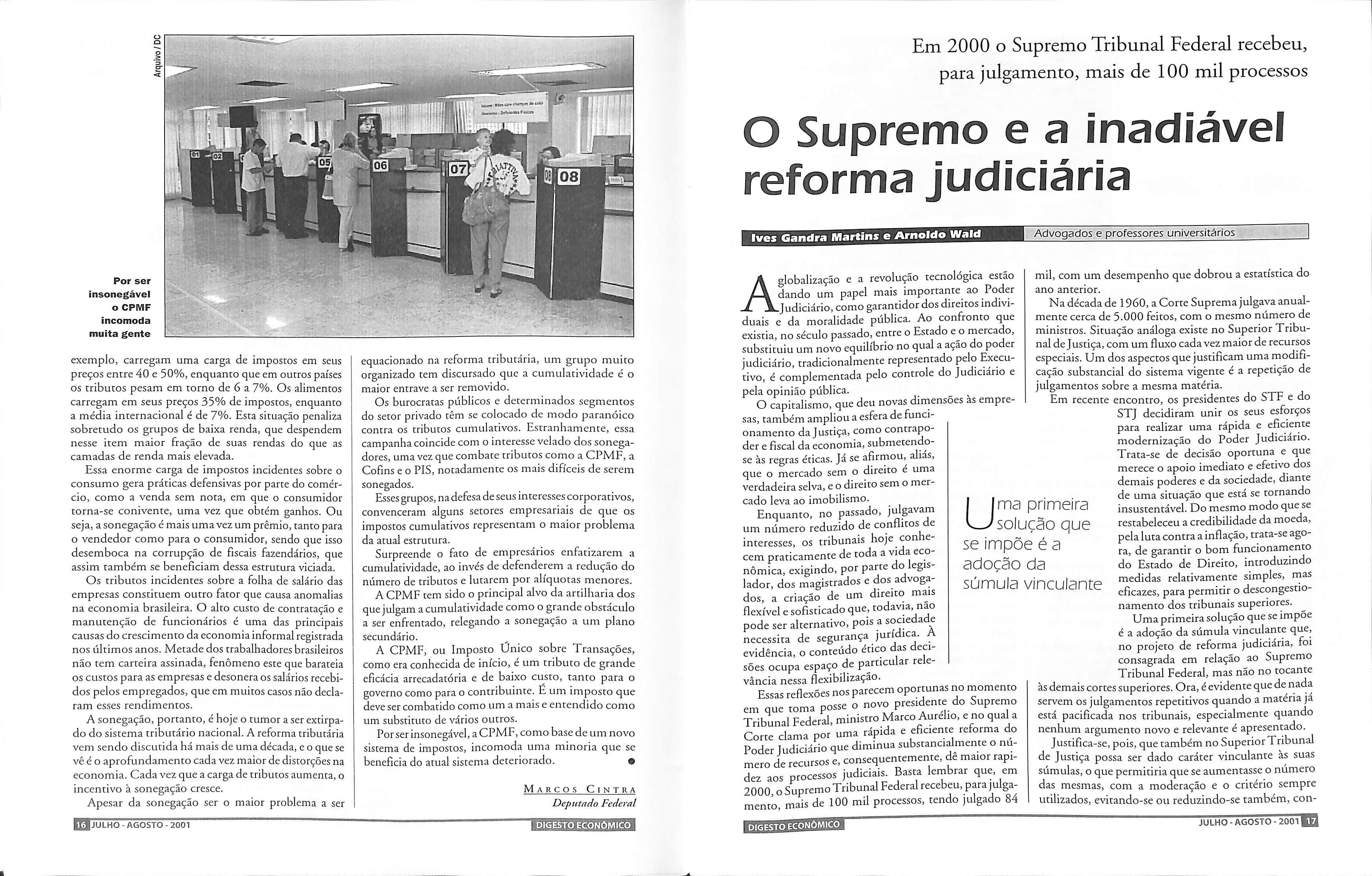
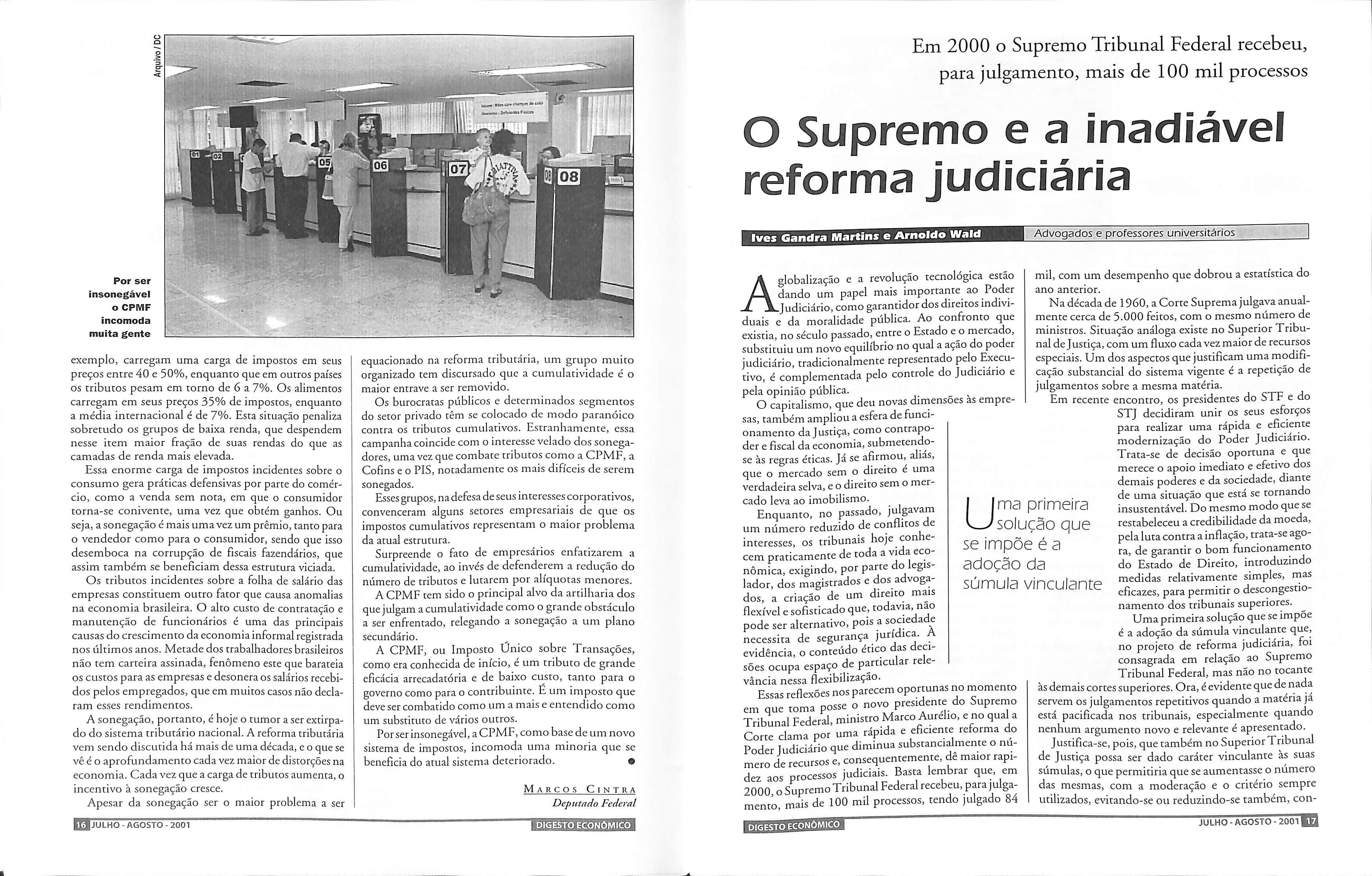
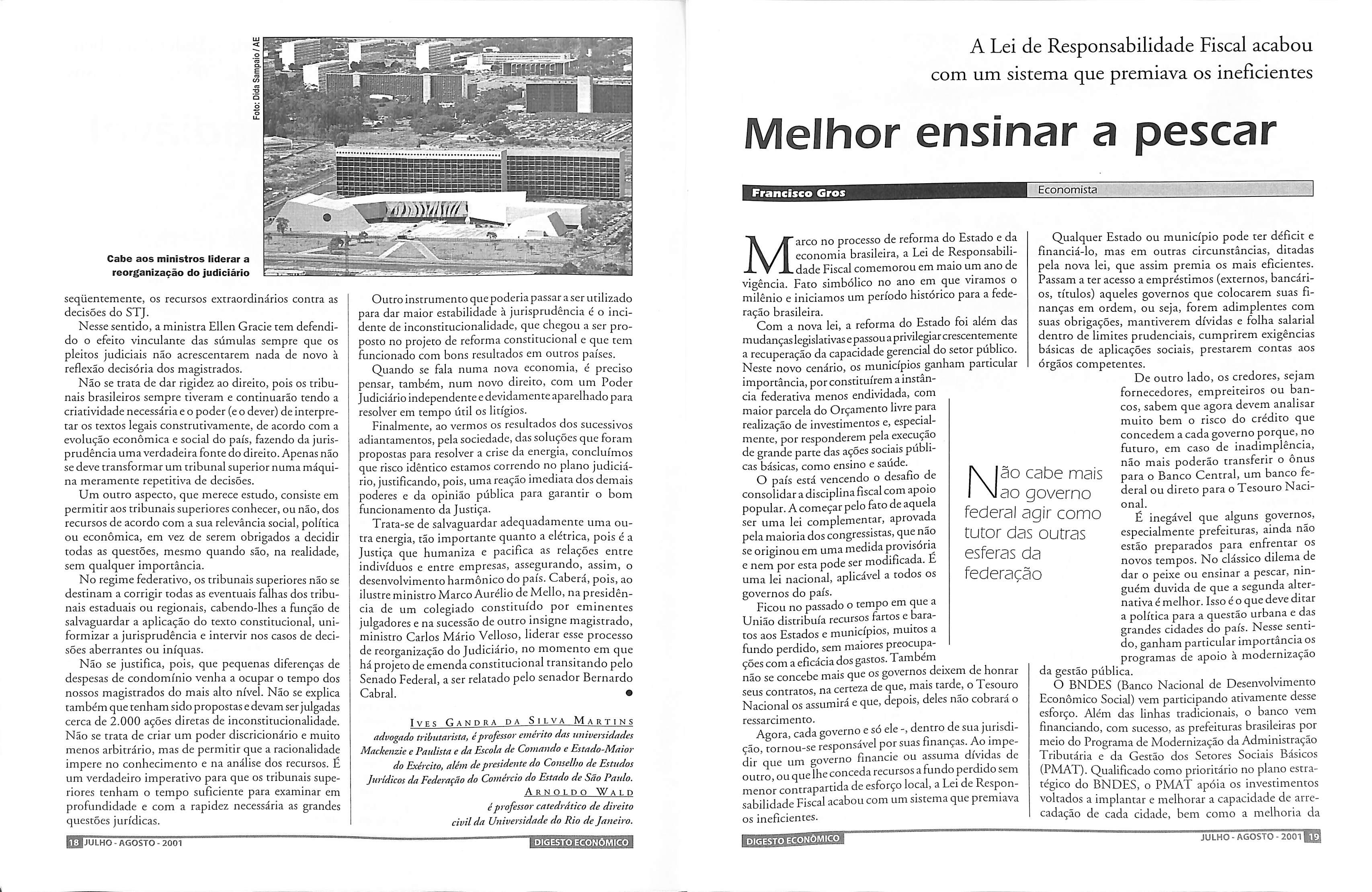
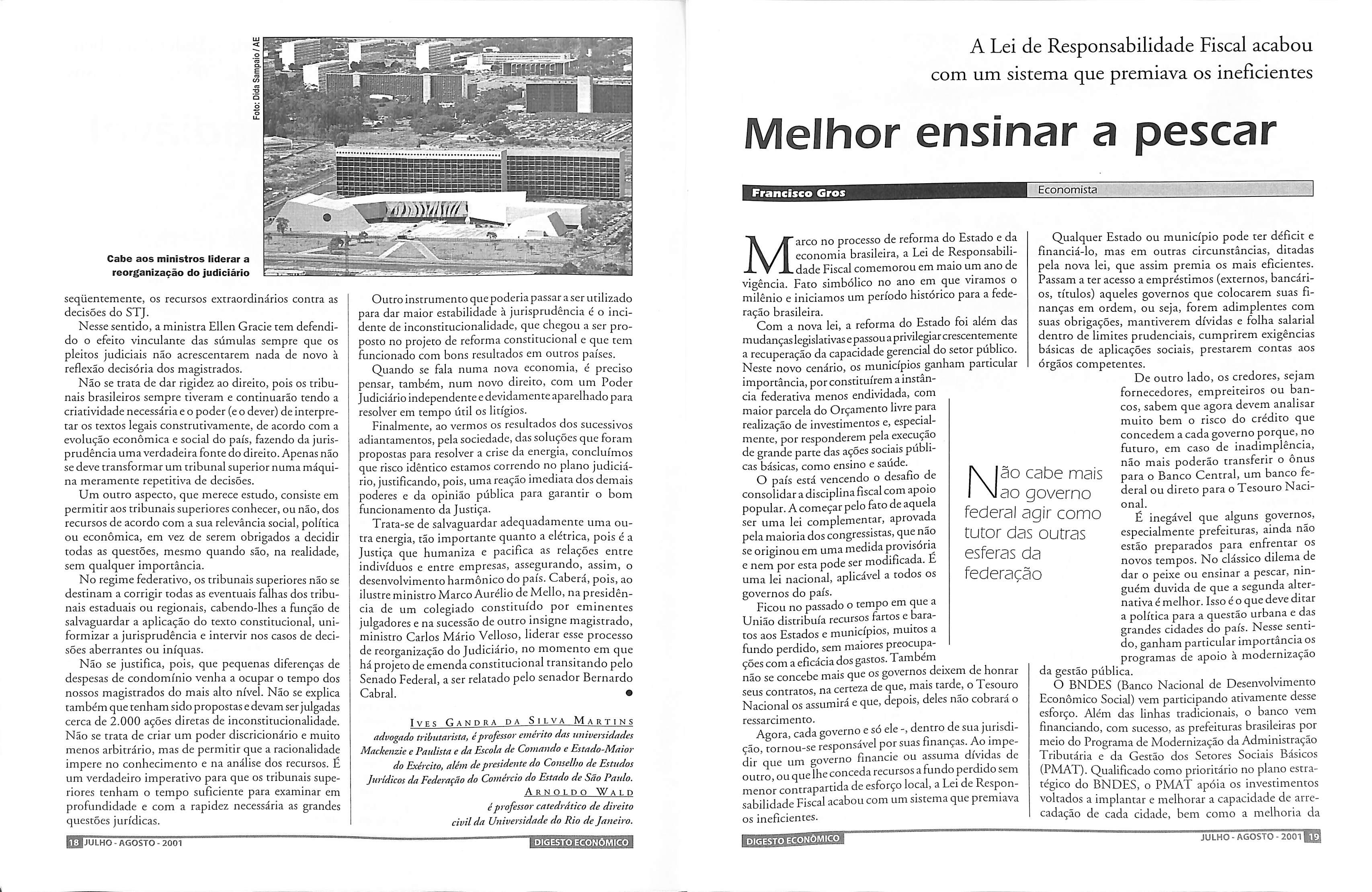


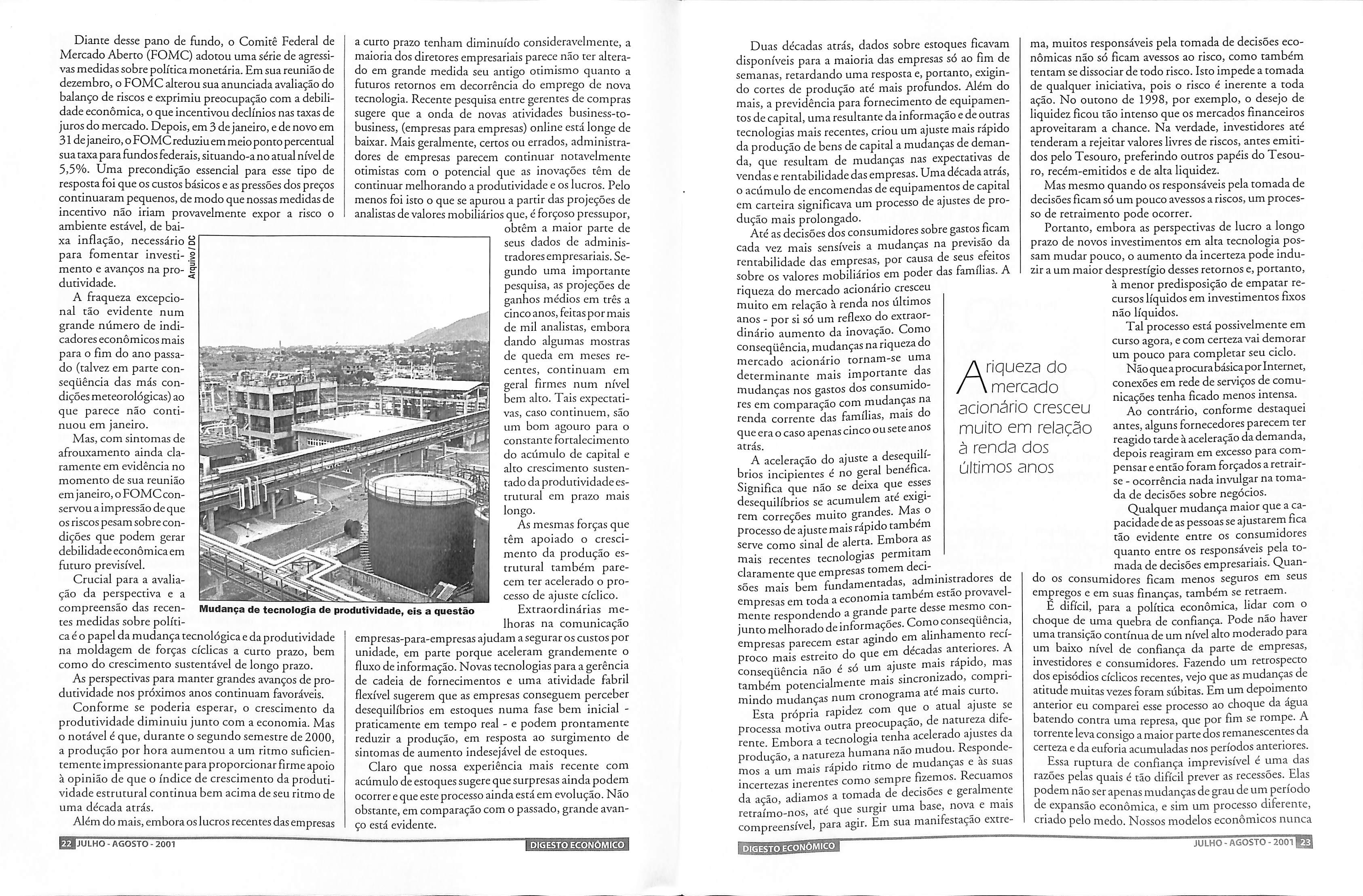
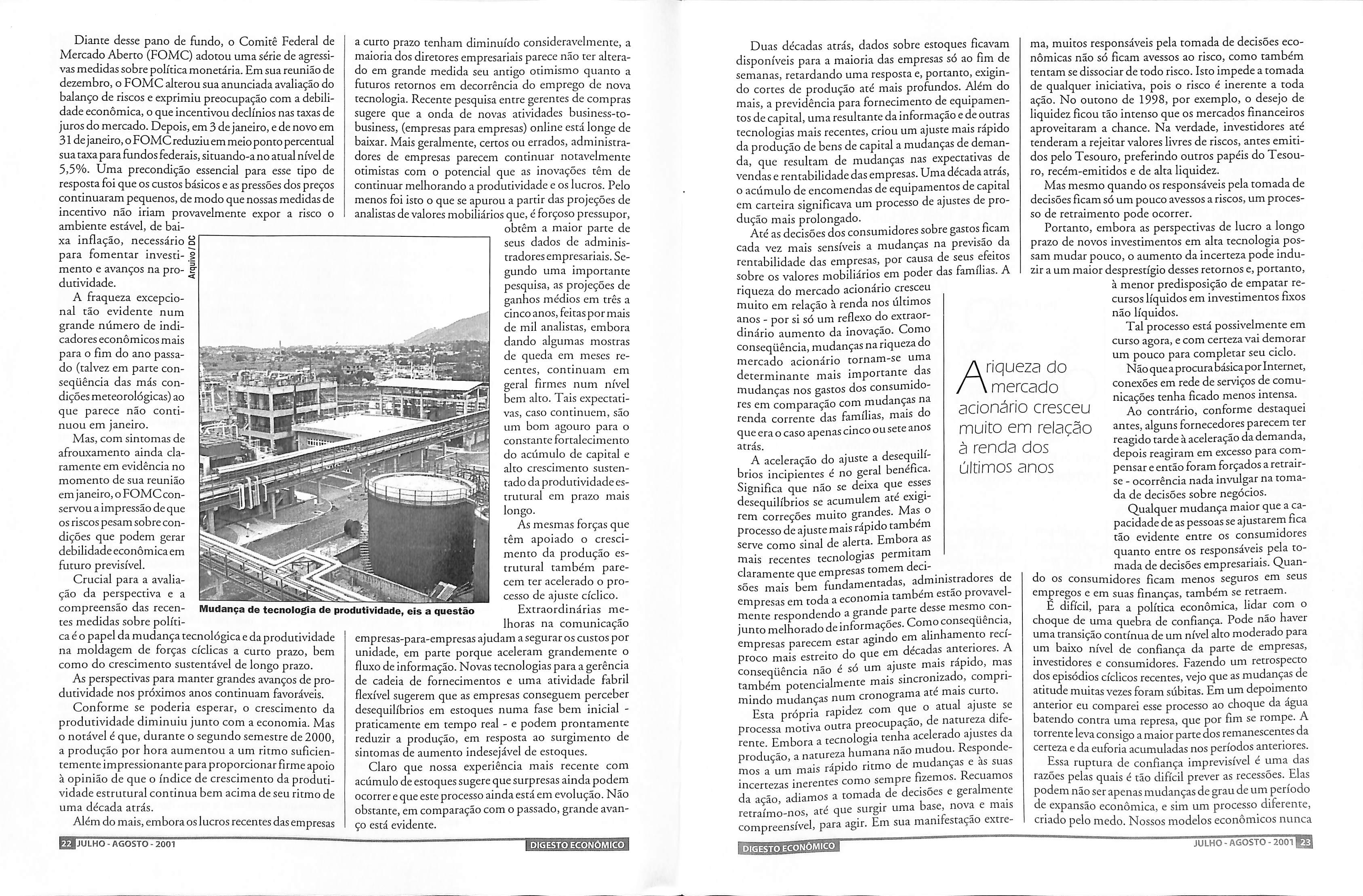
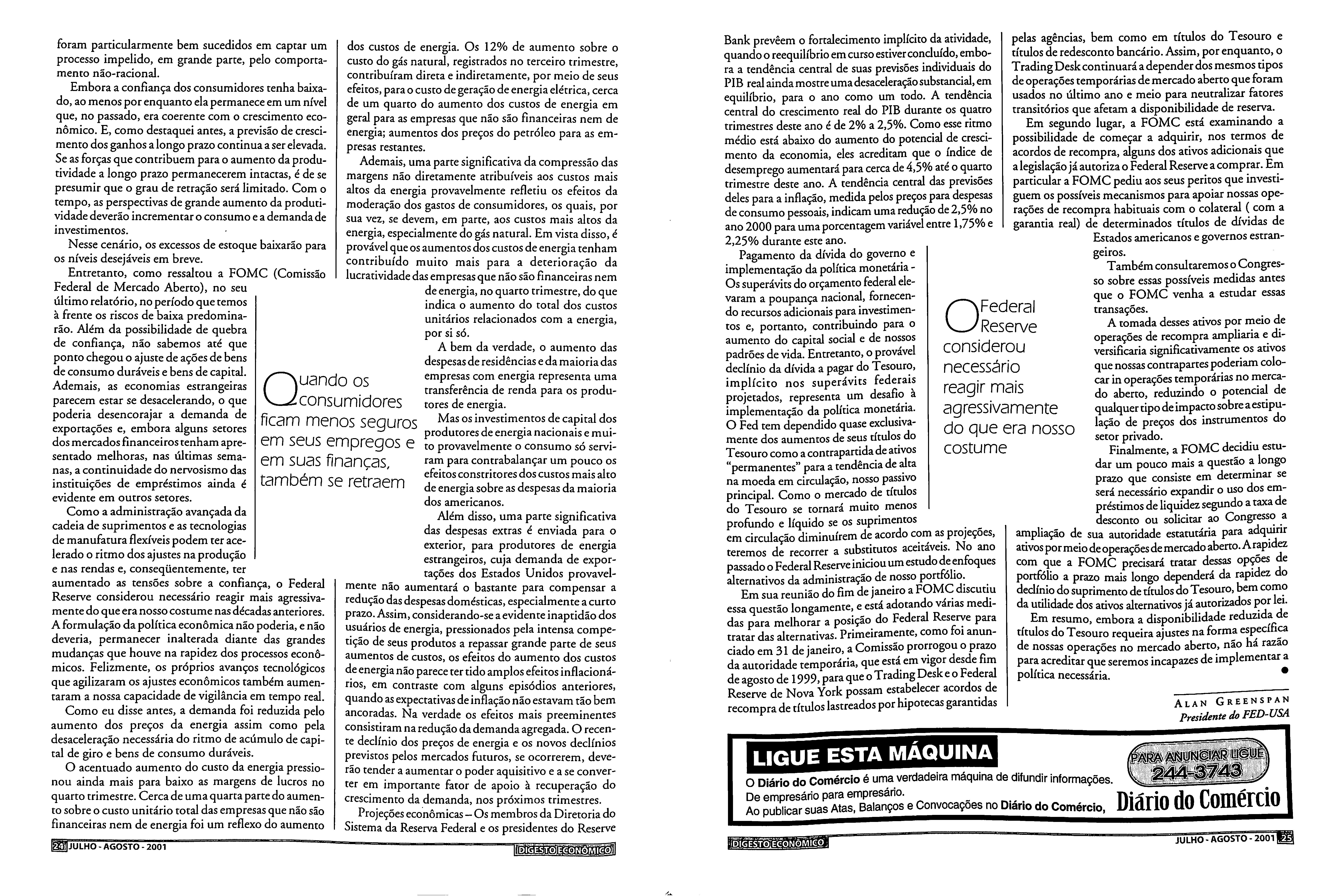
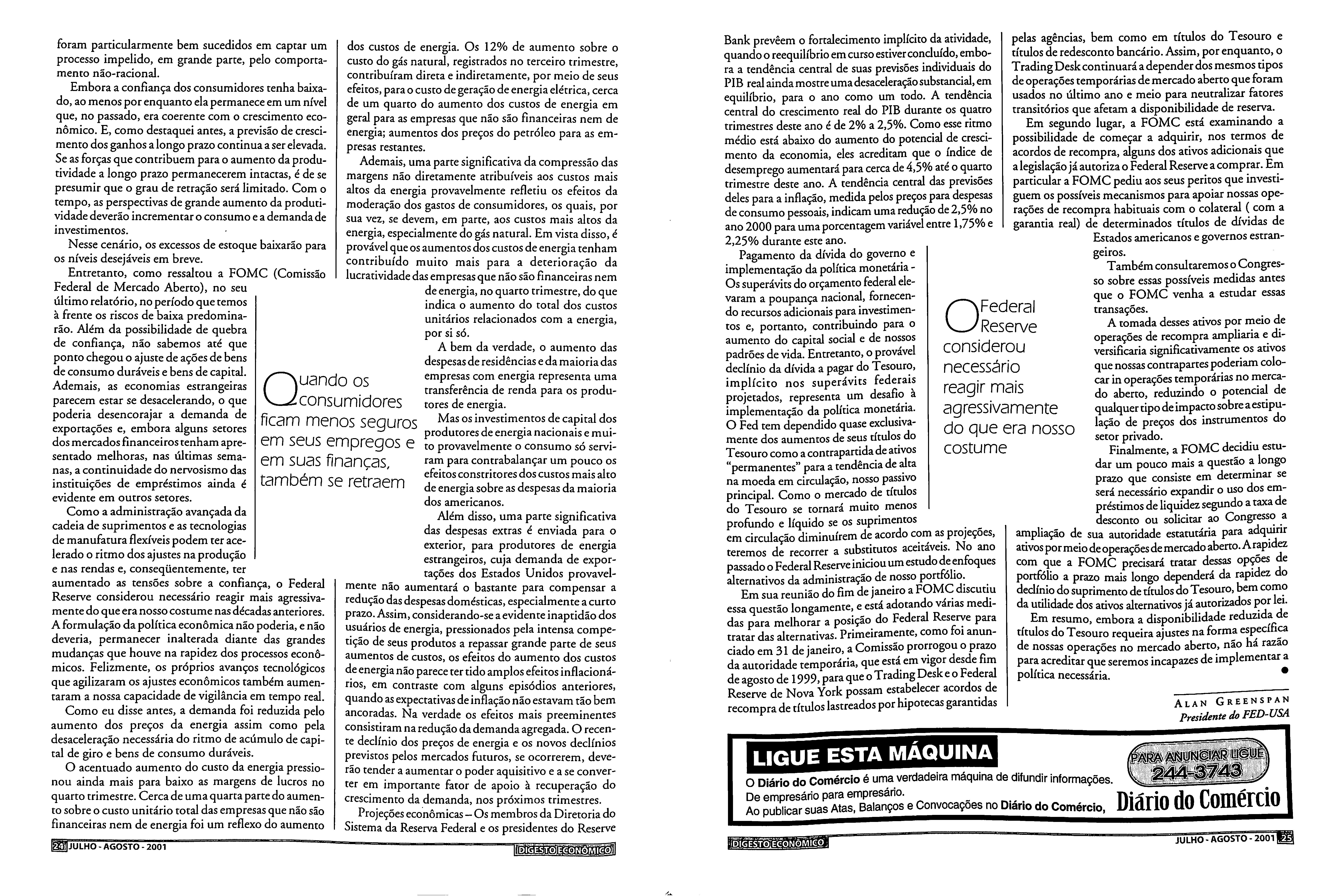
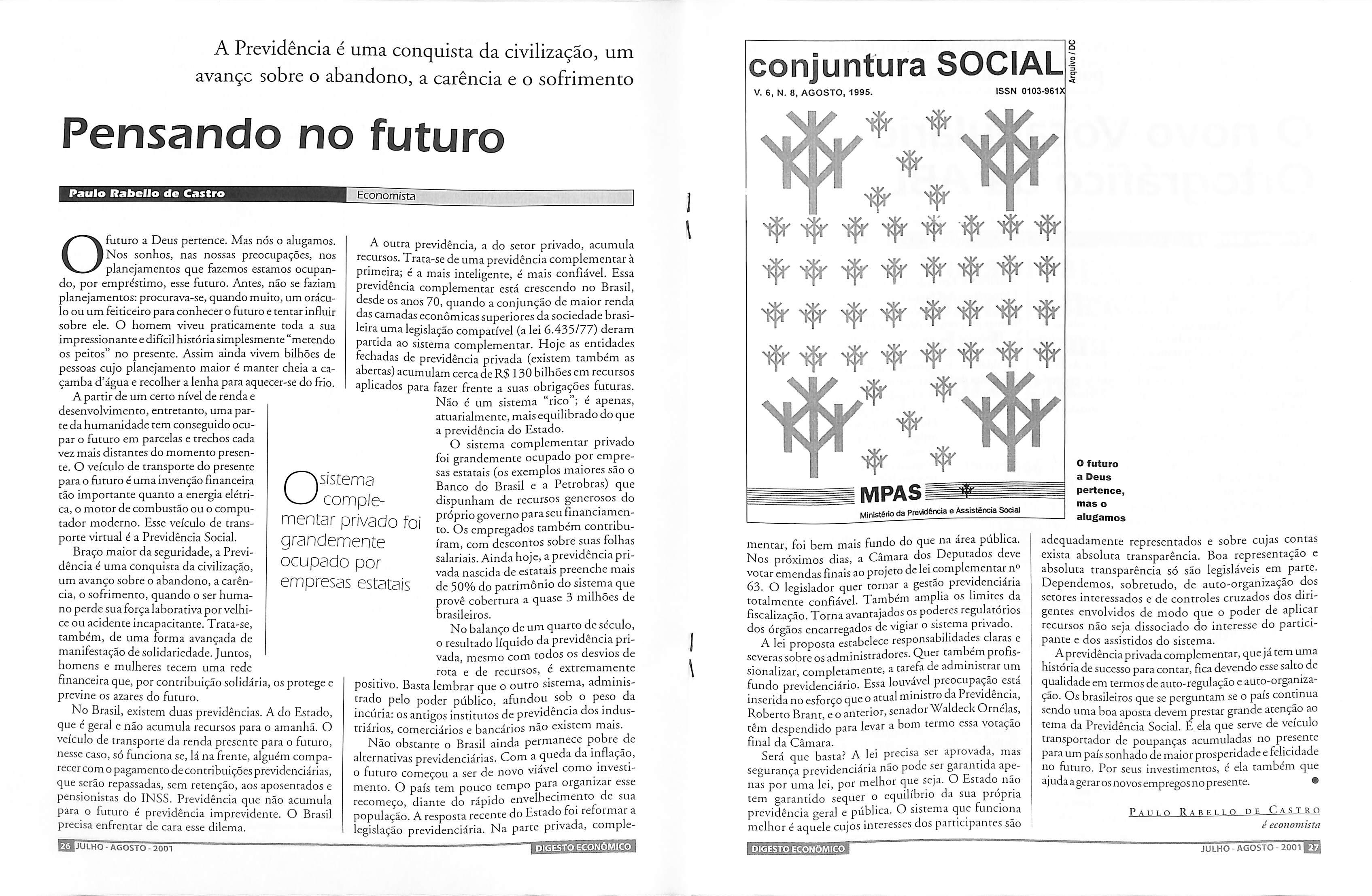
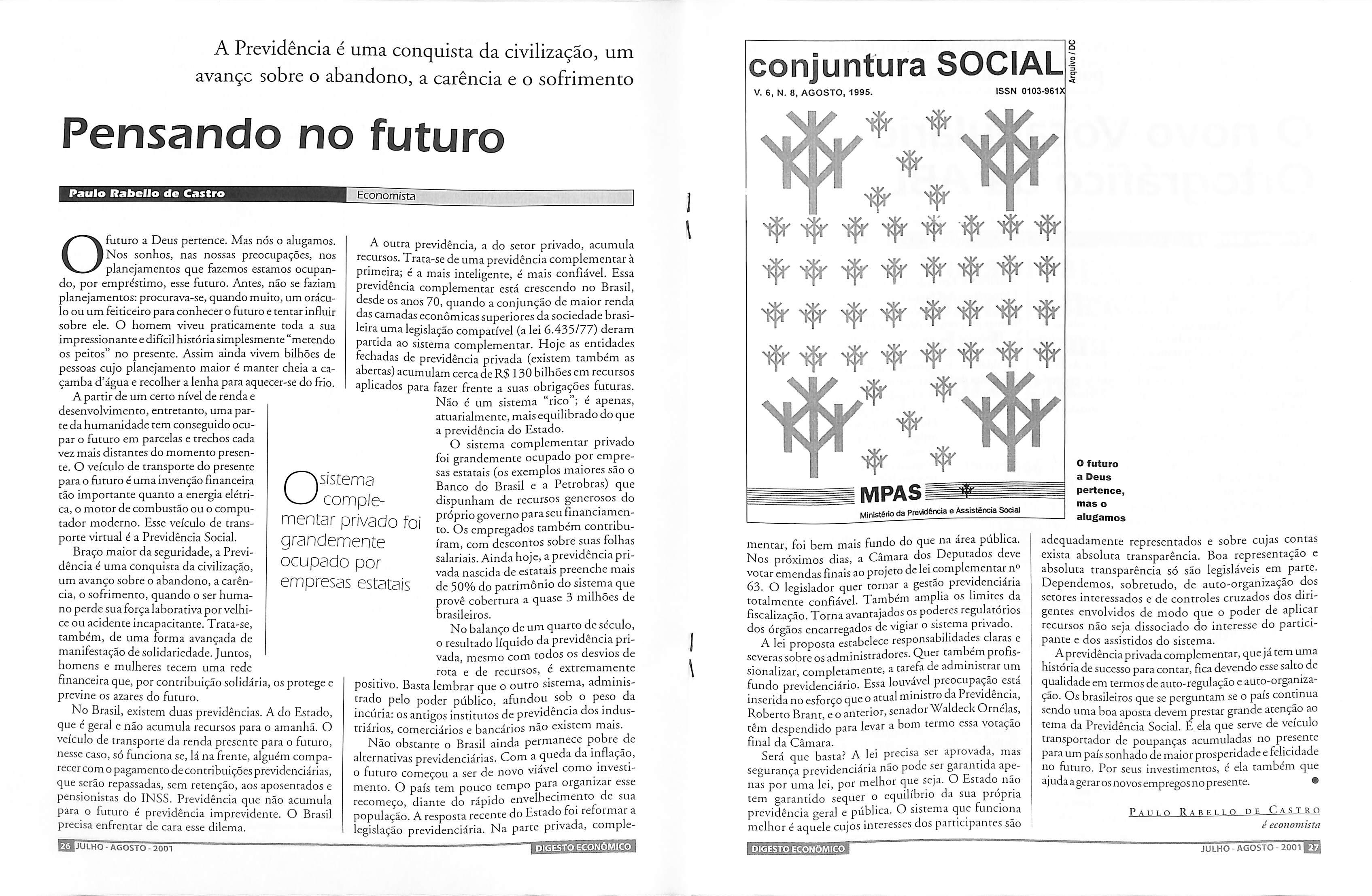
A situação lexicográfica da língua
portuguesa nao é, no conjunto, satisfatória
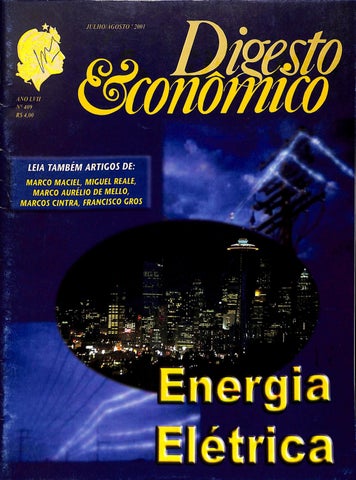
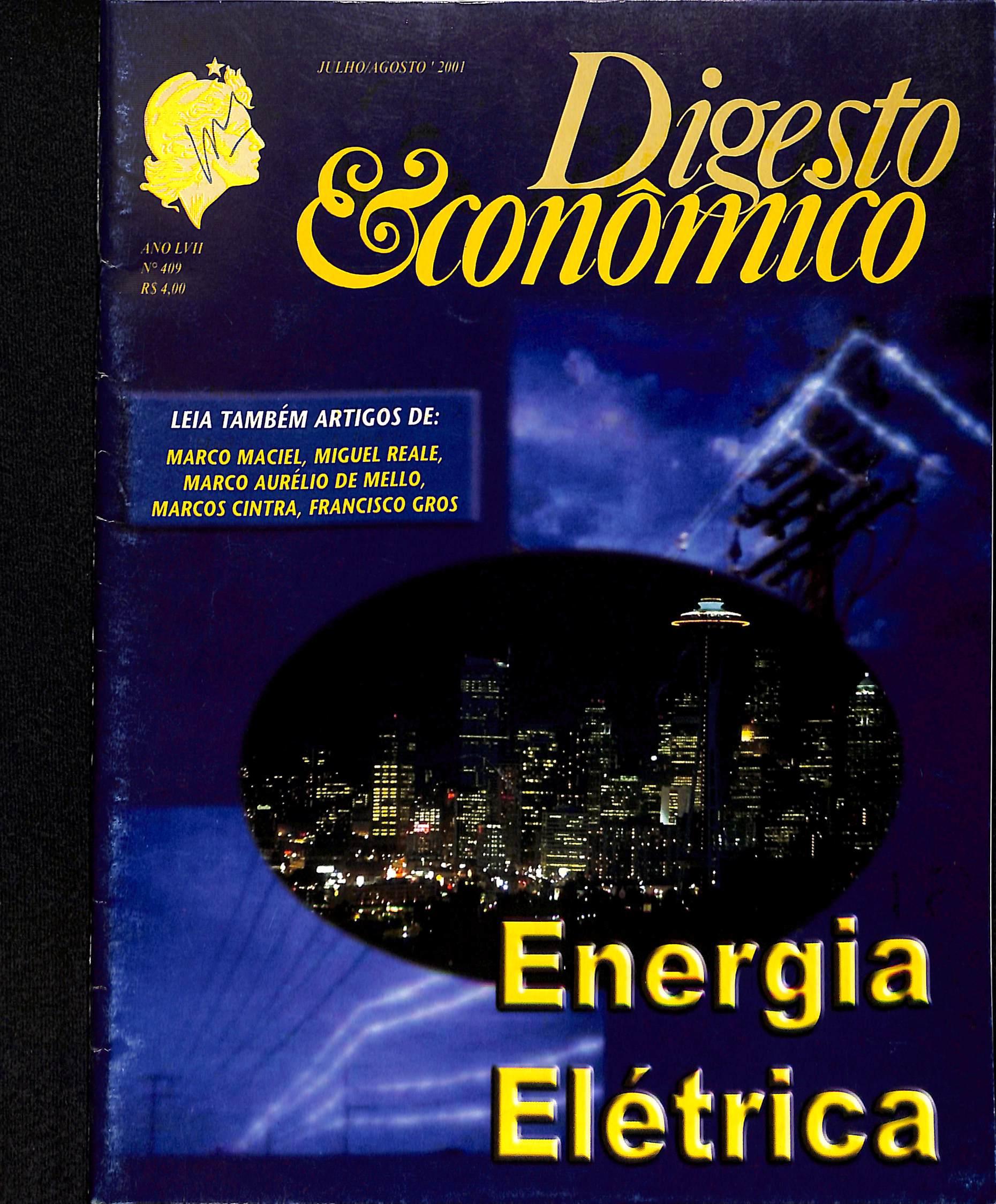
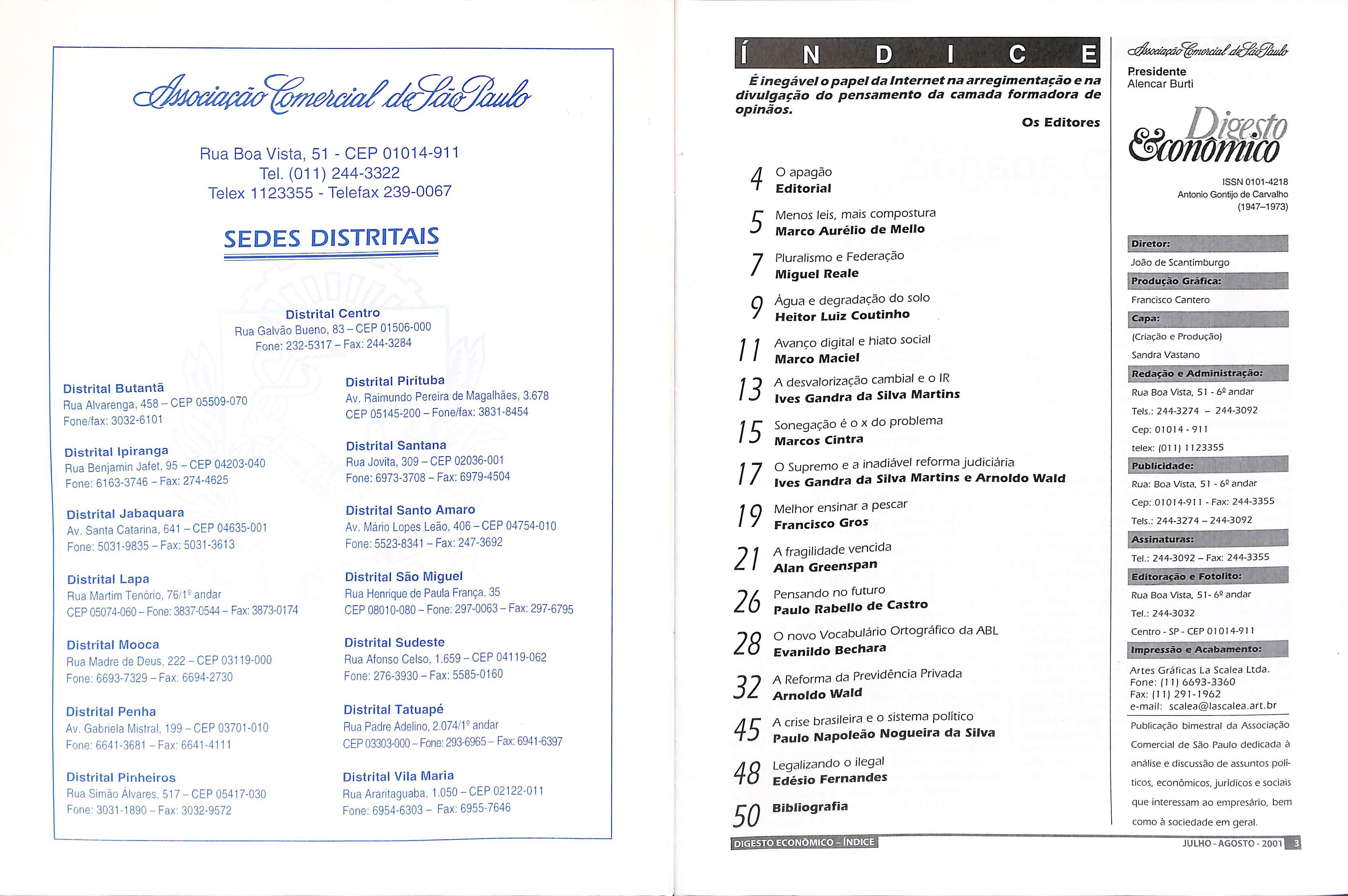
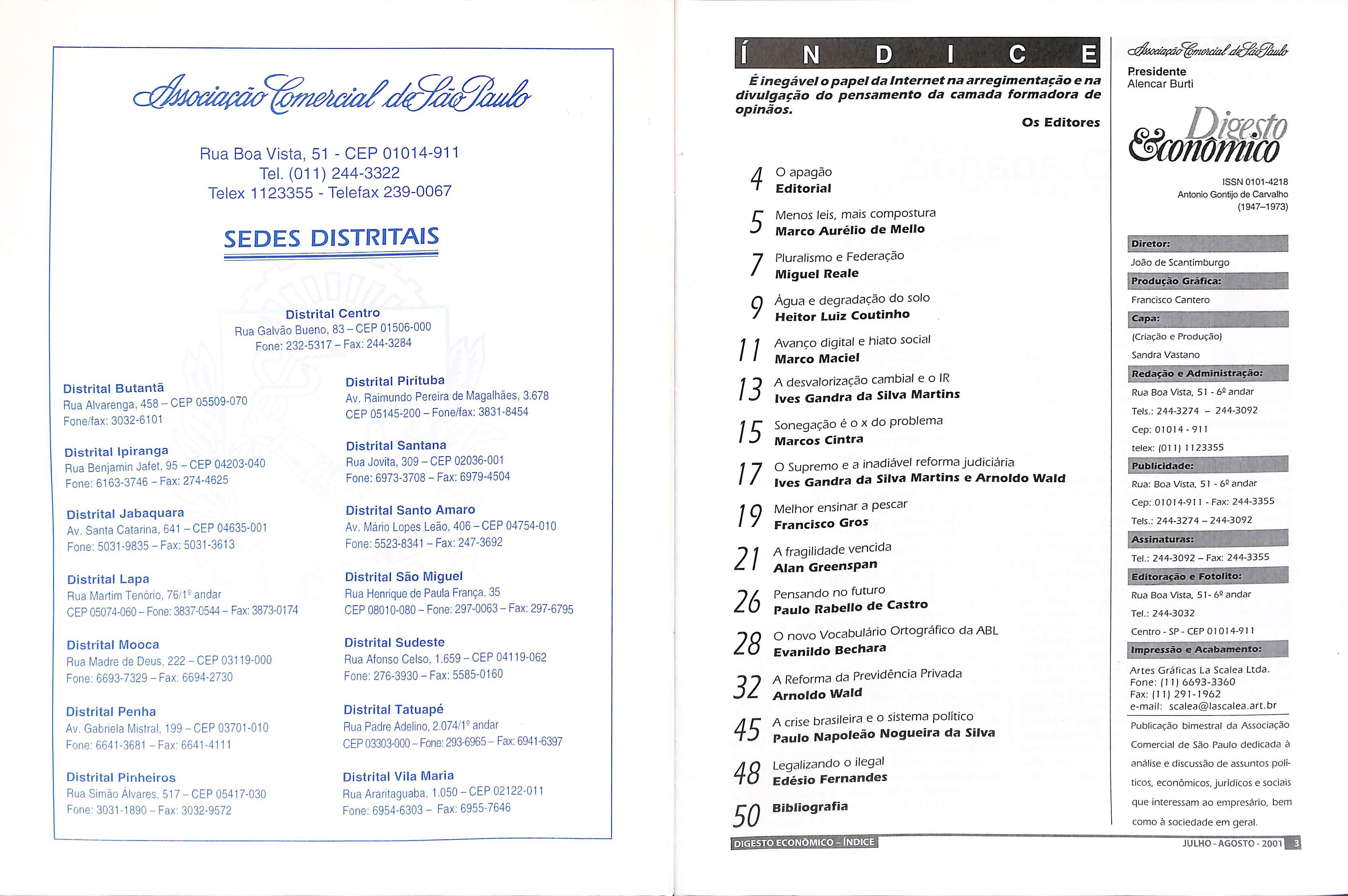
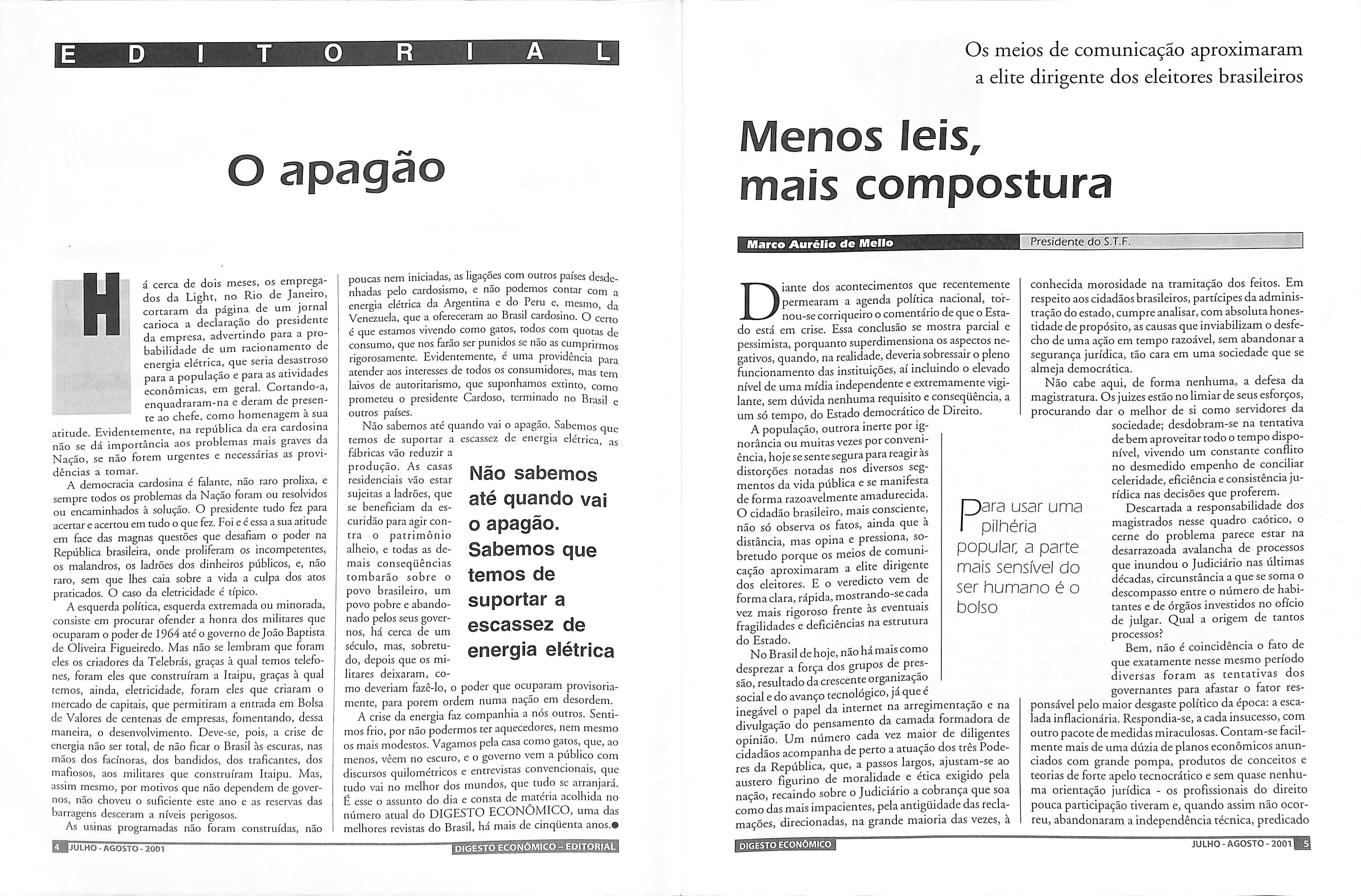
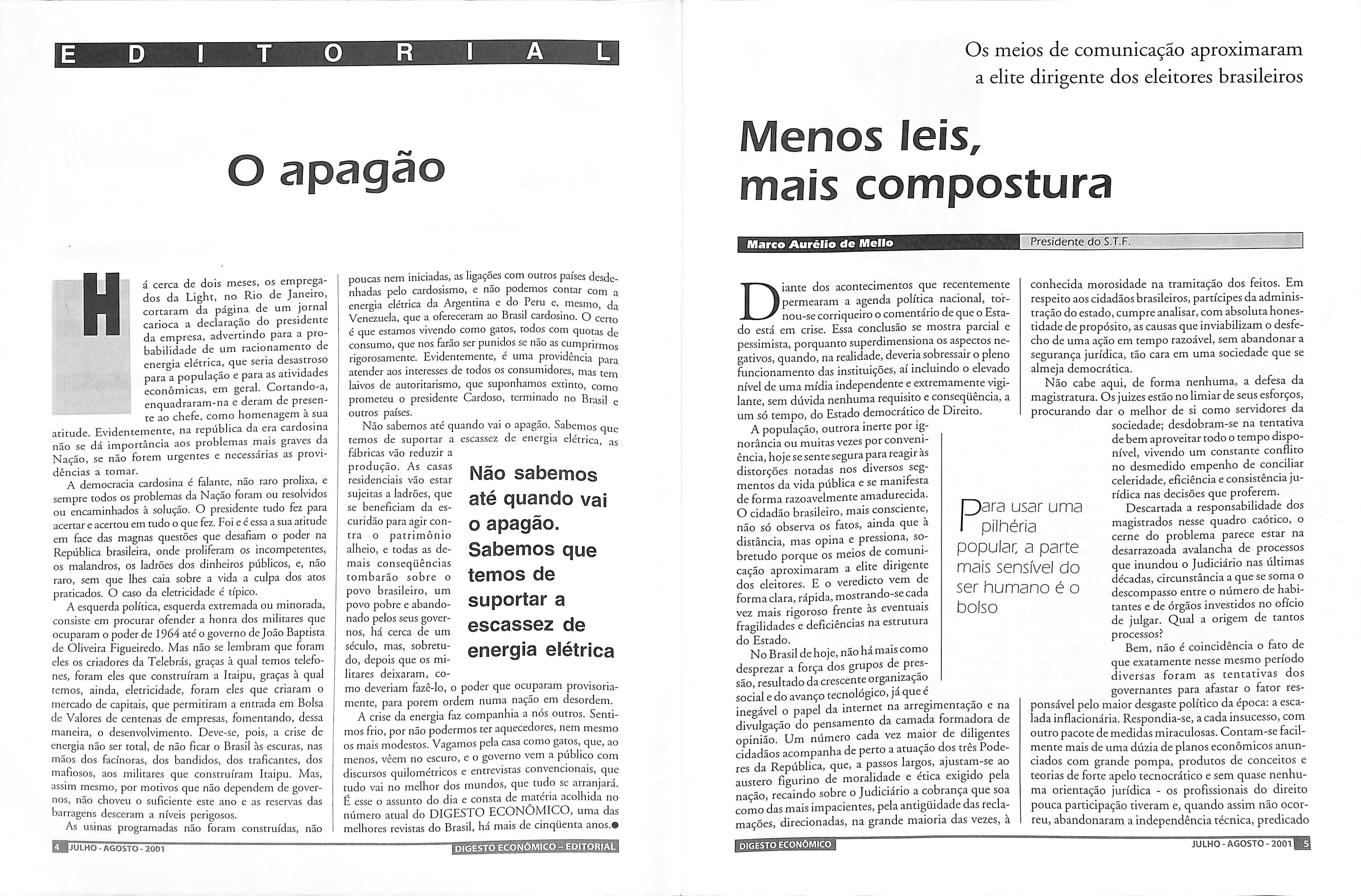
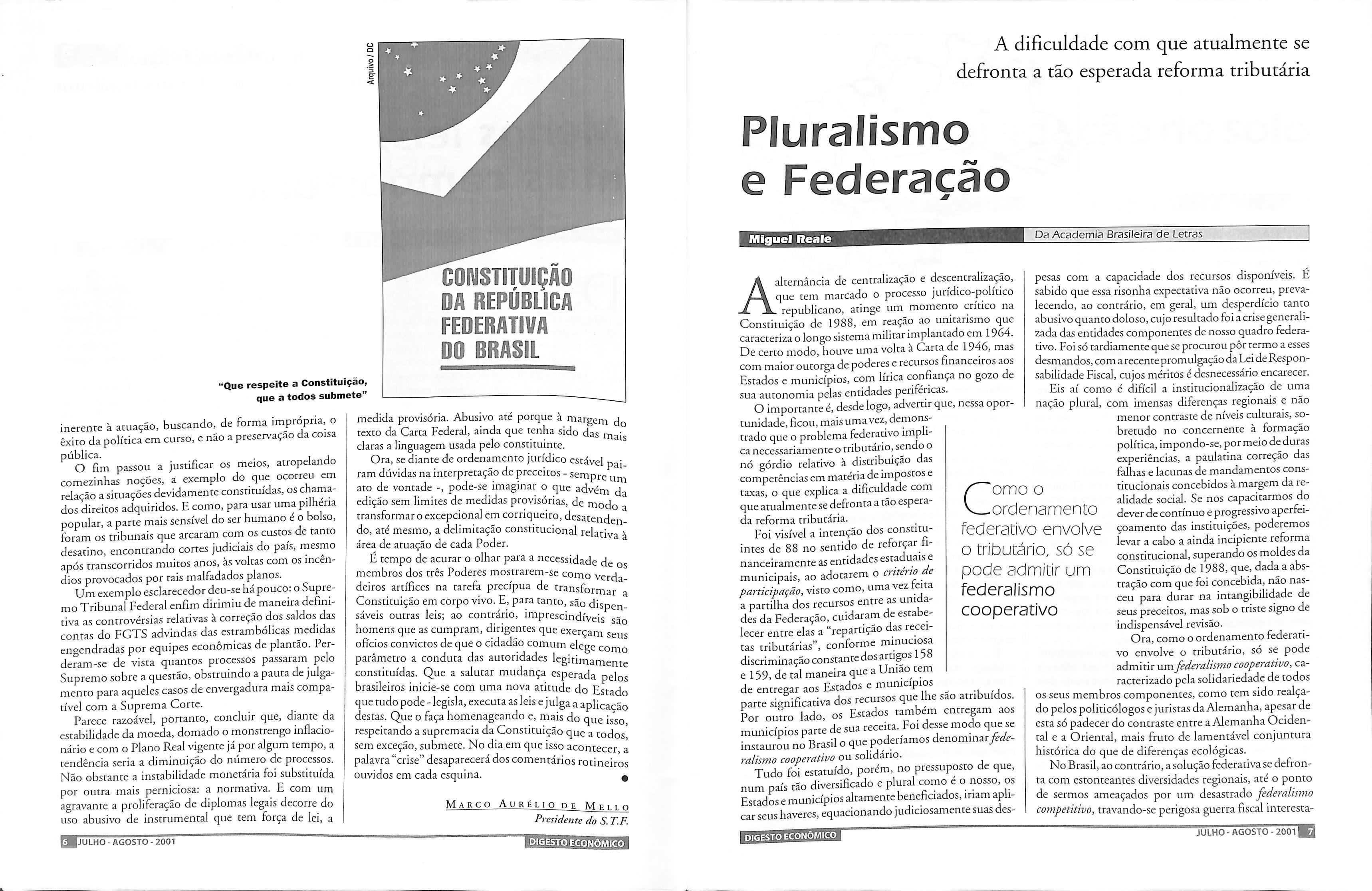
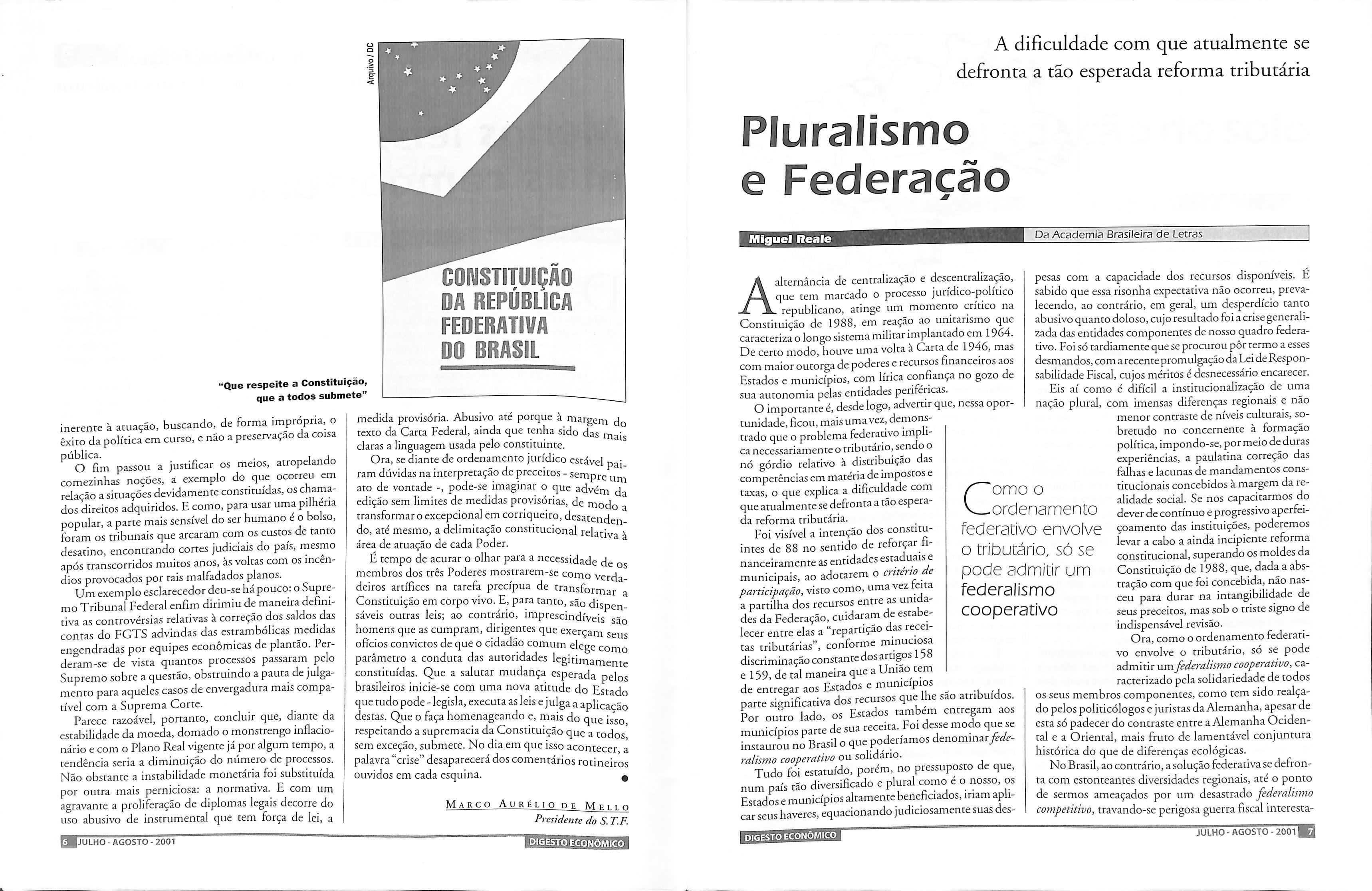
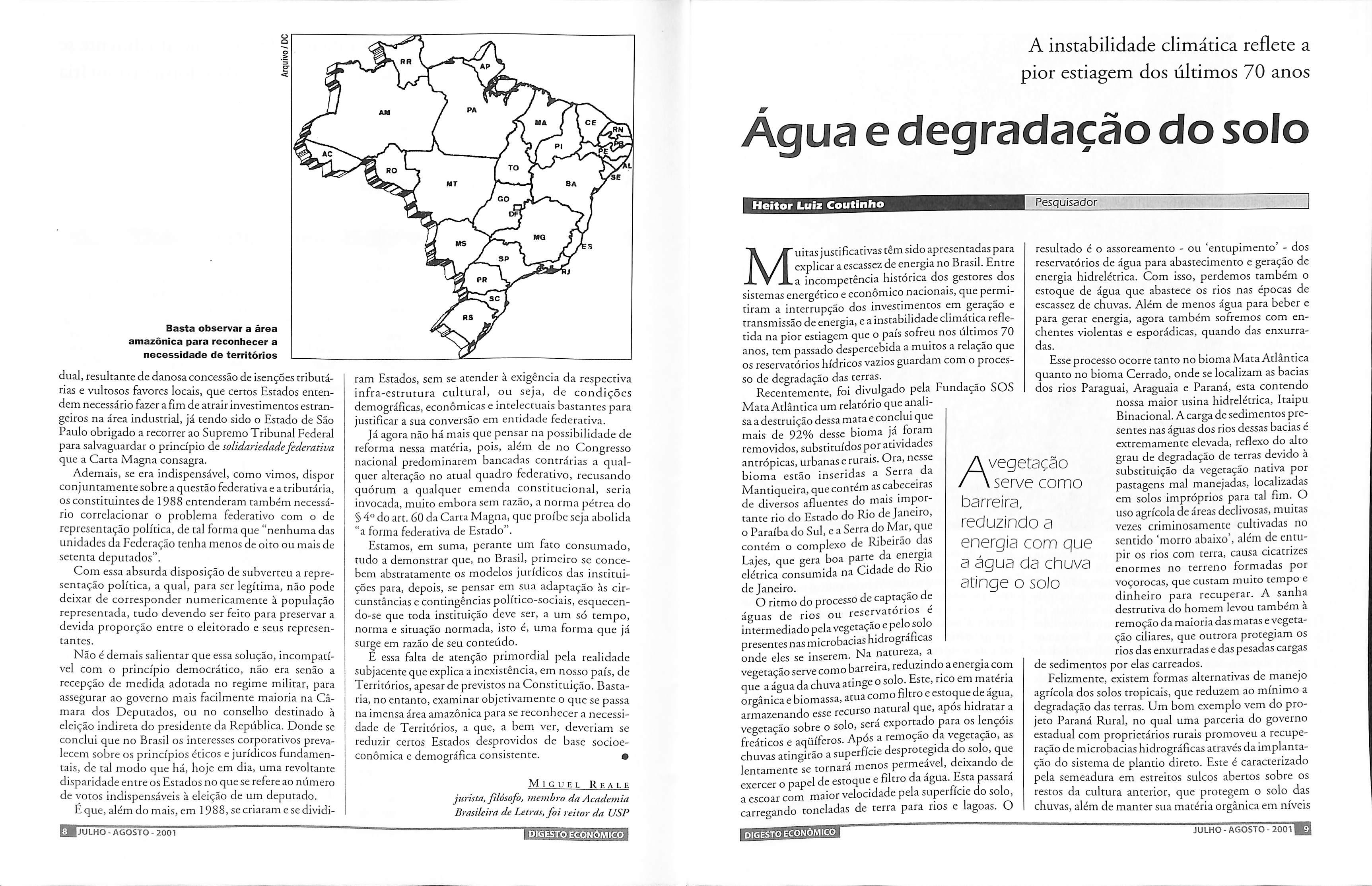
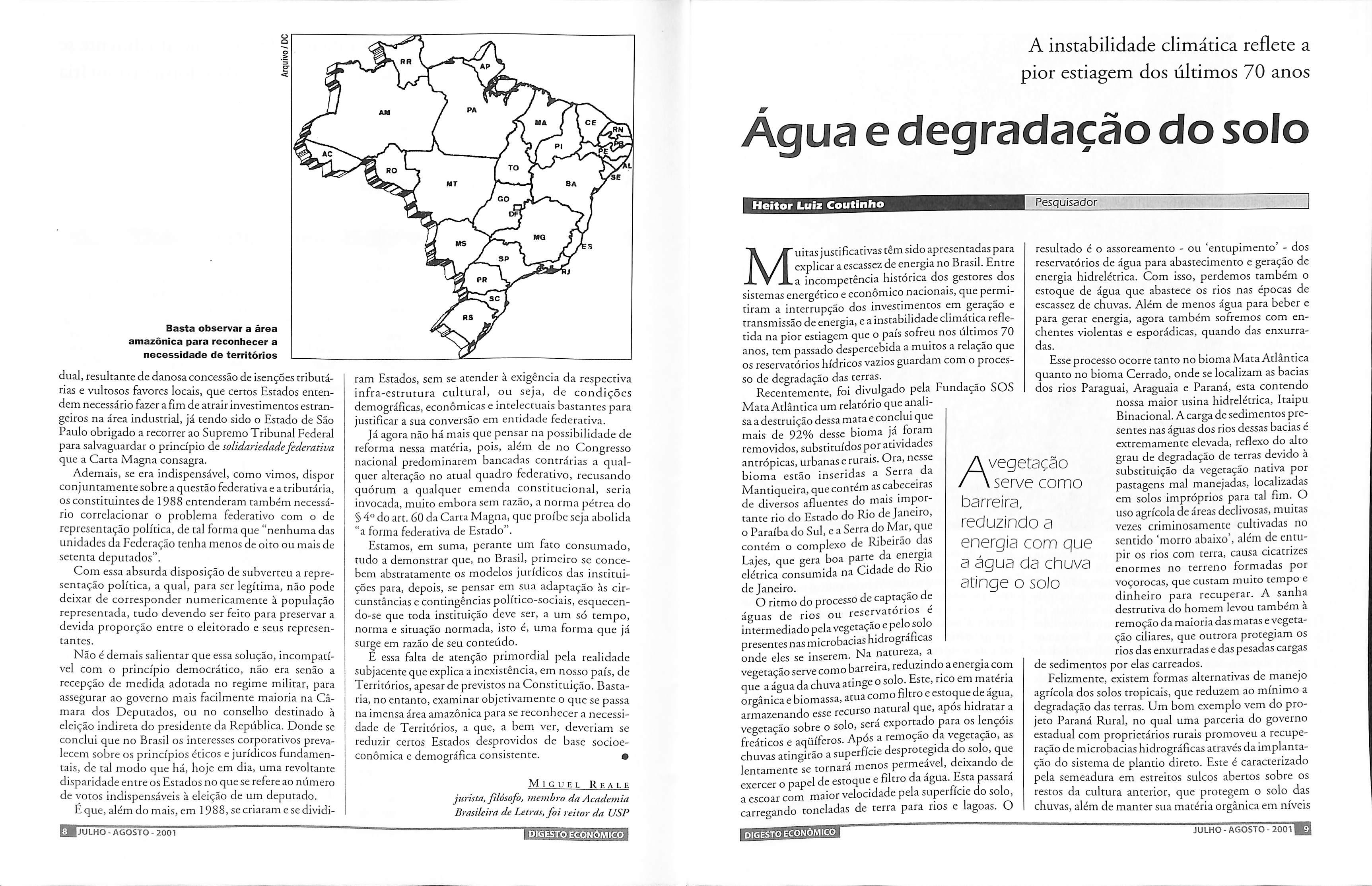
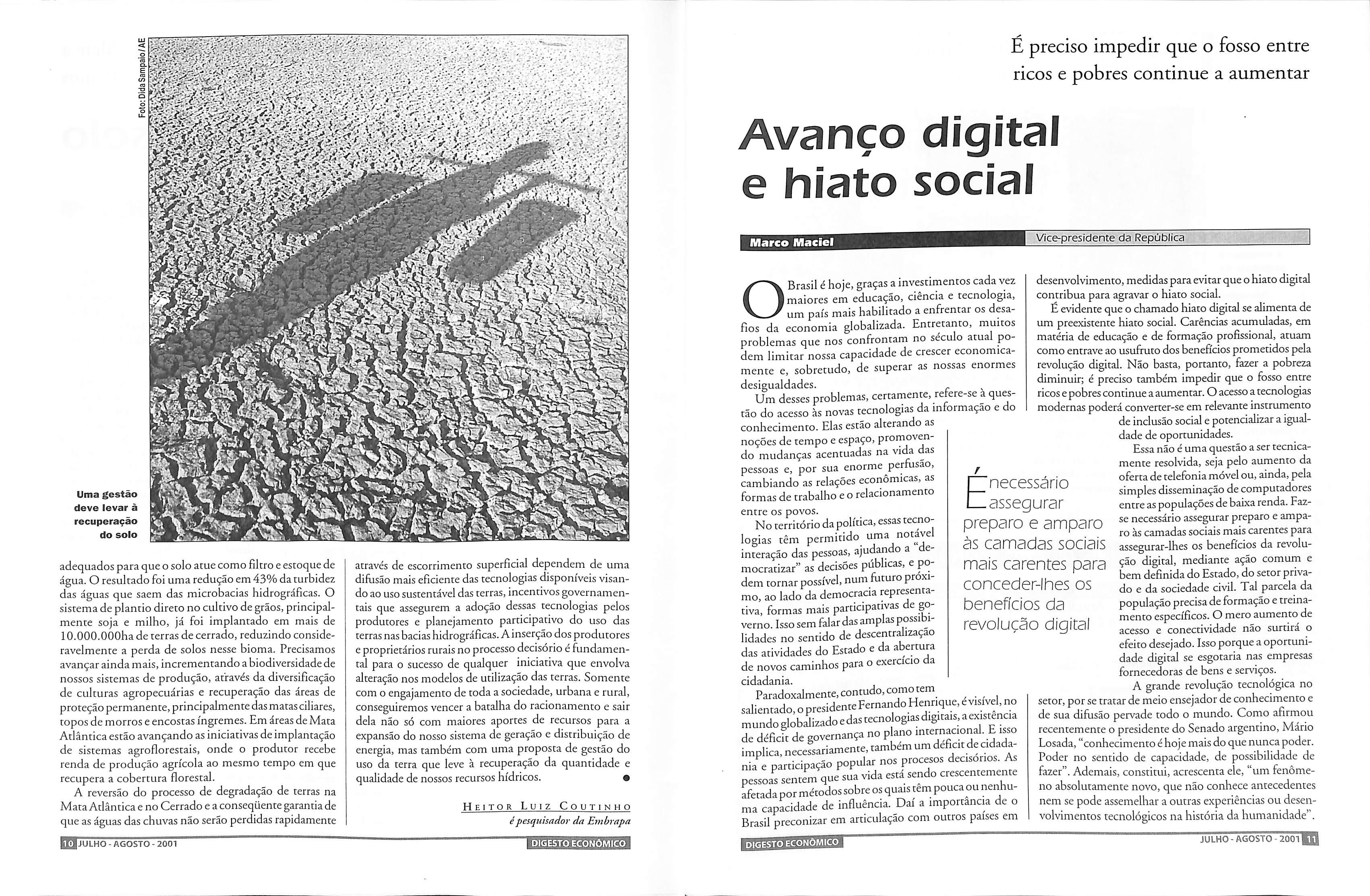
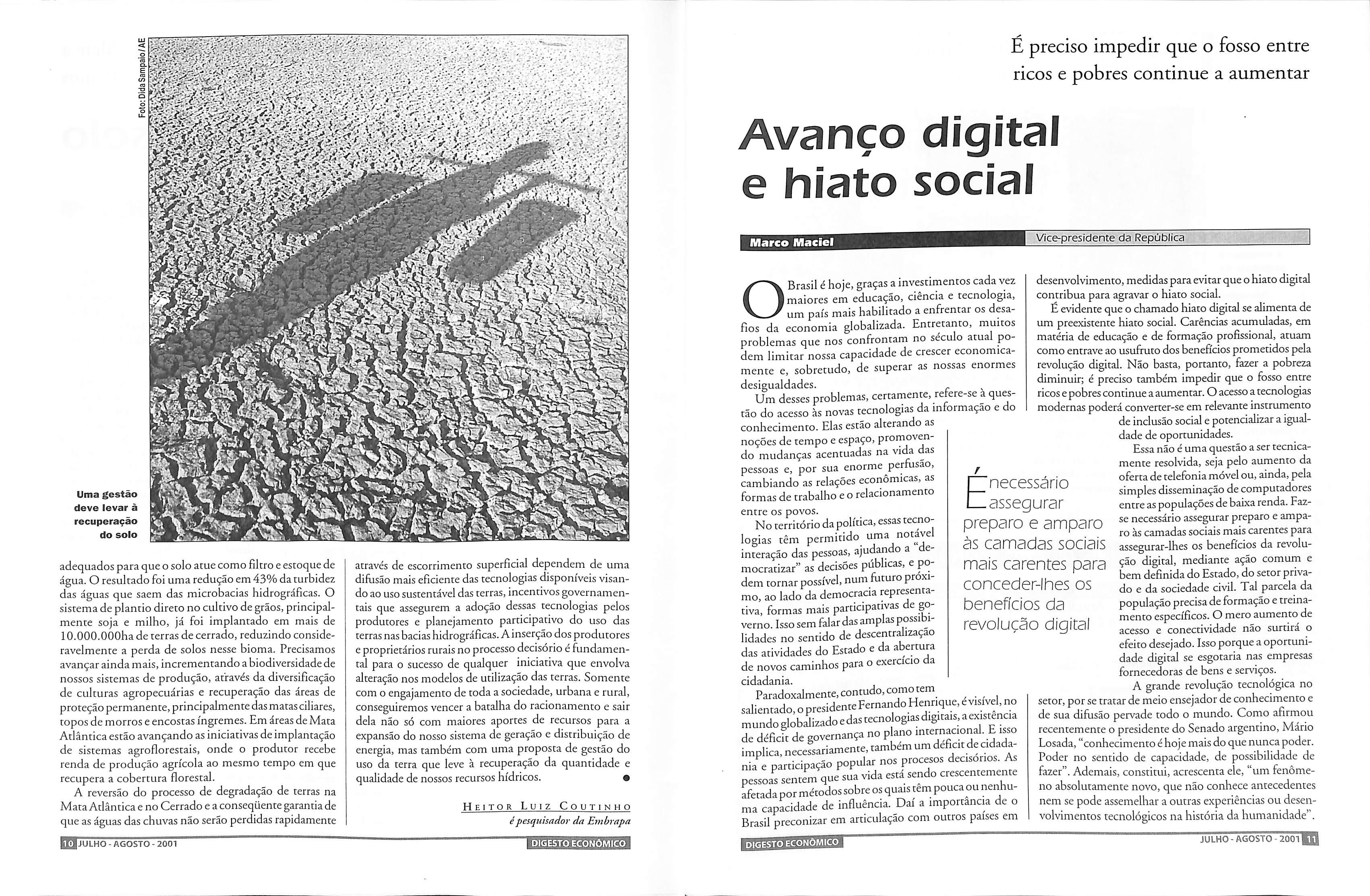
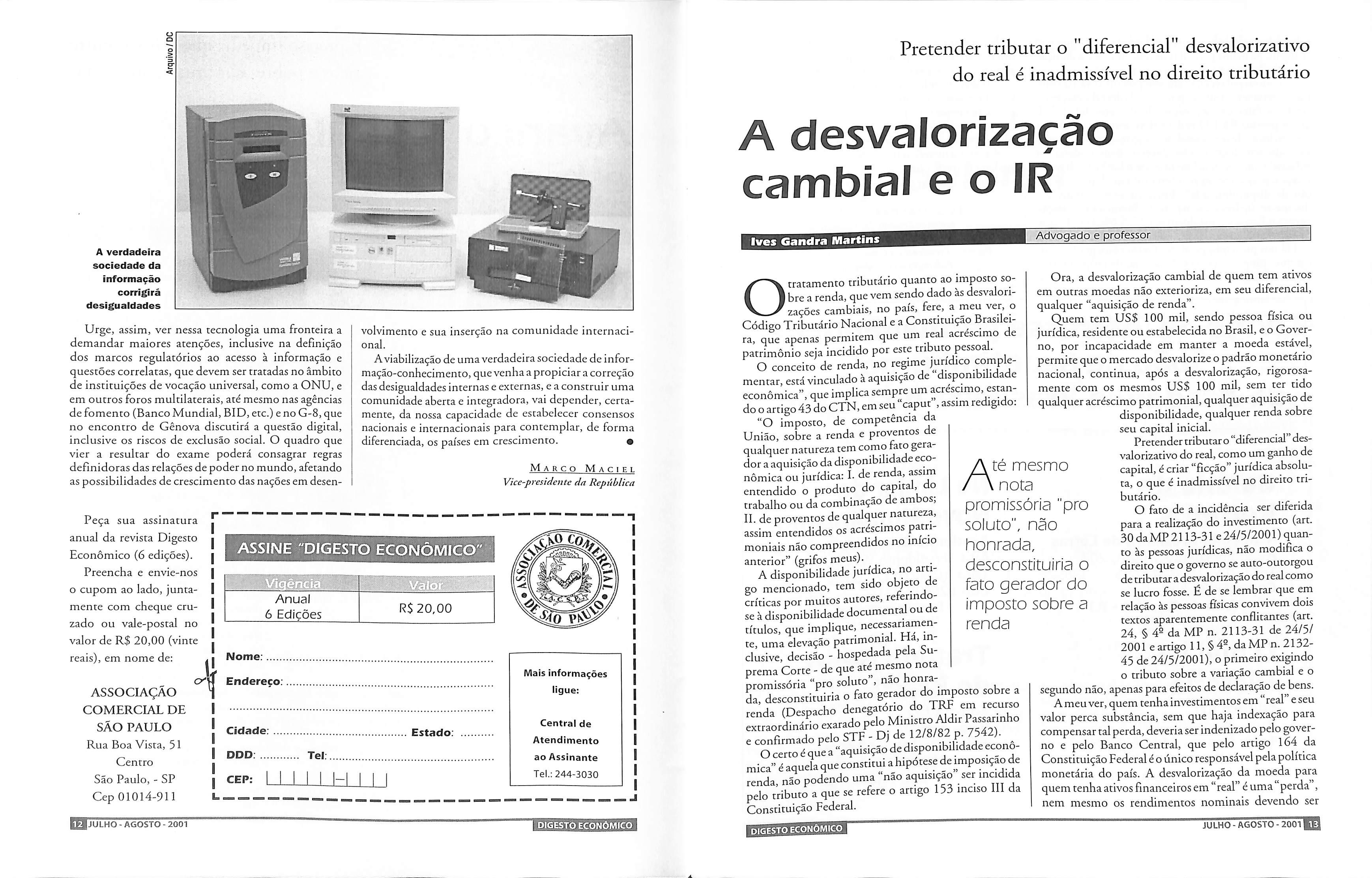
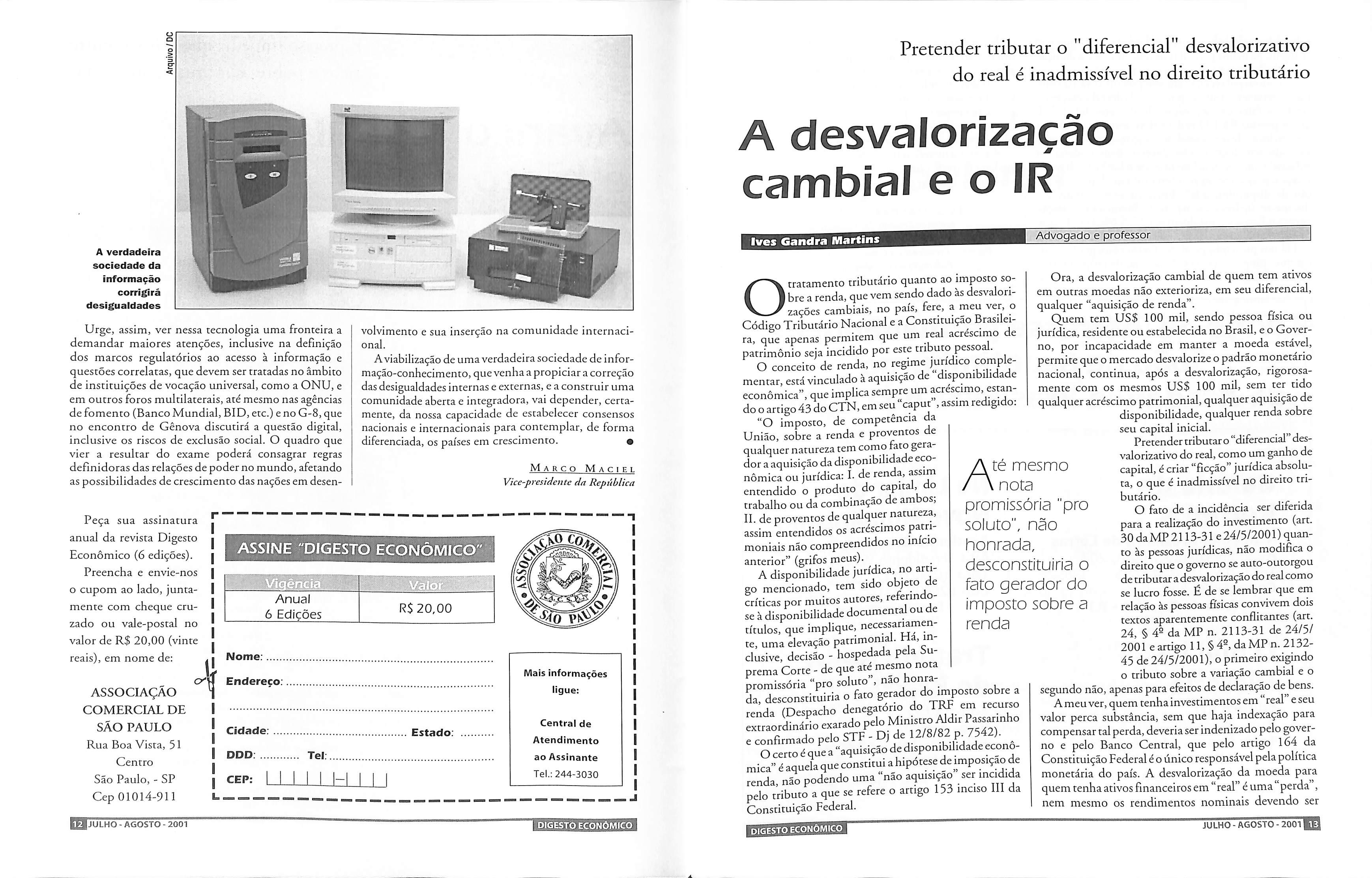
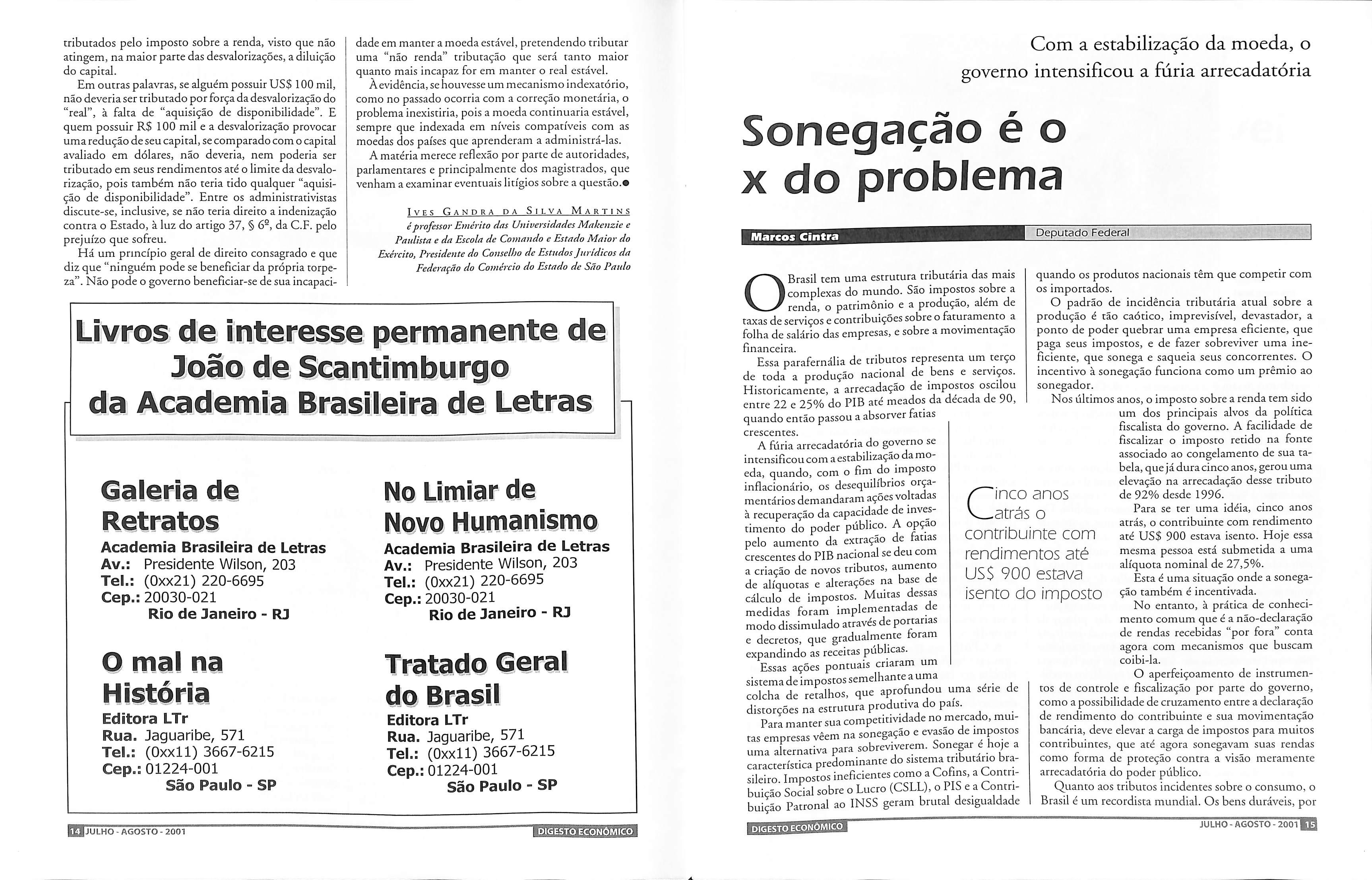
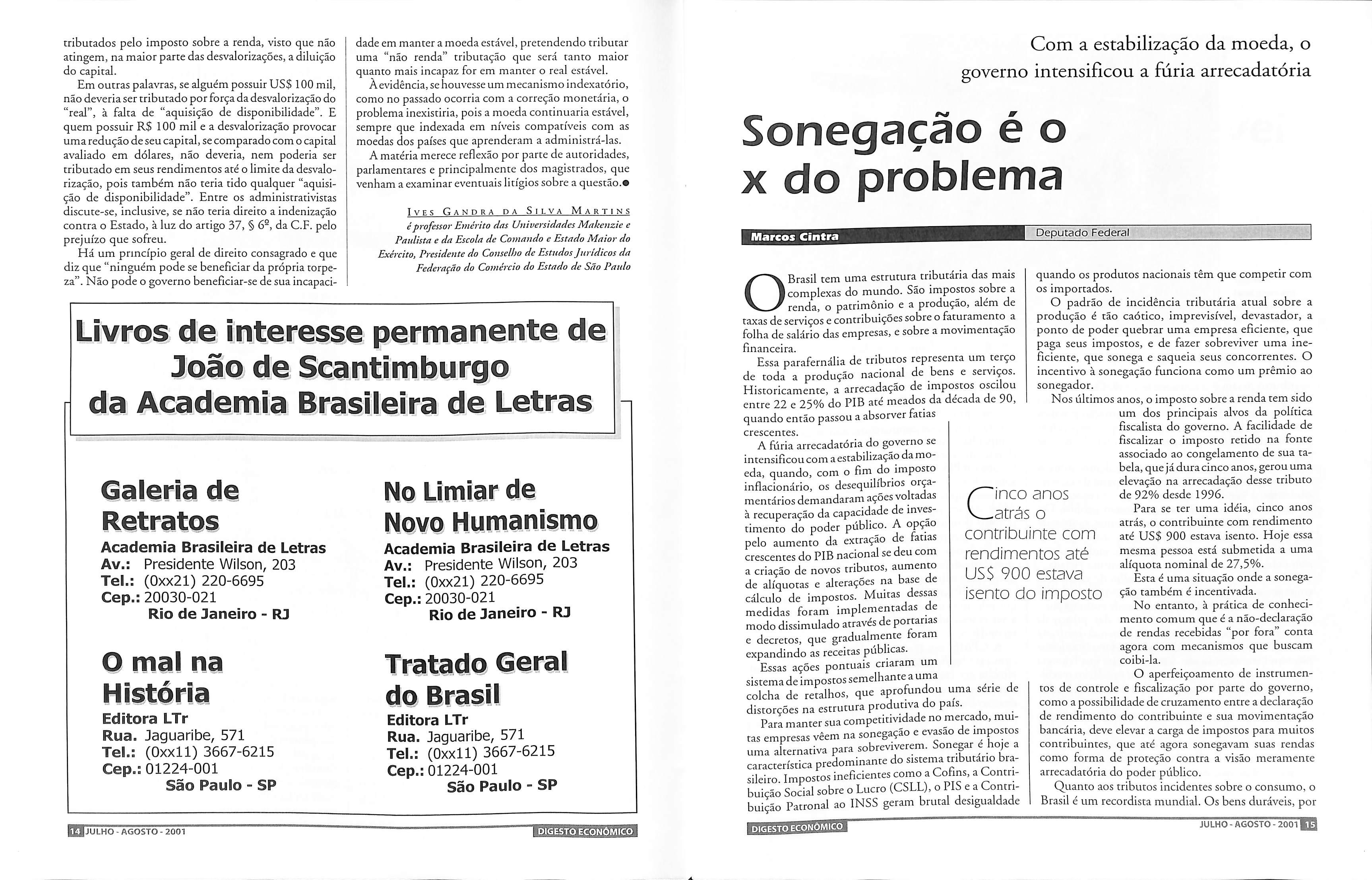
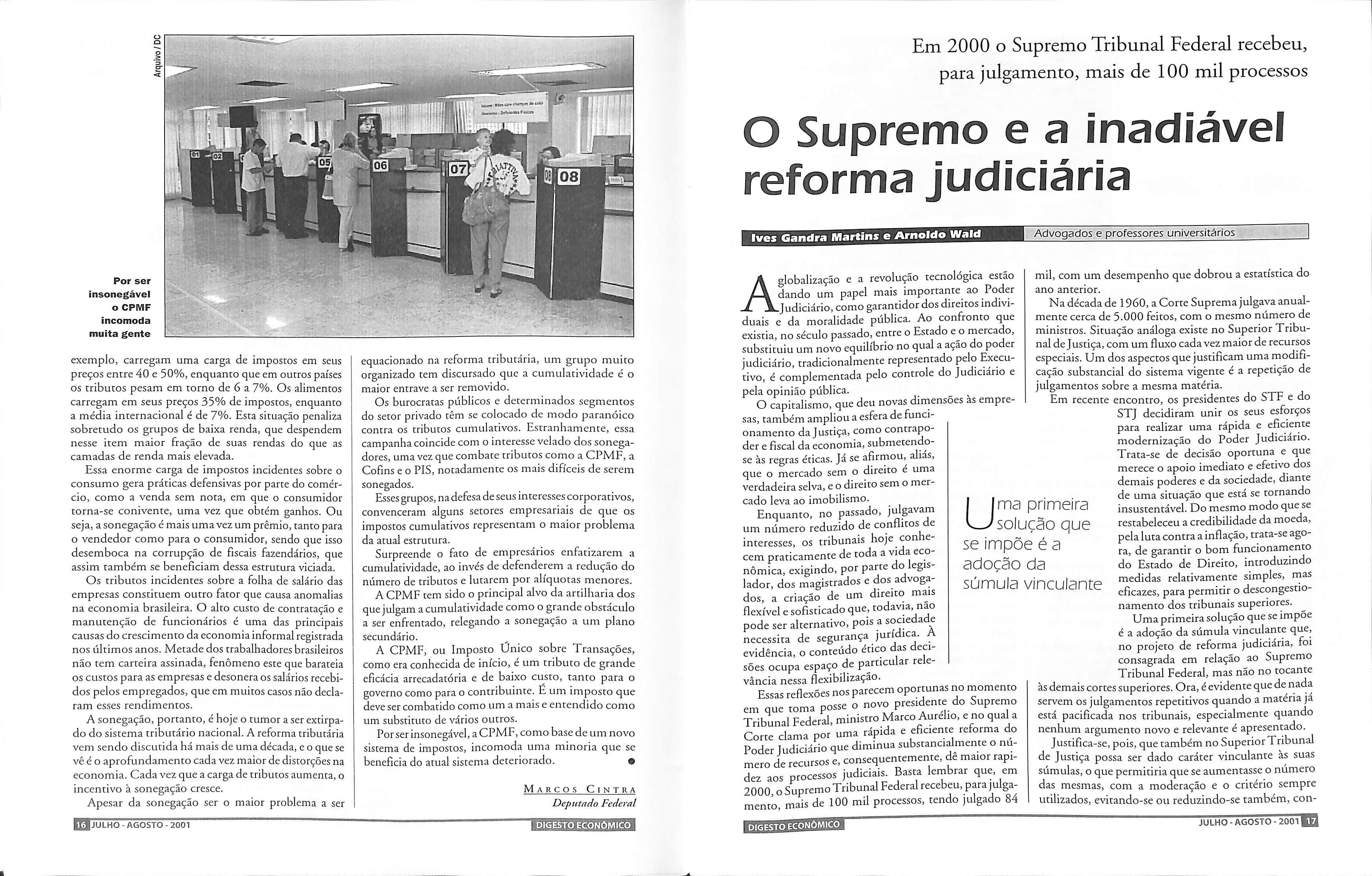
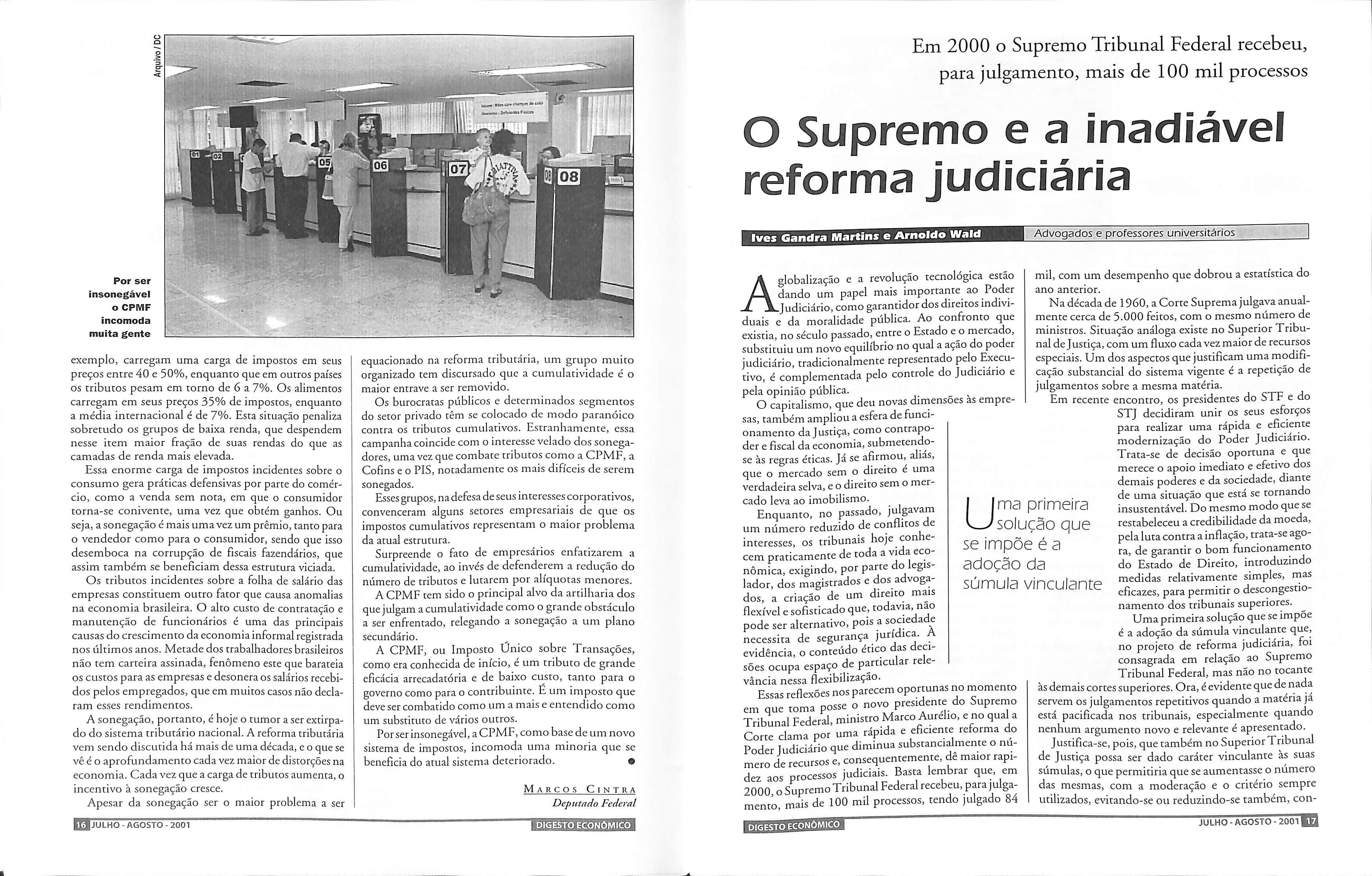
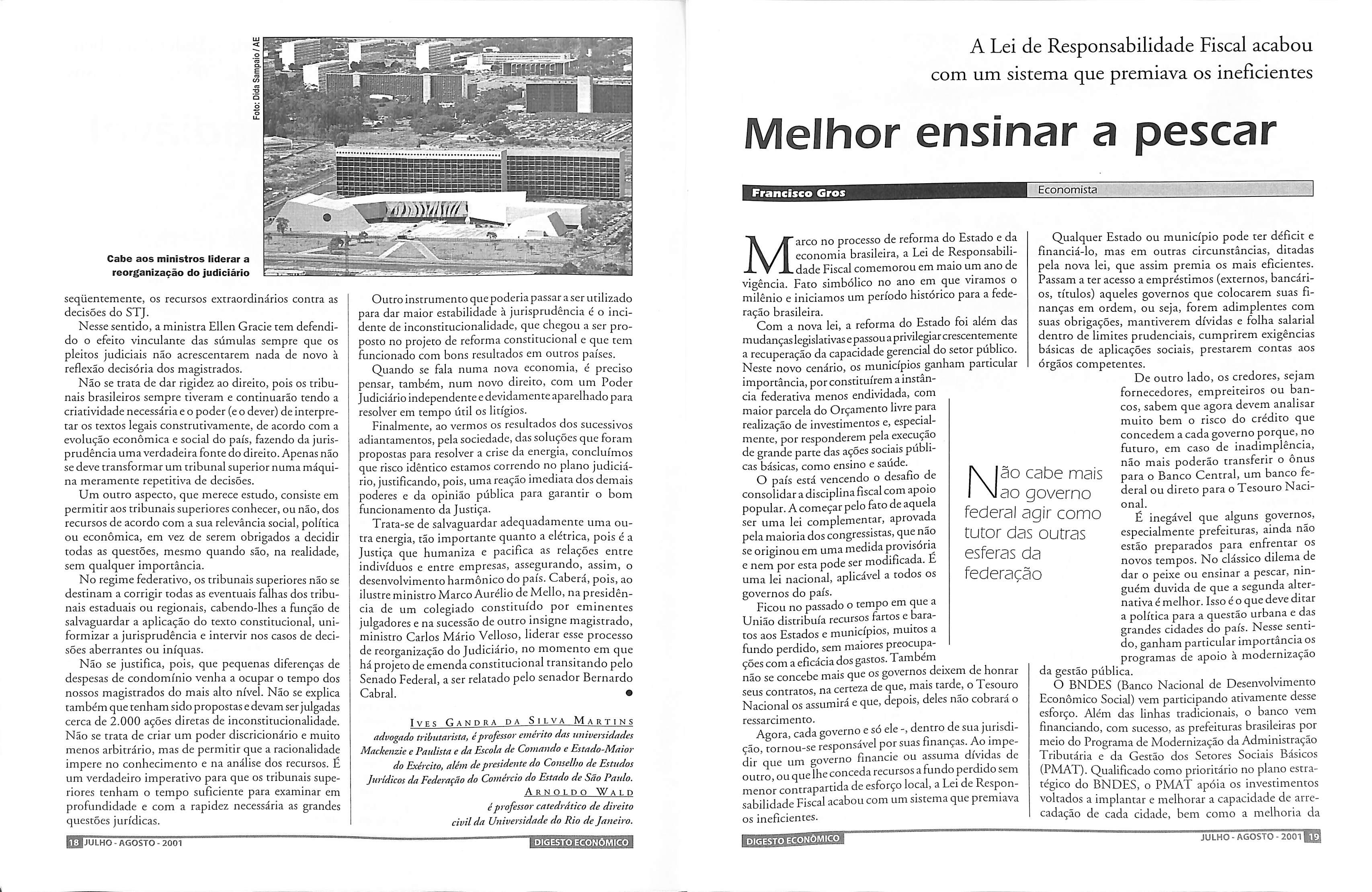
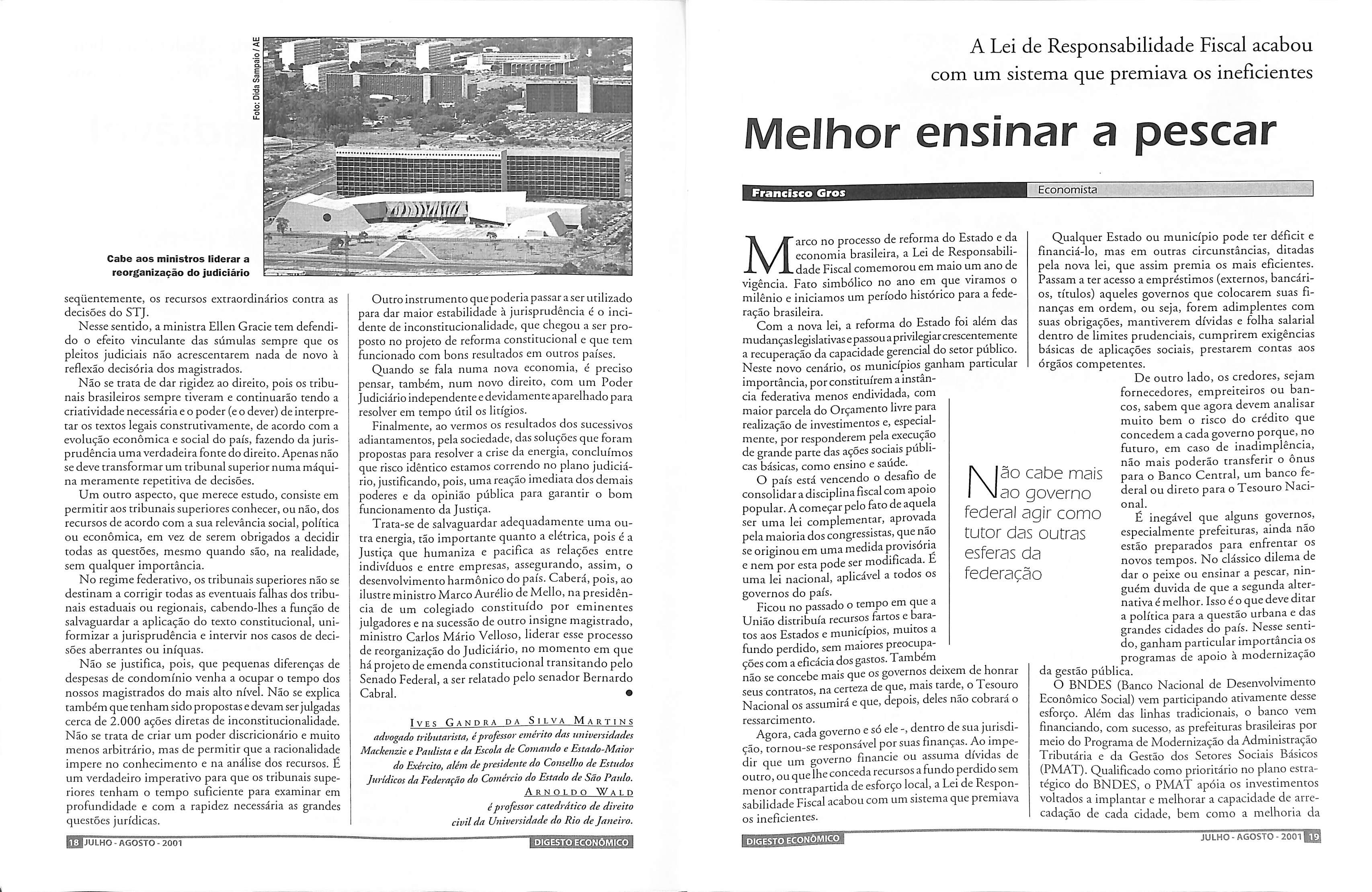


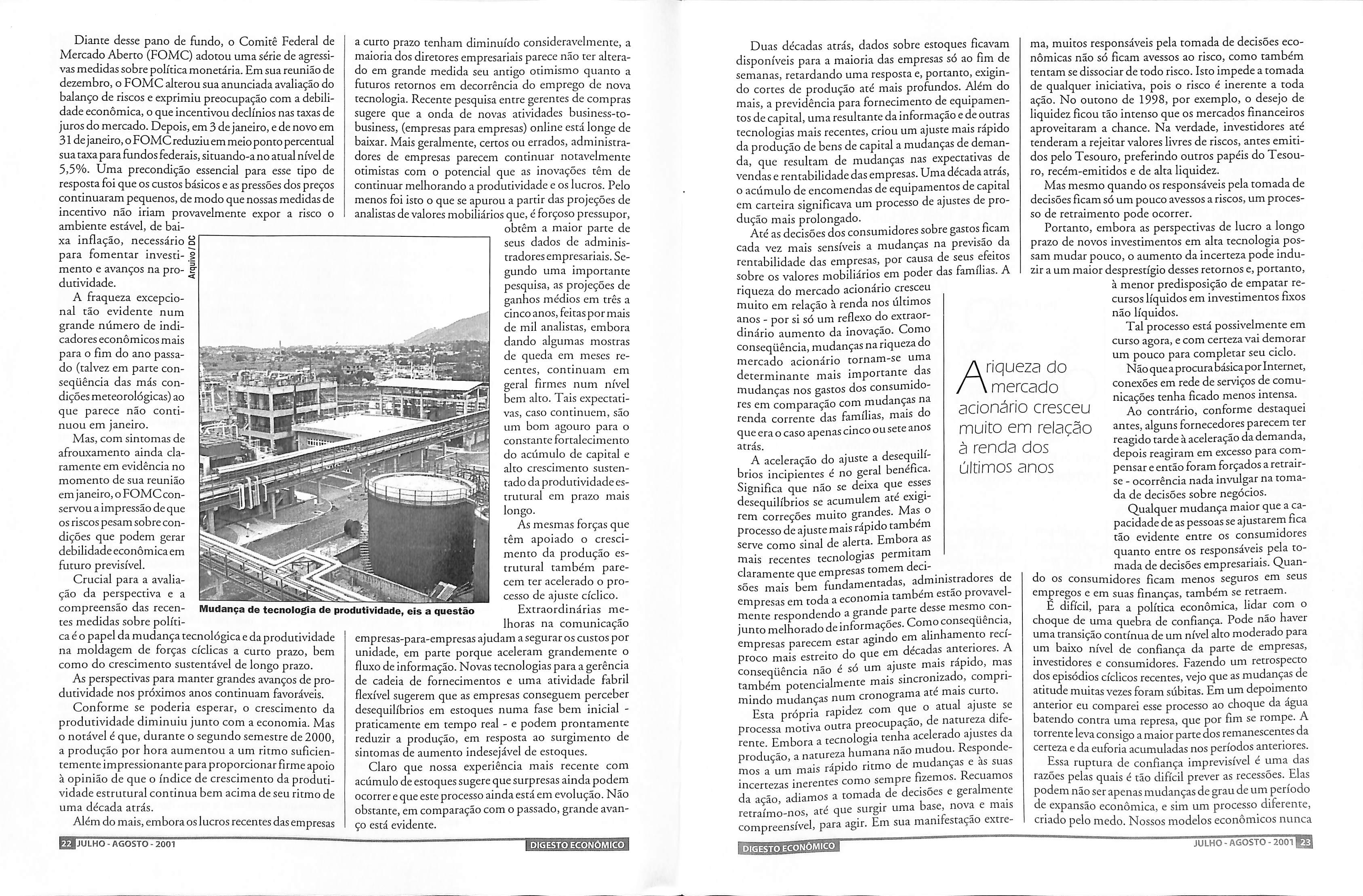
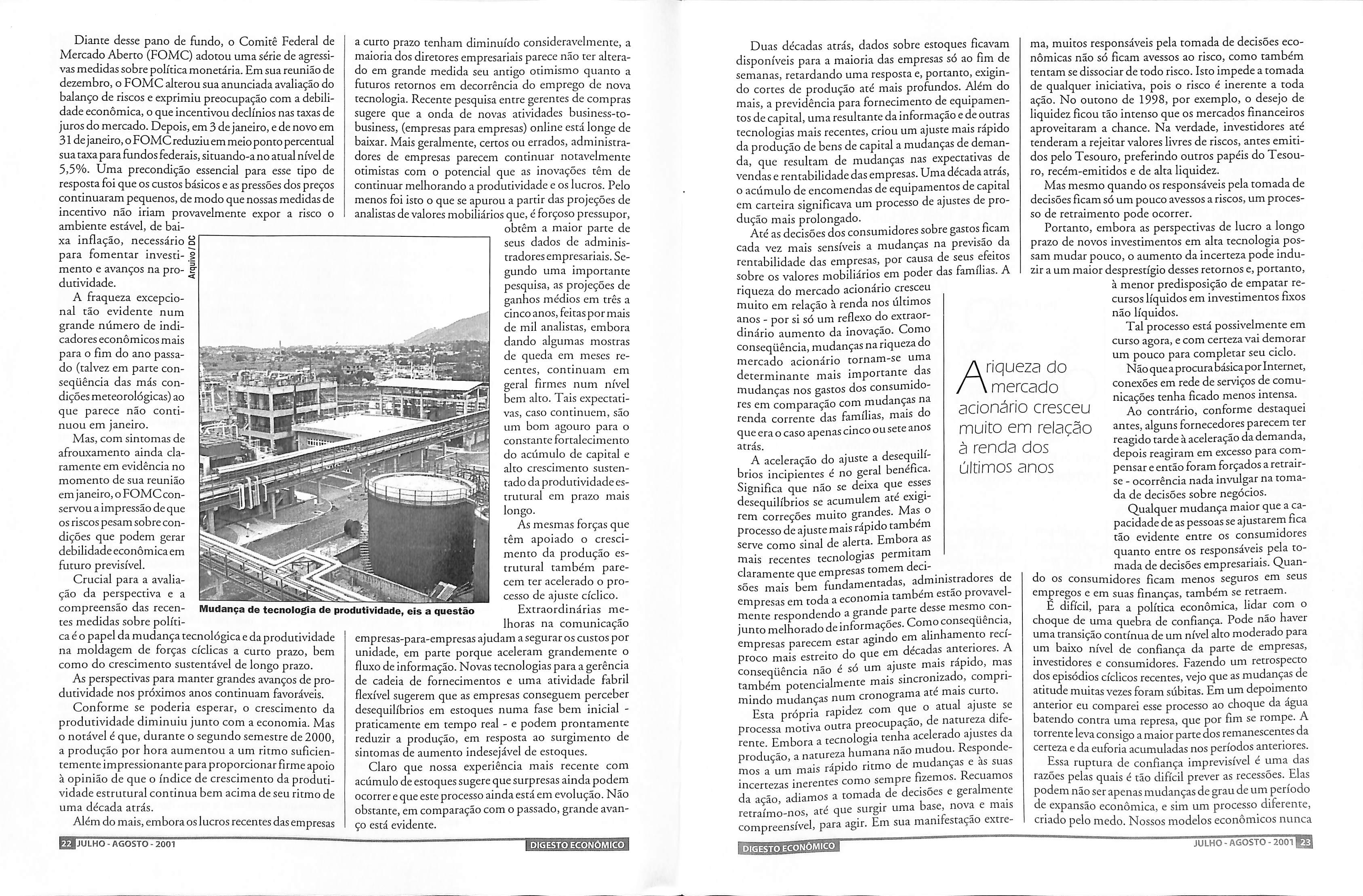
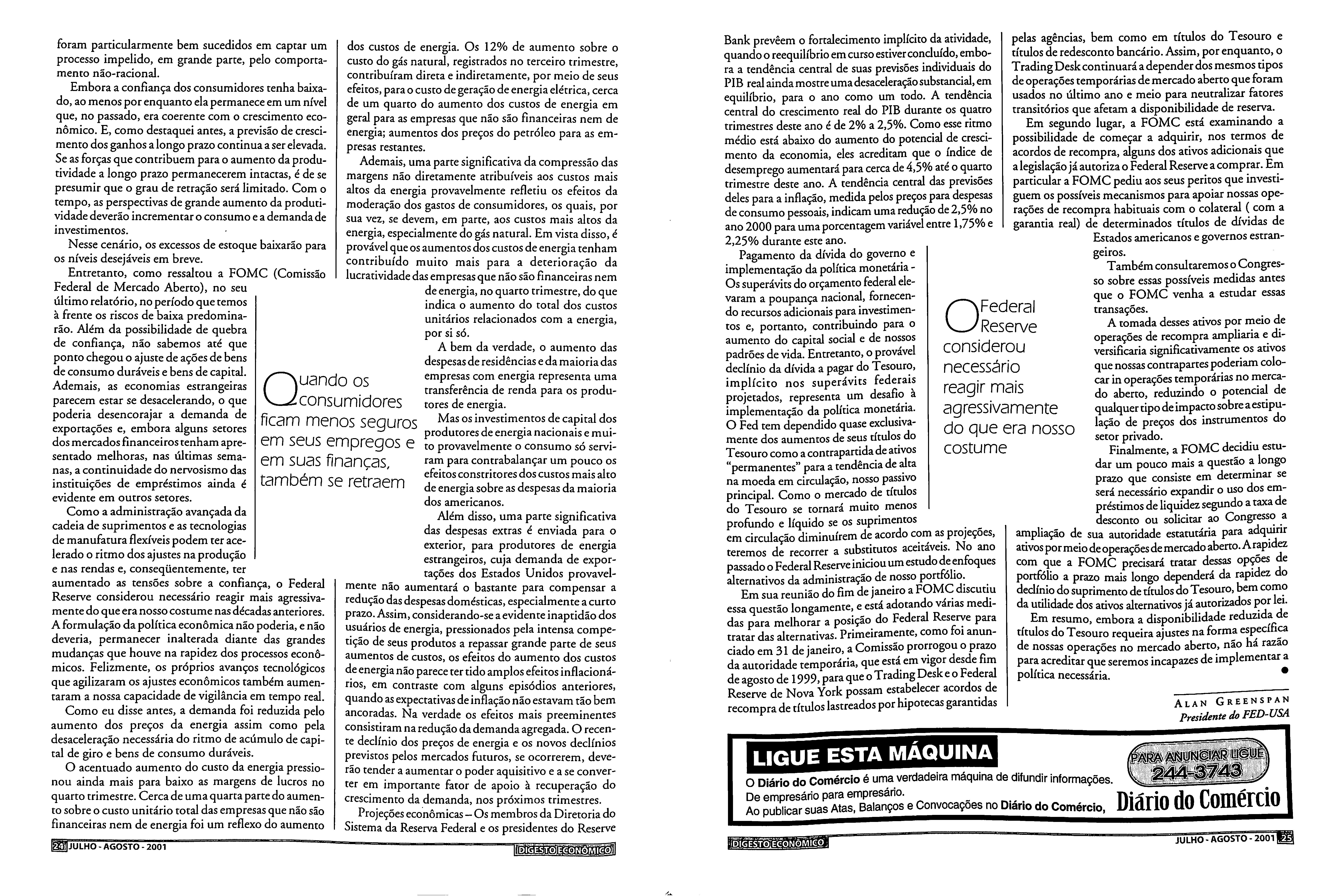
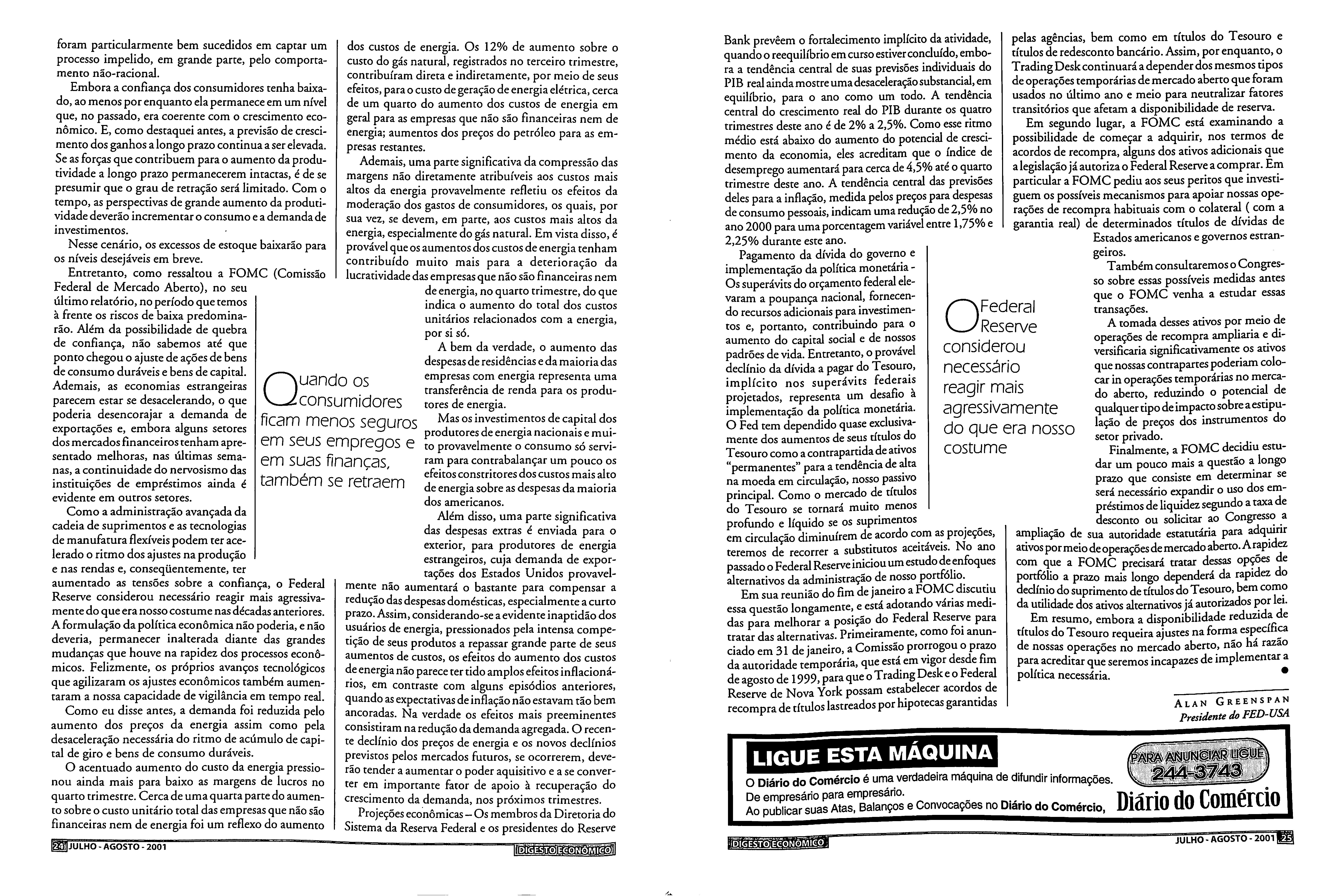
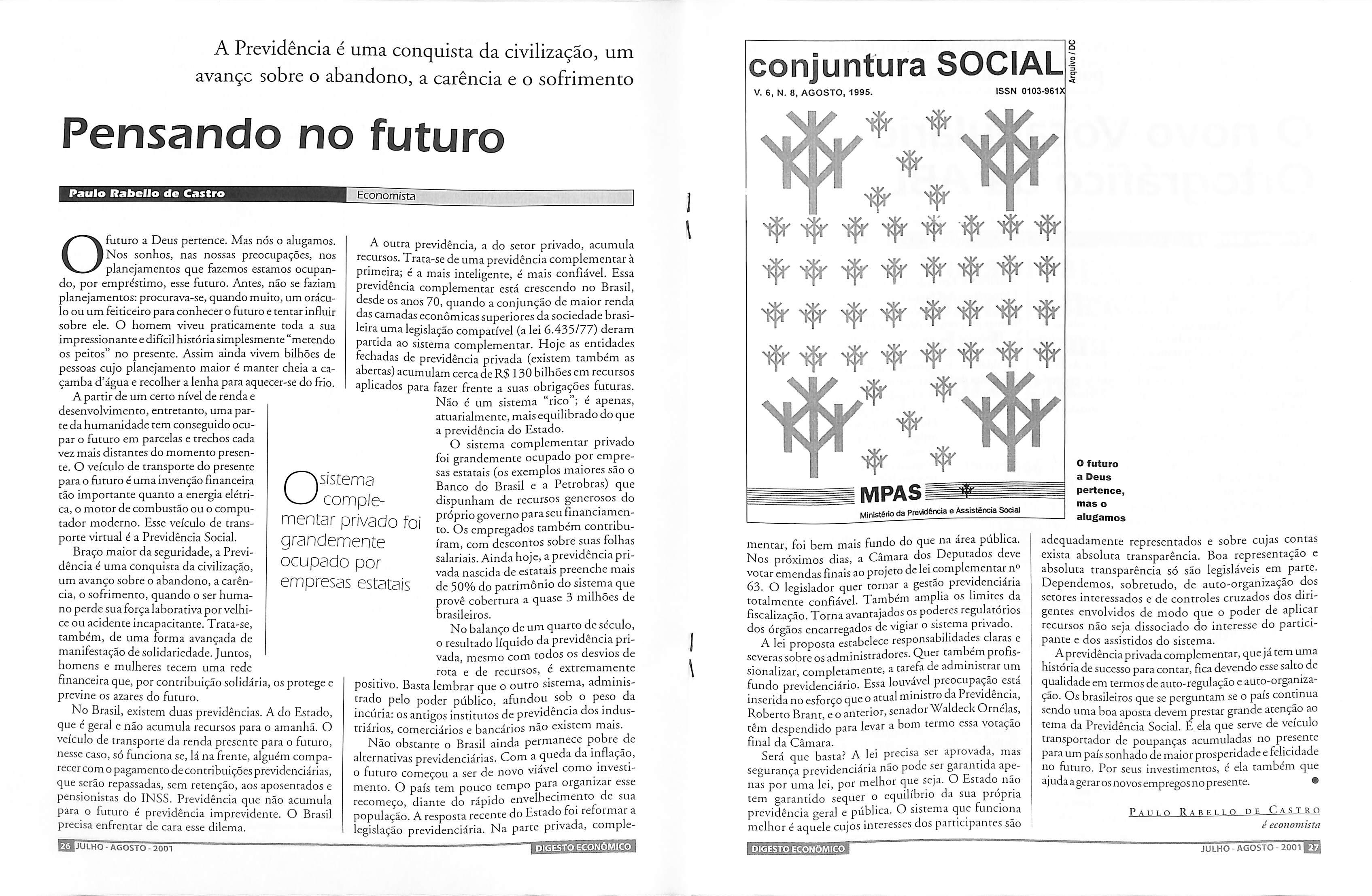
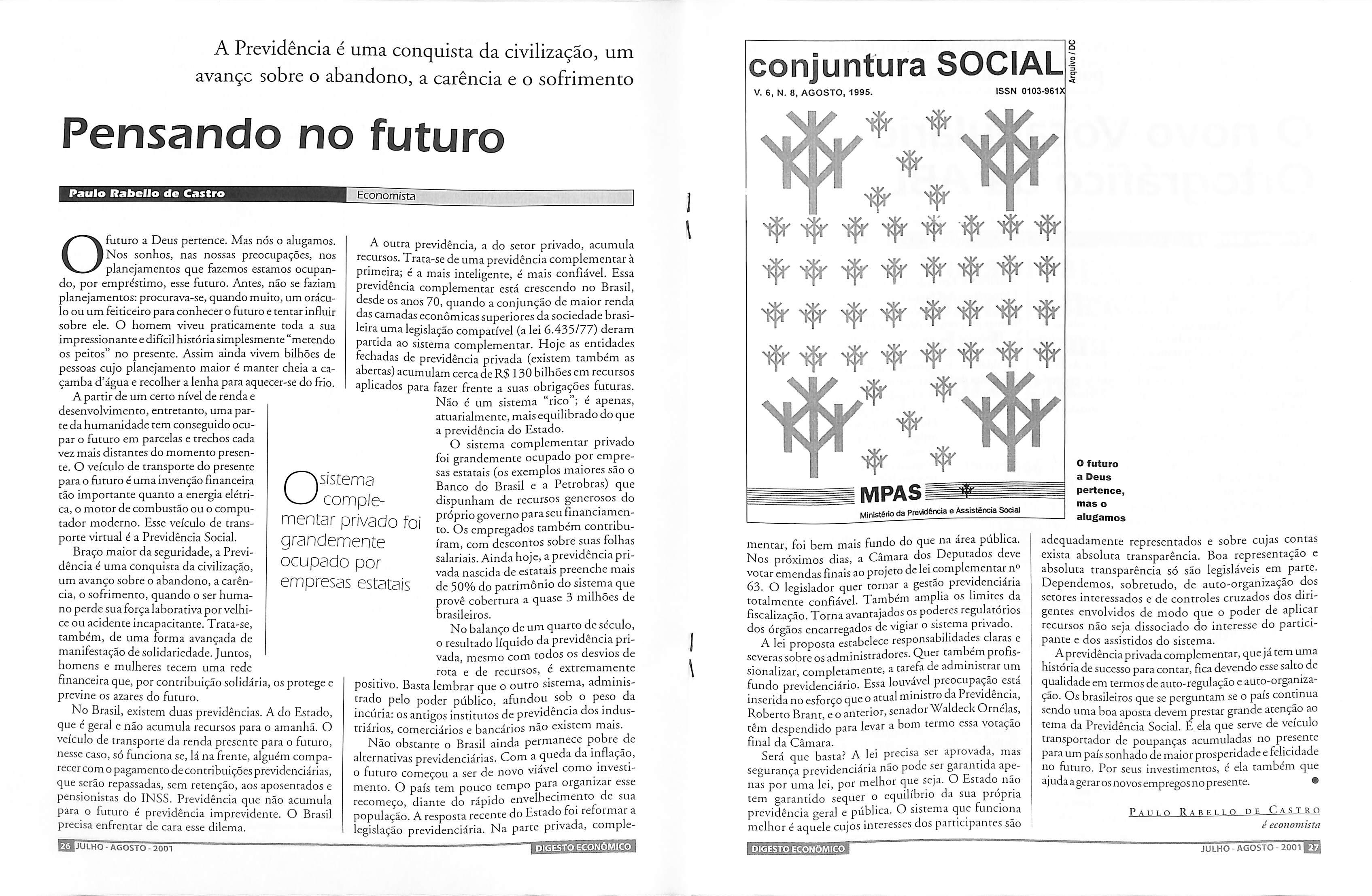
A situação lexicográfica da língua
portuguesa nao é, no conjunto, satisfatória
Evanildo Becíiara
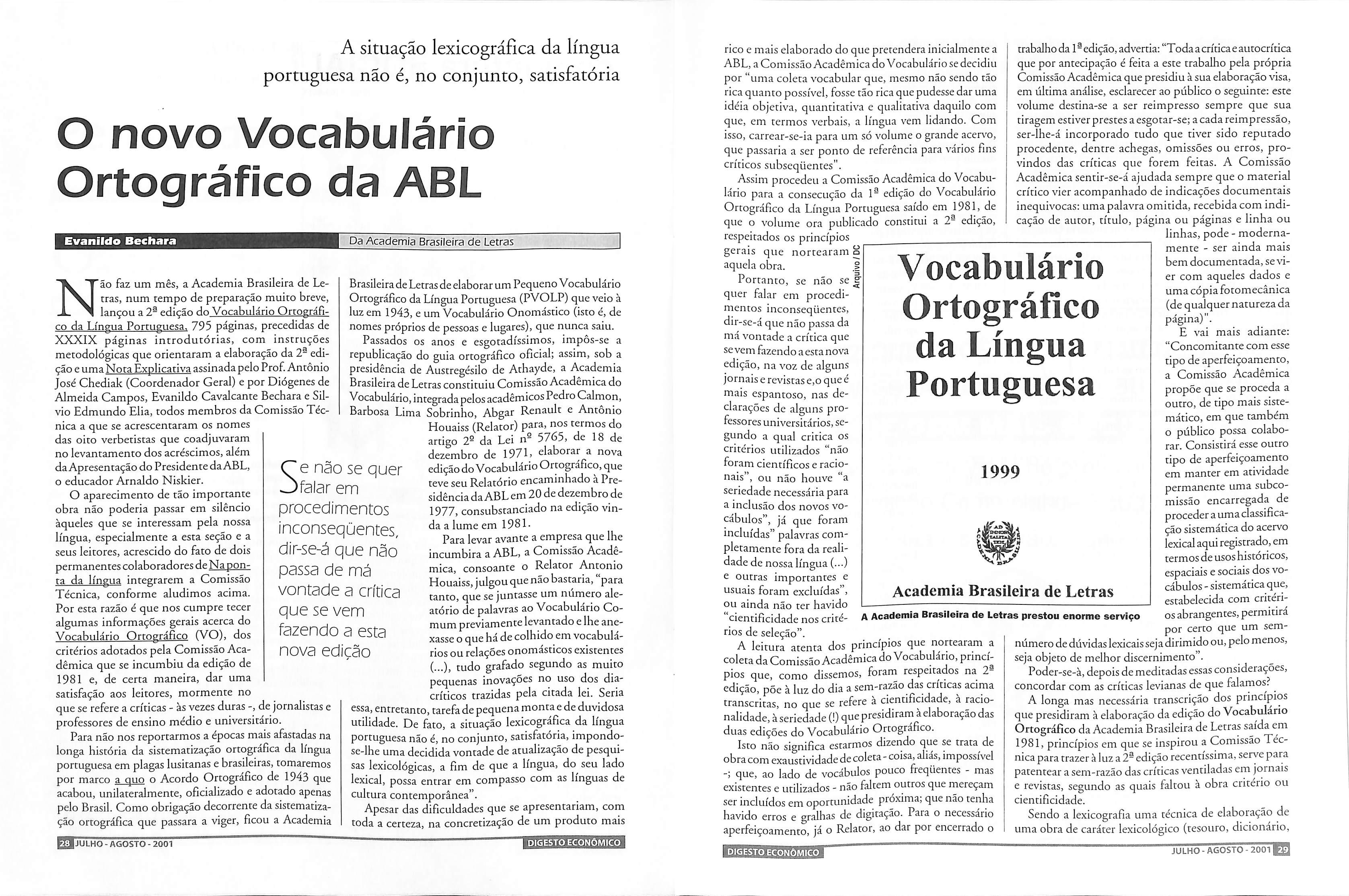
ão faz um mês, a Academia Brasileira de Le tras, num tempo de preparação muito breve, lançou a 2~ edição do Vocabulário Ortográfi co da Língua Portuguesa. 795 páginas, precedidas de XXXIX páginas introdutórias, com instruções metodológicas que orientaram a elaboração da 2~ edi ção e uma Nota Explicativa assinada pelo Prof Antônio José Chediak (Coordenador Geral) e por Diógenes de Almeida Campos, Evanildo Cavalcante Bechara e Sil vio Edmundo Elia, todos membros da Comissão Téc nica a que se acrescentaram os nomes das oito verbetistas que coadjuvaram no levantamento dos acréscimos, além da Apresentação do Presidente da ABL, o educador Arnaldo Niskier.
SO aparecimento de tão importante obra não poderia passar em silêncio àqueles que se interessam pela nossa língua, especialmente a esta seção e a seus leitores, acrescido do fato de dois permanentes colaboradores deNap ta da língua integrarem a Comissão Técnica, conforme aludimos acima. Por esta razão é que nos cumpre tecer algumas informações gerais acerca do Vocabulário Ortográfico (VO), dos critérios adotados pela Comissão Aca dêmica que se incumbiu da edição de 1981 e, de certa maneira, dar uma satisfação aos leitores, mormente que se refere a críticas - às vezes duras de jornalistas e professores de ensino médio e universitário.
Da Academia Brasileira de Letras
Brasileira de Letras de elaborar um Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (PVOLP) que veio à luz em 1943, nomes próprios de pessoas e lugares), que
Vocabulário Onomástico (isto é, de e um nunca saiu.
Passados os anos e esgotadíssimos, impôs-se a republicação do guia ortográfico oficial; assim, sob a presidência de Austregésilo de Athayde, a Academia Brasileira de Letras constituiu Comissão Acadêmica do Vocabulário, integrada pelos acadêmicos Pedro Calmon, Barbosa Lima Sobrinho, Abgar Renault e Antônio Houaiss (Relator) para, nos termos do artigo 2^ da Lei n° 5765, de 18 de dezembro de 1971, elaborar a nova edição do Vocabulário Ortográfico, que Relatório encaminhado à Presidênciada ABL em 20 de dezembro de 1977, consubstanciado na edição vin da a lume em 1981.
teve seu on-
e nao se quer falar em procedimentos inconseqüentes, dir-se-á que não passa de má vontade a crítica que se vem fazendo a esta nova edição
Para não nos reportarmos a épocas mais afastadas na longa história da sistematização ortográfica da língua portuguesa em plagas lusitanas e brasileiras, tomaremos por marco a quo o Acordo Ortográfico de 1943 que acabou, unilateralmente, oficializado e adorado apenas pelo Brasil. Como obrigação decorrente da sistematiza ção ortográfica que passara a viger, ficou a Academia
Para levar avante a empresa que lhe incumbira a ABL, a Comissão AcadêRelator Antonio
mica, consoante o Houaiss, julgou que não bastaria, para tanto, que se juntasse um numero ale atório de palavras ao Vocabulário Co mum previamente levantado e lhe ane- há de colhido em vocabulá- xasse o que rios ou relações onomásticos existentes (...), tudo grafado segundo inovações no uso dos diaas muito pequenas críticos trazidas pela citada lei. Seria essa, entretanto, tarefa de pequena monta e de duvidosa utilidade. De fato, a situação lexicográfica da língua portuguesa não é, no conjunto, satisfatória, impondo- se-lhe uma decidida vontade de atualização de pesqui sas lexicológicas, a fim de que a língua, do seu lado lexical, possa entrar em compasso com as línguas de cultura contemporânea”.
Apesar das dificuldades que se apresentariam, com concretização de um produto mais no toda a certeza, na
rico e mais elaborado do que pretendera inicialmente a ABL, a Comissão Acadêmica do Vocabulário se decidiu uma coleta vocabular que, mesmo não sendo tão por rica quanto possível, fosse tão rica que pudesse dar uma idéia objetiva, quantitativa e qualitativa daquilo com que, cm termos verbais, a língua vem lidando. Com isso, carrear-se-ia para um só volume o grande acendo, vários fins que passaria a ser ponto de referência para críticos subsequentes".
Assim procedeu a Comissão Acadêmica do Vocabu lário para a consecução da edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa saído em 1981, de 2" ediçao. que o volume ora publicado constitui respeitados os princípios
gerais que nortearam q aquela obra.
Portanto, quer falar
se não se ^ em procedi mentos inconseqüentes, dir-se-á que não passa da má vontade a crítica que se vem fizendo a esta nova edição, na voz de alguns jornais e revistas e,o que é mais espantoso, nas de clarações de alguns pro fessores universitários, se gundo critérios utilizados “não foram científicos e racio nais”, ou não houve “a
rrabalhoda 1-edIção, advertia: “Todaacríticaeaurocrítica que por antecipação é feita a este trabalho pela própria Comissão Acadêmica que presidiu à sua elaboração visa, em última análise, esclarecer ao público o seguinte: este volume destina-se a ser reimpresso sempre que sua tiragem estiver prestes a esgotar-se; a cada reimpressão, ser-lhe-á incorporado tudo que tiver sido reputado procedente, dentre achegas, omissões ou erros, provindos das críticas que forem feitas. A Comissão Acadêmica sentir-se-á ajudada sempre que o material crítico vier acompanhado de indicações documentais inequívocas: uma palavra omitida, recebida com indi cação de autor, título, página ou páginas e linha linhas, pode - moderna mente - ser ainda mais bem documentada, se vi er com aqueles dados e uma cópia fotomecânica (de qualquer natureza da página)".
E vai mais adiante: “Concomitante com esse
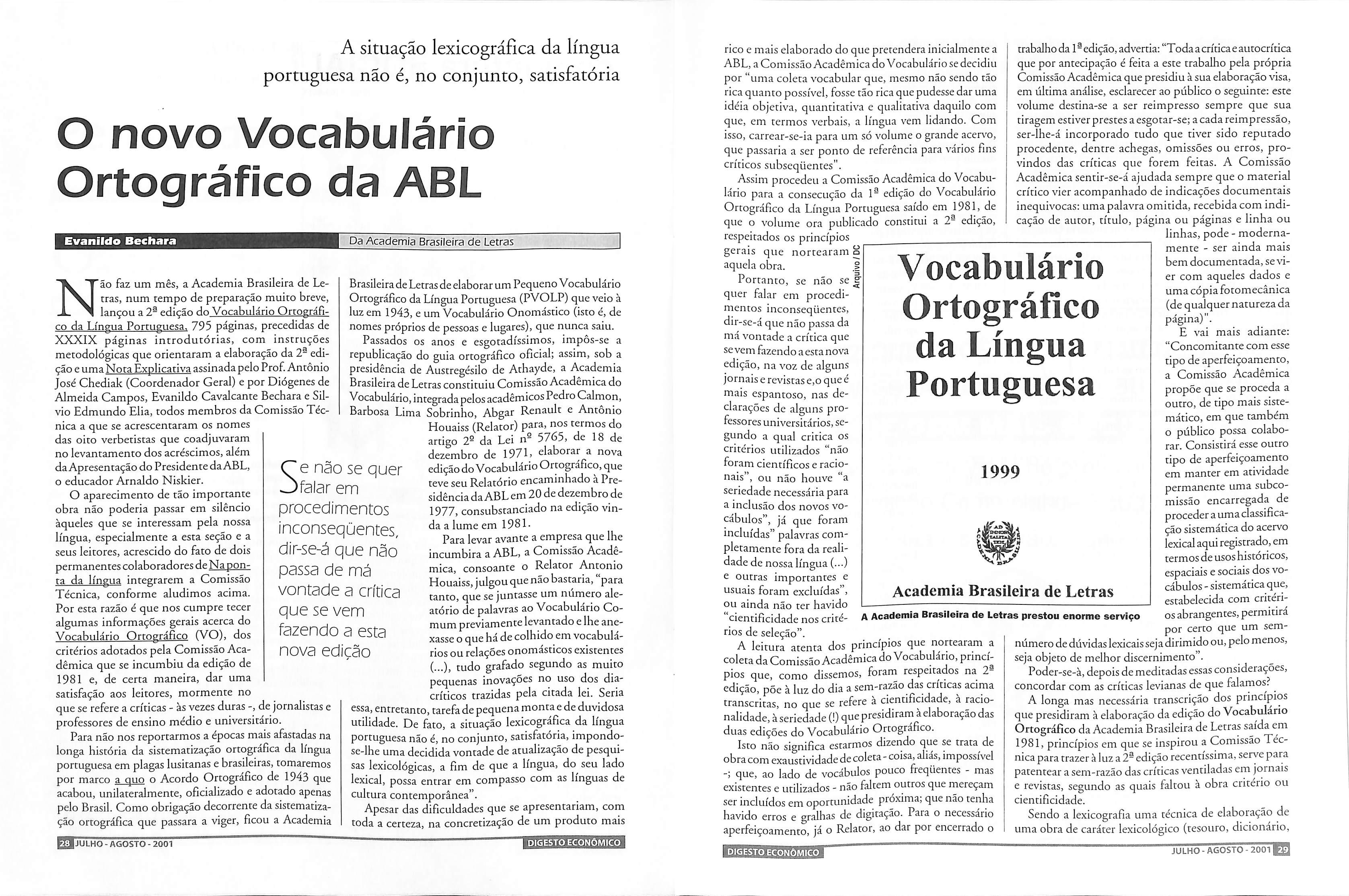
tipo de aperfeiçoamento, a Comissão Acadêmica propõe que se proceda a outro, de tipo mais siste mático, em que também o público possa colabo rar. Consistirá esse outro tipo de aperfeiçoamento atividade uma subco-
encarregada de missao proceder a uma classifica ção sistemática do acervo lexical aqui registrado, em termos de usos históricos, espaciais e sociais dos vo cábulos - sistemática que, estabelecida com critéri os abrangentes, permitirá s 0 dade de
qual critica os 1999 em manter em permanente seriedade necessária para a inclusão dos novos vo cábulos”, já que foram incluídas” palavras completaniente fora da realinossa língua (...) e outras importantes e usuais foram excluídas”, ou ainda não ter havido cientificidade nos criré-
rios de seleção”.
A leitura atenta dos princípios que nortearam a coleta da Comissão Acadêmica do Vocabulário, princídissemos, foram respeitados na 2~ do dia a sem-razão das críticas acima refere à cientificidade, à raciopios que, como edição, põe à 1 transcritas, no que se nalidade. à seriedade (!) que presidiram à elaboração das duas edições do Vocabulário Ortográfico.
A Academia Brasileira de Letras prestou enorme serviço um sem- por certo que número de dúvidas lexicais seja dirimido ou, pelo menos, seja objeto de melhor discernimento
Poder-se-à, depois de meditadas essas considerações, concordar com as críticas levianas de que falamos?
se trata de mas
Isto não significa estarmos dizendo que obra com exaustividade de coleta - coisa, aliás, impossível -; que, ao lado de vocábulos pouco frequentes existentes e utilizados - não faltem outros que mereçam ser incluídos em oportunidade próxima; que não tenha havido erros e gralhas de digitação. Para o necessário aperfeiçoamento, já o Relator, ao dar por encerrado o
A longa mas necessária transcrição dos princípios que presidiram à elaboração da edição do Vocabulário Ortográfico da Academia Brasileira de Letras saída em 1981, princípios em que se inspirou a Comissão 1 ecnica para trazer à luz a 2~ edição recentíssima, serve para patentear a sem-razão das críticas ventiladas em jornais e revistas, segundo as quais faltou à obra critério ou cientificidade.
Sendo a lexicografia uma técnica de elaboração de uma obra de caráter lexicológico (tesouro, dicionário.




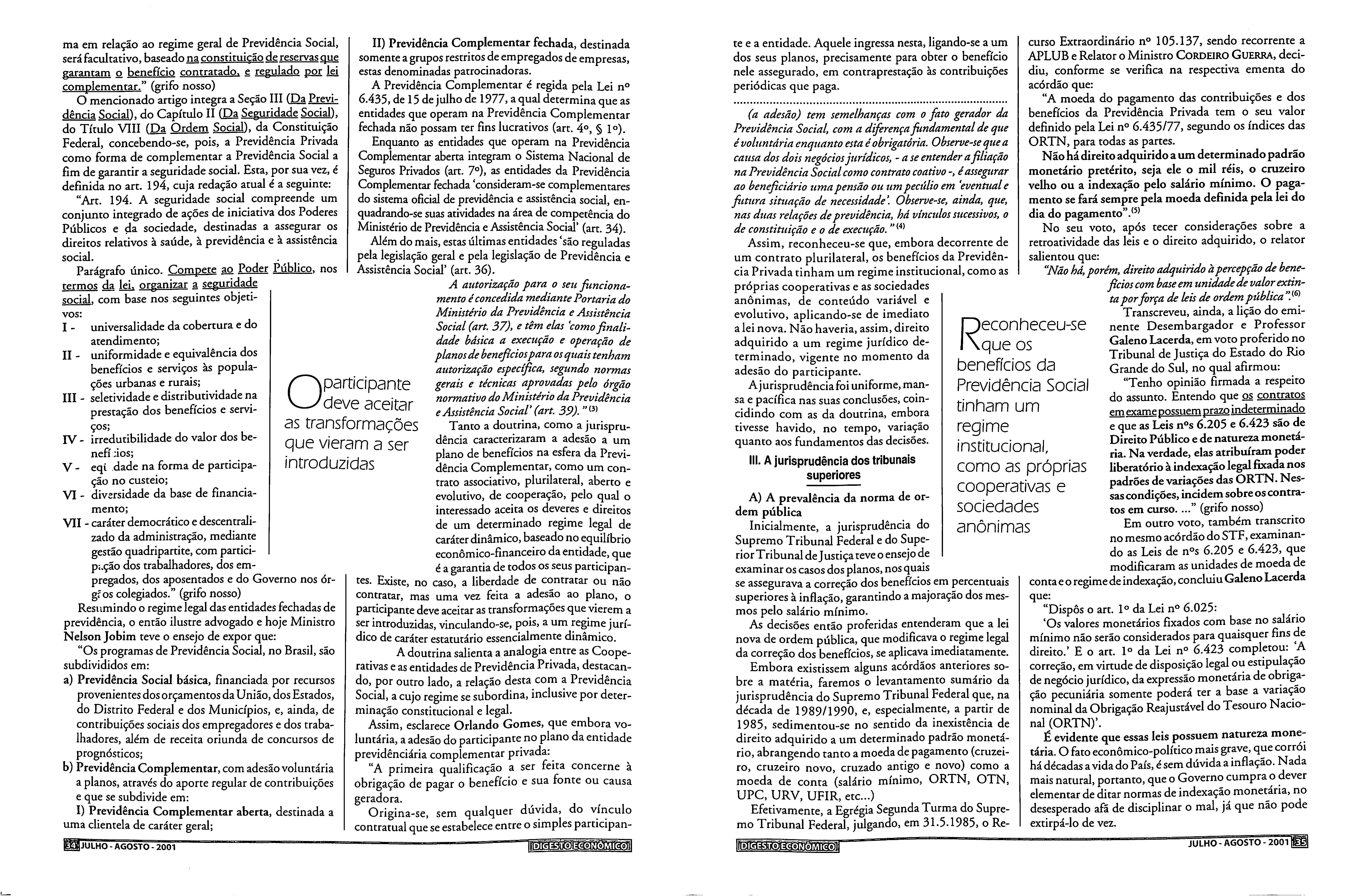
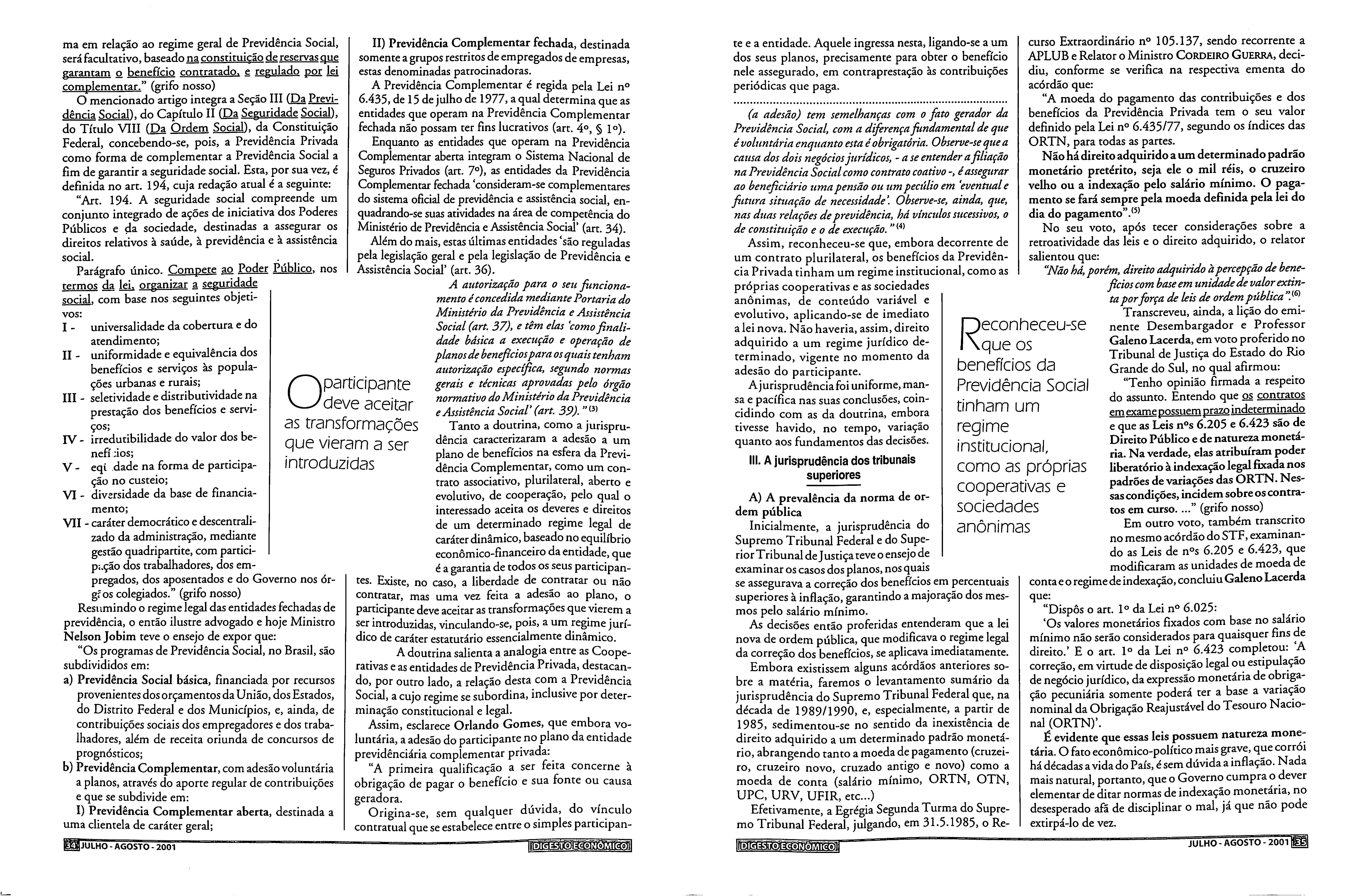




restritivo possam provocar uma diminuição ou redução no patrimônio do titular do direito, não há como deixar de reconhecer que tal redução ou diminuição resulta das próprias limitações impostas pela constituinte à garantia da propriedade.” (ob. cit. p. 167)
Tratando-se, pois, do regime jurídico a ser adotado e aplicado no campo de Previdência Complementar, a lei nova se aplica imediatamente, não se admitindo a chamada retroatividade mínima em virtude da qual consagra, em alguns casos, a ultra-atividade da lei
se antiga.
Quando há modificação do regime jurídico, o novo diploma legal só encontra barreira nos direitos que, efetivamente, já entraram no patrimônio do titular, sem depender de condição ou termo.
Não há, pois, dúvida quanto à existência de verdadeiro regime jurídico, ao qual adere o interessado, devendo aceitar as suas modificações legais e regulamentares futuras, como aliás ocorre, também, em outros casos, como o das cooperativas e em outras organizações decorrentes inicialmente de uma adesão que cria uma posição contratual em virtude da qual o ade rente se sujeita às normas estatutárias, regulamentares e legais, assim como às modificações que vierem a sofrer.
IV. A posição da doutrina quanto à aplicação intertemporal de normas legais e regulamentares à previdência privada

tem, crescem a freqüência e a intensidade dele. Só excepcionalíssimamentesobrevive a lei velha (gri¬ fo nosso)
Os publicistas consideram que, no tocante aos direi tos que se regem pelo regime estatutário, as obrigações ainda não vencidas, sendo suscetíveis de modificação pelo legislador, não constituem direitos subjetivos, mas simples expectativas ou posição jurídica.^É o caso de aderente ao plano em relação às prestações ainda não vencidas.
Em relação à Previdência Privada, a ausência de direito adquirido em relação às prestações futuras deflui do fato de serem alteráveis ao arbítrio do legislador, como já salientado pelo Ministro Moreira Alves, ou da autoridade incumbida de sua regulamentação, não cabendo, pois, a aplicação do art. 6°, § 2°, da Lei de Introdução ao Código Civil. Outro argumento rele vante enfatizado pela doutrina é o fato de se tratar de contrato por prazo indeterminado, ou de contrato de exe~ .. cução sucessiva ao qual se aplica a lei 0piIC3 0 vigente no momento em que surge a Q0r0ntÍ0 exigibilidade da prestação.
Na realidade, o regime da Previdên cia Social e da Previdência Comple mentar não é de direito privado, mas deflui das normas constitucionais refe rentes à ordem social. Aplica-se-lhes, pois, a lição de Pontes de Miranda, que se referia às normas de direito administrativo e já vimos que o próprio Excelso Pretório tem invocado caso da Previdência Complementar este ramo da ciên cia jurídica.
Escreve a este respeito Pontes de Miranda que:
“A cada passo se diz que as normas de direito público — administrativo, processual e de organização judiciá ria - são retroativas, ou contra elas não se podem invocar direitos adquiridos. Ora, o que em verdade acontece é que tais regras jurídicas, nos casos examina dos. não precisam retroagir, nem ofender direitas ad quiridos. para que incidam desde logo. O efeito, que se lhes reconhece, é normal, o efeito m presente, o efeito imediato, pronto, inconfundível com o efeito no passa do. 0 efeito retroativo, que é anormal, fá no direito privado, o efeito imediato nos deixa, por vezes, a ilusão da retroatividade. (...) No domínio do direito público, que é acima desse ponto, pelo muito de institucional que IflíÉJULHO-AGOSTO-2001
rn,r^ci-ii-i Neste sentido manifestam-se, em CIOr)0l do excelentes pareceres sobre a matéria, os direito 8dC|UÍrÍdO professores Washington de Barros em rplpir^n Monteiro^^®L Orlando Gomes^^*^ e ^ ^ Miguel Reale^^^^, que concordam em prestações não reconhecer que não se aplica a garantia vencidas de constitucional do direito adquirido em rnnt r relação às prestações não vencidas de COncratOS por contratos por prazo indeterminado, prazo embora não se refiram ao regime indeterminado “ Em plLeiro lugar. cabe lembrar que o próprio texto do art. 6°, § 2°, refere-se ao direito que já se integrou patrimônio do titular (“... que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer... “) ou ao que depende de condição inalterável ou de termo prefixo. Esta expressão pressupõe a existência de contrato por prazo determinado, o que não ocorre, necessariamente, nos contratos previdenciários. As sim, não há, no caso, termo prefixado e a condição é alterável a arbítrio de outrem (legislador ou autori dade regulamentar).
Consequentemente, Washington de Barros Monteiro, no parecer já citado afirma que, embora se tenha veiculado que os contratos em questão são de prazo determinado, o seu entendimento é no sentido de considerar que:
“Em tal hipótese, o prazo é incerto, porque indefini da ou indeterminada a sua duração”.
Por sua vez, o Professor Miguel Reale, após ter salientado que a adesão do participante abrange as regras atuais e futuras estabelecidas para o plano.
enfatizado o caráter associativo do contrato e a finalida de comum dos aderentes, conclui no mesmo sentido: “Disse que a figura do ‘contrato por tempo indetermiando’ é incompatível com a existência de uma associação ‘de partes arbertas’, isto é, cujos prazos de duração, - previstos quer para a vida da entidade, quer para seus planos previdenciários, não vinculam o associado.” (Parecer já citado)
Finalmente, Orlando Gomes distingue duas fases na relação entre o participante e a entidade de Previdência
Privada:
a) a primeira que é a da constituição da relação jurídica, a adesão, que considera de natureza contratual; b) a segunda abrangendo a execução, que é estatutária e na qual cada fase deve reger-se pela lei vigente no respectivo momento em que ocorre, por considerar que as eventuais prestações periódicas devem consideradas como atos singulares de execuções j uridicamente autônomas.
Partindo dessas premissas, conclui Orlando Gomes pela constitucionalidade das leis modificativas do regime da Previdência Complementar vigente no momento da adesão do participan te. Escreve a respeito o saudoso jurista: “Válidas são, desse modo, as leis que alteram, para o futuro, o exercício de direitos em atividade, mas oriundos de negócio jurídico constituído sob o im pério de lei já substituída. Hoje se reconhece tranquilamente a inexistência de direitos adquiridos plena propriedade nos contratos suces sivos, como diz um escritor. Têm esta natureza tão-somente as prestações já esgotadas antes da vigência da lei nova.

Escreve a respeito o eminente professor paulista que: “C) Direitos de Aquisição Sucessiva. Trata-se, como vimos daqueles que se obtém, mediante o decurso de um lapso de tempo. É o caso de prescrição, do direito à aposentadoria, da maioridade, etc.
Não se confundem com os direitos a termo. Nestes últimos, a perfeição depende da mera incidência de um evento futuro e certo; naqueles, o direito se adquire dia a dia, com o correr sucessivo do prazo.
A retroação total, conforme o preceito de Müller, ignorar a patrimonialidade do prazo já decorrido. Por outro lado, a aplicação integral da lei antiga (Código Francês, art. 3.381) implicaria considerar adquirido um direito cuja perfeição estava dependência de elementos ainda não verificados.
A solução, pois, parece encontrar-se na aplicação imediata da lei, considerando-se valido o lapso ja decorrido, e computando-se o lapso, de acordo com a lei nova.
por escoar
A
integração
/\ patrimônio
do titular se obtém mediante o decurso do tempo, como acontece na aposentadoria no
Afirma-se que, em tais contratos, o direito do credor ‘não se adquire instan taneamente mas à medida que se vai tempestivamente exercendo. Seja esta a explicação correta ou não, o certo é que, antes do seu exercido no tempo devido, o direito a prestação do devedor ainda não se incorporou aopatrimônio do credor, - o que ocorreria apenas se estivesse definitiva mente adquirido e já fosse uma ‘propriedade' do credor. Direito adquirido só existe, na hipótese, quanto aos efeitos já produzidos do conti‘ato, não quanto às obrigações que ainda não tiveram ocasião de ser cumpridas e muito menos quanto ao modo de adimplemento.
Está isto não apenas de acordo com a lógica jurídica, senão também com a regra do efeito imediato, a qual cons titui atualmente uma das vigas mestras do nosso sistema de Direito
Intertemporal.
Assim, pedimos licença para discordar do mestre Haroldo Valladão, quando no§l°do art. 82 do seu Anteprojeto exige que, em relação ao lapso ja escoado, se observem os requisitos da lei nova.
Assim, quer se admita a existência de regime estatutário, quer se prefira tender que há no caso um contrato de conteúdo dinâmico com aquisição su cessiva de direitos, a conclusão e idênti ca. Reconhecida a constitucionalidade das modificações legislativas ou regula mentares, cabe agora analisar mais deti damente a Lei n° 6.435 e os seus efeitos, diante das alterações decorrentes da Emenda Constitucional n° 20. enem
V. Análise da Lei n- 6.435/77
A Lei n° 6.435, de 157.1977, surgiu para regula mentar a Previdência Privada, abrangenclo tanto entidades abertas quanto as fechadas, constituindo urn diploma sistemático e coerente, que veio pôr relativa insegurança que existia no setor por falta e legislação e regulamentação adequadas.
O Professor Limongi França, na sua excelente monografia sobre direito intertemporal, faz interessan te distinção entre os direitos de aquisição imperfeita, entre os quais inclui os dependentes de condição, e os direitos de aquisição sucessiva, nos quais a integração no patrimônio do titular se obtem medi ante o decurso do tempo, como acontece na aposenta doria.
Na Mensagem n° 155/77 ao Congresso Nacional foi salientado pelo Governo que: as « (23) termo ou
Trata-se de lei que foi fruto da colaboração do Execu tivo (que mandou a mensagem) e do Legislativo^ (que apresentou e votou as emendas), recebendo sugestões de todas as áreas interessadas e dando soluções equilibradas e eficientes para alcançar as suas finalidades.
(...)
JULHO - AGOSTO - 2001 lÉlÕl
12. - Os objetivos fundamentais que se procura atingir podem ser assim sintetizados:
- adequação da ação das entidades aos interesses sociais e econômicos do país;
- proteção aos interesses dos participantes;
- ampla liberdade de atuação de quaisquer interes sados, mas com uma definição de responsabili dades tão clara quanto possível;
- esquemas específicos para a fixação dos critérios gerais de atuação, a serem uniformemente segui dos, com vistas à segurança das operações;
- adequado instrumental de fiscalização, que pos sibilite a identificação, em tempo útil, de even tuais distorções, sua superação e efetiva punição dos responsáveis, quando caracterizada a má fé.
13. - Considerando a importância do setor e as carac terísticas peculiares de sua atuação, no contexto da legislação até agora em vigor, o anteprojeto procura prevenir a possibilidade de prejuízos à nor mal continuidade das operações de entidades já existentes, que sejam criteriosamente organiza das e conduzidas.(...)”
Verifica-se, assim, que as metas da legislação ordinária que constam no referido diploma se coadunam plena mente com a nova redação dada ao art. 202 da Constituição, pela Emenda n° 20, que também enfatiza a necessidade de formação de reservas “que garantam o benefício contratado” e o pleno aces so às informações, adotando, ainda, outras medidas nas quais estabelece limites para a contribuição das pessoas jurídicas de direito público às entida des de Previdência Privada.
Oe fiscalização dos que exercem atividades subordina das a este capítulo, bem como a aplicação das pena lidades cabíveis;
c) estipular as condições técnicas sobre custeio, inves timentos e outras relações patrimoniais;
d) estabelecer as características gerais para planos de benefícios, na conformidade do disposto na alínea a, supra:
e) estabelecer as normas gerais de contabilidade, atuária e estatística a serem observadas;
f) conhecer dos recursos de decisões dos órgãos execu tivos da política traçada na forma da alínea a deste inciso.”
VI. 0 equilíbrio econômico-financeiro (ou financeiro e atuarial)
No caso concreto, merece especial referência a neces sidade de manter o equilíbrio econô mico-financeiro das instituições de Previdência Privada, garantido consti tucionalmente (art. 202 caput) e do qual tratam vários artigos da Lei n° 6.435, sendo da essência da entidade previdenciária e constituindo a sua ma nutenção, a maior preocupação do Poder Público, a razão de sua interven ção normativa e da sua fiscalização no setor.
conceito de equilíbrio econômicofinanceiro está consagrado
na legislação e na doutrina
Não existindo conflitos entre o tex to constitucional e a lei ordinária, não há revogação da mesma, que permanecerá em vigor até a elaboração de nova lei complementar, nos moldes determinados pela Emenda Constitucional n° 20.
A regulamentação da lei pode ser baixada por Decre to do Poder Executivo, nos precisos termos do art. 84, inciso IV, da Constituição, sem prejuízo da competên cia normativa prevista pelo art. 35,1, da Lei, de acordo com o qual:
“Art. 35. Para os fins deste capítulo, compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social: I - Através de órgão normativo a ser expressamente designado: a) fixar as diretrizes e normas da política complementar de previdência a ser seguida pelas entidades referidas no artigo anterior, em face da orientação da política de previdência e assistência social do Governo Federal; b) regular a constituição, organização, funcionamento l&Éi JULHO - AGOSTO - 2001

Reconhece-se, assim, que houve, em relação à Previdência Privada, a passa gem de um regime de liberdade ampla para um relativo dirigismo, decorrente da necessidade de se instituir a adequa da regulamentação e fiscalização para dar a credibilidade ao novo mercado que se criou.
Em certo sentido, as mesmas razões que ensejaram a criação da SUMOC e, posteriormente, do Banco Central, na área bancária, da CVM, no mercado de capitais, e da SUSEP, em relação às seguradoras, justificaram a nova legislação e a criação de órgão próprio para regular, supervisionar e fiscalizar as entidades da Previdência Privada, pelo fato de movi mentarem recursos do público.
A dupla regulamentação pela SUSEP, em relação às entidades abertas, e pelo Ministério da Previdência Social no tocante às entidades fechadas, assim como a atribuição ao Conselho Monetário Nacional da com petência para baixar diretrizes referentes às aplicações de recursos, explicam-se, justamente, pela necessidade de garantir o equilíbrio entre as receitas, de um lado, e, de outro lado, as obrigações efetivas ou virtuais assumi das pelas entidades previdenciárias, ou seja, o quantum dos débitos e o correspondente aos riscos.
Aliás, o conceito de equilíbrio econômico-financei ro está consagrado na legislação e na doutrina, tendo
chegado a ter consagração constitucional em relação aos contratos administrativos.^^®^
Na realidade, embora a maioria dos tribunais e dos autores identifique o sentido dos dois adjetivoseconômico e financeiro — a melhor doutrina é no sentido de distingui-los, tanto mais que não se presu me que o legislador utilize sinônimos inúteis para enfatizar o caráter de determinadas obrigações. Como já foi salientado por Mário HenriqUE Simonsen, o equilíbrio financeiro se refere à correspondência entre os dois elementos do fluxo de caixa: receitas e despesas (input e output), enquanto o equilíbrio econômico (atuarial no caso dos fundos de pensão) se refere ao resultado global final da operação, que não pode ser deficitária. (29)
Esta dupla garantia é tanto mais importante que os fundos de pensão representam uma forma de utiliza ção da poupança, que já foi considera da como o instrumento de verdadeira
“Resolução invisível”^^'^ com refle xos na canalização dos recursos de empregados e empregadores e no pró prio desenvolvimento do mercado de capitais.^^®’
Ora, a sobrevivência do fiindo de pensão pressupõe a manutenção do seu equilíbrio, conforme reconhecem tan-
to os juristas, como os economistas.

equilíbrio econômico-financeiro se reveste, nas entida des de Previdência Social, da especialização sob a forma de equilíbrio financeiro e atuarial, este último, substi tuindo o econômico pelas peculiaridades do fundo de pensão. Esclarecem os mencionados economistas que: “Quanto ao regime previdenciário, é importante diferenciar dois tipos de equilíbrio: financeiro e atuarial:
* O equilíbrio financeiro leva em conta apenas os desembolsos e as receitas correntes dos planos, somadas às provisões e outras reservas acumuladas;
* O equilíbrio atuarialexige, alémdisso, qtte os desembol sosfiituros sejam compatíveis com as expectativas de receitas. DessaformOy o equilíbrio financeiro analisaria a solvência do plano e o equilíbrio atuarial demonstraria a solvabilidade, que é a capacidade de sustentar a solvência no fiuturo.
maram o contexto
mportantes fatores demográficos e econômicos
Ora, como também consta no mencionado parecer e própria Exposição de Motivos que inspirou o Decreto n° 3.721, importantes fatores demográficos e econômicos transfordentro do qual a legislação deve ser aplicada, justifican do-se, pois, a modificação do Decreto n° 81.204/78, que estabeleceu a idade mínima de 55 anos para a aposentado ria, que não mais se coaduna com as condições existentes no século XXI. Assim, um grande número de em- os fundos
Assim, o Professor Miguel Reale, no seu parecer já referido, teve o ensejo de salientar (30)
Em verdade, uma associação de Previdência Privada repousa sobre esse balanceamenm eqüitativo de valores, entre o que ela PODE auferir mediante a aplicação das contribuições dos parti cipantes e o que PODE e DEVE lhes pagar a título de aposentadoria ou de pensão. Quebrado esse eqüilíbrio, pela superveniencia de normas legais de ordem pública, impÕem-se a corre- Ção e a adaptação de ambas as escalas de valores da Receita e da Despesa, máxime em se tratando, como vimos, de um ‘contrato de colaboração’.
transformaram o contexto dentro do qual a legislação deve ser aplicada
presas privadas fixou, para por elas patrocinadas, a idade mínima de 60 anos, sendo idêntica a tendência do direito estrangeiro. Há, pois, uma incontestável justifica ção econômica e social para as mudanças contidas no Decreto, que preenche todos os requisitos de constitucionalidade, le galidade e razoabilidade.Fixadas as premissas acima, pode mos concluir.
Em conclusão, reconhecemos:
Isto posto, a invocação da ruptura do primitivo equilíbrio financeiro fundado na autonomia da vontade (ex contracto) para dar lugar a um novo equilíbrio ex lege, em razão da superveniência de imprevisível e irresistível norma legal imperativa, não constitui mero argumento ad terrorem, mas representa um dos pontos capitais em que a Consulente funda legitimamente a sua decisão. Fora disto, é ignorar as mais elementares normas que presidem a base técnica ou atuarial essen cial à constituição e à vida dos entes previdenciarios.
Por sua vez, o Ministro Mailson da Nóbrega e alguns dos seus colaboradores deTendencia Consultoria Integrada, em recentíssimo parecer, enfatizaram que o
a) a plena vigência da Lei n° 6.435/77, com cujo texto não conflita a Emenda Constitucional n° 20, que, assim sendo, não a revogou. A situação é mais ou menos análoga à existente, na área bancária, erri relação à lei n° 4.595, de 31.12.1964, que não foi alterada pelo art. 192 da Constituição de 1988 e continua em vigor; b) é válido, por ser constitucional, legal e ter fundamen tos razoáveis e adequados, o decreto n° 3.727, de 8.1.2001, cuja Exposição de Motivos comprova que foi baixado no exercício do poder-dever do Governo Federal de modificar a legislação anterior (Decreto 81.240/78), diante das modificações ocorridas no contexto demográfico e econômico do país no de curso de mais de vinte anos; n°
lULHO - AGOSTO - 2001 |t^
1
c) que a aplicação imediata do Decreto aos partici pantes do fundo que ainda não se aposentaram não constitui violação de direito adquirido pelo fato de se tratar de regime institucional e de não ter sido incorporado ao patrimônio do titular o direito correspondente, existindo simples posição jurídica ou expectativa de direito, que não goza de garantia constitucional.; no caso, não estão preenchidos os requisitos estabe lecidos pelo legislador ordinário na Lei de Introdu ção, pois de acordo com a melhor doutrina referida no presente estudo:
Mailson da NóBREGA, Valor Econômico de 20.02.2001. p. AlO.
2 Míriam Leitão, O Globo 25.02.2001.
3 Nelson Jobim, Parecer dado à ABRAPP, 20.10.1994.
4 Orlando Gomes, Parecer dado à APLUB em setem bro, 1980.
5 RTJ 115/379.
6 RTJ 115/385.
7 RTJ 115/389.
8 RTJ 122/1.076.
9 RTJ 122/1.077.
10 Vicente RAo, O Direito e a Vida dos Direitos, vnl. 1, tomo III, Ed. Max Limonad, 1960, n° 303, p. 462.
11 RE n° 105.322-4-RS, Rei. Ministro Francisco Rezek, j. em 11.04.1986, DJU de 16.05.1986, Ementário n° 1.419-3.
12 RE n° 107.720-4-RS, Relator Ministro Djaci Fal cão, j. em 03.06.1986, acórdão publicado no DJU de 1.08.1986, p. 12.892.
13 RE 107.763, julgado em 30.6.87, Relator Ministro Sydney Sanches.
14 Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1967. com a Emenda Constitucional n£ 1 de 1969,2“ ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1971, vol. V, p. 392.
15 Gilmar Ferreira Mendes, Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, 2^ed.,p. 152/153.
16 RDA 2/100.
17 ERE n° 113.923 /« RTJ, p. 570 transcrito no presen te parecer.
18 Pontes de Miranda, ob. cit., p. 99.
19 Ruy CiRNE DE Lima. Princípios de Direito Adminis trativo. Porto Alegre, Sulina Editora, 1964, p. 58.
d.l) OS contratos são de adesão e dirigidos; d.2) não devem os mesmos ser considerados como de prazo determinado mas de execução sucessiva, ou de aquisição sucessiva de direito, tendo em vista, inclusive, a liberdade de entrar e sair do plano; d. 3) a condição existente é alterável a critério das autoridades competentes. ●
Arnoldo Wald
é advogado. Professor Catedrático de Direito Civil da UERJ, Presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, Doutor Honoj-is causa pela Faaildade de Direito de Paris.
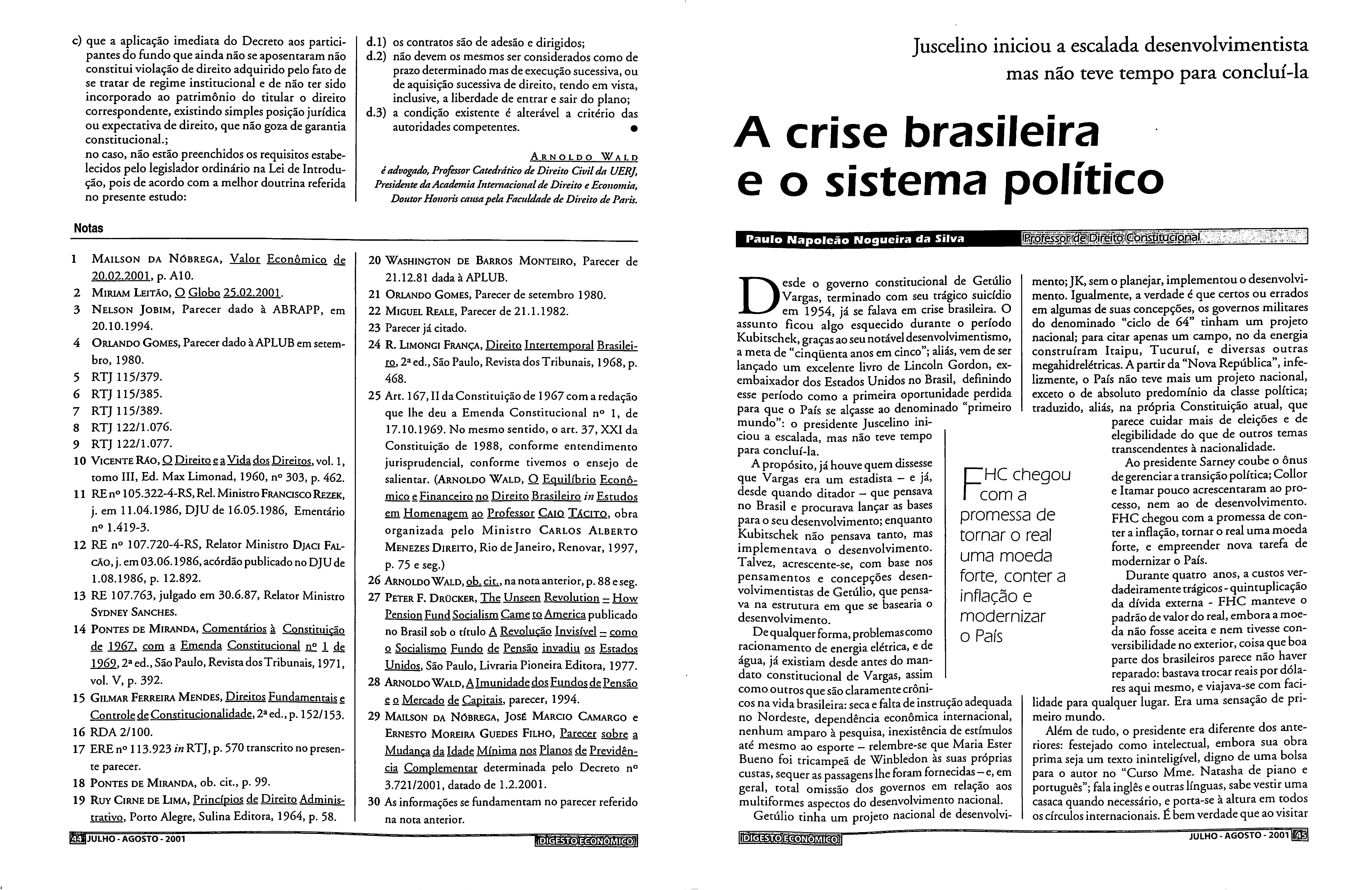
20 Washington de Barros Monteiro, Parecer de 21.12.81 dada à APLUB.
21 Orlando Gomes, Parecer de setembro 1980.
22 Miguel Reale, Parecer de 21.1.1982.
23 Parecer já citado.
24 R. LimONGI França, Direito Intertemporal Brasileiro, 2^ ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1968, p. 468.
25 Art. 167, II da Constituição de 1967 com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n° 1, de 17.10.1969. No mesmo sentido, o art. 37, XXI da Constituição de 1988, conforme entendimento jurisprudencial, conforme tivemos o ensejo de salientar. (ArnoldO Wald, O Equilíbrio Econô mico e Financeiro no Direito Brasileiro in Estudos em Homenagem ao Professor Caio TAcito. obra organizada pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Rio de Janeiro, Renovar, 1997, p. 75 e seg.)
26 Arnoldo Wald, ob. cit.. na nota anterior, p. 88 e seg.
27 Peter F. DrÜCKER, The Unseen Revolution - How Pension Fund Socialism Cam_e to America publicado no Brasil sob o título A Revolução Invisível — como o Socialismo Fundo de Pensão invadiu os Estados Unidos. São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1977.
28 ARNOT.nnWATn. ATmunidadedosFundosdePensãn e o Mercado de Capitais, parecer, 1994.
29 Mailson da Nóbrega, José Márcio Camargo e Ernesto Moreira Guedes Filho, Parecer sobre a Mudança da Idade Mínima nos Planos de Previdên cia Complementar determinada pelo Decreto n° 3.721/2001, datado de 1.2.2001.
30 As informações se fundamentam no parecer referido na nota anterior.
Juscelino iniciou a escalada desenvolvimentista mas não teve tempo para concluí-la
Paulo Napoleão Nogueira da Silva
Desde o governo constitucional de Getúlio Vargas, terminado com seu trágico suicídio 1954, já se falava em crise brasileira. O assunto ficou algo esquecido durante o período Kubitschek, graças ao seu notável desenvolvimentismo, a meta de “cinquenta anos em cinco alias, vem de ser lançado um excelente livro de Lincoln Gordon, exembaixador dos Estados Unidos no Brasil, definindo esse período como a primeira oportunidade perdida para que o País se alçasse ao denominado “primeiro mundo”: o presidente Juscelino ini ciou a escalada, mas não teve tempo para concluí-la.
A propósito, já houve quem dissesse que Vargas era um estadista — e ja, desde quando ditador - que pensava no Brasil e procurava lançar as bases para o seu desenvolvimento; enquanto Kubitschek não pensava tanto, mas implementava o desenvolvimento. Talvez, pensamentos e concepções desenvolvimentistas de Getúlio, que pensa va na estrutura em que se basearia o desenvolvimento.
De qualquer forma, problemas como racionamento de energia elétrica, e de água, já existiam desde antes do man dato constitucional de Vargas, assim como outros que são claramente crôni cos na vida brasileira: seca e falta de instrução adequada no Nordeste, dependência econômica internacional, nenhum amparo à pesquisa, inexistência de estímulos até mesmo ao esporte - relembre-se que Maria Ester Bueno foi tricampeã de ^Vinbledon as suas próprias custas, sequer as passagens lhe foram fornecidas — e, em geral, total omissão dos governos em relação aos multiformes aspectos do desenvolvimento nacional.
mento; JK, sem o planejar, implementou o desenvolvi mento. Igualmente, a verdade é que certos ou errados em algumas de suas concepções, os governos militares do denominado “ciclo de 64” tinham um projeto nacional; para citar apenas um campo, no da energia construíram Itaipu, Tucuruí, e diversas outras gahidrelétricas. A partir da “Nova República , infe lizmente, o País não teve mais um projeto nacional, de absoluto predomínio da classe política; traduzido, aliás, na própria Constituição atual, que cuidar mais de eleições e de
parece elegibilidade do que de outros temas transcendentes à nacionalidade.
Ao presidente Sarney coube o ônus de gerenciar a transição política; Collor e Itamar pouco acrescentaram ao prode desenvolvimento. FHC chegou com a promessa de con ter a inflação, tornar o real uma moeda nova tarefa de ~HC chegou com a promessa de tornar o real uma moeda forte, conter a inflação e modernizar o País cesso, nem ao forte, e empreender modernizar o País. base nos acrescente-se, com
Durante quatro anos, a custos ver dadeiramente trágicos - quintuplicação da dívida externa - FHC manteve o padrão de valor do real, embora da não fosse aceita e nem tivesse con versibilidade no exterior, coisa que boa parte dos brasileiros parece parado: bastava trocar reais por dóla res aqui mesmo, e viajava-se com faci- qualquer lugar. Era uma sensação de priamoenão haver re lidade para meiro mundo.
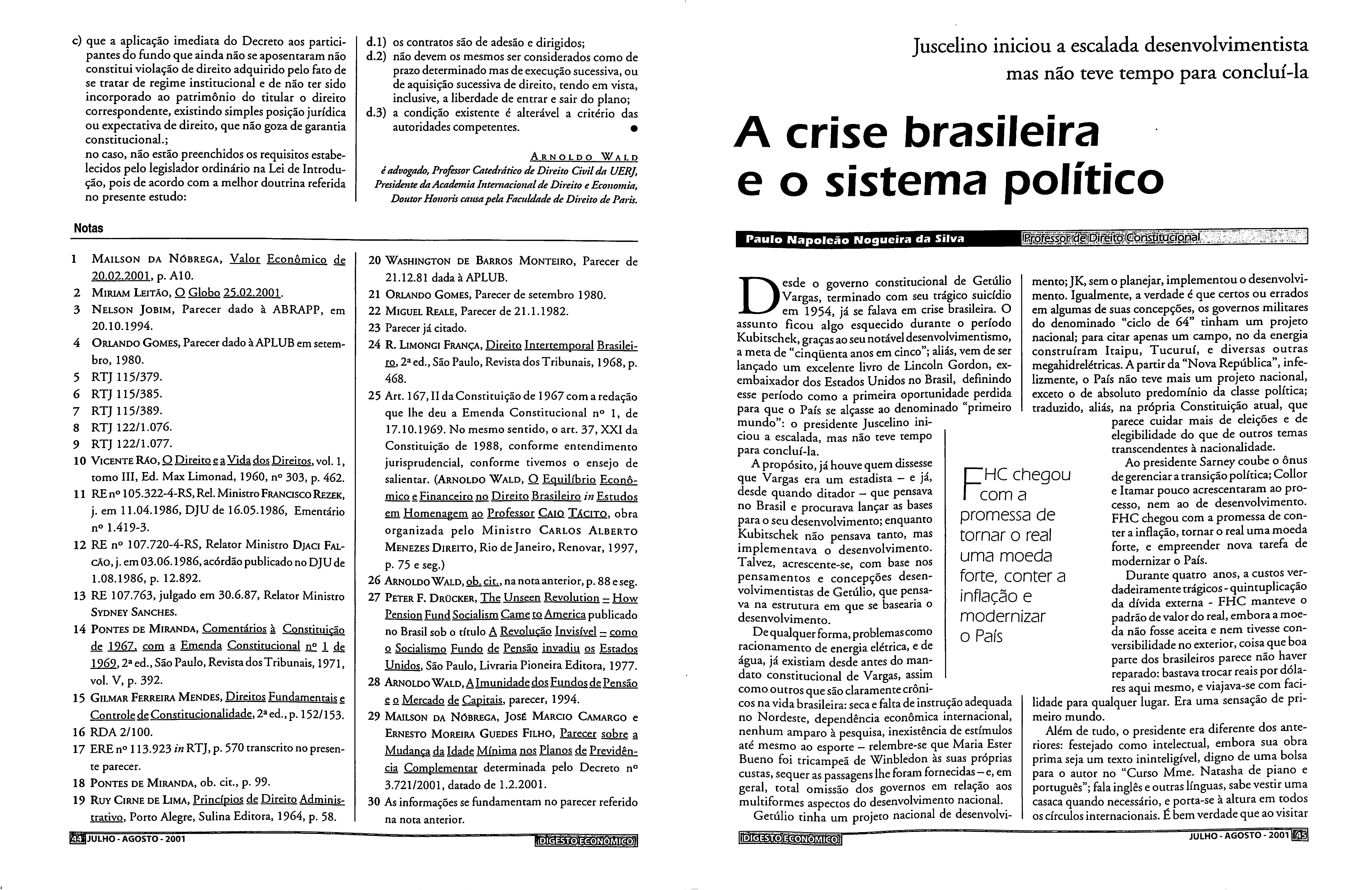
Getúlio tinha um projeto nacional de desenvolvi-
Além de tudo, o presidente era diferente dos ante riores: festejado como intelectual, embora sua obra prima seja um texto ininteligível, digno de uma bolsa para o autor no “Curso Mme. Natasha de piano e português”; fala inglês e outras línguas, sabe vestir uma casaca quando necessário, e porta-se à altura em todos os círculos internacionais. É bem verdade que ao visitar JULHO - agosto - 2001 jj^
megahídrelétrícas foram construídas durante o período chamado de “Ciclo de 64”
o Vaticano e o Papa, permitiu-se o ridículo de se ajoelhar para rezar - ele, que sempre se declarou ateue de usar a faixa presidencial em ato que não era de Estado, e muito menos ato interno ao País. De qualquer modo, como é natural os brasileiros viam-se refletidos nele, sua popularidade era espantosa.
Depois, começaram a surgir sintomas de que nada mudara na política brasileira. Votos de deputados teriam sido comprados para garantir a emenda da reeleição; o ministro Sérgio Motta, acusado de ser o comprador, buscou asilo espontâneo em Portugal e por lá ficou até que o assunto perdesse força na mídia. Outros mais assuntos surgiram, mas a reeleição acontefacilmente: ainda havia paridade entre o real e o dólar norte-americano.
No discurso de sua segunda posse, o presidente nem que falar ao Congresso: precisou ser ajtida-
param de chegar suspeitas de condutas impróprias, e cujo patrimônio - tendo sido a vida toda agente público - não encontra qualquer explicação plausível.
Para completar o quadro, a injusta defenestração de ACM, que se tornara indômito perseguidor da corrupção, pelo antiético Conselho de Ética do Senado - do qual figurava a senadora Heloísa Helena, cujo voto foi o pivô no caso do painel eletrônico - começou a acabar com o governo FHC; e, o empenho pessoal do presidente para impedir uma CPI da corrupção, embo ra acertado — tratava-se, evidentemente, de movimento visando fins eleitorais em 2002 - terminou por acabar com a sua credibilidade. Além de tudo, pesa o seu afã em eleger o sucessor. Por que isso? Kubitschek portou-se como magistrado na disputa pela sua sucessão: não lhe pesavam quaisquer ameaças de retaliação, depois.

encontrou o do pelo presidente deste, então o senador Antônio Carlos Magalhães. Alguns dias depois da segunda posbola de neve começou a rachar, a água a vazar por todos os lados: acabou-se a artificial paridade cambial, dossiê Cayman - onde há fumaça, costuma se, a vieram o haver fogo - os casos Luiz Estevão, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Eduardo Jorge e... quantos mais? Seriam inumeráveis. Por fim, o presidente foi até mesmo perfeccionista, superou-se ao conduzir à presi dência do Senado alguém sobre cujos ombros não
ETJjULHO - AGOSTO - 2001
Importam muito pouco os índices veiculados pela mídia “cacifada” pelo governo: raras vezes se viu um Presidente da República chegar a um nível tão alto de rejeição; em todas as camadas sociais FHC conseguiu unir os brasileiros.
Assim têm sido os últimos dois lastimáveis anos. Mas, afinal, foi tão mau assim, o governo FHC? Com certeza, não: na educação e na área social, além de em outros, grandes avanços foram conseguidos, embora muito falte por avançar; sua mais recente providência, no sentido de entregar personalizadamente estímulos à ceu
educação aos sertanejos do Nordeste, a médio prazo poderá acabar com a denominada “indústria da seca”.
controlados pelos Estados Unidos, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.

presidente Sarney disse ter tornado que acrescentaríamos
Na área constitucional, também, muito tem sido feito para consertar a esdrúxula Constituição de 1988, que com grande razão o País “ingovernável”, ao “indesenvolvível”.
alta do dólar, a alta Agora, recentemente, vieram a dos juros, e a ameaça de “apagão” da crise energética, todos com suas conseqüências previsíveis para quase j e sobretudo para 2002.
Em contrapartida, o jornal “Folha de S. Paulo , edição de 24.6.2001, no caderno “Economia mos trou variados setores, desde os maiores grupos empre-
sariais e até os menores negócios, nos quais a crise passa ao longe. Votorantim, Bradesco, Embraer,Tame outras companhias aéreas, hoteleiros, facul dades e colégios, restaurantes, grifes de alta moda e procura, comerciantes do atacado e varejo, distiladores de cachaça - e, com certeza, muitos ou tros que ali não foram mencionados — olham de frente para o tem, sem medo.
Muitos, faz tempo já encontraram os seus próprios meios para suprir suas necessidades de energia — como a Cia. Siderúrgica Nacional, em parte o gru po Votorantim, e até pequenos agri cultores
com suas
Na verdade, enquanto a sociedade brasileira - dos maiores ao menores, reitere-se - toma suas próprias medidas para passar ao largo de qualquer crise, e passa, o governo brasileiro pede licença ao FMI para investir em energia, e este responde que mandará um represenjulho ou agosto, para estudar a situação! O
tante em governo, portanto, não é o do Brasil, mas o do FMI. E a sociedade está cansada de perceber isso.
Note-se, a Constituição francesa só admite acusação presidente da República em caso de “traição”. a. contra o Será traição quintuplicar a dívida externa em seis anos de governo?
Juscelino Kubitschek, no entanto, teve a coragem de romper relações com o FMI, que já naquela época era contro lado pelos interesses norte-americanos.
Asociedade se.movimenta, a atividade econômica
cresce, índependentemente da menor ou maior atividade do governo no futuro: invesque ção - qualquer Constituiçãoforma concretamente num
A culpa por tudo é do atual presi dente, ou de qualquer um outro, que o seja? Talvez, em grande parte. Mas, o grande problema não é este ou aquele presidente: ele reside intrinsecamente sistema político. A denominada crise brasileira” é fruto desse sistema, atende formalmente à Constituimas transfaz-de-
qualquer disposição consritucisabor das conveniências dos conta onal, ao interesses pessoais e das oligarquias a que pertençam os integrantes da classe política.
Como suportar ou tolerar um gover no que governa com palavras e markerodas d’água em pequenos córregos — para não depen der de providências governamentais; o que é uma prova de que previsível, só os governos pós-1985 não tomaram medidas para se antecipar a ela.
a crise era
De qualquer modo, a sociedade se movimenta, a atividade econômica cresce, Índependentemente do governo, ou contra as atividades do governo. Como se diz numa máxima popular, “o Brasil cresce^durante^ a noite, quando os políticos estão dormindo . O País, cresce, a despeito do seu govev7io.
Como considerar todo esse contexto? Estariam cer tos os anarquistas dos séculos XIX e XX, quando diziam que o Estado é a fonte de todos os males, e sem ele a sociedade floresceria? Estará “errado o Brasil? Ou
ting, e não com fatos e ações?
Em suma, é possível concluir que a crise brasileira se concentra na cultura - ou contracultura - de sua classe política e da mídia. Mais, no fato de nestas inexistir ■-■;dadeiro senso de nacionalidade, desejo de ser brasi leiro e de fazer do Brasil um verdadeiro País, não um protetorado, e de segunda ou terceira classe. Nisso, porém, também está incluído o “consenso de Washing- atuação de quantos a ele aderiram. ver ton e a
Tudo indica que a solução brasileira - para brasileira - esteja na reformulação do sistema político. Não deve ser atabalhoada essa reformulação, mas precisa de modo a restaurar a do “faza crise estará errado o governo FHC?
Tudo indica que a resposta certa seja, em parte, a última; e não, porque faltem ao presidente qualidades pessoais. O problema parece ser de ótica, e essa otica malsã parece ser a do “consenso de Washington , ao qual o presidente aderiu ainda antes mesmo de assumir o cargo; tal consenso, muito mais do que consagrar o portas à hegemonia americana. Hegemonia que é exercida diretamente, ou por meio de organismos ditos internacionais, mas
ocorrer o quanto antes; e ocorrer verdade das coisas, sem permitir a continuação de-conta”: não se trata de “mudar para deixar tudo está”, mas de efetivamente reformular. como
D A Silva Nogueira
Doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, éprofessor de Direito Constitucional e de Ciência Política. JULHO-AGOSTO-2001 m Paulo Nap o leão norte- neoliberalismo, abriu as
Edésio Fernandes Professor universitário
Aproliferação de formas de ilegalidade nas cida des, sobretudo no que se refere aos processos de - acesso ao solo e produção da moradia, cem sido umas das maiores conseqüências do processo de exclu são socioespacial que caracteriza o crescimento urbano intensivo nos países em desenvolvimento como o Bra sil. Esse fenômeno complexo cem cada vez mais atraído a atenção dos pesquisadores, preocupados com as gra ves implicações sociais, econômicas, ambientais e polí ticas desse processo - que de forma alguma se reduz aos grupos mais pobres, mas que os afeta mais diretamence. Ao longo das últimas duas décadas também os administradores de diver sas cidades, em vários países, têm, sem pre com muita dificuldade, procuran do formular políticas de regularização fundiária de tais assentamentos ilegais, como é o caso das favelas brasileiras, visando a promover a urbanização das áreas e a reconhecer em alguma medida os direitos de seus ocupantes. No Brasil, vários municípios têm formulado políticas de regularização fundiária com programas estruturados corno de dois objetivos principais: o reconhecimento de alguma forma de segurança da posse para os ocupantes das favelas e a integração socioespacial de tais áreas e comunidades no contex to mais amplo da estrutura e da socie dade urbanas. Com todas suas limita ções, tais programas têm sido mais bem-sucedidos no que toca às políticas de urbanização, sendo que ao longo dos anos de investimentos públicos muitas das favelas beneficiadas já estão mais bem equipadas com infraurbana e serviços públicos do que os loteamentos ilegais das periferias. Já as políticas de legalização têm variado fundamencalmence, sobretudo no que toca à definição da natureza do direito a ser reconhecido aos ocupantes das favelas. Ora se transfetítulos individuais de propriedade plena; ora usaconstitucional do usucapião urbano,
quando o terreno é propriedade privada; ora a outorga de títulos de concessão de direito real de uso aos ocupantes, em se tratando de terrenos públicos. De modo geral, as experiências baseadas na transferência do título pleno de propriedade individual não têm sido bem-sucedidas, dados os muitos obstáculos financei ros, técnicos e legais existentes.

políticas de legalização
têm variado fundamentalmente, sobretudo no que toca à definição da natureza do direito a ser reconhecido
É neste contexto que devem ser recebidas com muita cautela as idéias do economista peruano Hernando de Soto, seguramente um dos ideólogos mais influentes do momento. Diversos países têm traduzido as propostas de de Soto em políticas nacionais de regu larização fundiária em grande escala, sobretudo por exigência do Banco Mun dial como condição para a liberação de recursos. Parece que também o Brasil está entrando nessa onda: em várias cidades, como Rio de Janeiro e Recife, têm acontecido reuniões visando a viabilizar a adoção das idéias de de Soro, e há indícios de que o governo federal também estaria interessado em fazê-lo através do programa Brasil Legal. De uma hora para outra, políticos que nun ca estiveram especialmente interessados nas questões das cidades estão se tornan do veementes defensores das idéias de de Soto. Por quê? Basicamente, porque, ao invés de recorrer aos tradicionais argu mentos humanitários, religiosos e sociopolíticos que têm sido usados para justificar as políticas de regularização fundiária, de Soto dá uma dimensão econômica fundamental à ilegalidade. Ele propõe que negócios, atividades e assentamentos ilegais sejam vistos não como “problema”, mas como “capital morto” de valor inestimável, o qual, se devida mente reanimado e transformado em “capital líquido”, pode vir a reativar sobremaneira a economia urbana e a combater a crescente pobreza social. Ele sugere que, para terem acesso a crédito e investirem nos seus negócios e casas, os moradores de assentamentos ilegais têm de se sentir seguros da sua posse, o que só poderia se dar através
da legalização de suas formas precárias de ocupaçao. Em outras palavras, trata-se de legalizar o ilegal, o que de Soto propõe seja feito através da outorga de títulos de propri edade individual plena.
Contudo, mesmo na na das e atraentes.

Enfrentar o fenômeno da ilegalidade impõe compreender o seu motivo
terra urbana
privados ligados ao desenvolvimento da que mais uma vez se beneficia do investimento público urbanização dessas áreas, geralmente bem localiza-
Enfrentar o fenômeno de ilegalidade urbana requer identificar e compreender os fatores que o têm provo cado - e esse é um exercício que Hernando de Soto não em fazer. A verdade é que a
ausência de legalização e dado um conjunto de fatores políticos, sociais e institucionais, os moradores de assentamentos ilegais têm tido acesso a crédito informal, e mesmo formal, e têm se sentido seguros de sua posse a ponto de investir regularmente nas suas casas e em negócios informais. Na falta de outras políticas sociais e programas econômicos que lhe dêem suporte, a mera atribuição de títulos individuais individual ilegalidade se preocupaurbana tem sido provocada não só pela combinação dinâmica dos mercados de terras e o sistema político, mas também pela ordem jurídica elitista e iiícludente ainda em vigor nos países em desenvolvi mento, e no Brasil, sobretudo no que diz respeito à visão individualista e cxcludente dos direitos de propriedade imobiliária. Legalizar o ilegal requer a introdução de estratégias jurídico-político inovadoras que conciliem o reconhecimento do direito de moradia - que de forma alguma se reduz ao direito de propriedade individual - com a permanência das comunidades nas áreas onde têm vivido. * entre a ex de propriedade pode até garantir a segurança da posse, mas com frequência acaba fazendo com que os moradores vendam suas novas propriedades e sejam “expulsos” para as periferias precárias, em muitos casos invadindo novas áreas - onde o mesmo processo úe ilegalidade começa novamente. Se tomada isoladamen te, a outorga de títulos individuais de propriedade não leva à integração socioespacial pretendida pelos progra mas de regularização e que justificaria o investimento público. Na legalização “àlade Soto” não são os giupos pobres, mas sim os (velhos e novos) grupos econômicos
pjjGESyOEgONÓlViléO
Fernandes Edésio
épesquisador na Universidade de Londres JULHO-AGOSTO-2001^3