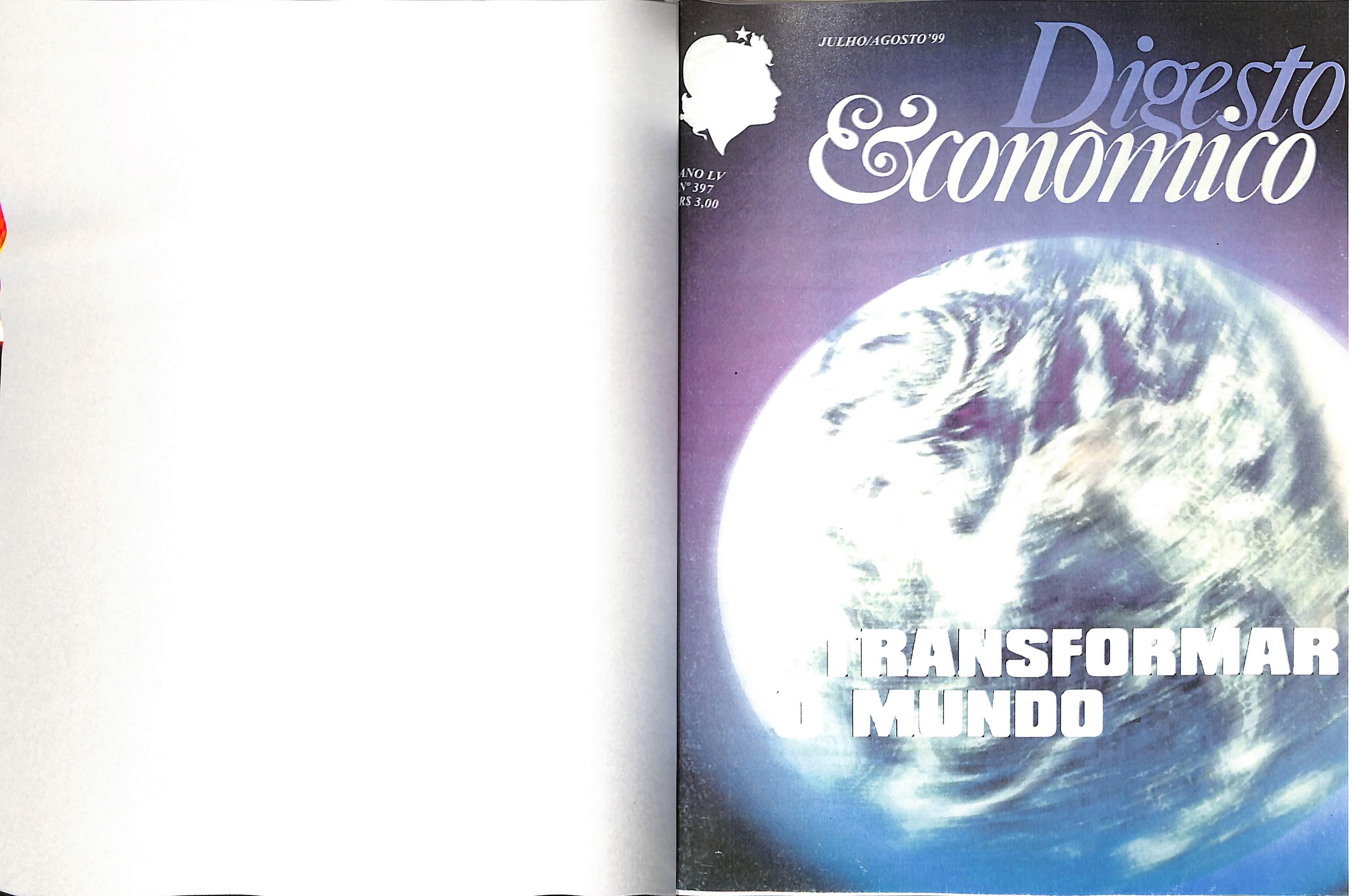
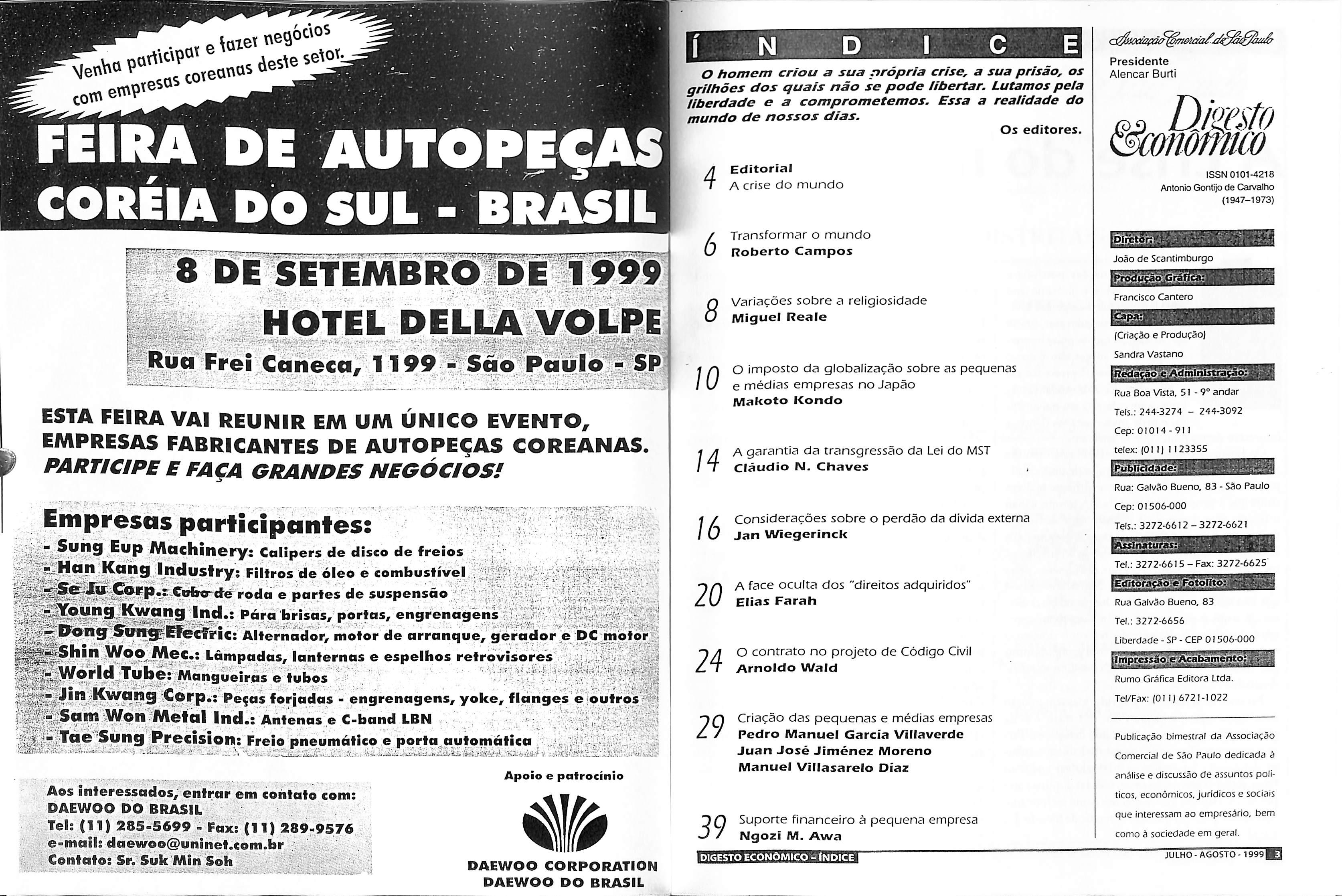
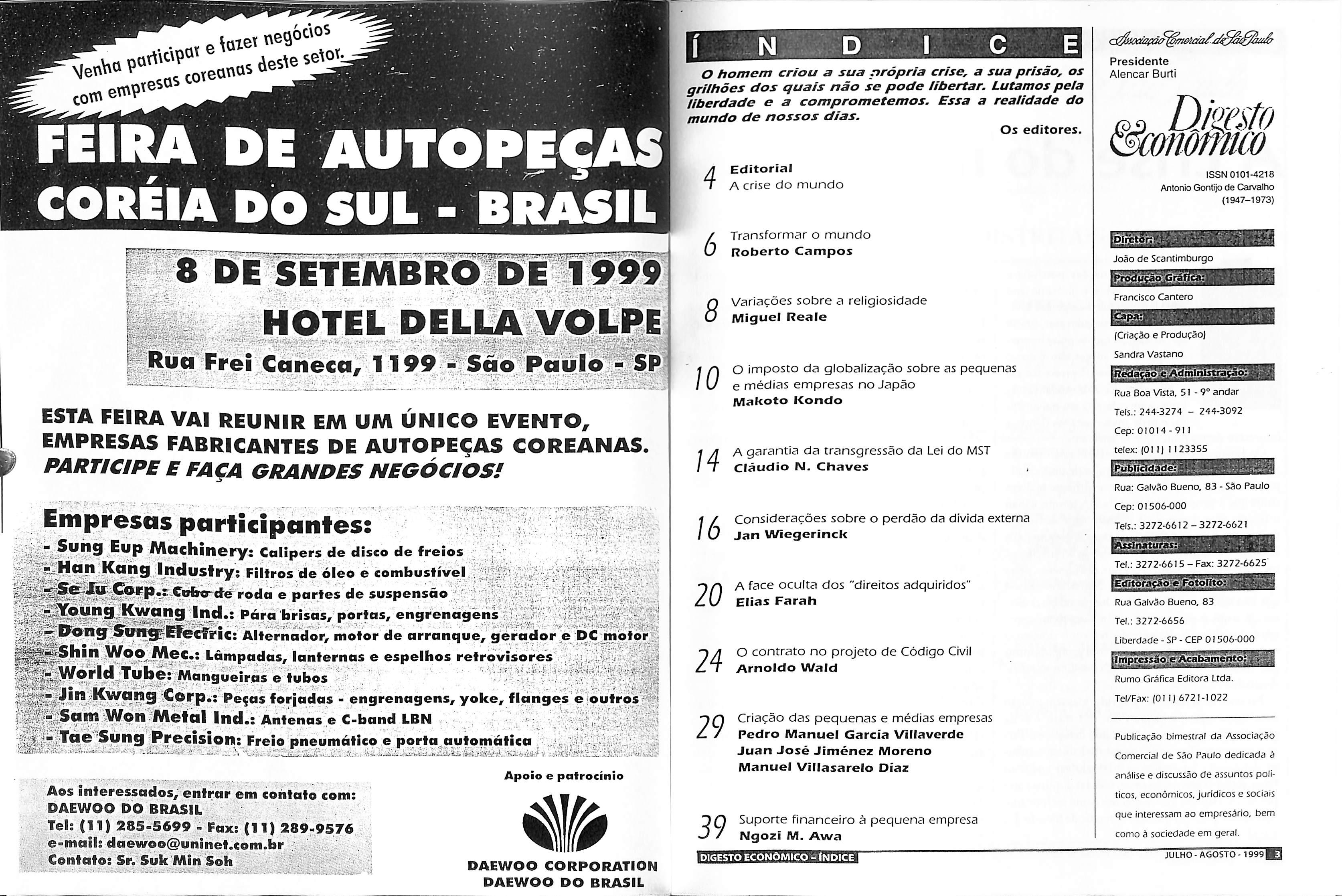

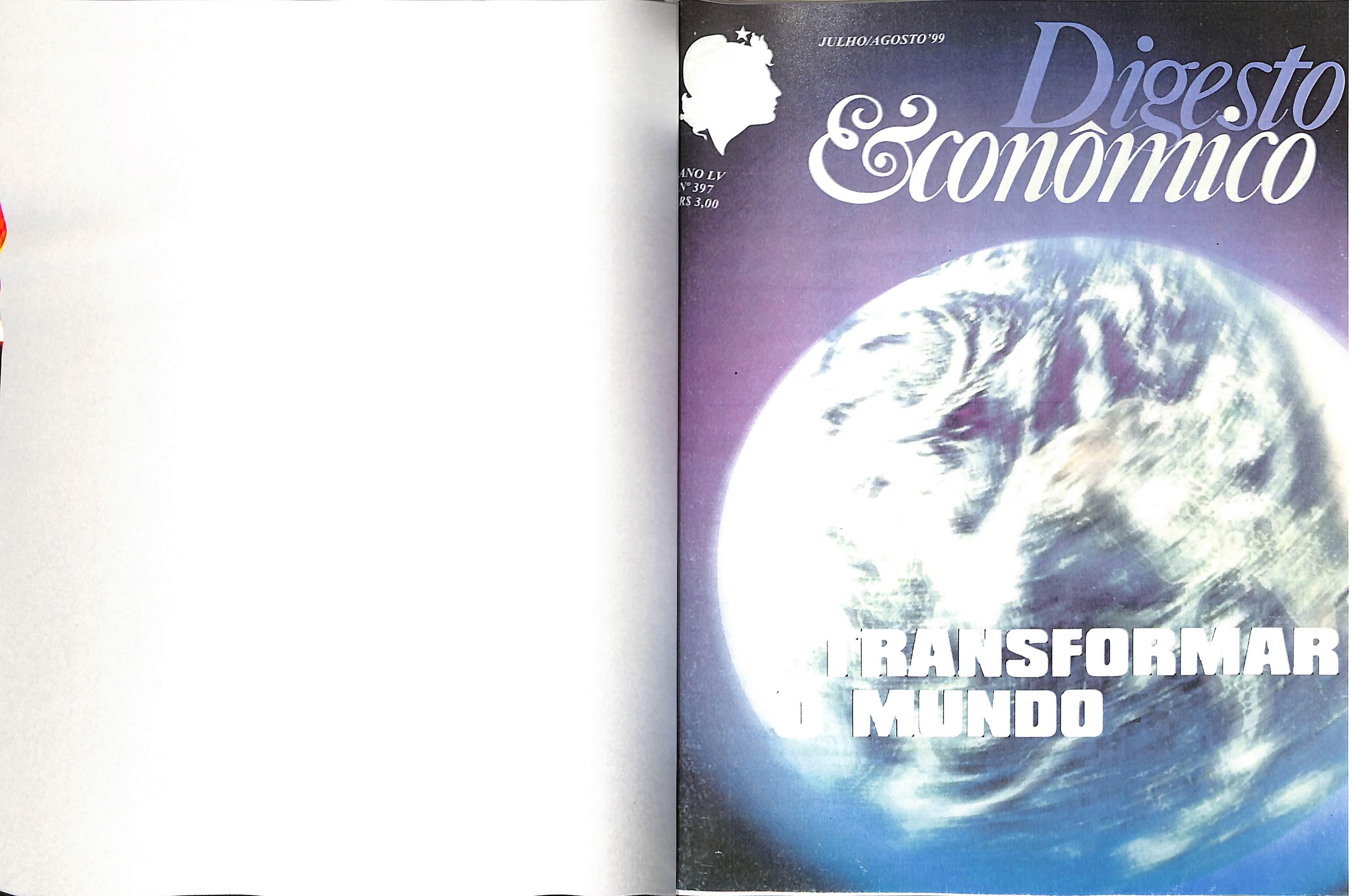
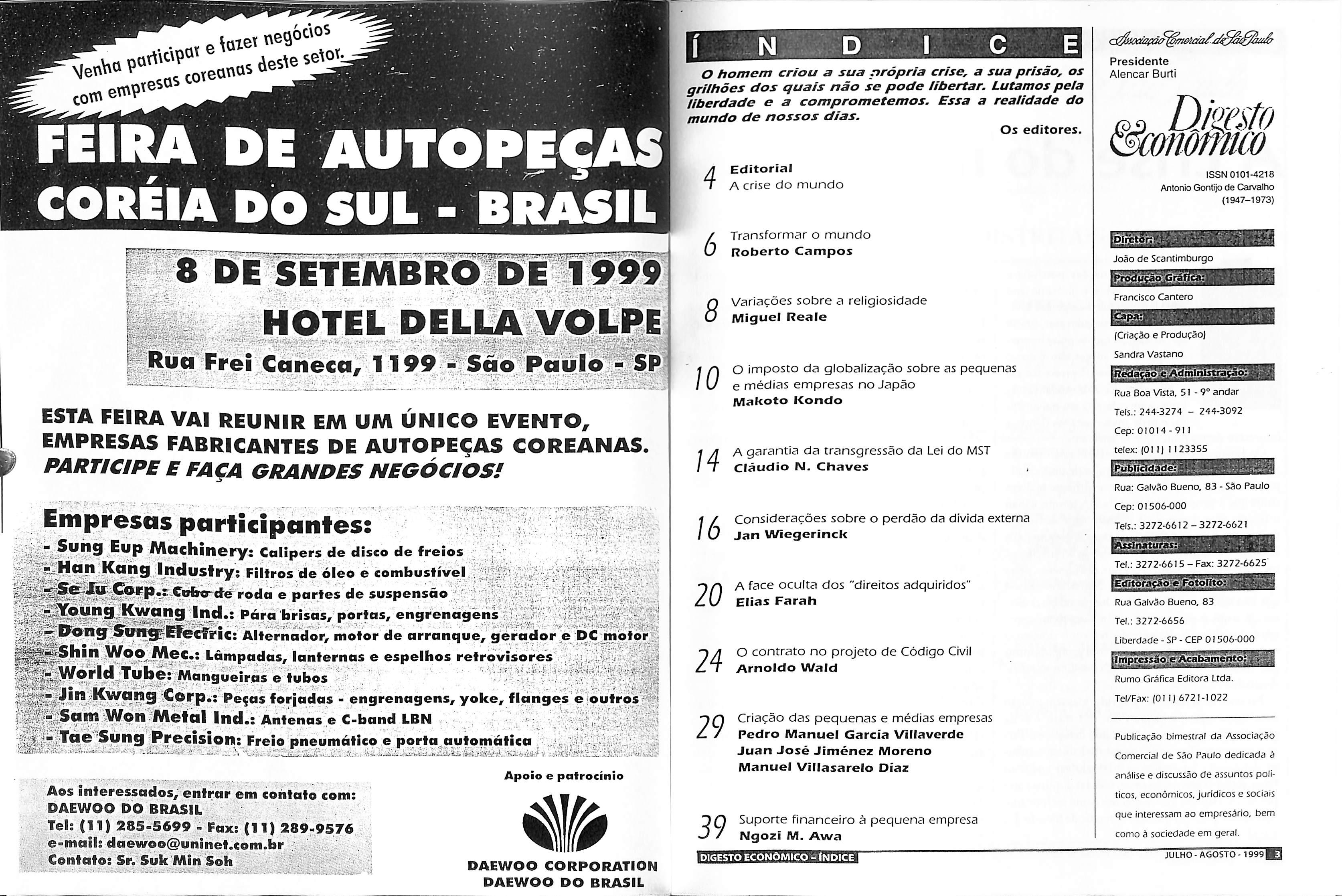
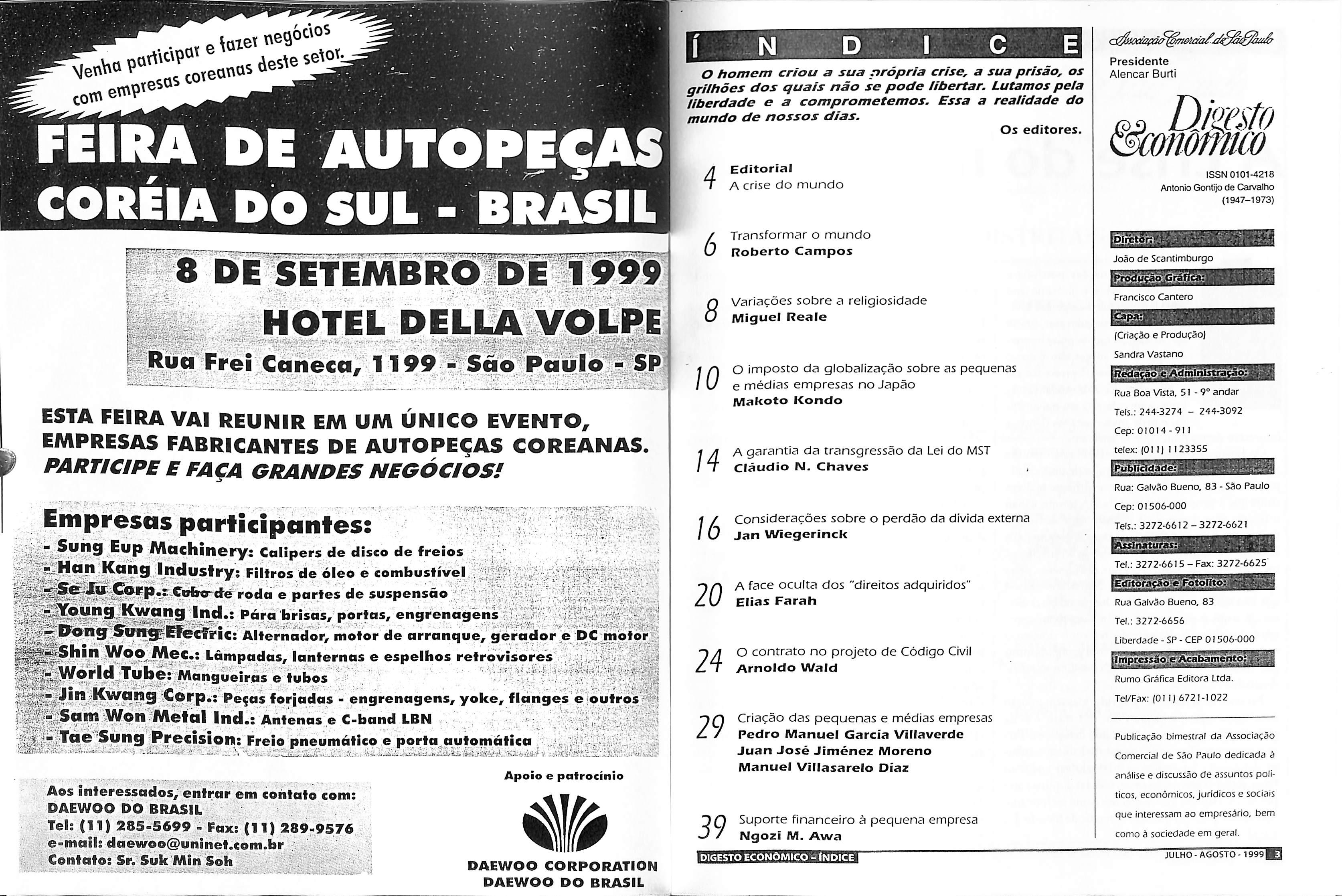
odas as especulações possíveis c imagináveis sobre o próximo ano 2000 já foram feitas e algumas deve rão sair até o fim do ano que se aproximavelozmente, pois a impres são que até os jovens têm é que o tempo passa e passa depressa demais. Vivemos século de mudanças ve lozes, o mundo está em movimen to, e nada mais é estável, dando a impressão desses filmes que se aceleram. Os viajantes contumazes, esses que estão um dia aqui, outro dia ali, e vão transitando de uma cidade
O mundo conheceu épocas terríveis. A grande peste, os terrores do ano 1000, as longas guerras de trinta anos, de cem anos, as revoluções, sobretudo a Revolução Francesa, que mudou a face da Terra para sempre, pois até hoje seus jargões, as palavras de seus oradores na Assembléia, são proferidas, como vimos na Constituinte brasileira de poucos anos passados. Mas o que se passa hoje supera em tudo o que já foi mencionado na História, sobretudo nas caudalosas como a de Toynbee, como a de Cesarc Cantu, como a de vários autores editada por uma editora espanhola. O homem criou a sua própria crise, a sua prisão, os grilhões dos quais não se pode libertar. Lutamos pela liberdade c a com prometemos. Essa a reali dade do mundo de nossos dias. para outra, de um país para outro, sem que se deem conta que o tempo passa, vai passando, porque não só o tempo, mas, como dizia o padre Antônio Vieira, tudo passa. É no de cogitar, se quisermos acompanhar os acontecimen-
que temos de pensar, e do que temos
. Estes são despejados sobre nós, diariamente, pelos meios de comunicação os “media”, em tal abundância que não nos dão tempo de filtrá-los para saber, exata mente, o que se passa neste mundo, vasto mundo, que seu eu me chamasse Raymundo, seria uma rima e não seria uma solução, como cantou, com profunda intui ção filosófica o grande poeta Carlos Drumond de Andrade.

O que se passa hoje supera em tudo o que já foi mencionado na
O leitorencontrará nes te número reflexões sobre o problema. São os mais autorizados escritos em língua portuguesa. Basta tomá-los como roteiro para considerações mais amplas, que se terá deste e do século que se aproxima uma visão que poderá catastrófica. De nossa parte, entendemos que tecnologia fará avanços imensos, a ciência nos surpre enderá com suas descobertas e invenções, mas nem por isso teremos o de que mais precisamos, a paz, pela qual morreu na cruz um Deus. A sorte do mundo já foi lançada há muito. Agora é ir anotando os resulta dos da semeadura de crises provocadas pelo próprio homem.
Estamos com rimas, sem dúvida, mas sem solução para numerosos problemas, um dos quais é o da globalização, que é incompreendido demais, e a Ter ra, a pequenina Terra onde nos coube habitar, tornouse demasiado insignificante para abrigar todos os fatos, todos os acontecimentos, todas as disputas entre povos, na História que só terá fim como ser humano, não como quer um bisonho aprendiz de filósofo dos Estados Unidos. ser a
Rua Boa Vista, 51 - CEP 01014-911
Tel. (011) 244-3322
Iclex 1 123355 - Telefax 239-0067
distrital centro
Rua Boa Vista, 51 - 6° Andar Fone: 244-3284 (Direto: 232-5317)
distrital IPIRANGA
Rua Benjamin Jafet, 95 Fone: 61 63-3746
distrital LAPA

> .4 \J
Rua Martim Tenório, 76 - 1° andar Fone: 837-0544
distrital mooca
'■M
Rua Madre de Deus, >222 Fone; 6693-7329 VÍ
distrital penha
Av. Gabriela Mistral,U99/ Fone: 26641-3681 ''
distrital PINHEIROS
Rua Simão Álvares,'5)7 Fone: 211-1890
distrital SANTANA
Rua Jovita, 309 Fone: 298-3708
distrital santo amaro
DISTRITAL SÃO MIGUEL PAULISTA
Rua Jorge Moreira de Souza, 75 S/Lj. (Jd. S. Vicente) Fone: 297-0063
DISTRITAL SUDESTE
Rua Afonso Celso. 1.659
.-/Fone:. 276-3930
DISTRITAL PIRITUBA
Av. Cristò^el, 220 - 2° andar Fone; 875-âó75
qísfwTÃ^ATUAPÉ /RuqJ^qfar^^elino, 2074 '^í^‘^^DISTRITAI^WMARIA
V Rua Araritqguaba, 1.050 Fonetí59M?6303
distrital BUTANTA /^Rud.)Ãlvarenga, 458 - CEP 05509-070 "''-Fone/Fax: 210-6103 - R. 3881/3884
DISTRITAL JABAQUARA
Av. Santa Catarina, 1.250
Av. Mário Lopes Leão, 406 - CEP 04754-010 Fone: 244-3389 - Fax: 521-6700
Sala 8 - Fone: 5562-2331
CEP: 04378-000
Saint Simon imaginou a sociedade organizada como uma espécie de vasto empreendimento de engenharia
Diplomata e Economista
1transformar o mundo é uma idéia moderna, cm termos de tempo histórico. Vagas imaginações de mundos diferentes. As utopias (o que ecimo- logicamente quer dizer em lugar nenhum), misturadas com mitos, lendas c visões religiosas, devem antigas quanto o primeiro lazer que, num dos raríssimos momentos de folga, num canto da sua caverna, um dos nossos

como seria
distantes antepassados aproveitou para sonhar com uma vida sem fome permanente e sem tigres famintos rondando em volta. Não sabemos essa distante existência. Conhecemos algumas socieda des contemporâneas da coleta e da caça, algumas tribos brasileiras ou, provavelmente, os maís bem estudados, os tlcung do Kalahari, na África meridional (q ue, curi osamente, chamam a si próprios de “zhun/rwasi”, a gente real ). São caçadores-coletores que não conhe- cem autoridades formais, e mantêm alto grau de solida riedade dentro dos seus pequenos grupos.
O problema de todas essas sociedades sempre foÍ sobreviver. E sobrevivência queria sempre dizer equilí brio com o meio externo, solidariedade bros do
não é novidade na humanas
entre os memgrupo e, muitas vezes, hostilidade violenta contra os de fora. Essa história de sérvios versus kosovares evolução das espécies nas sociedades primitivas, não havia ainda noções de amor universal, caridade e fraternidade. Isso viria muito depois, como extrapolação das grandes religiões, quan do o gênero humano já se dividia, com muitos choques, entre nômades e sedentários, pastores e agricultores e os primeiros assentados urbanos.
No começo do século XIX, ca francês com
entretanto, umariscocravocação tecnocrática, Sainc Simon (que seria incelectualmente pai de Auguste Comte, e tio-avô deMarx), no Novocristianísmo”, imaginou a socieda de organizada como uma espécie de vasto empreendi mento de engenharia. Uma espécie de enorme fábrica, sob o comando dos mais competentes, em que a distri buição cuidaria das necessidades de todos. Um o que Marx teria em mente depois. pouco ao enunciar o
princípio de que cada um teria de acordo com as suas necessidades, c, em contrapartida, concribuiriade acor do com as suas possibilidades. A idéia básica dc ambos era que, organizado devidamente o sistema produtivo, seria possível prover automaticamente a cada pessoa o necessário para viver. Idéia simples e atraente. Estavam saindo, na Europa, dc um estado de coisas cm que a fome era endêmica (apesar dos progressos da agricultu ra c da produção proto-induscrial), c a miséria um abismo prestes a engolir a maioria das pessoas. O futuro era uma negra indagação - enquanto que, por outro lado, o primeiro florescimento do capitalismo industri al acenava com um estado possível de abundância universal, bastando apenas conserrar-se um pouco a sociedade. Aliás, consertar a sociedade já não era mais uma concepção nova. Pairava no ar, ao longo do século XVIII, do iluminismo e da razão, a idéia de que o homem em si mesmo é bom, mas acaba estragado pela sociedade.
Esse slogan de Rousseau, aparentemente inocente, era recitado pelos jacobinos, os xütas da época, com o mesmo fervor com que cortavam cabeças aos milhares. O que tampouco era novidade. Pretextos nunca falta ram para liquidar os que sejam ou pareçam incomoda mente diferentes do pensamento oficialmente sancio nado. Antes mesmo da CNBB, a Igreja não vacilava em mandar os duvidosos para o outro mundo (onde Deus escolhería os seus, como na cruzada contra os albigenses, que teimavam cm procurar scr mais limpos e puros do que os clérigos de então). E não tardaram a surgir intelectuais (ou sujeitos autodefinidoscomo tais) pron tos para achar o que é melhor para nós, os outros, e a prender, torturar ou matar aqueles que não se entusias massem pelo achado.
Foi uma confusão de dois planos de idéias, ambas copresididas pela nova grande força, a razão: o da “efici ência” demonstrada pela multiplicação da capacidade produtiva através dos avanços tecnológicos que se acu mulam desde o fim da Idade Média (explodindo com

a Revolução Intlustrinl) c o ela “jicrfeição”, mistura elos ideais religiosos c éticos embutidos lía cultura oci dental. AJem, natural mente, do des lumbramento da nova racionalida de, por contraste com as mazelas das velhas estruturas j')olíticas c sociais que balançavam, prestes a desmo ronar. A mesma razão jxTmitia, apa-
rentemente, criticar a monarquia absoluta c fazer funcionar as fabri que surgiam. A mesma razão que possibilitava oficial de artilharia, Napoleão, des troçar os exércitos da antiga ordem de coisas.
Só que a razão não c‘ boa geradora de valores, e pode ser muito duvidosa alcance do altruísmo. As
tes
jovem advcntício ao quanto ao várias formas dc fé, religiosa, política, c até esportiva, brotam de outras fondoserhumano. O problcmaéque, transição da sociedade pre-industrial (que está começando a scr su plantada pela sociedade da informa ção), a arrogância intelectual humana polou dc seus limites. Passou a confundir a eficiência, que é a aplica ção da razão a problemas e processos “operacionais”, com questões de “va lores” - cm última análise, quem deve
na extra o quê a quem.
É óbvio que não podemos viver Iguma ordem de valores. Mas é preciso separar dois planos: o que se refere ao convívio na vida quoti diana, aos critérios utilitários e às individuais e o transsem a
como
A emoção é incapaz de salvar o mundo preferências cendente, que diz respeito ao espaço interior do indiví duo, à sua alma. A santidade heróica de madre Tereza, por mais admiração que mereça, não pode ser imposta padrão de comportamento ordinário à generali dade das pessoas - que têm, inclusive, o direito de não acreditar no mesmo Deus. Na Idade Média, a religião fornecia o cimento que ligava as vivências do indivíduo inserção no grupo. Mas a economia feudal condepor exemplo, os juros (sem os quais uma econo-
pecado lógico rudimentar, a ignoratio eíenchi. Os bispos se esquecem de que o catolicismo foi pioneiro na globalização, sendo a Igreja Católica a primeira multi nacional do planeta, com administração por objetivos e algo semelhante à remessa de lucros (transferência de óbulos) para a matriz em Roma.
Cooperação, solidariedade e caridade são virtudes que devem ser instiladas. Mas será concebível, digamos, uma proliferação demográfica desenfreada, como célu las cancerosas, que faça cada pessoa sentir-se ameaçada pelas que vão aparecendo? Problemas de pobreza não são apenas questão de bondade ou cooperação. São também, e talvez, nas circunstâncias, antes de mais nada, de racionalidade. A emoção nos ajuda a entender o mundo; mas é terrivelmente incapaz de salvá-io. ®
csua nava, mia moderna é inconcebível) e ainda no século XVII, um Papa, impregnado da idéia de que tinha o monopó lio da verdade, condenava Galileu (que por um triz não parou na fogueira) por este achar que a Terra girava em torno do Sol. Os clérigos têm tão pouco a dizer sobre economia quanto sobre física quântica ou biologia molecular. As eruetações da CNBB sobre a globalização econômica são cão irrelevantes como as diatribes do PT Roberto Campos sobre o capitalismo selvagem: sofrem ambas de Diplomata e Economista um

Ninguém vai à igreja para ouvir pregações sociais, mas para orar, pregar, pedir proteção divina
Miguel Reale
1terrível é o nosso tempo. Ao mesmo tempo que nos apavora a crescente criminalidade, assisti mos todos ao renascer da fé, da religiosidade que se espraia pelas.massas populares, fazendo surgir da noite para o dia, todas as formas de crença, desde as evangélicas às que emergem de raízes africanas. Por outro lado,perdem terreno certos círculos católicos que, sob a influência do difuso ópio marxista, se extremavam no preceito de que "quem dá aos pobres empresta a Deus”, esquecidos de si mesmos, das carên cias espirituais de sua religiosidade não conflita, incondicional defesa dos direitos humanos.
subjetividade. É claro que a mas antes se sintoniza com a , a come-
Ninguém, no entanto, vai à igreja para ouvir prega ções sociais, mas para orar, pregar, pedir proteção divina para seu destino terreno e ultraterreno çar pela necessidade de crer, de crer sem vacilação. De certo modo, é uma fuga do mundo com seus conflitos e contradições, em busca da plena e definitiva harmonia do ser. Não há nessa
fuga nada de egoístico, nem brota do desprezo por outrem, pobre ou rico que seja. Por mais estranho que pareça, na atitude religiosa a abstra ção do outro torna-o mais próximo e igual, na igualda de de todos perante um valor que a todos transcende. É a razão pela qual, no ato de orar, há paradoxalmente a concomitância do isolamento e da participação, o que se expressa pela palavra comunhão, receber algo ou sentirmos ligados a uma idéia ou crença comum, o que é da essência de toda religião. Esse sentimento de ligação ou religião comum já revela que estamos perante uma crença que não neces sita de prova ou de justificação intelectual prévia, mas se dá como um fato originário e de motivo pelo qual os homens de ciência que vivem num mundo de provas (e quantas vezes de provações), são
levados a crer em Deus-ou, como dizem, freqüentemen* tc, numa força ou valor supremo - cxacamence porque não logram provar sua existência. É o caso altamente significativo de Einstein, que, perguntando se era ateu. respondeu com estas palavras singelas: “Não posso provar que estou certo em algo, mas essa é a minha religião”.
Essa atitude do físico genial corresponde, no fundo, à de outro sábio pensador, à de Pascal, com a sua idéia de “aposta” na existência de Deus, pois, ponderava ele, quando se ganha, ganha-se tudo e, quando se perde, não se perde nada.
Bem vistas as coisas, talvez não se esteja senão repe tindo, por vias transversas, o pensamento de Anselmo d’Aostade que, se pensamos Deus como o Ser supremo, nada de maior que ele podendo ser pensado, ele neces sariamente existe, quer no intelecto, quer na realidade. Do conceito de Deus, segundo essa teoria sutil, se passa necessariamente à existência de Deus, sendo deveras surpreendente que essa prova dita “ontológica” (e não antológica, como às vezes erroneamente se fala...) tenha sido aceita mais na Época Moderna do que na Média, bastando lembrar os nomes de Descartes e de Hegel, os representantes máximos do racionalismo: ambos admitem que a existência de Deus está implícita na idéia de Deus.
Idade que consiste em compartilhar algo em razão de nos válido. É ser o
Mas a religiosidade em si, repito,dispensa essa e outras provas, porque se pÕe por si mesma, como um componente do ser pessoal do crente. E até mesmo de certos ateus, consoante o papa João Paulo II o declarou, em resposta a uma pergunta que lhe fiz, no inolvidável encontro com intelectuais brasileiros, na noite de 7 dc agosto de 1980, no Bairro do Sumaré, no Rio de Janeiro, ao referir-se o sumo pontífice à sua experiência na Polônia, quando era obrigado a dialogar com repre sentantes do ateísmo mais declarado e notava - disse-

nos\X^)jtylncnni amoi.i- §
vcl ironia c]uc
fundo da alma dc- ccrios t confessos uma rc-
i.iNia no Q. nicus o. aspi at,ao prímula iransccndcncia. port.|uc o lionicm c só homem na medida em que sc transcende. Seja-me permiti do informar, ao leitor in teressado nesse assunto, relato esse maravino li\To DíU que lliosodiálogo
Icírtu h iFloiofin, que a Brasileira de Academia
Letras acaba de publicar 34 da C'oleção como n‘
Afrânio Peixoto.
Prosscguint lise da religiosidade, parccc-mcpossi
o na anaívcl afirmar ' do semidc fragilidade do queesta resulta mento humano, sujeito r imprevisto c imprevisíve fim físico, o que scr o leva a apelar para a crença num fim transcendente. Não dc simm de temor se trata, porém pics medo nc dc deixar dc viver, por desmedido à vida, mas, sim, de uma atitude que
O crente vai â igreja rezar a Deus e manter viva a chama da fé
assinala a problcmaticidade mesma dc nosso existir. E - dotados dc um bem cuja deficiência ou é a causa maior de todos os males: refiro-me que somos perversãoà "consciência"e\wQ só a espécie humana possui, desde a adãmica e conquistada ciência do bem e do mal, que foi c continua a scr um desafio dc todas as horas, obrigando-nos, a todo instante, a fazer opções, mesqiiando pretensiosamente julgamos ter uma exis tência retilínca, a cobro de repentinas c desviantes mo tentações.
Em minhas cogitações filosóficas, sempre cm busca do valor da vida c de suas aspirações sensíveis, intelec tuais e volitivas, cheguei à conclusão, não cética, mas somos uma ilha dc problemas cercada pelo oceano dos mistérios. E o mistério que está no fundo de nossa existência, dando-lhe oculto sentido, uai nossa liberdade se reduziria a mera conscirealista, dc que sem o q encia da necessidade que governa os fenômenos nacupouco importa se dc maneira rigorosamente determinista ou sujeira a inexplicáveis acasos.
E o mistério que nos leva a distinguir entre o “fenòrais, meno eo noumenon para empregarmos a termino logia de Kanr, isto é, entre aquilo que aparece e se põe perante nossa consciência perquiridora como possh’el
objeto dc conhecimento certo e aquilo que se oculta e se furta ao saber do homem, ou seja, a “coisa cm si inatingível.
Talvez se possa dizer que cremos tão-somente por que pensamos, colocando ao lado da afirmação de Descartes “cogito, ergo sum” (“penso, logo existo”) este outro pensamento desafiante: “Cogito, ergo Deus esc”, (“penso, logo Deus existe”).
Com isso quero dizer que proclamada a inexistência de Deus, tudo o que existe não teria sentido nem o homem, nemainfinidadedo universo. Aliás, a imensidão do cosmos, além de alçar os vôos da poesia, constitui outra das razões ou fontes da religiosidade. Não haveria também razão para o de\’cr moral, que é só próprio da espécie humana.
O ser humano, não é, todavia, apenas um ser que pensa, mas, outrossim, um ser que por sua natureza, tem precisão de amar, sendo o ódio o reverso do amor. É o motivo pelo qual, quando atingirmos,como no meu caso, o horizonte da longevidade, cresce em nosso espírito a tendência a dizer: “Amo, logo creio.
M I c u r 1. E A I. F„ jurisiu, filósofo, membro dti Acadcmin Brasileira de Letras, foi reitor da USB JULHO -AGOSTO- 1999M
Alguns atribuem a retraçao da indústria japonesa aos investimentos das PMEs no exterior
Makoto Kondo
Administrador de empresas - Japão
m minha apresentação discutirei o progresso da internacionalização das PMEs japonesas, indu zindo exemplos de sucesso e fracasso em investi mentos no exterior, o efeito da crise financeira asiática sobre as PMEs japonesas e as políticas de apoio às mesmas. Neste artigo, qualquer referência à Ásia exclui o Japão.
As empresas no mundo inteiro estão desenvolvendo atividades além das fronteiras de seus países de origem. Essa política tem por objetivo melhorar as vendas, produção, compras, pesquisa e desenvolvimento e po der de competir em nível internacional. A economia japonesa também registrou grande progresso no cami nho da internacionalização ou globalização.

Ásia ati¬
Os investimentos das PMEs japonesas na mentaram significativamence depois do Acordo Plaza (1985), c novamence entre 1994 c 1996 devido à rápida valorização do iene. Esses investimentos contribuíram para o desenvolvimento da economia asiática e resulta ram no aumento das exportações e geração de emprego.
Quanto às exportações das subsidiárias japonesas; no setor têxtil, mais de 80% das vendas das PMEs japonesas que operam na Ásia foram direcionadas para o Japão; no caso de máquinas eletrônicas, menos de 20% das vendas foram direcionadas para o Japão, ao passo que 70% foram exportadas para outros países da região asiática.
O importante papel das PMEs japonesas na Ásia reflete-se na geração de emprego. A quantidade de empregados nas PMEs japonesas na Ásia é quase o dobro daquela registrada na matriz japonesa.
tecnologia rnecer
A internacionalização ocorre de três maneiras; 1) Investimentos no exterior, principalmente o estabeleci mento de operações no exterior para fabricar, conduzir trabalhos de PôíD e desenvolver o mercado; 2) consig nar produtos a empresas no exterior e fo a essas empresas, exportar e importar e fazer alianças para entrar no mercado local; 3) Negociar com empre sas estrangeiras que operam no Japão.
O investimento por PMEs japonesas no exterior vem aumentando, principalmente na região da Ásia e América do Norte, como se observou nos últimos anos.
O número total de investimentos no exterior registrouse em 783 (1995), 673 (1996) e 476 (1997). Em 1997, os países do sudeste asiático receberam 23% de inves timentos japoneses, 18% de investimentos chineses e 28% de investimentos da América do Norte.
Além disso, a participação das PMEs japonesas na exportação de tecnologia para o sudeste asiático vem aumentando subscancialmcntc, o cjue indica um gran de aumento dc transferência da tecnologia do Japão para a Ásia.
Considerando a contribuição das PMEs japonesas ao desenvolvimento da economia c das indústrias da Ásia,
eu diria que essas empresas estão trazendo grandes bene fícios tanto à economia mundial quanto à japonesa. Gostaria agora de tratar dos padrões dos investimen tos das PMEs japonesas no exterior. 43% das peças c componentes fabricados por PMEs japonesas que ope ram no exterior são destinados à demanda local, inclu sive a demanda de companhias c consumidores locais c
tleounas PM j.ip<uu-s.is no i-xierior. O inveMÍmemo no exienoi tonml>ui p.u ,i «.'onsii iiii n.io .somente um .sistema tle íorneeimento tle peç;ts e eomjíonemes |'>ara as grandes empresas j.ipones;\s ipie operam no exterior, mas também p.tra a indiist i i;i loc;i! tle suporte na Asia. No entanto, dependeiulo ila indiistria, existem dife renças. Na indúst I ia têxtil, j^oi exemplo, o,s produtos que exigem entrega r.ipid.i, tipo.s variados, lotes pequenos e alta ijualidade são prosluzidos no japão, ao passo que produtos dc nível médica c baixo em que a emrega rápida não é es.sencial c os lotes são grandes, são produzidos na região da Asia. Nessas circunst.incias, as PMEs japonesas desempenham um p.ipel import:ime na divisão da mãode-obra.
Gostaria de mcncioalguns exemplos dc | fracassos das %
nar sucessos c PM Es japonesas em rela-
a invcstimcnto.s no çao exterior.
Anres dc prosseguir, falar um pouco
vamos sobre a retração das indústrias japonesas relação com os investinicnto.s no exterior. .. rdade que algumas pesatribuem a retração c sua lve soas da indústria japonesa aos das PMEs
investimentos no exterior. japonesas Entretanto, gostaria dc considerar o lado positi vo da questão. O investi mento
et: das PMEs no ex terior resulta na moder nização e revitalização da estrutura industiial no Japão e também aumen-petitividade das indústrias japonesas.
O problema da retra ção da indústria japonesa não é necessariamente igual bicma do investimento no exterior. O mais é criar o ambiente, melhorar as indústrias e ta a com
sa ícalmcntc mamem ou intensifica as divisões encarregatias do gerenciamemo, vendas, P&D e |■)^ojcto, em vex de reduzir as operações c funções domesticas.
A internacionalização das PMEs japonesas conduz ao dcsen\’olvimcnto dc novas Oj)ortunidades dc negó cio, por meio de uma rede internacional que ultrapassa o âmbito das operações domesticas costumeiras. Reali zar negócios no mercado internacional pode melhorar a reputação da empresa.
Para muitas PMEs japonesas, o investimento no exterior resultou em bons frutos. Seguem-se alguns dos motivos e exemplos dc sucesso;
1- Sucesso na transferência de tecnologia aos funcioná rios locais; uma PME japonesa que fabrica peças elétricas para automóveis estabele ceu um centro de trei namento de tecnolo gia na Tailândia.
2 - Emprego de mão-deobra de baixo custo; uma subsidiária japo nesa nas Filipinas foi bem sucedida na fa bricação de produtos a menores custos, aproveitando as van tagens da força de tra balho no país.
3 - Bom sócio local; uma empresa de alimentos compra, do sócio lo cal, amendoim de boa qualidade durante longo tempo.

As pequenas e médias empresas fizeram a
4 - Pesquisa e preparação suficientes antes de rcalizaro investimento; uma companhia en volvida com materi ais de embalagem na China deu poder suficiente às autoridades locais para coletar informações sobre o mercado chinês, negociar e realizar tudo o que for necessário ao início das atividades.
do
ao pro importante criar empreendimentos inovadores. Quandodas PMEs japonesas investem no exterior, a matriz japonesa na ---rcladc mantem ou intensifica o gerenciamento, as vendas, pesquisa c projeto cm vez domesticas. leitos por PMEs japonesas ocorrem necessariamente desenvolvimento, e as divisões dc sem problemas. Muitas empresas não foram bem suce de reduzir as operações c funções didas c desistiram dc operar no exterior. Seguem-se alguns dos motivos; O problema da retração da indústria japonesa não é l- Deterioração dos lucros devido ao aumento das des pesas com pessoal; uma afiliada japonesa desistiu do negócio porque os custos dc produção têxtil aumen taram significativamente devido a greves freqüences e aumento de salários aos rrab.ilhadores locais. V’C necessariamente ligado aos investimentos no exterior. O mais imporrance é criar um ambiente, modernizar as indústrias c criar empresas inovadoras. Quando as PMEs japonesas investem no exterior, a matriz j,\ponc-
Entretanto, nem todos os investimentos no exterior
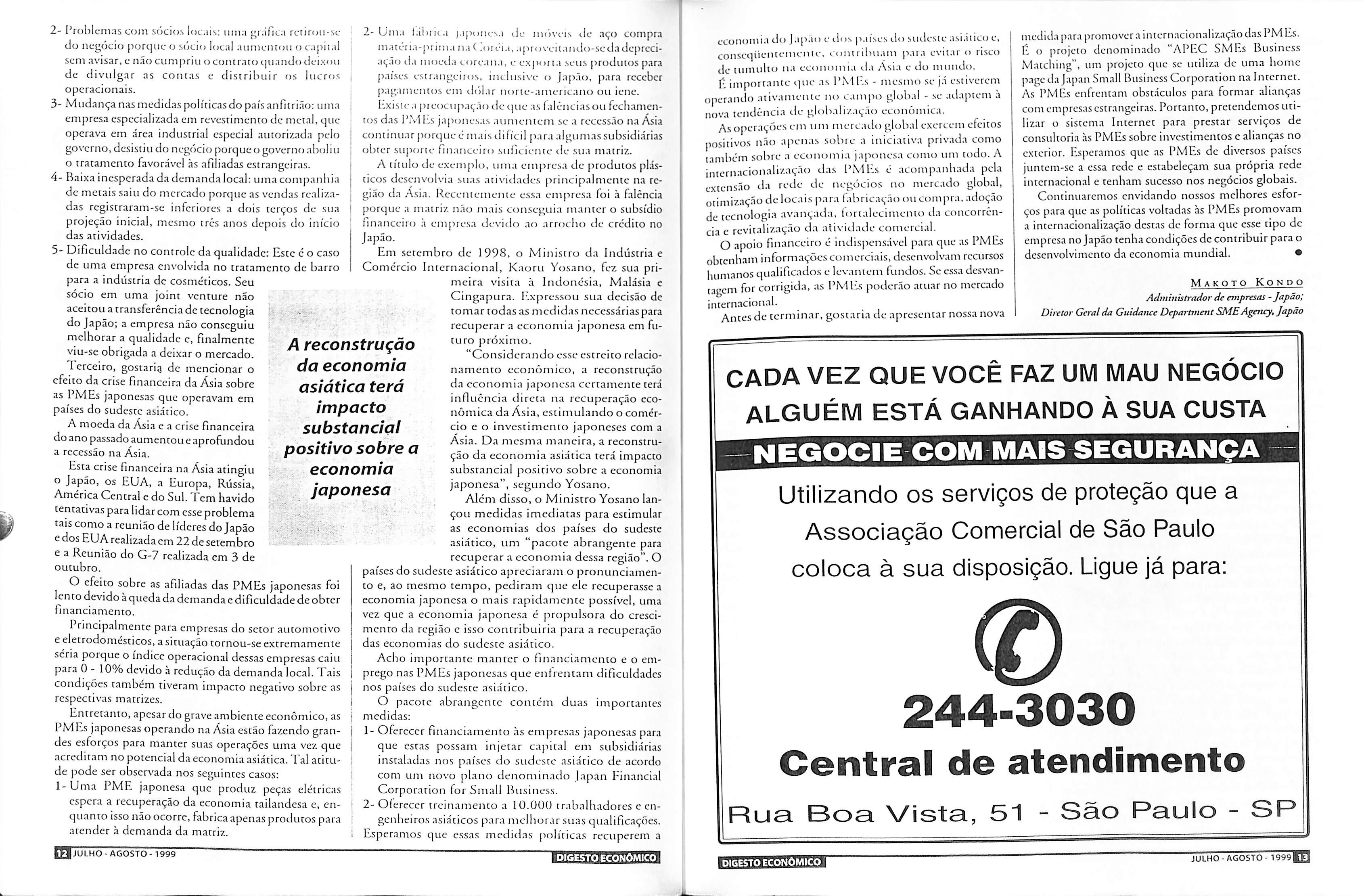
emas com socios loc.ns: iiin;i gi.ilica retiioii-se do negüciíp {Port] nirs.l in()\'eis cie aç(p compra Icue o stíCio local aumentou o cajPií.il sem avisar, e nãtp cumjpriu o contrato ejuando dei.xou dc divulgar as contas e distribuir os iicros 0{5cracionais.
3' Mudança nas medidas jxdíticas do país anfitrião: uma empresa cspeciallz^ada em revestimento de metal, que operava cm área industrial especial autorizada pelo go\’crno, desisti Li do negócio j)orque o governo ab<jhu o tratamento favorável às afiliadas estrangeiras.
4- Baixa inesperada da demanda local: uma companhia de metais saiu do mercado porque as vendas realiza das registraram-se inferiores a dois terços d projeção inicial, mesmo três anos depois do início das atividades.
5- Dificuldade no controle da qualidade: Este é o caso de uma empresa envolvida no tratamento de barro para a indústria de cosméticos. Seu sócio em uma joint venture não aceitou a transferência de tecnologia do Japão; a empresa não conseguiu melhorar a qualidade c, finalmente viu-se obrigada a deixar o mercado. Terceiro, gostaria dc mencionar o efeito da crise financeira da Ásia sob as PMEs ja{5oncsas que o{^cravam cm países do sudeste asiático.
re ou
A moeda da Ásia c a crise financeira do ano passado aumentou e aprofund a recessão na Ásia.
Esta crise fi
nanccira na Ásia atingiu o Japão, os EUA, a Europa, Rússia, América Centrai e do Sul. Tem havido tentativas para lidar com esse problema tais como a
reunião de líderes do Japão c dos EUA realizada em 22 de setemb
üina í.ihiK .1 ).ip< in.ucii.i-jiiuna na (,<)icia. apiov-citaiuio-scclndcprccia(,an li.i moeda coreana, c expoi (a .seus proclucos para jxiíses e.síi.mgeiios, nu.lu.sí\'e o jnjião, j^ara receber j)ayatiieiuos em cl<)lar norie-americano ou iene. í’.\'isu- .1 lueociiiiaí^ão de c)iie as falências ou fechamen[os das japonês.is aiimemem se a recessão na/\sia conrinuar porcjue é mais difícil para ah;imias subsidiárias obter sujione financeiro suficiente de sua matriz.
A título de e.xemjdo, uma einjíiesa de produtos {plás ticos desenvoKáa suas ati\'idadc:s jprincijpalmente na re gião da Ásia. lU-centemente essa em[presa foi à falência porcjue a matriz não mais conseguia manter o subsídio financeiro à empresa tlevido ao arroebo de credito no Japão.
Em scccmbro dc 1998, o Ministrcp da Indústria e Comercio Internacional, Kaoru Ycpsanü, fez sua pri meira visita à Indonésia, Malásia e CingajPLira. ExjPiessou sua decisão de tomar codas as medidas necessárias para recLijPcrar a economia jajponcsa em fu turo {Próximo.
A reconstrução do economia asiática terá impacto
substancial positivo sobre a economia
“Considerando esse estreito relacio namento econômico, a reconstrução da economia jajponesa certamence terá influência direta na recuperação econcômica da Ásia, estimulando o comér cio c o investimento jajponeses com a Ásia. Da mesma maneira, a reconstru ção da economia asiática terá impacto substancial jpositivo sobre a economia jajponesa”, segundo Yosano.
Reunião do G-7 realizada em 3 de outubro. ro e a .0
O efeito sobre as afiliadas das PMEs japonesas foi lento devido à queda da demanda e dificuldade deob financiamento. ter
Principalmentc para cm{5rcsas do setor e eletrodomésticos, asituação tornou-se extremamente séria porque o índice operacional dess
as empresas caiu para 0 - 10% devido à redução da demanda locai. Tais condições também tiveram impacto negativo sobre as res{5cctivas matrizes.
Entretanto, apesar do grave ambiente econômico, as PMEs japonesas operando na Ásia estão fazendo gran des esforços para manter suas operações uma vez que acreditam no potencial da economia asiática. l'al atitu de pode ser observada
Além disso, o Ministro Yosano lan çou medidas imediatas para estimular as economias dos {países do sudeste asiático, um “{pacote abrangente para recii{perar a economia dessa região países do sudeste asiático ajpreciaram o {pronunciamen to e, ao mesmo tempo, pediram que cic recuperasse a economia japonesa o mais ra{pidamente possível, uma vez que a economia jajponesa é {propulsora do cresci mento da região e isso contribuiria {para a recuperação das economias do sudeste asiático.
Acho importante manter o financiamento c o em prego nas PMEs ja{Poncsas que enfrentam dificuldades nos países do sudeste asiático.
O pacote abrangente contem duas importantes medidas:
1- Oferecer financiamento às empresas japonesas para que estas jpossam injetar capital cm subsidiárias instaladas nos países do sudeste asiático de acordo com um novo plano denominado japan Einancial Corporation for Small Husiness.
e, ennas {Droducos para matriz.
1- Uma PME ja()onesa que (produz peças elétricas espera a recuperação da economia tailandesa quanto isso não ocorre, fabrica ape atender à demanda da nos seguintes casos:
2- Oferecer treinamento a 1 O.ÜÜO trabalhadores e en genheiros asiáticos para melhorar suas qualificações. Es{peramos que essas medidas |iolíricas rectqpercm a
conseijüeiucmenu-. conmlni.im i-).!! .i evu.ii o nsco de tumulto na cconnmi.i tl.i Ási.i e do iuuikIo. ll imjKHtantc t|uc as PMEs - mesmo se já estiverem o{-»eratHÍo ativameiue nu c.im[-)0 global - se .KlajMem a nova tendência dc globali/..içãu econômica.
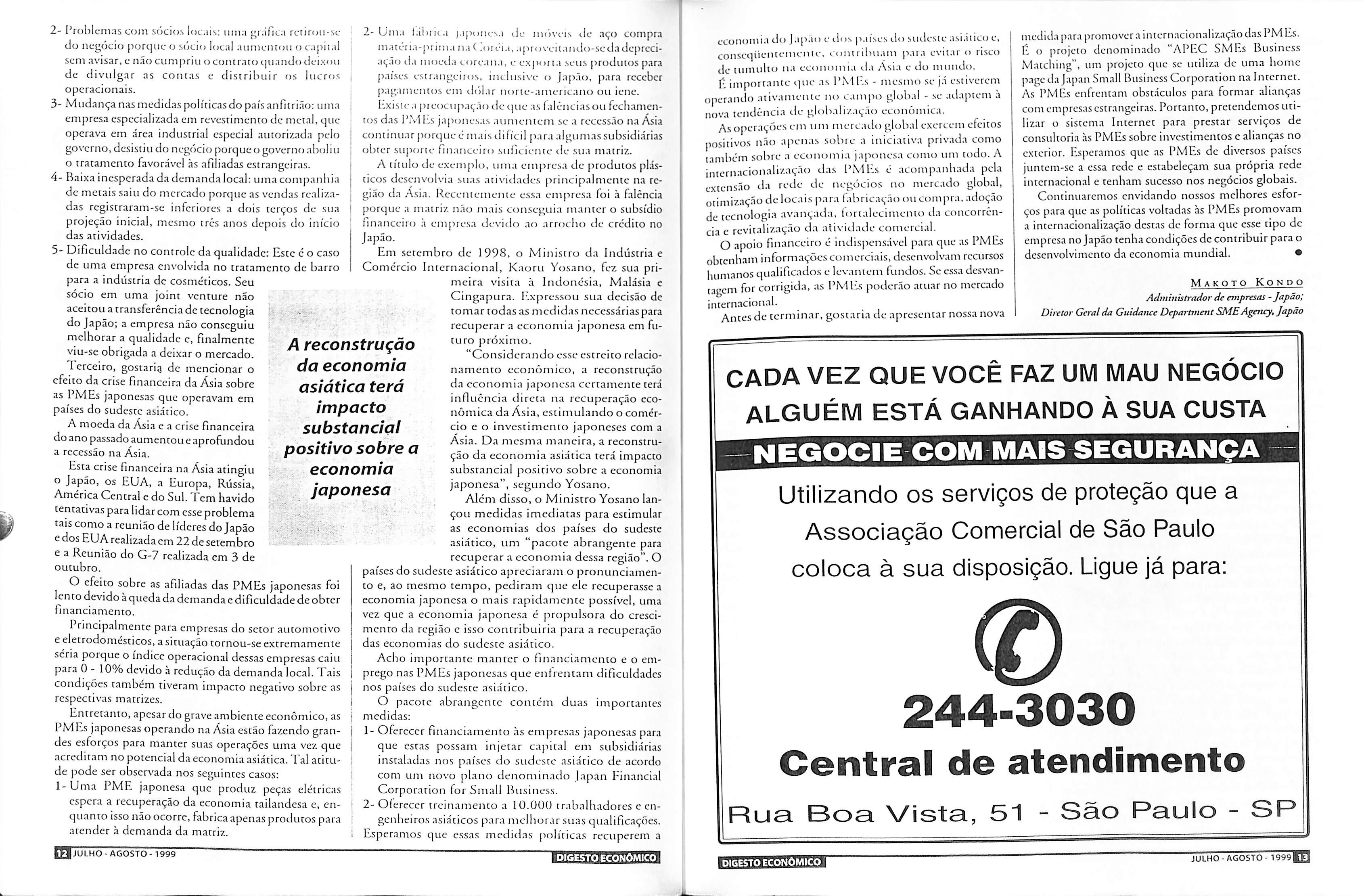
um projeto que se utiliza d
intcrnacionalizac,.u) extensão da rede de
medida para promover a internacionalização das PMEs. denominado "APEC SMEs Business e uma home economia do .qi.io e d< >s p.iíses do sudeste .isi.it ico e, o jpro|cto Matching" page da japan Small Business Corporation na Internet. As PiMEs enfrentam obstáculos para formar alianças com empresas estrangeiras. Portanto, pretendemos uti lizar o sistema Internet para prestar serviços de consultoria às PMEs sobre investimentos e alianças no exterior. Esperamos que as PMEs de diversos {^aíses juntcm-sc a essa rede e estabeleçam sua própria rede internacional e tenham sucesso nos negócios globais. Continuaremos envidando nossos melhores esfor-
As (){K’inçoes cm um merc.ulo global exercem efeitos jiositivos não aj^enas sobic a iniciativa privada como também sobre a economia ja|->onesa como um todo. A das PMEs é acompanhada pela negócios no merc.ido global, otimização dc locais {lara abri cação ou conq-ua, adoção da concorrén-
dc tecnologia avançada, lortalccimeiuo la alix idade comercial. cia c rcvjtalizaÇiio c
O apoio financeiro é indis{'>cnsávcl para que as PMEs obtenham informações comerciais, dc.senvolvani recursos humanos qualificados e levantem fundos. Se e.s.sa desvan- for corrigida, as PM F.s {loderão atuar no mercado
ços para que as políticas voltadas às PMEs promo\ a internacionalização destas dc forma que esse dpo de Japão tenha condições dc contribuir para o 'am
em|')rcsa no desenvolvimento da economia mundial.
Makoto Konpo
Administrador de empresas - Japão; Diretor Geral da Guidance Department SMEAgency, Japão tagem internacional.
Antes dc terminar, gostaria de aj^reseniar nossa nova
.^eferimo-nos ao contraste qiie não sc identifica de regra, ou que, sabido, não é posto em evidência
Cláudio M. Chaves Médico
Oem
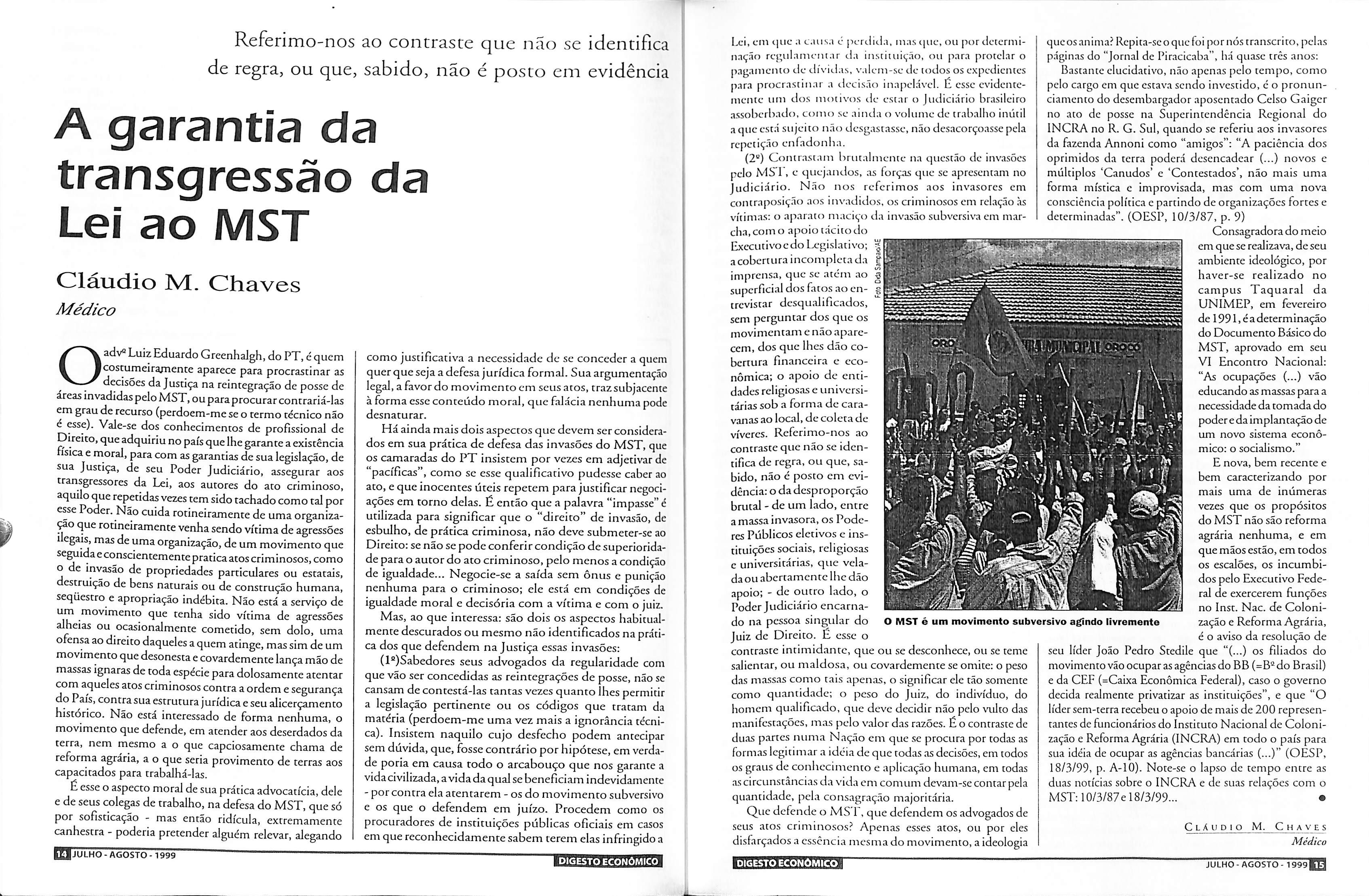
adv“ Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT, c quem costumeirajnente aparece para procrastinar decisões da Justiça
as reintegração de posse de areas invadidas pelo MST, ou para procurar contrariá-las grau de recurso (perdoem-me se o termo técnico não é esse). Vale-se dos conhecimentos de profissional de Direito, que adquiriu no país que lhe garante a existência iisicaemoral. na
como justificativa a necessidade de se conceder a quem quer que seja a defesa jurídica formal. Sua argumentação legal, a favor do movimento em seus atos, traz subjacente à forma esse conteúdo moral, que falácia nenhuma pode desnaturar.
está a serviço de um agressões alheias
Há ainda mais dois aspectos que devem ser considera dos em sua prática de defesa das invasões do MST, que os camaradas do PT insistem por vezes em adjetivar de “pacíficas”, como se esse qualificativo pudesse caber ato, e que inocentes úteis repetem para justificar negoci ações em torno delas. É então que a palavra “impasse” é utilizada para significar que o “direito” de invasão, de esbulho, de prática criminosa, não deve submeter-se ao Direito: se não se pode conferir condição de superiorida de para o autor do ato criminoso, pelo menos a condição de igualdade... Negocie-se a saída sem ônus e punição nenhuma para o criminoso; ele está em condições de igualdade moral e decisória com a vítima e com o juiz, Mas, ao que interessa: são dois os aspectos habitual mente descurados ou mesmo não identificados na práti ca dos que defendem na Justiça essas invasões: seus advogados da regularidade que vão ser concedidas as reintegrações de posse, não se cansam de contestá-las tantas vezes quanto lhes permitir a legislação pertinente ou os códigos que tratam da matéria (perdoem-me uma vez mais a ignorância técni ca). Insistem naquilo cujo desfecho podem antecipar sem dúvida, que, fosse contrário por hipótese, em verda de poria em causa todo o arcabouço que nos garante a vida civilizada, a vida da qual se beneficiam indevidamente - por contra cia atentarem - os do movimento subversivo e os que o defendem em procuradores de instituições públicas oficiais para com as garantias de sua legislação, de sua Justiça, de seu Poder Judiciário, transgressores da Lei, aos autores do assegurar aos ato criminoso, aquilo que repetidas vezes tem sido tachado como tal por esse Poder. Não cuida rotineiramente de ao uma organiza do que rotineiramente venha sendo vítima de agressões ilegais, mas de organização, de um movimento que se^ida e conscientemente pratica atos criminosos, como o e invasão de propriedades particulares ou estatais, estruição de bens naturais ou de construção humana, seqüestro e apropriação indébita. Não movimento que tenha sido vítima de - ou ocasionalmente cometido, sem dolo, uma ofensa ao direito daqueles a quem atinge, mas sim de um movimento que desonesta e covardemente lança mão de ignaras de toda espécie para dolosamente atentar ram aqueles aros criminosos contra a ordem e segurança do País, contra sua estrutura jurídica e seu alicerçamento histórico. Não está interessado de forma nenhuma movimento que defende, em atender aos deserdados da uma
É esse o
(l“)Sabedores com massas , o terra, nem mesmo a o que capeiosamente chama de reforma agrária, a o que seria provimento de terras aos capacitados para trabalhá-las. aspecto moral de sua prática advocatícia, dele e de seus colegas de trabalho, na defesa do MST, que só por sofisticação - mas então ridícula, canhestra - poderia pretender alguém relevar, alegando ffljULHQ AGOSTO-1999
juízo. Procedem como os extremamente em casos que reconhecidamente sabem terem elas infringido a em
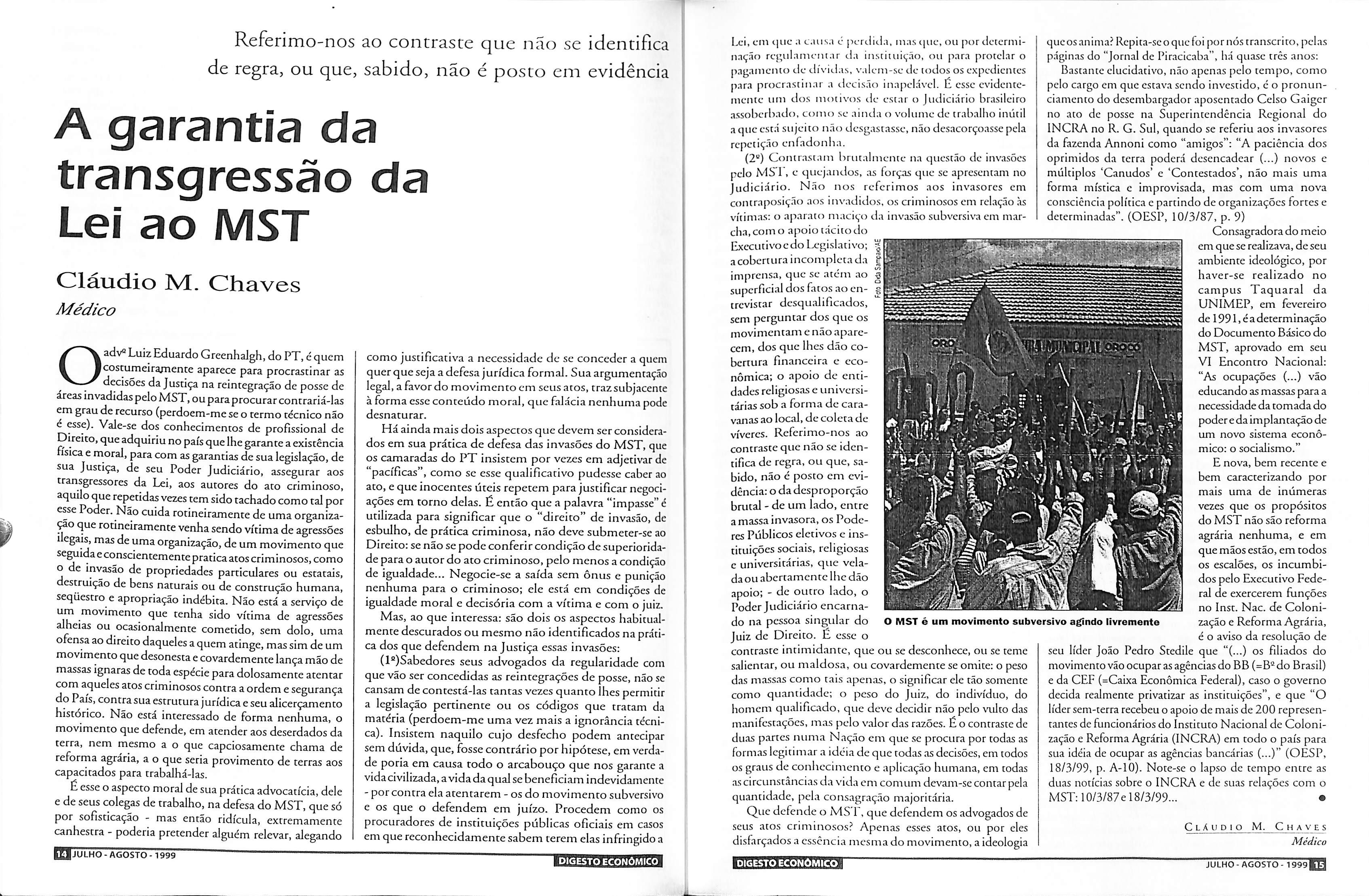
tci. cm c|uc a causa c j^cn.lic.la, mas <|uc, ou j>or clcccrminnçno rci;u!amcmat cia inMÍuii(,ão, cni para procclar o jugamcmo clc clísadas, \ alcm-sc cic iodos os cxpcdiciucs para procrastinar a decisão inapcl;í\’c!. E esse evidenrenicntc um dos moiivos de esiar o Judiciário brasileiro assoberbado, como se ainda o volume de trabalho inútil a que está sujeito não desgastasse, não desacorçoasscpcla repetirão enfadonha.
(2“) Contrastam hrutalmente na c]uestão de invasões pelo MS I , e c|iiejandüs, as íorças cjue sc apresentam no Judiciário. Não nos referimos aos invasores em contraposição ates in\-adidos, os criminosos em relação às vítimas: o ajiarato maciçt) tia invasão subversiva em marcha.com o apoio tácito do Exccutivoedolx-gislacivo; % a cobertura incompleta da | imprensa, que sc atém ao ^ sujícrficial dos fatos ao en- g desqualificados, perguntar dos que os
que os anima? Repita-se o que foi pt)r nós transcrito, pelas páginas do “Jornal dc Piracicaba”, há quase três anos: Bastante elucidativo, não apenas pelo tempo, como pelo cargo em que estava sendo investido, c o pronun ciamento do desembargador aposentado Celso Gaigcr no ato dc posse na Superintendência Regional do INClUà no R. G. Sul, quando se referiu aos invasores da fazenda Annoni como “amigos”: “A paciência dos oprimidos da terra poderá desencadear (...) novos e múltiplos ‘Canudos’ e ‘Contestados’, não mais uma forma mística c improvisada, mas com uma nova consciência política c partindo de organizações fortes e determinadas”. (OESP, 10/3/S7, p. 9)
trcvistar sem
movimentam e nao aparedos que lhes dão co- cem, bertura financeira e eco nômica; o apoio de enti dades religiosas c universi tárias sob a forma dc caralocai, dc coleta de vanas ao víveres. Referimo-nos ao contraste que não sc identifioi dc regra, ou que, sa bido, não c posto cm evi dência: o da desproporção brutal - dc um lado, entre a massa invasora, os PodePúblicos eletivos c ins- res tituições sociais, religiosas c universitárias, que vela da ou abertamente lhe dão apoio; - de outro lado, o Poder Judiciário encarna do na pessoa singular do O MST é um movimento subversivo agindo livremente Juiz de Direito. E esse o contraste intimidante, que ou se desconhece, ou se teme salientar, ou maldosa, ou covardemente se omite: o peso das massas como tais apeniis, o significar ele tão somente como quantidade; o peso do Juiz. do indivíduo, do homem qualificado, que deve decidir não pelo \ailto das manifestações, mas pelo valor das razões. É o contraste de duas partes numa Nação cm que se procura por todas as formas legitimar a idéia de que todas as decisões, em todos os graus de conhecimento e aplicação humana, em todas as circunstâncias da vida em comum devam-se contar pela quantidade, pela consagração majoritária.
seus atos
Que defende o MS I , que defendem os advogados de criminosos? Apenas esses atos, ou por eles disfarçados a essência mesma do movimento, a ideologia
Consagradora do meio em que se realizava, de seu ambiente ideológico, por haver-se realizado no campus Taquaral da em fevereiro de 1991, é a determinação do Documento Básico do MST, aprovado em seu VI Encontro Nacional: “As ocupações (...) vão educando as massas para a necessidade da tomada do poder e da implantação de um novo sistema econô mico; o socialismo.”
E no\'a, bem recente e bem caracterizando por mais uma de inúmeras vezes que os propósitos do MST não são reforma agrária nenhuma, e em que mãos estão, em todos os escalões, os incumbi dos pelo Executivo Fede rai de exercerem ílmções no Inst. Nac. de Coloni zação e Reforma Agrária, é o aviso da resolução de seu líder João Pedro StedÜe que “(...) os filiados do movimento vão ocupar as agências do BB (=B“ do Brasil) e da CEF (=Caixa Econômica Federal), caso o governo decida realmente privatizar as instituições”, e que “O líder sem-terra recebeu o apoio de mais de 200 represen tantes de funcionários do Instituto Nacional dc Coloni zação e Reforma Agrária (INCRA) em todo o país para sua idéia de ocupar as agências bancárias (...)” (OESP, 18/3/99, p. A-10). Note-se o lapso de tempo entre as duas notícias sobre o INCRA e de suas relações com o MST: 10/3/87e 18/3/99...
Sâo Paulo recomenda na Carta aos Romanos 13,8:
Síão devais nada a ninguém, a náo ser o amor mútuo”.
Jan Wiegerinck Empresário
Recentemente, ao rol das causas generosas que encontram eco simpático no interesse mundial, . suscitando toda sorte de considerações, jun tou-se o movimento que postula sejam perdoadas no ano 2.000 desenvolvimento . dívidas externas dos países ditos as em
Os defensores do pleito radicam-no na Bíblia, passa gem que prescreveu aos judeus, a cada 50 anos - nos anos jubilares - deixar o solo repousar, libertar escravos, devolver áreas de terras e perdoar dívidas.
Reputo o assunto de tamanha importância, presente e futuro, para o mundo mas particularmente para o Brasil que entendo deva ser abordado por todos os ângulos e conforme Écom os mais diferentes posicionamentos, esse propósito que ofereço aos leitores as ponde rações seguintes.
dar o perdão das dívidas ainda exista. No entanto, os motivos para perdoar, então existentes, estão presentes na atual sociedade. Os sentimentos que inspiraram a atitude naquela época tem a sua contrapartida em nosso tempo. Os seres bumanos, suas inclinações, sua nature za, não se alteraram. Continuam tendo os mesmos vícios c procurando adquirir as mesma.s virtudes.
Aliás, SC o credor for cristão, pode ele encontrar no novo testamento, forte argumento para conceder o perdão. Rezando o Pai Nosso ele pcclc para ser perdo ado assim como c quando perdoa. E para isso não necessita esperar por um ano jubileu.
É verdade que a Bíblia fala em perdão maior nos anos jubilares, mas ela contém igualmente passagens que deixam bem claro que o autor não recomenda, em absoluto, contrair dívidas.
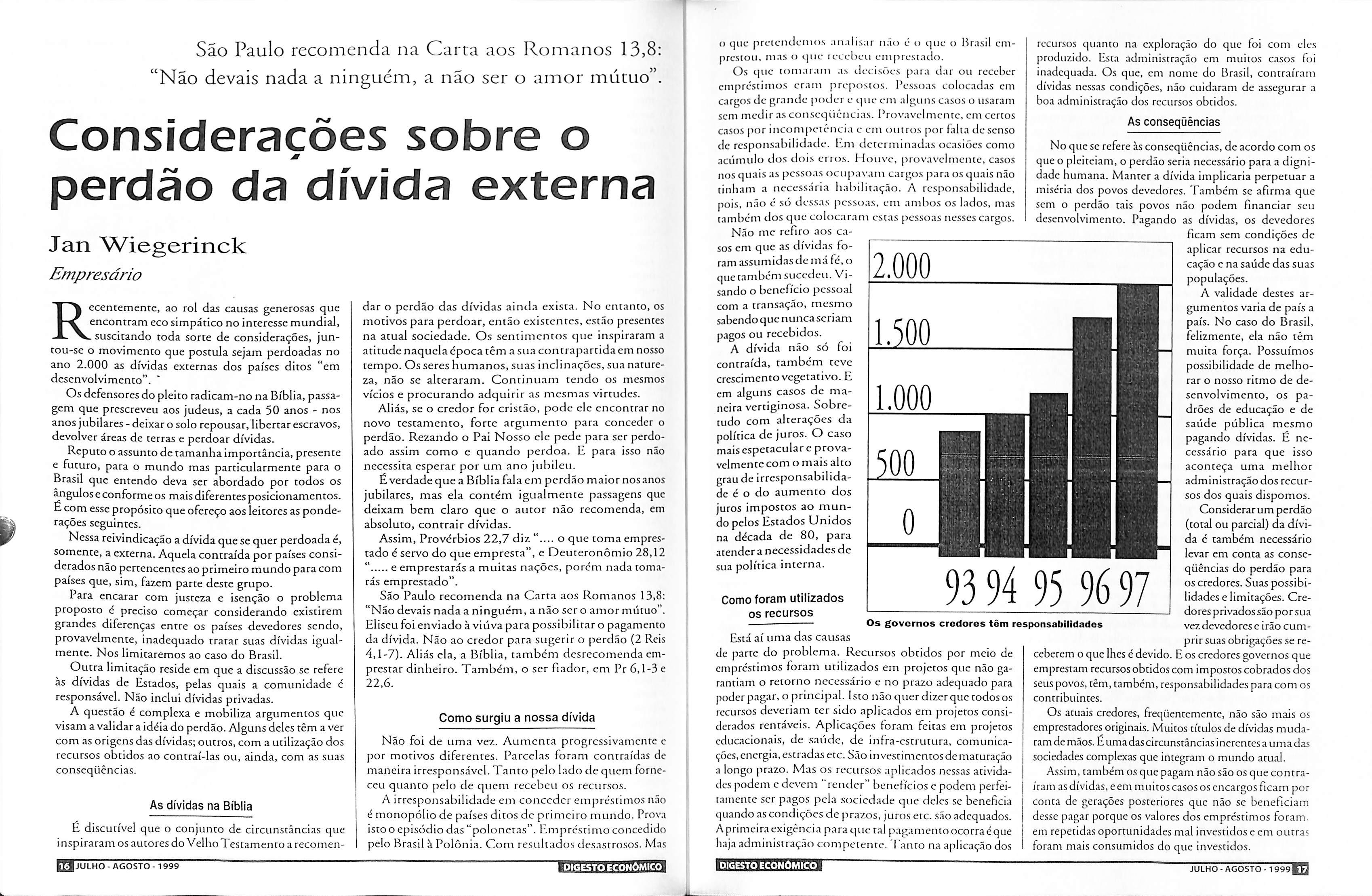
quer perdoada é, se
Nessa reivindicação a dívida que somente, a externa. Aquela contraída por países consi derados não pertencentes ao primeiro mundo para com países que, sim, fazem parte deste grupo.
Assim, Provérbios 22,7 diz o que toma empres tado é servo do que empresta”, e Deuteronômio 28,12 “ e emprestarás a muitas nações, porém nada toma¬ rás emprestado”.
Para encarar com justeza e isenção o problema proposto é preciso começar considerando existirem grandes diferenças entre os países devedores sendo, provavelmente, inadequado mente. Nos limitaremos ao caso do Brasil.
Outra limitação reside
dívidas igual- tratar suas
em que a discussão se refere às dívidas de Estados, pelas quais a comunidade é responsável. Não inclui dívidas privadas.
A questão é complexa e mobiliza argumentos que visam a validar a Idéia do perdão. Alguns deles têm a ver com as origens das dívidas; outros, com a utilização dos recursos obtidos ao contraí-las ou, ainda, com as suas
As dívidas na Bíblia
São Paulo recomenda na Carta aos Romanos 13,8: “Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo". Eliseu foi enviado à viúva para possibilitar o pagamento da dívida. Não ao credor para sugerir o perdão (2 Reis 4,1-7). Aliás ela, a Bíblia, também desrecomenda em prestar dinheiro. Também, o ser fiador, em Pr 6,1-3 c 22,6.
Como surgiu a nossa dívida
Não foi de uma vez. Aumenta progressivamente e por motivos diferentes. Parcelas foram contraídas de maneira irresponsável. Tanto pelo lado dc quem forne ceu quanto pelo dc quem recebeu os recursos.
A irresponsabilidade em conceder empréstimos não é monopólio de países ditos dc primeiro mundo. Prova isto o episódio das “polonctas”. Empréstimo concedido pelo Brasil à Polônia. Com resultados desastrosos. Mas conseqücncias.
É discutível que o conjunto de circunstâncias que inspiraram os autores do Velho Testamento a rccomen-
o (juc prctcndcnios an.ilisar não c o ».|uc o Brasil em prestou. nias o cjue tecebeu empiestatlo.
Os cjuc tomaram a.s decisões para tlar ou receber cmpréstinujs eram preposuxs. Pessoas colocadas em cargc)S dc grande |●)oder e tpie em alguns casos o usaram sem medir as conseqücncias. Provavelnicnce, em certos casos por incompetência e em outros j^or íaita de senso dc responsaliilidade. hm determinadas ocasiões como acúmulo dos dois erros. I louve, provavelmente, casos nos quais as pessoas ocupavam cargos jíara os quais não tinham a necessária hal-)ilÍtação. A responsabilidade, pois, não é só dessas pessoas. en\ ambos os lados, mas também dos que colocaram estas pessoas nesses cargos.
Não me refiro aos ca- : as dívid.as foidasde má fc, o
sos cm que ram assum .●tambémsucedeu. Vi ndo o benefício pessoal que sa com a trnnsaçao, mesmo sabcndoqucnuncascriam recebidos. pagos ou
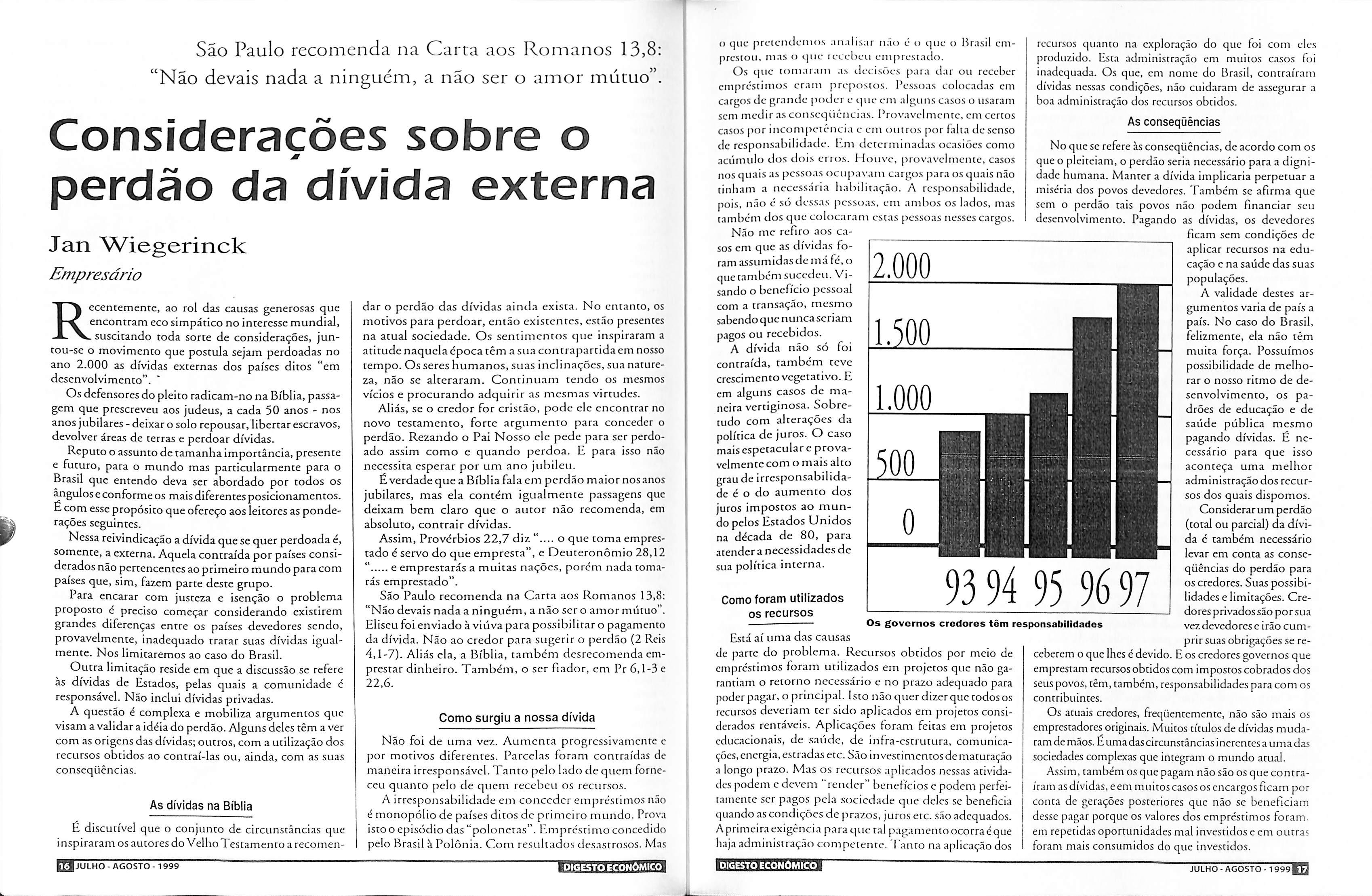
recursos quanto na exploração do que foi com eles produ/.ido. Esta administração em muitos casos foi inadequada. Os que, cm nome do Brasil, contraíram dívidas nessas condições, não cuidaram dc assegurar a boa administração dos recursos obtidos.
As conseqüências
No que SC refere às conseqücncias, dc acordo com os que o pleiteiam, o perdão seria necessário para a digni dade humana. Manter a dívida implicaria perpetuar a miséria dos povos devedores. Também se afirma que sem o perdão tais povos não podem financiar seu desenvolvimento. Pagando as dívidas, os devedores ficam sem condições de aplicar recursos na edu cação e na saúde das suas populações.
A dívida não só foi contraída, também teve crescimento vegetativo. E de ma- alguns casos ncira vertiginosa. Sobre tudo com alterações da política dc juros. O caso mais espetacular c prova velmente com o mais alto grau de irresponsabilida de é o do aumento dos cm juros impostos ao mun do pelos Estados Unidos década dc 80, para atender a ncce.ssidades de lítica interna.
na sua po
Como foram utilizados os recursos
A validade destes ar gumentos varia de país a país. No caso do Brasil, felizmente, ela não têm muita força. Possuímos possibilidade de melho rar o nosso ritmo de de senvolvimento, os pa drões de educação e de saúde pública mesmo pagando dívidas. É ne cessário para que isso aconteça uma melhor administração dos recur sos dos quais dispomos. Considerar um perdão (total 011 parcial) da dívi da é também necessário levar em conta as conse qüências do perdão para os credores. Suas possibi lidades e limitações. Cre do res privados são po r sua vez devedores e irão cum prir suas obrigações se re ceberem o que lhes é devido. E os credores governos q emprestam recursos obtidos com impostos cobrados dos seus povos, têm, também, responsabilidades para com os contribuintes.
Os atuais credores, freqüentemente, não são mais os emprestadores originais. Muitos títulos de dívidas muda ram de mãos. É uma das circunstâncias inerentes a uma das sociedades complexas que integram o mundo atual.
Assim, também os que pagam não são os que contra íram as dívidas, e em muitos casos os encargos ficam por conta dc gerações posteriores que não se beneficiam desse pagar porque os valores dos empréstimos foram, em repetidas oportunidades mal investidos e em outra-: foram mais consumidos do que investidos.
Os governos credores têm responsabilidades Está aí uma das causas de parte do problema. Recursos obtidos por meio de empréstimos foram utilizados em projetos que não ga rantiam o retorno necessário c no prazo adequado para poder pagar, o principal. Isto não quer dizer que todos os rccur-sos deveriam ter sido aplicados em projetos consi derados rentáveis. Aplicações íoram feitas em projetos educacionaus, dc saúde, dc infra-estrutura ue , comunica ções, energia, estradas etc. São investimentos de maturação a longo prazo. Mas os recursos aplicados nessas atividadc.s podem e devem render benefícios e podem perfeitamente ser pagos pela sociedade que deles .se beneficia (juando as condições de prazos, juros etc. são adequados. A primeira exigência para que tal pagamento ocorra éque haja administração competente. 1 aplicação dos anro na
JULHO-ÃgüSTO- 1999fH
Existem vários motivos, além dos bíblicos, invocáveis para justificar um perdão de dívida. Seja o perdão parcial ou total.
Um perdão de dívida não é necessariamente ato que decorre de convicção ou sentimento religioso. Pode ser imposição ética mas também exigência da justiça ou a simples aplicação do bom senso. A prática da solidari edade e mesmo da misericórdia não está restrita aos que se dizem cristãos.
Existem perdões que poderiamos chamar de profanos, conhecidos pelo ordenamento jurídico de muitos países. Não decorrem de preceito religioso ou bíblico. Resultado, em parte, também da aplicação do princípio de que onde não há o que buscar todos perdem seus direitos. É o que acontece nas hipóteses da concordata e da falência. Neles, legalmente, o devedor fica isentado de pagar parte do que deve e lhe é concedido prazo para o pagamen to a ser feito. O credor perde parte do seu direito em função da aplicação de princí pios superiores, mais importantes do que o respeito aos seus legítimos interesses. E o bom senso recomenda que para a soci edade como um todo e para os credores individualmente, é melhor cada um rece ber uma pane do que ninguém receber pane alguma.
Outro aspecto que não pode ser desconsiderado é o de que a civilização reconhece ser adequado não impor ao devedor um sacrifício tal que resultaria em benefício de limitado valor
para o credor. Tanto a justiça quanto a solidari edade pedem senso da medida, proporcionalidade. Não se deve pedir comportamento que implicaria heroísmo na esfera profaou santidade do ponto de vista cristão.
to da economia numa sociedade complexa como aem que vivemos. Mas isto não invalida a recomendação dc São Paulo, acima citada: “Não devais nada a ninguém”. Ter dívida c não ser livre. Contrair dívidas c um passo certo no caminho da pobreza. E se é duro ser pobre, ter dívidas c horrível, como afirma Charles H. Spurgeon.
Houve falhas graves na contratação das nossas dmdas externas. E na administração dos recursos com eles obtidos.
Agora estamos diante do problema de como nos livrarmos delas.
Conseguir o perdão é uma das formas. Pagar éoutra. No caso brasileiro, o bom senso leva a buscar solução equilibrada, que provavelmente não está no perdão puro e simples mas por outro lado não exige o paga mento integral.
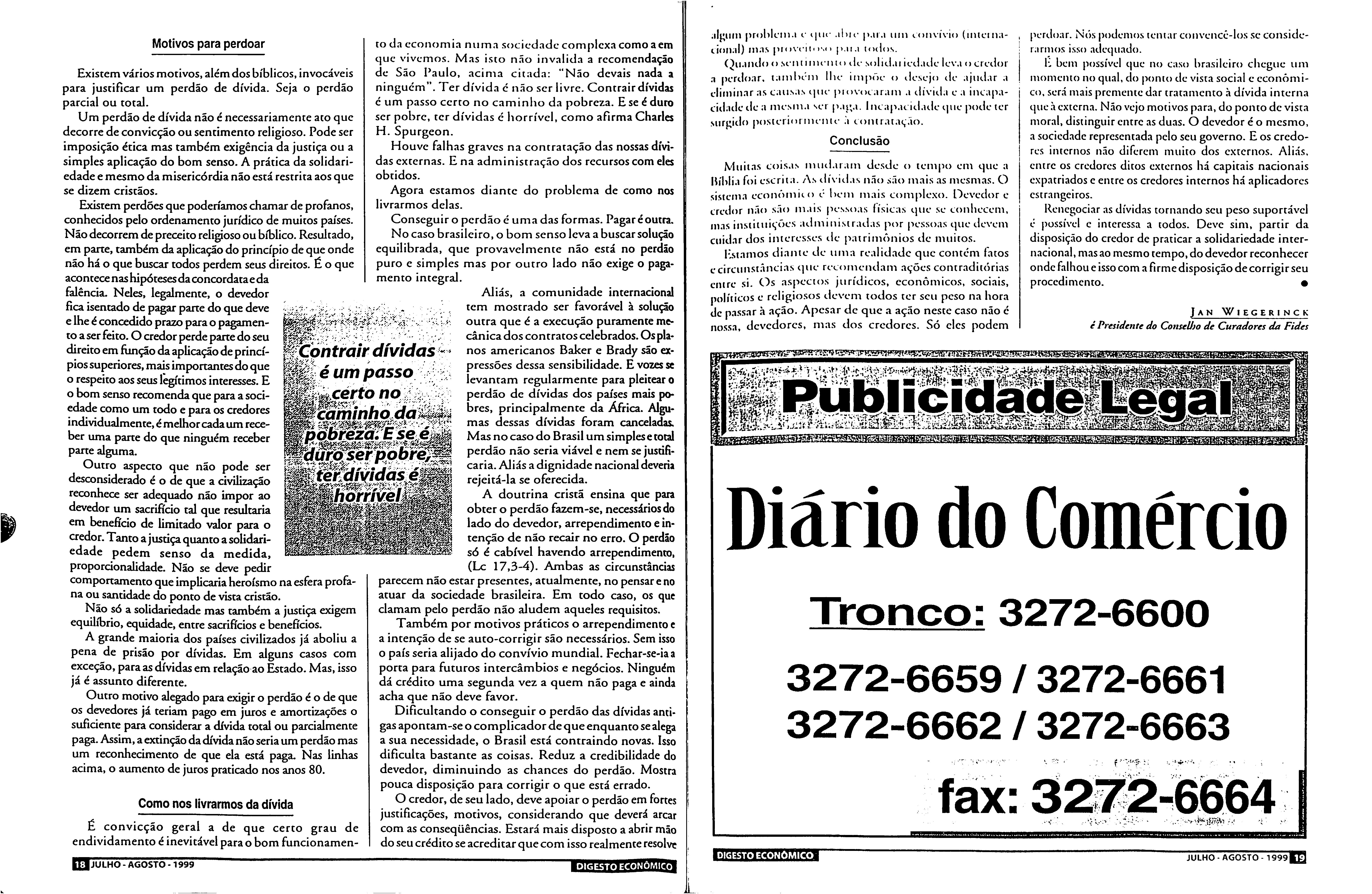
noí
Aliás, a comunidade internacional tem mostrado ser favorável à solução outra que é a execução puramente me cânica dos contratos celebrados. Os pla nos americanos Baker e Brady são ex pressões dessa sensibilidade. E vozes se levantam regularmente para pleitear o perdão de dívidas dos países mais po bres, principalmente da África. Algu mas dessas dívidas foram canceladas. Mas no caso do Brasil um simples e total perdão não seria viável e nem se justifi caria. Aliás a dignidade nacional deveria rejeitá-la se oferecida.
Não só a solidariedade mas também a justiça exigem equilíbrio, equidade, entre sacrifícios e benefícios.
A grande maioria dos países civilizados já aboliu a pena de prisão por dívidas. Em alguns casos com exceção, para as dívidas em relação ao Estado. Mas, isso já é assunto diferente.
Outro motivo alegado para exigir o perdão é o de que devedores já teriam pago em juros e amortizações o suficiente para considerar a dívida total ou parcialmente paga. Assim, a extinção da dívida não seria um perdão mas um reconhecimento de que ela está paga. Nas linhas acima, o aumento de juros praticado nos anos 80. na OS
Como nos livrarmos da dívida
É convicção geral a de que certo grau de endividamento é inevitável para o bom funcionamen-
A doutrina cristã ensina que para obter o perdão fazem-se, necessários do lado do devedor, arrependimento e in tenção de não recair no erro. O perdão só é cabível havendo arrependimento, (Lc 17,3-4). Ambas as circunstâncias parecem não estar presentes, atualmente, no pensar e no atuar da sociedade brasileira. Em todo caso, os que clamam pelo perdão não aludem aqueles requisitos. Também por motivos práticos o arrependimento c a intenção de se auto-corrigir são necessários. Sem isso o país seria alijado do convívio mundial. Fechar-se-ia a porta para futuros intercâmbios e negócios. Ninguém dá crédito uma segunda vez a quem não paga e ainda acha que não deve favor.
Dificultando o conseguir o perdão das dívidas anti gas apontam-se o complicador de que enquanto se alega a sua necessidade, o Brasil está contraindo novas. Isso dificulta bastante as coisas. Reduz a credibilidade do devedor, diminuindo as chances do perdão. Mostra pouca disposição para corrigir o que está errado.
O credor, de seu lado, deve apoiar o perdão em fortes justificações, motivos, considerando que deverá arcar com as conseqüências. Estará mais disposto a abrir mão do seu crédito se acreditar que com isso realmente resolve
.ilgiim |)rol)Icin.i c iiiu- .il)u- p.u.i mn convívio (micmacional) mns ptovi ii-) .«> p.n.i todos, (guando o .sc-nmm nio dv solidai icdadc leva o credtjr a perdoar, lainhém lhe cliininnr as causas ipii- pmvocaram a tlívida e a incapa cidade de a mesma ser pai;a. Incapacidatie ipie jiode ter surgido jiosierionneme à conirarat^ão.
Conclusão
Muitas coisas mudaram de.sde o tempo em que a Híhlia foi escrita. As dívidas não são mais as mesmas. O sistema económito é hem mais complexo. Devedor e credor não são mais pessoas físicas que se conhecem, mas instituições administradas por pessoas que devem cuidar dos interesses de patrimônios de muitos.
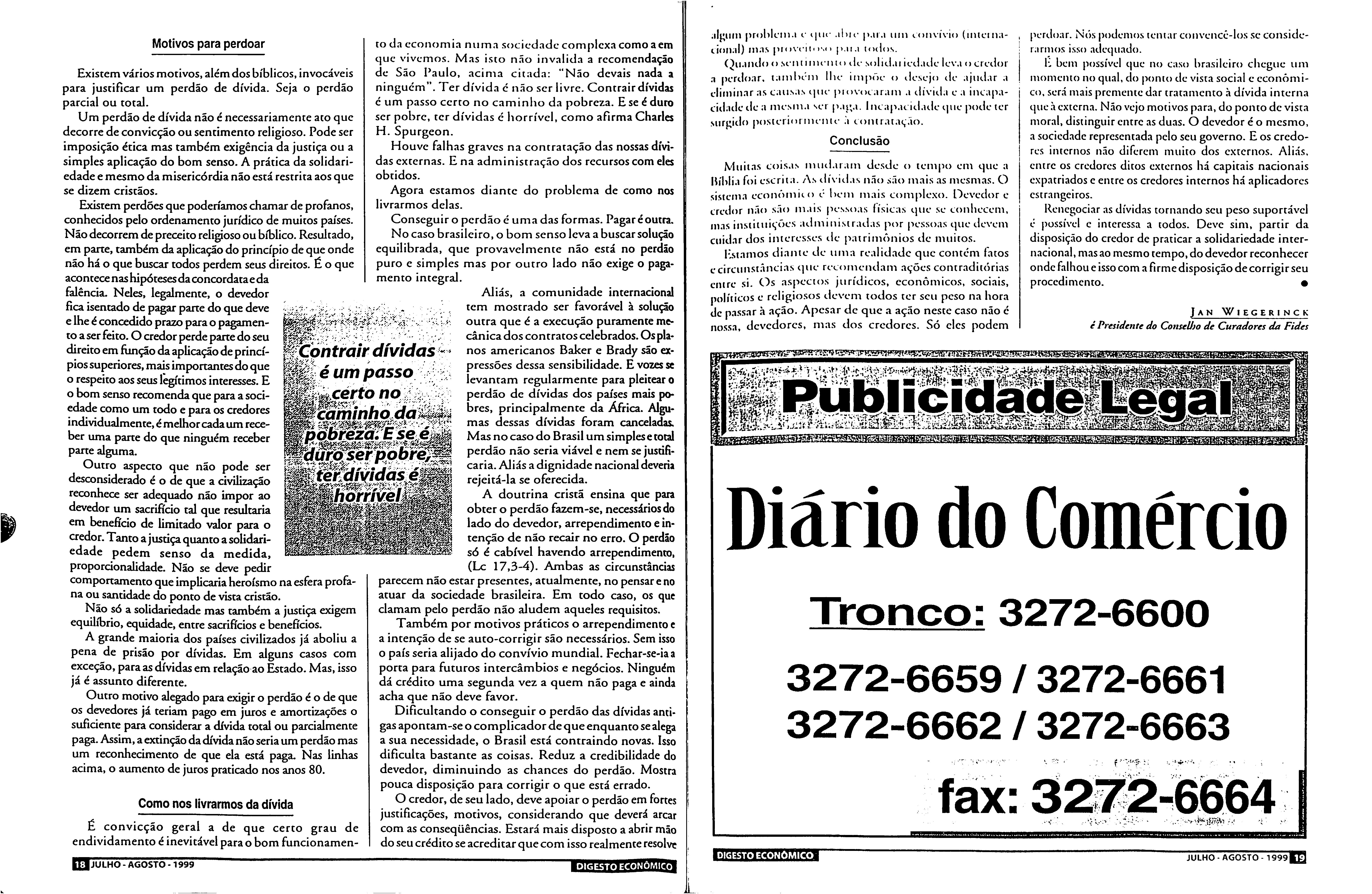
perdoar. Nós podemos tentar convencê-los .se conside rarmos i.s.so adequ.ado.
lí bem possível que mpoe o iiesep) tie apRiar a momento no qual, do ponto de vista social e econômi co, ser.á mais premente dar tratamento à dívida interna que .1 externa. Não vejo motivos para, do ponto de vista moral, distinguir entre as duas. O devedor é o mesmo, a socicd.adc representada pelo seu governo. E os credo res internos não diferem muito dos externos. Ali.ás, entre os credores ditos externos há capitais nacionais expatriados e entre os credores internos há aplicadorcs estrangeiros.
Hstamos diante de uma realid.idc que contem fatos ecircunstâncias c]ue recomendam ações contraditórias entre si. Os aspectos jurídicos, econômicos, sociais, políticos e religiosos devem todos ter seu peso na hora dc p.rssar à ação. Apesar de que a ação neste caso não c , devedores, mas dos credores. Só eles podem
ca.so brasileiro chegue um
Renegociar as dívidas tornando seu peso suportável é possível e interessa a todos. Deve sim, partir da disposição do credor dc praticar a solidariedade intern.acional, mas ao mesmo tempo, do devedor reconhecer onde falhou e isso com a firme disposição de corrigir seu procedimento. ●
o direito adquirido precisa advir necessariamente de um fato jurídico idôneo
// rif
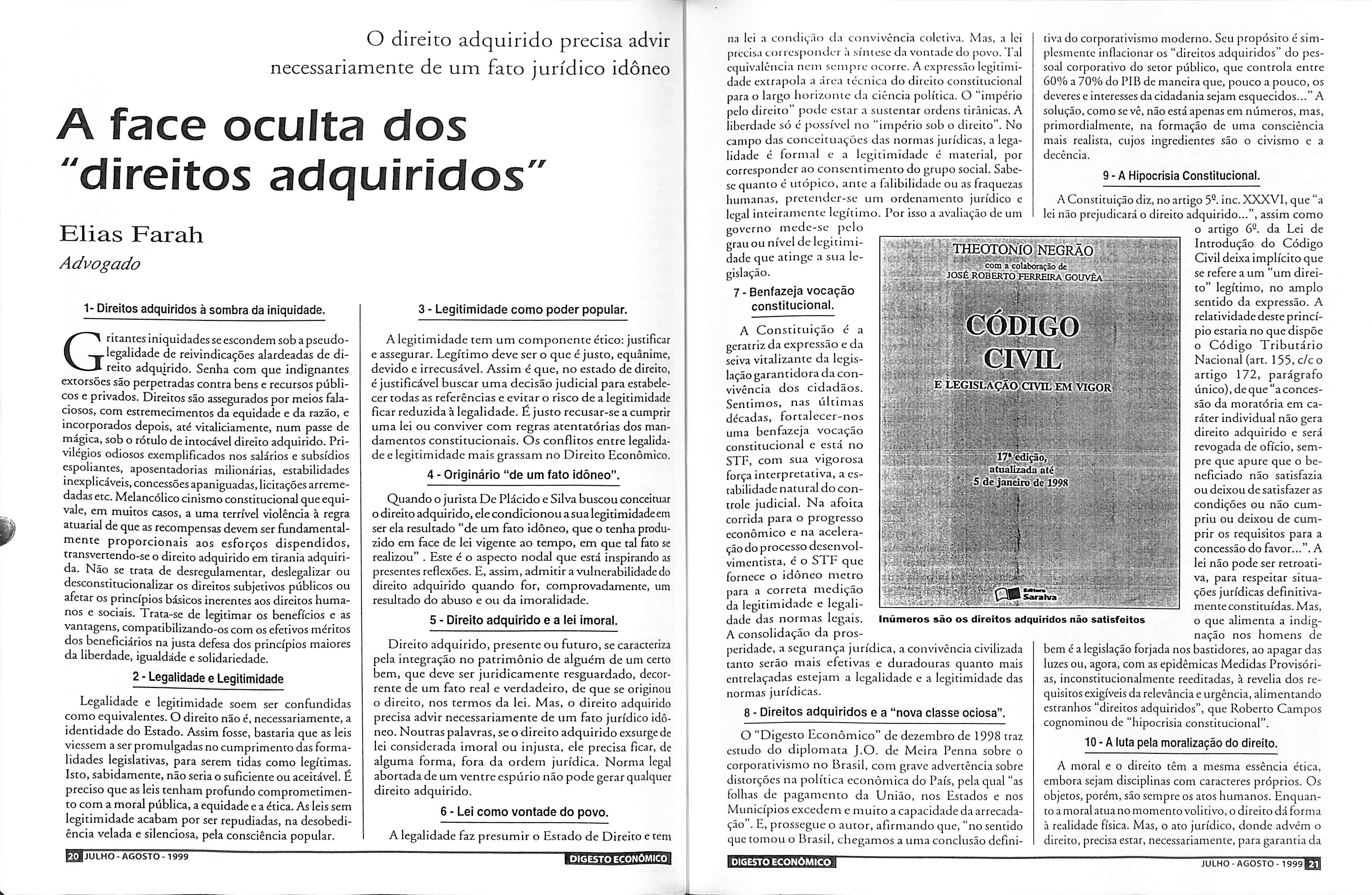
Elias Farah
1- Direitos adquiridos à sombra da iniquidade.
com que indignantes e recursos públi-
CIOSOS, com
3 - Legitimidade como poder popular. ritantes iniquidades se escondem sob a pseudolegaJidade de reivindicações alardeadas de di reito adqmrido. Senha extorsões são perpetradas contra bens COS e privados. Direitos são assegurados por meios falaestremecimentos da equidade e da razão, e incorporados depois, até vicaliciamente, num passe de mágica, sob o rótulo de intocável direito adquirido. Pri vilégios odiosos exemplificados nos salários e subsídios espoliantes, aposentadorias milionárias, estabilidades inexplicáveis, concessões apaniguadas, licitações arreme dadas etc. Melancólico cinismo constitucional que equi vale, em muitos casos, a uma terrível violência à regra atuarial de que as recompensas devem mente proporcionais aos esforços dispendidos, transvertendo-se o direito adquirido em tirania adquiri da. Não
ser fundamental-
de desregulamentar, deslegalizar ou -- os direitos subjetivos públicos ou afetar os princípios básicos inerentes aos direitos huma nos e sociais. Trata-se de legitimar vantagens, compatibilizando-os com os efetivos méritos se trata desconsticucionalizar
os benefícios e as dos beneficiários na justa defesa dos princípios maiores da liberdade, igualdade e solidariedade.
Legalidade e legitimidade soem ser confundidas como equivalentes. O direito não é, necessariamente, a identidade do Estado. Assim fosse, bastaria que as leis promulgadas no cumprimento das forma lidades legislativas, para serem tidas como legítimas. Isto, sabidamente, não seria o suficiente ou aceitável. É preciso que as leis tenham profundo comprometimen to com a moral pública, a equidade e a ética. As leis sem legitimidade acabam por ser repudiadas, na desobedi ência velada e silenciosa, pela consciência popular.
Wl JU LHO - AGOSTO -1999 viessem a ser
A legitimidade tem um componente ético: justificar e assegurar. Legítimo deve ser o que é justo, equânime, devido e irrecusável. Assim é que, no estado de direito, é justificável buscar uma decisão judicial para estabele cer todas as referências e evitar o risco de a legitimidade ficar reduzida à legalidade. É justo recusar-se a cumprir uma lei ou conviver com regras atentatórias dos man damentos constitucionais. Os conflitos entre legalida de e legitimidade mais grassam no Direito Econômico.
4 - Originário “de um fato idôneo”.
Quando o jurista Dc Plácido e Silva buscou conceituar o direito adquirido, cie condicionou a sua legitimidade em ser ela resultado “de um fato idôneo, que o tenha produ zido em face de lci vigente ao tempo, em que tal fato se realizou” . Este é o aspecto nodaJ que está inspirando as presentes reflexões. E, assim, admitir a vulnerabilidade do direito adquirido quando for, comprovadamente, um resultado do abuso e ou da imoralidade.
5 - Direito adquirido e a lei imoral.
Direito adquirido, presente ou futuro, se caracteriza pela integração no patrimônio de alguém de um certo bem, que deve ser juridicamente resguardado, decor rente de um faro real e verdadeiro, de que se originou o direito, nos termos da lei. Mas, o direito adquirido precisa advir necessariamente de um fato jurídico idô neo. Noutras palavras, se o direito adquirido exsurgede lei considerada imoral ou injusta, ele precisa ficar, de alguma forma, fora da ordem jurídica. Norma legal abortada de um ventre espúrio não pode gerar qualquer direito adquirido.
6 - Lei como vontade do povo.
A legalidade faz presumir o Estado de Direito e tem
na ici :i coiuli^ão da convivência colcti\’a. Mas, a lei jircci-s.i con cj.j>ondci ;i sinccsc da voniatlc do po\'o. "1 al equivalência ncni sempre ocorre. A expressão legitimi dade exirajiola a área técnica do direito constitucional para o largo hori/AMiic tia ciência política. O “império pelo direito” jiode estar a sustentar ordens tirânicas. A liberdade só é possível no “império sob o direito”. No campo das conecituações das normas jurídicas, a lega lidade é formal e a legitimidade é material, por corresponder ao consentimento do grupo social. Sabcsc quanto c utópico, ante a falibilidade ou as fraque^^as humanas, legal inceiramente legítimo. Por isso a avaliação de um mede-se pelo
tiva do corporativismo moderno. Seu propósito é sim plesmente inílacionar os “direitos adquiridos” do pes soal corporativo do setor público, que controla entre 60% a 70% do PIB dc maneira que, pouco a pouco, os deveres e interesses da cidadania sejam esquecidos...” A solução, como SC vê, não está apenas em números, mas, primordialmcnte, na formação de uma consciência mais realista, cujos ingredientes são o civismo e a decência.
9 - A Hipocrisia Constitucional.
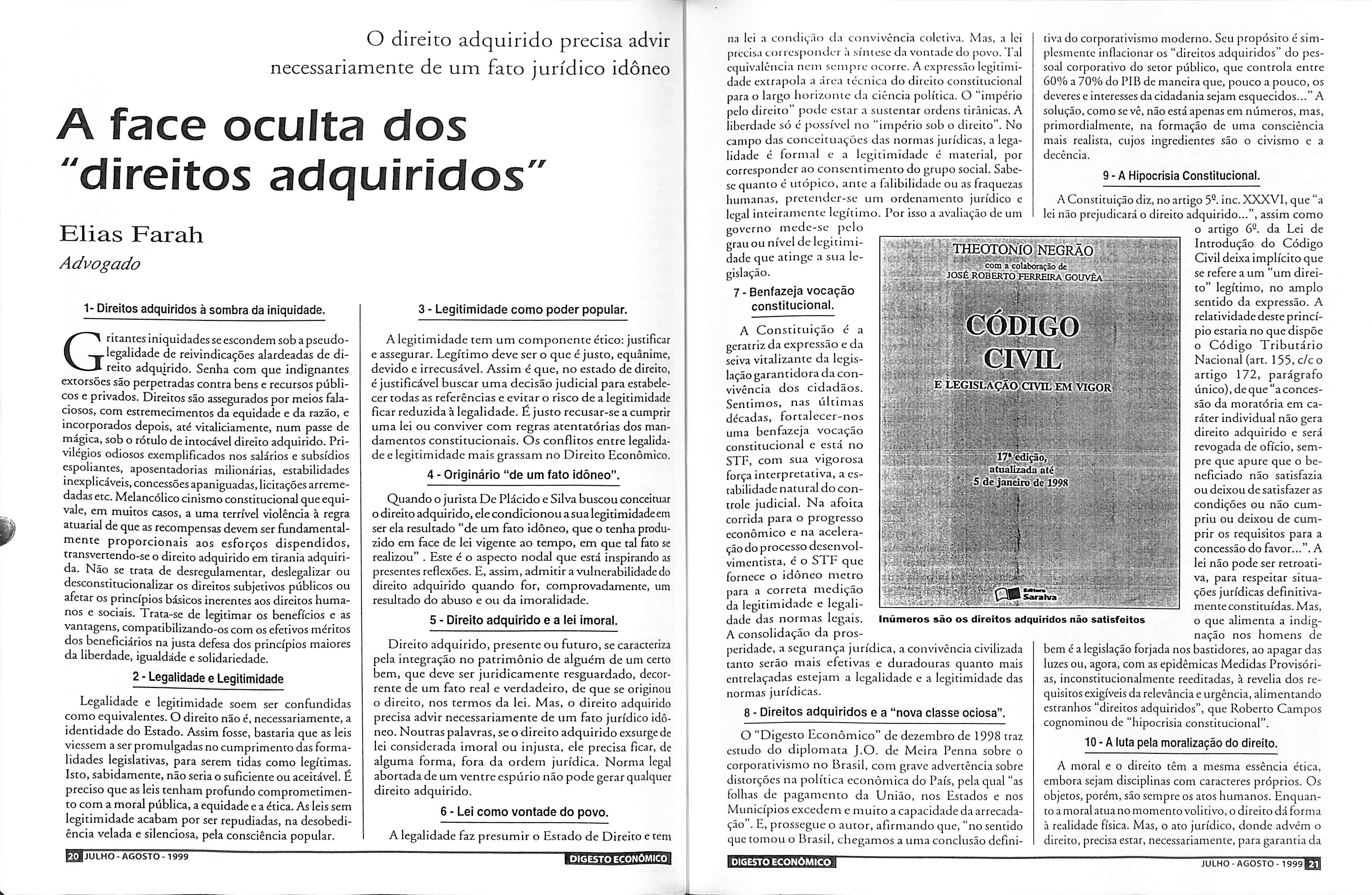
coUboraçao dc. V.Í:.-
o arngo
prctcndcr-sc uíii ordenamento jurídico e A Constituição diz, no artigo 5*^. inc. XXXVI, que “a lei não prejudicará o direito adquirido...”, assim como da Lei de governo grau ou nível de legitimi dade que atinge a sua le gislação.
7 - Beníazeja vocação constitucional. ■
A Constituição c a geratriz da expressão e da seiva vitalizante da legis lação garantidora da con vivência dos cidadãos, nas últimas
Sentimos, décadas, fortalecer-nos benfazeja vocação
íÍ^:JOSÉ ROBERTOTERREIRA GOUVÊa' '
iii
1 ● uma constitucional e está no
STE, com sua vigorosa ■j.
força intcrpretativa, a es tabilidade natural do conIc judicial. Na afoita corrida para o progresso econômico c na acelera ção do processo descnvolvimentista, é o STF que fornece o idôneo metro correta medição
para a da legitimidade e legali dade das normas legais. A consolidação da pros peridade, a segurança jurídica, a convivência civilizada tanto serão mais efetivas e duradouras quanto mais entrelaçadas estejam a legalidade e a legitimidade das normas jurídicas.
8 - Direitos adquiridos e a “nova classe ociosa”.
O “Digesto Econômico” dc dezembro de 1998 traz estudo do diplomata J.O. de Mcira Penna sobre o corporativismo no Brasil, com grave advertência sobre distorções na política econômica do País, pela qual “as folhas de pagamento da União, nos Estados e nos Municípios excedem e muito a capacidade da arrecada ção’ . E, prossegue o autor, afirmando que, “no sentido que tomou o Brasil, chegamos a uma conclusão defini-
Introdução do Código Civil deixa implícito que se refere a um “um direi-
s to” legítimo, no amplo sentido da expressão. A relatividade deste princí pio estaria no que dispõe o Código Tributário Nacional (art. 155, c/c o artigo 172, parágrafo único), de que “a conces são da moratória em ca ráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício, sem pre que apure que o be neficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cum priu ou deixou de cum prir os requisitos para a concessão do favor...”. A lei não pode ser retroati va, para respeitar situa ções jurídicas definitiva mente constituídas. Mas, o que alimenta a indig nação nos homens de bem é a legislação forjada nos bastidores, ao apagar das luzes ou, agora, com as epidêmicas Medidas Provisóri as, inconstitucionalmente reeditadas, à revelia dos requisitosexigíveisdarelevânciae urgência, alimentando estranhos “direitos adquiridos”, que Roberto Campos cognominou de “hipocrisia constitucional”.
10 - A luta pela moralização do direito.
A moral e o direito têm a mesma essência ética, embora sejam disciplinas com caracteres próprios. Os objetos, porém, são sempre os atos humanos. Enquan to a moral atua no momento volitivo, o direito dá forma à realidade física. Mas, o ato jurídico, donde advem o direito, precisa estar, necessariamente, para garantia da
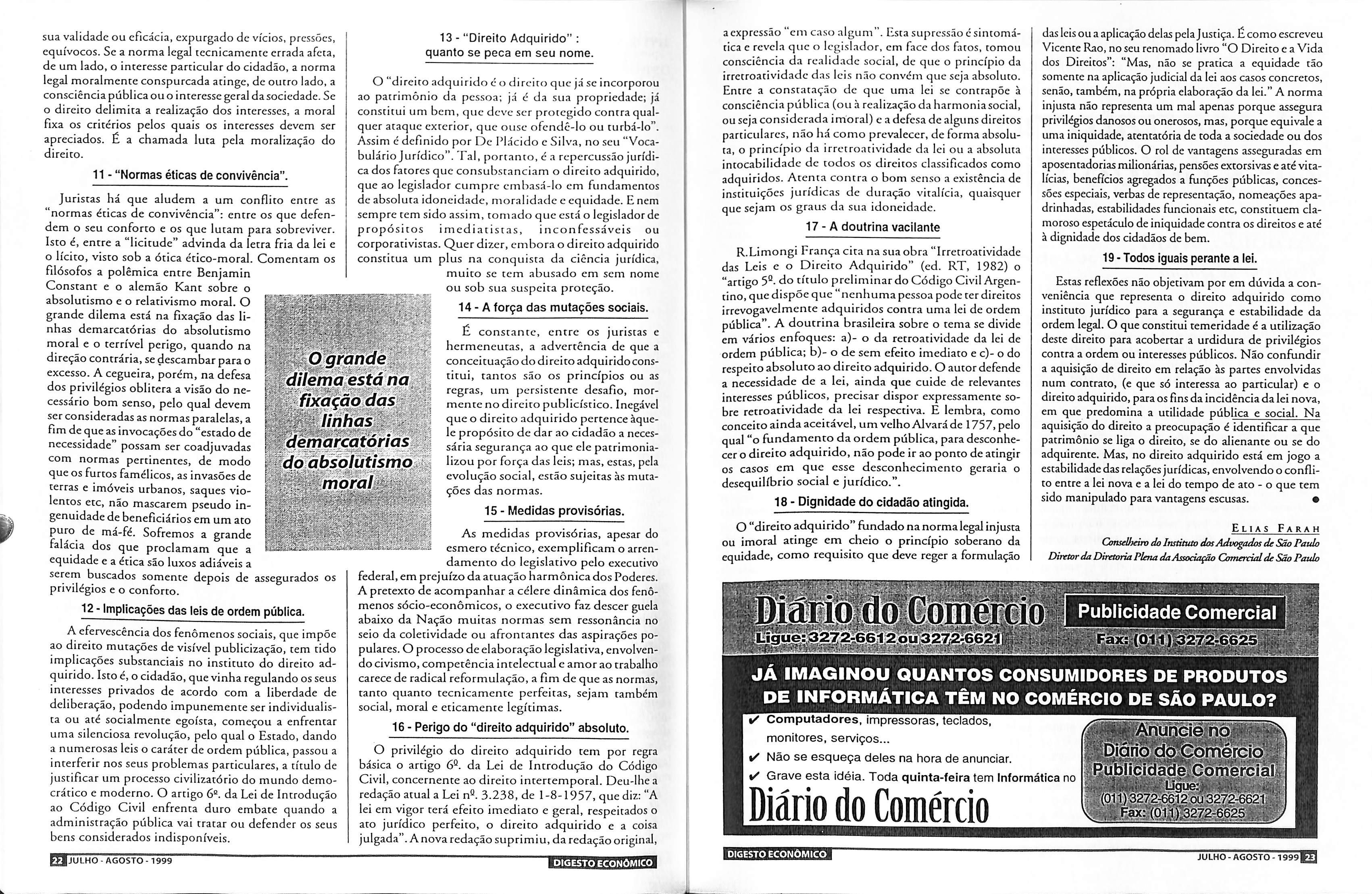
pela moralização do
sua validade ou eficácia, expurgado de vícios, pressões, equívocos. Sc a norma legal tecnicamente errada afeta, de um lado, o interesse particular do cidadão, a norma legal moralmente conspurcada atinge, de outro lado, a consciência pública ou o interesse geral da sociedade. Sc o direito delimita a realização dos interesses, a moral fixa os critérios pelos quais os interesses devem ser apreciados. É a chamada luta direito.
11 - “Normas éticas de convivência”.
Juristas há que aludem a um conflito entre as “normas éticas de convivência”: dem o seu conforto e os entre os que defenque lutam para sobreviver. Isto e, entre a licitude” advinda da letra fria da lei e o lícito, visto sob a ótica ético-moral. Co filósofos a polêmica entre Benjamin Constant e o alemão Kant sobre absolutismo e o relativismo moral. O grande dilema está na fixação das li nhas demarcatórias do absolutismo moral e o terrível perigo, quando direção contrária, se descambar excesso. A cegueira, porém, na defesa dos privilégios oblitera a visão do ne cessário bom senso, pelo qual devem ser consideradas as
normas paralelas, a fim de que as invocações do “estado de necessidade possam ser coadjuvadas normas pertinentes, de modo que os furtos famélicos, as invasões de terras e imóveis urbanos, com
saques vio lentos etc, não mascarem pseudo i" genuidade de beneficiários
em um ato puro de má-fé. Sofremos a grande falácia dos
13 - “Direito Adquirido" quanto se peca em seu nome.
O “direito adquirido c o direito que já sc incorporou ao patrimônio da pessoa; já é da sua propriedade; já constitui um bem, que deve ser protegido contra qual quer ataque exterior, que ouse ofendê-lo ou turbá-lo”. Assim c definido por De Plácido c Silva, no seu “Voca bulário jurídico”. d'al, portanto, c a repercussão jurídi ca dos fatores que consubstanciam o direito adquirido, que ao legislador cumpre embasá-lo cm fundamentos de absoluta idoneidade, moralidade e equidade. E nem sempre tem sido assim, tomado que está o Icgisladorde propósitos imediatistas, inconfessáveis ou corporativistas. Quer dizer, embora o direito adquirido constitua um plus na conquista da ciência jurídica, muito SC tem abusado em sem nome ou sob sua suspeita proteção.
14 - A força das mutações sociais.
É constante, entre os juristas e hcrmcncutas, a advertência de que a conccituação do direito adquirido cons titui, tantos são os princípios ou as regras, um persistente desafio, mormente no direito publicístico. Inegável que o direito adquirido pertence àque le propósito de dar ao cidadão a neces sária segurança ao que ele patrimonializou por força das leis; mas, estas, pela evolução social, estão sujeitas às muta ções das normas.
15" Medidas provisórias.
<r que proclamam que a equidade e a ética são luxos adiávels a serem buscados somente depois de privilégios e o conforto. assegurados os
12- Implicações das leis de ordem pública.
A efervescência dos fenômenos sociais, que impõe ao direito mutações de visível publicizaçáo, tem tido implicações substanciais no instituto do direito ad quirido. Isto é, o cidadão, que vinha regulando os interesses privados de acordo com a liberdade de deliberação, podendo impunemente ser individualis ta ou até socialmente egoísta, começou a enfrentar uma silenciosa revolução, pelo qual o Estado, dando a numerosas leis o caráter de ordem pública, passou a interferir nos seus problemas particulares, a título de justificar um processo civilizatório do mundo demo crático e moderno. O artigo 6“. da Lei de Introdução ao Código Civil enfrenta duro embate quando a administração pública vai tratar ou defender os bens considerados indisponíveis.
seus
As medidas provisórias, apesar do esmero técnico, exemplificam o arren damento do legislativo pelo executivo federal, em prejuízo da atuação harmônica dos Poderes. A pretexto de acompanhar a célere dinâmica dos fenô menos sócio-econômicos, o executivo faz descer guela abaixo da Nação muitas normas sem ressonância no seio da coletividade ou afrontantes das aspirações po pulares. O processo de elaboração legislativa, envolven do civismo, competência intelectual e amor ao trabalho carece de radical reformulação, a fim de que as normas, tanto quanto tecnicamente perfeitas, sejam também social, moral e eticamente legítimas.
16 - Perigo do “direito adquirido” absoluto. O privilégio do direito adquirido tem por regra básica o artigo 6*^. da Lei de Introdução do Código Civil, concernente ao direito intertemporal. Deu-lhe a redação atual a Lei n^. 3-238, de 1-8-1957, que diz: “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. A nova redação suprimiu, da redação original. seus
acxprcssão “cm caso algum”, listasuprc.ssãocsintomá tica c revela que o legislador, cm face dos fatos, tomou consciência da realidade social, de que o princípio da irrctroacividaclc das leis não convêm que seja absoluto. Entre a constatação de que uma lei se contrapõe à consciência pública (ou à realização da harmoniasociaJ, ou seja considerada imoral) c a defesa de alguns direitos particulares, não há como prevalecer, de forma absol ta, o princípio da irretroatividade da lei ou a absoluta intocabilidade de todos os direitos classificados como
adquiridos. Atenta contra o bom senso a existência de instituições jurídicas de duração vitalícia, quaisquer os graus da sua idoneidade. que sejam
17 - A doutrina vacilante
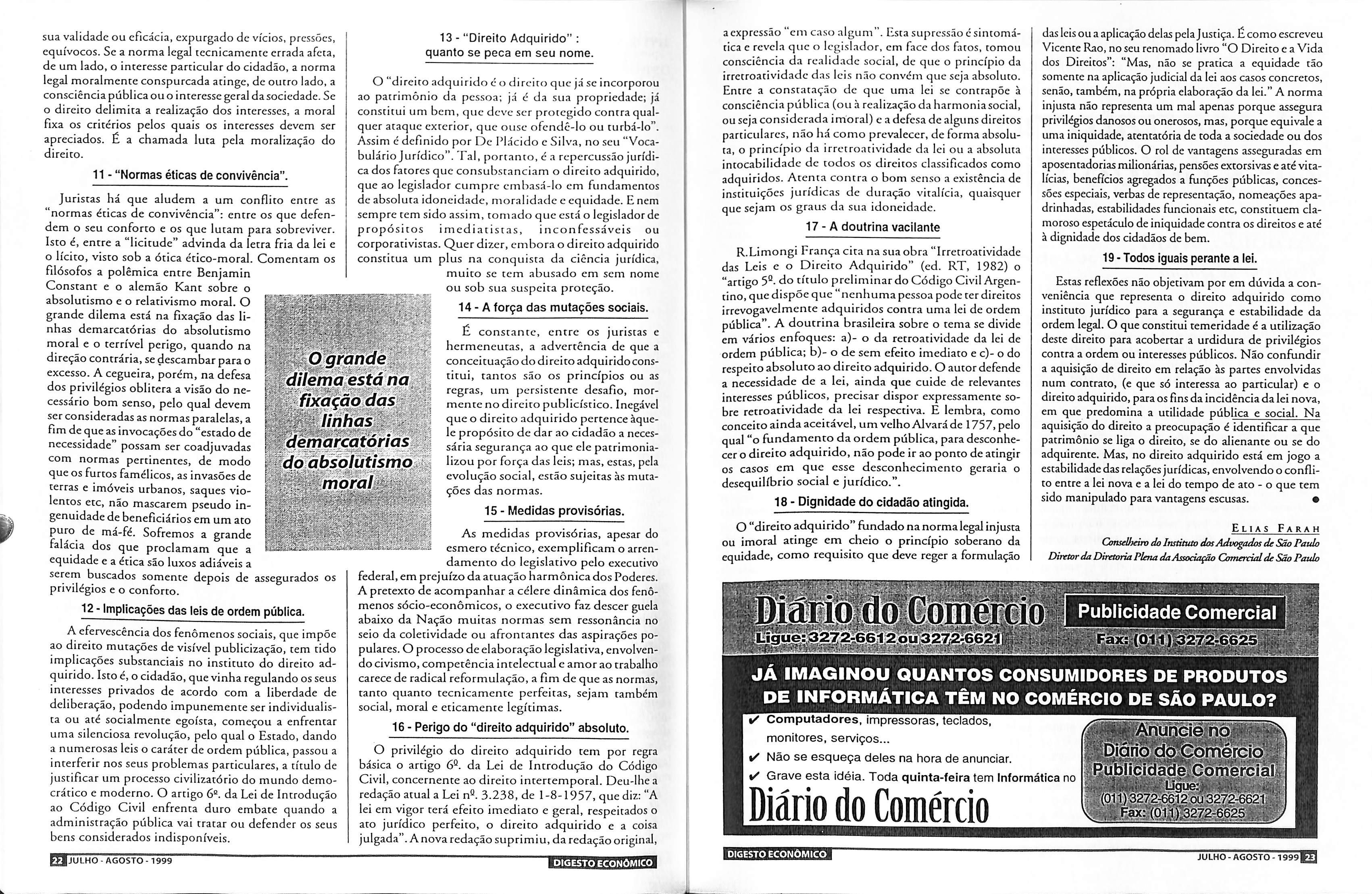
o
ccro
R.Limongi França cita na sua obra “Irretroatividade das Leis e o Direito Adquirido” (ed. RT, 1982) “artigo 5^- do título preliminar do Código Civil Argen tino, que dispõe que “nenhuma pessoa pode ter direitos irrcvogavelmcntc adquiridos contra uma lei de ordem pública”. A doutrina brasileira sobre o tema se divide em vários enfoques: a)- o da retroatividade da lei de rdem pública; b)- o de sem efeito imediato e c)- o do respeito absoluto ao direito adquirido. O autor defende a necessidade de a lei, ainda que cuide de relevantes interesses públicos, precisar dispor expressamente so bre retroatividade da lei respectiva. É lembra, como conceito ainda aceitável, um velho Alvará de 1757, pelo qual “o fundamento da ordem pública, para desconhedireito adquirido, não pode ir ao ponto de atingir os casos em que esse desconhecimento geraria o desequilíbrio social e jurídico.”.
18 - Dignidade do cidadão atingida.
O “direito adquirido” fundado na norma legal injusta ou imoral atinge em cheio o princípio soberano da equidade, como requisito que deve reger a formulação
das leis ou a aplicação delas pela Justiça. É como escreveu Vicente Rao, no seu renomado livro “O Direito e a Vida dos Direitos”: “Mas, não se pratica a equidade tão somente na aplicação judicial da lei aos casos concretos, senão, também, na própria elaboração da lei.” A norma injusta não representa um mal apenas porque assegura privilégios danosos ou onerosos, mas, porque equivale a uma iniquidade, atentatória de toda a sociedade ou dos interesses públicos. O rol de vantagens asseguradas em aposentadorias milionárias, pensões extorsivas e até vita lícias, benefícios agregados a funções públicas, conces sões especiais, verbas de representação, nomeações apa drinhadas, estabilidades funcionais etc, constituem cla moroso espetáculo de iniquidade contra os direitos e até à dignidade dos cidadãos de bem.
19 - Todos iguais perante a lei.
Estas reflexões não objetivam por em dúvida a con veniência que representa o direito adquirido como instituto jurídico para a segurança e estabilidade da ordem legal. O que constitui temeridade é a utilização deste direito para acobertar a urdidura de privilégios contra a ordem ou interesses públicos. Não confundir a aquisição de direito em relação às partes envolvidas num contrato, (e que só interessa ao particular) e o direito adquirido, para os fins da incidência da IeÍ nova, que predomina a utilidade pública e social. Na aquisição do direito a preocupação é identificar a que patrimônio se liga o direito, se do alienante ou se do adquirente. Mas, no direito adquirido está em jogo a estabilidade das relações jurídicas, envolvendo o confli to entre a lei nova e a lei do tempo de ato - o que tem sido manipulado para vantagens escusas. ●
Elias Farah
ConseU)eiro do Instituto dos Advogados de São Paulo Diretor da Diretoria Plauí da Associação Comercial de São Paulo
✓ Computadores. Impressoras, teclados, monitores, serviços...
✓ Não se esqueça deles na hora de anunciar.
✓ Grave esta idéia. Toda quinta-feira tem Informática no
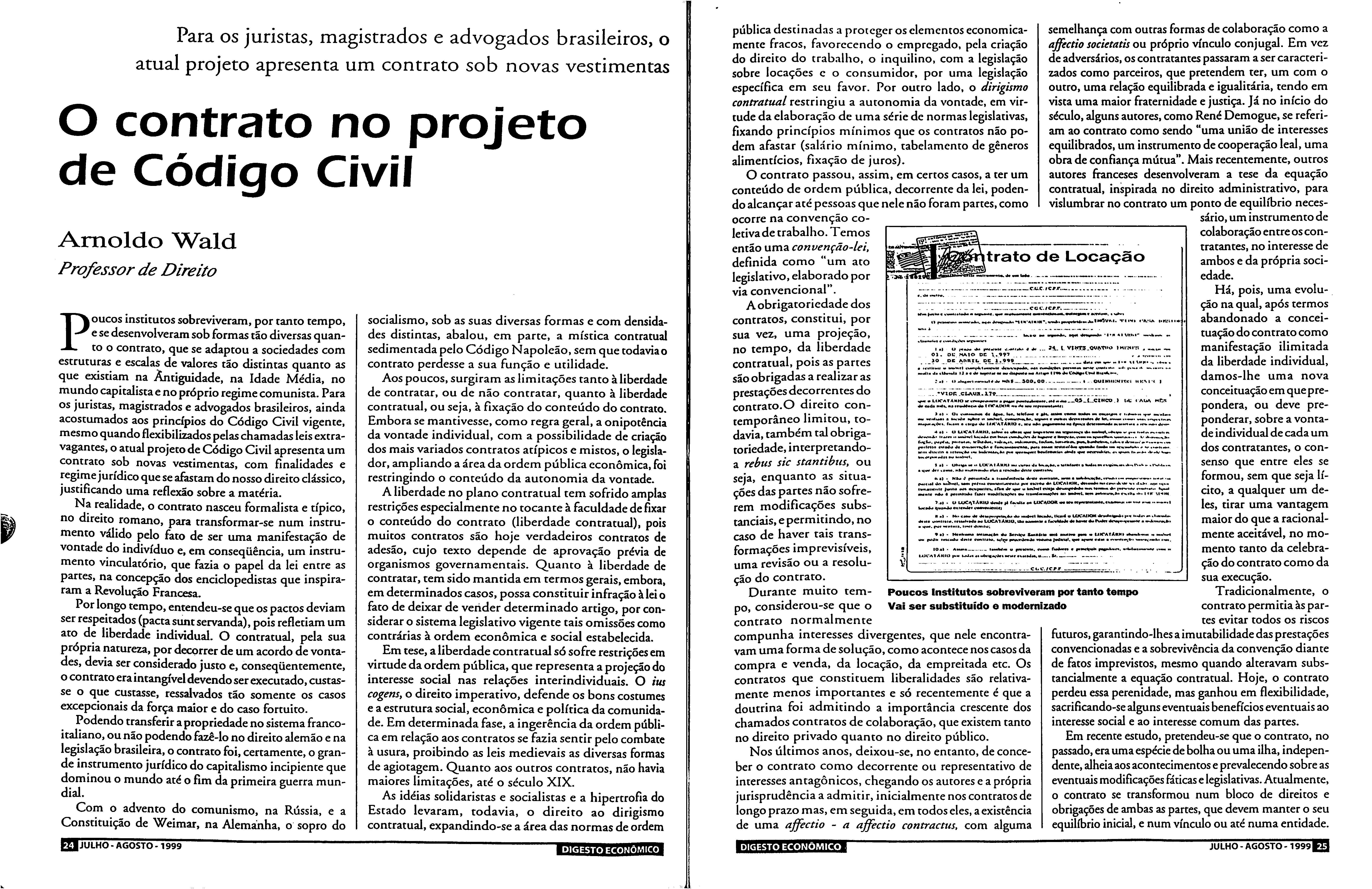
Para os juristas, magistrados e advogados brasileiros, o atual projeto apresenta um contrato sob novas vestimentas
Amoldo Wald Professor de Direito
Pinstitutos sobreviveram, por tanto tempo, desenvolveram sob formas tão diversas quan to o contrato, que se adaptou a sociedades com estruturas e escalas de valores tão distintas quanto as que existiam na Antiguidade, na Idade Média, no mundo capitalista e no próprio regime comunista. Para juristas, magistrados e advogados brasileiros, ainda acostumados aos princípios do Código Civil vigente, quando flexibilizados pelas chamadas leis extra vagantes, o atual projeto de Código Civil apresenta um contrato sob novas vestimentas, com finalidades e regime jurídico que se a^tam do nosso direito clássico, justificando uma reflexão sobre a matéria.
Na realidade, o contrato nasceu formalista e típico, no direito romano, para transformarmento válido pelo fato de ser uma manifestação de vontade do indivíduo e, em conseqüência, um instru mento vinculatório, que fazia o papel da lei entre as partes, na concepção dos enciclopedistas que inspira ram a Revolução Francesa.
Por longo tempo, entendeu-se que os pactos deviam ser respeitados (pacta sunt servanda), pois refletiam um ato de liberdade individual. O contratual, pela própria natureza, por decorrer de um acordo de vonta des, devia ser considerado justo e, conseqüentemente, o contrato era intangível devendo ser executado, custas se o que custasse, ressalvados tão somente os casos excepcionais da força maior e do caso fortuito.
Podendo transferir a propriedade no sistema francoitaliano, ou não podendo fazê-lo no direito alemão e na legislação brasileira, o contrato foi, certamente, o gran de instrumento jurídico do capitalismo incipiente que dominou o mundo até o fim da primeira guerra mun dial.
Com o advento do comunismo, na Rússia, Constituição de Weimar, na Alemanha, o sopro do (2|jULHO-AGOSTO-1999
socialismo, sob as suas diversas formas e com densida des distintas, abalou, em parte, a mística contratual sedimentada pelo Código Napoleão, sem que todaviao contrato perdesse a sua função e utilidade.
Aos poucos, surgiram as limitações tanto à liberdade de contratar, ou de não contratar, quanto à liberdade contratual, ou seja, à fixação do conteúdo do contrato. Embora se mantivesse, como regra geral, a onipotência da vontade individual, com a possibilidade de criação dos mais variados contratos atípicos e mistos, o legisla dor, ampliando a área da ordem pública econômica, foi restringindo o conteúdo da autonomia da vontade.
A liberdade no plano contratual tem sofrido amplas restrições especialmente no tocante à faculdade de fixar o conteúdo do contrato (liberdade contratual), pois muitos contratos são hoje verdadeiros contratos de adesão, cujo texto depende de aprovação prévia de organismos governamentais. Quanto à liberdade de contratar, tem sido mantida em termos gerais, embora, em determinados casos, possa constituir infração à lei o fato de deixar de vender determinado artigo, por siderar o sistema legislativo vigente tais omissões como contrárias à ordem econômica e social estabelecida. Em tese, a liberdade contratual só sofre restrições em virtude da ordem pública, que representa a projeção do interesse social nas relações interindividuais. O im cogensy o direito imperativo, defende os bons costumes e a estrutura social, econômica e política da comunida de. Em determinada fase, a ingerência da ordem públi ca em relação aos contratos se fazia sentir pelo combate à usura, proibindo as leis medievais as diversas formas de agiotagem. Quanto aos outros contratos, não havia maiores limitações, até o século XIX.
As idéias solidaristas e socialistas e a hipertrofia do Estado levaram, todavia, o direito contratual, expandindo-se a área das normas de ordem
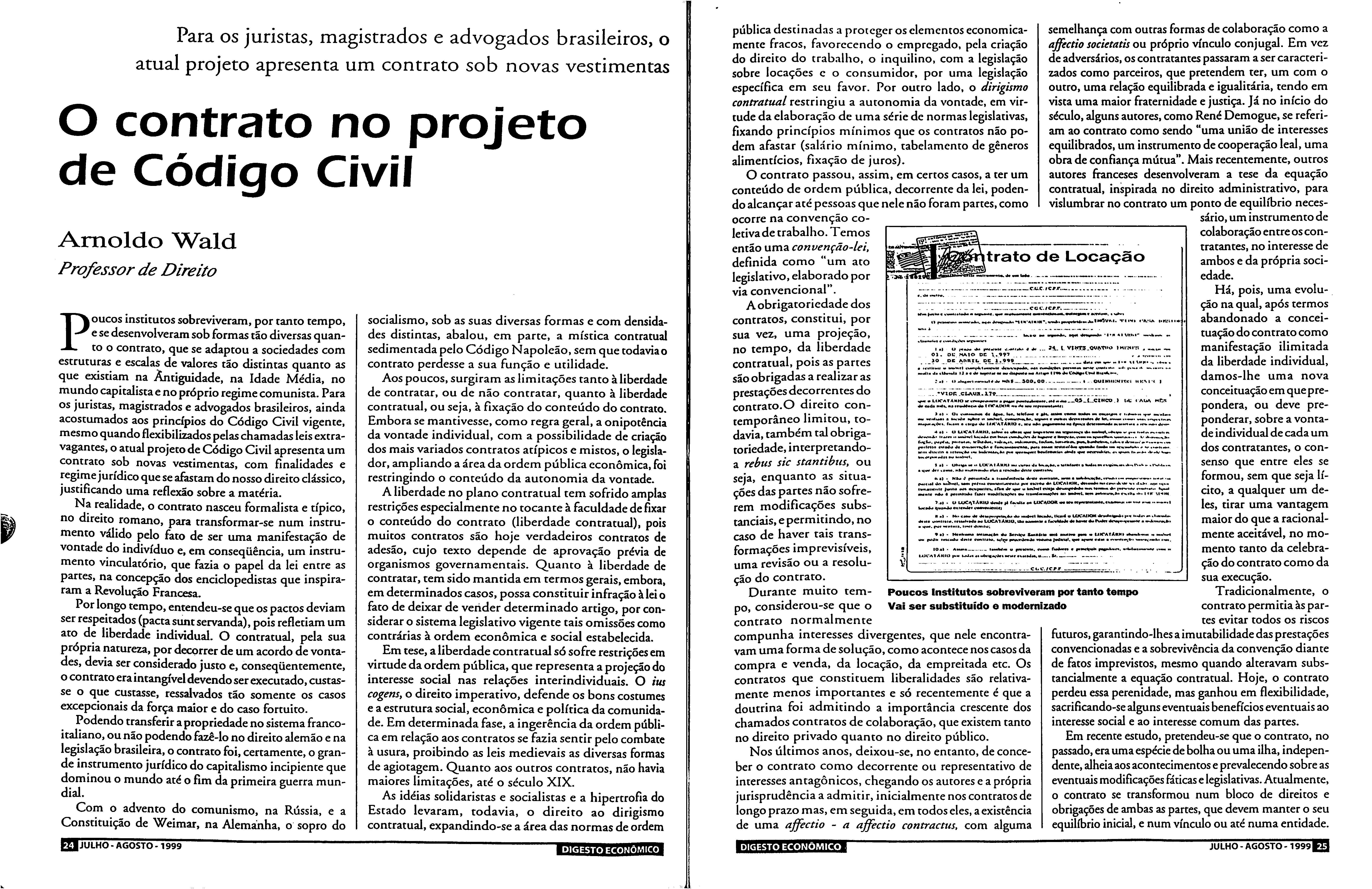
pública destinadas a proteger os elementos economica mente fracos, favorecendo o empregado, pela criação do direito do trabalho, o inquilino, com a legislação sobre locações e o consumidor, por uma legislação específica em seu favor. Por outro lado, o dirigismo contratual restringiu a autonomia da vontade, em vir tude da elaboração de uma série de normas legislativas, fixando princípios mínimos que os contratos não po dem afastar (salário mínimo, tabelamento de gêneros alimentícios, fixação de juros).
O contrato passou, assim, em certos casos, a ter um conteúdo de ordem pública, decorrente da lei, poden do alcançar até pessoas que nele não foram partes, como ocorre na convenção co letiva de trabalho. Temos então uma convenção-lei, definida como “um ato legislativo, elaborado por via convencional”.
A obrigatoriedade dos
contratos, constitui, por sua vez, uma projeção, no tempo, da liberdade contratual, pois as partes são obrigadas a realizar as prestações decorrentes do contrato.O direito con temporâneo limitou, to davia, também tal obriga toriedade, interpretandoa rebus sic stantibus, ou situa-
rem
^ntrato
semelhança com outras formas de colaboração como a affectio societatis ou próprio vínculo conjugal. Em vez de adversários, os contratantes passaram a ser caracteri zados como parceiros, que pretendem ter, um com o outro, uma relação equilibrada e igualitária, tendo em vista uma maior fraternidade e justiça. Já no início do século, alguns autores, como René Demogue, se referi am ao contrato como sendo “uma união de interesses equilibrados, um instrumento de cooperação leal, uma obra de confiança mútua”. Mais recentemente, outros autores franceses desenvolveram a tese da equação contratual, inspirada no direito administrativo, para vislumbrar no contrato um ponto de equilíbrio neces sário, um instrumento de colaboração entre os con tratantes, no interesse de ambos e da própria soci edade.
«Itrwiin
UK««^ M ●» tOC‘AlAHK» seja, enquanto as ções das partes não sofremodificações subs tanciais, e permitindo, no de haver tais trans!«<«»» cwM^aniiMWMlw I.OCAI1OM. omiwniaa, «fW* ««w#
caso formações imprevisíveis, revisão ou a resolu-
uma ção do contrato. Durante muito tem po, considerou-se que o normalmente
Poucos Institutos sobreviveram por tanto tempo
Vai ser substituído e modernizado contrato compunha interesses divergentes, que nele encontra vam uma forma de solução, como acontece nos casos da compra e venda, da locação, da empreitada etc. Os contratos que constituem liberalidades são relativa mente menos importantes e só recentemente é que a doutrina foi admitindo a importância crescente dos chamados contratos de colaboração, que existem tanto direito privado quanto no direito público.
Nos últimos anos, deixou-se, no entanto, de conceno ber o contrato como decorrente ou representativo de interesses antagônicos, chegando os autores e a própria jurisprudência a admitir, inicialmente nos contratos de longo prazo mas, em seguida, em todos eles, a existência de uma affectio - a affectio contractus, com alguma
Há, pois, uma evolu ção na qual, após termos abandonado a conceituação do contrato como manifestação ilimitada da liberdade individual, damos-lhe uma nova conceituação em queprepondera, ou deve preponderar, sobre a vonta de individual de cada um dos contratantes, o con senso que entre eles se formou, sem que seja lí cito, a qualquer um de les, tirar uma vantagem maior do que a racional mente aceitável, no mo mento tanto da celebra ção do contrato como da sua execução.
Tradicionalmente, o contrato permitia às par tes evitar todos os riscos futuros, garantindo-lhes a imutabilidade das prestações convencionadas e a sobrevivência da convenção diante de fatos imprevistos, mesmo quando alteravam subs tancialmente a equação contratual. Hoje, o contrato perdeu essa perenidade, mas ganhou em flexibilidade, sacrificando-se alguns eventuais benefícios eventuais ao interesse social e ao interesse comum das partes.
Em recente estudo, pretendeu-se que o contrato, no passado, era uma espécie de bolha ou uma ilha, indepen dente, alheia aos acontecimentos e prevalecendo sobre as eventuais modificações fáticas e legislativas. Atualmente, o contrato se transformou num bloco de direitos e obrigações de ambas as partes, que devem manter o seu equilíbrio inicial, e num vínculo ou até numa entidade.
JULHO - AGOSTO-1999BI
Vínculo entre as partes, por ser obra comum das e entidade, constituída por um conjunto dinâmico de direitos, faculdades, obrigações e eventuais outros deve res, que evolui como a vida, de acordo com as circunstân cias que condicionam a atividade dos contratantes. As sim, em vez do contrato irrevogável, fixo, cristalizado de ontem, conhecemos um contrato dinâmico e flexível, que as partes querem e devem adaptar para que ele possa sobreviver, superando, pelo eventual sacrifício de alg dos interesses das partes, as dificuldades encontradas decorrer da sua existência. A plasticidade do contrato transforma a sua própria natureza, fazendo com que interesses divergentes do passado sejam agora dos numa verdadeira parceria, na qual todos os esforços são válidos e necessários para fazer subsistir o vínculo entre os contratantes, respeitados evidentemente os di reitos individuais.
Dentro desse conceito de parceria, admite-se a anu lação do contrato por lesão, a sua resolução ou revisão em virtude da excessiva onerosidade, a cessão do contrato e a assunção da posição contratual, a oponibilidade das cláusulas contratuais a terceiros não contratantes, a relação que se estabelece entre contratos conexos e subordinados uns aos outros, inclusive com a eventual substitui^o de cláusulas e a mitigação das a sua sançoes.
Trata-se de uma verdadeira nova concepção do contrato, ja agora como ente vivo, como vínculo que pode ter um conteúdo variável, complementado pelas partes, por árbitros ou até pelo Poder Judiciário qual, ao contrário do que acontecia no passado, a eventual nulidade ou substituição de uma cláusula não põe necessariamente em perigo toda a estrutura da relação jurídica. Estas modificações surgiram, em par- ^ Í^*^^*P‘^<icncia e, em parte, em virtude do traba- o outrinário realizado pela extensão do conceito de oa- e e pelas obrigações implícitas de leal execução do contrato, significando um dever, imposto às partes, de encontrar uma solução para os eventuais impasses que possam surgir. Também houve a influência das extravagantes e das chamadas leis de emergência, assim como de cenos ramos mais recentes da ciência jurídica, como o direito do consumidor.
Num mundo em que nada mais é absoluto, o contra to, P^ra subsistir, aderiu ao relativismo, que se tornou condição sine qua non da sua sobrevivência no tempo, em virtude da incerteza generalizada, da globalização da economia e da imprevisão institucionalizada. A indeterminação das prestações contratuais, que era inconcebível no passado, também está vinculada à inflação e as rapidas mudanças tecnológicas, fazendo com que as partes adotem determinados critérios para definir os seus direitos, aceitando prestações indeterminadas, no momento da celebração do contra to, mas determináveis no e no
normas momento de sua execução. Por outro lado, a eventual necessidade de substituir
Q julho - AGOSTO - 1999

presença das quais o sem a
certas cláusulas contratuais, sem afetar as bases da equação contratual, obrigou os contratantes e os juris tas a realizarem uma verdadeira sintonia fina para distinguir as cláusulas principais ou essenciais das de mais, destacando aquelas contrato não teria sido assinado das que foram conside radas inicialmente como meramente complementares ou acessórias.
O contrato, realidade viva, forma de parceria, com direitos e obrigações relativas, constitui uma verdadeira novidade para os juristas clássicos, mas decorre de um imperativo categórico do mundo de hoje caracterizado pelos economistas como sendo o da descontinuidade.
da incerteza e da mudança, ao contrário daquele que existia no fim do século passado, definido como “o mundo da segurança”. Assim, autores recentes pude ram afirmar que as regras do direito dos contratos se tornaram relativas pois “o contrato é mais ou menos obrigatório, mais ou menos oponível, mais ou menos sinalagmático ou mais ou menos aleatório e uma nulidade ou uma resolução é mais ou menos extensa”. Por longo tempo, manteve-se a estrutura tradicional do contrato, considerando como exceções as regras que, aos poucos, estavam alterando a escala de valores em que se fundamentou. A generalização das exceções está agora exigindo uma reformulação do regime jurídico do contrato, pois não houve tão-somente modificações técnicas, mas uma verdadeira mudança de concepção, que exige uma reformulação dogmática. Trata-se de passar do absoluto para o relativo, sem perder um mínimo de segurança que é indispensável ao desenvol vimento da sociedade.
Em certo sentido, foi essa revolução dogmática que encontramos em vários dos artigos do Projeto do Código Civil, já aprovado pelo Senado e em fase de votação na Câmara dos Deputados. Assim, por pio, o legislador atribui expressamente ao contrato uma função social, limitando a liberdade de contratar razão da mesma, ao mesmo tempo em que considera a lesão como causa de anulação dos negócios jurídicos e admite a resolução ou a revisão do contrato por exces siva onerosidade.
Quanto à função social do contrato, por si mesma, em nada altera o respectivo regime jurídico, que já repelia o abuso de direito, com base no próprio Código Civil e em virtude de construção jurisprudencial. Por outro lado, a partir do momento em que o direito constitucional brasileiro considerou que a propriedade tinha uma função social (art. 5° XXIII), tendo a palavra propriedade uma conceituação ampla, o mesmo prin cípio haveria de ser aplicado aos direitos de créditos, ou seja, às obrigações e, conseqüentemente, aos contratos. Assim, à primeira vista, em termos gerais, pode-se considerar que o Projeto se limitou a explicitar uma norma constitucional e a ratificar tanto a legislação anterior quanto a construção jurisprudencial. Deve-se,

entretanto, ponderar que a função social do contrato não deve afastar a sua função individual, cabendo conciliar os interesses das partes c da sociedade. Assim, os direitos contratuais, embora exercendo uma função social, gozam, nos termos da Constituição, do devido processo legal substantivo (art. 5°, LIV), em virtude do qual ninguém pode ser privado dos seus bens — e dos seus direitos que também se incluem entre os benssem o devido processo legal. Com essa interpretação, é a única aceitável em nosso regime constitucional. que a inovação do Projeto não põe em risco a sobrevivência do contrato, como manifestação da vontade individual e acordo entre partes interessadas para alcançar um determinado objetivo, por elas definido em todos os seus aspectos.
A lesão já foi reconhecida no direito brasileiro ante rior ao Código Civil e a ela se refere a legislação de economia popular. Trata-se, agora, no Projeto, de caracterizá-la como um dos vícios da vontade que enseja a anulação dos atos jurídicos em geral e dos contratos em particular. É matéria que mereceria ser definida com maior precisão, tanto mais que, anterior mente, havia referência aos diversos tipos de lesão, como por exemplo a lesão enorme ou até enormíssima. Finalmente, o dinamismo dos contratos fez com que o legislador admitisse a resolução dos contratos por excessiva onerosidade e a revisão dos contratos unilate rais pelo mesmo motivo. É preciso lembrar que, seguin do o modelo italiano, o Projeto considera que só se justifica a resolução por onerosidade excessiva, que incide sobre um dos contratantes, quando também ocorre uma extrema vantagem, para o outro. O Projeto admite que haja revisão do contrato, se o réu, na ação de resolução, modificar eqüitativamente as condições do contrato. Finalmente, nos contratos nos quais as obrigações couberam a apenas uma das partes, poderá a mesma pleitear a redução de sua prestação ou a alteração do modo de execução, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Nesta última disposição, não há referência à extrema vantagem do outro contratante, cabendo, todavia, ao intérprete considerar que é uma condição necessária da revisão, pois os dois artigos que tratam da matéria devem ser interpretados construtiva e sistematicamente. Na realidade, diante de aconteciextraordinários e imprevisíveis, melhor seria mentos admitir simplesmente que se mantivesse a equação contratual, ou seja, a relação inicialmente estabelecida entre as partes, permitindo, outrossim, que, especial mente nos contratos aleatórios se pudesse convencionar o afastamento da teoria da imprevisão, pela própria natureza e finalmente do negócio jurídico.
Também em relação à imprevisão, o projeto não chega a inovar radicalmente, por já existir a revisão legalmente prevista em determinados contratos, como os de locação comercial, e ter sido a mesma generalizada pela jurisprudência no tocante ao contrato de emprei-
tada, tanto no campo do direito privado como na área do direito administrativo. Houve, no caso, a transfor mação de uma norma, que já foi considerada excepci onal em verdadeiro princípio geral do direito, que, no fundo, deflui da própria vedação do enriquecimento sem causa.
Na realidade, estamos modificando substancialmente o contrato, dando-lhe conteúdo e efeitos que não tinha no passado, e introduzindo, no secular direito civil, com as necessárias cautelas, alguns dos princípios do direito do consumidor e do direito administrativo. Embora seja uma evolução necessária e justa, ela deve ser temperada pelo atendimento dos direitos dos con tratantes e da segurança jurídica.
De um lado, já não bastam os retoques incidentais para manter um instituto que, tendo sofrido grandes transformações, exige o reconhecimento das respecti vas conseqüências pela dogmática jurídica, a fim de evitar que os conceitos se afastem da realidade. Tratase, pois, de repensar os institutos, redifinindo as suas características, não bastando manter o nome, ou a forma, para que uma técnica jurídica se mantenha com o mesmo conteúdo.
Por outro lado, se o Direito tem a dupla finalidade de garantir tanto a justiça quanto a segurança, é preciso encontrar o justo equilíbrio entre as duas aspirações, sob pena de criar um mundo justo, mas inviável, em vez de uma sociedade eficiente mais injusta, quando é preciso conciliar a justiça e a eficiência.
Não devem prevalecer nem o excesso de conservado rismo, que impede o desenvolvimento da sociedade, nem o radicalismo destruidor que não assegura a con tinuidade das instituições. O momento é de reflexão e construção para o jurista que, abandonando o absolutismo passado, deve relativizar as soluções, tendo em conta tanto os valores éticos quanto as realidades eco nômicas e sociais. Entre princípios antagônicos, num mundo dominado pela teoria de relatividade, cabe adotar, também no campo do Direito, o que alguns juristas passaram a chamar os princípios de geometria variável, ou seja, o equilíbrio entre justiça e segurança, com a prevalência da ética mas sem desconhecer a economia.
Surge, assim, um novo contrato, tão afastado daquele que foi concebido pelo Código Napoleão quanto o da lei francesa estava distante do contrato romano. A força das palavras e das instituições se mantém no tempo, mas para tanto é preciso adaptálas à evolução constante do mundo e da tecnologia, para evitar a revolta dos fatos contra o direito, à qual aludia, há longos anos, Gaston Morin. ●
Arnoldo Wald
é advogado em São Paulo e professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Crônica Nostálgica da Legendária casa de Yan de Almeida Prado
Companhia Editora Nacional
Rua: Joii, 294
Telefone: 692-5256
Fax: 291-8614
Cep: 03016-020

Academia Brasileira de Letras
Av.: Presidente Wilson, 203
Telefax: (021)220-6695
Cep: 20030-021
Rio de Janeiro - RJ
São Paulo - SP G) Drama ~<RUGíGCO DR R(j[ Darbg^a rr\fTr?GpfjçÃG A Fíí.g^gfía dr MaURíCR Dí.GRfDRÍ.
Fundação Casa de Rui Barbosa
Rua: São Clemente, 134
Telefax: (021)537-1114
Cep: 22260-000
Rio de Janeiro - RJ
Companhia Editora Nacional
Rua: Capote Valente, 540
Telefone: 884-6674
Fax: 885-9397
Cep: 05409-001
São Paulo - SP
As PMEs têm mais capacidade de gerar empregos do que as grandes empresas
Pedro Manuel Garcia Villaverde
Juan José Jiménez Moreno
Manuel Villasalero Díaz
Introdução

Aem uma as
partir dos anos 70 realizaram-se diversos estudos empíricos sobre a distribuição das empresas em setores de atividade, enfatizando a importante função das pequenas e médias empresas (PMEs) (ACS c Audrestsch, 1993a). Em diversas áreas geográficas, medidas específicas de apoio à criação dessas unidades empresariais foram adotadas para solucionar algumas das seguintes funções econômicas atribuídas às PMEs (Garcia, Jimenez e Villasalero, 1998): posicionamento setores estratégicos, correção dos desequilíbrios territoriais, inovação tecnológica e geração de emprego. A capacidade de geração de emprego pelas PMEs tem sido argumento suficientemente forte para justificar política de apoio ao setor em função da estagnação das economias desenvolvidas e da persistência dos altos índices de desemprego (Jimenez e Villasalero, 1998). Uma das melhores propostas apresentadas afirma que PMEs têm mais capacidade de gerar empregos do que as grandes empresas porque: a) têm maior potencial de crescimento em função das mudanças no ambiente competitivo; b) geram mais empregos antes que se atinja um determinado nível de crescimento. Embora a primeira questão tenha sido objeto de inúmeros estudos (Hart, 1965; Samuels e Chesher, 1972; Aaronovitch e Sawyer, 1975; Singh e Whittington, 1975; Prais, 1976; Kumar, 1984; Storey, Keasey, WatsoneWynarczyck, 1987; Dunnee Hughes, 1994), a segunda não levantou muito interesse.
Em grande parte, essa lacuna se deve à inexistência de fontes de informação apropriadas para conceder ao assunto um tratamento mais rigoroso, deficiência que,
em geral, afeta uma economia formada por pequenas empresas (ACS e Audretsch, 1993b). Para que se possa fazer uma comparação com a primeira hipótese citada, é necessário haver um conjunto de informações - referentes a um determinado período - sobre os índices de crescimento, geração de emprego e produti vidade da mão-de-obra das empresas. Na economia da Espanha, essa fonte de informações existe a partir de 1990, quando se realizou a Pesquisa sobre as Estratégias das Empresas, que contém dados sobre 2.500 indústri as manufatureiras instaladas na Espanha (Merino e Rodriguez, 1997). A finalidade deste trabalho é tornar mais clara a análise econômica sobre a pequena empresa por meio de um estudo empírico - do período 19901994 - sobre a experiência espanhola nesse setor, com atenção especial voltada para as questões metodológicas de avaliação e planejamento.
Empresa: Areas e Abordagens da Pesquisa
Até meados dos anos 70, a posição das PMEs na economia era marginal, e as grandes empresas eram consideradas geradoras de economias de escala, como as bases do crescimento (Kaplan, 1954; Galbraith, 1957). Essa reputação foi sustentada empiricamente ao longo do tempo pelo um nível decrescente de participação da PME na atividade produtiva (Brock e Evans, 1986), tanto em termos da participação na produção (Prais, 1976) quanto em termos da participação na geração de emprego (Hannah e Kay, 1977). Não obstante, a partir dessas datas, o escopo da atividade econômica assumi do pelas PMEs em relação às grandes empresas aumenJULHO-AGOSTO-1999^1
Iínu si_t;nilic.ii ivamc-nic (l)iiniK- c iin^l imporr.uicin ;in ibuícla a I’\1 Iic ()nin base o fuuiro tlcscí
p.ir.i siisu-mai ivolvimcmo econômico d.is sijciedades atuais aumentou durante os
(b'i Cl niinaiam ahcia- ics. jM')cUic,ao rmpí csai lal, .w K’s Mibst a lu I a is na \ I *A 1 i . ci n 11 fi ci 1 n 1 n atios ea.sos, oii lai'
neiitranz.uam. de hisiiíricas d.is P.MIA. duas dessas mudanças;
‘^mna kmisk ici .iscl. .is tiesvaniagens enl.itizar anos 80, a contribuições teiuicas iniciais realizadas terior íStorev, Keascv c Watson, 1987; Acost, 1990; mi, 1991) c continua na década de 90. com o reconhe cimento explícito, pelas autoridades nacionais e interna cionais, do pa|K-l assumido por esse grupo d empresariais (Storey, 1994; 01-:Ci),"l993 e 1997).
c unidades cconomuKs nacionais - cjuc teve início iu)S anos 70 - não rc.Sjiondc a uma modificação nos fiuorcs de comjK-iiti- vidade associados r ■ des c pequenas empresas, mas a uma reestruturação nas dimensões fatuais (Volton 1971; Curran e Stanworth, 1982; Rothwell c Zcg\'cid, 1982; Kccblc 1986; Ko 1986; Britton, 1989). A realidade
A crescente import;incia da PME nas diferentes luh; partir déc;id;i an¬ das am os lua t-ssai IO na
a) b.feitos técnicos e organizacionais de es( ,ila: o relacio namento coiur;uiii()ri() das ectmomias técnicas de escala íPenrose, 1995j (● <l.is ilc.scc onoiniiis nrg.mi/.acicjnais ligadas as cniprcs;is ilc grande poric (Lucas, 1978; Kihil.serom c 1 .aííoni, 1 979: Williamson. 1983:

rte,
empírica ope rava cada vez mais a favor da crescente competiti vidade das PMEs frente às empresas dc grande porte. Não obstante, causas desse fenô não eram devidas rápida melhoria nas for mas dc operar das PMEs relação às grandes as meno a uma cm empresas, mas uma produ ção mais valorizada mercados (Hood e VoLing, 1982). A de um
C.eanakopolos c .Milgrom. 1985) fiz com cjue juoblcma relacionado ao tamanho itlea de uma cmprc.sa 1 eei u/ido da lunção forma asgran- 11 () 11 e mmimizaç.io to(;il do cu.sio cm de “U”, tjue contém um [lonto eficiente. (Willia mson e- OUCH, 1983). Não olistantc, conío é pos.sível explicar a coexis tência de pe(.juenase gran des empresas em um .se tor, considcrando-sc a i nadei] uação daquclasem relação ao tamanho mí nimo eíicienrc? (Porter, 1979; Caves e Pugel, 1980). Llá duas explica ções. Em primeiro lugar, pode haver receita cons tante gerada j>ela área mínima eficiente, relaci onada à grande divisibilidade nas tecnologias dc produção (Lucas, 1967), como é o caso da recentedifusão da produção modulada que a
resultou positiva para as PME.S (Carisson. 1989).
nos utilizadas partir ponto de vista abrangente, dança que se verifica, termos reais, é o aumen to das mudanças no de correr do tempo. O maior nível de incerteza associado ao novo ambiente a maior mucm
Segundo, as PMEs geralmente empregam tecnologias intensivas de inão-dcobra que apresentam baixos custos de eficiência está tica obtidos durante uin certo período capacidade de eficiência dinâmica dc adaptação ao baixo custo antes dc mudança.s na demandacontrário das grandes empresas intensivas de capital. O aumento da turbulência no setor
P^^t^hivo supunha que a capaci dade dc flexibilidade - característica das unidades em presariais de pequeno porte - tornara-se fator essencial obtenção dc vantagens competitivas^^' (Bccslcv Hamilton, 1984). Em com mas alta na \' ao precisos, as mudanças competitivas podem-se agrupar em dois níveis; 1. Oferta. Nos últimos anos, obscrvaram-sc mudant, as significativas relacionadas a estrutura das unções da termos
(II I1c.i(;.>nli .1111 LMi inicrfMciJíl.i.c ('.mliil nplicir.i c.i Ji|jpui,ii' O (iiiiiu-ifii, cm (c-unm defemn pirj iicrulcc croce c.im(vim liljcic, ciinii, j,„r .●\ciiipli, i lU- .ij dcMUIC(;iJVj" vcilicjl c sulicinctaiiçin. O scp'iii(|„, t,„ (Ic V jpaciJj.ic ilc j|mrc nuior llcvit.ilididc (Sliolniuki c 0,c;c.
supoe que a eficiência dinâmica, caracierístic.i ilo t.imanho redu¬ zido da empre.sa, adquire maior impí>n.\ncia compe titiva.'-'(You, 1995).
1.1c cf.idcpi dc. .ic c. cxijjcn viii ijiic llic. (X ul.,l,.ijd.-. . piiiciiicu lódiiula, dc .,uli .I.Ki, 1111... ai .(a icM.liisi.. 1.1. diiniMijiiu- dc)..'i> -pua c v|.ci lli,. iiial da ■ar um ratui c> p,.i .Ic Ims. iili p,.i.li,c ... .. ICIIIU d. I.ll. pau ilirad. inici cli.icii.ia a l.axc iiui. ampla. .aiiiaj;c ilucni»,. ci,iiaí..i.i.,c diiica.lac. iia .|Mi ..p. irea. >. 1,1 ili. IC.CI ip. Jc piodiivi.' q c i-xípci oluCMsilM CllClêl AlfL liu JULHO - AGOSTO - 1999
b) ripo de invc.si imemos cin relações in terem presas: tle acordo com a teoria ecotiômica d(í custo da opera ção, à medida que aumenta o nível de esjíecificidade de unt investimento, o mecanismo de controle da integração vertical torna-se tnais eficiente (Williamson, 1985). O fator especificidade torna-se, desta maneira um obst:ículo à terceirização - por parte das grandes empresas e à a.ssunção das novas atividades - por uma rede de pequenas empresas (DYLR, 1996). A recente introdução das tecnologias de produção flexível supõe, de fato, investimentos não específicos, uma vez que estes podem ser aplicados a incontáveis usos alternativos, sem perder seu valor. O resultado mais significativo e que essa mudança permite a um grau menor de integração vertical sob condições de eficiência - o que é positivo para o crescimento das PM Es por meio de redes (Milgrom e Roberts, 1990).
2. Demanda. Há dois elementos principais da demanda que mudaram significativamente durante os últimos anos, fortalecendo a competitividade das PMEs:
a) Exigências específicas dos clientes: empresas de grande porte, com eco nomias dc escala, deveriam ignorara existência de necessidades segmen tadas cm seus mercados e, desta for ma, conseguir gerar altos níveis de produção que mantenham a lógica econômica de suas tecnologias rígi das c intensivas de capital. Alguns clientes não irão aceitar que suas exigências sejam acendidas, satisfa toriamente, por um produto padrão, c estão dispostos a pagar um pouco mais por um produto adaptado às suas preferências, levantando conceito de nicho característico das PMEs
oportunidade dos ativos c alto custo de manutenção dos estoques, a desvantagem para a empresa, cm termos econômicos, pode ser considerável. A princi pal causa do aumento da incerteza da demanda, em termos estáticos, é a maior diversidade das necessida des dos clientes, já apontada anteriormente (Mills e Shumann, 1985). A existência de vários produtos,
adaptados a diversos segmentos, supõe que as varia ções das quantidades absolutas para cada referência concreta são altas, uma vez que os consumidores distribuem a compra dos produtos segundo necessidades mais prementes (Sanchez, 1995). Em termos dinâmicos, a mudança das necessidades dos clientes, para as quais o produto deve ser adaptado, implica perdas contínuas das vendas até que o pro jeto seja realizado. O motivo da aceleração da incer teza dinâmica refere-se à redução do ciclo de vida dos produtos atuais, determinada por fato res competitivos. Cada vez mais as em presas baseiam a concorrência em novos produtos e não em variáveis, como pre ço ou quantidade (Stalke Hout, 1990; Wlieelwright e Clark, 1992).
^ As PMEs apresentam grande ^flexibilidade para competir em cenários turbulentos

assim o (Cooper, Wiliardv Woo, 1986). Nos últimos anos, importante mudança, que alterou essa permuta uma entre preço baixo e adaptação às necessidades, ocorfavor das PMEs: a crescente diversificação das fercncias do consumidor. A demanda - cada vez rcu a pre mais adaptada às necessidades do consumidor, que, contrapartida aceita pagar um preço mais eleva do - tem como resultado a melhoria do nível de vida das sociedades ocidentais (Kotler, 1989; Pine, 1993).
b) Uma das medidas de crescente turbulência no lado da demanda é a incerteza, que a maioria das unidades empresariais enfrenta de duas maneiras. Em termos estáticos, dada uma determinada necessidade básica materializada em certo produto, a quantidade de unidades pedidas varia consideravelmente no decor rer do tempo. Se isto se relaciona ao alto custo de cm
O desenvolvimento atingido pelas PMEs face a essas mudanças no ambi ente, levou ao reconhecimento de qua tro funções econômicas, sendo que cada uma delas constitui uma área de pes quisa na economia da pequena empre sa (Garcia, JimenezeVillasalero, 1998). 1 - Posicionamento em setores es-
tratégicos. Antes de se reconhecer a importância da diversificação das es truturas produtivas nacionais e regio nais nos setores emergentes - com gran de potencial futuro para a criação e manutenção de valor adicionado e emprego enfacizou-seo papel fundamental das PMEs. A base teórica da sustentação para que se confie às PMEs esse desafio de repercussão nacional em relação às grandes empresas, tem sido a adaptação estrutural das PMEs aos requisitos exigidos para o desenvolvi mento eficiente e competitivo nesse tipo de setor eco nômico. Os setores emergentes caracterizam-se por sua alta volatilidade e pela presença de vantagens associadas à inovação (Porter, 1980). Considerando que as PMEs apresentam, de um lado, grande flexibilidade para competir em cenários turbulentos, e, de outro lado, grande potencial de inovação, elas deveriam ser a base de um posicionamento estratégico nesse tipo de setor (Beesley e Hamilton, 1984).
2 - Inovação. Até que se aceitasse a existência dc fontes de inovação utilizadas pelas PMEs, além
novas do determinismo tecnológico a partir do foco evolucionisca (Winter, 1984; Nelson e Winter, 1974e 1982), a função assumida pelas PMEs nos processos lULHO - AGOSTO - 1999^1
inovadores foi insignificante (Sclimookl ^ . 1959; kreeman, 1962 e 1965; Mansfield, 1963 e 1964). A partir desse momento, o importante papel das PM Es c aceito e inclui inovações não tecnológicas e inovações tecnológicas incrementais devido à sua flexibilidade organizacional, ou seja, a capacidade de reaÜMr mu danças rapidamente e comunicar-se com regularidade (Oakey, 1984; Rothwell e Zegveld, 1982; ACS e Audretsch, 1990).
3 - Correção dos desequilíbrios territoriais. Reco- nheceu-se a possibilidade de que os processos da criação e expansão das PM Es sejam favoráveis ao desenvolvi mento dessas áreas dentro de um determinado país mais problemas econômicos (Bull, 1987). O posto geral subjacente
a esta uma
posição é o de que existe assimetria nos índices de geração de emprego pelas e no crescimento dos que defendem cenários geográficos com desenvolvimento eco nômico deficiente (Allen, Yuill e Bachtler, 1989). Há quatro tipos de argumentos teóricos para justificar esse raciocínio: a) Dinâmica das economi as externas: em certo ponto do desen volvimento das áreas desenvolvidas, elas começam a registrar deseconomi externas, transferindo projetos empre sariais para áreas menos desenvolvidas (Whittington, 1984); b) Potencial das iniciativas de criação de empresas: o índice de criação de novas empresas depende de fatores muito mais ligados a aspectos sociais e culturais do

do ponto de vista dos recursos orç.iinentários (Armstrone e'1'aylor, 1986).
Nessas quatro áreas de pestjiiisa sobre a economia da pequena empresa, f?crcebc-se a ajilicação de dois focos metodológicos bem diferenciados.
como perspectivas positivas e normativas. No primeiro caso, o objetivo é determinar a importância relativa das PMEs nessas quatro funções econômicas, a partira evidência empírica disponível. No segundo caso, a principal meta é estabe lecer as implicações - relativas à riqueza - das mudanças ocorridas na distribuição da atividade econômica entre pequenas e medias empresas nas quatro áreas apon tadas (ACS e Audretshc, 1993b).
O objetivo deste estudo c esclarecer um dos aspectos de interesse dentro da função de geração de emprego das PMEs, segundo tanto, nosso próximo passo será estabelecer os ramos de as
As PMEs são consideradas instrumentos
perspectiva positiva. Entrc- uma
pesquisa existentes, tanto positivos quanto normativos, na economia de geração de emprego a partir de perspectiva empresarial.
uma
A economia da geração de emprego a partir de uma perspectiva empresarial: Focos positivos e normativos as
mais apropriados Ji/o,.qaé as' ”
que a aspectos econômicos, para os quais os suscetíveis ambientes de desenvolvi mento geográfico não apresentam des-
As PMEs são consideradas instru mentos mais apropriados do que grandes empresas para gerar empregos, a partir de um foco positivo, de acordo com
' as novos empresas para gerar novos emprégosM-: quatro tipos de argu mentos ou pressupostos interrelacionados que seriam objeto de empírico:
c) Investimentos locais: a me nor quantidade e/ou qualidade dos recursos de uma area nao desenvolvida era terraos econômicos não condiciona as possibilidades do desenvolvimento local porque é possível planejar modelos internos à medida que as 1 MEs mobilizam o potencial endógeno existen te, valorizando-o (Keeble e Wever, 1986); d) Investi mentos intransferíveis; não há risco de mudança das unidades empresariais de pequeno porte para áreas mais desenvolvidas uma vez que seus investimentos apresentam evidente estabilidade e estão ligados ao territorio, ao contrário das grandes empresas, que apre- sentam atributos adequados para sustentar a conver gência regional (Andreff, 1987).
4 Geração de empregos. Presume-se que as PMEs tenham maior capacidade do que as grandes empresas gerar novos empregos. Para isso, a implementação de medidas de apoio à criação, manutenção e desenvolvi mento da pequena e média empresa não é somente eficaz no combate ao desemprego mas também eficaz
1 - índice de geração. Se um maior número de projetos empresariais sob a forma de PMEs é criado em relação à constituição de grandes empresas, então os primeiros assumirão função mais importante na geração de em pregos. Isto será verificado sempre que o nível da atividade econômica assumido por essas PMEs for superior ao assumido pelas novas empresas de grande porte (Davies e Lyons, 1982). Em função do to estatístico concedido às informações disponíveis, verificou-se que o índice de criação de novas
tratamenempresas e muito reduzido nos países do ocidente. Conseqüen- temente, a capacidade de geração de emprego relacio nada a essas iniciativas empresariais é reduzida (Gould e Keeble, 1984; Lloyd e Mason, 1984; Gripaios e Herbert, 1987). A causa principal dessa prova tra-se no potencial do déficit empresarial de algumas sociedades, em função de fatores psicológicos e socioló gicos, de um lado, e do outro lado, as diversas barreiras ao desenvolvimento desse potencial - como acesso .ao financiamento, ônus administrativos, regulamentos fisinadequação da política de apoio à criação de enco li¬ de cais.

empresas,ctc. (Argcnti, I‘)76; Jovanovich, 1982;Bcglcy e Boyd, 1987; Perry, Mcrcclith c Cunningion, 1988; BATES, 1990; Hall, 1992). Entretanto, a partir dos anos 70, prov^as empíricas sustentam que a premissa anterior está concluída em suas duas dimensões, ou seja, criaram-sc mais PM Es do que empresas de grande porte e aquelas são responsáveis pela geração de mais empregos c valor adicionado do que as últimas. 2 - índice dc falência. As novas empresas precisam desenvolvidas cm termos competitivos c devem envidar esforços para não destruir, com sua falência, os empregos por elas gerados. Se o PMEs for superior ao das grandes empresas, então, nesse caso, as PMEs podem tornar-se instrumentos ineficientes para a geração de emprego (Prais, 1976). Na verdade, as provas empíricas disponíveis em nível internacional revelam que aproximadamente 50 entre 100 novas PMEs tendem a encerrar atividades dentro de anos(Hutchinson,eNewcomer, 1938; StareMassel, 1981; Ganguly, 1985; Stewart e Gallagher, 1986; Philips e Kirchoff, 1989; Baldwin c Gorecki, 1991; Dekámpe e Morrison, 1991; Williams, 1993; Ensr, 1996).
empresas - que abrange os efeitos do atrito das amostras, realizando para tal uma dupla segmentação da amostra, sustenta a mesma conclusão sobre a maior capacidade de desenvolvimento das PMEs (Dunne e Hughes, 1994).
índice de falência das
. Oexeniplo dé^ 'um atritode^í primeira ordem existe quandosérealiza úma^^ avaliação dà desenvolvimeniô
3 - índice de crescimento. Se o ritmo decrescimento das recém-criadas PMEs é maior do que o apresentado pelas grandes empresas, essas PMEs evidente mente irão gerar mais empregos. Tradicionalmente, os estudos empíricos que consideram um intervalo temporário a partir dos anos 60 obtiveram provas positivas para sustentar a maior capaci dade de geração de empregos por parte das PMEs (Samuels e Chesher, 1972; Kumar, 1984; Storey, Keasey, Watson e Wynarczyck, 1987). Entretanto, esses trabalhos mostra- inconsistentes quando se verificou a existência de
4 - índice de geração unitária de emprego. Uma área de pesquisa relacionada à anterior e que recebeu pouca atenção é a capacidade unitária de geração de novos empregos antes de um determinado nível de crescimento ou, em outras palavras, o aumento da elasticidade do emprego. Diz-se que a produtividade da mão-de-obra das PMEs é baixa e, portanto, o aumento do nível das vendas provoca aumento de emprego em proporção maior do que a observ^ada nas grandes empresas^**^ (Storey, 1988; Dunne y Hughes, 1990a; Loveman y Sengenberger, 1991). Não há trabalhos empíricos que tratem da questão do aumento da elasticidade do emprego nas pequenas e grandes empreNão obstante, os trabalhos de avaliação dos empregos gerados pelas PMEs, durante intervalos de tempo de aproximadamente 10 anos, concluíram que tal contribuição não ultrapassa 5 empregps por 100 empresas " (Cross, 1981; Gould e Keeble, 1984; Storey, 1985). Isto se pode atribuir ao íãto de que, a panir de um ponto de vista empírico, não se pode sustentar a afirma tiva sobre a menor produtividade da mãode-obra nas PMEs (Invernizzi e Revelli, 1993; Ensr, 1993.1994,1995 e 1996).
ram-se
scr
diversas PMEs em situação marginal, registrando estag nação e, até mesmo, crescimento negativo*^’. Este para doxo tem um motivo metodológico. O exemplo de um atrito de primeira ordem existe quando se realiza avaliação do desenvolvimento, uma vez que esta só pode calculada para empresas em atividade em dois pontos temporários, excluindo as empresas que não ativas. Por- avaliação do desenvolvimento das PMEs só pode realizada nas empresas que sobrevivem, sem conside rar que: a) a sobrevivência é função inversa do tamanho da empresa (Mansfield, 1962); b) um ritmo mais lento de crescimento é uma variável explicativa fundamental da falência das PM Es, embora não o seja em empresas de grande porte (Dunne, Roberts e Samuelson, 1989). Entretanto, um estudo mais recente sobre essa questão do crescimento relativo das pequenas, médias e grandes uma
5 - Transferências. Finalmente, para concluir, em termos lógicos, a estrutura positiva geral para o estudo da geração de emprego por tamanho da empresa, é necessário considerar os casos das PMEs que passam a ser classificadas como gran des empresas em função de sua dimensão e vice-versa. Esse grupo de unidades empresariais é, no entanto, insignificativo. Em resumo, adotando-se o foco global baseado nos cinco pontos apresentados, a capacidade de geração de emprego pelas PMEs em relação às grandes empresas será proporcional ao seu índice de criação, nível de desenvolrimento, índice de falência e elasticidade do trabalho, tendo sempre em mente as possíveis transferências bila terais. Embora não existam trabalhos que tratem dessas cinco dimensões em termos globais, há um certo consenheurístico sobre o importante papel das PMEs geração de emprego. Por outro lado, estudos sobre o foco normativo - que tentam avaliaras implicações na riqueza, causadas pela mudança econômica a favor das PMEsenfatizam os aspectos negativos dessas implicações em termos da qualidade inferior de trabalho. As PMEs tem sido acusadas de concentração de empregos sujeitos a
ser na so tanto, a
(41 F.m minã» pilavta». pr«umc-«.- qiic «« ptiip.» di- iinididcí impreuriin dc pequeno poiie mili.-c iccnolopuí imen»i«í dc mão-dcibri cm com|uriçio com a» ptandct empteu» que uidiaaiiam tccni.liq;iaí dc capiial imenów (Bcn>- c .Ma/umdar. 1991). -Lma vez que .» íaioio dc ccala Oo pcialmcnic mclhiitci cm aii«dadc\ induuriao. maioic» difetenças cnirc a capacidade - das pequena, c prandet cmprcías - dc gctit emprepo ames dc um ceno aumenco das vendas scião dcccctadas ncss.-s tipos dc setores (Ocorpesai-Rospcn. 1972).
baixa retribuição, condições inadequadas de segurança aceita, entretanto surgem grandes problemas em relação às no trabalho, Falta de cobertura social, etc. (Storey, 1985). mcdid.as o|x:racionais. h^m termos gerais, esses problemas Estudos realizados nos Estados Unidos revelam grandes são resolvidos em Função do emprego, aceitando-scaproxi- diFerenças nas variáveis a seguir (Chisholm, 1990): a) niadamente menos de 50 Funcionários para todosossetores menor nível salarial; b) maior rotatividade da gerência; c) deatividade*^^ (OECD, 1997). Considerando queacompa- menores doações a Fundos e planos complementares de ração pode ser um objetivo heurístico v^alioso, essadelimicaaposentadoria; d) menor grau de sindicalização. Entre- ção amplamente aceita deveria constituir a base dequalquer tanto, a prova empírica não é consistente e, de qualquer estudo sobre as PM Es (Reynolds, 1991). maneira, detectaram-se grupos de PMEs que não apre sentam essas diFerenças-como as relacionadas a tecnologia Cenário setorial avançada (Feldman, 1986).
Aumento da elasticidade do emprego por tamanho da empresa: Avaliação
É necessário enfatizar que, qualquer estudo sobre a dinâmica do emprego de acordo com o tamanho da empresa que não aborde simultanea mente os cinco pontos analisados não sera capaz de chegar a conclusões gerais sobre a fimção global das pequenas e grandes empresas, mas somente oferecer ' provas sobre o ponto objeto de interesse. O objetivo do presente trabalho é analisar se as PMEs apresentam aumento da elasticidade do emprego em relação às grandes empresas devido à sua base tecnológica- É preciso que os comentári os que se seguem sejam concluídos com a avaliação das variáveis implícitas analise, o que nem sempre é possível em de problemas relacionados à dis ponibilidade das informaçÕ
Unidade básica de análise
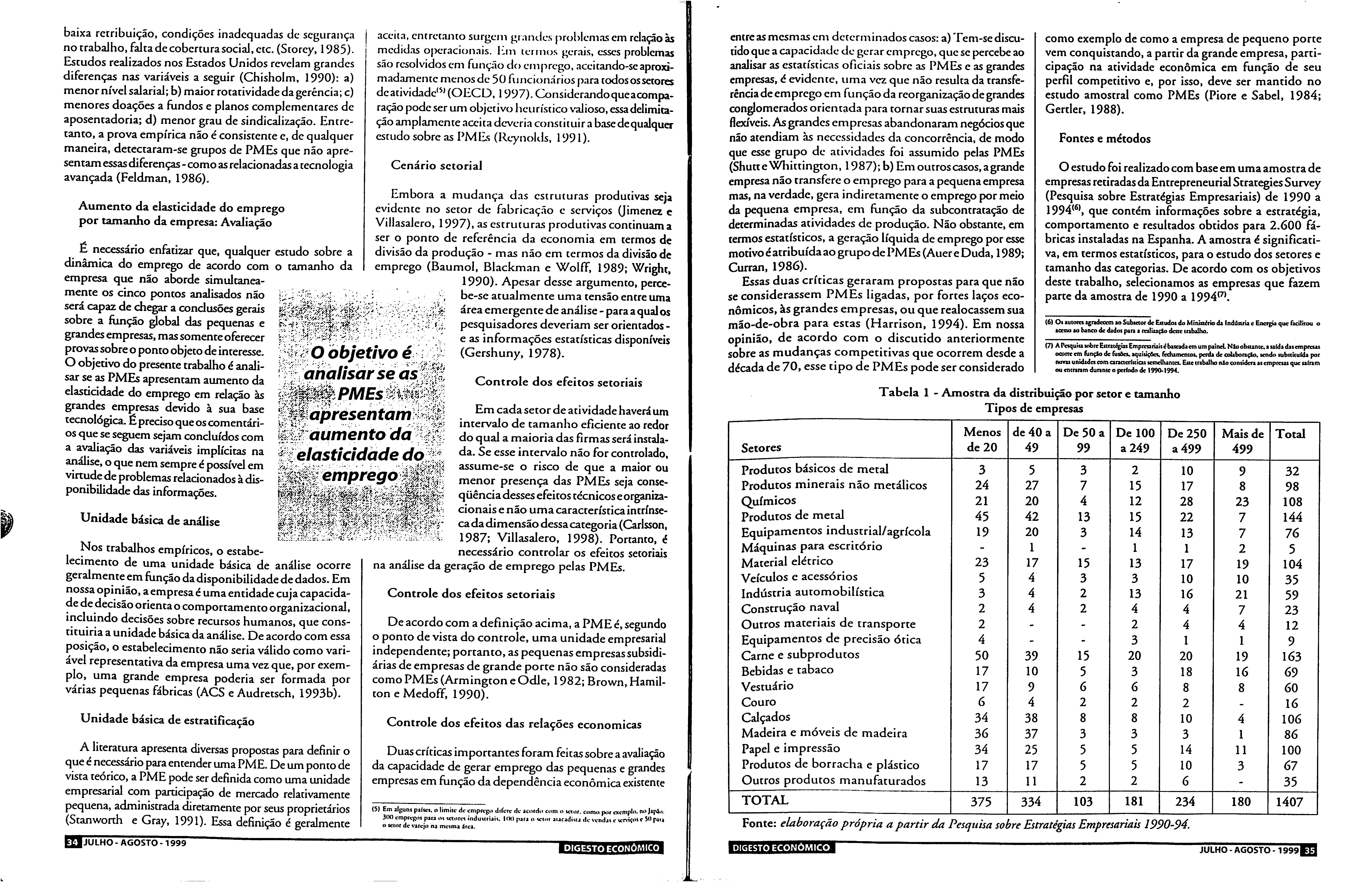
fÇ objetivo e ahalisárséa,s PMEsMwê ^ ^àprésentám traumento da elasticidade do
Embora a mudança das estruturas produtivas seja evidente no setor de Fabricação e serviços (Jimenez c Villasalero, 1997), as estruturas produtivas continuam a ser o ponto de referência da economia em termos de divisão da produção - mas não em termos da divisão de emprego (Baumol, Blackman e WolfF, 1989; Wright, 1990). Apesar desse argumento, perce be-se atualmente uma tensão entre uma área emergente de análise - para a qual os pesquisadores deveríam ser orientadose as informações estatísticas disponíveis (Gershuny, 1978).
Controle dos efeitos setoriais
Nos trabalhos empíricos, o estabe lecimento de uma unidade básica de análise geralmente em função da disponibilidade de dados. Em nossa opinião, a empresa é uma entidade cuja capacida de de decisão orienta o comportamento organizacional, incluindo decisões sobre recursos humanos, que cons tituiría a unidade básica da análise. De acordo posição, o estabelecimento não seria válido como vari ável representativa da empresa uma vez que, por exem plo, uma grande empresa poderia ser formada por pequenas fábricas (ACS e Audretsch, 1993b).
Unidade básica de estratifícação
ocorre
Em cada setor de atividade haverá intervalo de tamanho eficiente ao redor do qual a maioria das Firmas será instala da. Se esse intervalo não for controlado, assume-se o risco de que a maior ou menor presença das PMEs seja conseqüência desses efeitos técnicos e organiza cionais e não uma característica intrínse ca da dimensão dessa categoria (Carlsson, 1987; Villasalero, 1998). Portanto, é necessário controlar os efeitos setoriais na análise da geração de emprego pelas PMEs. um
Controle dos efeitos setoriais
De acordo com a definição acima, a PME é, segundo o ponto de vista do controle, uma unidade empresarial independente; portanto, as pequenas empresassubsidiárias de empresas de grande porte não são consideradas como PMEs (Armington e Odle, 1982; Brown, Hamil ton e Medoffi 1990).
Controle dos efeitos das relações
A literatura apresenta diversas propostas para definir o que e necessário para entender uma PME. De um ponto de vista teórico, a PME pode ser definida como uma unidade empresarial com participação de mercado relativamente pequena, administrada diretamente por seus proprietários (Stanworth e Cray, 1991). Essa definição é geralmente m JULHO - AGOSTO -1999 economicas
Duas críticas importantes foram feitas sobre a avaliação da capacidade de gerar emprego das pequenas e grandes empresas em função da dependência econômica existente
entre as mesmas cm determinados casos: a) Tem-se discu tido que a capacidade de gerar emprego, que se percebe ao analisar as estatísticas oficiais sobre as PMEs e as grandes empresas, é evidente, uma vez que não resulta da transFerência de emprego em Função da reorganização de grandes con^omerados orientada para tornar suas estruturas mais flexíveis. As grandes empresas abandonaram negócios que não atendiam às necessidades da concorrência, de modo que esse grupo de atividades Foi assumido pelas PMEs (ShutteWliittington, 1987) ;b) Em outros casos, a grande empresa não transFere o emprego para a pequena empresa mas, na verdade, gera indiretamente o emprego por meio da pequena empresa, em função da subcontrataçâo de determinadas atividades de produção. Não obstante, em termos estatísticos, a geração líquida de emprego por esse motivo é atribuída ao grupo de PM Es (Auer e Duda, 1989; Curran, 1986).
como exemplo de como a empresa de pequeno porte vem conquistando, a partir da grande empresa, parti cipação na atividade econômica em Função de seu perfil competitivo e, por isso, deve ser mantido no estudo amostrai como PMEs (Piore e Sabei, 1984; Gertler, 1988).
Fontes e métodos
O estudo foi realizado com base em uma amostra de empresas retiradas da Entrepreneurial Strategies Survey (Pesquisa sobre Estratégias Empresariais) de 1990 a 1994(6)^ que contém informações sobre a estratégia, comportamento e resultados obtidos para 2.600 fá bricas instaladas na Espanha. A amostra é significati va, em termos estatísticos, para o estudo dos setores e tamanho das categorias. De acordo com os objetivos deste trabalho, selecionamos as empresas que fazem parte da amostra de 1990 a 1994^*. se
Essas duas críticas geraram propostas para que não considerassem PMEs ligadas, por Fortes laços eco nômicos, às grandes empresas, ou que realocassem sua mão-de-obra para estas (Harrison, 1994). Em nossa opinião, de acordo com o discutido anteriormente sobre as mudanças competitivas que ocorrem desde a década de 70, esse tipo de PMEs pode ser considerado
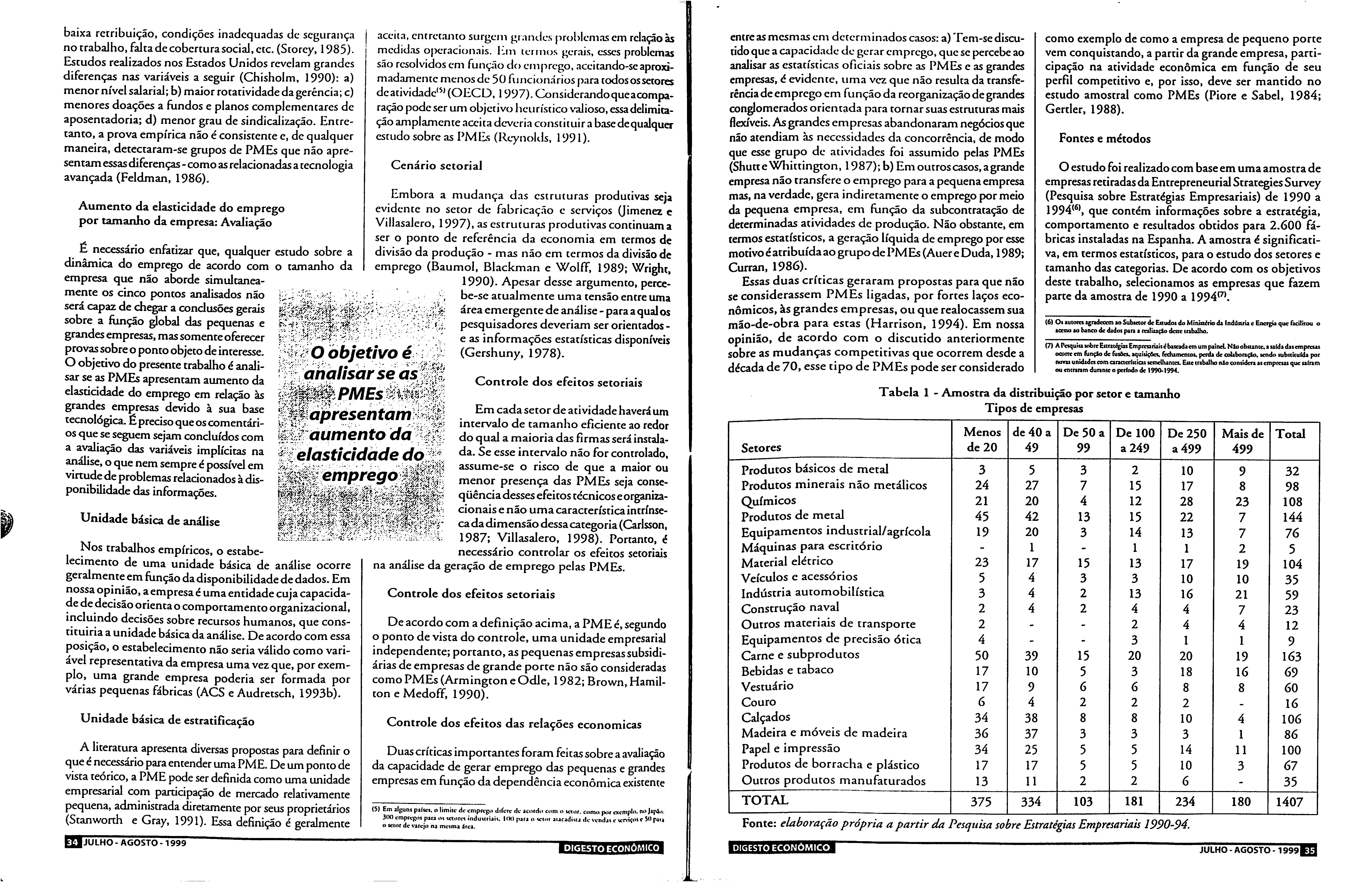
(6) Ot auiotct agndcocm ao Sukictor de Estudos do Minindrio da Inddsuia c Encigia que factlitou o aaetto ao hanco de dados para a realitaçlo deste tiabalho.
(7) A Pesquisa sobre Estrat^ias Empresariais é baseada em um painel Nio obstante, a salda das empresas oastre em funfio de fusSes. aquitiçOes. rechamemos, perda de ooiaboraçio. sendo substitubla por novas unidades com catacterlsticat semeUunici. Este trabalho nio considera as empresas que saíram ou entraram durante o período de 1990.1994.
Tabela 1 - Amostra da distribuição por setor e tamanho
Tipos de empresas
Setores Produtos básicos de metal
minerais não metálicos
Químicos
Produtos de metal
Equipamentos industrial/agrícola
Máquinas para escritório
Material elétrico
e acessórios
Indústria automobilística
Construção naval
Outros materiais de transporte
Equipamentos de precisão ótica
Carne e subprodutos
Bebidas e tabaco
Vestuário
Couro
Papel e impressão
de borracha e plástico Outros produtos manufaturados
de 40 a Menos de 20 De 50 a De 100 a 249 Mais de 499 De
Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa sobre Estraté^as Empresariais 1990-94.
expres.são compreende implicitamente a b.ise tecnológica Em seguida, eliminamos todas .as que não apresenta vam valores cm quaisquer das variáveis de interesse, que está utilizando a unidade empresarial e, portanto, a produtividade da mão-de-obra, uma vcv, que indica em que proporção a força de trabalho deveria ser aumentada para proporcionar um certo aumento d.as vendas. Quanto maior seu valor, mais empregos serão criados por unidade, refletindo tecnologias com mão-de-obra intensiva. reduzindo assim a amostra para 1.407 empresas. As principais características da amostra para os setores de atividade e tamanho da categoria encontram-se na Tabela 1. Todas as recomendações metodológicas an teriores quanto às questões de avaliação podem ser aplicadas, exceto quanto ao efeito do controle da em presa, porque esse ponto não foi previsto na Pesquisa sobre Estratégias Empresariais.
O método escolhido para analisar o índice unitário de geração de emprego por tamanho é o teste T da diferença das médias para amostras independentes sobre o aumento da elasticidade variável do emprego calculado como se segue:
e„ = (força de trabalho _ 94/força de trabalho _ 90) - 1 (vendas _ 94/ vendas _ 90) - 1
Esse termo é definido de acordo com o conceito microeconômico convencional de elasticidade de forma a expressar variações proporcionais entre as duas variáveis utilizadas. Essas variáveis representam a força de trabalho total e as vendas totais èm Dezembro de 1990 e 1994. Essa
Resultados c implicações
A análise estatística é realizada cm duas etapas. Primeiro, o teste *T da diferença das medias é aplicado a toda a amostragem, diferenciando as PMEs e as gran des empresas. Segundo, os efeitos setoriais são contro lados, mostrando o contraste para cada um dos ramos de atividade. A Tabela 2 apresenta as médias obtidas para o aumento da elasticidade do emprego de acordo com o tamanho da empresa. Observamos aqui duas características: a) não há um padrão uniforme de rela cionamento entre o tamanho da empresa e o au mento da elasticidade do emprego; b) as grandes em presas registram maior valor no aumento da elasticida de do emprego, que parece contrário à posição conven cional da maior produtividade de sua mão-de-obra.
Tabela 2 - Aumento da elasticidade do emprego por tamanho da categoria
Tamanho Quantidade de Casos
Menos de 20
De 20 a 49
De 50 a 99
De 100 a 249
De 250 a 499
Mais de 499
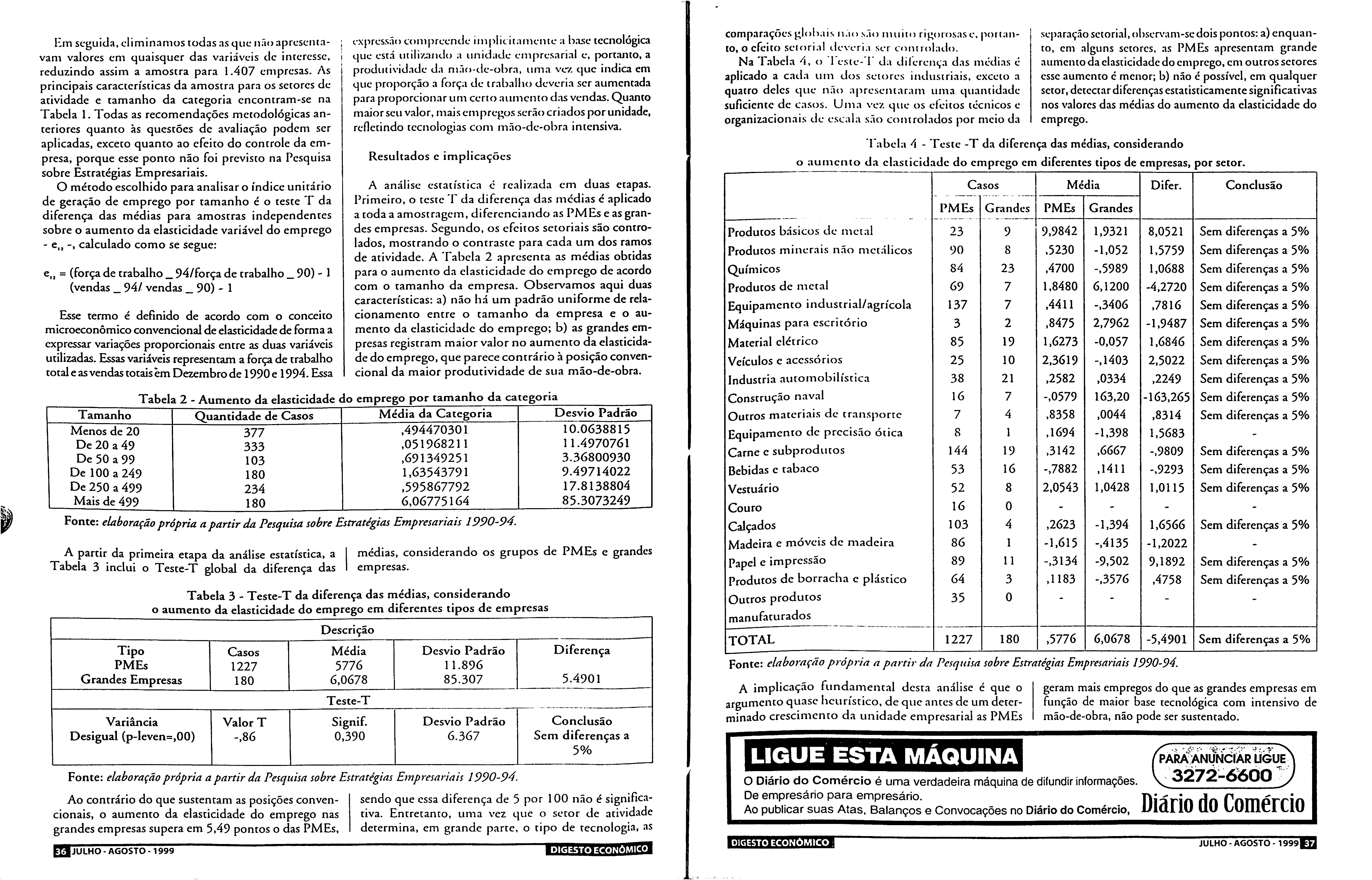
Média da Categoria Desvio Padrão
.494470301
,051968211 ,691349251
1,63543791 ,595867792 6,06775164
Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa sobre Estratégias Empresariais 1990-94.
A partir da primeira etapa da análise estatística, a Tabela 3 inclui o Teste-T global da diferença das
médias, considerando os grupos de PMEs e grandes empresas.
Tabela 3 - Teste-T da diferença das médias, considerando o aumento da elasticidade do emprego em diferentes tipos de empresas
Descrição
Variância Desigud (p-leven=,00)
Valor T -,86
Desvio
Teste-T
Desvio Padrão 6.367
Diferença
Conclusão Sem diferenças a 5%
Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa sobre Estratégias Empresariais 1990-94. sendo que essa diferença de 5 por 100 não é significa tiva. Entretanto, uma v'ez que o setor de atividade determina, em grande parte, o tipo de tecnologia, as
Ao contrário do que sustentam as posições conven cionais, o aumento da elasticidade do emprego nas grandes empresas supera em 5,49 pontos o das PMEs, M
- AGOSTO -1999
comparações j;I()l>.iis n.io são miiiio rigorosas c, portan to, o efeito setorial deveria ser c<nitrolado.
Na Tabela 'l, o 1 este- I da dilerença das médias é aplicado a cada utn dos setores industriais, exceto a quatro deles qiie não apresentaram uma quantidade suficiente de casos. Utna vez que os efeitos técnicos e organizacionais de escala são cotitrolados por meio da
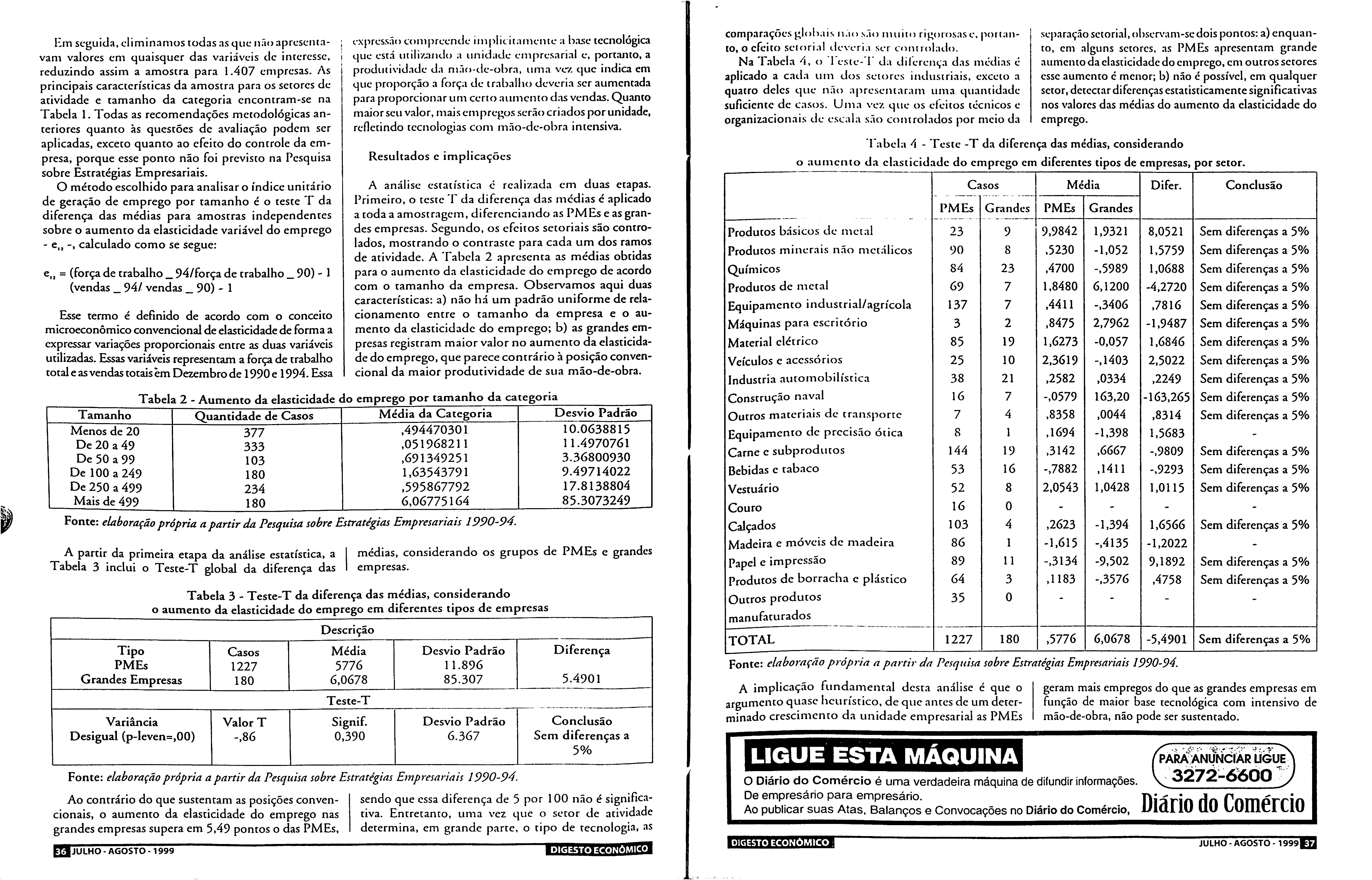
.separação setorial, ob.servam-sedois pontos: a) enquan to, em alguns setores, ,as PM Es apresentam grande aumento da elasticidade do emprego, em outros setores esse aumento c menor; b) não c possível, em qualquer setor, detectar diferenças estatisticamente significativas nos valores das médias do aumento da elasticidade do emprego.
Tabela 4 - Teste -T da diferença das médias, considerando o aumento da elasticidade do emprego cm diferentes tipos de empresas, por setor.
Casos Média Difer. Conclusão
Grandes PMEs Grandes PMEs
Produtos básicos de metal
Produtos minerais não metálicos
Químicos
Produtos de metal
Equipamento industrial/agrícola
Máquinas para escritório
Material elétrico
Veículos e acessórios
Industria automobilística
Construção naval
Outros materiais de transporte
Equipamento de precisão ótica
Carne c subprodutos
Bebidas e tabaco
Vestuário
Couro 9.9842 ,5230 ,4700 1,8480
e móveis dc madeira
Papel c impressão
Produtos de borracha e plástico
Outros produtos
1,0688 -4,2720 ,7816 -1.9487 1.6846 2.5022 .2249 -163.265 .8314 1,5683 -.9809 -.9293 1.0115
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5%
Sem diferenças a 5% 1.9321 -1.052 -.5989 6,1200 -.3406 2,7962 -0,057 -.1403 .0334 163.20 .0044 -1.398 ,6667 .1411 1,0428
Sem diferenças a 5%
diferenças a
diferenças a 5%
Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa sobre Estratégias Empresariais 1990-94.
A implicação fundamental desta análise é que o argumento quase lieurístico, de que antes de um deter minado crescimento da unidade empresarial as PMEs
geram mais empregos do que as grandes empresas em função de maior base tecnológica com intensivo de mão-de-obra, não pode ser sustentado.
O Diário do Comércio é uma verdadeira máquina de difundir informações. De empresário para empresário. Ao publicar suas Atas. Balanços e Convocações no Diário do Comércio
Escc estudo realizou um exame empírico sobre a economia de geração de emprego a partir de uma perspectiva empresarial e assumiu o pressuposto de que as medidas de sustentação à criação e desenvolvimento das PM Es ajudam a gerar mais empregos por unidade, sendo uma fórmula eficiente para resolver os problemas econômicos causados pelo desemprego. Subjacente a esse argumento, há o pressuposto referente ao tipo de tecnologias utilizadas pelas empresas, de acordo com o seu tamanho. As PMEs utilizariam tecnologias intensi vas de mão-de-obra intensiva, ao passo que as grandes
empresas teriam suas produções bnsead.TS cm tecnologias intensivas de capital, com diferenças em relação à produtividade da mão-de-obra. Depois de analisar uma amostragem aumento 1.407 empresas espanholas no período de 1990-1994, obtivemos provas que refutam essa posição convencional. ●

são da Universidade de Castilla-I.a-Mancha
E dirigida a empresários, executivos, profissionais liberais, autoridades e estudantes.
Por .ser uma publicação da Associação Comercial de São Paulo traz consigo leitores que a acompanham ao longo de toda sua existência, mais de 50 anos, além da nova geração do empresariado. Leitores que representam grande poder de consumo e que decidem em suas empresas sobre bens e serviços.
Via mala-direta aos assinantes. Associações Comerciais do Brasil além da venda avulsa, universidades, entidades de classe, órgãos do Governo e centros de decisão.
Rua Galvão Bueno, 83 - Liberdade - SP
CEP: 01506-000
Tels. 3272-6612/3272-6621 - Fax: 3212-6625
o acesso ao financiamento é uma das necessidades na África mais urgentes das pequenas empresas
Ngozi M. Awa
Economista, Namíbia
Introdução
Adificuldade dc obter financiamento tem sido apontada como o principal obstáculo ao desen volvimento da pequena empresa. Essa barreira inibe a exploração de oportunidades de alto potencial lucrativo e o crescimento da pequena empresa, na África enfrentam os mes-
As pequenas empresas mos problemas de suas contrapartes em outras regiões do mundo. As barreiras que impedem as atividades da são características de um ambiente pequena empresacomercial que reduz o estabelecimento de novas pequeempresas, obstrui oportunidades de desenvolvi- acelera a falência. nas mento e
Quando se determina que qualquer elemento do ambiente comercial é uma barreira fica implícita a exis tência de um estado ideal que, evidentemente, surgiría caso tais barreiras fossem removidas. Tal estado existe na economia quando se obedecem aos direitos de proprie dade, respeitam os direitos do livre mercado e quando a intervenção no estado está restrita aos bens e serviços.
Os fatores que inibem o desenvolvimento da pequeempresa são tanto externos quanto internos. A maioria dos fatores descritos abaixo são externos. Alentanto, são de natureza interna e derivam das

Fatores que inibem o acesso da pequena empresa ao financiamento
Apresentamos abaixo algumas das principais barreiras que inibem o acesso da pequena empresa ao financiamento.
Financiamento das atividades da empresa
As pequenas empresas enfrentam problemas na ob tenção de recursos para lançar, operar e ampliar suas atividades comerciais. É difícil obter recursos principal mente na fase inicial. A pequena empresa experimenta dificuldades para desenvolver seus negócios por meio de fundos de investimento; ela geralmente lança mão de recursos próprios e, raramente, recorre ao crédito ban cário ou emissão de títulos.
As altas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras é um dos principais motivos que impedem o acesso da pequena empresa ao financiamento de fontes externas. Alega-se que a pequena empresa não tem capacidade de atender à exigência das altas taxas de juros.
Contribuição do capital na guns.no qualidades culturais e sociais dos empresários e admi nistradores (ou seja, suas personalidades, motivações, conhecimentos e habilidades, que inibem seu crescidesenvolvimento).
As pesquisas realizadas por várias organizações inter nacionais revelaram que o acesso ao financiamento é uma das necessidades mais urgentes das pequenas em presas na África, sem exceção. Isto é verdadeiro mesmo que outras áreas problemáticas agravem a posição fi nanceira das pequenas empresas e impeçam seu acesso ao financiamento.
A maioria das instituições de empréstimo exige que a pequena empresa tenha um patrimônio equivalente a uma determinada porcentagem do valor total que ela pretende contrair em empréstimo. Um estudo comis sionado pela South African Development Community (SADC) revelou que os bancos na região exigem con tribuições que variam de 20% a 80%. Isto é um tanto irreal porque, se uma empresa tem 80% de capital, por que a necessidade de financiamento? mento e
Exigências dc garantia e/ou caução
A incapacidade da pequena empresa de oferecer a caução exigida aumenta sua falta deacesso ao crédito. Ihn lugar da caução, as instituições financeiras sempre exigi rão uma garantia dc terceiros. A pequena empresa não tem acesso a essa garantia, principalmente na África.
Altos custos dc administração
Mesmo que as PM Es apresentem garantias e/o ção, muitas instituições financeiras sentem-se relutantes em conceder empréstimos a esse tipo dc empresa princi palmente devido ao alto custo dc administração | dos empréstimos. O mo- | tivo disso é o bab:o valor I

como um empecülio. politr/adn e tornou-.se l).istanie t ()niro\'ersa e sensível em termos }')olític(j.s. Segundo, muitos empresários tendem a não enxergar .scus problemas .tdmÍtiistraiÍvos internos. () ()ode exj')i.tt(3rio é a “falta de acesso ao financiamento creeiro, cxistetii outras importantes fontes de financiamento, tal clientes e crédito de forneced )..: .1 c]uestã(5 tem sido nmeiro. como adiantamento a ores qtic, muitas vezes, sao considerados comcj fontes de financiamento e, evidentemente, não exj^lorados com tal. C^uarto, um dos proble mas do setor para ter acesso ao financiamento externo é causado pela alta dc juros. A reclamação niais frcqiicntc é a impos.si[>ilidade cia pctjucna cmj-uesa dc
u cauconscguir suportar as altas taxas dc juros cobradas. Em m ui COS países, cnirctanto, provas empíri cas revelam que o custo dos fundos (taxa dc juros e outros custos afins) pa recem não ser um pro blema. O grande proble ma c o acesso aos fundos. Um estudo patrocinado pela Comissão Nacional da Pequena Empresa de Acera, cm Gama, reve lou uma alta taxa deaplicação para empréstimos às PM Es c ção das mesmas de taxas dc juros acima das praticadas pclo mercado se conseguirem obter acesso constante ao fi nanciamento. Desta fordos empréstimos solicita- | dos pelas pequenas cm- | presas.
Capacidade para preparar um plano para apresentar* aos bancos ou negociar com instituições fi¬ nanceiras
Diz-se que a exigência, por parte das instituições financeiras, de predisposi- um plano de atividades, é uma rática para evitar o financia mento às pequenas empresas.Jáseconsratou que atitude isso é uma preconceituosa do bancário em relação à pe quena empresa. E tam bém sabido que, em todo o mundo, as setor
O suporte às PMEs garante o desenvolvimento
ma, o custo torna-se um problema caso o merca do seja incapaz de absor ver o preço do produto ou dos serviços ofereci dos. Se isso acontecer, pequenas empresas sentem dificul dade para se aproximar das instituições financeí elas negociar.
Desinteresse em financiar a pequena empresa
Diz-se que os bancos em conceder comerciais não se interessam empréstimo à pequena empresa e que estão muito mais interessados na garantia do que em tornar o negócio viável à pequena empresa.
Prognóstico
As dificuldades das pequenas empresas para obter financiamento têm sido constantemente enfatizadas
então, o produto ou o serviço torna-se inviável. Um dos problemas recorrentes, gcralmcnte mcncionadospelas insciruições financeiras, é a incapacidaded.a pequena empresa dc apresentar um plano viável de atividades. Já ví pequenas empresas apresentando do cumentos de duas ou três páginas. Nesse documenro, pedem um empréstimo dc aproximadamente USS 100.000 c declaram que irão gerar um lucro liqui do dc US$200.000 sobre vendas dc US$400.000 no primeiro ano. P. impossível avaliar a viabilidade de um negócio que apresente esse tipo de “plano de ativida des Desta forma, sem um plano bem pre[')arado, é muito difícil qualquer instituição financeira avaliara viabilidade da rase com
pequena empresa.
Gcralmentc, a explicação para o insucesso dc um empreendimento é a falta dc acesso ao financiamento. O fato dc alguns empresários conseguirem superar os obstáculos à obtenção de financiamento - ao passo que outros empresários não conseguem -, enfraquece a explicação sobre a restrição ao financiamento e desafia abordagens institucionais. As provas empíricas de monstram que o financiamento é apenas um dos fatores dc uma longa lista dc problemas com que sc deparam as na tentativa dc explorar oportunias pequenas empresas dades de negócios rentáveis. Abaixo, alguns dos outros fatores que afetam o desenvolvimento sustentado e o crescimento da pequena empresa.
A pequena empresa tende a ser uma empresa familiar dc 10 funcionários. Para com menos manter o nos são geralmcntc contrários à expan são. Este é um aspecto da pequena em presa que gcralmcnte c desconsiderado quando se discute o crescimento do setor.
Concorrência global
Com a globalização (e a queda das fronteiras para facilitar a interação econômica) e a liberalização das importações e exportações, as pequenas empresas pre cisam enfrentar concorrentes mais experientes, melhor qualidade dos produtos e preços mais competitivos.
Capacidade institucional
Acapacidade dessas instituições de fornecer serviços às pequenas empresas é geralmente questionada. Os funci onários de muitas instituições que oferecem suporte à pequena não têm a experiência, nem tampouco a quali ficação ou treinamento necessários em áreas representa tivas para fornecer os serviços exigidos pelas pequenas empresas.
Ausência de representação: Grupos de pressão/lobby controle da empresa, seus do-
Capacidade técnica c de administração
ao
A administração é elemento essencial sucesso de qualquer empresa. Consi derando o nível baixo da instrução do setor, a pequena empresa não possui o conhecimento necessário das técnicas administrativas, e isto constitui uma li mitação ao potencial inovador do setor.
Know-how tecnológico
A maioria das pequenas empresas não tem acesso à nologia moderna. Considerando (na maior parte o nível baixo da instrução, elas não têm tec dos casos) capacidade de reconhecer o problema ou lidar com Mesmo quando têm experiência e grau de o mesmo instrução adequados, o pequeno empresário não tem acesso aos recursos ou à capacidade de realizar os serviços de P&D necessários para promover seus pro dutos e/ou serviços.
Conhecimento do mercado e informações

Para que os assuntos relacionados à considerados pequena empresa sejam com seriedade, e para facilitar a criação de um ambiente propício ao seu desen volvimento, as PMEs precisam de uma organização eficiente que represente seus interesses com a finalidade de:
5 ● influenciar o processo legislativo de modo a estabilizar as normas legais e limitar a possibilidade de implementar soluções desfavoráveis a seus interesses e desenvolvimento; ● fornecer, armazenar e distribuir in formações necessárias à condução dos negócios; oferecer treinamento eficiente e contínuo dos empresários e seus funcioná rios para aumentar sua capacidade de adaptação; e ● combinar projetos financeiros, por exemplo, crian do fundos de garantia e fundos mútuos e organizan do feiras e exibições.
Verifica-se, atualmente, a ausência dessa estrutura institucional. Considerada a facilidade com que os pro jetos e idéias são plagiados e roubados, e tendo em vista a inveja e mesquinhez, os empresários não formam um grupo muito interessado em representar seu interesse coletivo ou juntar-se a organizações que o represente. Para que esse tipo de organização alcance seus objetivos deve haver um alto nível de confiança, respeito e lealdade mútuos e o cumprimento das responsabilidades.
Muitas pequenas empresas não têm a capacidade de comercializar seus produtos ou serviços de maneira adequada. As pequenas empresas enfrentam concor rência e, muitas vezes, o monopólio estatal. Em alguns afetadas pelo tamanho do mercado local e acessar os mercados Fatores TESA países, sao pela falta de informações para
Muitos administradores de pequenas empresas têm
ilILHQ-AGQSTQ- 1999B1I externos.
D16ESTO econômico
fortes valores iradjcionais e obrigações culturais e reli giosas arraigados qur, normalmente, entram em confli to com a ética e j>ráticas profissionais. Além disso, presume-se que sexo, raças e ethos exerçam impacto negativo sobre o desenvolvimento da pequena empre sa. Esses fatores são denominados TESA (Too Excruciatingly Sensiiive to talk About, ou seja, extre mamente delicados para se comentar). Verificou-se que, na Ilha Solomon, os fatores TESA impacto substancialmente negativo sobre o desenvolvi mento da pequena empresa. O impacto do TESA sobre o desenvolvimento da pequena empresa na África ainda é desconhecido. O assunto está sendo pesquisado. É importante colocar em foco os problemas que inibem o desenvolvimento, a sustentação e o cresci mento da pequena empresa e tentar criar um programa integrado com a finalidade de melhorar, as questões. O desenvolvimento do setor da pequena empresa deveria considerado como apresentando opor tunidades de negócios e não como ferramenta política.
Estratégias para facilitar da pequena empresa ao crédito

a concessão de empresários à pequena empresa, comecei a perceber que as instituições financeiras começam a reco nhecer a importância do financiamento à pequena empre sa. O diretor gerente de um dos bancos comerciais da região que, à ocasião, era também presidente da Associação dos Bancos do país disse-me: “O setor da pequena empresa é nosso futuro, será o grande negócio de amanhã. Temos grande interesse em fornecer o devido apoio a esse setor .
Embora o setor bancário comece a reconhecer a importância do financiamento ao setor da n
pequena empresa, perguntamo-nos: Até que ponto os bancos comerciais estão prontos para financiar esse setor? Os bancos na região da África do Sul, principalmente bancos europeus, operam de acordo bancário britânico, que exige caução concessão de em préstimos. Como a pequena empresa geralmente não tem condições de oferecer caução para garantir o emprés timo, então o seu acesso ao financiamen to é barrado. O quão flexíveis são os bancos nessa região para experimentar novos instrumentos financeiros para fi nanciar a pequena empresa?
O papel-chave da pequena empresa no desenvolvimento econômico de país tem sido analisado detalhadamente no mundo inteiro. Embora diversos fatores tenham sido apontados inibidores do desenvolviment tentação e crescimento das
sus-
pequenas empresas, o acesso ao crédito vem sen do apontado como fator be a
que mais inipequena empresa. Na verdade, essa questão tomou-se tão politizada que, em determinados países, é chamada “Direito Hurnano . Entretanto, o acesso ao créditocrédito em sí - pode ser um direito, humano. e não
Estratégia 1 - Qual estrutura política é importante?
O ambiente financeiro hostil à pequena empresa foi claramente definido no início deste artigo. Para se defen der, os bancos comerciais disseram que só poderiam conceder empréstimos a empreendimentos viáveis um mercado atredado à taxa de juros. É sabido que bancos comerciais são orientados para o lucro e susten tados pelo patrimônio dos acionistas e fundos dos depositantes. Eles não são instituições sem fins lucrativos sustentadas por doações. Portanto, existe a questão da responsabilidade dos bancos comerciais perante seus acionistas, depositantes e supervisores bancários.
Depois de trabalhar 10 anos na região da África do Sul e avaliando, a cada 2 ou 3 anos, a opinião dos bancos sobre QjjULHO-AGOSTO-1999 ^ em os
Atualmente, para financiar esse setor, os bancos exigem divisão de risco sob a forma de garantia concedida por terceiros (ex: governo ou avalistas). Á criação de acesso permanente para financiar esse setor não precisa necessariamente envol ver garantia de fundos do avalista crédito subsidiado pelo governo. Um bom exemplo disso é o Multi Credit Bank (MCB), um banco comercial priva do no Panamá. Os empréstimosconcedidos por esse banco ao setor da pequena empresa não dependem da garantia de terceiros ou do crédito subsidiado pelo governo. Atualmente, 8% de sua carteira de empréstimos são compostos de financiamento à peque na empresa e a carteira de empréstimos à pequena empresa representa 18% do lucro total do banco. Outro exemplo é o BancoSol na Bolívia, igualmente um banco comercial mas voltado somente ao financiamento da micro e peque na empresa. Esses exemplos mostram que o setor da pequena empresa apresenta oportunidades viáveis de fi nanciamento a bancos comerciais que não exigem garantia para conceder empréstimos a esse setor. Qualquer tipo de apoio financeiro à pequena empresa precisa estar ligado ao setor financeiro formal.
Como é possível conseguir isso? Devem-se montar várias estruturas que facilitem o acesso permanente da pequena empresa ao crédito.
Ambiente econômico e político estável
Um ambiente econômico e político estável é essen cial para sustentar do desenvolvimento do setor da

pequena empresa c das instiiuiçõcs financeiras formais do setor privado. I*.m todos os países, o governo c os bancos centrais inter\'ém no setor financeiro. O setor financeiro é importante para financiar os déficits do governo, reduzir ou acelerar o crescimento econômico e manter a estabilidade da moeda c controlar a inflação. Essas intervenções afetam as instituições financeiras; o controle das taxas de juros sobre depósitos e emprésti mos podem ter efeitos muito negativos sobre o acesso da pequena empresa ao credito. A taxa máxima de empréstimo poderia dificultar o empréstimo à pequena empresa uma vez que os altos custos operacionais não podem ser transferidos.
Por exemplo, na Namíbia e na África do Sul, apli cam-se leis contra agiotagem. As taxas de juros não podem exceder 31%. Se o déficit do governo é muito alto, há o perigo de que o governo possa absorver toda poupança. Em situações de baixa liquidez do sistema financeiro, a pe quena empresa é a primeira a sentir os efeitos. Nessas circunstâncias, os ban cos preferem manter os clientes melhomenos arriscados. Um controle rigoroso do banco central sobre o setor financeiro pode tornar o setor mais estável. Mas, algumas vezes, o controle do banco central pode ter efeitos restri tivos sobre as possibilidades de financi amento da pequena empresa.
As intervenções do governo podem igualmente ter influência positiva so bre a pequena empresa, como por exem plo no caso de fundos de garantia para cobrir a falta de uma caução adequada. Na prática, parece difícil administrar tais fundos, e quase impossível administra-los em base sustentável.
Estratégia 2: A quem estamos facilitando o acesso?
Ao planejar o apoio à pequena empresa devemos nos perguntar qual é o nosso grupo-alvo.
Definição apropriada da pequena empresa
Um dos fatores que mais dificulta o acesso da pequena ao financiamento e outros serviços de apoio é a empresa questão da definição. A qual categoria de atividade estamos nos referindo? Estamos nos referindo a atividades do setor informal (renda complementar) ou microempresas? Ou micro, pequenas e médias empresas registradas? A classifi cação das empresas afeta as intervenções que podem ser feitas no setor. Por exemplo, a estratégia de apoio planejada para atividades geradoras de renda certamente seria dife rente daquela planejada para microempresas. A primeira pode exigir garantia contínua do avalista e a última pode
apenas exigir tal garantia durante a lâse inicial e uma garantia financeira formal se a empresa se desenvolver e passar para a categoria de pequena empresa. Para que apresentem crescimento sustentado, é preciso que as pequenas e médias empresas recebam apoio financeiro do setor formal, que deve considerar a singularidade e as exigências especiais do setor. Consequentemente, para oferecer, a esse setor, acesso constante ao financiamento, a definição deve ser articulada de forma adequada, e uma estratégia dinâmica deve ser planejada e implementada de modo eficiente.
Estratégia 3: Que tipo de acesso estamos criando?
Há diferentes argumentos sobre o financiamento da pequena empresa. A chamada Abordagem Intervencionista acredita o governo tem o dever social de subsidiar o financiamento para a pequena empre sa e os bancos comerciais têm a obriga ção morai de financiar o setor. A Abor dagem Evangélica acredita que o finan ciamento da pequena empresa é um direito dos pobres e que o governo e os bancos comerciais têm a obrigação moral de financiar o setor para erradicar a pobreza. A Abordagem Mercadológica acredita que as pequenas empresas são necessárias para facilitar o desenvolvi mento econômico e que o setor é um mercado potencial em que os bancos podem obter empréstimos lucrativos. Tanto a Abordagem Intervencionista quanto a Evangélica acreditam que o financiamento da pequena empresa deveria ser realizado na base do emprés timo ou subsídios. A Abordagem Mercadológica acredita também que o financiamento à pequena empresa deve ser concedido a taxas acima das praticadas pelo mercado (ou, pelo nos, relacionadas ao mercado) contanto que o projeto seja viável e o mercado (ou seja, os consumidores) possam absorver todos os custos relevantes.
Portanto, para que a pequena empresa tenha aces so permanente ao financiamento, as taxas de juros devem ser suficientemente altas para cobrir todos os custos referentes aos empréstimos concedidos a esse tipo de empresa, inclusive o custo do financiamento. Em outras palavras, para que o financiamento à pequena empresa seja rentável, o custo total do empréstimo pode ser superior aos 31% de juros cobrados, como permitido pela lei tanto na Namíbia quanto na África do Sul, por exemplo. Por outro lado, o mercado-alvo para os produtos ou serviços das pequenas empresas deveria poder absorver o custo dos fundos, mais uma porcentagem para mar gem de lucro.
Novos instrumentos dc empréstimo para facilitar o acesso da pequena empresa ao credito
Facilitar o acesso da pequena empresa ao crédito implica experimentar instrumentos financeiros novos e dinâmicos e nossa abordagem deve ser futurista se quisermos manter esse setor vital da economia.
Necessidades do consumidor
Ao promover o acesso da pequena empresa ao crédi to, devemos, em primeiro lugar examinar as necessida des dessas empresas. Quais são suas necessidades reais?
Elas precisam de capital inicial? Capital de giro? Finan ciamento para ativos intangíveis? Financiamento para exportação? Quase-Patrimônio para melhorar a posi ção do balanço? Aquisição de ações pelos administrado res e financiamento para tal aquisição? O tipo de financiamento dependerá do tipo de necessidade.
Características da pequena empresa
Ao decidir o tipo de instrumento, precisamos primeiramente analisar as características da pequena empresa. A pequena empresa geralmente não tem posição em ações, encontra-se no iní cio de um processo de crescimento e não e candidata ao capital de risco ou aos mercados acionários.
No Canadá, onde esse instnimcmo financeiro está sendo utilizado atualmente, mínimo varia entre U.SSO a US5 100.000. O prazo varia de três a oito anos, com um ano de carência. O preço é estabelecido de acordo com a taxa de mercado. valor m.íximo e
O capitai dc giro para desenvolvimento é geral mente utilizado para:
● Financiar necessidades dc capital dc giro associadas às oportunidades dc desenvolvimento tais como: maiores estoques e contas a receber; desenvolvi mento ou promoção dc produtos; desenvolvimen to/fabricação dc novos produtos;
● Completar linha dc crédito operacional; e
● Oferecer suporte com base nas necessidades projetadas
2.3 Benefícios

A pequena empresa geralmente nâo tem posição em ações
O capital de giro para desenvolvi mento geral mente melhora o fluxo dc caixa, os serviços de P&D, Consultoria e Planejamento. Geral mente oferece planos flexíveis de pagamento (cm etapas ou sazonais), estruturados como empréstimo a prazo para fins de capital de giro.
2.4 Exigências
Para acessar esse tipo de financiamen to, a pequena empresa precisa de:
● Linha de crédito de outra institui ção financeira;
norrenta-
Entretanto é, geralmente, altamen te capacitada é (em circunstâncias mais), tem boas perspectivas der bilidade, vantagens competitivas sus tentáveis e forte compromisso frente a proprietários e administradores.
Termino este artigo apresentando os diferentes ins trumentos financeiros atualmente utilizados em deter minados países para facilitar o acesso da pequena em presa ao financiamento.
1. Capital para desenvolvimento O capital para desenvolvimento é um instrumento da dívida subordinada que cobra te e participa do crescimento e dos lucros. Ele é direcionado para diferentes tipos de empresas mas, essencialmente, fornece capital para desenvolvimen to que não precisa da garantia de ativos físicos. Uma característica essencial é que esse instrumento ofere ce assistência constante aos clientes.
2. Capital de giro para desenvolvimento O capital de giro para desenvolvimento procura ajudar a pequena empresa a obter financiamento para capitalizar oportunidades de expansão ou introduzir novos produtos e serváços.
● Posição em títulos subordinados a um banco comercial pleno;
● Consultoria; e
● Estar no ramo há pelo menos dois anos.
A pequena empresa deve ter:
● uma equipe de gerenciamento formada, perspecti vas sólidas de crescimento e bom potencial de lucro;
● novos mercados identificados para produtos/ser viços; c
● forte compromisso financeiro dos administradores.
Capital de Risco
Esse tipo de empréstimo é investido em empresas que geralmente não têm acesso às fontes convenci onais de capital ou quando as fontes convencionais de financiamento forem insuficientes para susten tar o crescimento. Ou seja, esse ripo de empréstimo atende a empresas não qualificadas para financia mento de capital de risco ou para o mercado de ações. São geralniente dívidas e não se assume qualquer posição em ações. Características
As faixas mínimas e máximas variam entre US$
100.000 e US$ 1.000.000. O prazo é de seis a oito anos, sendo que o período de carência á negociável, dependendo do tipo de produto ou setor da indús tria. O preço inclui juros mais royalties sobre as vendas, e a garantia está entre 10% a 20% do valor total do empréstimo.
3.2 Uso
O capital de risco é geralmentc usado para sustentar o crescimento contínuo das vendas por meio de aumento do capital de giro; implementar um plano de vendas para produtos ou serviços novos ou já existentes; desenvolver as exportações; financiar ativos intangíveis e financiar a compra de ações para os administradores.
3.2 Benefícios
O capital de risco oferece inúmeros benefícios, a saber:
● evita diluição do capital;
● planos de liquidação flexíveis (com base no fluxo de caixa);
● acesso a capital adicional para fins de expansão;
● liquidação com nada; e

preço é geralmente juros mais royalties sobre ven das. O pagamento do principal e a capitalização dos juros ocorre geralmente em três anos. Como são muito pequenas para ter um Conselho de Adminis tração, essas empresas geralmente têm uma Comis são de Administração; o banco credor geralmente tem um representante nessa comissão (normal mente um consultor contratado e com experiência no setor).
4.2 Uso
O Patient Capital é geralmente usado para:
● Atender à necessidade de capital de giro;
● Financiar projetos de desenvolvimento; e
● Financiar ativos intangíveis.
4.3 Benefícios
Benefícios do Patient Capital;
● Ações e dívida conversíveis;
● Capital de longo prazo com pra zos flexíveis de pagamento;
● Potencial para atrair fontes suple mentares de capital; e
● Contrato de apoio à administram em qualquer ocasião base em fórmula predetermição.
● assistência a administraçao.
3.3 Exigências
Para obter esse tipo de empréstipequena empresa deve ter:
● registro comprovado de crescimen- grande potencial para tal;
● vantagem competitiva ou posição estratégica no mercado;
● equipe de administração compe tente e experiente;
● ativos fixos suficientes para garan tir o empréstimo a prazo; e
● forte ligação com um banco comercial pleno.
4.0 Patient Capital
O Patient Capital serve para financiar o estágio inicial de companhias - geralmente no setor de tecnologia de ponta - que esperam um crescimento rápido. Geralmente ajuda a estimular a produção e desenvolver um programa de vendas. Não se exige projeção para receita de vendas. Entretanto, o protótipo deve ter sido previamente aceito por uma grande fabrica.
4.1 Características
A faixa mínima e máxima varia entre US$ 50.000 e US$ 250.000. O prazo é de seis a oito meses e o
Conclusão
As barreiras ao desenvolvimento, sustentação e cres cimento não são inerentes à pobreza, mas às condições econômicas (ex: ambiente econômico e político, opordigesto econômico
Exigências
Para ter acesso ao Patient Capital, exige-se que uma empresa tenha: Comprovantes - por meio da apre sentação de pedidos de comprade que seu produto é aceito pelo mercado;
Investimento razoável no negócio (ex: observe o patrimônio líquido da pequena empresa para deter minar o nível de seu investimento “razoável” no negócio); Plano sólido;
Avaliação de terceiros sobre a tecno logia e a instituição comercial; Linha de crédito concedida por outra instituição financeira; e
Programa de consultoria (o banco credor geralmen te irá gerenciar o processo de escolha do consultor).
A pequena empresa deve ter:
Equipe altamente qualificada e experiente; Produtos/serviços prontos para o mercado, com alta margem e potencial de crescimento; Nicho definido de mercado;
Aceitação comprovada no mercado por meio da comprovação de pedidos; e Compromisso financeiro dos administradores.
tunidades de mercado, etc). Portanto, o acesso da pequena empresa ao crédito pode ser um Direito Hu mano. A concessão de crédito à pequena empresa é uma JULHO - AGOSTO 999QJ
oportunidade de negócios às instituições financeiras e pequenas empresas em particular, c ao desenvolvimen to dos países como um todo. As pequenas empresas tem as mesmas necessidades financeiras de qualquer negó cio e, portanto, devem-se aplicar os mesmos padrões. Desta forma, é necessário criar acesso permanente, e não dependência.
Ao decidir qual abordagem adotar, ou qual instru mento financeiro usar, as questões que se apresentam são: quem realmente precisa o financiamento c que tipo de financiamento é necessário? Estamos criando acesso permanente ou dependência? Existem atualmente inú-
Bibliografia
1. SADCDocumcntonSMEs, I997.SrudyofthcSmalland Médium Scale Enterprises (SMEs) in die SADC Region.
2. Awa, N. M., 1994. Sustainablc Devclopmcnc: Can África achieve Íc?
3. Mowac, D.L. SeniorVicePresident, EmergingMarkees, Business Development Bank of Canada (BDC): New Lcnding Instruments for SMEs, Harvard Institute for International Development (HIID) Harvard University. Cambridge, Massachuseces, 1998.
meros insrrumcntosf innnccirosdisponíveis (sendoatualmcme utilizados em jiaíses como Canadá) que facili tam o acesso da pequena empresa ao crédiro.
O uso desses instrumentos poderia se expandir para outros países (principaímente países em desenvolvi mento) para criar acesso permanente da pequena em presa ao credito para fins de desenvolvimento, susten tação e crescimento do setor.
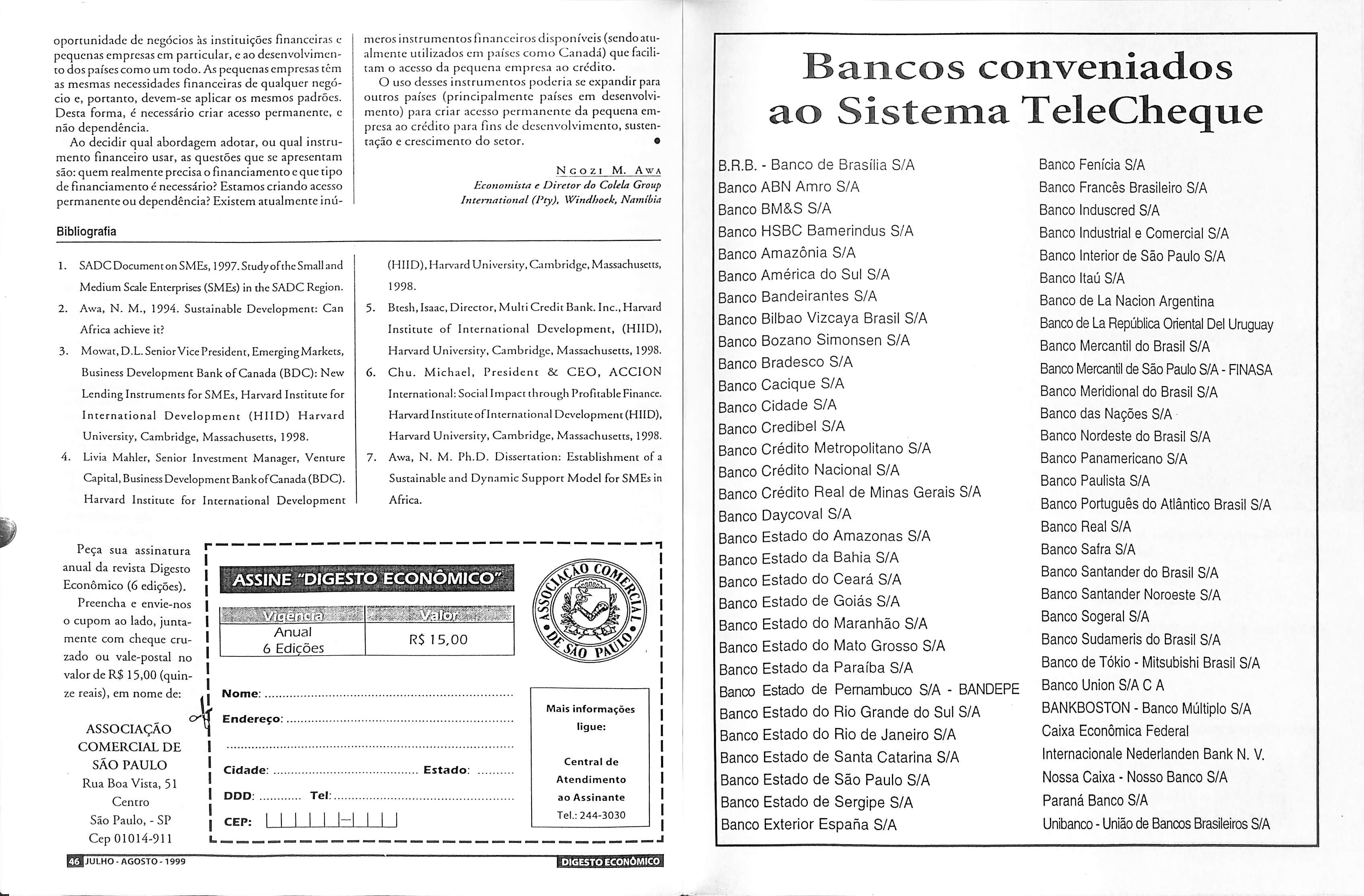
(HIID),H.Trv'ard Univcrsiiy.Cnmbrldgc. Massacluiscus,
4. Livia Mahler, Sênior Investment Manager, Vencure Capital, Business Development Bank ofCanada (BDC). Harvard Institute for International Development 1998.
Btesh, Isaac, Dircctor, Multi Credit Bank. Inc., Har\’ard Institute of International Development, (HIID), Har\'ard University, Cambridge, Massachusetts, 1998.
Cliu. Michacl, President & CEO, ACCION International; Social Impact clirougli ProfitabIcFinance. Harvard Institute of International Development (HIID), Harvard University, Cambridge, Massacliusetts, 1998.
Awa, N. M. Ph.D. Dissertation: Establishnicnt of a Sustainable and Dynamic Support Modcl for SMEs in África.
Peça sua assinatura ^ anual da revista Digesto Econômico (6 edições). Preencha e envie-nos o cupom ao lado, junta- | mente com cheque cru zado ou vale-poscal no valor de R$ 15,00 (quin ze reais), em nome de:
Rua Boa Vista, 51 Centro
São Paulo, - SP Ccp010l4-911
Mais informações ligue:
Central de Cidade: Estado: Atendimento
B.R.B. - Banco de Brasília S/A
Banco ABN Amro S/A
Banco BM&S S/A
Banco HSBC Bamerindus S/A
Banco Amazônia S/A
Banco América do Sul S/A
Banco Bandeirantes S/A
Banco Bilbao Vizcaya Brasil S/A
Banco Bozano Simonsen S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Cacique S/A
Banco Cidade S/A
Banco Credibel S/A
Banco Crédito Metropolitano S/A
Banco Crédito Nacional S/A
Banco Crédito Real de Minas Gerais S/A
Banco Daycoval S/A
Banco Estado do Amazonas S/A
Banco Estado da Bahia S/A
Banco Estado do Ceará S/A
Banco Estado de Goiás S/A
Banco Estado do Maranhão S/A
Banco Estado do Mato Grosso S/A
Banco Estado da Paraíba S/A
Banco Estado de Pernambuco S/A - BANDEPE
Banco Estado do Rio Grande do Sul S/A
Banco Estado do Rio de Janeiro S/A
Banco Estado de Santa Catarina S/A
Banco Estado de São Paulo S/A
Banco Estado de Sergipe S/A
Banco Exterior Espana S/A
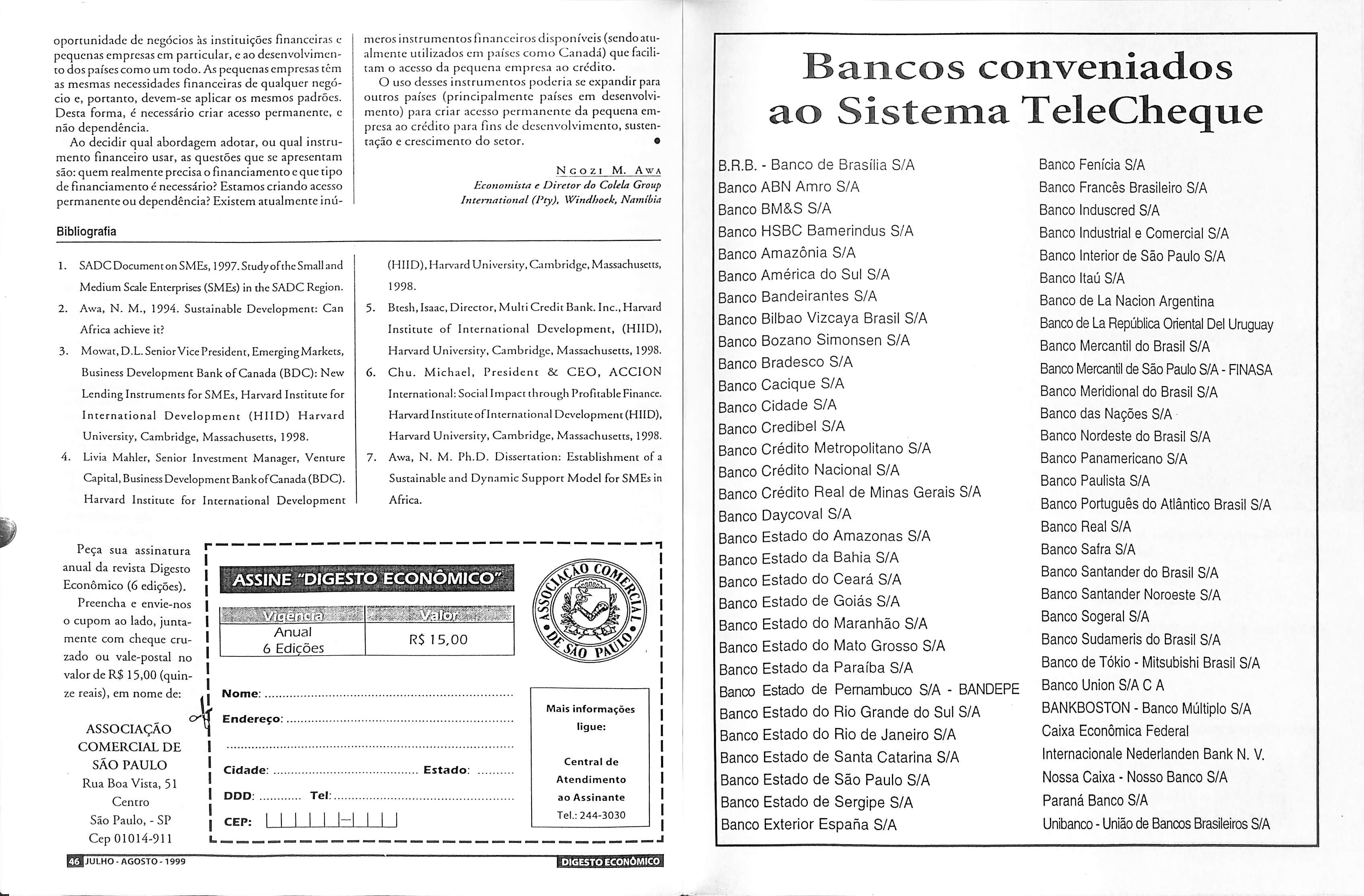
Banco Fenícia S/A
Banco Francês Brasileiro S/A
Banco Induscred S/A
Banco Industrial e Comercial S/A
Banco Interior de São Paulo S/A
Banco líaú S/A
Banco de La Nacion Argentina
Banco de La República Oriental Del Uruguay
Banco Mercantil do Brasil S/A
Banco Mercantil de São Paulo S/A - FINASA
Banco Meridional do Brasil S/A
Banco das Nações S/A
Banco Nordeste do Brasil S/A
Banco Panamericano S/A
Banco Paulista S/A
Banco Português do Atlântico Brasil S/A
Banco Real S/A
Banco Safra S/A
Banco Santander do Brasil S/A
Banco Santander Noroeste S/A
Banco Sogeral S/A
Banco Sudameris do Brasil S/A
Banco de Tókio - Mitsubishi Brasil S/A
Banco Union S/A C A
BANKBOSTON - Banco Múltiplo S/A
Caixa Econômica Federal
Internacionale Nederlanden Bank N. V.
Nossa Caixa - Nosso Banco S/A
Paraná Banco S/A
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A
♦ Pessoas emprestam seus ilòm||pí^úilSÍptõs a esses "profissionais"^ com óú séni orjilKiejc|lninfcír'|íâi finalidade, para beneficiar terceiros, com prépWfpsyÜesonestos. j f
♦ "Profissionais" de posse de documentos roubados usam esses documentos para ludibriar terceiros.

♦ "Profissionais", com apenas um imóvel, ;! prestam fian$a a inúmeros contratos, fornecendo garantia inexistente.
0 SEGAIVI ofende os empresas do ramos imobiliário, de consórcio ou de outras atividades informações mais completas de pessoa física.
E AGORA UMA INFORMAÇÃO QUE VAI AJUDÁ-LO A ACABAR COM 0 GOLPE DO FIADOR E DO INQUILINO PROFISSIONAL. que necessitem ♦ Títulos protestados
♦ Cheques sem fundos
♦ Registros de débitos
♦ Ações cíveis
♦ CONSULTAS ANTERIORES COMO FIADOR
♦ CONSULTAS ANTERIORES COMO INQUILINO
♦ OUTROS (CARNES, VEÍCULOS, ETC.)
ESSAS NOVAS INFORIVIAÇÕES DIMINUEM AS CHANCES DO ASSOCIADO OU SEUS CLIENTES CAÍREM NAS MÃOS DE GOLPISTAS. APOIO