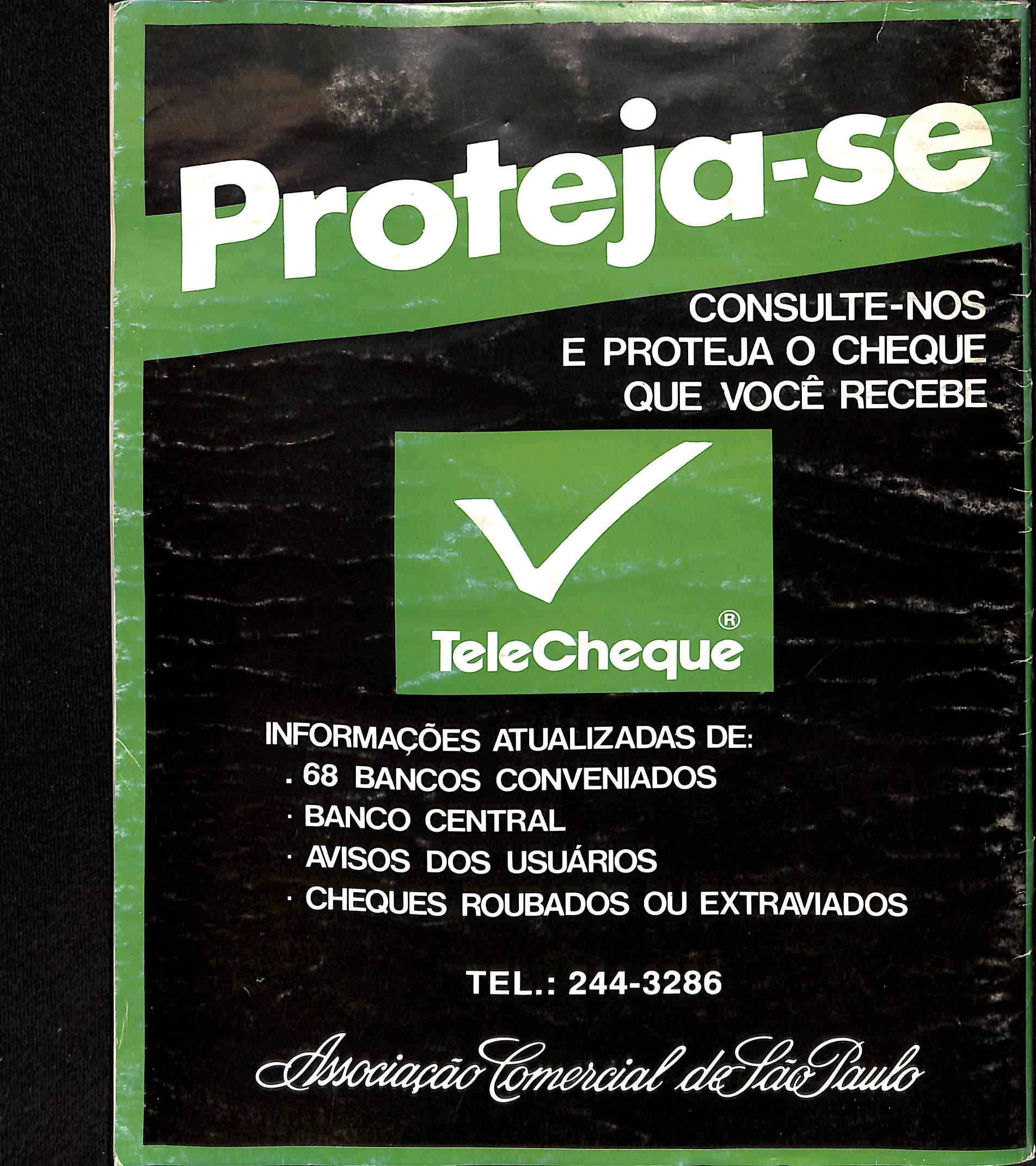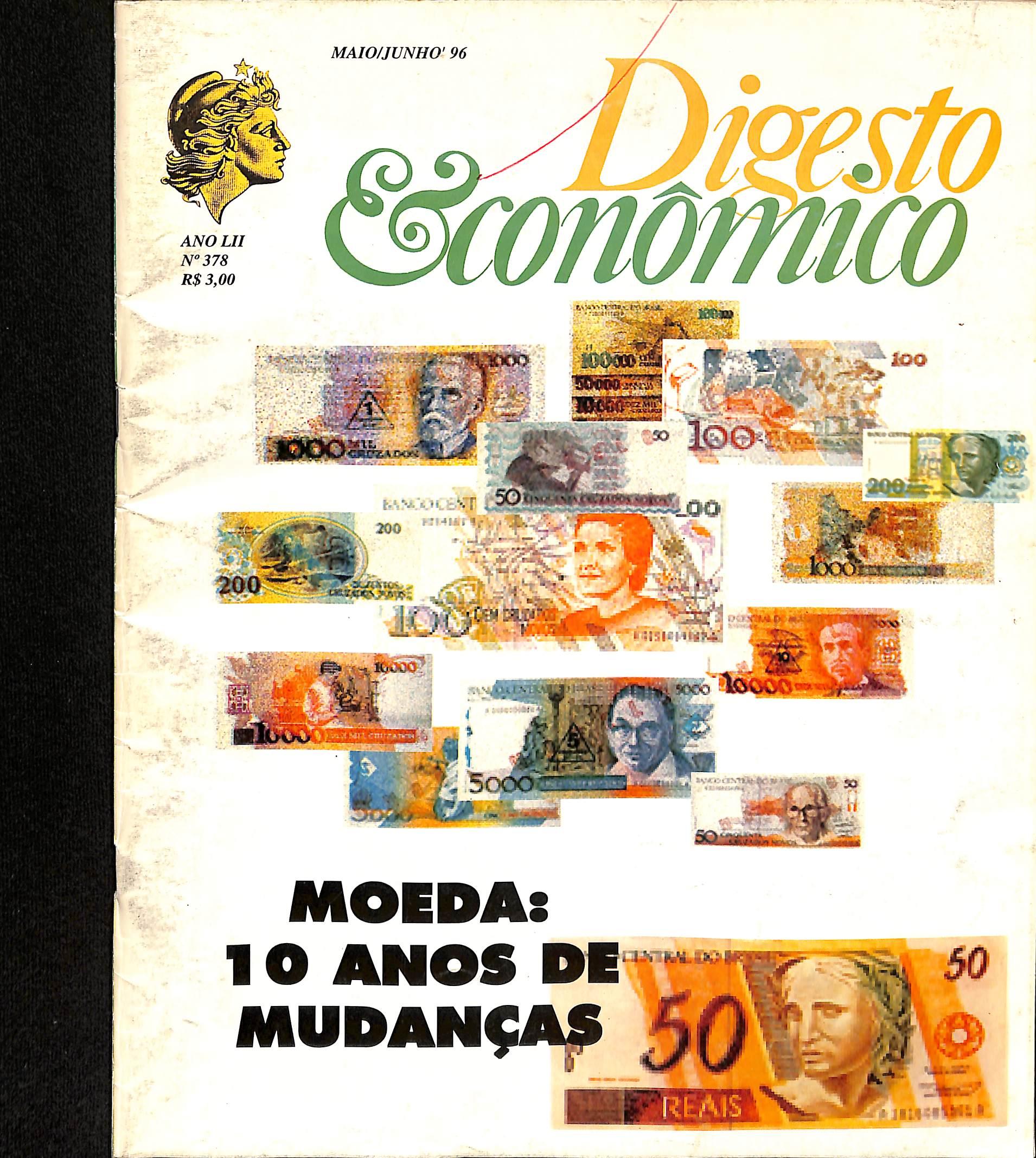
VOCÊ NÃO PRECISA ANUNCIAR PELO
MUNDO TODO PARA VENDER SEU PRODUTO
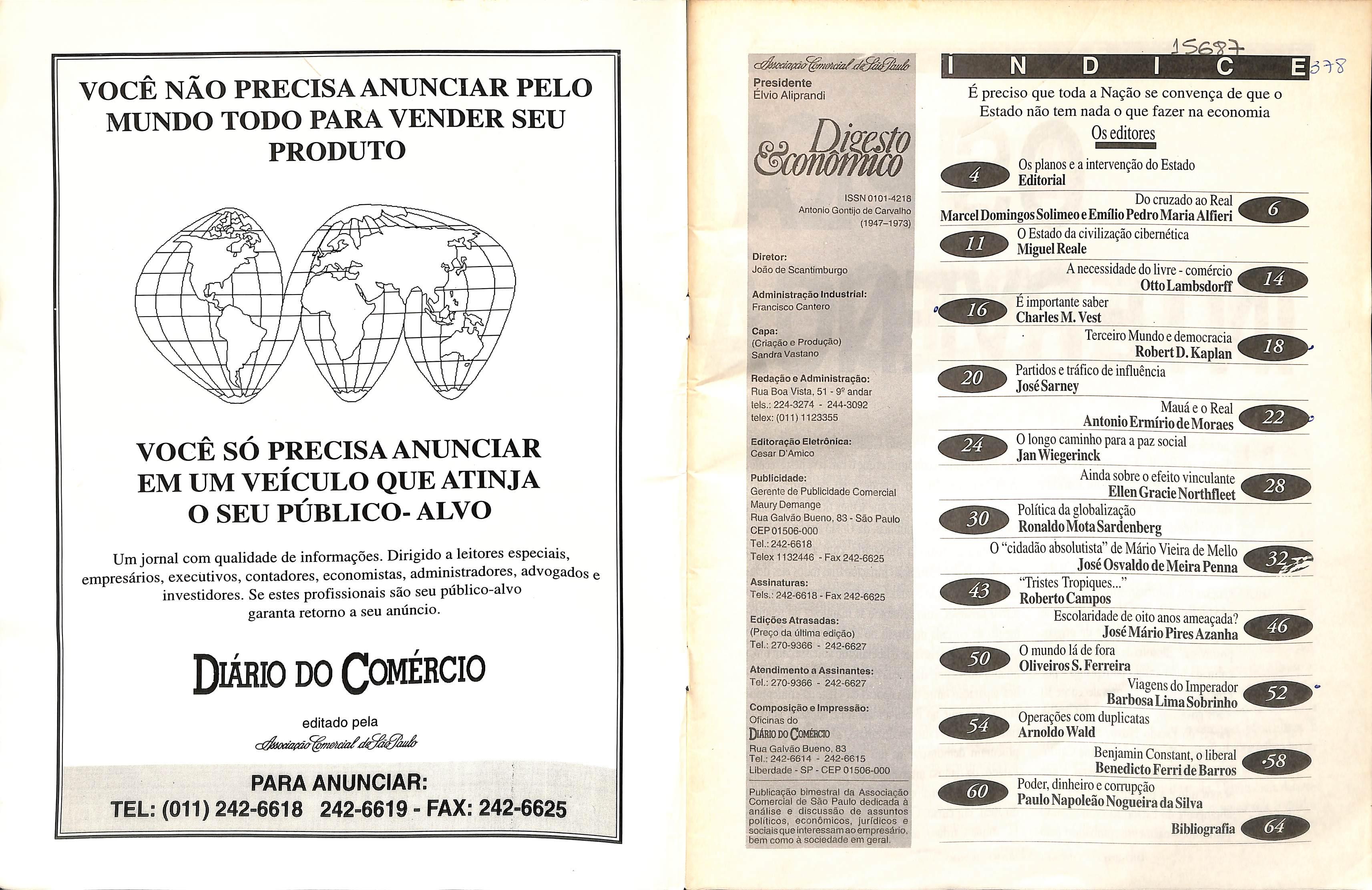
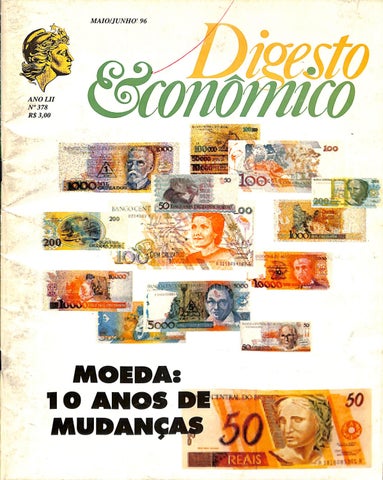
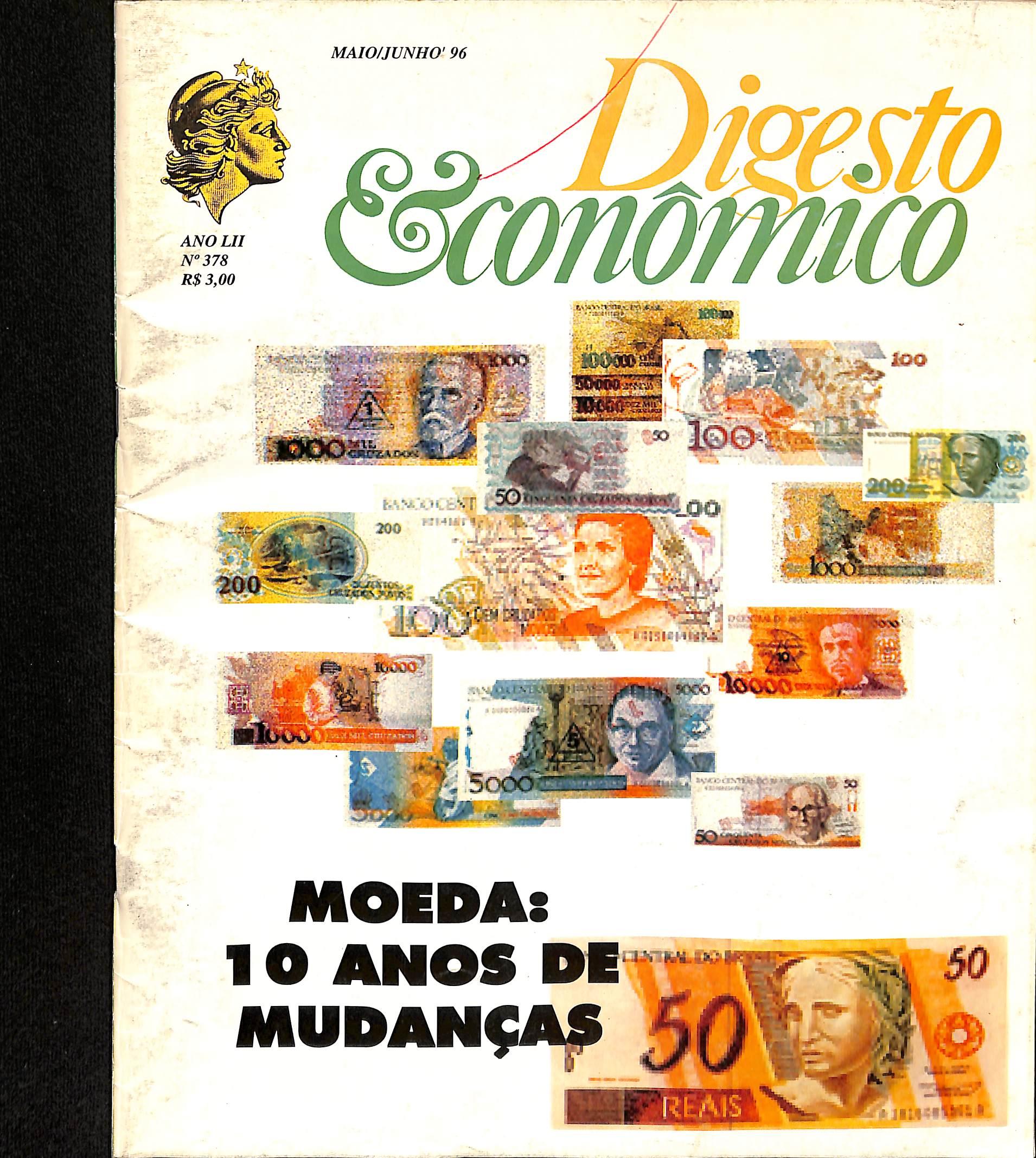
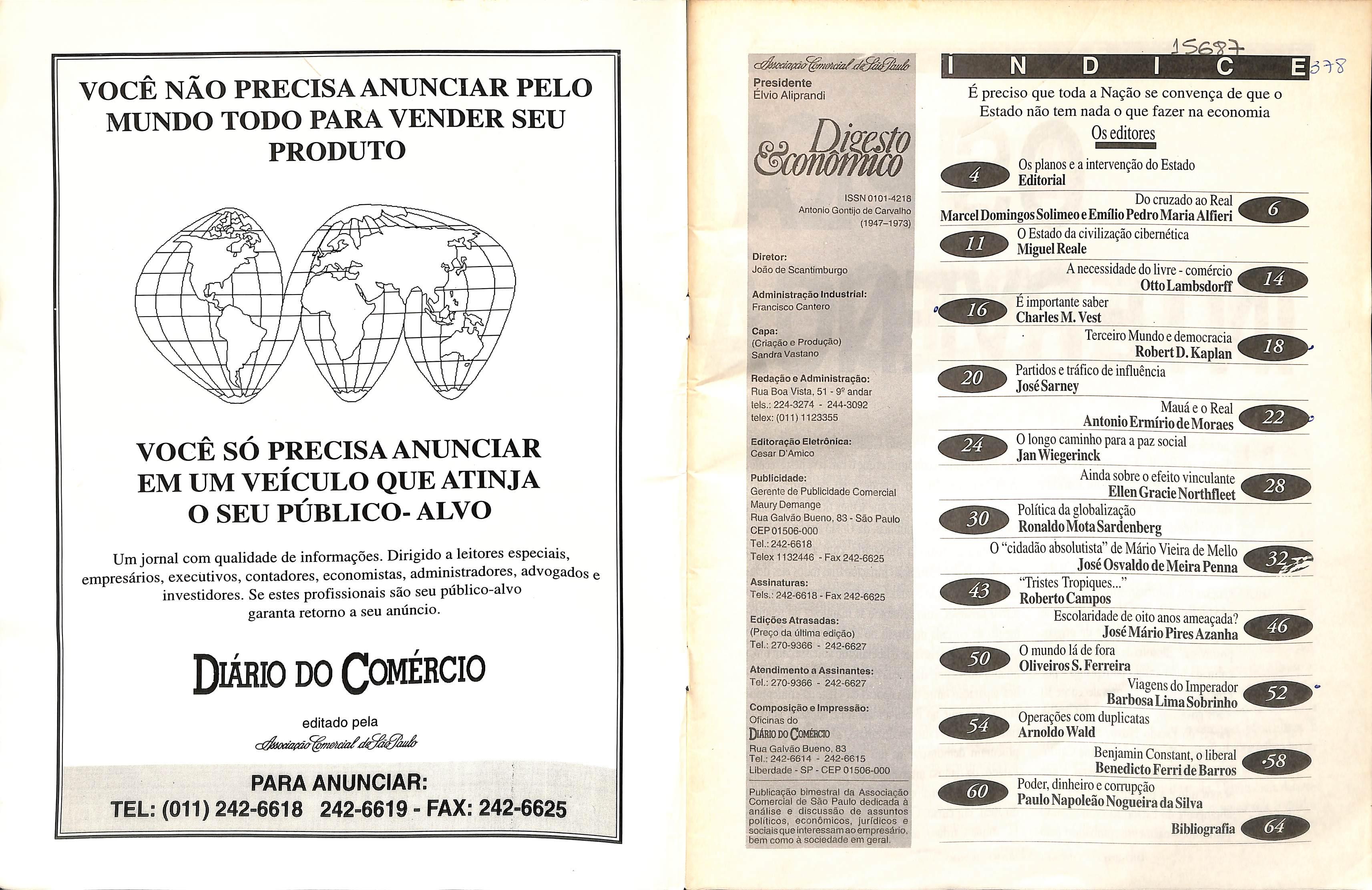
Um jornal com qualidade de informações. Dirigido a leitores especiais, empresários, executivos, contadores, economistas, administradore s, advogados e investidores. Se estes profissionais são seu público-alvo garanta retomo a seu anúncio.
editado pela
Presidente
Élvio Aliprandi
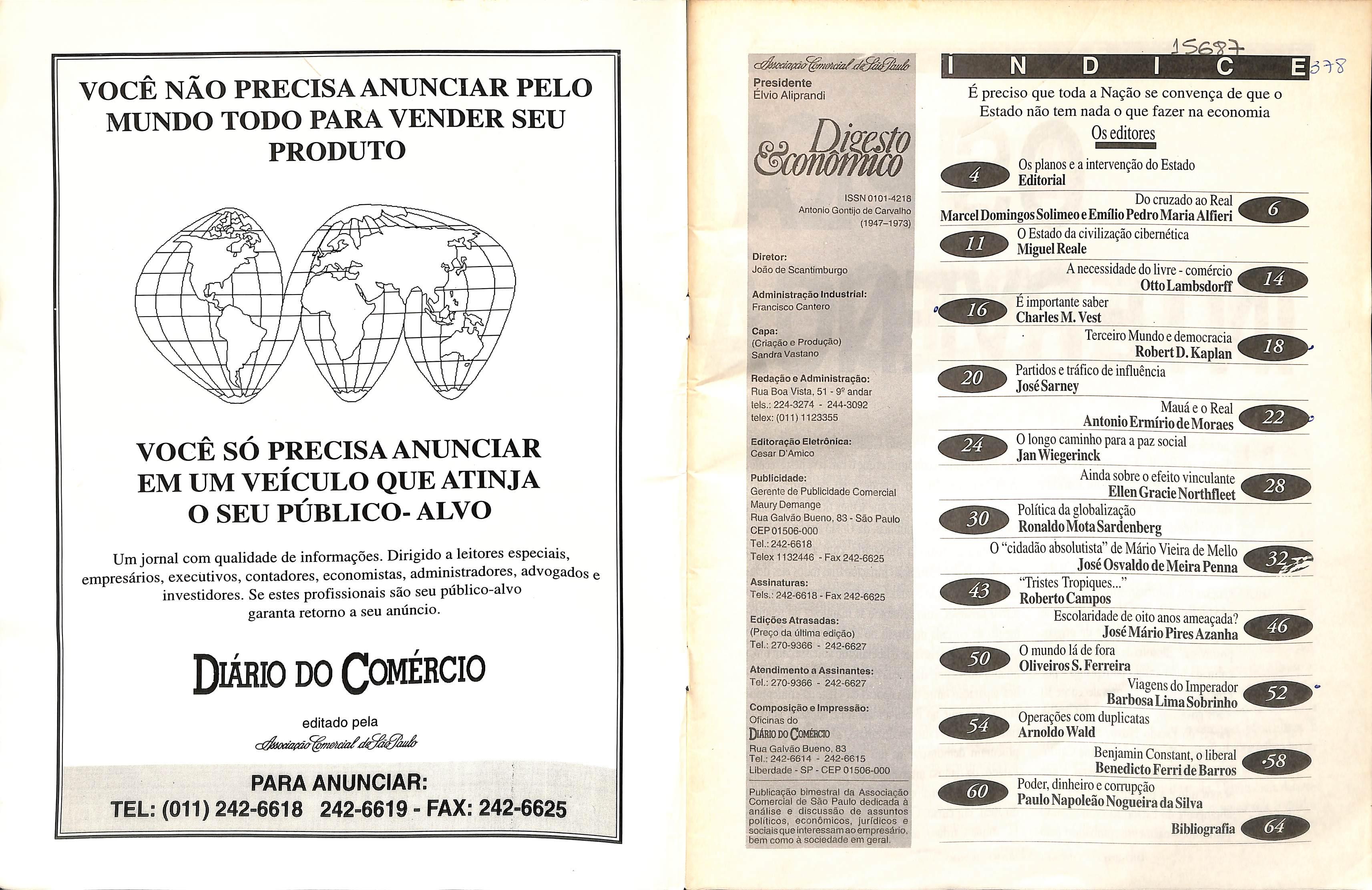
✓ E preciso que toda a Nação se convença de que o Estado não tem nada o que fazer na economia
Os editores
Os planos e a intervenção do Estado
Editorial
ISSN0101-4218
Antonio Gontijo de Carvalho (1947-1973)
Diretor:
João de Scantimburgo
Administração Industrial:
Francisco Cantero
Capa: (Criação e Produção)
Sandra Vastano
Redação e Administração:
Rua Boa Vista, 51 - 9*^ andar teis.-. 224-3274 - 244-3092
telex: (011)1123355
Editoração Eletrônica;
Cesar D‘Amico
Publicidade:
Gerente de Publicidade Comercial
Maury Demange
Rua Gaivão Bueno, 83 - São Paulo
CEP 01506-000
Te!.: 242-6618
Telex 1132446 - Fax 242-6625
Assinaturas; Teis.: 242-6618 - Fax 242-6625
Edições Atrasadas;
(Preço da última edição)
Tel.: 270-9366 - 242-6627
Do cruzado ao Real
Marcei Domingos Solimeo e Emílio Pedro Maria Alfieri
0 Estado da civilização cibernética
Miguel Reale
A necessidade do livre - comércio OttoLambsdorff
É importante saber
Charles M. Vest
Terceiro Mundo e democracia RobertD.Kaplan
Partidos e tráfico de influência
JoséSarney
Mauá e o Real
0 longo caminho para a paz social JanWiegerinck
Ainda sobre o efeito vinculante
Política da globalização
0 “cidadão absolutista” de Mário Vieira de Mello
Tristes Tropiques... Roberto Campos
Escolaiidade de oito anos ameaçada?
0 mundo lá de fora Oliveiros S. Ferreira Atendimento a Assinantes:
Tel.: 270-9366 - 242-6627
Composição e Impressão:
Oficinas do Diábio DO CoMÉBao
Rua Gaivão Bueno. 83
Tel.: 242-6614 - 242-6615
Liberdade - SP - CEP 01506-000
Publicação bimestral da Associação
Comercial de São Paulo dedicada à, análise e discussão de assuntos políticos, econômicos, jurídicos sociais que interessamaoempresário. bem como à sociedade em gerai.
Viagens do Imperador
Operações com duplicatas
Benjamin Constant, o liberal
Poder, dinheiro e cormpção
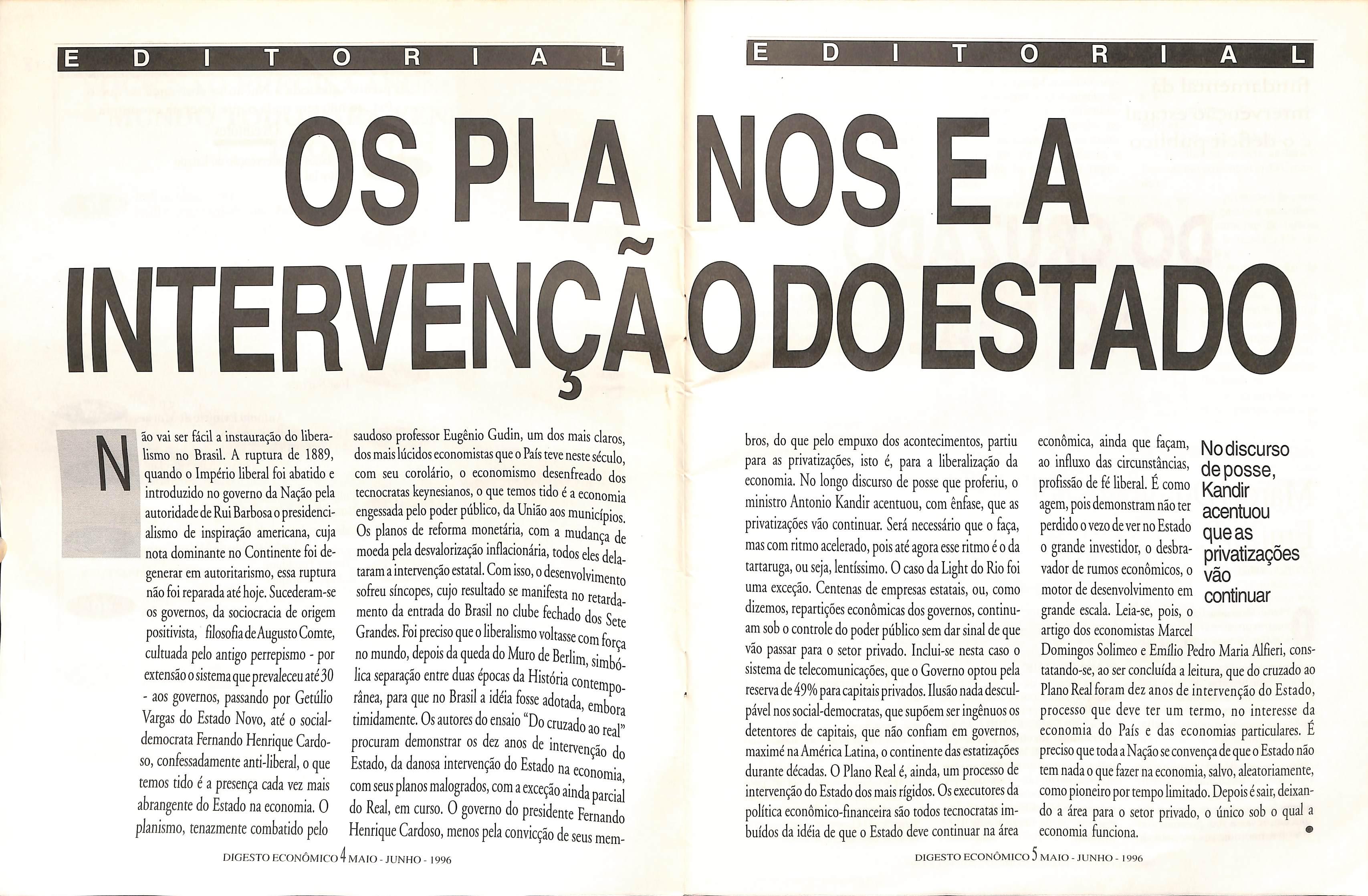
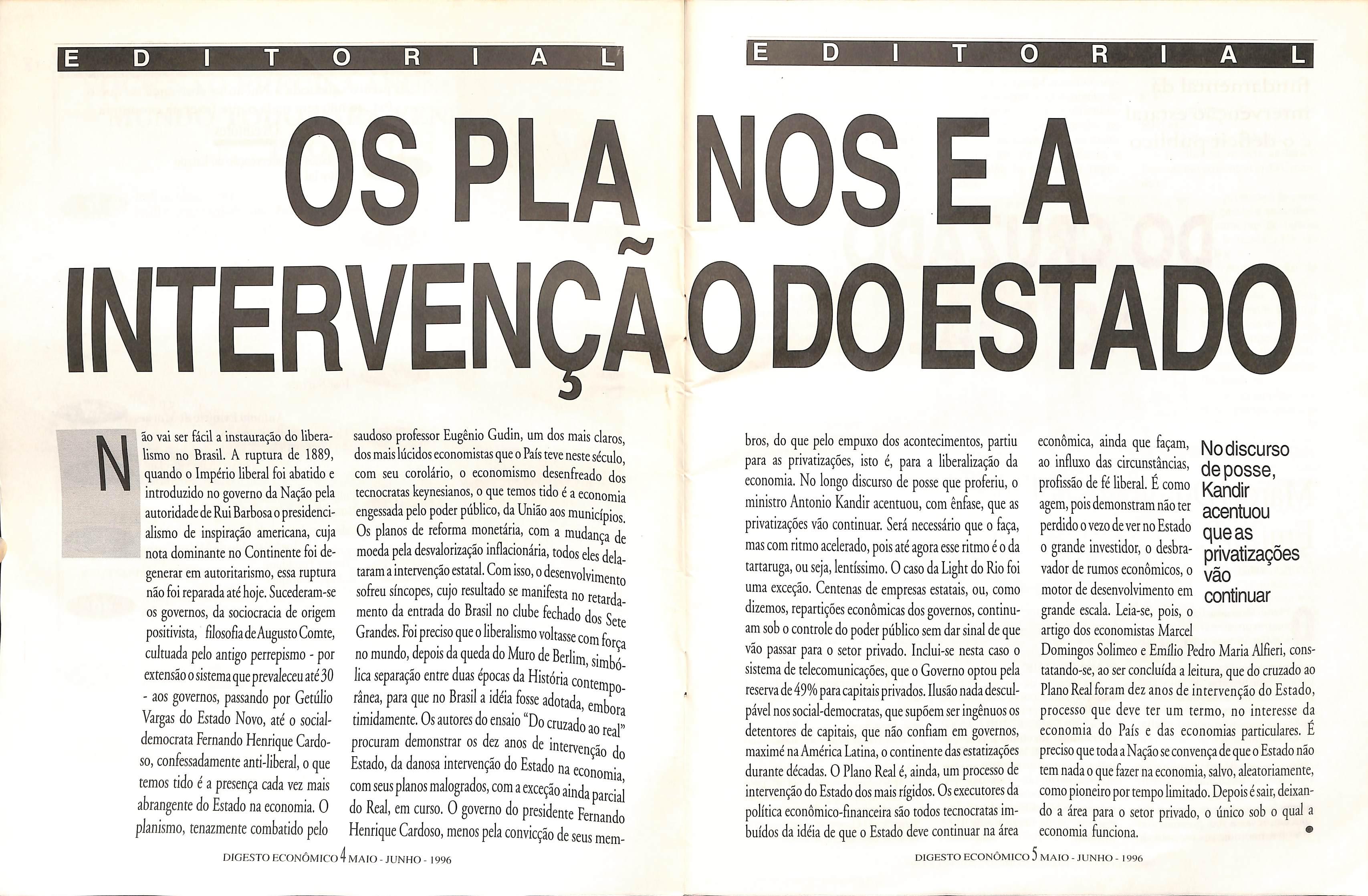


- O ICMS, que ampliava o an tigo ICM para área de serviços;
- Adicional de 5% no IR sobre lucros e rendimentos de capital para os cofres estaduais;
- Imposto de vendas a varejo de combustíveis na área dos municípios.
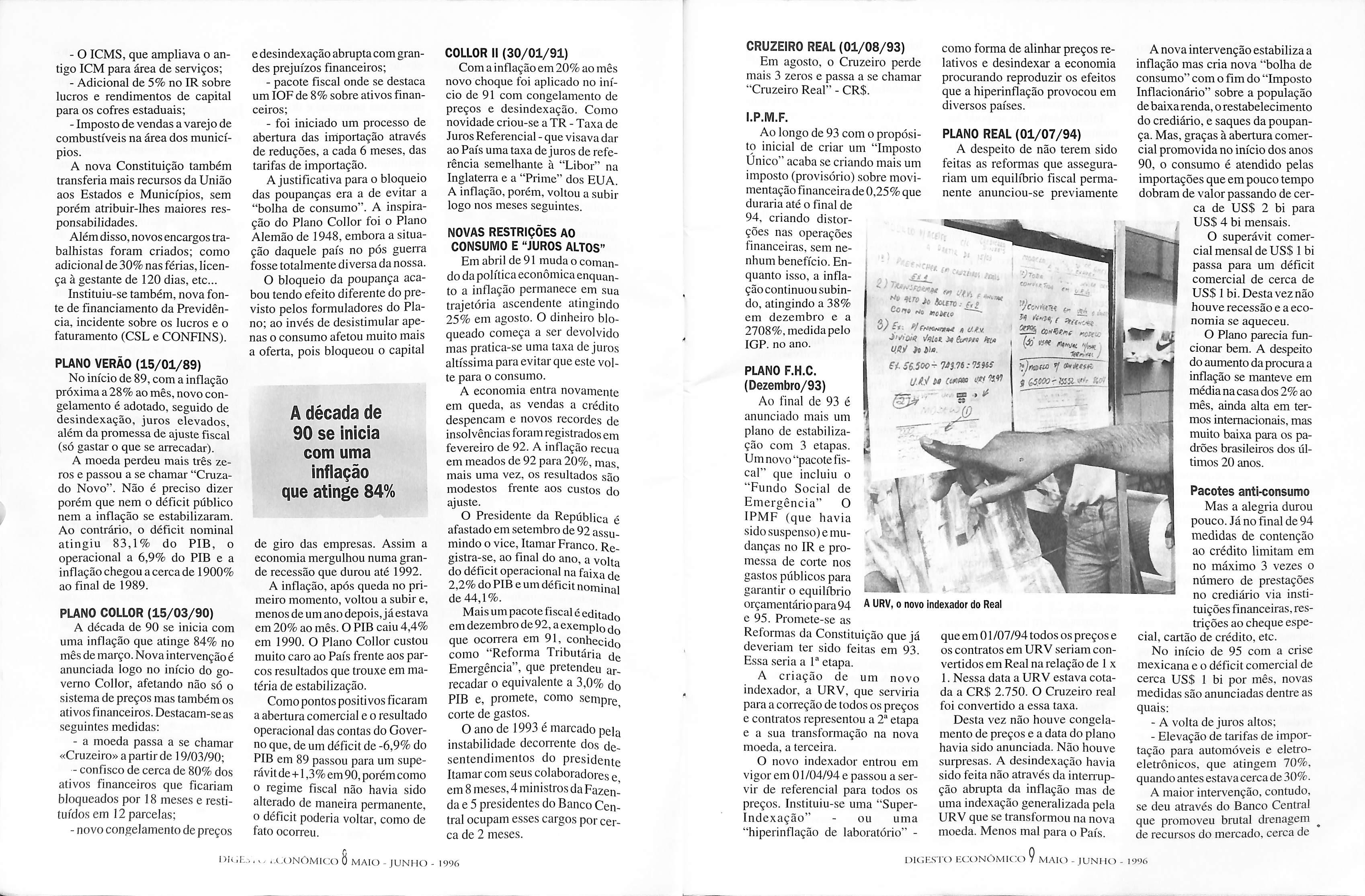
e desindexação abrupta com gran des prejuízos financeiros;
- pacote fiscal onde se destaca um lOF de 8% sobre ativos finan ceiros;
- foi iniciado um processo de abertura das inlportação através de reduções, a cada 6 meses, das tarifas de importação.
Com a inflação em 20% ao mês novo choque foi aplicado no iní cio de 91 com congelamento de preços e desindexação. Como novidade criou-se a TR - Taxa de Juros Referencial - que visava dar ao País uma taxa de juros de refe rência semelhante à “Libor Inglaterra e a “Prime” dos EUA. A inflação, porém, voltou a subir logo nos meses seguintes.
A nova Constituição também transferia mais recursos da União na aos Estados e Municípios, sem porém atribuir-lhes maiores res ponsabilidades.
Além disso, novos encargos tra balhistas foram criados; como adicional de 30% nas férias, licen ça à gestante de 120 dias, etc... Instituiu-se também, nova fon te de financiamentoda Previdên cia, incidente sobre os lucros e o faturamento (CSL e CONFINS).
No início de 89, com a inflação próxima a 28% ao mês, novo con gelamento é adotado, seguido de desindexação, juros elevados, além da promessa de ajuste fiscal (só gastar o que se arrecadar).
A moeda perdeu mais três ze ros e passou a se chamar “Cruza do Novo”. Não é preciso dizer porém que nem o déficit público nem a inflação se estabilizaram. Ao contrário, o déficit nominal atingiu 83,1% do PIB, operacional a 6,9% do PIB e a inflação chegou a cerca de 1900% ao final de 1989.
A década de 90 se inicia com uma inflação que atinge 84% no mês de março. Nova intervenção é anunciada logo no início do verno Collor, afetando não só o sistema de preços mas também os ativos financeiros. Destacam-se as seguintes medidas: - a moeda passa a se chamar «Cruzeiro» a partir de 19/03/90; - confisco de cerca de 80% dos ativos financeiros que ficariam bloqueados por 18 meses e resíituídosem 12 parcelas; - novo congelamento de preços
A justificativa para o bloqueio das poupanças era a de evitar a “bolha de consumo”. A inspira ção do Plano Collor foi o Plano Alemão de 1948, embora a situa ção daquele país no pós guerra fosse totalmente diversa da nossa.
O bloqueio da poupança aca bou tendo efeito diferente do pre visto pelos formuladores do Pla no; ao invés de desistimular ape nas o consumo afetou muito mais a oferta, pois bloqueou o capital
E “JUROS ALTOS"
Em abril de 91 muda o coman do da política econômica enquan to a inflação permanece em sua trajetória ascendente atingindo 25% em agosto. O dinheiro blo queado começa a ser devolvido mas pratica-se uma taxa de juros altíssima para evitar que este vol te para o consumo.
de giro das empresas. Assim a economia mergulhou numa gran de recessão que durou até 1992.
A inflação, após queda no pri meiro momento, voltou a subir e, menos de um ano depois, jáestava em 20% ao mês. O PIB caiu 4,4% em 1990. O Plano Collor custou muito caro ao País frente aos par cos resultados que trouxe em ma téria de estabilização.
A economia entra novamente em queda, as vendas a crédito despencam e novos recordes de insolvências foram registrados em fevereiro de 92. A inflação recua em meados de 92 para 20%, mas, mais uma vez, os resultados são modestos frente aos custos do ajuste.
assu-
O Presidente da República é afastado em setembro de 92 mindo o vice, Itamar Franco. Re gistra-se, ao final do ano, a volta do déficit operacional na faixa de 2,2% do PIB e um déficit nominal de 44,1%.
o
como de ar- goPIB em 89 ese. li¬
Como pontos positivos ficaram a abertura comercial e o resultado operacional das contas do Gover no que, de um déficit de -6,9% do passou para um supe rávit de +1,3% em 90, porém como 0 regime fiscal não havia sido alterado de maneira permanente, 0 déficit poderia voltar, como de fato ocorreu.
Mais um pacote fiscal é editado em dezembro de 92, a exemplo d' que ocorrera em 91, conhecido Reforma Tributária Emergência”, que pretendeu recadar o equivalente a 3,0% do PIB e, promete, como sempre, corte de gastos.
O ano de 1993 é marcado pela instabilidade decorrente dos de sentendimentos do presidente Itamar com seus colaboradorem 8 meses, 4 ministros da Faze da e 5 presidentes do Banco Cen tral ocupam esses cargos por cer ca de 2 meses.
CRUZEIRO REAL (01/08/93)
Em agosto, o Cruzeiro perde mais 3 zeros e passa a se chamar “Cruzeiro Real” - CR$.
I.P.M.F.
Ao longo de 93 com o propósi to inicial de criar um “Imposto Único” acaba se criando mais um imposto (provisório) sobre movi mentação financeirade 0,25% que duraria até o final de 94, criando distor ções nas operações financeiras, sem ne nhum benefício. En quanto isso, a infla ção continuou subin do, atingindo a 38% em dezembro e a 2708%, inedidapelo IGP. no ano.
PLANO F.H.C.
(Dezembro/93)
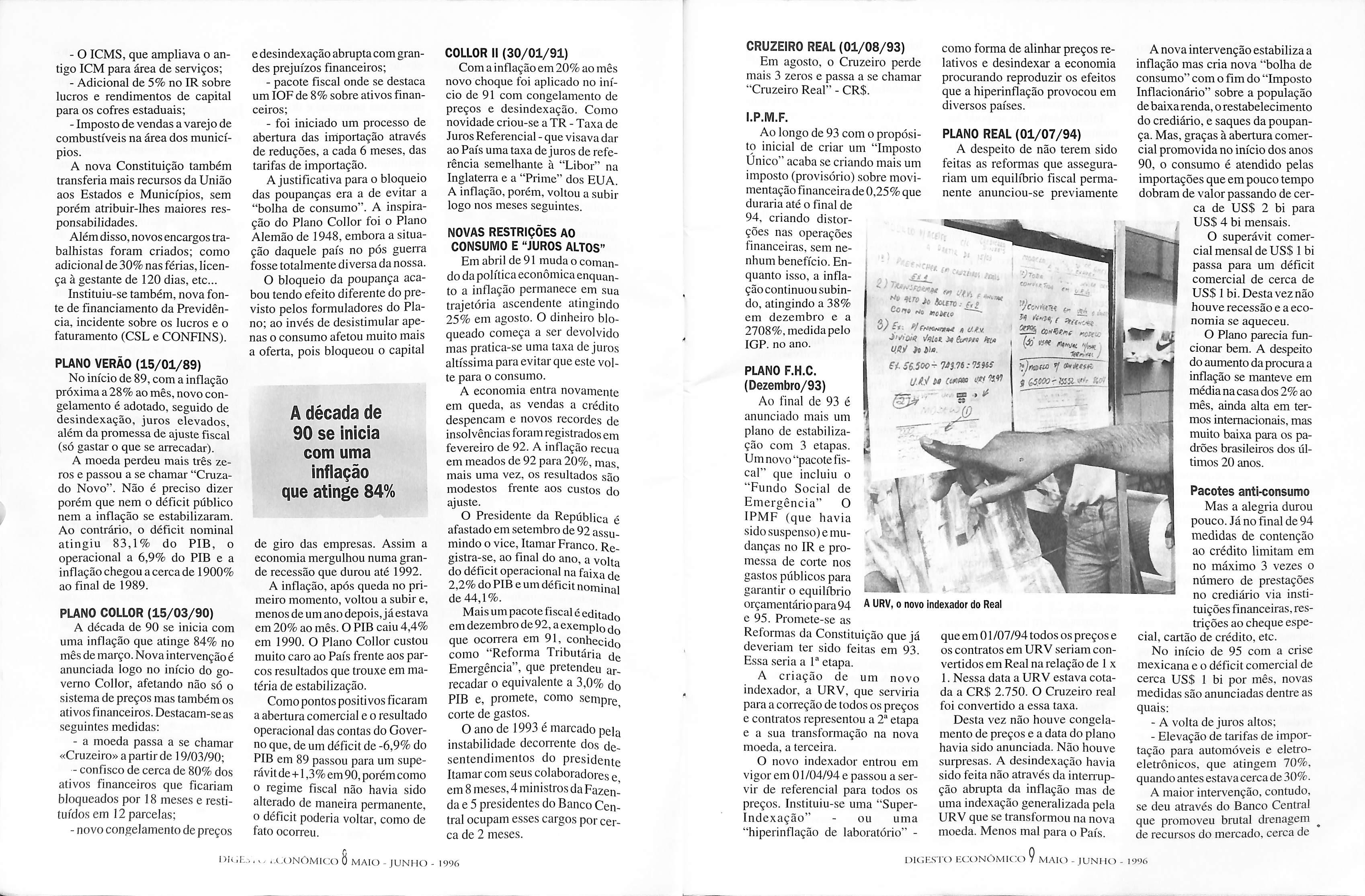
como forma de alinhar preços re lativos e desindexar a economia procurando reproduzir os efeitos que a hiperinflação provocou em diversos países.
(01/07/94)
A despeito de não terem sido feitas as reformas que assegura riam um equilíbrio fiscal pennanente anunciou-se previamente
A nova intervenção estabiliza a inflação mas cria nova “bolha de consumo” com o fim do “Imposto Inflacionário” sobre a população de baixa renda, o restabelecimento do crediário, e saques da poupan ça. Mas, graças à abertura comer cial promovida no início dos anos 90, 0 consumo é atendido pelas importações que em pouco tempo dobram de valor passando de cer ca de US$ 2 bi para US$ 4 bi mensais.
O superávit comer cial mensal de US$ 1 bi passa para um déficit comercial de cerca de US$ 1 bi. Desta vez não houve recessão e a eco nomia se aqueceu.
€i.SS.50O^
Ao final de 93 é anunciado mais um plano de estabiliza ção com 3 etapas. Um novo “pacote fis cal” que incluiu o “Fundo Social de Emergência” O IPMF (que havia sido suspenso) e mu danças 110 IR e pro messa de corte nos gastos públicos para garantir o equiliíirio orçamentário pai*a 94 ^ bRV, o novo indexador do Real e 95. Promete-se as Reformas da Constituição que já deveriam ter sido feitas em 93. Essa seria a U etapa.
A criação de indexador, a URV, para a correção de todos os preços e contratos representou a 2" etapa e a sua transformação na nova moeda, a terceira.
O novo indexador entrou em vigor em 01/04/94 e passou a ser vir de referencial para todos os preços. Instituiu-se uma “SuperIndexação”
“hiperinflação de laboratório” -
que em 01 /07/94 todos os preços e os contratos em URV seriam con vertidos em Real na relação de 1 X 1. Nessa data a URV estava cota da a CR$ 2.750. O Cruzeiro real foi convertido a essa taxa. Desta vez não houve congela mento de preços e a data do plano havia sido anunciada. Não houve surpresas. A desindexação havia sido feita não através da interrup ção abrupta da inflação mas de uma indexação generalizada pela URV que se transformou na nova moeda. Menos mal para o País. um novo que serviría ou uma
O Plano parecia fun cionar bem. A despeito do aumento da procma a inflação se manteve em média na casa dos 2% ao mês, ainda alta em ter mos internacionais, mas muito baixa pai'a os pa drões brasileiros dos úl timos 20 anos.
Pacotes anti-consumo
Mas a alegria durou pouco. Já no final de 94 medidas de contenção ao crédito limitam em no máximo 3 vezes o número de prestações no crediáiio via insti tuições financeiras, res trições ao cheque espe cial, cartão de crédito, etc.
No início de 95 com a crise mexicana e o déficit comercial de cerca US$ 1 bi por mês, novas medidas são anunciadas dentre as quais:
- A volta de juros altos; - Elevação de tarifas de impor tação pai'a automóveis e eletroeletrônicos, que atingem 70%, quando antes estava cerca de 30%.
A maior intervenção, contudo, se deu através do Banco Central que promoveu brutal drenagem ^ de recursos do mercado, cerca de
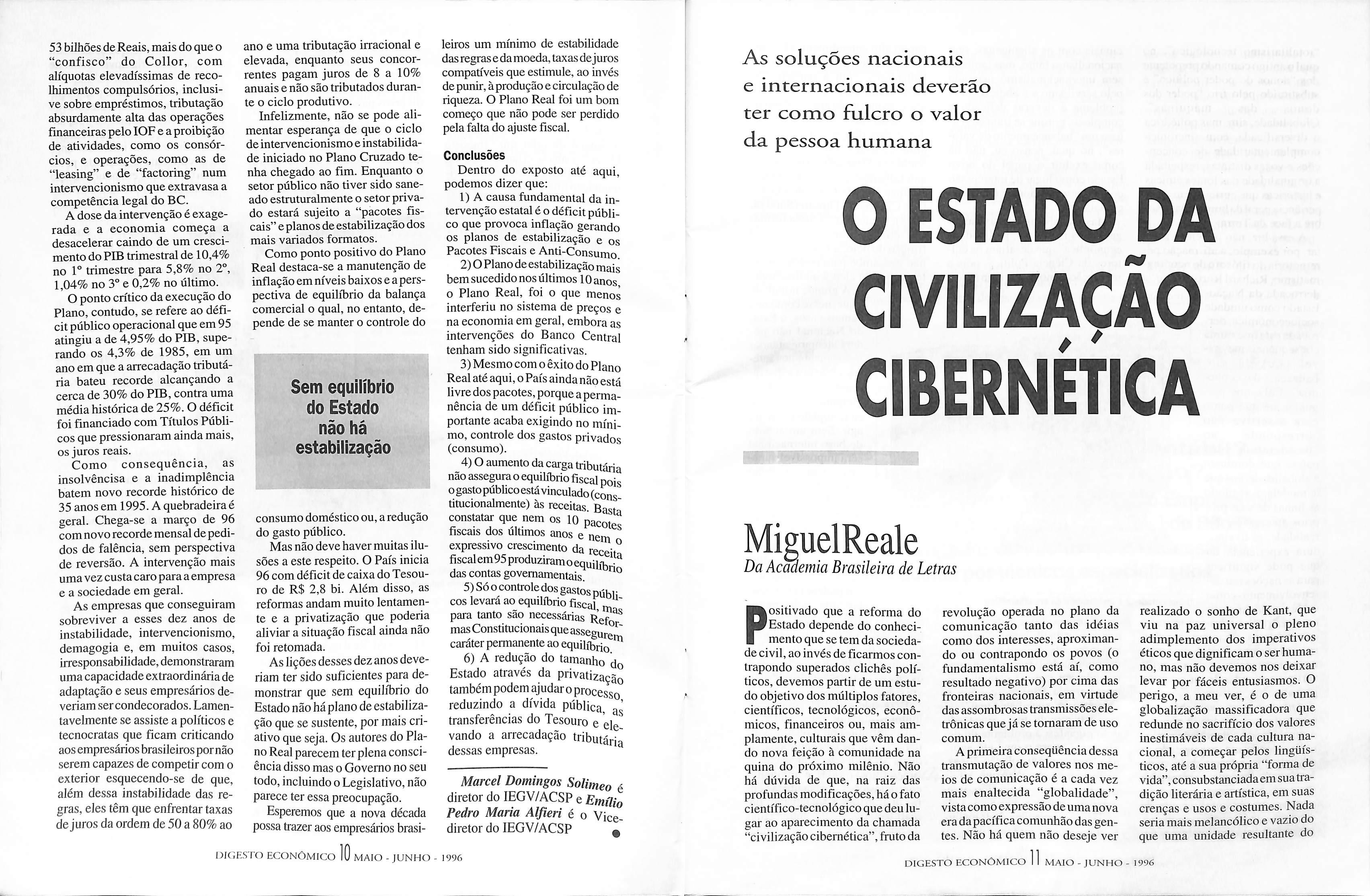
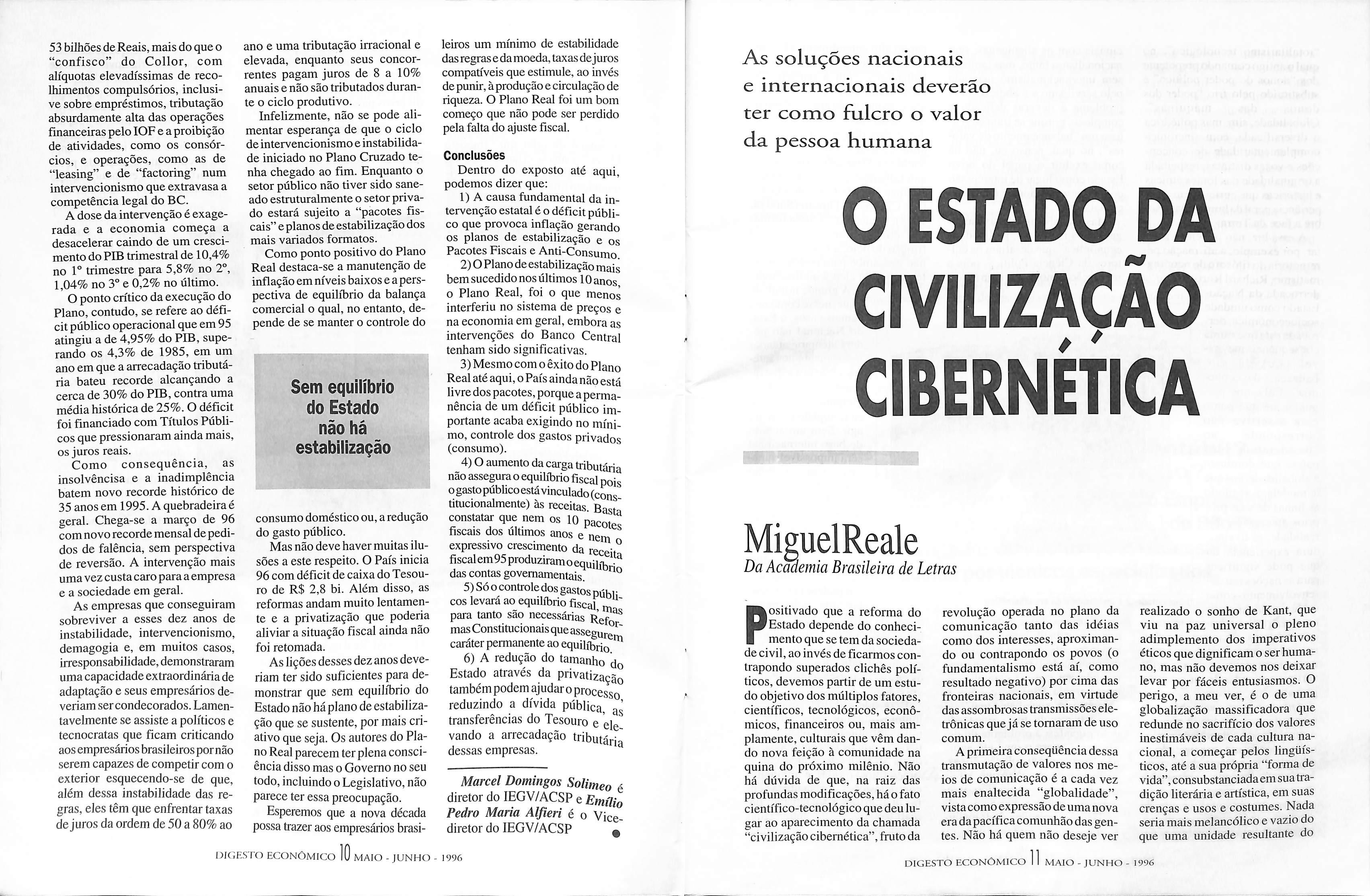
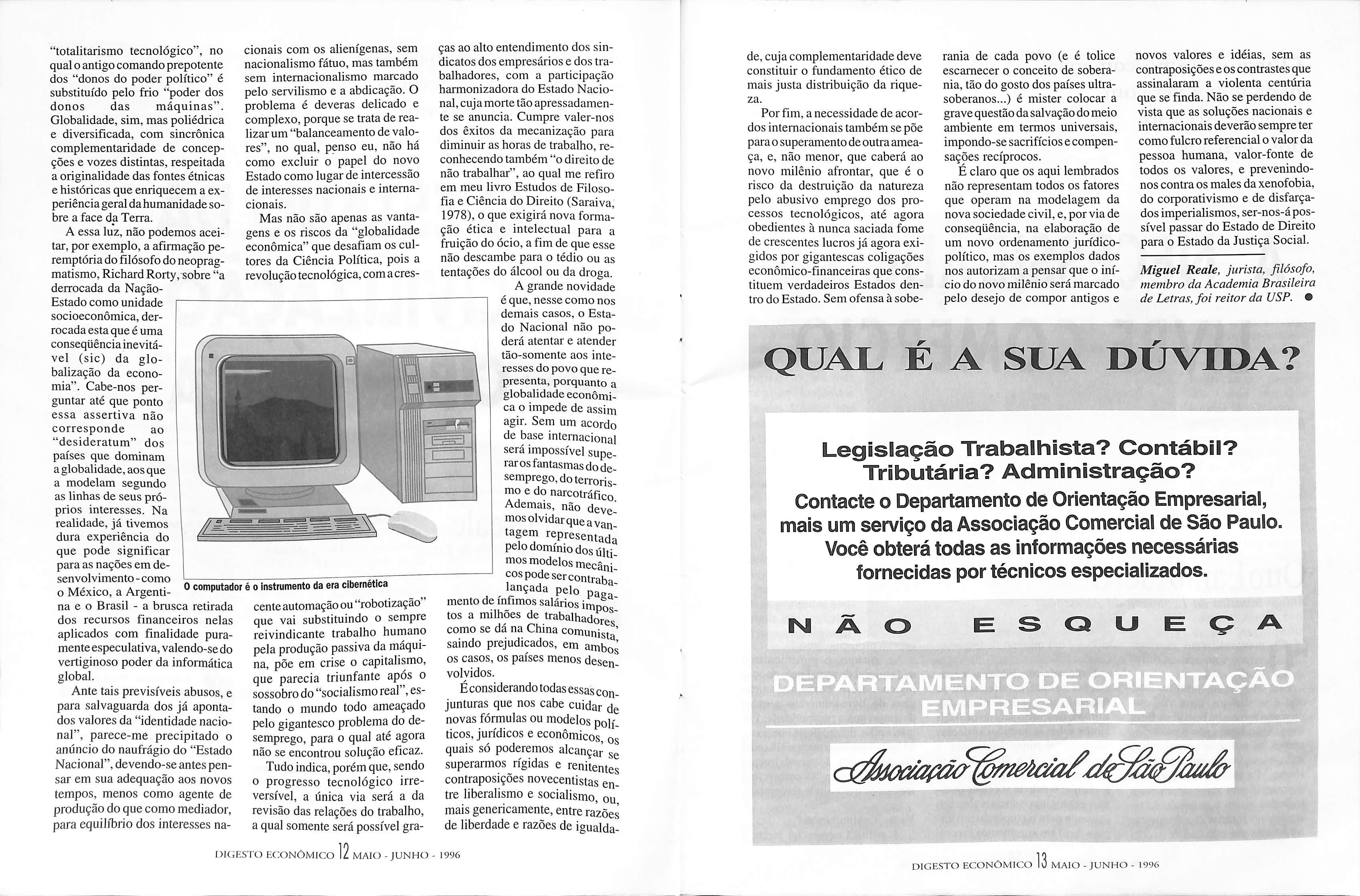
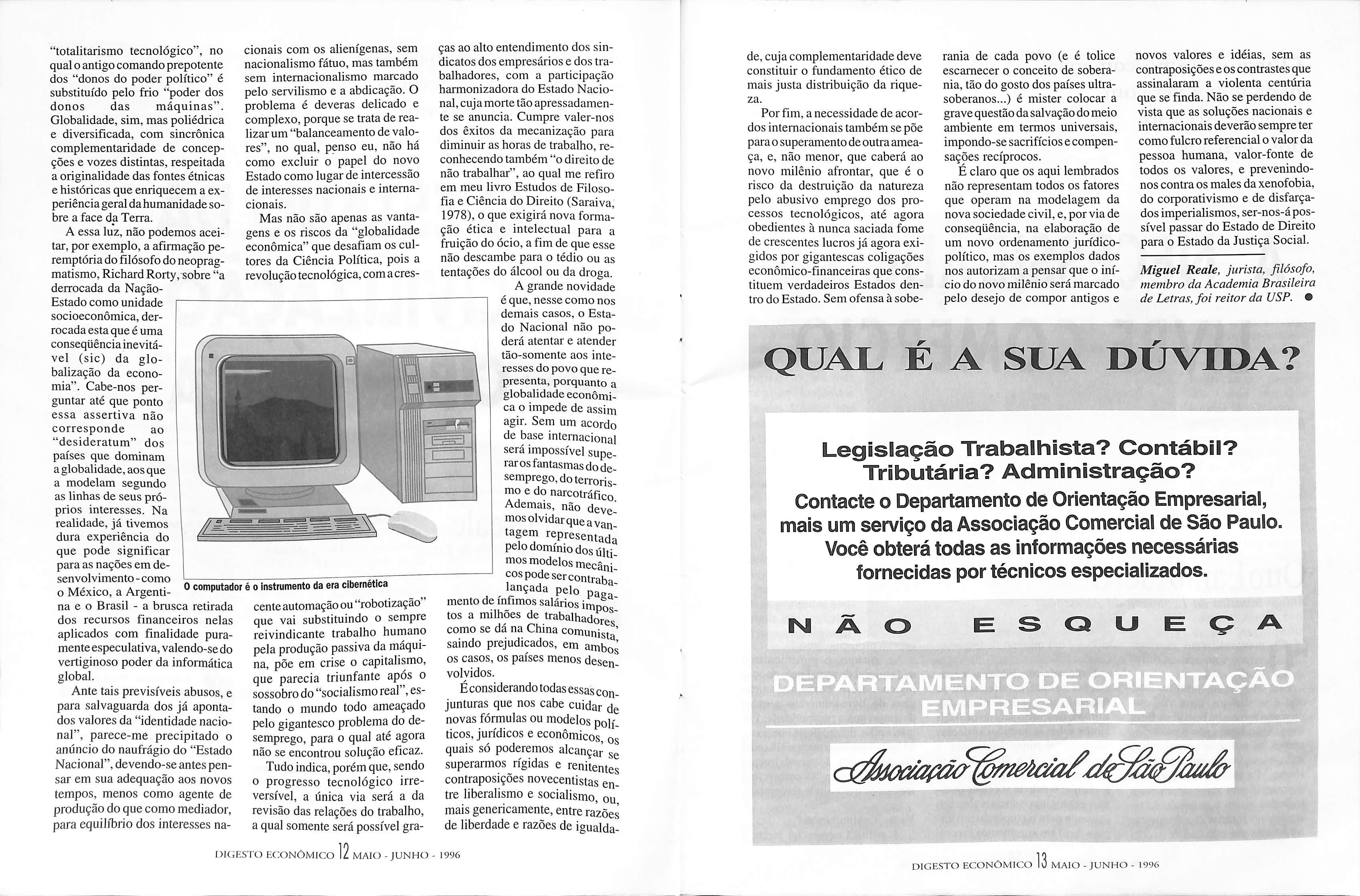
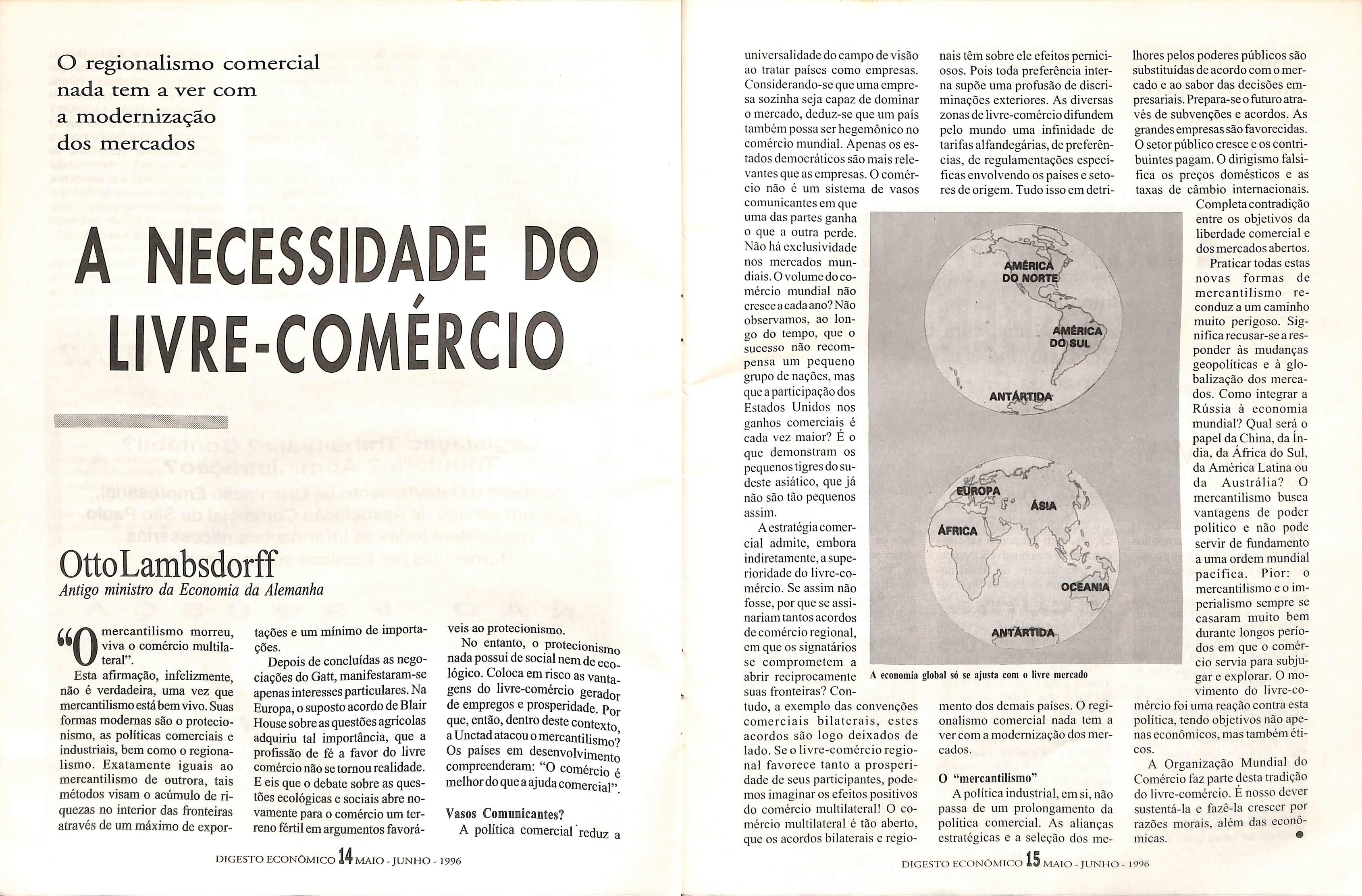
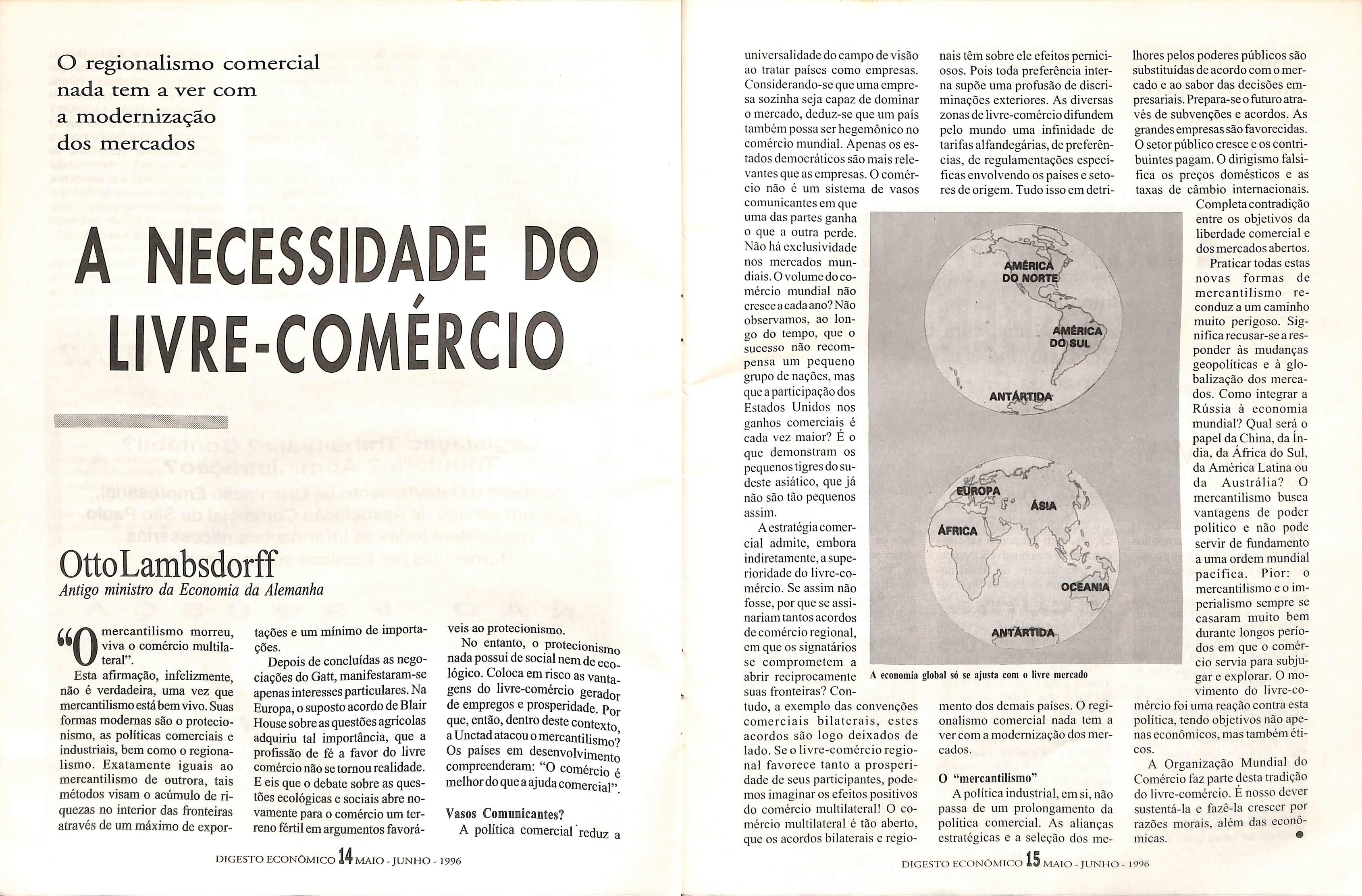
Não sabemos qual será o perfil de empresa bem sucedida
CharlesM.Vest
Do. M.I.T, USA
f.
mente. Nós não sabemos como aprendemos, como nos ^^lembramos dos fatos
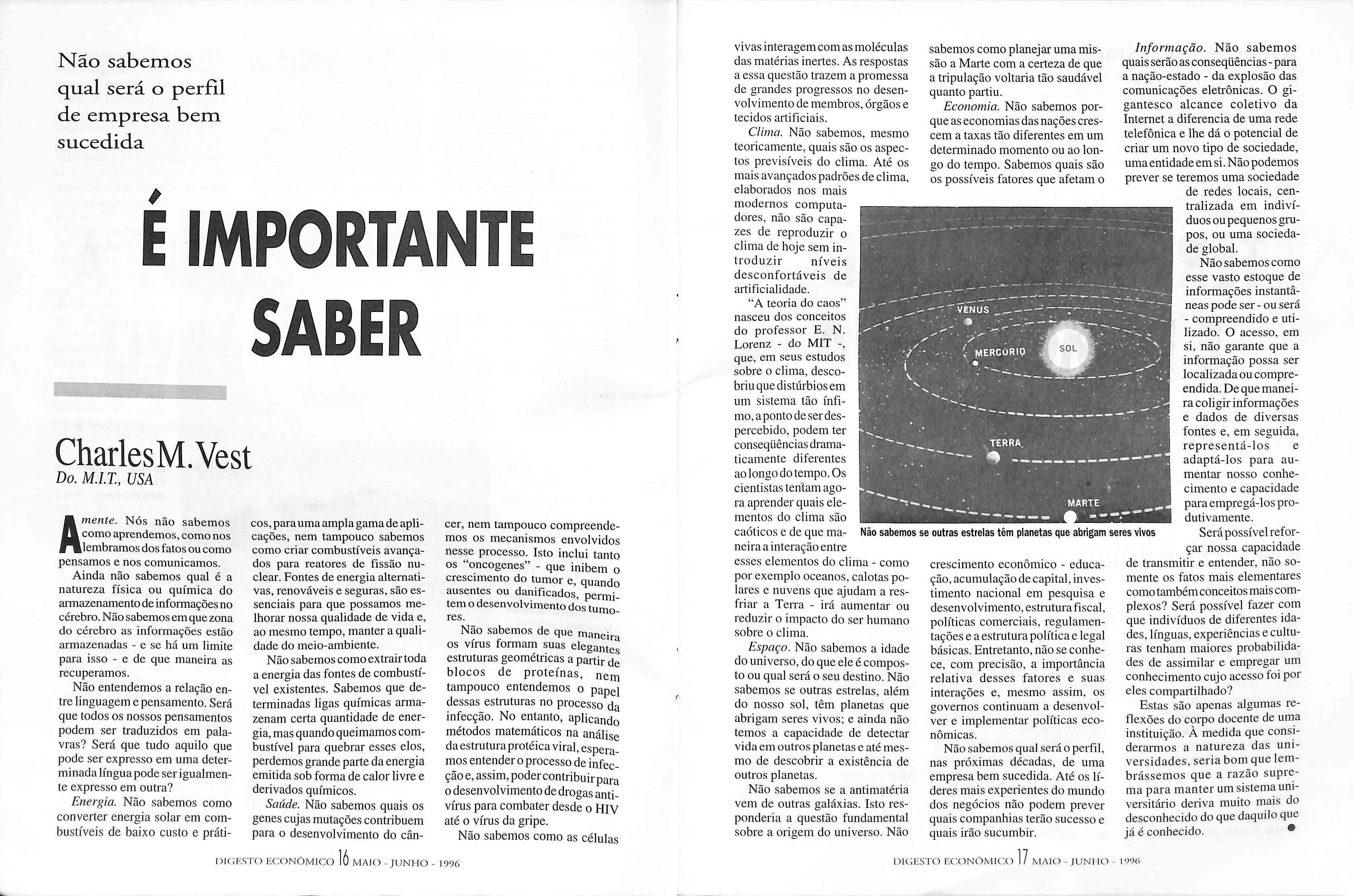
COS, para uma ampla gama de apli cações, nem tampouco sabemos como criar combustíveis avança dos para reatores de fissão nu clear. Fontes de energia alternati vas, renováveis e seguras, são es senciais para que possamos me lhorar nossa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, manter a quali dade do meio-ambiente.
cer, nem tampouco compreende mos os mecanismos envolvidos nesse processo. Isto inclui tanto os “oncogenes” - que inibem crescimento do tumor e, quando ausentes ou danificados, permi tem o desenvolvimento dos luino res.
Ainda não sabemos qual é a natureza física ou química do armazenamento de informações no cérebro. Não sabemos em que zona do cérebro as informações estão armazenadas - c sc há um limite para isso - e de que maneira o as recuperamos.
Não entendemos a relação tre linguagem e pensamento. Será que todos os nossos pensamentos podem ser traduzidos em pala vras? Será que tudo aquilo que pode ser expresso em uma deter minada língua pode ser igualmen te expresso em outra?
Não sabemos como extrair toda a energia das fontes de combustí vel existentes. Sabemos que de terminadas ligas químicas arma zenam certa quantidade de ener gia, mas quando queimamos com bustível para quebrar esses elos, perdemos grande parte da energia emitida sob forma de calor livre e derivados químicos.
Saúde. Não sabemos quais os genes cujas mutações contribuem para o desenvolvimento do cân¬
Não sabemos de que maneir os vírus formam suas elegantes estruturas geométricas a partir de blocos de proteínas, tampouco entendemos o dessas estruturas no processo da infecção. No entanto, aplicand métodos matemáticos na análise da estrutura protéica viral, espera mos entender o processo de infec ção e, assim, poder contribuir para 0 desenvolvimento de drogas anti vírus para combater desde o HIV até 0 vírus da gripe.
Energia. Não sabemos como conveiter energia solar em com bustíveis de baixo custo e prátinem en- papel 0
Não sabemos como as células í ou como pensamos e nos comunicamos.
vivas interagem com as moléculas das matérias inertes. As respostas a essa questão trazem a promessa de grandes progressos no desen volvimento de membros, órgãos e tecidos artificiais.
Clima. Não sabemos, mesmo teoricamente, quais são os aspec tos previsíveis do clima. Até os mais avançados padrões de clima, elaborados nos mais modernos computa dores, não são capa zes de reproduzir clima de hoje sem in troduzir desconfortáveis de artificialidade.
“A teoria do caos” nasceu dos conceitos do professor E. N. Lorenz - do MIT -, que, em seus estudos sobre o clima, desco briu que distúrbios em um sistema tão ínfi mo, a ponto de ser des percebido, podem ter consequências dramaticamente diferentes ao longo do tempo. Os cientistas teiftam ago ra aprender quais ele mentos do clima são caóticos e de que ma neira a interação entre esses elementos do clima - como por exemplo oceanos, calotas po lares e nuvens que ajudam a resfriar a Terra - irá aumentar ou reduzir o impacto do ser humano sobre o clima.
Espaço. Não sabemos a idade do universo, do que ele é compos to ou qual será o seu destino. Não sabemos se outras estrelas, além do nosso sol, têm planetas que abrigam seres vivos; e ainda não temos a capacidade de detectar vida em outros planetas e até mes mo de descobrir a existência de outros planetas.
Não sabemos se a antimatéria vem de outras galáxias. Isto responderia a questão fundamental sobre a origem do universo. Não
sabemos como planejar uma mis são a Marte com a certeza de que a tripulação voltaiáa tão saudável quanto pai'tiu.
Economia. Não sabemos por que as economias das nações cres cem a taxas tão diferentes em um determinado momento ou ao lon go do tempo. Sabemos quais são os possíveis fatores que afetam o
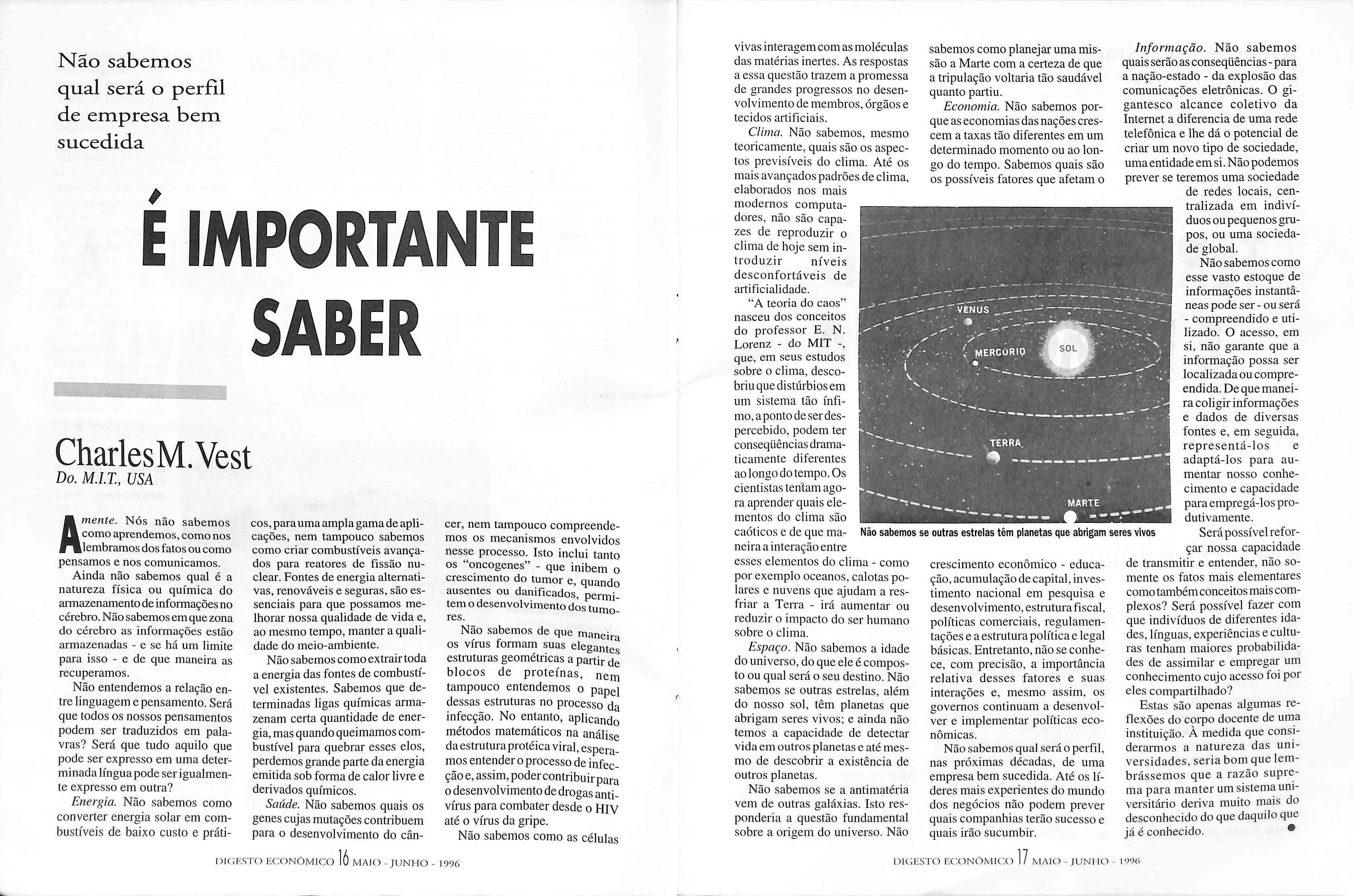
crescimento econômico - educa ção, acumulação de capital, inves timento nacional em pesquisa e desenvolvimento, estrutura fiscal, políticas comerciais, regulamen tações e a estrutura política e legal básicas. Entretanto, não se conhe ce, com precisão, a importância relativa desses fatores e suas interações e, mesmo assim, os governos continuam a desenvol ver e implementar políticas eco nômicas.
Informação. Não sabemos quais serão as consequências - para a nação-estado - da explosão das comunicações eletrônicas. O gi gantesco alcance coletivo da Internet a diferencia de uma rede telefônica e lhe dá o potencial de criai' um novo tipo de sociedade, uma entidade em si. Não podemos prever se teremos uma sociedade de redes locais, cen tralizada em indiví duos ou pequenos gi'Upos, ou uma socieda de global.
Não sabemos como esse vasto estoque de informações instantâ neas pode ser - ou será - compreendido e uti lizado. O acesso, em si, não garante que a informação possa ser localizada ou compre endida. De que manei ra coligir informações e dados de diversas fontes e, em seguida, representá-los adaptá-los para au mentar nosso conhe cimento e capacidade para empregá-los pro dutivamente.
Será possível refor çai' nossa capacidade de transmitir e entender, não so mente os fatos mais elementares como também conceitos mais complexos? Será possível fazer com que indivíduos de diferentes ida des, línguas, experiências e cultu ras tenham maiores probabilida des de assimilar e empregar um conhecimento cujo acesso foi por eles compartilhado?
Estas são apenas algumas re flexões do coipo docente de uma instituição. À medida que deraimos a natureza das uni versidades, seria bom que lem brássemos que a razão supre ma para manter um sistema uni versitário deriva muito mais do desconhecido do que daquilo que já é conhecido. ®
Não sabemos qual será o perfil, nas próximas décadas, de uma empresa bem sucedida. Até os lí deres mais experientes do mundo dos negócios não podem prever quais companhias terão sucesso e quais irão sucumbir. consi-
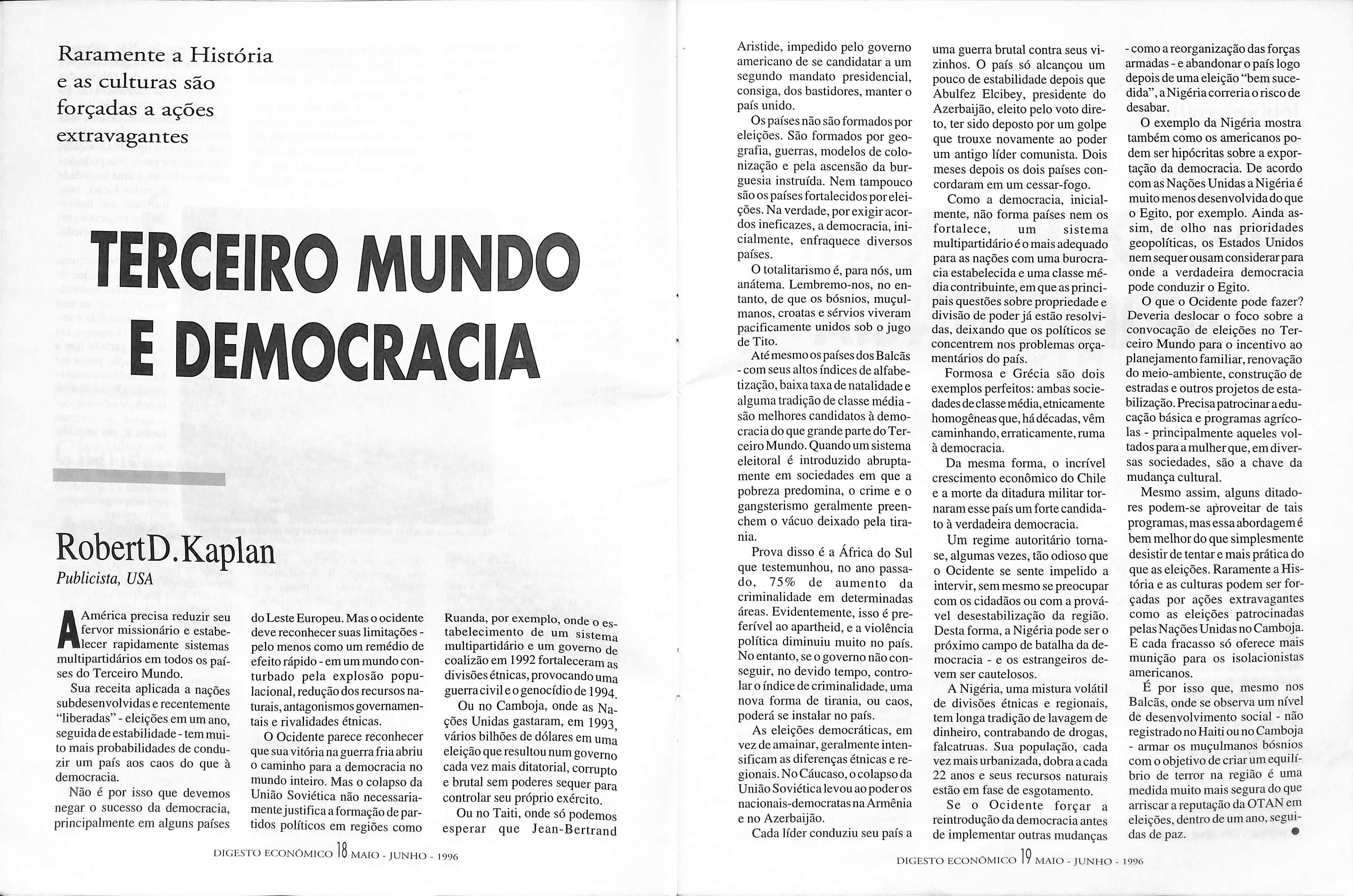
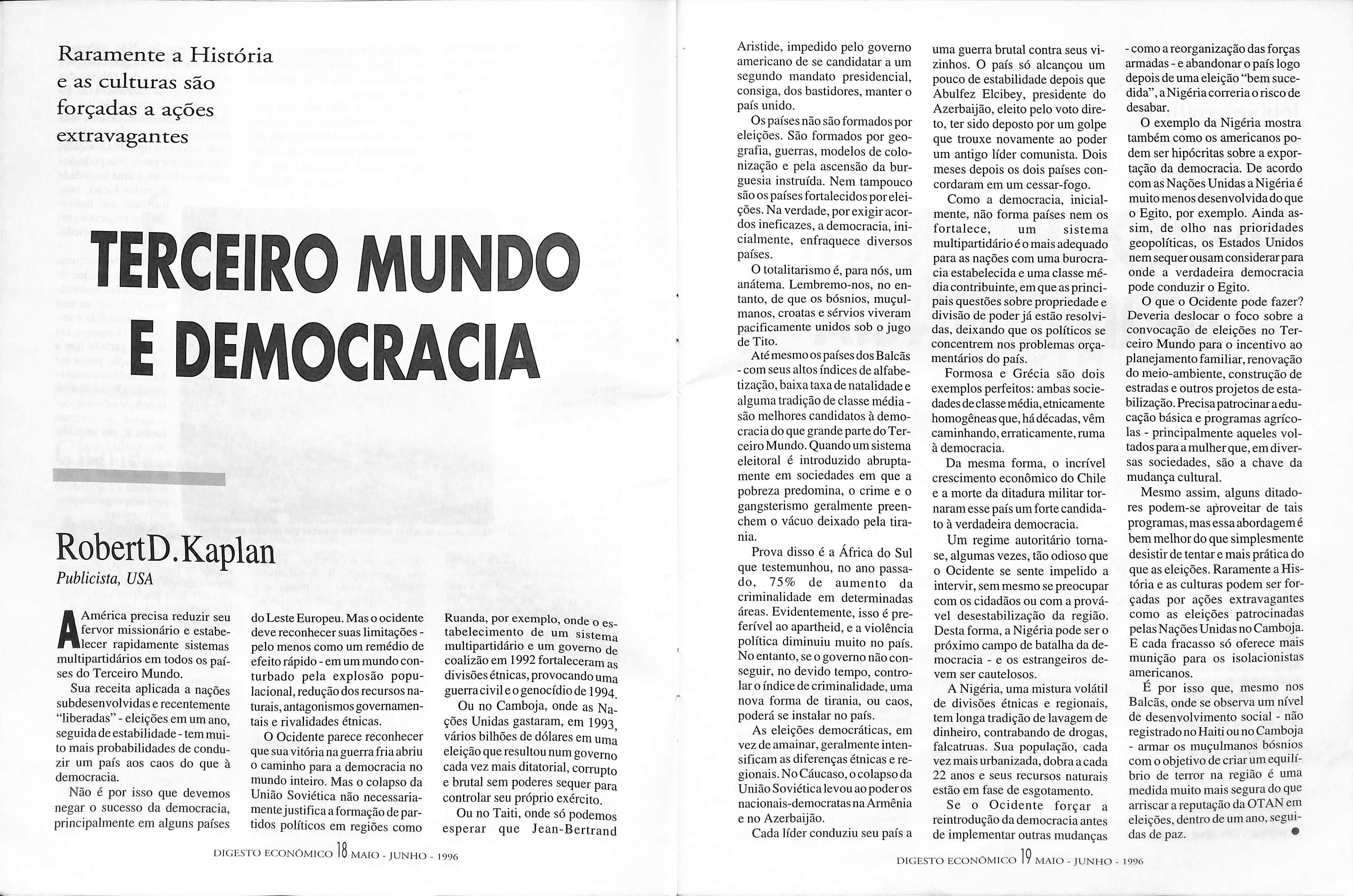
É preciso separar grupos de pressão, lobbies, tráficos de influência

Presidente do Senado Federal
Euma definição clássica a de que sociedade democrática é feita de conflitos, os quais, ao contrário do que se pode supor, não são uma manifestação patoló gica, mas de sanidade. Com atua ção em todo o corpo social, os grupos de pressão constituem, as sim, um mal necessário. É dessa diversificação de interesses, col cha de retalhos, que se forma a sociedade democrática. Portanto, o problema a discutir-se é a ma neira de atuação desses grupos e a sua legitimidade. É preciso enten der com clareza a natureza dos conflitos. Uns têm a marca da
legitimidade, outros são impostados, alguns construídos, muitos equivocados, não poucos imorais, e há até os criminosos. Mas há, em contrapartida, os con flitos saudáveis, generosos, altruísticos, aqueles que buscam o êxito de idéias políticas e religio sas. Mas, qualquer que seja a sua organização, o seu funcionamen to dentro da sociedade, eles serão sempre o resultado da ação de um grupo de pressão.
Exemplifiquemos: os trabalha dores organizados que deflagram uma greve, por motivos de inte resse salarial, o fazem num confli¬
to legítimo. Já uma greve por motivos políticos e que se revista de uma reivindicação de classe é um conflito construído. Umvimento religioso que pregue salvação, difunda princípios rais e aponte como caminho Evangelho é um grupo de pressão legítimo. Já um outro que se cons titua com essa finalidade para fins espúrios, é um grupo de pressão ilegítimo. E por aí segue. É complexa, porém, a tai'efa de classificar e distinguir os grupos de pressão dentro da sociedade. Prossigamos nos exemplos: partidos políticos, na definição moa mo0 e a use os
clássica, são grupos de pressão que se distinguem de todos os demais. Eles se organizam não para inlluenciar o poder, mas para exercer o poder. E o fazem em nome de idéias. Esse foi o campo fértil da ideologia. Passa a ser ile gítimo, no entanto, o partido polí tico que se organizou em nome de idéias e de programas, e se trans formou num grupo de interesses pessoais e de outra natureza que não os do bem públi co. E se um Congres so, composto por membros de partidos constituídos para o exercícioda atividade política, passa a deci dir na base de interes ses pessoais ou de gru pos, ele também se torna ilegítimo. E aí entramos num teaeno movediço e difícil. Quem será o árbitro para declarar essa ile gitimidade? Numpassado não muito remo to, tiranos, caudilhos, ditadores, grupos mi litares, salvadores messiânicos assumi ram essa função, e constituíram um úni co poder, 0 poder pes.soal, inimigo das li berdades.
fim da luta ideológica e dogmática, os programas partidários envelhe ceram. Não representam maisnada e ninguém os lê ou examina nas eleições. E aí tem razão o sociólo go Fernando Henrique Cardoso: é grande o perigo da sedução corporativista. Mas esse fenôme no não é apanágio dos partidos nem do Congresso. Está presente
sentimento mais próximo e forte: a caridade.
Mas há outro corporativismo mais hediondo, que é o dos que dominam os setores mais privile giados da sociedade e decretam os preços, arbitram os salários, au mentam as mensalidades, fazem acordos de preços, constituem oligopólios, monopólios e tudo mais. Olho neles.

A democracia libe ral construiu uma for ma dejulgamento: o voto populai-, as eleições periódicas, nas quais as instituições são julgadas e seus membros punidos ou reconheci dos, perdendo ou ganhando elei ções. Por isso mesmo, Churchill dizia que a democracia era o pior sistema político, mas que, infeliz mente, não existia melhor. O nos so sempre saudoso Otto Lara Resende gozava com muito hu mor: “Se o povo não escolhe bem e não presta, só resta um caminho - dissolver o povo...” Mas o assunto é grave. Com o
Outro problema que aflora nesse mundo é o do lobby. O lobby, atividade regulamen tada nos EUA, e aqui objeto de um projeto do então senadorMarco Maciel, devia ter a função de esclarecer os que decidem, abordar aspectos ligados ao assunto, sob a ótica dos interessados, de forma legal e transpa rente. Mas o que está ocorrendo? É o tráfico de influência transvestido de lobby e en tão não há como dis tinguir uma coisa da outra.
Assim, é preciso separar grupos de pressão, lobbies, tráfi co de influência e
corporativismo, todos inimigos da dignidade de uma sociedade de mocrática, quando se colocam a serviço de interesses individuais e corporativistas.
Nesse furacão está o núcleo gerador da coiTUpção e da falência das instituições.
Discutir estes temas é necessá rio. E tempo bom para isso é a Quaresma, período propício à flexão e à meditação.
Não tenhamos receio de cortai' na carne e examinar o assunto em profundidade e em todas as dire-nem de-
também nos poderes Executivo e Judiciário. Pertencem à sociedade como um todo. A sociedade orga nizada tornou-se coiporativista e egoísta. Há fato mais chocante do que, numa greve do setor de saúde (grupo de pressão), os prontossocoiTos ficarem fechados, como se fosse possível decretar-se que naqueles dias ficam suspensos acidentes, os enfartes e todos os males de urgência? E os setores essenciais à vida da população? Aqui não há nem como invocar espírito público, quando há um reos ções, sem oportunismo magogia. __ (Condensado de “O Globo ) ®
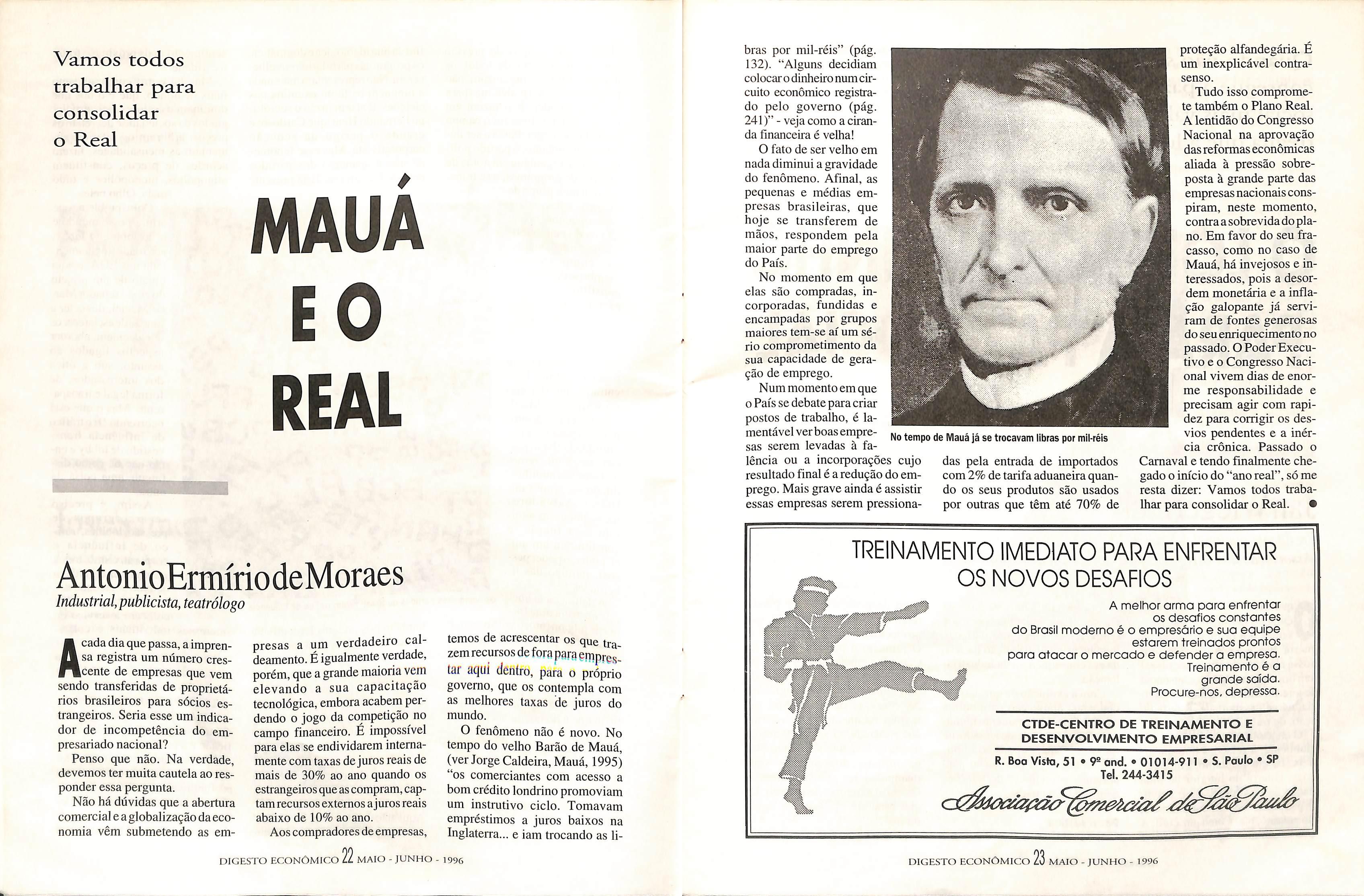
Industrial, publicista, teatrólogo
verdadeiro cal¬ cada dia que passa, a imprensa registra um número cres- ^^cente de empresas que sendo transferidas de proprietá rios brasileiros para sócios trangeiros. Seria esse um indica dor de incompetência do presariado nacional?
Penso que não. Na verdade, devemos ter muita cautela ao res ponder essa pergunta.
temos de acrescentar os zem recursos de fora lar aqui dentro, governo, que os contempla com as melhores taxas de juros do mundo.
Não há dúvidas que a abertura comercial eaglobalização daeconomia vêm submetendo as emque traparcicmpres-. para o próprio presas a um deamento. É igualmente verdade, porém, que a grande maioria vem elevando a sua capacitação tecnológica, embora acabem per dendo o jogo da competição no campo financeiro. É impossível para elas se endividarem intemamente com taxas de juros reais de mais de 30% ao ano quando os estrangeiros que as compram, capi vem esemtam recursos externos ajuros reais abaixo de 10% ao ano.
Aos compradores de empresas.
O fenômeno não é novo. No tempo do velho Barão de Mauá, (ver Jorge Caldeira, Mauá, 1995) “os comerciantes com acesso a bom crédito londrino promoviam um instrutivo ciclo. Tomavam empréstimos a juros baixos na InglateiTa... e iam trocando as li-
bras por mil-réis” (pág. 132). “Alguns decidiam colocai-0 dinheiro num cir cuito econômico registra do pelo governo (pág. 241)” - veja como a ciran da financeira é velha!
O fato de ser velho em nada diminui a gravidade do fenômeno. Afinal, as pequenas e médias em presas brasileiras, que hoje se transferem de mãos. respondem pela maior parte do emprego do País.
No momento em que elas são compradas, in corporadas, fundidas e encampadas por grupos maiores tem-se aí um sé rio comprometimento da sua capacidade de gera ção de emprego.
Num momento em que 0 País se debate para criar postos de trabalho, é la mentável ver boas empre sas serem levadas à fa lência ou a incoiporações cujo resultado final é a redução do em prego. Mais grave ainda é assistir essas empresas serem pressiona-
No tempo de Mauá já se trocavam libras por mil-réis
das pela entrada de importados com 2% de tarifa aduaneira quan do os seus produtos são usados por outras que têm até 70% de
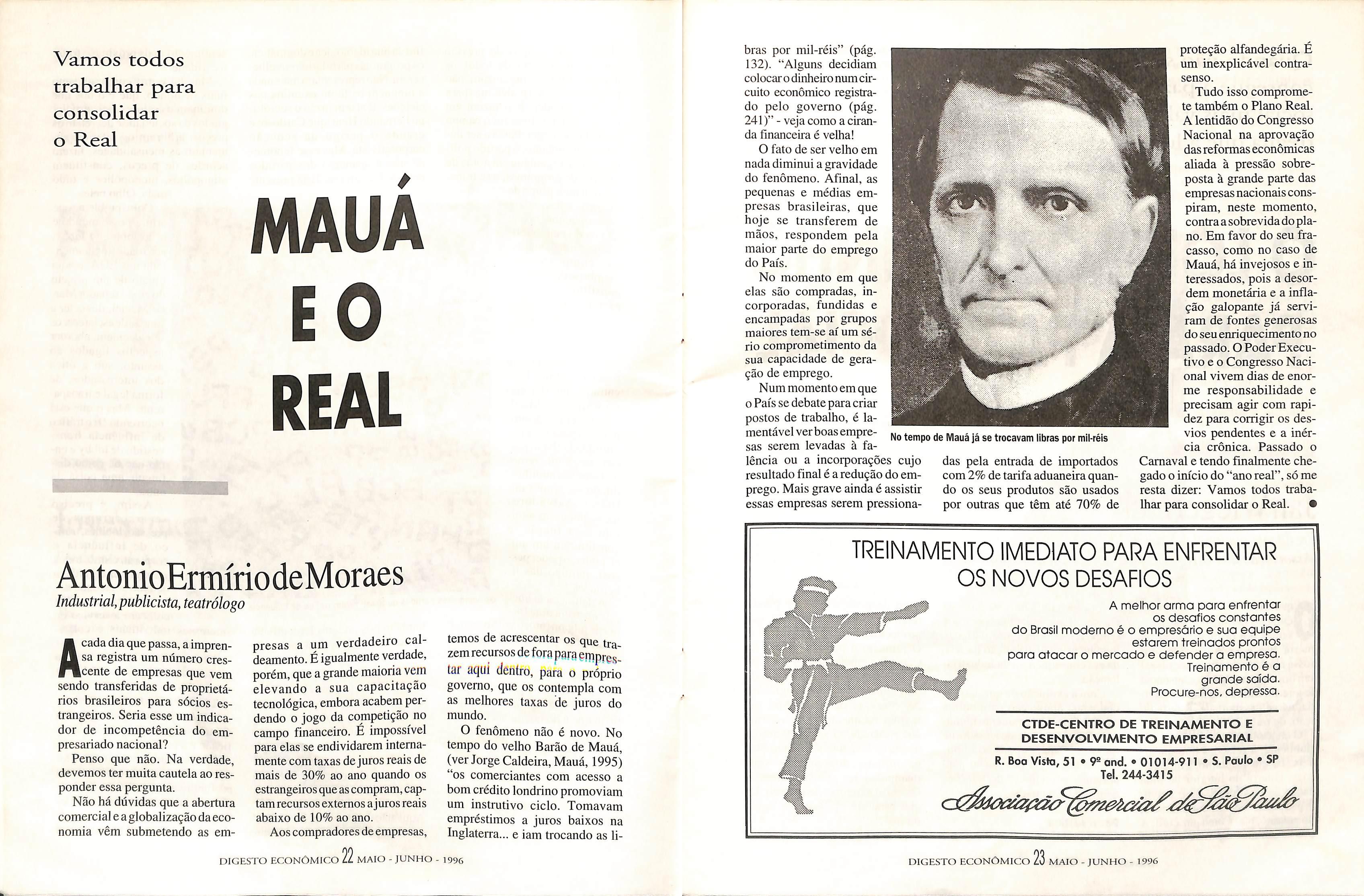
proteção alfandegária. É um inexplicável contrasenso.
Tudo isso comprome te também o Plano Real. A lentidão do Congresso Nacional na aprovação das reformas econômicas aliada à pressão sobre posta à grande parte das empresas nacionais cons piram, neste momento, contra a sobrevida do pla no. Em favor do seu fra casso, como no caso de Mauá, há invejosos e in teressados, pois a desor dem monetária e a infla ção galopante já servi ram de fontes generosas do seu enriquecimento no passado. O Poder Execu tivo e o Congresso Naci onal vivem dias de enor me responsabilidade e precisam agir com rapi dez para corrigir os des vios pendentes e a inér cia crônica. Passado o Carnaval e tendo fmalmente che gado o início do “ano real”, só me resta dizer: Vamos todos traba lhar para consolidar o Real. ●
A melhor arma para enfrentar os desafios constantes do Brasil moderno é o empresário e sua equipe estarem treinados prontos para atacar o mercado e defender a empresa. Treinamento é a grande saída, Procure-nos. depressa.
CTDE-CENTRO DE TREíNAMENTO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
R. Boa Vista, 51 ● 9® and. ● 01014-911 ● S. Paulo ● SP Tel. 244-3415
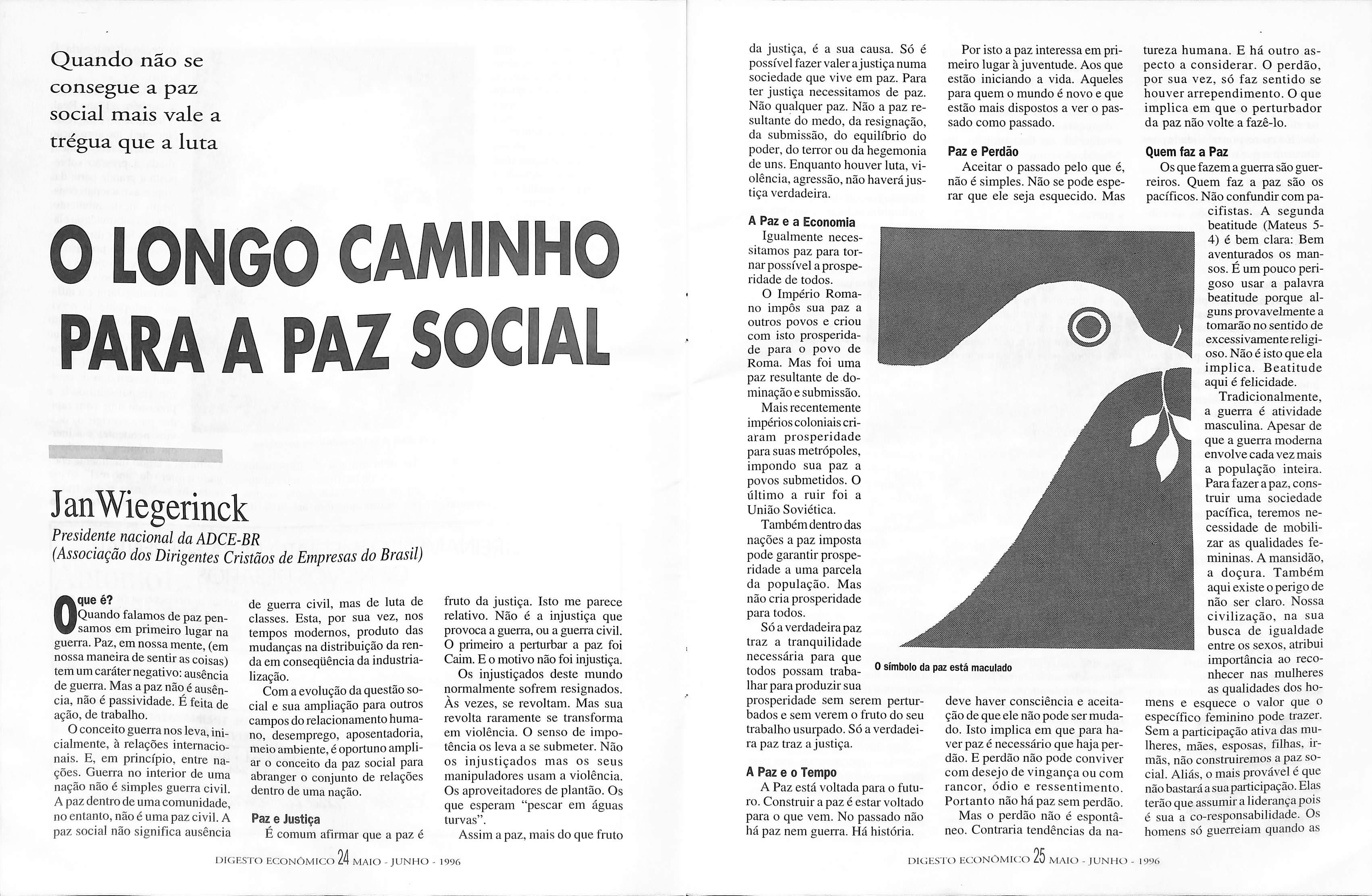
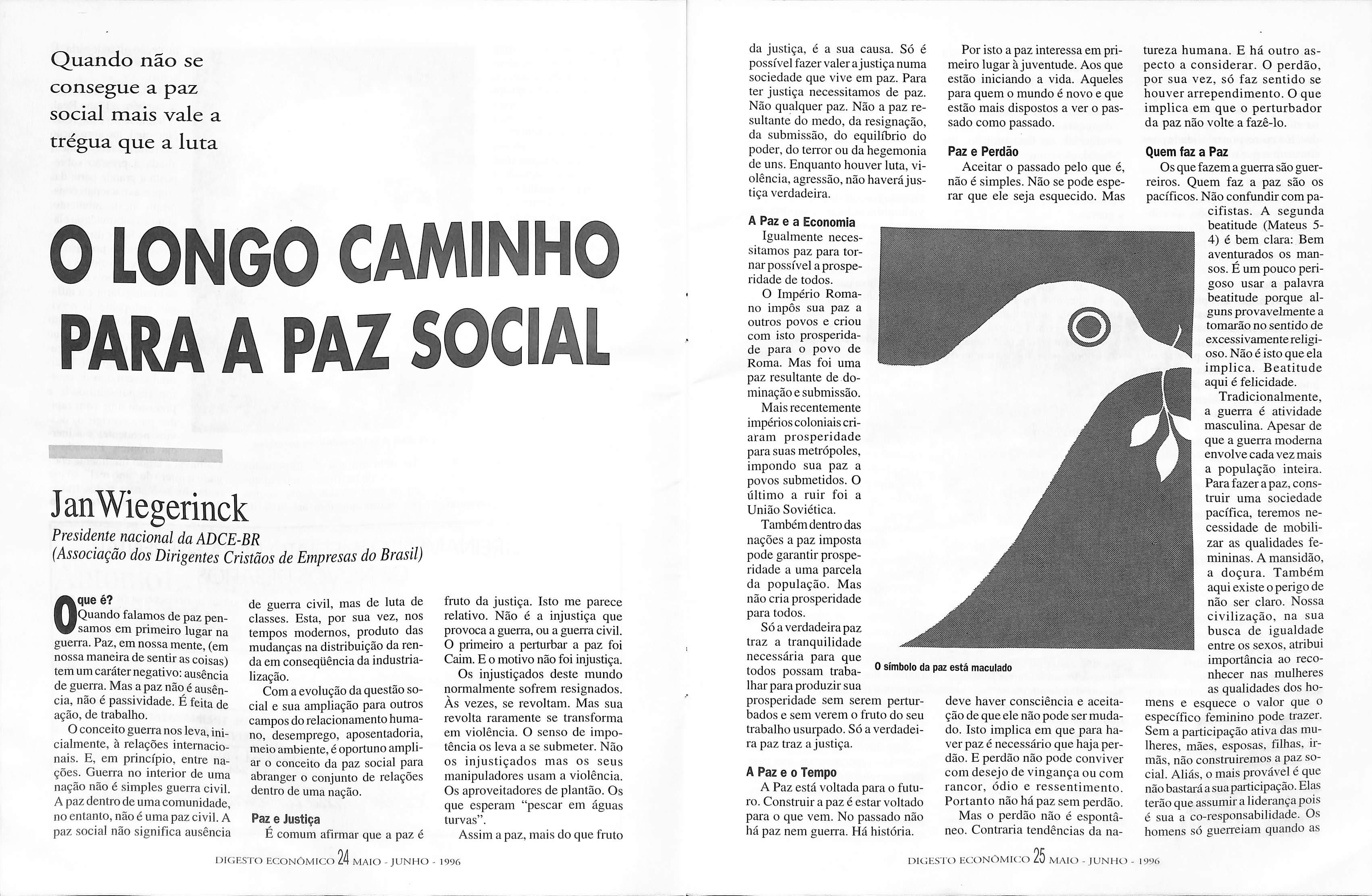


Mais importante é que a jurisprudência
seja a interpretação da lei
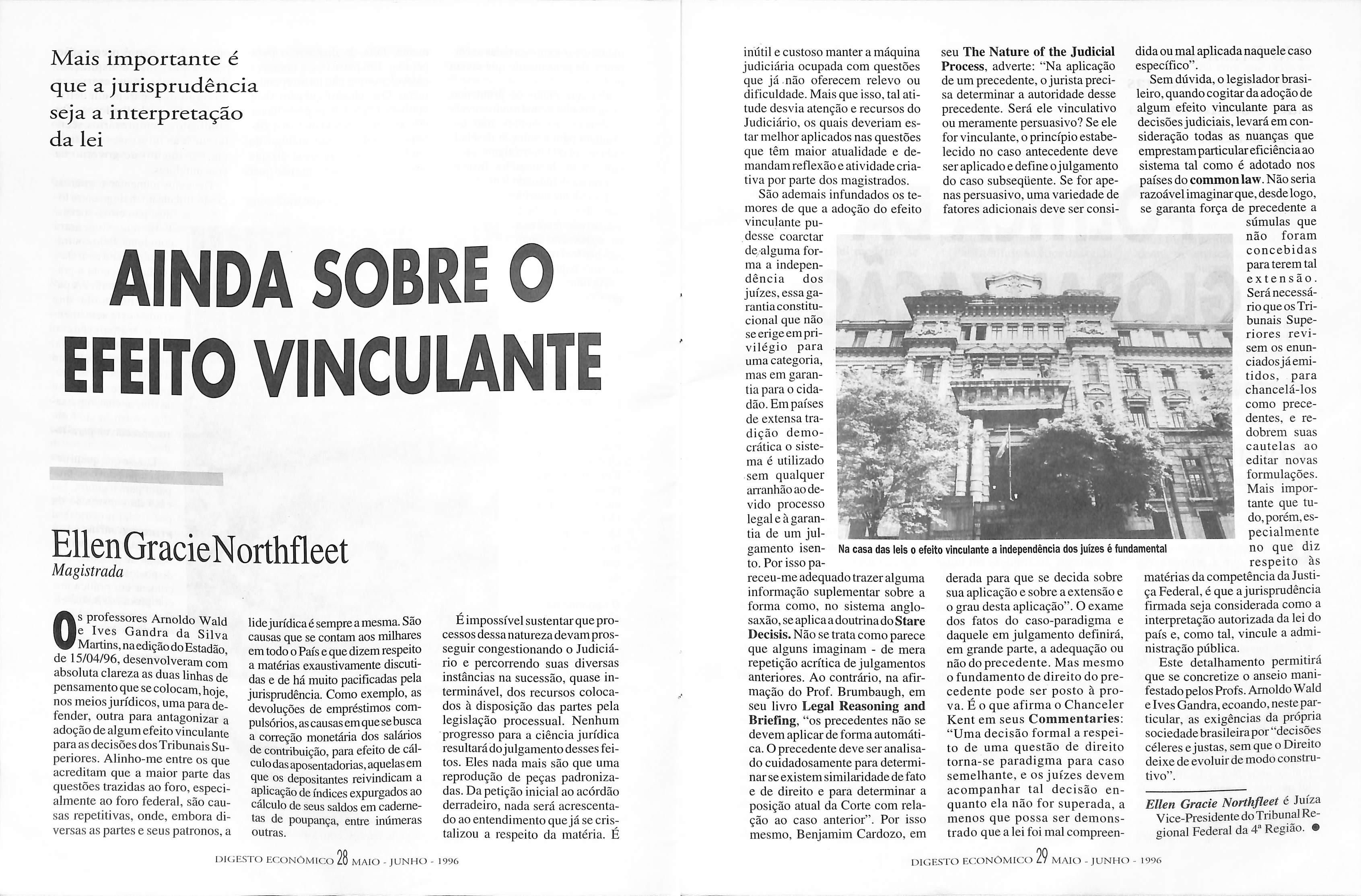
k
Magistrada
0s professores Amoldo Wald e Ives Gandra da Silva Martins, naediçãodo Estadão, de 15/04/96, desenvolveram corn absoluta clareza as duas linhas de pensamento que se colocam, hoje nos meios jurídicos, uma para de fender, outra para antagonizar a adoção de algum efeito vinculante para as decisões dos Tribunais Su periores. Alinho-me entre os que acreditam que a maior parte das questões trazidas ao foro, especi almente ao foro federal, são cau sas repetitivas, onde, embora di versas as partes e seus patronos, a
lide jurídica é sempre a mesma. São causas que se contam aos milhares em todo o País e que dizem respeito a matérias exaustivamente discuti das e de há muito pacificadas pela jurisprudência. Como exemplo, as devoluções de empréstimos pulsórios, as causas em que se busca a correção monetária dos salários de contribuição, paia efeito de cálculodas aposentadorias, aquelas em que os depositantes reivindicam a aplicação de índices expurgados ao cálculo de seus saldos em caderne tas de poupança, enti'e inúmeras outras. com-
E impossível sustentar que pro cessos dessa natureza devam pros seguir congestionando o Judiciá rio e percorrendo suas diversas instâncias na sucessão, quase in terminável, dos recursos coloca dos à disposição das partes pela legislação processual. Nenhum progresso para a ciência jurídica resultará do julgamento desses fei tos. Eles nada mais são que uma reprodução de peças padroniza das. Da petição inicial ao acórdão derradeiro, nada será acrescenta do ao entendimento que já se cris talizou a respeito da matéria. É
inútil e custoso manter a máquina judiciária ocupada com questões que já não oferecem relevo ou dificuldade. Mais que isso, tal ati tude desvia atenção e recursos do Judiciário, os quais deveriam es tar melhor aplicados nas questões que têm maior atualidade e de mandam reflexão e atividade cria tiva por parte dos magistrados. São ademais infundados os te mores de que a adoção do efeito vinculante pu desse coarctar de-alguma for ma a indepen dência juizes, essa ga rantia constitu cional que não se erige em pri vilégio para uma categoria, mas em garan tia para o cida dão. Em países de extensa tra dição demo crática o siste ma é utilizado sem qualquer aiTanhão ao de vido processo legal eà garan tia de um jul gamento isen- Na casa das leis o efeito vinculante
seu The Nature of the Judicial Process, adverte: “Na aplicação de um precedente, o jurista preci sa determinai- a autoridade desse precedente. Será ele vinculativo ou meramente persuasivo? Se ele for vinculante, o princípio estabe lecido no caso antecedente deve ser aplicado e define o julgamento do caso subseqüente. Se for ape nas persuasivo, uma variedade de fatores adicionais deve ser consi-
dida ou mal aplicada naquele caso específico”.
Sem dúvida, o legislador brasi leiro, quando cogitar da adoção de algum efeito vinculante para as decisões judiciais, levará em con sideração todas as nuanças que emprestam particular eficiência ao sistema tal como é adotado nos países do common law. Não seria razoável imaginar que, desde logo, se garanta força de precedente a súmulas que foram
nao concebidas para terem tal extensão.
Será necessádos rio que os Tri bunais Supe riores revi sem os enun ciados já emi tidos, para chancelá-los ‘a*.
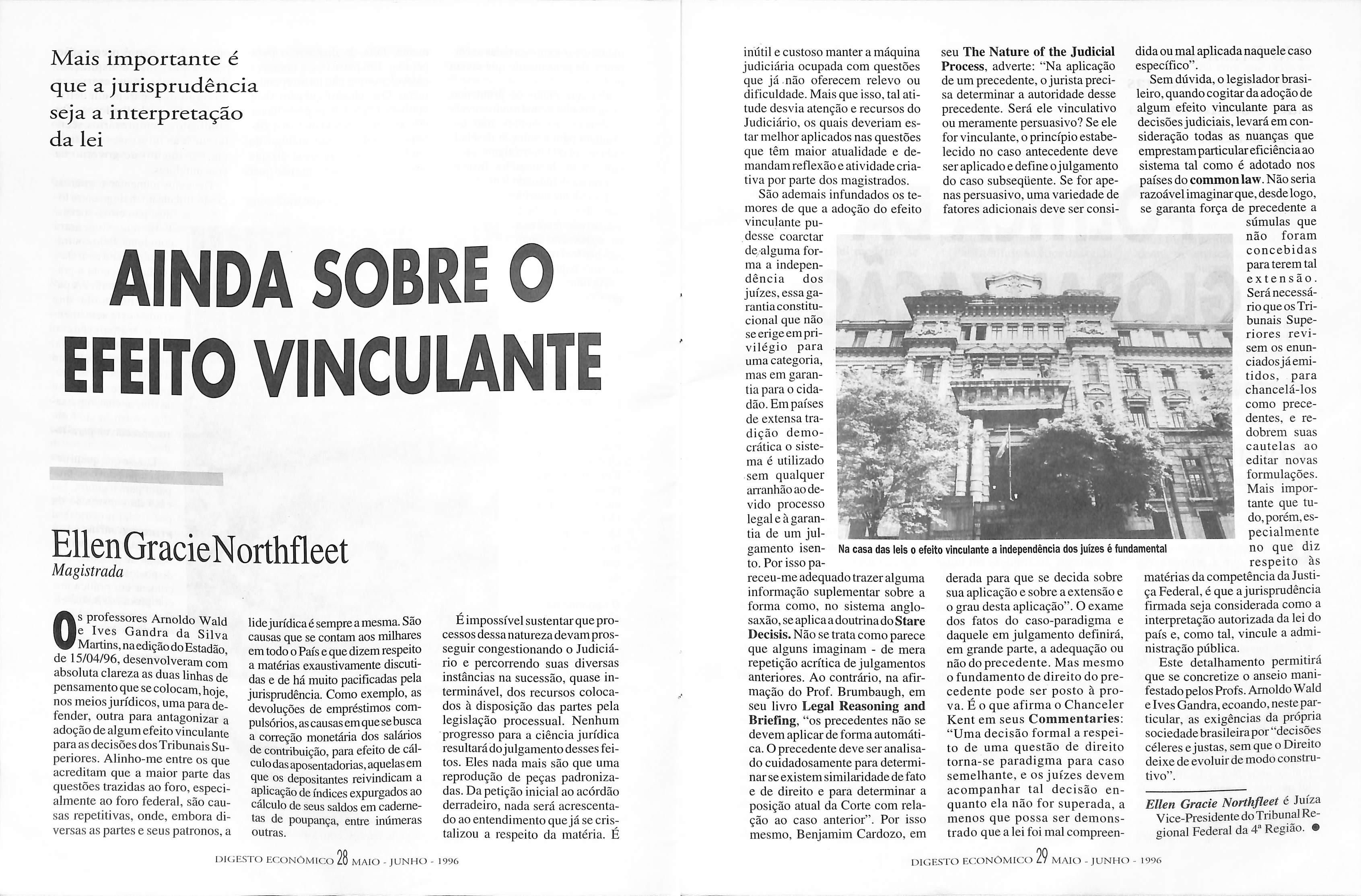
to. Por isso pa receu-me adequado trazer alguma informação suplementar sobre a forma como, no sistema anglosaxão, seaplicaadoutrinado Stare Decisis. Não se trata como parece que alguns imaginam - de mera repetição acrítica de julgamentos anteriores. Ao contráido, na afir mação do Prof Brumbaugh, em seu livro Legal Reasoning and Briefíng, “os precedentes não se devem aplicar de forma automáti ca. O precedente deve ser analisa do cuidadosamente para detenninar se existem similaiidade de fato e de direito e para detenninar a posição atual da Corte com rela ção ao caso anterior”. Por isso mesmo. Benjamim Cai'dozo, em
derada para que se decida sobre sua aplicação e sobre a extensão e o grau desta aplicação”. O exame dos fatos do caso-paradigma e daquele em julgamento definirá, em grande parte, a adequação ou não do precedente. Mas mesmo o fundamento de direito do pre cedente pode ser posto à pro va. É o que afirma o Chanceler Kent em seus Commentaries: “Uma decisão formal a respei to de uma questão de direito torna-se paradigma para caso semelhante, e os juizes devem acompanhar tal decisão en quanto ela não for superada, a menos que possa ser demons trado que a lei foi mal compreen-
como prece dentes, e re dobrem suas cautelas ao editar novas formulações. Mais impor tante que tu do, porém, es pecialmente no que diz respeito às matérias da competência da Justi ça Federal, é que a jurisprudência firmada seja considerada como a interpretação autorizada da lei do país e, como tal, vincule a admi nistração pública.
Este detalhamento permitirá que se concretize o anseio mani festado pelos Profs. Amoldo Wald e Ives Gandra, ecoando, neste pai'ticular, as exigências da própria sociedade brasileira por “decisões céleres e justas, sem que o Direito deixe de evoluir de modo constru tivo”.
Ellen Grade Northfleet é Juíza Vice-Presidente do Tribunal Re gional Federal da 4=* Região. ®
No Brasil as parcerias internas
são e serão muito espalhadas
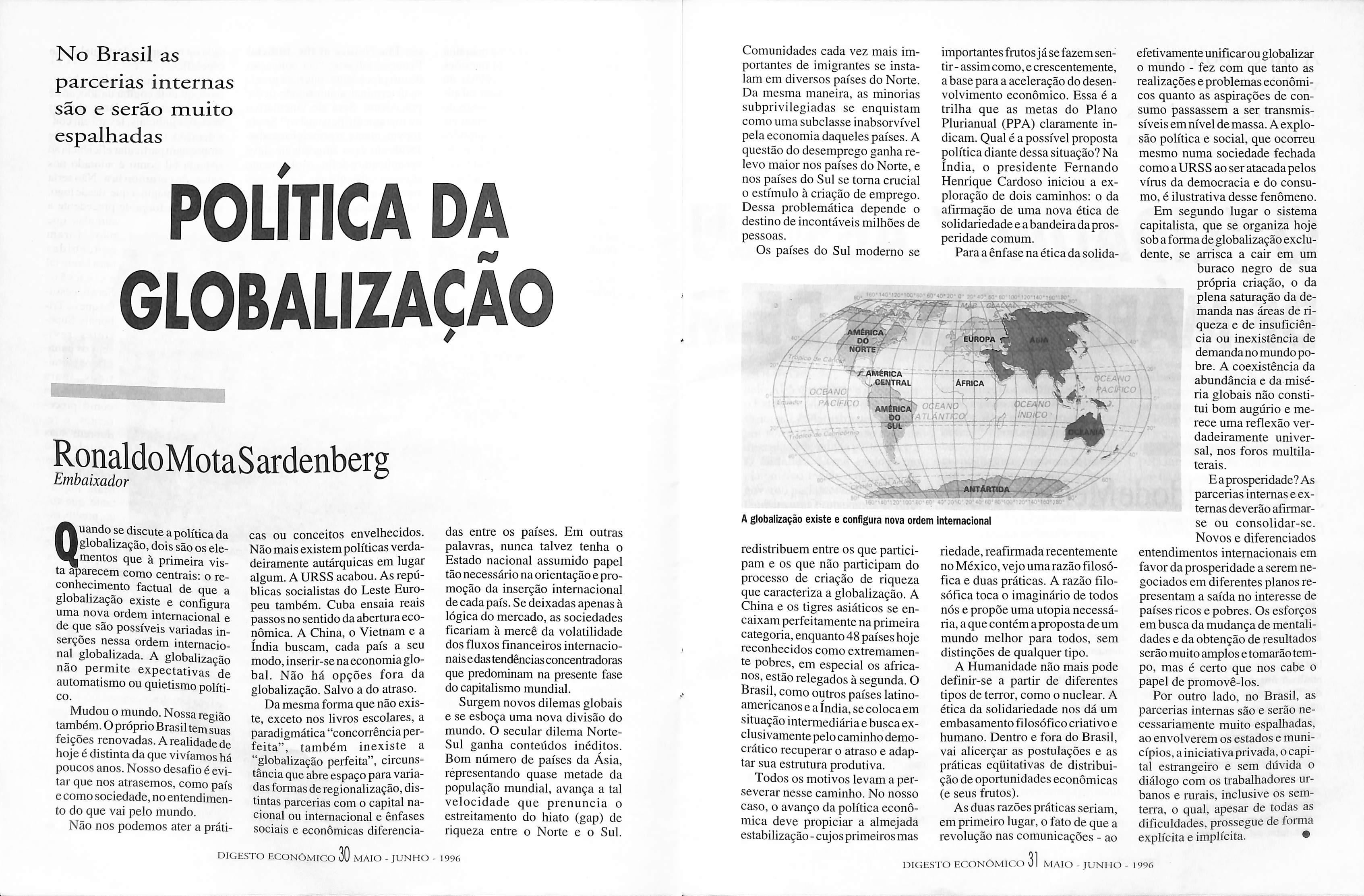
Q^
conceitos envelhecidos.
0 re-
uando se discute a política da globalização, dois são os ele^mentos que à primeira vis ta aparecem como centrais: conhecimento factual de que a globalização existe e configura uma nova ordem internacional e de que são possíveis variadas in serções nessa ordem internacio nal globalizada. A globalização nao permite expectativas de automatismo ou quietismo políti co.
Mudou o mundo. Nossa região também. O próprio Brasil tem suas feições renovadas. A realidade de hoje é distinta da que vivíamos há poucos anos. Nosso desafio é evi tar que nos atrasemos, como país e como sociedade, no entendimen to do que vai pelo mundo.
Não nos podemos ater a práti-
cas ou Não mais existem políticas verda deiramente autárquicas em lugar algum. A URSS acabou. As repú blicas socialistas do Leste Euro peu também. Cuba ensaia reais passos no sentido da abertura eco nômica. A China, o Vietnam e a índia buscam, cada país a seu modo, inserir-se na economia glo bal. Não há opções fora da globalização. Salvo a do atraso. Da mesma forma que não exis te, exceto nos livros escolares, a paradigmática “concoixência per feita”, também inexiste a “globalização perfeita”, circuns tância que abre espaço para varia das formas de regionalização, dis tintas parcerias com o capital na cional ou internacional e ênfases sociais e econômicas diferencia-
das entre os países. Em outras palavras, nunca talvez tenha o Estado nacional assumido papel tão necessário na orientação e pro moção da inserção internacional de cada país. Se deixadas apenas à lógica do mercado, as sociedades ficariam à mercê da volatilidade dos fluxos financeiros internacio nais e das tendências concentradoras que predominam na presente fase do capitalismo mundial.
Surgem novos dilemas globais e se esboça uma nova divisão do mundo. O secular dilema NorteSul ganha conteúdos inéditos. Bom número de países da Ásia, representando quase metade da população mundial, avança a tal velocidade que prenuncia o estreitamento do hiato (gap) de riqueza entre o Norte e o Sul.
Comunidades cada vez mais im portantes de imigrantes se insta lam em diversos países do Norte. Da mesma maneira, as minorias subprivilegiadas se enquistam como uma subclasse inabsorvível pela economia daqueles países. A questão do desemprego ganha re levo maior nos países do Norte, e nos países do Sul se torna crucial 0 estímulo à criação de emprego. Dessa problemática depende destino de incontáveis milhões de pessoas.
Os países do Sul moderno se
importantes frutos já se fazem sen tir- assim como, e crescentemente, a base para a aceleração do desen volvimento econômico. Essa é a trilha que as metas do Plano Plurianual (PPA) claramente in dicam. Qual é a possível proposta política diante dessa situação? Na índia, o presidente Fernando Henrique Cardoso iniciou a ex ploração de dois caminhos: o da afirmação de uma nova ética de solidariedade e abandeira da pros peridade comum.
Para a ênfase na ética da solida-
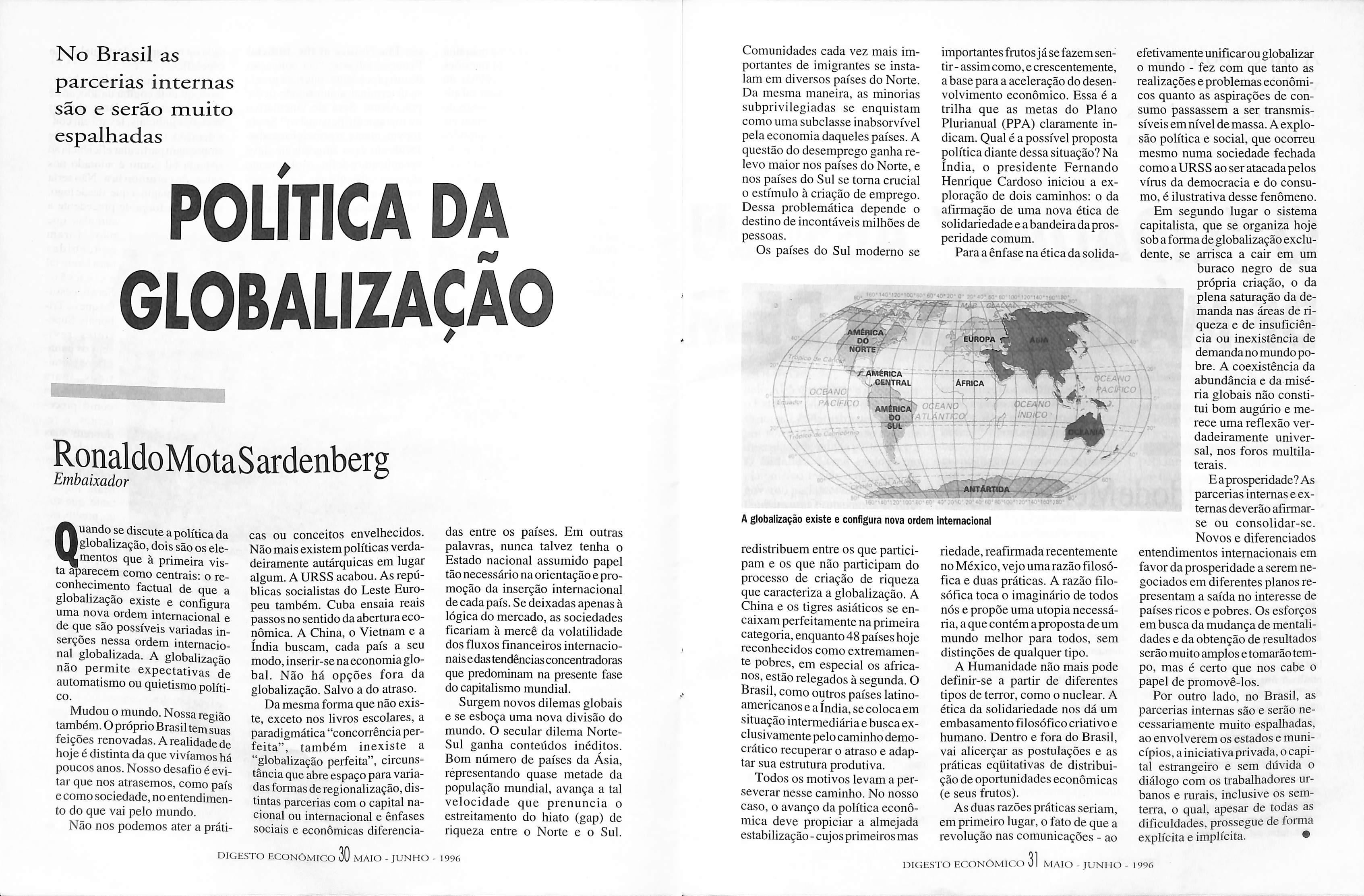
A globalização existe e configura nova ordem internacional
redistribuem entre os que partici pam e os que não participam do processo de criação de riqueza que caracteriza a globalização. A China e os tigres asiáticos se en caixam peifeitamente na primeira categoria, enquanto 48 países hoje reconhecidos como extremamen te pobres, em especial os africa nos, estão relegados à segunda. O Brasil, como outros países latino- americanos e a índia, se coloca em situação intermediáriae busca ex clusivamente pelo caminho demo crático recuperar o atraso e adap tar sua estrutura produtiva.
Todos os motivos levam a perseverar nesse caminho. No nosso caso, 0 avanço da política econô mica deve propiciar a almejada estabilização - cujos primeiros mas
riedade, reafirmada recentemente no México, vejo umarazão filosó fica e duas práticas. A razão filo sófica toca o imaginário de todos nós e propõe uma utopia necessá ria, a que contém a proposta de um mundo melhor para todos, sem distinções de qualquer tipo.
A Humanidade não mais pode definir-se a partir de diferentes tipos de ten'or, como o nuclear. A ética da solidariedade nos dá um embasamento filosófico criativo e humano. Dentro e fora do Brasil, vai alicerçai' as postulações e as práticas eqüitativas de disti'ibuição de oportunidades econômicas (e seus frutos).
As duas razões práticas seriam, em primeiro lugar, o fato de que a revolução nas comunicações - ao
efetivamente unificar ou globalizar o mundo - fez com que tanto as realizações e problemas econômi cos quanto as aspirações de con sumo passassem a ser transmis síveis em nível de massa. A explo são política e social, que ocorreu mesmo numa sociedade fechada como a URSS ao ser atacada pelos vírus da democracia e do consu mo, é ilustrativa desse fenômeno. Em segundo lugar o sistema capitalista, que se organiza hoje sob a forma de globalização excludente, se arrisca a cair em um buraco negro de sua própria criação, o da plena saturação da de manda nas áreas de ri queza e de insuficiên cia ou inexistência de demanda no mundo po bre. A coexistência da abundância e da misé ria globais não consti tui bom augúrio e me rece uma reflexão ver dadeiramente univer sal, nos foros multilaterais.
E a prosperidade? As parcerias internas e ex ternas deverão afirmarse ou consolidar-se. Novos e diferenciados entendimentos internacionais em favor da prosperidade a serem ne gociados em diferentes planos re presentam a saída no interesse de países ircos e pobres. Os esforços em busca da mudança de mentalidades e da obtenção de resultados serão muito amplos e tomarão tem po, mas é certo que nos cabe o papel de promovê-los.
Por outro lado, no Brasil, as parcerias internas são e serão necessaiiamente muito espalhadas, ao envolverem os estados e muni cípios, a iniciativa privada, o capi tal estrangeiro e sem dúvida o diálogo com os trabalhadores ur banos e rurais, inclusive os semterra, o qual, apesar de todas as dificuldades, prossegue de forma explícita e implícita. ®
A única política
válida é a que assegure liberdades subjetiva e objetiva
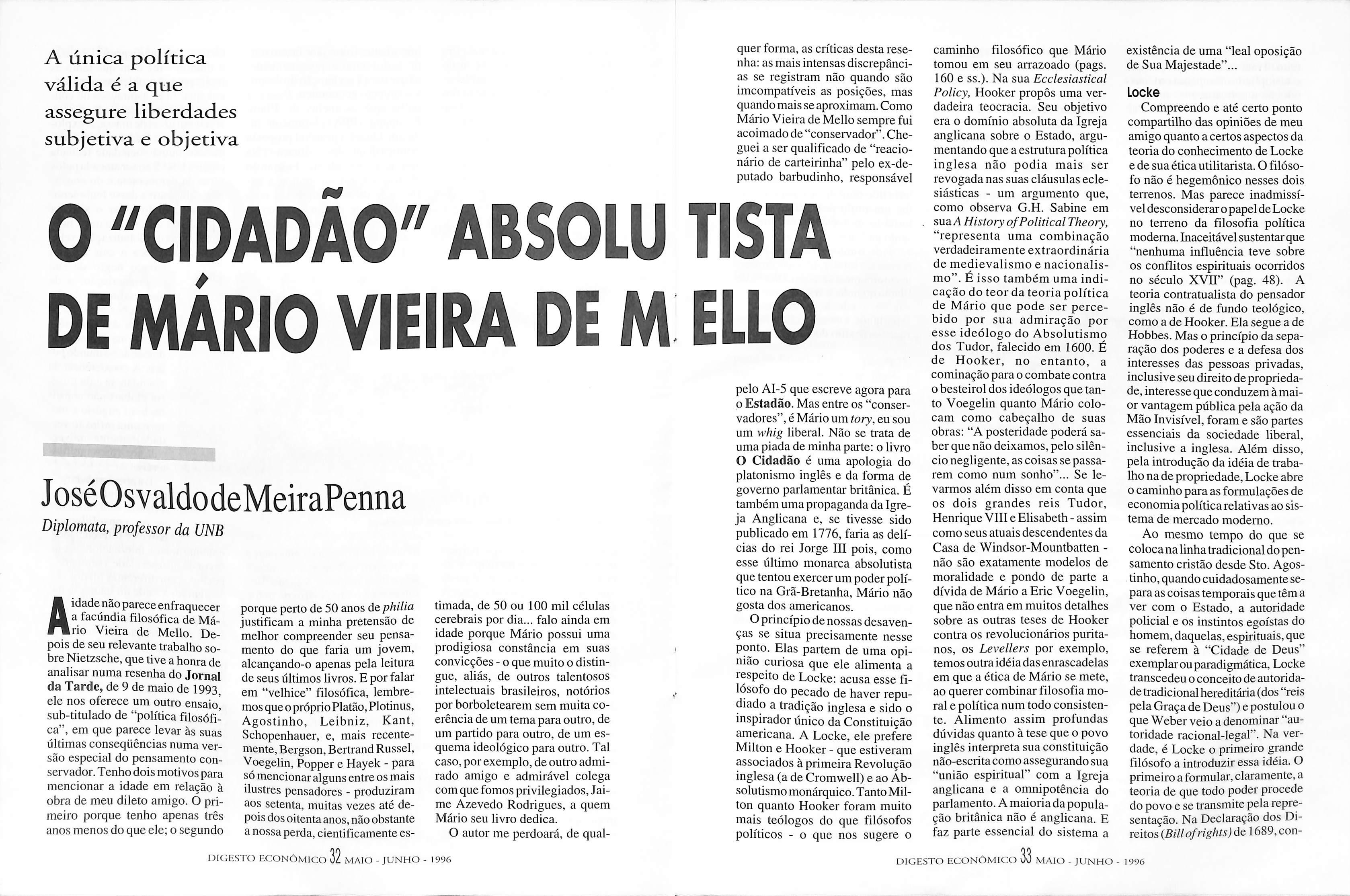
Diplomata, professor da UNB idade não parece enfraquec a facúndia filosófica de Má- ririo Vieira de Mello. De pois de seu relevante trabalho bre Nietzsche, que tive a honra de analisar numa resenha do Jornal da Tarde, de 9 de maio de 1993, ele nos oferece um outro
soensaio, sub-titulado de “política filosófi ca”, em que parece levar às suas últimas consequências numa ver são especial do pensamento con servador. Tenho dois motivos para mencionar a idade em relação à obra de meu dileto amigo. O pri meiro porque tenho apenas três anos menos do que ele; o segundo
porque perto de 50 anos de philia justificam a minha pretensão de melhor compreender seu pensa mento do que faria um jovem, alcançando-o apenas pela leitura de seus últimos livros. E por falar em “velhice” filosófica, lembre mos que o próprio Platão, Plotinus, Agostinho, Leibniz, Kant, Schopenhauer, e, mais recentemenie, Bergson, Bertrand Russel, Voegelin, Popper e Hayek - para só mencionar alguns entre os mais ilustres pensadores - produziram aos setenta, muitas vezes até de pois dos oitenta anos, não obstante a nossa perda, cientificamente es-
timada, de 50 ou 100 mil células cerebrais por dia... falo ainda em idade porque Mário possui uma prodigiosa constância em suas convicções - o que muito o distin gue, aliás, de outros talentosos intelectuais brasileiros, notórios por borboletearem sem muita co erência de um tema para outro, de um partido para outro, de um es quema ideológico para outro. Tal caso, por exemplo, de outro admi rado amigo e admirável colega com que fomos privilegiados, Jai me Azevedo Rodrigues, a quem Mário seu livro dedica.
O autor me perdoará, de qual-
quer forma, as críticas desta rese nha: as mais intensas discrepâncias se registram não quando são imcompatíveis as posições, mas quando mais se aproximam. Como Mário Vieira de Mello sempre fui acoimado de “conservador”. Cheguei a ser qualificado de “reacio nário de carteirinha” pelo ex-de putado barbudinho, responsável
wm m
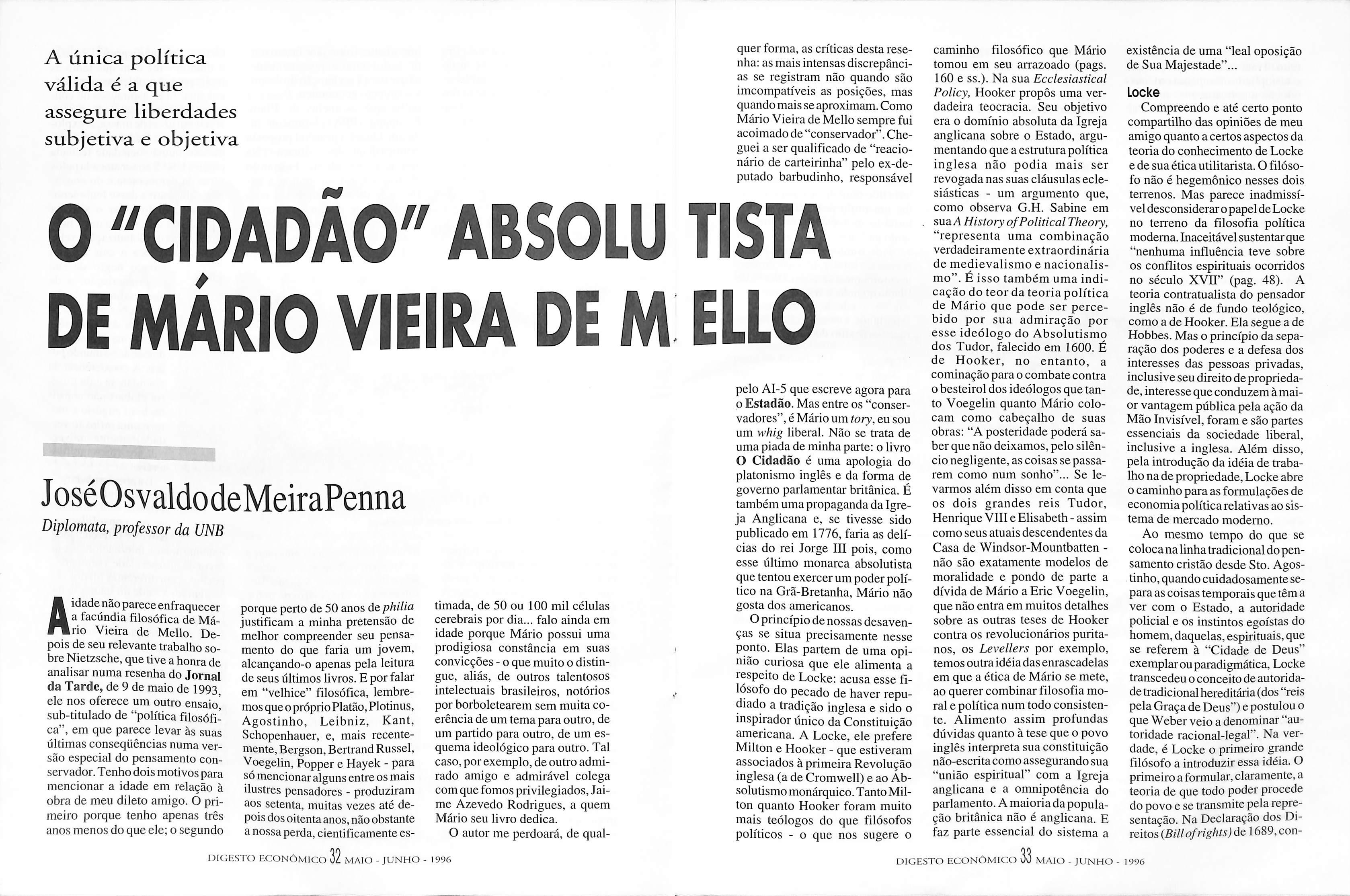
pelo AI-5 que escreve agora para 0 Estadão. Mas entre os conser vadores”, é Mário um tory, eu sou um whig liberal. Não se trata de uma piada de minha parte: o livro O Cidadão é uma apologia do platonismo inglês e da forma de governo parlamentar britânica. É também uma propaganda da Igre ja Anglicana e, se tivesse sido publicado em 1776, faria as delí cias do rei Jorge III pois, como esse último monarca absolutista que tentou exercer um poder polí tico na Grã-Bretanha, Mário não gosta dos americanos.
O princípio de nossas desaven ças se situa precisaniente nesse ponto. Elas partem de uma opi nião curiosa que ele alimenta a respeito de Locke: acusa esse fi lósofo do pecado de haver repu diado a tradição inglesa e sido o inspirador único da Constituição americana. A Locke, ele prefere Milton e Hooker - que estiveram associados à primeira Revolução inglesa (a de Cromwell) e ao Ab solutismo monárquico. Tanto Mil ton quanto Hooker foram muito mais teólogos do que filósofos políticos - o que nos sugere o a
caminho filosófico que Mário tomou em seu aiTazoado (pags. 160 e ss.). Na sua Ecclesiastical Policy, Hooker propôs uma ver dadeira teocracia. Seu objetivo era o domínio absoluta da Igreja anglicana sobre o Estado, argu mentando que a estrutura política inglesa não podia mais ser revogada nas suas cláusulas ecle siásticas - um argumento que, como observa G.H. Sabine em . sua A History ofPolitical Theoty, “representa uma combinação verdadeiramente extraordinária de medievalismo e nacionalis mo”. E isso também uma indi cação do teor da teoria política de Mário que pode ser perce bido por sua admiração por esse ideólogo do Absolutismo dos Tudor, falecido em 1600. É de Hooker, no entanto, a cominação para o combate contra 0 besteirol dos ideólogos que tan to Voegelin quanto Mário colo cam como cabeçalho de suas obras: “A posteridade poderá sa ber que não deixamos, pelo silên cio negligente, as coisas se passa rem como num sonho”... Se le varmos além disso em conta que os dois grandes reis Tudor, Henrique VIII e Elisabeth - assim como seus atuais descendentes da Casa de Windsor-Mountbattennão são exatamente modelos de moralidade e pondo de parte a dívida de Mário a Eric Voegelin, que não entra em muitos detalhes sobre as outras teses de Hooker contra os revolucionários purita nos, os Levellers por exemplo, temos outra idéia das enrascadelas em que a ética de Mário se mete, ao querer combinar filosofia mo ral e política num todo consisten te. Alimento assim profundas dúvidas quanto à tese que o povo inglês interpreta sua constituição não-escrita como assegurando sua “união espiritual” com a Igreja anglicana e a omnipotência do parlamento. A maioria da popula ção britânica não é anglicana. E faz parte essencial do sistema
existência de uma “leal oposição de Sua Majestade”...
Locke
Compreendo e até certo ponto compartilho das opiniões de meu amigo quanto a certos aspectos da teoria do conhecimento de Locke e de sua ética utilitarista. O filóso fo não é hegemônico nesses dois terrenos. Mas parece inadmissí vel desconsiderar o papel de Locke no terreno da filosofia política moderna. Inaceitável sustentar que “nenhuma influência teve sobre os conflitos espirituais ocorridos no século XVII” (pag. 48). A teoria contratualista do pensador inglês não é de fundo teológico, como a de Hooker. Ela segue a de Hobbes. Mas o princípio da sepa ração dos poderes e a defesa dos interesses das pessoas privadas, inclusive seu direito de proprieda de, interesse que conduzem à mai or vantagem pública pela ação da Mão Invisível, foram e são partes essenciais da sociedade liberal, inclusive a inglesa. Além disso, pela introdução da idéia de traba lho na de propriedade, Locke abre 0 caminho para as formulações de economia política relativas ao sis tema de mercado moderno. Ao mesmo tempo do que se coloca na linha tradicional do pen samento cristão desde Sto. Agos tinho, quando cuidadosamente se para as coisas temporais que têm a ver com o Estado, a autoridade policial e os instintos egoístas do homem, daquelas, espirituais, que se referem à “Cidade de Deus” exemplar ou paradigmática, Locke transcedeu o conceito de autorida de tradicional hereditária (dos “reis pela Graça de Deus”) e postulou o que Weber veio a denominar “au toridade racionaí-legal”. Na ver dade, é Locke o primeiro grande filósofo a introduzir essa idéia. O primeiro a formular, claramente, a teoria de que todo poder procede do povo e se transmite pela repre sentação. Na Declaração dos Di reitos (BiUofrights) de 1689, con-
solida-se a idéia de Estado de Di reito. Trata-se de uma noção que está implícita não apenas na Cons tituição americana, mas no atual sistema inglês e no de todas as nações civilizadas da Europa. Seu propósito não era criar uma ética de “controle das paixões”. Era sim plesmente evitar que coubesse ao Estado a imposição paternalista de uma ética “não egoísta”, enfeudada ao poder político. Não procede, no meu entender, 0 argumento de que Locke publi cou seus dois Tratados sobre o Governo Civil depois da Reyoiução de 1688. A obra do filósofo completa e justifica a Revolução Gloriosa que Mário tão corretamente glorifica. Discípulo de Shaftesbury e da liderança liberal whig que se opunha ao Absolutismo dos Stuart e, consequentemen te, ao rei católico James II partido tory - Locke foi obrigado refugiar-se na Holanda. Ali
come çou a escrever o Tratado e publi cou sua Epístola sobre a Tolerân cia. Ele voltou para a Inglaterra mesmo navio que levava a prince sa Mary, futura rainha e mulher de Guilherme de Orange, que suce deram ao monarca deposto. Locke é pois 0 filósofo da Revolução de 1688. Não parece justificado que rer reduzir seu papel na organiza ção do parlamentarismo inglês. Menos ainda considerá-lo, junta mente com Hobbes, “Inimigo da tradição humanista” (pag. 155). Hobbes continua sendo filósofo político inglês e um dos primeiros propugnadores do indi vidualismo, por mais ambíguas que sejam algumas de postulações extremamente ritárias. Acresce que só 150 depois de Locke e por influência dos whigs foi assegurada a sobe rania do parlamento na fórmula King in Parliament, com o gover no de gabinete e o predomínio dos Comuns sobre a Câmara dos Lordes. no
muito mais deve ao pensamento de estilo tory de alguns dos seus constitucionalistas, do que às conviccões lockeanas de Jefferson ou Madison. A adoção do sistema presidencialista, posteriormente imitado por toda a América Lati na, representou de fato um comcom 0 Absolutismo promisso monárquico que ainda, íeimosamente, se manifestava na pessoa do rei Jorge III. É à esquerda “li beral” americana, ao seguir algu mas das idéias de Rousseau, que se deve o crescimento do intervencionismo estatal america no. Isso nada tem a ver com o liberalismo de Locke. Em suma, o que Locke propõe foi a idéia filo sófica do individualismo liberal que, neste final de século, recebe a mais estupenda confirmação. Ve-
considerava o Estado 0 mais frio dos monstros
em relação a Locke se deva aos pendores evidentes que Mário re vela de crítica ao pluralismo ideo lógico implícito na receita liberal de tolerância. Mário é um conser vador radical. Seu anglicanismo é tão intensamente toiy e a religião única que propõe, na linhagem de Hooker, é tão exclusivista que, se fosse inglês, lady Thatcher não teria tido remédio senão oíbrecerIhe um título nobiliárquico para tor'ná-lo inofensivo com um as sento na Câmara dos Lordes... Na verdade, o autoritarismo de Mário parece tão intolerante que, em cer tos momentos, se assemelha ao de Platão quando, em sua República, sugere a educação em moldes espartanos, a excomunhão dos hereges e o exílio dos poetas.
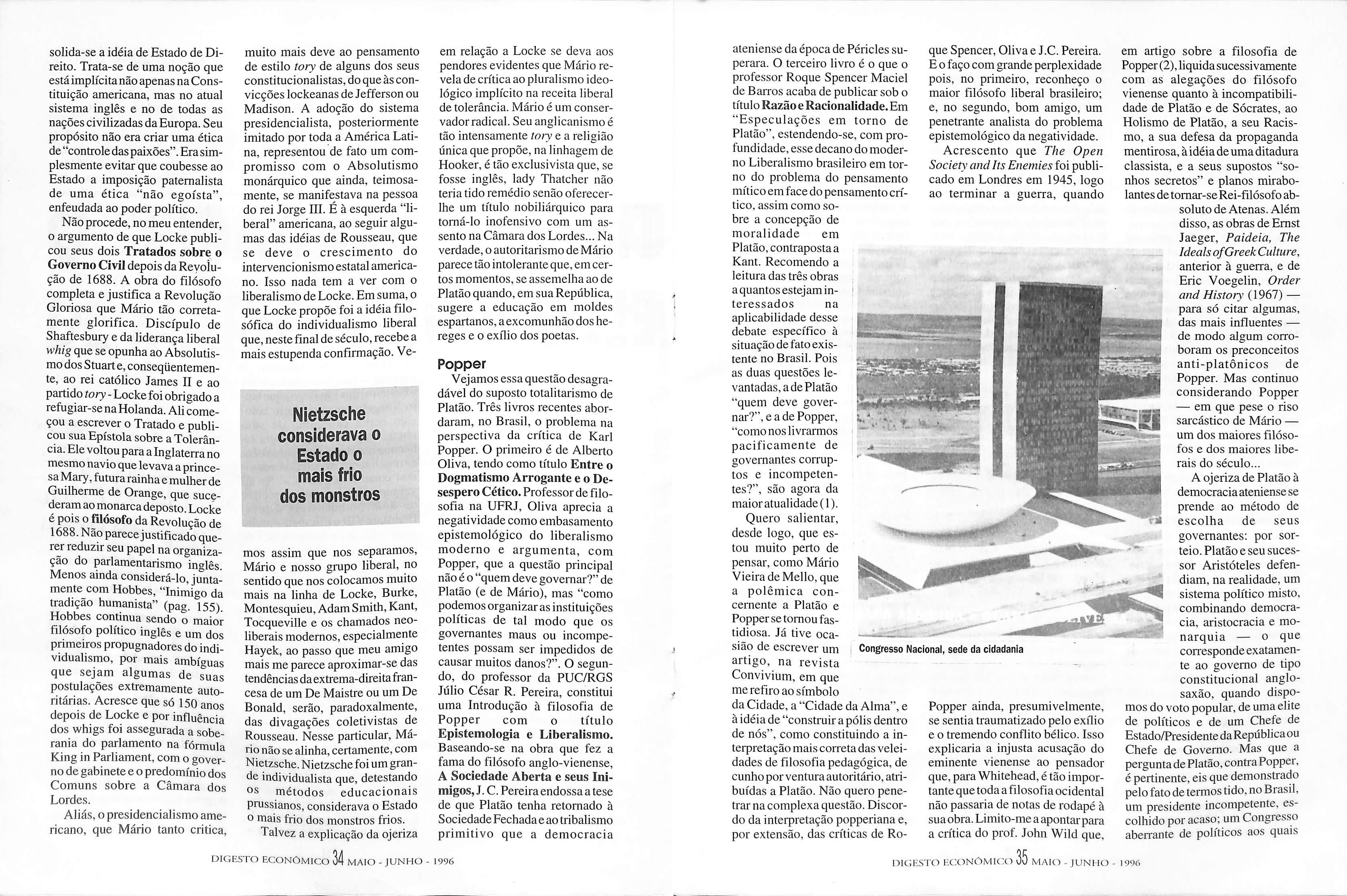
Aliás, 0 presidencialismo ame ricano, que Mário tanto critica.
Vejamos essa questão desagra dável do suposto totalitarismo de Platão. Três livros recentes abor daram, no Brasil, o problema na perspectiva da crítica de Karl Popper. O primeiro é de Alberto Oliva, tendo como título Entre o Dogmatismo Arrogante e o De sespero Cético. Professor de filo sofia na UFRJ, Oliva aprecia negatividade como embasamento epistemológico do liberalismo moderno e argumenta, com Popper, que a questão principal não é 0 “quem deve governar?” de Platão (e de Mário), mas “como podemos organizar as instituições políticas de tal modo que governantes maus ou incompe tentes possam ser impedidos de causar muitos danos?”. O segun do, do professor da PUC/RGS Júlio César R. Pereira, constitui uma Introdução à filosofia de Popper Epistemologia e Liberalismo. Baseando-se na obra que fez a fama do filósofo anglo-vienense, A Sociedade Aberta e seus Ini migos, J. C. Pereira endossa a tese de que Platão tenha retomado à Sociedade Fechada e ao tribalismo primitivo que a democracia e ao a
mos assim que nos separamos, Mário e nosso grupo liberal, no sentido que nos colocamos muito linha de Locke, Burke, Montesquieu, Adam Smith, Kant, Tocqueville e os chamados neoliberais modernos, especialmente Hayek, ao passo que meu amigo mais me parece aproximar-se das tendências daextrema-direitafran cesa de um De Maistre ou um De Bonald, serão, paradoxalmente, das divagações coletivistas de Rousseau. Nesse particular, Má rio não se alinha, certamente, com Nietzsche. Nietzsche foi um gran de individualista que, detestando métodos educacionais prussianos, considerava o Estado 0 mais frio dos monstros frios. Talvez a explicação da ojeriza econômico 34
mais na o maior os suas autoanos
título com o os
ateniense da época de Péricles su perara. O terceiro livro é o que o professor Roque Spencer Maciel de Barros acaba de publicar sob o título Razão e Racionalidade. Em “Especulações em torno de Platão”, estendendo-se, com pro fundidade, esse decano do moder no Liberalismo brasileiro em tor no do problema do pensamento mítico em face do pensamento crí tico, assim como so bre a concepção de moralidade
Platão, contraposta a Kant. Recomendo a leitura das três obras a quantos estejam in teressados aplicabilidade desse debate específico à situação de fato exis tente no Brasil. Pois as duas questões le vantadas, a de Platão “quem deve gover nar?”, e a de Popper, “como nos livrai-mos pacificamente de governantes corrup tos e incompeten tes?”, são agora da maioratualidade(l).
Quero salientar, desde logo, que es tou muito perto de pensar, como Mário Vieira de Mello, que a polêmica con cernente a Platão e Popper se tomou fas tidiosa. Já tive oca sião de escrever artigo, na revista Convivium, em que me refiro ao símbolo da Cidade, a “Cidade da Alma”, e à idéia de “construir apólis dentro de nós”, como constituindo a inteipretação mais correta das velei dades de filosofia pedagógica, de cunho por ventura autoritário, atri buídas a Platão. Não quei‘o pene trar na complexa questão. Discor do da interpretação popperiana e, por extensão, das críticas de Ro¬
que Spencer, Oliva e J.C. Pereira. E 0 faço com grande perplexidade pois, no primeiro, reconheço o maior frlósofo liberal brasileiro; e, no segundo, bom amigo, um penetrante analista do problema epistemológico da negatividade. Acrescento que The Open Society and Its Enemies foi publi cado em Londres em 1945, logo ao íerrninar a guerra, quando
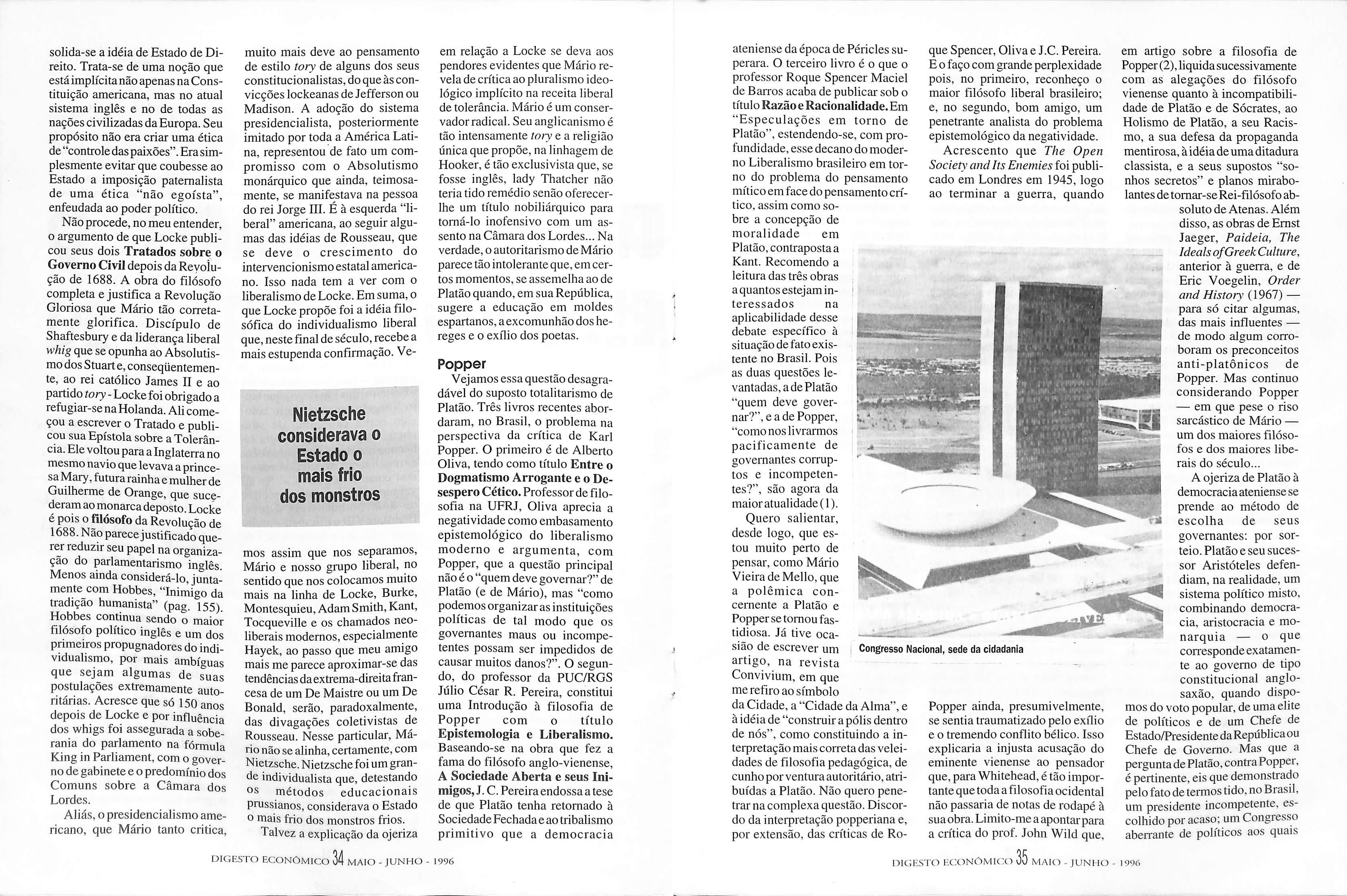
Popper ainda, presumivelmente, se sentia traumatizado pelo exílio e o tremendo conflito bélico. Isso explicaria a injusta acusação do eminente vienense ao pensador que, para Whitehead, é tão impor tante que toda a filosofia ocidental não passaiia de notas de rodapé à sua obra. Limito-me a apontai- para a crítica do prof John Wild que,
em artigo sobre a filosofia de Popper (2), liquida sucessivamente com as alegações do filósofo vienense quanto à incompatibili dade de Platão e de Sócrates, ao Holismo de Platão, a seu Racis mo, a sua defesa da propaganda mentirosa, à idéia de uma ditadura classista, e a seus supostos “so nhos secretos” e planos mirabo lantes de tomar-se Rei-filósofo ab soluto de Atenas. Além disso, as obras de Emst Jaeger, Paideia, The Ideais ofGreek Culture, anterior à guerra, e de Eric Voegelin, Oj'der and Histo7-y (1967) — para só citar algumas, das mais influentes — de modo algum corro boram os preconceitos anti-platônicos de Popper. Mas continuo considerando Popper — em que pese o riso sarcástico de Mário — um dos maiores filóso fos e dos maiores libe rais do século...
A ojeriza de Platão à democracia ateniense se prende ao método de escolha de seus governantes; por sor teio. Platão e seu suces sor Aristóteles defen diam, na realidade, um sistema político misto, combinando democra cia, aristocracia e mo narquia corresponde exatamen te ao governo de tipo constitucional anglosaxão, quando dispo mos do voto popular, de uma elite de políticos e de um Chefe de Estado/Presidente daRepúblicaou Chefe de Governo. Mas que a pergunta de Platão, conrta Popper. é pertinente, eis que demonstrado pelo fato de termos tido, no Brasil, um presidente incompetente, es colhido por acaso; um Congresso aben-ante de políticos aos quais
0 que
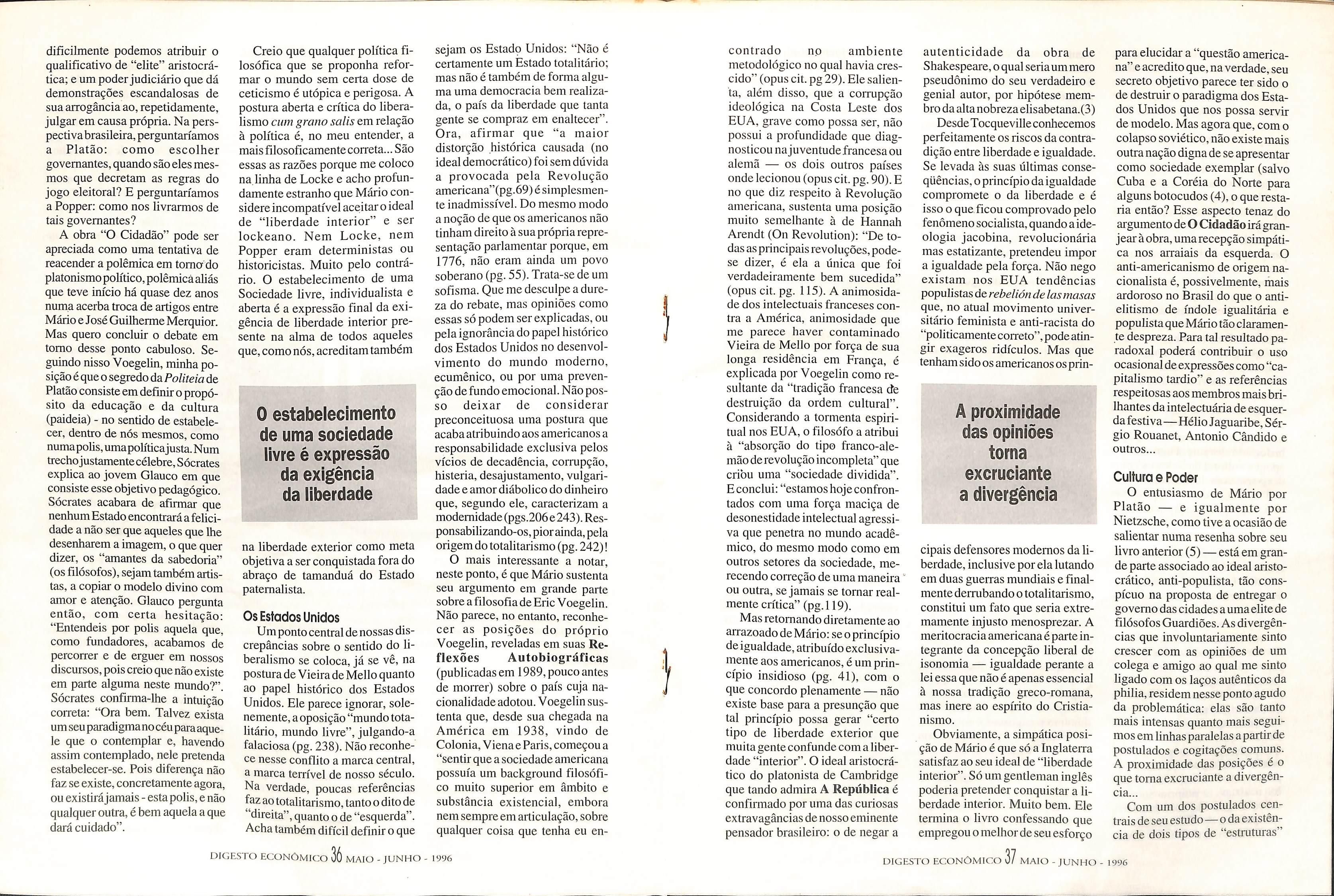
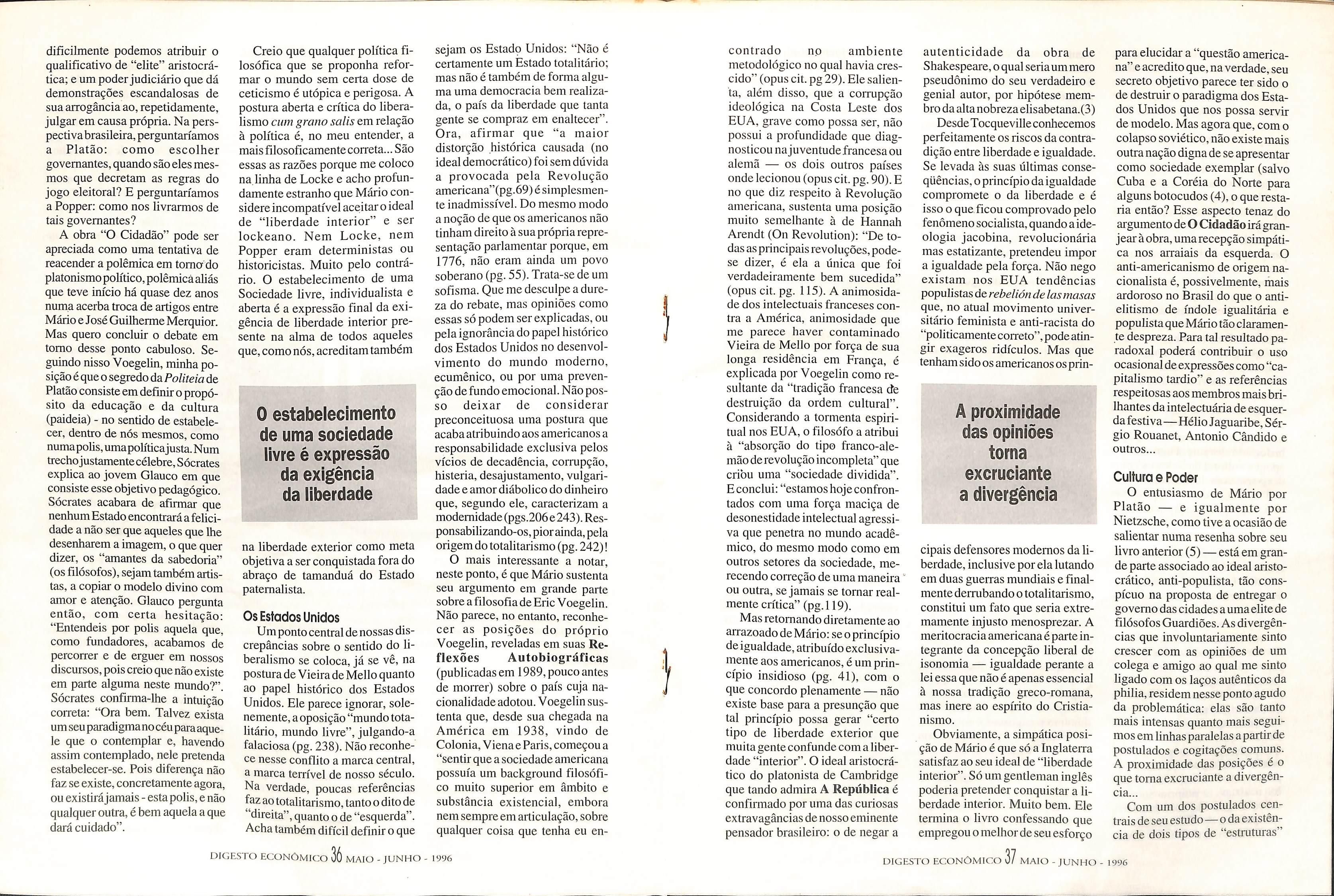
sociais ou político/filosóficas, as estruturas de poder e as estru turas de cultura — lança o autor uma tese revolucionária, a única realmente revolucionária num dis curso solidamente conservador. As primeiras seriam exem plificadas pela nação americana, as segundas pelo paradigma da Inglaterra. Como só as estruturas de cultura podem servir à paideia espiritual que Mário propõe como meta para a educação do homem, em geral, e para a do brasileiro em particular — deduz-se que o mo delo americano deveria ser defini tivamente condenado e expurga-
mente injustas “estruturas do po der ateniense. No Gorgias — um dos mais extraordinários textos de filosofia política que se conheça (515 a 519)—reprovação especí fica é endereçada a Péricles, Cimon, Milcíades e Themístocles, os grandes heróis da cidade, por se haverem ocupado com erguer muralhas, construir portos, armar esquadras, ao invés de cogitarem sobre a Justiça e se dedicarem ao aperfeiçoamento de suas almas.
contra os Boers sul-africanos?
No trecho do Gorgias acima mencionado, Sócrates qualifica a vontade de domínio como uma
inchação que acaba como uma gangrena na alma das cidades ou nações sujeitas à pleonexia. To das as grandes nações européias, sem exceção, sofreram da enfernüdade. Representa por isso algo extremamente injusto e historica mente errôneo atribuir aos Esta dos Unidos a exclusividade de um mal universal. A generalidade da tensão entre estruturas de poder e estruturas de cultura constitui um dos mais insondáveis mistérios da história. É um dos grandes enig mas da alma humana a convivên cia entre vontade de poder, egoís mo agressivo, gênio para a cultura e espiritualidade. Quero aqui in sistir na posição agostiniana que emerge da teologia de S. Paulo: é a tensão entre os dois homens (o pneumático e o carnal), entre as duas Cidades e as duas éticas o que determina nosso comporta mento ambivalente, traço inevitá vel da condição existencial. Com seu pendor filosófico, Mário faria bem em debruçar-se por alguns instantes sobre essas lamentáveis facetas de nossa psique... Ninguém melhor do que Voegelin compreendeu as condi ções tenebrosas da existência co letiva. É esse, no meu entender, um dos motivos de dever ser con siderado o maior filósofo da histó ria neste século e um dos seus maiores pensadores políticos. Mário dedica a Voegelin um capí tulo inteiro de encômios. E de fato lhe ficarei etemamente grato por haver sito as pessoa que, há mais de 40 anos, me chamou a atenção obra extraordinária desse alemão do.
A idéia de um antítese funda mental entre Cultura e Poder é aceitável. É mesmo bastante fér til. Tem grande poder sugestivo, se não for personificada em indi víduos ou povos dados como exemplos específicos. No meu entender, cultura e poder estão inextricavelmente associados nas nações que desempenharam papel histórico relevante. Digo mais, o apogeu cultural de todos os gran des povos coincidiu, sempre, com a exacerbação de sua força agres siva. A própria Atenas que, discí pulo de Nietzsche, Mário tanto admira como a culminância da cultura universal, distinguiu-seno século de Péricles, por haver pro vocado a fatalidade inexpiável da Guerra do Peloponeso. Platão ti nha apenas dez anos de idade e já era Sócrates um homem maduro de seus 60 quanto os imperialistas de Atenas massacraram toda a população da ilha de Meios, por que esta se negara a submeter-se à sua tirania. Conta-nos Tucídides que, ao exigir a rendição de Meios, os diplomatas atenienses haviam alegado que “os fortes fazem que podem, os fracos o que de vem poder que só atribuiriamos hoje a SS nazistas. O próprio Sócrates dos diálogos de Platão condena, nas pessoas de Thrasymachus e de Cállicles, a defesa das suma-
Mas o que dizer das “estruturas de poder” da França na época de sua maior glória artística e intelec tual? Da França das guerras de Luís XIV, do terror revolucioná rio de 1793/94 e do imperialismo napoleônico? Mário também man tém o mais recatado silêncio sobre ‘estruturas de poder” de incrí-

Quero insistir na posição agisiiiiiana que emerge da teologia de Sãe
vel ferocidade dessa mesma Ale manha que nos deu a Kultur de um Lutero, um Kant, um Goethe ou um Nietzsche. Não se abala tampouco com o fato de que Nietzsche colocou a “vontade de poder” (Wille zur Macht) como ponto central de ensinamentos. E o que dizer da própria Inglaterra cujos ímpetos de poder criaram o maior império que a humanidade conheceu? Um domínio conquistado, entretanto, não com a pena de um Shakespeare, um Milton ou um Hooker — mas com os canhões dos navios de Sua Majestade e, incidentalmente, com a invenção dos campos de concentração, uma “estrutura de poder” pela primeira vez testada em 1901, na Guerra
seus para a professor deiiberadamente, preferiu o que Mário chama as “estruturas de poder” dos Estados Unidos, onde se exilou, lecionou e naturalizou, do que as supostas “estruturas de cultura” de seu próprio continen te. Se é verdade que o que desejam que. o um caso de pleonexia de

os americanos é natureza, um esforço sobre o sé culo, um trabalho de conhecimen to material, científico, e uma obra gigantesca de crescimento do po der tecnológico. Nada disso, po rém, é obra exclusiva dos ameri canos, a não ser que sob esse as pecto eles sejam os mais ociden tais de todos os europeus.
comer Voegelin”, ao organizarem um seminário nos EUA (6), porque um dos temas do certame seria “a instrumentalização das paixões humanas: Locke, Helvetius, Pascal” (não encontrei esse item no programa da conferência) — resta provar por que os europeus nem mesmo se deram, até hoje, ao trabalho de organizar seminário ou Instituto Voegelin, muito em bora tenha o filósofo lecionado vários anos em Munique (onde, incidentalmente, o conheci em 1961). Os principais intérpretes de Voegelin são dois professores, John Hallowell da Carolina do Norte (onde também o conheci) e Ellis Sandoz, cujo Instituto Voegelin funciona na Lousiana. Tudo que li de Voegelin e sobre Voegelin foi publicado na América.
Quanto à idéia que Pascal “instrumentalizou as paixões” humanas me parece outra opinião duvidosa. Certamente não se coa duna com o que escreve Voegelin no capítulo ni de sua obra From Enlightenment to Revolution (7). A análise que ali faz Voegelin do pensamento de Pascal, de sua idéia que “/e mit est haissable'" e de seu contemptus mundi legitimamente cristão, de modo algum justifica o comentário acima. É verdade que a ação no mundo tornou-se a paixão dominante do homem moderno. Mas não há remédio!.
Não existe naquela obra de Voegelin nenhuma sugestão de que o homem verdadeiramente ético seja um membro de uma comunidade holística. Embora obviamente um conservador de tendências autoritárias, o filósofo americano parece acreditar que o coletivismo é um paradigma soci alista de origem gnóstica. E se é interpretação de Mário que o po der econômico oprime e privanos de liberdade, devemos com-
E utopia ima^nar quesirlip^^I
caminho ao totalitarismo quan do, no período 1945/52, deti^am o monopólio da bomba atômica e 50% do poder de produção indus trial no mundo. Voegelin critica os “políticos gnósticos” por uma tal aberração. No trecho citado declara o seguinte: “Os fatos são insignificantes, mas talvez não tenha sido suficientemente com preendido que nunca dantes, da história da Humanidade, uma potência mundial usou a vitória deiiberadamente para criar um vácuo de poder em sua própria desvantagem” (8).
Finalmente, atentemos para o fato que Voegelin, obviamente um homem de profunda fé, constrói seu edifício sobre um pressuposto de Revelação de natureza filosófi ca, ao passo que em parte alguma de sua obra revele Mário qualquer convicção teísta. Seu Cristianis mo limita-se a admirar a ética de Lutero, a angústia de Kierkegaard e o valor político da religião anglicana. Trata-se de uma religi osidade que o próprio Voegelin, em From Enlightenment to Revolution, pg. 59, alinharia entre aquelas que atingem a um “fim catastrófico”, “como o de Nietzsche”.
A modernidade é isso mesmo. É mera utopia imaginar que seria possível, salvo para algumas al mas privilegiadas, reconduzir toda a sociedade a um mosteiro da Idade Média ou aos jardins de Academo, no quarto século antes de Cristo. Weber bem caracteri zou a civilização moderna como procedente intramundana. A civilização oci dental se tem dedicado, desde o Renascimento, a Reforma e so bretudo a Iluminação dos séculos XVII e XVIII, a “instrumentalizar as paixões” para uma ação sobre a
da ascese
preender que é precisamente a li berdade exterior, proporcionada pelaformade vida americananuma economia de mercado livre, o que permite escapar da tirania de elites burocráticas que monopolizam esse poder. Não por acaso são a filantropia e a medicina (uma filantropia remunerada) a princi pal indústria americana - se puser mos de lado o poder militar que, durante 50 anos, nos protegeu, a todos nós, liberais e conservado res da escravidão totalitária... O curioso é que, num trecho rele vante de sua obra A Nova Ciência da Política, Voegelin critica os americanos, justamente, não por haver abusado de seu poder, mas por o não haver oportuna mente utilizado para barrar o
Épossível, creio, talvez por efei to de uma pinta de gnosticismo em sua mente, não haja Mário podido compreender tenham os Estados Unidos, a maior potência que o mundo jamais conheceu, inaugu rado um sistema único de gover no. Esse sistema, consiste, justa mente, em limitar e descentrali zar o poder através da estrutura do Estado de Direito (Rule ofLaw). O objetivo foi, na verdade, descentralizá-lo, pulverizá-lo, reduzí-lo a seus componentes in dividuais de tal modo que nenhum homem ou grupo de homens, pro vido de carisma e por mais ambi ciosos que sejam, possam jamais atingir aos píncaros do poder po lítico soberano de que o Velho Mundo eurasiático nos deu tantas vezes o triste exemplo.
É também injustificável que Mário contraste a “liberdade inte rior” - o sublime ideal socráticocom a “liberdade do poder” e o “uso imoderado e incontrolado do poder do dinheiro”, desse último vício acusando os americanos e, por extensão, os “espíritos super ficiais” (como eu?) - aqueles, pre cisamente, cuja concepção de “es trutura” social, política e econônúca mais fundamental, na linha de Locke, Adan Smith, Hume, Adam Ferguson, Montesquieu, Kant, Burke, Tocqueville, Lord Acton, os filósofos radicais ingle ses e os Pais da Pátria americanos de 1776, consistiu em imaginar e desenvolvermeios vários de con trolar o poder. Pois o que são o federalismo, o mecanismo de checks & balance, a doutrina de Separação dos Poderes, o rompi mento radical entre Igreja e Esta do, a liberdade quase absoluta de expressão e associação, e uma economia de mercado livre, se não métodos vários que visam, acima de tudo, evitar o uso mo nopolizado, concentrado, imoderado e incontrolado do poder do dinheiro?
É grave e profundamente perturbador que, na linha de Kooker, meu amigo defenda um sistema de união da Igreja e do Estado, uma espécie de césaropapismo que mesmo se de estilo anglicano seria basicamen te totalitário... Um tal sistema é diretamente condenado por Voegelin {opus cit.) que mais me parece alinhar-se pela venerável doutrina agostiniana de cuidadosa distinção entre o que é de César (e da cidade terrena) e o que é de Deus e da Civitas Dei. Pior ainda, que Mário combata o pluralismo das idéias, movimentos e doutri nas, numa extensão insustentável das posições de Voegelin a respei to da “anarquia” mental que o Gnosticismo teria provocado a partir do pre-Renascimento do sé culo XVII. Nesse ponto, surgem versões radicais “teocráticas” do
ponto de vista anti-gnóstico. Elas sugerem algo como um dogmatismo eclesiástico medie val que se aproxima, ominosamente, senão da Gleichshaltung, ou uniformização das opiniões e convicções políti cas praticadas pelos nazistas, pelo menos da homonoia arístotélicatomista que serviu à Inquisição, tanto nos reinos católicos da Contra-Reforma, quanto na Inglaterra de Henrique Vm, Elisabeth e seus sucessores imediatos - de pretexto para submeter, decapitar ou quei mar dissidentes recalcitrantes. Foi um estado de coisas que prevale ceu até o momento em que Locke e seus discípulos a todos conse guiram convencer do valor da to lerância. Na verdade, coube à ideologia do século XX o
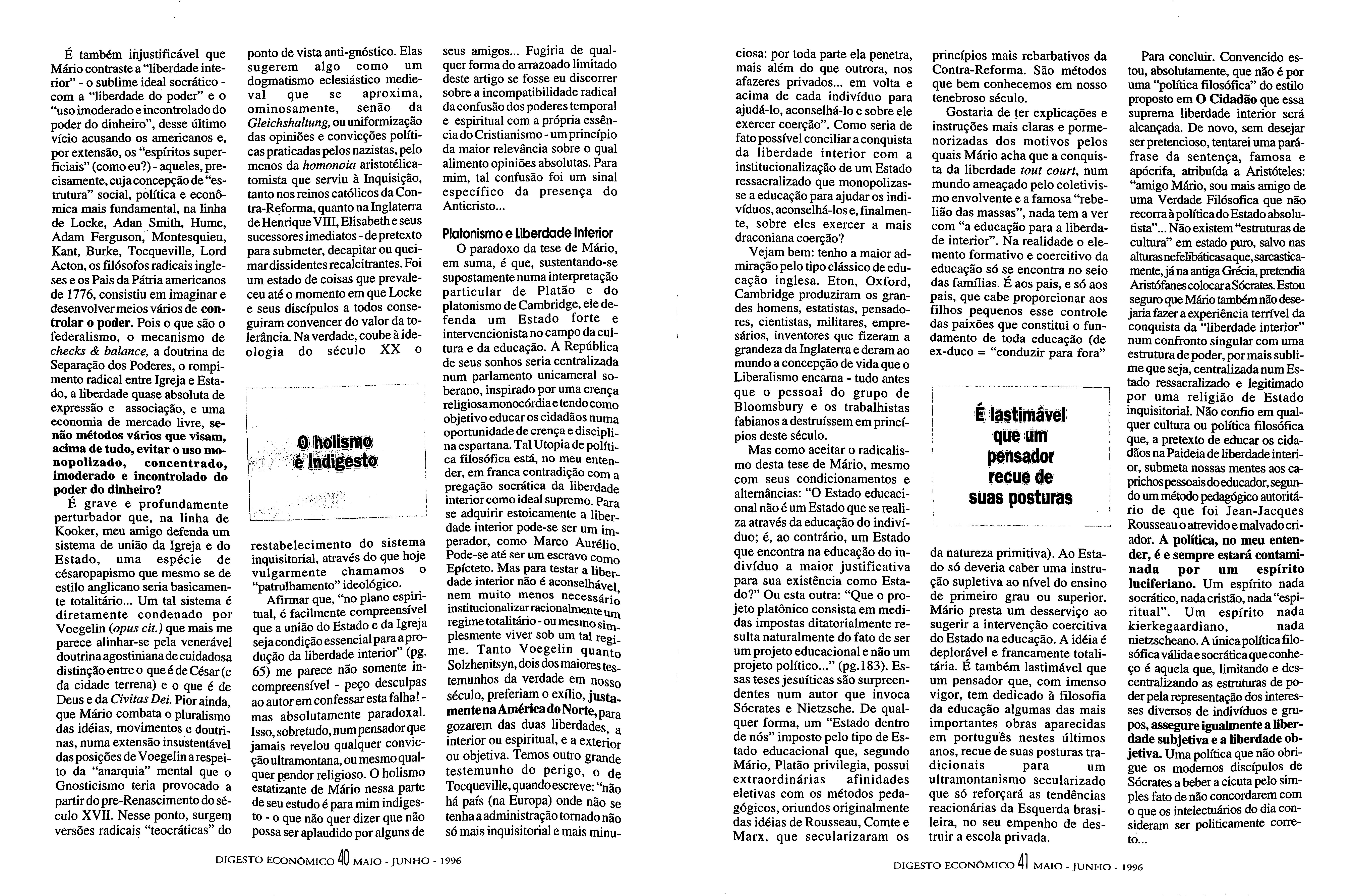
®i|iô|iisnii
restabelecimento do sistenia inquisitoríal, através do que hoje vulgarmente chamamos “patrulhamento” ideológico.
Afirmar que, “no plano espiri tual, é facilmente compreensível que a união do Estado e da Igreja seja condição essencial para a pro dução da liberdade interior” (pg. 65) me parece não somente in compreensível - peço desculpas autor em confessar esta falha!absolutamente paradoxal. o ao mas Isso, sobretudo, num pensador que jamais revelou qualquer convic ção ultramontana, ou mesmo qual quer pendor religioso. O holismo estatizante de Mário nessa parte de seu estudo é para mim indiges to - o que não quer dizer que não possa ser aplaudido por alguns de
seus amigos... Fugiría de qual quer forma do arrazoado limitado deste artigo se fosse eu discorrer sobre a incompatibilidade radical da confusão dos poderes temporal e espiritual com a própria essên cia do Cristianismo - um princípio da maior relevância sobre o qual alimento opiniões absolutas. Para mim, tal confusão foi um sinal específico da presença do Anticrísto...
Platonismo e Liberdade Interior o paradoxo da tese de Mário, em suma, é que, sustentando-se supostamente numa interpretação particular de Platão e do platonismo de Cambrídge, ele de fenda um Estado forte e intervencionista no campo da cul tura e da educação. A República de seus sonhos seria centralizada num parlamento unicameral so berano, inspirado por uma crença religiosa monocórdia e tendo como objetivo educar os cidadãos numa oportunidade de crença e discipli na espartana. Tal Utopia de políti ca filosófica está, no meu enten der, em franca contradição com a pregação socrática da liberdade interior como ideal supremo. Para se adquirir estoicamente a liber dade interior pode-se ser um im perador, como Marco Aurélio Pode-se até ser um escravo comô Epícteto. Mas para testar a liber dade interior não é aconselhável nem muito menos necessário institucionalizar racionalmente um regime totalitário - ou mesmo sim plesmente viver sob um tal regi. me. Tanto Voegelin quanto Solzhenitsyn, dois dos maiores tes temunhos da verdade em nosso século, preferiam o exílio, justamente na América do Norte, para gozarem das duas liberdades, a interior ou espiritual, e a exterior ou objetiva. Temos outro grande testemunho do perigo, o de Tocqueville, quando escreve: “não há país (na Europa) onde não se tenha a administração tomado não só mais inquisitoríal e mais minu-
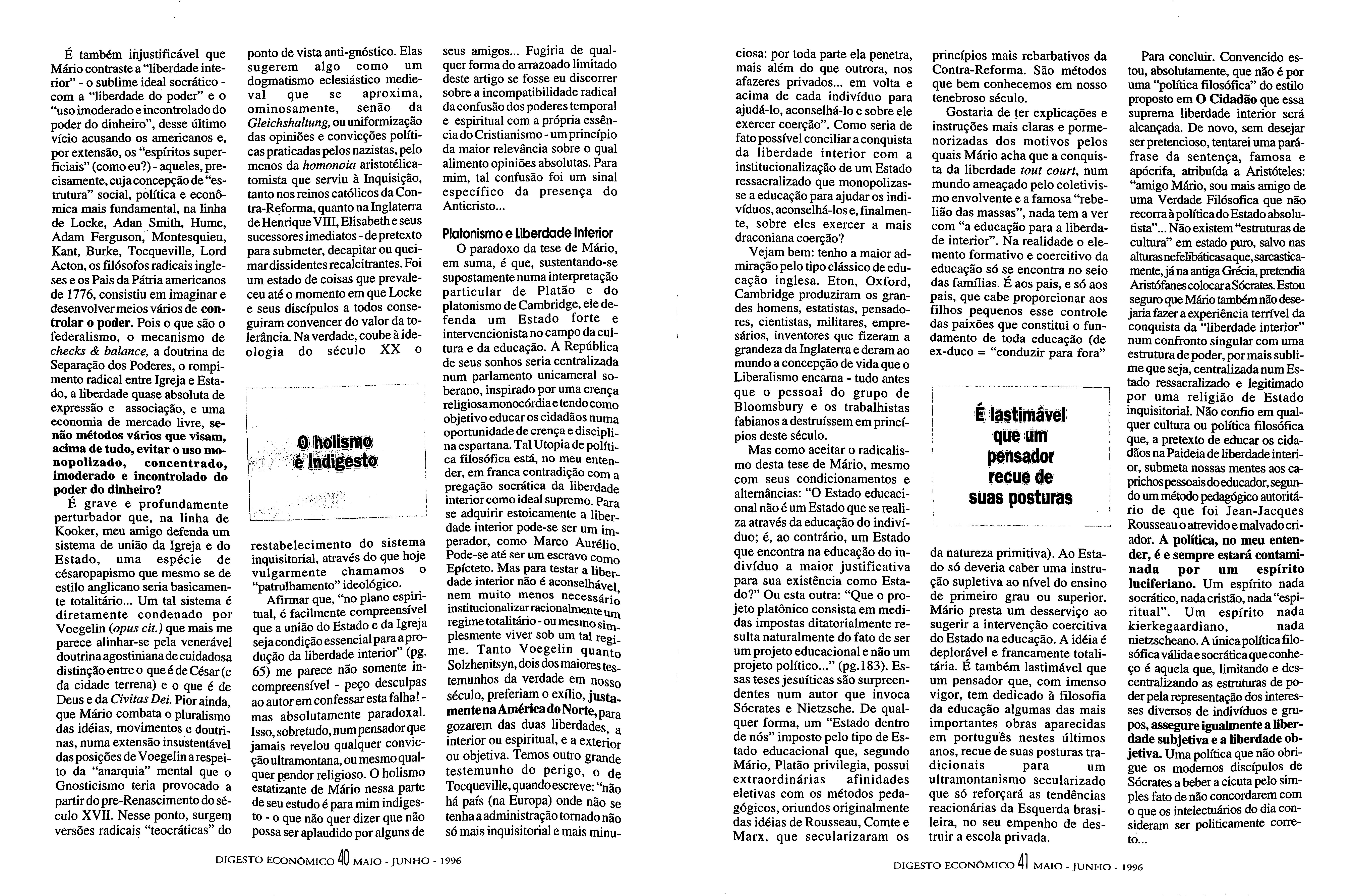
ciosa: por toda parte ela penetra, mais além do que outrora, nos afazeres privados... em volta e acima de cada indivíduo para ajudá-lo, aconselhá-lo e sobre ele exercer coerção”. Como seria de fato possível conciliar a conquista da liberdade interior com a institucionalização de um Estado ressacralizado que monopolizas se a educação para ajudar os indi víduos, aconselhá-los e, finalmen te, sobre eles exercer a mais draconiana coerção?
Vejam bem: tenho a maior ad miração pelo tipo clássico de edu cação inglesa. Eton, Oxford, Cambrídge produziram os gran des homens, estatistas, pensado res, cientistas, militares, empre sários, inventores que fizeram a grandeza da Inglaterra e deram ao mundo a concepção de vida que o Liberalismo encarna - tudo antes que o pessoal do grupo de Bloomsbury e os trabalhistas fabianos a destruíssem em princí pios deste século.
Mas como aceitar o radicalis mo desta tese de Mário, mesmo com seus condicionamentos e alternâncias: “O Estado educaci onal não é um Estado que se reali za através da educação do indiví duo; é, ao contrário, um Estado que encontra na educação do in divíduo a maior justificativa para sua existência como Esta do?” Ou esta outra: “Que o pro jeto platônico consista em medi das impostas ditatorialmente re sulta naturalmente do fato de ser um projeto educacional e não um projeto político...” (pg.l83). Es sas teses jesuíticas são surpreen dentes num autor que invoca Sócrates e Nietzsche. De qual quer forma, um “Estado dentro de nós” imposto pelo tipo de Es tado educacional que, segundo Mário, Platão privilegia, possui extraordinárias eletivas com os métodos peda gógicos, oriundos originalmente das idéias de Rousseau, Comte e Marx, que secularizaram os
princípios mais rebarbativos da Contra-Reforma. São métodos que bem conhecemos em nosso tenebroso século.
Gostaria de ter explicações e instruções mais claras e porme norizadas dos motivos pelos quais Mário acha que a conquis ta da liberdade tout court, num mundo ameaçado pelo coletivismo envolvente e a famosa “rebe lião das massas”, nada tem a ver com “a educação para a liberda de interior”. Na realidade o ele mento formativo e coercitivo da educação só se encontra no seio das famílias. É aos pais, e só aos pais, que cabe proporcionar aos filhos pequenos esse controle das paixões que constitui o fun damento de toda educação (de ex-duco = “conduzir para fora”
í lÉstliiíâyfl
da natureza primitiva). Ao Esta do só deveria caber uma instru ção supletiva ao nível do ensino de primeiro grau ou superior. Mário presta um desserviço ao sugerir a intervenção coercitiva do Estado na educação. A idéia é deplorável e francamente totali tária. É também lastimável que um pensador que, com imenso vigor, tem dedicado à filosofia da educação algumas das mais importantes obras aparecidas em português nestes últimos anos, recue de suas posturas tra dicionais ultramontanismo secularizado que só reforçará as tendências reacionárias da Esquerda brasi leira, no seu empenho de des truir a escola privada.
Para concluir. Convencido es tou, absolutamente, que não é por uma “política filosófica” do estilo proposto em O Cidadão que essa suprema liberdade interior será alcançada. De novo, sem desejar ser pretencioso, tentarei uma pará frase da sentença, famosa e apócrifa, atribuída a Aristóteles: “anügo Mário, sou mais aiiügo de uma Verdade Filósofica que não recorra à política do Estado absolutista”... Não existem “estruturas de cultura” em estado puro, salvo nas alturas nefeübáticas aque, sarcastica mente, já na antiga Grécia, pretendia Aristófanes colocar aSócrates. Estou seguro que Mário também não dese jaria fazer a experiência terrível da conquista da “liberdade interior” num confronto singular com uma estrutura de poder, por mais subli me que seja, centralizada num Es tado ressacralizado e legitimado por uma religião de Estado inquisitoríal. Não confio em qual quer cultura ou política filosófica que, a pretexto de educar os cida dãos na Paideia de liberdade interi or, submeta nossas mentes aos ca prichos pessoais do educador, segun do um método pedagógico autoritário de que foi Jean-Jacques Rousseau o atrevido e malvado cri ador. A política, no meu enten der, é e sempre estará contami nada por um espírito luciferiano. Um espírito nada socrático, nada cristão, nada “espi ritual”. Um espírito nada kierkegaardiano, nietzscheano. A única política filo sófica válida e socrática que conhe ço é aquela que, limitando e des centralizando as estruturas de po der pela representação dos interes ses diversos de indivíduos e gru pos, assegure igualmente a liber dade subjetiva e a liberdade ob jetiva. Uma política que não obri gue os modernos discípulos de Sócrates a beber a cicuta pelo sim ples fato de não concordarem com o que os intelectuários do dia con sideram ser politicamente corre-
nada para um afinidades
to...
1 - Não devemos, contudo, nos comportar como Woodrow Wilson. Estando no princípio de sua Presidência e havendo ocorrido um pequeno incidente num porto mexicano, entre marinheiros ame ricanos e autoridades locais, Wilson entrou em pânico e considerou o caso como “uma crise do mundo civiliza do”. Resolveu então, com obstinação, “ensinaras Repúblicas sul-americanas a eleger homens bons (good men)”. Pondo de parte a questão que o Méxi co não está localizado na América do Sul e que as repúblicas e monarquias européias iam, apenas um ano de pois, provocar uma “crise” excessi vamente mais grave em todo o “mun do civilizado”, o fato é que a eleição
de homens bons sempre é um proble ma chave nas repúblicas presi dencialistas, do norte ou do sul do
continente...
2 - No vol. II da obra The Philosophy of Karl Popper, La Salle 1974, editado por Paul Arthur Schillp.
3 - Esse posicionamento ultra-elitista veio à baila numa conversa de que participei, em 1958. quando da visita de Aldous Huxley ao Brasil, convida do da Divisão Cultural do Itamaraty de que era eu então diretor. Huxley não achou graça. Ele rebateu com tese de Mário, salientando vigor a com razão que a genialidade é um fenômeno tão misterioso que sena extravangante limitar a produção de obras geniais somente a membros da
Antes de vender, comprarou alugar um imóvel consulte o SEGAM — Serviço de Garantia ao Crédito Mercantil e de Serviço.
O SEGAM sem Forum fornece desabonos: protestos, cheques sem fundos e SPC. O SEGAM, com Forum fornece os desabonos e ações (Forum).
Assim você vai saber segurança, com quem está negociando.
E fecha o negócio, tranquilo. com
Nós INFORMAMOS

arislocracia. Afinal cie conlas. Sócrates não era um aristocrata mas filho de uma parteira. Cristo filho de um carpinteiro, Boehme um sapatei ro, Spinoza um polidor de lentes, Kierkegaard filho de um camponês da Jutlündia e Nietzsche de uma pe quena família burguesa...
4 - E o Vietnam para o embaixador ítalo Zappa, "lhe lefi man in the left place ”, como é conhecido no líamaraly...
5 - No Suplemento de Sábado do .Jornal da Tarde, 1994.
6 - Em Setembro de 1995.
7 - Editado pelo já mencionado John Hallowell, na Duke University, Carolina do Norte, 1975.
8 - Em The New Science of Politics, pg. 172, Universidade de Chicago, 1952.»
contagia vários setores

''A História recente da privatização no Brasil se divide em três fases: a do dinamismo confuso de Fernando Collor; a da pasmaceira medíocre de Itamar Franco; e da lerdeza elegante de FHJ^ Gilberto Paim
Deputado Federal pelo PPB
Fernando Henrique Cardoso desenvolveu uma estranha teoria sobre a privatização: a lentidão é o caminho da perfei ção. É exatamente o contrário. Cada dia que passa quatro coisas acontecem: o patrimônio público se deteriora, à míngua de investi mentos; dá-se tempo para mobilização corporativista dos estatolatras; desrespeita-se o con sumidor, afligido pelos maus ser viços dos dinossauros; em alguns casos, como no de telecomunica ções, acirra-se a concorrência no mercado de ações, depreciandose as nossas em função da
privatização de estatais européias. No caso da eletricidade, há perigo de racionamento, caso a econo mia volte a crescer sustentadamente. E os desperdícios e ine ficiência de distribuição, hoje a cargo de estatais deficitárias, au mentam o custo Brasil.
Não há político que não tenha orgasmos verbais pretendendo ser defensor do patrimônio público. Mas que é patrimônio público? Patrimônio é o que dá retorno. Nesse sentido, as empresas públi cas não são patrimônio e sim en cargos públicos. Numa perspec tiva de longo prazo, verifica-se,
por exemplo, que a melhor das estatais, a Vale do Rio Doce, pa gou ao Tesouro Nacional, em 53 anos de vida, um retorno anual médio de 0,09%. Não se sabe se isso é uma esmola ou uma gorjeta, mas certamente não é alta renta bilidade, a não ser pai‘a alguns senadores que nunca analisaram balanços. Mesmo a valorização patrimonial das ações foi medíoem média 7,6% ao ano. Isso é pouco mais que o rendi mento de uma caderneta de pou pança e menos de um terço do custo atual de rolagem da dívida do Tesouro! No caso dos outros cre
dinossauros, espécimes mais jo vens da era cretácea, o panomorama é pior. Se tomarmos o último quadriênio para o qual há dados disponíveis no Sest (19901993), verificaremos que, dedu zidos os aportes de capital e as dívidas honradas pelo Tesouro, a Vale pagou dividendos líquidos de 1,6% ao ano; a Petrossauro, de 0,69%; no caso da Electrossauro e da Telessauro, o fluxo de caixa para o Tesouro foi negativo, a saber (17,l%)e(6,8%),res pectivamente. Para nos conscientizar mos de que os dinossauros são um encargo público e não um patrimônio, basta lembrar que o Tesou ro, deficitário, tem que sustentá-lo rolan do sua dívida a juros reais de quase 30% ao ano! Aqui entra o que os economistas cha mam de “custo de oportunidade”. O que se investe nas estatais, com baixíssimo retor no, é o que se deixa de investir no atendi mento de carências básicas, como educa ção, saúde e habita ção.
algumas inovações interessantes. A Rússia e a Tchecoslováquia re centemente adotaram o sistema de privatização pela doação de ações ao público. Tinham melhor percepção que nós dessa ficção tecnocrática que é a rentabilidade das estatais...
A lerdeza elegante tem acobertado ímpetos expan-

Os investimentos em telefonia mrai são Insignificantes
das empresas: endividamento in terno e externo e chamadas de capital (inclusive do Tesouro). A outra metade provida de recursos próprios, designação generosa, pois em parte significa renúncia fiscal do Tesouro a impostos e dividendos que lhe seriam devi dos. Obviamente, com um pro grama agressivo de privatizações, muitos desses investi mentos poderiam ficar a cargo do setor priva do. E o Fundo Social de Emergência poderia ser proporcional mente reduzido em be nefício dos estados. Em alguns casos há visível sabotagem do programa de priva tização. É o que está acontecendo no siste ma Telessauro, que tem instalações do Terceiro Mundo e ser viços do Quarto Mun do. Hoje ele é admi nistrado por xiitas, conhecidos por seu agressivo corpora tivismo e mediocrida de técnica. Monteiro Lobato costumava di zer que 0 Brasil tinha duas grandes cidades. Rio e São Paulo, sepa radas pela Central do Brasil. Quem no horá rio de pique tenta falar Rio-São Paulo ou RioBrasília não pode não concluir que essas cidades são separadas pela Embratel! Mais ineficiente que a tele fonia celular no Brasil só a previ dência social. No mundo todo, a telefonia celular é operada em re gime de competição. Só aqui im pera o monopólio estatal, que criou uma excentricidade: o celularvaga-Iume, no qual não é a luz e sim 0 som, que pisca...
Alguns argumen tos dos defensores da modorra estatolátrica são bizamos. Alegase que a privatização inglesa lembrou mais tempo. A questão é que Mrs. Thatcher era uma pio neira, tendo que desfazer décadas de intervencionismo estatal do Labour Party. Engenhou-se toda uma teoria de privatização, a cha mada mícropolítíca. Além disso, não tinha que rolar dívidas a juros reais de mais de 2% ao mês. Hoje as privatizações são mundialmen te uma rotina consolidada, com se-
sionistas dos dinossauros, ansio sos por retardar (e se possível sa botar) as privatizações. A propos ta orçamentária da União para 1996 prevê investimentos de R$ 10,93 bilhões para nosso velhos e conhecidos sauros—aTelessauro, a Electrossauro, a Petrossauro e a Valessauro. Quase metade dos recursos viriadefora 45,5%
Considerando-se o castigo ab surdo imposto ao público, seja
pela longa espera, seja pelos altos preços, seja pelo mau serviço, é uma insolência que, ao invés de promover a rápida privatização, a Telessauro planeje expandir aceleradamente a rede pública celu lar, na esperança de ocupar espa ço. Ao invés de se concentrar na telefonia básica, onde a quebra do monopólio será demorada, a na telefonia rural, visando à universalização dos semços, o que se propõe é o contrário. Obvi amente, sem consulta ao consu midor, que preferiria celelulares de tecnologia digital mais moder na, fornecidos por empresas pri vadas que possam ser multadas, processadas ou substituídas pelo competidor mais eficiente.
Os investimentos em telefonia rural, supostamente parte de fun ção social da Telessauro, são in significantes (0,4%). Se a Comis-

são Orçamentária do Congresso tiver algum bom senso rejeitará in limine a obscena proposta dos ’ corporativistas. Apressai-se-iam as licitações para a telefonia celu lar privada, e os recursos públicos seriam redirecionados para a tele fonia básica e rural, até que seja possível desmonopolizar esses serviços.
A lerdeza elegante de FH con tagiou vários setores. O Ministé rio de Minas e Energia até agora nada fez para regulamentar a flexibilização do monopólio da Petrossauro. O BNDES, há três anos, tem dúvidas hamletianas
sobre como privatizar a Light, e sequer contratou as consultorias para a inútil tarefa de avaliar a Valessauro (inútil porque deze nas de bancos de investimento nacionais e estrangeiros avaliam diariamente a empresa na Bolsa de Valores). O Bacen tardou tanto em liquidar o Banespa que o Esta do de São Paulo teve tempo de mobilizar sua bancada, para ga rantir ao governador tucano o di reito de ter dois bancos, um dos quais financiado com o calote da dívida, disfarçado de empréstimo do Tesouro a perder de vista. Tris tes tropiques!
Programa Qrçamenfário da Telebrás para 1996
Instalação de Contratação Total de acessos % acessos
Claro que você conhece o PAC. Pesquisa Auxiliar de Cadastro, o serviço de informações que acusa protestos, falências, concordatas e cheques sem fundos de Pessoa Jurídica do Estado de São Paulo.
Agora há um novo PAC, além do atual. PAC NACIONAL. Onde você pode ter estas informações de qualquer empresa do Brasil. Use e abuse.
Mais um serviço confiavél da
PAC NACIONAL. E PAC (ESTADO DE SÃO PAULO)
Informações pelo fone 244-3322 - Ramais: 3286/3287/3288/3289
A reorganização da rede de escolas preconiza
o assentamento da escolaridade

JoséMárioPiresAzanha
Professor
final, o que está acontecen do na rede de escolas públi- ^^cas estaduais de São paulo?
A atenção que os meios de comu nicação têm dado ao assunto é escassa e, além disso, tem privi legiado exemplos negativos que sugerem a iminência de um caos no próximo período letivo. Nesse quadro, em que há insu ficiência de informações e realce de eventuais problemas, cresce a boataria, algumas vezes, estimu lada por razões políticas ou i o
corporativistas. Acrescente-se ainda a omissão, ou pelo menos, mutismo das universidades pú blicas estaduais. Aliás, o Conse lho Estadual de Educação foi a única instituição que fez um exa me objetivo das propostas e emi tiu um parecer sobre o assunto, sem condenações sumárias. O resultado dessa desinformação e das distorções tem sido a desori entação da população, aflita com o destino escolar'de seus filhos. O propósito deste artigo é forne-
cer informações mínimas para um ajuizamento do que está acontecendo e do significado his tórico da proposta na evolução recente do ensino paulista. 1 - Poucos se recordam - inclu sive na Universidade e no pró prio magistério estadual - de que, há aproximadamente um quarto de século, a escola pública poste rior ao primário era um privilé gio de poucos. A mudança dessa situação, em São Paulo, ocorreu na Administração Ulhoa Cintra
quando, em 1968, os antigos cur sos primário e ginasial foram uni ficados, eliminando-se a barreira dos exames de admissão que os separava. Essa providência insti tuiu, de fato e de modo pioneiro, a escolaridade mínima de oito anos para toda a população esco lar, na faixa dos 7 aos 14 anos de idade.
2 - Uma tal políti ca - que no fundo nada mais fez do que dar consequência prá tica a um preceito da Constituição Federal - foi fortemente com batida por intelectu ais e líderes educacio nais da esquerda e da direita, pelo próprio magistério de ensino secundário estadual e também pelos usuá rios privilegiados de um ensino ginasial, público e gratuito, mas de elite. A rea ção foi tão violenta e generalizada que o re gime militar viu na iniciativa uma articu lação subversiva a ser investigada, como foi posteriormente em um I.P.M. As razões invocadas para com bater essa expansão do ensino público fo ram variadas, mas to das eram versões mui to claras daquilo que Albert Hirschman (A retórica intransigência. Companhia de Letras, 1995) descreveu como um estilo (tese da perversidade) usual nas argumentações reacio nárias mobilizadas, ao longo da história, contra planos e ações que representam ampliações de diretos sociais. No caso da ex pansão do ensino público em São Paulo como o objetivo era a de-
mocratização do acesso ao giná sio, os “democratas” tiveram pejo de se opor frontalmente a esse objetivo, e por isso combateram a forma de alcançá-los (escola para todos, sim, mas devagar para não desan-umar a escola pública de elite).
3 - Afinal, três anos e meio depois, em 1971, o próprio Go-

vemo Federal instituiu, em ter mos nacionais, a escolaridade obrigatória de oito anos (Lei n° 5.692). Surgiu, assim, uma nova instituição no sistema escolar brasileiro: a escola de I ° grau. No entanto, até hoje não apareceu um modelo pedagógico para a organização e a administração eficazes dessa nova instituição.
Em São Paulo, em 1969, tentouse a busca de um modelo para a escola de oito anos, com a cria ção de cerca de uma centena de Grupos Escolares-Ginásio. A idéia era simples: ao lado da ex pansão do ensino ginasial para todos, em alguns grupos escola res, com condições materiais e humanas diferenciadas, haveria a implantação gra dativa do ensino gi nasial para, com a prática, estabelece rem-se as diretrizes de um modelo para toda a rede. Mas, com a demissão, por impo sição militar, do Se cretário Ulhoa Cintra, a experiência foi abandonada e nada se pôs no seu lugar.
4-Assim, ao longo dos anos, em São Pau lo e no Brasil, consolidou-se uma escola de oito anos com de feito de nascença, anômala, intemamente fraturada, em que convivem, sem in tegração, dos seg mentos escolares: alu nos e professores da U à 4^ séries, de um lado e. de outro, alu nos e professores da 5^ à 8"* séries. Sem a compreensão de que a escola de 1” grau deve ter um único objetivo - a formação fundamental do edu cando - nunca houve a possibili dade de um planejamento peda gógico integrado. A reprovação maciça na 5^* série e a comprova ção empírica de que parcela do magistério nunca compreendeu 0 significado de uma escolarida de de oito anos para todos. Ne nhuma casa dividida pode sobre viver. Por isso, como instituição
escolar a escola de 1° grau é algo falido.
5 - Se, com a reorganização das matrículas na rede de escolas estaduais, a atual Administração pretende, realmente, enfrentar o problema de uma instituição es colar caduca - a escola de 1° grau -, então, enfim, estará separando coisas que durante um quarto de século conviveram no mesmo es paço e sob uma mesma direção mas que, nesse tempo, se estra nharam e até mesmo se hospita lizaram e, por isso, devem mes mo ser separadas. Nem se alegue que, muitas vezes, houve casos de convivência, integrada e har moniosa, que permitiram a exis tência de boas e de excelentes escolas públicas de 1° grau. Ape sar de ser verdadeira essa alega ção, isso apenas comprova que, circunstancialmente, bons pro fissionais conseguiram superar defeitos estruturais de uma insti tuição que, na sua organização e na rotina de suas práticas, é po tencialmente esquizofrênica.
6 - Há muitas razões de ordem pedagógica para demonstrar inegáveis vantagens em manter escolas exclusivas para crianças dos 7 aos 11 anos de idade e outras, excliisivas para pré-adolescentes e adolescentes. Apenas para ilustrar, destaquemos dessas razões: os professores des ses segmentos escolares diferen tes são formados por instituições diferentes. No primeiro caso, for mam-se professores polivalentes e, no segundo, formam-se semiespecialistas. Por isso, em cada caso, há visões diferenciadas das responsabilidades daescola. Esse ponto é suficiente para se perce ber a conveniência pedagógica do pretendido rearranjo da rede física em função da idade da cli entela escolar. Há, contudo, dois aspectos do plano que justificam preocupações e merecem discus são. Um é de natureza social e
outro, de natureza política. Am bos já foram objeto de recomen dações da Conselheira Bernardete Gatti, do Conselho Es tadual de Educação (Parecer CEE n° 674/95), mas convém retomá-los pela sua importân-
cia.
Quanto ao primeiro, é preciso que a Secretaria da Educação atente para aqueles casos, cujo número é estimado em 30% das escolas, nos quais a localização dos prédios poderá dificultar ou até mesmo impedir a redistribuição das matrículas. Com relação a isso, convém agir com cautela e sensibilidade so cial, porque, obviamente, não haverá solução única para as dificuldades específicas de cada situação.
Neste último quarto de século consolidou-se 0 direito à escolaridade as

O outro ponto a merecer mui ta atenção é o seguinte: neste último quarto de século, conso lidou-se como conquista histódireito de todos a uma
mecanismos sub-reptícios ou procedimentos que, na prática, inviabilizem a continuidade de estudos de grupos de crianças. Aliás, no parecer aprovado pelo CEE, há referência à necessida de de que a garantia de matrícula, principalmente na 5^ série, independa de arbítrios locais e casuísticos.
Para encerrar, voltemos à ques tão da escolaridade de oito anos. porque é na sua discussão que se tem tentado atribuir uma feição ideológica ao plano da Secreta ria. Aqueles que combatem o pro jeto a partir da idéia de que essa conquista está em risco exemplificam bem um tipo de discurso reacionário que Hirschman, na obra citada cha mou de “tese da ameaça”. Se gundo essa tese, muitas vezes, “a mudança proposta, ainda que tal vez desejável em si, acarreta custos ou consequências inacei táveis de um outro tipo”. Por exemplo, na Inglaterra, em duas vezes (1832 e 1867), a extensão do direito de voto provocou rea ções que alegavam que a amplido universo de eleitores
açao ameaçava a própria democracia inglesa. No Brasil, um exemplo semelhante pode ser percebido na argumentação contestadora do direito de voto do analfabeto, em 1988.
uma o perigo da tese da ameaça está na sua força de convenci mento, porque a idéia “de um novo avanço porá em risco um antigo é, de certo modo, plau sível”. A reorganização da rede de escolas estaduais preconiza o assentamento da escolaridade de oito anos em novas bases institucionais, pedagogicamente defensáveis. Não há, pois, fun damentos objetivos para descrer dos propósitos da reorganização pretendida e atribuir-lhe inten ções de redução da escolaridade fundamental de oito anos. m
rica o escolaridade fundamental de oito anos. A rede de escolas pú blicas paulistas tem hoje condi ções para propiciar essa escola ridade. Não há, pois, razão de ordem técnica, financeira, ad ministrativa ou outra qualquer que possa, legitimamente, justi ficar um eventual retrocesso que nessa política educacional. Nem é de se imaginar que a Adminis tração Estadual pense de modo diferente. Entretanto, no funci onamento rotineiro das escolas, é sempre possível a criação de
Quem avisa, amigo é: para manter seus funcionários sempre motivados e preocupados com o futuro da sua empresa você precisa se preocupar também com o futuro deles.
O Auxílio Desemprego Quaiivitae do Instituto de Assistência Social da Associação Comercial de São Paulo existe para isso. Solicite maiores informações e depois não diga que ninguém avisou!

Rua Boa Vista, 51 - CEP 01014-911
São Paulo/SP - Teh(011) 244 3322 Fax:(011) 239 0067 - Telex:1123355 ACSP BR
No Nordeste os supostos dirigentes
nada tem a ver com o mundo lá fora
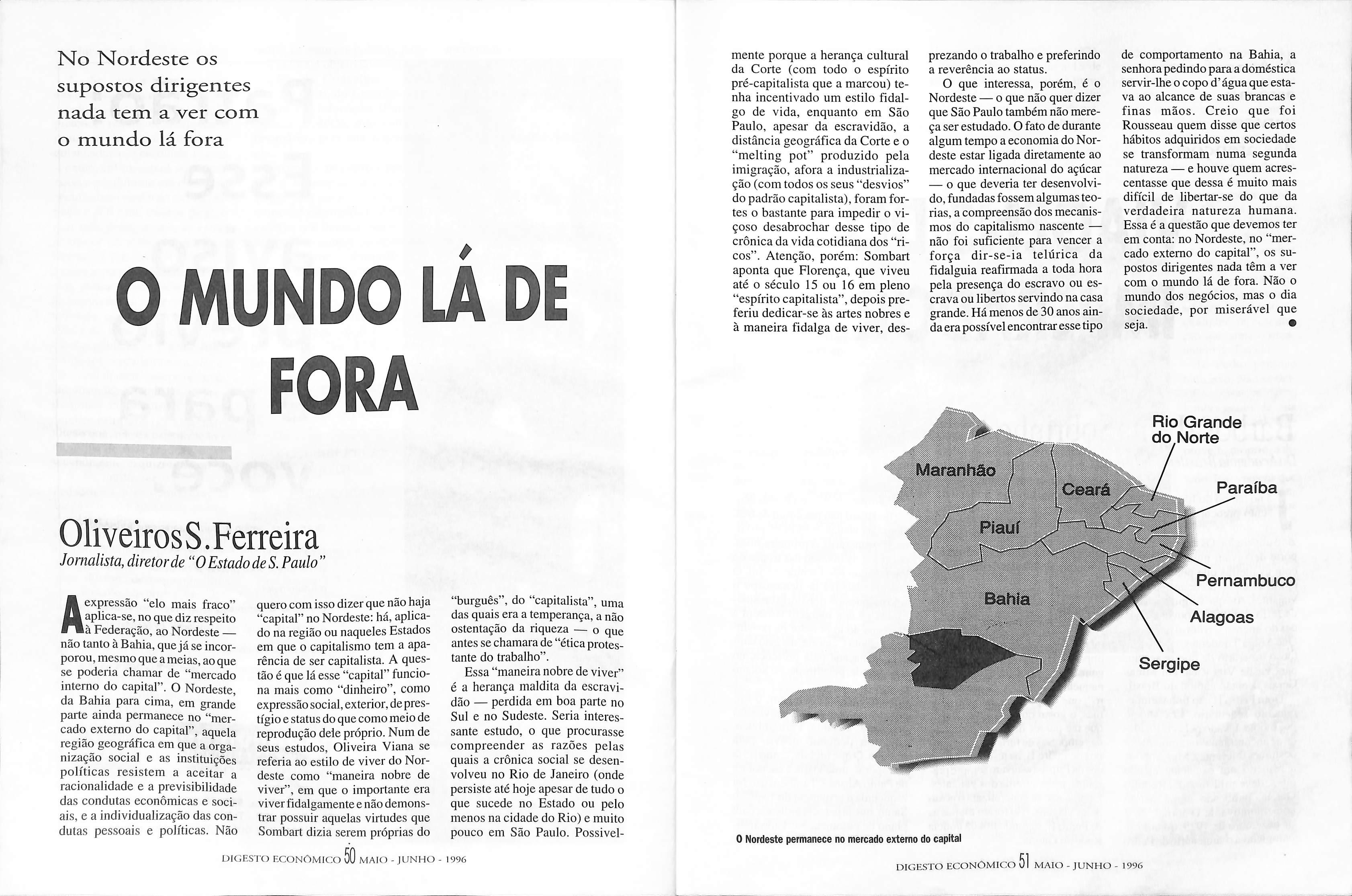
Jornalista, diretor de “OEstadodeS. Paulo
f.
expressão “elo mais fraco” __ aplica-se, no que diz respeito Federação, não tanto à Bahia, que já se incor porou, mesmo que a meias, ao que se podei ia chamar de “mercado interno do capital”. O Nordeste, da Bahia paia cima, em grande parte ainda permanece no cado externo do capitai”, aquela região geográfica em que a orga nização social e as instituições políticas resistem a aceitar racionalidade e a previsibilidade das condutas econômicas e soci ais, e a individualização das con dutas pes.soais e políticas. Não
quero com isso dizer que não haja “capital” no Nordeste: há, aplica do na região ou naqueles Estados em que o capitalismo tem a apa rência de ser capitalista. A ques tão é que lá esse “capital” funcio na mais como “dinheiro”, como expressão social, exterior, de pres tígio e status do que como meio de reprodução dele próprio. Num de seus estudos, Oliveira Viana se referia ao estilo de viver do Nor deste como “maneira nobre de viver”, em que o importante era viver fidalgamente e não demons trar possuir aquelas virtudes que Sombart dizia serem próprias do
“burguês”, do “capitalista”, das quais era a temperança, a não ostentação da riqueza antes se chamara de “ética protes tante do trabalho”. Essa “maneira nobre de viver” é a herança maldita da escraviperdida em boa parte no Sul e no Sudeste. Seria interes sante estudo, 0 que procurasse compreender as razões pelas quais a crônica social se desen volveu no Rio de Janeiro (onde persiste até hoje apesar de tudo o que sucede no Estado ou pelo menos na cidade do Rio) e muito pouco em São Paulo. Possivel-
uma i ao Nordeste o que dão mera
mente porque a herança cultural da Corte (com todo o espírito pré-capitalista que a marcou) te nha incentivado um estilo fidal go de vida, enquanto em São Paulo, apesar da escravidão, a distância geográfica da Corte e o “melting pot” produzido pela imigração, afora a industrializa ção (com todos os seus “desvios” do padrão capitalista), foram for tes o bastante para impedir o vi çoso desabrochar desse tipo de crônica da vida cotidiana dos “ri cos”. Atenção, porém: Sombart aponta que Florença, que viveu até o século 15 ou 16 em pleno “espírito capitalista”, depois pre feriu dedicar-se às aites nobres e à maneira fidalga de viver, des-
prezando o trabalho e preferindo a reverência ao status.
O que interessa, porém, é o o que não quer dizer que São Paulo também não mere ça ser estudado. O fato de durante algum tempo a economia do Nor deste estar ligada diretamente ao mercado internacional do açúcar — 0 que deveria ter desenvolvi do, fundadas fossem algumas teo rias, a compreensão dos mecanis mos do capitalismo nascente — não foi suficiente para vencer a força dir-se-ia telúrica da fidalguia reafirmada a toda hora pela presença do escravo crava ou libertos servindo na casa grande. Há menos de 30 anos ain da era possível encontrar esse tipo
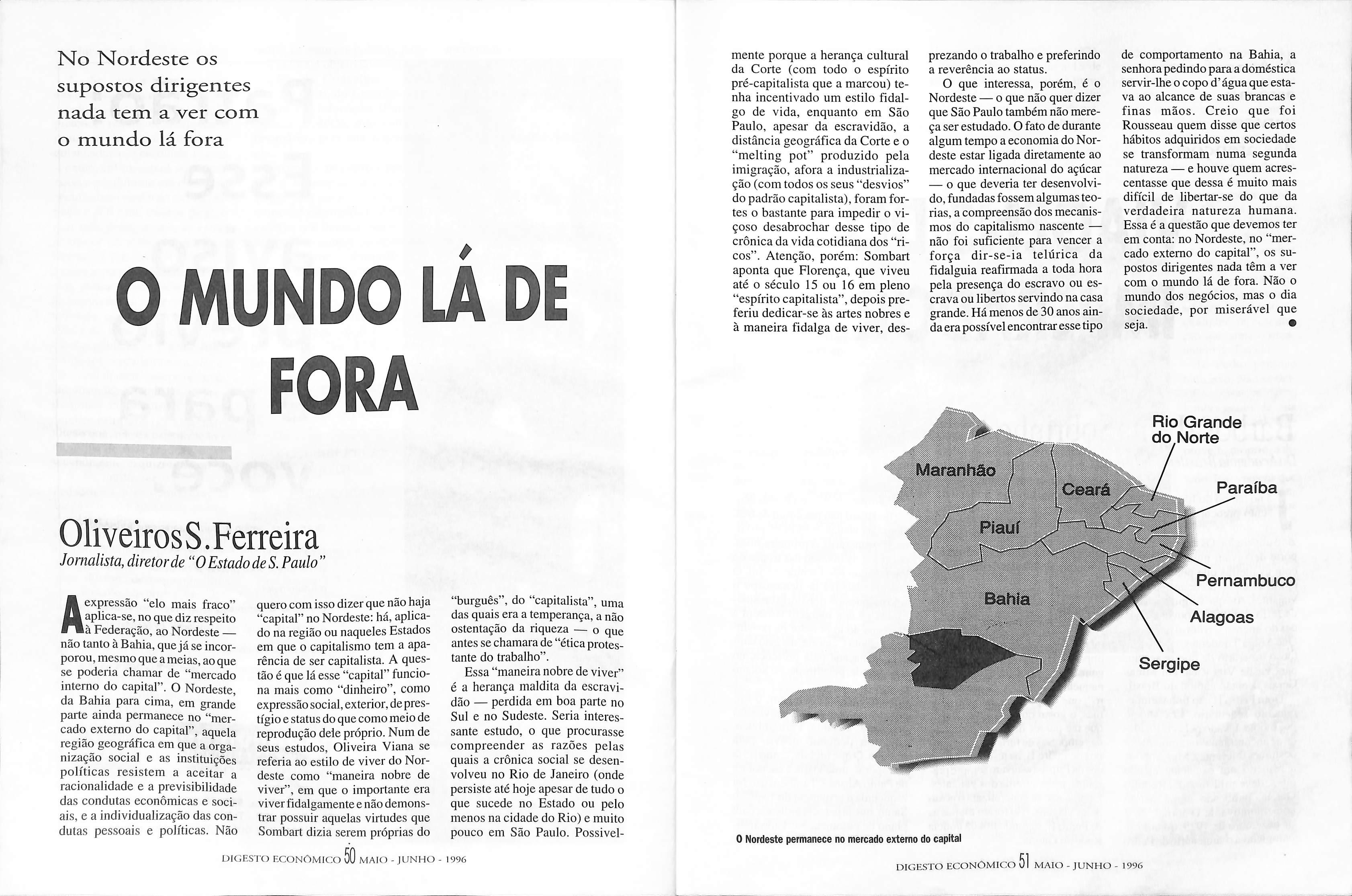
houve quem acres-
de comportamento na Bahia, a senhora pedindo para a doméstica servir-lhe o copo d’água que esta va ao alcance de suas brancas e finas mãos. Creio que foi Rousseau quem disse que certos hábitos adquiridos em sociedade se transformam numa segunda natureza centasse que dessa é muito mais difícil de libertar-se do que da verdadeira natureza humana. Essa é a questão que devemos ter em conta: no Nordeste, no “mer cado externo do capital”, os su postos dirigentes nada têm a ver com 0 mundo lá de fora. Não o mundo dos negócios, mas o dia sociedade, por miserável que seja. ●
A Amazônia
está no centro
das atenções
Da Academia Brasileira de Letras
Já no tempo do Império, o as sunto preocupava o noticiá rio, com as viagens que fa zia o imperador. Os meios de trans porte deixavam muito a desejar, com as liteiras que por si só não eliminavam a preocupação dos viajantes. Até que surgiu a estrada de ferro, limitada a poucas regi ões do imenso território nacional. Que 0 diga Tiradentes, com o tor tuoso itinerário de que se serviu, para vir de Vila Rica, em Minas Gerais, à então capital do Brasil.
Dom Pedro II não tinha tempe ramento sedentário. Era andej por índole, levado pela curiosida de de encontrar novos ambientes e costumes diferentes. Mas, veja-se a respeito um excelente estudo que se deve ao historiador Rodolfo Garcia, publicado numa sessão ● comemorativa de O Jornal, de 2 de dezembro de 1925, quando se completava o centenário de Pedro

II, e transcrito num número espe cial da Revista do Instituto Histó rico e Geográfico Brasileiro, trans crevendo artigo dos principais jornais brasileiros. Só os artigos de O Jornal ocupavam metade do grosso volume do Instituto Histó rico, superando a contribuição do próprio Jornal do Commercio. O estudo de Rodolfo Garcia enu merava as viagens realizadas pelo imperador, no Brasil e no estran geiro. Parece que andava em férias naquele famoso “bicho carpintei ro”, que despertava, nas suas víti mas, o gosto ou a mania de viajar que me parece que anda a sei*viço das empresas de turismo. Nos tem pos de Pedro II, os tesouros artísti cos da Europa estavam sempre pre sentes, no programa dos viajantes. E como não se generalizara o gosto pelas viagens, não foram muitas as de Pedro II, segundo nos dá notícia Rodolfo Garcia.
Pelo que se sabe, as viagens denti*o do Brasil não passaram de três, além das visitas às cidades próxi mas do itinerário. A primeira, aliás, por força da invasão das tropas do Paraguai no Rio Grande do Sul. O que não deixava de demonstrar zelo na defesado território brasilei ro. O que deu mai*gem também à presença do imperador na provín cia de Santa Catarina, decerto tam bém ameaçada pela presença. Rio Grande, pelas tropas de Solano López.
Numa segunda viagem, o im perador se deteve nas províncias do Norte, a Bahia, Pernambuco, com um pequeno desvio pela Paraíba. O que incluía, como seria de esperar, uma visita à cachoeira de Paulo Afonso. Também não foi esquecida a província do Espírito Santo, que jápareciaindicadapara plano de colonização. Tudo indi cava que D. Pedro II tinha maior
interesse pelas viagens ao exteri or, como a que fez aos Estados Unidos, na oportunidade da des coberta do petróleo, em 1858, quando o americano Drake viu joiTar, de uma abertura que fizera no solo, um líquido oleoso que iria se tornar objeto de tantas pesqui sas e aplicações no mundo daque la época. A base principal de ener gia ainda era o querosene, com aplicações inumeráveis, que os americanos souberam utilizar, tanto na ilu minação, como nas ser\'entias domésticas. O imperador brasilei ro tinha um interesse ou um amor especial às aplicações das des cobertas. Daí a razão para que deixasse em Nova Iorque a esposa e viajasse até a Pensilvânia, para ver de perto um produto quecomeçara a incen diar o universo. Que ria ver os poços de que estavajon^ando um lí quido que iria modifi car o mundo. Na ver dade a curiosidade de um instinto de repor tagem o acompanha ria na sua viagem à Europa a visitar um grande escritordaépoca, Victor Hugo, que havia voltado ao seu país, com a queda do governo de um sobri nho de Napoleão, que ele havia classificado, para a eternidade, como “Napoleão, o Pequeno”.
Universal de Filadélfia, em 1876. Chegai'a a Nova Iorque a 15 de abril e partiu com destino à Euro pa a 20 de junho. Fora, aliás, aos Estados Unidos, a convite do pre- ’ sidente Ulysses Grant, o herói da guerra de secessão.
Não era muito. Três ou quatro viagens ao estrangeiro em 48 anos de reinado, o que daiáa uma viasem de 12 em 12 anos, decerto o mínimo pai'a um temperamento.
dade do chefe de Estado ou dos seus auxiliares que também gos tem de viajar. Além disso, há que se contai* com os diplomatas es trangeiros que consideram servi ço pessoal levai* ao seu país um chefe de Estado, o que exige des ses mandatários convidados um novo exame do interesse de seu país em fazer as despesas que ve nham pesar no orçamento públi co. Não está em causa tão-somente o interes se do chefe de Estado em aceitar os conviteS' que lhe são feitos. Há também que pensar na situação do Tesouro, sempre que se trata de qualquer representa ção que afete o orça mento do Estado.
D. Pedro pensava tudo isso. Não se dei xava an*astar pelo des lumbramento de sua vaidade pessoal. Não queria despender, em proveito próprio, o di nheiro do povo brasi leiro. E as viagens que fez aos países estran geiros e até mesmo os gastos com visitas aos estados brasileiros do cumentam tudo isso e decerto aumentam, no coração de todos os brasileiros, o respeito e a estima ao impera dor.
É a conclusão a que se chega, na leitura do excelente artigo do Rodolfo 0 imperador realizou viagens de aproximação e estudos mestre
Antes de seu exílio, D. Pedro II ainda fizera uma nova viagem à Europa, embora essa fosse para tratamento médico. É de se notar que no seu roteiro, o Norte do Brasil só se incluía de passagem, com destino aos Estados Unidos, para ver de perto os produtos da indústria mundial, na Exposição

Gai*cia. E o que chama a nossa atenção é que o imperador só co nhecesse as províncias do Norte do Brasil, no itinerái*io de sua via gem aos Estados Unidos, inclusi0 que nos leva à sempre a postos para os convites que chegassem. Viagens que im portavam em despesas para a pró pria nação, numa índole que não gostava de dispor dos dinheiros do Estado, como deu sempre pro vas, no decorrer de seu reinado. E ainda há que contar com as despe sas da comitiva, que áepende do sentimento de grandeza da autorive 0 Pará conclusão de que D. Pedro II não chegai*a a conhecer a Amazônia, que está hoje no centro das aten ções de todos os brasileiros, pela cobiça que desperta. ●
As excepcionalidades devem se restringir
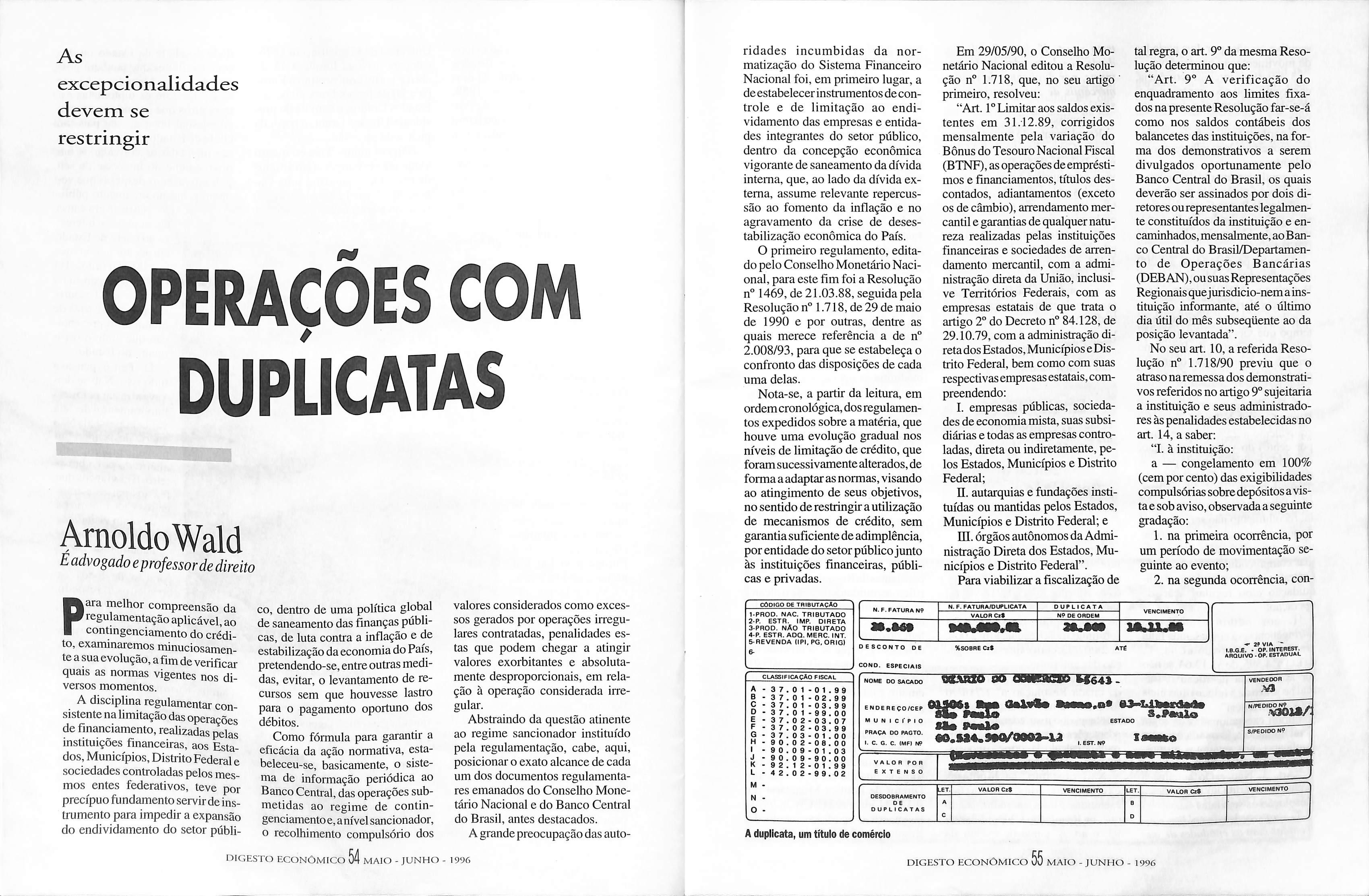
E advogado e professor de direito
Para melhor
compreensão da 1 egulamentaçâo aplicável, ao conüngenciamento do crédi to, examinaremos rninuciosamente a sua evolução, afim de verificar quais as normas vigentes nos di versos momentos.
co, dentro de uma política global de saneamento das finanças públi cas, de luta contra a inflação e de estabilização da economia do País, pretendendo-se, entre outras medi das, evitar, o levantamento de re cursos sem que houvesse lastro para o pagamento oportuno dos débitos.
A disciplina regulamentar sistente na limitação das operações de financiamento, realizadas pelas instituições financeiras, aos Esta dos, Municípios, Distrito Federal e sociedades controladas pelos mos entes federativos, teve por precípuo fundamento sei-vir de ins trumento para impedir a expansão do endividamento do setor públicona meso
Como fórmula para garantir eficácia da ação normativa, esta beleceu-se, basicamente, o siste ma de informação periódica ao Banco Central, das operações sub metidas ao regime de conlingenciamentoe, anível sancionador, recolhimento compulsório dos F.CONÔMICO 5^
valores considerados como exces sos gerados por operações irregu lares contratadas, penalidades es tas que podem chegar a atingir valores exorbitantes e absoluta mente desproporcionais, em rela ção à operação considerada iiregular.
Absti'aindo da questão atinente ao regime sancionador instituído pela regulamentação, cabe, aqui, posicionar o exato alcance de cada um dos documentos regulamenta res emanados do Conselho Monetáiio Nacional e do Banco Central do Brasil, antes destacados.
A grande preocupação das auto-
ridades incumbidas da nor malização do Sistema Financeiro Nacional foi, em primeiro lugar, a de estabelecer instrumentos de controle e de limitação ao endi vidamento das empresas e entida des integrantes do setor público, dentro da concepção econômica vigorante de saneamento da dívida interna, que, ao lado da dívida ex terna, assume relevante repercus são ao fomento da inflação e no agravamento da crise de desestabilização econômica do País.
O primeiro regulamento, edita do pelo Conselho Monetário Naci onal, para este fim foi a Resolução if 1469, de 21.03.88, seguida pela Resolução n“ 1.718, de 29 de maio de 1990 e por outras, dentre as quais merece referência a de n° 2.008/93, para que se estabeleça o confronto das disposições de cada uma delas.
Nota-se, a partir da leitura, em ordem cronológica, dos regulamen tos expedidos sobre a matéria, que houve uma evolução gradual nos níveis de limitação de crédito, que foram sucessivamente alterados, de forma a adaptar as normas, visando ao atingimento de seus objetivos, no sentido de restringir a utilização de mecanismos de crédito, sem garantia suficiente de adimplência, por entidade do setor público junto às instituições financeiras, públi cas e privadas.
CÕDIGO DE TRIBUTAÇÃO
1-PROD. NAC. TRIBUTADO
2-P. ESTR, IMP. DIRETA
3 PROO. NAO TRIBUTADO
4-P. ESTR. ADQ, MERC. INT.
5-RÊVENDA (IPI. PG, ORIGl
6-
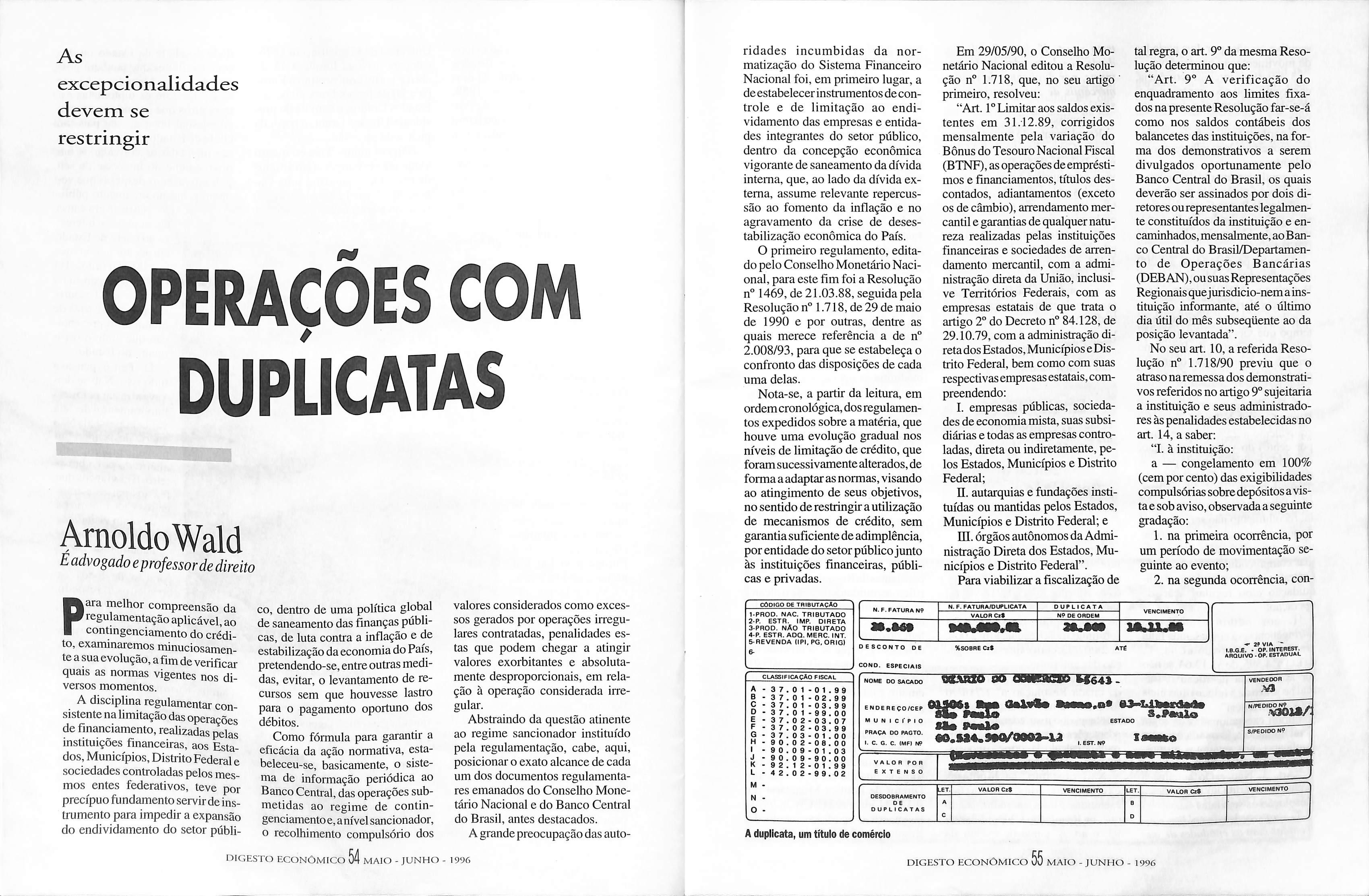
FISCAL
A - 37.01-01.99
B -37.01-02.99
3 7,0 1 - 03.99
D -37.01-99,00
E -37.02-03.07
F -37.02-03.99
G
Em 29/05/90, o Conselho Mo netário Nacional editou a Resolu ção n° 1.718, que, no seu artigo primeiro, resolveu:
“Art. 1° Limitar aos saldos exis tentes em 31.12.89, corrigidos mensalmente pela variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF), as operações de emprésti mos e financiamentos, títulos des contados, adiantamentos (exceto os de câmbio), arrendamento mer cantil e garantias de qualquer natu reza realizadas pelas instituições financeiras e sociedades de arren damento mercantil, com a admi nistração direta da União, inclusi ve Territórios Federais, com as empresas estatais de que trata o artigo 2° do Decreto n° 84.128, de 29.10.79, com a administração di reta dos Estados, Municípios e Dis trito Federal, bem como com suas respectivas empresas estatais, com preendendo:
I. empresas públicas, socieda des de economia mista, suas subsi diárias e todas as empresas contro ladas, direta ou indiretamente, pe los Estados, Municípios e Distrito Federal;
tal regra, o art. 9° da mesma Reso lução determinou que:
“Art. 9° A verificação do enquadramento aos limites fixa dos na presente Resolução far-se-á como nos saldos contábeis dos balancetes das instituições, na for ma dos demonstrativos a serem divulgados oportunamente pelo Banco Central do Brasil, os quais deverão ser assinados por dois di retores ou representantes iegalmente constituídos da instituição e en caminhados, mensalmente, ao Ban co Central do Brasil/Departamen to de Operações Bancárias (DEB AN), ou suas Representações Regionais que jurisdicio-nem a ins tituição informante, até o último dia útil do mês subseqüente ao da posição levantada”.
No seu art. 10, a referida Reso lução n° 1.718/90 previu que o atraso naremessa dos demonstrati vos referidos no artigo 9° sujeitaria a instituição e seus administrado res às penalidades estabelecidas no art. 14, a saber:
n. autarquias e fundações insti tuídas ou mantidas pelos Estados, Municípios e Distrito Federal; e in. órgãos autônomos da Admi nistração Direta dos Estados, Mu nicípios e Distrito Federal”. Para viabilizar a fiscalização de a
“I. à instituição: congelamento em 100% (cem por cento) das exigibilidades compulsórias sobre depósitos avis ta e sob aviso, observada a seguinte gradação:
1. na primeira ocorrência, por um período de movimentação se guinte ao evento;
2. na segunda ocorrência, con-
ESPECIAIS
NOME DO SACADO
secutiva ou não, por dois períodos de movimentação consecutiva;
3. a partir da terceira ocorrência, consecutiva ou não, por três perío dos de movimentação consecuti vos;
b. perda da faculdade de as agên cias pioneiras não recolherem com pulsório;
c. condicionamento de qualquer autorização no âmbito das demais unidades do Banco Central do Bra sil à prévia consulta ao Departa mento de Operações Bancárias (DEBAN):
d. multa pecuniária de até 200 (duzentas) veze o Maior Valor de Referência (MVR) vigente, cada irregularidade;
trata o art. r desta Resolução, desde que lastreadas exclusiva mente, por duplicatas de vendas mercantis de sua própria emis são;
(omissis)
Regulamentando a citada Reso lução, a Carta-Circular do B ACEN ° 2.369, de 02/06/93, tendo em vista os requisitos e características exigidos na Lei n° 5.474, de 18/07/ 68, para a emissão de duplicatas, esclareceu que:
regra geral as seguintes modalida des de operações:
“Art. 4°. Excluir da limitação determinada no art. 1° desta Reso lução as seguintes modalidades de operações:
I —garantidas formal e exclu sivamente por duplicatas de ven da mercantil ou de prestação de seiyiços de emissão da própria beneficiária do crédito e desde que 0 valor das garantias se man tenha igual ou superior ao do saldo devedor, ao longo de todo o prazo da operação'*... (omissis)

operação trans-
e. impedimento, por período de tempo que vier a ser determinado pelo Banco Central do Brasil, no sentido de a instituição operar na modalidade da gredida; e
f. recolhimento
em moeda, ao Banco Central do Brasil, em valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação, comgido monetariamente pela va- nação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT), acrescida de 12% (doze por cento) ao ano, sendo que tal recolhimento não será passível de qualquer remuneração e perma necera congelado pelo número de dias compreendido entre a data da contratação/ti'ansgressão e da li quidação e/ou regularização da operação;
II. aos administradores a intrmgencia será considerada falta grave para os efeitos do art 44 4° daLein°4.595,de31.12.64,.senãò for apresentada justificativa for mal no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a ocorrência”.
Foram excepcionadas da regra geral limitadora, as operações com duplicatas, nos seguintes termos definidas no artigo 3°.
“Art. 3. Não estão sujeitas à limitação referida no ai1. U desta Resolução os seguintes casos: operações de crédito con tratadas com as entidades de
editou a Resolução
lastreadas em títulos to, operações representativos de vendas paia en trega futura”.
A Resolução n° 1.718/90 foi sucedida pela Resolução n° 1.997, de 30/06/93, que, por sua vez, foi substituídapelaResoluçãon°2.008, de 28/07/93, com expressa revoga ção das anteriores.
Observe-se que a regra do art. 1° da citada Resolução n° 1.718/90 foi mantida nos diplomas regula mentares que a sucederam, com as adaptações decomentes da nova fór mula de cálculo da coireção monetá ria pela Taxa Referencial (TR).
Cabe salientar que, quando Conselho Monetário Nacional re-
“I—enquadram-se no item I do art. 3° da referida Resolução n“ 1.718, as operações lastreadas em duplicatas de vendas mercantis correspondentes a contrato de com pra e venda em que ocorra a efetiva tradição do bem negociado, atra vés da entrega ou despacho deste, II — não se enquadram, portann o para solveu baixaraResolução n“2.008/ 93, também não aproveitou as re gras da Caita-Circular 2.369/93, expressamente rejeitando explicitação nela contida, que inadmitia as operações lastreadas em títulos representativos de ven das para entrega futura.
Faz-se, assim, importante res saltai' que na Resolução 2.008 não há, tanto quanto na Resolução 1.718, referência que exclua a pos sibilidade de emissão de duplica tas decorrentes de entregas futu ras, quando já existente a merca doria e colocada à disposição do adquirente.
com as
Do confronto das normas conti das na Resolução 1.718 constantes daResolução2.008,verifica-se, nitidamente, que o alcan ce das normas limitativas do endividamento do setor público tem, nos dois diplomas, pai'âmetros diversos. É o que se depreende da leitura a
Observa-se, com clareza, o de senvolvimento da sistemática dispositivos nomativa, atrelada à condução da política monetária, ainda mais re forçada quando se lê o voto do Diretor de Política Monetária do BACEN, em 1993 (BCB 387/93), ao sugerir o aperfeiçoamento da Resolução CMN 1.718/90, paia I que
Não obstante, as hipóteses excludentes das limitações estatuídas foram alteradas, sendo que, na Resolução CMN n° 2.008/ 93, o art. 4° cuida de excluir da
dos excepcionadores da regra geral, em um e em outro documento re gulamentar.
incluir outras opei^ações não contingenciadas:
“Decorridos três anos de vigên cia da mencionada Resolução n° 1.718, alguns aperfeiçoamentos se fazem necessários na sistemática por ele instituída, devendo-se, por outro lado, em consonância com as diretrizes do Programa de Ação Imediata, recentemente preconiza do pelo Governo Federal, ampliara eficácia do mecanismo mediante extensão de seus efeitos a opera ções atualmente não contin genciadas e que podem acan-etar indesejável expansão do endividamento do setor público.
Dessa forma, e entendendo que as excepcionalidades devem se restringir às operações de nature za comercial, lastreadas em dupli catas de venda mercantil, às de amparo à exportação, às vincula das a acordos externos, às de finan ciamento à importação lastreadas em recursos externos, às realizadas por instituições financeiras, às am paradas por recursos dos Fundos de Água e Esgotos das Unidades da Federação e às realizadas pelo Ban co do Brasil, na condição de agente do Tesouro Nacional, submetemos à apreciação de V.Sas. proposta de reformulação das normas da Reso lução n° 1.718, com introdução das
seguintes principais alterações”:... (os grifos são nossos)
A partir da edição da Resolução n° 1.997/93, as penalidades, que antes constavam do art. 14 da Re solução revogada, deixaram de ser indicadas expressamente. Passouse, então, a conferir delegação ao Banco Central do Brasil para insti tuir sanções, a que se sujeitariam as instituições financeiras e seus ad ministradores, em caso de descumprimento das disposições regulamentares.
Intimamente ligada à matéria sob enfoquefoiposteiiorerecentemente editada, em22 de fevereiro de 1995, a Resolução n° 2.143, do Conselho Monetário Nacional, dirigida às instituições financeiras e às entida des de previdência privada, que, no seu art. 1°. resolve:
“Art 1° Suspender temporaria mente:
I - a aplicação de recursos de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcio nai', pelo Banco Central do Brasil, em contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias e ou serviços para entrega ou presta ção futura, bem assim em títulos ou certificados representativos desses contratos”;
II - a realização, por parte das
instituições financeiras, de opera ções de crédito que tenham por garantia ou lastro contratos mer cantis de compra e venda de produ tos, mercadorias e/ou serviços, para entrega ou prestação futura, bem assim os títulos representativos desses contratos; ...omissis...
Parágrafo único: O disposto nos incisos I e II deste artigo aplica-se, tão somente, aos con tratos, títulos e certificados fir mados, de emissão ou de respon sabilidade de órgãos ou entida des referidos no art. 1° da Reso lução n° 2.008, de 28.07.93".
Está claramente explicitada, na Resolução n^" 2.143/95, a in tenção regulatória de evitar que as entidades e órgãos estatais contraiam obrigações respalda das em receitas ainda vindouras e indeterminadas, representadas por compra e venda a futuro de mercadorias e serviços.
Assim é que, apenas a partir de 1995, e não de 1992 ou de 1993, é que foram vedadas as operações com duplicatas para entrega futu ra, pois, anteriormente, a matéria só era objeto de Circular, que não pode criar ou extinguir direitos, nem obrigações para as entidades do sistema financeiro. ●

(Serviço Aberto)
Relações obrigações do MÊS + ENVIO para saber das obrigações de um determinado dia tecle: N- DIA + ENVIO Obs.: somente números que "piscam" são último prazo para obrigações neste mês.
EXPRESSÃO LEGÍTIMA E INDEPENDENTE DO EMPRESARIADO PAULISTA Rua Boa Vista, 51 - 01014-911 - São Paulo - SP - PABX 234-3322
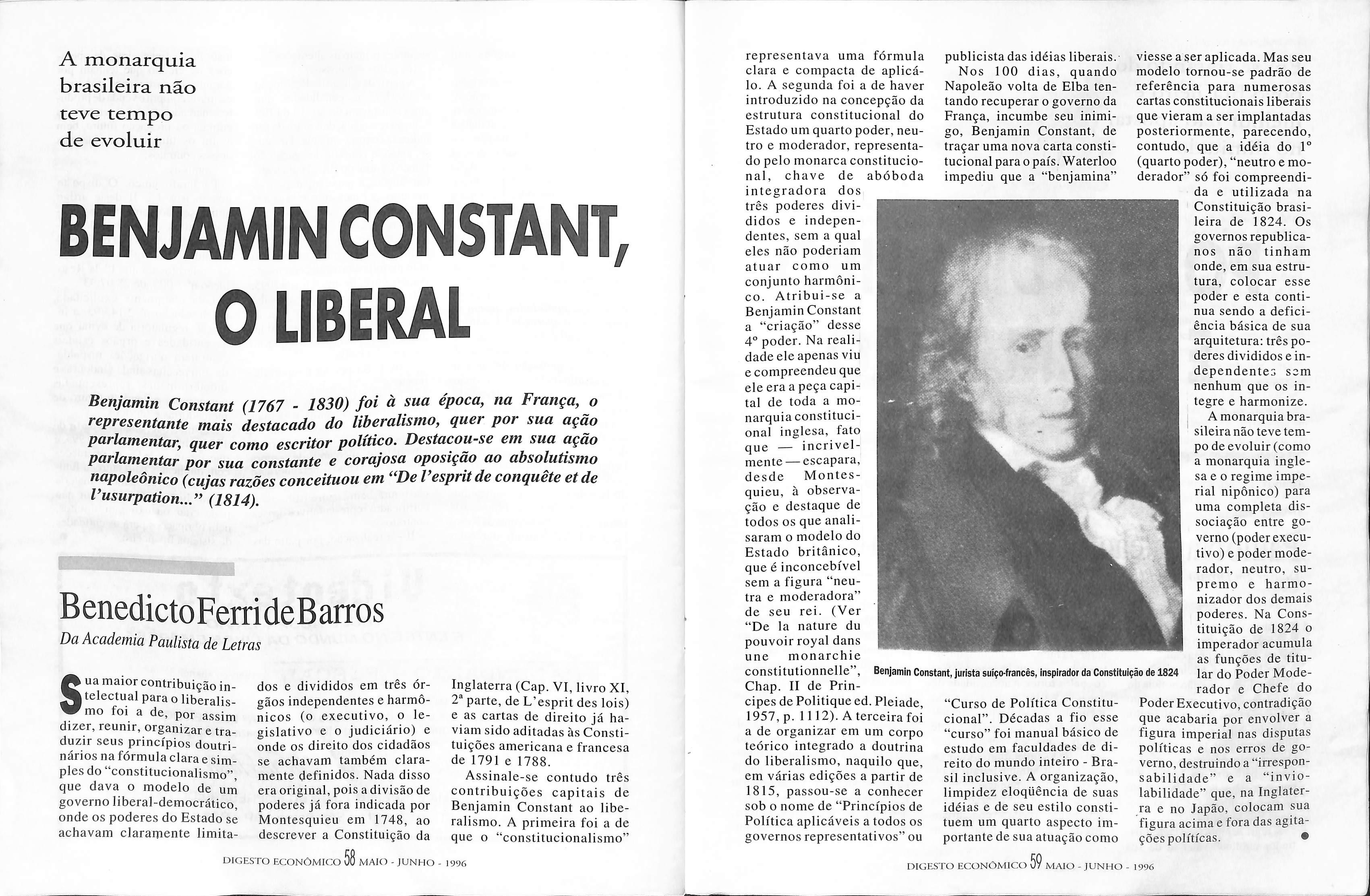
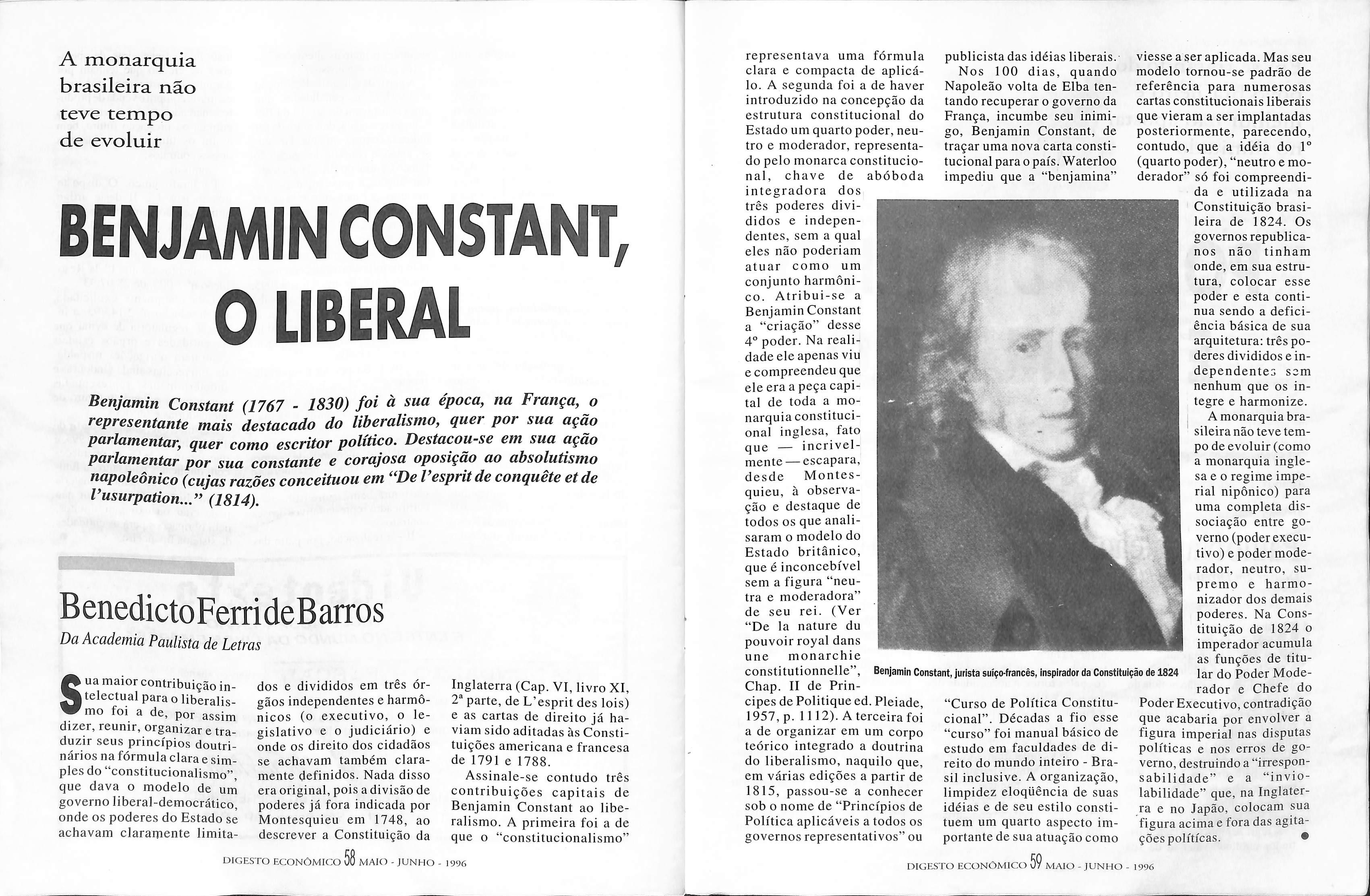


haver instalado o feudalismo, tal como praticado no restante da Eu ropa. No reino lusitano, vigorou até 1835 o absolutismo do “Ter ceiro Braço”, ou seja, a união en tre o rei, a nobreza e ... o povo representado pelos conselhos mu nicipais. Todos de acordo entre si, cada qual com o seu quinhão, e com poucas ou insignificantes querelas.
Nos demais Estados europeus, entretanto, a separação sempre foi uma regra constante, traduzindose numa particularização do Esta do, isto é, no exercício das fun ções estatais em proveito daque les que ocupavam os respectivos cargos. Esse sistema se abrandou
buinte: os antigos vassalos, vi lões, servos da gleba, etc; e ao que tudo indica, esse restante sem pre continuará a ser isso mesmo, embora, seja previsível que o seu percentual diminua em relação aos primeiros, ao longo de sécu los ou de milênios!
Na Era Contemporânea, essa particularização do Estado assu miu proporções inimagináveis. Como em tese os ocupantes dos
cargos públicos são representan tes do povo - que, também em tese é 0 titular do poder - disso resulta que, enquanto puderem se manter esses agentes podem nos cargos dispor de todo o dinheiro público como melhor lhes parecer, regra, em benefício próprio, bora indiretamente, mas sempie
formas! Por isso, aliás, o Brasil foi apelidado de “país das ver bas”!
Em virtude disso, os escânda los da Comissão de Orçamento no Congresso, ou o das aposenta dorias de parlamentares, para ci tar apenas esses dois casos. E, como a ótica dos atuais (desde 200 anos) detentores do poder é a mesma de sempre - retirar o má ximo dos vassalos - cada novo governo inventa novas formas de tributo, ICMF e outros!

emconconcretamente. Uma propina aqui,
Em um pouco na era moderna (a par tir de 1500), em virtude do ceito de ‘res publica’; mas, não se modificou significativamente.
Com 0 furacão da revolução Francesa, o que ocorreu foi a mu dança do centro de poder, e não a essência no modo de exercer o poder. Se antes todas as faculda des provinham do rei, a partir de 1789 elas passaram a provir do “poder popular”.
Mudaram as faculdades mu dou a ótica? Em nada, apenas a posse do dinheiro e dos meios de consegui-lo e “administrá-lo” pas sou das mãos do rei e seus repre sentantes, para as mãos dos que - teoricamente, através de uma fic ção legal imposta
O Estado, paz entre em qualquer lugar do mundo, continuava e conti nuou particularizado, existindo para garantir o aumento de força dos fortes, o aumento de riqueza dos ricos, ou o advento de riqueza aos oportunistas bem capacitados! O restante, sempre foi contri-
Todos se conhecem e conhecem as mazelas recíprocas
um superfaturamento ali, um ‘ pe dágio” - taxa para participar das concorrências públicas - acolá! E, suas fortunas vão sempre aumen tando.
DIGE.STO Rc:ONÒMfCO 62 por coerçãopassaram a representar o povo. Em 1797 oPríncipeRegenteDom Joao já gastava iros de dinheiro para subornar os membros do Diretório revolucionário francês, e celebrar um tratado de Portugal e França!
Não é por outra razão que no período pré-fmal da União Sovié tica, Yuri Andropov dedicou seu governo, no discurso de posse, ao combate à corrupção, e à venda de cargos públicos! Mas, caiu de cama poucos meses depois, e morreu em seguida...
Nem é por outra causa que no Brasil qualquer cargo público dei xou de ser valorizado pela sua importânciapolíticaou social, mas só pelo orçamento de que irá dis por: é esse valor que servirá ao locupletamento em todas as suas
Nem se pode esquecer os ab surdos de corrupção do México, da Argentina, da Itália, Bulgária e Romênia comunistas: são todos a expressão de que no regime nascido da Revolução Francesa, 0 dinheiro dos contribuintes não tem dono, é de quem esteja tran sitoriamente e formalmente exer cendo o papel de representante desses contribuintes, embora usando o cargo só para fazer ou aumentar sua fortuna pessoal!
Afinal, a corrupção, o locu pletamento, e até a própria extor são fiscal são velhos, existem des de que o mundo é mundo. Porque o homem precisa de posse e po der. Mas, nunca a separação entre governantes e governados foi tão grande como hoje, e jamais me nos eficiente a fiscalização sobre os cargos públicos. No Brasil, sobretudo.
As expressões “dinheiro pú blico” e “erário público”, eviden temente, serão sempre utopias. Mas, antes, havia um soberano e algumas dúzias de seus amigos a dispor do erário, que não era tido como público, mas honesta e sin ceramente denominado “tesouro real”. Agora, são dezenas de milhares, para não dizer cente nas de milhares, a se locupletar dos vassalos contemporâneos!
O pior é que todos sabem dis so, todos se conhecem e conhe cem as mazelas recíprocas dos que ocupam postos do Estado.

Por exemplo, no mundo inteiro qualquer estudante de adminis tração 011 de economia sabe que um Banco Central só pode atuar se for independente; mas, por qual razão os nossos políticos não dão independência ao Banco Central do Brasil? Simplesmente, porque sabem que o nosso Banco Central é uma outra máfia, uma outra oli garquia: os casos do Econômico e do Nacional, para não mencionar outros tantos que já se esvaíram na fumaça do tempo, são signifi cativos, e dispensam comentários.
Tudo isso está em desacordo com os subdesenvolvidos esgares e cacoetes populares dos intelectualóides brasileiros, que de fendem os seus espaços - obscuran tistas e reü-ógrados - berrando por soberaniapopular, cidadania, igual dade, e outras falácias? Com certe za. Mas, tudo o que se mencionou é realidade insofismável: é com ela que temos que conviver. Com o que é, e não com o que tantos alumbrados e acadêmicos gostariam que fosse. O Homem é sempre o Homem, e ponto final.
O assunto é para ser pensado. Afinal, matematicamente, o sis tema anterior ao do advento do “povo soberano”, o regime do povo-povo mesmo, do “terceiro braço”, era bem mais barato, me nos dispendioso para esse próprio povo! Menos gente a se locuple tar. Em geral, aliás, o rei não pre cisava disso, apenas o permitia a uma meia-dúzia. E o fazia homenagem à necessidade de governar, e às características imodificáveis da natureza hu mana. Tudo se resumia a questão de praticidade!
Iremos continuar indefinida mente com 0 atual regime, enga noso, do qual toda a estrutura le gal se destina a tirar do povo, a empobrecê-lo? Quantos impostos ainda serão criados, com o povo anestesiado pela mídia, sem per ceber isso?
Qual será a próxima - falsaj ustificação para o Estado pseudopopular, falido, que obviamente ’ não consegue - e, nem precisariaexplicar onde gasta tanto dinhei ro, nem a razão pela qual não presta serviços? Vamos continu ar como robôs, ou como os protohumanos de Aldous Houxley no seu “Admirável mundo novo”? Vamos continuar votando festi vamente para presidente, manten do toda essa parafernália de uma esti‘utura político-administrativa falaciosa? Essa estrutura disfarça um dos mais gigantescos e institucionalizados esquemas de apropriação permanente dos re cursos de um povo!
Convenha-se, a prática da re messa de ouro e pau-brasil para a Europa durante os 300 anos colo¬
Iniais, 0 contrabando e outros ilíci tos da atualidade representam obra de meros “aprendizes de trombadinha”, diante do esquema de locupletamento legalmente ofici alizado no Brasil de hoje, em be nefício dos que ocupam cargos públicos!
Nem mesmo os “ressarcimen tos” impostos pelos Aliados à Ale manha, ao fim da Primeira Guerra Mundial, sugaram tanto e tripu diaram tanto sobre os desapossados. E, no entanto, por causa desses “ressarcimentos” e para se vingar deles, a Alemanha produ ziu um Hitier! Seria o caso de esta reflexão servir como advertência. Porque tudo tem um limite e, sen do assim, mesmo em se tratando de povo brasileiro, é melhor não apostar no ilimitado. ●
0 pensamento liberal brasilei ro tem sido estudado por diversos autores (Vicente Barretto, Ubiratan Macedo, Ricardo Vélez Rodnguez, entre outros), achando-se estabelecidos principais ciclos e temas do minantes em cada um deles. O livro, recém-editado, de João de Scantimburgo -a que deu o titulo de História do Liberalis mo no Brasil -, adota um outro paitido e trata de averiguar em que medida o liberalismo institucionalizou-se em nosso País. A investigação é deveras ino vadora e enriquece sobremaneira o conhecimento que temos desse movimento.
os seus
mara dos Deputados temporária, o Poder Judiciário e os Partidos Políticos.
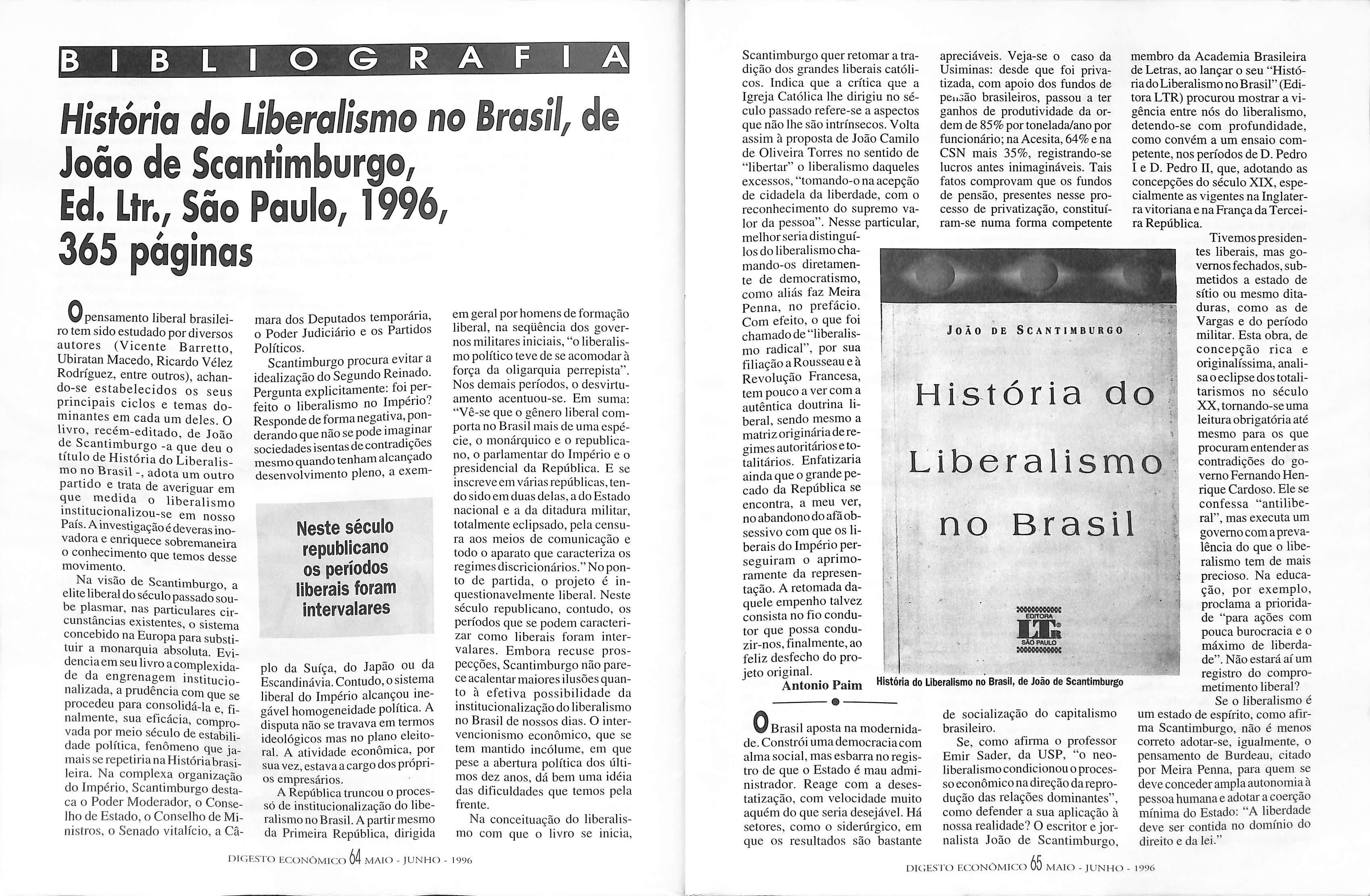
Na visão de Scantimburgo, a ehte liberal do século passado sou be plasmai, nas particulares cir cunstâncias existentes, o sistema concebido na Europa para substi tuir a monarquia absoluta. Evi denciaem seu livro acomplexida- de da 1-
engrenagem institucio nalizada, a prudência com que se procedeu para consolidá-la e, fi nalmente, sua eficácia. , compro¬ vada por meio século de estabili dade política, fenômeno que ja- mai s se repetiría na História brasi leira. Na complexa organização do Império, Scantimburgo desta ca 0 Poder Moderador, o Conse lho de Estado, o Conselho de Mi nistros, 0 Senado vitalício, a Câ-
mesmo
Scantimburgo procura evitai a idealização do Segundo Reinado. Pergunta explicitamente: foi per feito 0 liberalismo no Impeno. Responde de forma negativa, pon derando que não se pode imaginai sociedades isentas de contradições quando tenham alcançado desenvolvimento pleno, a exem-
plo da Suíça, do Japão ou da Escandinávia. Contudo, o sistema liberal do Império alcançou ine gável homogeneidade política. A disputa não se travava em termos ideológicos mas no plano eleito ral. A atividade econômica, por sua vez, estava acargo dos própri os empresários.
A República truncou o proces so de institucionalização do libe ralismo no Brasil. A partir mesmo da Primeira República, dirigida
em geral por homens de formação liberal, na sequência dos gover nos militares iniciais, “o liberalis mo político teve de se acomodar à força da oligarquia perrepista”. Nos demais períodos, o desvirtuamento acentuou-se. Em suma: “Vê-se que o gênero liberal com porta no Brasil mais de uma espé cie, o monárquico e o republica no, o parlamentar do Império e o presidencial da República. E se inscreve em várias repúblicas, ten do sido em duas delas, a do Estado nacional e a da ditadura militar, totalmente eclipsado, pela censu ra aos meios de comunicação e todo o aparato que caracteriza os regimes discricionários.” No pon to de partida, o projeto é in questionavelmente liberal. Neste século republicano, contudo, os períodos que se podem caracteri zar como liberais foram inter valares. Embora recuse prospecções, Scantimburgo não pare ce acalentar maiores ilusões quan to à efetiva possibilidade da institucionalização do liberalismo no Brasil de nossos dias. O inter vencionismo econômico, que se tem mantido incólume, em que pese a abertura política dos últi mos dez anos, dá bem uma idéia das dificuldades que temos pela frente.
Na conceituação do liberalis mo com que o livro se inicia.
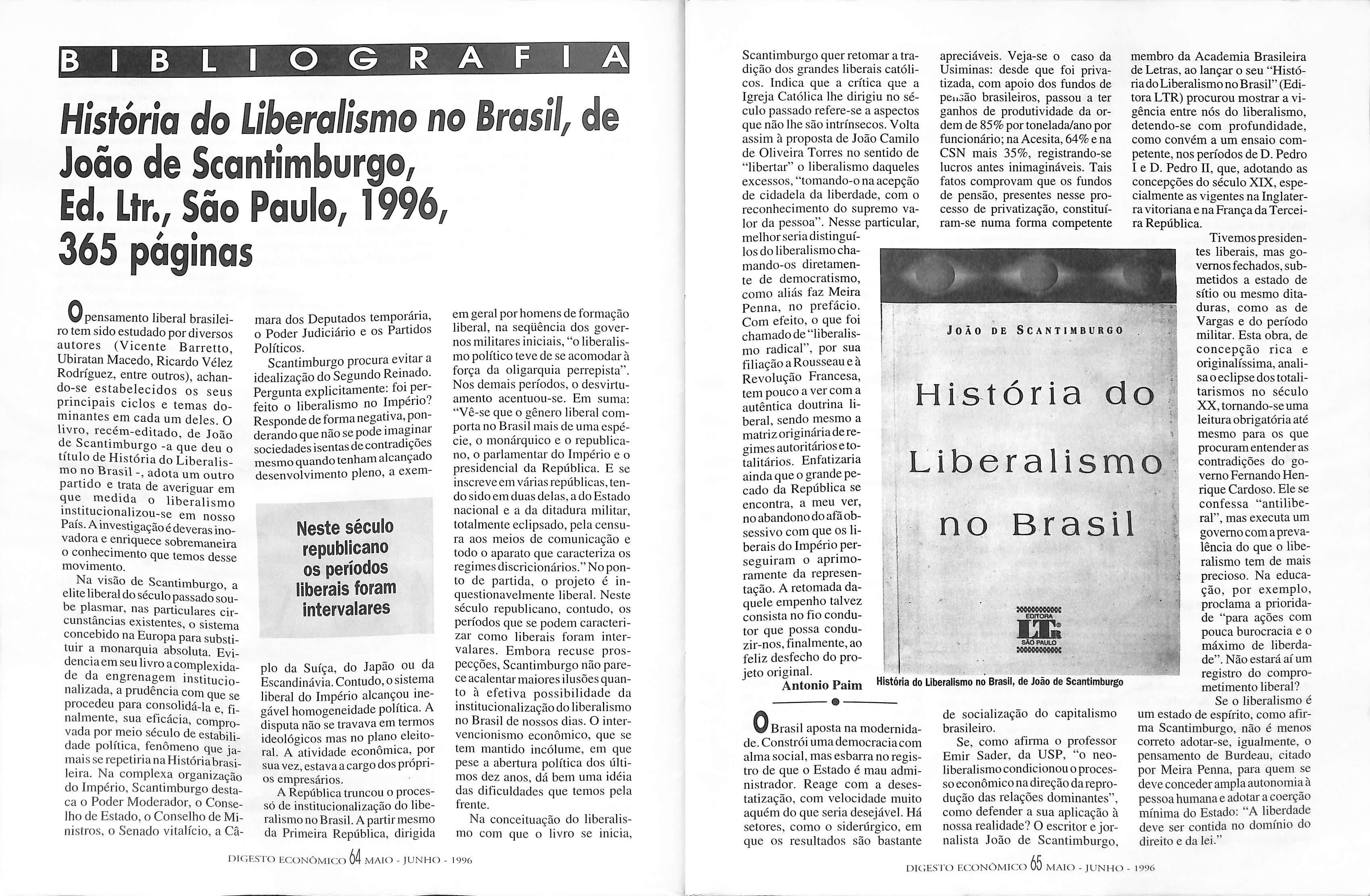
Scantimburgo quer retomar a tra dição dos grandes liberais católi cos. Indica que a crítica que a Igreja Católica lhe dirigiu no sé culo passado refere-se a aspectos que não lhe são intrínsecos. Volta assim à proposta de João Camilo de Oliveira Torres no sentido de “libertar” o liberalismo daqueles excessos, “tomando-o na acepção de cidadela da liberdade, com o reconhecimento do supremo va lor da pessoa”. Nesse particular, melhor seriadistinguílos do liberalismo cha mando-os diretamen te de democratismo, como aliás faz Meira Penna, no prefácio. Com efeito, o que foi chamado de “liberalisradical”, por sua filiação a Rousseau e à Revolução Francesa, tem pouco a ver com a autêntica doutrina li beral, sendo mesmo a matriz originária de re gimes autoritários e to talitários. Enfatizaria ainda que o grande pe cado da República se encontra, a meu ver, no abandono do afã obsessivo com que os li berais do Império per-
apreciáveis. Veja-se o caso da Usiminas: desde que foi priva tizada, com apoio dos fundos de peasão brasileiros, passou a ter ganhos de produtividade da or dem de 85% por tonelada/ano por funcionário; na Acesita, 64% e na CSN mais 35%, registrando-se lucros antes inimagináveis. Tais fatos comprovam que os fundos de pensão, presentes nesse pro cesso de privatização, constituí ram-se numa forma competente
membro da Academia Brasileira de Letras, ao lançar o seu “Histó ria do Liberalismo no Brasil” (Edi tora LTR) procurou mostrar a vi gência entre nós do liberalismo, detendo-se com profundidade, como convém a um ensaio competente, nos períodos de D. Pedro I e D. Pedro II, que, adotando as concepções do século XIX, espe cialmente as vigentes na Inglater ra vitoriana e na França da Tercei ra República.
JoAo DE Scantimburgo mo r
seguiram o aprimoramente da represen tação. A retomada da quele empenho talvez consista no fio condu tor que possa condu zir-nos, finalmente, ao feliz desfecho do pro jeto original.
0Brasil aposta na modernida de. Constrói umademocraciacom alma social, mas esban-a no regis tro de que o Estado é mau admi nistrador. Reage com a desestatização, com velocidade muito aquém do que seria desejável. Há setores, como o siderúrgico, em que os resultados são bastante
EDfTORA
História do Liberalismo no Brasil, de João de Scantimburgo Antonio Paim de socialização do capitalismo brasileiro.
Se, como afinna o professor Emir Sader, da USP, “o neoliberalismo condicionou o proces so econômico na direção da repro dução das relações dominantes”, como defender a sua aplicação à nossa realidade? O escritor e jor nalista João de Scantimburgo,
minima
Tivemos presiden tes liberais, mas go vernos fechados, sub metidos a estado de sítio ou mesmo dita duras, como as de Vargas e do período militar. Esta obra. de concepção rica e originalíssima, anali sa o eclipse dos totalitarismos no século XX, tomando-se uma leitura obrigatória até mesmo para os que procuram entender as contradições do go verno Fernando Hen rique Cardoso. Ele se confessa “antiliberal”, mas executa um governo com aprevalência do que o libe ralismo tem de mais precioso. Na educa ção, por exemplo, proclama a priorida de “para ações com pouca burocracia e o máximo de liberda de”. Não estará aí um registro do compro metimento liberal?
Se o liberalismo é um estado de espírito, como afir ma Scantimburgo, não é menos coiTeto adotar-se, igualmente, o pensamento de Burdeau, citado por Meira Penna, par-a quem se deve conceder ampla autonomia à pessoa humana e adotar a coerção do Estado; “A liberdade deve ser contida no domínio do direito e da lei.”
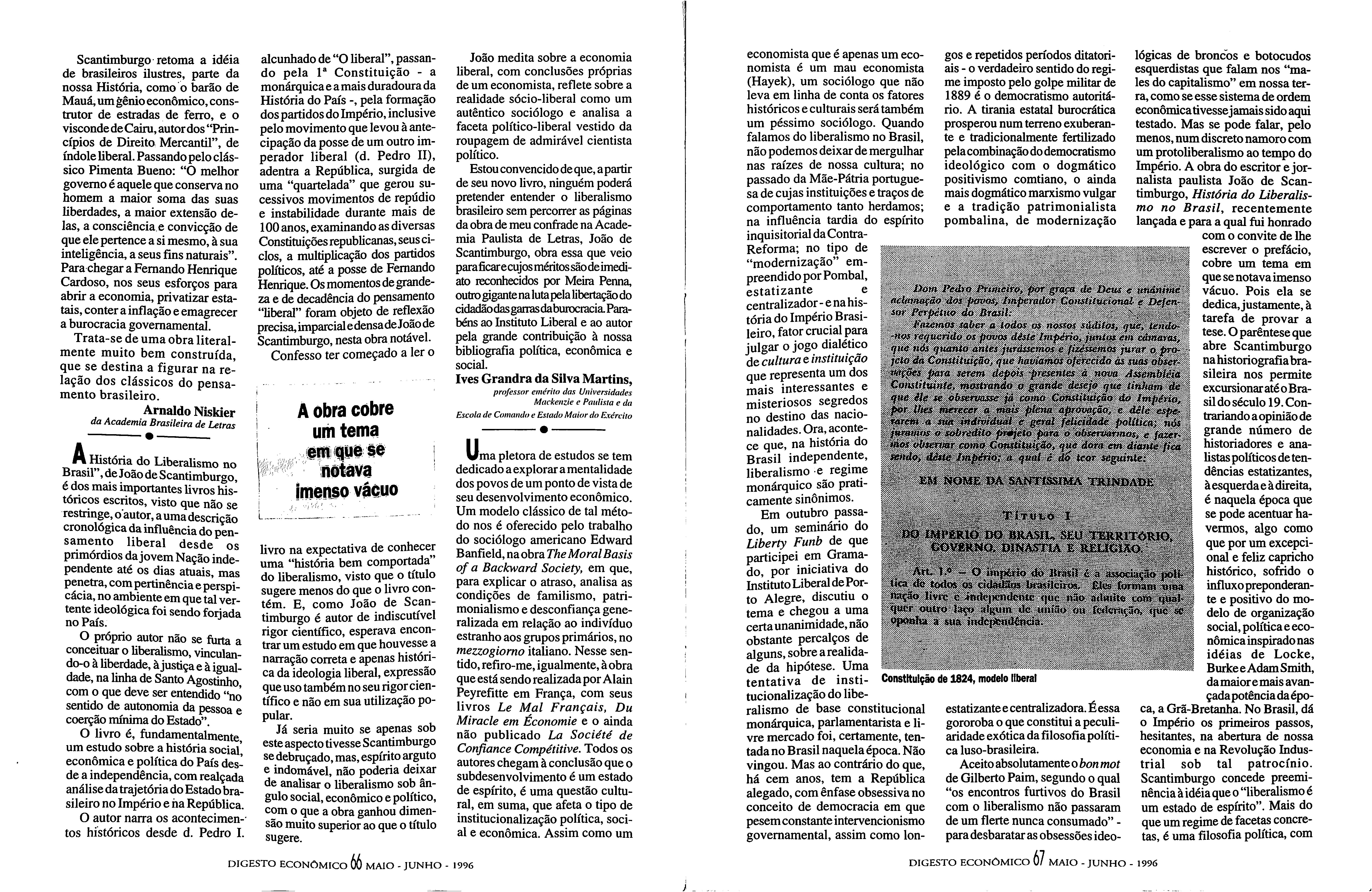
Scantimburgo retoma a idéia de brasileiros ilustres, parte da nossa História, como o barão de Mauá, um gênio econômico, cons trutor de estradas de ferro, e o visconde deCairu, autor dos “Prin cípios de Direito Mercantil”, de índole liberal. Passando pelo clás sico Pimenta Bueno: “O melhor governo é aquele que conserva no homem a maior soma das suas liberdades, a maior extensão de las, a consciência e convicção de que ele pertence a si mesmo, à sua inteligência, a seus fins naturais”. Para chegar a Fernando Henrique Cardoso, nos seus esforços para abrir a economia, privatizar esta tais, conter a inflação e emagrecer a burocracia governamental.
Trata-se de uma obra literal mente muito bem construída, que se destina a figurar na lação dos clássicos do mento brasileiro. repensa-
Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras
Brasil , de João de Scantimburgo, é dos mais importantes livros his tóricos escritos, visto que não se restringe, o autor, a uma descrição cronológica da influência do pen- samento liberal desde os primórdios da jovem Nação inde pendente até os dias atuais, penetra, com pertinência e perspi cácia, no ambiente em que tal ver tente ideológica foi sendo foriada no País.
O próprio autor não se furta a conceituar o liberalismo, vinculan do-o à liberdade, à justiça e à igual dade, na linha de Santo Agostinho, com o que deve ser entendido “no sentido de autonomia da pessoa e coerção mínima do Estado”.
O livro é, fundamentalmente, um estudo sobre a história social’ econômica e política do País des de a independência, com realçada análise da trajetória do Estado bra sileiro no Império e ha República.
O autor narra os acontecimen tos históricos desde d. Pedro I.
alcunhado de “O liberal”, passan do pela U Constituição - a monárquica e a mais duradoura da História do País -, pela formação dos partidos do Império, inclusive pelo movimento que levou à ante cipação da posse de um outro im perador liberal (d. Pedro II), adentra a República, surgida de uma “quartelada” que gerou su cessivos movimentos de repúdio e instabilidade durante mais de 100 anos, examinando as diversas Constituições republicanas, seus ci clos, a multiplicação dos partidos políticos, até a posse de Fernando Henrique. Os momentos de grande za e de decadência do pensamento “liberal” foram objeto de reflexão precissi, imparcial e densa de João de Scantimburgo, nesta obra notável. Confesso ter começado a ler o
A obra cobre uiii tema
nõtâva imenjo vâguo
livro na expectativa de conhecer uma “história bem comportada” do liberalismo, visto que o título sugere menos do que o livro con tém. E, como João de Scan timburgo é autor de indiscutível rigor científico, esperava encon trar um estudo em que houvesse a narração correta e apenas históri ca da ideologia liberal, expressão que uso também no seu irgor cien tífico e não em sua utilização po pular. Já seria muito se apenas sob este aspecto tivesse Scantimburgo se debruçado, mas, espírito arguto e indomável, não poderia deixar de einalisar o liberalismo sob ân gulo social, econônúco e político, com o que a obra ganhou dimen são muito superior ao que o título sugere.
João medita sobre a economia liberal, com conclusões próprias de um economista, reflete sobre a realidade sócio-liberal como um autêntico sociólogo e analisa a faceta político-liberal vestido da roupagem de admirável cientista poKtico.
Estou convencido de que, a partir de seu novo livro, ninguém poderá pretender entender o liberalismo brasileiro sem percorrer as páginas da obra de meu confrade na Acade mia Paulista de Letras, João de Scantimburgo, obra essa que veio paraficare cujos méritos são de imedi ato erconhecidos por Meira Penna, outro gigante na luta pela libertação do cidadão das garras daburocracia.Parabéns ao Instituto Liberal e ao autor pela grande contribuição à nossa bibliografia poKtica, econômica e social.
Ives Grandra da Silva Martins, professor emérito das Universidades Mackenzie e Paulista e da Escola de Comando e Estado Maior do Exército
Uma pletora de estudos se tem dedicado a explorar a mentalidade dos povos de um ponto de vista de seu desenvolvimento econômico. Um modelo clássico de tal méto do nos é oferecido pelo trabalho do sociólogo americano Edward Banfield, na obra The Moral Basis of a Backward Society, em que, para explicar o atraso, analisa as condições de familismo, patrimonialismo e desconfiança gene ralizada em relação ao indivíduo estranho aos grupos primários, no mezzogiorno italiano. Nesse sen tido, refiro-me, igualmente, à obra que está sendo realizada por Alain Peyrefitte em França, com seus livros Le Mal Français, Du Miracle em Économie e o ainda não publicado La Société de Confiance Compétitive. Todos os autores chegam à conclusão que o subdesenvolvimento é um estado de espírito, é uma questão cultu ral, em suma, que afeta o tipo de institucionalização política, soci al e econômica. Assim como um
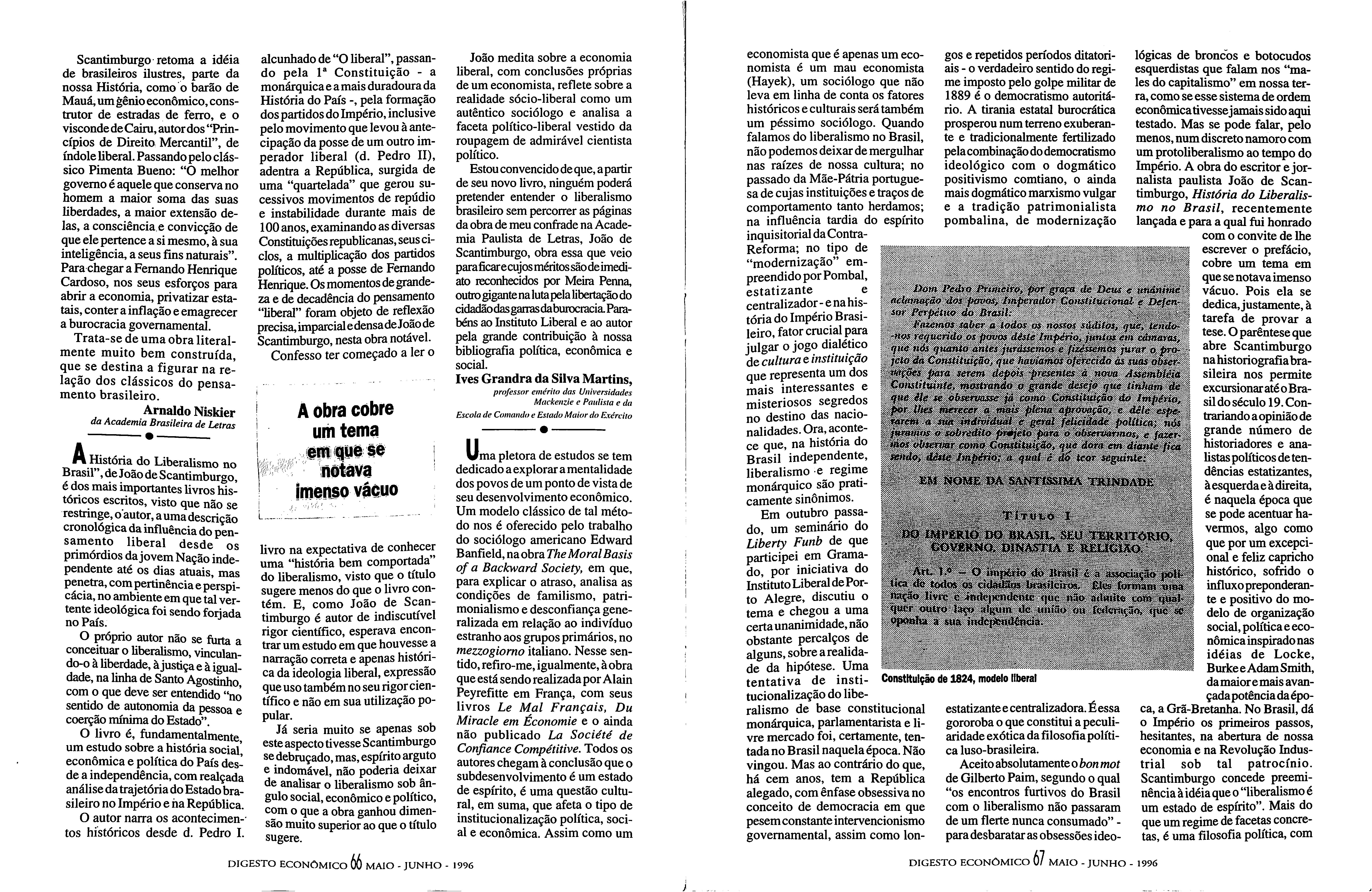
economista que é apenas um eco nomista é um mau economista (Hayek), um sociólogo que não leva em linha de conta os fatores históricos e culturais será também um péssimo sociólogo. Quando falamos do liberalismo no Brasil, não podemos deixar de mergulhar pela combinação do democratismo nas raízes de nossa cultura; no passado da Mãe-Pátria portugue sa de cujas instituições e traços de comportamento tanto herdamos; influência tardia do espírito inquisitorial da ContraReforma; no tipo de “modernização” em preendido por Pombal, estatizante e centralizador - e na his tória do Império Brasi leiro, fator crucial p^a julgar o jogo dialético de cultura e instituição que representa um dos mais interessantes e misteriosos segredos destino das nacio nalidades. Ora, aconte ce que, na história do Brasil independente, liberalismo e regime monárquico são prati camente sinonimos. Em outubro passa do, um seminário do Liberty Funb de que participei em Grama do, por iniciativa do Instituto Liberal de Por to Alegre, discutiu tema e chegou a uma certa unanimidade, não obstante percalços de alguns, sobre a realida de da hipótese. Uma tentativa de insti tucionalização do libe ralismo de base constitucional monárquica, parlamentarista e li vre mercado foi, certamente, ten tada no Brasil naquela época. Não vingou. Mas ao contrário do que, há cem anos, tem a República alegado, com ênfase obsessiva no conceito de democracia em que pesem constante intervencionismo governamental, assim como lon¬
gos e repetidos períodos ditatori- lógicas de broncos e botocudos ais - o verdadeiro sentido do regi- esquerdistas que falam nos “ma me imposto pelo golpe militar de les do capitalismo” em nossa ter1889 é o democratismo autoritá- ra, como se esse sistema de ordem rio. A tirania estatal burocrática econômicativessejamais sido aqui prosperou num terreno exuberan- testado. Mas se pode falar, pelo te e tradicionalmente fertilizado menos, num discreto namoro com um protoliberalismo ao tempo do Império. A obra do escritor e jor nalista paulista João de Scantimburgo. História do Liberalis mo no BrasiL recentemente
ideológico com o dogmático positivismo comtiano, o ainda mais dogmático marxismo vulgar e a tradição patrimonialista pombalina, de modernização lançada e para a qual fui honrado com o convite de lhe na II escrever o prefácio, cobre um tema em que se notava imenso vácuo. Pois ela dedica, justamente, à tarefa de provar a tese. O parêntese que abre Scantimburgo na historiografiabrasileira nos permite excursionar até o Bra sil do século 19. Con trariando a opinião de grande número de historiadores e ana listas políticos de ten dências estatizantes, à esquerda e à direita, é naquela época que se pode acentuar ha vermos, algo como que por um excepci onal e feliz capricho histórico, sofrido o influxo preponderan te e positivo do mo delo de organização social, política e eco nômica inspirado nas idéias de Locke, Burke e Adam Smith, da maior e mais avan çada potência da épo ca, a Grã-Bretanha. No Brasil, dá o Império os primeiros passos, hesitantes, na abertura de nossa economia e na Revolução Indus trial sob tal patrocínio. Scantimburgo concede preeminência à idéia que o “liberalismo é estado de espírito”. Mais do que um regime de facetas concre tas, é uma filosofia política, com
Bc4ho\ se
sar pcrpétitíf do Brasil:
Constituição de 1824, modeio liberal
estatizante e centralizadora. É essa gororoba o que constitui a peculi aridade exótica da filosofia políti ca luso-brasileira.
Aceito absolutamente o bon mot de Gilberto Paim, segundo o qual “os encontros furtivos do Brasil com o liberalismo não passaram de um flerte nunca consumado”para desbaratar as obsessões ideo-
inúmeros criadores, e um aconte cimento histórico definido. Obte mos, graças à obra, uma idéia do desastre que sofremos ao abando nar uma política aberta e esclarecida - que nos teria condu zido rapidamente, como contemporaneamente conduzia a Argen tina segundo imaginava Lord James Bryce quando nos visitou, ao alto padrão de uma espécie de Estados Unidos da América do Sul. Esse é, no meu entender, o horizonte global em que nos deve mos colocar, para o entendimento da postura do País em relação um liberalismo que agora mente desperta para seduzir a na cionalidade. a nova- isso, no
J. O. de Meira Penna
Houve governos liberais, dou trina liberal posta em prática pelo Estado nacional brasileiro em qual quer época, Império ou Repúbli ca? Temos ou tivemos partidos políticos verdadeiramente libe- lais? Esta são as questões-síntese o ponto nuclear da análise em tor no da qual se desenvolve mais esta magnífica obra de João de Scantimburgo. Com ela, a mais recente de uma impressionante antologia que se aproxima das três dezenas, o historiador, filósofo e acadêmico prestou mais uma ines timável contribuição ao resgate da cultura brasileira!
Livre de engajamentos ideoló gicos em qualquer direção, o his toriador se manteve fiel ao signifi cado exato dos fatos de nossa his tória. A análise lúcida e intelectu almente sobranceira, não deixa margem a desvios de interpreta ção, ou a ressalvas eventuais.
ralismo de sua época. Um tempo tão brilhante e tão serenamente épico para o mundo e para o Bra sil, depois das conturbações da Revolução Francesa e dos dias de glória de Napoleão, que, bem se podería compará-lo a um novo Renascimento após a sucessão de trevas e de luzes.
Dotado dos instrumentos e da postura pessoal do absolutismo, D. Pedro usava seus poderes e seu ‘status’ para constitucionalizar, para democratizar e... para libera lizar! Foi um liberal na melhor acepção da expressão. Nem por entanto, seu governo foi liberal: o Príncipe da Beira, Prín cipe Regente do Brasil, Impera dor e Defensor Peipétuo do Bra sil, o Rei de Portugal e depois Regente de Portugal, tinha limites à sua atuação.
0 autor é de indiscutível rigor
cou-se
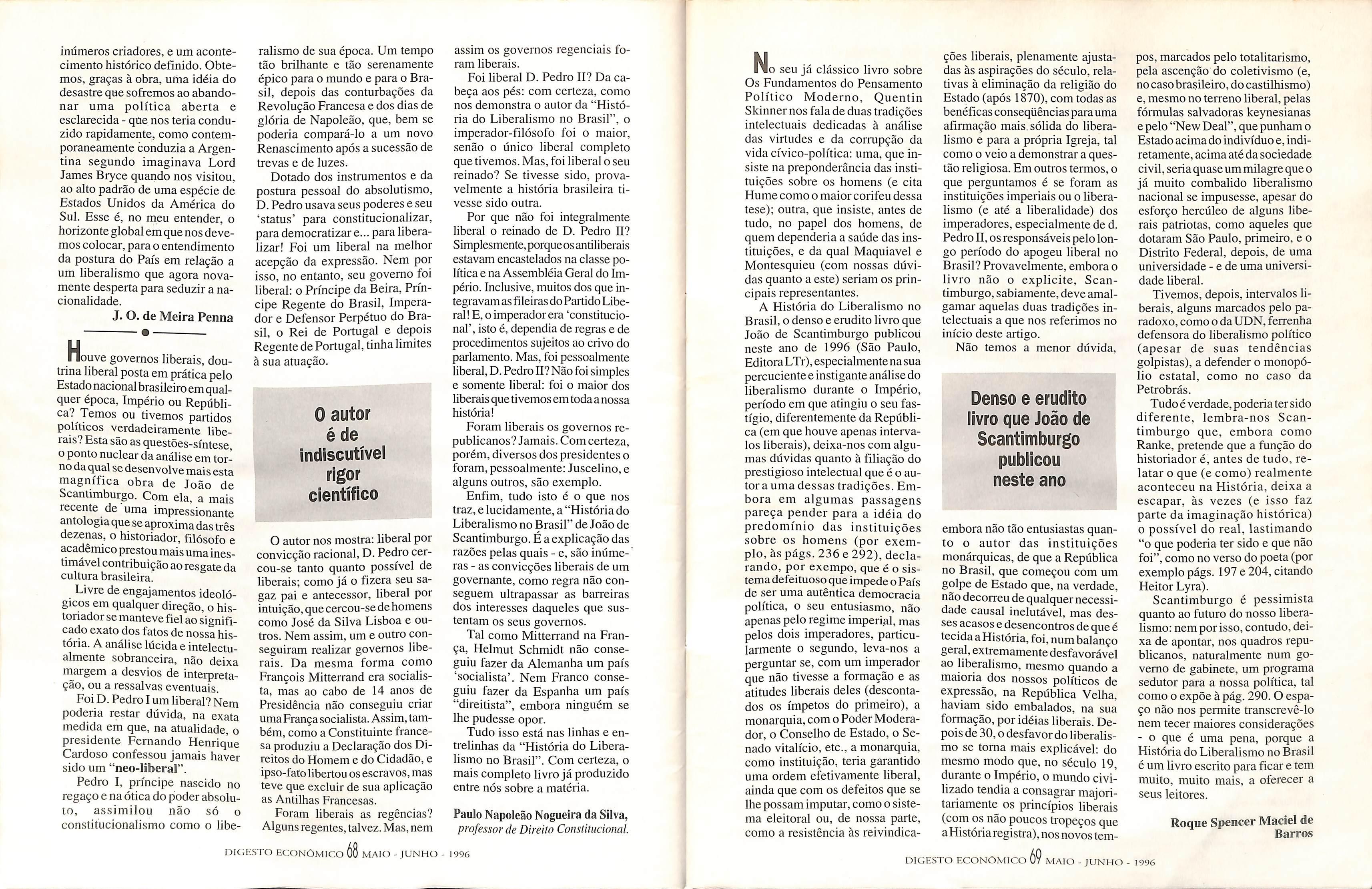
assim os governos regenciais fo ram liberais.
Foi liberal D. Pedro II? Da ca beça aos pés: com certeza, como nos demonstra o autor da “Histó ria do Liberalismo no Brasil”, o imperador-filósofo foi o maioi', senão 0 único liberal completo que tivemos. Mas, foi liberal o seu reinado? Se tivesse sido, prova velmente a história brasileira ti vesse sido outra.
Por que não foi integralmente liberal o reinado de D. Pedro II? Simplesmente, porque os antiliberais estavam encastelados na classe po lítica e na Assembléia Geral do Im pério. Inclusive, muitos dos que in tegravam as fileiras do Partido Libe ral! E, o imperador era ‘constitucio nal’, isto é, dependia de regras e de procedimentos sujeitos ao crivo do parlamento. Mas, foi pessoalmente liberal, D. Pedro II? Não foi simples e somente liberal: foi o maior dos liberais que tivemos em toda a nossa história!
Foram liberais os governos re publicanos? Jamais. Com certeza, porém, diversos dos presidentes o foram, pessoalmente: Juscelino, e alguns outros, são exemplo.
Enfim, tudo isto é o que nos traz, e lucidamente, a “História do Liberalismo no Brasil” de João de Scantimburgo. É a explicação das razões pelas quais - e, são inúme ras - as convicções liberais de um governante, como regra não con seguem ultrapassar as barreiras dos interesses daqueles que sus tentam os seus governos.
exata
Foi D. Pedro I um liberal? Nem podería restar dúvida, medida em que, na atualidade, presidente Fernando Henriq Cardoso confessou jamais haver sido um “neo-liberal”.
Pedro I, príncipe nascido no regaço e na ótica do poder absolu to, assimilou não só constitucionalismo como o iibe-
O autor nos mostra: liberal por convicção racional, D. Pedro certanto quanto possível de liberais; como já o fizera seu sa gaz pai e antecessor, liberal por intuição, que cercou-se de homens como José da Silva Lisboa e ou tros. Nem assim, um e outro con seguiram realizar governos libe rais. Da mesma forma como François Mitterrand era socialis ta, mas ao cabo de 14 anos de Presidência não conseguiu criar uma França socialista. Assim, tam bém, como a Constituinte france sa produziu a Declaração dos Di reitos do Homem e do Cidadão, e ipso-fato libertou os escravos, mas teve que excluir de sua aplicação as Antilhas Francesas.
Foram liberais as regências? Alguns regentes, talvez. Mas, nem
Tal como Mitterrand na Fran ça, Helmut Schmidt não conse guiu fazer da Alemanha um país ‘socialista’. Nem Franco conse guiu fazer da Espanha um país “direitista”, embora ninguém se lhe pudesse opor.
Tudo isso está nas linhas e en trelinhas da “História do Libera lismo no Brasil”. Com certeza, o mais completo livro já produzido entre nós sobre a matéria.
Paulo Napoleão Nogueira da Silva, professor de Direito Constitucional.
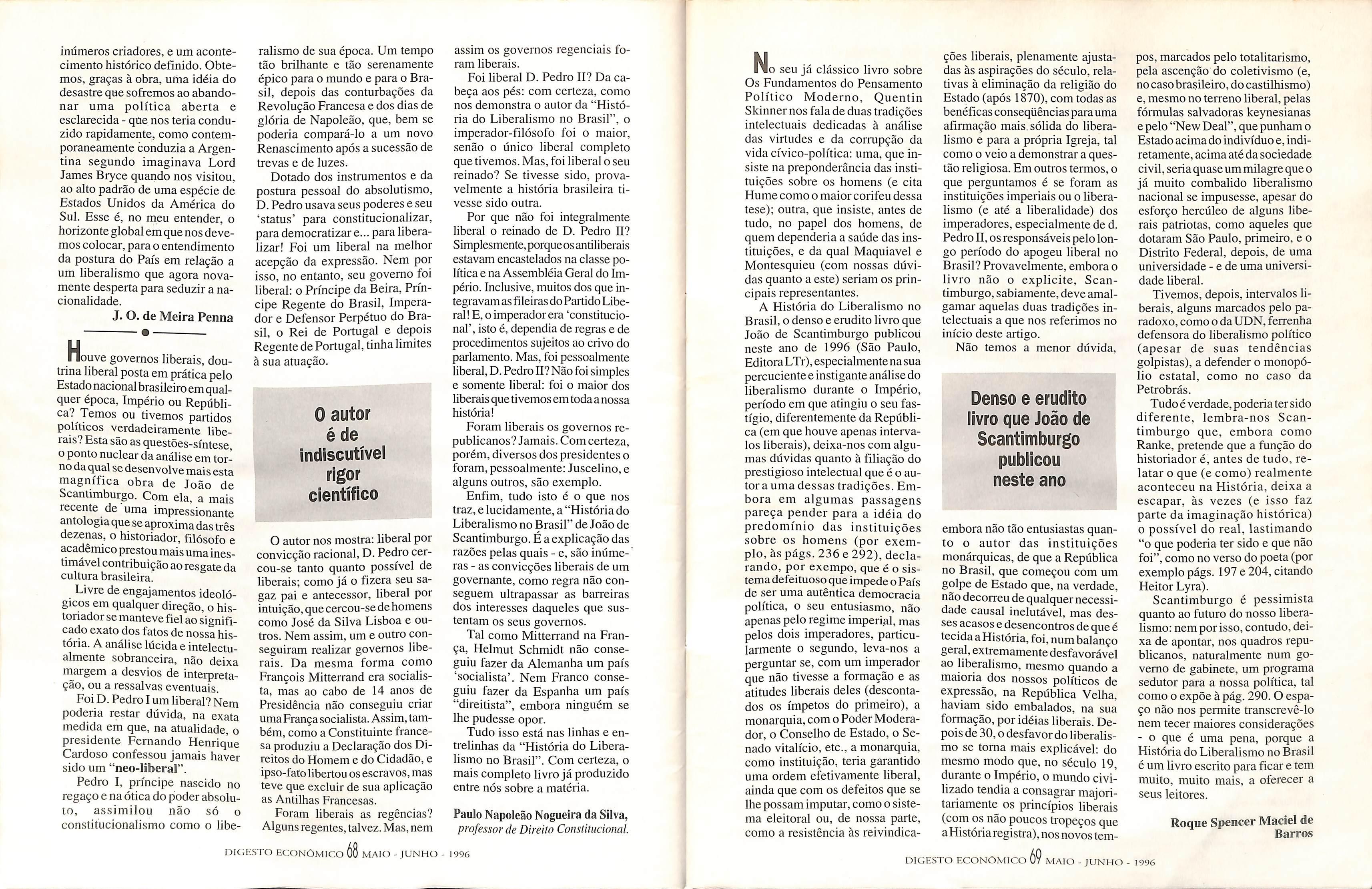
No seu já clássico livro sobre Os Fundamentos do Pensamento Político Moderno, Quentin Skinner nos fala de duas tradições intelectuais dedicadas à análise das virtudes e da corrupção da vida cívico-política: uma, que in siste na preponderância das insti tuições sobre os homens (e cita Hume como o maior corifeu dessa tese); outra, que insiste, antes de tudo, no papel dos homens, de quem dependeria a saúde das ins tituições, e da qual Maquiavel e Montesquieu (com nossas dúvi das quanto a este) seriam os prin cipais representantes.
A História do Liberalismo no Brasil, 0 denso e erudito livro que João de Scantimburgo publicou neste ano de 1996 (São Paulo, Editora LTr), especial mente na sua percLiciente e instigante análise do liberalismo durante o Império, período em que atingiu o seu fastígio, diferentemente da Repúbli ca (em que houve apenas interva los liberais), deixa-nos com algu mas dúvidas quanto à filiação do prestigioso intelectual que é o au tora uma dessas tradições. Em bora em algumas passagens pareça pender para a idéia do predomínio das instituições sobre os homens (por exem plo, às págs. 236 e 292), decla rando, por exempo, que é o sis tema defeituoso que impede o País de ser uma autêntica democracia política, o seu entusiasmo, apenas pelo regime imperial, mas pelos dois imperadores, particu larmente 0 segundo, leva-nos a perguntar se, com um imperador que não tivesse a formação e as atitudes liberais deles (desconta dos os ímpetos do primeiro), a monarquia, com o Poder Modera dor, o Conselho de Estado, o Se nado vitalício, etc., a monarquia, como instituição, teria garantido uma ordem efetivamente liberal, ainda que com os defeitos que se lhe possam imputar, como o siste ma eleitoral ou, de nossa parte, como a resistência às reivindica-
ções liberais, plenamente ajusta das às aspirações do século, rela tivas à eliminação da religião do Estado (após 1870), com todas as benéficas conseqüências para uma afirmação mais. sólida do libera lismo e para a própria Igreja, tal como 0 veio a demonstrar a ques tão religiosa. Em outros termos, o que perguntamos é se foram as instituições imperiais ou o libera lismo (e até a liberalidade) dos imperadores, especialmente de d. Pedro II, os responsáveis pelo lon go período do apogeu liberal no Brasil? Provavelmente, embora o livro não o explicite, Scan timburgo, sabiamente, deve amal gamar aquelas duas tradições in telectuais a que nos referimos no início deste artigo.
Não temos a menor dúvida.
Denso e erudito livro que João de Scantimburgo publicou neste ano
embora não tão entusiastas quan to o autor das instituições monárquicas, de que a República no Brasil, que começou com um golpe de Estado que, na verdade, não decoiTeu de qualquer necessi dade causai inelutável, mas des ses acasos e desencontros de que é tecida a História, foi, num balanço geial, extremamente desfavorável ao libeialismo, mesmo quando a maioria dos nossos políticos de expressão, na República Velha, haviam sido embalados, formação, por idéias liberais. De pois de 30, o desfavor do liberalis mo se torna mais explicável: do mesmo modo que, no século 19, durante o Império, o mundo civi lizado tendia a consagrar majoritaiiamente os princípios liberais (com os não poucos tropeços que a História registra), nos novos tem-
pos, marcados pelo totalitarismo, pela ascenção do coletivismo (e, no caso brasileiro, do castilhismo) e, mesmo no terreno liberal, pelas fórmulas salvadoras keynesianas e pelo “New Deal”, que punham o Estado acima do indivíduo e, indi retamente, acima até da sociedade civil, seria quase um milagre que o já muito combalido liberalismo nacional se impusesse, apesar do esforço hercúleo de alguns libe rais patriotas, como aqueles que dotaram São Paulo, primeiro, e o Distrito Federal, depois, de uma universidade - e de uma universi dade liberal.
Tivemos, depois, intervalos li berais, alguns marcados pelo pa radoxo, como o da UDN, ferrenha defensora do liberalismo político (apesar de suas tendências golpistas), a defender o monopó lio estatal, como no caso da Petrobrás.
Tudo é verdade, podería ter sido diferente, lembra-nos Scan timburgo que, embora como Ranke, pretende que a função do historiador é, antes de tudo, re latar o que (e como) realmente aconteceu na História, deixa a escapar, às vezes (e isso faz parte da imaginação histórica) 0 possível do real, lastimando “o que podería ter sido e que não foi”, como no verso do poeta (por exemplo págs. 197 e 204, citando Heitor Lyra).
Scantimburgo é pessimista quanto ao futuro do nosso libera lismo: nem por isso, contudo, dei xa de apontar, nos quadros repu blicanos, naturalmente num go verno de gabinete, um programa sedutor para a nossa política, tal como o expõe à pág. 290. O espa ço não nos permite transcrevê-lo nem tecer maiores considerações - o que é uma pena, porque a História do Liberalismo no Brasil é um livro escrito para ficar e tem muito, muito mais, a oferecer a seus leitores.
na sua Roque Spencer Maciel de Barros
transplantado. Continua sua aná lise até os nossos dias mostrando perspicácia e lucidez e formula sem triunfalismos sua tese: “não há indícios de liberalismo no hori zonte político do Estado brasilei ro, nem naformação da maioria de seus colaboradores, especialmen te na área econômica. Resta, no entanto, esperança de que no trân sito do tempo seja restaurado no Brasil o liberalismo do qual estamos distanciados há tantos anos, décadas, mesmo.” Tem du ras palavras contra os governos militares na sua violência política e estatismo econômico. Mas não vê liberalismo nos governos Sarney, Collor e Itamar. E vê em FHC:” confessadamente antiliberal, mas está fazendo governo, sob muitos aspectos liberal ou de acordo com um programa ral.” Seu livro visa historiar o libe-
ste último livro do ensaísta e acadêmico João de Scantimburgo é uma obra de maturidade, chega no coroamento de uma carreira onde entre inúmeras outras obras sucede à Crise da República Pre sidencial de 1969 e os posteriores: Destino da América Latina, Tra tado Geral do Brasil e O Poder Moderador, Tratado Geral do Bra sil, O Brasil e a Revolução Fran cesa. É a faceta do historiador e do erudito analista do nosso passado, preocupado com o futuro, diag nosticando erros e falsas soluções para pavimentar um melhor destino para nossa nação. Scantim burgo acumula inúmeras outras facetas em sua obra: o cultivador entusiasta da filosofia de Maurice Blondel, o lúcido analista da téc nica, 0 jornalista e o biógrafo. Mas supera-se como brasilianista, e neste livro onde libese precisam as suas qualidades de historiador e analista político nos dá a dramáti ca história do liberalismo. Ele a faz não de
um prisma de história das ideias filosóficas e políticas (como tentei em Liberalismo e Justiça Social c. 6°) mas do libera lismo encarnado" tituições. Analisaempessoaseinscom maestria mvejavel o liberalismo em D. Pedro I, revalorizando na trilha da biografia recente de Neil Ma- caulay, a figura maior de nossa independência, aqui numa faceta pouco conhecida a ideólogo fun dador de
nos.sas instituições do ^culo passado. Faz o mesmo com D. Pedro II num retrato talvez pouco entusiasta demais para ar rebatar nosso sentimento e analisa a vivência do liberalismo pelas instituições e vida política do Im pério brasileiro. Mostra o eclipse e desaparição total do liberalismo com a República, fmto da ação conjugada do tempo adverso (o século XX dos totalitarismos), do positivismo na sua versão castiIhista e da quartelada militar instauradora e do carater trador da autoridade do modelo presidencial americano para aqui um no
acão reestruturada e mais eficiente. Mostra como a liberdade polí tica essencial não se apoia sem uma ampla liberdade econômica e ambas nutrem a liberdade social e dela recebem apoio.

Scantimburgo é pessimista quanto ao futuro
ralismo, não entra em discussões doutrinárias sobre o liberalismo mas o caracteriza com precisão no primeiro capítulo. Onde rejei ta como militante católico qual quer adesão ao liberalismo no plareligioso e delimita sua adesão ao liberalismo político, econômi co e social. Com precisão atribui maior importância ao liberalismo político:” Se confundirmos o libe ralismo com a incontinência ecoestai’emos diminuindo o seu
O livro é rico de enfoques no vos como sobre o papel do Cons. Zacarias na crise institucional do império, ou numa análise impie dosa e reveladora sobre a República e seu autoritarismo antidemo crático, bem como uma visão ob jetiva de Vargas e de seu ciclo e do papel de Ruy Barbosa na evolu ção de nossa política. O estilo do livro é encantador e aliciante e forma um conjunto compacto que se não pode isolar mas ler de uma vez só até o fim. A grande tese do livro é que além dos obstáculos ideológicos à implantação dura doura do liberalismo há outro institucional ligado ao presidenci alismo aqui implantado sem os condicionantes e as limitações do modelo original americano. Julga imprescindível “a elaboração e a execução de um projeto brasilei ro, sobretudo nesta fase de muta ção, em que os valores tradicio nais e institucionais que vimos conservando podem ser abastar dados por influências ideológicas estranhas à formação.”
O liberalismo de Scanlimburgo é um liberalismo personalista de base cristã, apoiado nos valores históri cos do País e enraizado na comuni dade nacional. Está no atual debate entre comunitaiistas e liberais (indi vidualistas) mais do lado dos liberaiscomunitaiJstas, longedeJ. Rawls e mais perto de M. Sandell e M. Waltzere perto de Leo Stiauss, e na lição de João CamillodeOliveiraTorres, com seu liberalismo monárquico exposto em A Libeitação do Liberalis mo enas suas obrashistóricase seguin do a lição do segundo Maiitain. Mas longe de A. Macintyre por sua acei tação sincera do liberalismo político e econômico. Não por acaso cita Scantimburgo a Lord Acton o pioneii o do liberalismo católico.
nomica, seu sentido axiológico”. Vê pou cas probabilidades do afastamen to completo do Estado das ativi dades econômicas, mercê de fato res culturais e da situação do país, mas nem por isso deixa de se apoi ar em Milton Friedmann e reclaconcenmar menos estado e uma sua alu- Ubiratan de Macedo

Para obter o melhor retorno do seu investimento em publicidade, é preciso direcionar o seu anúncio ao púbiico interessado.
Anunciando no Diário Informática você atinge o seu público-alvo diretamente. Afinal quem se interessa por informática lê o Diário Informática.
Para salvar esta informação é só acessar
FONES: 242-6618 242-6619
FAX: 242-6625
Comercial