
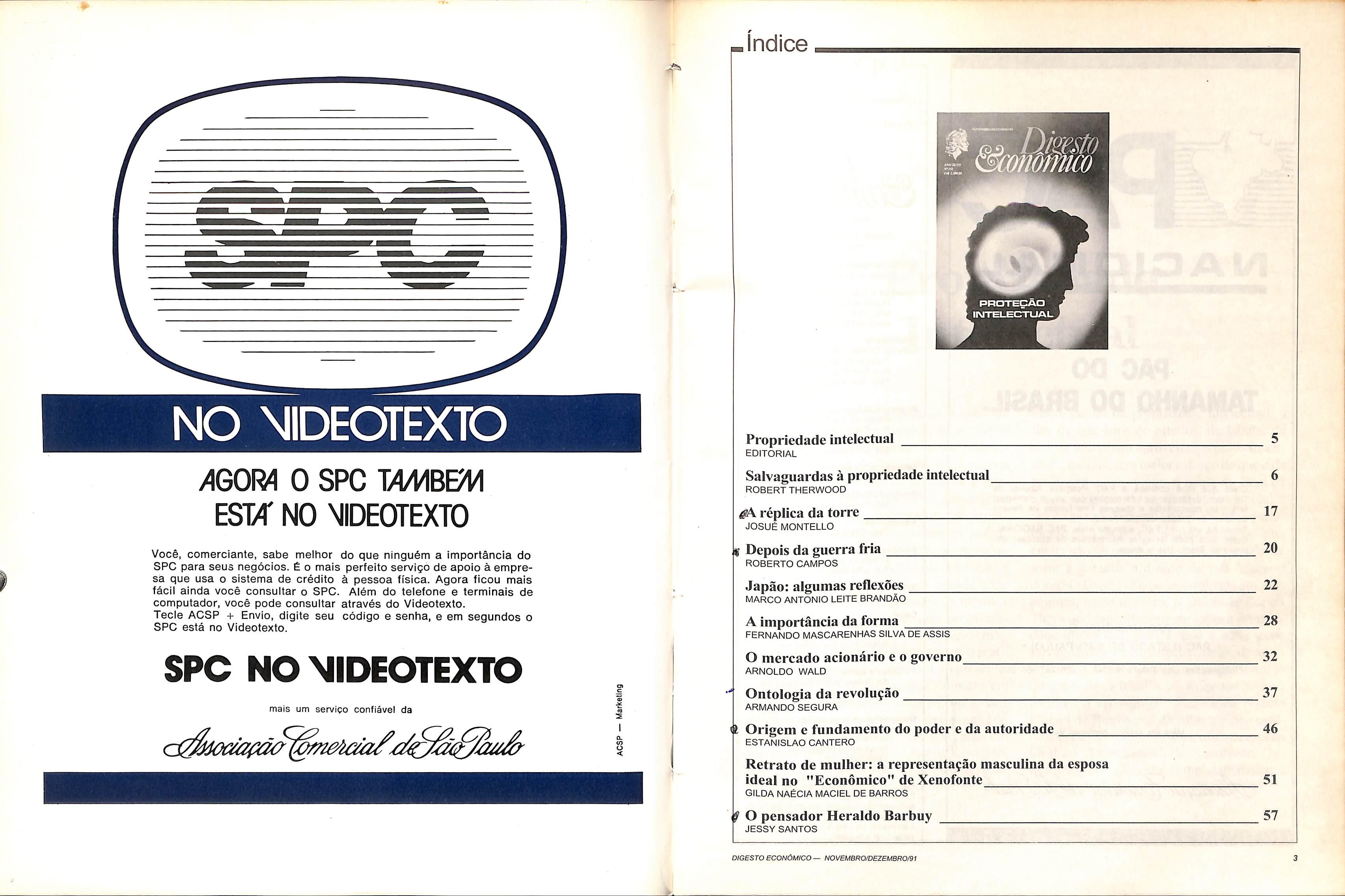
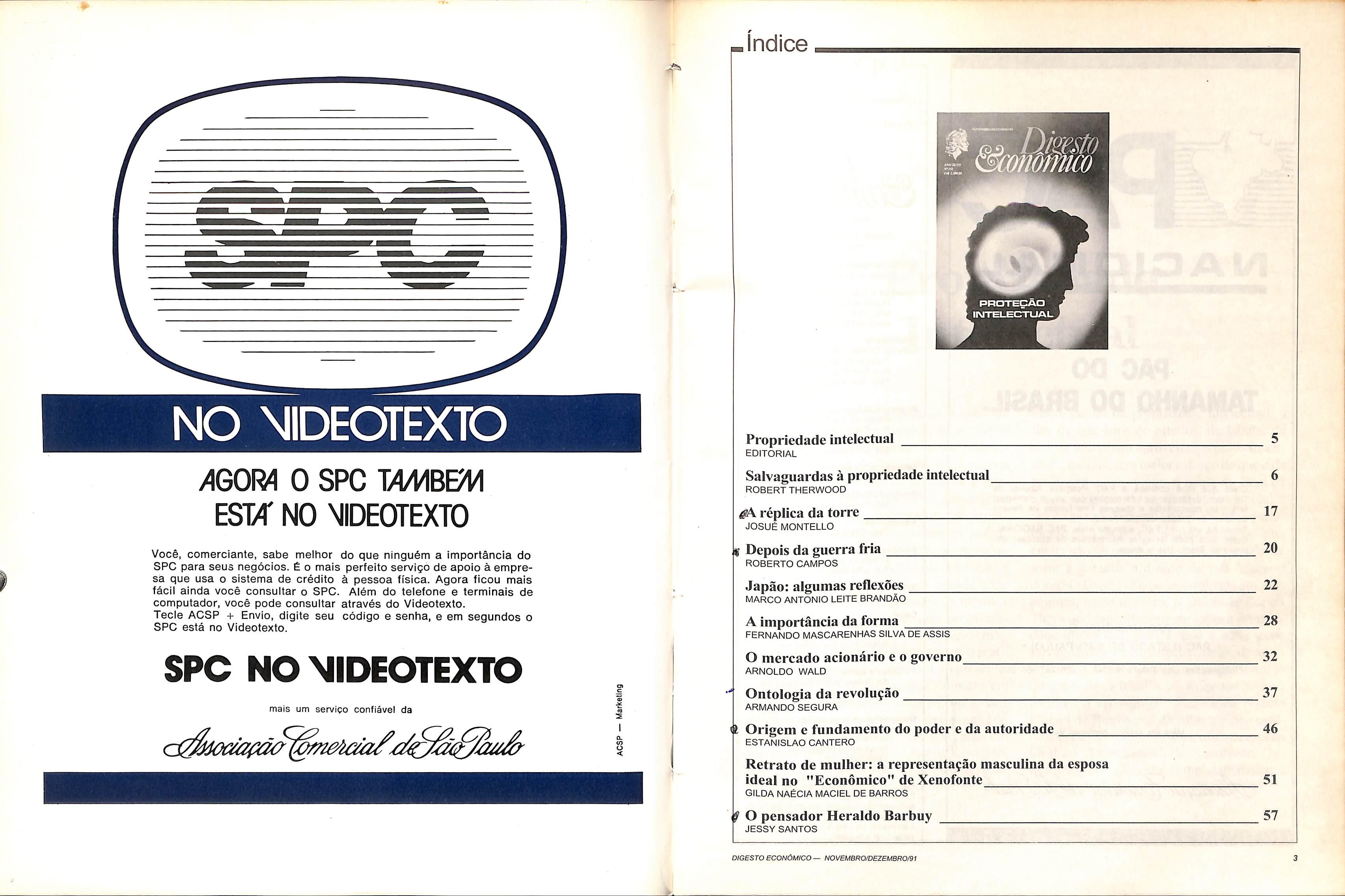


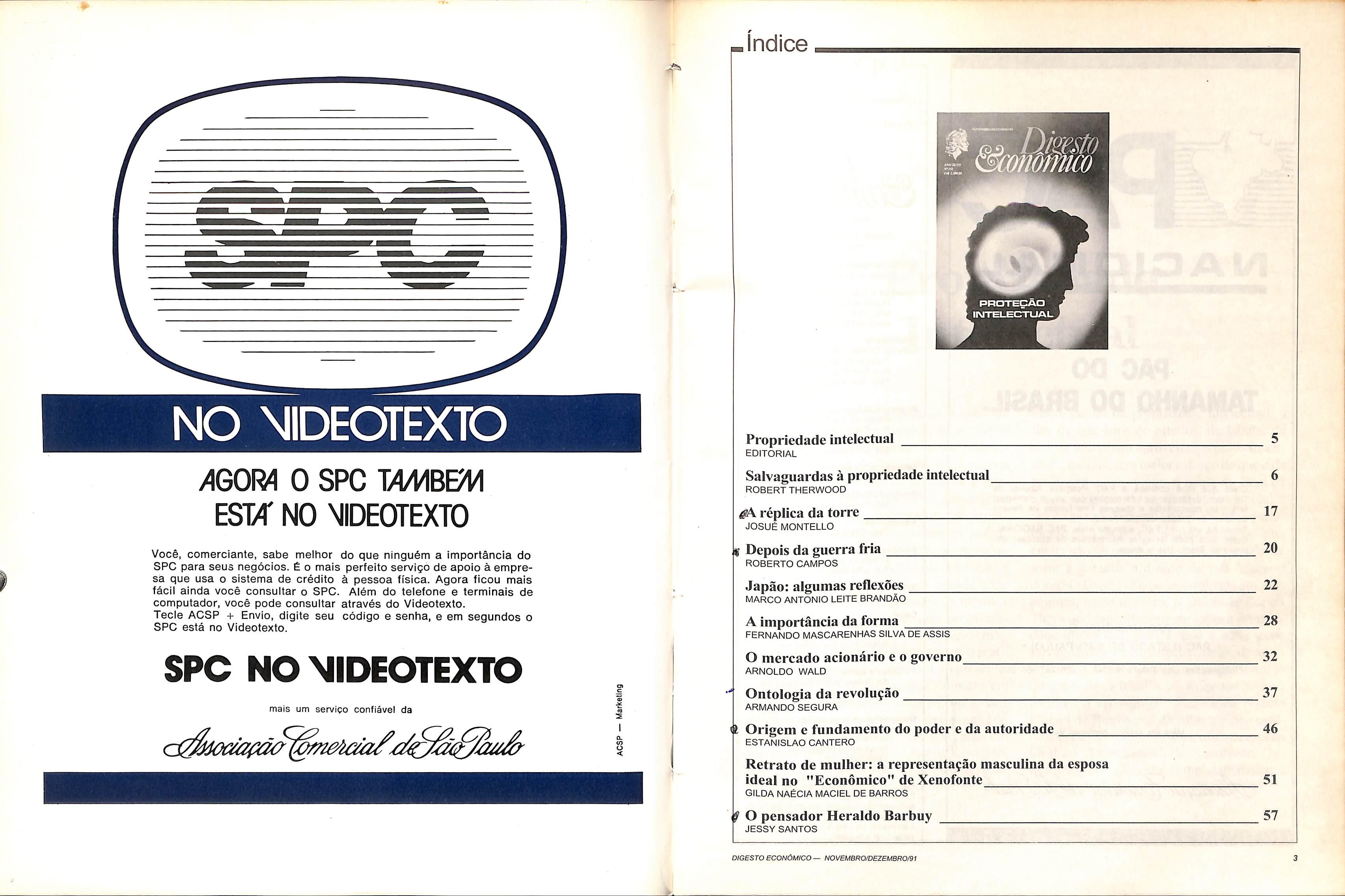
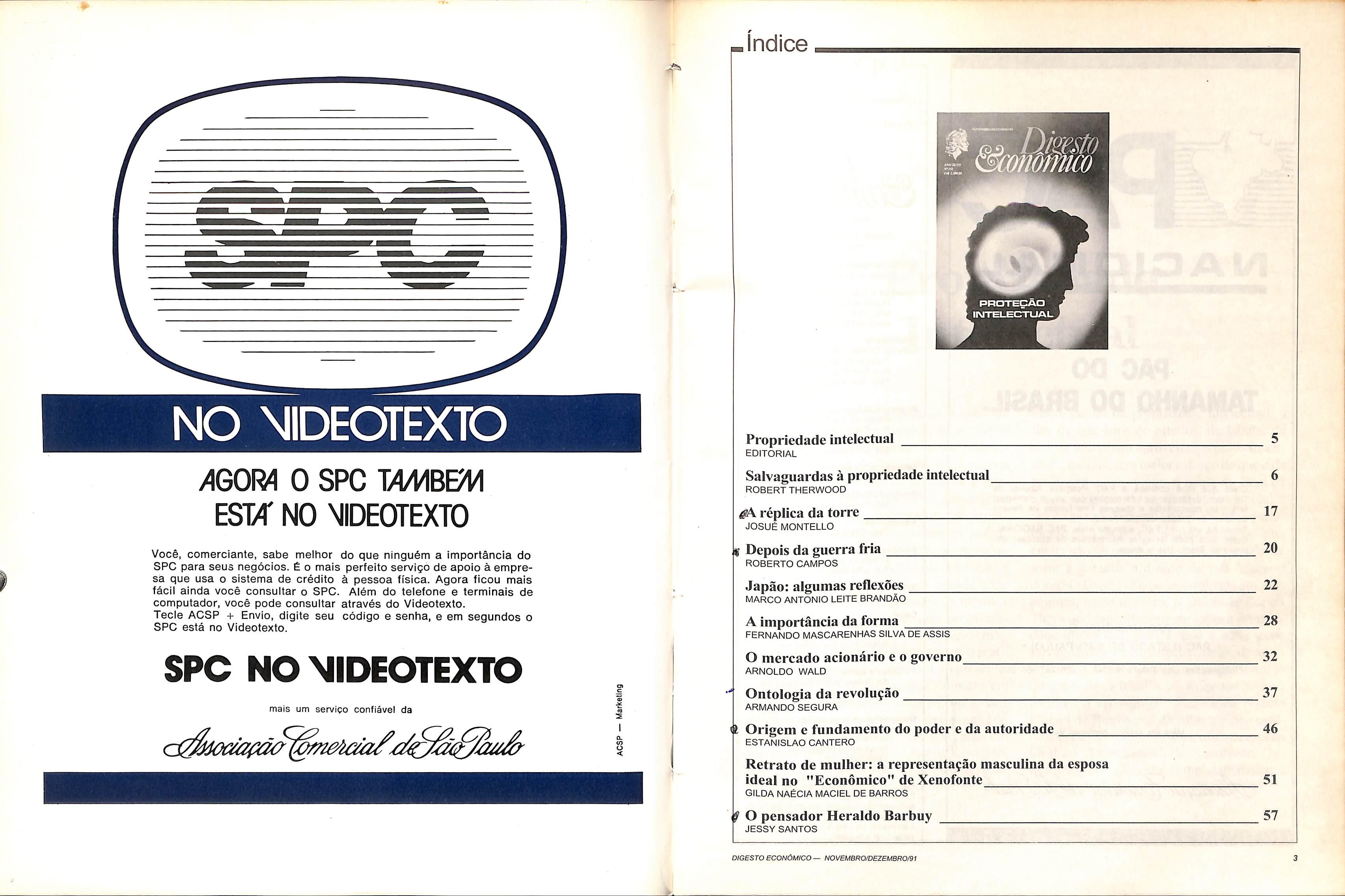
Claro que você conhece o PAC. Pesquisa Auxiliar de Cadastro, o serviço de informações que acusa protestos, falências, concordatas e cheques sem fundos de Pessoa Jurídica do Estado de São Paulo. Agora há um novo PAC, além do atual. PAC NACIONAL. Onde você pode ter estas informações de qualquer em presa do Brasil. Use e abuse.
PAC (ESTADO DE SÃO PAULO)
Informações pelo fone 239-5744 r. 286/287/288/289
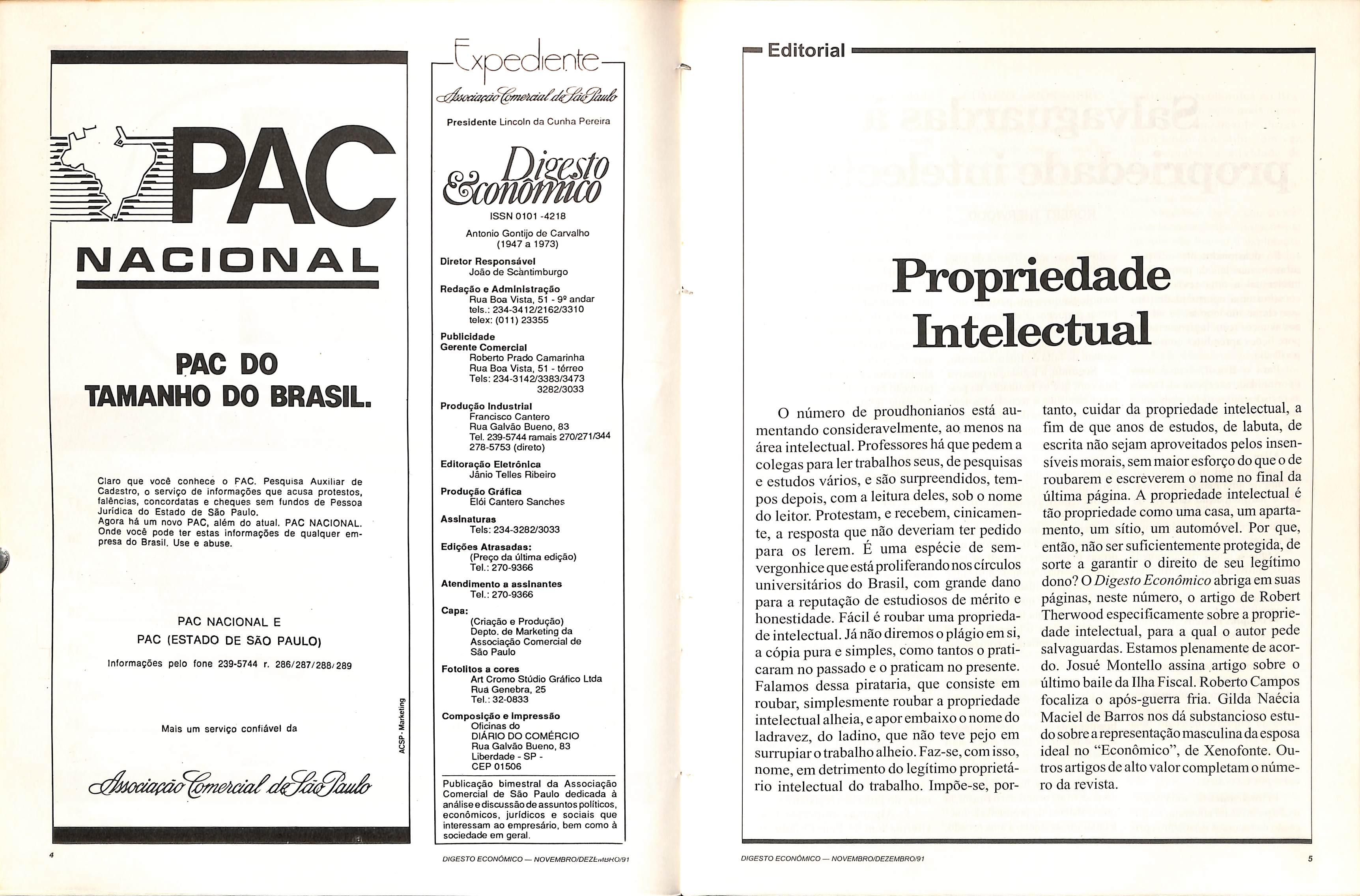
Mais um serviço confiável da o. (f) ü <
Presidente Lincoln da Cunha Pereira
ISSN 0101 -4218
Antonio Gontijo de Carvalho (1947 a 1973)
Diretor Responsável
João de Scãnlimburgo
Redação e Administração Rua Boa Vista. 51 - 9° andar tels.: 234-3412/2162/3310 telex; (011) 23355
Publicidade Gerente Comercial
Roberto Prado Camarinha Rua Boa Vista. 51 - térreo Tels; 234-3142/3383/3473 3282/3033
Produção Industrial Francisco Cantero Rua Gaivão Bueno, 83 Tel. 239-5744 ramais 270/271/344 278-5753 (direto)
Editoração Eletrônica Jânio Telles Ribeiro
Produção Gráfica Elói Cantero Sanches
Assinaturas Tels; 234-3282/3033
Edições Atrasadas: (Preço da última edição) Tel ; 270-9366
Atendimento a assinantes Tel.; 270-9366
Capa:
(Criação e Produção) Depto. de Marketing da Associação Comercial de São Paulo
Fotolítos a cores Art Cromo Stúdio Gráfico Ltda Ruá Genebra, 25 Tel.; 32-0833
Composição e Impressão Ofidnas do DIÁRIO DO COMÉRCIO Rua Gaivão Bueno, 83 Liberdade - SPCEP 01506 O) o»
Publicação bimestral da Associação Comercial de São Paulo dedicada à análise e discussão de assuntos políticos, econômicos, jurídicos e sociais que interessam ao empresário, bem como à sociedade em geral.
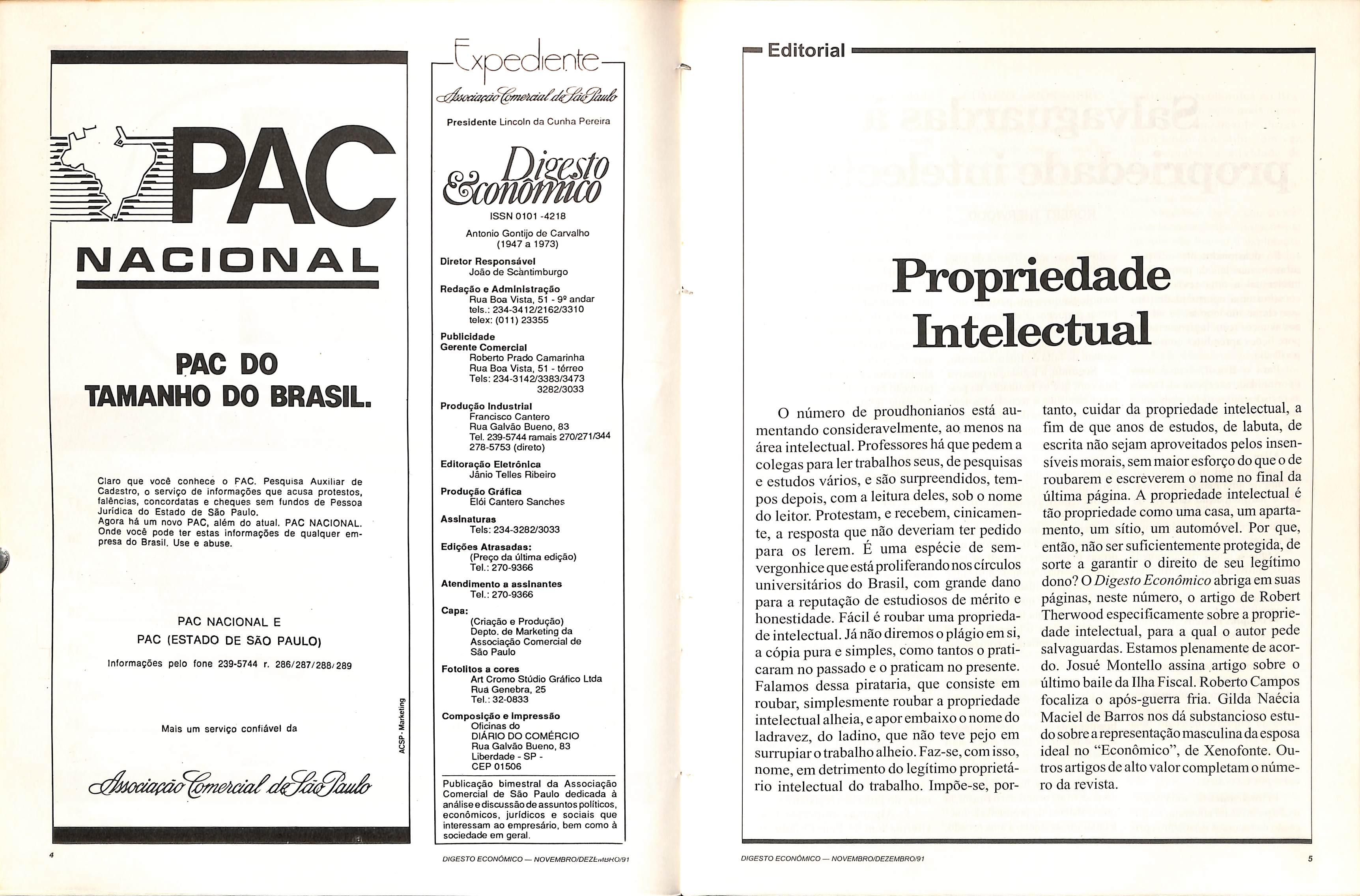
O número de proudhoniarios está au mentando consideravelmente, ao menos na área intelectual. Professores há que pedem a colegas para ler trabalhos seus, de pesquisas e estudos vários, e são suipreendidos, tem pos depois, com a leitura deles, sob o nome do leitor. Protestam, e recebem, cinicamen te, a resposta que não deveríam ter pedido para os lerem. É uma espécie de semvergonhice que está proliferando nos círculos universitários do Brasil, com grande dano para a reputação de estudiosos de mérito e honestidade. Fácil é roubar uma proprieda de intelectual. Já não diremos o plágio em si, a cópia pura e simples, como tantos o prati caram no passado e o praticam no presente. Falamos dessa pirataria, que consiste em roubar, simplesmente roubar a propriedade intelectual alheia, e apor embaixo o nome do ladravez, do ladino, que não teve pejo em surrupiar o trabalho alheio. Faz-se, com isso, nome, em detrimento do legítimo proprietá rio intelectual do trabalho. Impõe-se, por-
tanto, cuidar da propriedade intelectual, a fim de que anos de estudos, de labuta, de escrita não sejam aproveitados pelos insen síveis morais, sem maior esforço do que o de roubarem e escreverem o nome no final da última página. A propriedade intelectual é tão propriedade como uma casa, um aparta mento, um sítio, um automóvel. Por que, então, não ser siificientemente protegida, de sorte a garantir o direito de seu legítimo dono? O Digesto Econômico abriga em suas páginas, neste número, o artigo de Robert Therwood especificamente sobre a proprie dade intelectual, para a qual o autor pede salvaguardas. Estamos plenamente de acor do. Josué Montello assina artigo sobre o último baile da Ilha Fiscal. Roberto Campos focaliza o após-guerra fria. Gilda Naécia Maciel de Bairos nos dá substancioso estu do sobre a representação masculina da esposa ideal no “Econômico”, de Xenofonte. Ou tros artigos de alto valor completam o núme ro da revista.
ROBERT THERWOOD
Só ocasionalmente um país vados, tanto sob a forma de em submete suas leis de propriedade não seria sensato fazê-lo pensando no Brasil?
préstimos como de investimentos, intelectual a uma revisão. Isto na criação e desenvolvimento de constitui uma oportunidade para tecnologia nova por parte de emque ele se modernize, se adapte presas pequenas. Este tipo de eminiciantes estão surgindo no aos avanços tecnológicos e incor pore lições aprendidas com a periência. presa Brasil, mas muitas vezes se res sentem de falta de financiamento.
Segundo, a legislação positiva ex-
Além disso, há no ambiente internacional um movimento no sentido de uma maior consolida-

2. O Brasil está se preparando para atualizar seu sistema de .sal vaguarda de tecnologia nova. A indústria, a agricultura e a pesquisa universitária do país atingiram ní veis de padrão internacional em alguns setores e podem, com uma proteção bem administrada à pro priedade intelectual, avançar muitos outros.
Para o Brasil, esta .é umá oportunidade excepcional. Desde fará com que os resultados da pes as revisões feitas na lei vinte anos quisa científica e tecnológica feita em universidades do país se deslo quem mais facilmente das experiên cia delaboratórioparao lançamento no mercado. Isto seria uma ajuda para os orçamentos universitários, um estímulo aos pesquisadores e um ção e harmonização das leis de meio de reduzir a evasão de cérebros muitos países de modo a facilitar a (brain drain). transferência da tecnologia de um lugar para outro. em atrás, muita coisa se aprendeu e a base tecnológica do país amadu receu.
Segue-se uma série de comen tários, aproveitando a oportunida de oferecida pela iniciativa recen te do Legislativo brasileiro.
Princípios básicos a serem considerados na Legislação
As provisões legislativas des tinadas a proteger a propriedade intelectual podem ter um impacto econômico importante. Quatro áreas de impacto merecem uma atenção especial, pois incentivam o crescimento brasileiro. As pro postas legislativas podem ser tes tadas por estas áreas.
Terceiro, uma legislação po sitiva aumentará o desejo de em presas brasileiras de realizar pes quisas internas, visando aumentar sua competitividade e melhorar seus padrões de qualidade.
Quarto, uma legislação posi tiva irá facilitar o intercâmbio de
tecnologia proprietária com outros países.
Observações gerais
3. Algumas vezes, são feitas propostas de lei que parecem ter em vista principalmente a obtenção de tecnologia a custo zero com fornecedores estrangeiros. Geral mente, não se menciona que essas provisões tem um impacto negativo sobre muitos outros interesses brasileiros.
4. As empresas iniciantes ba seadas em tecnologia e as firmas de capital de risco são poucas no Brasil. Entre outras coisas, sua formação e crescimento exigem salvaguardas efetivas para tecnologia nova. A criação de for ças econômicas como estas são algumas das oportunidades que poderiam concretizar por meio de uma legislação positiva. No en tanto, estas forças econômicas ainda não existem de modo ex pressivo no Brasil. Por isso, não são capazes de se manifestar efícazmente em favor de tal legisla ção e podem ser facilmente igno radas no processo legislativo.
Primeiramente, uma legis lação positiva irá encorajar a apli cação de recursos financeiros pria
1. Está sendo feita uma pressão externa para melhorar o sistema brasileiro de propriedade intelectu al. Ao reagir, o Brasil conta com diversas opções. E natural que se resista à pressão, ou a atenue com medidas parciais. As medidas parci ais podem até beneficiar o Brasil? Já que o sistema de propriedade inte lectual vai ser sujeito a uma revisão.
5. Algumas empresas bra sileiras têm se beneficiado do

sistema 1'raco de propriedade intelectual. Mas, as mudanças nas condições internacionais cstào diminuindo a utilidade daquela estratégia. Em pri meiro lugar, porque as empre sas estrangeiras que perdem tecnologia por motivo de pro teção inadequadas tratam de evitar novas perdas e aconse lham outras a fazer o mesmo; e em segundo, porque muitas empresas brasileiras estão des cobrindo que a tecnologia está avançando com uma velocida de tal que é mais vantajoso voluntariamente fornecedores estran-
Licenças obrigatórias
A doutrina convencional pre vê um número limitado de casos em que se obter uma licença para usaruma invenção patenteada, sem a autorização do titular da mesma. Esta licença obrigatória pode ser concedida quando o detentor da
a atividade econômica no Bra sil. Uma aplicação mais agres siva do licenciamento obriga tório tenderia a inibir, em vez de estimular, a atividade de patenteamento no Brasil. O tópico será discutido nova mente no Anexo I
associar-se com os
6. A melhoria das salvaguardas à propriedade intelec tual no Brasil iria aumentar a competitividade, tanto interna como externamente. A capacidade das empresas de conse guir um retorno nos seus csfoiços para melhorar a qualidade seria também melhor recomida. É, também provável
Num contexto global, o uso da invenção em qualquer lugar do mundo, juntamente com o acesso ao produto resultante, constituem a atividade econômica exigida.
Sugestão: Que sejam conce didas licenças obrigatórias somente quando não houver a exploração ou não estiverem sendo feitos preparativos para o uso no Brasil, quando este mesmo uso se verifica em outros lugares e o titular da patente não deseja oferecer o pro duto para a produção comercial no Brasil.
Referência: Artigo 5 da Con venção de Paris (Texto de Esto colmo de 1967), Artigos 33 e 49 do Código de Propriedade indus trial de 1971, Lei n° 5.772 e Arti gos 84-89, do anteprojeto de lei 824/91. gciros.
patente não estiver explorando a invenção. Da-se então a chance a outros para que a usem, de modo a estimular a atividade econômica.
pensí que no nível de receitas de exresultantes da melhoria°de competência téc- Num contexto global, o uso nica venha quase certamente a da invenção em qualquer lugar desembolsos do mundo, juntamente com o acesso ao produto resultante, constituem a atividade econôexigida. Assim sendo, licença obrigatória seria ser maior que os feitos com a tecnologia impor¬ tada.
Conteúdo:
-Licenças Obrigatórias
-Exploração no Brasil
-Caducidade da Patente
-Exclusões
-Carência
-Patentes dependentes
-Transferência de Tecnologia
-Segredos Industriais
-Importações Paralelas
-Transição
-Marcas Registradas
-Problemas Processuais
-Clareza
-Cumprimento da Lei
mica
uma
justificável depois que houve uma exploração econômica em alguma parte, mas não se regis trou nenhuma atividade, num determinado país, dentro de um prazo razoável. Por exemplo, se as vendas comerciais come çaram na França, seria então razoável supor que o produto começa a ser vendido no Brasil dentro de três anos, se não sur girem obstáculos legais. Isto não acontecendo, então uma li cença serveria para incentivar
Exploração no Brasil O Artigo 50 do anteprojeto de lei 824/91 exige que, dentro de três anos da emissão de uma pa tente brasileira, a produção com pleta de qualquer produto que seja objeto daquela patente deve ser iniciada. Caso isto não aconteça, a patente está sujeita a uma licença compulsória e a caducar, de acordo com outras cláusulas daquele an teprojeto.
A irrealidade de um prazo de três anos, no final do século vinte, é bem evidente. Uma boa parte da tecnologia moderna, devido à sua complexidade, pode levar mais de três anos para ser lançada no mer cado. Este limite de três anos foi estabelecido em 1883, quando quase toda a tecnologia podia ser desenvolvida dentro daquele perí odo. Hoje, o prazo de três anos serve quase sempre para destruir o incentivo ao investimento que é dado pela patente.
O texto do artigo proposto é mente. Enquanto a patente estiver tecnológico do próprio país que pouco claro em vários aspectos, em vigor, haverá uma chance mai- deter os interesses comerciais de Que se quer dizer com “fabricação or de que a invenção venha a esti- outros. A tendência atual é de se completa” ou “uso efetivo”? A mularaatividadeeconômica.seja permitir o patenlcamcnto cm quaterceira condição do Parágrafo 2 por iniciativa do titular ou de um se todos os setores, com limitações parece conter a exigência absurda licenciado. Normalmente, não há definidas esiritamcntc. como coide que o produto seja feito no muita vantagem em se declarar sas que alentem à moral pública. Brasil para que se prove que sua caduca uma patente. experiências atômicas e idéias fabricaçãoéantieconômica. Estas
incertezas mostram uma visão an tagônica das patentes, como prêmio para a atividade inventiva.
Sugestão: Que sejam evitadas exigências rigorosas de funciona mento, como as mostradas acima.
Referência: Artigos 58 e 82 87 do anteprojeto de lei 824/91.
Caducidade da patente
A caducidade da patente está intimamente relacionada ao licenciamento obrigatório. Mais uma vez, a doutrina convencional o
As exclusões tendem mais a prejudicar avanço tecnológico do próprio país que deter os interesses comerciais de outros. a
Sugestão: Que se eliminem abstratas, completamente as cláusulas de ca- É natural que sc considerem as invenções no campo de plantas e animais fnitosda engenharia genéti ca como uma coisa alíamente exó tica. O patenteamento de invenções cm algumas destas áreas ainda não está bem definido nos países de senvolvidos c c portanto, natural que o Brasil assuma uma atitude cautelosa, de “esperar para ver”. Pelo fato de o Brasil ter sido
agraciado pela natureza com uma fauna e uma flora tão vastas c diversificadas, sccomparadas com as de outros países, uma abordamais ousada iria prevê a caducidade (ou anulação) de uma patente (ou seja, seu desa parecimento legal), caso a inven ção não tenha sido explorada pelo detentor da patente ou outra pessoa ducidade que tenha obtido uma licença obrigatória.
Historicamente, a caducidade
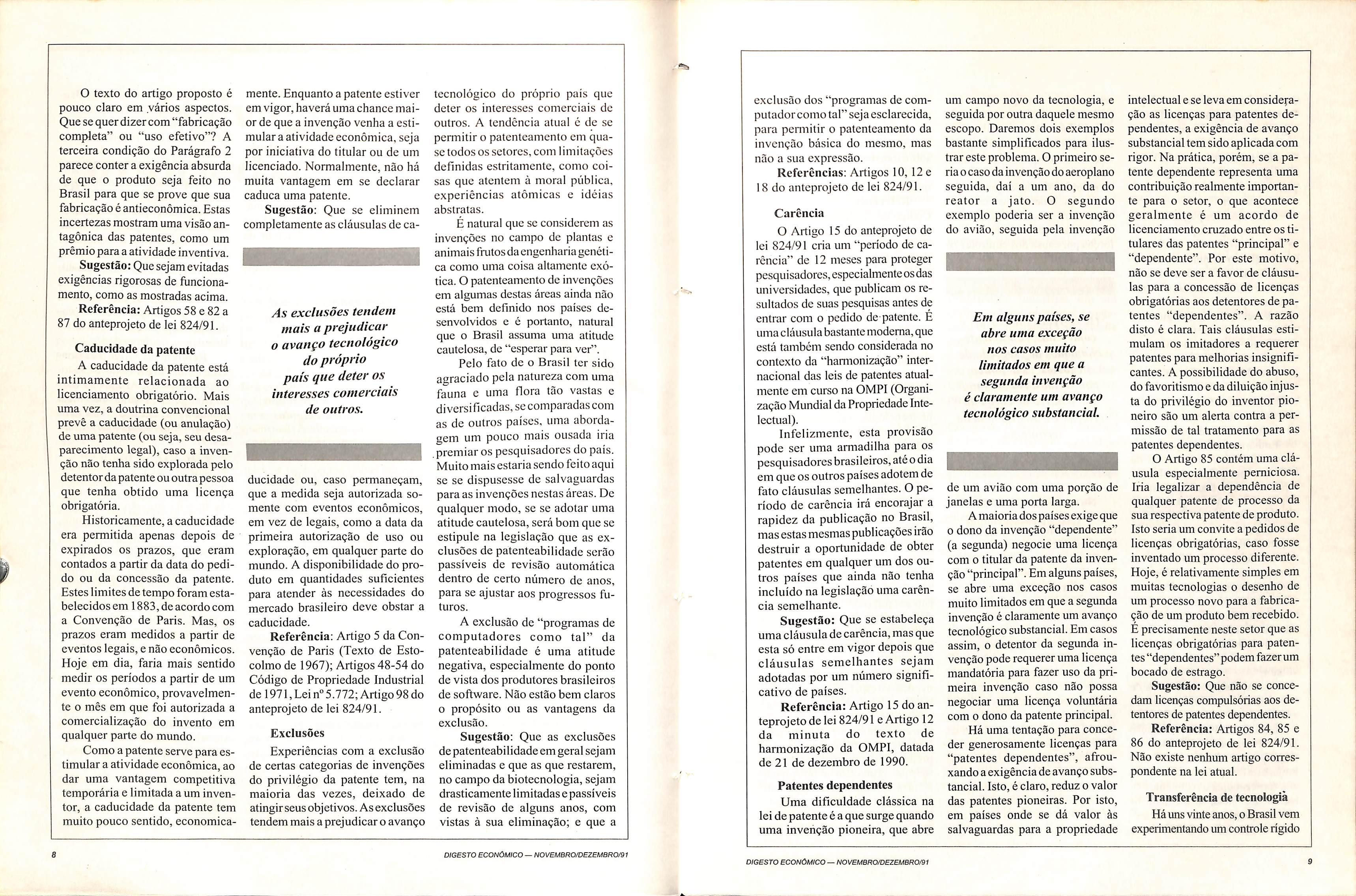
ou, caso permaneçam, que a medida seja autorizada so mente com eventos econômicos.
caducidade.
sc se anos, para se ajustar aos progressos fu turos.
A exclusão de “programas de Referência: Artigo 5 da Con- computadores como tal” da venção de Paris (Texto dc Esto- patenteabilidade é uma atitude colmo de 1967); Artigos 48-54 do negativa, especialmente do ponto de vista dos produtores brasileiros de software. Não estão bem claros o propósito ou as vantagens da exclusão.
gem um pouco premiar os pesquisadores do país. Muito mais estaria sendo feito aqui dispusesse de salvaguardas para as invenções nestas áreas. De qualquer modo, sc se adotar uma em vez de legais, como a data da atitude cautelosa, será bom que sc era permitida apenas depois de primeira autorização de uso ou estipule na legislação que as exexpirados os prazos, que eram exploração, em qualquer parte do clusões de patenteabilidade serão contados a partir da data do pedi- mundo. A disponibilidade do pro- passíveis de revisão automática do ou da concessão da patente, duto em quantidades suficientes dentro de certo número de Estes limites de tempo foram esta- para atender às necessidades do belecidosem 1883,deacordocom mercado brasileiro deve obstar a a Convenção de Paris. Mas, os prazos eram medidos a partir de eventos legais, e não econômicos. Hoje em dia, faria mais sentido medir os períodos a partir de um Código de Propriedade Industrial evento econômico, provavelmen- de 1971, Lei n*"5.772; Artigo 98 do te o mês em que foi autorizada a anteprojeto de lei 824/91. comercialização do invento em
Exclusões qualquer parte do mundo.
Como a patente serve para es timular a atividade econômica, ao dar uma vantagem competitiva do privilégio da patente tem, na temporária e limitada a um inven tor, a caducidade da patente tem atingir seus objetivos. As exclusões muito pouco sentido, economica- tendem mais a prejudicar o avanço
Sugestão: Que as exclusões Experiências com a exclusão depatenteabilidadeemgeral sejam de certas categorias de invenções eliminadas e que as que restarem, no campo da biotecnologia, sejam maioria das vezes, deixado de drasticamente limitadas e passíveis de revisão de alguns anos, com vistas à sua eliminação; e que a
exclusão dos “programas de com putador como tal” seja esclarecida, para pennilir o palcntcamento da invenção básica do mesmo, mas não a sua expressão.
Referencias: Artigos 10, 12 e 18 do anteprojeto de lei 824/91.
Carência
O Artigo 15 do anteprojeto de lei 824/91 cria um “período de ca rência” de 12 meses para proteger pesquisadores, cspccialmente os das universidades, que publicam os re sultados de suas pesquisas antes de entrar com o pedido de patente. E uma cláusula bastante moderna, que está também sendo considerada no contexto da “hannonizaçào” inter nacional das leis de patentes atual mente cm curso na OMPl (Organi zação Mundial da Propríedade Inte-
um campo novo da tecnologia, e seguida por outra daquele mesmo escopo. Daremos dois exemplos bastante simplificados para ilus trar este problema. O primeiro se ria 0 caso da invenção do aeroplano seguida, dai a um ano, da do reator a jato. O segundo exemplo poderia ser a invenção do avião, seguida pela invenção
Em alguns países, se abre uma exceção nos casos muito limitados em que a segunda invenção é claramente um avanço tecnológico substancial. lectual).
Infclizmcnte, esta provisão pode ser uma armadilha para os pesquisadores brasileiros, até o dia em que os outros países adotem de fato cláusulas semelhantes. O pe- de um avião com uma porção de janelas e uma porta larga.
ríodo de carência irá encorajar a rapidez da publicação no Brasil, mas estas mesmas publicações irão destruir a oportunidade de obter patentes em qualquer um dos ouainda não tenha tros países que incluído na legislação uma carência semelhante.
Sugestão: Que se estabeleça uma cláusula de carência, mas que esta só entre em vigor depois que cláusulas semelhantes sejam adotadas por um número signifi cativo de países.
A maioria dos países exige que 0 dono da invenção “dependente” (a segunda) negocie uma licença com o titular da patente da inven ção “principal”. Em alguns países, se abre uma exceção nos casos muito limitados em que a segunda
intelectual e se leva em considera ção as licenças para patentes de pendentes, a exigência de avanço substancial tem sido aplicada com rigor. Na prática, porém, se a pa tente dependente representa uma contribuição realmente importan te para o setor, o que acontece geralmente é um acordo de licenciamento cruzado entre os ti tulares das patentes “principal” e “dependente”. Por este motivo, não se deve ser a favor de cláusu las para a concessão de licenças obrigatórias aos detentores de pa tentes “dependentes”. A razão disto é clara. Tais cláusulas esti mulam os imitadores a requerer patentes para melhorias insignifi cantes. A possibilidade do abuso, do favoritismo e da diluição injus ta do privilégio do inventor pio neiro são um alerta contra a per missão de tal tratamento para as patentes dependentes.
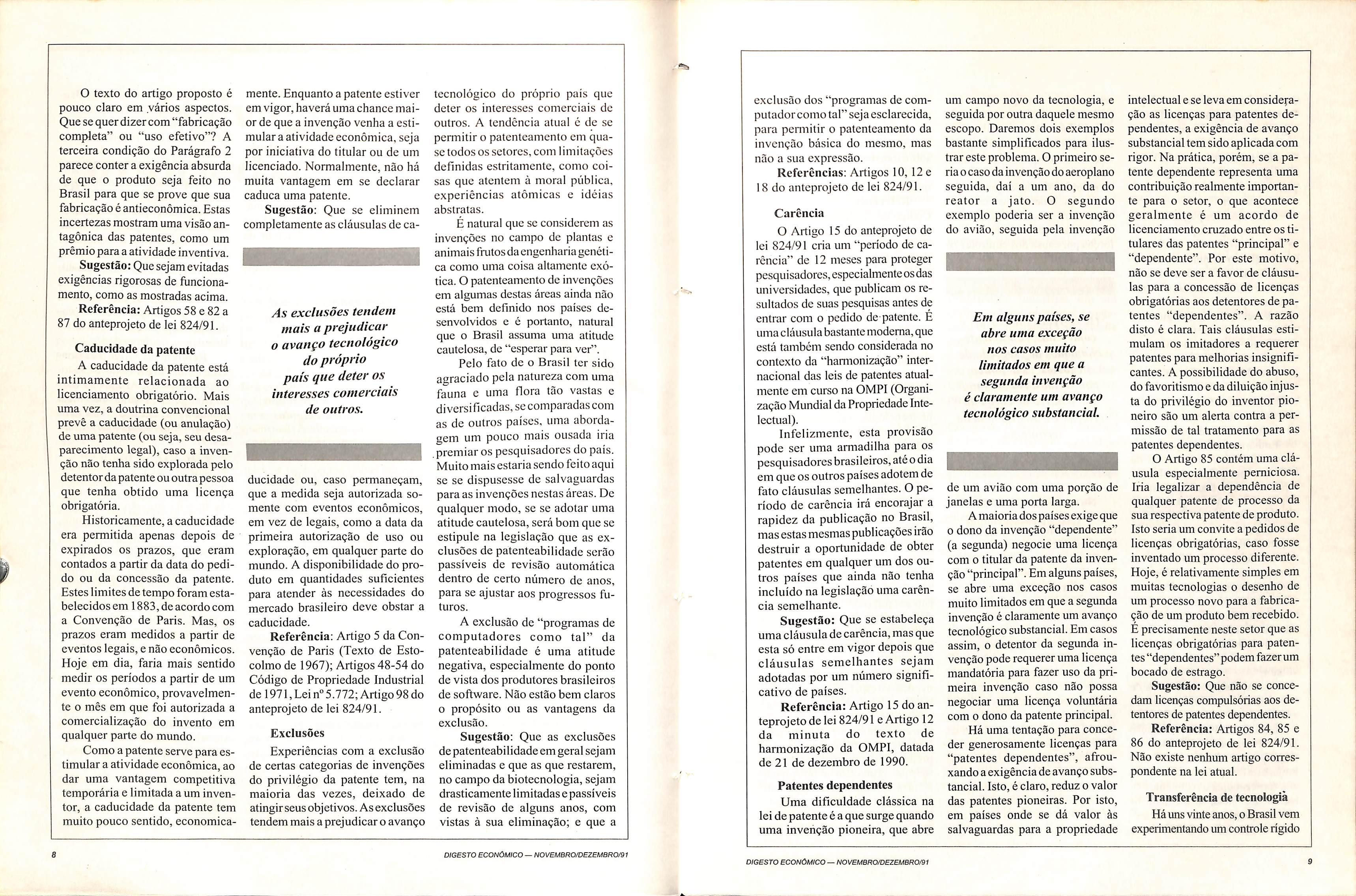
texto de
Referência: Artigo 15 do an teprojeto de lei 824/91 e Artigo 12 da minuta do harmonização da OMPl, datada de 21 de dezembro de 1990.
Patentes dependentes
Uma dificuldade clássica na lei de patente é a que surge quando uma invenção pioneira, que abre
invenção é claramente um avanço tecnológico substancial. Em casos detentor da segunda in- assim, o venção pode requerer uma licença mandatória para fazer uso da pri meira invenção caso não possa negociar uma licença voluntária com 0 dono da patente principal. Há uma tentação para conce der generosamente licenças para “patentes dependentes”, afrou xando a exigência de avanço subs tancial. Isto, é claro, reduz o valor das patentes pioneiras. Por isto, em países onde se dá valor às salvaguardas para a propriedade
O Artigo 85 contém uma clá usula especialmente perniciosa. Iria legalizar a dependência de qualquer patente de processo da sua respectiva patente de produto. Isto seria um convite a pedidos de licenças obrigatórias, caso fosse inventado um processo diferente. Hoje, é relativamente simples em muitas tecnologias o desenho de um processo novo para a fabrica ção de um produto bem recebido. E precisamente neste setor que as licenças obrigatórias para paten tes “dependentes” podem fazer um bocado de estrago.
Sugestão: Que não se conce dam licenças compulsórias aos de tentores de patentes dependentes.
Referência: Artigos 84, 85 e 86 do anteprojeto de lei 824/91. Não existe nenhum artigo corres pondente na lei atual.
Transferência de tecnologia
Há uns vinte anos, o Brasil vem experimentando um controle rígido
das transferências de tecnologia. Poder-se-ia perguntar o que foi con seguido com isto. Teoricamente, os abusos deveríam ter sido coibidos. O efeito prático talvez tenha sido o de negar à economia emergente do país uma massa considerável de tecnologia nova.

econo-
A redução dos pagamentos ao exterior conseguida por meio des te controle rígido foi minúscula, em relação ao conjunto da mia. A quantia é provavelmente também muito pequena, se com parada à perda de oportunidade sofrida pela base tecnológica bra sileira, por falta de acesso à tecnologia estrangeira importan te. As estatísticas que mostram número de acordos tecnológicos aprovados pelo INPI não dizem nada acerca do número de acordos que nem foram tentados, devido ao controle rígido daquele órgão.
Embora os vultosos pagamen tos de “royalties” feitos antes de 1970 fossem considerados abusos, eles foram na verdade uma respos ta prática ao tratamento desigual das regras acerca das várias opções para pagamentos externos, e não tentativas de prejudicar a economiabrasileira. Formas alternativas de pagamento, tais como dividen dos e pagamentos de dívida eram tributadas de maneira despropor cional, quando não negadas. Pare cia muitas vezes que o Brasil dese java investimentos e tecnologia, mas não queria pagar pelo que eles valiam.
A atividade de aprovação de acordos de tecnologia assumiu vida própria depois de 1975, com a criação do INPI e a publicação do Ato Normativo 15 e as adições subsequentes. Foi imposta uma longa lista de condições arbitrárias aos fornecedores e recipientes de tecnologia. Nela, se incluíam li mites ao pagamento de “royalties” e a produção de muitas cláusulas
comuns nas licenças entre não parceiros em qualquer lugar do mundo. Ficou demonstrada a falta de compreensão do equilíbrio de interesses em que se baseiam os acordos de transferência de tecnologia. Muitas empresas bra sileiras que procuraram tecnologia estrangeira nos últimos 15 anos não tiveram sucesso em seus es forços por causa dos controles rí gidos do INPI.
Os segredos industriais e com erciais, com um en te chamados de ^^segredo de negócios”, são pouco conhecidos. No entanto, são o burro de carga da criação e transferência de tecnologia.
No inicio de 1991, foi publica do um novo programa de transfe rência de tecnologia, que trouxe a esperança de um tratamento mais realístico para os acordos dc trans ferência. Mas, na prática, ainda continuam as antigas condições rígidas dos controles do INPI.
Existem duas opções a consi derar, como parte de qualquer le gislação nova. Uma seria seguir a Argentina, usando o registro de transferências de tecnologia para anotar os acordos apenas para fins estatísticos, não para controla-los ou rejeita-los. Outra seria seguir o México, que aboliu em junho de 1991 seu registro de transferência de tecnologia, com todos os seus regulamentos, de modo a liberar completamente esta transação.
A proposta do anteprojeto de lei 824/91 contém um convite ao INPI, para que continue a impor
controles rígidos aos acordos dc tecnologia. Não SC esclareceu quais os argumentos cm Etvor disto.
Sugestão: Que os controles .sobre transferências dc tecnologia sejam bastante reduzidos ou eli minados.
Referência: Artigo 126 do Código dc Propriedade Industrial dc 1971, Lei n" 5.772 c os Artigos 72-74, 75-81, 194 c 195 do ante projeto dc lei 824/91. Ver também o artigo transitório 2 (II) da lei dc patente c marcas registradas do México, dc junho dc 1991.
Segredos industriais
Os segredos industriais c co merciais, comumente chamados de “segredo de negócios”, são pouco conhecidos. No entanto, são o burro de carga da criação c transferência de tecnologia. Talvez dois terços da tecnologia que se desloca dc um lugar para outro seja tiansfeiida usando-se esta forma dc proteção. Os segredos de negócios são esforços privados que certas pes soas fazem para manter longe de outros informações técnicas e co merciais, que lhes dão uma vanta gem competitiva. As leis de cada país reforçam então estes esforços, ao pedira seus juizes que os apóiem. O Japão passou uma lei sobre isto em julho de 1990. São medi das sucintas. Basicamente, defi nem 0 tipo de informações a ser protegida e o termo “apropriação indébita”.
A proteção aos segredos de negócios é cspecialmente útil para por fim à “contratação predatória”, a perda de segredos técnicos para um concorrente através da trans ferência de um empregado. São prejuízos grandes para as empre sas que produzem a informação técnica. Os empregados que ficam, muitas vezes perdem seus empre gos, se a empresa perder alguma fatia do mercado. As estatísticas
baseadas em um inquérito recente realizado pelo governo não retra tam fielmente estas perdas.
Os segredos de negócios e as patentes são geralmente usados em conjunto. Ao contrário do sistema de patentes, o segredo protegido não impede que outros desenvol vam independeiitemente e usem aquele mesmo conhecimento téc nico. As pequenas empresas e os indivíduos se beneficiam do custo relativamente baixo desta forma de proteção. Ela fortalece o siste ma de patentes, ao estimular a pesquisa que resulta em mais in venções patenteáveis e ainda pro tege as invenções .nos meses cruciais que precedem a entrada do pedido de patente.
A lei brasileira atual de prote ção aos segredos industriais e co merciais vem do século passado e é extremamente fraca. Apenas impede empregados de revelar segredos. A maioria dos casos acontece depois que o empregado se vai. Assim, é geralmente imos concor¬
possível impedir que rentes usem sem permissão infor mações secretas, quando estas são obtidas por meio da transferência de empregado.
O anteprojeto de lei 824/91 tem duas cláusulas relativas ao

utilidade.
por ordem judicial.” No mínimo, te a presença de uma patente num os mesmos dispositivos deveríam país não serve de pretexto para a ser acrescentados ao Artigo 188, retirada da proteção da patente para fazer com que tenha alguma correspondente em outro país. Nenhum país industrializado, ou
Assim, neste exemplo, o dono da patente no Brasil deveria poder usar a patente brasileira para im-
o Artigo 55 (IV) do antepro-
A preparação de medidas grupo de países, retira o direito do adequadas para proteger segredos detentor da patente de excluir do industriais e comerciais no Brasil mercado local um produto imporpede um estudo cuidadoso, por tado, isto é, originado fora do terricausa de certas cláusulas constitu- tório do país. cionais e conceitos legais que são objeto de ênfase especial no país. Estas medidas poderíam ser colo cadas nas revisões do Código de pedir a entrada do produto grego Propriedade Industrial, em um no mercado brasileiro, código próprio ou serem agrega das a outra lei, como a nova lei de jeto de Lei 824/91 foi concebido para chegar ao resultado contrário.
Sugestão: Que medidas efica- Se vier a se tornar lei, as conseqüzes para proteger segredos indus- ências econômicas podem ser que triais e comerciais de valor sejam aqueles que introduzem produtos no mercado brasileiro confiando
concoiTência. promulgadas brevemente.
Referência: Artigo 178 do na proteção de patentes deixarão Código de Propriedade Industrial de fazê-lo. Do ponto de vista do de 1945, incorporado ao Código detentor da patente, acaba sendo de Propriedade Industrial de 1971, uma má alocação de recursos gaspor meio do Artigo 128; e Artigos tar dinheiro com a introdução de 187 e 188 do anteprojeto de Lei um produto no Brasil e ver o 824/91. mesmo suplantado por outro, vindo de fonte diferente. Os ob-
O mercado aberto dentro de uma zona livre de comércio ou mercado comum intensifica o segredo de negócios, que parecem mas devem ser alte- promissoras radas. O Artigo 187 exige uma revisão drástica, para que sirva a seus propósitos. Pelo menos, ele deveriadizer:“Obteroutentarobter qualquer informação secreta dustrial e comercial de um con corrente ao conceder ou prometer algum ganho a uma pessoa que é ou foi empregado, representante ou empreiteiro do mesmo concor rente é ilegal, tanto de acordo com alei civil como a lei penal e o uso de qualquer informação obtida por este meio ou qualquer outro meio legal deve cessar imediatamente. in¬ do produto grego.
na jurisprudência de alguns países acerca desse ponto, essencialmen-
Importações paralelas jetivos do Artigo 55 (IV) são Assim que um detentor de uma obscuros, mas parecem encorajar patente introduz um produto no o dumping praticado por intermercado gi'ego, por exemplo, com mediários. uma patente concedida pelo escritó rio de patentes daquele país, é pos sível que 0 produto seja remetido ao Brasil por um representante ou in- problema, mas não muda a análise tennediárío e seja vendido a preço econômica. Ao promulgar sua nova mais baixo, concoiTendo com o lei de patentes, o México consideproduto que o mesmo titular da pa- rou várias opções para o tratamento tente havia introduzido no comércio dessa questão, decidindo finalbrasileiro, de posse de uma patente mente eliminar a cláusula que concedida pelo INPI. Muitos fatores, permitia importações paralelas, incluindo o controle rigoroso de como é chamada esta operação, preços na Grécia e o dumping de Sugestão: Que não se negue estoques excedentes podem ser aos titulares de patente o direito de responsáveis pelo preço mais baixo excluir importações paralelas. Para tanto, teriam de ser apagadas as paEmbora exista certa confusão lavras “ou estrangeiras” do Artigo 55 (IV) da minuta de Lei 824/91. Referência: Artigo 55 (IV) da
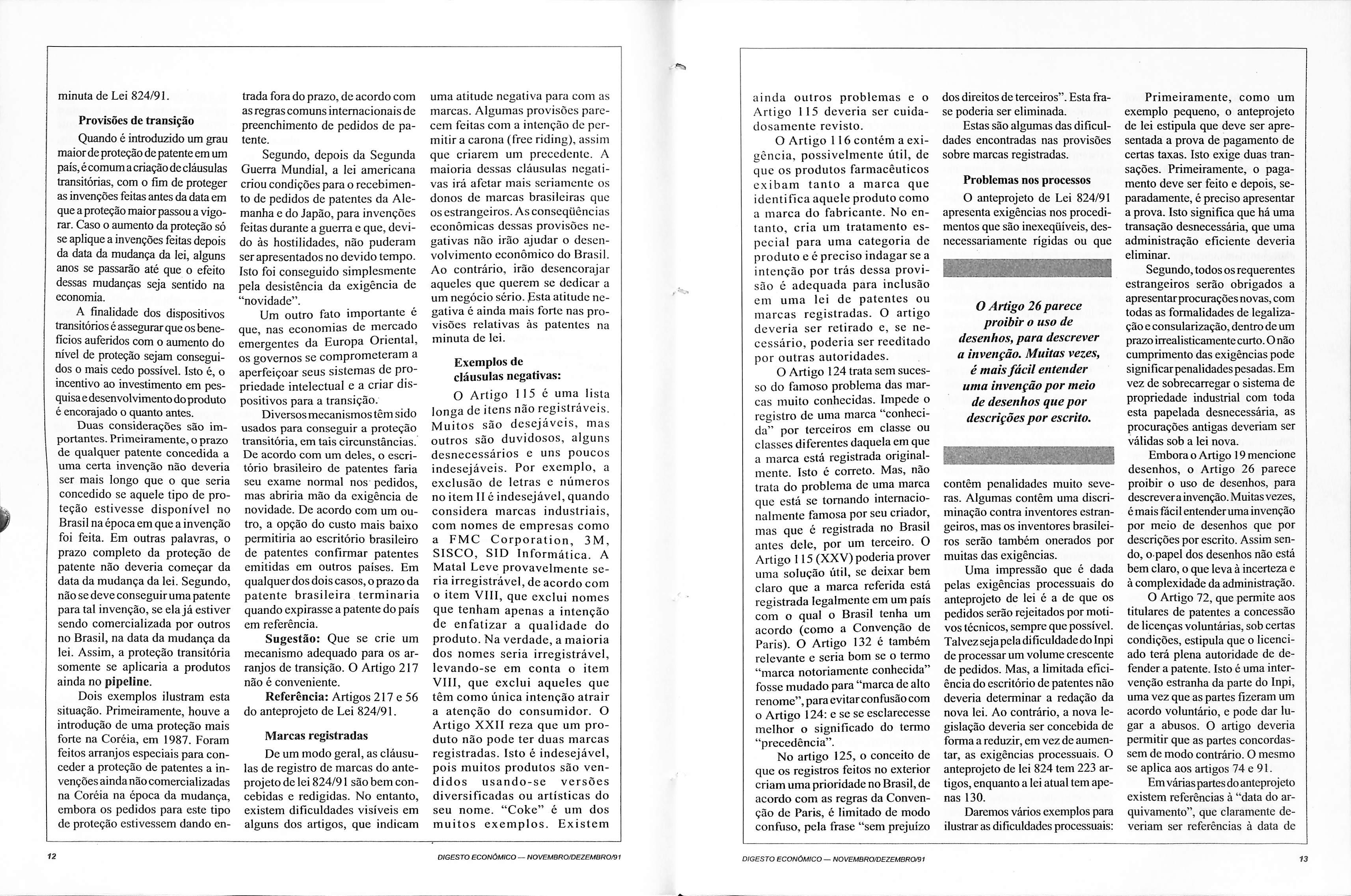
minuta de Lei 824/91.
Provisões de transição
Quando é introduzido um grau maior de proteção de patente em um país, é comum a criação de cláusulas transitórias, com o fim de proteger as invenções feitas antes da data em que aproteção maiorpassou a vigo rar. Caso 0 aumento da proteção só se aplique a invenções feitas depois da data da mudança da lei, alguns anos se passarão até que o efeito dessas mudanças seja sentido economia.
A finalidade dos dispositivos transitórios é assegurar que os bene fícios auferidos com o aumento do nível de proteção sejam consegui dos 0 mais cedo possível. Isto é, o incentivo ao investimento em pes quisa e desenvolvimento do produto é encorajado o quanto antes.
Duas considerações são im portantes. Primeiramente, o prazo de qualquer patente concedida a uma certa invenção não deveria ser mais longo que o que seria concedido se aquele tipo de pro teção estivesse disponível no Brasil na época em que a invenção foi feita. Em outras palavras, o prazo completo da proteção de patente não deveria começar da data da mudança da lei. Segundo, não se deve conseguir uma patente para tal invenção, se ela já estiver sendo comercializada por outros no Brasil, na data da mudança da lei. Assim, a proteção transitória somente se aplicaria a produtos ainda no pipelíne.
Dois exemplos ilustram esta situação. Primeiramente, houve a introdução de uma proteção mais forte na Coréia, em 1987. Foram feitos arranjos especiais para ceder a proteção de patentes a in venções ainda não comercializadas na Coréia na época da mudança, embora os pedidos para este tipo de proteção estivessem dando en-
trada fora do prazo, de acordo com as regras comuns internacionais de preenchimento de pedidos de pa tente.
Segundo, depois da Segunda Guerra Mundial, a lei americana criou condições para o recebimen to de pedidos de patentes da Ale manha e do Japão, para invenções feitas durante a guerra e que, devi do às hostilidades, não puderam ser apresentados no devido tempo. Isto foi conseguido simplesmente pela desistência da exigência de “novidade”.
Um outro fato importante e economias de mercado que, nas emergentes da Europa Oriental, governos se comprometeram a aperfeiçoar seus sistemas de pro priedade intelectual e a criar dis positivos para a transição.
Diversos mecanismos têm sido os usados para conseguir a proteção transitória, em tais circunstâncias. De acordo com um deles, o escri tório brasileiro de patentes faria seu exame normal nos pedidos, mas abriría mão da exigência de novidade. De acordo com um ou tro, a opção do custo mais baixo permitiría ao escritório brasileiro de patentes confirmar patentes emitidas em outros países. Em qualquer dos dois casos, o prazo da patente brasileira terminaria quando expirasse a patente do país em referência.
Sugestão: Que se crie um mecanismo adequado para os ar ranjos de transição. O Artigo 217 não é conveniente.
Referência: Artigos 217 e 56 do anteprojeto de Lei 824/91.
Marcas registradas
De um modo geral, as cláusu las de registro de marcas do ante projeto de lei 824/91 são bem con cebidas e redigidas. No entanto, existem dificuldades visíveis em alguns dos artigos, que indicam con-
uma atitude negativa para com as marcas. Algumas provisões pare cem feitas com a intenção de per mitira carona (free riding), assim que criarem um precedente. A maioria dessas cláusulas negati vas irá afetar mais scriamente os donos de marcas brasileiras que os estrangeiros. As consequências econômicas dessas provisões ne gativas não irão ajudar o desen volvimento econômico do Brasil. Ao contrário, irão desencorajar aqueles que querem se dedicar a um negócio sério, psta atitude ne gativa c ainda mais forte nas pro visões relativas às patentes na minuta de lei.
Exemplos de cláusulas negativas:
O Artigo 115 é uma lista longa de itens não registráveis. Muitos são desejáveis, mas outros são duvidosos, alguns desnecessários e uns poucos indesejáveis. Por exemplo, a exclusão de letras e números no item II é indesejável, quando considera marcas industriais, com nomes de empresas como a FMC Corporation, 3M, SISCO, SID Informática. A Matai Leve provavelmente se ria irregistrável, de acordo com o item VIII, que exclui nomes que tenham apenas a intenção de enfatizar a qualidade do produto. Na verdade, a maioria dos nomes seria irregistrável, levando-se em conta o item VIII, que exclui aqueles que têm como única intenção atrair a atenção do consumidor. O Artigo XXII reza que um pro duto não pode ter duas marcas registradas. Isto é indesejável, pois muitos produtos são ven didos usando-se versões diversificadas ou artísticas do seu nome. “Coke” é um dos muitos exemplos. Existem
ainda outros problemas e o Artigo 115 deveria ser cuidadosamente revisto.
O Artigo 116 contém a exi gência, possivelmente útil, de que os produtos farmacêuticos exibam tanto a marca que identifica aquele produto como a marca do fabricante. No en-
tanto, cria um tratamento es pecial para uma categoria de produto e é preciso indagar se a intenção por trás dessa provi são é adequada para inclusão cm uma lei de patentes ou marcas registradas. O artigo deveria ser retirado e, se ne-
dos direitos de terceiros”. Esta fra se poderia ser eliminada. Estas são algumas das dificul dades encontradas nas provisões sobre marcas registradas.
Problemas nos processos
O anteprojeto de Lei 824/91 apresenta exigências nos procedi mentos que são inexeqüíveis, des necessariamente rígidas ou que
O Artigo 26 parece proibir o uso de desenhos, para descrever a invenção. Muitas vezes, é mais fácil entender uma invenção por meio de desenhos que por descrições por escrito. cessário, poderia ser reeditado por outras autoridades.
O Artigo 124 trata sem sucesdo famoso problema das marmuito conhecidas. Impede o registro de uma marca “conheci da” por terceiros em classe ou classes diferentes daquela em que está registrada originalso cas a marca mente. Isto é correto. Mas, não trata do problema de uma marca que está se tomando intcmacio- nalmente famosa por seu criador, mas que é registrada no Brasil terceiro. O
antes dele, por um Artigo 115 (XXV) podería prover solução útil, se deixar bem uma claro que a marca referida está registrada legalmcnte cm um país o qual o Brasil tenha um com acordo (como a Convenção de Paris). O Artigo 132 é também relevante e seria bom se o termo notoriamente conhecida” marca fosse mudado para “marca de alto para evitar confusão com
contêm penalidades muito seve ras. Algumas contêm uma discri minação contra inventores estran geiros, mas os inventores brasilei ros serão também onerados por muitas das exigências.
Primeiramente, como um exemplo pequeno, o anteprojeto de lei estipula que deve ser apre sentada a prova de pagamento de certas taxas. Isto exige duas tran sações. Primeiramente, o paga mento deve ser feito e depois, se paradamente, é preciso apresentar a prova. Isto significa que há uma transação desnecessária, que uma administração eficiente deveria eliminar.
Segundo, todos os requerentes estrangeiros serão obrigados a apresentarprocurações novas, com todas as formalidades de legaliza ção e consularizaçào, dentro de um prazo irrealisticamente curto. O não cumprimento das exigências pode significar penalidades pesadas. Em vez de sobrecarregar o sistema de propriedade industrial com toda esta papelada desnecessária, as procurações antigas deveríam ser válidas sob a lei nova.
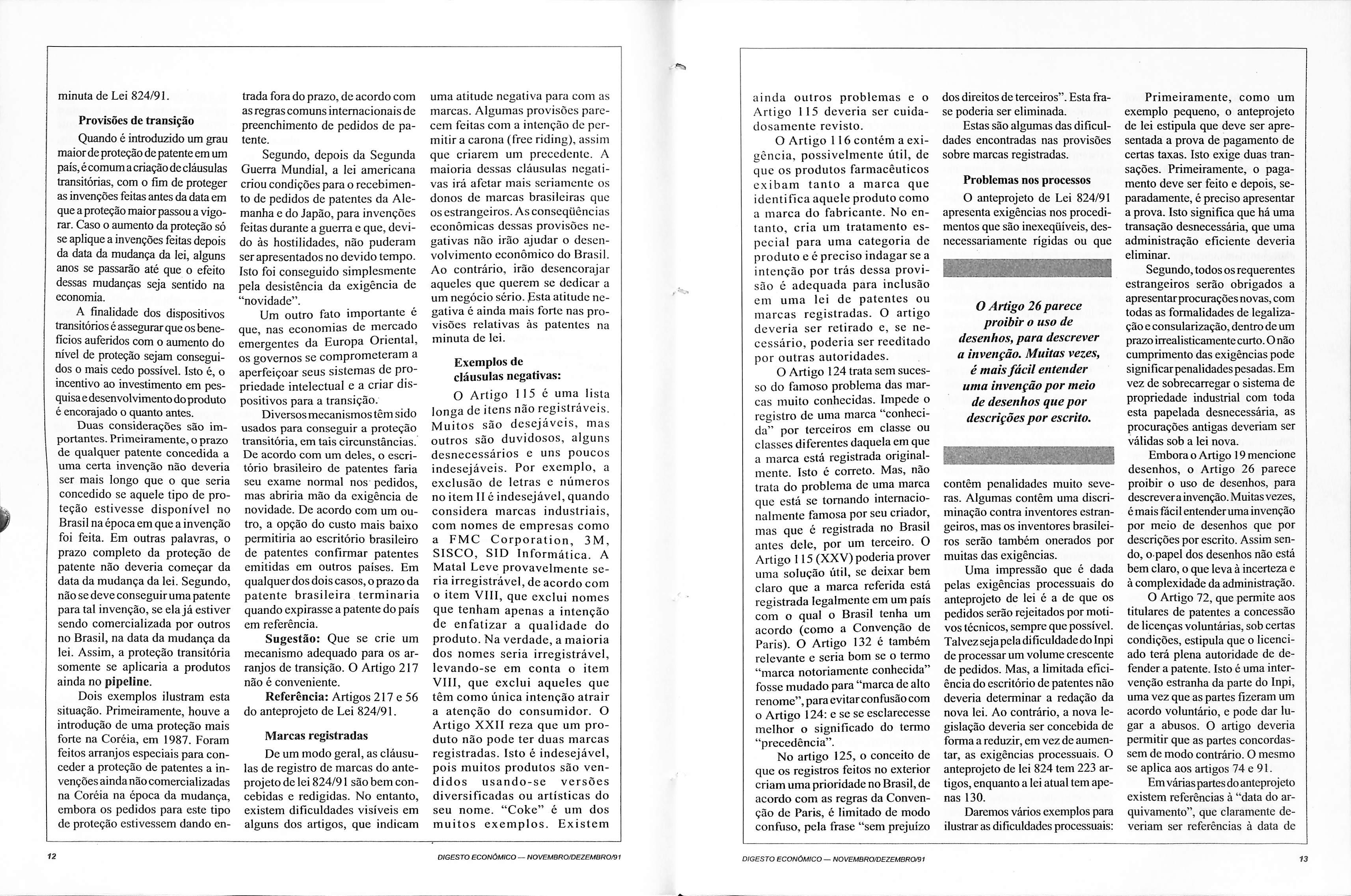
Artigo 124: e se se esclarecesse melhor o significado do termo “precedência”.
No artigo 125, o conceito de que os registros feitos no exterior criam uma prioridade no Brasil, de acordo com as regras da Conven ção de Paris, é limitado de modo confuso, pela frase “sem prejuízo renome o
Uma impressão que é dada pelas exigências processuais do anteprojeto de lei é a dc que os pedidos serão rejeitados por moti vos técnicos, sempre que possível. Talvez seja pela dificuldade do Inpi de processar um volume crescente de pedidos. Mas, a limitada efici ência do escritório de patentes não deveria determinar a redação da nova lei. Ao contrário, a nova le gislação deveria ser concebida de forma a reduzir, em vez de aumen tar, as exigências processuais. O anteprojeto de lei 824 tem 223 ar tigos, enquanto a lei atual tem ape nas 130.
Daremos vários exemplos para ilustrar as dificuldades processuais:
Embora o Artigo 19 mencione desenhos, o Artigo 26 parece proibir o uso de desenhos, para descrevera invenção. Muitas vezes, é mais fácil entenderuma invenção por meio de desenhos que por descrições por escrito. Assim sen do, o papel dos desenhos não está bem claro, o que leva à incerteza e à complexidade da administração. O Artigo 72, que permite aos titulares de patentes a concessão de licenças voluntárias, sob certas condições, estipula que o licenci ado terá plena autoridade de de fender a patente. Isto é uma inter venção estranha da parte do Inpi, uma vez que as partes fizeram um acordo voluntário, e pode dar lu gar a abusos. O artigo deveria permitir que as partes concordas sem de modo contrário. O mesmo se aplica aos artigos 74 e 91. Em várias partes do anteprojeto existem referências à “data do ar quivamento”, que claramente de veríam ser referências à data de
entrada do pedido ou data prioritária. Um exemplo está no Artigo 7. Deveríam ser incluídas referências à data prioritária, sem pre que aplicável, para evitar a grande confusão, que prejudica as obrigações assumidas pelo Brasil com o tratado.
O Artigo 25 devería ser revisto, para eliminar a referência a “melhor meio de execução”, ou melhor es clarecido, para indicar que o melhor meio de execução é aquele conheci do pelo requerente na data que for mais cedo—a de entrada do pedido ou a de prioridade, se esta última existir. De outro modo, pode haver confusão ou litígios custosos.
escrito por muitas pessoas e é um documento de conciliação. Além dos assuntos de substância e de processo acima mencionados, existem muitos pontos que poderí am ser esclarecidos. A seguir, da remos alguns exemplos.
O Artigo 9 parece comple mentar o Artigo 8, ao estabelecer o que é patenteável. Mas, pouco acrescenta, a não ser confusão. Devería ser excluído.
O anteprojeto de Lei 824/91, nos Artigos 182 a 193, estabelece os crimes contra a propriedade in dustrial. Não existem artigos com paráveis na lei atual que suscitem preocupação quanto à necessidade desses artigos. Aparentemente, a intenção foi dar aos juizes instru ções claras, para que possam ser tomadas medidas contra as viola ções da propriedade industrial.

a con-
Os Artigos 42-48, que tratam de oposições, deveríam ser escla recidos, para permitir a contestação apenas depois que a patente for concedida. Caso contrário, podem ser iniciadas oposições depois de tomada a decisão de conceder o privilégio, mas antes que cessão seja publicada, o que pode levar ao abuso.
O Artigo 55 define atos que são excluídos do conceito normal daquilo que constitui uma infração. As exclusões estão escritas de modo inespecífico e confuso, o que pode levar a confusões des necessárias e ao abuso.
De acordo com os Artigos 72 e 91,0 licenciado tem plena autorida de de defender a patente. Isto pode levar ao abuso e devería ser elimi nado ou limitado a casos em que o detentor da patente declinou do di reito dé defendê-la.
Existem muitos outros assuntos processuais que merecem atenção. Como referência, as sugestões apresentadas pela Associação Bra sileira de Propriedade Industrial (ABPI) mostram uma perspectiva especialmente interessante.
Clareza da redação
O Artigo 37 permite que o Inpi peça documentos a “outros paí ses”, sem limitação. Isto podería ser limitado a uma lista dos países que procedem a exames. Existem somente uns cinco. De outro modo, podería haver abuso.
O anteprojeto de lei deixa de declarar positivamente que os pro cessos são patenteáveis, separada mente dos produtos. O termo é usado no Artigo 53, mas não é definido. Para evitar confusão, de vería haver uma lista dos tipos de invenções que podem ser patente adas.
Muitos artigos não são neces sários ao funcionamento eficiente de uma lei de propriedade industrial e poderíam ser eliminados. Ver, por exemplo, os Artigos 9, 14 (1) —descrições orais—, 17,60,75 a 81, 143, 144e222.
Muitos outros artigos ganha riam bastante se fossem mais cla ros, alguns pelo fato de envolverem conceitos muito subjetivos. Exemplo disso são os Artigos 10, 18, 55, 72, 74,91 e 115.
Existem, por toda a parte, pro visões que mostram pensamentos “antagônicos”. Exemplo disso são os artigos 56, 58, 82, 84, e outros mais.
O cumprimento da lei é o in grediente final necessário para que um sistema de proteção à propríe-
O anteprojeto de lei 824/91 foi dade intelectual funcione bem.
Fora as dificuldades que pos sam surgir com a possível confu são entre o Código Penal brasileiro e esses artigos, deve-se observar que, em países com fortes salva guardas, o cumprimento rigoroso dos direitos de propriedade inte lectual é predominantemente uma atividade de partes privadas, nos tribunais civis. Embora o promo tor público possa ter uma partici pação ativa em alguns casos, a maioria dos litígios se realiza por iniciativa privada e às suas custas.
O instrumento principal para o cumprimento eficiente dos direitos de propriedade intelectual é a ca pacidade dos tribunais civis de ordenar o fim imediato da atividade infratora. Os tribunais brasileiros deveríam ter toda a autoridade de emitir ordens preliminares, que façam cessar o uso não autorizado da propriedade intelectual, tão logo isto seja descoberto. Um bom modelo desta reparação imediata pode ser encontrado no Artigo 15 do projeto de lei de proteção da propriedade intelectual de progra mas de computador, que está em consideração para substituir a Lei n° 7.646, de 18 de dezembro de 1987.
Um instrumento para obrigar ao cumprimento imediato da lei é necessário porque a compensação monetária pelos danos geralmente não é um remédio satisfatório. Este pagamento é uma taxa cobrada do infrator, que pode até estar disposto a pagar, mas não o impede neces-
dade. Ainda por cima, a penalida de da indenização geralmente só é imposta depois de muita protela ção.
Além disso, como as penali dades criminais são muito graves, as ações penais exigem um grau muito alto de provas e os tribunais relutam em impor penas severas. Isto faz com que a ação eficiente dos tribunais civis seja importante para a propriedade intelectual.
Sugestão: Que os tribunais sejam investidos de plena autori dade para fazer cessar imediata mente o uso não autorizado da propriedade intelectual. Os Artigos 182-186 e 189-193 deveríam ser estudados, para se saber se não deveríam ser expurgados, caso dupliquem o que já existe no Có digo Penal.
sariamente de continuar sua ativi- Obviamente, a falta de explo ração não deveria servir de base para a licença obrigatória, logo depois da concessão da patente. O inventor necessita de tempo para conseguir financiamento, desen volver a tecnologia da escala do laboratório para a do mercado, construir a fábrica, eliminar os problemas de operação, conseguir a aprovação do governo e penetrar no mercado. Não existe um tempo “normal” para esta seqüência de etapas. No que se refere a grande parte da tecnologia atual, isto pode levar de cinco a dez anos, ou até mais. Caso a lei imponha um limite arbitrário de tempo, após o qúal a falta de exploração comercial passa a servir de base para uma licença compulsória, a lei se torna destrutiva, em vez de positiva. Assim sendo, devem ser leva dos em conta outros fatores além do decurso de tempo, para a de terminação de condições sob as quais será concedida a licença obrigatória.
tante em qualquerpaís que conceda uma patente para aquela invenção. Caso seja satisfeita esta condição de disponibilidade, a atividade econômica produtiva está sendo estimulada nesses países.
É importante observar que a obrigação de um detentor de pa tente de fazer alguma coisa com sua invenção ou permitir o seu uso por outras pessoas se aplicará a um número crescente de brasileiros, na medida em que o Brasil conti nue a avançar para os níveis de competência internacional.

uma
Referência: O Artigo 15 (e 14) do projeto de lei para a prote ção da propriedade intelectual de programas de computador, que está sendo considerado para substituir a Lei n° 7.646, de 18 de dezembro de 1987. (Foi incluída, em anexo, cópia destes artigos).
Licenças obrigatórias
A doutrina convencional de patentes encoraja a revelação do trabalho de um inventor para o público, em troca do privilégio de excluir outros da exploração do invento por um prazo determina do. Esta mesma doutrina também prevê circunstâncias limitadas, dentro das quais outras pessoas podem obter uma licença para usar a invenção, sem a autorização do detentor da patente. Simplificando, diremos que esta licença obrigató ria pode ser concedida quando o titular da patente não estiver ex plorando a invenção. Dá-se então a outros a oportunidade de usá-la, beneficiando o público.
Com a aproximação do fim do século, a tecnologia e os bens se movem com facilidade ao redor do mundo. Os brasileiros vendem mercadorias e serviços para mui tos países. Invenções feitas por brasileiros são patenteadas e ven didas no Exterior. Nem sempre é viável fabricar uma invenção em todos os países. Hoje, é comum a produção em um país, para mer cados em outros. De fato, a evo lução do Mercosul e de outros acordos de livre comércio procla mam a eficiência da concentração do fabrico numa única fonte, para distribuição nos mercados regio nais.
Deste modo, o “uso” ou “ex ploração” atual de uma patente, no sentido econômico, seria satisfeita pela sua produção em um outro país, desde que se garantisse a disponibilidade do produto resul-
Houve quem argumentasse que, embora raramente solicitada ou concedida, as cláusulas de li cença obrigatória são necessárias para melhorar a posição de barga nha dos brasileiros que procuram tecnologia estrangeira. Pode haver alguns casos em que a ameaça de uma licença obrigatória tenha produzido aquele efeito. No en tanto, haverá um número maior de casos em que esta ameaça serviu antes de tudo para desencorajar inventores nacionais e estrangeiros de requerer patentes no Brasil, e, ainda pior, ajudou a criar uma imagem negativa do País, prejudi cando o licenciamento cooperati vo da tecnologia.
Vem também de muito tempo no Brasil a idéia de que uma cláu sula enérgica de licenciamento obrigatório, força e acelera a fa bricação local por detentores de patentes. No entanto, a ameaça de uma licença forçada tende a pro duzir o efeito oposto, tanto sobre os detentores de patentes brasilei ros como os estrangeiros. Ao se defrontarem com prazos arbitrári os, onde o tempo necessário para o desenvolvimento de uma inven ção é hipotético, o entusiasmo do dono da patente em fazer investi mentos tende a murchar. Caso a exploração da invenção seja eco nomicamente viável, a perspectiva
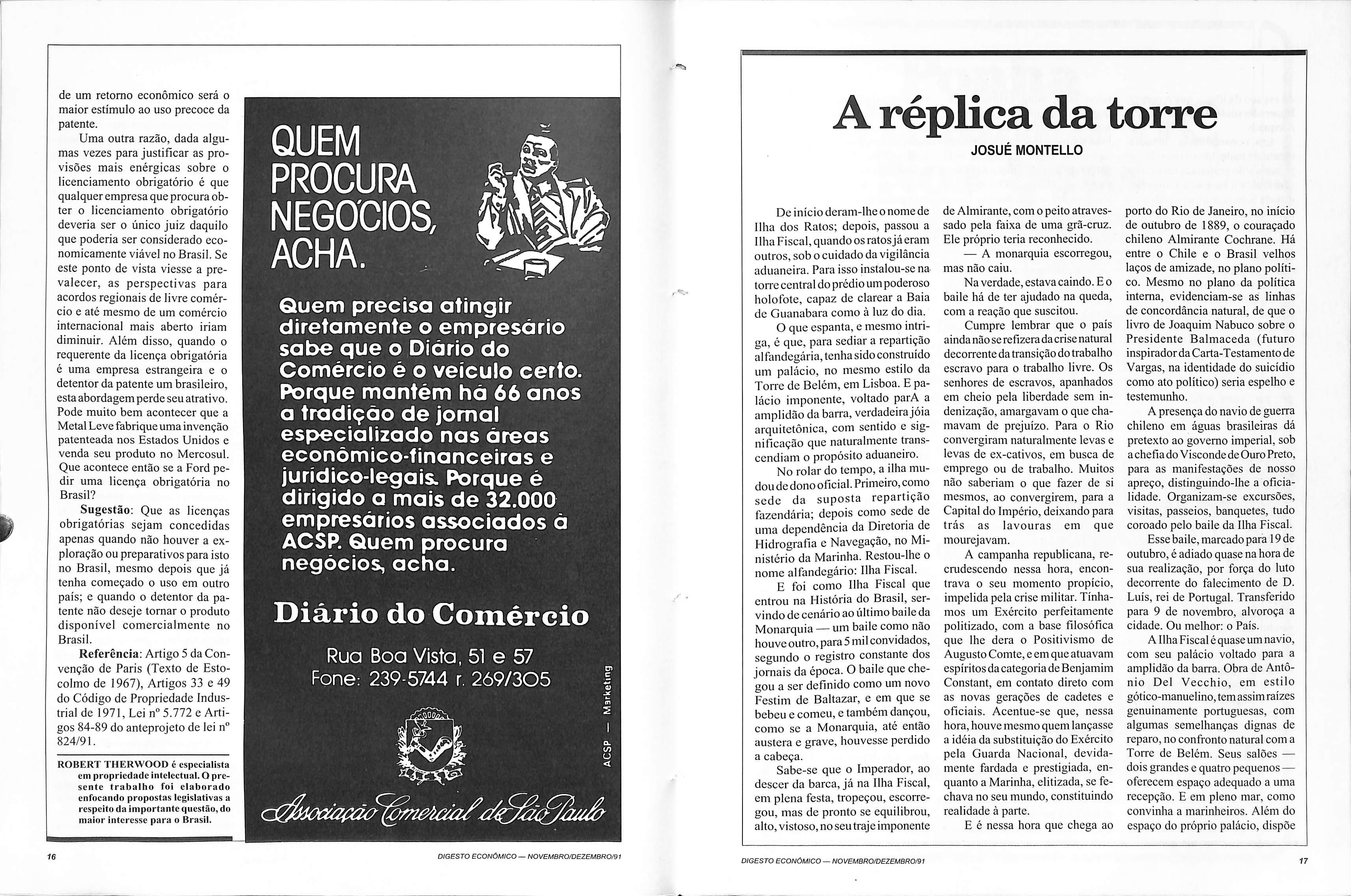
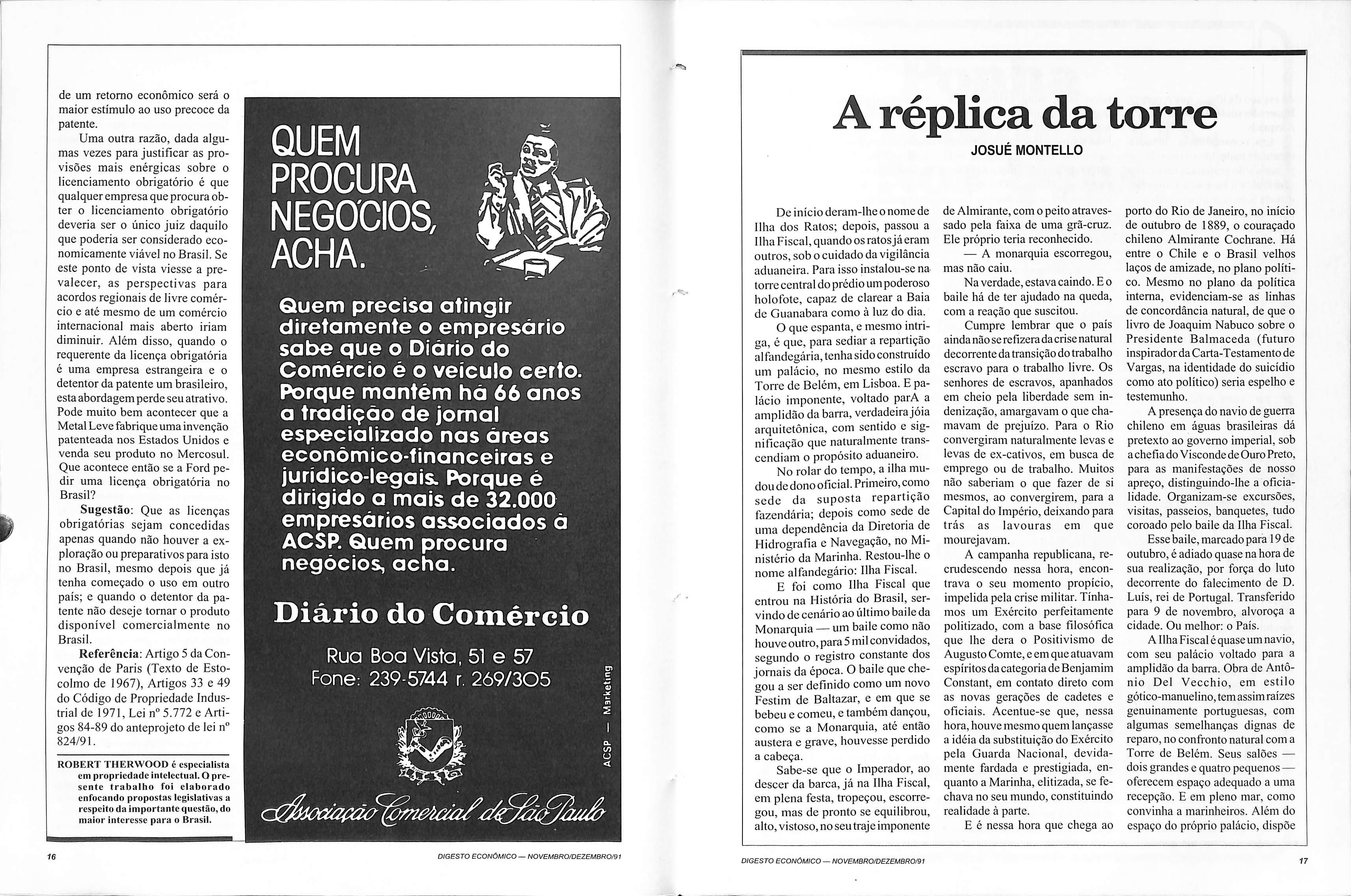
do espaço da ilha, a que o próprio Imperador soube dar a arbomização adequada.
Em conseqüência do adia mento do baile, toda a comida que já havia sido preparada teve de ser distribuída a hospitais (começan do pela Santa Casa), a presídios e a pobres e mendigos, o que deu idéia da fartura e da variedade do que ia comer, e também beber, na ho menagem aos chilenos. Depois, com 0 próprio baile, essa imagem ainda mais se acentuou
tanto luxo, tanta exibição. En quanto a festa não chegava, era só no que se falava. Costureiras, ca beleireiros, alfaiates, joalheiros, sapateiros, lojas, carruagens, tudo parecia existirem função da home nagem aos chilenos. Daí a corrida aos convites, e convites que foram atendidos, para ser realmente se apresentados. Deles se perdeu a conta. Houve quem falasse em seis mil convidados!
graças a publicação de um livrinho de 12 paginas, somente com o cardápio da festa!
Cada mesa ampla—comentou o austero Jornal do Commercio, no dia seguinte para 500 convidados. Em cada lu¬ gar, para corresponder ao que ia ser servido como bebida, havia nove copos de cristal!
Um jornalista chileno, Waldo Ayarza, em La Nación, de Santia go, deu 0 seu testemunho dos mes e bebes: “8.000 garrafas de vinho foram abertas e não se sabe quantas de licores, conhaques e cervejas. Foram distribuídos
O certo é que, na noite do bai le, a Ilha Fiscal resplandecia. Pela primeira vez se fizera ali a ilumi nação elétrica. Milhares e milha res de lâmpadas. As barcas que trafegavam entre a ilha e o Cais Pharoux exibiam balões tinha espaço venezianos em profusão. Calcula-se que mais de 100 mil pessoas se deslocaram para o cais, a fim de assistir à chegada dos convidados. No ar, fogos de arti fício. Contínuos. Deslumbrantes. Na luz forte, a fülguração das jóico- as, a exibição das toaletes. O apa rato policial. E 0 vento a trazer polcas, as valsas, os hinos que orquestras tocavam. Quando Princesa Isabel apareceu, com li.UÜU sorvetes e outros tantos vestido preto bordado a ouro, deu a ponches. Na cozinha, trabalharam impressão de estar chegando a uma 40 cozinheiros e 50 ajudantes, só festa em Veneza. Em Veneza. Foi para atualizar a comida que, em o que disse um cronista, grande parte, já veio pronta. De- E como escrevi agora um novo sapareceram das bandejas 10.000 romance, O baile da despedida, sanduíches, línguas, fiambres; como visão pessoal da derradeira milhares de canapés, filés à festa da Monarquia, cheguei a ter Richeiieu e à Chateaubriand, cro- impressão de que andei mesmo por quetes de bacalhau, costeletas de lá, em meio a titulares do Império, carneiro, pernas de porco, além de a senadores, a deputados, a minis18.000 salgadinhos. No desfile fu- tros de Estado.
as as a seu a megante e interminável, saíram da cozinha 18 faisões, 80 perus, 300 de Figueiredo sobre o baile, hoje galinhas, 350 frangos, 25 cabeças exposto numa das paredes amplas de porco recheadas, peixes de água de nosso Museu Histórico Nacíodoce e salgada, cabritos, leitões, patos, gansos, coelhos, capões, codomizes e borrachos”.
E O baile não ficou por aí. Nunca se tinha visto tanto aparato.
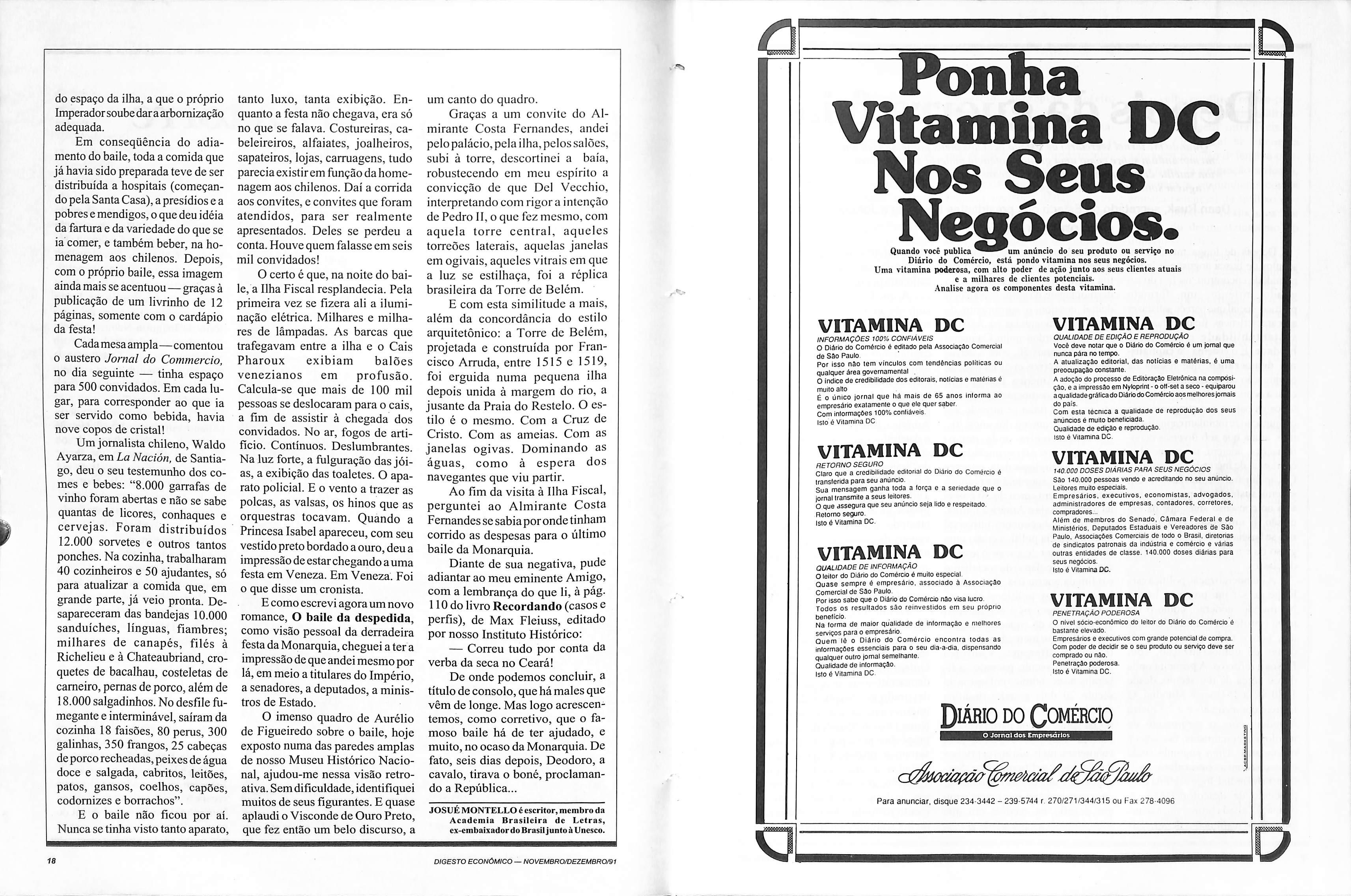
O imenso quadro de Aurélio nai, ajudou-me nessa visão retro ativa. Sem dificuldade, identifiquei muitos de seus figurantes. E quase aplaudi o Visconde de Ouro Preto, que fez então um belo discurso, a
um canto do quadro.
Graças a um convite do Al mirante Costa Fernandes, andei pelo palácio, pela ilha, pelos salões, subi à torre, descortinei a baía. robustecendo cm meu espírito a convicção dc que Del Vecchio, interpretando com rigor a intenção de Pedro 11, o que fez mesmo, com aquela torre central, aqueles torreões laterais, aquelas janelas em ogivais, aqueles vitrais em que a luz se estilhaça, foi a réplica brasileira da Ton^e de Belém.
E com esta simililude a mais, além da concordância do estilo arquitetônico: a Torre dc Belém, projetada e construída por Fran cisco Arruda, entre 1515 e 1519, foi erguida numa pequena ilha depois unida à margem do rio, a jusante da Praia do Restelo. O es tilo é o mesmo. Com a Cruz de Cristo. Com as ameias. Com as janelas ogivas. Dominando as águas, como à espera dos navegantes que viu partir.
Ao fim da visita à Ilha Fiscal, perguntei ao Almirante Costa Fernandes se sabia por onde tinham corrido as despesas para o último baile da Monarquia.
Diante de sua negativa, pude adiantar ao meu eminente Amigo, com a lembrança do que li, à pág. 110 do livro Recordando (casos e perfis), de Max Fleiuss, editado por nosso Instituto Histórico: — Correu tudo por conta da verba da seca no Ceará!
De onde podemos concluir, a título de consolo, que há males que vêm de longe. Mas logo acrescen temos, como con-etivo, que o fa moso baile há de ter ajudado, e muito, no ocaso da Monarquia. De fato, seis dias depois, Deodoro, a cavalo, tirava o boné, proclaman do a República...
JOSUÉ MONTELLO é escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, ex-embaixador do Brasil junto àUncsco.
Quando você publica um anúncio do seu produto ou serviço no Diário do Comércio, está pondo vitamina nos seus negócios. Uma vitamina poderosa, com alto poder dc ação junto aos seus clientes atuais c a milhares de clientes potenciais. .\nalise agora os componentes desta vitamina.
INFORMAÇÕES 100% CONFIÁVEIS
O Diário do Comércio é editado peta Associação Comercial de São Paulo. Por isso não tem vinculos com tendências políticas ou qualquer área governamental O índice de credibilidade dos edilorais, noticias e maiénas é muilo alio
É 0 único jornal que há mais de 65 anos informa ao empresário exatamente o que ele quer saber. Com iniormaçôes i00%conliáveis.
Isio é Vitamina DC
RETORNO SEGURO
Claro que a credibilidade editorial do Diário do Comércio é transferida para seu anúncio. Sua mensagem ganha toda a lorça e a seriedade que o jornal transmite a seus leitores. O que assegura que seu anúncio seja lido e respeitado. Retorno seguro. Isto é Vitamina DC.
QUALIDADE DE INFORMAÇÃO
O leitor do Diário do Comércio é muito especial.
Quase sempre é empresário, associado â Associação
Comercial de São Paulo.
Por isso sabe que o Diário do Comércio náo visa lucro.
Todos os resultados são reinvestidos em seu próprio benelicio.
Na forma de maior qualidade de informação e melhores serviços para o empresário.
Quem lê 0 Diário do Comércio encontra todas as informações essenciais para o seu dia-a-dia, dispensando qualquer outro jornal semelhante.
Qualidade de inlormação. Isto é Vitamina DC.
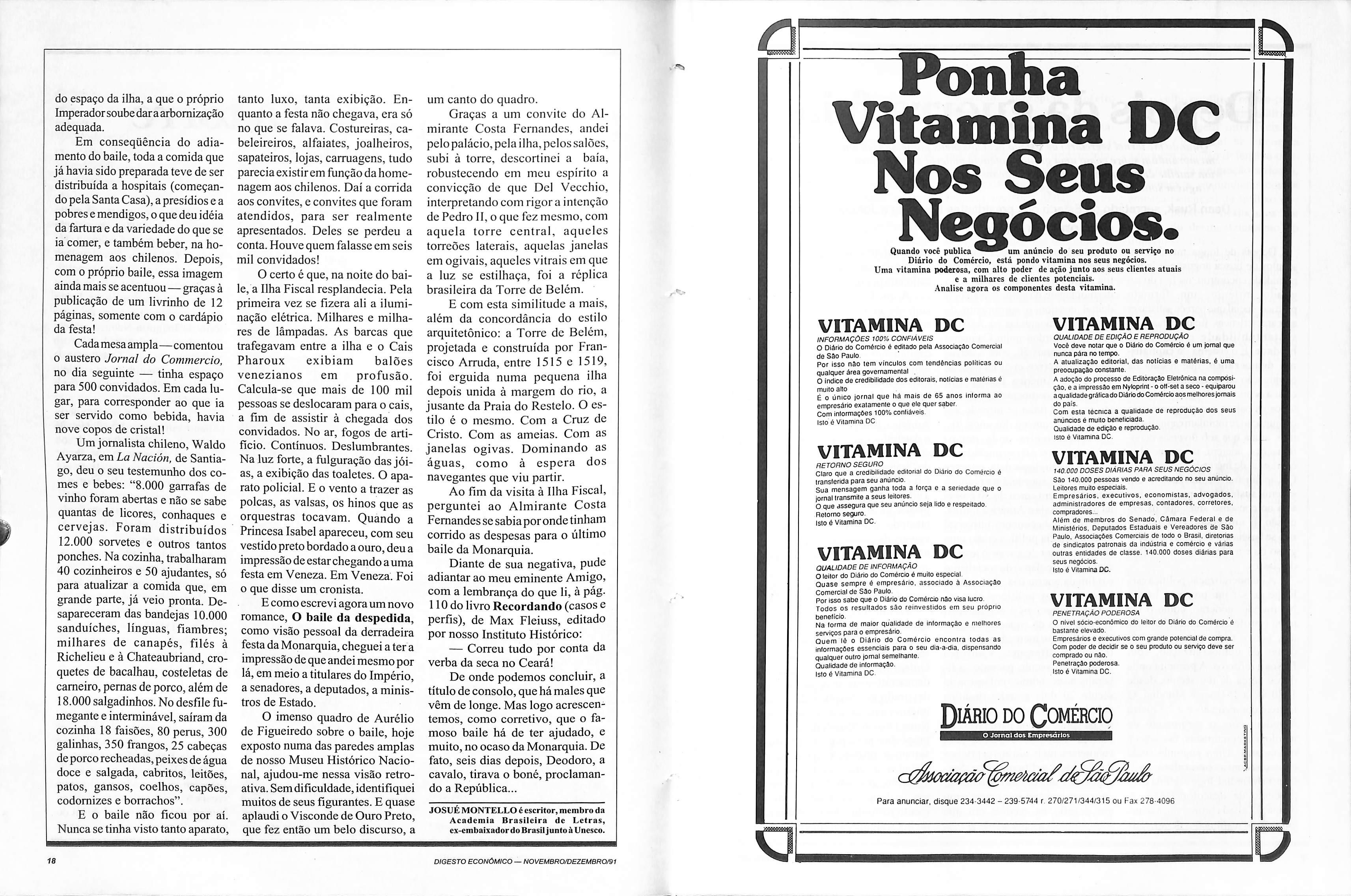
QUALIDADE DE EDIÇÃO E REPRODUÇÃO
Você deve rwtar que o Diário do Comércio ô um jornal que nunca pára no lempo.
A atualização editorial, das notícias e matérias, é uma preocupação constante.
A adoção do processo de Editoração Eletrônica na composi ção. e a impressão em Nyloprint - o oll-sel a seco - equiparou a qualidade grálicado Diário do Comércio aos melhores jornais do pais. Com esta técnica a qualidade de reprodução dos seus anúncios é muno beneliciada.
Qualidade de edição e reprodução, isto é Vitamina DC.
140.000 DOSES DIÁRIAS PARA SEUS NEGÓCIOS
São 140.000 pessoas vendo e acreditando no seu anúncio. Leitores muito especiais.
Empresários, executivos, economistas, advogados, administradores de empresas, contadores, corretores, compradores...
Além de membros do Senado, Câmara Federal e de Ministérios, Deputados Estaduais e Vereadores de São Paulo, Associações Comerciais de todo o Brasil, diretorias de sindicatos patronais da indústria e comércio e várias outras entidades de classe. 140.000 doses diárias para seus negócios.
Isto é Vitamina DC.
PENETRAÇÃO PODEROSA
O nível sócio-econômico do leitor do Diário do Comércio é bastante elevado. Empresários e executivos com grande potencial de compra. Com poder de decidir se o seu produto ou serviço deve ser comprado ou não. Penetração poderosa. Isto é Vitamina DC.
Para anunciar, disque 234-3442 - 239-5744 r 270/271/344/315 ou Fax 278-4096
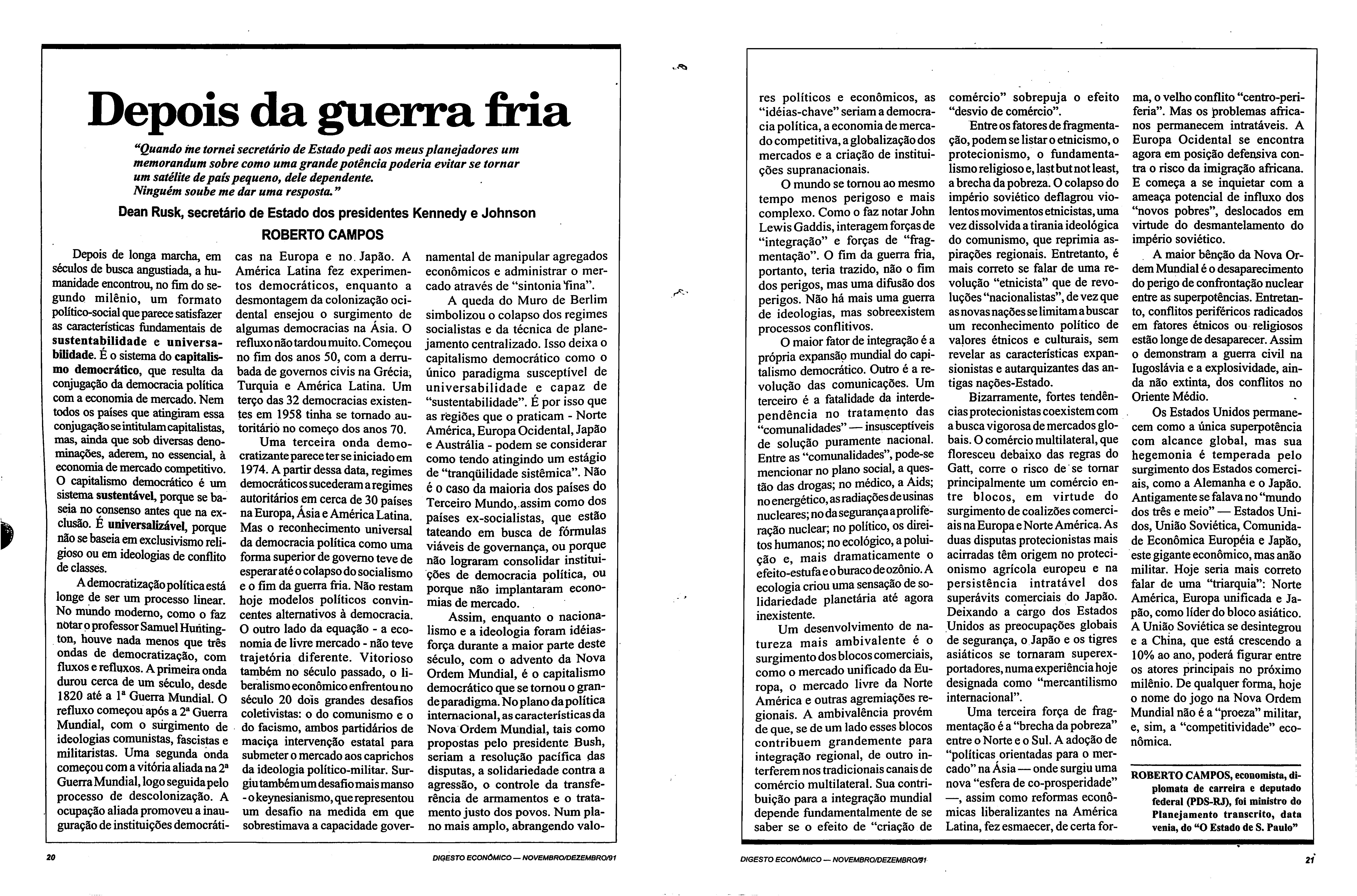
**Quando me tornei secretário de Estado pedi aos meus planejadores um memorandum sobre como uma grande potência poderia evitar se tornar um satélite de país pequeno, dele dependente. Ninguém soube me dar uma resposta, ”
Dean Rusk, secretário de Estado dos presidentes Kennedy e Johnson
América Latina fez experimen tos democráticos, enquanto a
refluxo não tardou muito. Começou no fim dos anos 50, com a deiru-
namental de manipular agregados econômicos e administrar o mer cado através de “sintonia Tina”.
tes em 1958 tinha se tomado au toritário no começo dos anos 70. Uma terceira onda demoem
Depois de longa marcha, em cas na Europa e no. Japão. A séculos de busca angustiada, a hu manidade encontrou, no fim do se gundo milênio, um formato desmontagem da colonização ocipolítico-social que parece satisfazer dental ensejou o surgimento de as características fundamentais de algumas democracias na Ásia. O siistentabilidade e universabílidade. É o sistema do capitalis mo democrático, que resulta da bada de governos civis na Grécia, conjugação da democracia política Turquia e América Latina. Um com a economia de mercado. Nem terço das 32 democracias existentodos os países que atingiram essa conjugação se intitulam capitalistas, mas, ainda que sob diversas deno minações, aderem, no essencial, à cratizante parece ter se iniciado economia de mercado competitivo. 1974. A partir dessa data, regimes O capitahsmo democrático é um democráticos sucederam a regimes sistema sustentável, porque se ba- autoritários em cerca de 30 países seia no consto antes que na ex- na Europa, Ásia e América Latina, clusão. E universalizável, porque Mas o reconhecimento universal se baseia em exclusivismo reh- da democracia política como uma gioso ou em ideologias de conflito forma superior de governo teve de de classes. esperar até o colapso do socialismo
A democratização política está e o fim da guerra fria. Não restam longe de ser um processo linear, hoje modelos políticos convin- No mundo moderno, como o faz centes alternativos à democracia, a eco-
notar p professor Samuel Hunting- O outro lado da equação - ton, houve nada menos que três nomia de livre mercado - não teve ondas de democratização, com trajetória diferente. Vitorioso fluxos erefluxos. A primeira onda também no século passado, o li- durou cerca de um século, desde beralismo econômico enfrentou no 1820 até a 1® Guerra Mundial. O século 20 dois grandes desafios refluxo começou após a 2® Guerra coletivistas: o do comunismo e o Mundial, com o surgimento de do facismo, ambos partidários de ideologias comumstas, fascistas e maciça intervenção estatal para milítanstas. Uma segunda onda submeter o mercado aos caprichos começou com a vitória aliada na 2® da ideologia político-militar . SurGuerra Mundial, logo seguida pelo gíu também um desafio mais manso processo de descolonização. A - o keynesianismo, que representou ocupação aliada promoveu a inau- um desafio na medida em que guração de instituições democráti- sobrestimava a capacidade gover-
A queda do Muro de Berlim simbolizou o colapso dos regimes socialistas e da técnica de plane jamento centralizado. Isso deixa o capitalismo democrático como o único paradigma susceptível de universabilidade e capaz de “sustentabilidade”. É por isso que as regiões que o praticam - Norte América, Europa Ocidental, Japão e Austrália - podem se considerar como tendo atingindo um estágio de “tranquilidade sistêmica”. Não é 0 caso da maioria dos países do Terceiro Mundo, .assim como dos países ex-socialistas, que estão tateando em busca de fórmulas viáveis de governança, ou porque não lograram consolidar institui ções de democracia política, ou porque não implantaram econo mias de mercado.
Assim, enquanto o naciona lismo e a ideologia foram idéiasforça durante a maior parte deste século, com o advento da Nova Ordem Mundial, é o capitalismo democrático que se tomou o gran de paradigma. No plano da política internacional, as características da Nova Ordem Mundial, tais como propostas pelo presidente Bush, seriam a resolução pacífica das disputas, a solidariedade contra a agressão, o controle da transfe rência de armamentos e o trata mento justo dos povos. Num pla no mais amplo, abrangendo valo-
res políticos e econômicos, as “idéias-chave” seriam a democra cia política, a economia de merca do competitiva, a globalização dos mercados e a criação de institui ções supranacionais.
O mundo se tomou ao mesmo
tempo menos perigoso e mais complexo. Como o faz notar John Lewis Gaddis, interagem forças de “integração” e forças de “frag mentação”. O fim da guerra fria, portanto, teria trazido, não o fim dos perigos, mas uma difusão dos perigos. Não há mais uma guerra de ideologias, mas sobreexistem processos conflitivos.
O maior fator de integração é a própria expansão mundial do capi talismo democrático. Outro é a re volução das comunicações. Um terceiro é a fatalidade da interdetratamento das
comércio” sobrepuja o efeito ma, o velho conflito “centro-peri“desvio de comércio”.
feria”. Mas os problemas africaEntre os fatores de fragmenta- nos permanecem intratáveis. A ção,podemselistaroetnicismo,o Europa Ocidental se encontra protecionismo, o fundamenta- agora em posição defemsiva conlismo religioso e, last but not least, tra o risco da imigração africana, a brecha da pobreza. O colapso do E começa a se inquietar com a império soviético deflagrou vio- ameaça potencial de influxo dos lentos movimentos etnicistas, uma “novos pobres”, deslocados em vez dissolvida a tirania ideológica virtude do desmantelamento do do comunismo, que reprimia as- império soviético, pirações regionais. Entretanto, é A maior bênção da Nova Ormais correto se falar de uma re- dem Mundial é o desaparecimento volução “etnicista” que de revo- do perigo de confrontação nuclear luções “nacionalistas”, de vez que entre as superpotências. Entretanas novas nações se limitam a buscar to, conflitos periféricos radicados um reconhecimento político de em fatores étnicos ou religiosos valores étnicos e culturais, sem estão longe de desaparecer. Assim revelar as características expan- o demonstram a guerra civil na sionistas e autarquizantes das an- Iugoslávia e a explosividade, aintigas nações-Estado.
da não extinta, dos conflitos no pendência no “comunalidades” — insusceptíveis de solução puramente nacional, ‘comunalidades”, pode-se Entre as mencionar no plano social, a ques tão das drogas; no médico, a Aids; __ energético, as radiações de usinas nucleares;nodasegurançaaproliferação nuclear; no político, os direi tos humanos; no ecológico, a polui ção e, mais dramaticamente o efeito-estufa e o buraco de ozônio. A ecologia criou uma sensação de so lidariedade planetária até agora no inexistente.
Um desenvolvimento de na tureza mais ambivalente é o surgimento dos blocos comerciais, mercado unificado da Eu ropa, o mercado livre da Norte América e outras agremiações re gionais. A ambivalência provém de que, se de um lado esses blocos contribuem grandemente para integração regional, de outro in terferem nos tradicionais canais de comércio multilateral. Sua contri buição para a integração mundial depende fundamentalmente de se saber se o efeito de “criação de como o
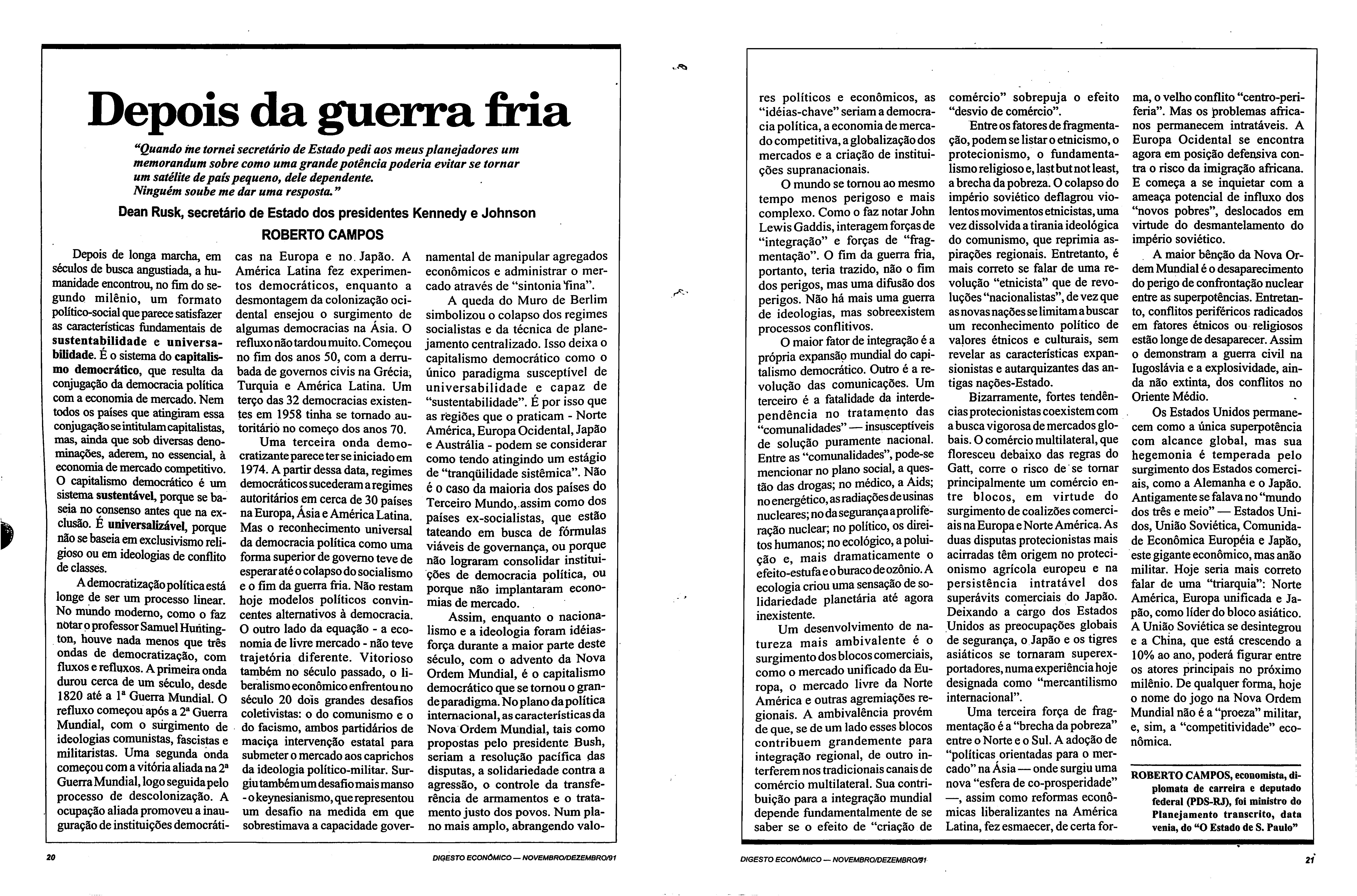
Bizarramente, fortes tendên- Oriente Médio, cias protecionistas coexistem com Os Estados Unidos permanea busca vigorosa de mercados glo- cem como a única superpotência bais. O comércio multilateral, que com alcance global, mas sua floresceu debaixo das regras do hegemonia é temperada pelo Gatt, corre o risco de se tomar surgimento dos Estados comerciprincipalmente um comércio en- ais, como a Alemanha e o Japão, tre blocos, em virtude do Antigamente se falava no “mimdo surgimento de coalizões comerei- dos três e meio” — Estados Uniais na Europa e Norte América. As dos, União Soviética, Comunidaduas disputas protecionistas mais de Econômica Européia e Japão, acirradas têm origem no proteci- este gigante econômico, mas anão onismo agrícola europeu e na militar. Hoje seria mais correto persistência intratável dos falar de uma “triarquia”: Norte superávits comerciais do Japão. América, Europa unificada e JaDeixando a cargo dos Estados pão, como líder do bloco asiático. Unidos as preocupações globais a União Soviética se desintegrou de segurança, o Japão e os tigres e a China, que está crescendo a asiáticos se tomaram superex- io% ao ano, poderá figurar entre portadores, numa experiência hoje os atores principais no próximo designada como “mercantilismo milênio. De qualquer forma, hoje internacional”.
o nome do jogo na Nova Ordem Uma terceira força de frag- Mundial não é a “proeza” militar, mentação é a “brecha da pobreza” e, sim, a “competitividade’ entre o Norte e o Sul. A adoção de nômica.
“políticas orientadas para o mer cado” na Ásia—onde surgiu uma nova “esfera de co-prosperidade” —, assim como reformas econô micas liberalizantes na América eco-
ROBERTO CAMPOS, economista, di plomata de carreira e deputado federal (PDS-RJ), foi ministro do Planejamento transcrito, data venia, do “O Estado de S. Paulo” Latina, fez esmaecer, de certa for-
MARCO ANTONIO LEITE BRANDAO
Procura-se neste estudo apre sentar considerações sobre aspec tos do Japão que vêm adquirindo tegridade ao texto foram citadas no um crescente interesse e literatura corpo principal deste estudo. Estou persuadido que perso nalidades como Akio Morita, fundamentais e as que julgamos estruturais para dar unidade e in-
país c do povo, o desenvolvimento social e econômico não pode ocor rer. Essa é, claro, a grande lição do Japão {..)”. por parte dos estudiosos sobre Gestão do Trabalho e da estraté gia de emulação do trabalhador Kenichi Ohmae, Koji Kobayashi japonês.
Oriente x Ocidente
Homens do Renascimento como Miguel Servet (151 1-1553), Shakespeare (1554-1616), Galileu Galilei (1569-1642), Leonardo da Vinci (1452-1519) herdaram, cristalizaram c aprofundaram bases do “Humanismo” (entram em confronto com a Contra-reforma e a Reforma) e caracteriza ram a interface de transição entre a Civilização Agrícola e a Industri al. Dos séculos XV-XVIII o OciHomo (presidente da NEC) e, indo a Através de algumas palavras- Akira Kurosawa, Kaneto Shindo, chave como WA (harmonia), YukioMishimaeoutros,observam IKIGAI (vida que vale a pena), lÊ (observariam) com certa condes cendência as interpretações que têm sido elaboradas: (casa/lar) etc. observa-se a pers pectiva de apreensão de caracte rísticas idiossincráticas do japo nês que contribuiríam para expli- (1) (2). car o workaholic, ou ainda a ética de grupo, o consenso destacado as um japonismo” de ponta de iceberg
em mumeros textos, principâlmente no campo da gestão do trabalho, CCQs etc. Ainda, pel do Confucionismo, do Budis mo tem sofrido intenso assédio por estudiosos da “mentalidade” japonesa.
Começam a adquirir presença constante e incisiva em nosso co tidiano novas “palavras-chave” como Toyotismo, Ohnoísmo, Kanban, Sonysmo, Taguchi etc...
Nosso estudo há um longo caminho pela frente — está aquém de uma expectativa da apreensão à “Lawrence”, ou melhor, “Al o pa- Aurens” para mergulharmos raízes ônticas e culturais do japo nês, mas esperamos dar uma con tribuição ao tema que é de grande importância e fundamental para uma discussão sobre o Japão.
Registre-se o comentário fun damental de Drucker (1971): “(„) mas 0 gerenciamento é também Método uma cultura e um sistema de valores e crenças. É também o meio atra vés do qual uma dada sociedade como GerardoM.Mourão, Ricardo elabora produtivamente seus próM. Gonçalves, Peter Drucker, prios valores e André Malraux, Isaiah Dasan, Fausto Bradesco, Hajime Naka-
Armamo-nos com autores

dente é parturiente do Industrialis” (3).
Fornecem uma identidade e uma contribuição universal do Ocidente - gestaram o que hoje tem-se como Direitos Fundamen tais do Homem.
Engenhosamente apreende Penna (1965): “(..) o princípio da liberdade é afinal de contas es sencial ao espírito do Ocidente e limitada ao âmbito da civilização ocidental, sendo inerente à uma concepção transcendente da his tória. A articulação da sociedade até os limites do indivíduo não ocorreu em toda parte: na realida de ocorreu apenas nas sociedades ocidentais. No Oriente jamais conseguiu ultrapassar os limites da coletividade (..)”.
E Mourão (1990): “(..) Todos os povos, evidentemente, se ocunas crenças. Gerenciamento pode bem ser considerado uma ponte entre a cimura que fornecem — a nosso ver vílizaçao que está se tomando — um instmmental para que son demos o que está sob as águas no iceberg idiossincrático oriental e, em particular, do Japão. As notas apresentadas no apêndice são herança cultural específica de um universal e a cultura que expres sam tradições divergentes, valores crenças e heranças (..) Se a gerência não é bem-sucedida em articular a
param com a tarefa de pensar. Antes de qualquer coisa, o homem é, so bretudo, o “junco” de Pascal. O “junco que pensa”. Até onde al cança nossa memória o tempo histórico, que sucedeu o tempo mítico, começo marcado pelas in dagações do homem sobre si mesmo c sobre sua circunstância.
Esta foi, no Ocidente, a aventura inaugural do pensamento, vivida pelos pré-socráticos, na Jônia e na Magna Grécia. É certo que no Ori ente os hindus e os chineses lavra ram os mesmos campos, talvez até mesmo antes dos pré-socráticos. Da mesma forma, alguns povos africanos, com grande precedência cronológica sobre osjônios.
Mas a diferença capital é que. Ocidente, no mundo halênico, latino, judaico-cristão, de-
realmente a pardos fatos e questões levantados por Geraldo Mourào ou Meira Penna. Nesse caso estào, a nosso ver, besf-seUers como Técnicas Gerenciais Japonesas de Schonberger( 1984). Theory Z-how american business canmeet the Japancse challenge de Ouchi(!98l), Zen and the art of Management de Pascale(1978),

numa
No Oriente os hindus e os chineses lavraram os mesmos campos, talvez até mesmo antes dos pré-socráticos. no grecopois dos socráticos apareceu Sócrates. Enquanto isso, a balbuciante especulação oriental, como de chamá-la Ortega Y ele seu discípulo gostava Gasset, e com Julian Marias, continuou a repetir incessantemente a mesma indaga ção inicial, hipnotizada e imobili zada, como 0 sopro da flauta má gica do encantador de serpentes espécie de moto-perpétuo do mesmo canon, da mesma fuga melódica. Os pré-socráticos se com o mundo. A
preocupavam partir dc Sócrates, a filosofia pas sou a prcocupar-se como o homem e, a partir daí, com o homem do mundo. O Oriente continua pré-socrático(..)”.
Estas duas — com licença do citações incorporadas no leitor corpo principal deste texto vetores de um instmmental para melhor perquirição sobre o
que preso está ao Oriente todo aquele que, embora vestido de roupagens superficiais da civili zação industrial moderna e das formas sociais políticas oriundas da Europa, se sente consciente mente hostil às fontes mesmas de onde procede essa civilização. O Oriente pode ser exclusivamente definido como o Anti-Ocidente, no mesmo sentido em que o Islã foi 0 Anti-Cristianismo(..)”.
Estudos como os de Nogueira(1957), Malraux(1968), Mourão(1990), Challiand(1977) en veredam por esse caminho de análise e trazem à superfície ques tões fundamentais. São significa tivas as declarações de Nehru, Gandhi, Mao Tse Tung, Sun Yat Sen e outros publicados no Antimemórias de André Malraux. A derrota dos EUA na Guerra do Vietnã com a capacidade organizati va revelada na eficiência da estratégia de Van Giap e Ho Chi Minh destacada com argúcia por Schenberg( 1978)
estudos de grande difusão e influ ência. e
Ainda Meira Penna apresenta e discute um tópico bastante inte ressante. A partir do século XV, quando o Ocidente lança suas naus, as modernas caravelas para “além da Taprosana” inicia-se uma ex pansão inexorável sobre todo o planeta. As potências orientais que conseguem resistir só o fazem através de profundas transfonnações cm toda sua estrutura social. Com a perda da autonomia cul tural, 0 Oriente deixa de estarnuma convivência mutuamente exclusi va e é bastante fagocitado.
Challiand(1977), a ascensão de Mao ao poder na China e o boom japonês são significativos. Há uma linha comum, destacado no exce lente Luta pelo Oriente, ensaio de Nogueira(1957):”(..) o ressurgi mento do Extremo Oriente não se
cinge aos aspectos econômicos e financeiros. É sobretudo cultural e político. Mais: é fundamentalmente emocional (..) mas uma coisa se pode ter como certa: na história da humanidade iniciou-se e está em curso uma era inteiramente nova(..)”
As recentes declarações de Akio Morita e do deputado Shintaro Ishihara sobre uma nova era sob a égide do Oriente e, em particular, do Japão, a atuação de Deng Xiao Ping nos eventos que culminaram com a tragédia de Tian An Men passam a adquirir e per mitir uma nova leitura. Note-se o são uma Oriente. Não há sinal, ou melhor, são bastante raros, principalmente nos textos escritos na área de En genharia de Produção, de Admi nistração e Gestão do Trabalho, de que os autores estão enraizados e
Diz:”(..)a palavra Oriente ad quire assim um sentido novo, que independe do âmbito geográfico e do conteúdo propriamente políti co, uma vez que o oriental nunca teve consciência do fato de ser oriental senão através de critérios ocidentais, chegamos à conclusão
texto recente de Maruta(1989), presidente da Kao Corporation, funda-se num discurso sobre a gestão do trabalho sustentado no príncipe Shotoku(574-600) e no mestre Zen Dogen(1200-1253). Portanto, do “ventre” do Japão. Diz:”(..) No passado, objetivamos justamente seguir os países avançados da Europa e América e mesmo sobrepujá-los. Hoje, achamos que não temos ne nhum modelo adiante para emular e enfrentamos uma nova dimensão onde nós mesmos temos de explo rar nosso caminho futuro com nossa própria mente criativa
A nosso ver a autores como Gilder (1989) (4) no excelente es tudo “O eclipse da Geopolítica” apresentam aspectos bastante in trigantes sobre a complexa integração, complementariedade e a convergência industóal entre os Estados Unidos e a Ásia. Ainda, destacam a “Era Quânticá um ponto final ao imperialismo, mercantilismo, estatismo e “(..) mais que um Novo Estado Indus trial esta era nos revela impotência do Estado. Mais do que a Revolta das Massas sob a liderança de demagogos, essa era irá ver a revolta dos aventureiros contra todas as formas de tirania

Creio que subestima, ou ainda considera a questão cultural, care cendo de dimensão analítica a desenvolvida pelos autores sobre os quais chamados atenção. WA, lÊ, IKIGAI, RIN- GUI....SOB A ÓTICA DA GE RÊNCIA
como
Evidencia entrar decisiva- (..) No Japão, o grupo é valorizado mente em uma nova etapa: a da mais que o indivíduo, o consenso construção da sociedade pós-in- mais que uma idéia original, condustrial com centro de gravi- cordância mais que expressão de As universidades japonesas dade...no Japão. diferenças(..)”.Cita umcomentá- treinammaisde lOvêzesonúmero Casement (1984) ao comen- rio de Yoshimishi, Yamashita, de engenheiros que a Inglaterra, tar especificidades culturais do presidente da empresa Arthur Emprega mais pessoas em Pes- Japão destaca características im- D.Little no Japão que diz” (..) os quisã e Desenvolvimento que a portantes: “(..) para ser criativo japoneses fundamentalmente Inglaterra, França e Alemanha, necessita-se a temeridade de peninveste alta proporção de seu PNB sar o impensável. A cultura japõ em Ciência e Tecnologia. (5)
não absorvem a metodologia do pensamento analítico ciennesa não encoraja tal radicalismo tífico per se (..)”.

Convém lembrar que Mc Luhan também destacou este as¬ pecto como fundamental para uma mentalidade propícia à racionali zação, técnica e, enfim, a um pen samento analítico:” (..) o feedback significa o fim da linearidade introduzida no mundo ocidental pelo alfabeto e pelas formas conti do espaço euclidiano (..)”. Já comentamos a importância do Humanismo e do Renascimento no Ocidente que gestou o “Homem é a medida de todas as coisas..”
Este é um fato básico. No Ocidente, o indivíduo, o Homem. No Oriente, o “consenso”, a ética de grupo. (6)
nuas (7) (8)
Ainda, verifica a dificuldade da própria linguagem ideogramática que não prepararia a mente das cri anças para um raciocínio linear, ló gico. (1988), Riggs et al (1979) com uma evidente perspectiva de se criar — ou apreender—um corpo conceituai de gerenciamento e gestão do traba lho sob a ótica da gerência. Por exemplo, leia-se Yamamoto: “(..) a palavra, em ja ponês, para “vida que vale a pena” é Ikigai. Toda pessoa, seja um ja ponês ou americano, deseja reali zar coisas que valem a pena (..) Ikigai também pode ser aplicado ao Controle de Qualidade como funciona no Japão. Porque uma pessoa não pode conviver num grupo a não ser que pense como o grupo, tem de encontrar uma ma neira de expressar seu pensamento individual e encontrar seu Ikigai. Ele faz com extremo cuidado o seu trabalho, não importa quão im portante sua tarefa possa ser. Quando produz um produto de qualidade, orgulha-se disso. Sabe que o cliente estará satisfeito e encontra Ikigai com seu esforço
riam uma mentalidade japonesa: Pattern Recognition (Reconhecimento de Padrão).
Porém, Casement destaca, com extrema argúcia, uma questão ex tremamente significativa, ligada às novas tecnologias e que encontraecologia” adequada à E, Riggs etal(1979):“(..)No Japão, WA denota harmonia. O fundamento do WA está numa na tural filosofia cultural. Está evi dentemente nas relações entre govemo-indústria e empregadorempregado. Ajuda a explicar a maneira dos gerentes japoneses tomarem decisões e como a força de trabalho funciona (..)”.
Note-se que as tecnologias de Reconhecimento de Padrão estão processo de difusão na robotica, fac-símiles, processadores que re conhecem a viz humana, reconhecimento de imagem. em novos sensores etc.
Em publicação recente, Mansfield (1988) ao correlacionar a velocidade e custo da inovação in dustrial entre os EUA e Japão, con firma” (..) o fato que a vantagem japonesa tende a se limitar a inova ções baseadas em tecnologia exter na sugere que é nessa área que muitos problemas centrais repousam (..)”. Claro, enfatiza o borrow and improve do Japão. Mas, em nossa leitura, passa ao largo da importan tíssima constatação de Casement. muitos autores com Yamamoto
Será que WA, lÊ, Bushidô etc. dos ronins de um Akira Kurosawa ou de Tsugomu, personagem de Harakiri, filme de Masaki Kobayashi têm alguma correlação com os desses autores? Cremos que não. Note-se em Kurosawa, a presença do Humanismo e de sua mensagem universal. Muitos de seus filmes são adaptações ou lei turas de Shakespeare, Dostoievsky, Tolstoi etc. Provavelmente esta seja a raiz de o cineasta ser considerado um ‘ocidentalizado’ no Japão. Conclusão
Procurou-se neste estudo apresentar considerações sobre o Oriente e em particular, o Japão. A questão cultural, a influência do Confucionismo, Budismo, Xintoísmo no caráter idiossincrático como perspectiva para a compreen são do boom japonês vem adqui rindo crescente interesse e hteratura. Principalmente é grande a ex pectativa dos Engenheiros de Pro dução, Administradores, Pesquisa dores do processo de desenvolvi mento científico e tecnológico etc e é nosso campo de interesse. Para o Brasil, evidentemente, é importante termos um instru mental de análise, já que o pais das cerejeiras e dos robôs é uma potên cia econômica rumo à sociedade pós-industrial. Seu estudo é funda mental para permitir uma contextualização do nosso pais numa nova ordem mundial onde o Japão terá um papel central.
Considerando-se que no Ori ente o indivíduo é subsumido pelo grupo (e que sociedades como a do Japão são pré-socráticas..) verifique-se que — no campo da engenharia de produção—o estu do do processo decisório no Japão (Ringui), 0 sentimento de se viver uma ‘vida que vale apena’ (Ikigai), o espírito japonês (Yamato Damashi, Bushidô), a harmonia (WA) etc devem ser fundamenta das no contexto específico onde o Humanismo — como verificado no Ocidente — não se infiltrou profundamente nas camadas da sociedade e não influenciou decisivamente a mentalidade do povo.
E, como diz Peter Drucker, a gerência articula as tradições, va lores, crenças e heranças...
Apêndice
‘(..) A cultura é o mundo dos símbolos, das imagens e dos sentidos originários. São estes sím-.
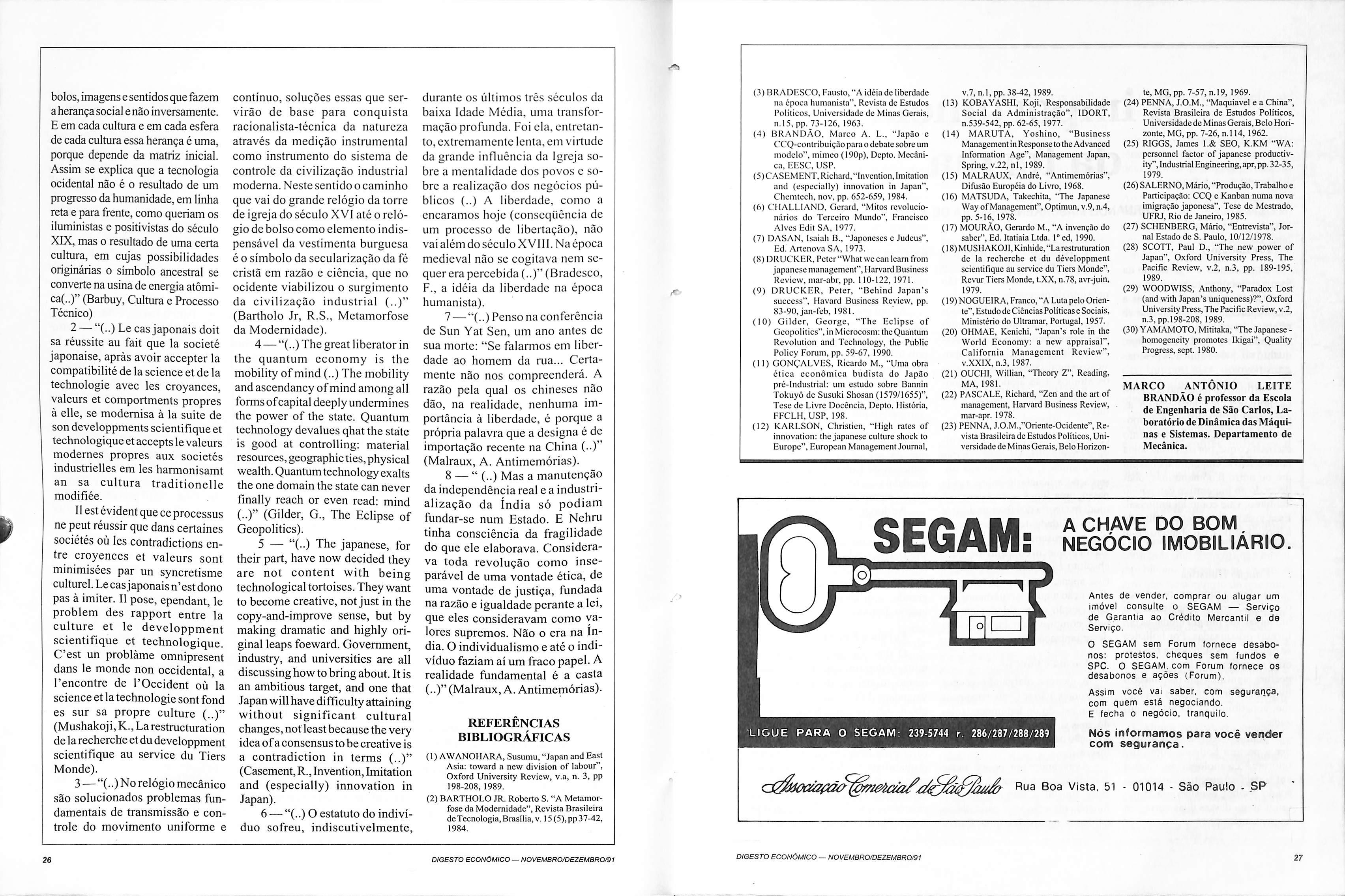
bolos, imagens e sentidos que fazem contínuo, soluções essas que scra herança social e não inversameníe. virão de base para conquista E em cada cultura e em cada esfera racionalista-técnica da natureza de cada cultura essa herança é uma, através da medição inslrumental porque depende da matriz inicial, como instrumento do sistema de Assim se explica que a tecnologia controle da civilização industrial ocidental não é o resultado de um moderna. Neste sentido o caminho
que vai do grande relógio da torre de igreja do século XVI até o reló gio de bolso como elemento indis-
progresso da humanidade, em linha reta e para frente, como queriam os iluministas e positivistas do século XIX, mas o resultado de uma certa pcnsável da vestimenta burguesa cultura, em cujas possibilidades originárias o símbolo ancestral
é o símbolo da sccularização da fé cristã em razão e ciência, que no ocidente viabilizou o surgimento se converte na usina de energia atômica(..)” (Barbuy, Cultura e Processo da civilização industrial (..)” Técnico) humanista). (Bartholo Jr, R.S., Metamorfose 2 — “(●●) Le cas japonais doit da Modernidade), sa réussite au fait que la societé japonaise, apràs avoir accepter la compatibilité de la Science et de la mobility of mind (..) The mobility technologie avec les croyances, andascendancyofmind amongali valeurs et comportments propres formsofcapitaldeeplyundermincs à elle, se modemisa à la suite de the power of the statc. Quantum son developpments scientifique et technology devalues qhat the State technologiqueetacceptslevaleurs is good at controlling; material modemes propres aux societés industrielles em les harmonisamt
resources, geographic ties, phy sical wealth. Quantum technology exalts sa cultura traditionelle the one domain the State can an never finally reach or even read: mind ílestévidentqueceprocessus (..)” (Gilder, G., The Eclipse of ne peut réussir que dans certaines Geopolitics). sociétés oü les contradictions en- 5 — “(..) The japanese, for tre croyences et valeurs sont their part, have now decided they minimisées par un syncretisme are not content with being culturel.Lecasjaponaisn’estdono technologicaltortoises.They want pas à imiter. II pose, ependant, le problem des rapport entre la modifiée. to become Creative, not just in the copy-and-improve sense, but by culture et le developpment making dramatic and highly ori- scientifique et technologique. ginal leaps foeward. Government, C est un problàme omnipresent industry, and universities are all dans le monde non Occidental, a discussinghowtobringabout. Itis 1 encontre de FOceident oú la an ambitious target, and one that Science et la technologie sont fond Japan will have difficulty attaining es sur sa propre culture (..)” without significant cultural (Mushakoji, K., La restrueturation changes, not least because the very de la recherche et du developpment idea of a consensus to be Creative is scientifique au Service du Tiers
durante os últimos três séculos da baixa Idade Média, uma transfor¬ mação profunda. Foi cia. cntrclanlo.cxtrcmamcntc lenta, cm virtude da grande influência da Igreja so bre a mentalidade dos povos e so bre a realização dos negócios pú blicos (..) A liberdade, como a encaramos hoje (conseqüência de um processo de libertação), não vai além do século XVI11. Na época medieval não .se cogitava nem se quer era percebida (..)" (Bradcsco, F., a idéia da liberdade na época
“(●●) Penso na conferência de Sun Yat Sen, um ano antes de sua morte: “Se falarmos cm libcr-
7 (..) The great liberator in the quantum economy is the 4 u dade ao homem da rua... Certamente não nos compreenderá. A razão pela qual os chineses não dão, na realidade, nenhuma im portância à liberdade, é porque própria palavra que a designa é de importação recente na China (..)” (Malraux, A. Antimemórias).
8 — “ (..) Mas a manutenção da independência real e a industri alização da índia só podiam fundar-se num Estado. E Nehru tinha consciência da fragilidade do que ele elaborava. Considera va toda revolução como inse parável de uma vontade ética, de uma vontade de justiça, fundada na razão e igualdade perante a lei, que eles consideravam como va lores supremos. Não o era na ín dia. O individualismo e até o indi víduo faziam aí um fraco papel. A realidade fundamental é a casta (..)” (Malraux, A. Antimemórias). a
a contradiction in terms (..) (Casement, R., Invention, Imitation and (especially) innovation in
(..) No relógio mecânico são solucionados problemas fun- Japan). damentais de transmissão e con3 6 — “(..) O estatuto do indivítrole do movimento uniforme e duo sofreu, indiscutivelmente,
(1) AWANOHARA, Susumu, “Japan and East Asia: toward a new division of labour”, Oxford University Review, v.a, n. 3, pp 198-208, 1989.
(2) BARTHOLO JR. Roberto S. “A Metamor fose da Modernidade”, Revista Brasileira deTecnologia, Brasília, V. 15(5),pp37-42, 1984. Monde).
(3) BRADHSCO. Fausto. “A idéia de liberdade na época humanista". Revista de Estudos Políticos. Universidade de Minas Gerais, n.l5.pp. 73-126. 1963.
(4) BRANDÃO. Marco A. L.. "Japão c CC‘0-contribuiçãopara o debate sobre iiin modelo”, mimeo (190p). Depto. Mecâni ca. EESC. USP.
(5)CASI:MiíNT.Richard,”lnvenlion.Imitation and (especially) innovation in Japan”, Chcmlecli. nov. pp, 652-659. 19S4.
(6) CllALLIAND. Gerard. “Mitos revolucio nários do Terceiro Mundo”. Francisco Alves EditSA. 1977.
(7) DASAN. Isaiah B.. “Japoneses c Judeus”. I£d. Artenova SA. 1973.
(S) DRUCKER. Petor"What\vecan leam from japane.se management”, larvard Business Review, mar-abr. pp. 110-122. 1971.
(9) DRUCKER. Peter. “Behind Japan's success". llavard Business Review, pp. 83-90. jan-feb, 1981.
(10) Gilder, George, "The Eclipse of Geopolitics”, in Microcosm; the Quantum Revolution and Technology, the Public Policy Fonim, pp. 59-67. 1990.
(11) GONÇALVES, Ricardo M., “Uma obra ética econômica budista do Japão pré-lndustrial: um estudo sobre Bannin Tokuyò de Susuki Sliosan (1579/1655)”, Tese de Livre Docência, Depto. História. FFCLH, USP. 198.
(12) KARLSON, Christicn, “High rates of innovation: the japanese culture shock to Europe”. European Management Journal.
v.7,n.l.pp. 38^2, 1989.
(13) KOBAYASHl. Koji, Responsabilidade Social da Administração”, IDORT, n.539-542, pp. 62-65, 1977.
(14) MARUTA. Yoshino,
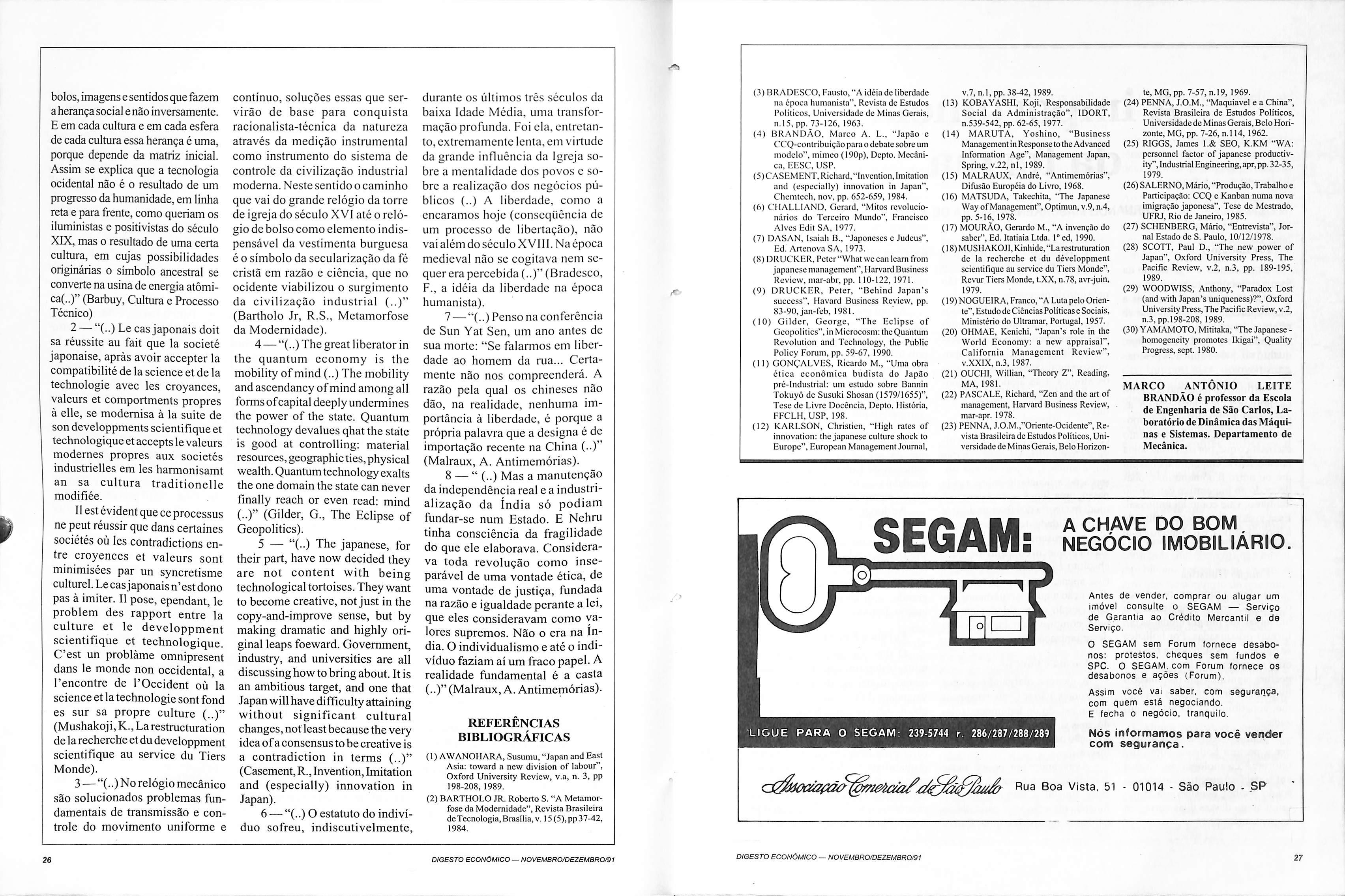
te, MG.pp. 7-57, n.l9, 1969.
(24) PENNA, J.O.M., “Maquiavel e a China”, Revista Brasileira de Estudos Políticos, Universidade de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG, pp. 7-26, n.l 14. 1962. Management in Response to the Advanced (25) RIGGS, James 1.& SEO, K.KM “WA: Information Age”, Management Japan, Spring, V.22, nl, 1989.
Business
(15) MALRAUX, André, “Antimemórias”. Difusão Européia do Livro, 1968.
(16) MATSUDA, Takcchila, “The Japanese Way of Management”, Optimun, v.9, n.4, pp.5-16, 1978.
(17) MOURÃO, Gerardo M., “A invenção do saber”. Ed. Itatiaia Ltda. Tcd, 1990.
(18)MUSllAKOJI.Kinhide,“La restnituration de Ia recherche et du développnient scicntifique au service du Tiers Monde”, RevurTiers Monde, t.XX, n.78, avr-Juin, 1979.
(19) NOGUEIRA, Franco, “A Luta pelo Orien te”, Estudo de Ciências Políticas e Sociais, Ministério do Ultramar, Portugal, 1957.
(20) OHMAE, Kenichi, “Japan's role in the World Economy: a new appraisal”, Califórnia Management Review", v.XX!X,n.3, 1987.
(21) OUCHI, Willian. “Tlieory Z”, Rcading. MA, 1981.
(22) PASCALE, Richard, “Zen and the art of management, Har\'ard Business Review, mar-apr. 1978.
(23) PENNA, J.O.M.,”Oriente-Ocidcnte”, Re vista Brasileira de Estudos Políticos. Uni versidade de Minas Gerais, Belo Horizon-
personnel factor of japanese produetivity”, Industrial Engineering, apr. pp. 32-35, 1979.
(26) SALERNO, Mário, “Produção, Trabalho e Participação: CCQ e Kanban numa nova imigração japonesa”, Tese de Mestrado. UFRJ, Rio de Janeiro, 1985.
(27) SCHENBERG, Mário, “Entrevista”, Jor nal Estado de S. Paulo, 10/12/1978.
(28) SCOTT, Paul D., “The new power of Japan”. Oxford University Press, The Pacific Review, v.2, n.3, pp. 189-195, 1989.
(29) WOODWISS, Anthony, “Paradox Lost (and with Japan’s uniqueness)?”, Oxford U niversity Press, The Pacific Review, v.2, n.3.pp.l98-208, 1989.
(30) YAMAMOTO, Mititaka, “The Japanesehomogeneity promotes Ikigai”, Quality Progress, sept. 1980.
MARCO ANTONIO LEITE BRANDÃO é professor da Escola de Engenharia de Sâo Carlos, La boratório de Dinâmica das Máqui nas e Sistemas. Departamento de Mecânica.
Anies de vender, comprar ou alugar um i,móvel consulte o SEGAM — Serviço de Garantia ao Crédito Mercantil e de Serviço.
O SEGAM sem Forum fornece desabonos: protestos, cheques sem fundos e SPC. O SEGAM, com Forum fornece os desabonos e ações (Forum).
Assim você vai saber, com segurança, com quem está negociando.
E fecha 0 negócio, tranquilo.
Nós informamos para você vender com segurança.
Preâmbulo
FERNANDO MASCARENHAS SILVA DE ASSIS
Examinando o significado da forma, inicialmente sob o prisma generalista, é possível verificar sua importância, tanto no que se refere às coisas, mas também, como examinado ao final deste artigo, quanto no que se aplica às pessoas e aos povos.
Um diálogo não ocorre ao aca so e, malgrado as assertivas do materialismo, o acaso anda tão próximo da necessidade que suge re a existência de um catalisador donde se infere que, para todas as coisas, a forma c uma consequên cia da função cumprida pelas suas unidades. a
Assim como a função induz a onipresente, impondo uma orde- forma, cs.sa forma sc constitui cm nação universal, como se houves- princípio diretivo da existência, se uma lei primeira, ou predispo- pois tudo o que existe tem forma, c sição natural, condicionando todos esta, como um espelho da função os átomos a se associarem con- obedecida, mostra também a nova função à qual uma coisa sc submete. Neste ponto, a ciência moderna forme modelos definidos pela na tureza.
Partindo do moderno conceito de holística, e considerando as perspectivas científicas pós-modemas, ressurge o pensamento escolástico que, por sua cosmologia latente, não se enquadra apenas um ou outro fenômeno mas, obe decendo ao imperativo categórico kantiano, vale como lei universal. Essa visão pós-modema, aplicada à forma política, é o objetivo deste t; texto.
Função Holística
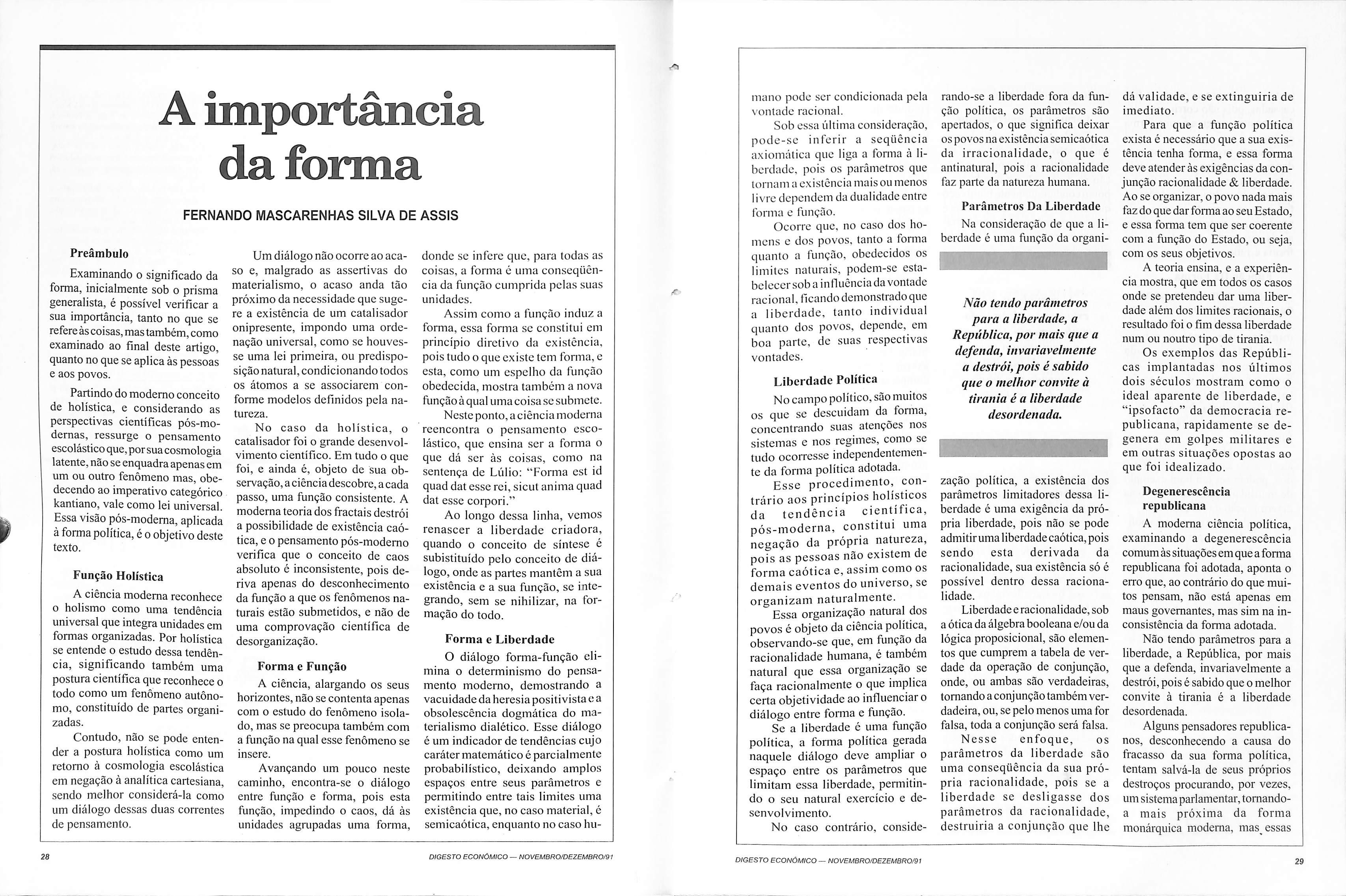
No caso da holística, o catalisador foi o grande desenvol vimento científico. Em tudo o que foi, e ainda é, objeto de sua ob-
rcencontra o pensamento cscolástico, que ensina ser a forma o que dá ser às coisas, como na sentença de Lúlio: “Forma est id servação, a ciência descobre, a cada quad dat esse rei, sicuí anima quad passo, uma função consistente. A dat esse corpori ” moderna teoria dos fractais destrói a possibilidade de existência caóem
Ao longo dessa linha, vemos renascer a liberdade criadora, tica, e 0 pensamento pós-modemo quando o conceito de síntese é verifica que o conceito de absoluto é inconsistente, pois de riva apenas do desconhecimento da função a que os fenômenos na turais estão submetidos, e não de subistituído pelo conceito de diá logo, onde as partes mantêm a sua existência e a sua função, sc inte grando, sem se nihilizar, na for mação do todo. caos
A ciência moderna reconhece o holismo como uma tendência universal que integra unidades formas organizadas. Por holística se entende o estudo dessa tendên cia, significando também postura científica que reconhece todo como um fenômeno autôno mo, constituído de partes organi zadas. em uma comprovação científica de desorganização.
Forma e Função uma 0
Contudo, não se pode enten der a postura holística como retorno à cosmologia escolástica em negação à analítica cartesiana, sendo melhor considerá-la como
um insere.
Forma e Liberdade
O diálogo fomia-função eli mina 0 detenninismo do pensa-
A ciência, alargando os seus mento moderno, demostrando a horizontes, não se contenta apenas vacuidade da heresia positivista e a com o estudo do fenômeno isola- obsolescência dogmática do mado, mas se preocupa também com terialismo dialético. Esse diálogo a função na qual esse fenômeno se é um indicador de tendências cujo caráter matemático é parcialmente
Avançando um pouco neste probabilístico, deixando amplos caminho, encontra-se o diálogo espaços entre seus parâmetros e entre função e forma, pois esta permitindo entre tais limites uma um diálogo dessas duas correntes função, impedindo o caos, dá às existência que, no caso material, é de pensamento. unidades agrupadas uma forma, semicaótica, enquanto no caso hu-
mano pode ser condicionada pela vonlade racional.
Sob essa última consideração, pode-se inferir a scqüência axiomálica que liga a forma à li berdade. pois os parâmetros que tornam a existência mais ou menos 1 vre dependem da dualidade entre forma e função.
Ocorre que. no caso dos ho mens c dos povos, tanto a torma quanto a função, obedecidos os limites naturais, podem-se esta belecer sob a influencia da vontade ional, ficando demonstrado que liberdade, tanto individual quanto dos povos, depende, em boa parte, de suas respectivas vontades.
Liberdade Política
No campo político, são muitos descuidam da forma. os que se concentrando suas atenções nos sistemas e nos regimes, como se tudo ocorresse independentemen te da forma política adotada.
rando-se a liberdade fora da fun ção política, os parâmetros são apertados, o que significa deixar os povos na existência semicaótica da irracionalidade, o que é aníinatural. pois a racionalidade faz parte da natureza humana.
Parâmetros Da Liberdade
Na consideração de que a li berdade é uma função da organi-
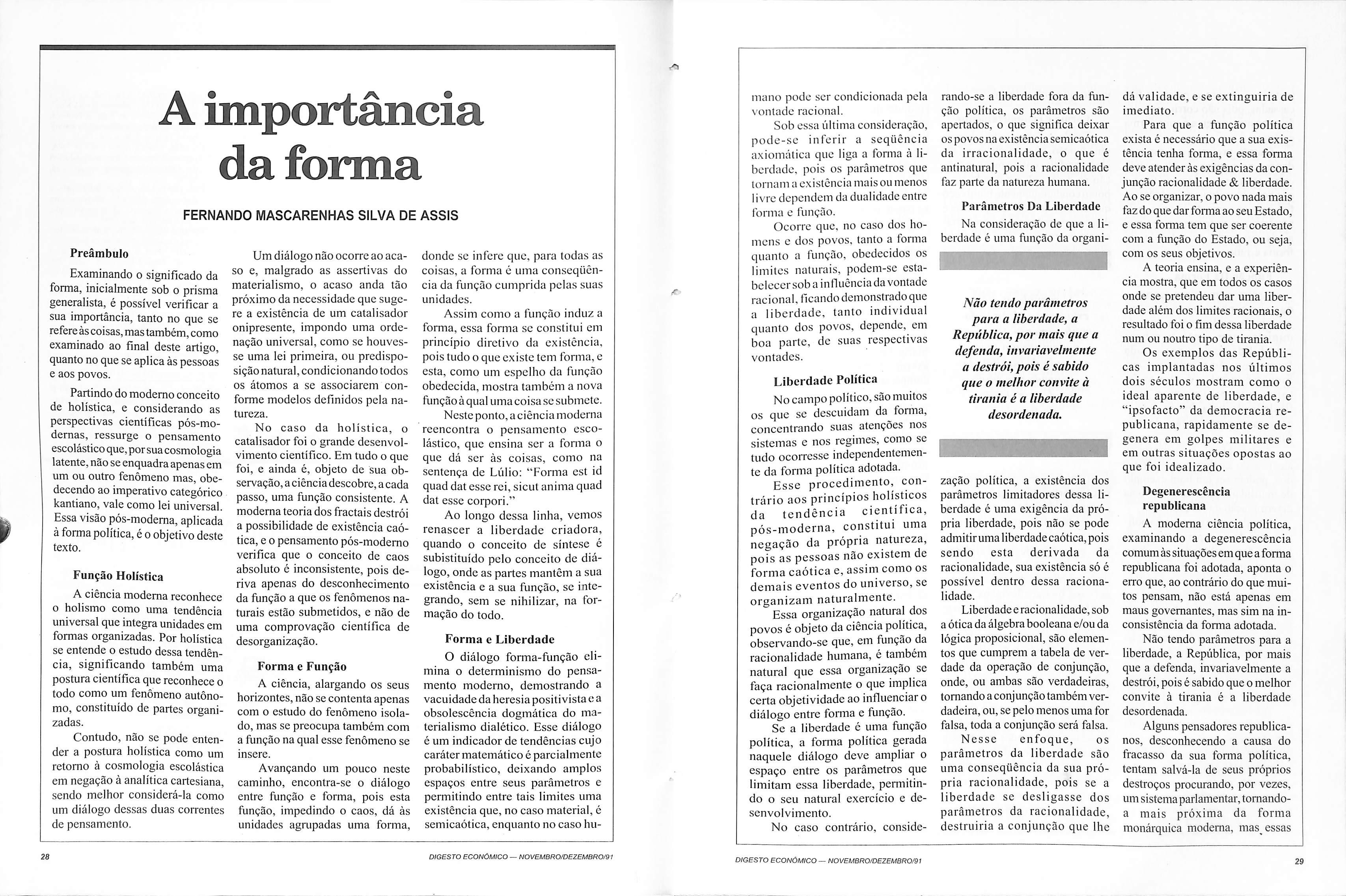
Não tendo parâmetros para a liberdade, a República, por mais que a defenda, invariavelmente a destrói, pois é sabido que o melhor convite à tirania é a liberdade desordenada.
Esse procedimento, con trário aos princípios holísticos científica, L.
da tendência pós-moderna, constitui uma negação da própria natuieza, pois as pessoas não existem de forma caótica e, assim como os demais eventos do universo, se naturalmente. organizam
Essa organização natural dos povos é objeto da ciência política, observando-se que, em função da racionalidade humana, é também natural que essa organização se faça racionalmente o que implica certa objetividade ao influenciar o diálogo entre forma e função.
Se a liberdade é uma função política, a forma política gerada naquele diálogo deve ampliar espaço entre os parâmetros que limitam essa liberdade, permitin do o seu natural exercício e de-
senvolvimento.
zação política, a existência dos parâmetros limitadores dessa li berdade é uma exigência da pró pria liberdade, pois não se pode admitir uma liberdade caótica, pois sendo esta derivada da racionalidade, sua existência só é possível dentro dessa raciona lidade.
dá validade, e se extinguiria de imediato.
Para que a função política exista é necessário que a sua exis tência tenha forma, e essa fonna deve atender às exigências da con junção racionalidade & liberdade. Ao se organizar, o povo nada mais faz do que dar fonna ao seu Estado, e essa fonna tem que ser coerente com a função do Estado, ou seja, com os seus objetivos.
A teoria ensina, e a experiên cia mostra, que em todos os casos onde se pretendeu dar uma liber dade além dos limites racionais, o resultado foi o fim dessa liberdade num ou noutro tipo de tirania.
Os exemplos das Repúbli cas implantadas nos últimos dois séculos mostram como o ideal aparente de liberdade, e “ipsofacto” da democracia re publicana, rapidamente se de genera em golpes militares e em outras situações opostas ao que foi idealizado.
A moderna ciência política, examinando a degenerescência comum às situações em que a fonna republicana foi adotada, aponta o erro que, ao contrário do que mui tos pensam, não está apenas em maus governantes, mas sim na in consistência da fonna adotada.
Não tendo parâmetros para a liberdade, a República, por mais que a defenda, invariavelmente a destrói, pois é sabido que o melhor convite à tirania é a liberdade desordenada.
No caso contrário, considea
Liberdade e racionalidade, sob a ótica da álgebra booleana e/ou da lógica proposicional, são elemen tos que cumprem a tabela de ver dade da operação de conjunção, onde, ou ambas são verdadeiras, tomando a conjunção também ver dadeira, ou, se pelo menos uma for falsa, toda a conjunção será falsa. Nesse parâmetros da liberdade são uma consequência da sua pró pria racionalidade, pois se a liberdade se desligasse dos parâmetros da racionalidade, destruiría a conjunção que lhe enfoque. os 0
Alguns pensadores republica nos, desconhecendo a causa do fracasso da sua fonna política, tentam salvá-la de seus próprios destroços procurando, por vezes, um sistema parlamentar, tornandomais próxima da forma monárquica moderna, mas^ essas
modo que sob o Império”.
Forma e comportamento
Tendo a forma que cumprir Outros preferem adotar mu- uma função, quando existe um didanças no regime, se alternando álogo perfeito entre ambas, a funentre os excessos democráticos e as aberrações ditatoriais. Idêntico fracasso os acomete sempre, pois não leva a bom termo um regime, ainda que certo, se aplicado em forma errada.
Assim como uma empresa que não conhece a sua funçãoou missão no linguajar dos ad ministradores - não tem boas possibilidades de sucesso, toda forma que não se adapta à sua função é inútil, e dentre os fa tores que provocam a inu tilidade de uma forma está erro na determinação de função.

yi tentativas sempre se mostram fra cassadas, pois não corrigem o de feito básico inerente a uma forma errônea.
É inconteste a perda dc se riedade que afeta o povo, não apenas em política, mas tam bém nos negócios c nos costu mes, quando se passa da forma disfor-
monarquica para midade republicana.
Em sentido contrário, quando se passa da República para a Mo narquia, observa-se o renascer da seriedade, da respeitabilidade nos negócios e da probidez nos costua ção se desenvolve naturalmente, poiso condicionamentobiunívoco que as une, no caso das pessoas e dos povos, induz a um comporta mento coerente.
mes.
As repúblicas, por estarem ao alcance do conhecimento de todos, podem ser um bom exemplo de inutilidade causada por erro na determinação da função. 0 sua
As repúblicas, por estarem alcance do conhecimento de to dos, podem ser um bom exemplo de inutilidade causada por determinação da função.
erro na a sua reo
Criada como uma forma polí tica, era de se esperar que função fosse a liberdade e o bem comum, mas não é, e nunca foi. Seus idealizadores, preocupados com o estabelecimento de um gime democrático, confundiram regime com a forma, e colocaram a democracia, que é uma função do regime, como a função da for ma política e, nesse engano, foi gerada uma forma inútil e perigosa para a liberdade e o bem comum.
As conseqüências desse erro são bem conhecidas e por demais sofridas pelo povo, gerando mani festações de desencanto nos vári os campos onde o cidadão pode, 011 ainda pode, se exprimir, como na conhecida sentença do romancista Stendhal: “Não se ama em República do mesmo
É fácil observar que as pessoas se comportam diferentemente em ambientes distintos e, muitas ve zes, se transfiguram sob as pres sões ambientais, sendo quotidia nos os casos dessas variações comportamentais, quando uma pessoa é observada, por exemplo, em casa, no trabalho ou na Igreja.
Idêntico fenômeno ocorre quando se altera a forma política, pois esta passa a fazer parte do ambiente, provocando alterações que, se inicialmente seriam espe radas apenas no meio, rapidamen te se propagam, influenciando o “modus vivendi” de todos.
As transformações compor tamentais observadas no Brasil, logo após o golpe militar de 1889, mostram a influência da forma política no modo de ser dos cida dãos que, conforme dito na época, “todos pegam o micróbio da pân dega.”
A Espanha, que passou da Monarquia à República e, recente mente, voltou à forma monárquica, é um bom campo de observação dessas tendências. A pena de José Maria Pemán, escritor espanhol, assim descreve a mudança comportamental ocorrida, tão logo a Monarquia foi substituída pela República:
“Que voz oculta foi a que, na Espanha, em 14 de abril de 1931, disse às prostitutas e aos maus estudantes que podiam sair para a rua, abraçados de modos provo cantes e dando gritos de júbilo, como se a sua hora tivesse chega do? Que fino instinto secreto foi o que, naquele dia, deu a entender à turba que podia pisar os canteiros da Moncloa e podia circular con tra as indicações das luzes ver melhas e verdes que regulavam o trânsito? Porventura se tinha pro mulgado nova legislação que permitisse todas essas coisas? Não. A razão era simples: o Rei tinha partido.”
Restaurada a Monarquia na Espanha, sob o Rei Juan Carlos, pode-se ver nas ruas de Madri, de Barcelona, e mesmo nas cidades menores, o fenômeno inverso. Os mais jovens se levantam e cedem suas cadeiras para os mais velhos, as moças e senhoras são tratadas com deferência, e parece haver mais amor e respeito entre os ca sais, como a confirmar a citada
sonlonça dc Stcndhal.
Definindo cultura como a parle do ambiente feita pelo homem, e levando essa defini ção ao campo comportamenlal, encontra-se uma definição cspeciUca. onde a cultura é tida como a parte aprendida do com portamento.
Considerando que a forma política tende a influenciar o comportamento das pessoas, por indução direta, verifica-se esta forma pode exercer ssões sobre a cultura de um
Tentaram substituir os heróis e os símbolos nacionais, mas nada conseguiram.
Procuraram em vão um novo herói para a Independên cia, mas a cultura popular já havia consagrado Tiradentes e D. Pedro I; tentaram substituir Osório e Tamandaré, legítimos heróis da guerra do Paraguai, pelo marechal Deodoro, mas o
gue alcançar o imaginário ou a alma dos brasileiros. Um bom exemplo do desinteresse do povo pela forma republicana foi 0 centenário do golpe militar que a implantou. Numa Terra em que aniversários, bodas, cinquentenários e outras datas são comemoradas com entusi asmo, 0 centenário da Repúbli ca passou em branco, como em branco passam os fatos desti nados ao esquecimento... que pre; povo.
Ocorre que os fenômenos culturais contem uma caracte rística estática de grande peso, e essa característica, malgrado de extremis- algumas reações mos geiros, é o que dá aos povos a tabilidade necessária ao convívio produtivo entre as comportamentais passaes -rvr pessoas.
Uma brusca mudança na forpolítica, quando não é uma exigência cultural, nao consegue valores culturais de caso de sua imposi-
ma se impor aos um povo, e no “manu-militari”, mvanavel- ção mente leva o povo a uma desagre gação cultural. O exemplo brasileiro é República,

na-
Niif/i contexto global, o uso da invenção em qualquer lugar do mundo, juntamente com o acesso ao produto resultante, constituem a atividade econômica exigida.
Epílogo
Dentre os fatos relaciona dos à forma, a liberdade tem uma ênfase especial, e tal ên fase deve-se unicamente à racionalidade de sua existência, pois a liberdade só existe no campo da razão, e além dos limites desse campo a sua exis tência seria próxima do caos. Contudo, a razão é uma ca racterística própria do homem, o que lhe confere o direito de ser livre, e demonstra o caráter antinatural e anticientífico de qualquer proposta que confira à liberdade limites outros que não os da racionalidade hu mana.
Essa mesma racionalidade que, se exercitada e aplicada, consegue influenciar a forma política à qual um povo se submete, mostra a inconveni ência e a inconsistência das Repúblicas e indica a necessi dade de substituir a forma re publicana, e passar àquela em que a liberdade seja realmente exercitada sob o império da razão. revelador, pois imposta por um golpe militar 1889, até hoje não consena cultura braa em guiu seu espaço sileira. Seu efeito tem sido apenas a corrosão da naciona lidade cultural do Brasil, facilmente observada nas artes e nos costumes, com o consequente esquecimento dos valores cionais e da própria história dessa terra.
O fracasso das tentativas republicanas de alcançar o imaginário político dos brasi leiros é um bom exemplo de divórcio entre forma e cultura.
golpista não foi aceito; busca ram uma figura para substituir 0 Duque de Caxias como sím bolo militar, mas a tentativa não ultrapassou a sala de des pachos do governo provisório; chegaram até a promover um concurso para substituir o Hino Nacional, e novamente fracas saram; trocaram a bandeira do Império por uma cópia do pa vilhão norte-americano, mas a bandeira da República não foi aceita, permanecendo o retân gulo verde dos Braganças e o losângulo amarelo-ouro dos Habsburgos. A falta de símbo los era tão grande que, para representar a República no papel-moeda, utilizaram o re trato de uma prostituta, cujo mérito era ser amante do mi nistro.
Desligada da cultura naci onal, a República não conse-
FERNANDO MASCARENHAS SIL VA DE ASSIS c engenheiro civil, professor titular dc Pesquisa Operacional, da Fumec, Fundação Mineira de Educação e Cultura, e diretor da Cetec, Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais
ARNOLDO WALD

E conhecida a frase de John Kennedy, na qual ensinava que, em vez de indagar o que o país pode fazer para cada um de nós, chegou a hora de perguntar o que podemos fazer pela nossa pátria. A lição do presidente dos Estados Unidos aplica-se tanto ao indiví duo, quanto às instituições e às áreas setoriais específicas. Justifica-se, pois, o tema deste ar-
crescimento da economia tem, como condição necessária, o au mento dos investimentos produti vos e 0 progresso social pressupõe a melhor di.stribuiçao da riqueza. Em ambos os aspectos, a expan são e o aprimoramento do mercado de capitais podem constituir ele mentos de renovação e moderni zação do País.
Na realidade, o Brasil tem, há mais de vinte anos, um importante mercado acionário, que hoje já se caracteriza pela sua sofisticação, tamanho
tigo, no momento em que o País exige uma mobilização nacional a curto, médio e longo prazo, para reformular a economia, fortalecer -as suas bases e reorientar seu e sua representatividade. O Codimee fez um recente levantamento de cerca de duas mil entidades ligadas funcionamento do mercado de pitais, utilizando diretamente quase trinta mil pessoas e tendo, em sua órbita, quase mil socieda des abertas, que geram mais de dois milhões de empregos diretos e de cujo capital participam quase cinco milhões de acionistas direa pou pança para evitar que, no futuro, possam ficar frustrados os esfor ços e os sacrifícios que estamos fazendo. ao ca-
É certo que o Brasil não pode continuar sendo um exportador de capitais, que investimentos im portantes devem ser realizados para modernizar o nosso parque industria] e que se impõe, urgente mente, a criação de oportunidades negociais suscetíveis de encami nhar recursos internos e externos para as empresas em fase de cres cimento. Assim sendo, o mercado acionário tem, atualmente, condi ções especiais de adquirir novas dimensões, mobilizando pança interna e o investimento ex terno e prestando, pois, relevante contribuição à economia nacional na sua luta pela criação de novas riquezas e pelo combate à inflação.
tem sido lento e relalivaniente pouco relevante cm relação às ne cessidades de recursos das empre sas brasileiras. De fato, as compa nhias abertas representam cerca de um terço do patrimônio das mil maiores empresas do País, o cres cimento do mercado, em virtude do ingresso de novas entidades, tem sido mínimo c o total das emissões anuais de novas ações nào Icm ultrapassado 2% ou 3% do valor da capitalização em Bol sa. Em 1988, chegou a haver um declínio no número de empresas abertas c grande parte das emis sões foram feitas cm debentures que, embora constituindo um títu lo útil e fecundo para o credito a longo prazo, não se enquadram no rol das participações acionárias e não criam um vínculo societário entre debenturista e a sociedade.
Por outro lado, os mercados de opções e de futuros chegaram sofrer certas distorções, deixando de exercer uma função comple mentar de garantia (hedging) em relação ao mercado a vista, p^^^ criar um clima de pura especula ção, sem qualquer vantagem p^' as empresas que abriram o seu capital e participam do mercado c ensejando, ao contrário, crises pe riódicas que são nefastas.
A excessiva concentração nas negociações faz também com que, na realidade, nem todas as quase mil sociedades abertas tenham a liquidez e a negociação que se
O choque e o congelamento sendo soluções a curto prazo, o de solidariedade 0 a tos e sete milhões de cotistas de fundos. O mercado de ações, abrangendo as empresas abertas, é responsável pela geração direta de 16% do PIB, por 22% das nos sas exportações e 20% dos im postos recolhidos. As pessoas vinculadas, direta ou indiretamente, pelo trabalho ou pelo in vestimento, ao mercado e seus dependentes econômicos repre sentam cerca de 10% da nossa população.
Por outro lado, o crescimento desse mercado, nos últimos anos, ■a a pou-
presume para empresas coladas em Bolsa ou transacionadas no mercado de balcào. Talvez seja mos um dos países de maior con centração nas operações em Bolsa considerando que. na última déca da (de 1978 a 1988). a grosso modo. Ires ações rcpresenlaram entre 30% e 40% do movimento, 5
ações concentraram entre 50% e 60% das negociações, 50 ações corresponderam a quase 80% c 100 ações alcançaram a ordem de 90% das operações cm Bolsa. Re centemente, uma única ação chenível de 30% do mercado.
gou ao Assim, cvidenlcmentc, podemos afirmar que o movimento normal nas Bolsas não abrange mais de cento c cinqücnta ou duzenlas ações, enquanto, no mercado de balcão, são poucas as ações movi mentadas de modo contínuo.
metade do nosso PIB, o que ainda constituiría um percentual inferi or ao existente nos Estados Uni dos, no Japao. no Reino Unido e, em Cingapura, aproximando-se da relaçao vigente em países como o Canadá e a Holanda. Feito de modo muito sumário o diagnóstico, que nào é novo, mas nào deixa de ser impressio nante, caberia examinar o que se
realidade, não deixa de ter uma ampla capacidade ociosa. A asso ciação das empresas de capital aberto (Abrasca) entende que cer ca de cinco mil empresas poderiam abrir o seu capital e a Bolsa de São Paulo calcula que, em prazo médio, mil novas sociedades esta riam em condições de utilizar a participação do público.

A primeira fase do mercado acionário se desenvolveu em virtude dos incentivos fiscais, que atualmente estão em fase de extinção ou de substancial redução.
A primeira fase do mercado acionário sc desenvolveu em vir tude dos incentivos fiscais, que Imcnte estão em fase de de substancial reduatua pode mudar rapidamente para que 0 mercado deixe de trabalhar cm circuito fechado, exclusiva ou predominantemente, no interesse dos especuladores, para vir a fa vorecer mais as empresas e os investidores. Trata-se de encon trar uma fórmula para que os re cursos da poupança sejam enca minhados para o mercado acionário produtivo, cm vez de serem mantidos em operações fi nanceiras de curto prazo.
Em primeiro lugar, o mercado pode simplificar o acesso de no vas empresas e tornar menos oneroso, para as sociedades de dimensões médias, o acesso à participação do público. A dimi nuição dos custos desburocratização da abertura do capital, assim como campanhas pedagógicas, podem permitir que, em pouco tempo, se dobre o atual conteúdo de um sistema que, na
extinção ou ção. O ano passado, um novo in grediente, que ensejou o cresci mento do movimento das Bolsas, foi a internacionalização liderada pelos fundos de captação, tanto de dinheiro novo, como de créditos convertidos em investi- externos mentos. Assim mesmo, no plano internacional, verificou-se ser o mercado relativamente nosso incipiente pelas suas dimensões. Efetivamente, se as mil maiores brasileiras fossem todas empresas abertas, a capitalização em Bolsa seria de mais de cem bilhões de dólares, em vez do cinqüenta bi lhões atuais. Sc, além desta modi ficação, o valor, negociado em Bolsas, das ações brasileiras fos se, na média, de 80% do seu valor patrimonial ou real, o mercado dobraria e alcançaria cerca de 200 a bilhões de dólares, passando a corresponder, a grosso modo, a
Uma mobilização das classes empresariais, das suas entidades, das associações comerciais e da sociedade civil, ensejaria certa mente alguns resultados positivos. Um esforço inicial foi feito no ano passado pela CVM, para institucionalizar o regime das em presas que recebem incentivos fiscais e das negociações do mer cado de balcão. Com estes novos instrumentos, um trabalho ade quado pode dar transparência e liquidez às operações realizadas em Bolsas com as ações de empre sas incentivadas, integrando-as plenamente no mercado de capi tais. O mesmo deve acontecer com as negociações do mercado de balcão, que. marginalizadas no passado, estão agora em condi ções de constituir um verdadeiro mercado, desempenhando no Brasil a missão cumprida, nos Estados Unidos, pela NASDAQ que é hoje a 3“ Bolsa do mundo, negociando 11 mil papéis e cons tituindo 0 primeiro degrau para a abertura de capital para as em presas tanto nacionais, como es trangeiras.
No Brasil, das quatro mil em presas incentivadas, algumas cen tenas podem ser amplamente ne gociadas em Bolsa e o mercado de balcão tem condições de assegu rar a realização de transações de ações de empresas cujo capital — em conjunto — ultrapasse dez bi lhões de dólares.
Essa revolução quantitativa há de ser completada pela
privatização, pela interiorização, uma reformulação quaniiialiva c pela venda de ações aos emprega- qualitativa do mercado acionário dos, pelo aumento do número de para avaliar e definir a contribuiações de empresas já negociadas ção que está em condições de dar em Bolsa, pela conversão — que à economia brasileira. Sobrepu se espera manter— epelacoloca- jando interesses de grupos e de çào de ações brasileiras no Exteri- instituições específicas, reor. Mesmo independentemente da formulando a sua estrutura c orrejeição da Medida Provisória n° ganização, utilizando a sua capa26, a União Federal, em virtude de cidade ociosa, melhorando a sua autorização legislativa já existen- imagem, aprimorando o seu funte, está em condições de privatizar meia centena de empresas, entre !■'' ●» T as quais figuram as do setor side rúrgico, algumas delas represen tando valores relevantes. A interiorização do mercado fará com que a ele tenha acesso uma população situada fora do eixo Rio-São Paulo, que hoje tem difi culdade de participar das empre sas abertas. A venda de ações empregados pulverizará a propri edade acionária criando uma ver-
A venda de ações a empregados pulverizará a propriedade acionária criando uma verdadeira
“ética da participação de grande alcance social. a
dadeira “ética da participação” de grande alcance social.
economia
Nas sociedades de mista nas quais o Poder Público cionamento, o mercado acionário tem mais do que a maioria absolu- pode, por um ato de vontade e um ta das ações ordinárias, as demais esforço conjunto de todas as easaçõespreferenciaispodemser classes interessadas, deixar de ser colocadas no mercado, especial- considerado como um dos mercamente quando se trata de empre- dos especulativos e transformar-se sas rentáveis e com boa tradição num instrumento hábil e flexível de distribuição de dividendos. A da democratização econômica do manutenção da conversão exclu- País. sivamente para transformar crédi tos em investimentos em empre sas abertas também poderia pandir o mercado, que tem crescer, inclusive mediante emis sões de ações de empresas brasi leiras de controle estrangeiro, que representam, hoje, tão-somente 3% do nosso mercado dem alcançar até 10% sem
mccanismos dc dedução das quantias subscritas em ações no vas. para llns de cálculo do impos to de renda da pessoa ílsica. Simullaneamenie. estabeleceu-se uma diferença tributária na alíquota do imposto na fonte no caso dc distribuição dos dividen dos.
Com o decorrer do lempo, os inccniivos ílscais foram desapa recendo c a vanlagem llseal se resumiu a uma diferença de tribu tação dc 2% na distribuição dos dividendos, que .se tornou um ele mento dc pouca valia para aumen tar o número de empresas abertas. Tendo plena consciência do pro blema, 0 ministro da Fazenda de terminou que, nos projetos dc re visão da legislação do imposto de renda, elaborados no fim do ano passado, fossem estabelecidas alíquotas diferenciadas para os lu cros das empresas fechadas, das sociedades abertas em geral c, em especial, para aquelas que contas sem com participação substancial de empregados no seu quadro acionário.
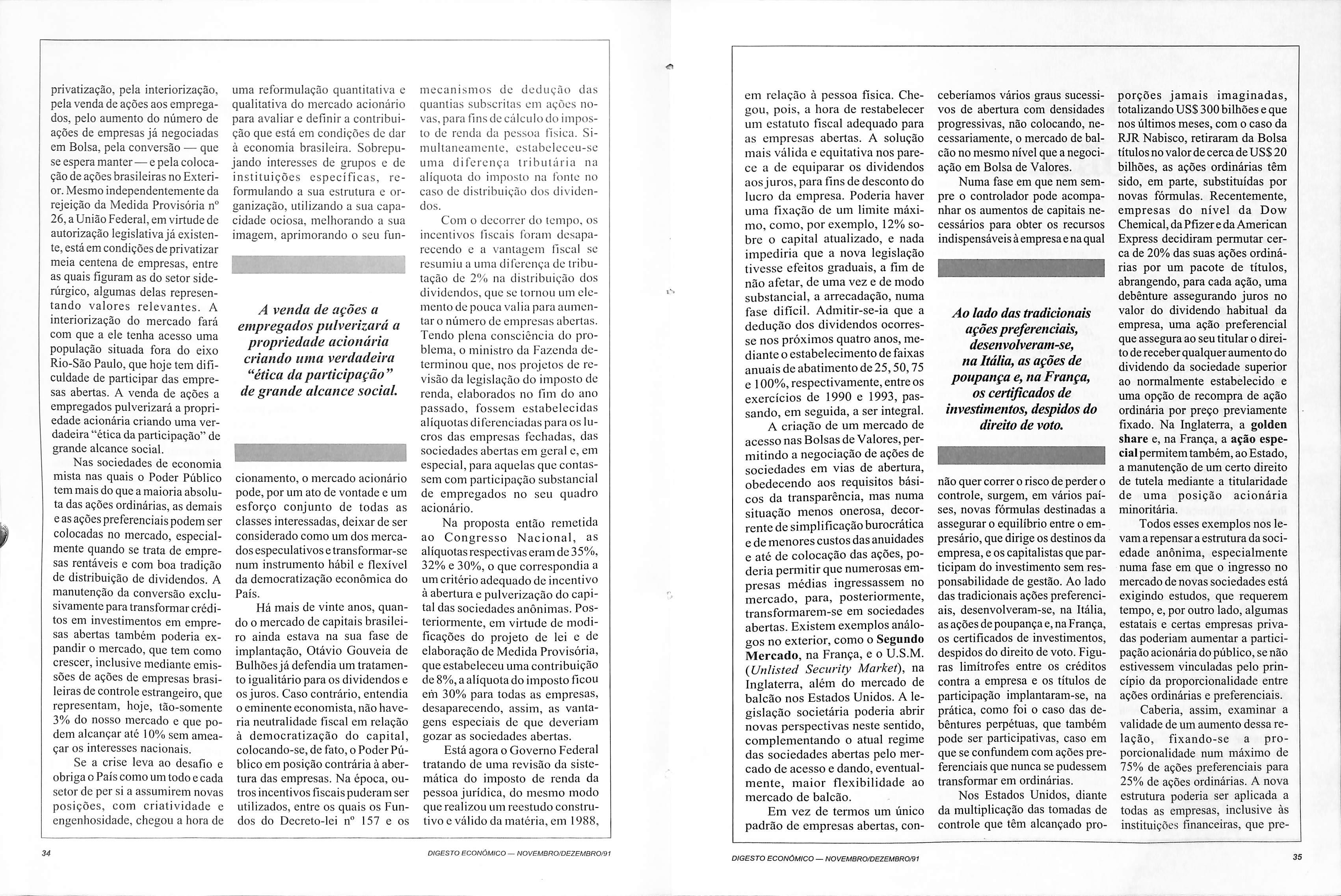
tura das empresas. Na época, ou tros incentivos fiscais puderam ser
Há mais de vinte anos, quan do 0 mercado de capitais brasileiex- ro ainda estava na sua fase de como implantação, Otávio Gouveia de Bulhões já defendia um tratamen to igualitário para os dividendos e os juros. Caso contrário, entendia o eminente economista, não havee que po- ria neutralidade fiscal em relação amea- à democratização do capital, colocando-se, de fato, o Poder PúSe a crise leva ao desafio e blico em posição contrária à aberobriga o País como um todo e cada setor de per si a assumirem novas posições, com criatividade e utilizados, entre os quais os Funengenhosidade, chegou a hora de dos do Decreto-lei n” 157 e os çar os interesses nacionais.
Na proposta então remetida ao Congresso Nacional, as alíquotas respectivas eram de 35%, 32% e 30%, 0 que correspondia a um critério adequado de incentivo à abertura e pulverização do capi tal das sociedades anônimas. Pos teriormente, em virtude de modi ficações do projeto de lei e de elaboração de Medida Provisória, que estabeleceu uma contribuição de 8%, a alíquota do imposto ficou em 30% para todas as empresas, desaparecendo, assim, as vanta gens especiais de que deveriam gozar as sociedades abertas.
Está agora o Govenio Federal tratando de uma revisão da siste mática do imposto de renda da pessoa jurídica, do mesmo modo que realizou um reestudo constru tivo e válido da matéria, em 1988,
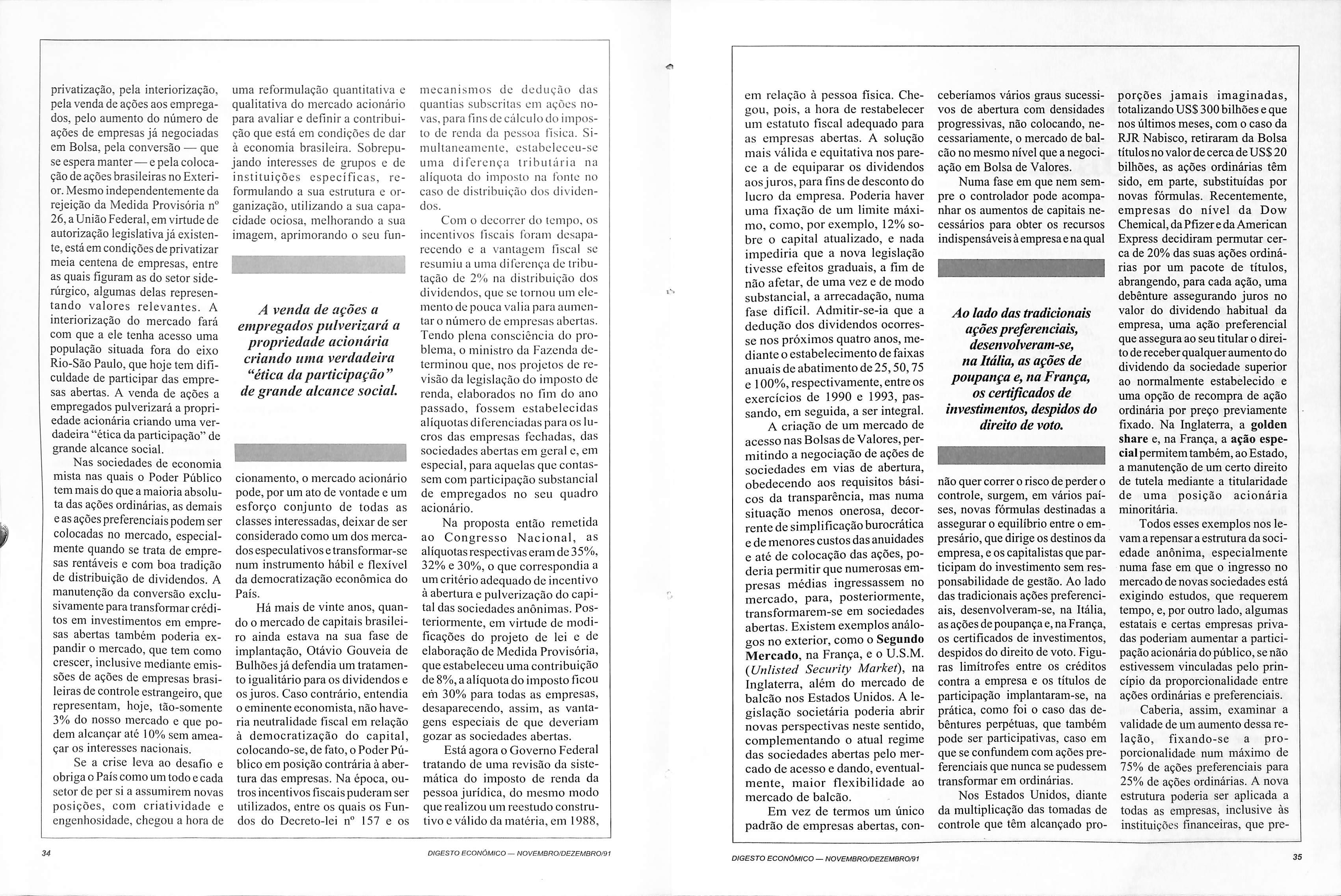
em relação à pessoa física. Che gou, pois, a hora de restabelecer um estatuto fiscal adequado para as empresas abertas. A solução mais válida e equitativa nos pare ce a de equiparar os dividendos aosjuros, para fins de desconto do lucro da empresa. Poderia haver uma fixação de um limite máxi mo, como, por exemplo, 12% so bre o capital atualizado, e nada impediría que a nova legislação tivesse efeitos graduais, a fim de não afetar, de uma vez e de modo substancial, a arrecadação, numa fase difícil. Admitir-se-ia que a dedução dos dividendos ocorres se nos próximos quatro anos, me diante o estabelecimento de faixas anuais de abatimento de 25,50,75 e 100%, respectivamente, entre os exercícios de 1990 e 1993, pas sando, em seguida, a ser integral. A criação de um mercado de acesso nas Bolsas de Valores, per mitindo a negociação de ações de sociedades em vias de abertura, obedecendo aos requisitos bási cos da transparência, mas situação menos onerosa, decor rente de simplificação burocrática e de menores custos das anuidades e até de colocação das ações, po dería permitir que numerosas em presas médias ingressassem mercado, para, posteriormente, transformarem-se em sociedades abertas. Existem exemplos análono exterior, como o Segundo
ceberíamos vários graus sucessi vos de abertura com densidades progressivas, não colocando, ne cessariamente, 0 mercado de bal cão no mesmo nível que a negoci ação em Bolsa de Valores.
Numa fase em que nem sem pre 0 controlador pode acompa nhar os aumentos de capitais ne cessários para obter os recursos indispensáveis à empresa e na qual
Ao lado das tradicionais ações preferenciais, desenvolveram-se, na Itália, as ações de poupança e, na França, os certificados de investimentos, despidos do direito de voto.
numa no gos
Mercado, na França, e o U.S.M. {Unlisted Securiíy Market), na Inglaterra, além do mercado de balcão nos Estados Unidos. A le gislação societária poderia abrir novas perspectivas neste sentido, complementando o atual regime das sociedades abertas pelo mer cado de acesso e dando, eventual mente, maior flexibilidade ao mercado de balcão.
Em vez de termos um único padrão de empresas abertas, con-
não quer correr o risco de perder o controle, surgem, em vários paí ses, novas fórmulas destinadas a assegurar o equilíbrio entre o em presário, que dirige os destinos da empresa, e os capitalistas que par ticipam do investimento sem res ponsabilidade de gestão. Ao lado das tradicionais ações preferenci ais, desenvolveram-se, na Itália, as ações de poupança e, na França, os certificados de investimentos, despidos do direito de voto. Figu ras limítrofes entre os créditos contra a empresa e os títulos de participação implantaram-se, na prática, como foi o caso das debêntures perpétuas, que também pode ser participativas, caso em que se confundem com ações pre ferenciais que nunca se pudessem transformar em ordinárias.
Nos Estados Unidos, diante da multiplicação das tomadas de controle que têm alcançado pro-
porções jamais imaginadas, totalizando US$ 300 bilhões e que nos últimos meses, com o caso da RJR Nabisco, retiraram da Bolsa títulos no valor de cerca deUS$20 bilhões, as ações ordinárias têm sido, em parte, substituídas por novas fórmulas. Recentemente, empresas do nível da Dow Chemical, da Pfizer e da American Express decidiram permutar cer ca de 20% das suas ações ordiná rias por um pacote de títulos, abrangendo, para cada ação, uma debênture assegurando juros no valor do dividendo habitual da empresa, uma ação preferencial que assegura ao seu titular o direi to de receber qualquer aumento do dividendo da sociedade superior ao normalmente estabelecido e uma opção de recompra de ação ordinária por preço previamente fixado. Na Inglaterra, a golden share e, na França, a ação espe cial permitem também, ao Estado, a manutenção de um certo direito de tutela mediante a titularidade de uma posição acionária minoritária.
Todos esses exemplos nos le vam a repensar a estrutura da soci edade anônima, especialmente numa fase em que o ingresso no mercado de novas sociedades está exigindo estudos, que requerem tempo, e, por outro lado, algumas estatais e certas empresas priva das poderíam aumentar a partici pação acionária do público, se não estivessem vinculadas pelo prin cípio da proporcionalidade entre ações ordinárias e preferenciais. Cabería, assim, examinar a validade de um aumento dessa re lação, fixando-se a pro porcionalidade num máximo de 75% de ações preferenciais para 25% de ações ordinárias. A nova estrutura poderia ser aplicada a todas as empresas, inclusive às instituições financeiras, que pre-
cisam ser fortemente capitaliza das, em virtude da recente criação dos bancos múltiplos, e em rela ção às quais só se admite, atual mente, que a metade das ações sejam preferenciais. Evidente mente, seria mantido, em relação às empresas financeiras, o princí pio de acordo com o qual 50% das ações deveríam ser nominativas, atendida, outrossim, aregulamentaçào específica do Banco Cen tral.
No tocante às empresas esta tais, não haveria, no caso, estatização do crédito, mas uma ampliação da base do mercado acionário. As sociedades de eco nomia mista gozam, há longo tempo, de situação ímpar no mer cado acionário brasileiro, sendo as mais negociadas nas Bolsas de Valores. O que se pretende é au mentar o número de papéis. Por outro lado, seria oportuno fortale cer a posição dos titulares de ações preferenciais, assegurando-lhes uma presença efetiva tanto no Conselho Fiscal, como no Conse lho de Administração, esta depen dendo de nova norma legal. Finalmente, em relação empresas estatais, obedecendo ao disposto no Decreto-lei n° 200 e à própria legislação societária, dever-se-ia garantir a autonomia administrativa, financeira e operacional das companhias, de tal modo que não fossem utiliza dos os seus recursos no interesse de terceiros em geral, nem mesmo no interesse do Poder Público. Sempre que houvesse necessida de de colaboração entre a empresa estatal e o Poder Público, far-se-ia, para tanto, um convênio, assegu rando-se às partes'as compensa ções, remunerações e indenizações devidas, a fim de não burlar normas orçamentárias e não lesar os direitos dos acionistas, restabcleccndo-se assim, plena-
mente, o status económico-financciro societário das empresas mistas, conforme, aliás, determi¬ na a própria Constituição (ari. 173 § r).
A atribuição exclusiva da conversão dc créditos externos em participações acionárias às socie dades abertas concluiria o rol das legítimas reivindicações do mer cado. Efetivamente, sendo a con-
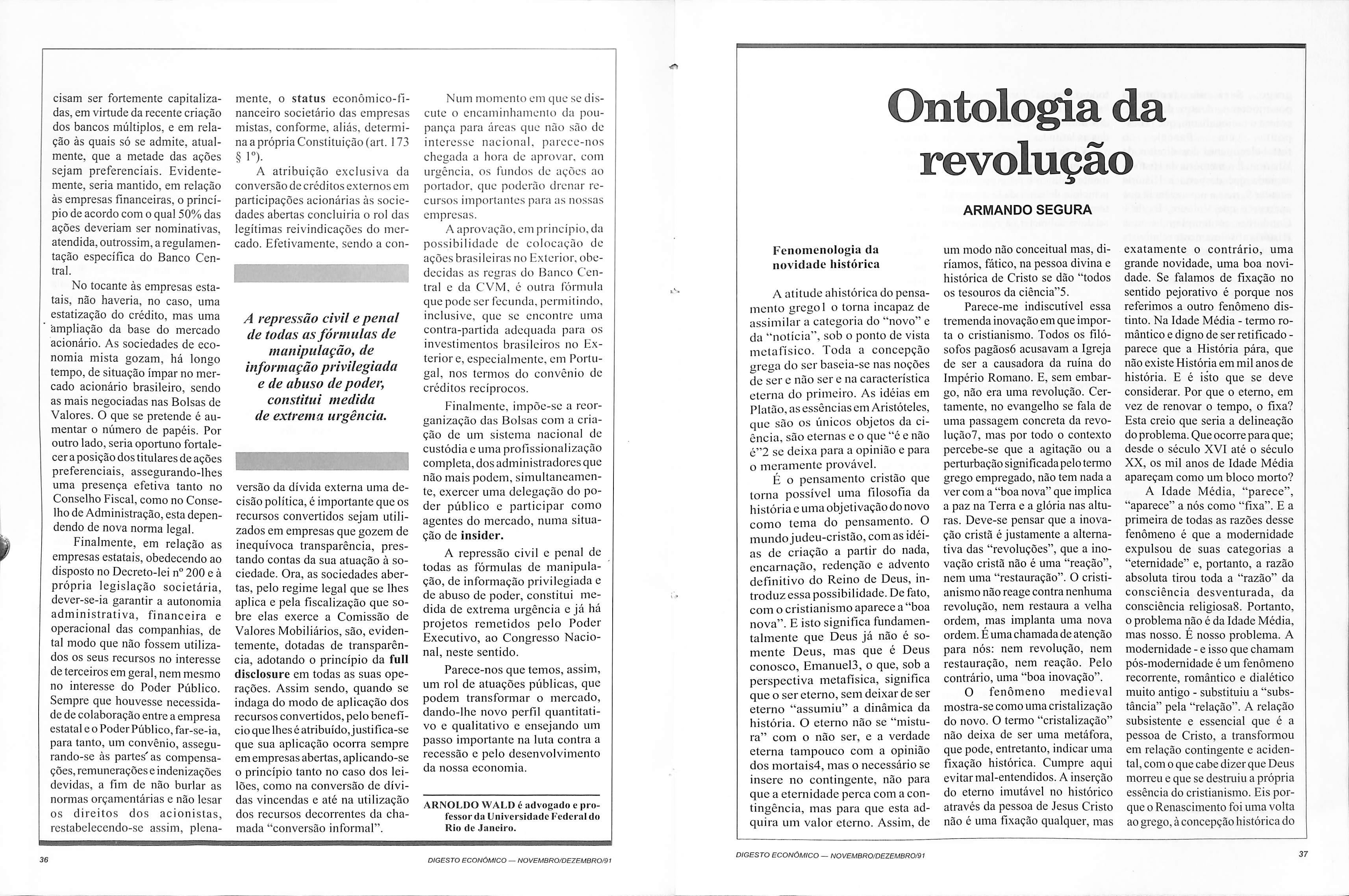
A repressão civil e penal cie todas as fórmulas de manipulação, de informação privilegiada e de abuso de poder, constitui medida de extrema urgência. versão da dívida externa uma de cisão política, é importante que os recursos convertidos sejam utili zados em empresas que gozem de inequívoca transparência, pres tando contas da sua atuação à so ciedade. Ora, as sociedades aber tas, pelo regime legal que se lhes aplica e pela fiscalização que so bre elas exerce a Comissão de Valores Mobiliários, são, eviden temente, dotadas de transparên cia, adotando o princípio da fuH disclosure em todas as suas ope rações. Assim sendo, quando se indaga do modo de aplicação dos recursos convertidos, pelo benefí cio que lhes é atribuído, justifica-se que sua aplicação ocorra sempre em empresas abertas, aplicando-se o princípio tanto no caso dos lei lões, como na conversão de dívi das vincendas e até na utilização dos recursos decorrentes da cha mada “conversão informal”. as as
Num momento em que se dis cute o encaminhamenu) da pou pança para áreas que não são de interesse nacional, parece-nos chegada a hora de aprovar, com urgência, os ilindos de ações ao portador, que poderão drenar re cursos importantes para as nossas empresas.
A aprovação, em princípio, da possibilidade de colocação de ações brasileiras no E.xterior. obe decidas as regras do Banco Cen tral c da CViM. é outra fórmula que pode scr fecunda, permitindo, inclusive, que se encontre uma contra-partida adequada para os investimentos brasileiros no Ex terior e, espccialmcntc, cm Portu gal, nos termos do convênio dc créditos recíprocos.
Finalmcntc, impõc-sc a reor ganização das Bolsas com a cria ção de um sistema nacional dc custódia c uma profissionalização completa, dos administradores que não mais podem, simultaneamen te, exercer uma delegação do po der público e participar como agentes do mercado, numa situa ção de insider.
A repressão civil e penal de todas as fórmulas de manipula ção, de informação privilegiada e de abuso de poder, constitui me dida de extrema urgência e já há projetos remetidos pelo Poder Executivo, ao Congresso Nacio nal, neste sentido.
Parece-nos que temos, assim, um rol de atuações públicas, que podem transformar o mercado, dando-lhe novo perfil quantitati vo e qualitativo e ensejando um passo importante na luta contra a recessão e pelo desenvolvimento da nossa economia.
ARNOLDO WALD é advogado e professorda Universidade Federal do Rio dc Janeiro.
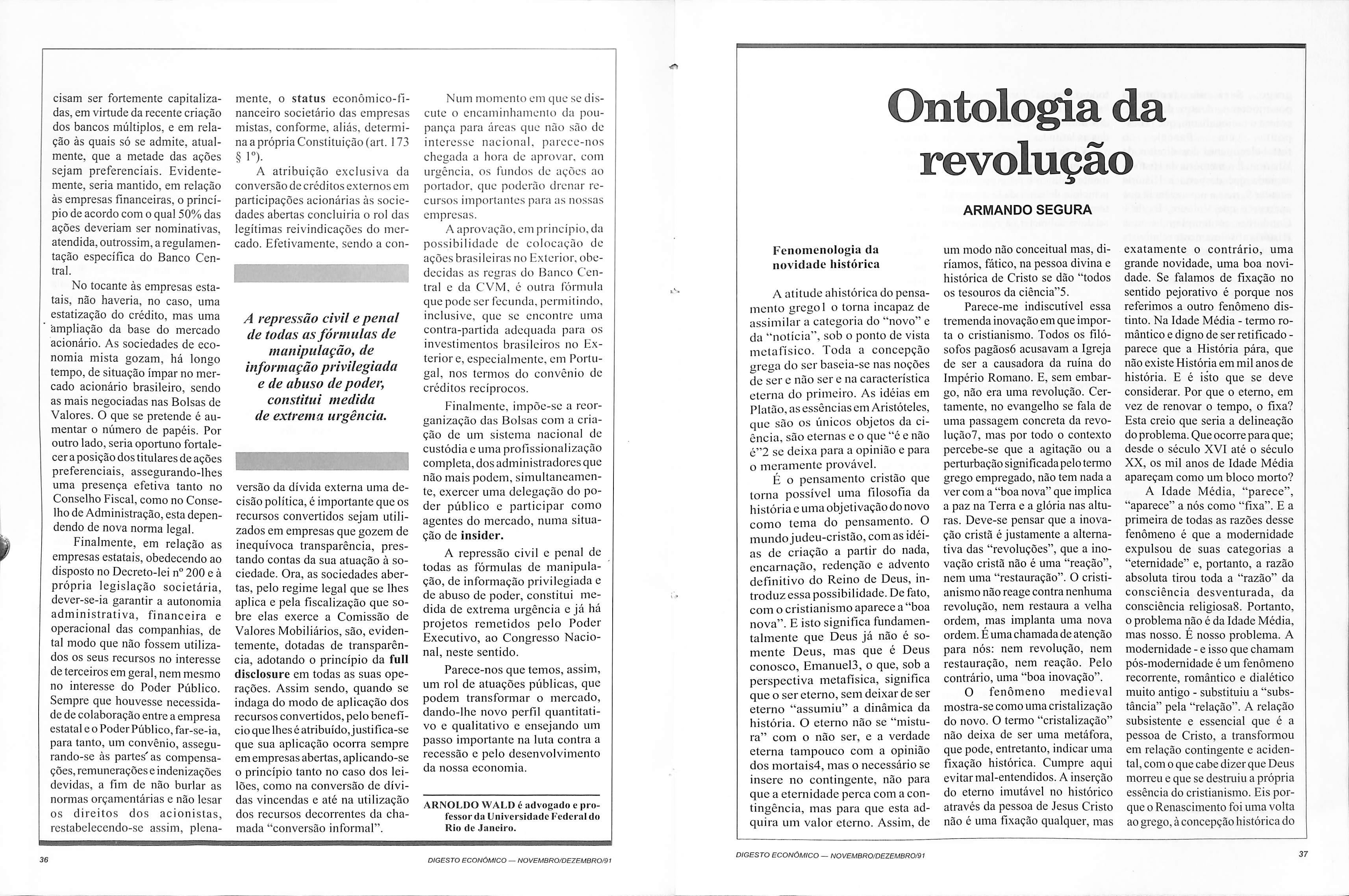
Fcnomenologia da novidade histórica
A atitude ahistórica do pensa mento grego 1 o torna incapaz de assimilar a categoria do “novo” e da “notícia”, sob o ponto de vista metafísico. Toda a concepção grega do scr baseia-sc nas noções dc ser e não scr e na característica eterna do primeiro. As idéias em Platão, as essências cm Aristóteles, que são os únicos objetos da ci ência, são eternas e o que “é e não é”2 se deixa para a opinião e para meramente provável.
É o pensamento cristão que possível uma filosofia da o torna história e uma objetivaçào do novo tema do pensamento. O como mundojudcu-cristão, com as idéi as de criação a partir do nada, encarnação, redenção e advento definitivo do Reino de Deus, in troduz essa possibilidade. De fato, cristianismo aparece a “boa com o nova”. E isto significa fundamen talmente que Deus já não é so mente Deus, mas que é Deus conosco, EmanueB, o que, sob a perspectiva metafísica, significa que o ser eterno, sem deixar de ser eterno “assumiu” a dinâmica da história. O eterno não se “mistu ra” com o não ser, e a verdade eterna tampouco com a opinião dos mortais4, mas o necessário se insere no contingente, não para que a eternidade perca com a con tingência, mas para que esta ad quira um valor eterno. Assim, de
um modo não conceituai mas, di riamos, fático, na pessoa divina e histórica de Cristo se dão “todos os tesouros da ciência”5.
Parece-me indiscutível essa tremenda inovação em que impor ta o cristianismo. Todos os filó sofos pagãosó acusavam a Igreja de ser a causadora da ruína do Império Romano. E, sem embar go, não era uma revolução. Cer tamente, no evangelho se fala de uma passagem concreta da revo lução?, mas por todo o contexto percebe-se que a agitação ou a perturbação significada pelo temio grego empregado, não tem nada a ver com a “boa nova” que implica a paz na Terra e a glória nas altu ras. Deve-se pensar que a inova ção cristã é justamente a alterna tiva das “revoluções”, que a ino vação cristã não é uma “reação”, nem uma “restauração”. O cristi anismo não reage contra nenhuma revolução, nem restaura a velha ordem, mas implanta uma nova ordem. É uma chamada de atenção para nós: nem revolução, nem restauração, nem reação. Pelo contrário, uma “boa inovação”. O fenômeno medieval mostra-se como uma cristalização do novo. O termo “cristalização” não deixa de ser uma metáfora, que pode, entretanto, indicar uma fixação histórica. Cumpre aqui evitar mal-entendidos. A inserção do eterno imutável no histórico através da pessoa de Jesus Cristo não é uma fixação qualquer, mas
exatamente o contrário, uma grande novidade, uma boa novi dade. Se falamos de fixação no sentido pejorativo é porque nos referimos a outro fenômeno dis tinto. Na Idade Média - tenuo ro mântico e digno de ser retificadoparece que a História pára, que não existe História em mil anos de história. E é isto que se deve considerar. Por que o etemo, em vez de renovar o tempo, o fixa? Esta creio que seria a delineação do problema. Que ocorre para que; desde o século XVI até o século XX, os mil anos de Idade Média apareçam como um bloco morto? A Idade Média, “parece”, “aparece” a nós como “fixa”. E a primeira de todas as razões desse fenômeno é que a modernidade expulsou de suas categorias a “eternidade” e, portanto, a razão absoluta tirou toda a “razão” da consciência desventurada, da consciência religiosaS. Portanto, o problema não é da Idade Média, mas nosso. E nosso problema. A modernidade - e isso que chamam pós-modemidade é um fenômeno recoiTente, romântico e dialético muito antigo - substituiu a “subs tância” pela “relação”. A relação subsistente e essencial que é a pessoa de Cristo, a transformou em relação contingente e aciden tal, com 0 que cabe dizer que Deus morreu e que se destruiu a própria essência do cristianismo. Eis por que 0 Renascimento foi uma volta ao grego, à concepção histórica do
grego. Será um fenômeno pós-modemo, dentro da reação contra o racionalismo, que já des ponta em Pascal, restabelecimento dos direitos da História. E a memória da História sagrada que desperta a História secular 9, mas a nova ciência que aparece e que Voltaire, Bayle e Condorcet contemplam, é uma História absolutamente relativista e finita, uma história onde o cris tianismo cabe somente como “ideologia” ou, como dirá Voltaire, “opinião”.
E preciso considerar, com a brevidade que se supõe, a fenomenologia não já da novida de histórica, mas das “revoluções”, a partir daqui. Os ingleses, tidos como fleumáticos, foram os in ventores da revolução moderna, após um século XVII ensangüentado pelas lutas contra os absolutistas Stuart. E são filósofos como Locke, cabeça da Glorious Revolution de 1688, os que assen tam as bases da “nova ordem das coisas”. Há que ser dito em seu favor que a Grã-Bretanha, com exceção do quisto irlandês, não contemplou em três séculos ne nhuma guerra civil, o que é um recorde.
Em virtude de que instrumen to maravilhoso os ingleses, através da revolução, encontraram uma espécie de “paz perpétua”? A res posta a esta pergunta é que levava Voltaire a chamar Locke o “maior filósofo de todos os tempos”. O instrumento é a Ilustração. Mas a Ilustração se apóia num funda mento muito concreto: a livre e crítica opinião à que se devem submeter “a majestade e a santi dade” 10. Na Inglaterra o liberalis mo, mediante um complexo con senso entre classes sociais, permi te um Estado de Direito progres sivo, pacífico e aliado da ciência. Por que não estender o invento a
todo 0 planeta? Esse é o espírito “apostólico” e “propagandista” dos iluministas franceses e de to das as latitudes.
Vê-se bem claramente que o princípio de autoridade, não so mente político e religioso, mas o princípio de autoridade em geral, tem um tribunal mais alto ao qual se deve submeter: a opinião e a
depois a conquista do Palácio de Inverno.
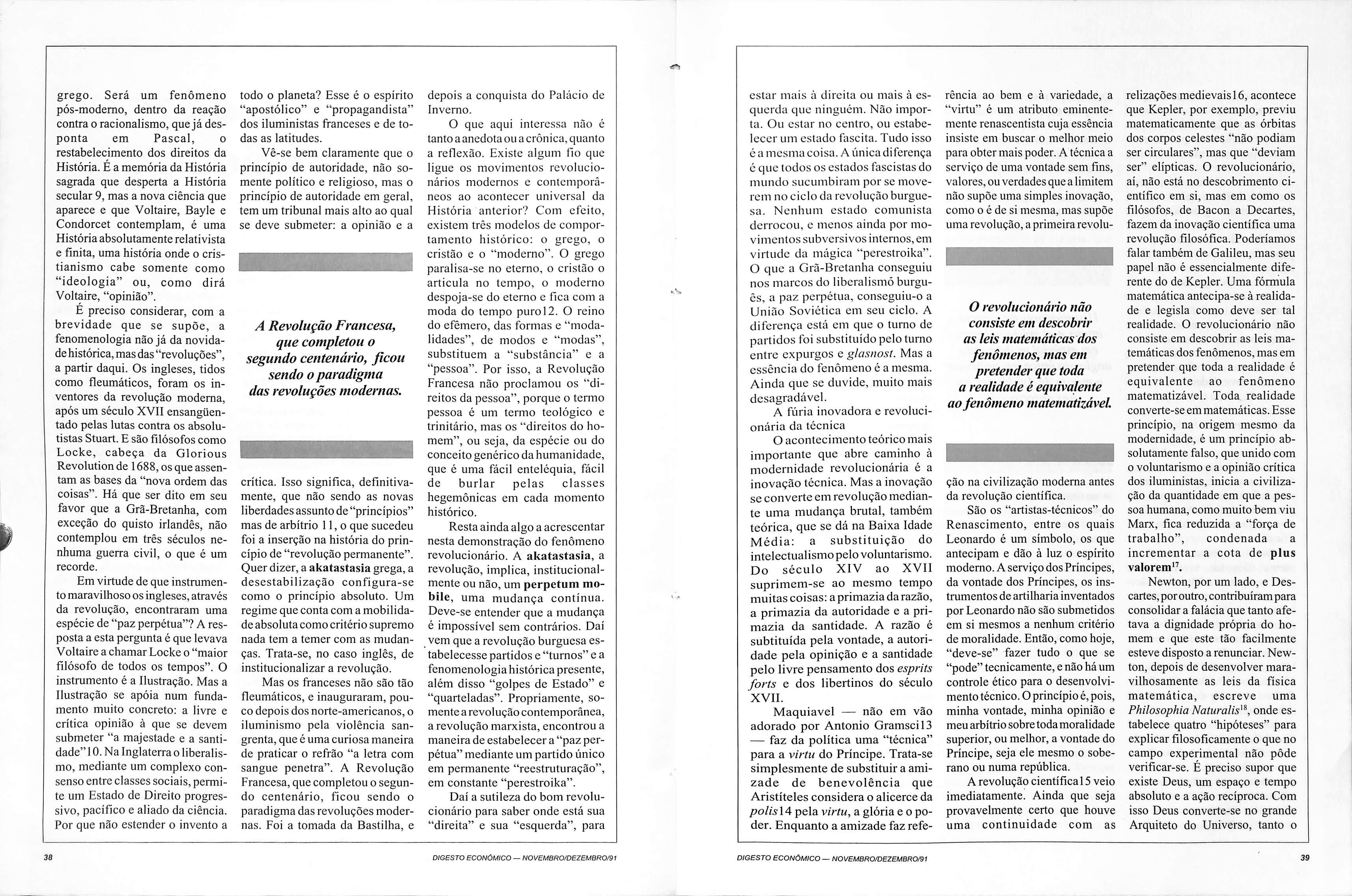
A Revolução Francesa, que completou o segundo centenário, ficou sendo o paradigma das revoluções modernas.
crítica. Isso significa, definitiva mente, que não sendo as novas liberdades assunto de “princípios” mas de arbítrio 11, o que sucedeu foi a inserção na história do prin cípio de “revolução permanente”. Quer dizer, a akatastasía grega, a desestabilização configura-se como o princípio absoluto. Um regime que conta com a mobilida de absoluta como critério supremo nada tem a temer com as mudan ças. Trata-se, no caso inglês, de institucionalizar a revolução.
Mas os franceses não são tão fleumáticos, e inauguraram, pou co depois dos norte-americanos, o iluminismo pela violência san grenta, que é uma curiosa maneira de praticar o refrão “a letra com sangue penetra”. A Revolução Francesa, que completou o segun do centenário, ficou sendo o paradigma das revoluções moder nas. Foi a tomada da Bastilha, e
O que aqui interessa não é tanto a anedota ou a crônica, quanto a reflexão. Existe algum fio que ligue os movimentos revolucio nários modernos c contemporâ neos ao acontecer universal da História anterior? Com efeito, existem três modelos de compor tamento histórico: o grego, o cristão e o “moderno”. O grego paralisa-se no eterno, o cristão o articula no tempo, o moderno despoja-se do eterno c fica com a moda do tempo puro 12. O reino do efêmero, das formas e “moda lidades”, de modos e “modas”, substituem a “substância” e a “pessoa”. Por isso, a Revolução Francesa não proclamou os “di reitos da pessoa”, porque o termo pessoa é um termo teológico c trinitário, mas os “direitos do ho mem”, ou seja, da espéeie ou do conceito genérico da humanidade, que é uma fácil entelcquia, fácil de burlar pelas classes hegemônicas em cada momento histórico.
Resta ainda algo a acrescentar nesta demonstração do fenômeno revolucionário. A akatastasía, a revolução, implica, institucional mente ou não, um perpetuin mo bile, uma mudança contínua. Deve-se entender que a mudança é impossível sem contrários. Daí vem que a revolução burguesa es tabelecesse partidos c “turnos” e a fenomenologia histórica presente, além disso “golpes de Estado” e “quarteladas”. Propriamente, so mente a revolução contemporânea, a revolução marxista, encontrou a maneira de estabelecer a “paz per pétua” mediante um partido único em permanente “reestruturação”, em constante “perestroika”. Daí a sutileza do bom revolu cionário para saber onde está sua “direita” e sua “esquerda”, para
cslar mais à direita ou mais à es querda que ninguém. Nüo impor ta. Ou estar no centro, ou estabe lecer um estado (ascita. Tudo isso é a mesma coisa. A única diferença é que todos os estados fascistas do mundo sucumbiram por se move rem no ciclo da revolução burgue sa. Nenhum estado comunista derrocou, e menos ainda por mo vimentos subversivos internos, em virtude da mágica “perestroika“. O que a Grà-Brctanha conseguiu nos marcos do liberalismo burgu ês, a paz perpetua, conseguiu-o a União Soviética cm seu ciclo. A diferença está cm que o turno de partidos foi substituido pelo turno entre expurgos e glasuosí. Mas a essência do fenômeno é a mesma. Ainda que se duvide, muito mais desagradável. A fúria inovadora e revoluci onária da técnica
rência ao bem e à variedade, a “virtu” é um atributo eminente mente renascentista cuja essência insiste em buscar o melhor meio para obter mais poder. A técnica a serviço de uma vontade sem fins, valores, ou verdades que a limitem não supõe uma simples inovação, como o é de si mesma, mas supõe uma revolução, a primeira revolu-
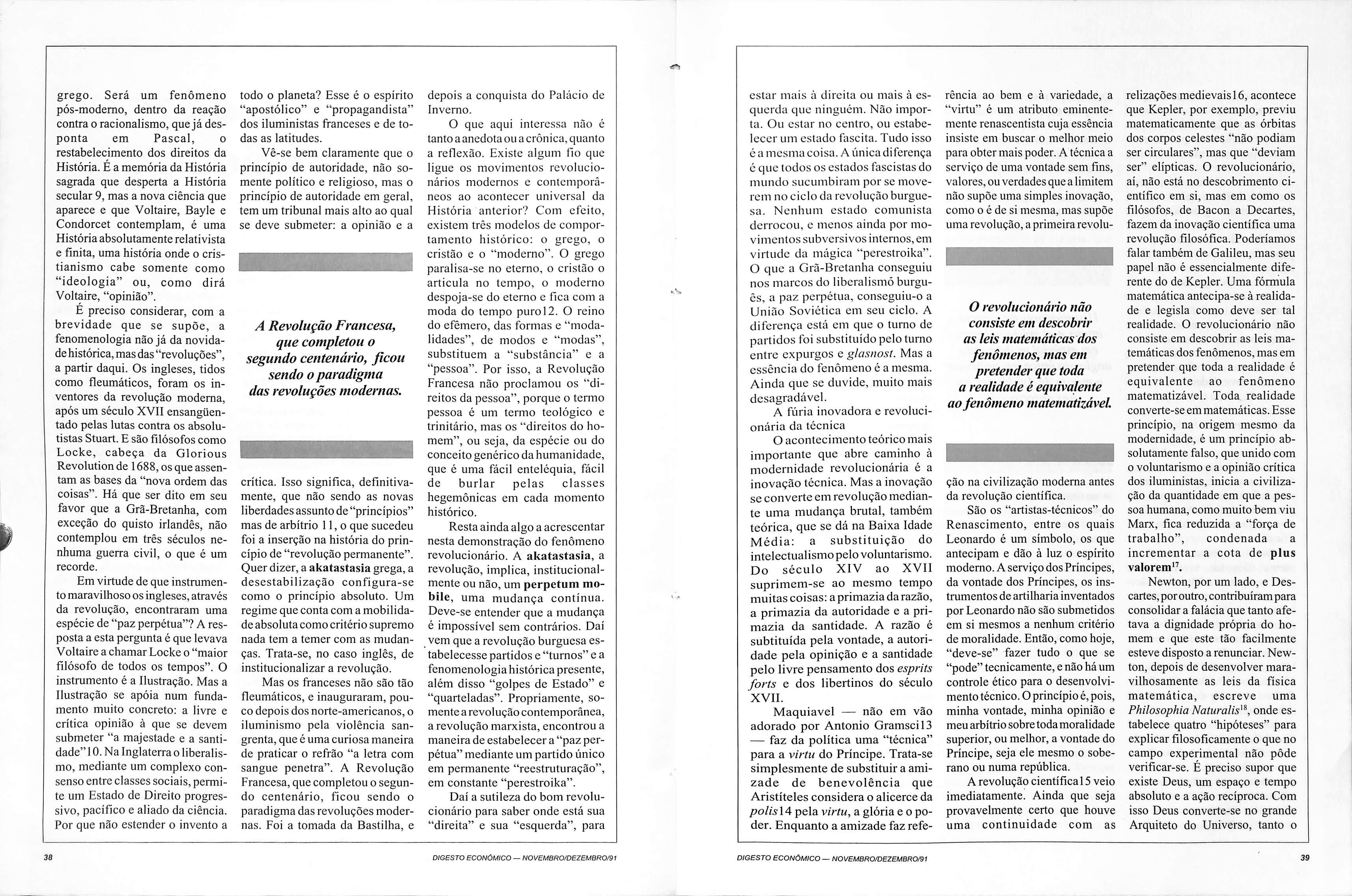
Do a
O revolucionário não consiste em descobrir as leis matemáticas dos fenômenos, mas em pretender que toda a realidade é equivalente ao fenômeno matematizável
substituição do a
O acontecimento teórico mais importante que abre caminho à modernidade revolucionária é a inovação técnica. Mas a inovação se converte em revolução median te uma mudança brutal, também teórica, que se dá na Baixa Idade Média: intelecíLialismo pelo voluntarismo. século XIV ao XVII suprimem-se ao mesmo tempo muitas coisas: a primazia da razão, primazia da autoridade e a pri mazia da santidade. A razão é subtiíuída pela vontade, a autori dade pela opinição e a santidade pelo livre pensamento dos esprits forts e dos libertinos do século XVII.
Maquiavel
não em vão adorado por Antonio GramscilS — faz da política uma “técnica” para a virtu do Príncipe. Trata-se simplesmente de substituir a ami zade de benevolência que Aristíteles considera o alicerce da po/wl4 pela virtu, a glória e o po der. Enquanto a amizade faz refe-
ção na civilização moderna antes da revolução científica. São os “artistas-técnicos” do Renascimento, entre os quais Leonardo é um símbolo, os que antecipam e dão à luz o espírito moderno. A serviço dos Príncipes, da vontade dos Príncipes, os ins trumentos de artilharia inventados por Leonardo não são submetidos em si mesmos a nenhum critério de moralidade. Então, como hoje, “deve-se” fazer tudo o que se “pode” tecnicamente, e não há um controle ético para o desenvolvi mento técnico. O princípio é, pois, minha vontade, minha opinião e meu arbítrio sobre toda moralidade superior, ou melhor, a vontade do Príncipe, seja ele mesmo o sobe rano ou numa república. A revolução científica 15 veio imediatamente. Ainda que seja provavelmente certo que houve uma continuidade com as
relizações medievais 16, acontece que Kepler, por exemplo, previu matematicamente que as órbitas dos corpos celestes “não podiam ser circulares”, mas que “deviam ser” elípticas. O revolucionário, aí, não está no descobrimento ci entifico em si, mas em como os filósofos, de Bacon a Decartes. fazem da inovação científica uma revolução filosófica. Poderiamos falar também de Galileu, mas seu papel não é essencialmente dife rente do de Kepler. Uma fórmula matemática antecipa-se à realida de e legisla como deve ser tal realidade. O revolucionário não consiste em descobrir as leis ma temáticas dos fenômenos, mas em pretender que toda a realidade é equivalente ao fenômeno matematizável. Toda realidade converte-se em matemáticas. Esse princípio, na origem mesmo da modernidade, é um princípio ab solutamente falso, que unido com o voluntarismo e a opinião critica dos iluministas, inicia a civiliza ção da quantidade em que a pes soa humana, como muito bem viu Marx, fica reduzida a “força de trabalho”, condenada a incrementar a cota de plus valorem”.
Newton, por um lado, e Des cartes, por outro, contribuíram para consolidar a falácia que tanto afe tava a dignidade própria do ho mem e que este tão facilmente esteve disposto a renunciar. New ton, depois de desenvolver mara vilhosamente as leis da fisica matemática, escreve uma Philosophia Naturalis^^, onde es tabelece quatro “hipóteses” para explicar filosoficamente o que no campo experimental não pôde verificar-se. É preciso supor que existe Deus, um espaço e tempo absoluto e a ação recíproca. Com isso Deus converte-se no grande Arquiteto do Universo, tanto o
natural como o humano e espiri tual, sujeito às leis descobertas por Newton. Kant interpreta perfeitamente Newton quando esta belece que Deus é meramente uma Idéia.
Por outro lado, Descartes, fundador da Geometria Analítica, estabelece as regras do método, não do método científico, mas do filosófico, de tal maneira que os procedimentos e evidências mate máticas são 0 último critério de verdade. Isso significa simples mente reduzir o homem a quanti dade, ou bem a quantidade extensa ou a quantidade pensada. Mas as matemáticas são as novas tábuas da lei do novo povo escolhido. É verdade que a inovação era des lumbrante, verdadeira e útil à hu manidade, como tudo o que é au têntico saber. Mas ficou absoluta mente corrompida pelo sofisma de generalização consistente em atribuir propriedades matemáticas à realidade em si, ou melhor, aos fenômenos em si, que são a única realidade que, no fundo, é passível de credibilidade. Esta corrupção é 0 que denomino “revolução cien tífica”.
Os iluministas, exclusiva mente filósofos, vivem desses princípios, dessa falta de princí pios, diria, e cometem a fraude histórica de separar o conheci mento da moralidade. Se não po demos conhecer verdades, mas só fenômenos, não podemos querer bens, mas apenas “produzi-los”. Mesmo no início da revolução in dustrial, 0 maior dos pensadores iluministas inicia sua variante pós-moderna em sua defesa da liberdade em face das leis mecâ nicas. E istojáé pós-modernidade, como em boa parte o são Hume e Rousseau, pois supõem uma re belião da natureza humana contra 0 império das matemáticas im posto pelos filósofos. Trata-se de
Kant que, em sua rebeldia justa, não pode superar a problemática iluminista, posto que sua noção de liberdade naufraga em seu con ceito de indeterminação, de ma neira que a liberdade já não é “a facilidade para fazer o bem 19, mas 0 fundamento especulativo da li berdade é ter um objeto absoluta mente indeterminado20. Essa falta
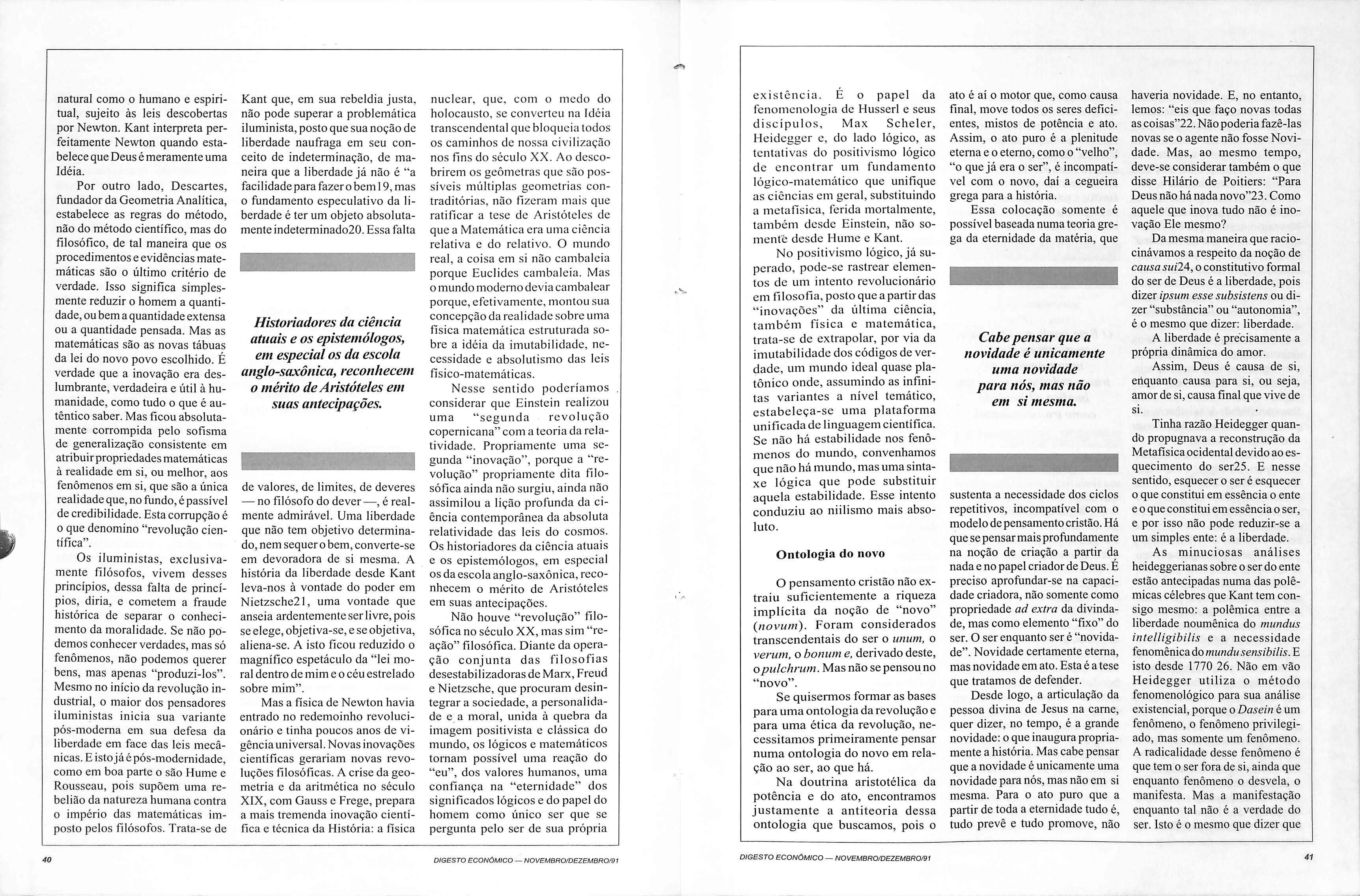
<r»»
Historiadores da ciência atuais e os epistemólogos, em especial os da escola anglo-saxônica, reconhecem o mérito de Aristóteles em suas antecipações.
nuclear, que, com o medo do holocausto. SC converteu na Idéia transcendental que bloqueia todos os caminhos dc nossa civilização nos fins do século XX. Ao desco brirem os geômctras que são pos síveis múltiplas geometrias con traditórias, não fizeram mais que ratificar a tese de Aristóteles dc que a Matemática era uma ciência relativa e do relativo. O mundo real, a coisa em si não cambaleia porque Euclides cambaleia. Mas o mundo moderno devia cambalear porque, efetivamente, montou sua concepção da realidade sobre uma fisica matemática estruturada so bre a idéia da imutabilidade, ne cessidade e absolutismo das leis físico-matemáticas.
é real-
Nesse sentido poderiamos considerar que Einstein realizou revolução “segunda uma copernicana” com a teoria da rela tividade. Propriamente uma se gunda “inovação”, porque a volução” propriamente dita filo sófica ainda não surgiu, ainda não assimilou a lição profunda da ci ência contemporânea da absoluta relatividade das leis do cosmos. rede valores, de limites, de deveres — no filósofo do dever mente admirável. Uma liberdade que não tem objetivo determina do, nem sequero bem, converte-se em devoradora de si mesma. A história da liberdade desde Kant leva-nos à vontade do poder em Nietzsche21, uma vontade que anseia ardentemente ser livre, pois se elege, objetiva-se, e se objetiva, aliena-se. A isto ficou reduzido o magnífico espetáculo da “lei mo ral dentro de mim e o céu estrelado sobre mim”.
Mas a física de Newton havia entrado no redemoinho revoluci onário e tinha poucos anos de vigênciauniversal. Novas inovações científicas gerariam novas revo luções filosóficas. A crise da geo metria e da aritmética no século XIX, com Gauss e Frege, prepara a mais tremenda inovação cientí fica e técnica da História: a física
Os historiadores da ciência atuais e os epistemólogos, em especial os da escola anglo-saxônica, reco nhecem o mérito de Aristóteles em suas antecipações.
Não houve “revolução” filo sófica no século XX, mas sim “re ação” filosófica. Diante da opera ção conjunta das filosofias desestabilizadoras de Mai^x, Freud e Nietzsche, que procuram desin tegrar a sociedade, a personalida de e a moral, unida à quebra da imagem positivista e clássica do mundo, os lógicos e matemáticos tornam possível uma reação do “eu”, dos valores humanos, uma confiança na “eternidade” dos significados lógicos e do papel do homem como único ser que se pergunta pelo ser de sua própria
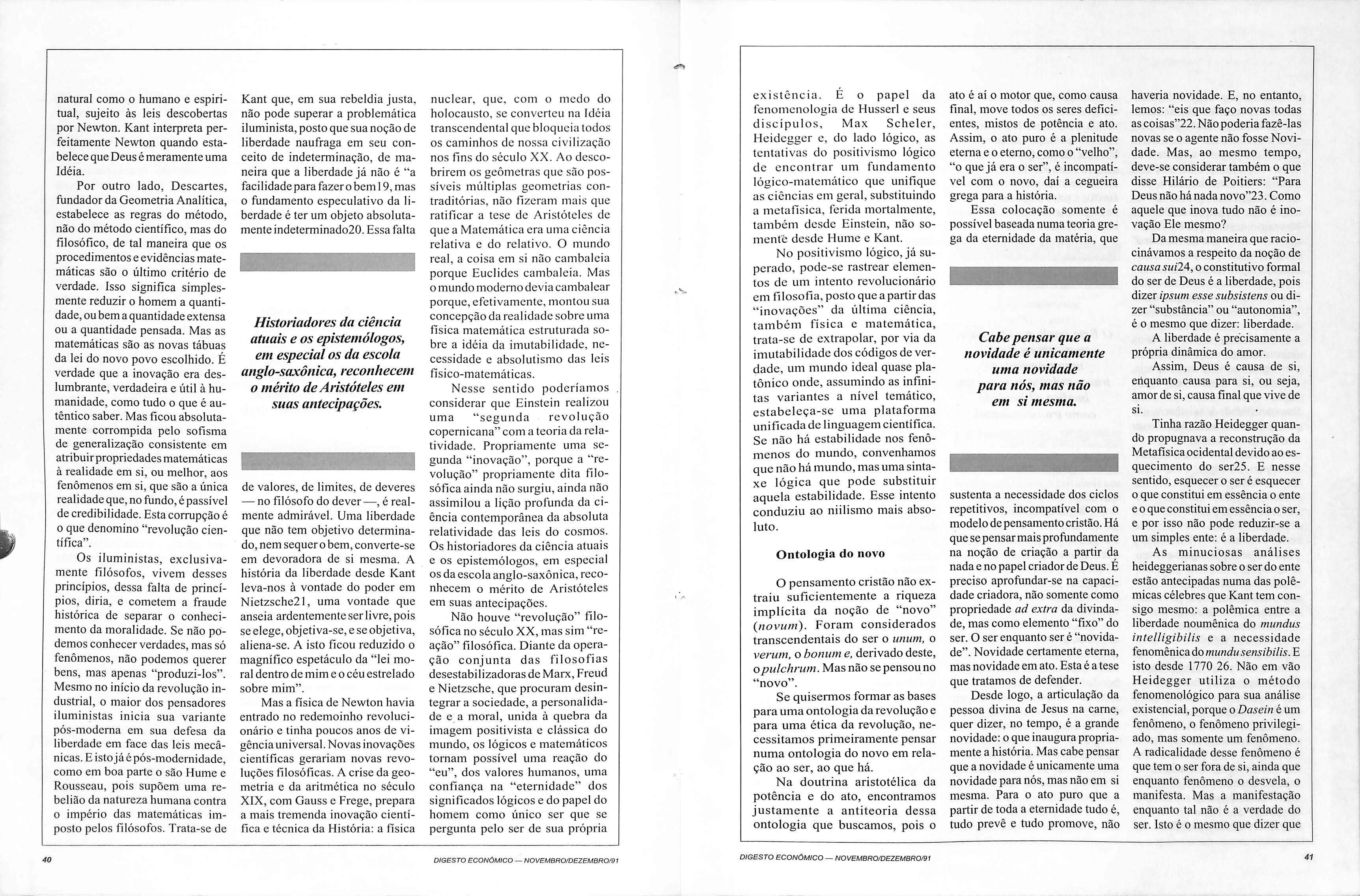
Scheler, Max
existência. É o papel da fenomcnologia dc Husserl e seus discípulos, Heidcggcr e, do lado lógico, as tentativas do positivismo lógico dc encontrar um fundamento lógico-matemático que unifique as ciências cm geral, substituindo a metafísica, ferida mortalmente, também desde Einstein, não so mente desde Hume e Kant. No positivismo lógico, já su perado, pode-se rastrear elemen tos de um intento revolucionário em filosofia, posto que a partir das “inovações” da última ciência, também física c matemática, trata-se de extrapolar, por via da imutabilidade dos códigos de ver dade, um mundo ideal quase pla tônico onde, assumindo as infini tas variantes a nível temático, estabeleça-se uma plataforma unificada de linguagem científica. Se não há estabilidade nos fenô menos do mundo, convenhamos que não há mundo, mas uma sintalógica que pode substituir aquela estabilidade. Esse intento conduziu ao niilismo mais abso luto.
O pensamento cristão não ex traiu suficientemente a riqueza implícita da noção de “novo” {novum). Foram considerados transcendentais do ser o wmm, o verum, o boniim e, derivado deste, opidchrum. Mas não se pensou no “novo”.
Se quisermos formar as bases para uma ontologia da revolução e para uma ética da revolução, ne cessitamos primeiramente pensar numa ontologia do novo em rela ção ao ser, ao que há.
Na doutrina aristotélica da potência e do ato, encontramos justamente a antiteoria dessa ontologia que buscamos, pois o
ato é aí o motor que, como causa final, move todos os seres defici entes, mistos de potência e ato. Assim, 0 ato puro é a plenitude eterna e o eterno, como o “velho”, “o que já era o ser”, é incompatí vel com 0 novo, daí a cegueira grega para a história. Essa colocação somente é possível baseada numa teoria gre ga da eternidade da matéria, que
havería novidade. E, no entanto, lemos: “eis que faço novas todas as coisas”22. Não poderia fazê-las novas se o agente não fosse Novi dade. Mas, ao mesmo tempo, deve-se considerar também o que disse Hilário de Poitiers: “Para Deus não há nada novo”23. Como aquele que inova tudo não é ino vação Ele mesmo?
Da mesma maneira que raciocinávamos a respeito da noção de causa siiilA, o constitutivo formal do ser de Deus é a liberdade, pois dizer ipsum esse subsistens ou di zer “substância” ou “autonomia”, é o mesmo que dizer: liberdade.
Cabe pensar que a novidade é unicamente uma novidade para nós, mas não em si mesma. si.
A liberdade é precisamente a própria dinâmica do amor.
Assim, Deus é causa de si, enquanto causa para si, ou seja, amor de si, causa final que vive de
sustenta a necessidade dos ciclos repetitivos, incompatível com o modelo de pensamento cristão. Há que se pensar mais profundamente na noção de criação a partir da nada e no papel criador de Deus. E preciso aprofundar-se na capaci dade criadora, não somente como propriedade ad extra da divinda de, mas como elemento “fixo” do ser. O ser enquanto ser é “novida de”. Novidade certamente etema, mas novidade em ato. Esta é a tese que tratamos de defender.
Desde logo, a articulação da pessoa divina de Jesus na carne, quer dizer, no tempo, é a grande novidade: o que inaugura propria mente a história. Mas cabe pensar que a novidade é unicamente uma novidade para nós, mas não em si mesma. Para o ato puro que a partir de toda a eternidade tudo é, tudo prevê e tudo promove, não
Tinha razão Heidegger quan do propugnava a reconstrução da Metafísica ocidental devido ao es quecimento do ser25. E nesse sentido, esquecer o ser é esquecer 0 que constitui em essência o ente e 0 que constitui em essência o ser, e por isso não pode reduzir-se a um simples ente: é a liberdade. As minuciosas análises heideggerianas sobre o ser do ente estão antecipadas numa das polê micas célebres que Kant tem con sigo mesmo: a polêmica entre a liberdade noumênica do mundus inteiligibilis e a necessidade fenomênica do mundu sensibilis. E isto desde 1770 26. Não em vão Heidegger utiliza o método fenomenológico para sua análise existencial, porque o Dasein é um fenômeno, o fenômeno privilegi ado, mas somente um fenômeno. A radicalidadedesse fenômeno é que tem 0 ser fora de si, ainda que enquanto fenômeno o desvela, o manifesta. Mas a manifestação enquanto tal não é a verdade do ser. Isto é o mesmo que dizer que
a liberdade do Dasein é mera mente fenomênica e não afeta nem a origem, nem o estado do objeto, nem o destino, não somos livres no que diz respeito à morte e ao nada. A liberdade do Dasein é uma assunção da autenticidade e, nes se sentido, na linha que vai da Stoa a Spinoza e Hegel, ser autêntico é assumir o destino que é o futuro, que em seu movimento “extático” predetermina o presente: o futuro é a morte. Diriamos que o que Heidegger deseja é justamente a liberdade do ser, posto que, como a de Kant, a liberdade transcedental é noumênica, e dá-se somente no miindiis inteüigibilis 27. Uma fenomenologia onde as essências e os significados últimos, ou seja, a metafísica clássica, não deixa lugar fenomenalidade da existência, não pode pensarna liberdade a não ser como algo “esquecido”. Queremos pensar em liberda de novamente como “a facilidade de fazer o bem”. As relações “ín timas” (transcedentais) entre li berdade e bem podem-nos dar a chave da solução. Não é possível ser bom se não se é livre. Não é possível ser bom em grau eminen te se não se é livre em grau emi nente. Mais ainda, “só Deus é bom” e, portanto, somente se pode falar de liberdade e bondade no sentido estrito e absoluto em Deus. Por outro lado Deus é eterno, 0 que significa que Deus é a “total e simultânea posse da vida”28. Se Deus possui toda a vida, é Gozo e Paz na vida eterna. Mas, que é vida? Somente uma reflexão alta mente difícil sobre a vida em rela ção à liberdade e o bem pode colocar-nos num bom caminho. Ser vida é o ser substância, seja, autonomia ontológica e mo ral, ou, dito de outro modo: a li berdade do bem. Podemos elevar-nos desde a vida finita das
criaturas, à vida propriamente dita da substância divina, como auto nomia infinita que Kant secularizou em sua noção da moralidade humana. Basta afirmá-la de Deus sem mistura de heteronomia e elevar essa autonomia a grau in finito, para aproximar-nos analogicamente da vida divina no bem e liberdade totais.
Em Deus dá-se em plenitude o
O Bem implica a liberdade, mas como o Bem é uma propriedade transcendente do ser, o ser implica a liberdade como transcendental.
um elemento constituiti vo do Bem porque é ausência de necessidade? E não é isso mesmo um bem? Devemos aprofundar-nos na es sência do bem em relação com a necessidade. O Bem implica a li berdade, mas como o Bem c uma propriedade transcendente do ser, o ser implica a liberdade como transcendental. O mal como pri vação não c “algo” c, portanto, nem o mal pode determinar nada não há 0 Jdíuin propriamente — nem o mal é princípio de ne cessidade. A falta e privação de bem, sempre relativa, isto sim, c a alienação do ser.
Portanto, a liberdade c o ser do ser, é a Potência do ser enquanto Onipotência de toda sua Omniatualidade, para a qual não há limite de necessidade alguma e não havendo limite nem um meio ao noumeno na justo para o amor que e o ser radicaBO, não há limite para o Bem e este é essencialmente, em Deus, Liberdade absoluta.
que Nietzsche atribuía ao Super-homem em fínilude e indigência. Em Deus não há vontade de poder porque esta implica virtualidade e potência. Em Deus o Poder é o Ser: atranqüilidade da adequação perfeita entre essência e existência, ou seja, entre honiim e factun.r o bom é um fato.
Mas resta, ainda, algo mais difícil para pensar, a relação da Liberdade cm grau eminente c a Novidade.

Que sentido tem a liberdade absoluta no Deus absoluto? Por que não podemos negar a Deus nenhum dos atributos: liberdade e bondade. Que sentido tem a ex pressão liberdade se não fica para Deus “nada para fazer” e, portan to, o radical em Deus não é fazer, mas ser? Deus que “quer necessa riamente sua bondade”29, de ma neira que não pode não querer ser bom. Sua bondade é imutável. Fica com isso fechado o ser próprio de Deus à liberdade relativa precisa mente ao Bem? Não é a liberdade
Quando Vico defende a ciêna história
cia nova ção da noção do verdadeiro como “fato”, está pensando evidente mente em termos de finitude, de temporalidade e de causas segun das. Elevemo-nos a partir desta concepção a Deus e veremos que em Deus o venim é o “fazer”, a palavra substanciaB 1, sua vida, em definitivo. Tudo está em pen sar na essência da Novidade em relação ao Bem.
cm fun-
É toda a novidade boa? Heidegger, seguindo nisso a teo logia e mística medievais, atribui o “afa de novidades” à ambigüidade (Zweideiitigkeit) da existên cia não autêntica. Evidentemente, a mudança pela mudança e a no vidade pela própria novidade, pode ou
ser frulo de falatório {das Gerede).
Mas, nesse caso, a Novidade não tem relação com o Bem nem com o Ser (que nos colocaria numa situação autentica).
Há, certamente, novidades más, perturbações histórias, que os próprios revolucionários con sideram “males inevitáveis e ne cessários”. Nenhum revolucioná rio mata por matar e subverte pelo gosto de subverter, salvo aberra ções. Inclusive os niilistas mais extremados, todos tratam de con seguir uma “nova harmonia” por trás da revolução.
Pois bem, tratamos aqui de dizer que não há, metafisicamente, “novidades más”, em razão do que o mal é privação de ser e, portanto, uma novidade má seria um ens malum, um princípio ontológico que não seria ser, o que é, evidentemenle, contraditório. Somente pela dificuldade da linguagem deparamo-nos com a insuficiên cia, ou seja: “trago-te uma má no tícia” (o contrário da boa notícia).
Uma má notícia é sempre uma falta de realidade, uma des-ordem, uma privação de ser; a morte, por exemplo, a guerra, a peste e a fome: não-devem-ser. Costumam ser notícias das páginas dos perió dicos as mais sensacionais, e são notícias porque não apontam bens, ou seja, não apontam novidades boas e, numa palavra, não trazem nada, a não ser destruição. Esses males, a partir de uma ontologia cristã, só são “fenomenicamente” novos. Aparecem como novas situações na história, mas não são situações ontologicamente “novas”, porque somente “algo” pode ser o “novo”: o ser, e o ser é sempre bom. Fica aberta a porta a uma no ção do novo como propriedade transcendental do ser.
O Ens realissimum é, pois, a Novidade em Ato puro, inclusive
para si mesmo, posto que fora do tempo não há anteroposterioridade, não há sucessão de causa e efeito nem de potência e ato. Isto não supõe que Deus seja algo “velho”, algo assim como diz um filósofo amigo, “a corcunda infinita”, mas que Deus é a Novi dade substancial, quer dizer,

SÓ é realmente velho o que não vive (“para Deus, todos estão
vivos^*)>
autopossuída. Assim, como no ser finito e na história, a novidade nos “surpreende” e é um dado que deve integrar um novo programa, Deus, liberdade absoluta, se “di verte” no Bem que Ele mesmo é, e este bem implica numa surpresa alegre. Mas uma surpresa não limitativa
enriquecedora do conhecimento, posto que Deus não pode enriquecer-se, é imutável. A sur presa de Deus é o Gozo e a Paz de que tudo é absolutamente novo, eternamente, e essa surpresa é também eterna. Deus é surpresa no sentido eminente de que Deus está gozoso de ser como é, e isto não 0 aborrece, porque é um ma nancial de vida eterna que quem bebe “não volta a ter sede”. Mas não volta a ter sede quer dizer que água já não faz falta, porque o manancial brota perenemente e seu brotar surpreende, como a sarça que arde sem se consumir. E justampouco nem más”, precisamente
tainente o que sacia o desejo: o beber num ato eterno de um ma nancial que não cessa. E a isto o chamo causa sui.
Conclusões
À luz dessas “meditações metafísicas” podem agora for malmente comparar e julgar a di ferença entre “inovação” e “revo lução”, porque à metafísica foi concedida a suprema instância do juízo a nível de deliberação e à ética derivadamente, a nível de decisão.
A essência da revolução en tendida como akaíastasia, é a desestabilização de uma ordem que na mente do revolucionário se julga como uma desordem e, portanto, toda revolução está em função de uma ordem ou, pelo menos, de uma harmonia final, em função de alguma idéia de bem. Temos o caso extremo da “revo lução permanente” ou da univer salidade da contradição” (Mao) ou do suicídio coletivo autodestrutivo. Aquela pretende reestruturar (novamente a perestroika) o velho que já se considera passado, ou seja, “mau”, por algo vigente ou que dá vida ao vigente, que se interpreta como “bom”. Em si mesmo trocar o mau pelo bom é irrepreensível ontologicamente; moralmente teríamos que matizar o problema do fim e dos meios; e o tema das causas justas.
Cabe objetar que os revoluci onários podem equivocar-se em seu juízo sobre o mal do “antigo regime”. Por simples que seja ontologicamente o “antigo”, tem que se admitir que é um mal, que 0 passado e o antigo, se não são “tradição viva”, ou seja, vigente, no presente tomam-se casca vazia, inútil para a história. Só é real mente velho 0 que não vive (“para
Deus, todos estão vivos”).
Mas devemos observar que a crítica, em princípio, não é contra a ordem ou contra o bem, nem contra o princípio de autoridade, de majestade ou de santidade. Porque tentar subverter um regi me bom, ordenado, justo e santo, é essa akatastasia, propriamente sedição”, em seu etimológico e justo desestabilização sem uma alter nativa justa de remodelação.
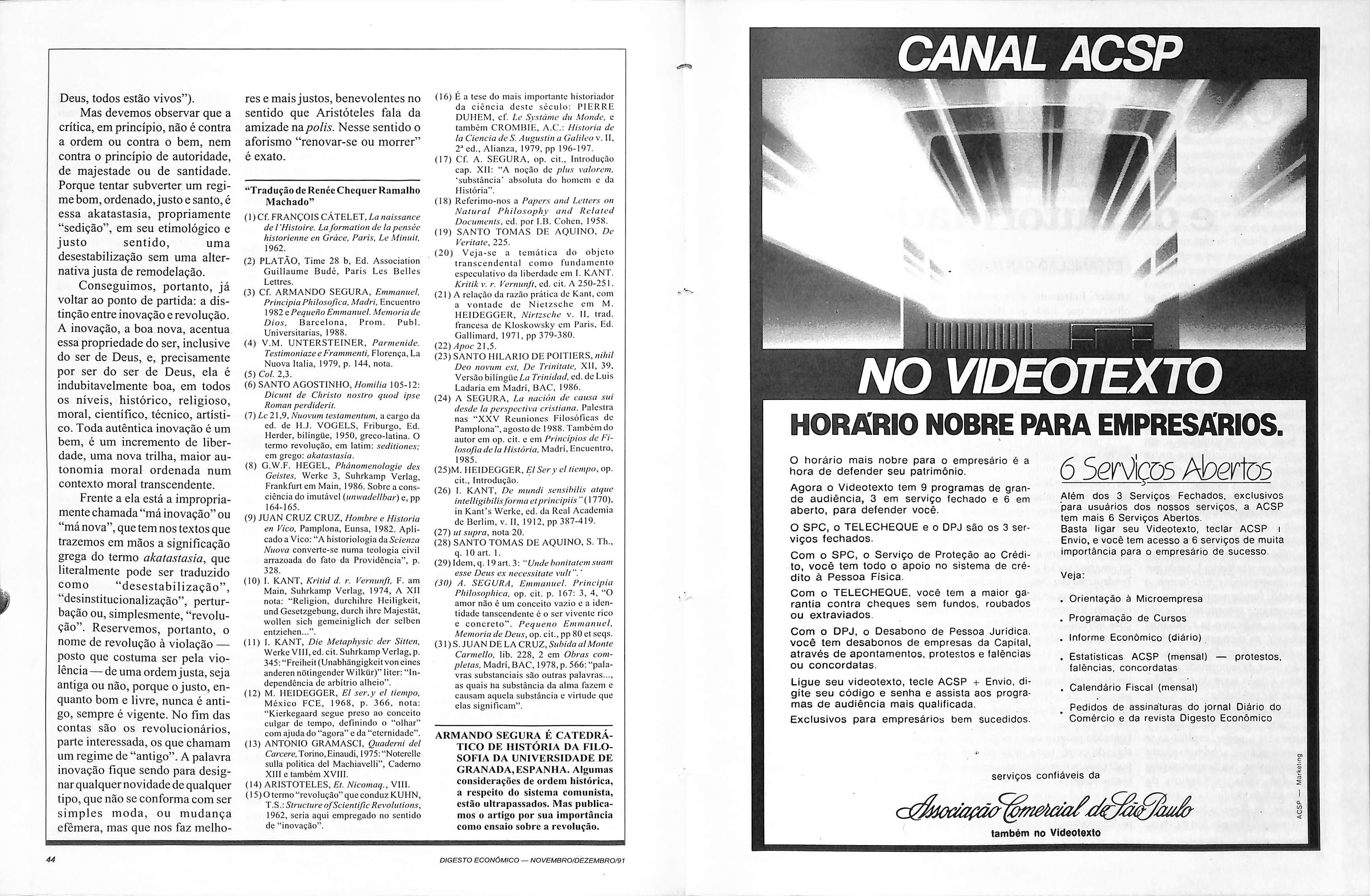
res e mais justos, benevolentes no sentido que Aristóteles fala da amizade na polis. Nesse sentido o aforismo “renovar-se ou morrer” é exato.
(1) Cf FRANÇOIS CÁTELET, La nai.s.sance de l 'Histoire. La fonnation de lapensée historienne en Gràce, Paris. Le Minuit, 1962. íi sentido, uma
Conseguimos, portanto, já voltar ao ponto de partida: a dis tinção entre inovação e revolução. A inovação, a boa nova, acentua essa propriedade do ser, inclusive do ser de Deus, e, precisamente por ser do ser de Deus, ela é indubitavelmente boa, em todos os níveis, histórico, religioso, moral, científico, técnico, artísti co. Toda autêntica inovação é um bem, é um incremento de liber dade, uma nova trilha, maior au tonomia moral ordenada num contexto moral transcendente.
Tradução de RenccChcquerRamalho Machado
(16) E a tese do mais importante historiador da ciência deste século; IMERRE DUHEM, cf. Le Syslàmc du Monde, c também CROMBIE. A.C.; Hi.\ioria de 1(2 Ciência de S. Augusiin a Gatileo v. II. 2"ed-, Alianza, 1979, pp 196-197. (17) Cf. A. SEGURA, op. cit.. Introdução cap. XII; “A noção de plus valorem. ‘substância' absoluta do homem e da História’*.
(18) Referimo-nos a Papers and l.elters on Natural Philo.'iophy and Relaled Docunients. ed. por I.B. Cohen. 1958. (19) SANTO TOMAS DE AQUINO, De Veritaie. 225.
(2) PLATÃO, Time 28 b, Ed. Association Guíliaumc Budé, Paris Les Belles Lettres.
(3) Cf ARMANDO SEGURA, Emmanuel. Principia Philosofica, Madri, Enciieniro 1982 e Pequeno Emmanuel. Memória de Barcelona, M. Publ. Prom. Dios. Universitárias, 1988.
(4) V.M. UNTERSTEINER, Parmenide. Testimoniaze eFrammenti, Florcnça. La Nuova Italia, 1979, p. 144, nota.
(5) Col. 2,3.
(6) SANTO AGOSTINHO, Homília 105-12; Dicunt de Christo nostro quod ipse Roman perdiderit.
(7) Lc 2 i ,9, Nuovum testamentum, a cargo da ed. de H.J. VOGELS, Friburgo, Ed. Herder, bilingue, 1950, greco-latina. O termo revolução, em latim; seditiones; em grego; akatastasia.
Frente a ela está a impropria mente chamada “má inovação má nova”, que tem nos textos que trazemos em mãos a significação grega do termo akatastasia, que literalmente pode ser traduzido como ou (9) JUAN CRUZ CRUZ, Homhre e Historia en Vico, Pamplona, Eunsa, 1982. Apli cado a Vico; “A historiologia daScienza Nuova converte-se numa teologia civil arrazoada do fato da Providência”, p. 328.
desestabilização”, desinstitucionalização”, pertur bação ou, simplesmente, “revolu ção”. Reservemos, portanto, o nome de revolução à violação — posto que costuma ser pela vio lência 44 deumaordemjusta, seja antiga ou não, porque o justo, en quanto bom e livre, nunca é anti go, sempre é vigente. No fim das contas são os revolucionários, parte interessada, os que chamam um regime de “antigo”. A palavra inovação fique sendo para desig nar qualquernovidade de qualquer tipo, que não se conforma com ser simples moda, ou mudança efêmera, mas que nos faz melho-
(20) Veja-se a temática do objeto transcendental como fundatnento especulativo da liberdade em i. KANT. Nritifi V’. r. Vernunji. ed. cit. A 250-25 1. (21) A relação da razão prática de Kant, eom a vontade de Nietzschc em MEIDEGGER, Nirtzsche v. II. trad. francesa de Kloskowsky em Paris, Ed. Gallimard. 1971. pp 379-380.
(22)/1/joc 21,5. (23) SANTO HILÁRIO DE POITIERS, nihil Deo novuin esl. De Trinitate. XII, 39, Versão bilíngue Z.Í/ Trinidad. ed. dcLuis Ladaria cm Madri, BAC. 1986.
(24) A SEGURA, La naci(>n de causa sui desde la perspectiva cristiana. Palestra “XXV Reuniones Filosóficas de Pamplona”, agosto de 1988. Também do autor em op. cit. e cm Princípios de Pilosojia de la !Hstíiria, Madri, Eneuontro. 1985.
(8) G.W.F. HEGEL, Phánomenologie des Geistes. Werke 3, Suhrkamp Vcrlag, Frankfurt cm Main, 1986. Sobre a cons ciência do imutável iunwadellhar)c, pp 164-165. nas
(25)M. HEIDEGGER, El Sery el tiempo, op. cit.. Introdução.
(26) I. KANT, De mundi sensihi/is aUpie intelligibilisforma etprlncipiis"{ \ 770). in Kant’s Wcrkc, ed. da Real Academia de Berlim, v, II. 1912, pp 387-419.
(27) ul supra, nota 20.
(28) SANTO TOMAS DE AQUINO, S. Th., q. 10 art. 1.
(10) I. KANT, Kritid d. r. Vernunft. F. am Main, Suhrkamp Verlag, 1974, A Xll nota: “Religion, durchihrc Hciligkeit, und Gesetzgebung, durch ihre Majestat, wollen sich gemeiniglich der selbcn entziehen...”.
(11) I. KANT, Die Metapbysic der Sitten. Werke Vlll, ed. cit. Suhrkamp Verlag, p. 345: “Freiheit (Unabhângigkeit von eines andercn nótingender Wilkür)” liter; “In dependência dc arbítrio alheio”.
(12) M. HEIDEGGER, Et ser.y el íiempo, México FCE, 1968, p. 366, nota: “Kierkegaard segue preso ao conceito culgar de tempo, definindo o “olhar” com ajuda do “agora” e da “eternidade”. (13) ANTONIO GRAMASCI, Quaderni dei Cárcere, Torino, Einaudi, 1975: “Noterelle sulla política dei Machiavelli”, Caderno Xlile também XVIIl, (14) ARISTÓTELES, Et. Nicomaq., Vlll. (15)0 termo “revolução” que conduz KUHN, T.S. Struciure ofScientiifcRevolutions, 1962, seria aqui empregado no sentido de “inovação”.
(29)ldem,q. 19arl.3; “Undehonitalemsuam esse Deus ex necessitate vult' (20) A. SEGURA, Emmanuel. Principia Philosophica. op. cit. p. 167; 3, 4, “O amor não é um conceito vazio e a iden tidade tanscendente c o ser vivente rico e concreto". Pec/ueno Emmanuel. Memória de Deus, op. cit.. pp 80 et seqs.
(31) S. JUAN DE LA CKGZ.Subida a!Monte Carmello, lib. 228, 2 em Obras com pletas. Madri, BAC, 1978, p. 566; "pala vras substanciais são outras palavras..., as quais ha substância da alma fazem c causam aquela substância e virtude que elas significam”.
ARMANDO SEGURA É CATEDRÁTICO DE HISTÓRIA DA FILO SOFIA DA UNIVERSIDADE DE GRANADA, ESPANHA. Algumas considerações de ordem histórica, a respeito do sistema comunista, estão ultrapassados. Mas publica mos o artigo por sua importância como ensaio sobre a revolução.
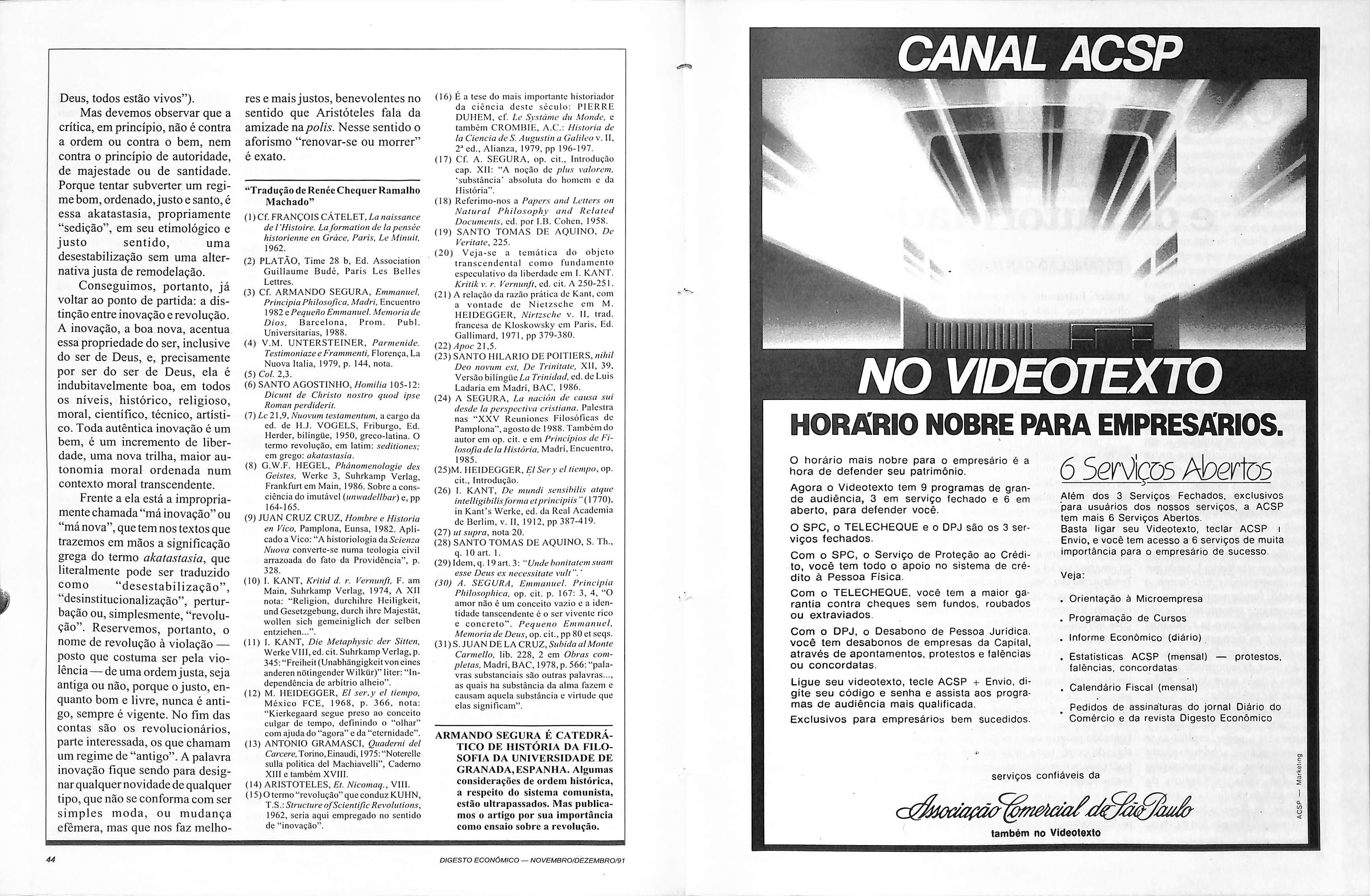
O horário mais nobre para o empresário é a hora de defender seu patrimônio.
Agora o Videotexto tem 9 programas de gran de audiência, 3 em serviço fechado e 6 em aberto, para defender você.
O SPC, o TELECHEQUE e o DPJ são os 3 ser viços fechados.
Com o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédi to, você tem todo o apoio no sistema de cré dito à Pessoa Física.
Com o TELECHEQUE, você tem a maior ga rantia contra cheques sem fundos, roubados ou extraviados.
Com o DPJ, o Desabono de Pessoa Jurídica, você tem desabonos de empresas da Capital, através de apontamentos, protestos e falências ou concordatas.
Ligue seu videotexto, tecle ACSP -f- Envio, di gite seu código e senha e assista aos progra mas de audiência mais qualificada. Exclusivos para empresários bem sucedidos.
Além dos 3 Serviços Fechados, exclusivos para usuários dos nossos serviços, a ACSP tem mais 6 Serviços Abertos.
Basta ligar seu Videotexto, teclar ACSP Envio, e você tem acesso a 6 serviços de muita importância para o empresário de sucesso.
Veja:
. Orientação à Microempresa
Programação de Cursos
. Informe Econômico (diário)
. Eslatislicas ACSP (mensal) falências, concordatas protestos.
. Calendário Fiscal (mensal)
Pedidos de assinaturas do jornal Diário do Comércio e da revista Oigesto Econômico
serviços confiáveis da
também no Videotexto
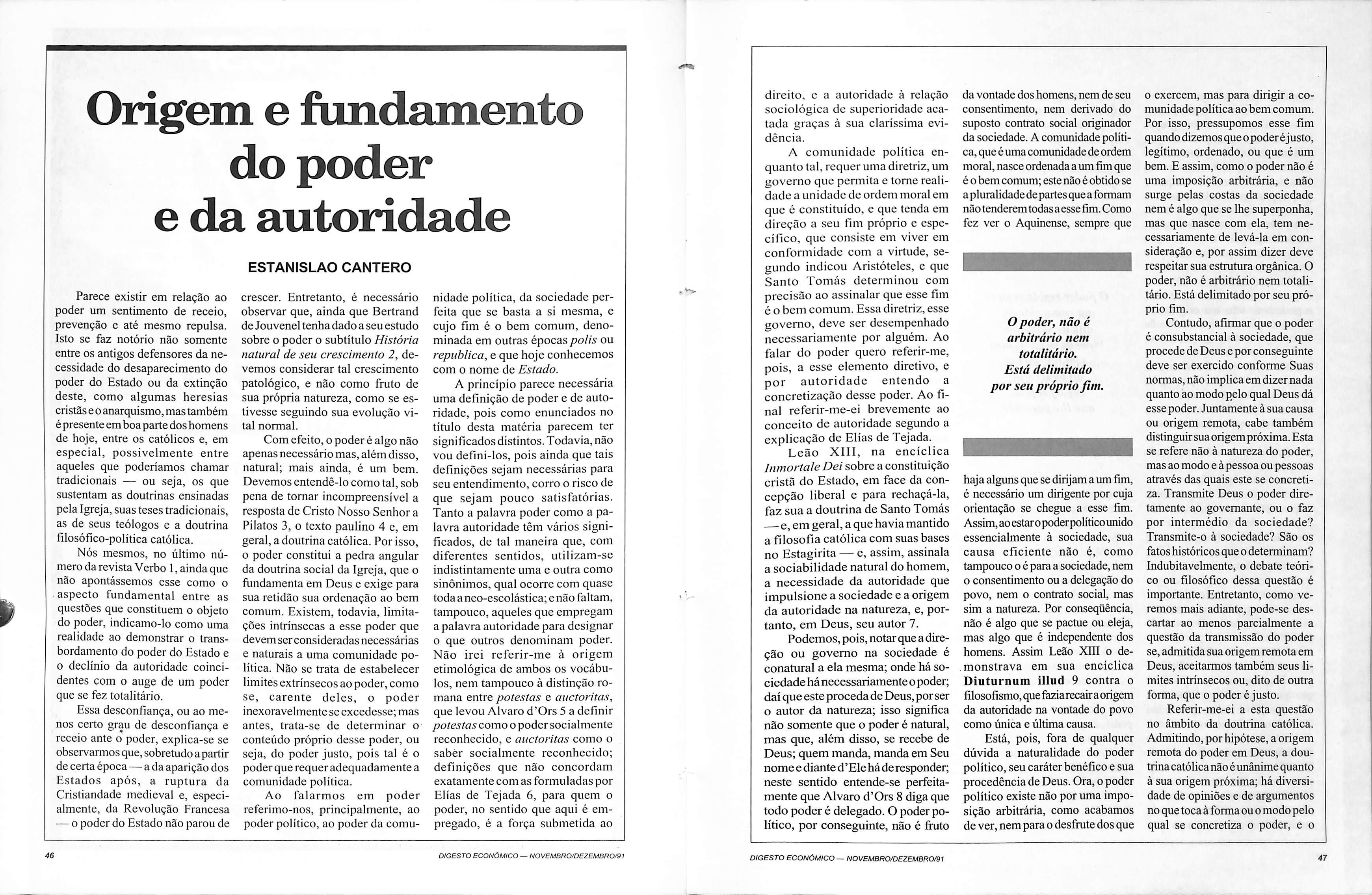
Parece existir em relação ao poder um sentimento de receio, prevenção e até mesmo repulsa. Isto se faz notório não somente entre os antigos defensores da ne cessidade do desaparecimento do poder do Estado ou da extinção deste, como algumas heresias cristãs e o anarquismo, mas também é presente em boa parte dos homens de hoje, entre os católicos e, em especial, possivelmente entre aqueles que poderiamos chamar tradicionais
sustentam as doutrinas ensinadas pela Igreja, suas teses tradicionais, as de seus teólogos e a doutrina filosófico-política católica.
Nós mesmos, no último nú mero da revista Verbo 1, ainda que não apontássemos esse como o aspecto fundamental entre questões que constituem o objeto do poder, indicamo-lo como uma realidade ao demonstrar o transbordamento do poder do Estado e 0 declínio da autoridade coinci dentes com 0 auge de um poder que se fez totalitário.
crescer. Entretanto, é necessário observar que, ainda que Bertrand de Jouvenel tenha dado a seu estudo sobre o poder o subtítulo História natural de seu crescimento 2, de vemos considerar tal crescimento patológico, e não como fruto de sua própria natureza, como se es tivesse seguindo sua evolução vi tal normal.
nidade política, da sociedade per feita que se basta a si mesma, e cujo fim é o bem comum, deno minada em outras épocas polis ou republica, e que hoje conhecemos com o nome de Estado.
ou seja, os que a as
Essa desconfiança, ou ao me nos certo grau de desconfiança e receio ante o poder, explica-se se observarmos que, sobretudo a partir de certa época — a da aparição dos Estados após, a ruptura da Cristiandade medieval e, especi almente, da Revolução Francesa — 0 poder do Estado não parou de
Com efeito, o poder é algo não apenas necessário mas, além disso, natural; mais ainda, é um bem. Devemos entendê-lo como tal, sob pena de tomar incompreensível resposta de Cristo Nosso Senhor a Pilatos 3, 0 texto paulino 4 e, em geral, a doutrina católica. Por isso, o poder constitui a pedra angular da doutrina social da Igreja, que o fundamenta em Deus e exige para sua retidão sua ordenação ao bem comum. Existem, todavia, limita ções intrínsecas a esse poder que devem ser consideradas necessárias e naturais a uma comunidade po lítica. Não se trata de estabelecer limites extrínsecos ao poder, como se, carente deles, o poder inexoravelmente se excedesse; mas antes, trata-se de determinar o conteúdo próprio desse poder, ou seja, do poder justo, pois tal é o poder que requer adequadamente a comunidade política.
Ao falarmos em poder referimo-nos, principalmente, ao poder político, ao poder da comu-
A princípio parece necessária uma definição de poder e de auto ridade, pois como enunciados no título desta matéria parecem ter significados distintos. Todavia, não vou defini-los, pois ainda que tais definições sejam necessárias para seu entendimento, corro o risco de que sejam pouco satisfatórias. Tanto a palavra poder como a pa lavra autoridade têm vários signi ficados, de tal maneira que, com diferentes sentidos, utilizam-se indistintamente uma e outra como sinônimos, qual ocorre com quase toda a neo-escolástica; e não faltam, tampouco, aqueles que empregam a palavra autoridade para designar 0 que outros denominam poder. Não irei referir-me à origem etimológica de ambos os vocábu los, nem tampouco à distinção ro mana entre potestas e auctoritas, que levou Álvaro d’Ors 5 a definir /?ore5tocomoopodersocialmente reconhecido, e auctoritas como o sabér socialmente reconhecido; definições que não concordam exatamente com as formuladas por Elias de Tejada 6, para quem o poder, no sentido que aqui é em pregado, é a força submetida ao
dircilo, c a autoridade à relaçào sociológica de superioridade aca tada graças cà sua claríssima evi dência.
A comunidade política en quanto tal, requer uma diretriz, um governo que permita e tome reali dade a unidade de ordem moral em que c constituído, e que tenda em direção a seu fim próprio e espe cífico, que consiste em viver em confomiidade com a virtude, se gundo indicou Aristóteles, e que Santo Tomás determinou com precisão ao assinalar que esse fim é o bem comum. Essa diretriz, esse governo, deve ser desempenhado necessariamente por alguém. Ao falar do poder quero referir-me, pois, a esse elemento diretivo, e autoridade entendo a
da vontade dos homens, nem de seu consentimento, nem derivado do suposto contrato social originador da sociedade. A comunidade políti ca, que é uma comunidade de ordem moral, nasce ordenada a um fim que é o bem comum; este não é obtido se apluralidadedepartesqueaformam não tenderem todas a esse fim. Como fez ver o Aquinense, sempre que
0 exercem, mas para dirigir a co munidade política ao bem comum. Por isso, pressupomos esse fim quando dizemos que o poder é justo, legítimo, ordenado, ou que é um bem. E assim, como o poder não é uma imposição arbitrária, e não surge pelas costas da sociedade nem é algo que se lhe superponha, mas que nasce com eia, tem ne cessariamente de levá-la em con sideração e, por assim dizer deve respeitar sua estrutura orgânica. O poder, não é arbitrário nem totali tário. Está delimitado por seu pró prio fim.
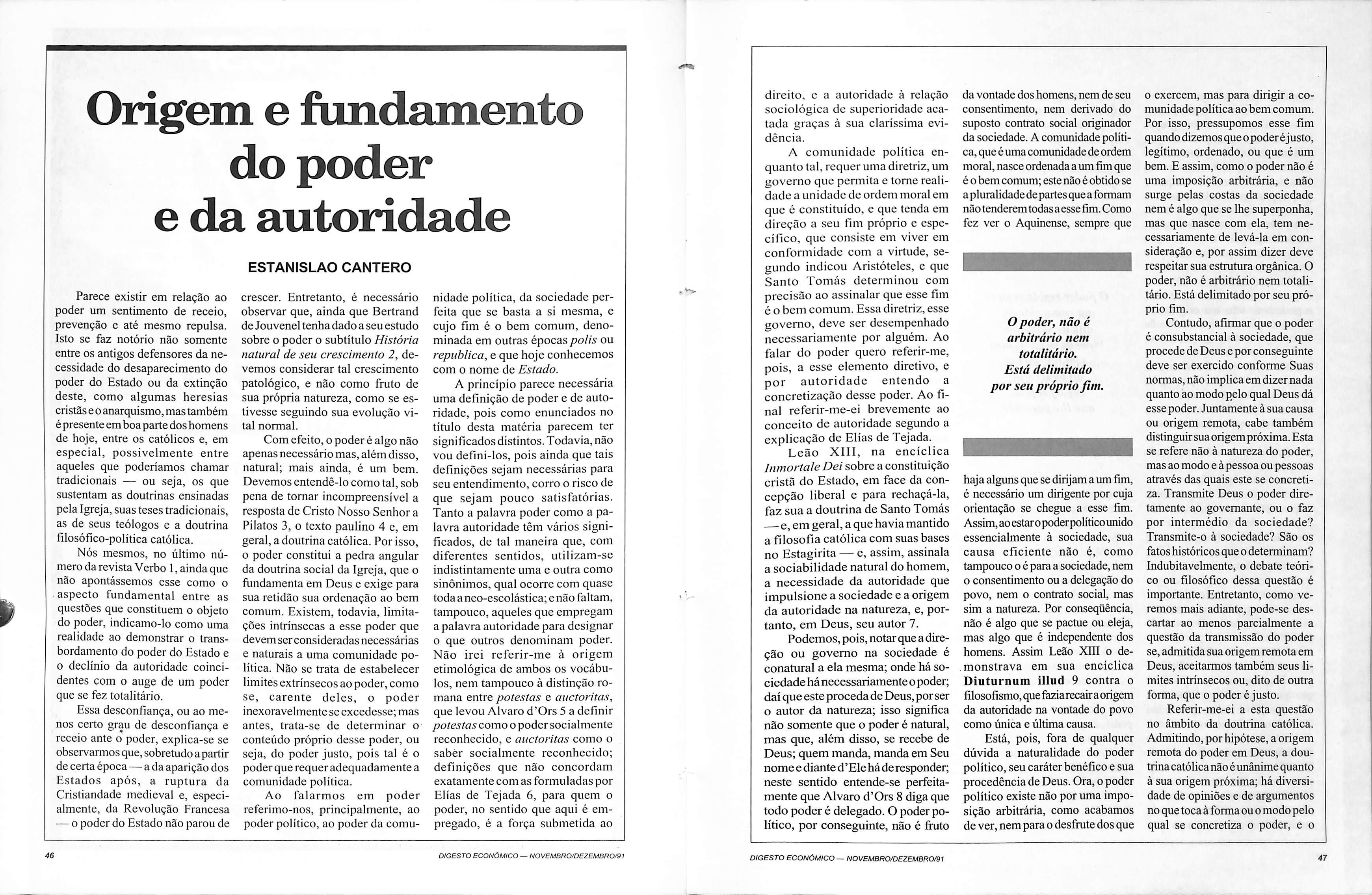
haja alguns que se dirijam a um fim, é necessário um dirigente por cuja orientação se chegue a esse fim. Assim, aoestaropoderpolítico unido essencialmente à sociedade, sua causa eficiente não é, como tampouco o é para a sociedade, nem o consentimento ou a delegação do povo, nem o contrato social, mas sim a natureza. Por conseqüência, não é algo que se pactue ou eleja, mas algo que é independente dos homens. Assim Leão XÍII o de monstrava em sua encíclica Diuturnum illud 9 contra o filosofísmo, quefaziarecairaorigem da autoridade na vontade do povo como única e última causa. Está, pois, fora de qualquer dúvida a naturalidade do poder político, seu caráter benéfico e sua procedência de Deus. Ora, o poder político existe não por uma impo sição arbitrária, como acabamos de ver, nem para o desfhite dos que a a a
O poder, não é arbitrário nem totalitário. Está delimitado por seu próprio fim. por concretização desse poder. Ao fi nal referir-me-ei brevemente ao conceito de autoridade segundo a explicação de Elias de Tejada. Leão XIII, na encíclica Inmortale Dei sobre a constituição cristã do Estado, em face da con cepção liberal e para rechaçá-la, faz sua a doutrina de Santo Tomás - e, em geral, a que havia mantido filosofia católica com suas bases no Estagirita — e, assim, assinala sociabilidade natural do homem, necessidade da autoridade que impulsione a sociedade e a origem da autoridade na natureza, e, por tanto, em Deus, seu autor 7. Podemos, pois, notar que a dire ção ou governo na sociedade é conatural a ela mesma; onde há so ciedade há necessariamente o poder; daí que este proceda de Deus, por ser o autor da natureza; isso significa não somente que o poder é natural, mas que, além disso, se recebe de Deus; quem manda, manda em Seu nome e diante d’Ele há de responder; neste sentido entende-se perfeitamente que Álvaro d’Ors 8 diga que todo poder é delegado. O poder po lítico, por conseguinte, não é fimto
Contudo, afirmar que o poder é consubstanciai à sociedade, que procede de Deus e por conseguinte deve ser exercido conforme Suas normas, não implica em dizer nada quanto ao modo pelo qual Deus dá esse poder. Juntamente à sua causa ou origem remota, cabe também distinguirsuaorigem próxima. Esta se refere não à natureza do poder, mas ao modo e à pessoa ou pessoas através das quais este se concreti za. Transmite Deus o poder dire tamente ao governante, ou o faz por intermédio da sociedade? Transmite-o à sociedade? São os fatos históricos que o determinam? Indubitavelmente, o debate teóri co ou filosófico dessa questão é importante. Entretanto, como ve remos mais adiante, pode-se des cartar ao menos parcialmente a questão da transmissão do poder se, admitida sua origem remota em Deus, aceitarmos também seus li mites intrínsecos ou, dito de outra forma, que o poder é justo. Referir-me-ei a esta questão no âmbito da doutrina católica. Admitindo, por hipótese, a origem remota do poder em Deus, a dou trina católica não éunânime quanto à sua origem próxima; há diversi dade de opiniões e de argumentos no que toca à forma ou o modo pelo qual se concretiza o poder, e o
significado dessa origem. As diversas doutrinas podem ser classificadas em dois grupos fundamentais que, por sua vez, podem ser subdivididos. Rafael Maria de BalbínlO realizou seus
estudos classificando-os em quatro grupos principais, se bem que com diferenças dignas de nota, entre os que podem ser associados a cada um desses grupos. Teríamos, assim, dois grandes grupos formados pelo imediatismo e pelo mediatismo. Para os imediatistas, a comunida de política em nenhum caso possui 0 poder que tem sua origem em Deus, e que vai diretamente de Deus para o governante, podendo-se estabelecer uma sub-
afirmar que o poder ou a autorida de (utiliza-se uma ou outra expres são) reside de modo natural na comunidade política, no povo. Portanto, aquele que governa tem de ter recebido o poder é do povo. Segundo esta teoria, é a própria sociedade que se dirige a um fim determinado, pois é próprio dela govemar-se. Neste grupo, a teoria

pertence. Essa tese, que é a mais extrema, defendida por Maritain c, também, a mais próxima à de Rousseau. De acordo com essa te oria não ocorre uma transmissão do poder, mas este pertence ao povo e dele participam os governantes. Fica claro, pois, que com a teoria maritainiana, por conclusão chega-se, sem grande esforço e quase que necessaria mente, à forma de governo demo crática, como faz Maritain 11. Examinamos sucintamente as diversas teoriasexistentes, as quais poderiamos ser ainda abordadas mais profundamente, não somente referindo-nos mais detalhadamente a cada autor, mas mencionando também os ecléticos que procuram conciliar as teorias imediatistas com as mediatistas. Qual delas é a correta? É necessário optannos por alguma? Na verdade, não se trata, aqui, de tomarmos partido ante a questão, mas sim de ressaltarmos, de acordo com a Igreja também não toma partido no plano da doutrina católica, to das elas são admissíveis. Melhor
O poder reside sempre na comunidade, que o exerce por meio de órgãos, mas sem renunciar ao poder que lhe épróprio, que lhe pertence. divisão entre o imediatismo exa gerado ou extremo para qual, apesar de não ser a vontade ex pressa de Deuso fator determinante de quem deve governar, tampouco o é a vontade dos homens, mas sim a tradição de uma nação, em virtude da qual são os melhores que goe 0 imediatismo moque , que mais aceita afirma que, uma vez não podendo a comunidade como um todo exercer a autoridade, ela deve necessariamente transferir o poder aos governantes. Para a mai oria dos partidários desta doutrina, o poder á transferido pelo povo em uma única ocasião, conservando este a faculdade de depor seus titu lares em casos de extrema tirania. Denomina-se esta, também, teoria da translação, pois o povo translada o poder que lhe pertence a quem ele determina. O poder, que proce de de Deus, chega ao governante ou governantes por intermédio do povo, ao qual corresponde esse poder, e o povo o transfere aos seus governantes.
vemam derado, para o qual é necessária a intervenção da vontade popular, ainda que de forma vaga plícita, para designar seu governante. Segundo esta teoria, a intervenção da sociedade reduz-se à designação de quem há de go vernar, a nomear a autoridade; por esta razão é também chamada te oria da designação. O poder de modo algum reside no povo, assim como 0 governante não é nomeado por vontade expressa de Deus; o povo limita-se a designá-lo qualquer procedimento que seja —, e, a partir daí, o poder vai diretamente de Deus ao governante. Entre essas teorias, a mais di fundida é a teoria mediatista, pois hoje é a que maior número de simpatizantes atrai, e é a que mais está em voga, como antes da apari ção do neo-escolasticismo. O mediatismo caracteriza-se por
dizendo, creio que quase todas, pois uma delas deve ser excluída, porque se é certo vamente o é — ou imcomo efetique a Igreja tampouco toma partido das diver sas formas de governo e as admite todas contanto que o poder se exerça corretamente, visando o deverá ser bem comum rachaçada como errônia aquela conduz, teoria inexoravelmente, a uma única forma de governo válida, à santi dade da democracia, como ocorre com a teoria sustentada por Maritain. que por Creio, ainda, podennos afirmar que a doutrina na Igreja não tomou partido nessa questão, ainda que os autores assim o afirmem e de for ma inequívoca, por meio de Leão XIII e de São Pio X. E o que ocorre,
Cabe também discorrer sobre outro mediatismo extremo, para o qual o poder reside sempre na co munidade, que o exerce por meio de órgãos, mas sem renunciar ao poder que lhe é próprio, que lhe
por exemplo, com Eugênio Vcgasl2, que assim o entendeu e afirmou com clareza, procedendo a uma análise dos textos dos refe-
ridos Papas. Entretanto, para ou tros autores, como Rommem 13 ou, entre nós, Victorino Rodríguez, O.P.14, a análise dos textos que conduzem Eugênio Vegas <à con clusão dc que os Papas menciona dos Lcão XIll c São Pio X haviam ensinado explicitamente a doutrina da designação, leva-os a uma conclusão bem diferente, por entender que ambos os Papas não combatiam, mas sim tratavam quando muito de forma indireta a tese tradicional do mediatismo translacionista, ao rechaçar e reflitar as doutrinas do liberalismo e do marxismo em torno da origem da sociedade e do poder, que era do sua opinião, realmente
fica transformada a autoridade? Numa sombra, num mito, já não há mais a lei propriamente dita, já não existe mais a obediência”17.
De qualquer modo, todas es sas teorias que sucintamente pro curei expor, com exceção da maritainiana, são aceitáveis sem pre que se leve em consideração o seguinte:

A atuação dos governantes fica limitada ao que é opinável dentro da ordem natural, não podendo transpor esse limite. que, cm tratavam. Em conseqüência disso. poder-se-ia argumentar que, por detrás desse rechaço e dessa refu tação, estariam aproveitando a ocasião para ensinar, com a auto ridade própria do Pontífice, a doutrina da designação. Como estamos vendo, colocada nesses termos a discussão seria iníenni-
1®) Que de Deus, autor da na tureza humana, de sua sociabilida de, procede, como fonte primeira e universal, todo poderpolítico, pelo que qualquer exercício desse po der contrário às leis de Deus é nável. injusto.
Não há dúvida, entretanto, que palavras de Leão XIII na encíclica Diutiirmim illud\5, e as de São Pio X em Notre chorge apostolique\6, reiterando as afir mações de Leão XIII, parecem confirmar plenamente a tese dos imediatistas designacionistas. De outra fonna parece não ter sentido uma afinuação aparentemente tão categórica, como a de Leão XIII ao dizer: “Com esta eleição designa-se o governante mas não se lhe con ferem os direitos do poder. Nem se lhe entrega o poder como um mandato, mas se estabelece que quem há de exercê-lo”; ou a de São Pio X: “Se o povo pennanece como sujeito detentor do poder, em que
2°) Que a lei natural, derivada de Deus, é fonte universal e neces sária do poder político, pelo que o poder político não pode também contrariar a lei natural e o direito as
perfectiva inerente à sociedade. 4°) Que se a determinação concreta de uma forma de gover no, assim como a estrutura da co munidade política, e a eleição dos governantes são sujeitos à escolha dos cidadãos, estes devem submeter-se aos limites da lei de Deus e da lei natural, visando obrigatoriamente o bem comum0 qual pode ou não identificar-se com o bem da maioria, sendo também pouco provável que possa identificar-se com o bem de um partido, menos ainda com a vontade daquela ou deste. Por isso, a atua ção dos governantes fica limitada ao que é opinável dentro da ordem natural, não podendo transpor esse limite. E indiscutível, portanto, a incompatibilidade com a concep ção católica tanto do conceito do poder segundo 0 qual o governante, tendo recebido do povo um man dato, pode realizar tudo o que este deseje (supondo que fosse possível averiguar a vontade unânime do povo), como daquele outro con ceito de poder segundo o qual o governante, tendo recebido o po der do povo, pode fazer tudo o que queira de acordo com sua vontade própria, até que seu mandato seja revogado por ocasião de uma nova eleição.
5°) Que, naturalmente, quan do nos referimos ao povo, trata-se do povo organizado, não de uma multidão ou massa amorfa, tal como precisou Pio XII em sua rádio-mensagem Benignitas et humanitas 18. Ou seja, quando os mediatistas translacionistas natural.
3°) Que, admitindo-se o poder de autogovemo na sociedade, esta necessariamente tem de transladáreferem-se ao povo, devemos en tender a sociedade com sua estru tura orgânica.
Finalmente, se nos referimos agora, brevemente, ao conceito de autoridade como relação socioló gica de superioridade acatada graças à sua claríssima evidência, podemos ver que o poder, ou as lo, pois é preciso que alguns ocupem-se especifícamente do ato de governá-la e de dirigi-la, sem que sejam meros mandatários do povo, o qual poderia revogá-los de acordo com sua vontade, pois o não é resultado de um governo pacto, convênio ou expressão da vontade, mas uma necessidade
pessoas que o desempenham, ne cessitam dessa autoridade para que governantes e governados cami nhem em concordância visando uma meta única, o bem comum. Se a autoridade procede de autor, quando se passa do fazer ao dirigir, a consideração de superioridade que se reconhecia no autor sucita, por si mesma, aprovações, como explicou Elias de Tejada 19, desde que tenha sido boa a direção. Aqui a autoridade já não se refere à ne cessidade de uma liderança, mas que essa liderança seja plenamente aceita, acatada, com respeito às pessoas que a desempenham. En quanto 0 poder, como necessária direção da sociedade, pode impor-se — e seu bom uso é feito quando legitimado pelo direito—, por outro lado, à autoridade não cabe uma imposição forçosa. E daí que Rommen fala de seu aspecto mo ral. E, por mais que se queira, se entre os governados não existe a aceitação da superioridade de seus governantes, se essa relação soci ológica não é um fato, jamais poder-se-á conseguir essa aceita ção nem pela força, nem pelo po der legitimado pelo direito.
Assim, tanto mais autoridade existirá quanto maior for esse re conhecimento e essa aceitação, não apenas no número de governantes, mas, sobretudo, na intensidade
desse reconhecimento e dessa aceitação. Tanto é assim que, como ressalta Elias de Tejada 20, é a autoridade que justifica o poder perante os governados, com muito mais eficácia, inclusive, do que as justificativas que possa dar a justi ça. E, acrescentando: “o reconhe cimento que proporciona a autori dade é o complemento sociológico necessário para que o poder seja justificado plenamente”.
Em decorrência disso, o maior vínculo possível entre os que go vernam e seus governados dá-se quando a autoridade, como aqui entendida, que o poder necessita, fundamenta-se na unidade de crenças, e estas tomam-se real idade na vida cotidiana.
(1) "El poder”, verbo, n. 267-268 (1988). (2) Bertrand de Jouvcnel, El poder. Editora Nacional. Madri. 1956. (Tradução Espa nhola) (3) "Não terias nenhum poder sobre mim se não te fosse dado do alto”, .Jn 19,11.
(4) "Todos devem submeter-se às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus; c as que. de fato, existem foram estabelecidas por Deus, de sorte que quem resiste à autoridade opàe-se à ordem estabelecida por Ele, e os que a ela se opõem atraem sobre si uma sentença de condenação”, Roni 13, 1-2.
(5) Álvaro D’Ors, Escritos Varios sobre el derecho en crisis, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madri, 1973, p. 87. La violência y el orden. Dyrsa, Madri, 1978, p. 57.
(6) Francisco Elias de Tejada. “Poder y autoridad; concepción tradicional
cri.stiana". Verbo. n. X.S-Sft (1970), pp 429-431, (7) Leão XIII. Innuirtale Dei. Doutrina Pontifícia. II. Documcnlospolílicos, BAC. Madri. I95S, p. 191. (8) /Mvaro D‘C)r.s, l.a violência y..,. p. 120, (9) Leão Xill. Diiitiiriuini illud. ibid.. pp
111-115. (10) Rafael M. dc Balbin Bchrmann. I,a concrodon dd poder políllco. Uni\crsidade de Navarra. Pamplona. 19f>4. pp 85-152. Scrvi-mc des.sa obra para a pre.scnie c-xpo-sivão.
(II) Jaqiics Maritain. I/hotnme c( 1'EdaL PUF. Paris. 1965. 2‘‘cd.; Crislíanismo y democracia. La Pleyade. Buenos Aires. 1971, (12) Eugênio Vcuas Latapie. “Origen y fuiulamentodel poder". Verbo. n. 85-86 (1970). (13) lleinrich A. Komnien. El Esiado en el pensamientocatólico. Instilutodc Estúdios Políticos. Madri. 1956. pp. 538-540. (14) Victorino Rodriyuez. O.P.. Concepción cristianadcl Estado. Verbo. n. 157{ 1977). pp 893 e 899. (15) "Os que hão de governar podem ser eleitos em determinadas ciscunslâiicias pela vontade c juízo do povo. sem ipie a isto se oponha a doutrina católica. Com esta eleição designa-se o governante, mas não se lhe conferem os direitos do poder, Nem se lhe entrega o poder como um mandato, mas se estabelece a pessoa que o há de exercer;. Leão XIII. diuturiuim illud. ed. cit.. p. III. (16) São Pio X. Notre cliarge apostilitjiic. Doutrina Ponlincia. II. Documentos Po líticos, BAC, Madri, 1958. p. 41 1. (17)SãoPioX.No(rocliangc apostoliqiie. ibid.. p.411. (18) Pio XII. Bcnignita,s ct liunianitas. Dou trina Pontincia, cd. cit.. pp 875-876. (19) F. Elias de Tejada, op. cit. (20) F. Elias de Tejada, op. cit., p. 434.
ESTANISLAO CANTERO é autor es panhol. O texto foi debatido na Reunião da Ciiidad Católica, em Madri. Tradução de Rence Chequer Ramalho Machado.
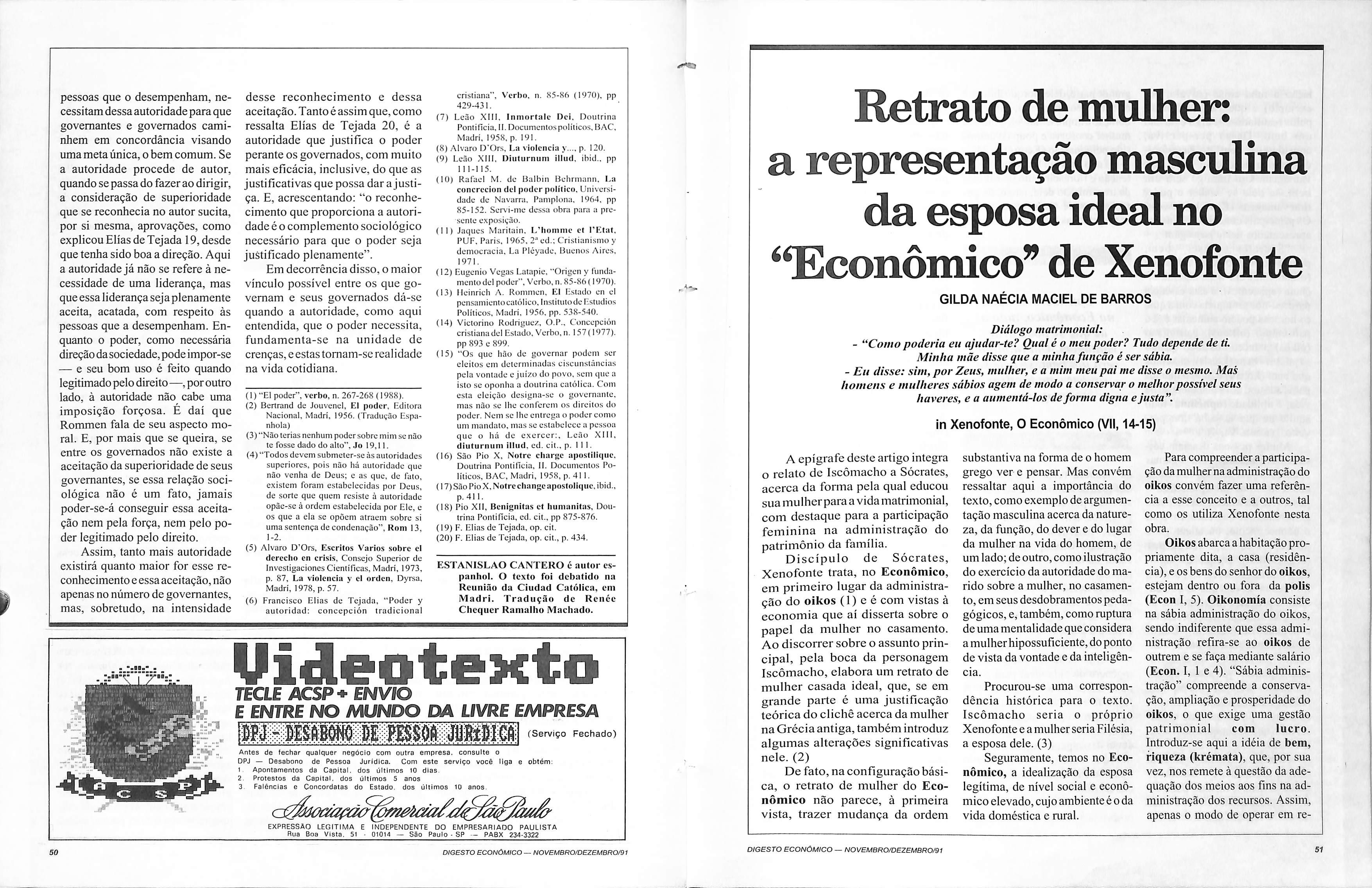
Antes de fechar qualquer negócio com outra empresa, consulte o
(Serviço Fechado)
DPJ Desabono de Pessoa Jurídica. Com este serviço você liga e obtém: Apontamentos da Capital, dos últimos 10 dias.
2. Protestos da Capital, dos últimos S anos
3. Falências e Concordatas do Estado, dos últimos 10 anos.
GILDA NAÉCIA MACIEL DE BARROS
Diálogo matrimonial:
- ^*Como podería eu ajudar-te? Qual é o meu poder? Tudo depende de ti. Minha mãe disse que a minha função é ser sábia.
- Eu disse: sim, por Zeus, mulher, e a mim meu pai me disse o mesmo. Mas homens e mulheres sábios agem de modo a conservar o melhor possível seus haveres, e a aumentá-los de forma digna e Justa”.
in Xenofonte, O Econômico (VII, 14-15)
A epígrafe deste artigo integra relato de Iscômacho a Sócrates, acerca da forma pela qual educou sua mulherparaavida matrimonial, com destaque para a participação feminina na administração do patrimônio da família.
Discípulo de Sócrates, Xenofonte trata, no Econômico, em primeiro lugar da administra ção do oikos (1) e é com vistas à economia que aí disserta sobre o papel da mulher no casamento. Ao discorrer sobre o assunto prin cipal, pela boca da personagem Iscômacho, elabora um retrato de mulher casada ideal, que, se em grande parte é uma justificação teórica do clichê acerca da mulher na Grécia antiga, também introduz algumas alterações significativas nele. (2)
De fato, na configuração bási ca, o retrato de mulher do Eco nômico não parece, à primeira vista, trazer mudança da ordem
substantiva na forma de o homem grego ver e pensar. Mas convém ressaltar aqui a importância do texto, como exemplo de argumen tação masculina acerca da nature za, da função, do dever e do lugar da mulher na vida do homem, de um lado; de outro, como ilustração do exercício da autoridade do ma rido sobre a mulher, no casamen to, em seus desdobramentos peda gógicos, e, também, como ruptura de uma mentalidade que considera a mulher hipossuficiente, do ponto de vista da vontade e da inteligên cia.
Procurou-se uma correspon dência histórica para o texto. Iscômacho seria o próprio Xenofonte e a mulher seria Filésia, a esposa dele. (3)
Seguramente, temos no Eco nômico, a idealização da esposa legítima, de nível social e econô mico elevado, cujo ambiente é o da vida doméstica e niral.
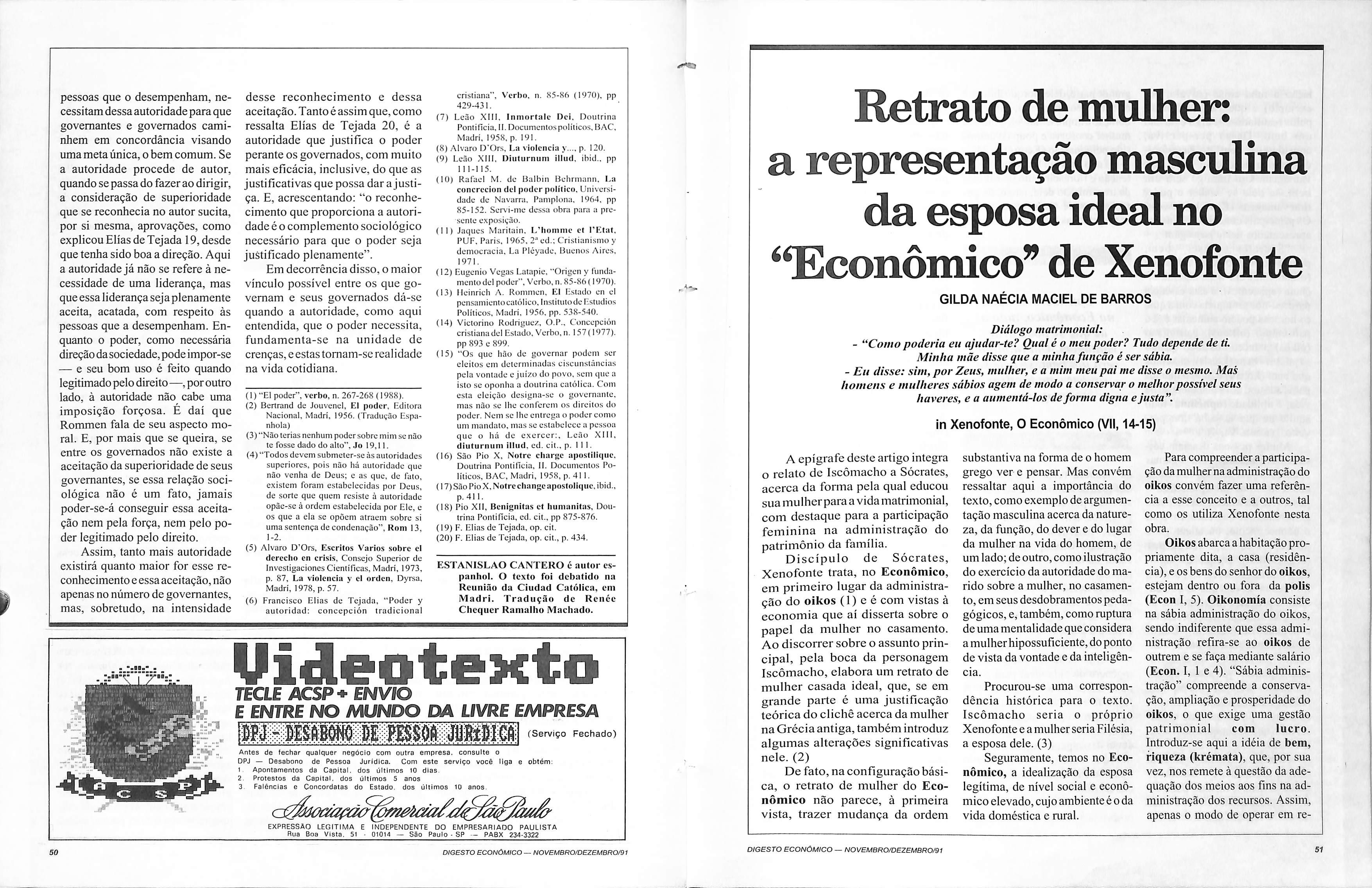
Para compreender a participa ção da mulherna administração do oikos convém fazer uma referên cia a esse conceito e a outros, tal como os utiliza Xenofonte nesta obra.
Oikos abarca a habitação pro priamente dita, a casa (residên cia), e os bens do senhor do oikos, estejam dentro ou fora da polis (Econ I, 5). Oikonomía consiste na sábia administração do oikos, sendo indiferente que essa admi nistração refira-se ao oikos de outrem e se faça mediante salário (Econ. I, 1 e 4). “Sábia adminis tração” compreende a conserva ção, ampliação e prosperidade do oikos, o que exige uma gestão patrimonial com lucro. Introduz-se aqui a idéia de bem, riqueza (krémata), que, por sua vez, nos remete à questão da ade quação dos meios aos fins na ad ministração dos recursos. Assim, apenas o modo de operar em re-
lação a uma coisa (cavalo, por exemplo) é que vai determinar, pelos resultados, se algo é ou não um bem. Dessa perspectiva, considera-se bem. no Econôml-
grande parte, dele, porque lhe cabe orientar a companheira, cuja cola boração é imprescindível. Uma boa mulher conserva c poupa o adqui rido pelo marido (Econ. 111, 24).
Tudo gira em torno da manu tenção e florescimento do oikos c da transmissão dele, isto é, da ge ração da prole. Nesse quadro é que se projetam as figuras do Senhor e CO, tudo 0 de que se pode tirar vantagem. Um inimigo será um bem, se dele se souber e puder tirar vantagens. (Econ.1,6 et seqs). Os principais conceitos são assim apresentados nesta passagem, disse: Sócrates bem. parece-nos que o nome economia (oikonomia) era o de alguma ci ência (epistemes), e esta essência pareceu-nos ser aquela com a qual os homens podem aumentar o seu patrimônio (oíkous); patrimônio (oikos) pareceu-nos tudo quanto se possui - bens (ktêsis); dissemos que bem (ktêsin) é tudo o que for para cada um, útil à manutenção da vida, e utilidade (ophélima) tudo aquilo de que se saiba tirar pro veito.” (Econ. VI, 4)
Muitas pessoas desejam coi sas boas (agathá); têm algumas condições para alcançá-las, como conhecimentos (ai epistemai) posses (tà ktémata), mas não têm êxito. Elas não querem aproveitar 0 conhecimento, ou talento, e a trabalhar
isto posse; (ergázesthai), porque as domi nam outros senhores, as paixões, mestres invisíveis que as coman dam: a preguiça (argía), falta de energia dalma, moleza, (malakía) e negligência (améleia). Outros males, ainda, afastam-nas dos tra balhos proveitosos, ou as arruíe, nam, quando já progrediram. (Enquadra-se, aqui, a má esposa). Assim, o êxito na economia impli ca saber e poder adquirir e con servar o que se conquistou (Econ. I, 16-23).
Aclara-se, assim, a relação entre o casamento e o destino do oikos. O senhor da casa pode as sistir à prosperidade dela ou à sua ruína. A responsabilidade é, em
Considera-se bem, no Econômico, tudo o de que se pode tirar vantagem. Um inimigo será um bem, se dele se souber e puder tirar vantagens.

da Senhora (esposa legítima) e dos seus descendentes, cercados c servidos por seus escravos e em pregados. O homem assoma como líder, instrutor de escravos, orientador dos empregados e edu cador da mulher; a esta cabe co mandar os domésticos c responder pelos resultados dos trabalhos de dentro do oikos, isto é, do lar. No Econômico, o pano dc fundo é rural e a geração de riquezas de pende da administração agrícola. Pergunta-se neste texto sobre o gênero de vida ideal para o ho mem nobre (kaiós e agathós). A resposta é um vivo elogio à agri cultura, feito pelo modelo de ho mem nobre: Iscômacho. E no dis curso dessa personagem que o A. introduz considerações sobre o trabalho da mulher na administrae
to da amizade e ao serviço da cidadc-cstaclo: diferentementedas artes mecânicas (artesanais). ela não prejudica o corpo, antes o enrijece, nem prejudica a alma, pois que a deixa livre para os seus próprios inis. Estimula no homem o amor à terra (e, com este, o desejo de a defender), a bravura, o espirito de cidadania, o sentimento de que se é útil à polis. (4)
A melhor vida c a rural; o senhor de terras, o tipo ideal de homem. Iscômacho cnquadra-sc bem ai: reúne beleza e espírito (Econ. VI, 13). Cuida da forma fisica, visando primeiro à saúde. A ida aos campos, para superintender os trabalhos, oferece a oportuni dade para exercícios c treinamento militar, por meio de manobras eqüestres. É um nobre (agathós), um homem prudente, temente aos deuses, de espírito empreendedor, empenhado cm prosperar, mas de forma justa.
É certo que sua oposição às artes manuais traduz o preconceito de círculos aristocráticos em rela ção às atividades dos artesãos, mas Xenofonte não pode ser colocado entre os ari stocratas que hosti 1 izam o trabalho, cuja família tem, de longa data, grandes posses. O pai, homem de mérito, sem ter apren dido com ninguém, teve êxito e sem dificuldade encontrou a chave do progresso (Econ. XX, 21-26) Sabia combinar o prazer (advindo do cultivo da tena, que amava) com 0 lucro, pois que enriqueceu peja agricultura. Assim, não há, no Econômico, hostilidade ao traba lho pessoal e ao dinheiro que dele advém.
Distancia-se nesse ponto, o A., de certa facção da nobreza, que o poeta lírico Teógnis de Megara representou antes tão bem. Se Teógnis abomina o critério da ri queza para a fundação da ordem política e social, Xenofonte não ção do oikos.
A seu ver, agricultura propricia o ócio necessário ao cul-
desvaloriza o interesse pela gera ção de bens e faz dele a mola do êxito individual e familiar, con quanto, ainda nos quadros de uma visão aristocrática, subordine o
amor ao ganho ao amor à honra (Econ. XIV, 9-10).
Dentro desse espirito, o enri quecimento é desejável nos qua dros de uma étiea pragmática, de fundo religioso e político, nos ter mos da qual o desejo de aprovação social, as honrarias e a justiça im portam e muito. O A. não ignora o estímulo primeiro do homem
dos cômodos e utensílios da casa, na distribuição das tarefas, na compreensão do tempo (sagrado e profano); essa ordem alcança a classificação social dentro do oikos: a senhora tem o seu lugar cm relação ao marido e em relação aos criados. A inobservância da ordem é o princípio da decadência c ruina do oikos.

O homem não necessita de consentimento paterno para o casamento, mas geralmente consulta o seu oikos. aos comportamento humano, pensa que todos agem em função dc seu interesse, ainda que, na aparência, mostrem o contrário. Assim, o sentimento de devoção do empreado (cunoias) cm relação ao pa trão, não é gratuito, mas nutrc-sc do estímulo da recompensa. O ho mem c, para o autor do Econô mico, devoto dc si mesmo. É por isso que Iscômacho lembra à esposa que a conservação dos bens do oikos é do interesse dela, porque também lhe perten cem. Ensiná-la a pensar como ele é dever do próprio marido. Esse, o cuidado do bom admig
primeiro nistrador. Pelo que nos relata, Iscômacho teve êxito.
Para compreender o papel da mulher no oikos é preciso consi derar como Iscômacho pensa a respeito de sua gestão.
Sc a mulher é importante na administração do oikos é porque a vida conjugal é pensada como koinoia, fundada religiosa e juri dicamente. A koinoia, entendida como associação dc duas pessoas, que reúnem suas forças de fomia regrada, e as disciplinam para o bom andamento do negócio da família, atribui a cada um espaço próprio: ao marido, fora do oikos, à mulher, dentro dele (Econ. VII, 22).
a separação espacial e funcional entre ambos. (Econ. VII, 24). Regras, cuja violação traz vergo nha e desonra, disciplinam a atu ação de cada um. O castigo divino acompanha a inversão de papéis (Econ. VII, 30-31). Em tudo o mais
atenção, memória, pru dência — as diferenças dizem respeito apenas ao indivíduo, in dependentemente de sexo.
Homem e mulher completamse e não se dispensam. O correlato econômico-administrativo dessa convicção prende-se a um esque ma contábil elementar. Se o oikos é pensado até certo ponto como empresa, na koínoía conjugal o marido é responsável pelas recei tas, a mulher pelos gastos e pou pança. A disciplina doméstica está sob 0 controle dela. No conjunto, 0 oikos aumenta ou diminui, prospera ou míngua pelo bom ou mau desempenho de ambos (Econ. XIII, 14).
Todo discurso fundador pelo qual Iscômacho faz a justificação do papel da mulher no matrimônio é fortalecido pela religião, aliada à força da lei; no nível profano, a convenção, que afirma a ordem divina, também a confirma, ao prescrever a prosperidade econô mica (VII, 18 et seqs, 30). Os deuses juntaram homem e mulher em perfeita parceria de serviços mútuos: eis tàn koinonían (Econ. VII, 18-19), a qual inclui a gera ção de filhos (teknopoioúmenon) (Econ. VII, 19) que, no futuro, serão os continuadores do oikos. que c o amor dc si. Realista e sensível fundamentos psicológicos do
uma grande fé na justiça (fundada religião) são a chave do êxito administração doméstica. O oikos deve ser dirigido analogicamente ao exército, ao coro, ao navio fenício: cada coisa deve ter o seu lugar. A ordem não é relativa ao mundo físico, apenas, mas supõe uma implicação de hi erarquia social e legal. Deve haver ordem pai'a tudo: na destinação
O amor absoluto à ordem e A diferença básica entre o ho mem e a mulher está na força: mais frágil, tímida, a mulher cuida do lar; mais resistente, o homem traz do campo os recursos para o lar. Há serviço de mulher e serviço de homem, porque há serviços próprios para um e outro. A con vicção de que a mulher, mais afetiva ou apta para externar afeição à criança, é, por natureza, adequada à maternidade, acentua
A mulher de Iscômacho—na Grécia, a mulher solteira está sub metida ao homem que a governa — seu kyrios, o senhor. Este é quem lhe escolhe o marido. A fe licidade dela não é o móvel da escolha, e, sim, os interesses do oikos. Aliás, 0 próprio Iscômacho. 0 ratifica. O homem não necessita de consentimento paterno para o na na
casamento, mas geralmente con sulta o seu oíkos. O Econômico é claro: o casamento de Iscómacho visa à fundação de um oíkos e a fazê-lo prosperar (Econ. VII, 11).
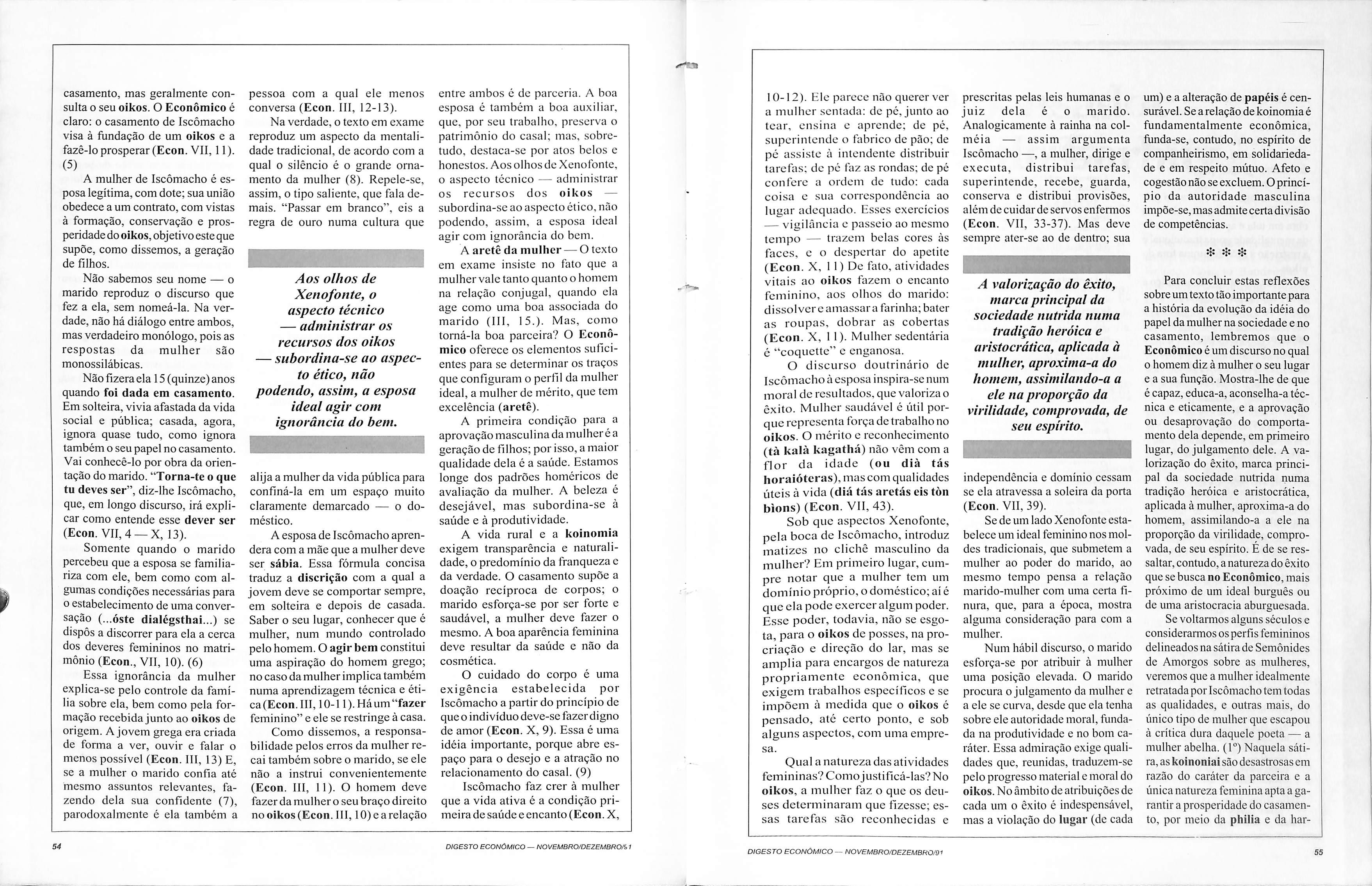
pessoa com a qual ele menos conversa (Econ. III, 12-13).
Na verdade, o texto cm exame reproduz um aspecto da mentali dade tradicional, de acordo com a qual 0 silêncio é o grande orna mento da mulher (8). Rcpelc-se, assim, o tipo saliente, que fala dePassar em branco”, eis a (5)
A mulher de Iscómacho é es posa legítima, com dote; sua união obedece a um contrato, com vistas à formação, conservação e pros peridade do oíkos, objetivo este que supõe, como dissemos, a geração de filhos.
Não sabemos seu nome — o marido reproduz o discurso que fez a ela, sem nomeá-la. Na ver dade, não há diálogo entre ambos, mas verdadeiro monólogo, pois as respostas da mulher são monossilábicas.
Não fizera ela 15 (quinze) anos quando foi dada em casamento. Em solteira, vivia afastada da vida social e pública; casada, agora, ignora quase tudo, como ignora também o seu papel no casamento. Vai conhecê-lo por obra da orien tação do marido. “Torna-te o que tu deves ser”, diz-lhe Iscómacho, que, em longo discurso, irá expli car como entende esse dever ser (Econ. VII,4 —X, 13).
mais.
regra de ouro numa cultura que
o aspecto técnico
cnlrc ambos c dc parceria. A boa esposa é lambem a boa auxiliar, que, por seu trabalho, preserva o patrimônio do casal; mas, sobre tudo, destaca-se por atos belos e honestos. Aos olhos dc Xenofonte, administrar os recursos dos oíkos — subordina-se ao aspecto ético, não podendo, assim, a esposa ideal agir com ignorância do bem.
A aretê da mulher
O texto 7WW exame insiste no fato que a ■ '>ã' em Aos olhos de Xenofontey o aspecto técnico — administrar os recursos dos oikos — subordina-se ao aspec to éticOy não podendo, assim, a esposa ideal agir com ignorância do bem.
alija a mulher da vida pública para confiná-la em um espaço muito claramente demarcado méstico.
mulher vale tanto quanto o homem na relação conjugal, quando ela boa associada doage como uma marido (III, 15.). Mas, como torná-la boa parceira? O Econô mico oferece os elementos sufici¬ entes para se determinar os traços que configuram o perfil da mulher ideal, a mulher de mérito, que tem excelência (aretê).
uma conver¬ se
Somente quando o marido percebeu que a esposa se familia riza com ele, bem como com al gumas condições necessárias para o estabelecimento de sação (...óste dialcgsthai...) dispôs a discorrer para ela a cerca dos deveres femininos no matri mônio (Econ., VII, 10). (6)
Essa ignorância da mulher explica-se pelo controle da famí lia sobre ela, bem como pela for mação recebidajunto ao oíkos de origem. A jovem grega era criada de forma a ver, ouvir e falar o menos possível (Econ. ITI, 13) E, se a mulher o marido confia até mesmo assuntos relevantes, fa zendo dela sua confidente (7), parodoxalmente é ela também a
A esposa de Iscómacho apren dera com a mãe que a mulher deve ser sábia. Essa fórmula concisa traduz a discrição com a qual a jovem deve se comportar sempre, em solteira e depois de casada. Saber o seu lugar, conhecer que é mulher, num mundo controlado pelo homem. O agir bem constitui uma aspiração do homem grego; no caso da mulher implica também numa aprendizagem técnica e éti ca (Econ. III, 10-11). Há um “fazer feminino” e ele se restringe à casa.
Como dissemos, a responsa bilidade pelos erros da mulher re cai também sobre o marido, se ele não a instrui convenientemente (Econ. III, 11). O homem deve fazer da mulher o seu braço direito no oikos (Econ. III, 10)e a relação 0 do-
A primeira condição para aprovação masculina da mulher é a geração de filhos; por isso, a maior qualidade dela é a saúde. Estamos longe dos padrões homéricos de avaliação da mulher. A beleza é desejável, mas subordina-se à saúde e à produtividade.
A vida rural e a koinomia exigem transparência e naturali dade, 0 predomínio da franqueza c da verdade. O casamento supõe a doação recíproca de corpos; o marido esforça-se por ser forte e saudável, a mulher deve fazer o mesmo. A boa aparência feminina deve resultar da saúde e não da cosmética.
O cuidado do corpo é uma exigência estabelecida por Iscómacho a partir do princípio de que 0 indivíduo deve-se fazer digno de amor (Econ. X, 9). Essa é uma idéia importante, porque abre es paço para o desejo e a atração no relacionamento do casal. (9) Iscómacho faz crer à mulher que a vida ativa é a condição pri meira de saúde e encanto (Econ. X, a :.
10-12). Hlc parece não querer ver a mulher sentada: dc pé. junto ao tear, ensina e aprende; de pé. superintende o fabrico dc pão; de pé assiste à intendente distribuir tarefas; de pé faz as rondas; de pé confere a ordem dc tudo: cada coisa c sua correspondência ao lugar adequado. Esses exercícios
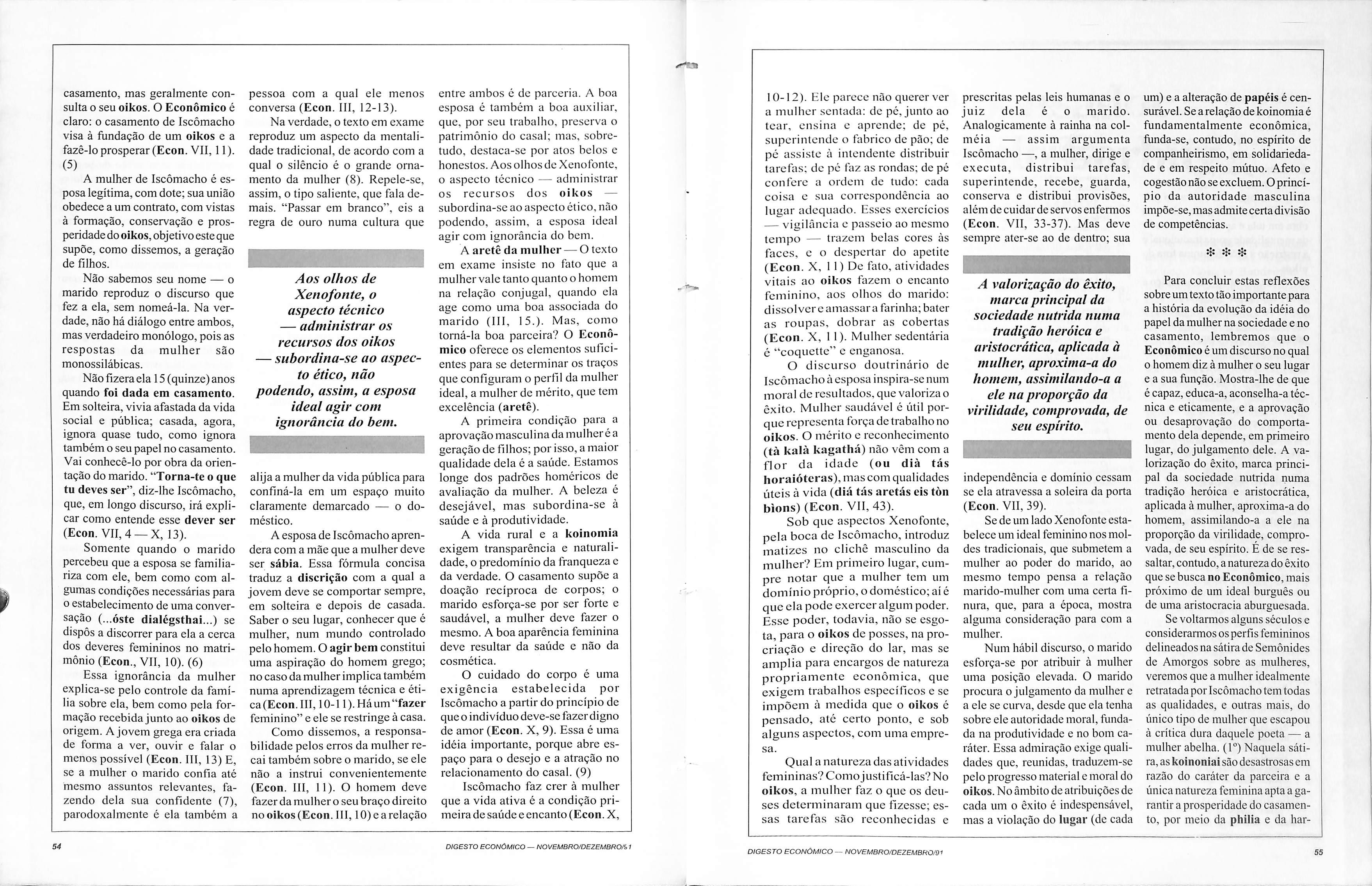
prescritas pelas leis humanas e o juiz dela é o marido. Analogicamente à rainha na colméia
Iscómacho —, a mulher, dirige e executa, distribui tarefas, superintende, recebe, guarda, conserva e distribui provisões, além de cuidar de servos enfennos (Econ. VII, 33-37). Mas deve sempre ater-se ao de dentro; sua
assim argumenta vigiiancui c passeio ao mesmo trazem belas cores às tempo faces, (Econ. X, 1 I) De fato, atividades vitais ao oíkos fazem o encanto
um) e a alteração de papéis é cen surável. Se a relação de koinomia é fundamentalmente econômica, funda-se, contudo, no espírito de companheirismo, em solidarieda de e em respeito mútuo. Afeto e cogestão não se excluem. O princípio da autoridade masculina impõe-se, mas admite certa divisão de competências.
o despertar do apetite ❖ ❖ ❖ c
feminino, aos olhos do marido: dissolver c amassar a farinha; bater as roupas, dobrar as cobertas (Econ. X, 11). Mulher sedentária é ‘‘coquclte” c enganosa.
O discurso doutrinário dc Iscómacho à esposa inspira-se num moral dc resultados, que valoriza o exito. Mulher saudável é útil por que representa força dc trabalho no oíkos. O mérito c reconhecimento (tà kaià kagatliá) não vêm com a flor da idade (ou díà tás horaióteras), mas com qualidades úteis à vida (diá tás aretás eis tòn bions) (Econ. VII, 43).
A valorização do êxito, marca principal da sociedade nutrida numa tradição heróica e aristocrática, aplicada à mulher, aproxima-a do homem, assimilando-a a ele na proporção da virilidade, comprovada, de seu espírito.
Sob que aspectos Xenofonte, pela boca dc Iscómacho, introduz matizes no clichê masculino da mulher? Em primeiro lugar, cumnotar que a mulher tem um h'i
independência e domínio cessam se ela atravessa a soleira da porta (Econ. VII, 39).
Se de um lado Xenofonte esta belece um ideal feminino nos mol des tradicionais, que submetem a mulher ao poder do marido, ao mesmo tempo pensa a relação marido-mulher com uma certa finura, que, para a época, mostra alguma consideração para com a mulher. pre domínio próprio, o doméstico; aí é que cia pode exercer algum poder. Esse poder, todavia, não se esgo ta, para o oikos de posses, na procriação e direção do lar, mas se amplia para encargos de natureza propriamente econômica, que exigem trabalhos específicos e se impõem à medida que o oikos é pensado, até certo ponto, e sob alguns aspectos, com uma empre-
Qual a natureza das atividades femininas? Comojuslificá-las? No oikos, a mulher faz o que os deu ses determinaram que fizesse; es sas tarefas são reconhecidas e
Num hábil discurso, o marido esforça-se por atribuir à mulher uma posição elevada. O marido procura o julgamento da mulher e a ele se curva, desde que ela tenha sobre ele autoridade moral, funda da na produtividade e no bom ca ráter. Essa admiração exige quali dades que, reunidas, traduzem-se pelo progresso material e moral do oikos. No âmbito de atribuições de cada um o êxito é indespensável, mas a violação do lugar (de cada sa.
Para concluir estas reflexões sobre um texto tão importante para a história da evolução da idéia do papel da mulher na sociedade e no casamento, lembremos que o Econômico é um discurso no qual 0 homem diz à mulher o seu lugar e a sua função. Mostra-lhe de que é capaz, educa-a, aconselha-a téc nica e eticamente, e a aprovação ou desaprovação do comporta mento dela depende, em primeiro lugar, do julgamento dele. A va lorização do êxito, marca princi pal da sociedade nutrida numa tradição heróica e aristocrática, aplicada à mulher, aproxima-a do homem, assimilando-a a ele na proporção da virilidade, compro vada, de seu espírito. E de se res saltar, contudo, a natureza do êxito que se busca no Econômico, mais próximo de um ideal burguês ou de uma aristocracia aburguesada. Se voltarmos alguns séculos e consideramios os perfis femininos delineados na sátira de Semônides de Amorgos sobre as mulheres, veremos que a mulher idealmente retratada por Iscómacho tem todas as qualidades, e outras mais, do único tipo de mulher que escapou à crítica dura daquele poeta — a mulher abelha. (T) Naquela sáti ra, as koinoniai são desastrosas em razão do caráter da parceira e a única natureza feminina apta a ga rantir a prosperidade do casamen to, por meio da philia e da har-
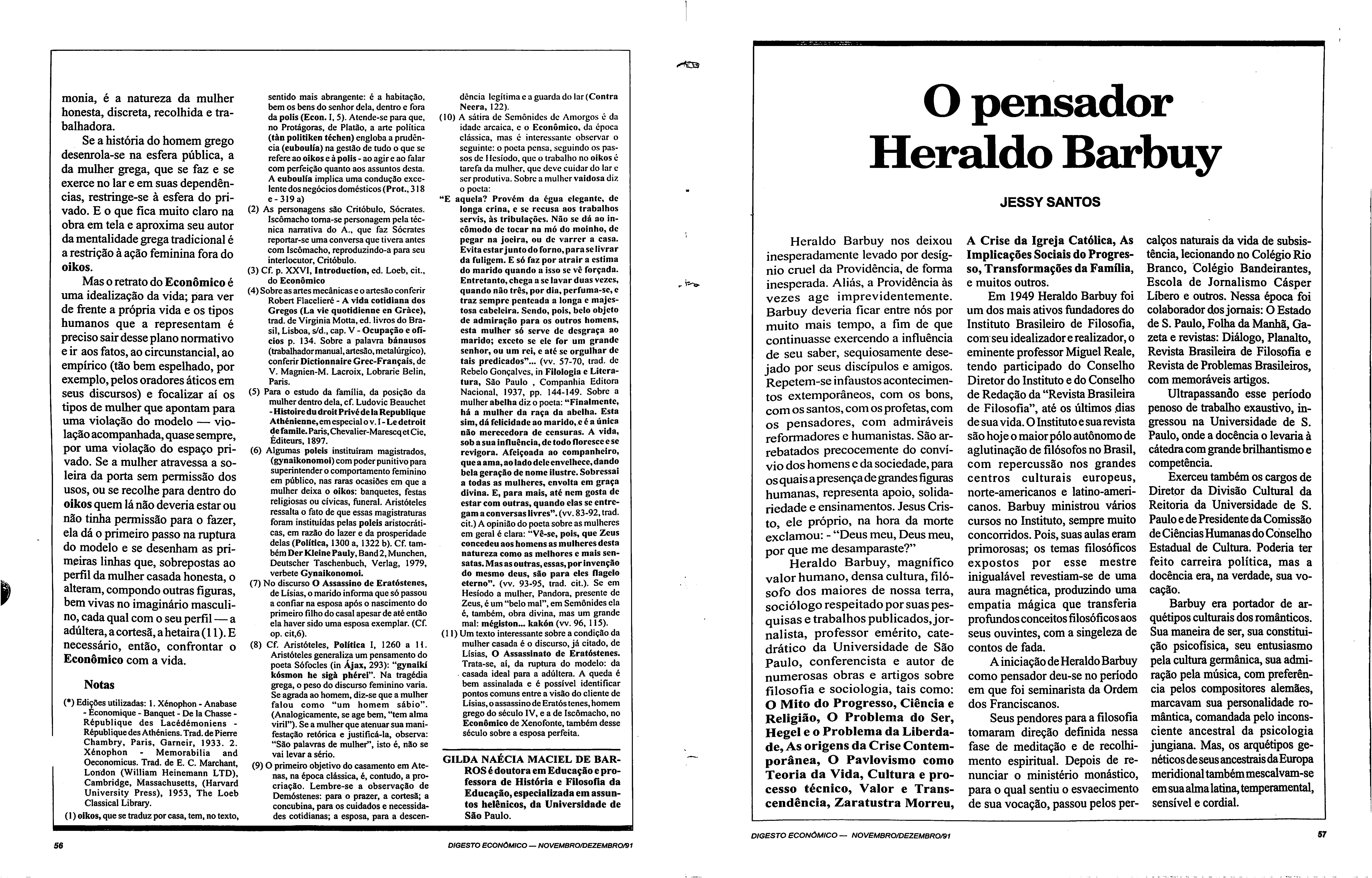
monia, é a natureza da mulher honesta, discreta, recolhida e tra balhadora.
Se a história do homem grego desenrola-se na esfera pública, a da mulher grega, que se faz e se exerce no lar e em suas dependên cias, restringe-se à esfera do pri vado. E o que fica muito claro na obra em tela e aproxima seu autor da mentalidade grega tradicional é a restrição à ação feminina fora do oikos.
Mas o retrato do Econômico é uma idealização da vida; para ver de frente a própria vida e os tipos humanos que a representam é preciso sair desse plano normativo e ir aos fatos, ao circunstancial, ao empírico (tão bem espelhado, por exemplo, pelos oradores áticos em seus discursos) e focalizar aí os tipos de mulher que apontam para uma violação do modelo — vio lação acompanhada, quase sempre, por uma violação do espaço pri vado. Se a mulher atravessa a so leira da porta sem permissão dos usos, ou se recolhe para dentro do oikos quem lá não devería estar ou não tinha permissão para o fazer, ela dá o primeiro passo na ruptura do modelo e se desenham as pri meiras linhas que, sobrepostas ao perfil da mulher casada honesta, o alteram, compondo outras figuras, bem vivas no imaginário masculi no, cada qual com o seu perfil — a adúltera, a cortesã, a hetaira (11). E necessário, então, confrontar o Econômico com a vida.
Notas
C") Edições utilizadas: 1. Xénophon - Anabase - Economique - Banquet - De la ChasseRépublique des LacèdémoniensRépublique des Athéniens. Trad. de Pierre Chambry, Paris, Garneir, 1933. 2. Xénophon Oeconomicus. Trad. de E. C. Marchant, London (William Heinemann LTD), Cambridge, Massachusetts, (Harvard University Press), 1953, The Loeb Classical Library. (1) oikos, que se traduz por casa, tem, no texto, Memorabilia and
sentido mais abrangente: é a habitação, bem os bens do senhor dela, dentro e fora da polis (Econ. I, S). Atende-se para que, no Protágoras, de Platão, a arte política (tàn politíken téchen) engloba a prudên cia (euboulía) na gestão de tudo o que se refere ao oikos e à polis - ao agir e ao falar com perfeição quanto aos assuntos desta. A euboulía implica uma condução exce lente dos negócios domésticos (Prot., 318 e-319a)
(2) As personagens são Critóbulo, Sócrates. Iscômacho toma-se personagem pela téc nica narrativa do A., que faz Sócrates reportar-se uma conversa que tivera antes com Iscômacho, reproduzindo-a para seu interlocutor, Critóbulo.
(3) Cf. p. XXVI, Introduction, ed. Loeb, cit., do Econômico
(4) Sobre as artes mecânicas e o artesão conferir Robert Flacelieré - A vida cotidiana dos Gregos (La víe quotidienne en Gràce), trad. de Virgínia Motta, ed. livros do Bra sil, Lisboa, s/d., cap. V - Ocupação e ofí cios p. 134. Sobre a palavra bánausos (trabalhador manual, artesão, metalúrgico), conferir Dictionnaire Grec-Français, de V. Magnien-M. Lacroix, Lobrarie Belin, Paris.
(5) Para o estudo da família, da posição da mulher dentro dela, cf. Ludovic Beauchet - Histoire du droit Privé de Ia Republique Athénienne, em especial o v. I - Le detroit de famile. Paris, Chevalier-Marescq et Cie, Éditeurs, 1897.
(6) Algumas poleis instituiram magistrados, (gynaikonomoi) com poder punitivo para superintender o comportamento feminino em público, nas raras ocasiões em que a mulher deixa o oikos: banquetes, festas religiosas ou cívicas, funeral. Aristóteles ressalta o fato de que essas magistraturas foram instituídas pelas poleis aristocráti cas, em razão do lazer e da prosperidade delas (Política, 1300 a, 1322 b). Cf. tam bém Der Kleíne Pauly, Band 2, Munchen, Deutscher Taschenbuch, Verlag, 1979, verbete Gynaikonomoi.
(7) No discurso O Assassino de Eratóstenes, de Lísias, o marido informa que só passou a confiar na esposa após o nascimento do primeiro filho do casal apesar de até então ela haver sido uma esposa exemplar. (Cf. op. cit,6).
(8) Cf. Aristóteles, Política I, 1260 a H. Aristóteles generaliza um pensamento do poeta Sófocles (in Ájax, 293): “gynaikí kósmon he sigà phérei”. Na tragédia grega, o peso do discurso feminino varia. Se agrada ao homem, diz-se que a mulher falou como “um homem sábio”. (Analogicamente, se age bem, “tem alma viril”). Se a mulher que atenuar sua mani festação retórica e justificá-la, observa: “São palavras de mulher”, isto é, não se vai levar a sério.
(9) O primeiro objetivo do casamento em Ate nas, na época clássica, é, contudo, a procriação. Lembre-se a observação de Demóstenes: para o prazer, a cortesã; a concubina, para os cuidados e necessida des cotidianas; a esposa, para a descen¬
dência legítima e a guarda do lar (Contra Neera, 122).
(10) A sátira de Semônides dc Amorgos é da idade arcaica, c o Econômico, da época clássica, mas é interessante ob.servar o seguinte: o poeta pensa, seguindo os pas sos de lesiodo, que o trabalho no oikos é tarefa da mulher, que deve cuidar do lar e ser produtiva. Sobre a mulher vaidosa diz o poeta: “E aquela? Provém da égua elegante, de longa crina, e se recusa aos trabalhos servis, às tríbulações. Não se dá ao in cômodo dc tocar na mó do moinho, dc pegar na jocíra, ou dc varrer a casa. Evita estar junto do forno, para se livrar da fuligem. E só faz por atrair a estima do marido quando a isso se vê forçada. Entretanto, chega a se lavar duas vezes, quando não três, por dia, perfuma-sc, c traz sempre penteada a longa c majes tosa cabeleira. Sendo, pois, belo objeto de admiração para os outros homens, esta mulher só serve dc desgraça ao marido; exceto se cic for um grande senhor, ou um rei, c até se orgulhar dc tais predicados”... (vv. 57-70, trad. de Rebelo Gonçalves, in Filologia e Litera tura, São Paulo Companhia Editora Nacional, 1937, pp. 144-149. Sobre a mulher abelha diz o poeta: “Finalmcntc, há a mulher da raça da abelha. Esta sim, dá felicidade ao marido, e é a única não merecedora de censuras. A vida, sob a sua influência, dc todo floresce c se revigora. Afeiçoada ao companheiro, que a ama, ao lado dele envelhece, dando bela geração dc nome ilustre. Sobressai a todas as mulheres, envolta em graça divina. E, para mais, até nem gosta dc estar com outras, quando elas se entre gam a conversas livres”, (vv. 83-92, trad. cit.) A opinião do poeta sobre as mulheres em geral é clara: “Vê-se, pois, que 2^us concedeu aos homens as mulheres desta natureza como as melhores c mais sen satas. Mas as outras, essas, por invenção do mesmo deus, são para eles flagelo eterno”, (w. 93-95, trad. cit.). Se em Hesíodo a mulher, Pandora, presente de Zeus, é um “belo mal”, em Semônides ela é, também, obra divina, mas um grande mal: mégiston... kakón (w. 96, 115). (11) Um texto interessante sobre a condição da mulher casada é o discurso, já citado, de Lísias, O Assassinato de Eratóstenes. Trata-se, ai, da ruptura do modelo: da casada ideal para a adúltera. A queda é bem assinalada e é possível identificar pontos comuns entre a visão do cliente de Lísias, o assassino de Eratós tenes, homem grego do século IV, e a de Iscômacho, no Econômico de Xenofonte, também desse século sobre a esposa perfeita.
GILDA NAÉCIA MACIEL DE BARROS é doutora em Educação e pro fessora de História e Filosofia da Educação, especializada em assun tos helênicos, da Universidade de São Paulo. DIGESTO
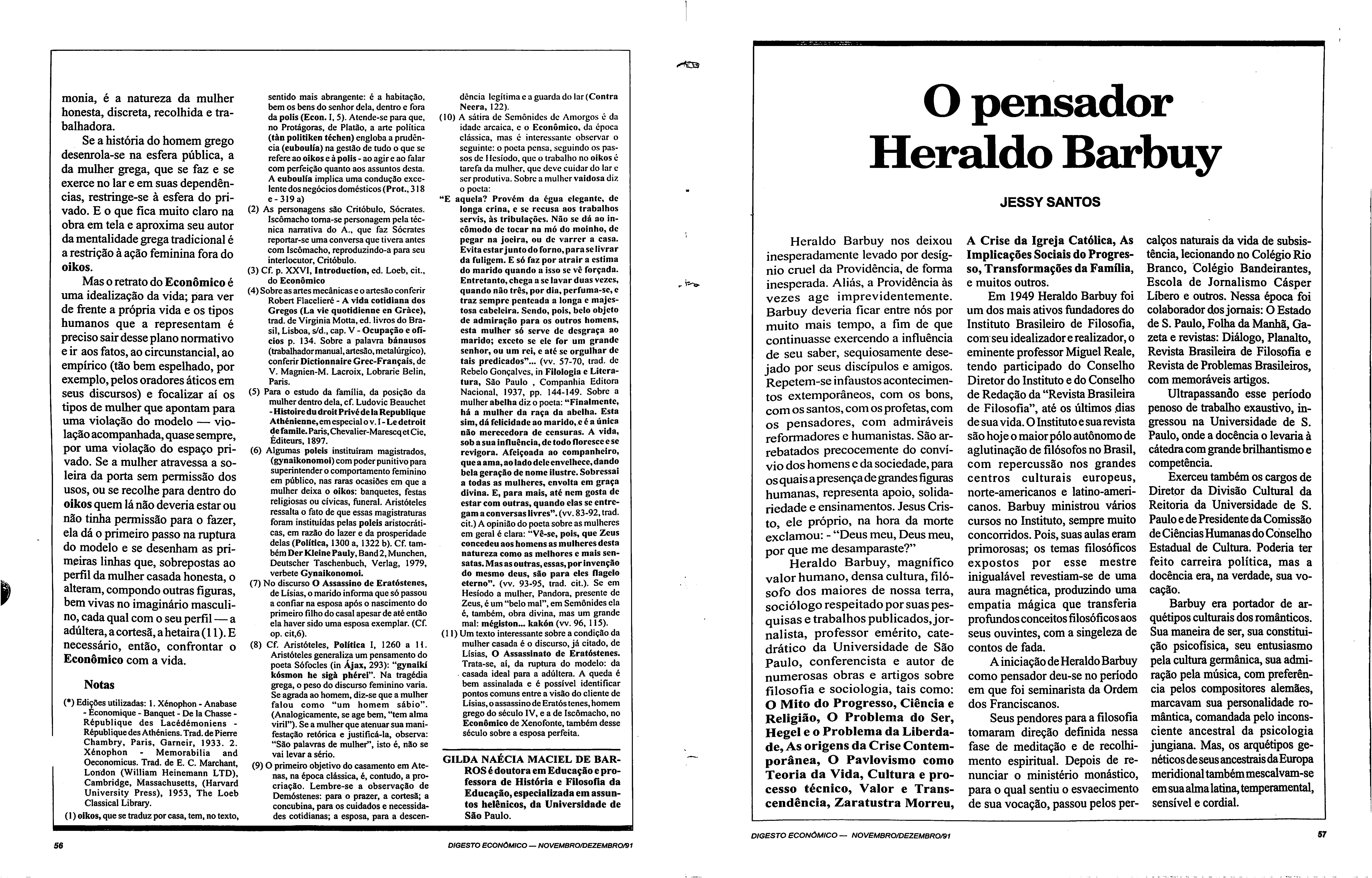
Heraldo Barbuy nos deixou inesperadamente levado por desíg nio cruel da Providência, de forma inesperada. Aliás, a Providência às vezes age imprevidentemente. Barbuy deveria ficar entre nós por muito mais tempo, a fim de que continuasse exercendo a influência de seu saber, sequiosamente dese jado por seus discípulos e amigos. Repetem-se infaustos acontecimen tos extemporâneos, com os bons, com os santos, com os profetas, com pensadores, com admiráveis reformadores e humanistas. São ar rebatados precocemente do conví vio dos homens e da sociedade, para os quais a presença de grandes figuras humanas, representa apoio, solida riedade e ensinamentos. Jesus Cris to, ele próprio, na hora da morte exclamou: - “Deus meu. Deus meu, por que me desamparaste?
Heraldo Barbuy, magnífico valor humano, densa cultura, filó sofo dos maiores de nossa terra, sociólogo respeitado por suas pes quisas e trabalhos publicados, jor nalista, professor emérito, catedrático da Universidade de São Paulo, conferencista e autor de numerosas obras e artigos sobre filosofia e sociologia, tais como: O Mito do Progresso, Ciência e Religião, O Problema do Ser, Hegel e o Problema da Liberda de, As origens da Crise Contem porânea, O Pavlovismo como Teoria da Vida, Cultura e pro cesso técnico. Valor e Trans cendência, Zaratustra Morreu, os
A Crise da Igreja Católica, As Implicações Sociais do Progres so, Transformações da Família, e muitos outros.
Em 1949 Heraldo Barbuy foi um dos mais ativos fundadores do Instituto Brasileiro de Filosofia, com seu idealizador e realizador, o eminente professor Miguel Reale, tendo participado do Conselho Diretor do Instituto e do Conselho de Redação da “Revista Brasileira de Filosofia”, até os últimos .dias de sua vida. O Instituto e sua revista são hoje o maior pólo autônomo de aglutinação de filósofos no Brasil, com repercussão nos grandes centros culturais europeus, norte-americanos e latino-ameri canos. Barbuy ministrou vários cursos no Instituto, sempre muito concorridos. Pois, suas aulas eram primorosas; os temas filosóficos expostos por esse mestre inigualável revestiam-se de uma aura magnética, produzindo uma empatia mágica que transferia profundos conceitos filosóficos aos seus ouvintes, com a singeleza de contos de fada.
A iniciação de Heraldo Barbuy como pensador deu-se no período em que foi seminarista da Ordem dos Franciscanos.
Seus pendores para a filosofia tomaram direção definida nessa fase de meditação e de recolhi mento espiritual. Depois de re nunciar o ministério monástico, para o qual sentiu o esvaecimento de sua vocação, passou pelos per-
calços naturais da vida de subsis tência, lecionando no Colégio Rio Branco, Colégio Bandeirantes, Escola de Jornalismo Cásper Libero e outros. Nessa época foi colaborador dos jornais: O Estado de S. Paulo, Folha da Manhã, Ga zeta e revistas: Diálogo, Planalto, Revista Brasileira de Filosofia e Revista de Problemas Brasileiros, com memoráveis artigos. Ultrapassando esse período penoso de trabalho exaustivo, in gressou na Universidade de S. Paulo, onde a docência o levaria à cátedra com grande brilhantismo e competência.
Exerceu também os cargos de Diretor da Divisão Cultural da Reitoria da Universidade de S. Paulo e de Presidente da Comissão de Ciências Humanas do Conselho Estadual de Cultura. Podería ter
feito carreira política, mas a docência era, na verdade, sua vo cação.
Barbuy era portador de ar quétipos culturais dos românticos. Sua maneira de ser, sua constitui ção psicofisica, seu entusiasmo pela cultura germânica, sua admi ração pela música, com preferên cia pelos compositores alemães, marcavam sua personalidade ro mântica, comandada pelo incons ciente ancestral da psicologia jungiana. Mas, os arquétipos ge néticos de seus ancestrais daEuropa meridional tambémmescalvam-se em sua alma latina, temperamental, sensível e cordial.



IBarbuy, que nos assuntos que to cavam sua sensibilidade, prevale ciam as decisões que lhe impunham as razões do coração, muito mais do que as decisões lógicas que a inteligência lhe ordenava.
A casa de Barbuy era o ponto de encontro de seus amigos, para conversar sobre filosofia e ouvir música de Beethoven, Chopin, Wagner e outros clássicos, com a presença de sua esposa Belkiss, professora de filosofia autora de notável tese sobre “Nietzsche e o Cristianismo”. Do círculo de ami gos de Heraldo Barbuy, Vicente Ferreira da Silva, que deixou obra de alto valor filosófico, era dos mais assíduos, entre outros; o próprio Kujawski e eu mesmo, fazíamos parte dessa irmandade espontânea, na qual Paulo Bomfim representava o expoente da sensi bilidade de apolínea em conso nância com a filosofia. No livro de poemas “Sinfonia Branca”, Paulo mostra sua poesia metafísica:
Surgimos ontem
Marcados pela morte...
Somos hoje
Marcados pela estrela... Sumiremos amanhã
Marcados pela vida...
Devo mencionar ainda outros participantes dessa irmandade em tomo de Barbuy: Eudoro de Sou za, filósofo português, Mario Matoso Silveira, estudioso deJung, Dora Ferreira da Silva, tradutora de Rilke, Hõelderlin e Jung, Diva de Toledo Piza, inteligência argu ta, que acaba de traduzir obra de Julian Marias sobre a filosofia de Ortega, Mario Chamie, autor de “A Linguagem Virtual”, prêmio Governador do Estado, Adolpho Crippa, Diretor da Revista Conviviiim, José Francisco Coe lho, poeta, Aexandre Augusto Corrêa, romanista,José Pedro Galvão de Sousa, tradicionalista, Manoel Octaviano Junqueira Fi-
Iho, jurista, Paulo Edmur de Souza Queiroz, espírito crítieo por exce lência, Milton Vargas, cientistafílósofo, autoridade mundial em mecânica do solo, Renato Cirell Czema, hegeliano ortodoxo, João de Scantimburgo, blondeliano, vivendo na docência por vocação e competência, entre São Paulo e Roma. Esse círculo fraterno, for mava uma unidade espiritual, em-
idéia do progresso ilimitado não é apenas uma adulteração do testemunho bíblico do paraíso perdido: é também uma grotesca materialização da doutrina católica da salvação.
bora as teses discutidas e sugeridas trouxessem além do diálogo, a controvérsia, a pesquisa sobre fi losofia, poesia e até sobre parapsicologia, com suas impon deráveis dúvidas.
O Senhor pode me dar ca?
Barbuy tomou um
Lembro-me de uma das reuniõesnacasade Barbuy. Estávamos dez ou doze amigos, inclusive com a presença do mediúnico poeta Euríclides Formiga, amigo de Paulo Bomfim e de Fernandes Soares. Conversávamos sobre fe nômenos paranonnais. A certa al tura da reunião Euríclides Formiga levanta-se, dirige-se ao anfitrião dizendo: um livro qualquer de sua biblioteQuero fazer uma demons tração para vocês todos! Euríclides tinha uma voz rouca profunda e poderosa volume qualquer de sua estante e o entregou a Euríclides que abriu o livro e leu meia página em voz alta.
Quero que o
Por Peço agora
Logo em seguida devolveu o livro a Barbuy e disse: Sr. confira; vou repetir agora, pa lavra porpalavra de trás para diante e depois na ordem direta, a meia página que acabei de ler. De fato, com o assombro, de todos os pre sentes, Barbuy acompanhou pala vra por palavra o texto decorado instataneamente pelo prodígio Euríclides Formiga, confirmando sua exatidão! Mas, ainda estava para ser apresentado por Euríclides o mais estranho c misterioso feito que já presenciei. Ele pediu a Dona Belkiss, senhora dc Barbuy, que lhe arranjasse um baralho. Ela prontamente dirigiu-se à sala con tígua, trazendo em suas mãos o baralho. Isto feito, disse Euríclides, dirigindo-se a Dona Belkiss favor, embaralhe bem e pode cor tar à vontade. Depois dessas ope rações realizadas por Dona Belkiss, disse Euríclides. que a Senhora faça o favor de re tirar qualquer carta do meio do baralho, como melhor lhe aprouver, e essa carta retirada, a Senhora mostrará a todos e ela será um às de ouro. Ela retirou a carta, mos trou: era um às de ouro! Todos
ficaram pasmados. Truque ou prestidigitação não houve. Impos sível qualquer manipulação: Euríclides nem tocou no baralho! Mas, se houve dúvida, essa dúvida
era imponderável. Depois de outras mágicas sem truques, realizados por Euríclides, decon-eu a sessão. A certa altura ele disse: Agora vamos encerrar porque meu guia assim ordena! Aquela foi uma reunião diferente! Foi uma noite fantástica! Euríclides Formiga era de fato um paranormal, poeta, repentista e escritor. Em suas conferências e traba lhos na área sociológica, Barbuy sempre combateu o progressismo racionalista, que avassala a pessoa humana e a transforma num ser
despcrsonalizado, porque é presa de uma maquinação tecnológica, que ao enriquecer a existência material do homem, embota suas virtudes espirituais portadoras do amor. No mundo da tecnologia científica, da robotização, da computação eletrônica e da informática, não há amor; há ape nas a comunicação elevada ao máximo grau de perfeição funcio nal, porém, sem alma e sem a co munhão pessoal.
Heraldo Barbuy retrata sua posição numa de suas teses: “O Mito do Progresso”: “A idéia do progresso ilimitado não é apenas uma adulteração do testemunho
humana com seus valores e sua incurável estupidez”, no dizer de Nietzsche. Não se conformava com a nefasta ação das tecnologias fabricadoras do progresso indefi nido, que invadem a área do social e desvirtuam os valores espirituais, convertendo-os em valores despersonalizados.
Nosso mestre inolvidável era também um combatente contra as

o
Os mesmos males da sociedade capitalista, que geram a insatisfação do homem comum, também assolam a Rússia Soviética. bíblico do paraíso perdido: é tam bém uma grotesca materialização da doutrina católica da salvação. O cristianismo instaurou uma noção do progresso, toda espiritual, como de uma purificação e ascensão para alto; tal é também a fisionomia das torres góticas que se afilam na proporção em que ascendem. Mas, idéia cristã do progresso indi vidual pelo aperfeiçoamento inte rior na ascensão vertical em que consiste o cumprimento do destino sobrenatural: o homem é o mais dos seres materiais e o
a perfeito menos perfeito dos seres espiritu ais, composto de alma e coipo, ponte de passagem entre o mundo da matéria e o universo do espírito; é dotado de superiores faculdades intelectivas anorgânicas, que não explicam pelo corpo e que im- se primem destinação superior para a Suma Verdade a que tende a inteligência e para o Sumo Bem a que tende a vontade.
Heraldo Barbuy tinha como referência basilar de seu pensa mento, a filosofia tomista. Era um homem católico. Entretanto, transfonnava-se num nietzscheano ao tratar de problemas existenciais, quando estes desnudavam a “alma na sua essencia a
ideologias utópicas, das quais a mais perniciosa é o socialismo marxista; seus proséiitos doutri nados pelo materialismo dialético, certos estavam de que, banida a sociedade capitalista, instalar-se-ia uma sociedade ideal, regida pelo marxismo. Puro engano! A expe riência comunista fracassou. Os mesmos males da sociedade capi talista, que geram a insatisfação do homem comum, também assolam a Rússia Soviética. Não vai nesta referência nenhuma intenção de defesa do capitalismo selvagem, transformado hoje em puro monetarismo, manipulador da economia mundial a seu bel-prazer, infelicitando os povos mal gover nados do terceiro mundo.
No universo comunista, a condição do homem é muito pior porque foi usurpada a liberdade individual até o extremo limite onde 0 condicionamento imposto
pelo Estado totalitário pôde alte rar o comportamento da pessoa humana. Do ponto de vista eco nômico, 0 povo só tem o que os bens pulverizados pelo Estado puderem serpartilhados; e em vista do desinteresse e da ineficiência do trabalho coletivizado, o bem econômico individual tomou-se cada vez mais escasso. Os mar xistas, marxólogos e socialistas radicais, são de variadas catego rias: os èsquerdistas mercenários, os ingênuos idealistas e os engajados militantes do comunis mo internacional; eles continuam perseguindo desesperadamente a utopia marxista.
Superando dúvidas que tran sitam pela mente dos homens, te mos que aceitar os valores erigidos e anunciados por Cristo e seus apóstolos. Não há outra referência ética para a humanidade a não ser o cristianismo, que incorporando à sua filosofia os preceitos básicos de Buda, Confiicio e Moisés, con solidou a doutrina cristã como única tábua de valores capaz de conduzir 0 homem pelos caminhos tortuosos deste mundo declinante, conforme já denunciava Oswald Spengler em sua monumental obra a “Decadên cia do Ocidente”. Resta ao ho mem, somente, sua fé na redenção prometida. Pois, as religiões estão todas conspurcadas por esta mes ma civilização declinante.
Ainda para qualificarmos a figura de Heraldo Barbuy no con texto da filosofia no Brasil — sem a pretensão de que essa opinião seja válida — penso que devemos em primeiro lugar reconhecê-lo como um pensador romântico, no dizer de Gilberto Kujawski. Mas, o romantismo que encarna o fáustico e 0 dionisíaco era uma das facetas da sua posição cultural. Porque esse aspecto cultural-filosófico não tinlia hegemonia no modo de ser desse grande mestre. Ele possuía,
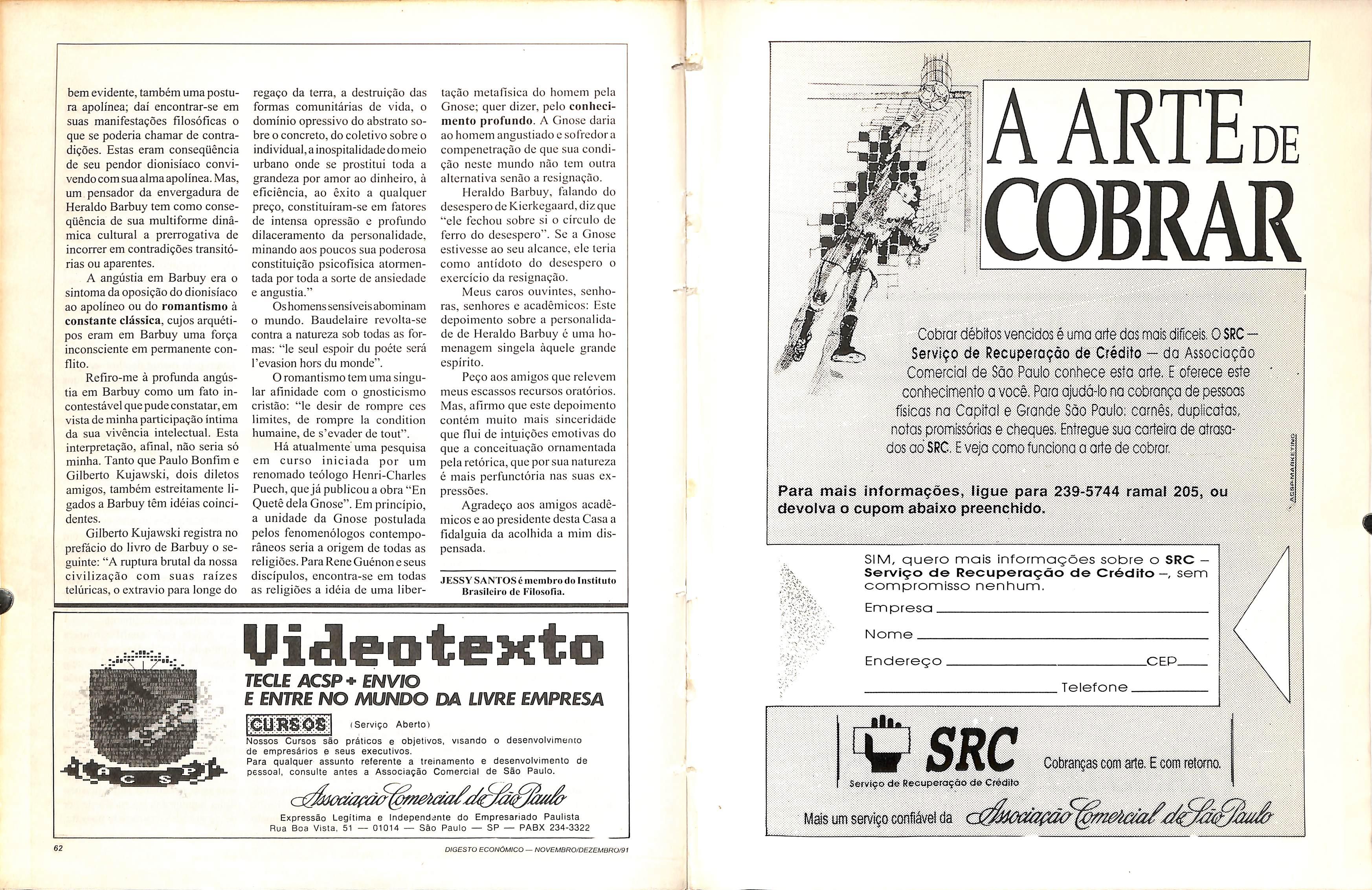
Ibem evidente, também uma postu ra apolínea; daí encontrar-se em suas manifestações filosóficas o que se podería chamar de contra dições. Estas eram conseqüência de seu pendor dionisíaco convi vendo com suaalmaapolínea. Mas, um pensador da envergadura de Heraldo Barbuy tem como conse qüência de sua multifonne dinâ mica cultural a prerrogativa de incorrer em contradições transitó rias ou aparentes.
A angústia em Barbuy era o sintoma da oposição do dionisíaco ao apolíneo ou do romantismo à constante clássica, cujos arquéti pos eram em Barbuy uma força inconsciente em permanente con flito.
Refiro-me à profunda angús tia em Barbuy como um fato in contestável que pude constatar, em vista de minha participação íntima da sua vivência intelectual. Esta interpretação, afinal, não seria só minha. Tanto que Paulo Bonfim e Gilberto Kujawski, dois diletos amigos, também estreitamente li gados a Barbuy têm idéias coinci dentes.
Gilberto Kujawski registra no prefácio do livro de Barbuy o se guinte: “A ruptura biiital da nossa civilização com suas raízes telúricas, o extravio para longe do
regaço da terra, a destruição das formas comunitárias de vida, o domínio opressivo do abstrato so bre o concreto, do coletivo sobre o individual, a inospitalidade do meio urbano onde se prostitui toda a grandeza por amor ao dinheiro, à eficiência, ao êxito a qualquer preço, constituíram-se em fatores de intensa opressão c profundo dilaceramento da personalidade, minando aos poucos sua poderosa constituição psicofísica atormen tada por toda a sorte de ansiedade e angustia.”
Os homens sensíveis abominam o mundo. Baudelaire revolta-se contra a natureza sob todas as for mas: “le seuI espoir du poéte será fevasion hors du monde”.
O romantismo tem uma singu lar afinidade com o gnosticismo cristão: “le desir de rompre ces limites, de rompre la condilion humaine, de s’evadcr de toul”.
Há atualmente uma pesquisa em curso iniciada por um renomado teólogo Henri-Chaiies Puech, que já publicou a obra “En Quetê dela Gnose”. Em princípio, a unidade da Gnose postulada pelos fenomenólogos contempo râneos seria a origem de todas as religiões. Para Rene Guénon e seus discípulos, encontra-se em todas as religiões a idéia de uma liber¬
tação metaílsica do homem pola Gnose; quer dizer, pelo conheci mento profundo. A Gnose daria ao homem angustiado c sofredor a compenetração de que sua condi ção neste mundo não tem outra alternativa senão a resignação.
Heraldo Barbuy, falando do desespero de Kicrkcgaard, diz que “ele fechou sobre si o circulo de ferro do desespero”. Se a Gnose estivesse ao seu alcance, ele teria como antídoto do desespero o exercício da resignação.
Meus caros ouvintes, senhoras, senhores e acadêmicos: Este depoimento sobre a personalida de de Heraldo Barbuy é uma ho menagem singela àquele grande espírito.
Peço aos amigos que relevem meus escassos recursos oratórios.
Mas, afirmo que esle depoimento contém muito mais sinceridade que fiui de inUiiçõcs emotivas do que a conceituação ornamentada pela retórica, que por sua natureza é mais perfunclória nas suas ex pressões.
Agradeço aos amigos acadê micos e ao presidente desta Casa a fidalguia da acolhida a mim dis pensada.
JESSY SANTOS é membro do tiistilíito Brasileiro de Piiosofia.
(Serviço Aberto)
Nossos Cursos são práticos e objetivos, visando o desenvolviment o de empresários e seus executivos. Para qualquer assunto referente a treinamento e desenvolvimento de pessoal, consulte antes a Associação Comercial de São Paulo.
Cobrar débitos vencidos ê uma arte das mais difíceis. 0 SRCServiço de Recuperação de Crédito — da Associação Comercial de São Paulo conhece esto arte. E oferece este conhecimento a você. Paro ajudá-lo no cobrança de pessoos físicas na Capital e Grande Sdo Pdulo: carnes, duplicatas, notas promissórias e cheques, Entregue sua carteiro de atrasodos ab SRC, E veja como funciona a arfe de cobror. a a 5
Para mais informaçoos. liguo para 239-5744 ramal 205. ou devolva o cupom abaixo preenchido.
SIM, quero mais informações sobre o SRCServiço de Recuperação de Crédito—, sem compromisso nenhum.
Empresa
Nome
Endereço .CEP.
Telefone
Cobranças com arte. E com retorno.
Serviço de ftecuperaçao de Cfédílo
Mais um serviço contiávej da
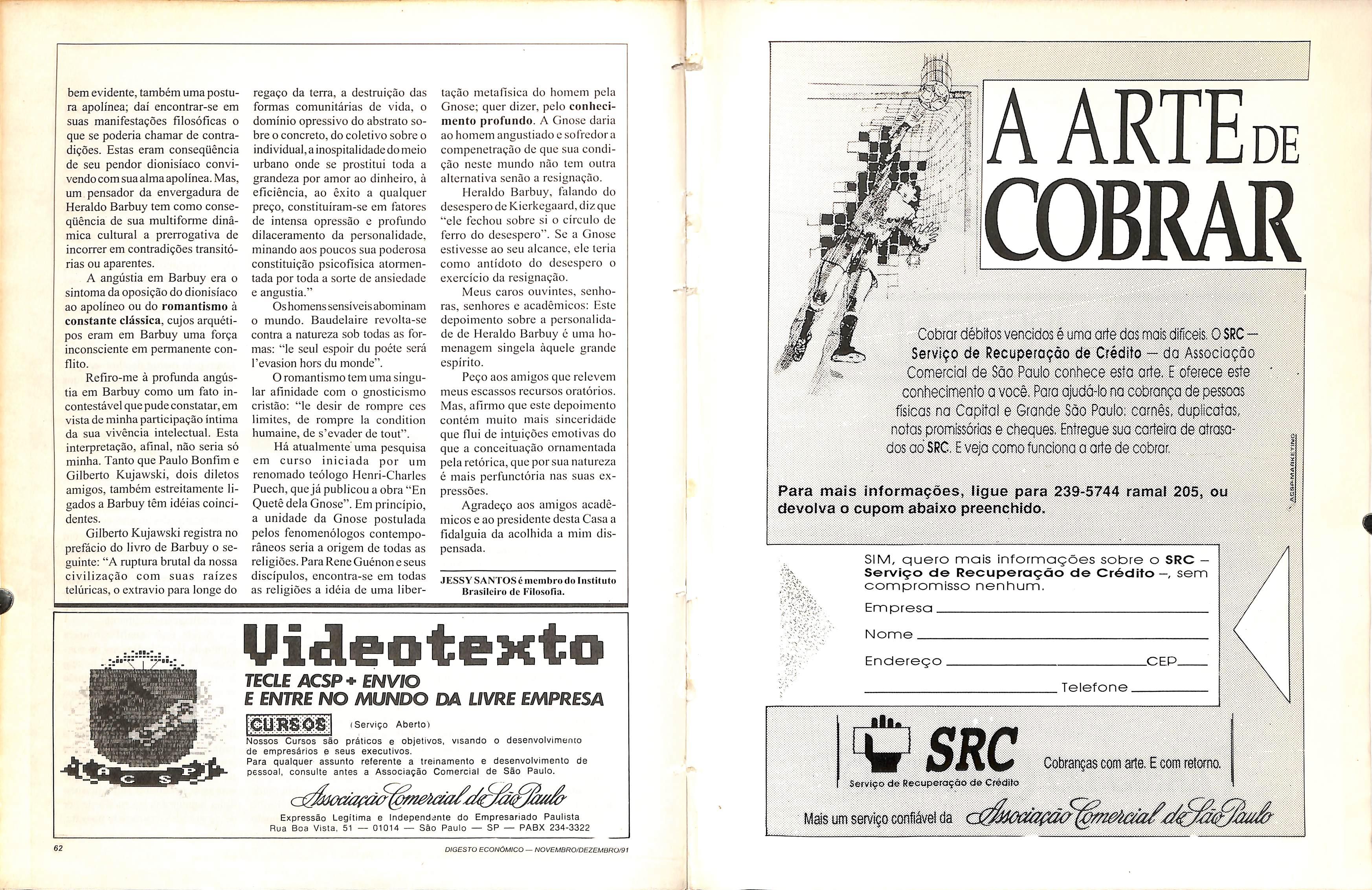
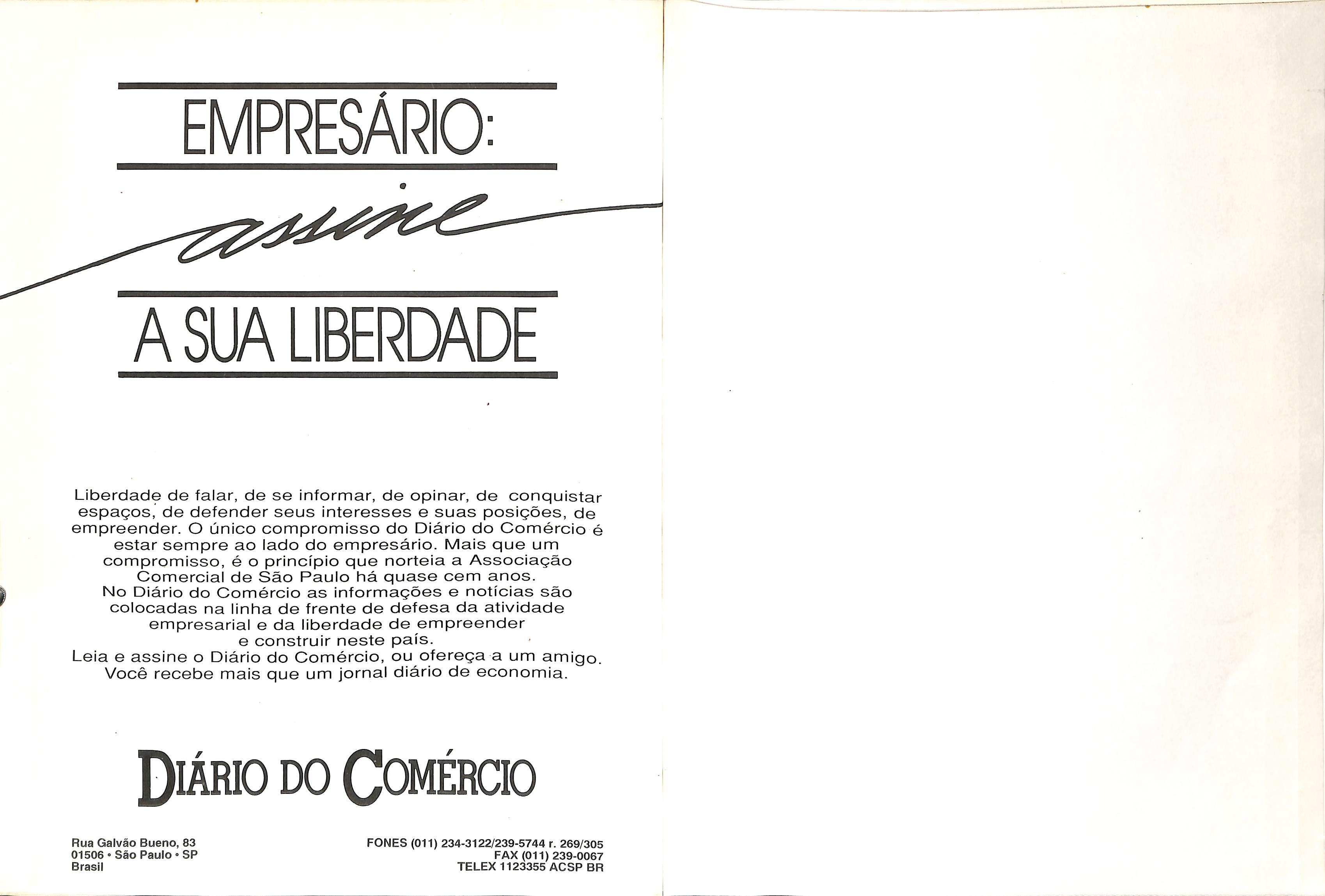
Liberdade de falar, de se informar, de opinar, de conquistar espaços, de defender seus interesses e suas posições, de empreender. O único compromisso do Diário do Comércio é estar sempre ao lado do empresário. Mais que um compromisso, é o princípio que norteia a Associação Comercial de São Paulo há quase cem anos. No Diário do Comércio as informações e notícias são colocadas na linha de frente de defesa da atividade empresarial e da liberdade de empreender e construir neste país. Leia e assine o Diário do Comércio, ou ofereça a um amigo. Você recebe mais que um jornal diário de economia.