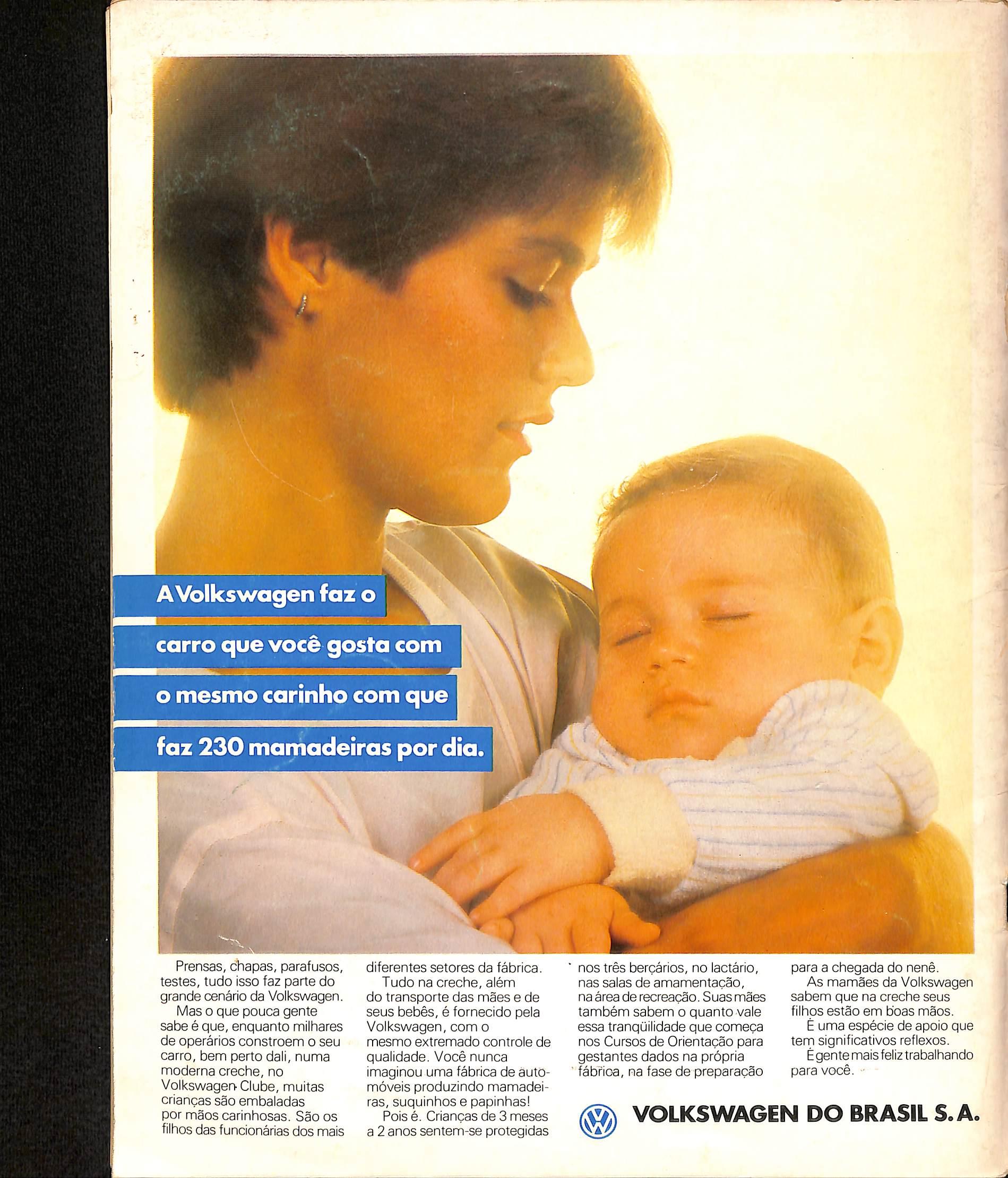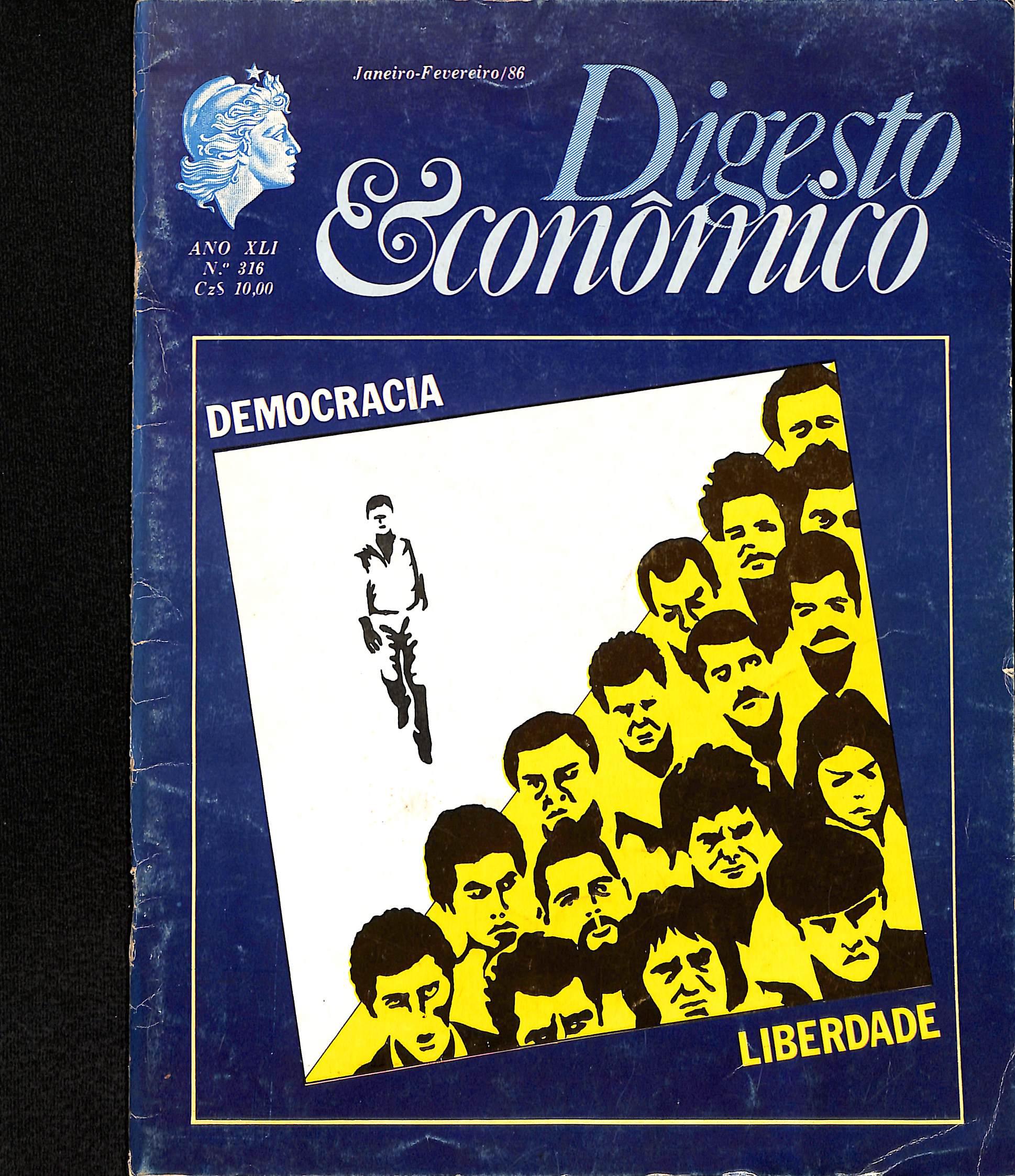



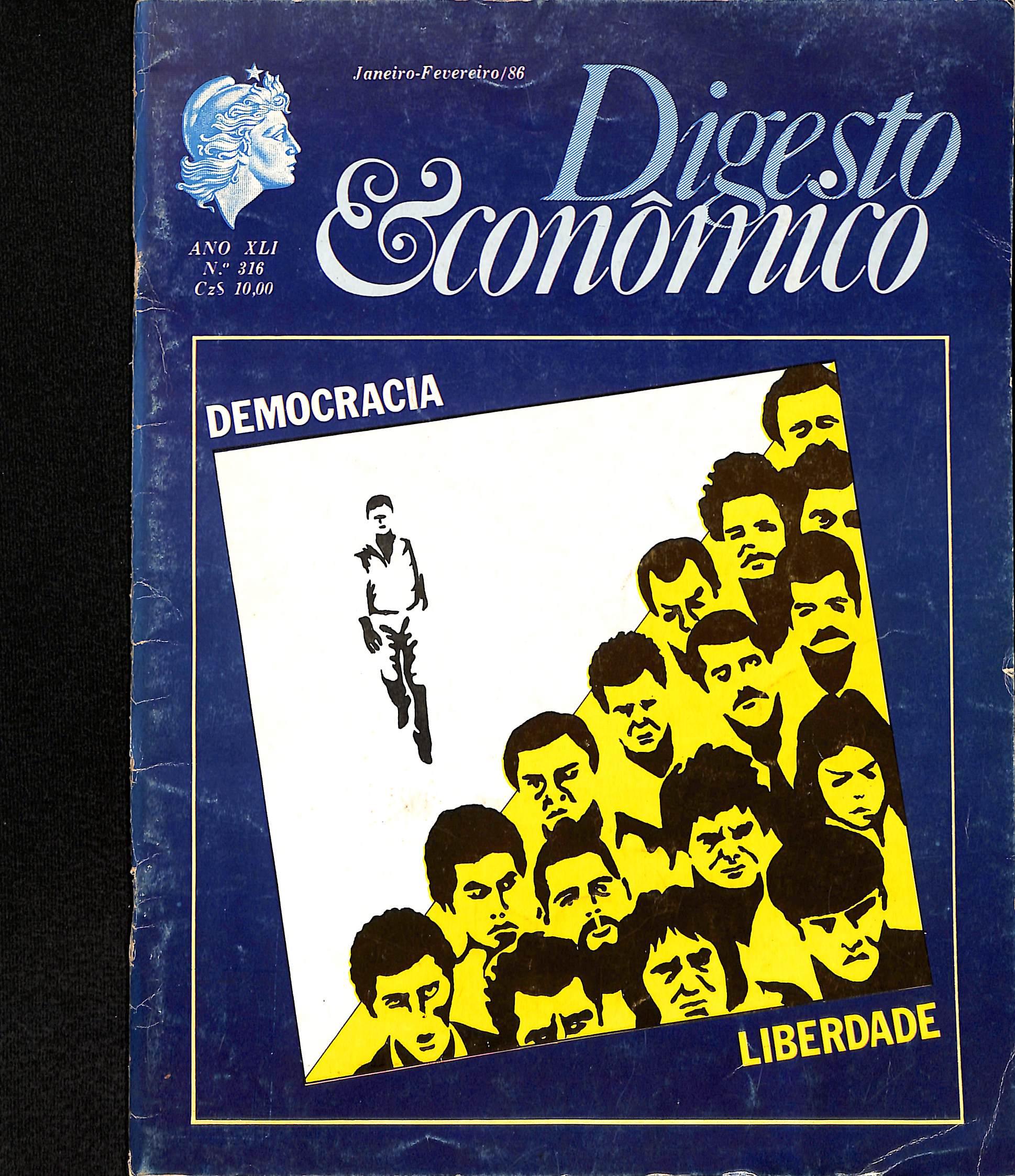


Muita gente realiza seus negócios sem saber ao certo para quem esta vendendo seus produtos.
A Associação Comercial de São Paulo mantém ò disposição de sua empresa, entre outros serviços, informações cadastraisPV - Pesquisa de Vendas e Alerta Cadastral. A PV - Pesquisa de Vendas, fornece informações sobre protestos, falências e concordatas de empresas da Capital e das principais cidades do interior de São Paulo, por telefone
em apenas 15 minutos. O Alerta Cadastral vai mais adiante, fornece o capital social, o registro da Junta Comercial, nomes dos sócios, CGC, passagens e o endereço de empresas da Capital e dos principais cidades do interior de São Paulo. Tudo isso por telefone. Garanta o sucesso de seus negócios.
Presidente Guilherme Afif Domingos
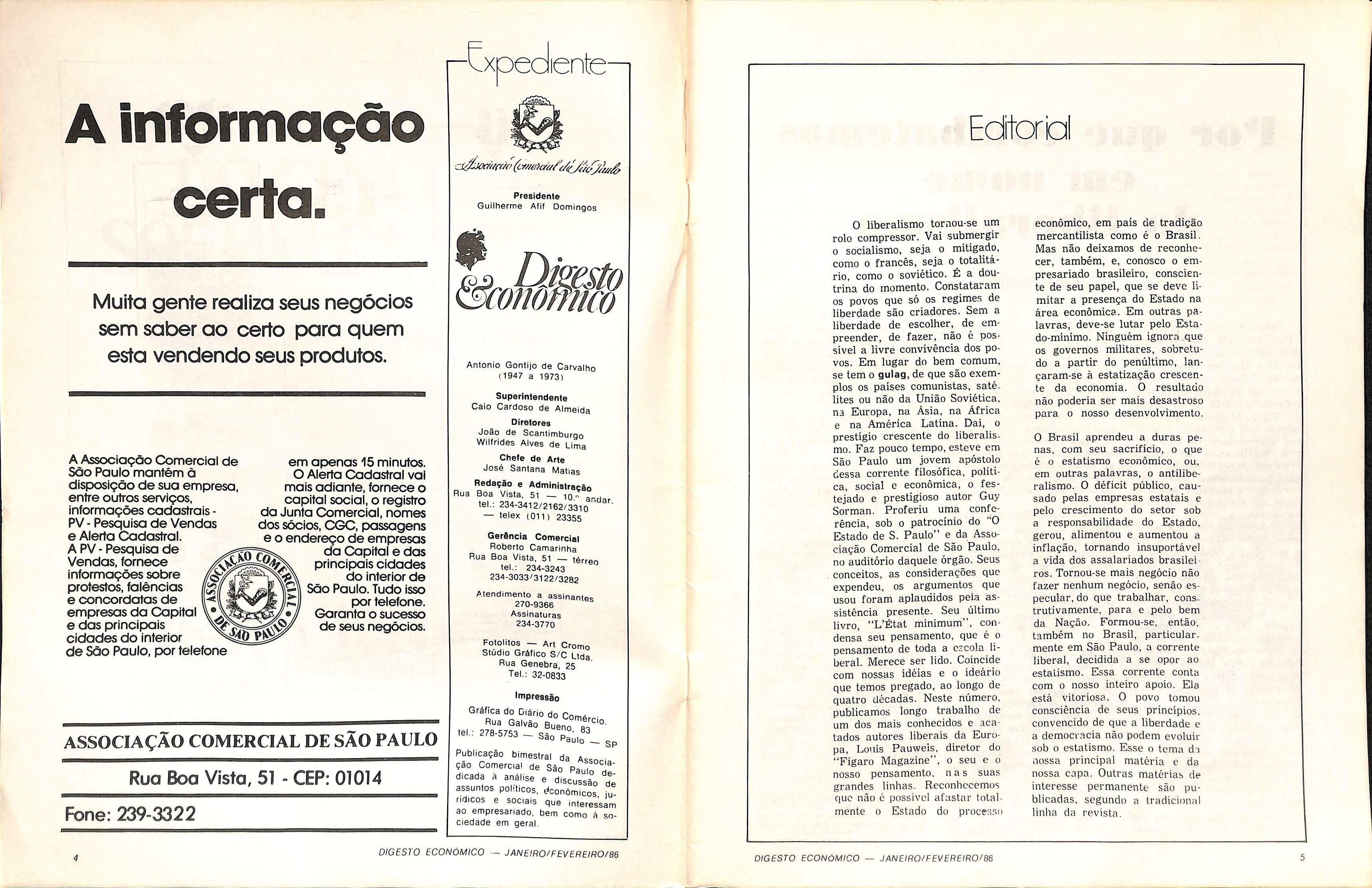
Antonio Gontijo de Carvalho <1947 a 1973)
Superintendente Caio Cardoso de Almeida
Diretores
Joâo de Scantimburgo Wilfrides Alves de Lima
Chefe de Arte José Santana Mat
Redação e Administração Rua Boa Vista, 51 - io,tel.; 234-3412/2162/3310 — telex (011) 23355
Gerência Comercial Roberto Camarinha Rua Boa Vista. 51 tel.: 234-3243 234-3033/3122/3282
las térreo
Atendimento a assinantes270-9366 Assinaturas 234-3770
Fololitos — Art Cromo Studio Gráfico S/C Ltda Rua Genebra, 25 Tel,: 32-0833
●f^ipressâo
Gráfica do Diário Rua Galvào B tel.: 278-5753 do Comércio -'ueno. 83 ^30 Paulo —
SP
Publicação bimestral ção Comercial de São dicada á análise da Assoei Paulo s discussão de assuntos políticos, dconõmi riijicos e sociais
lade- Rua Boa Vista, 51 - CEP: 01014 icos, juque interessam ao empresariado, bem como à so ciedade em geral. Fone: 239-3322
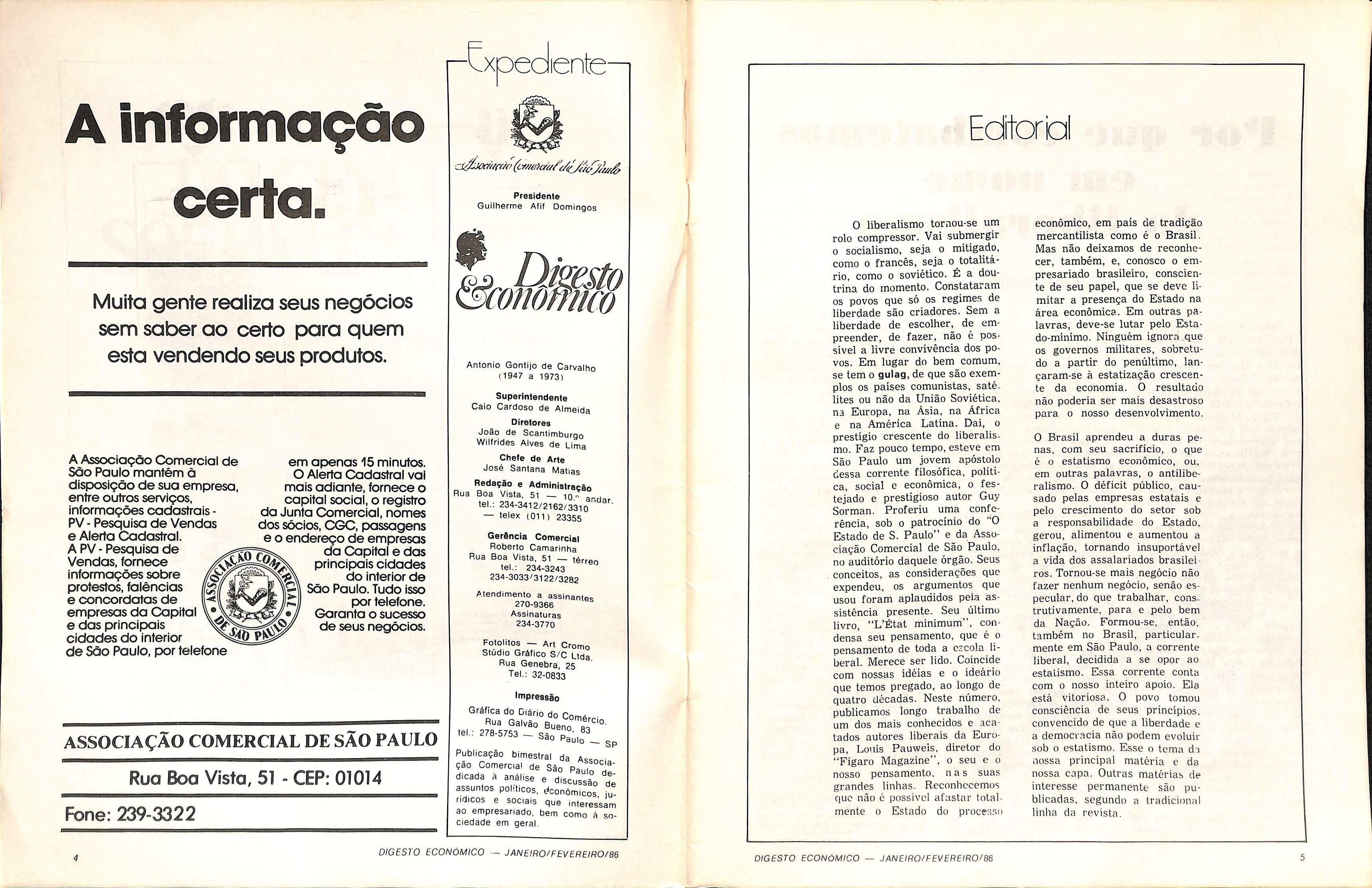
ca, no
O liberalismo tornou-se um rolo compressor. Vai submergir 0 socialismo, seja o mitigado, como 0 francês, seja o totalitásoviético. É a dou- rio, como o trina do momento. Constataram os povos que só os regimes de liberdade são criadores. Sem a liberdade de escolher, de empreender, de fazer, não e pos sível a livre convivência dos po vos. Em lugar do bem comum, se tem o gulag, de que são exem plos os países comunistas, saté lites ou não da União Soviética, na Europa, na Ásia, na África América Latina. Dai, o e na prestígio crescente do liberalismo. Faz pouco tempo, esteve em São Paulo um jovem apóstolo dessa corrente filosófica, polítisocial e econômica, o fes tejado e prestigioso autor Guy Sorman. Proferiu uma confe rência, sob 0 patrocínio do “O Estado de S. Paulo" e da Asso ciação Comercial de São Paulo, auditório daquele órgão. Seus conceitos, as considerações que expendeu, os argumentos que foram aplaudidos pela as-
USOU sistência presente. Seu último
“L’État minimum" con- livro, densa seu pensamento, que è o pensamento de toda a c,-.cola li beral. Merece ser lido. Coincide idéias e o ideário com nossas que temos pregado, ao longo de quatro décadas. Neste número, publicamos longo trabalho de dos mais conhecidos e aca tados autores liberais da Euro pa. Louis Pauweis, diretor do “Figaro Magazine", o seu e o nosso pensamento, nas suas grandes linhas. Reconhecemos que não c possível afastar totaimente o Estado do processo um
econômico, em país de tradição mercantilista como é o Brasil. Mas não deixamos de reconhe cer, também, e, conosco o em presariado brasileiro, conscien te de seu papel, que se deve li mitar a presença do Estado na área econômica. Em outras pa lavras, deve-se lutar pelo Estado-mlnimo. Ninguém ignora que os governos militares, sobretu do a partir do penúltimo, lançaram-se à estatização crescen te da economia. O resultado não poderia ser mais desastroso para o nosso desenvolvimento.
O Brasil aprendeu a duras pe nas. com seu sacrifício, o que é 0 estatismo econômico, ou, em outras palavras, o antiliberalismo. O déficit público, cau sado pelas empresas estatais e pelo crescimento do setor sob a responsabilidade do Estado, gerou, alimentou e aumentou a inflação, tornando insuportável a vida dos assalariados brasilei ros. Tornou-se mais negócio não fazer nenhum negócio, senão es pecular, do que trabalhar, construtivamente, para e pelo bem da Nação. Formou-se, então, também no Brasil, particular, mente em São Paulo, a corrente liberal, decidida a se opor ao estatismo. Essa corrente conta com 0 nosso inteiro apoio. Ela está vitoriosa. O povo tomou consciência de seus princípios, convencido de que a liberdade e a democracia não podem evoluir sob o estatismo. Esse o tema à\\ nossa principal matéria c da nossa capa. Outras matérias de interesse permanente blicadas, segundo a tradicional Unha da revista.
sao pu-


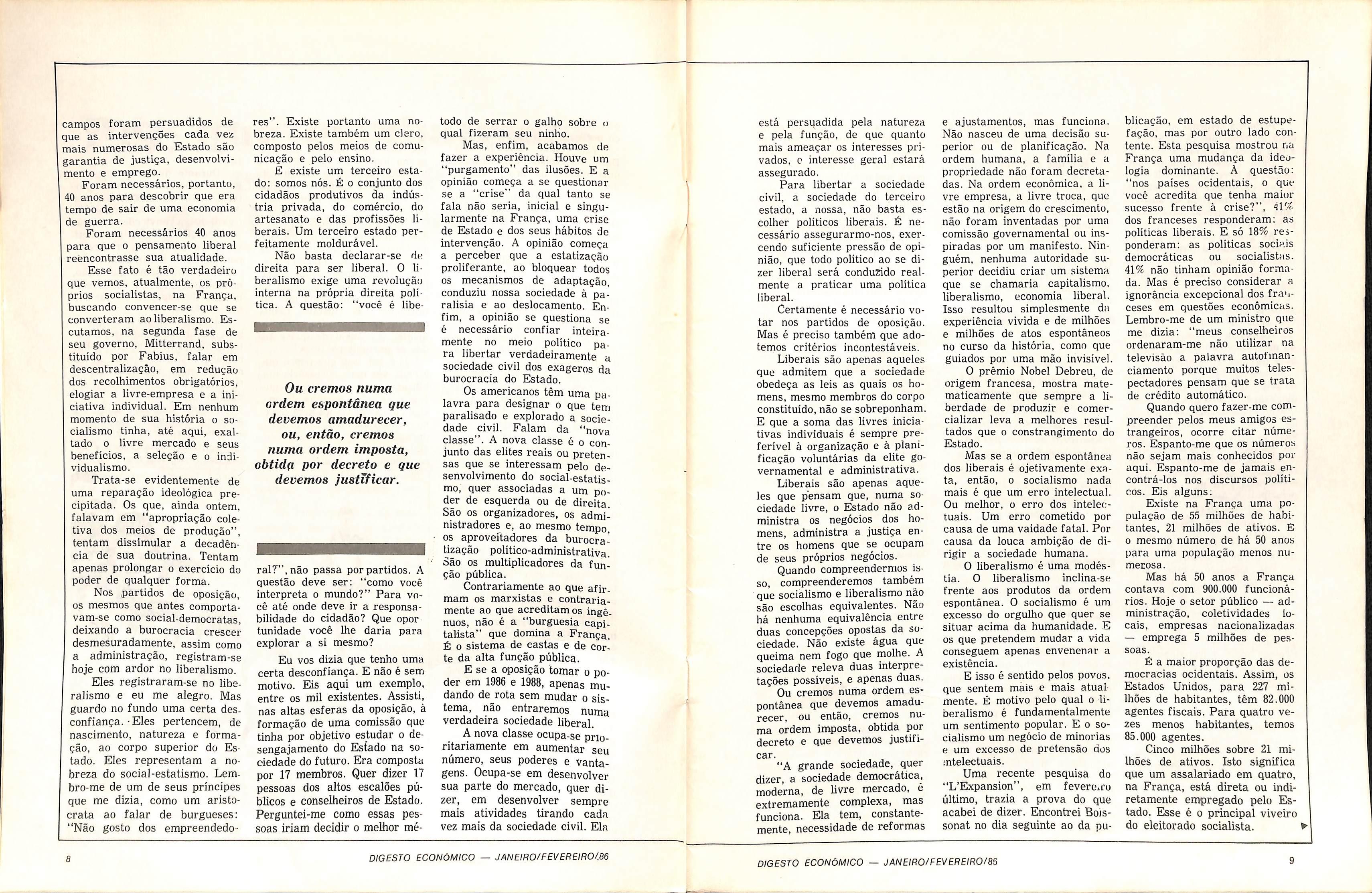
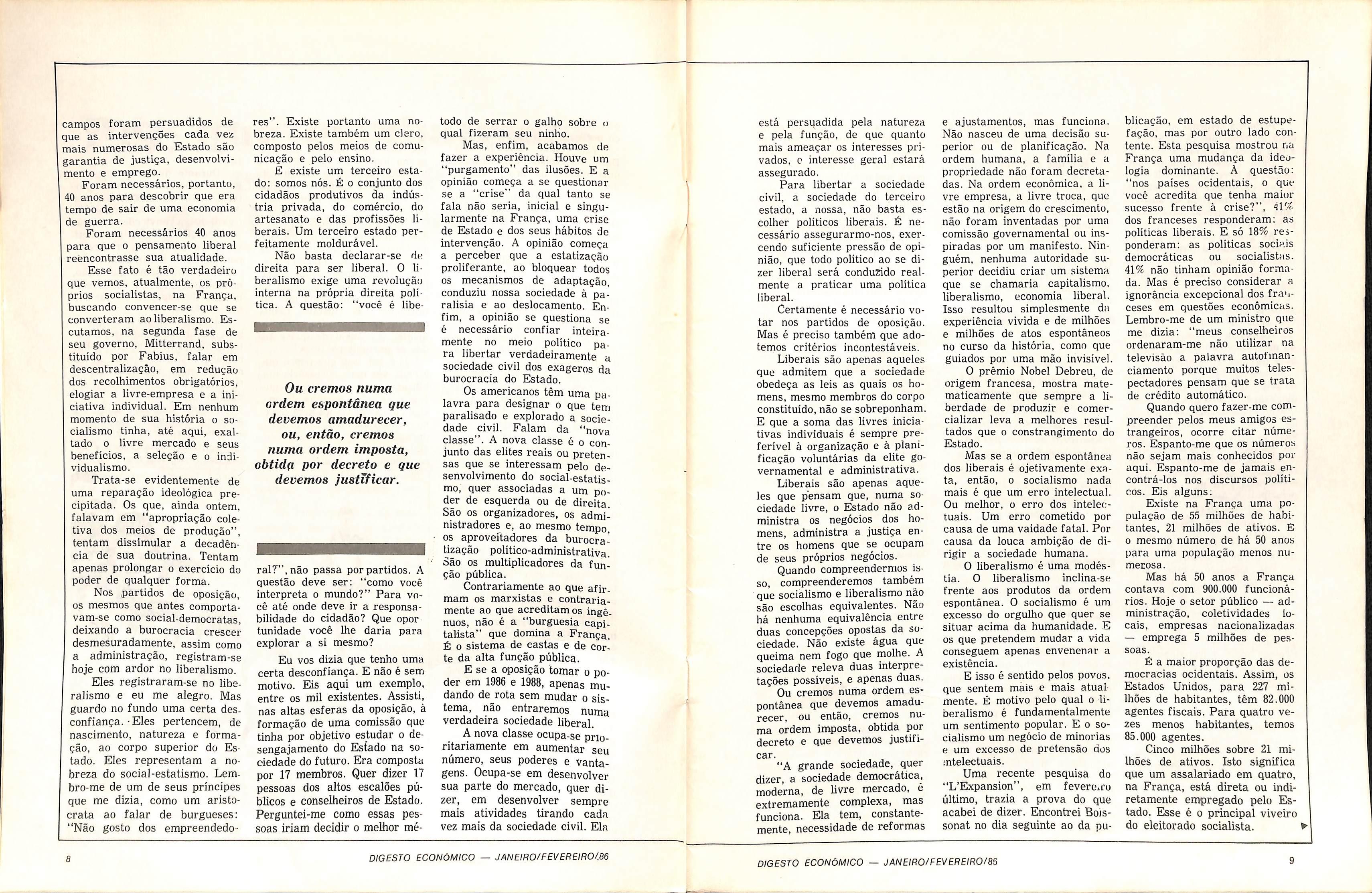


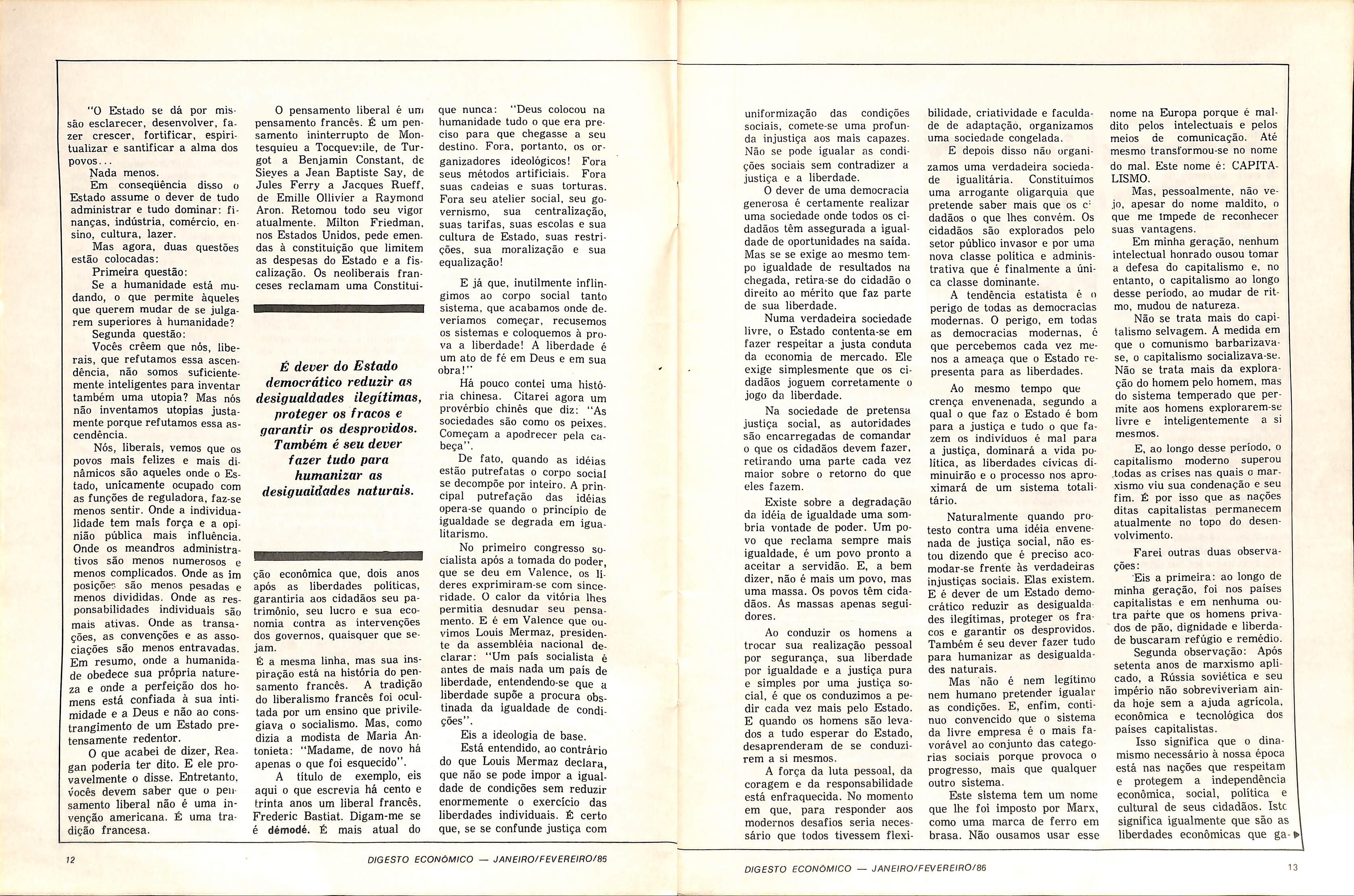
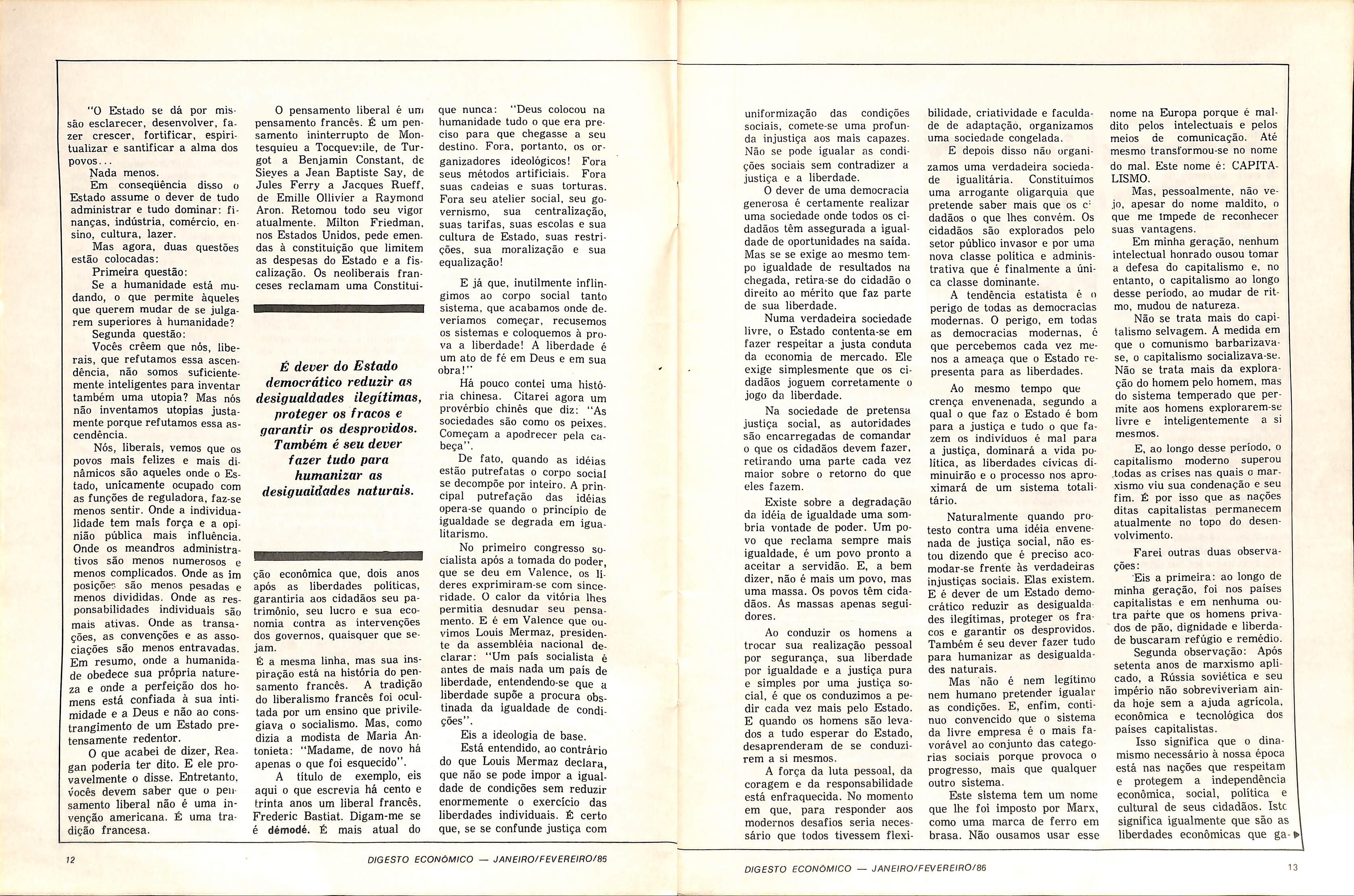
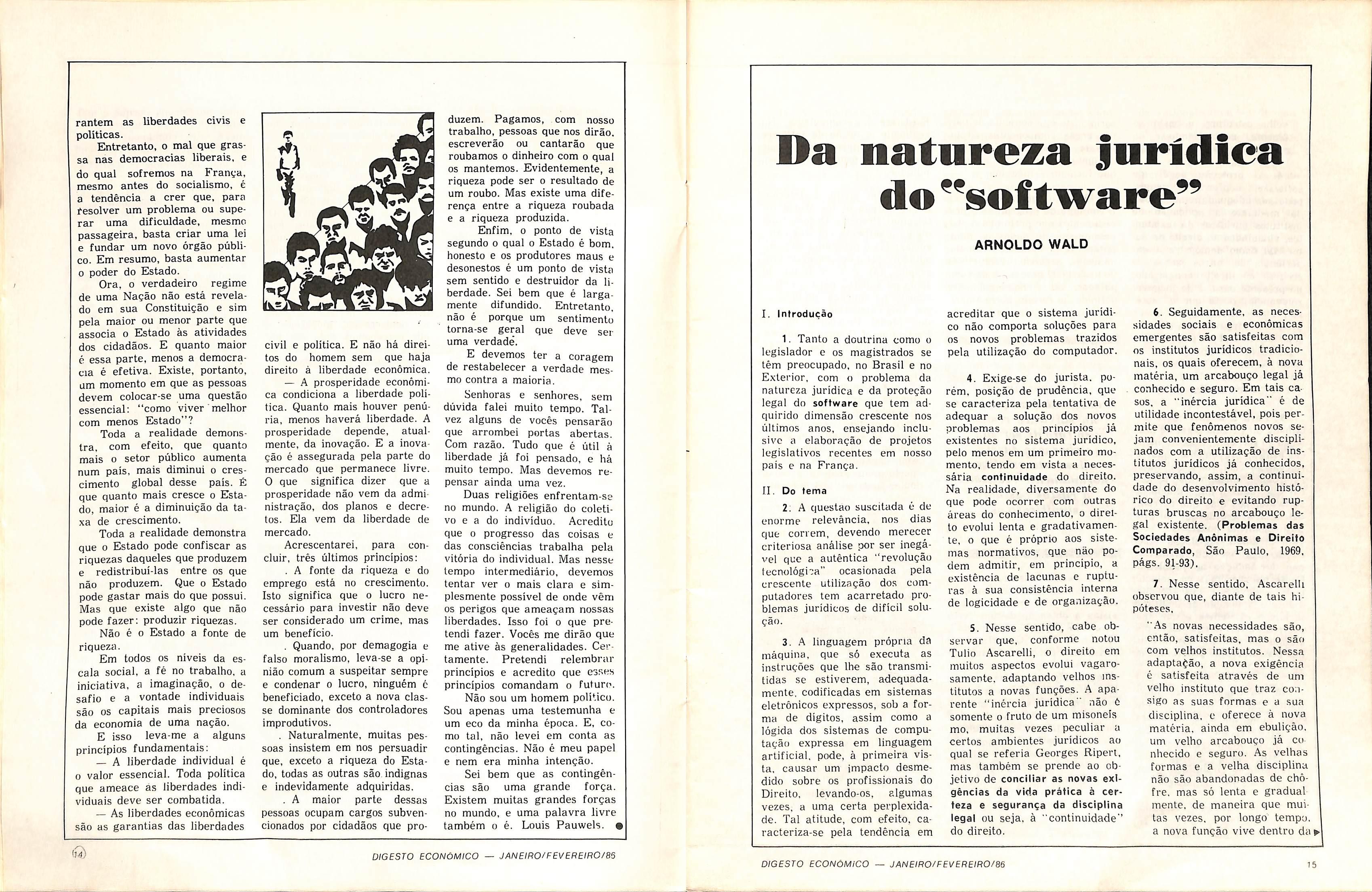
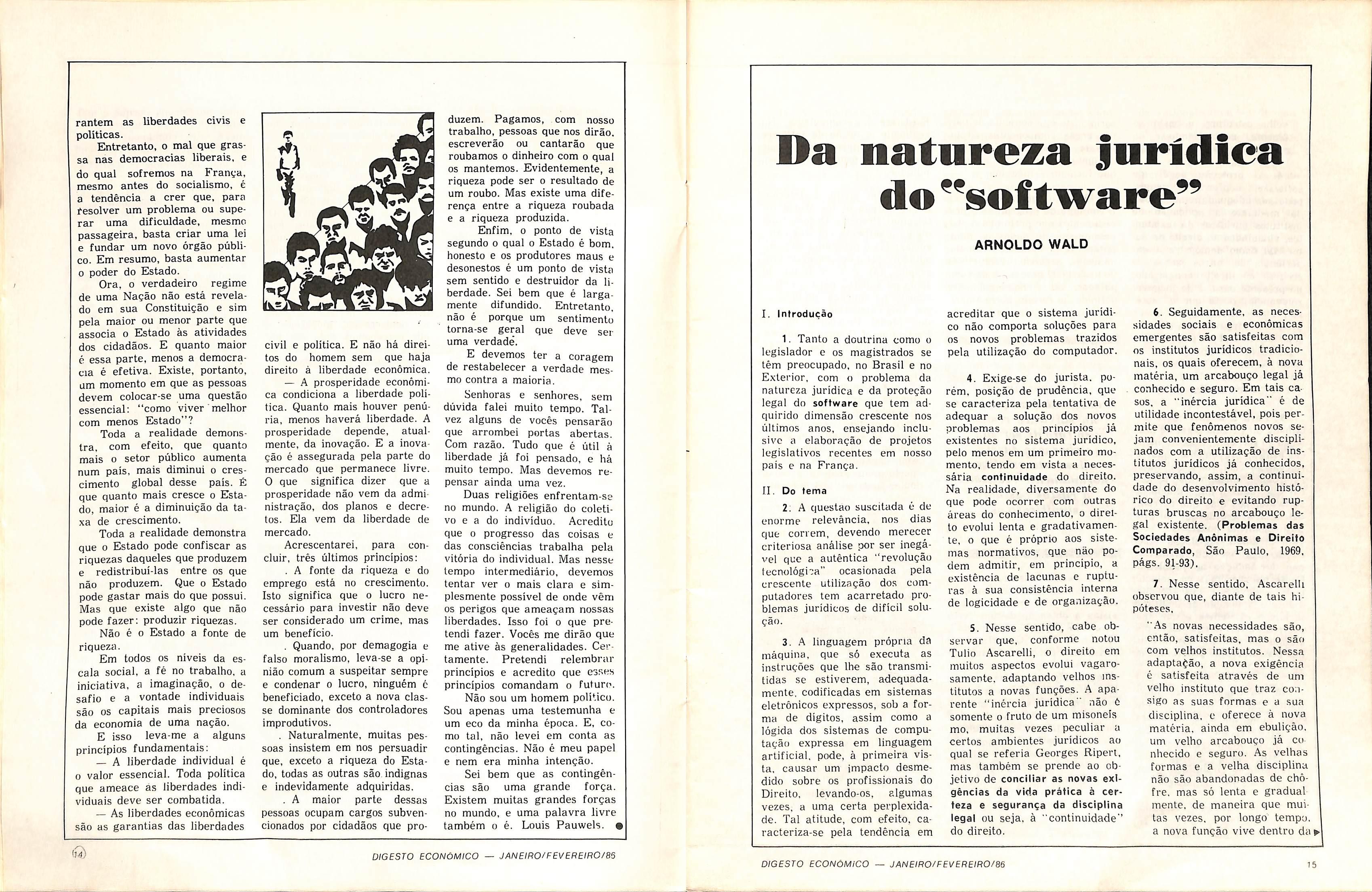
velha estrutura, e assim se plasma, enquadrando-se nu sistema”. (Ob. cit., pág. 93).
8. A proteção legal do conforme veremos. software, pode ser adequadamente provi da mediante a aplicação de institutos jurídicos já existen tes, vinculados ao direito do au tor, tal como demonstra a ex periência de outros países. O ao direito comparado.

sórios. isto é. o conjunto de par tes. peças, componentes, circui tos etc. O hardware é, pois, o conjunto de materiais e peças que formam a máquina.
hardware é o computador. Na ]-ealidade, a noção de software é um pouco mais ampla do que a do simples programa de com putador.
12. Já o software significa 0 conjunto de programas e pro cedimentos que permitem o pro cessamento de dados no com putador e comandam u funcio namento. segundo os objetivos do usuário. O programa de com putador, tal como legalmente definido no direito norte-ameri cano. constitui um conjunto de recurso no presente caso, é de inegável relevância, posto que a maté¬ ria. que começa agora a ser aflorada entre nós, tem sido ob jeto de importantes evoluções' | jurisprudencial e doutrinária, nas últimas déca das, nos Estados Unidos e em vários países da Europa. alegislativa.
A importância fundamental da proteção do software reside no fato de ser sua elaboração tarefa altamente criativa, normalmente realizada a custos bastante significativos.
14. Com efeito, o Interna tional Bureau of the World In telectual Property ürganization divide 0 software em três cale gorias: (1) o programa de com putador; (2) a descrição do pro grama; (3) e 0 material de apoio ou suporte para o enteiidimente ou aplicação do progra ma. Tais categorias, nos termos do "Model Provisions un lhe Protection of Computer Softw re" (Wipo Publication n.° 814). sãü assim descritas:
■'a. Computer program means a set of instruetions capable, when incorporated in a machine readable clium, of causing a machine. having
9. Para a análise mais de talhada do sistema legal de pro teção ao software, importa men cionarmos, brevemente, qual a relevância econômica da maté ria. Cabe, inicialmente, pondedada a importância do meinformation-processing capabilities, to indicate. perform or achieve a parti cular function, task or result; rar que, software, nos dias que correm, defender a tese de que tal pro teção somente poderá ser pro vida mediante legislação espe cifica, significa, concretamente. I dar solução ao problema.
b. Programa description tneans a complete procedural presentation in verbal, schematic or- other form, in sufficient detail to determine a set of instruetions constituting a corresponding Compu ter program;
c. Supporting means any material, other than a Computer program ur program description, created for aiding the understanding or application of a Computer program, for example, problem descriptions and user instruetions" nao
e 0
10. Na linguagem da infor mática, há dois termos de sin gular importância: o hardware software, que ainda não fodevidaniente traduzidos panosso idioma, mas que são, correntemente, utilizados pelos profissionais de comjputação.
Conforme veremos, a solução afirmações e instruções para pode e deve ser buscada me- serem utilizadas, direta ou indidiante a aplicação de institutos retamente, em computador, com jurídicos existentes e que são. vistas à obtenção de um certo perfeitamente, adequados à dis- resultado (“1980 Amendments", ciplina do amparo aos direitos 17 U.S.C. 101). O software é dos produtores de programas de constituído por um conjunto de computação. instruções, expressando idéias, as quais são veiculadas median te a gravação num bem tangí vel, como, por exemplo, um dis quete ou uma fita magnética ou uma pastilha semicondutora. Assim, a substância do software é intangível, embora a sua ex pressão € veiculação sejam pro cessadas em bens tangíveis. material a
11. Por hardware entendese a constituição e estrutura fí sica do computador e seus aces-
15. Assim,osoftware abran ge não só 0 programa de com putador, mas também a sua apresentação verbal ou esquemática, ou por qualquer outra forma, e ainda os materiais descritivos e instruções para os usuários. ram ra
13. À primeira vista, pode ría parecer, simplesmente, que o software é o programa e o

16. A importância funda mental da proteção do software reside no fato de ser sua ela boração tarefa altamente cria tiva. normalmente realizada a custos bastante significativos. Conforme foi observado, a in dústria do software tornou-se. nos últimos anos. de enorme re levância econômica. Apenas pa ra se dar uma idéia de sua mag nitude, cabe observar que, em 1981, a indústria de vendas de programas de computador re presentou, nos Estados Unidos, um volume de oito bilhões de dólares, 19, 0 desenvolvimento de um software, normalmente, re quer a utilização de material humano altamente qualificado, por um longo período de tempo. Esses dois fatores tornam tal empreendimento altamente dis pendioso. Assim, è natural que as empresas que investiram no desenvolvimento de um progra ma estejam interessadas na de fesa dos investimentos realiza dos, cabendo ao sistema jurídi co estabelecer mecanismos de proteção adequados, punindo u.s que, mediante a cópia dos pro gramas, se apropriam de pro priedade alheia, bem como per mitindo aos prejudicados a re cuperação dos prejuízos sofri dos.
17, Embora a elaboração e desenvolvimento dos programas de computador requeiram me ses de esforços e custos cal culados em milhares de dóla res, a sua cópia é evidentemen te fácil e barata. Nesse sentido, cabe ser notado que a prática de “pirataria” em matéria de software tem acarretado pre juízos significativos. Assim, ob servou-se que, nos Estados Uni dos, cerca de quarenta a sessenta milhões de dólares foram per didos pelas empresas que legal mente desenvolveram seus pro gramas devido aos “programas piratas”. (SHANNON, Copycattlng in the Software Patch, N.Y. Times 9 de maio de 1982). No mesmo sentido, estimou-se que, para cada cópia de programa de computador legalmente ven dida, dez são vendidas ilegal mente (RÍCHARDS, Computer software writers struggle to jail pirates, San Jose Mercury News, 14 de fevereiro de 1983).
cializada em computação. Com efeito, deve ser distinguida a compatibílização da cópia. Considera-se que dois computado res são compatíveis se os mes mos programas das suas me mórias externas puderem ser utilizados em ambos, sem neces sidade de maiores alterações. A elaboração de programa com patível com outro pressupõe tra balho de criação. Já a cópia não supõe nenhuma criação, mas simples apropriação de tra balho desenvolvido por outrem.
de rationalisation ou de consolidation imminente. TouL d’abord, la commercialisation de masse d’ensembles logiciels tend à remplacer le logiciel sur mesure... De toute évidence, il est plus profitable d’accaparer un produit de Ia concurrence pouvant être largement commercialisé que d’accaparer un produit sur mesure et il est plus important pour le premier vendeur d’éviter ce genre d’aventure dans le cas d’un produit largement commercialisé. Certains prédisent que cette tendance conduira à des re groupements dans 1’industrie du logiciel. Si ces prévisions sont confirmées par les événements, les têtes de file industrielles s’apercevront sans doute qu’elles ont beaucoup à gagner d’une protection du logiciel".
R. H. STERN, La protection juridique du logiciel et des innovations en rapport avec rinformatique aux Etats Unis d'AmérÍque. 1982, pág. 186).
II. A Proteção do “Softwano direito compa” f/ re rado
A) Considerações gerais
20. Há, portanto, razoes econômicas relevantes que exi gem 0 estabelecimento de me canismos jurídicos de proteção ao software. Em primeiro lu gar, 0 lançamento constante de produtos novos e a emergência dos “mercados” de informática, com profundas alterações no própria estrutura das empresas, demonstram a necessidade de uma tutela legal do software. Nesse sentido, referiu-se que: Lhndustrie do Logiciel pre sente actuellement des signes
21. Ademais, conforme an tes referido, a indústria de in formática defronta-se, diaria mente, com problemas de “pi rataria” de programas. Vários exemplos podem ser menciona dos, particularmente na Europa e Estados Unidos, a propósito dos “programas piratas” e de suas consequências: nos EUA, para cada programa vendido durante o ano de 83, seis cópias foram colocadas ilicitamente no mercado, sendo o prejuízo fi nanceiro das indústrias de in formática estimado em nove mi lhões de dólares, naquele ano; estima-se que 50% (cinquenta por cento) dos produtos da em presa APLE são copiados; con sidera-se que cerca de 90% (no venta por cento) dos disquetes em circulação nos Estados Uni dos constituem contrafrações; em 1963, por violação de
18. Dados os custos envol vidos na elaboração do soft ware, assim como atendendo à facilidade de ser copiado de terminado programa, justificase, evidentemente, a proteção legal do software. É certo, por outro lado, que a caracteri zação da cópia é tarefa a ser desempenhada por pessoa espe- (( co-^
pyright”, a empresa Data Equipement teve de pagar duzentos e oitenta mil dólares à Micropo e Digital Research; no mesmo ano. na Alemanha, duas empre sas daquele país tiveram de in denizar concorrentes suas em quinhentos mil dólares, por ven da sem autorização de progra mas de computador. (YVí^ PONTIDA. Réfiexíons sur une protectíon des logiciels, Université des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales e de Technologie de Strasbourg, s/d pág. 16-17).
22. Além de razões econô micas, há, também, razões ju rídicas relevantes para o esta belecimento de princípios e téc nicas de proteção ao softwa re. porque os programas de computador constituem o fruto de pesquisas e resultam de uma criação intelectual.
23. Nesse sentido, vale refe¬ rir que o programa de compu tador caracteriza-se por um du plo aspecto: um aspecto mate rial, na medida em que ele é incorporado em determinados suportes magnéticos, discos, circuitos in tegrados, cassetes, etc., e um aspecto imaterial, posto que re sulta de um trabalho de cria ção. Tal distinção, inclusive. Lem causado certa perplexida de. na doutrina, quanto à na tureza jurídica dos programas de computador, bem como tem levado alguns autores a concluir que dada a inexistência de pro teção legal especifica ao softpoderíamos estar diante tais como cartões
lacuna do direito. (Rép. Mtn. de la recherche et de Tlndustrie, Quest. éc. 11/7/83, PIBD, 1983, 336 I. 93).
25. Com efeito, conforme veremos em seguida, não existe, no caso, uma lacuna do direito, posto que as normas referentes ao direito do autor são plena mente aplicáveis aos programas de computador.
26. No direito comparado, verificamos que a matéria vem sendo objeto de discussão há
Há razões econômicas relevantes que exigem o estabelecimento de mecanismos jurídicos de proteção do software. Lançamento de produtos novos e a emergência de mercados de informática demonstram a necessidade da tutela legal do software.
cerca de duas décadas, parti cularmente nos Estados Unidos, dado 0 desenvolvimento acele rado da indústria de computação naquele país. Na maioria dos sistemas legais, conforme ve remos em seguida, a proteção aos programas de computador está vinculada às normas de amparo aos direitos do autor. ware. de uma lacuna do direito. (A. LUCAS, La protection des proRev. Jur. Comm.,
teressados, uma lei típica espe cífica, prevendo a existência de depósito dos programas de computador, das descrições dos programas e da sua documen tação auxiliar.
28. Conforme referido na doutrina, a sistematização ela borada pela OMPI segue os mesmos princípios do Direito de Autor, amenizando apenas o prazo de duração do privilégio e impondo o registro prévio, a exemplo da orientação angloamericana, e em contraposi ção à facultatividade do regis tro que entre nós prevalece (CARLOS ALBERTO BITTAR, (Computação e Direito. Enqua dramento no "hardware" e do software" no plano dos direi tos intelectuais. Revista dos Tri bunais, n.° 565 novembro dc 1982, págs. 13 e 14).
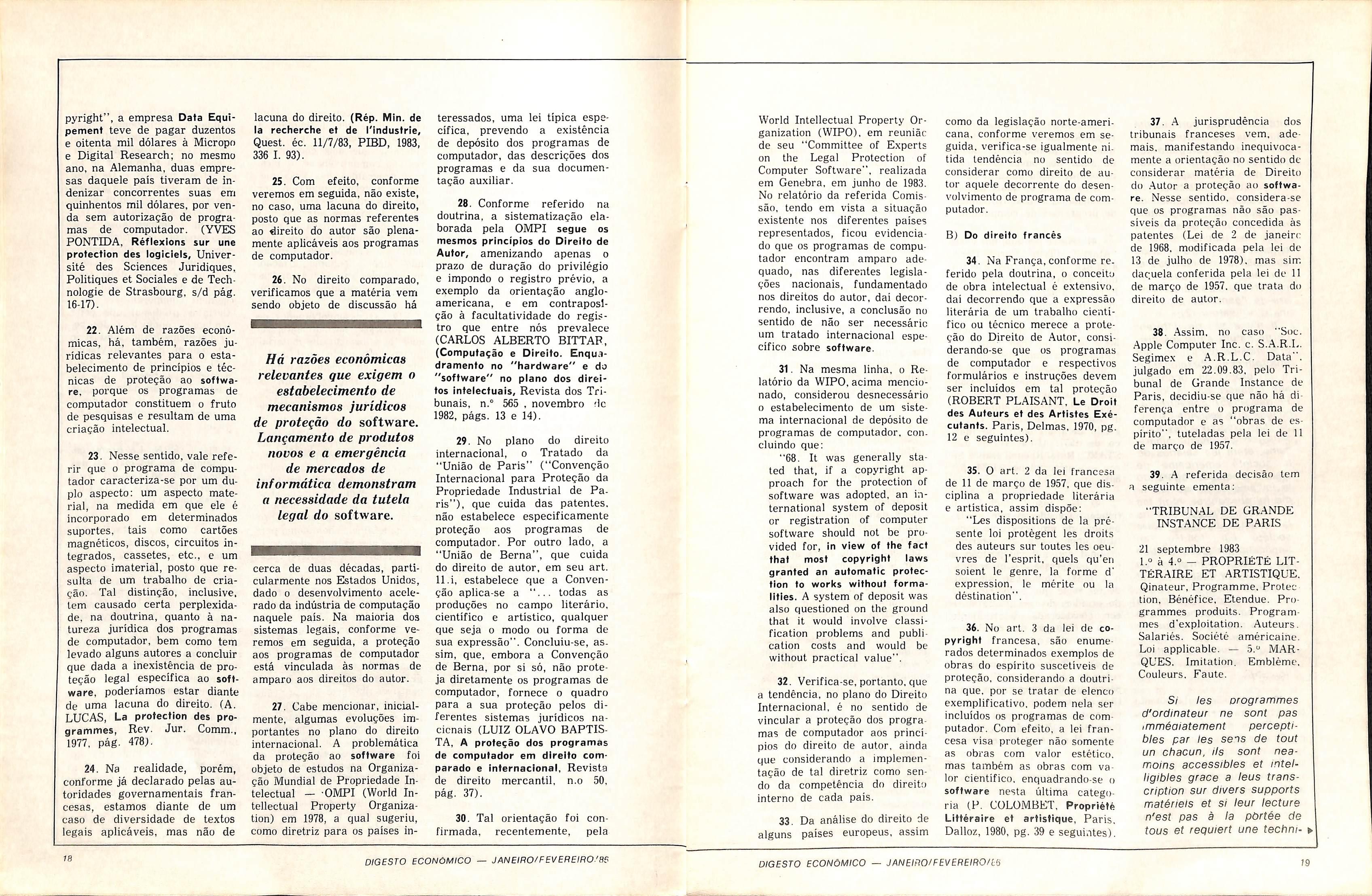
24. Na realidade, porém, conforme já declarado pelas au toridades governamentais fran cesas, estamos diante de um caso de diversidade de textos legais aplicáveis, mas não de
27. Cabe mencionar, inicial mente, algumas evoluções im portantes no plano do direito internacional. A problemática da proteção ao software foi objeto de estudos na Organiza ção Mundial de Propriedade In telectual — OMPI (World Intellectual Property Organization) em 1978, a qual sugeriu, como diretriz para os países ingrammes 1977. pág. 478).
// 29. No plano do direito internacional, o Tratado da "União de Paris" (“Convenção Internacional para Proteção da Propriedade Industrial de Pa ris”), que cuida das patentes, não estabelece especificamente proteção aos programas de computador. Por outro lado, a “União de Berna’’, que cuida do direito de autor, em seu art. 11.i, estabelece que a Conven ção aplica-se a "... todas as produções no campo literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou forma de sua expressão". Concluiu-se, as. sim, que, embora a Convenção de Berna, por si só, não prote ja diretamente os programas de computador, fornece o quadro para a sua proteção pelos di ferentes sistemas jurídicos na cionais (LUIZ OLAVO BAPTISTA, A proteção dos programas de computador em direito com parado e internacional. Revista de direito mercantil, n.o 50, pág. 37).
30. Tal orientação foi con firmada, recentemente, pela
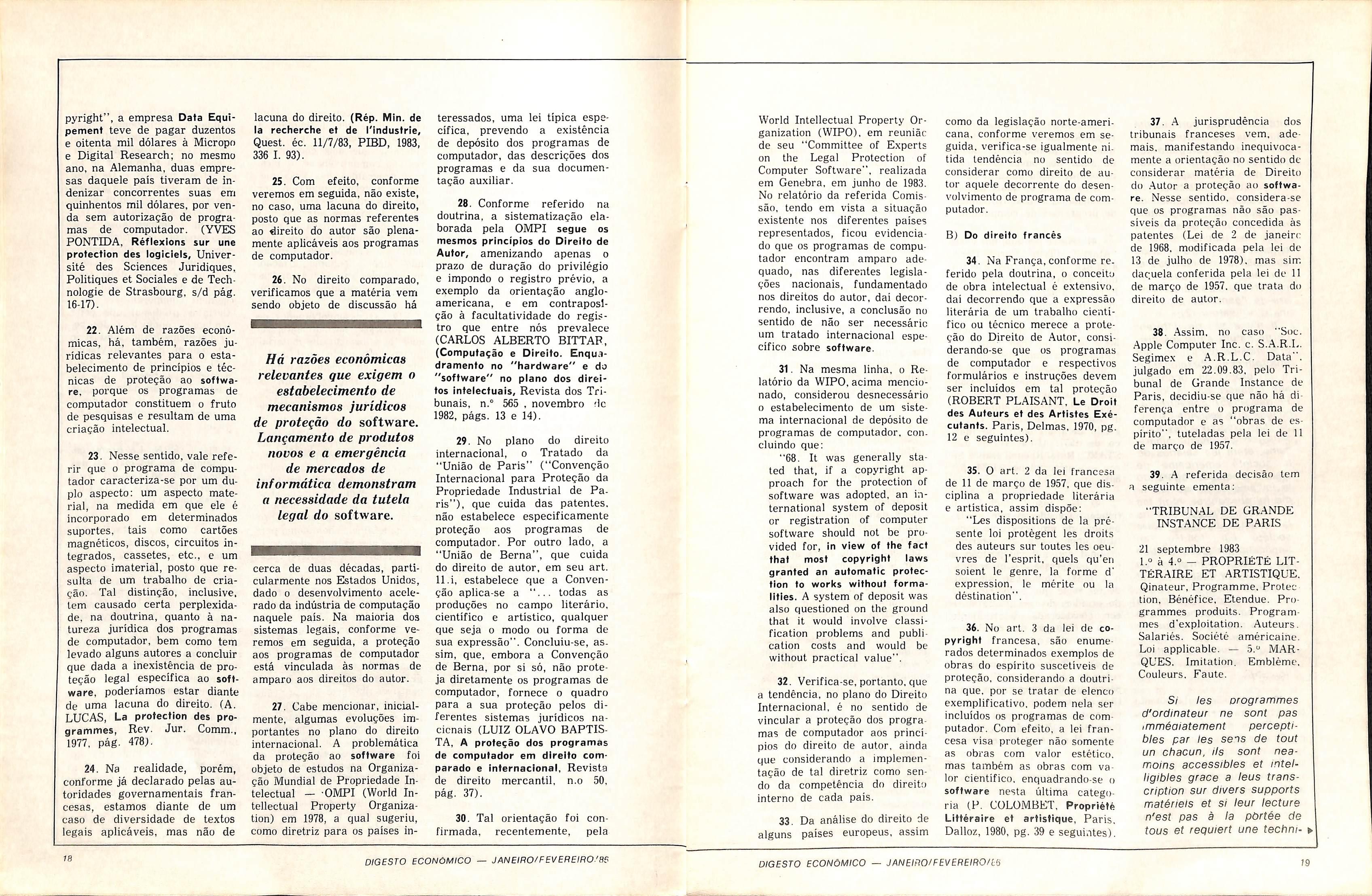
World Intellectual Property Organization (WIPO), em reuniãc de seu "Committee of Experts on the Legal Protection of Computer Software'*, realizada em Genebra, em junho de 1983. No relatório da referida Comis são, tendo em vista a situação existente nos diferentes países representados, ficou evidencia do que os programas de compu tador encontram amparo ade quado, nas diferentes legisla ções nacionais, fundamentado nos direitos do autor, dai decor rendo, inclusive, a conclusão nu sentido de não ser necessário um tratado internacional cífico sobre software.
espe-
31. Na mesma linha, o Re latório da WIPO. acima mencio nado, considerou desnecessário 0 estabelecimento de um siste ma internacional de depósito de programas de computador, con. cluindo que;
"68. It was generally stated that, if a Copyright approach for the protection of software was adopted, an international system of deposit or registration of Computer software should not be provided for, in view of the fact that most Copyright laws granted an automatic profectlon to Works without formalities. A System of deposit was also questioned on the ground that it would involve classification problems and publication costs and would be without practical value".
32. Verifica-se, portanto, que a tendência, no plano do Direito Internacional, é no sentido de vincular a proteção dos progra mas de computador aos princí pios do direito de autor, ainda que considerando a implemen tação de tal diretriz como sen do da competência do direito interno de cada pais.
33. Da análise do direito de alguns países europeus, assim
como da legislação norte-ameri cana, conforme veremos em se guida. verifica-se igualmente ni. tida tendência no sentido de considerar como direito de au tor aquele decorrente do desen volvimento de programa de com putador.
34. Na França, conforme re. ferido pela doutrina, o conceito de obra intelectual é extensivo, daí decorrendo que a expressão literária de um trabalho cienti fico ou técnico merece a prote ção do Direito de Autor, considerando-se que os programas de computador e respectivos formulários e instruções devem ser incluídos em tal proteção (ROBERT PLAISANT. Le Droit des Auteurs et des Artistes Exécutants. Paris, Delmas, 1970, pg. 12 e seguintes).
35. O art. 2 da lei francesa de 11 de março de 1957. que dis ciplina a propriedade literária e artística, assim dispõe:
"Les dispositions de la pre sente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de 1’esprit. quels qu'en soient le genre, la forme d' expression, le mérite nu la déstination".
36. No art. 3 da lei de Co pyright francesa, são enume rados determinados exemplos de obras do espirito suscetíveis de proteção, considerando a doutri na que. por se tratar de elenco exemplificativo, podem nela ser incluídos os programas de com putador. Com efeito, a lei fran cesa visa proteger não somente as obras com valor estético, mas também as obras com va lor científico, enquadrando-se software nesta última catego ria (P. CÜLÜMBET. Propriétè Littéraire et artistlque. Paris. Dalloz, 1980. pg. 39 e seguintes).
37. .á jurisprudência dos tribunais franceses vem. ade mais. manifestando inequivoca mente a orientação no sentido de considerar matéria de Direito do .Autor a proteção ao softwa re. Nesse sentido, considera-se que os programas não são pas síveis da proteção concedida às patentes (Lei de 2 de janeiro de 1968. modificada pela lei de 13 de julho de 1978). mas sim daquela conferida pela lei de II de março de 1957. que trata do direito de autor.
38. Assim, no caso "Soe. Apple Computer Inc. c. S.A.R.L. Segimex e A.R.L.C. Data", julgado em 22.09.83. pelo Tri bunal de Grande Instance de Paris, decidiu-se que não há di ferença entre o programa de computador e as “obras de es pírito". tuteladas pela lei de II de março de 1957.
39. A referida decisão tem a seguinte ementa:
"TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
21 septembre 1983 1.0 à 4.° - PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Qinaleur, Programme. Protec tion, Bénéfice. Etendue. Programmes produits. Programmes d'exploitation. Auteurs. Salariés. Sociéte américaine. Loi applicable. — õ.“ MAR QUES. Imitation. Emblème. Couleurs. Faute.
Sl les orogrammes d'ordlnateur ne sont pas imméaiatement perceptibles par les seis de tout un chacun, ils sont neamoins accessibles et mtelligibles grace a leus transcription sur divers supports r,ratérieis et si leur lecture n'est pas a la pòrtée de tous et requiert une techni- > 0
créateur
c/fé ceife seule particularité nest pas de nature à les exclure de Ia catégorie des oeuvres de l'esprit, pas plus que n'en sont exclues les compositicns musicales (1); L'apport personnel du de programme d'crdinateur est déterminant dans le résultat obtenu, comme peut l'létre celui du compositeur de musique et l'evídence commande de conférer le caractére d'ceuvre de l'esprit au prcgramme d'ordinateur (2); II n'y a pas de dífférence de nature entre les programmes-prcduits programmes d'exploitation ei Ia protection accordée aux premiers par la loi du n mars 1957 doit être connue aux seconds (3); Les créateurs des logicieis, ae nationalité
consolidou-se a orientação jurisprudencial no sentido de es tender os princípios do direito do autor aos novos fenômenos de manifestação cultural ou ci entífica, entre os quais aqueles relacionados ao desenvolvimento de programas de computador.
"Atari” 8.12.82), e nics c. Presotto’
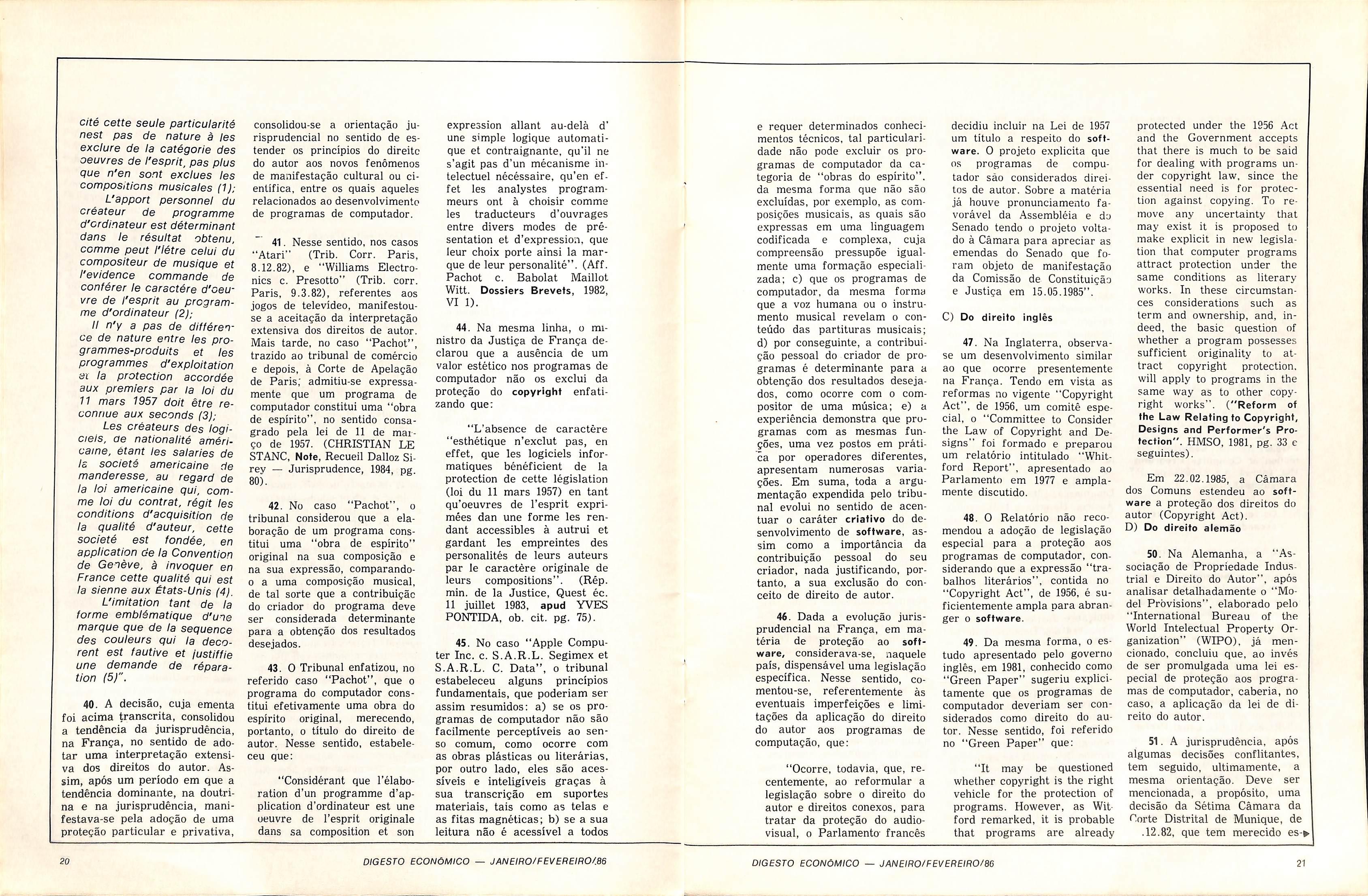
Gxpression allant au-delà d' une simple logique automatique et contraignante. qu’il ne s’agit pas d’un mécanisme intelectuel nécéssaire, qu’en effet les analystes programmeurs ont à choisir comme les traducteurs d’ouvrages entre divers modes de présentation et d’expression. que leur choix porte ainsi la mar que de leur personalité”. (Aff. Pachot c. Babolat Maillot Witt. Dossiers Brevets, 1982, VI 1).
44. Na mesma linha, o mi nistro da Justiça de França de clarou que a ausência de um valor estético nos programas de computador não os exclui da proteção do Copyright enfati zando que: et les re-
americarne, ètant les salaries de la societé americaine de manderesse, au regard de la loi americaine qui, com me loi du contrat. régit les conditions d'acquisition de la qualité d'auteur, cette societé
41. Nesse sentido, nos casos (Trib. Corr. Paris, "Williams Electro(Trib. corr. Paris, 9.3.82), referentes aos jogos de televídeo, manifestouse a aceitação da interpretação extensiva dos direitos de autor. Mais tarde, no caso “Pachot", trazido ao tribunal de comércio e depois, à Corte de Apelação de Paris; admitiu-se expressa mente que um programa de computador constitui uma "obra de espírito", no sentido consa grado pela lei de 11 de mar ço de 1957. (CHRISTIAN LE STANC, Note, Recueil Dalloz Sirey — Jurisprudence, 1984, pg 80).
42. No caso “Pachot" tribunal considerou que a ela boração de um programa cons titui uma
original na sua composição e na sua expressão, comparando0 a uma composição musical, de tal sorte que a contribuição do criador do programa deve ser considerada determinante para a obtenção dos resultados desejados.
0 fondée, appiícation de la Convention de Genève, à invoquer France cette qualité qui est la sienne aux Êtats-Unis (4). Ldmitation tant de la forme emblématique d'une marque que de la sequence des couleurs qui la decorent est fautive et lustiffie une demande de réparation (5)". est obra de espírito" en en
40. A decisão, cuja ementa foi acima transcrita, consolidou a tendência da jurisprudência, na França, no sentido de ado tar uma interpretação extensidos direitos do autor. As sim, após um período em que a tendência dominante, na doutri na e na jurisprudência, mani festava-se pela adoção de uma proteção particular e privativa, va
43. O Tribunal enfatizou, no referido caso "Pachot”, que o programa do computador cons titui efetivamente uma obra do espírito original, merecendo, portanto, o título do direito de autor. Nesse sentido, estabele ceu que:
"Considérant que Télaboration d’un programme d’application d’ordinateur est une ueuvre de 1’esprit originale dans sa composition et son
"L’absence de caractére "esthétique n’exclut pas, en effet, que les logiciels informatiques bénéficient de la protection de cette législation (loi du 11 mars 1957) en tant qu’oeuvres de Tesprit exprimées dan une forme les rendant accessibles à autrui et gardant les empreintes des personalités de leurs auteurs par le caractére originale de leurs compositions". (Rép. min. de la Justice, Quest éc. 11 juillet 1983, apud YVES POl^IDA, ob. cit. pg. 75).
45. No caso "Apple Compu ter Inc. c. S.A.R.L. Segimex et S.A.R.L. C. Data”, o tribunal estabeleceu alguns princípios fundamentais, que poderíam ser assim resumidos: a) se os pro gramas de computador não são facilmente perceptíveis ao sen so comum, como ocorre com as obras plásticas ou literárias, por outro lado, eles são aces síveis e inteligíveis graças à sua transcrição em suportes materiais, tais como as telas e as fitas magnéticas; b) se a sua leitura não é acessível a todos
e requer determinados conheci mentos técnicos, tal particulari dade não pode excluir os pro gramas de computador da ca tegoria de "obras do espírito", da mesma forma que não são excluídas, por exemplo, as com posições musicais, as quais são expressas em uma linguagem codificada e complexa, cuja compreensão pressupõe igual mente uma formação especiali zada: c) que os programas de computador, da mesma forma que a voz humana ou o instru mento musical revelam o con teúdo das partituras musicais; d) por conseguinte, a contribui ção pessoal do criador de pro gramas é determinante para a obtenção dos resultados deseja dos, como ocorre com o com positor de uma música; e) a experiência demonstra que pro gramas com as mesmas fun ções, uma vez postos em práti ca por operadores diferentes, apresentam numerosas varia ções. Em suma, toda a argu mentação expendida pelo tribu nal evolui no sentido de acen tuar o caráter criativo do de senvolvimento de software, as sim como a importância da contribuição pessoal do seu criador, nada justificando, por tanto, a sua exclusão do con ceito de direito de autor.
46. Dada a evolução jurisprudencial na França, em ma téria de proteção ao soft ware, considerava-se, naquele país, dispensável uma legislação específica. Nesse sentido, mentou-se, referentemente às eventuais imperfeições e limi tações da aplicação do direito do autor aos programas de computação, que:
decidiu incluir na Lei de 1957 um título a respeito do soft ware. O projeto explicita que os programas de compu tador são considerados direi tos de autor. Sobre a matéria já houve pronunciamento fa vorável da Assembléia e do Senado tendo o projeto volta do à Câmara para apreciar as emendas do Senado que fo ram objeto de manifestação da Comissão de Constituição e Justiça em 15.05.1985".
C) Do direito inglês
47. Na Inglaterra, observase um desenvolvimento similar ao que ocorre presentemente na França. Tendo em vista as reformas no vigente "Copyright Act", de 1956. um comitê espe cial, 0 “Committee to Consider the Law of Copyright and Designs" foi formado e preparou um relatório intitulado "Whitford Report", apresentado ao Parlamento em 1977 e ampla mente discutido.
48. O Relatório não reco mendou a adoção de legislação especial para a proteção aos programas de computador, con siderando que a expressão “tra balhos literários", contida no "Copyright Act", de 1956, é su ficientementeampla para abran ger 0 software.
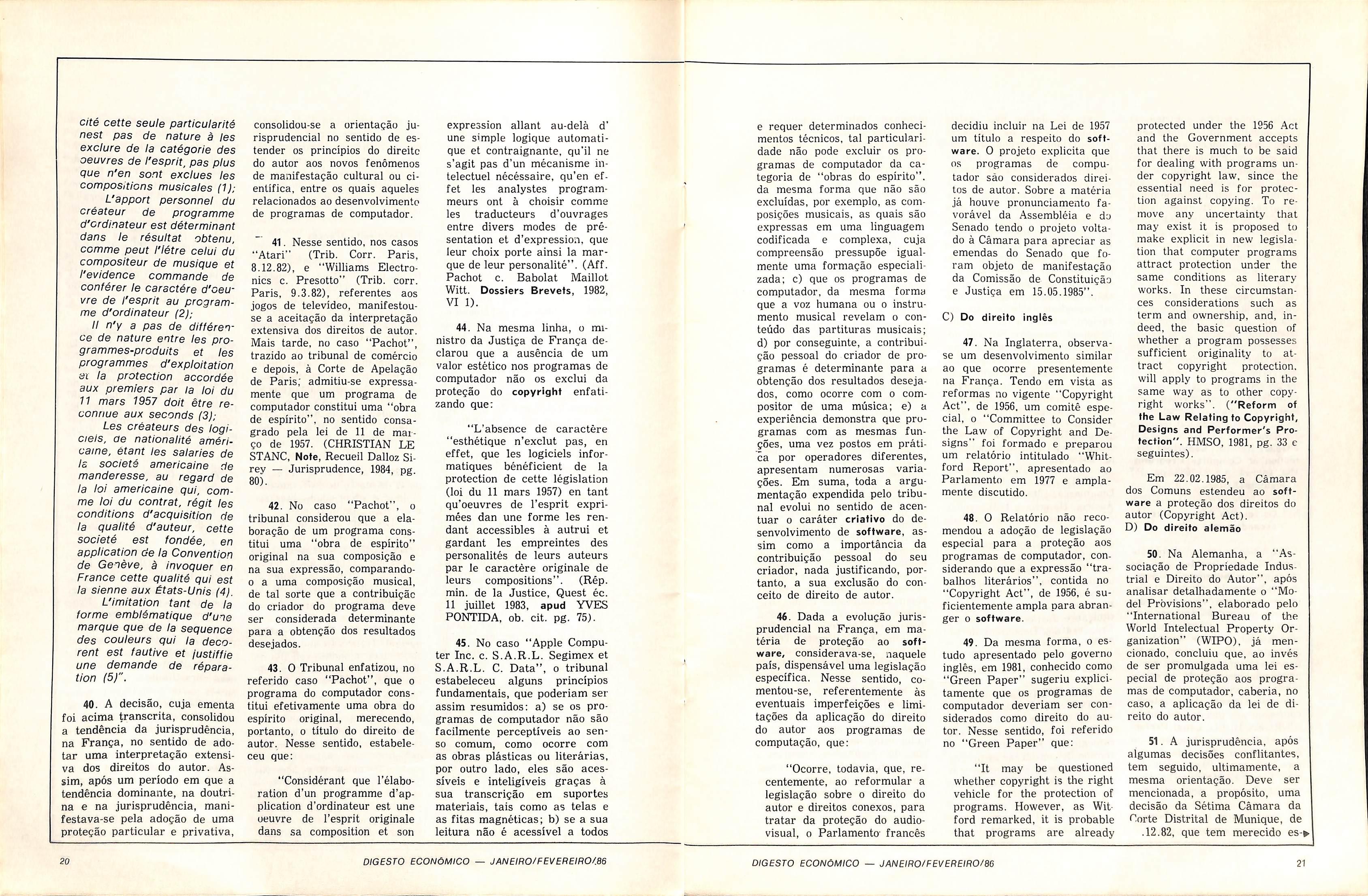
"It may be questioned whether Copyright is the right vehicle for the protection of programs. However, as Witford remarked, it is probable that programs are already "Ocorre, todavia, que, re centemente, ao reformular a legislação sobre o direito do autor e direitos conexos, para tratar da proteção do audio visual, 0 Parlamento francês
protected under the 1956 Act and the Government accepts that there is much to be said for dealing with programs un der Copyright law, sínce the essential need is for proteclion againsL copying. To re move any uncertainty that may exist it is proposed to make explicit in new legislation that Computer programs attract protection under the same conditions as literary Works. In these circumstances considerations such as lerm and ownership, and, in* deed, the basic question of whether a program possesses sufficient originality to at tract Copyright protection. will apply to programs in the same way as to other Copy right Works". ("Reform of the Law Relatíng to Copyright, Destgns and Performer's Pro tection". HMSO, 1981, pg. 33 e seguintes).
Em 22.02.1985 Câmara dos Comuns estendeu ao soft ware a proteção dos direitos do autor ((Copyright Act). D) Do direito alemão a
50. Na Alemanha, a "As sociação de Propriedade Indus trial e Direito do Autor", após analisar detalhadamente o "Model Pròvisions”, elaborado pelo "International Bureau of the World Intelectual Property Organization" (WIPO), já men cionado, concluiu que, ao invés de ser promulgada uma lei es pecial de proteção aos progra mas de computador, caberia, no caso, a aplicação da lei de di reito do autor.
49. Da mesma forma, o es tudo apresentado pelo governo inglês, em 1981, conhecido como "Green Paper" sugeriu explici tamente que os programas de computador deveriam ser con siderados como direito do au tor. Nesse sentido, foi referido no "Green Paper" que; co51. A jurisprudência, após algumas decisões conflitantes, tem seguido, ultimamente, a mesma orientação. Deve ser mencionada, a propósito, uma decisão da Sétima Câmara da Corte Distrital de Munique, de .12.82, que tem merecido es-^
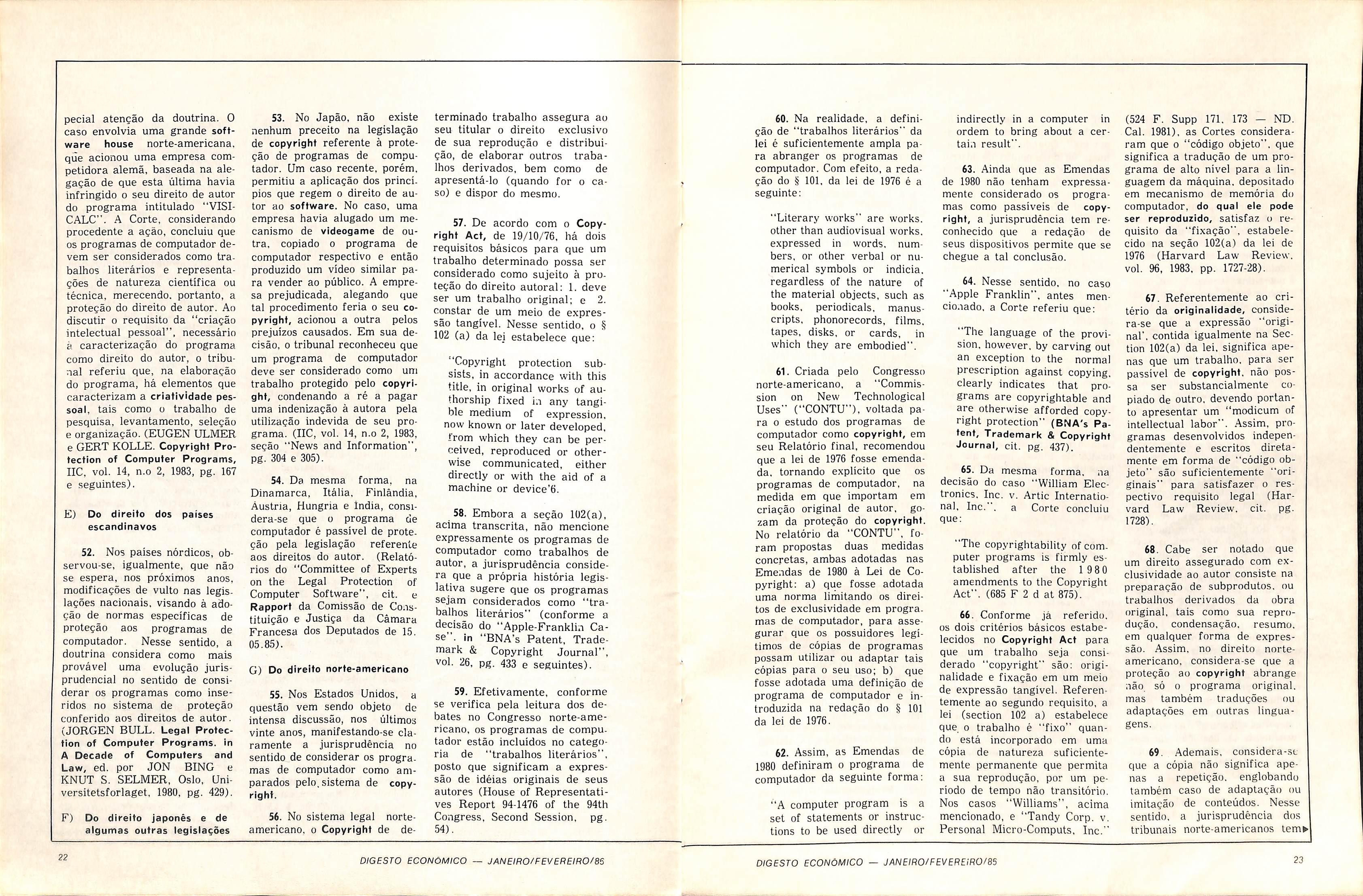
pecial atenção da doutrina. O caso envolvia uma grande soft ware house norte-americana, que acionou uma empresa com petidora alemã, baseada na ale gação de que esta última havia infringido o seu direito de autor do programa intitulado “VISICALC". A Corte, considerando procedente a ação, concluiu que os programas de computador de vem ser considerados como tra balhos literários e representa ções de natureza científica ou técnica, merecendo, portanto, a proteção do direito de autor. Ao discutir 0 requisito da "criação intelectual pessoal", necessário á caracterização do programa como direito do autor, o tribu nal referiu que, na elaboração do programa, há elementos que caracterizam a criatividade pes soal, tais como o trabalho de pesquisa, levantamento, seleção e organização. (EUGEN ULMER e GERT KOLLE. Copyright Pro tection of Computer Programs, nc. vol. 14, n.o 2, 1983, pg. 167 e seguintes).
E) Do direito dos paises escandinavos
52. Nos países nórdicos, ob servou-se, igualmente, que não se espera, nos próximos anos, modificações de vulto nas legis lações nacionais, visando à ado ção de normas especificas de proteção aos programas de computador. Nesse sentido, a doutrina considera como mais provável uma evolução jurisprudencial no sentido de consi derar os programas como inse ridos no sistema de proteção conferido aos direitos de autor. (JORGEN BULL. Legal ProtecHon of Computer Programs. in A Decade of Computers and Law, ed. por JON BING e KNUT S. SELMER, Oslo. Universitetsforlaget, 1980, pg. 429).
F) Do direito japonês e de algumas outras legislações
53. No Japão, não existe nenhum preceito na legislação de Copyright referente à prote ção de programas de compu tador. Um caso recente, porém, permitiu a aplicação dos princi. pios que regem o direito de au tor ao software. No caso, uma empresa havia alugado um me canismo de videogame de ou tra. copiado 0 programa de computador respectivo e então produzido um vídeo similar pa ra vender ao público. A empre sa prejudicada, alegando que tal procedimento feria o seu Co pyright, acionou a outra pelos prejuízos causados. Em sua de cisão, 0 tribunal reconheceu que um programa de computador deve ser considerado como um trabalho protegido pelo Copyri ght, condenando a ré a pagar uma indenização à autora pela utilização indevida de seu pro grama. (IIC, vol. 14, n.o 2, 1983, seção “News and Information", pg. 304 e 305).
54. Da mesma forma, na Dinamarca, Itália. Finlândia, Áustria, Hungria e índia, considera-se que o programa de computador é passível de prote. ção pela legislação referente aos direitos do autor. (Relató rios do “Committee of Experts on the Legal Protection of Computer Software", cit. e Rapport da Comissão de Cons tituição e Justiça da Câmara Francesa dos Deputados de 15. 05-85).
G) Do direito norte-americano
55. Nos Estados Unidos questão vem sendo objeto de intensa discussão, nos últimos vinte anos, manifestando-se cla ramente a jurisprudência no sentido de considerar os progra. mas de computador como am parados pelo. sistema de Copy right. a
56. No sistema legal norteamericano. 0 Copyright de de-
terminado trabalho assegura au seu titular o direito exclusivo de sua reprodução e distribui ção, de elaborar outros traba lhos derivados, bem como de apresentá-lo (quando for o ca so) e dispor do mesmo.
57. De acordo com o Copy right Act, de 19/10/76, há dois requisitos básicos para que um trabalho determinado possa ser considerado como sujeito à pro teção do direito autoral; 1. deve ser um trabalho original; constar de um meio de expres são tangível. Nesse sentido, o § 102 (a) da lei estabelece 2. e que:
“Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of thorship fixed in any tangible médium of now known or later developed. irom which they can be perceived, reproduced or other wise communicated, either directly or with the aid of a machine or device’6. auexpression.
58. Embora a seção lU2(a), acima transcrita, não mencione expressamente os programas de computador como trabalhos de autor, a jurisprudência consideque a própria história legis lativa sugere que os programas sejam considerados como “tra balhos literários" (conforme a decisão do “Apple-Franklin Ca se . in “BNA’s Patent, Trade mark & Copyright Journal", vol. 26, pg. 433 e seguintes).
59. Efetivamente, conforme se verifica pela leitura dos de bates no Congresso norte-ame ricano, os programas de compu tador estão incluídos no catego ria de "trabalhos literários", posto que significam a expres são de idéias originais de seus autores (House of Representati vas Report 94-1476 of the 94th Congress, Second Session, pg. 54).
60. Na realidade, a defini ção de “trabalhos literários" da lei é suficientemente ampla pa ra abranger os programas de computador. Com efeito, a reda ção do § 101, da lei de 1976 é seguinte:
“Literary works" are works. other than audiovisual works. expressed in words. numbers. or other verbal or numerical symbols or indicia, regardless of the nature of the material objects, such as books. periodicals, manuscripts, phonorecords, films. tapes, disks. or cards. in which they are embodied".
indirectly in a Computer ordem to bring about a certain result".
63. Ainda que as Emendas de 1980 não tenham expressa mente considerado os progra mas como passíveis de Copy right, a jurisprudência tem re conhecido que a redação de seus dispositivos permite que se chegue a tal conclusão. a
64. Nesse sentido, “Apple Franklin". antes cio.iado. a Corte referiu que:
(524 F. Supp 171. 173 — ND. Cal. 1981). as Cortes considera ram que 0 "código objeto", que significa a tradução de um pro grama de alto nivel para a lin guagem da máquina, depositado em mecanismo de memória do computador, do qual ele pode ser reproduzido, satisfaz u re quisito da “fixação", estabele cido na seção 102(a) da lei de 1976 (Harvard Law Revicw. vol. 96, 1983. pp. 1727-28). in
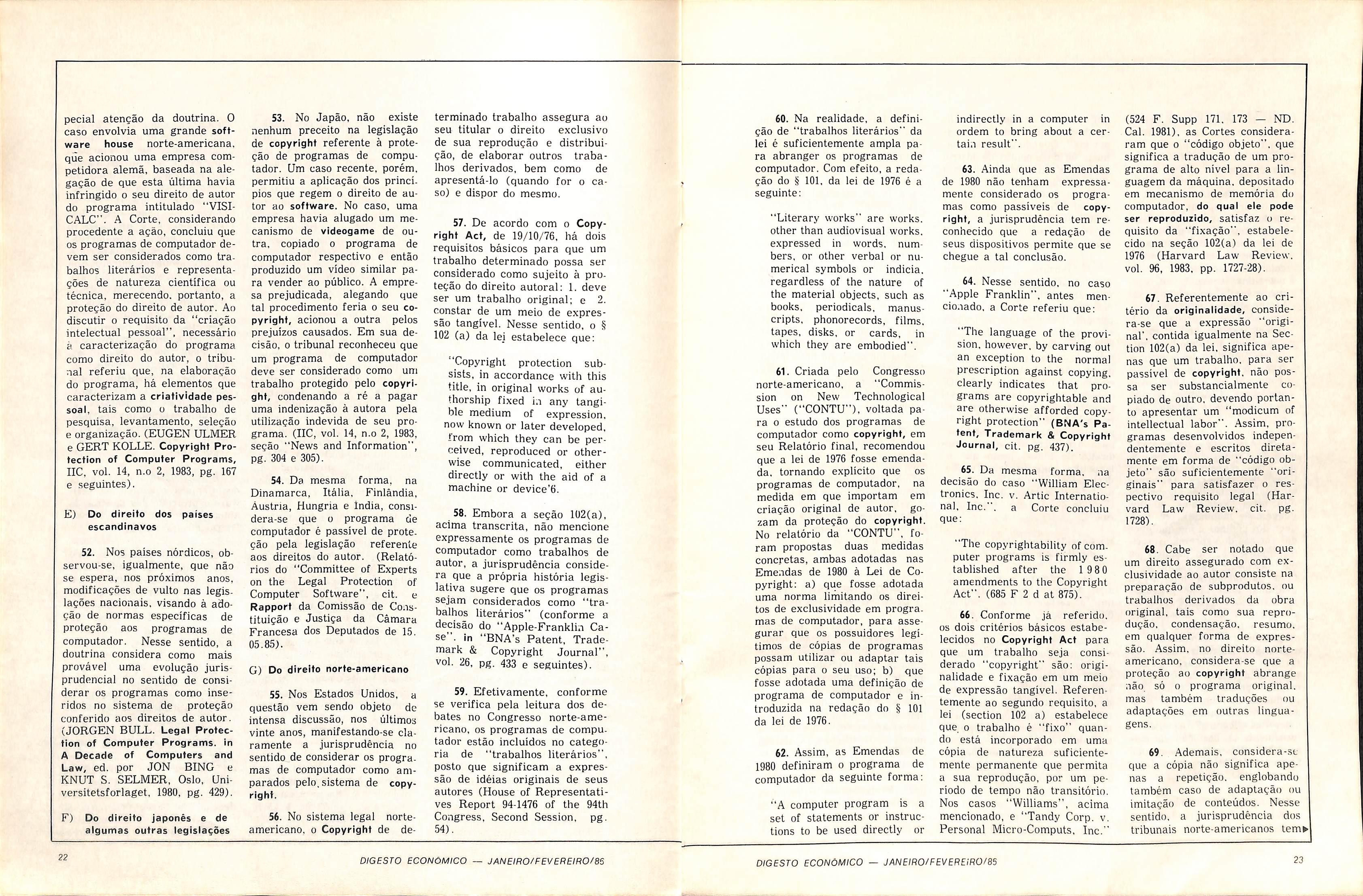
61. Criada pelo Congresso norte-americano, a “Commission on New Technologica! Uses" (“CONTU"), voltada pa ra 0 estudo dos programas de computador como Copyright, em seu Relatório final, recomendou que a lei de 1976 fosse emenda da. tornando explicito que os programas de computador, na medida em que importam em criação original de autor, go zam da proteção do Copyright. No relatório da “CONTU". fo ram propostas duas medidas concretas, ambas adotadas nas Emendas de 1980 à Lei de Co pyright; a) que fosse adotada uma norma limitando os direi tos de exclusividade em progra. mas de computador, para asse gurar que os possuidores legí timos de cópias de programas possam utilizar ou adaptar tais cópias para o seu uso; b) que fosse adotada uma definição de programa de computador e in troduzida na redação do § 101 da lei de 1976.
62. Assim, as Emendas de 1980 definiram o programa de computador da seguinte forma;
“A Computer program is a set of statements or instructions to be used directly or
“The language of the sion. however. by carving out an exception to the normal prescription against copying. clearly indicates that grams are copyrightable and are otherwise afforded Copy right protection" (BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal, cit. pg. 437).
provi-
pro¬ sa ser
65. Da mesma decisão do caso “William Elec tronics. Inc. V. Artic Internatio nal, Inc.". que;
forma, na Corte concluiu a
no caso men- 67. Referentemente ao cri tério da originalidade, conside ra-se que a expressão "origi nar. contida igualmente na Section 102(a) da lei, significa ape nas que um trabalho, para ser passível de Copyright, não possubstancialmente co piado de outro, devendo portan to apresentar um "modicum of intellectual labor". Assim, pro gramas desenvolvidos indepen dentemente e escritos direta mente em forma de “código ob jeto" são suficientemente “ori ginais" para satisfazer o res pectivo requisito legal (Har vard Law Review. cit. pg. 1728).
“The copyrightability of puter programs is firmly established after the 1980 amendments to the Copyright Act". (685 F 2 d at 875).
66. Conforme já referido, os dois critérios básicos estabe lecidos no Copyright Act para que um trabalho seja consi derado “Copyright" são: origi nalidade e fixação em um meio de expressão tangível. Referen temente ao segundo requisito, a lei (section 102 a) estabelece que o trabalho é “fixo" quan do está incorporado em uma cópia de natureza suficiente mente permanente que permita a sua reprodução, por um pe ríodo de tempo não transitório. Nos casos "Williams", acima mencionado, e "Tandy Corp. v, Personal Micro-Computs, Inc."
com. 68. Cabe ser notado que um direito assegurado com ex clusividade ao autor consiste na preparação de subprodutos, ou trabalhos derivados da obra original, tais como sua repro dução, condensação, resumo, em qualquer forma de expres são. Assim, no direito norteamericano. considera-se que a proteção ao Copyright abrange não, só o programa original, mas também traduções ou adaptações em outras lingua gens.
69. Ademais, considera-sc que a cópia não significa ape nas a repetição, englobando também caso de adaptação ou imitação de conteúdos. Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais norte-americanos tem^
fixado tal entendimento, como se verifica no caso "Addison W e s 1 e y Publishing Co. v. Brown”, no qual a Corte con siderou que:
“Copying is not confinned to a literary repetition, but includes various modes in.which the matter of any publication may be adopted, imitated, or transferred with mofe or less colorable alteration... we do not think it avoids infringements of the Copyright to take the substance off the idea. and produce it through a different médium and picturing it in shape and details in sufficient imitation to make it true copy of the character though of by the appellanfs employee”. ("Addison Wesley Publishing Co. v. Brown”, 233 F. Supp.)
um pacote de software são igualmente amparados pelo "Co pyright”. Quando há vários ma nuais ou documentos de instru ção, cada um deles é suscetível de proteção independente com base na legislação de direito autoral. (SAIDMAN. STERNE & KEISSLER. The Law of Com puter Software in the United States, 1983, pg. 5).
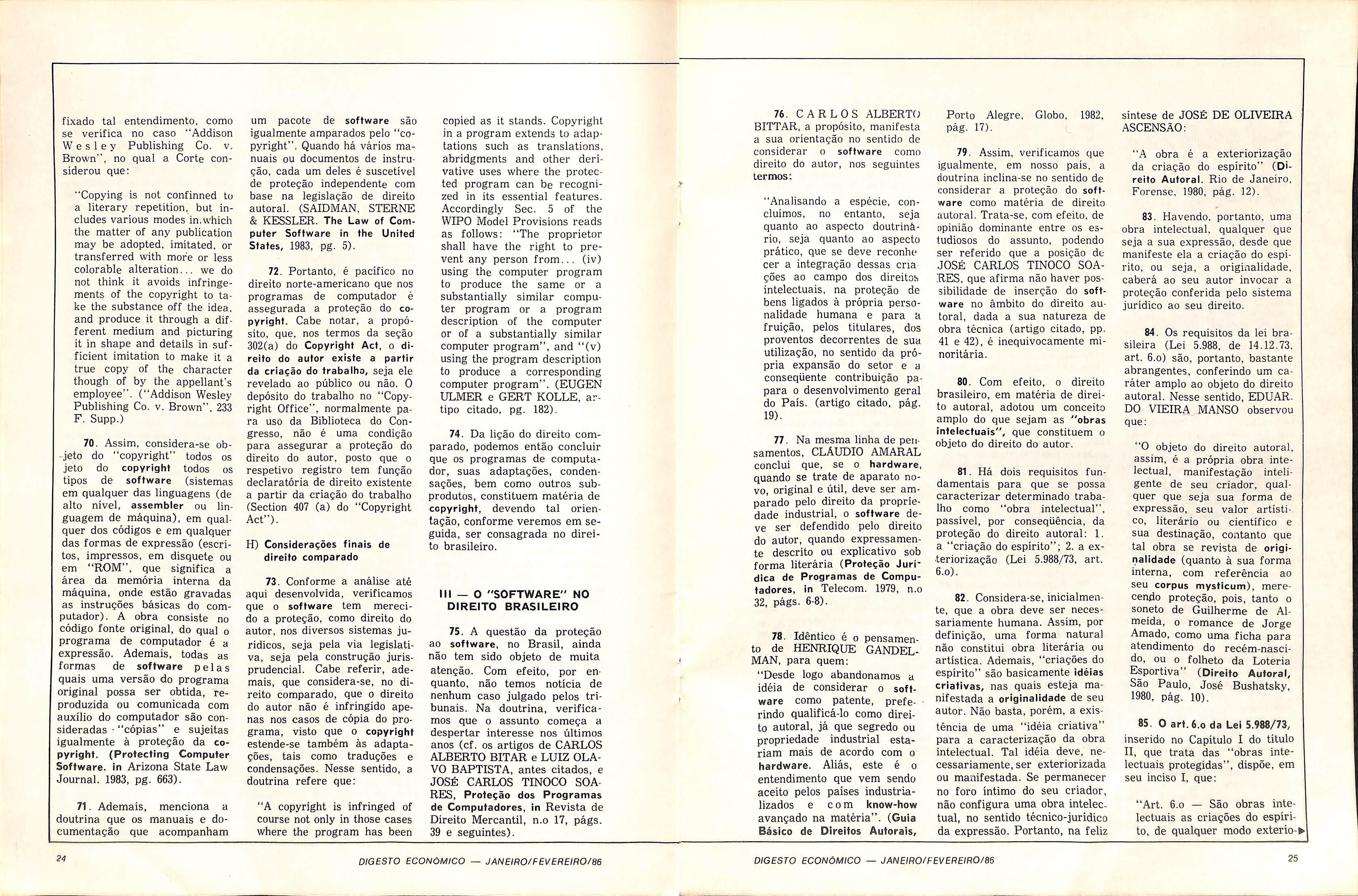
copied as it stands. Copyright in a program extends to adaptations such as translations. abridgments and other derivative uses where the protected program can be recognized in its essential features. Accordingly Sec. 5 of the WIPO Model Provisions reads as follows: "The proprietor shall have the right to pre vení any person from... (iv) using the Computer program to produce the same or a substantially similar Compu ter program or a program description of the Computer or of a substantially similar Computer program”, and "(v) using the program description to produce a corresponding Computer program”. (EUGEN ULMER e GERT KOLLE, artipo citado, pg. 182).
os
72. Portanto, é pacífico no direito norte-americano que nos programas de computador é assegurada a proteção do Co pyright. Cabe notar, a propó sito, que, nos termos da seção 302(a) do Copyright Act, o di reito do autor existe a partir da criação do trabalho, seja ele revelado ao público ou não. O depósito do trabalho no "Copy right Office”, normalmente pa ra uso da Biblioteca do Con gresso, não é uma condição para assegurar a proteção do direito do autor, posto que o respetivo registro tem função declaratória de direito existente a partir da criação do trabalho (Section 407 (a) do "Copyright Act”). a
70. Assim, considera-se ob jeto do "Copyright” todos os jeto do Copyright todos tipos de software (sistemas em qualquer das linguagens (de alto nível, assembler ou lin guagem de máquina), em qual quer dos códigos e em qualquer das formas de expressão (escri tos, impressos, em disquete ou que significa a área da memória interna da máquina, onde estão gravadas as instruções básicas do com putador). A obra consiste código fonte original, do qual programa de computador é a expressão. Ademais, todas formas de software pelas quais uma versão do programa original possa ser obtida, re produzida ou comunicada com auxílio do computador são con sideradas ● "cópias” e sujeitas igualmente à proteção da Co pyright. (Protecting Computer Software. In Arizona State Law Journal. 1983, pg. 663).
H) Considerações finais de direito comparado "ROM”. em
74. Da lição do direito com parado, podemos então concluir que os programas de computa dor, suas adaptações, conden sações, bem como outros sub produtos, constituem matéria de Copyright, devendo tal orien tação, conforme veremos em se guida, ser consagrada no direi to brasileiro.
III — O "SOFTWARE" NO DIREITO BRASILEIRO no
71. Ademais, menciona a doutrina que os manuais e do cumentação que acompanham
73. Conforme a análise até aqui desenvolvida, verificamos que 0 software tem mereci do a proteção, como direito do autor, nos diversos sistemas ju rídicos, seja pela via legislati va, seja pela construção jurisprudencial. Cabe referir, ade mais, que considera-se, no di reito comparado, que o direito do autor não é infringido ape nas nos casos de cópia do pro grama, visto que o Copyright estende-se também às adapta ções, tais como traduções e condensações. Nesse sentido, a doutrina refere que:
75. A questão da proteção ao software, no Brasil, ainda não tem sido objeto de muita atenção. Com efeito, por en quanto, não temos noticia de nenhum caso julgado pelos tri bunais. Na doutrina, verifica mos que 0 assunto começa a despertar interesse nos últimos anos (cf. os artigos de CARLOS ALBERTO BITAR e LUIZ OLA VO BAPTISTA, antes citados, e JOSÉ CARLOS TINOCO SOA RES, Proteção dos Programas de Computadores, in Revista de Direito Mercantil, n.o 17, págs. 39 e seguintes). o
"A Copyright is infringed of course not only in those cases where the program has been
76. CARLOS ALBERTO BITTAR, a propósito, manifesta a sua orientação no sentido de considerar o software como direito do autor, nos seguintes termos:
“Analisando a espécie, con cluímos, no entanto, seja quanto ao aspecto doutriná rio, seja quanto ao aspecto prático, que se deve reconhe cer a integração dessas cria ções ao campo dos direitos intelectuais, na proteção de bens ligados à própria perso nalidade humana e para a fruição, pelos titulares, dos proventos decorrentes de sua utilização, no sentido da pró pria expansão do setor e a conseqüente contribuição papara o desenvolvimento geral do País. (artigo citado, pág. 19).
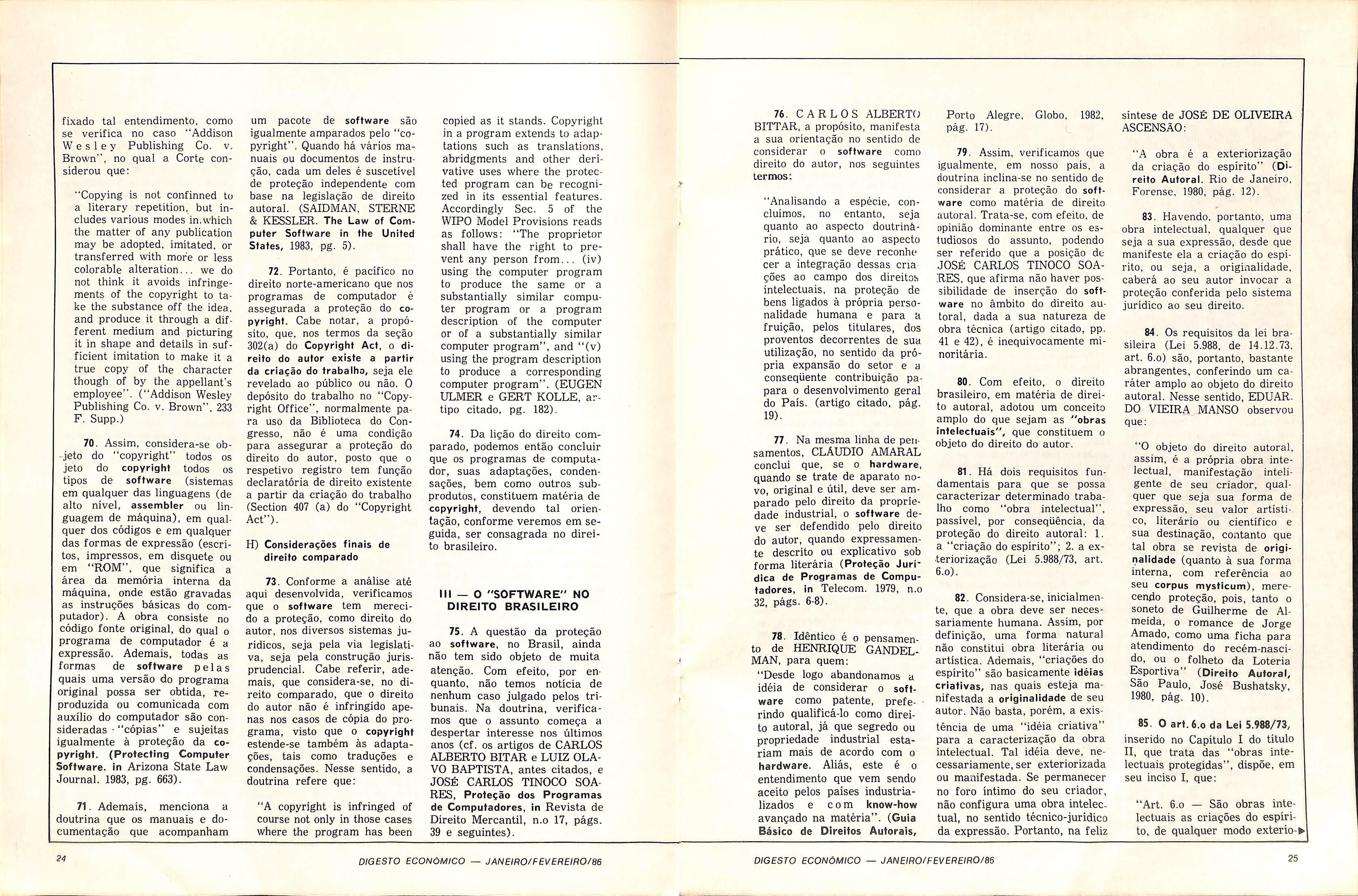
vo
77. Na mesma linha de pen samentos, CLÁUDIO AMARAL conclui que, se o hardware, quando se trate de aparato nooriginal e útil, deve ser am parado pelo direito da proprie dade industrial, o software deser defendido pelo direito do autor, quando expressamen te descrito ou explicativo sob forma literária (Proteção Jurí dica de Programas de Compu tadores, in Telecom. 1979, n.o 32, págs. 6-8).
Porto Alegre, Globo. 1982. pág. 17).
79. Assim, verificamos que igualmente, em nosso país, a doutrina inclina-se no sentido de considerar a proteção do soft ware como matéria de direito autoral. Trata-se. com efeito, de opinião dominante entre os es tudiosos do assunto, podendo ser referido que a posição de JOSÉ CARLOS TINOCO SOA RES, que afirma não haver pos sibilidade de inserção do soft ware no âmbito do direito au toral, dada a sua natureza de obra técnica (artigo citado, pp. 41 e 42), é inequivocamente mi noritária.
80. Com efeito brasileiro, em matéria de direi to autoral, adotou um conceito amplo do que sejam as "obras intelectuais", que constituem o objeto do direito do autor. 0 direito
81. Há dois requisitos fun damentais para que se possa caracterizar determinado traba lho como "obra intelectual”, passível, por conseqüência, da proteção do direito autoral: 1. a "criação do espírito”; 2. a ex teriorização (Lei 5.988/73, art. 6.o).
síntese de JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO:
“A obra é a exteriorização da criação do espírito” (Di reito Autoral. Rio de Janeiro. Forense. 1980, pág. 12).
83. Havendo, portanto, uma obra intelectual, qualquer que seja a sua expressão, desde que manifeste ela a criação do espí rito, ou seja, a originalidade, caberá ao seu autor invocar a proteção conferida pelo sistema jurídico ao seu direito.
84. Os requisitos da lei bra sileira (Lei 5.988, de 14.12.73. art. 6.o) são, portanto, bastante abrangentes, conferindo um ca ráter amplo ao objeto do direito autoral. Nesse sentido, EDUAR DO VIEIRA MANSO observou que:
"O objeto do direito autoral, assim, é a própria obra inte lectual, manifestação inteli gente de seu criador, qual quer que seja sua forma de expressão, seu valor artístiliterário ou científico e sua destinação, contanto que tal obra se revista de origi nalidade (quanto à sua forma interna, com referência ao
CO, ve seu corpus mysticum), mere cendo proteção, pois, tanto o soneto de Guilherme de Al meida,
78. Idêntico é to de HENRIQUE GANDELMAN, para quem: o pensamenDesde logo abandonamos a idéia de considerar o soft ware como patente, prefe rindo qualificá-lo como direi to autoral, já que segredo ou propriedade industrial esta riam mais de acordo com o Aliás, (4
este é 0 hardware, entendimento que vem sendo aceito pelos países industria lizados e com know-how avançado na matéria”. (Gula Básico de Direitos Autorais,
82. Considera-se, inicialmen te, que a obra deve ser neces sariamente humana. Assim, por definição, uma forma natural não constitui obra literária ou artística. Ademais, "criações do espírito” são basicamente idéias criativas, nas quais esteja ma nifestada a originalidade de seu autor. Não basta, porém, a exis tência de uma "idéia criativa” para a caracterização da obra intelectual. Tal idéia deve, ne cessariamente, ser exteriorizada ou manifestada. Se permanecer no foro íntimo do seu criador, não configura uma obra intelec tual, no sentido técnico-jurídico da expressão. Portanto, na feliz
romance de Jorge Amado, como uma ficha para atendimento do recém-nasci do, ou 0 folheto da Loteria Esportiva” (Direito Autoral, São Paulo, José Bushatsky, 1980, pág. 10). 0
85 O art. 6.0 da Lei 5.988/73, inserido no Capítulo I do título II, que trata das “obras inte lectuais protegidas”, dispõe, em seu inciso I, que:
"Art. 6.0 — São obras inte lectuais as criações do espíri to, de qualquer modo exterio-^
rizadas, tais como: I _ os livros, brochuras, fo lhetos. cartas-missivas e ou tros escritos II — "
86. Ora, o software é tipi camente uma “obra do espíri to", na medida em que requer criatividade do seu autor. (2om efeito, a elaboração de progra ma de computador é altamente criativa e pessoal, não havendo mesmo a possibilidade de que técnicos especializados em com putação, trabalhando separada mente e sem qualquer contato, possam elaborar um programa idêntico.
87. Ademais, ainda que substância do software seja um intangível, enquanto atividade criativa, por definição é ele exteriorizado em um bem tangí vel, em um disquete, em uma pastilha semicondutora ou mes mo em uma fita magnética.
88. Assim, 0 software tipi camente constitui obra do espi rito exteriorizada, estando pois incluído na categoria dos “ou tros escritos" (art. 6.o, 1, da Lei 5.988/73) e merecendo, por tanto. a proteção do direito au toral.
qualquer maneira exteriorizadas, tais como: I — os livros, brochuras, folhetos, cartasmissivas e outros escritos’ . Pergunta-se: “seria o progra ma de computador um “escri to"? É evidente que a res posta é positiva". (Guia Bási co de Direitos Autorais, cit.. pg. 17).
90. “Escrito", na sua acep ção substantiva e mais ampla, significa:
■‘Tudo 0 que está expresso por sinais gráficos, em papel uu outro veículo apropriado"
(AURÉLIO BUARQUE D E HOLANDA FERREIRA. Novo Dicionário da Língua Portu guesa, Rio, Nova Fronteira, l.a ed. pág. 557).
91. O programa de compu tador, conforme já analisado, é necessariamente expresso em si nais gráficos, sob a forma de dois algarismos — o 1 e o ü —, que constituem os “dígitos". È indiscutível, portanto, que cons titui um “escrito", estando, as sim, tutelado o direito de seu criador pelo sistema estabeleci do na Lei 5.988/73.
92. É importante ressaltar direito brasileiro, o re- que, no gistro ou depósito da obra in telectual tem caráter meramen te declaratório, constituindo, de anterioridade
89. Nesse sentido, HENRI QUE GANDELMAN a f i r m igualmente que: a apenas, prova e de eventual primazia. Isto portermos do art. 17 da
93. O art.20 estabelece uma presunção de autoria decorren te do registro. Dispõe a referida norma que:
“Art. 20 — Salvo prova em contrário, é autor aquele em cujo nome foi registrada a obra intelectual, ou conste do pedido de licenciamento para a obra de engenharia ou ar quitetura".
94. Tal não significa, po rém, que os trabalhos não re gistrados deixem de conferir. aos seus criadores, o direito au toral. Não há, na doutrina, qual. quer dúvida quanto ao efeito meramente declaratório do re gistro da obra (BRUNO JORGE HAMMES.
Elementos básicos do Direito de Autor Brasileiro — Um exame especial da ques tão da isenção de formalidades, 1976. pág. 147, apud JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, cit., pág. 96).
95. Cabe notar, a propósito, que a Convenção de Berna, da qual 0 Brasil é signatário, em seu art. 5.o estabelece que a pessoa que primeiro publica de terminada obra, sem que haja notícia de Copyright do mesmo trabalho em qualquer país sig natário, é titular do direito de autor em todos os países-mem bros da Convenção. Assim, não se exige, no plano internacio nal, qualquer formalidade de re gistro da obra para o nascimen to do direito do autor.
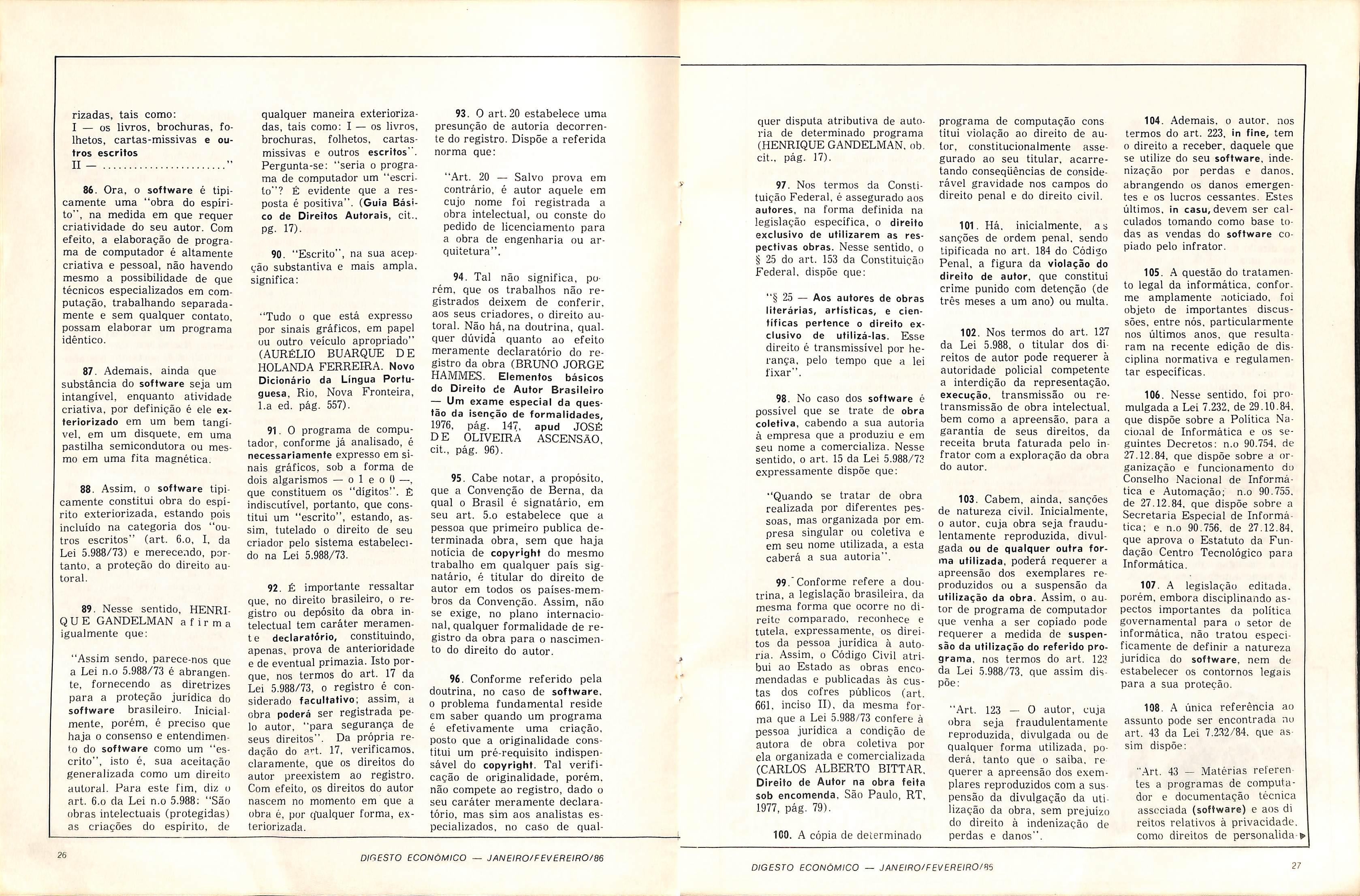
■‘Assim sendo, parece-nos a Lei n.o 5.988/73 é abrangen. te, fornecendo as diretrizes para a proteção jurídica do software brasileiro. Inicial mente, porém, é preciso que haja 0 consenso e entendimen to do software como um "es crito". isto é, sua aceitação generalizada como um direito autoral. Para este fim, diz o art. 6.0 da Lei n.o 5.988; “São obras intelectuais (protegidas) as criações do espirito, de que que, nos Lei 5.988/73, o registro é con siderado facultativo; assim obra poderá ser registrada pe lo autor, “para segurança de seus direitos", dação do a^-t. 17, verificamos, claramente, que os direitos do autor preexistem ao registro. Com efeito, os direitos do autor
Da própria renascem no momento em que a obra é, pur qXialquer forma, ex teriorizada.
96. Conforme referido pela doutrina, no caso de software, 0 problema fundamental reside em saber quando um programa é efetivamente uma criação, posto que a originalidade cons titui um pré-requisito indispen sável do Copyright. Tal verifi cação de originalidade, porém, não compete ao registro, dado o seu caráter meramente declara tório, mas sim aos analistas es pecializados, no caso de quala
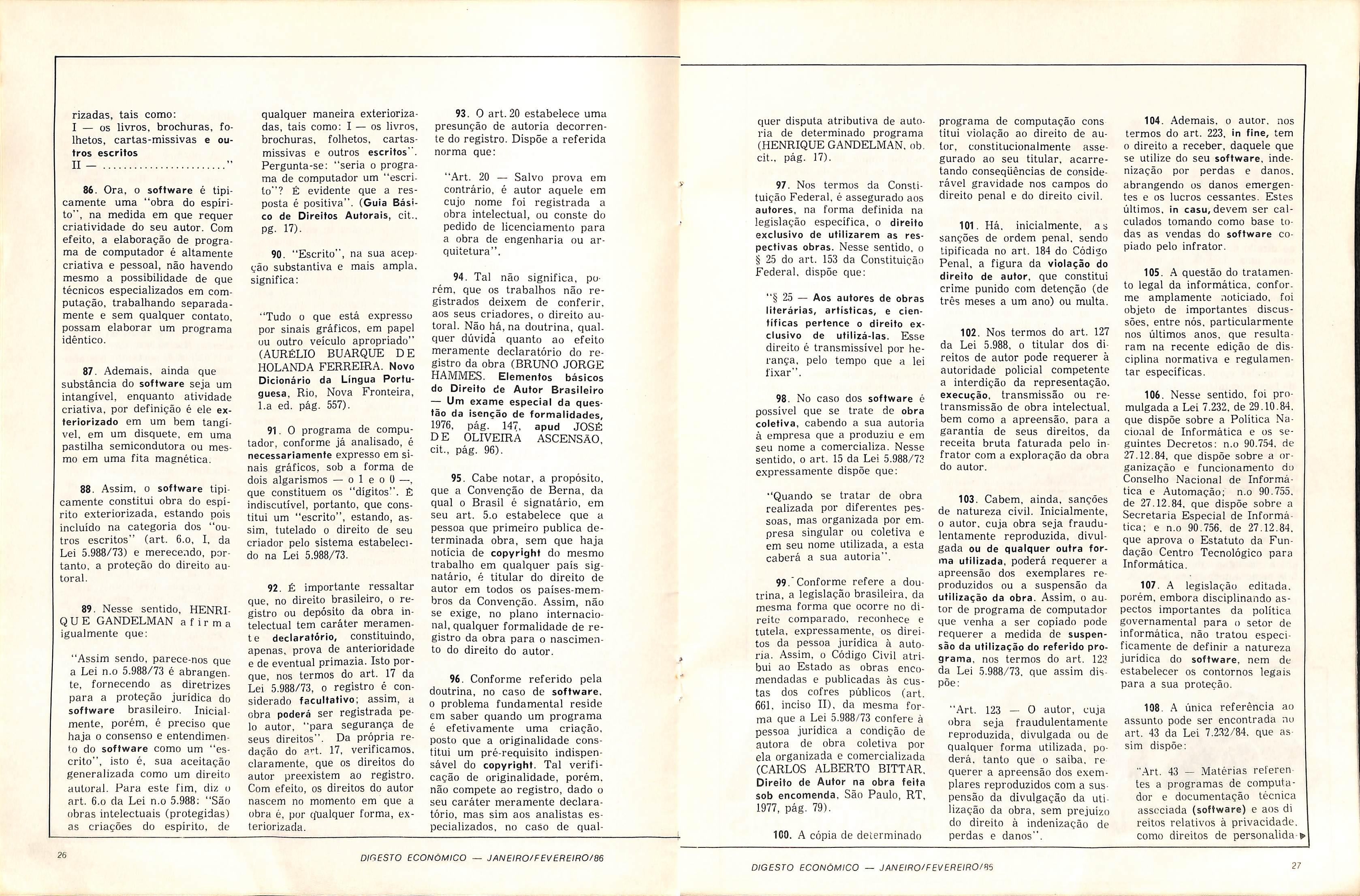
quer disputa atributiva de auto ria de determinado programa (HENRIQUE GANDELMAN, ob. cit-, pág. 17).
97. Nos termos da Consti tuição Federal, é assegurado aos autores, na forma definida na legislação específica, o direito exclusivo de utilizarem as res pectivas obras. Nesse sentido, o § 25 do art. 153 da Constituiçã!) Federal, dispõe que;
“§ 25 literárias, artísticas, e cien tíficas pertence o direito ex clusivo de utilizá-las. Esse direito é transmissível por he rança. pelo tempo que a lei fixar". Aos autores de obras
98. No caso dos software é possível que se trate de obra coletiva, cabendo a sua autoria á empresa que a produziu e em seu nome a comercializa. Nesse sentido, o art. 15 da Lei 5.988/73 expressamente dispõe que:
■‘Quando se tratar de obra realizada por diferentes pes soas, mas organizada por em presa singular ou coletiva e em seu nome utilizada, a esta caberá a sua autoria".
99.’Conforme refere a dou trina, a legislação brasileira, da mesma forma que ocorre no di reito comparado, reconhece e tutela, expressamente, os direi tos da pessoa jurídica à auto ria. Assim, ü Código Civil atri bui ao Estado as obras enco mendadas e publicadas às tas dos cofres públicos (art. 661. inciso II). da mesma for ma que a Lei 5.988/73 confere à pessoa jurídica a condição de autora de obra coletiva por ela organizada e comercializada (CARLOS ALBERTO BITTAR. Direito de Autor na obra feita sob encomenda. São Paulo, RT. 1977, pág. 79). cus-
100. A cópia de deterininado
programa de computação cons titui violação ao direito de au tor. constitucionalmente asse gurado ao seu titular, acarre tando conseqüências de conside rável gravidade nos campos do direito penal e do direito civil.
101. Há, a s
inicialmente, sanções de ordem penal, sendo tipificada no art. 184 do Código Penal, a figura da violação do direito de autor, que constitui crime punido com detenção (de três meses a um ano) ou multa.
102, Nos termos do art. 127 da Lei 5.988. o titular dos di reitos de autor pode requerer à autoridade policial competente a interdição da representação, execução, transmissão ou re transmissão de obra intelectual, bem como a apreensão, para a garantia de seus direitos, da receita bruta faturada pelo in frator com a exploração da obra do autor.
103. Cabem, ainda, sanções de natureza civil. Inicialmente, o autor, cuja obra seja fraudu lentamente reproduzida, divul gada ou de qualquer outra for ma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares re produzidos ou a suspensão da utilização da obra. Assim, o au tor de programa de computador que venha a ser copiado pode requerer a medida de suspen são da utilização do referido pro grama. nos termos do art. 123 da Lei 5.988/73. que assim dis põe:
104. Ademais, o autor, nos termos do art. 223. in fine, tem 0 direito a receber, daquele que se utilize do seu software, inde nização por perdas e danos, abrangendo os danos emergen tes e os lucros cessantes. Estes últimos, in casu, devem ser cal culados tomando como base to das as vendas do software co piado pelo infrator.
105. A questão do tratamen to legal da informática, confor. me amplamente noticiado, foi objeto de importantes discus sões. entre nós. particularmente nos últimos anos. que resulta ram na recente edição de dis ciplina normativa e regulamen tar específicas.
106. Nesse sentido, foi pro mulgada a Lei 7.232, de 29.10.84. que dispõe sobre a Política Na cional de Informática e os se guintes Decretos: n.o 90.754. de 27.12.84, que dispõe sobre a or ganização e funcionamento do Conselho Nacional de Informá tica e Automação; n.o 90.755. de 27.12.84. que dispõe sobre a Secretaria Especial de Informá tica; e n.o 90.756. de 27.12.84, que aprova o Estatuto da Fun dação Centro Tecnológico para Informática.
107. A legislação editada, porém, embora disciplinando as pectos importantes da política governamental para o setor de informática, não tratou especi ficamente de definir a natureza jurídica do software, nem de estabelecer os contornos legais para a sua proteção.
108. A única referência ao assunto pode ser encontrada ao art. 43 da Lei 7.232/84, que as sim dispõe;
"Art. 123 obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, po derá, tanto que o saiba, re querer a apreensão dos exem plares reproduzidos com a sus pensão da divulgação da uti lização da obra. sem prejuízo do direito à indenização de perdas e danos". O autor, cuja "Art. 43 — Matérias releren tes a programas de computa dor e documentação técnica associada (software) e aos di reitos relativos à privacidade, como direitos de personalida-^
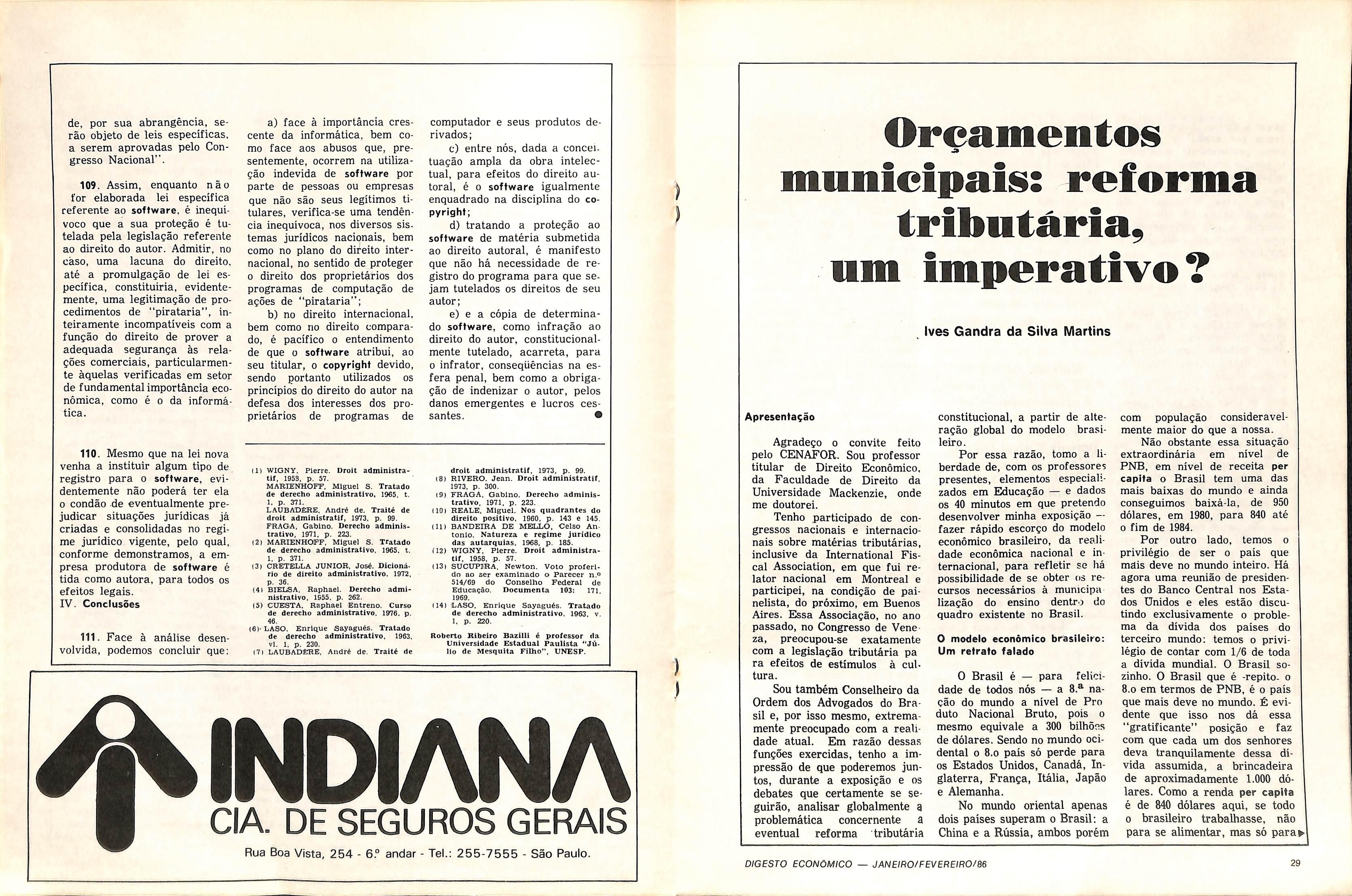
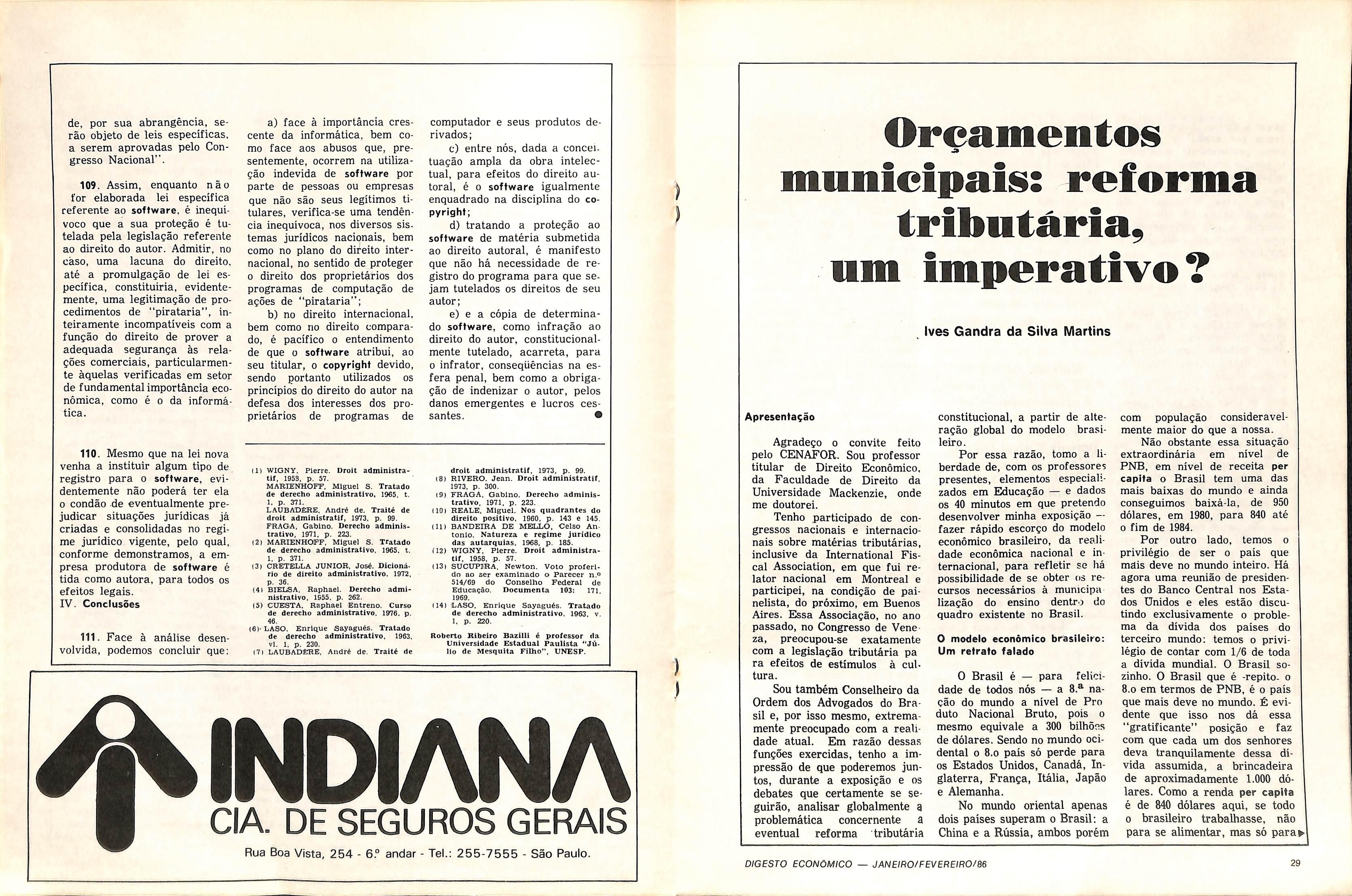
pagar a divida, mesmo assim a renda per capita de um ano seria praticamente insuficien te porque nós temos para 130 milhões de brasileiros, em ter mos de acúmulo de juros e pro jeções, essa brincadeira de uma dívida de 100 bilhões de dólares, o que corresponde a pouco menos de 1.000 dólares por pessoa.
Ainda o modelo:
As duas sangrias fundamentais
A situação vigente leva o modelo brasileiro a duas grias fundamentais. Hoje, Brasil trabalha para pagar ju ros internacionais. Trabalha exclusivamente para isso. Toda a mecânica da economia brasi leira se volta para gerar supe rávit na balança comercial, is to é: exportamos mais do que importamos, não para ficar com esse dinheiro, mas para pagar os -juros de um dinheiro que já foi gasto bem ou mal — e eu não entro no mérito se foi bem ou mal, apenas já foi gasto que são, assim mesmo, superio res àquilo que vamos obter em nível de aumento na balança comercial. Então, com todo o esforço, vamos conseguir even tualmente um superávit de 9 bilhões de dólares, o que é qualquer coisa de extraordi nário.
dívida 80% da dívida externa brasileira é do empresariado estatal, é do Governo Federal, fundamentalmente dele, além do repasse de parcelas das díO grosso, enjuros deste ano — veja bem. juros só para o ano de 1984 — aumentada na fantasmagórica cifra de 1 bilhão e 500 milhões de dólares, o que vale dizer 1/6 do superávit comercial de sua balança.
Isso representa o quê? Que 0 Brasil hoje trabalha para pa gar juros de um dinheiro que já foi gasto. E esse trabalho para pagar os juros é sangria que não podemos evitar, em função de ter sido adotado um modelo, que há anos venho in
vidas estaduais, tretanto, é do Governo Federal. O Estado é obrigado a deixar de atender às suas finalidades atender a fundamentais, para outras finalidades. para as está preparado, le- quais nao vando à ineficiência do aparelhamento estatal, na dualidade da iniciativa econômica, numa concreta,
continua violação absoluta, total desse documen to de que * todos os senhores ouvem falar constantemente: a
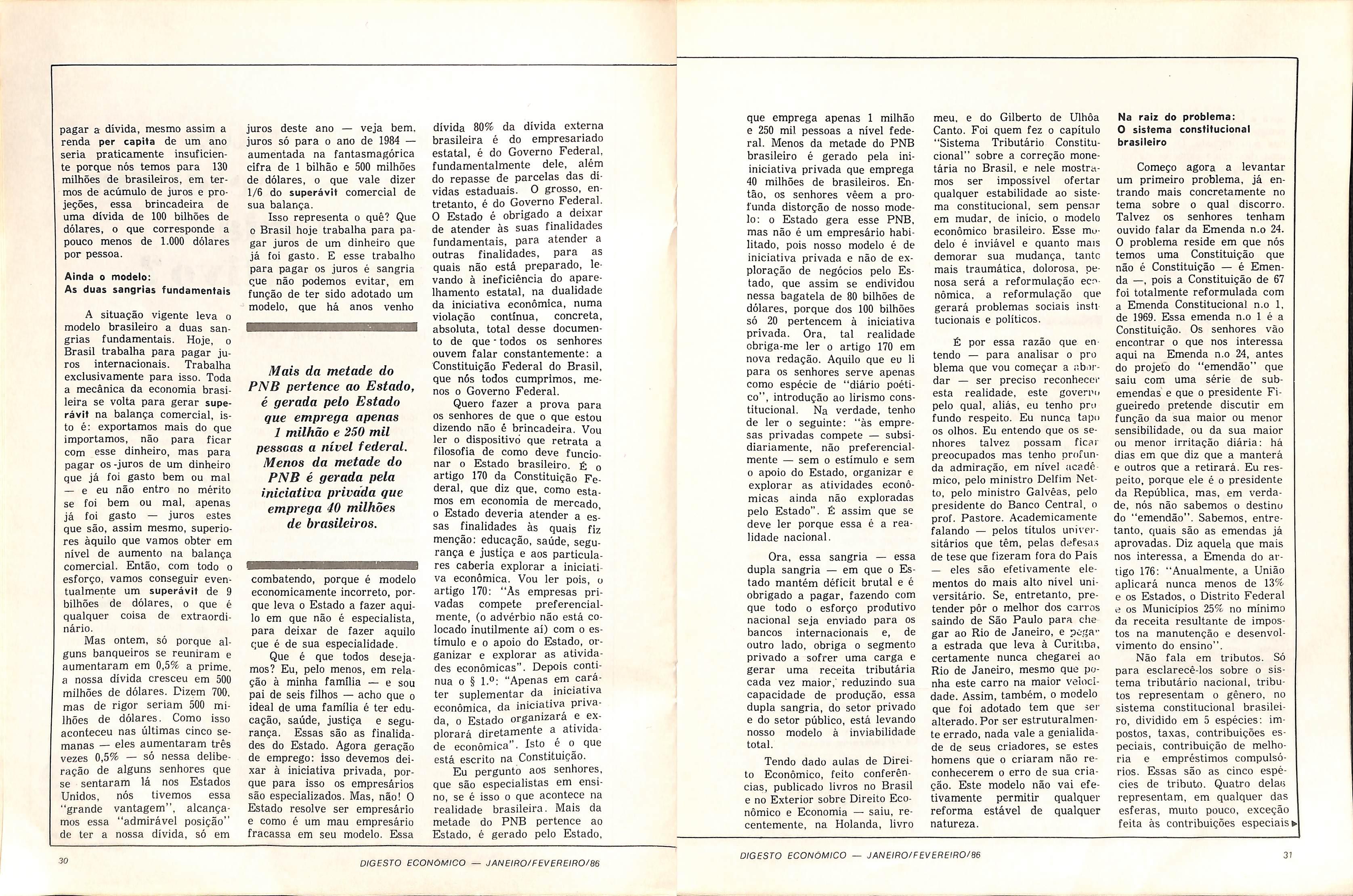
Mais da metade do PNB pertence ao Estado, é gerada pelo Estado que emprega apenas 1 milhão € 250 mil pessoas a nível federal. Menos da metade do PNB é gerada pela iniciativa privada que emprega 40 milhões de brasileiros.
Constituição Federal do Brasil, que nós todos cumprimos, me nos o Governo Federal.
como esta-
juros estes a es-
Quero fazer a prova para os senhores de que o que estou dizendo não é brincadeira. Vou ler 0 dispositivo que retrata a filosofia de como deve funcio nar 0 Estado brasileiro. É artigo 170 da Constituição Fe deral, que diz que mos em economia de mercado 0 Estado deveria atender sas finalidades às quais fiz menção; educação, saúde, segu rança e justiça e aos particula res cabería explorar a iniciati va econômica. Vou ler pois, artigo 170: “Às empresas pri vadas compete preferencial mente, (o advérbio não está co locado inutilmente aí) com o es tímulo e 0 apoio do Estado, or ganizar e explorar as ativida des econômicas”. Depois conti nua 0 § 1.*^: “Apenas ern cará ter suplementar da iniciativa econômica, da iniciativa priva da, 0 Estado organizará e ex plorará diretamente ativida de econômica”. está escrito na Constituição. Eu pergunto aos senhores, ensi0
Mas ontem, só porque al guns banqueiros se reuniram e aumentaram em 0,5% a prime, nossa dívida cresceu em 500 milhões de dólares. Dizem 700. a de rigor seriam 500 mi¬ mas Ihões de dólares. Como isso aconteceu nas últimas cinco se— eles aumentaram três manas vezes ração 0,5% — só nessa delibede alguns senhores que sentaram lá nos Estados tivemos que são especialistas em no, se é isso o que acontece na realidade brasileira. Mais da metade do PNB pertence ao Estado, é gerado pelo Estado, se nós Unidos “grande vantagem”, alcança mos essa “admirável posição” de ter a nossa dívida, só em
essa .30
combatendo, porque é modelo economicamente incorreto, por que leva 0 Estado a fazer aqui lo em que não é especialista, para deixar de fazer aquilo que é de sua especialidade. Que é que todos deseja mos? Eu, pelo menos, em rela ção à minha família — e sou pai de seis filhos — acho que o ideal de uma família é ter edu cação, saúde, justiça e segu rança. Essas são as finalida des do Estado. Agora geração de emprego: isso devemos dei xar à iniciativa privada, por que para isso os empresários são especializados. Mas, não! O Estado resolve ser empresário e como é um mau empresário fracassa em seu modelo, Elssa 0
que emprega apenas 1 milhão e 250 mil pessoas a nível fede ral. Menos da metade do PNB brasileiro é gerado pela iniiniciativa privada que emprega 40 milhões de brasileiros. En tão. os senhores vêem a pro funda distorção de nosso mode lo: 0 Estado gera esse PNB. mas não é um empresário habi litado, pois nosso modelo é de iniciativa privada e não de ex ploração de negócios pelo Es tado, que assim se endividou nessa bagatela de 80 bilhões de dólares, porque dos 100 bilhões só 20 pertencem à iniciativa privada. Ora, tal realidade cbriga-me ler o artigo 170 em nova redação. Aquilo que eu li para os senhores serve apenas como espécie de “diário poéti co”, introdução ao lirismo cons titucional. Na verdade, tenho de ler o seguinte: “às empre sas privadas compete — subsidiariamente, não preferencial mente — sem 0 estímulo e sem 0 apoio do Estado, organizar e explorar as atividades econô micas ainda não exploradas pelo Estado”. É assim que se deve ler porque essa é a rea lidade nacional.
Ora, essa sangria — essa dupla sangria — em que o Es tado mantém déficit brutal e é obrigado a pagar, fazendo com que todo o esforço produtivo nacional seja enviado para os bancos internacionais e, de outro lado, obriga o segmento privado a sofrer uma carga e gerar uma receita tributária cada vez maior,' reduzindo sua capacidade de produção, essa dupla sangria, do setor privado e do setor público, está levando nosso modelo à inviabilidade total.
Tendo dado aulas de Direi to Econômico, feito conferên cias, publicado livros no Brasil e no Exterior sobre Direito Eco nômico e Economia — saiu, re centemente, na Holanda, livro
meu. e do Gilberto de Ulhôa Canto. Foi quem fez o capítulo “Sistema Tributário Constitu cional” sobre a correção mone tária no Brasil, e nele mostra mos ser impossível ofertar qualquer estabilidade ao siste ma constitucional, sem pensar em mudar, de inicio, o modelo econômico brasileiro. Esse mudelo é inviável e quanto mais demorar sua mudança, tanto mais traumática, dolorosa, pe nosa será a reformulação eco nômica. a reformulação que gerará problemas sociais insti tucionais e políticos.
Na raiz do problema: O sistema constitucional brasileiro
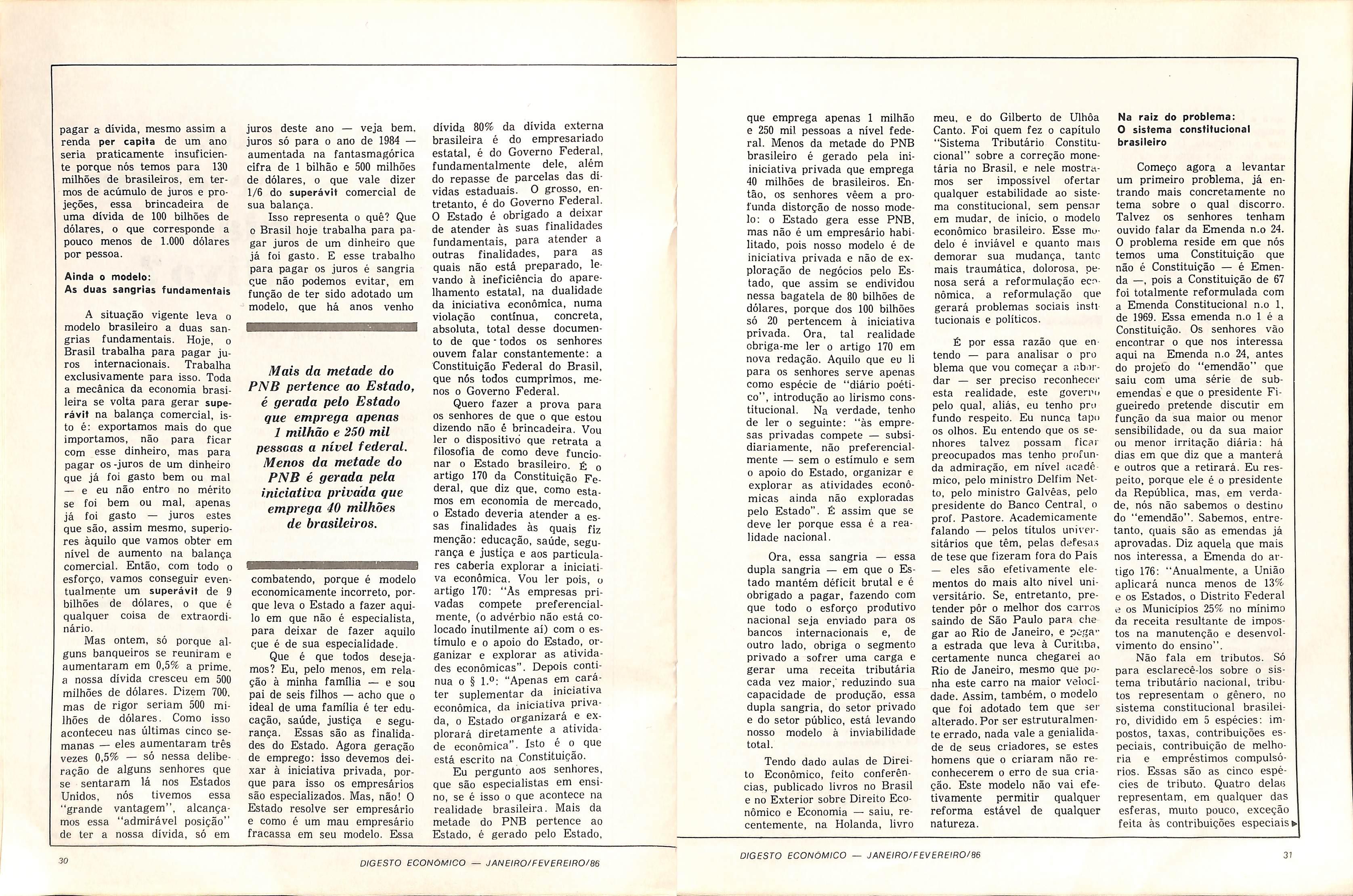
É por essa razão que en tendo — para analisar o pro blema que vou começar a abor dar — ser preciso reconhecer esta realidade, este goverpi» pelo qual, aliás, eu tenho pro fundo respeito. Eu nunca tapo os olhos. Eu entendo que os se nhores talvez possam ficar preocupados mas tenho profun da admiração, em nível acadé mico, pelo ministro Delfim Netto, pelo ministro Galvêas, pelo presidente do Banco Central, o prof. Pastore. Academicamente falando — pelos títulos univer sitários que têm, pelas defesas de tese que fizeram fora do Pais — eles são efetivamente ele mentos do mais alto nivel uni versitário. Se, entretanto, pre tender pôr 0 melhor dos carros saindo de São Paulo para clie gar ao Rio de Janeiro, e pega*' estrada que leva à CuriUba, certamente nunca chegarei ao Rio de Janeiro, mesmo que po nha este carro na maior veloci dade. Assim, também, o modelo que foi adotado tem que ser alterado. Por ser estruturalmen te errado, nada vale a genialida de de seus criadores, se estes homens que o criaram não re conhecerem 0 erro de sua cria ção. Este modelo não vai efe tivamente permitir qualquer reforma estável de qualquer natureza.
Começo agora a levantar um primeiro problema, já en trando mais concretamente no tema sobre o qual discorro. Talvez os senhores tenham ouvido falar da Emenda n.o 24. O problema reside em que nós temos uma Constituição que não é Constituição — é Emen da —^ pois a Constituição de 67 foi tütalmente reformulada com a Emenda Constitucional n.o 1. de 1969. Essa emenda n.o 1 é a Constituição. Os senhores vão encontrar o que nos interessa Emenda n.o 24, antes aqui na do projeto do “emendão” que uma série de sub- saiu com emendas' e que o presidente Fi gueiredo pretende discutir em função da sua maior ou menor sensibilidade, ou da sua maior ou menor irritação diária: hà dias em que diz que a manterá e outros que a retirará. Eu res peito, porque ele é o presidente da República, mas, em verda de, nós não sabemos o destino do “emendão”. Sabemos, entre tanto, quais são as emendas já aprovadas. Diz aquela que mais nos interessa, a Emenda do ar-
tigo 176: “Anualmente, a União aplicará nunca menos de 13% e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25% no mínimo da receita resultante de impos tos na manutenção e desenvol vimento do ensino”.
Não fala em tributos. Só para esclarecê-los sobre o sis tema tributário nacional, tribu tos representam o gênero, no sistema constitucional brasilei ro, dividido em 5 espécies: im postos, taxas, contribuições es peciais, contribuição de melho ria e empréstimos compulsó rios. Essas são as cinco espé cies de tributo. Quatro delao representam, em qualquer das esferas, muito pouco, exceção feita às contribuições especiais ► a
para a União, da receita decor rente da principal das espécies, que é o imposto. Os impostos, uma das cinco espécies de tri buto, representam no orça mento federal o grosso da re ceita tributária.
Em orçamentos municipais e estaduais, variando de acordo com o Estado ou o Município, quase sempre as outras espé cies não chegam a 80%, mesmo porque duas delas são federais: os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais.
ca Federação, que pressupõe esferas, diferentes atuações autônomas e não níveis de po der, uma vez que nível induz à impressão de que há um poder mais forte e outro mais fraco. Apesar de formalmente to dos os textos dizerem que o Brasil é uma Federação, ele não é. Uma Federação pressu põe três princípios fundamen tais. O primeiro princípio é de que haja autonomia administra tiva, 0 segundo autonomia po lítica e 0 terceiro autonomia
ministrado em seus 20% e su bordinado ao sistema federal, pois as linhas mestras são ofer tadas pelo Ministério da Fa zenda, sobre o fato de que, na verdade, são nove os impostos destinados à União e só dois aos Estados e dois aos muni-
cípios.
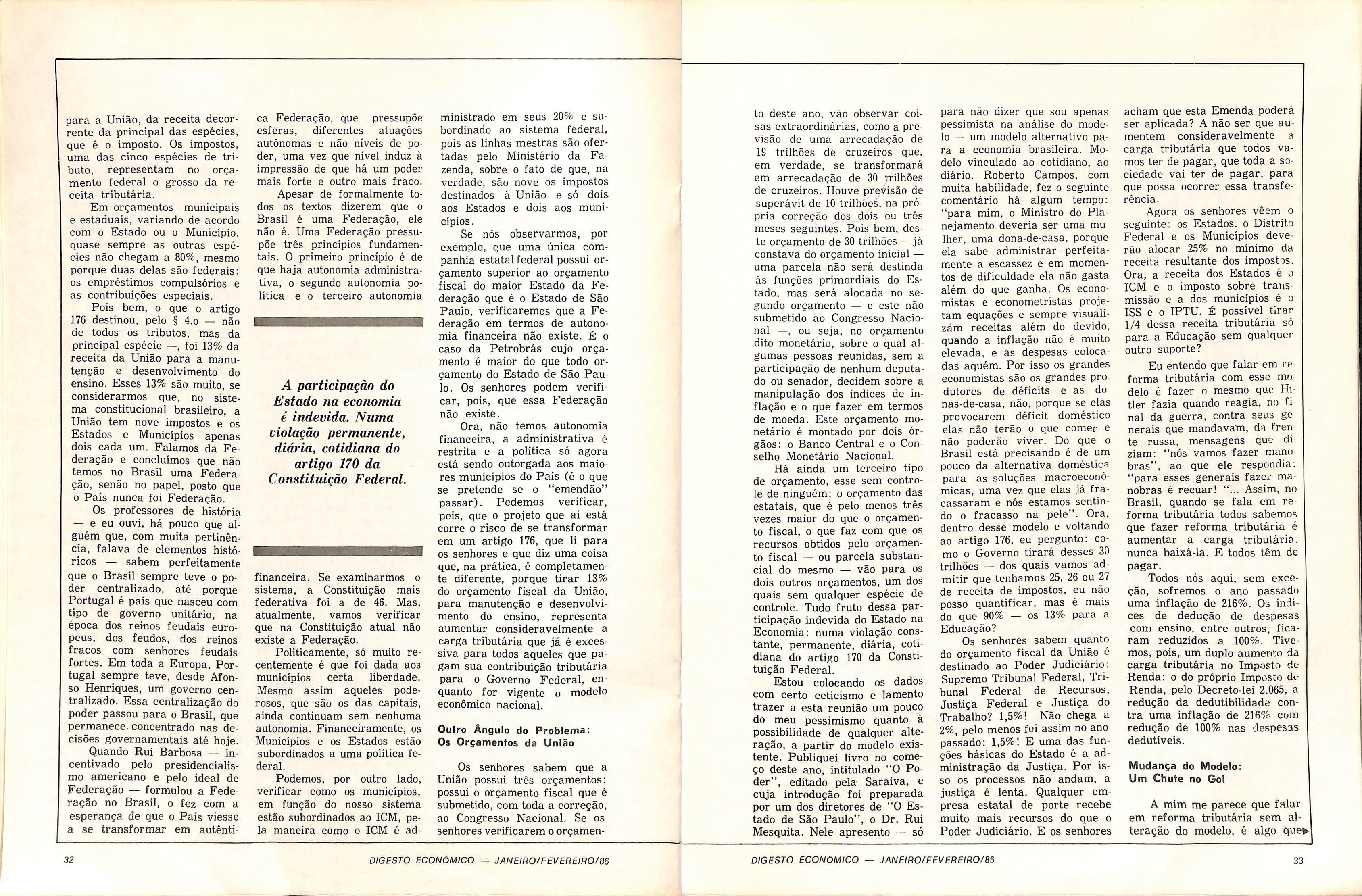
e os apenas que nao
Pois bem, o que o artigo 176 destinou, pelo § 4.o — não de todos os tributos, mas da principal espécie —, foi 13% da receita da União para a manu tenção e desenvolvimento do ensino. Esses 13% são muito, considerarmos que, no siste ma constitucional brasileiro. União tem nove impostos Estados e Municípios dois cada um. Falamos da Fe deração e concluímos temos no Brasil uma Federa ção, senão no papel, posto que 0 País nunca foi Federação.
A participação do Estado na economia é indevida. Numa violação permanente^ diária^ cotidiana do artigo 170 da Constituição Federal. se a
Os professores de história — e eu ouvi, há pouco que al guém que, com muita pertinên cia, falava de elementos histó ricos — sabem perfeitamente que 0 Brasil sempre teve o po der centralizado, Portugal é país que nasceu tipo de governo unitário, época dos reinos feudais peus, dos feudos, dos reinos fracos com senhores feudais fortes. Em toda a Europa, Por tugal sempre teve, desde Afon so Henriques, um governo tralizado. Essa centralização do poder passou para o Brasil, que permanece, concentrado nas de cisões governamentais até hoje.
financeira. Se examinarmos o sistema, a Constituição mais federativa foi a de 46. Mas, atualmente, vamos verificar que na Constituição atual não existe a Federação.
Se nós observarmos, por exemplo, que uma única com panhia estatal federal possui or çamento superior ao orçamento fiscal do maior Estado da Fe deração que é o Estado de São Paulo, verificaremos que a Fe deração em termos de autono mia financeira não existe. É o caso da Petrobrás cujo orça mento é maior do que todo or çamento do Estado de São Pau lo. Os senhores podem verifi car, pois, que essa Federação não existe.
até porque com na euromodelo cen- o
Quando Rui Barbosa — in centivado pelo presidencialis mo americano e pelo ideal de Federação — formulou a Fede ração no Brasil, o fez com a esperança de que o País viesse a se transformar em autênti-
Politicamente, só muito re centemente é que foi dada aos municípios certa liberdade. Mesmo assim aqueles pode rosos, que são os das capitais, ainda continuam sem nenhuma autonomia. Financeiramente, os Municípios e os Estados estão subordinados a uma política fe deral.
Ora, não temos autonomia financeira, a administrativa é restrita e a política só agora está sendo outorgada aos maio res municípios do País (é o que se pretende se o “emendão” passar). Podemos verificar, pois, que 0 projeto que aí está corre o risco de se transformar em um artigo 176, que li para os senhores e que diz uma coisa que, na prática, é completamen te diferente, porque tirar 13% do orçamento fiscal da União, para manutenção e desenvolvi mento do ensino, representa aumentar consideravelmente a carga tributária que já é exces siva para todos aqueles que pa gam sua contribuição tributária para o Governo Federal, en quanto for vigente econômico nacional.
Outro Ângulo do Problema: Os Orçamentos da União
Os senhores sabem que a União possui três orçamentos: possui o orçamento fiscal que é submetido, com toda a correção, ao Congresso Nacional. Se os senhoresverificaremo orçamenPodemos, por outro lado, verificar como os municípios, em função do nosso sistema estão subordinados ao ICM, pe la maneira como o ICM é ad-
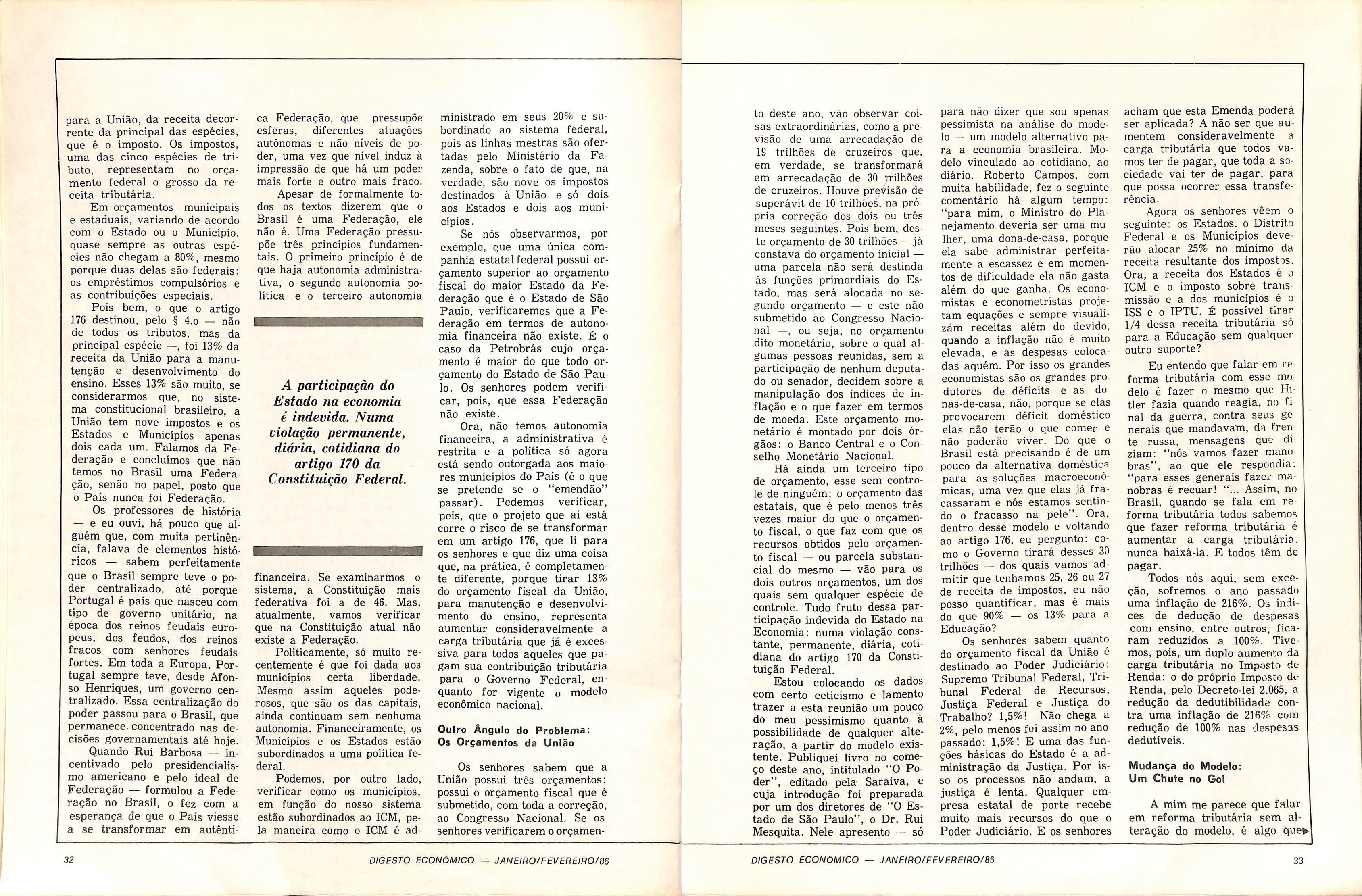
to deste ano, vão observar coi sas extraordinárias, como a pre visão de uma arrecadação de IS trilhões de cruzeiros que. em verdade, se transformará em arrecadação de 30 trilhões de cruzeiros. Houve previsão de superávit de 10 trilhões, na pró pria correção dos dois ou três meses seguintes. Pois bem, des te orçamento de 30 trilhões — já constava do orçamento inicial — uma parcela não será destinda às funções primordiais do Es tado, mas será alocada no se gundo orçamento — e este não submetido ao Congresso Nacioou seja, no orçamento dito monetário, sobre o qual al gumas pessoas reunidas, sem a participação de nenhum deputa do ou senador, decidem sobre a manipulação dos índices de in flação e 0 que fazer em termos de moeda. Este orçamento mo netário é montado por dois ór gãos: 0 Banco Central e o Con selho Monetário Nacional.
para não dizer que sou apenas pessimista na análise do mode lo — um modelo alternativo pa ra a economia brasileira. Mo delo vinculado ao cotidiano, ao diário. Roberto Campos, com muita habilidade, fez o seguinte comentário há algum tempo: “para mim, o Ministro do Pla nejamento deveria ser uma mu. lher. uma dona-de-casa, porque ela sabe administrar perfeita-
mente a escassez e em momen tos de dificuldade ela não gasta além do que ganha. Os econo mistas e econometristas proje tam equações e sempre visualireceitas além do devido. nal zam quando a inflação não é muito elevada, e as despesas coloca das aquém. Por isso os grandes economistas são os grandes pro. dutores de déficits e as donas-de-casa, não, porque se elas déficit doméstico
Há ainda um terceiro tipo de orçamento, esse sem contro le de ninguém: o orçamento das estatais, que é pelo menos três vezes maior do que o orçamen to fiscal, 0 que faz com que os recursos obtidos pelo orçamen to fiscal — ou parcela substan cial do mesmo — vão para os dois outros orçamentos, um dos quais sem qualquer espécie de controle. Tudo fruto dessa par ticipação indevida do Estado na Economia: numa violação cons tante, permanente, diária, coti diana do artigo 170 da Consti tuição Federal.
Estou colocando os dados com certo ceticismo e lamento trazer a esta reunião um pouco do meu pessimismo quanto à possibilidade de qualquer alte ração, a partir do modelo exis tente. Publiquei livro no come ço deste ano, intitulado “O Po der’’, editado pela Saraiva, e cuja introdução foi preparada por um dos diretores de “O Es tado de São Paulo’’, o Dr. Rui Mesquita. Nele apresento — só
provocarem elas não terão o que comer e não poderão viver. Do que o Brasil está precisando é de um pouco da alternativa doméstica para as soluções macroeconô micas, uma vez que elas já fra cassaram e nós estamos sentin do o fracasso na pele”. Ora, dentro desse modelo e voltando artigo 176, eu pergunto: coGoverno tirará desses 30 ao mo 0 trilhões — dos quais vamos ad mitir que tenhamos 25, 26 cu 27 de receita de impostos, eu não posso quantificar, mas é mais do que 90% — os 13% para a Educação?
Os senhores sabem quanto do orçamento fiscal da União é destinado ao Poder Judiciário: Supremo Tribunal Federal, Tri bunal Federal de Recursos, Justiça Federal e Justiça do Trabalho? 1,5%! Não chega a 2%, pelo menos foi assim no ano passado: 1,5%! E uma das funbásicas do Estado é a ad-
çoes ministração da Justiça. Por is so os processos não andam, a justiça é lenta. Qualquer em presa estatal de porte recebe muito mais recursos do que o Poder Judiciário. E os senhores
acham que esta Emenda poderá ser aplicada? A não ser que au mentem consideravelmente a carga tributária que todos va mos ter de pagar, que toda a so ciedade vai ter de pagar, para que possa ocorrer essa transfe rência.
Agora os senhores vêsm o seguinte: os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deve rão alocar 25% no mínimo da receita resultante dos impostos. Ora, a receita dos Estados é o ICM e 0 imposto sobre trans missão e a dos municípios é o ISS e o IPTU. É possível tirar 1/4 dessa receita tributária só Educação sem qualquer
para a outro suporte?
Eu entendo que falar em re forma tributária com esse mo delo é fazer o mesmo que Hitler fazia quando reagia, no fi nal da guerra, contra seus ge nerais que mandavam, da fren te russa, mensagens que di ziam: “nós vamos fazer mano bras”, ao que ele respondia: “para esses generais fazer ma nobras é recuar! “... Assim, no Brasil, quando se fala em re forma tributária todos sabemos que fazer reforma tributária é aumentar a carga tributária, nunca baixá-la. E todos têm de
pagar.
Todos nós aqui, sem exce ção, sofremos o ano passado uma inflação de 216%. Os índi ces de dedução de despesas com ensino, entre outros, fica ram reduzidos a 100%. Tivemos, pois, um duplo aumento da carga tributária no Imposto de Renda: o do próprio Imposto dv Renda, pelo Decreto-lei 2.065, a redução da dedutibilidade con tra uma inflação de 216% com redução de 100% nas despesas dedutíveis.
Mudança do Modelo: Um Chute no Gol
A mim me parece que falar em reforma tributária sem al teração do modelo, é algo que^
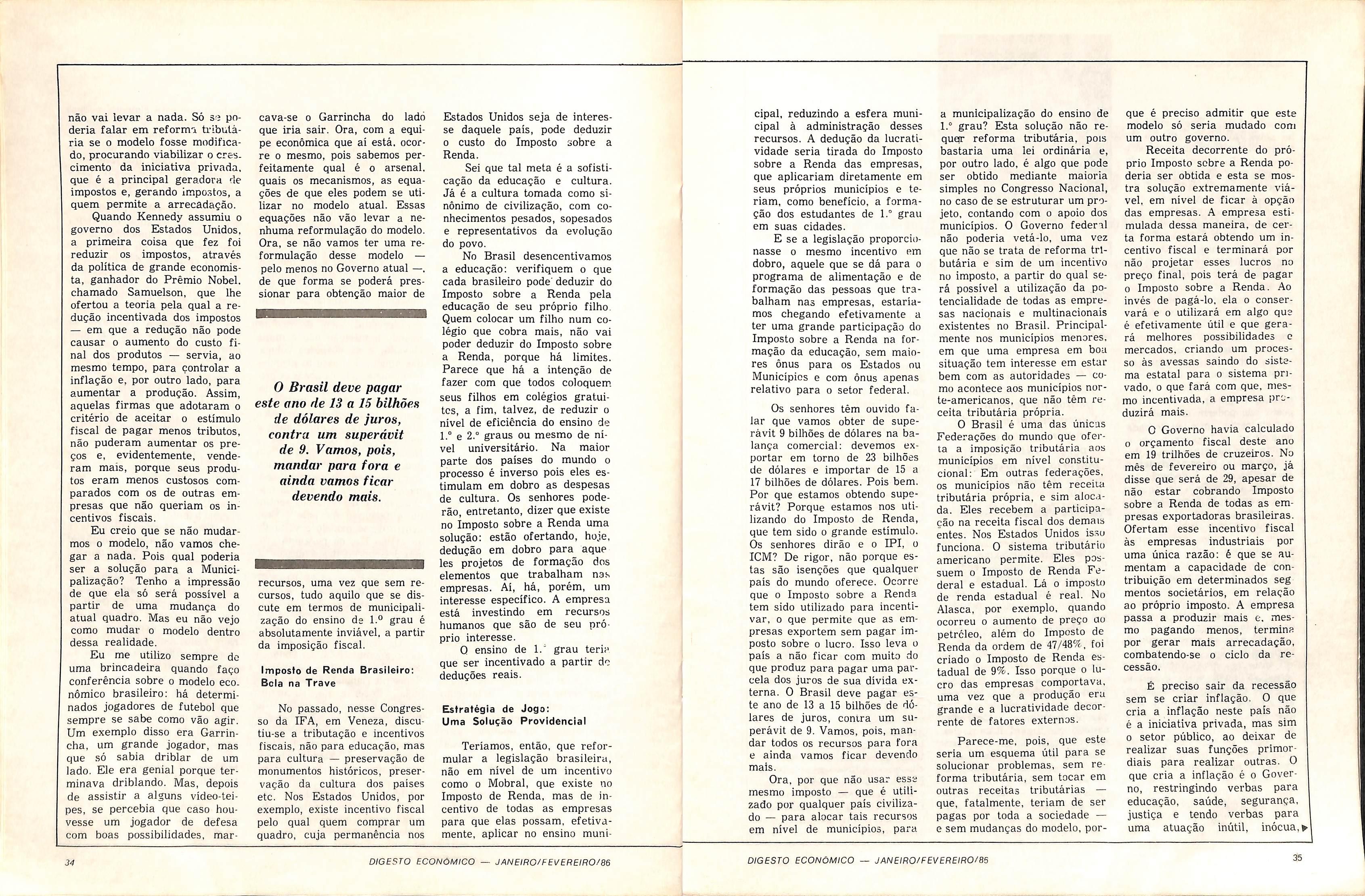
não vai levar a nada. Só deria falar em reforma tributá ria se 0 modelo fosse modifica do, procurando viabilizar o cres cimento da iniciativa privada, que é a principal geradora de impostos e, gerando Impo.stos, a quem permite a arrecadação. Quando Kennedy assumiu o governo dos Estados Unidos, a primeira coisa que fez foi reduzir os impostos, através da política de grande economis ta, ganhador do Prêmio Nobel. chamado Samuelson, que lhe ofertou a teoria pela qual a re dução incentivada dos impostos — em que a redução não pode causar o aumento do custo fi nal dos produtos — servia, ao mesmo tempo, para çontrolar a inflação e, por outro lado, para aumentar a produção. Assim, aquelas firmas que adotaram o critério de aceitar o estímulo fiscal de pagar menos tributos, não puderam aumentar os pre ços e, evidentemente, vende ram mais, porque seus produ tos eram menos custosos com parados com os de outras em presas que não queriam os in centivos fiscais.
cava-se o Garrincha do lado que iria sair. Ora, com a equi pe econômica que ai está. ocor re 0 mesmo, pois sabemos perfeitamente qual é o arsenal, quais os mecanismos, as equa ções de que eles podem se uti lizar no modelo atual. Essas equações não vão levar a ne nhuma reformulação do modelo. Ora, se não vamos ter uma re formulação desse modelo — pelo menos no Governo atual —. de que forma se poderá pres sionar para obtenção maior de
O Brasil deve pagar este ano de 13 a 15 bilhões de dólares de juros, contra um superávit de 9. Vamos, pois, mandar para fora e ainda vamos ficar devendo mais.
Estados Unidos seja de interes se daquele país, pode deduzir 0 custo do Imposto sobre a Renda.
Sei que tal meta é a sofisti cação da educação e cultura. Já é a cultura tomada como si nônimo de civilização, com co nhecimentos pesados, sopesados e representativos da evolução do povo.
no
Eu creio que se não mudar mos 0 modelo, não vamos che gar a nada. Pois qual poderia ser a solução para a Munici palização? Tenho a impressão de que ela só será possível a partir de uma mudança do atual quadro. Mas eu não como mudar o modelo dentro dessa realidade.
vejo
Eu me utilizo sempre do uma brincadeira quando faço conferência sobre o modelo eco. nômico brasileiro: há determi nados jogadores de futebol que sempre se sabe como vão agir. Um exemplo disso era Garrin cha, um grande jogador, mas que só sabia driblar de um lado. Ele era genial porque ter minava driblando. Mas, depois de assistir a alguns vídeo-teipes, se percebia que caso hou vesse um jogador de defesa com boas possibilidades, marpo-
recursos, uma vez que sem re cursos, tudo aquilo que se dis cute em termos de municipali zação do ensino de l.° grau é absolutamente inviável, a partir da imposição fiscal.
Imposto de Renda Brasileiro: Bela na Trave
No passado, nesse Congres so da IFA, em Veneza, discu tiu-se a tributação e incentivos fiscais, não para educação, mas para cultura — preservação de monumentos históricos, preser vação da cultura dos países etc. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe incentivo fiscal pelo qual quem comprar um quadro, cuja permanência nos
No Brasil desencentivamos a educação: verifiquem o que cada brasileiro pode' deduzir do Imposto sobre a Renda pela educação de seu próprio filho. Quem colocar um filho num co légio que cobra mais, não vai poder deduzir do Imposto sobre a Renda, porque há limites. Parece que há a intenção de fazer com que todos coloquem seus filhos em colégios gratui tos, a fim, talvez, de reduzir o nível de eficiência do ensino de l.° e 2.° graus ou mesmo de ní vel universitário. Na maior parte dos países do mundo o processo é inverso pois eles es timulam em dobro as despesas de cultura. Os senhores pode rão, entretanto, dizer que existe Imposto sobre a Renda uma solução: estão ofertando, hoje, dedução em dobro para aque les projetos de formação dos elementos que trabalham n.os empresas. Aí, há, porém, um interesse específico. A empresa está investindo em recursos humanos que são de seu pró prio interesse. Q ensino de 1.' grau terir’ que ser incentivado a partir dc deduções reais.
Estratégia de Jogo: Uma Solução Providencia!
Teríamos, então, que refor mular a legislação brasileira, não em nível de um incentivo como 0 Mobral, que existe no Imposto de Renda, mas de in centivo de todas as empresas para que elas possam, efetiva mente, aplicar no ensino muni-
cipal, reduzindo a esfera muni cipal à administração desses recursos. A dedução da lucrati vidade seria tirada do Imposto sobre a Renda das empresas, que aplicariam diretamente em seus próprios municípios e teriam, como benefício, a forma ção dos estudantes de l.° grau em suas cidades.
E se a legislação proporcio nasse 0 mesmo incentivo em dobro, aquele que se dá para o programa de alimentação e de formação das pessoas que tra balham nas empresas, estaría mos chegando efetivamente a ter uma grande participação do Imposto sobre a Renda na for mação da educação, sem maio res ônus para os Estados nu Municípios e com ônus apenas relativo para o setor federal. Os senhores têm ouvido fa lar que vamos obter de supe rávit 9 bilhões de dólares na ba lança comercial: devemos ex portar em torno de 23 bilhões de dólares e importar de 15 a 17 bilhões de dólares. Pois bem. Por que estamos obtendo supe rávit? Porque estamos nos uti lizando do Imposto de Renda, que tem sido o grande estímulo. Os senhores dirão e o IPI, o ICM? De rigor, não porque es tas são isenções que qualquer país do mundo oferece. Ocorre que o Imposto sobre a Renda tem sido utilizado para incenti var, 0 que permite que as em presas exportem sem pagar im posto sobre o lucro. Isso leva o país a não ficar com muito do que produz para pagar uma par cela dos juros de sua dívida ex terna. O Brasil deve pagar es te ano de 13 a 15 bilhões de dó lares de juros, contra um su perávit de 9. Vamos, pois, man dar todos os recursos para fora e ainda vamos ficar devendo mais,
Ora, por que não usar esse mesmo imposto — que é utili zado por qualquer país civiliza do — para alocar tais recursos em nível de municípios, para
a municipalização do ensino de l.° grau? Esta solução não requqr reforma tributária, pois bastaria uma lei ordinária e, por outro lado, é algo que pode ser obtido mediante maioria simples no Congresso Nacional, no caso de se estruturar um pro jeto. contando com o apoio dos municípios. O Governo federil não poderia vetá-lo, uma vez que não se trata de reforma tri butária e sim de um incentivo no imposto, a partir do qual se rá possível a utilização da po tencialidade de todas as empre sas nacionais e multinacionais existentes no Brasil. Principal mente nos municípios menores, em que uma empresa em bou situação tem interesse em estar bem com as autoridades — co mo acontece aos municípios nor te-americanos, que não têm re ceita tributária própria.
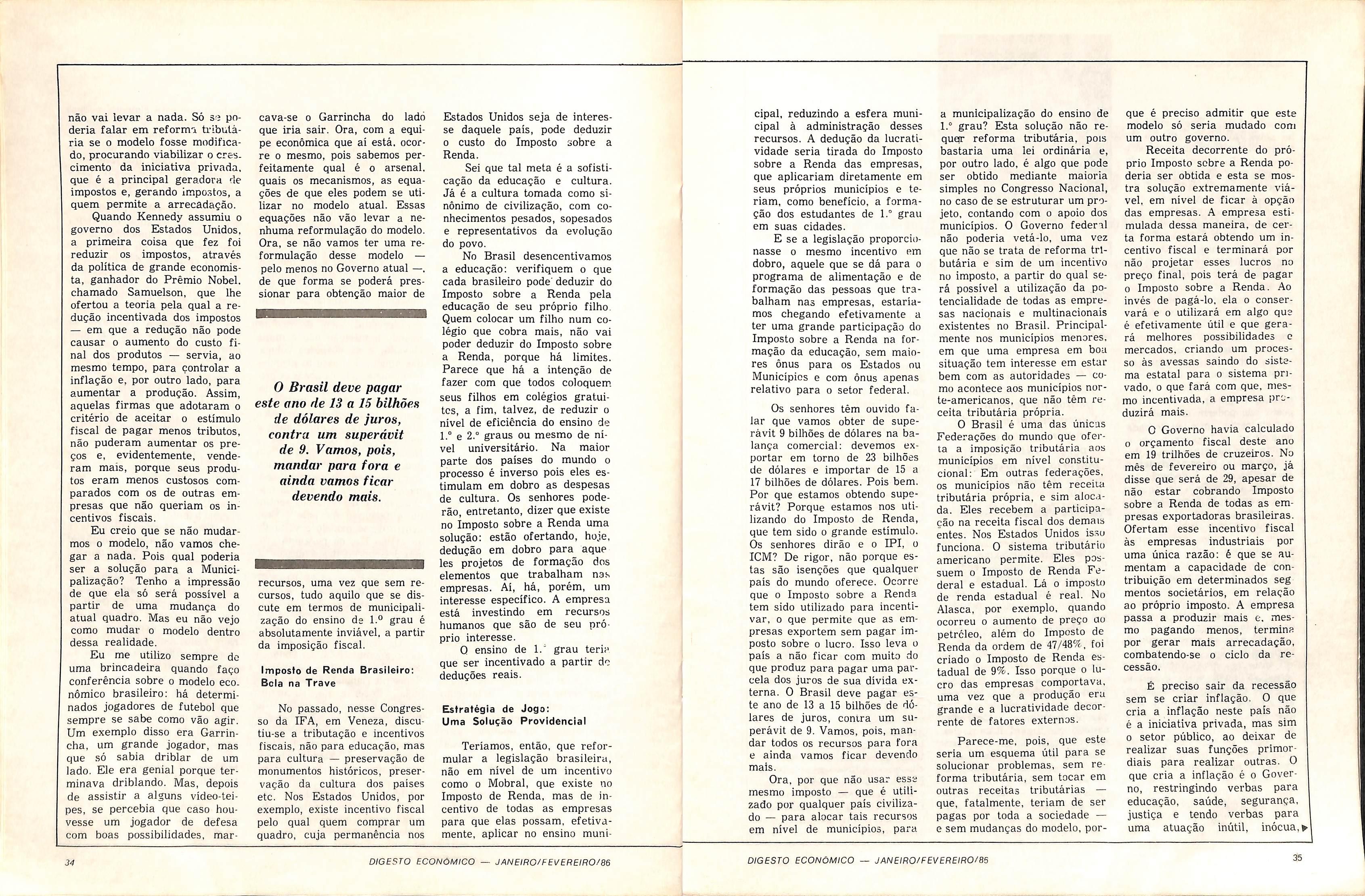
americano es-
que é preciso admitir que este modelo só seria mudado com um outro governo.
Receita decorrente do pró prio Imposto sobre a Renda poderia ser obtida e esta se mos tra solução extremamente viá vel. em nível de ficar à opção das empresas. A empresa esti mulada dessa maneira, de cer ta forma estará obtendo um in centivo fiscal e terminará por não projetar esses lucros no preço final, pois terá de pagar 0 Imposto sobre a Renda. Ao invés de pagá-lo. ela o conser vará e 0 utilizará em algo que é efetivamente útil e que gera rá melhores possibilidades c mercados, criando um proces so às avessas saindo do siste ma estatal para o sistema pri vado. 0 que fará com que, mesincentivada, a empresa pro duzirá mais.
O Brasil é uma das únicas mo Federações do mundo que ofer ta a imposição tributária aos municípios em nível constitu cional: Em outras federações, os municípios não têm receita tributária própria, e sim aloca da. Eles recebem a particip-ação na receita fiscal dos demais entes. Nos Estados Unidos is.su funciona. O sistema tributário permite. Eles pos suem 0 Imposto de Renda Fe deral e estadual. Lá o imposto de renda estadual é real. No Alasca, por exemplo, quando ocorreu o aumento de preço ao petróleo, além do Imposto de Renda da ordem de 47/489Í. foi criado o Imposto de Renda tadual de 9%. Isso porque o ludas empresas comportava, que a produção era
cro uma vez grande e a lucratividade decor rente de fatores externos.
Parece-me. pois, que este seria um esquema útil para se solucionar problemas, sem re forma tributária, sem tocar em outras receitas tributárias — que, fatalmente, teriam de ser pagas por toda a sociedade — e sem mudanças do modelo, por-
o
O Governo havia calculado orçamento fiscal deste ano em 19 trilhões de cruzeiros. No mês de fevereiro ou março, já disse que será de 29, apesar de não estar cobrando Imposto sobre a Renda de todas as em presas exportadoras brasileiras. Ofertam esse incentivo fiscal às empresas industriais por uma única razão: é que se au mentam a capacidade de con tribuição em determinados seg mentos societários, em relação ao próprio imposto. A empresa passa a produzir mais c, mes mo pagando menos, termina por gerar mais arrecadação, combatendo-se o ciclo da re cessão.
É preciso sair da recessão sem se criar inflação. O que cria a inflação neste país não é a iniciativa privada, mas sim 0 setor público, ao deixar de realizar suas funções primor diais para realizar outras. O que cria a inflação é o Gover no, restringindo verbas para educação, saúde, segurança, justiça e tendo verbas para uma atuação inútil, inócua, ►
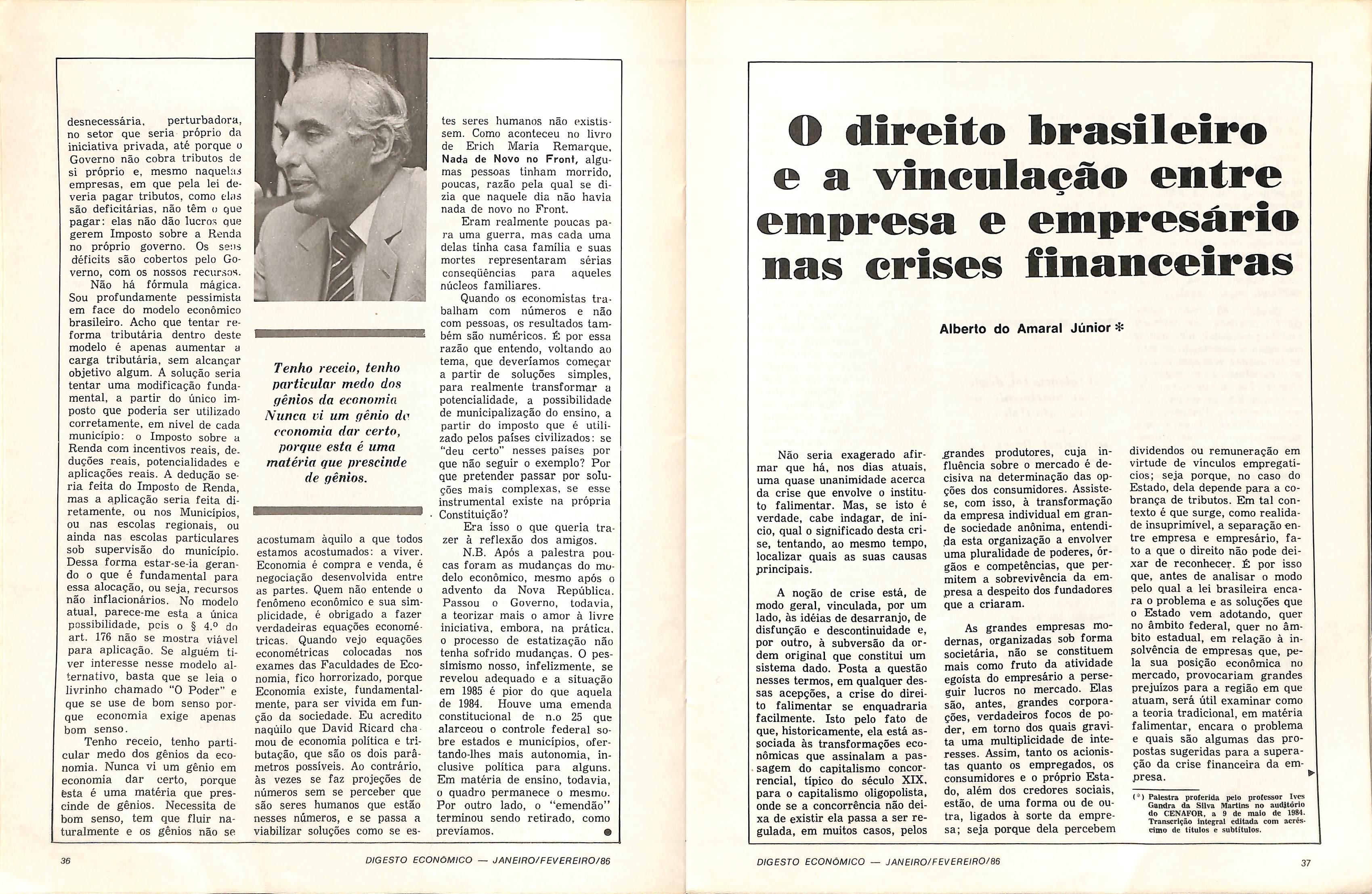
perturbadora,
desnecessária, no setor que seria próprio da iniciativa privada, até porque o Governo não cobra tributos de si próprio e, mesmo naquelas empresas, em que pela lei de veria pagar tributos, como ehis são deficitárias, não têm o que pagar: elas não dão lucros que gerem Imposto sobre a Renda no próprio governo. Os seus déficits são cobertos pelo Governo, com os nossos recursos. Não há fórmula mágica. Sou profundamente pessimista em face do modelo econômico brasileiro. Acho que tentar re forma tributária dentro deste modelo é apenas aumentar a carga tributária, sem alcançar objetivo algum. A solução seria tentar uma modificação funda mental, a partir do único im posto que poderia ser utilizado corretamente, em nível de cada município: o Imposto sobre a Renda com incentivos reais, de. duções reais, potencialidades e aplicações reais. A dedução se ria feita do Imposto de Renda, mas a aplicação seria feita di retamente, ou nos Municípios, ou nas escolas regionais, ainda nas escolas particulares sob supervisão do município. Dessa forma estar-se-ia geran do 0 que é fundamental essa alocação, ou seja, recursos não inflacionários. No modelo atual, parece-me esta possibilidade, pcis o § 4.° dn art. 1/6 não se mostra viável para aplicação. Se alguém ti ver interesse nesse modelo al ternativo, basta que se leia o livrinho chamado “O Poder” e que se use de bom senso por que economia exige apenas bom senso.
Tenho receio, tenho parti cular medo dos gênios da eco nomia. Nunca vi um gênio em economia dar certo, porque êsta é uma matéria que pres cinde de gênios. Necessita de bom senso, tem que fluir na turalmente e os gênios não se
Tenho receio, tenho particular medo dos gênios da economia Nunca vi um gênio dc economia dar certo, porque esta é uma matéria que prescinde de gênios.
acostumam àquilo a que todos estamos acostumados: a viver. Economia é compra e venda, é negociação desenvolvida entre as partes. Quem não entende o fenômeno econômico e sua sim plicidade, é obrigado a fazer verdadeiras equações econométricas. Quando vejo equações econométricas colocadas nos das Faculdades de Eco-
tes seres humanos não existis sem. Como aconteceu no livro de Erich Maria Remarque. Nada de Novo no Front, algu mas pessoas tinham morrido, poucas, razão pela qual se di zia que naquele dia não havia nada de novo no Front.
Eram realmente poucas pa ra uma guerra, mas cada uma delas tinha casa familia e suas mortes representaram sérias conseqüências para aqueles núcleos familiares.
Quando os economistas tra balham com números e não com pessoas, os resultados tam bém são numéricos. É por essa razão que entendo, voltando ao tema, que deveriamos começar a partir de soluções simples, para realmente transformar a potencialidade, a possibilidade de municipalização do ensino, a partir do imposto que é utili zado pelos países civilizados; se “deu certo” nesses países por que não seguir o exemplo? Por que pretender passar por solu ções mais complexas, se esse instrumental existe na própria Constituição?
Era isso o que queria tra zer à reflexão dos amigos.
N.B. Após a palestra pou cas foram as mudanças do mo delo econômico, mesmo após o advento da Nova República. Passou 0 Governo, todavia, a teorizar mais o amor à livre iniciativa, embora, na prática, 0 processo de estatização não tenha sofrido mudanças. O pes simismo nosso, infelizmente, se revelou adequado e a situação em 1985 é pior do que aquela de 1984. constitucional de n.o 25 que alarceou o controle federal so bre estados e municípios, ofertando-lhes mais autonomia, in clusive política para alguns. Em matéria de ensino, todavia, 0 quadro permanece o mesmo. Por outro lado, o “emendão” terminou sendo retirado, como prevíamos. #
para a unica exames nomia, fico horrorizado, porque Economia existe, fundamental mente, para ser vivida em fun ção da sociedade. Eu acredito naqúilo que David Ricard cha mou de economia política e tri butação, que são os dois parâ metros possíveis. Ao contrário, às vezes se faz projeções de números sem se perceber que são seres humanos que estão nesses números, e se passa a viabilizar soluções como se esHouve uma emenda
Alberto do Amaral Júnior ^
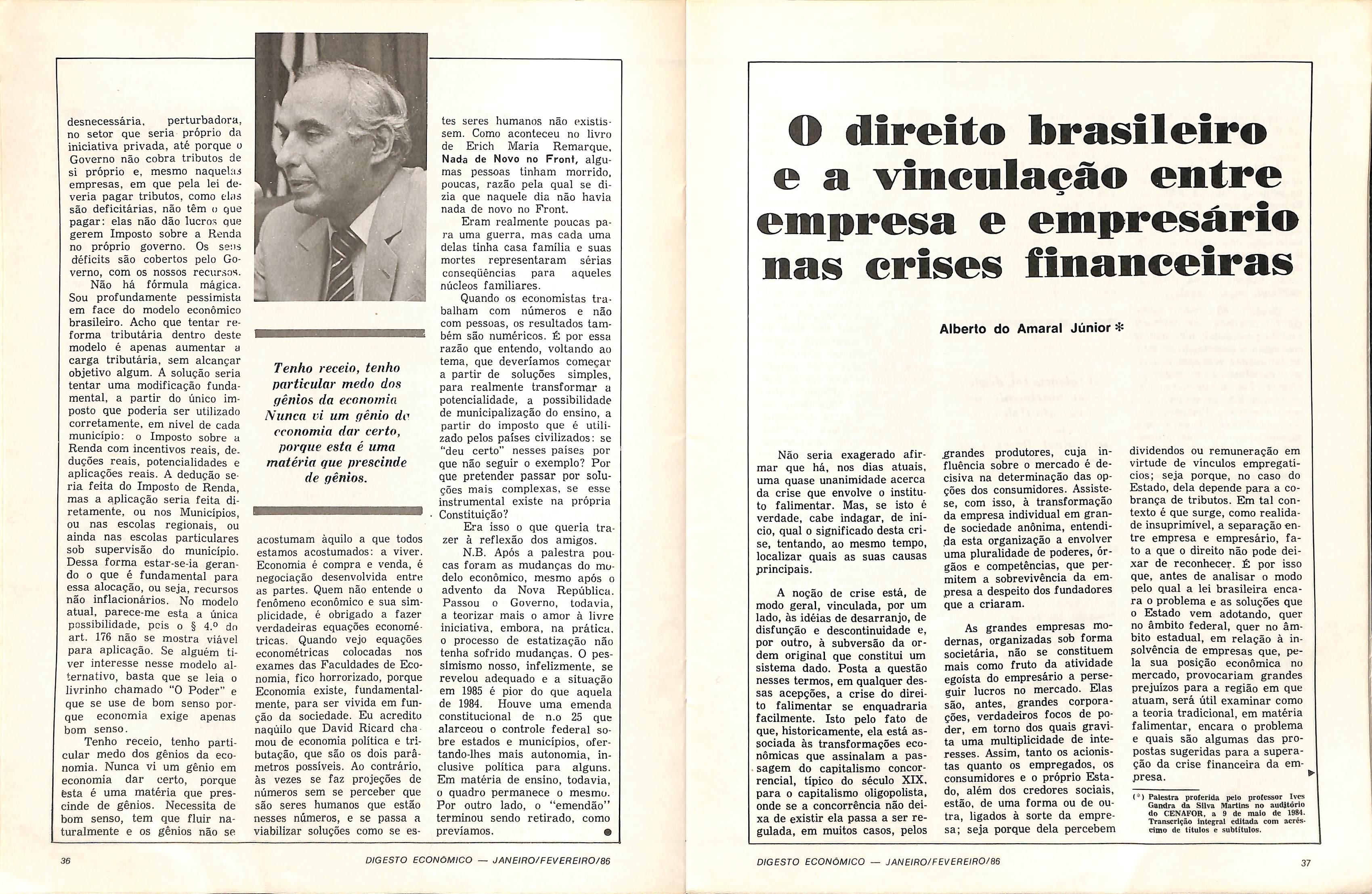
Não seria exagerado afir mar que há, nos dias atuais, uma quase unanimidade acerca da crise que envolve o institu to falimentar. Mas, se isto é verdade, cabe indagar, de iní cio, qual 0 significado desta cri se, tentando, ao mesmo tempo, localizar quais as suas causas principais.
A noção de crise está, de modo geral, vinculada, por um lado, às idéias de desarranjo, de disfunção e descontinuidade e, por outro, à subversão da or dem original que constitui um sistema dado. Posta a questão nesses termos, em qualquer des sas acepções, a crise do direi to falimentar se enquadraria facilmente. Isto pelo fato de que, historicamente, ela está as sociada às transformações eco nômicas que assinalam a pas sagem do capitalismo concor rencial, típico do século XIX. para o capitalismo oligopolista, onde se a concorrência não dei xa de existir ela passa a ser re gulada, em muitos casos, pelos
grandes produtores, cuja in fluência sobre o mercado é de cisiva na determinação das op ções dos consumidores. Assistese, com isso, à transformação da empresa individual em gran de sociedade anônima, entendi da esta organização a envolver uma pluralidade de poderes, ór gãos e competências, que per mitem a sobrevivência da em presa a despeito dos fundadores que a criaram.
As grandes empresas dernas, organizadas sob forma societária, não se constituem fruto da atividade momais como egoísta do empresário a perse guir lucros no mercado. Elas são, antes, grandes corpora ções, verdadeiros focos de po der, em torno dos quais gravi ta uma multiplicidade de inte resses. Assim, tanto os acionis tas quanto os empregados, os consumidores e o próprio Esta do, além dos credores sociais, estão, de uma forma ou de ou tra, ligados à sorte da empre sa; seja porque dela percebem
dividendos ou remuneração em virtude de vínculos empregatícios; seja porque, no caso do Estado, dela depende para a co brança de tributos. Em tal con texto é que surge, como realida de insuprimivel, a separação en tre empresa e empresário, fa to a que o direito não pode dei xar de reconhecer. Ê por isso que, antes de analisar o modo pelo qual a lei brasileira enca ra o problema e as soluções que 0 Estado vem adotando, quer no âmbito federal, quer no âm bito estadual, em relação à insolvência de empresas que, pe la sua posição econômica no mercado, provocariam grandes prejuízos para a região em que atuam, será útil examinar como a teoria tradicional, em matéria falimentar, encara o problema e quais são algumas das pro postas sugeridas para a supera ção da crise financeira da em presa.
(-) Palestra proferida pelo professor Ivcs Gandra da Silva Martins no auditório do CENAFOR, a 9 de maio de 1984. Transcrição integrai editada com acrés cimo de titutos e subtítulos.
Teoria Iradiciona) da falência e os novos rumos do Direito Falimentar
A falência foi, desde o seu nascimento, um instituto típico da pequena empresa individual. Entendida como procedimento global abrangendo todos os bens do devedor com a finalidade de satisfação dos credores, a fa lência atingia aqueles que, per tencendo ou não a uma Corpo ração, exerciam uma atividade mercantil ou artesanal.
Desde o seu início, a falên cia foi marcada por um forte sentido processual, pois não se conseguia a decretação do esta do falimentar sem que houves se a manifestação do órgão judicante. Foi, contudo, em ple no século XX, no período que medeia entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, que ganhou corpo a visão proces sual do procedimento falimen tar. Segundo esta concepção a falência se destinava à apreen são do patrimônio do executa do o qual se prestará à satisfa ção dos credores que participa rem da execução coletiva uni versal. Considera-se, assim, que se nem toda execução é falên cia, toda a falência consiste, certamente, em uma execução que será universal abrangendo todos os bens do devedor bem como todos os seus credores. Para Carnelutti, a falência não é outra coisa senão um proces so executivo, ou seja, uma ação executiva à sentença que decre ta a quebra. Carnelutti afirma que “O processo de expropria ção tem 0 escopo de dar a um ou mais credores a satisfação, total ou parcial, dos seus cré ditos.” Segundo ele “O que dis tingue a expropriação ordiná ria da expropriação falimentar é 0 escopo, 0 qual não consis te mais na satisfação de um ou mais de um singularmente, mas na satisfação de todos os credo res. Em razão da diversidade de
escopo varia, entre as duas for mas de expropriação o pressu posto e 0 meio. Desse modo, o pressuposto da expropriação falimentar é o estado patrimonial de falência e 0 meio consiste na liquidação do patrimônio inteiro.” Calamandrei, por sua vez, lembra que “Quando se diz que a fa lência é um processo executivo (e sobre isto creio que se pos sa ter acordo geral) considerase a natureza indubitavelmente executiva da sentença (expro-
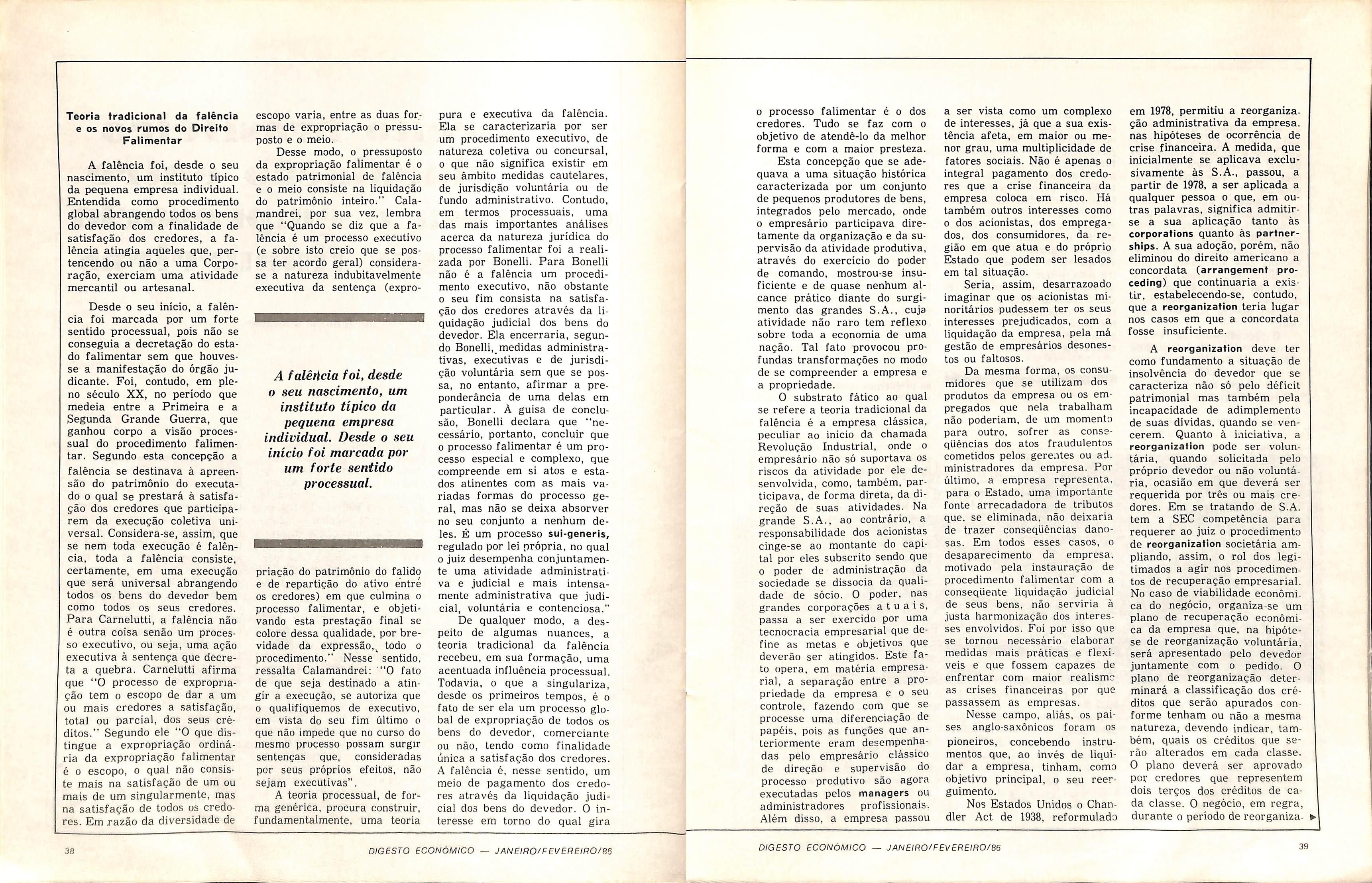
A falêricia foi, desde o seu nascimento, um instituto típico da pequena empresa individual. Desde o seu início foi marcada por um forte sentido processual.
priação do patrimônio do falido e de repartição do ativo entre os credores) em que culmina o processo falimentar, e objeti vando esta prestação final se colore dessa qualidade, por bre vidade da expressão,^ todo o procedimento.” Nesse sentido, ressalta Calamandrei: “0 fato de que seja destinado a atin gir a execução, se autoriza que 0 qualifiquemos de executivo, em vista do seu fim último o que não impede que no curso do mesmo processo possam surgir sentenças que, consideradas por seus próprios efeitos, não sejam executivas".
pura e executiva da falência. Ela se caracterizaria por ser um procedimento executivo, de natureza coletiva ou concursal, 0 que não significa existir em seu âmbito medidas cautelares, de jurisdição voluntária ou de fundo administrativo. Contudo, em termos processuais, uma das mais importantes análises acerca da natureza jurídica do processo falimentar foi a reali zada por Bonelli. Para Bonelli não é a falência um procedi mento executivo, não obstante 0 seu fim consista na satisfa ção dos credores através da li quidação judicial dos bens do devedor. Ela encerraria, segun do Bonelli,,medidas administra tivas, executivas e de jurisdi ção voluntária sem que se pos sa, no entanto, afirmar a pre ponderância de uma delas em particular. À guisa de conclu são, Bonelli declara que “ne cessário, portanto, concluir que 0 processo falimentar é um pro cesso especial e complexo, que compreende em si atos e esta dos atinentes com as mais va riadas formas do processo ge ral. mas não se deixa absorver no seu conjunto a nenhum de les. É um processo sul-generis, regulado por lei própria, no qual 0 juiz desempenha conjuntamen te uma atividade administrati va e judicial e mais intensa mente administrativa que judi cial, voluntária e contenciosa.”
De qualquer modo, a des peito de algumas nuances, teoria tradicional da falência recebeu, em sua formação, uma acentuada influência processual. Todavia, o que a singulariza, desde os primeiros tempos, é o fato de ser ela um processo glo bal de expropriação de todos os bens do devedor, comerciante ou não, tendo como finalidade única a satisfação dos credores. A falência é, nesse sentido, um meio de pagamento dos credo res através da liquidação judi cial dos bens do devedor. O in teresse em torno do qual gira
A teoria processual, de for ma genérica, procura construir, fundamentalmente, uma teoria a
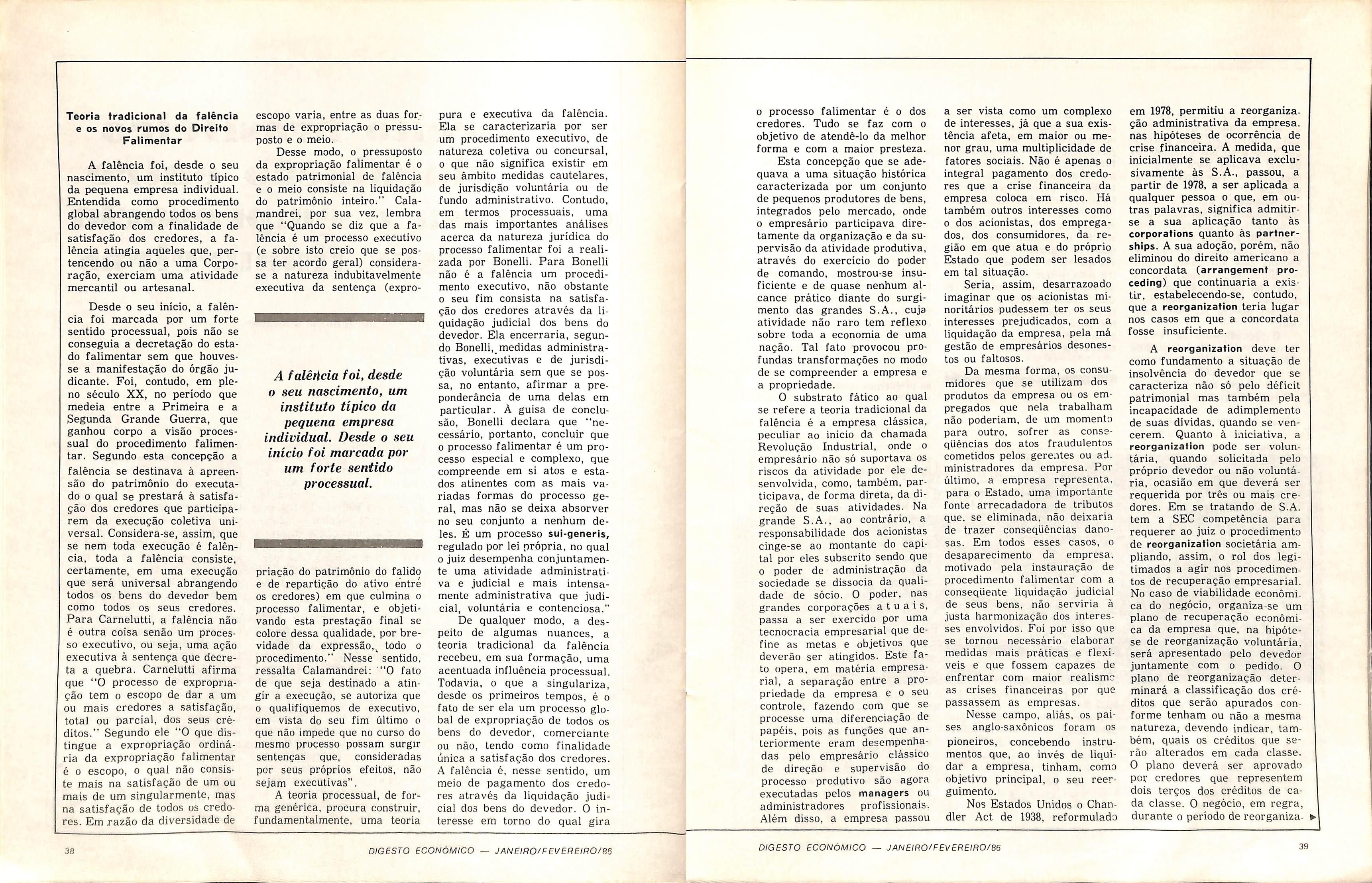
0 processo falimentar é o dos credores. Tudo se faz com o objetivo de atendê-lo da melhor forma e com a maior presteza. Esta concepção que se ade quava a uma situação histórica caracterizada por um conjunto de pequenos produtores de bens, integrados pelo mercado, onde o empresário participava dire tamente da organização e da su pervisão da atividade produtiva, através do exercício do poder de comando, mostrou-se insu ficiente e de quase nenhum al cance prático diante do surgi mento das grandes S.A., cuja atividade não raro tem reflexo sobre toda a economia de uma nação. Tal fato provocou pro fundas transformações no modo de se compreender a empresa e a propriedade.
O substrato fático ao qual se refere a teoria tradicional da falência é a empresa clássica, peculiar ao início da chamada Revolução Industrial, onde o empresário não só suportava os riscos da atividade por ele de senvolvida, como, também, par ticipava, de forma direta, da di reção de suas atividades. Na grande S.A. responsabilidade dos acionistas montante do capiao contrário, a cinge-se ao tal por eles subscrito sendo que poder de administração da sociedade se dissocia da quali dade de sócio. O poder, grandes corporações atuais, passa a ser exercido por uma lecnocracia empresarial que de fine as metas e objetivos que deverão ser atingidos. Este fa to opera, em matéria empresa rial, a separação entre a pro priedade da empresa e o seu controle, fazendo com que se processe uma diferenciação de papéis, pois as funções que an teriormente eram desempenha das pelo empresário clássico de direção e supervisão processo produtivo são agora executadas pelos managers ou administradores profissionais. Além disso, a empresa passou o nas do
a ser vista como um complexo de interesses, já que a sua exis tência afeta, em maior ou me nor grau, uma multiplicidade de fatores sociais. Não é apenas o integral pagamento dos credo res que a crise financeira da empresa coloca em risco. Há também outros interesses como 0 dos acionistas, dos emprega dos, dos consumidores, da re gião em que atua e do próprio Estado que podem ser lesados em tal situação.
Seria, assim, desarrazoado imaginar que os acionistas mi noritários pudessem ter os seus interesses prejudicados, com a liquidação da empresa, pela má gestão de empresários desones tos ou faltosos.
Da mesma forma, os consu midores que se utilizam dos produtos da empresa ou os em pregados que nela trabalham não poderiam, de um momento para outro, sofrer as conseqüéncias dos atos fraudulentos cometidos pelos gerentes ou ad ministradores da empresa. Por último, a empresa representa, para o Estado, uma importante fonte arrecadadora de tributos que. se eliminada, não deixaria de trazer conseqüências dano sas. Em todos esses casos, o desaparecimento da empresa, motivado pela instauração de procedimento falimentar com a conseqüente liquidação judicia) de seus bens, não serviría à justa harmonização dos interes ses envolvidos. Foi por isso que se tornou necessário elaborar medidas mais práticas e flexí veis e que fossem capazes de enfrentar com maior realismo as crises financeiras por que passassem as empresas. Nesse campo, aliás, os paí ses anglo-saxônicos foram os pioneiros, concebendo instru mentos que, ao invés de liqui dar a empresa, tinham, como objetivo principal, o seu reerguimento.
Nos Estados Unidos o Chandler Act de 1938, reformulado
em 1978, permitiu a reorganiza ção administrativa da empresa, nas hipóteses de ocorrência de crise financeira. A medida, que inicialmente se aplicava exclu sivamente às S.A., passou, a partir de 1978, a ser aplicada a qualquer pessoa o que, em ou tras palavras, significa admitirse a sua aplicação tanto às corporations quanto às partnershíps. A sua adoção, porém, não eliminou do direito americano a concordata (arrangement proceding) que continuaria a exis tir, estabelecendo-se, contudo, que a reorganization teria lugar nos casos em que a concordata fosse insuficiente.
A reorganization deve ter como fundamento a situação de insolvência do devedor que se caracteriza não só pelo déficit patrimonial mas também pela incapacidade de adimplemento de suas dividas, quando se ven cerem. Quanto à iniciativa, a reorganization pode ser volun tária, quando solicitada pelo próprio devedor ou não voluntá ria. ocasião em que deverá ser requerida por três ou mais cre dores. Em se tratando de S.A. tem a SEC competência para requerer ao juiz o procedimento de reorganization societária am pliando, assim, 0 rol dos legi timados a agir nos procedimen tos de recuperação empresarial. No caso de viabilidade econômi ca do negócio, organiza-se um plano de recuperação econômi ca da empresa que, na hipóte se de reorganização voluntária, será apresentado pelo devedor juntamente com o pedido. O plano de reorganização deter minará a classificação dos cré ditos que serão apurados con forme tenham ou não a mesma natureza, devendo indicar, tam bém, quais os créditos que se rão alterados em cada classe. O plano deverá ser aprovado por credores que representem dois terços dos créditos de ca da classe. O negócio, em regra, durante o periodo de reorganiza- ►
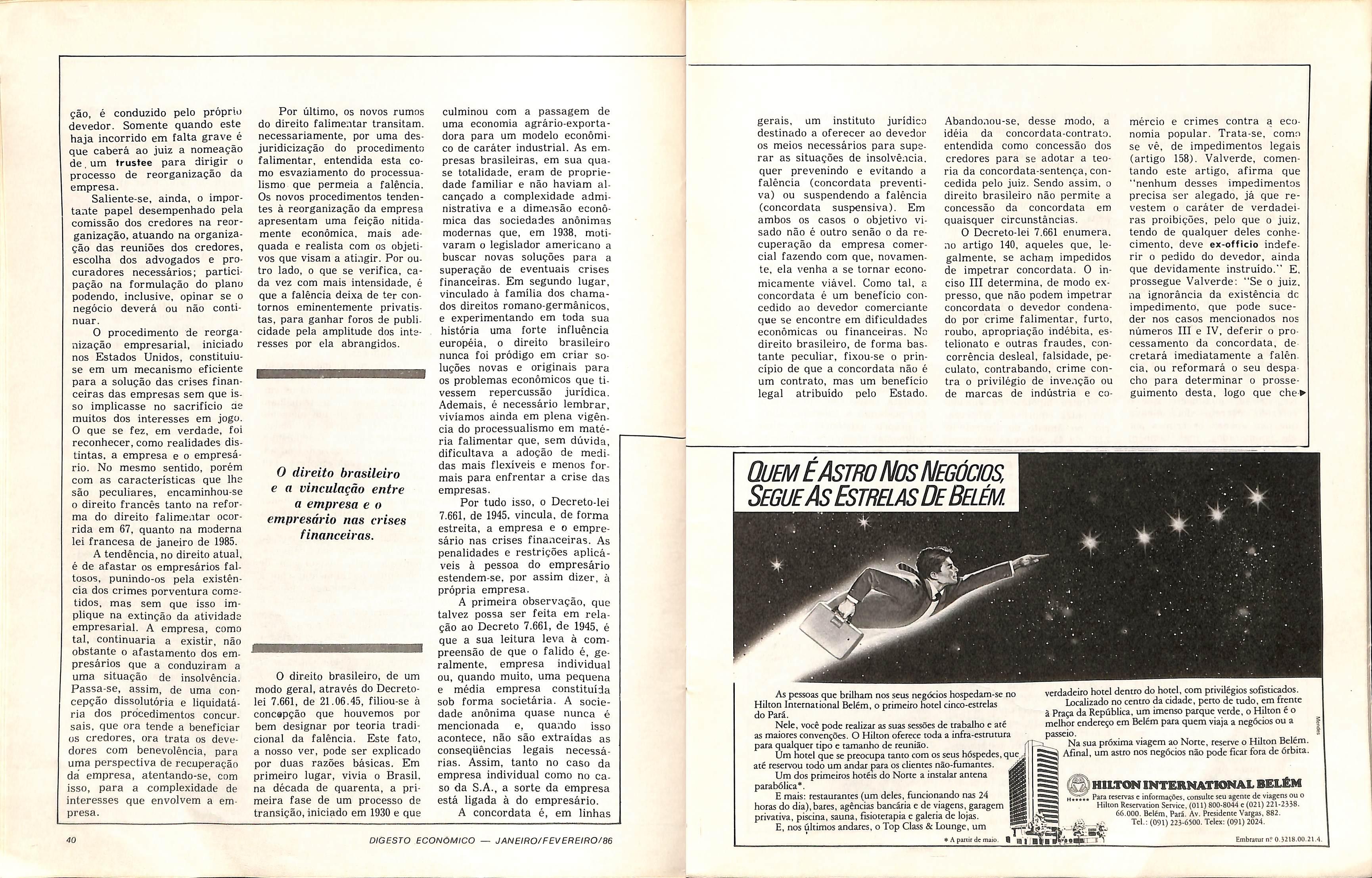
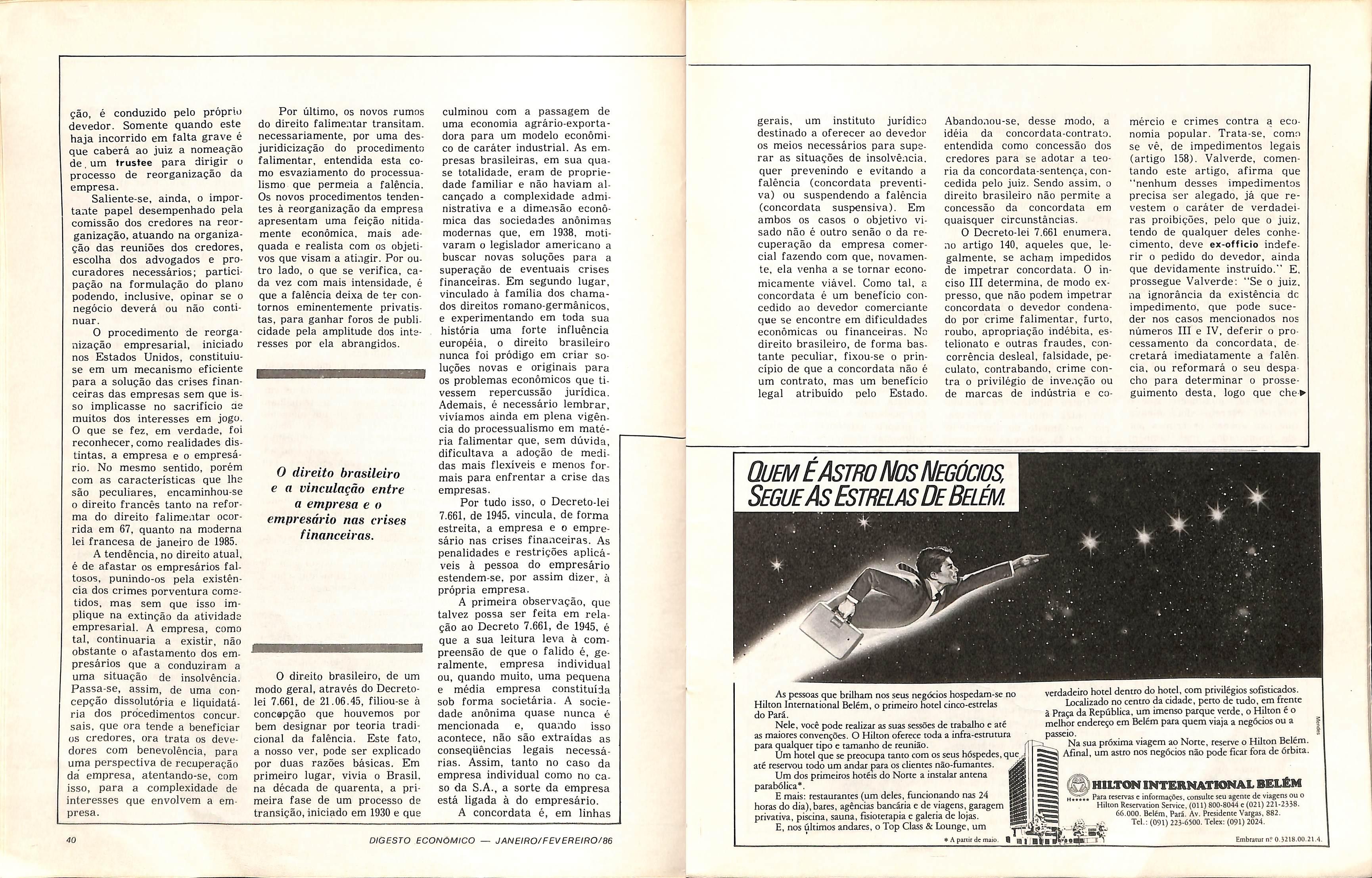
gue ao seu conhecimento os fa tos impeditivos. Se, apesar do impedimento, a concordata ti ver sido concedida, por senten ça, transitada em julgado já não poderá o juiz reformar a sua decisão.”
O que se nota, neste ponto, é a importância concedida à vi da pregressa do empresário pa ra a concessão da concordata. Considere-se, aliás, que o decre to revogado em posição singularraente drástica estabelecia que a mera instauração do pro cesso penal contra o falido se consHtuia em motivo de impe dimento para o requerimento da concordata suspensiva. Tal impedimento deixava de existir somente quando a sentença jul gasse improcedente ou denúncia ou nulo Registre-se, igualmente referido decreto determinava
inciso III do artigo 140. Ocorre que a pena a ser aplicada não atingiría somente aqueles que cometeram os delitos previstos em lei, mas alcançaria a sócios ou acionistas que não tiveram qualquer participação na práti ca dos atos punidos em Isi. A pena, assim, ultrapassaria a pessoa do criminoso para atin gir a todos os sócios ou acio nistas.
E por isso que alguns au tores, como Rubens Requião, sustentam a possibilidade de, em tal ocasião, a empresa co mercial pedir concordata fato que somente poderia ser feito pelos novos dirigentes que viesa substituir os dirigentes sem faltosos e desonestos, cumprin do decisão tomada por assem bléia geral.
Outra hipótese de vincula-
a queixa nas 0 processo. que 0 ção entre empresa e empresaámbito do Decreto-lei que nao apenas os crimes por ele enumerados, mas também os que a eles se impediam, uma vez instaurado o processo penal, o pedido de concordata.
Tais fatos

decretação da a equiparassem
no, no 7.661 de 45, refere-se aos casos de rescisão da concordata, enu merados pelo artigo 150. Aqui percebe-se facilmente a inadap tação de tal dispositivo às or ganizações societárias, part.icularmente às sociedades anô nimas. Assim, a interpretação literal deste artigo levaria ao absurdo ao se admitir a possibi lidade de rescisão da concorda ta, em matéria societária, pelo abandono do estabelecimento por parte dos seus administra dores ou gerentes ou pela ven da, por parte destes, dos bens do ativo a preço vil. Nessa li nha, estabelece o artigo 150 que são também causa que motivam a rescisão da concordata a ne gligência ou inação do concordatário na continuação do seu negócio ou a incontinência devi da ou despesa evidentemente supérflua ou desordenada do concordatário. Em todos estes casos, 0 objetivo visado pelo le gislador é, basicamente, a em presa individual, onde o comer ciante e 0 seu negócio são a mesma coisa. Quando se pensa em matéria societária no en-
tanto, há de se separar o joio do trigo, estabelecendo-se a res ponsabilidade pessoal nos casos de faltas cometidas, dos direto res, administradores, gerentes ou liquidantes, sem, contudo, afetar, às vezes de modo irre versível, a sociedade em que eles participam. Mas, uma das hipóteses em que mais se tor na patente a confusão entre em presa e empresário é aquela mencionada no artigo 150, Inci so VII, ao se estabelecer, como motivo para a rescisão da con cordata, a condenação por cri me falimentar, do concordatário e dos diretores, administra dores, gerentes ou liquidantes das sociedades em concordata. É claro que não só nesta, como demais hipóteses, do artigo 150, a rescisão refere-se à con cordata suspensiva, pressupon do, portanto, a falência. Aliás, a própria existência de crime falimentar pressupõe, como con dição lógica,falência. O inquérito judicial, que se instaura com o processo de falência concluirá pela exisde crimes fali-
tência ou nao mentares. Uma vez verificada a ocorrência de algum crime fa limentar far-se-á que poderá determinar a con denação criminal.
O artigo 111 do Decreto 7.661 de 45 estabeleceu que o recebi mento da denúncia ou da queixa obstará, até a sentença penal definitiva, a concordata suspen siva da falência (artigo 177). Já o recurso do despacho que não receber a denúncia ou a queixa não obstará o pedido da concor data, desde que feito antes de seu provimento; e a concordata, uma vez concedida na pendên cia do recurso, prevalecerá até a sentença condenatória defini tiva (artigo 112).
O falido não poderá reque rer concordata suspensiva se a sentença penal definitiva for condenatória (artigo 140 III); sendo, porém absolutória, pode rá ele solicitá-la não havendo.
por si mesmos, não seriam de se estranhar. A Lei do Registro de Comércio e a Lei das S.A. proíbem exerçam cargos de direção sociedades a denúncia que nas comerciais pessoas por crimes contra condenadas 0 patrimônio blica. Suced- ou contra a fé púe que, como os di retores. administradores, geren- tes ou liquidantes das sociedades comerciais devedor ou falido, os efeitos equiparam-se ao para todos penais previstos lei (artigo 191), é claro que o impedimento legal funcionará, como diz Valverd em no caso de caber a representação da socie dade a pessoa condenada por qualquer crime enumerado nes te dispositivo. A propósito, que tem sido destacado é que seria injusto que uma sociedade fosse impedida de pedir data pelo fato de um dos administradores haver pratica do um dos crimes previstos no 0 concorseus
apesar disso, qualquer interrup ção do processo de liquidação do patrimônio (artigo 185).
O parágrafo único do arti go 111 determina que o recebi mento da denúncia ou da queixa na falência das sociedades pro duzirá os mesmos efeitos que o recebimento da denúncia ou da queixa contra seus diretores, administradores, gerentes ou li quidantes. Isto significa, enfim, que 0 recebimento da denúncia ou da queixa contra os direto res, administradores, gerentes ou liquidantes, impede qualquer sociedade de requerer concorda ta suspensiva da falência. As sim precedendo, faz a lei com que recaia sobre a pessoa ju rídica uma sanção ao cujo ca ráter penal não se pode negar. Aceita-se, assim, que os direto res, administradores, gerentes ou liquidantes, como represen-

tantes da pessoa jurídica, ao serem equiparados para todos os efeitos penais ao devedor ou falido (artigo 191) cometem, nessa qualidade, delitos coleti vos que, como é óbvio, reper cutem sobre a sociedade que re presentam. O artigo 143 estabe lece que, tratando-se de concor data preventiva constituirá fun damento para os embargos a ocorrência de fatos que carac terizem crime falimentar. Já o artigo 162 dispõe que o juiz de cretará a falência, dentro de vinte e quatro horas, se, em qualquer momento do processo, houver pedido do devedor ou fi car provada a existência de qualquer dos impedimentos enu merados no artigo 140 inciso 1. O direito brasileiro, como vi mos. em manifesto atraso, in siste na confusão entre a figura da empresa e do empresário.
como se tratasse de uma coisa só. Porém, utilizando-se de me didas legais baseadas em cri térios de racionalidade mate rial. 0 Estado brasileiro vem. cada vez mais. procurando im pedir. por diversos modos, a ruína econômica de certas em presas que, pelo seu porte, tem uma importância substancial pa ra determinada região e, até mesmo, para setores inteiros da economia nacional. Foi, por exemplo, o que ocorreu no caso da falência da Sanderson do Brasil S.A. — Produtos Cítricos — que possuía grande impor tância para a citricultura bra sileira. particularmente para a região de Bebedouro, onde se si tuava. Com a decretação da fa lência. em setembro de 74. a região de Bebedouro viu-se aba lada por grave crise econômico social. Foi então, que em 02 de^
Preencha o cupom abaixo e envie-o para:
Solicito uma assinatura anual da revista bimestral Digesto Econômico, pelo preço deCz$ 50,00 . conforme aba/xo indicado:
Nome Empresa.
CGC/CPF Endereço
Cargo .Ramo
Tel.:_
Bairro CEP
Cidade Estado
Data Assinatura
não mande dinheiro agora


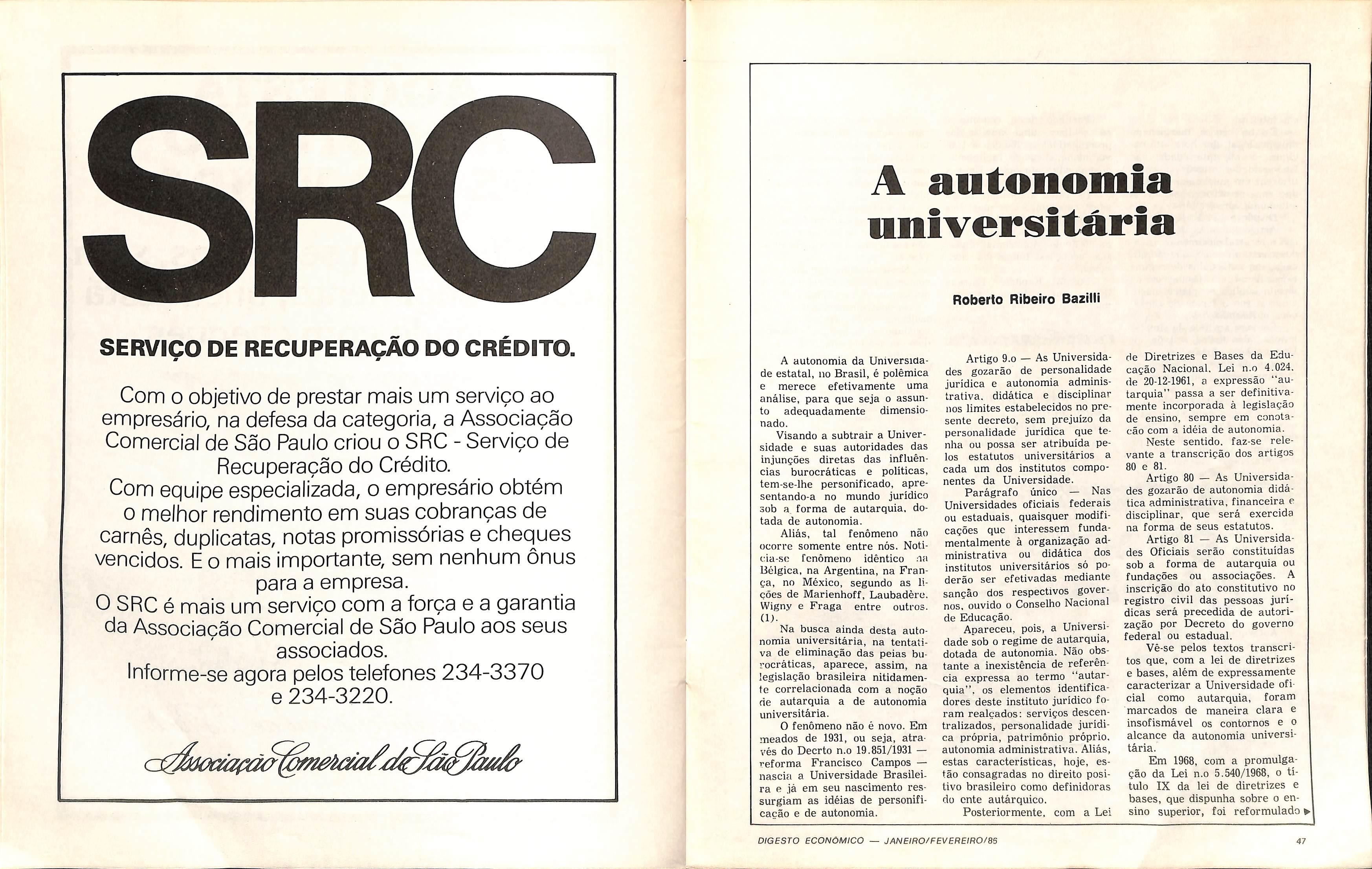
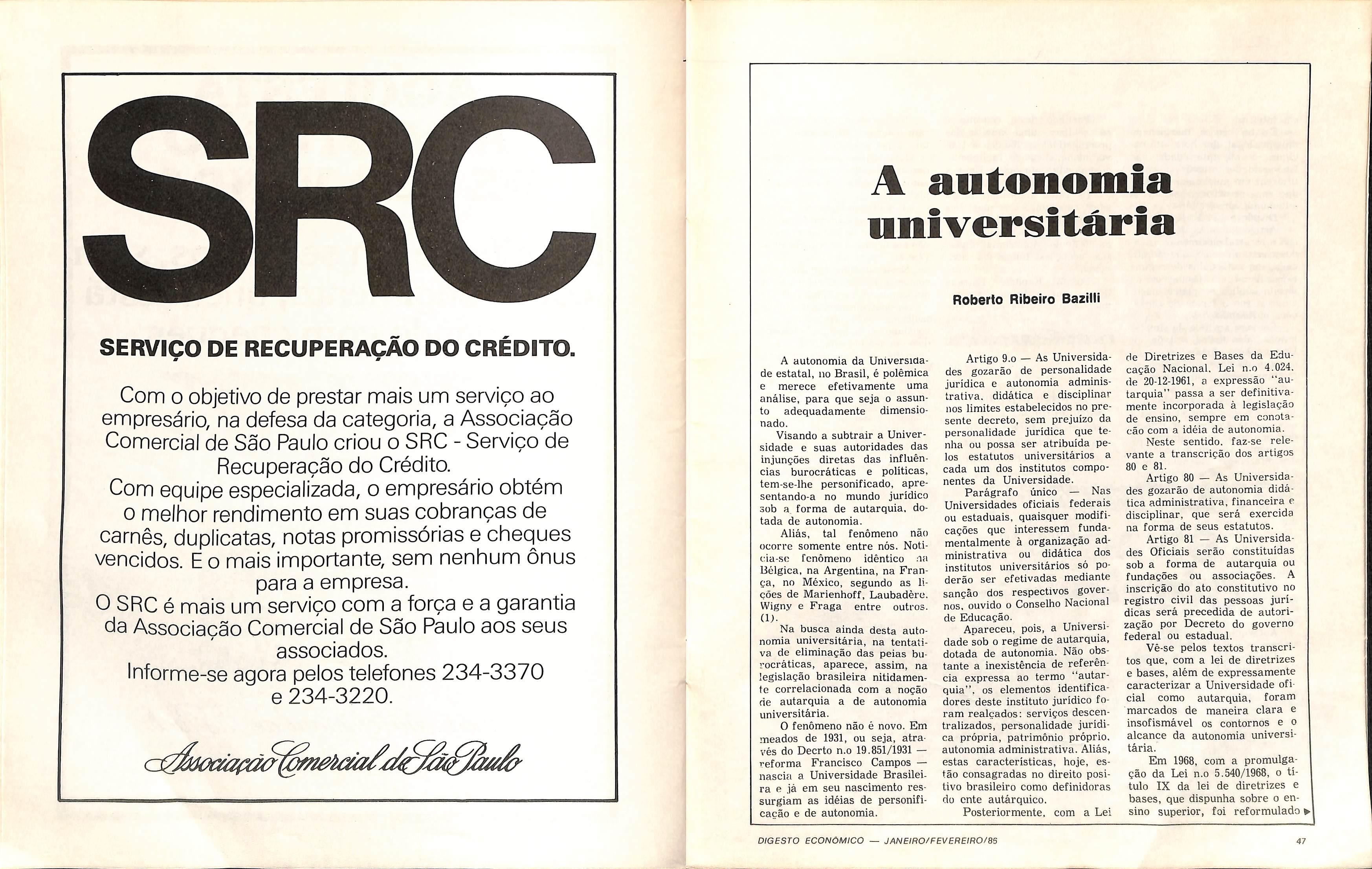
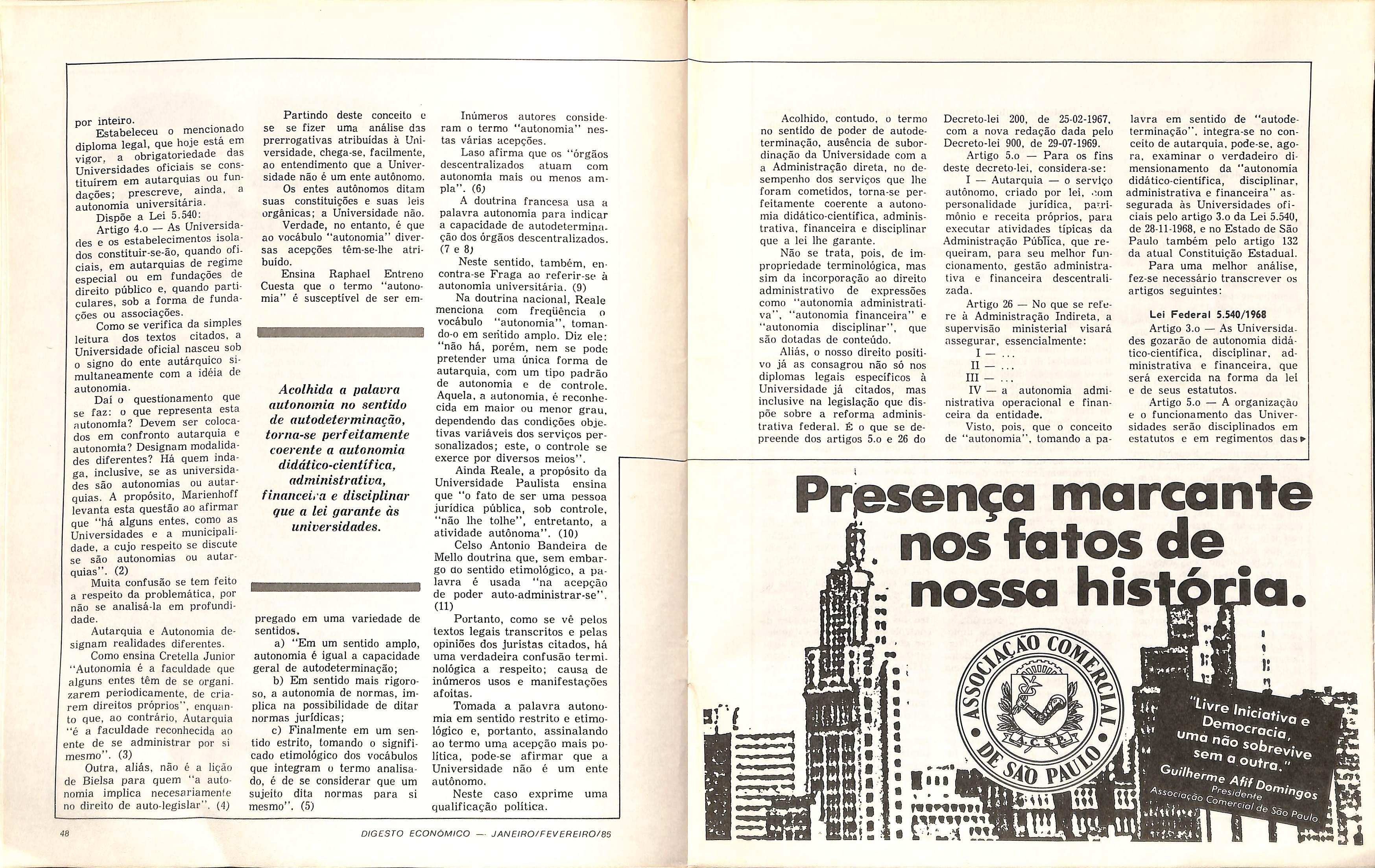
por inteiro.
Estabeleceu o diploma legal, que hoje esta em vigor, a obrigatoriedade das Universidades oficiais se cons tituírem em autarquias ou fun- prescreve, ainda, a mencionado
Dispõe a Lei 5.540: Artigo 4.0 — As Universida-estabelecimentos isola-
Partindo deste conceito e se se fizer uma análise das prerrogativas atribuídas à Uni versidade, chega-se, facilmente, ao entendimento que a Univer sidade não é um ente autônomo. Os entes autônomos ditam pia”. (6; suas constituições e suas leis orgânicas; a Universidade não. Verdade, no entanto, é que ao vocábulo “autonomia” diver sas acepções tém-se-lhe atri buído.
Inúmeros autores conside ram 0 termo “autonomia” nes tas várias acepções. Laso afirma que os “ descentralizados atuam com autonomia mais ou menos am-
órgãos dações; . , . autonomia universitária.
A doutrina francesa palavra autonomia para indicar a capacidade de autodetermina. ção dos órgãos descentralizados. (7 e 8l usa a des e os j f- dos constituir-se-ão, quando oíiciais, em autarquias de regimefundações de
Ensina Raphael Entreno Cuesta que o termo “autono mia” é susceptível de ser em-
ções ou associações.
Neste sentido, também, contra-se Fraga ao referir-se à autonomia universitária. (9)
Na doutrina nacional, Reale menciona vocábulo en-
Como se verifica da simples dos textos citados, a 0 leitura Universidade oficial nasceu sob 0 signo do ente autárquico si multaneamente com a idéia de porem, nem se pode
especial ou direito público e, quando parti culares, sob a forma de fundaem freqüência ‘autonomia”, toman do-o em sentido amplo. Diz ele: “não há, pretender uma única forma de autarquia, com um tipo padrão de autonomia e de controle. Aquela, a autonomia, é reconhe cida em maior com
Daí o questionamento que que representa esta ou menor grau, dependendo das condições obje tivas variáveis dos serviços per sonalizados; este, 0 controle se exerce por diversos meios”.
Ainda Reale, a propósito da Universidade Paulista se faz: o utonomia? Devem ser coloca dos em confronto autarquia e autonomia? Designam modalida des diferentes? Há quem inda ga, inclusive, se as universida des são autonomias ou autar-
levanta esta questão ao afirmar
Acolhida a palavra autonomia no sentido de autodeterminação, torna-se perfeitamente coerente a autonomia didático-científica, administrativa, financeira e disciplinar que a lei garante às universidades. autonomia.
A propósito, Marienhoff a ensina que “o fato de ser uma pessoa jurídica pública, sob controle, “não lhe tolhe”, entretanto, a atividade autônoma”. (10)
“há alguns entes, como as que _ . Universidades e a municipandade, a cujo respeito se discute autonomias ou autar- se sao quias”. (2)
Celso Antonio Bandeira de Mello doutrina que, sem embar go do sentido etimológico, a pa lavra é usada de poder auto-administrar-se”. (11) quias.
Muita confusão se tem feito respeito da problemática, por não se analisá-la em profundi dade. na acepçao am a
Autarquia e Autonomia de signam realidades diferentes. Como ensina Cretella Junior “Autonomia é a faculdade que alguns entes têm de se organi. zarem periodicamente, de cria rem direitos próprios”, enquan to que, ao contrário. Autarquia “é a faculdade reconhecida ao ente de se administrar por si mesmo”. (3)
Outra, aliás, não é a lição de Bielsa para quem “a auto nomia implica necesariamente no direito de auto-legislar”, (4)
pregado em uma variedade de sentidos,
a) “Em um sentido amplo, autonomia é igual a capacidade geral de autodeterminação;
b) Em sentido mais rigoro so, a autonomia de normas, im plica na possibilidade de ditar normas jurídicas;
c) Finalmente em um sen tido estrito, tomando o signifi cado etimológico dos vocábulos que integram u termo analisa do, é de se considerar que um sujeito dita normas para si mesmo”. (5)
Portanto, como se vê pelos textos legais transcritos e pelas opiniões dos juristas citados, há uma verdadeira confusão termi nológica a respeito; causa de inúmeros usos e manifestações afoitas.
Tomada a palavra autono mia em sentido restrito e etimo lógico e, portanto, assinalando ao termo uma acepção mais po lítica, pode-se afirmar que a Universidade não é um ente autônomo.
Neste caso exprime uma qualificação política.
Acolhido, contudo, o termo no sentido de poder de autode terminação, ausência de subor dinação da Universidade com a a Administração direta, no de sempenho dos serviços que lhe foram cometidos, torna-se perfeitamente coerente a autono mia didático-científica, adminis trativa, financeira e disciplinar que a lei lhe garante.
Não se trata, pois, de impropriedade terminológica, mas sim da incorporação ao direito administrativo de expressões como “autonomia administrati va”, “autonomia financeira” e “autonomia disciplinar”, que são dotadas de conteúdo.
Aliás, 0 nosso direito positi vo já as consagrou não só nos diplomas legais específicos à Universidade já citados, mas inclusive na legislação que dis põe sobre a reforma adminis trativa federal. É o que se de preende dos artigos 5.o e 26 do
Decreto-lei 200, de 25-02-1967, com a nova redação dada pelo Decreto-lei 900, de 29-07-1969.
Artigo õ.o — Para os fins deste decreto-lei, considera-se; Autarquia — o serviço autônomo, criado por lei. .'om personalidade jurídica, paaúmônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração PúbITca, que re queiram, para seu melhor fun cionamento, gestão administra tiva e financeira descentrali zada.
I Artigo 26 — No que se refe re à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará assegurar, essencialmente:
I - ...
II — ...
III - ...
IV — a autonomia admi nistrativa operacional e finan ceira da entidade.
Visto. pois. que o conceito de “autonomia”, tomando a pa-
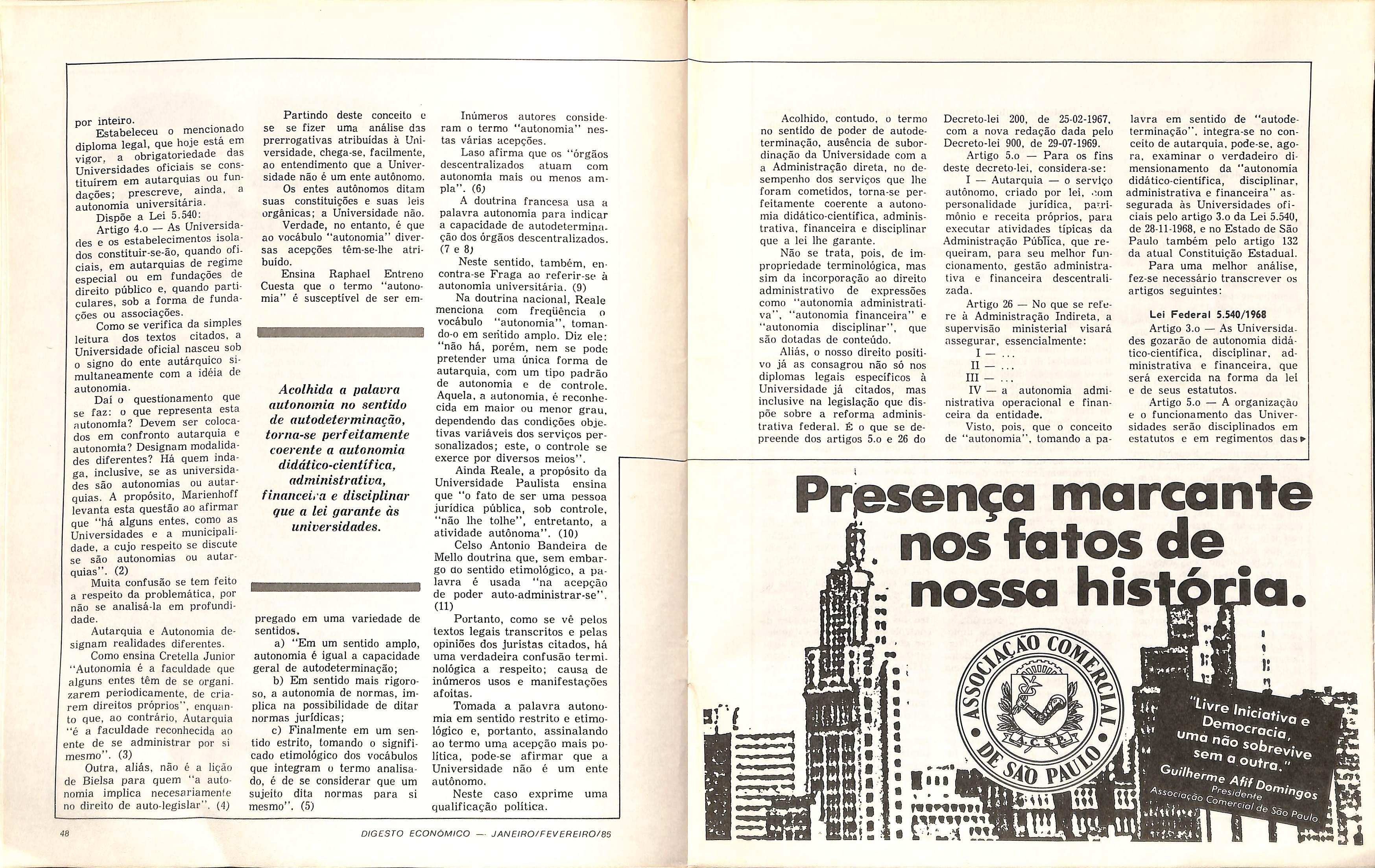
lavra em sentido de “autode terminação”. integra-se no con ceito de autarquia, pode-se, ago ra. examinar o verdadeiro dimensionamento da “autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira” as segurada às Universidades ofi ciais pelo artigo 3.o da Lei 5.540, de 28-11-1968, e no Estado de São Paulo também pelo artigo 132 da atual Constituição Estadual. Para uma melhor análise, fez-se necessário transcrever os artigos seguintes;
Lei Federal 5.540/1968
Artigo 3.0 — As Universida des gozarão de autonomia didá tico-científica. disciplinar, ad ministrativa e financeira, que será exercida na forma da lei e de seus estatutos.
Artigo 5.0 — A organização e 0 funcionamento das Univer sidades serão disciplinados em estatutos e em regimentos das»-
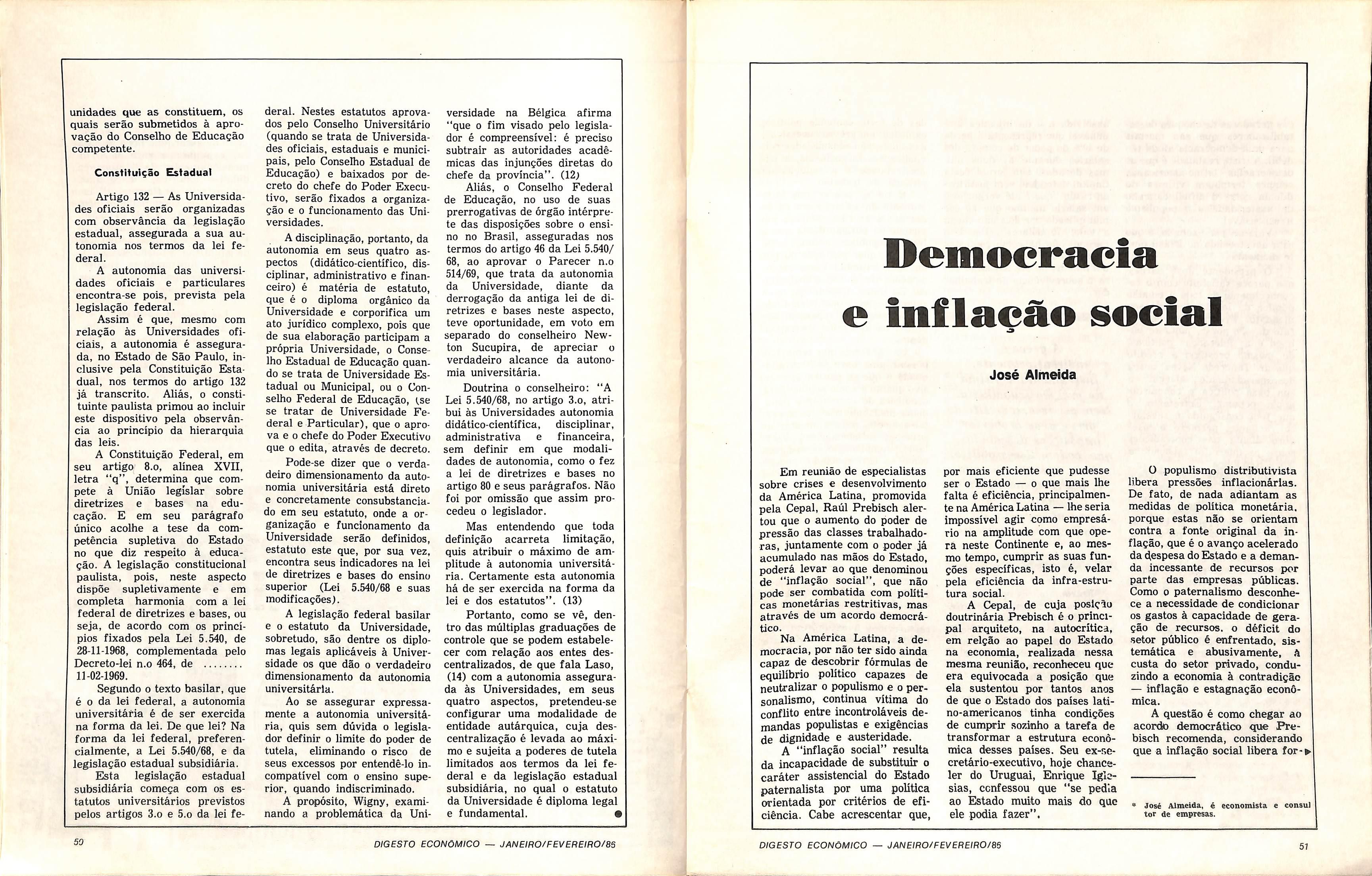
unidades que as constituem, os quais serão submetidos à apro vação do Conselho de Educação competente.
Artigo 132 — As Universida des oficiais serão organizadas com observância da legislação estadual, assegurada a sua au tonomia nos termos da lei fe deral.
A autonomia das universi dades oficiais e particulares encontra-se pois, prevista pela legislação federal.
Assim é que, mesmo com relação às Universidades ofi ciais, a autonomia é assegura da, no Estado de São Paulo, in clusive pela Constituição Esta dual, nos termos do artigo 132 já transcrito. Aliás, o consti tuinte paulista primou ao incluir este dispositivo pela observân cia ao princípio da hierarquia das leis.
A Constituição Federal, em seu artigo 8.o, alínea XVII, letra “q”, determina que com pete à União legislar sobre diretrizes e bases na edu cação. E em seu parágrafo único acolhe a tese da com petência supletiva do Estado no que diz respeito à educa ção. A legislação constitucional paulista, pois, neste aspecto dispõe supletivamente e em completa harmonia com a lei federal de diretrizes e bases, ou seja, de acordo com os princí pios fixados pela Lei 5.M0, de 28-11-1968, complementada pelo Decreto-lei n.o 464, de 11-02-1969.
Segundo o texto basilar, que é o da lei federal, a autonomia universitária é de ser exercida na forma da lei. De que lei? Na forma da lei federal, preferen cialmente, a Lei 5.540/68, e da legislação estadual subsidiária. Esta legislação estadual subsidiária começa com os es tatutos universitários previstos pelos artigos 3.o e 5.o da lei fe-
deral. Nestes estatutos aprova dos pelo Conselho Universitário (quando se trata de Universida des oficiais, estaduais e munici pais, pelo Conselho Estadual de Educação) e baixados por de creto do chefe do Poder Execu tivo, serão fixados a organiza ção e 0 funcionamento das Uni versidades.
A disciplinação, portanto, da autonomia em seus quatro as pectos (didático-científico, dis ciplinar, administrativo e finan ceiro) é matéria de estatuto, que é 0 diploma orgânico da Universidade e corporifica um ato jurídico complexo, pois que de sua elaboração participam a própria Universidade, o Conse Iho Estadual de Educação quan do se trata de Universidade Es tadual ou Municipal, ou o Con selho Federal de Educação, tse se tratar de Universidade Fe deral e Particular), que o apro va e o chefe do Poder Executivo que 0 edita, através de decreto. Pode-se dizer que o verda deiro dimensionamento da auto nomia universitária está direto e concretamente consubstancia do em seu estatuto, onde a or ganização e funcionamento da Universidade serão definidos, estatuto este que, por sua vez, encontra seus indicadores na lei de diretrizes e bases do ensino superior (Lei 5.540/68 e suas modificações).
A legislação federal basilar e 0 estatuto da Universidade, sobretudo, são dentre os diplo mas legais aplicáveis à Univer sidade os que dão o verdadeiro dimensionamento da autonomia universitária.
Ao se assegurar expressa mente a autonomia universitá ria, quis sem dúvida o legisla dor definir o limite do poder de tutela, eliminando o risco de seus excessos por entendê-lo in compatível com 0 ensino supe rior, quando indiscriminado.
A propósito, Wigny, exami nando a problemática da Uni-
versidade na Bélgica afirma “que 0 fim visado pelo legisla dor é compreensível: é preciso subtrair as autoridades acadê micas das injunções diretas do chefe da província”. (12; Aliás, 0 Conselho Federal de Educação, no uso de suas prerrogativas de órgão intérpre te das disposições sobre o ensi no no Brasil, asseguradas nos termos do artigo 46 da Lei 5.540/ 68, ao aprovar o Parecer n.o 514/69, que trata da autonomia da Universidade, diante da derrogação da antiga lei de di retrizes e bases neste aspecto, teve oportunidade, em voto em separado do conselheiro Newton Sucupira, de apreciar o verdadeiro alcance da autono mia universitária.
Doutrina o conselheiro: “A Lei 5.540/68, no artigo 3.o, atri bui às Universidades autonomia didático-científ ica, disciplinar, administrativa e financeira, sem definir em que modali dades de autonomia, como o fez a lei de diretrizes e bases no artigo 80 e seus parágrafos. Não foi por omissão que assim pro cedeu 0 legislador.
Mas entendendo que toda definição acarreta limitação, quis atribuir o máximo de am plitude à autonomia universitá ria. Certamente esta autonomia há de ser exercida na forma da lei e dos estatutos”. (13)
Portanto, como se vê, den tro das múltiplas graduações de controle que se podem estabele cer com relação aos entes des centralizados, de que fala Laso, (14) com a autonomia assegura da às Universidades, em seus quatro aspectos, pretendeu-se configurar uma modalidade de entidade autárquica, cuja des centralização é levada ao máxi mo e sujeita a poderes de tutela limitados aos termos da lei fe deral e da legislação estadual subsidiária, no qual o estatuto da Universidade é diploma legal e fundamental.
José Almeida
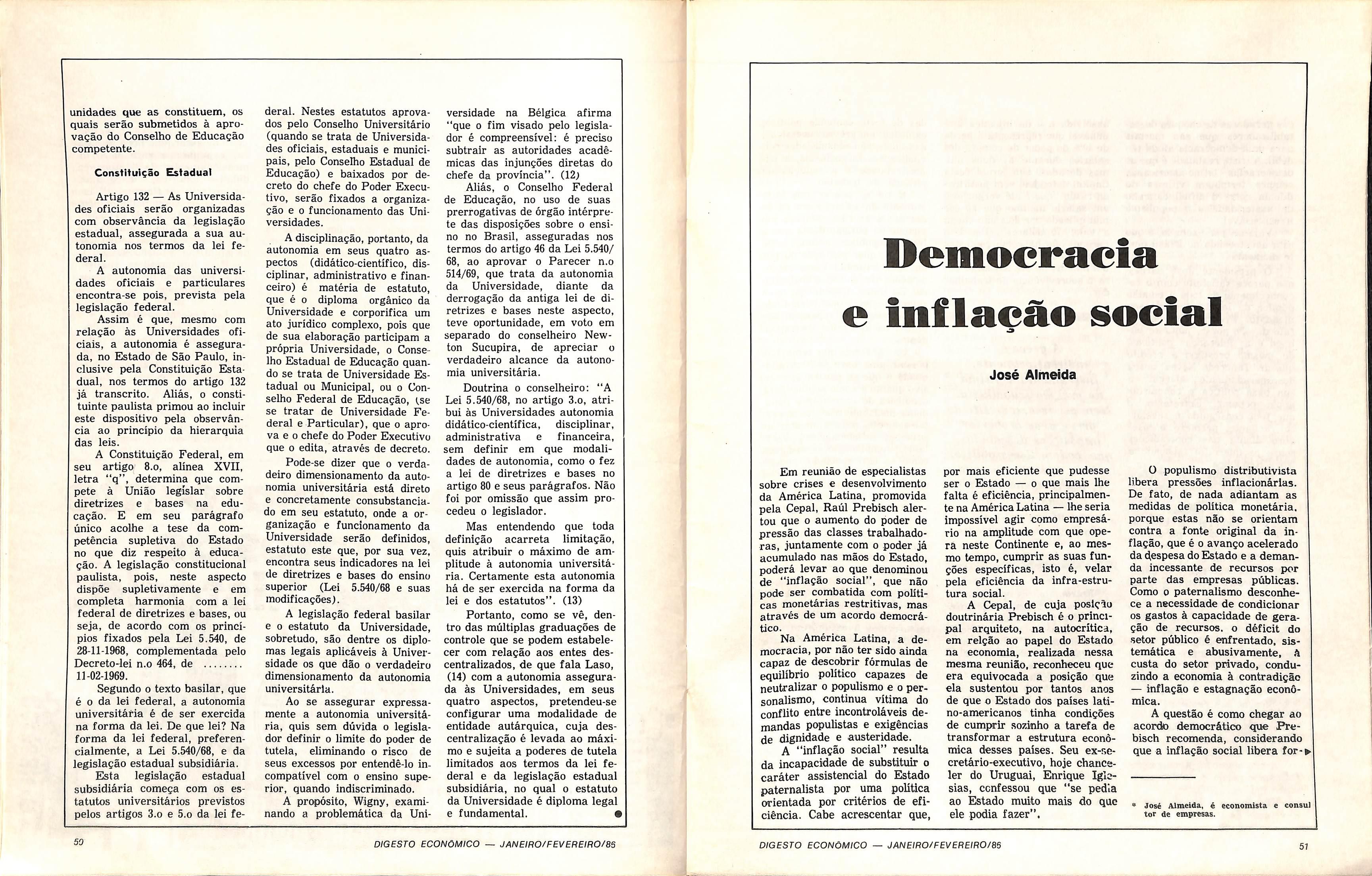
Em reunião de especialistas sobre crises e desenvolvimento da América Latina, promovida pela Cepal, Raúl Prebisch aler tou que 0 aumento do poder de pressão das classes trabalhado ras, juntamente com o poder já acumulado nas mãos do Estado, poderá levar ao que denominou de “inflação social", que não pode ser combatida com políti cas monetárias restritivas, mas através de um acordo democrá tico.
Na América Latina, a de mocracia, por não ter sido ainda capaz de descobrir fórmulas de equilíbrio político capazes de neutralizar o populismo e o per sonalismo, continua vítima do conflito entre incontroláveis de mandas populistas e exigências de dignidade e austeridade.
A “inflação social” resulta da incapacidade de substituir o caráter assistencial do Estado paternalista por uma política orientada por critérios de efi ciência. Cabe acrescentar que,
por mais eficiente que pudesse ser 0 Estado — o que mais lhe falta é eficiência, principalmen te na América Latina — lhe seria impossível agir como empresá rio na amplitude com que ope ra neste Continente e, ao mes mo tempo, cumprir as suas fun ções específicas, isto é, velar pela eficiência da infra-estru tura social.
A Cepal, de cuja posição doutrinária Prebisch é o princi pal arquiteto, na autocrítica, em relçâo ao papel do Estado na economia, realizada nessa mesma reunião, reconheceu que era equivocada a posição que ela sustentou por tantos anos de que o Estado dos países lati no-americanos tinha condições de cumprir sozinho a tarefa de transformar a estrutura econô mica desses países. Seu ex-r,ecretário-executivo, hoje chance ler do Uruguai, Enrique Iglcsias, confessou que "se pedia ao Estado muito mais do que ele podia fazer”.
ü populismo distributivista libera pressões inflacionárias. De fato, de nada adiantam as medidas de política monetária, porque estas não se orientam contra a fonte original da in flação, que é 0 avanço acelerado da despesa do Estado e a deman da incessante de recursos por parte das empresas públicas. Como 0 paternalismo desconhe ce a necessidade de condicionar os gastos à capacidade de gera ção de recursos, o déficit do ●setor público é enfrentado, sis temática e abusivamente, à custa do setor privado, condu zindo a economia à contradição — inflação e estagnação econô mica.
A questão é como chegar ao acordo democrático que Pre bisch recomenda, considerando que a inflação social libera for-^
* José Almeida, é economista e cônsul tor de empresas.
ças geradoras de choques desestabilizadores que são mortais para uma democracia ainda tão débil. A triste realidade é que as democracias latino-americanas terminam vítimas do
sempre dilema entre o difícil caminho da austeridade e o populismo irresponsável.
Veja-se, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil nes¬ te momento.
O presidente José Sarney não parece satisfeito com o re conhecimento de toda a opinião pública da legitimidade de seu mandato. Preocupação com o fato de não gozar, junto ao pú blico e às lideranças políticas, do mesmo prestígio e crédito
dr. Tancredo Neves, busca
íjue desesperadamente alargar a base política e conquistar sua apoio popular. Entretanto, o tem conseguido é revelarvacilante, perplexo e insediante das contradições que se guro sobre as quais foi esboçada a Nova República.
Entre essas contradições, cabe destacar, nesta oportuni dade, a prioridade ao combate à inflação e as medidas desti nadas a amparar os estratos mais desvalidos da população.
A sua primeira preocupa ção foi determinar que se exe cute 0 chamado plano de emer gência contra a fome e o de¬
Em razão da ausência de recursos financeiros, esse plano não poderá ser executado sem os riscos de desencadear novas pressões inflacionárias ou de desarticular projetos já em an damento. O teste decisivo para a Nova República não será a mobilização dos recursos exigi dos por esse programa, mas co mo cobrir o déficit do setor pú blico, este ano, já estimado em Cr$ 84,9 trilhões.
A sua segunda preocupação foi com a perda de poder aqui sitivo dos assalariados.
absolvida é o da injustiça ino minável que representa a perda de 40% do poder de compra dos salários durante as duas últi mas décadas. Um jornal desta Capital defendeu, com justifica da razão “que é até vergonhoso um salário mínimo que ao ser multiplicado por dois não chega a valer 70 dólares”. Por isso mesmo, não há como contestar a posição do Dieese ao defender um mínimo de Cr$ 988.260,00 pa ra a sobrevivência do trabalha dor.
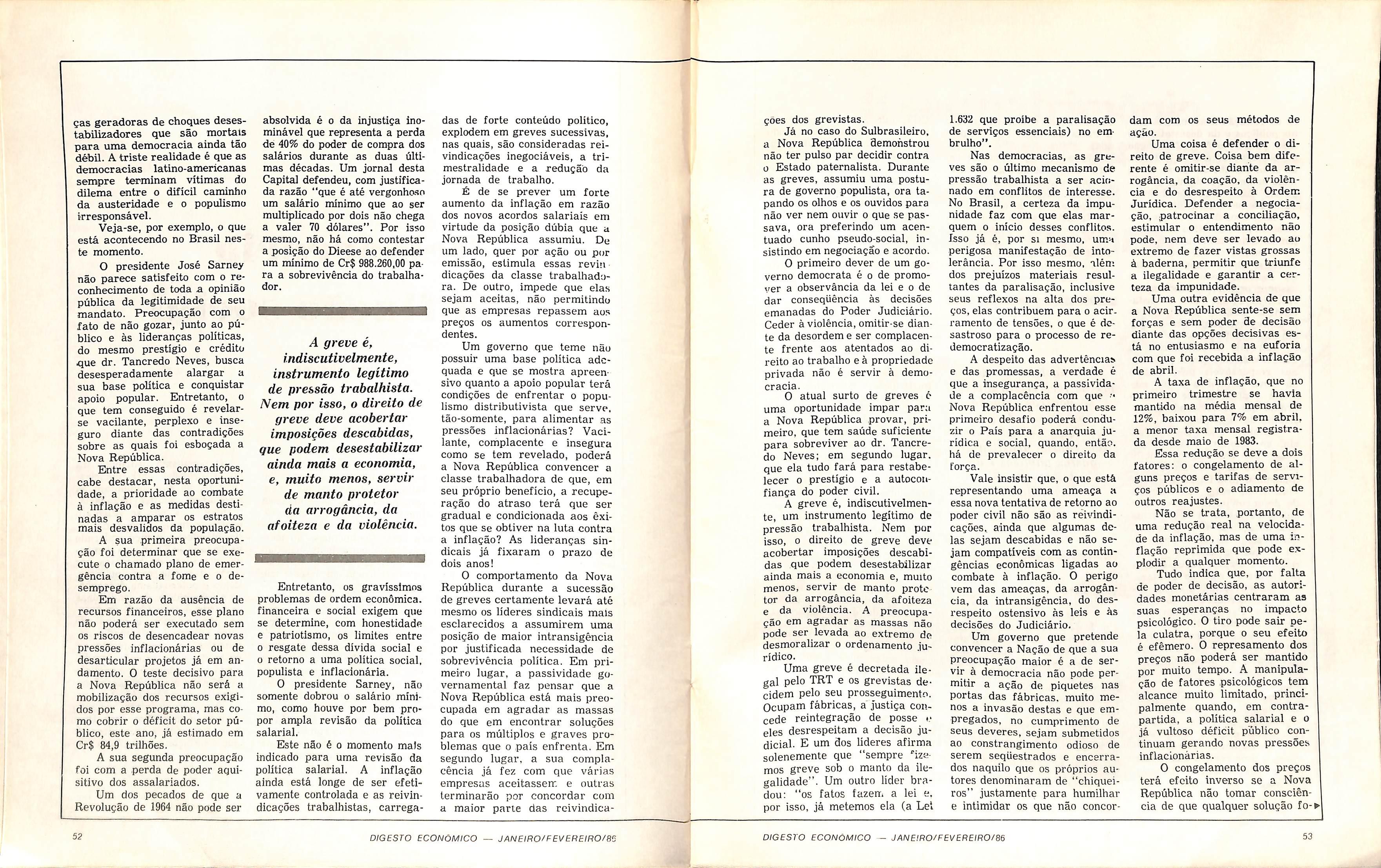
A greve éy indiscutivelmente, instrumento legítimo de pressão trabalhista. Nem por isso, o direito de greve deve acobertar imposições descabidas, que podem desestabilizar ainda mais a economia, e, muito menos, servir de manto protetor da arrogância, da afoiteza e da violência.
das de forte conteúdo político, explodem em greves sucessivas, nas quais, são consideradas rei vindicações inegociáveis, a trimestralidade e a redução da jornada de trabalho. É de se prever um forte aumento da inflação em razão dos novos acordos salariais em virtude da posição dúbia que a Nova República assumiu. De um lado, quer por ação ou por emissão, estimula essas reviri dicações da classe trabalhado ra. De outro, impede que elas sejam aceitas, não permitindo que as empresas repassem aos preços os aumentos correspon dentes.
Um governo que teme nãu possuir uma base política ade quada e que se mostra apreen sivo quanto a apoio popular terá condições de enfrentar o popu lismo distributivista que serve, tão-somente, para alimentar as pressões inflacionárias? Vaci lante, complacente e insegura como se tem revelado, poderá a Nova República convencer classe trabalhadora de que, em seu próprio benefício, a recupe ração do atraso terá que ser gradual e condicionada aos êxi tos que se obtiver na luta contra a inflação? As lideranças sin dicais já fixaram o prazo de dois anos!
Um dos pecados de que a Revolução de 1964 não pode ser
Entretanto, os gravíssimos problemas de ordem econômica, hnanceira e social exigem que se determine, com honestidade e patriotismo, os limites entre 0 resgate dessa dívida social e 0 retorno a uma política social, populista e inflacionária.
O presidente Sarney, não somente dobrou o salário míni mo, como houve por bem pro por ampla revisão da política salarial.
Este não é o momento maJs indicado para uma revisão da política salarial. A inflação ainda está longe de ser efeti vamente controlada e as reivin dicações trabalhistas, carregasemprego.
O comportamento da Nova República durante a sucessão de greves certarriente levará até mesmo os líderes sindicais mais esclarecidos a assumirem uma posição de maior intransigência por justificada necessidade de sobrevivência política. Em pri meiro lugar, a passividade go vernamental faz pensar que a Nova República está mais preo cupada em agradar as massas do que em encontrar soluções para os múltiplos e graves pro blemas que 0 país enfrenta. Em segundo lugar, a sua compla cência já fez com que várias empresas aceitassem e outras terminarão por concordar com a maior parte das reivindica-
çóes dos grevistas.
Já no caso do Sulbrasileiro, Nova República demonstrou não ter pulso par decidir contra ü Estado paternalista. Durante as greves, assumiu uma postu ra de governo populista, ora ta pando os olhos e os ouvidos para não ver nem ouvir o que se pas sava, ora preferindo um acen tuado cunho pseudo-social, in sistindo em negociação e acordo. O primeiro dever de um go verno democrata é o de promoa observância da lei e o de dar conseqüência às decisões emanadas do Poder Judiciário. Ceder à violência, omitir-se dian te da desordem e ser complacen te frente aos atentados ao di reito ao trabalho eà propriedade privada não é servir à demo-
cracia.
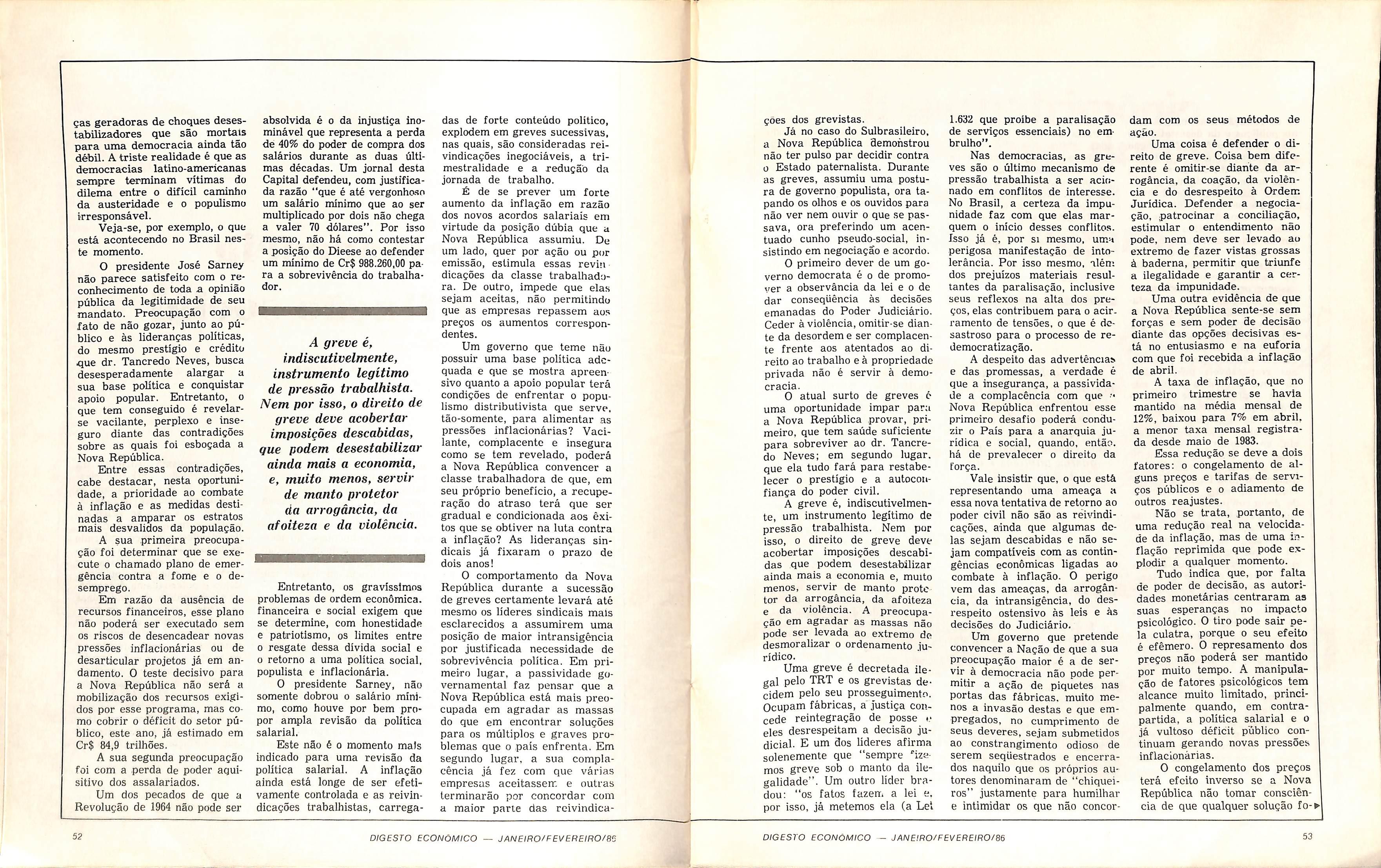
1.632 que proíbe a paralisação de serviços essenciais) no em brulho”.
Nas democracias, as gre ves são 0 último mecanismo de pressão trabalhista a ser acio nado em conflitos de interesse. No Brasil, a certeza da impu nidade faz com que elas mar quem 0 início desses conflitos. Isso já ê, por si mesmo, uma perigosa manifestação de into lerância. Por isso mesmo, além dos prejuízos materiais resul tantes da paralisação, inclusive seus reflexos na alta dos pre ços, elas contribuem para o acir ramento de tensões, o que é de sastroso para o processo de redemocraüzaçâo.
dam com os seus métodos de ação.
Uma coisa é defender o di reito de greve. Coisa bem dife rente é omitir-se diante da ar rogância, da coação, da violên cia e do desrespeito à Ordem Jurídica. Defender a negocia ção, patrocinar a conciliação, estimular o entendimento não pode, nem deve ser levado au extremo de fazer vistas grossas à baderna, permitir que triunfe a ilegalidade e garantir a cer teza da impunidade.
A taxa de inflação, que no trimestre se havia a
A despeito das advertêncla^ e das promessas, a verdade é que a insegurança, a passivida de a complacência com que ●● Nova República enfrentou esse primeiro desafio poderá condu zir o País para a anarquia juridica e social, quando, então, há de prevalecer o direito da força.
Uma outra evidência de que a Nova República sente-se sem forças e sem poder de decisão diante das opções decisivas es tá no entusiasmo e na euforia com que foi recebida a inflação de abril.
O atual surto de greves 6 uma oportunidade impar para Nova República provar, prique tem saúde suficiente sobreviver ao dr. Tancreprimeiro mantido na média mensal de 12%, baixou para 7% em abril, menor taxa mensal registra da desde maio de 1983.
Não se trata, portanto, de redução real na velocidaa a meiro para do Neves; em segundo lugar, que ela tudo fará para restabe lecer o prestigio e a autocon fiança do poder civil.
A greve é, indiscutivelmen te, um instrumento legítimo de pressão trabalhista. Nem por isso, 0 direito de greve deve acobertar imposições descabi das que podem desestabilizar ainda mais a economia e, muito menos, servir de manto proto tor da arrogância, da afoiteza e da violência. A
Vale insistir que, o que está representando uma ameaça h essa nova tentativa de retorno ao poder civil não são as reivindi cações. ainda que algumas de las sejam descabidas e não se jam compatíveis com as contin gências econômicas ligadas ao combate à inflação. O perigo vem das ameaças, da arrogân cia, da intransigência, do des respeito ostensivo às leis e às decisões do Judiciário.
Essa redução se deve a dois fatores: o congelamento de al guns preços e tarifas de servi ços públicos e o adiamento de outros reajustes.
uma de da inflação, mas de uma in flação reprimida que pode ex plodir a qualquer momento. Tudo indica que, por falta de poder de decisão, as autori dades monetárias centraram as esperanças no impacto suas psicológico. O tiro pode sair pe la culatra, porque o seu efeito é efêmero. O represamento dos preços não poderá ser mantido muito tempo. A manipulade fatores psicológicos tem preocupa ção em agradar as massas não pode ser levada ao extremo de desmoralizar o ordenamento ju rídico.
Uma greve é decretada ile gal pelo TRT e os grevistas de cidem pelo seu prosseguimento. Ocupam fábricas, a justiça con cede reintegração de posse eles desrespeitam a decisão ju dicial. E um dos líderes afirma solenemente que “sempre ‘'izegreve sob o manto da ile-
Um governo que pretende convencer a Nação de que a sua preocupação maior é a de ser vir à democracia não pode per mitir a ação de piquetes nas portas das fábricas, muito me nos a invasão destas e que em pregados, no cumprimento de seus deveres, sejam submetidos ao constrangimento odioso de serem seqüestrados e encerra dos naquilo que os próprios au tores denominaram de “chiquei ros” justamente para humilhar e intimidar os que não concor-
por ção alcance muito limitado, princi palmente quando, em contra partida, a política salarial e o já vultoso déficit público con tinuam gerando novas pressões inflacionárias.
O congelamento dos preços terá efeito inverso se a Nova República não tomar consciên cia de que qualquer solução fo¬ mos galidade”. Um outro líder bra dou: “os fatos fazem a lei e. por isso, já metemos ela (a Lei
ra da redução drástica dos gas tos públicos e da desestatização será paliativo. A neutralização da pressão que exerce o déficit do setor público tornou-se ainda mais imperativa diante da ex plosão dos custos de mão-deobra que se seguirá às greves.
Esse congelamento, que cer tamente será mantido ainda que por medidas artificiais, coloca rá as empresas em situação finacedra ainda mais delicada. Os conflitos sociais tendem a assumir proporções ainda maio res, criando um clima de insta bilidade política, principalmen te se a Nova República insistir em não aplicar a lei.
Em tais circunstâncias, o melhor conselho que se pode dar aos responsáveis pelo destino da Nova República é que me ditem profundamente sobre o drama que está vivendo o pre sidente da Argentina.
Também o dr. Raúl Alfon sín, ao assumir, deixou-se do minar por uma hiper-sensibilidade para os dramas sociais e hipinotizar pela ilusão desenvolvimentista, isto é^ a retomada do desenvolvimento como fator antiinflacionário. A despeito de uma inflação de 400%, prometeu um crescimento médio anual e 5% e que os salários cresceriam, em termos reais, a uma taxa entre 6% e 8% ao ano, tam bém para resgatar a dívida so cial que herdou dos governos militares. Partindo de um diag nóstico estruturalista, optou por um aumento da demanda glo bal e afirmou, enfaticamente, não admitir um aprofundamento da recessão em hipótese ne nhuma.
ra de rodas) com o que atraiu à Plaza de Mayo 150 mil pes soas.
Essa mutidão aplaudiu ca lorosamente os apelos em defe sa das instituições democráti cas, mas, depois de uma vaia estrepitosa, deixou o dr. Alfon sín falando sozinho sobre uma tardia economia de guerra. Na verdade, o que o dr. Raúl Alfonsín queria era a apro vação popular para as me didas drásticas que ele deixou
3
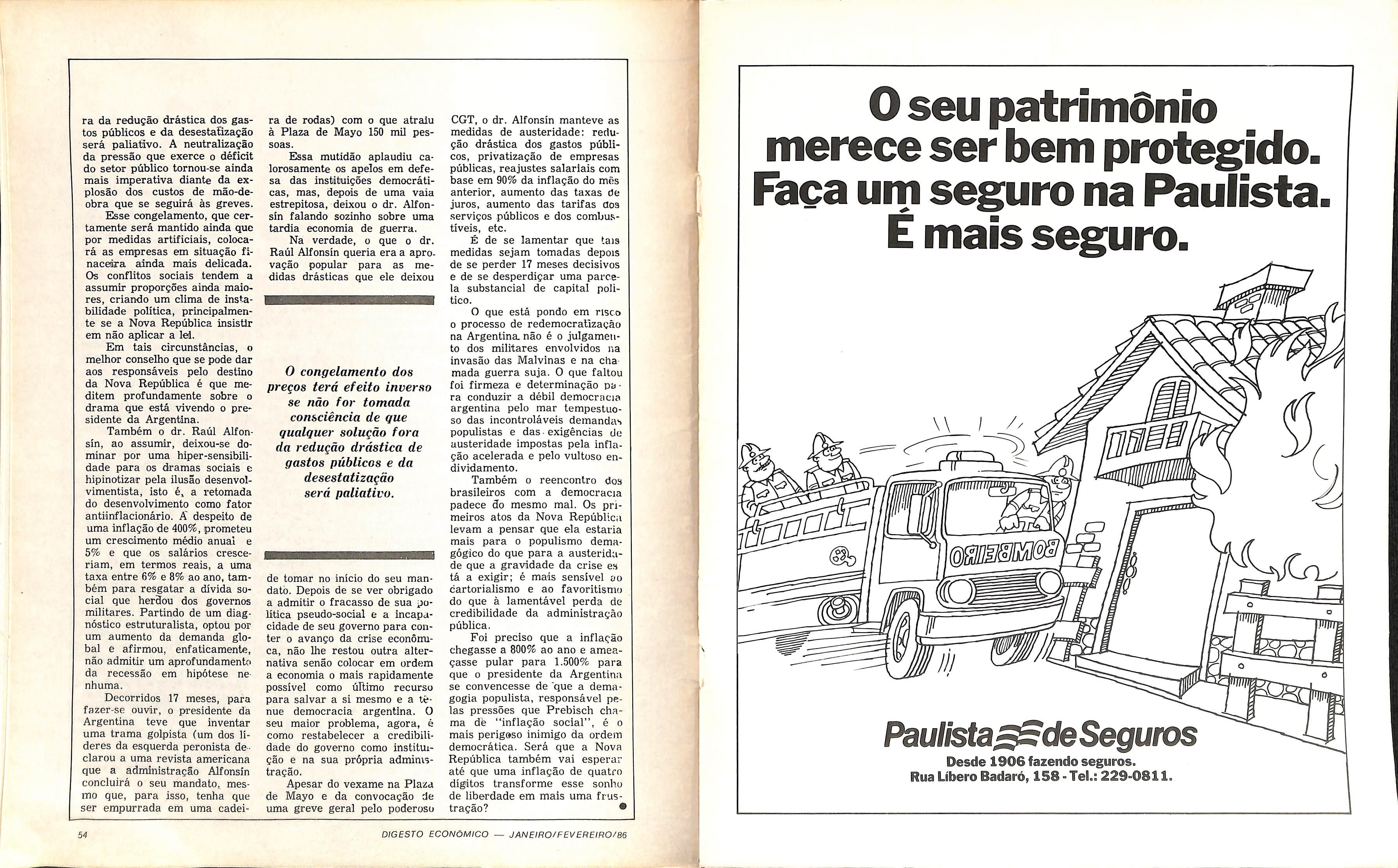
CGT, 0 dr. Alfonsín manteve as medidas de austeridade: redu ção drástica dos gastos públi cos, privatização de empresas públicas, reajustes salariais com base em 90% da inflação do mds anterior, aumento das taxas de juros, aumento das tarifas dos serviços públicos e dos combus tíveis, etc.
É de se lamentar que tais medidas sejam tomadas depois de se perder 17 meses decisivos e de se desperdiçar uma parce la substancial de capital polí tico.
O que está pondo em risco 0 processo de redemocralização na Argentina não é o julgamen to dos militares envolvidos na invasão das Malvinas e na cha mada guerra suja. O que faltou foi firmeza e determinação pa ● ra conduzir a débil democracia argentina pelo mar tempestuo so das incontroláveis demandas populistas e das -exigências de austeridade impostas pela infla ção acelerada e pelo vultoso en dividamento.
Também o reencontro doa brasileiros com a democracia
O congelamento dos preços terá efeito inverso se não for tomada consciência de que qualquer solução fora da redução drástica de gastos públicos e da desestatização será paliativo. padece do mesmo mal. Os pri meiros atos da Nova República levam a pensar que ela estaria mais para o populismo dema gógico do que para a austerida de que a gravidade da crise es tá a exigir; é mais sensível oo cartorialismo e ao favoritismo do que à lamentável perda de credibilidade da administração pública.
de tomar no início do seu man dato. Depois de se ver obrigado a admitir o fracasso de sua po lítica pseudo-social e a incapa cidade de seu governo para con ter 0 avanço da crise econôimca, não lhe restou outra alter nativa senão colocar em ordem a economia o mais rapidamente possível como úFtimo recurso para salvar a si mesmo e a tê nue democracia argentina. O seu maior problema, agora, ê como restabelecer a credibili-
Decorridos 17 meses, para fazer-se ouvir, o presidente da Argentina teve que inventar uma trama golpista (um dos lí deres da esquerda peronista de clarou a uma revista americana que a administração Alfonsín concluirá o seu mandato, mes mo que, para isso, tenha que ser empurrada em uma cadeidade do governo como institui ção e na sua própria adminis tração.
Apesar do vexame na Plaza de Mayo e da convocação de uma greve geral pelo poderoso tração?
Foi preciso que a inflação chegasse a 800% ao ano e amea çasse pular para 1.500% para que 0 presidente da Argentina se convencesse de que a dema gogia populista, responsável pe las pressões que Prebisch cha ma dé “inflação social’’, é o mais perigoso inimigo da ordem democrática. Será que a Nova República também vai esperar até que uma inflação de quatro dígitos transforme esse sonho de liberdade em mais uma frus-
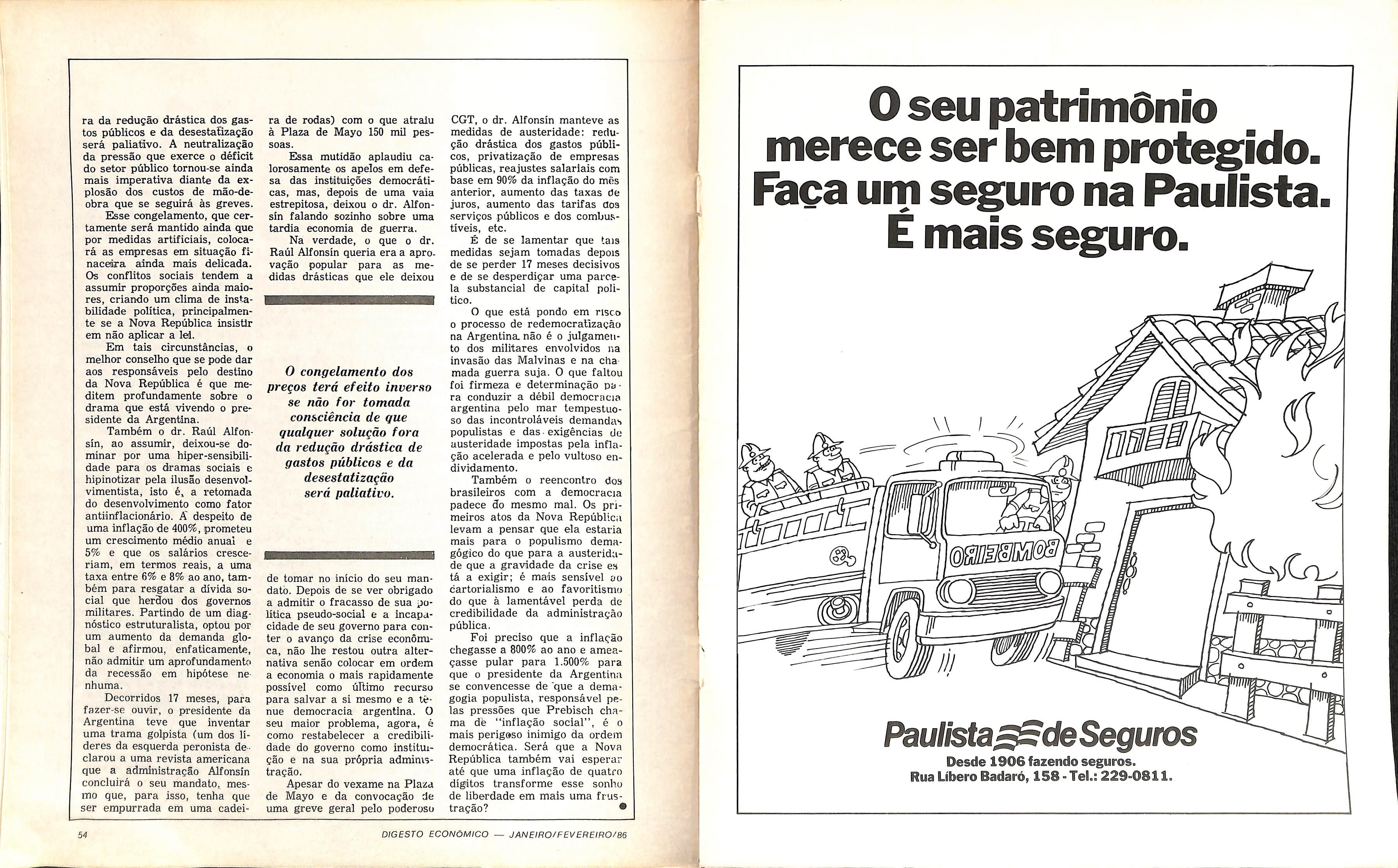
Oesde fazemid® segymsu Um Lnber® Badairé^ ISS = TeL: 229“©SÍ 1.