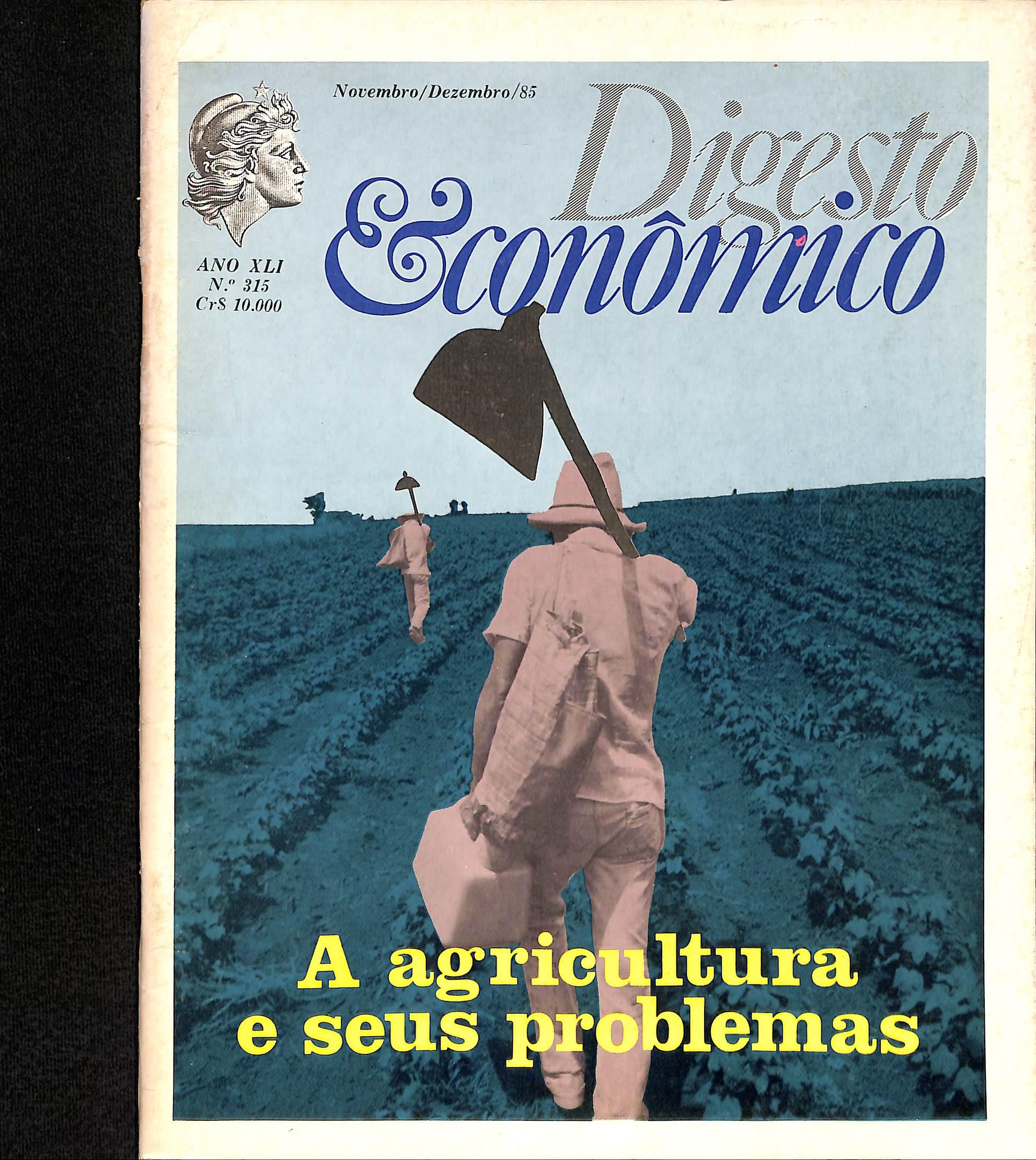
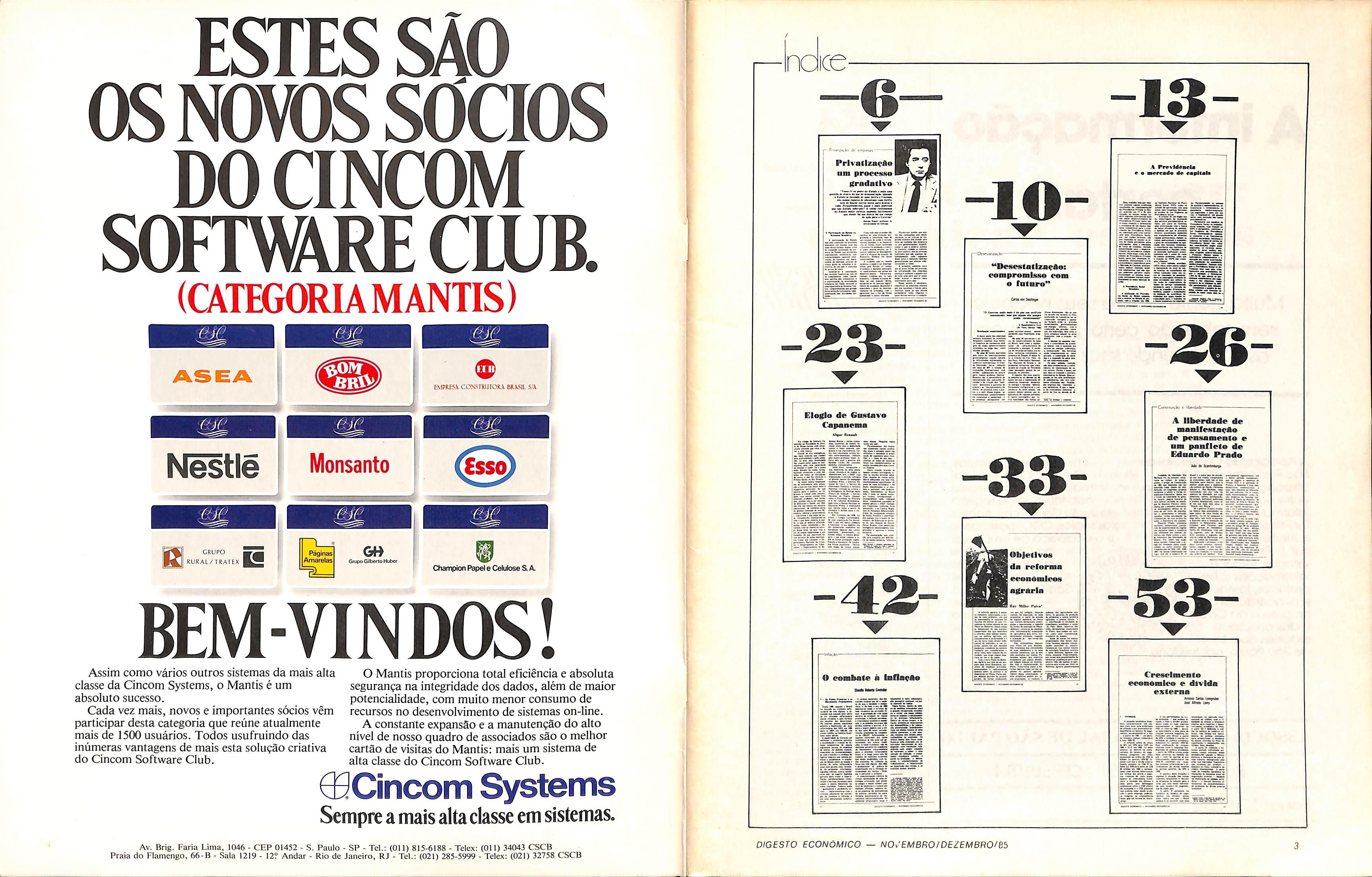
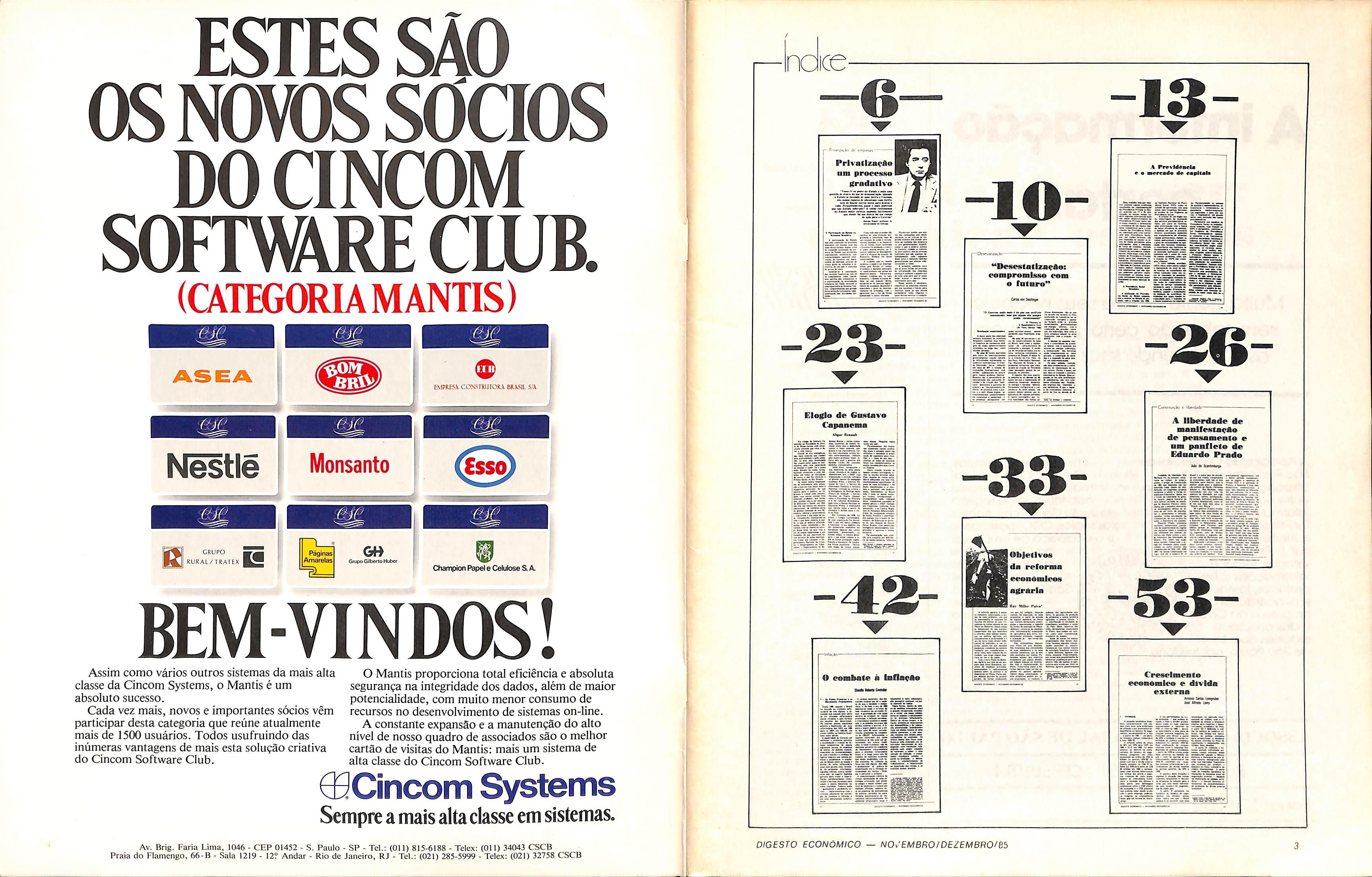

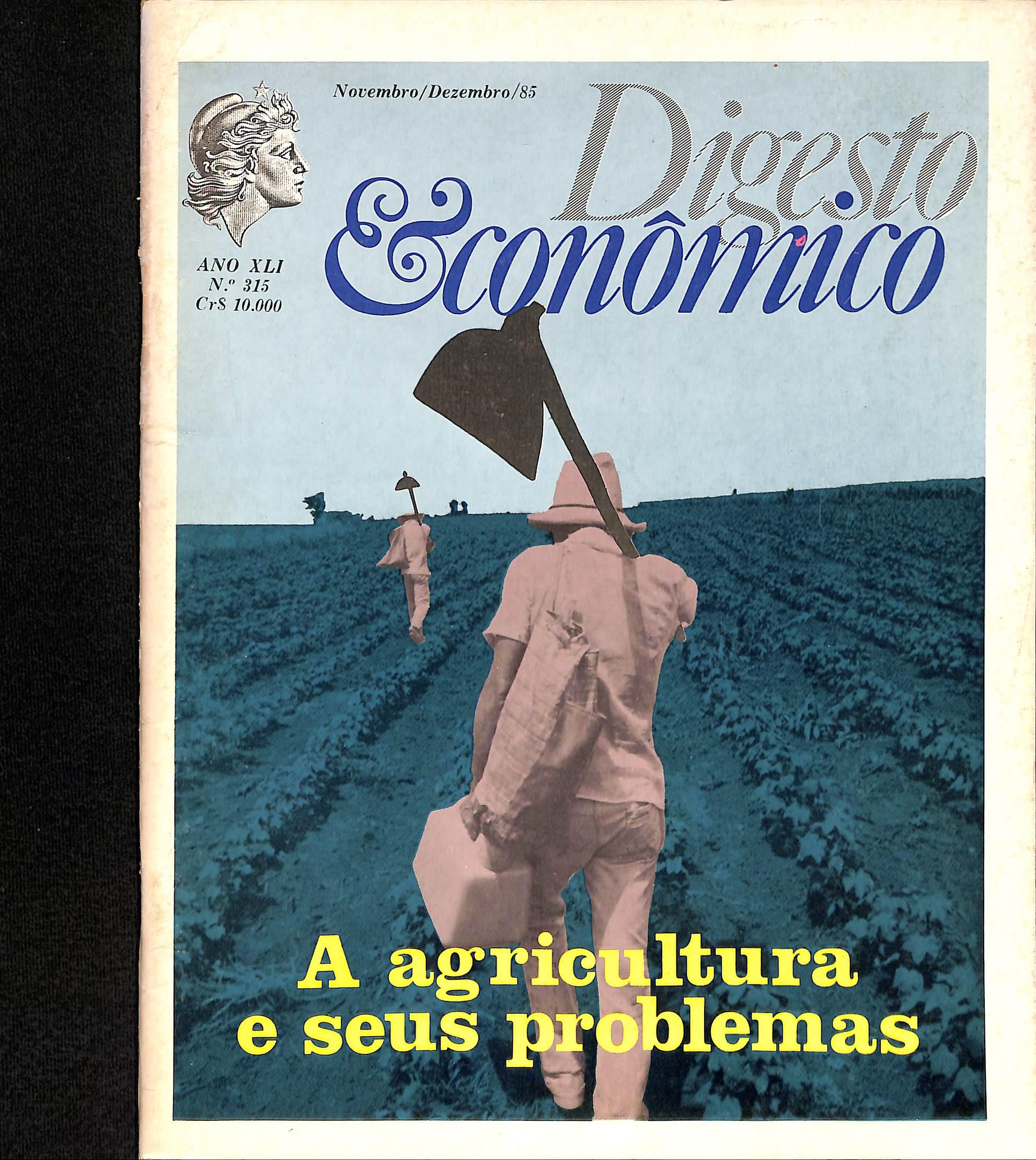
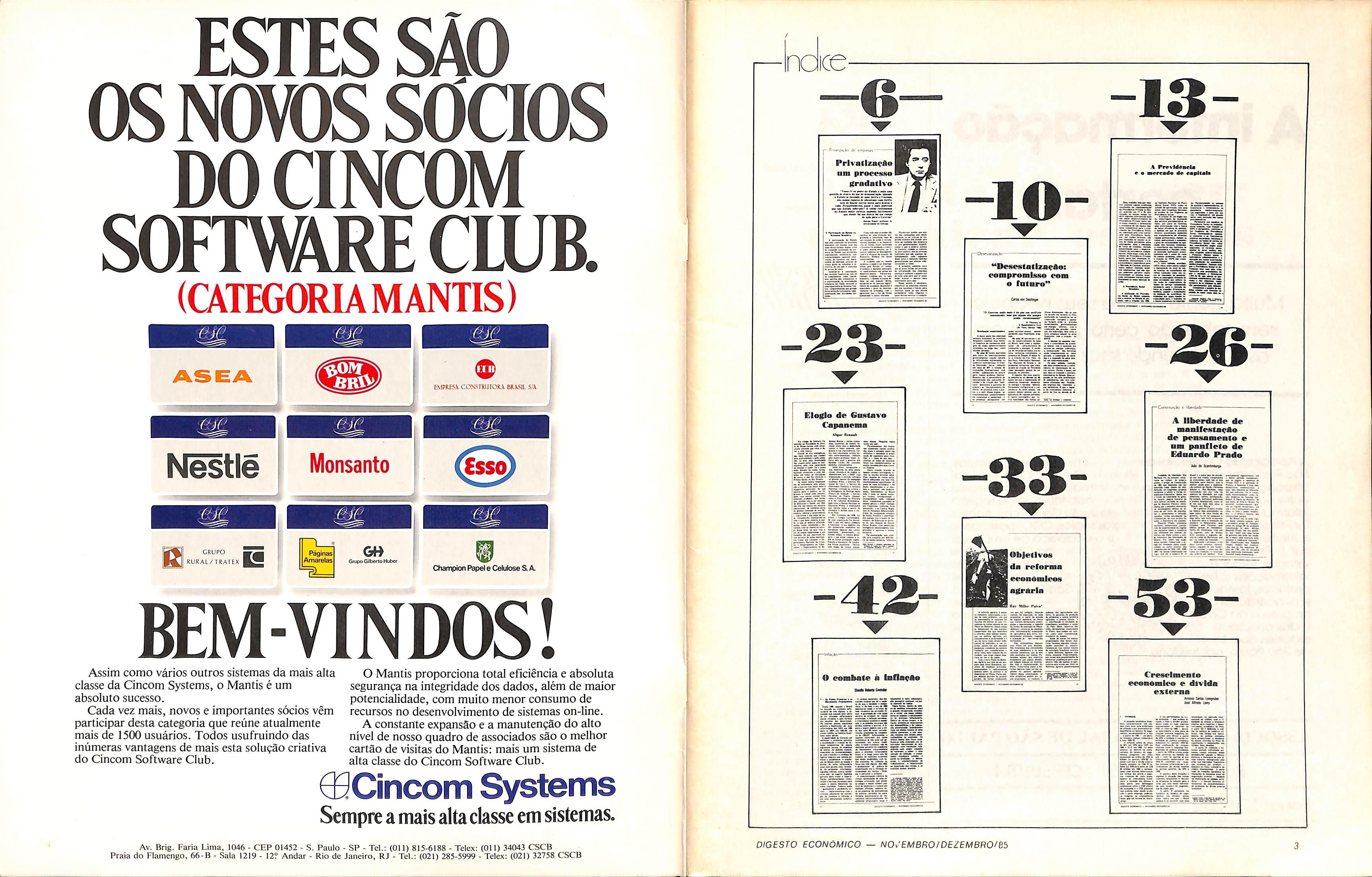
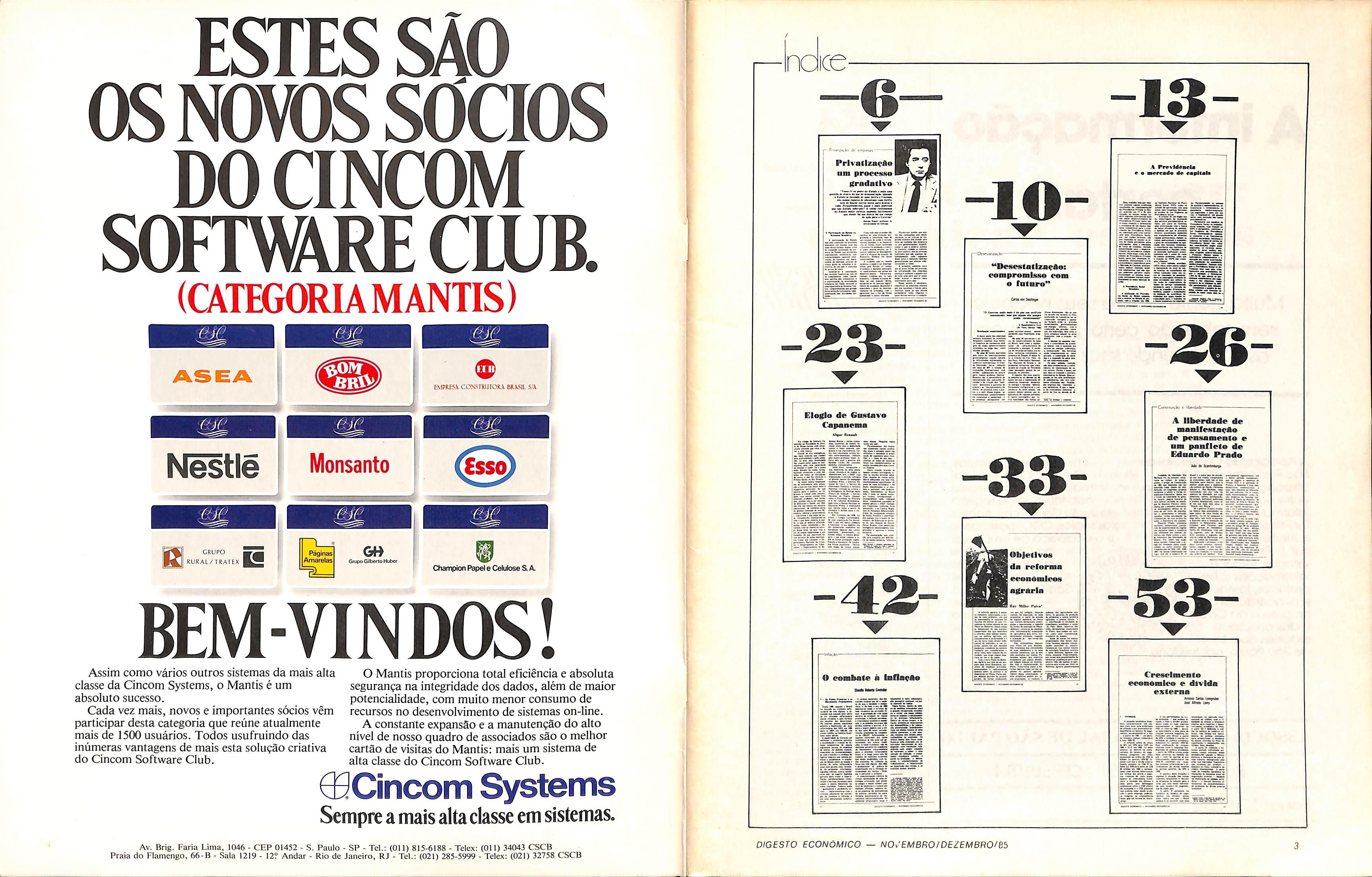
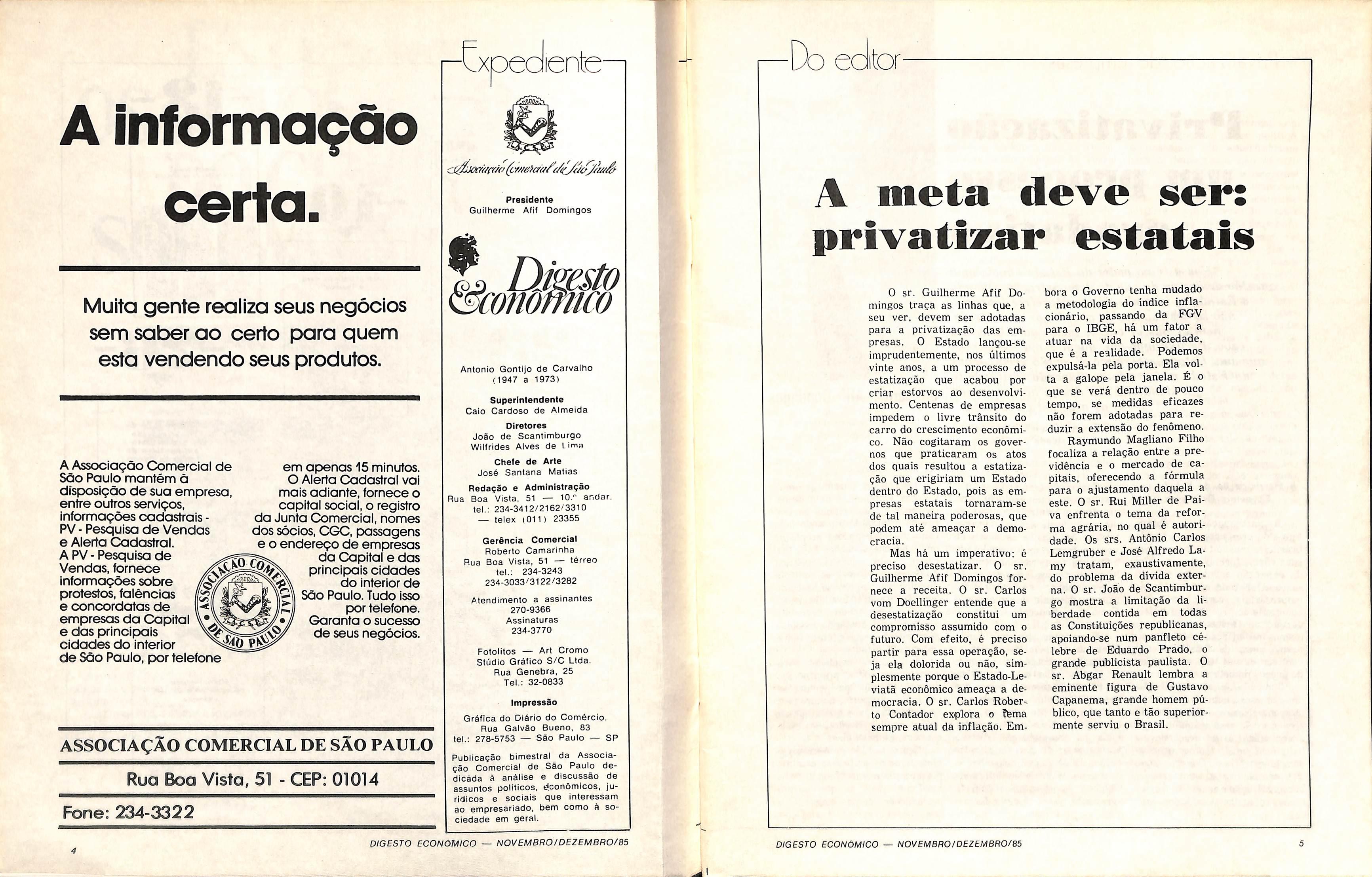
Presidente
Guilherme Afif Domingos
Muita gente realiza seus negócios sem saber ao certo para quem esta vendendo seus produtos.
A Associação Comercial de São Paulo mantém ã disposição de sua empresa, entre outros serviços, informações cadastraisPV - Pesquisa de Vendas e Alerta Cadastral. A PV - Pesquisa de Vendas, fornece informações sobre protestos, falências e concordatas de empresas da Capital \* e das principais \ cidades do interior de São Paulo, por telefone
em apenas 15 minutos. O Alerta Cadastral vai mais adiante, fornece o capital social, o registro da Junta Comerciai, nomes dos sócios, CGC, passagens e o endereço de empresas da Capital e das principais cidades do interior de Ç\ São Paulo. Tudo isso por telefone. Garanta o sucesso de seus negócios.
Antonio Gontijo de Carvalho (1947 a 1973)
Superintendente
Calo Cardoso de Almeida
Diretores
João de Scantimburgo
Wilfrides Alves de l ima
Chefe de Arte José Santana Matias
Redação e Administração 10.‘’ andar. Rua Boa Vista, 51 tei.: 234-3412/2162/3310 — telex (011 ) 23355
Gerência Comercial Roberto Camarinha Rua Boa Vista. 51 — térreo 234-3243 234-3033/3122/3282
Atendimento a assinantes 270-9366
Assinaturas 234-3770 tel.:
Fotolitos — Art Cromo Stúdio Gráfico S/C Ltda. Rua Genebra, 25 Tel.: 32-0833
Impressão
Gráfica do Diário do Comércio. Rua Galvâo Bueno, 83 tel.: 278-5753 — São Paulo — SP
bimestral da Associa- Publicação
ao
Comercial de Sao Paulo de- çao dicáda ã análise e discussão de assuntos políticos, .dconômicos, ju rídicos e sociais que interessam empresariado, bem como á so ciedade em geral.
0 sr. Guilherme Afif Do mingos traça as linhas que, a seu ver. devem ser adotadas para a privatização das em presas. O Estado lançou-se imprudentemente, nos últimos vinte anos, a um processo de estatização que acabou por criar estorvos ao desenvolvi mento. Centenas de empresas impedem o livre trânsito do carro do crescimento econômi co. Não cogitaram os gover nos que praticaram os atos dos quais resultou a estatiza ção que erigiríam um Estado dentro do Estado, pois as em presas estatais tornaram-se de tal maneira poderosas, que podem até ameaçar a demo cracia.
bnra o Governo tenha mudado a metodologia do índice inflapassando da FGV
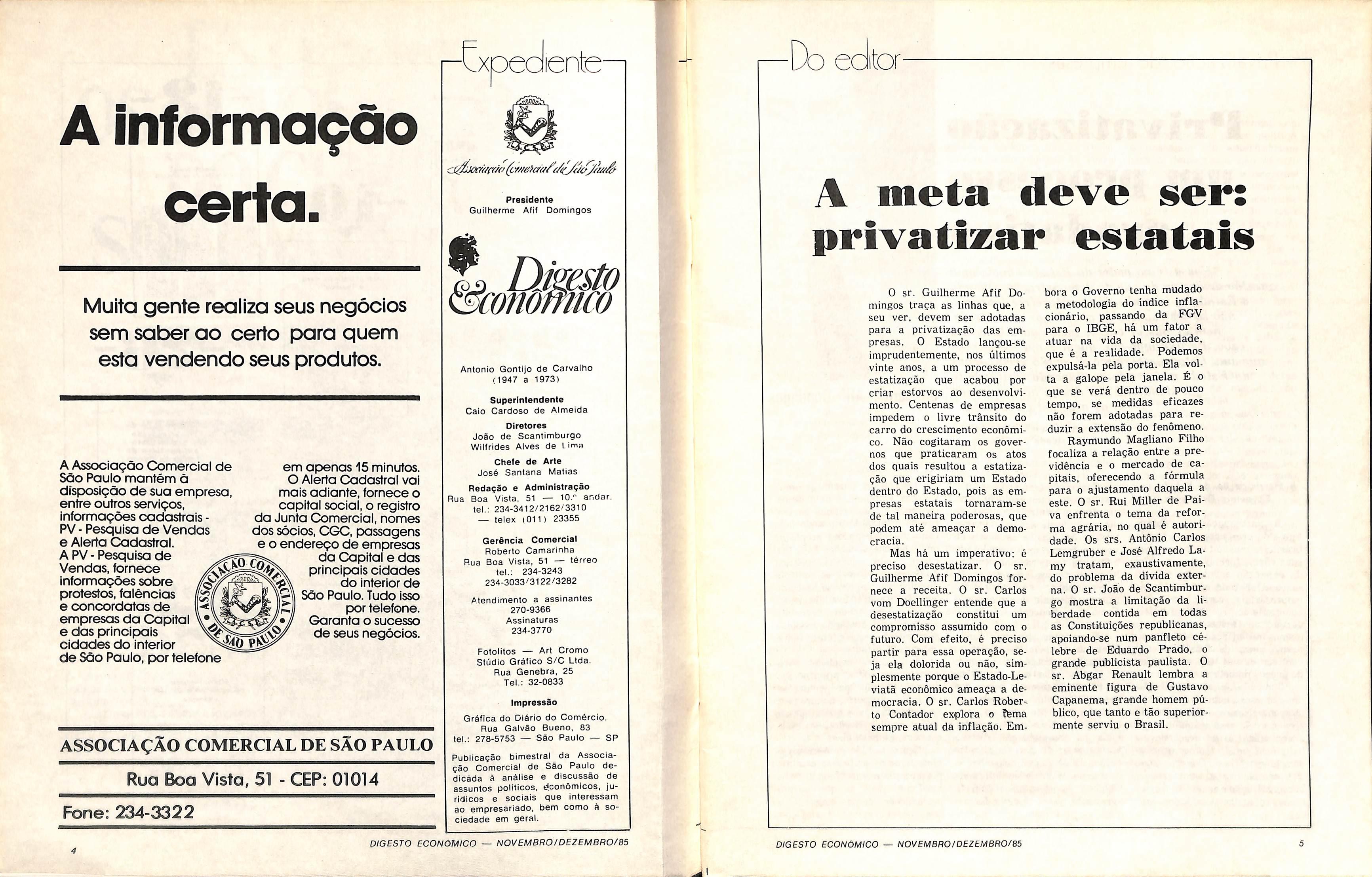
Mas há um imperativo: é preciso desestatizar. O sr. Guilherme Afif Domingos for nece a receita. 0 sr. Carlos vom Doellinger entende que a desestatização constitui um compromisso assumido com o futuro. Com efeito, é preciso partir para essa operação, se ja ela dolorida ou não, sim plesmente porque o Estado-Leviatã econômico ameaça a de mocracia. O sr. Carlos Rober-. to Contador explora o !fema sempre atual da inflação. Emmy go as
cionario, para o IBGE, há um fator a atuar na vida da sociedade, que é a realidade. Podemos expulsá-la pela porta. Ela vol ta a galope pela janela. É verá dentro de pouco medidas eficazes O que se tempo, se não forem adotadas para re duzir a extensão do fenômeno. Raymundo Magliano Filho focaliza a relação entre a pre vidência e 0 mercado de ca pitais, oferecendo a para o ajustamento daquela a este. O sr. Rui Miller de Pai va enfrenta o tema da refor ma agrária, no qual é autori dade. Os srs. Antônio Carlos Lemgruber e José Alfredo Latratam, exaustivamente, do problema da dívida exter na. O sr. João de Scantimburmostra a limitação da li berdade contida em todas Constituições republicanas, apoiando-se num panfleto cé lebre de Eduardo Prado, o grande publicista paulista. O sr. Abgar Renault lembra a eminente figura de Gustavo Capanema, grande homem pú blico, que tanto e tão superior mente serviu 0 Brasil. fórmula


maioria das empresas estatais pesquisadas.
2. O resultado líquido ne gativo de 33,7%, ou seja, o pre juízo equivalente a um terço da receita operacional líquida das estatais, aparece, na pesquisa mencionada, como decorrência do montante das despesas finan ceiras que atingiam, em 1983. a 64% da mesma receita ope racional. As estatais estão, por tanto, envoltas em grave crise de endividamento.
3. Os empréstimos das em presas estatais e congêneres junto à rede bancária atingiam CrS 133 trilhões aproximada mente, em julho do corrente ano. um montante superior ao total da divida pública federal em mãos do público na mesma data. Este dado implica em duas conseqüências já conheci das: a) 0 sistema bancário tornou-se dependente da péssi ma situação financeira das es tatais, comprometendo a saúde da intermediação do crédito no Brasil; b) a rolagem da divi da bancária estatal se realiza de modo descontrolado, elevan do substancialmente a taxa de risco das operações financeiras em mercado, o que. por sua vez. inviabiliza uma baixa sus tentada da taxa de juros in terna.
4. A ausência de um pro grama abrangente e articulado de saneamento financeiro das estatais inviabiliza, num só tem po, diversos desenvolvimentos desejáveis:
— estimula alternativas ina dequadas, tais como subscrições de capital público de emergência, socorros de liquidez do tipo Aviso GB-588, pedi dos de elevação indiscri minada de tarifas etc.
5. A persistência no atual enfoque de ajustamento dos problemas financeiros e geren ciais das estatais, que se incli na ao mero tratamento circuns tancial das crises de iliqüidez desse conjunto de empresas, fa talmente levará a um endivida mento explosivo do setor públi-
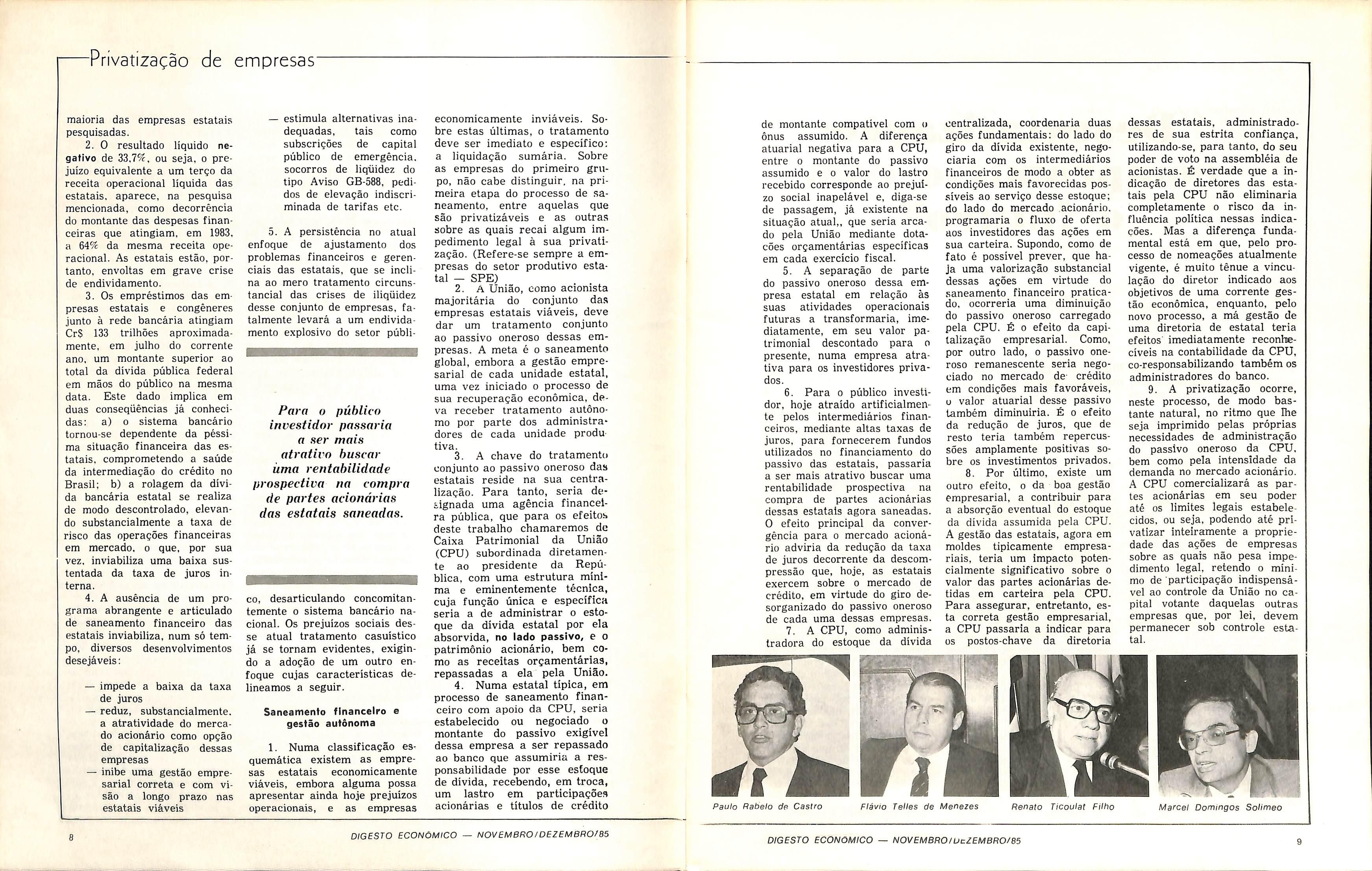
Para o público investidor passaria a ser mais atrativo buscar iima rentabilidade prospectiva na compra de partes acionárias das estatais saneadas.
economicamente inviáveis. So bre estas últimas, o tratamento deve ser imediato e específico: a liquidação sumária. Sobre as empresas do primeiro gru po, não cabe distinguir, na pri meira etapa do processo de sa neamento, entre aquelas que são privatizáveis e as outras sobre as quais recai algum im pedimento legal à sua privati zação. (Refere-se sempre a em* presas do setor produtivo esta tal — SPE)
2. A União, como acionista majoritária do conjunto das empresas estatais viáveis, deve dar um tratamento conjunto ao passivo oneroso dessas em presas. A meta é o saneamento global, embora a gestão empre sarial de cada unidade estatal, uma vez iniciado o processo de sua recuperação econômica, de va receber tratamento autôno mo por parte dos administra* dores de cada unidade produ' tiva.
3. A chave do tratamento conjunto ao passivo oneroso das estatais reside na sua centra lização. Para tanto, seria de signada uma agência financei ra pública, que para os efeitos deste trabalho chamaremos de Caixa Patrimonial da União (CPU) subordinada diretamenpresidente da Repú blica. com uma estrutura míni ma e eminentemente técnica, cuja função única e específica de administrar o estoda dívida estatal por ela te ao
co, desarticulando concomitan temente o sistema bancário na cional. Os prejuízos sociais des se atual tratamento casuístico já se tornam evidentes, exigin do a adoção de um outro en foque cujas características de lineamos a seguir. seria a que absorvida, no lado passivo, e o patrimônio acionário, bem co mo as receitas orçamentárias, repassadas a ela pela União.
4. Numa estatal típica, em processo de saneamento finan ceiro com apoio da CPU, seria estabelecido ou negociado o montante do passivo exigível dessa empresa a ser repassado ao banco que assumiría a res ponsabilidade por esse estoque de dívida, recebendo, em troca, um lastro em participações acionárias e títulos de crédito — impede a baixa da taxa de juros — reduz, substancialmente, a atratividade do merca do acionário como opção de capitalização dessas empresas — inibe uma gestão empre sarial correta e com vi são a longo prazo nas estatais viáveis
Saneamento financeiro e gestão autônoma
1. Numa classificação esquemática existem as empre sas estatais economicamente viáveis, embora alguma possa apresentar ainda hoje prejuízos operacionais, e as empresas
de montante compatível com o ônus assumido. A diferença atuarial negativa para a CPU, entre o montante do passivo assumido e o valor do lastro recebido corresponde ao prejuí zo social inapelável e, diga-se de passagem, já existente na situação atual,, que seria arca do pela União mediante dota ções orçamentárias específicas em cada exercício fiscal.
5. A separação de parte do passivo oneroso dessa em presa estatal em relação às suas atividades operacionais futuras a transformaria, ime diatamente, em seu valor pa trimonial descontado para o presente, numa empresa atra tiva para os investidores priva dos.
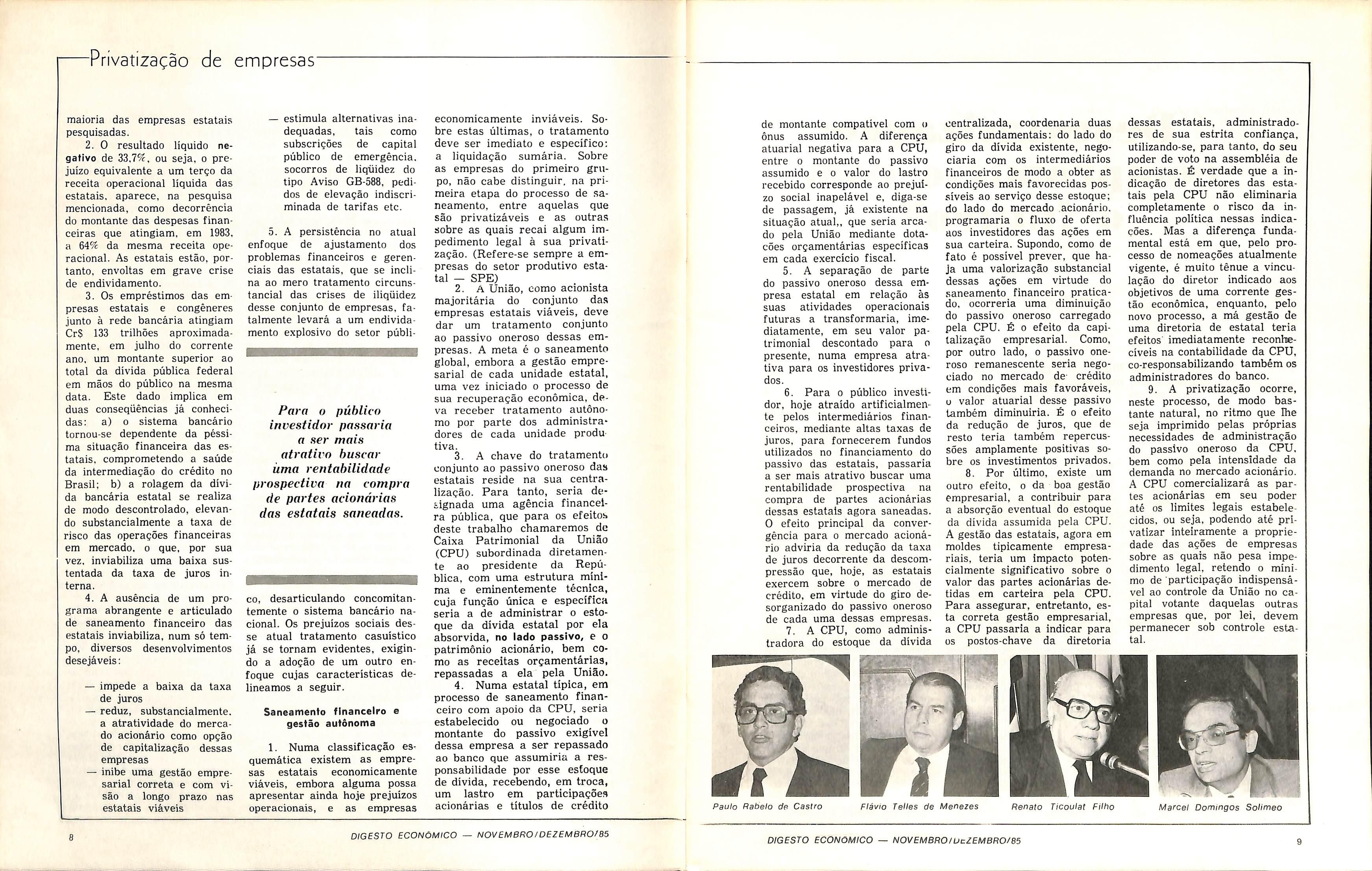
rentabilidade prospectiva na compra de partes acionárias dessas estatais agora saneadas. O efeito principal da conver gência para o mercado acioná rio adviria da redução da taxa de juros decorrente da descompressão que, hoje, as estatais exercem sobre o mercado de crédito, em virtude do giro de sorganizado do passivo oneroso de cada uma dessas empresas.
centralizada, coordenaria duas ações fundamentais: do lado do giro da dívida existente, nego ciaria com os intermediários financeiros de modo a obter as condições mais favorecidas pos síveis ao serviço desse estoque; do lado do mercado acionário, programaria o fluxo de oferta aos investidores das ações em sua carteira. Supondo, como de fato é possível prever, que ha ja uma valorização substancial dessas ações em virtude do saneamento financeiro pratica do, ocorreria uma diminuição do passivo oneroso carregado pela CPU. É 0 efeito da capi talização empresarial. Como, por outro lado, o passivo one roso remanescente seria nego ciado no mercado de- crédito em condições mais favoráveis, u valor atuarial desse passivo também diminuiria. É o efeito da redução de juros, que de resto teria também repercus sões amplamente positivas so bre os investimentos privados. 8. Por último, existe um
6. Para o público investi dor, hoje atraído artificialmen te pelos intermediários finan ceiros, mediante altas taxas de juros, para fornecerem fundos utilizados no financiamento do passivo das estatais, passaria a ser mais atrativo buscar uma outro efeito, o da boa gestão empresarial, a contribuir para a absorção eventual do estoque da divida assumida pela CPU. A gestão das estatais, agora em moldes tipicamente empresa riais, teria um impacto poten cialmente significativo sobre o valor das partes acionárias de tidas em carteira pela CPU. Para assegurar, entretanto, es ta correta gestão empresarial, a CPU passaria a indicar para
7. A CPU, como adminisos postos-chave da diretoria tradora do estoque da dívida
dessas estatais, administrado res de sua estrita confiança, utilizando-se, para tanto, do seu poder de voto na assembléia de acionistas. É verdade que a in dicação de diretores das esta tais pela CPU não eliminaria completamente o risco da in fluência política nessas indica ções. Mas a diferença funda mental está em que, pelo pro cesso de nomeações atualmente vigente, é muito tênue a vinculação do diretor indicado aos objetivos de uma corrente ges tão econômica, enquanto, pelo novo processo, a má gestão de uma diretoria de estatal teria efeitos' imediatamente reconhe cíveis na contabilidade da CPU, co-responsabilizando também os administradores do banco.
9. A privatização ocorre, neste processo, de modo bas tante natural, no ritmo que lhe seja imprimido pelas próprias necessidades de administração do passivo oneroso da CPU, bem como pela intensidade da demanda no mercado acionário. A CPU comercializará as par tes acionárias em seu poder até os limites legais estabele cidos, ou seja, podendo até privatizar inteíramente a proprie dade das ações de empresas sobre as quais não pesa impe dimento legal, retendo o míni mo de 'participação indispensá vel ao controle da União no ca pital votante daquelas outras empresas que, por lei, devem permanecer sob controle esta-
Carlos von Doeilinger

(( O Governo nada mais é do que um artifício conveniente, mas que algum dia sempre acaba inconveniente
H. Thoreau, in A Desobediência Civil (N. York, Norton. 1966)
Estatização modernizadora nosso universo estatal, mesmo perdendo suas finalidades origi nais.
A maior parte das empresas estatais existentes na economia brasileira constitui hoje heran ça histórica de sucessivos está gios de nosso desenvolvimento econômico ao longo das cinco últimas décadas.
Os anos 30 foram marcados pelo início do intervencionismo governamental, reação natural às dificuldades enfrentadas no comércio internacional. A Gran de Depressão havia reduzido em mais de 40% o volume de transações internacionais, com perdas substanciais de preços para nossos produtos básicos. Resultou daí a conveniência da centralização das operações de câmbio e da criação dos "insti tutos” destinados à garantia de preços e ao "disciplinamento da oferta” de produtos como o açú car e 0 café. Esses órgãos se transformariam posteriormente em autarquias e passariam a ter presença permanente em
Os anos 40 marcaram o iní cio da industrialização de base no Brasil, bem como a implan tação da infra-estrutura de transporte e energia. A carên cia de recursos privados era no tória; tornou-se conveniente a presença do Estado. É dessa fa se a criação da Cia. Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional, Cia. Nacional de Álcalis e as primeiras iniciativas que resul tariam na criação da Petrobrás como monopólio estatal da ex ploração de petróleo.
O impulso dos anos quaren ta ampliou-se na década de 50, época em que a implantação de indústrias modernas demanda va energia e insumos básicos. Novamente configurou-se a con veniência do setor estatal em investir nesses setores, por in suficiência de capitais privados. O capital estrangeiro, que so fria hostilidade das forças po-
líticas dominantes, não se sen tia atraído em investir no País, preferindo se concentrar na re construção européia e japone sa. Surgem então os grandes investimentos governamentais em energia elétrica, com a construção das grandes repre sas, em siderurgia, bem como a nova presença estatal na área financeira, com a criação do BNDE.
A década de sessenta mar caria a consolidação da presen ça estatal, com a expansão dos setores de energia, siderurgia, a incorporação das ferrovias ainda remanescentes no setor privado, a construção de estra das e a expansão do setor esta tal em telecomunicações.
Os anos setenta, contudo, não mais presenciaram a conve niência da implantação de no vos setores. Porém é época em que mais se expande o universo empresarialdo Estado. Essa ex pansão se faz pela proliferação de subsidiárias, não raro total mente afastadas das finalida des originais das empresas a que pertencem. É que o impul so do crescimento industrial a partir de fins da década de 60
Carlos von DoelHilger v economista.
permitiu crescente acumulação financeira por parte das empre sas estatais e na própria máqui na arrecadadora do Governo, recursos esses reinvestidos na ampliação das atividades em presariais do setor público sem qualquer avaliação das alterna tivas a esse tipo de presença do Estado na economia. O sistema político autoritário e o mito da onisciência da burocracia esta tal. combinada à doutrina de segurança nacional, certamente deram apoio decisivo à consoli dação dessa tendência, em que pesem as primeiras reações do setor privado frente à industria lização "estratégia” do II PND. O paroxismo do delírio estali zante foi o acordo nuclear, po rém multiplicaram-se os em preendimentos destituídos de qualquer perspectiva de utilida de econômica, autênticas aber rações, subproduto de uma fon te aparentemente inesgotável de recursos financeiros.
Esgotamento do processo de estatização
Tudo isso, podemos hoje afirmar, foram conveniências históricas já superadas. O pro cesso intervencionista e estatizante esgotou-se em várias frentes. O Estado brasileiro en-
agricultura, o setor exportador e a renovação tecnológica são liderados pela iniciativa priva da, nacional e internacional, sem apelo à complementaçâo do Estado.
Por outro lado, a conveniên cia da presença estatal está hoje em área totalmente diver sa. precisamente no âmbito das atribuições essenciais de setor público em economias de mercado. É rigorosamente unâ nime 0 reclamo social por maio res investimentos públicos nos setores de educação, saúde, se gurança pública, assistência so cial, habitação, urbanismo e serviços básicos voltados ao atendimento das grandes carên cias de nossa sociedade. Esse reconhecimento está patente, inclusive, na formulação do I PND da Nova República; nas prioridades em curso do atual Governo.
Poder político e domínio econômico
Alega-se, no entanto, insufi ciência de recursos ao adequa do atendimento dessas novas conveniências, face ao notório déficit público, conquanto per maneça em mãos do Estado um acervo de quase 400 empresas públicas federais, para as quais nimca se logra um programa adequado de privatização e de saneamento financeiro.
Há duas vertentes básicas da presença do Estado na eco nomia que necessitam reestru turação urgente: a ação empre sarial. na produção direta de bens e serviços, e a ação regulatória dos mercados. A função empresarial, como já vimos, tem raízes históricas e presen ça marcante em nossa econo mia, mas se constitui hoje, sal vo exceções, em anomalia. Não cabe ao Governo executar fun ções de produtor de bens e ser viços em economias de merca do. e sim complementar o setor privado onde este comprovadamente se afigura incapaz de atuar. No discurso governamen tal e nos textos constitucionais tem sido sempre esse o ideal da presença do Estado na econo mia, enquanto na prática nunca estivemos tão distante de atin gi-lo. A ação regulatória, embo ra legítima em certos aspectos, tem se caracterizado entre nós como abusiva e distorcida. Torna-se necessário reenquadrar a regulação aos ditames legítimos de uma política econômica ex plícita em seus objetivos e ins trumentos.
Critérios para reversão do processo de estatização
dividou-se e se encontra mas sacrado pelo peso do serviço dessa dívida, que não pode ser coberta pelo retorno de seus in vestimentos, simplesmente por que as inversões não se pautacritérios de rentabili0 déficit por ram por dade e eficiência, consolidado do setor público atinge cerca de 23% do Produto Interno Bruto (conceito PSBR), obrigando a drenagem crescen te de poupança privada à sua cobertura. Simplesmente não mais existe disponibilidade de recursos financeiros. Nosso de senvolvimento, nos dias atuais, vem sendo dominado de forma inconteste pelo setor privado. A
Ü estamento burocrático esta tal parece ter criado interesses profundos na sua perpetuação. Qualquer ameaça de altera ção do estatus quo levanta de imediato reações de dirigentes, funcionários, políticos e respec tivas clientelas, muito em fun ção dos seus próprios interes ses. Tudo se passa como se a função objetiva do setor estatal fosse 0 simples poder, exercido através da maximização do dispêndio com o mínimo de efi ciência necessária tão-somente à perpetuação da máquina.

Na versão da ação estatal de produção de bens e serviços importa distinguir três situa ções básicas. Há empresas eco nomicamente viáveis, mas não privatizáveis, seja por determi nação legal (monopólio legal da exploração de petróleo exemplo) ou por ditames de segurança nacional. Importa, nesses casos, definir claramen te regras de fixação de preços ou tarifas, de participação so cietária da União e de afasta mento da direção da empresa às in junções do poder político. Além disso, a permanência des sas empresas no setor público exige maior fiscalização da so ciedade, na forma de aprecia- ►

ção de suas contas e orçamen tos pelo poder legislativo.
Em um segundo grupo in cluem-se as empresas viáveis e privatizáveis. Há que se cobrar ação mais incisiva dos poderes públicos visando a liberar a ges tão empresarial das teias do poder político ou burocrático, bem como estabelecer regime eqüitativo de cessão de partici pação acionária ou venda de ativos. Não se pode admitir que a burocracia restrinja esse uni verso a um conjunto de entida des inexpressivas, apenas a tí tulo de mostrar alguma ação desestatizante, porém inócua.
Há finalmente um conjunto de empresas Inviáveis, para as quais se definiría ações visan do à liquidação, ou à transfor mação em órgãos da adminis tração direta, subordinados à rigidez orçamentária do Gover no Federal. Poder-se-ia, em al guns desses casos, recorrer à
fusão de órgãos ou transforma ção em simples assessoria mi nisterial.
Por que o Estado reluta em privatizar
O Governo da Nova Repú blica ainda não mostrou atitude concreta em cursos de ação desse tipo. A Secretaria Espe cial de Controle das Empresas Estatais (SEST) mal conseguiu, em agosto, refazer o orçamento de dispêndios globais para 1985, que tão-somente repete proce dimentos já desgastados da Ve lha República. Da Comissão de Desestatização não mais se tem qualquer notícia. Alega-se que ações mais incisivas em relação às empresas estatais resulta riam em recessão, quando é precisamente a inação, que per petua a ineficiência, a baixa produtividade e o desequilíbrio financeiro do setor público, a causa do ônus suportado pelo setor privado e que anula qual-
quer chance de retomada sus tentada dos investimentos. Elstamos visivelmente presos a um círculo vicioso, cuja ori gem é o desequilíbrio financei ro e a ineficiência do setor pú blico. A convivência com esse estado patológico faz com que a economia oscile entre juros reais absurdos, que acarretam recessão e desemprego, ou na tentativa ciclotímica de reduzilos, visando a reativação da produção, explosão inflacioná ria decorrente do descontrole monetário e fiscal. O impasse presente define claramente a necessidade da reestruturação imediata do setor público. É preciso ter a coragem de admi tir que a estatização de nossa economia há muito tornou-se inconveniente. O reclamo da presença do Estado é no senti do do atendimento de nossas carências sociais. Esse é o nos so compromisso com o futuro.#
(OfÁ
Caixa Postal 8082 - a/c APM
Preencha o cupom abaixo e envie-o para:
Solicito uma assinatura anual da revista bimestral Digesto Econômico, pelo preço deCr$ 50.000, conforme abaixo indicado:
Nome
Empresa
CGC/CPF
Endereço
Bairro
Cidade
Data
.Assinatura
Cargo Ramo
Tel.;
CEP
Estado
não mande dinheiro agora

Este trabalho tem por obje tivo analisar alguns problemas resultantes da regulamentação da Previdência Privada no Bra sil, ocorrida em 77 e 78, pro curando, ao mesmo tempo, su gerir algumas alternativas para um maior desenvolvimento da Previdência Privada entre nós. A nossa intenção é demonstrar a existência de um espaço bas tante considerável para o cres cimento da Previdência Priva da. sobretudo pela crise enfren tada pela Previdência Social, que, por razões diversas tem condições de manter os ní veis de renda percebidos pelos empregados, após o abandono da força de trabalho, abrindo possibilidades para o desenvol vimento da previdência comple mentar. Além disso, como as en tidades de Previdência Privada fazem parte dos chamados in vestidores institucionais, com extraordinária importância para 0 Mercado de Capitais, procura remos indicar algumas possí veis alternativas que não ape nas poderíam garantir maior flexibilidade ao sistema atual, como certamente trariam maior dinamismo ao nosso mercado de ações.
A Previdência Social Brasileira
A unificação da Previdên cia Social no Brasil somente veio a ocorrer na década de ses senta, com a criação, em 1966,
do Instituto Nacional de Previ dência Social, INPS, como re sultado da aprovação, seis anos antes, pelo Congresso Nacional, do projeto de Lei Orgânica da Previdência Social.
A criação de um órgão úni co, encarregado da realização dos serviços previdenciários re velou. por parte do Governo, uma preocupação com a busca de maior eficiência do sistema, á medida em que se procurou oferecer atendimento eqüânime aos trabalhadores de diversas classes profissionais, reduzir os custos operacionais e aumentar o grau de racionalidade na apli cação dos recursos existentes. A experiência dos Institutos de Aposentadoria e Pensões tinhase mostrado ineficiente, princi palmente sob 0 ponto de vista do custeio, problema, aliás, que a criação do INPS não conse guiu eliminar.
O novo sistema previdenciário visou, entre outras coisas, a manutenção do nível de ren da familiar do trabalhador em certas condições como nos ca sos de concessão de aposenta doria ao empregado afastado de suas atividades por velhice ou em razão do cumprimento do tempo de serviço considerado necessário para a retirada da força de trabalho. Procurou-se, também, assistir o trabalhador na hipótese da ocorrência de acidentes dos quais resulte in capacidade para o trabalho ou a morte prematura do emprega-
do. Paralelamente ao sistema de auxílios e aposentadorias, es truturou-se o fornecimento de assistência aos segurados, o qual, por sua vez, é responsável, em grande parte, pela elevação dos custos previdenciários.
médico-hospitalar
Pertencem aos quadros da Previdência Social os trabalha dores urbanos, cuja filiação ao INPS é obrigatória, conforme a Lei Orgânica da Previdência Social, excetuando-se, apenas, os militares e os funcionários públicos municipais, estaduais e federais. As fontes de receita da Previdência Social são, além das contribuições pagas pelos segurados, os recursos prove nientes de juros, multas, doa ções, aluguéis, salário-educação L Finsocial. Mesmo assim, a Ineficiência administrativa e a elevação dos custos acarretados pela ampliação da assistência médico-hospitalar fizeram com que a Previdência Social se de frontasse hoje com uma crise financeira sem precedentes, de que é exemplo o Decreto-lei 1.910 de 81, que elevou os per centuais contributivos dos segu rados e das empresas, numa tentativa de se eliminar os déficits apresentados pelo sistema. Completam o quadro de me didas criadas pelo Governo no vSentido de atuar como uma es-
pêcie de seguro social ao tra balhador, 0 FGTS e 0 PIS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi instituído pela Lei 5.107 de 66 e se destinou a am parar 0 trabalhador no caso de despedida involuntária. Cabe bxclusivamente ao empregador efetuar o pagamento das con tribuições correspondentes a 8% do salário dos empregados. Tais recursos são adnúnistrados pelo BNH a quem incumbe aplicálos em planos de construção de habitações populares, rendendo, atualmente, para os emprega dos. em nome dos quais é fei ta a contribuição, 3% de juros mais correção monetária. Já o Programa de Integração Social, PIS, foi criado pelo Governo em 1970, como uma forma de com plementação da renda do traba lhador e de canalizar recursos para a realização de emprésti mos às empresas nacionais. Os recursos do PIS provêm da con tribuição, feita pelo Governo, de um percentual do Imposto de Renda pago pelas pessoas jurí dicas (2% em 71, 3% em 73, 5% nos anos subseqüentes) e de um percentual sobre as vendas brutas das empresas privadas da ordem de 0,15% em 71, 0,25% em 72, 0,40% em 73, 0,50% em 74, 0,625% em 75, e 0,75% nos anos posteriores. Podem os beneficiários do PIS receber anualmente um salário mínimo desde que o trabalhador não re ceba quantia superior a 5 salá rios mínimos; os que estiverem acima desta faixa poderão car somente os juros (3% ao ano).
culo dos benefícios pagos aos segurados, nos leva, facilmente, à conclusão inversa. A propósi to, vale lembrar, o comentário feito pela Comissão Técnica Permanente de Estatística e Atuária, transcrito por Rio No gueira: “Poucas pessoas, físi cas ou jurídicas, podem ser de finitivamente beneficiadas pela inflação, uma delas é o INPS. Sabemos que nas datas de con cessão os valores das aposenta dorias, pensões, auxílios, doen ças e outras prestações da pre vidência básica são calculados como percentuais de um saláriobenefício o que, por sua vez, se identifica genericamente à mé dia dos salários de contribuição
í A Previdência Social Brasileira por um lado proporciona assistência razoável à saúde do trabalhador e, por outro lado, mostra-se bastante deficitária no tocante ao pagamento de benefícios que, de modo algum, mantêm a renda do trabalhador.
vesse em atividade. Esse distan ciamento tende a se acentuar,
cada vez mais, nos momentos de grande elevação inflacioná ria, como é o que atravessamos. O próprio Rio Nogueira, ao mencionar certas ilogicidades da legislação previdenciária brasileira, lembra que se conce de um tratamento injusto às fa mílias dos que morrem cedo. Cita ele o exemplo de um indi víduo que vindo a falecer com vinte e cinco anos de idade, cin co de contribuições para o SINPAS, e uma remuneração de três salários mínimos, possuin do esposa e dois filhos menores, recebería uma pensão global equivalente a oitenta por cento da aposentadoria a que faria jus, avaliada em menos de qua renta por cento do último salá rio. Isto significa que tal indi víduo percebería um benefício da ordem de oitenta por cento de quarenta por cento de três salários mínimos, o que não cor respondería sequer a um salário mínimo.
Por essas razões, acredita mos que, se por um lado, a Pre vidência Social brasileira apre senta um serviço de assistência à saúde do trabalhador, consi¬ derado razoável, por outro, mos tra-se ela bastante deficitária no tocante ao pagamento de be nefícios que, de modo algum, mantêm a renda do trabalhador abandono da força de C apos 0 trabalho. Torna-se possível daí extrair pelo menos duas con clusões. A primeira delas diz respeito à necessidade de uma modificação da legislação pre videnciária, no sentido de se corrigir as distorções apre sentadas pelo sistema. A segun da, evidencia que existe um es paço razoavelmente grande pa ra 0 desenvolvimento da Previ dência Privada, como forma de complementação da Previdência Social.

gundo nos parece, o exame, ain da que superficial, dos critérios utilizados pelo INPS para o cál-
referentes: a) aos doze últimos meses na doença, morte e in validez; b) aos 36 últimos me ses na velhice ou na aposentado ria por tempo de serviço. No primeiro caso, os doze salários de contribuição utilizados no cálculo do salário-benefício não sofrem qualquer correção da de terioração monetária; no segun do, que se usam 36 salários no cálculo da média, somente os 24 primeiros recebem alguma correção (sempre muito defi ciente). “Os benefícios recebi dos pelo segurado são, assim, bastante inferiores aos salários pagos ao trabalhador, se esti-
A essa altura, é interessan te refletir, para os propósitos deste trabalho, sobre a questão de se saber se os benefícios pa gos pela Previdência Social, acrescidos dos rendimentos do FGTS e do PIS, possibilitam a manutenção da renda familiar do trabalhador após o abandono da vida ativa de trabalho. Se¬ As origens da Previdência Privada no Brasil, ao contrário do que a princípio se poderia imaginar, são bastante antigas.
A sua implantação data da pri meira metade do século passa do e resultou de um decreto im perial de 10 de janeiro de 1835, que criou o Montepio Geral de Economia dos Servidores do Es tado, conhecido hoje como Mongeral, reunindo empregados ci vis e militares das diversas pro víncias do Império. As suas ca racterísticas mais importantes, responsáveis talvez pela sua grande longevidade, consistem na não imposição de participa ção obrigatória, além do seu funcionamento não requerer oneraçãü do Erário Público.
No início do século, princi palmente no período entre 1910 e 1915, a expansão das Caixas de Pensões e Sociedades Mú tuas de Pecúlios, sem qualquer capacitação técnica ou preparo administrativo, teve efeitos ex tremamente ruinosos para a economia popular provocando, graças ao seu súbito desapare cimento, grandes prejuízos pa ra os seus participantes. Foi as sim que 0 Código Civil de 1916, numa tentativa dc pór cobro a esta situação, exigiu, como for malidade essencial à constitui ção dessas entidades a prévia autorização governamental. Po rém, a inexistência de órgão es pecializado encarregado da fis calização de entidades de Pre vidência Privada, permitiu que tais associações contornassem a proibição legal pela simples inscrição das atos constitutivos no Registro Civil competente. É de notar-se a ausência, no período que se seguiu à pro mulgação do Código Civil, de uma legislação disciplinadora da Previdência Privada que. so mente na última década, rece beu uma efetiva regulamenta ção legal. Desse modo. o desen volvimento da Previdência Pri vada se verificou livre de qual quer ação estatal, como uma forma de complementação da previdência básica, cabendo á iniciativa privada enctintrar o
melhor caminho para o seu aperfeiçoamento.Foi, no entan to, a necessidade de se proteger a economia popular, face às ir regularidades existentes, que levou 0 Governo a promulgar, em 1977, a Lei 6435, disciplinan do a existência e funcionamen to das entidades de Previdên cia Privada.

De acordo com os objetivos se dividem em entidades de fins lucrativos e entidades sem fins lucrativos, sendo que as entida des fechadas não poderão ter fins lucrativos.
Para os efeitos da Lei 6435/ 77, são equiparáveis aos empre gados de empresas patrocinado ras os seus gerentes, os direto res e conselheiros ocupantes de cargos eletivos, bem como os empregados e respectivos diri gentes de fundações ou.de ou tras entidades de natureza au tônoma, organizadas pelas pa trocinadoras. Tal conceituação, contudo, não se aplica aos dire tores e conselheiros de empre sas públicas, sociedades de eco nomia mista e fundações vin culadas à administração públi-
Em seu artigo primeiro, a Lei 6435 de 15 de julho de 1977, define as entidades de Previ dência Privada como sendo aquelas que têm por objetivo instituir planos privados de con cessão de pecúlios ou de rendas, de benefícios complementares ou assemelhados aos da Previ dência Social mediante contri buição de seus participantes, dos respectivos empregados ou de ambos. Todavia, a sua orga nização. constituição e funcio namento. dependem de prévia autorização do Governo Fede ral. A ação do Poder Público, neste caso, é concebida tendo por objetivo proteger os interes ses dos participantes dos planos e benefícios; determinar pa drões mínimos adequados de se gurança para a preservação da liquidez e da solvência dos pla nos e benefícios isoladamente considerados; disciplinar a ex pansão dos planos de benefícios propiciando condições para sua integração no processo econô mico e social do País; coorde nar sua atividade com as polí ticas de desenvolvimento social oconômico-financeira do Goca. As entidades abertas inte gram 0 Sistema Nacional de Se guros Privados. A sua única fi nalidade é a instituição de pla nos de concessão de pecúlios ou de renda e só poderão operar us planos para os quais tenha autorização segundo as normas técnicas aprovadas pelo órgão normativo do Sistema Nacional de Seguros Privados. Para a garantia de todas as suas obri gações as entidades abertas constituirão provisões e fundos especiais, além das reservas e fundos determinados em leis es peciais.
A autorização para o fun cionamento das entidades aber tas será concedida mediante portaria do Ministério da Indús tria e Comércio a requerimento dos representantes legais da in teressada. Concedida a autori zação. a entidade terá 90 dias para comprovar perante o ór gão executivo do Sistema Na cional de Seguros Privados o cumprimento das formalidades legais e outras exigências. A falta de comprovação acarreta rá a caducidade para o seu fun cionamento. Aprovada a do cumentação, será imediatamene verno Federal. São dois os critérios utiliza dos pela lei para a classifica das entidades de Previdên- ção cia Privada. De acordo com a relação entre a entidade e os participantes dos planos de be nefícios, elas podem ser fecha das, quando acessíveis exclusi vamente aos empregados de uma só empresa ou a um grupo de empresas, as quais são de nominadas patrocinadoras. As demais são consideradas abertas.
te expedida a carta-patente au torizando 0 funcionamento da entidade.
As entidades fechadas estão subordinadas ao Ministério da Previdência e Assistência So cial, devendo enquadrar-se nas orientações expressas em sua normatividade básica. Elas te rão como finalidade básica a execução e operação de planos de benefícios para os quais te nha autorização específica gundo normas gerais e técnicas aprovadas pelo órgão normativo do Ministério da Previdência Assistência Social. Os pecúlios instituídos pelas entidades fe chadas não poderão exceder equivalente a quarenta teto do salário de contribuição para a Previdência Social a cobertura da mesma ressalvada a hipótese de morte por acidente de trabalho em que 0 valor do pecúlio terá por limi te a diferença entre o dobro desse valor mínimo, e o valor de pecúlio instituído pela Lei 6367 de 19.10.1967.
Categoria
Entidades fechadas . setor privado . . . setor governamental Entidades abertas c/ fins lucrativos . s/ fins lucrativos TOTAL:
1.° Quadro
de Enti dades

e Fonte: BACEN - dados de 31.12.83
de Parti cipantes
987.791 23 2.955.153 69 456,139 11 2.499.014 58 4.298.408 100
(2) Os dados se referem às 100 entidades pesquisadas pelo Bacen. Existem 12 outras entidades em fase de implantação e 5 instituições não enviaram as informações pedidas. (; vezes (I para pessoa.
As entidades de Previdên cia Privada não poderão solici tar concordata e não estão jeitas à falência, mente ao regime de liquidação extra-judicial previsto na Lei 6435/77.
Obs.: (1) Existem 138 entidades autorizadas de Previdência Privada fechada, mas os dados se referem a 129 delas (8 ainda não iniciaram suas atividades e 1 está em fase de cancelamento).
2.° Quad/o
Investidores Institucionais
Carteira de Titulos e Valores Mobiliários su¬ mas tão-so-
% PREVID. PRIVADA fechada aberta Cr$ milhões
A Previdência Privada Brasil, hoje, é administrada cerca de, 250 entidades, regula mentadas pela Lei 6.435 e pela resolução n.o 460/78 do CMN, de acordo com os objetivos govej-namentais de fortalecer o mer cado de capitais.
os inos re-
A resolução 460 estabeleceu as diretrizes para aplicação das reservas técnicas das entidades de Previdência Privada, intuito de assegurar o pagamen to dos benefícios aos participan tes dos vários esquemas de pen são. Esta disciplinação legal ti nha por objetivo orientar vestimentos de forma que sultados a longo prazo gerassem um retorno suficiente para o no por
1. Ações
2. Debêntures
3. LTN
4. ORTN
5. Títulos Estaduais
6. Títulos Municipais
7. Depósitos a Prazo Fixo
8. Letras de Câmbio
9. Letras Imobiliárias
10. Cédulas Hipotecárias
11. Obrigações da Eletrobrâs
12. Títulos do BNDES
13. Títulos da Dívida Agrária .. ..
14. Quotas de Fundos de Investimento
TOTAL:
Fonte: BACEN — dados de 31-12-83
pagamento dos benefícios c conseqüentemente garantissem a sobrevivência do sistema. Como forma de pulverizar os riscos, a resolução 460 estabelecia parâ metros para a aplicação em tí tulos públicos, ações, debêntures, quotas de fundos de inves timento. letras de câmbio, le tras imobiliárias, imóveis, depó sitos a prazo e cédulas hipote cárias. Na medida em que se avolumaram os recursos da Previdência Privada os limites máximos e mínimos de aplica ção foram alterados.
mercado de capitais e o que nos chama a atenção é a concentra ção excessiva de investimentos que está nas mãos das entidades fechadas pelas fundações das estatais, representando o ex pressivo percentual de 75% dos ativos. Ademais, vale a pena lembrar um exemplo da ten dência de concentração de ati vos no mercado de ações: em um reduzido espectro dos títulos negociados. 50% da carteiro consolidada de ações das entida des fechadas de Previdência Privada 6 constituída por ações de 14 companhias abertas den tro de um universo de 1.153 des sas empresas. A presença indi reta do Estado nas interações bursáteis atuando dentro do sis tema de mercado de capitais, como trocador de poupança através de seu acesso a enorme massa de investimento, tem ocasionado pressões e distorsões diante das quais o nosso mer cado encontra óbvias dificul dades.
A manipulação das reservas da previdência privada pelas autoridades monetárias

tária incidente, tenham um li mite máximo de aplicação de 10%. das reservas das entidades fechadas de Previdência Priva da, conforme a Resolução 794 do CMN. No intuito de favorecer a cap tação de recursos pelas institui ções oficiais foi que se autori zou, através da Resolução 472 de 25.04.78. a Caixa Econômica Federal a emitir letras imobiliá rias de colocação exclusiva jun to às entidades de Previdência Privada. A Resolução 794 em 11.01,83 veio incluir os títulos da dívida agrária como alterna tiva de investimento.
Segundo Horácio de Men donça Neto, não foi concedida total liberdade aos administra- fi- e dores dos fundos em relação à aplicação das reservas técnicas por duas razões básicas. Em primeiro lugar, devido à pouca experiência dos profissionais em relação à administração de reservas. Em segundo lugar, o estágio atual da economia bra sileira obriga o Governo a to mar, em certas ocasiões, deciafetam os diferentes soes que grupos de aplicações. “Nesses termos, a resolução 460 apre sentaria um meio termo ade quado entre a necessidade de liberdade exigida pelos gestores dos fundos, de um lado, e a proteção dos beneficiários, do outro”.
A Previdência Privada, em 31.12.83, conforme estatísticas do Banco Central, movimentava Cr$ 5.600.547 milhões em atireferentes a 4.298.408 par-
Na verdade, quando se ana lisam as resoluções do Conselho Monetário Nacional que dizem respeito às entidades de previ dência privada fica claro que. por mobilizarem uma massa considerável de recursos, estas entidades sempre foram vistas pelas nossas autoridades mone tárias como fonte financiadora do déficit público e como instru mento para execução da políti ca econômica de curto prazo. (Nota-se através das datas das resoluções que nunca houve uma política de longo prazo pa ra a previdência complemen tar).
Imóveis e empréstimos nanciamento aos participantes, rubricas de investimentos inte ressantes às entidades fechadas de previdência complementar e aos seus beneficiários, por não se enquadrarem nas fontes de crédito controladas pelas auto ridades monetárias tiveram seu limite de aplicação fixado em até 56% das reservas pela Re solução 460. Posteriormente este limite foi sendo alterado e com a vigência da Resolução 964 estas aplicações não podem mo bilizar parcela superior a 12% das reservas.
reservas das vos, ticipantes. Estes participantes e ativos estão distribuídos entre 4 categorias de entidades: enti dades fechadas, onde devemos separar as instituições patroci nadas por empresas particula res e aquelas vinculadas ao se tor governamental e entidades abertas, que podem ter fins lu crativos ou não.
Pelos quadros acima podemos observar que as entidades de Previdência Privada têm uma participação significativa no
É assim que podemos enten der que as debêntures não con versíveis, títulos que financiam a atividade da empresa priva da sem aumentar a carga tiàbu-
Mas a intervenção governa mental fica mais clara ao obser varmos 0 tratamento dispensado aos títulos públicos. A Resolu ção 460/78 estabelecia, como pa râmetro de aplicação em ORTN e LTN 15% das entidades abertas e 10% das re servas das entidades fechadas, no mínimo. Em 27.10.81, com a Resolução 707, os títulos de dí vida pública estadual foram equiparados às ORTN e LTN para fins de investimento da Previdência Privada, pois sua colocação no mercado era difí cil devido ao pouco interesse dos investidores individuais. Em 24.03.82 a Resolução 729 veio alterar para 30% das reservas 0 valor mínimo das aplicações em ORTN, LTN e titulos esta- ►
duais pelas entidades fechadas de Previdência Privada. Apesar desta resolução ter vigência prevista até o final do exercício de 83, em 11.01.83 através da Resolução 794, determinou-se que 0 mínimo de aplicação nes tes títulos passaria a ser 20% das reservas. Finalmente, em 12.09.84 foram baixadas as re soluções 963 e 964 que deixavam clara a intenção das autoridades monetárias de financiar parte do déficit público do País atra vés da Previdência Privada que, compulsoriamente, orienta rá uma massa volumosa de re cursos para os títulos públicos. Todas as entidades de Previdên cia Privada terão no mínimo 35% de suas reservas aplicadas em ORTN e LTN e no mínimo 10% investidos em títulos esta duais a partir de 14.12.84 ainda que, proporcionalmente, a recei ta das aplicações em ações e debéntures supere a receita das aplicações em títulos públicos.
Alguns Problemas Relativos à Implantação da Previdência
Privada no Brasil
A regulamentação da Previ dência Privada no Brasil, ocor rida no final da década de se tenta. apresenta pelos dois aspectos importantes para tema menos consideração do em a
Ela representou um análise, significativo avanço em relação â situação anterior, principal mente na medida em que pro curou evitar proliferação de entidades fictísem qualquer condição dc
surgimento e 0 cias, efetuar o pagamento dos bene fícios prometidos. A disciplina das entidades de Previden- çao cia Privada teve, assim, efeito moralizador, ao impedir a um prática de abusos contra a eco nomia popular, exigindo para sua organização e funciona mento a observância de requi siteis técnicos específicos, além

severa de submetê-las a fiscalização governamental. Em segundo lugar, não foi ela pre cedida de uma ampla discussão pública sobre a oportunidade e conveniência das opções feitas, capaz de lhe conferir a flexibi lidade necessária para adaptarse a uma realidade sócio-econômica peculiar. Além disso, a regulamentação da Previdência Privada brasileira, diferente mente do que sucedeu nos Es tados Unidos, onde os fundos de pensão nasceram como uma exigência da sociedade, teve como objetivo a implementação de um modelo de desenvolvi mento planejado, sob a tutela governamental.
Nos Estados Unidos come-
çou a surgir, de forma mais aguda, no final da Segunda Guerra Mundial, uma preocupa ção maior com o futuro, repre sentada pela incerteza quanto à possibilidade de ocorrência de mudanças rápidas, em substi tuição a uma visão mais con servadora em relação aos acon tecimentos. O conflito mundial e a Guerra da Coréia fizeram, ainda, com que a economia americana adotasse uma polí tica de estabilização de preços em que não se permitia às em-
presas a elevação dos salários de seus empregados. Em conseqüência, surge um conflito de interesses, cujos atores princi pais são, de um lado, os sindi catos desejando aumentos reais de salários e, de outro, as com panhias impedidas de conceder os aumentos pretendidos pela política de estabilização dos preços. A solução encontrada e que parece ter correspondido às aspirações das partes en volvidas consistiu na criação dc programas privados dc aposen tadoria, pelos quais, em troca dos aumentos salariais deseja dos, se concediam benefícios sociais futuros a serem pagos quando da aposentadoria do em pregado.
È evidente que, neste episó dio, 0 poder de pressão dos sin dicatos americanos foi decisivo
para a institucionalização da Previdência Privada e de outro.s benefícios sociais naquele país. O terceiro elemento, responsá vel pelo surgimento dos fundos de pensão nos Estados Unidos, foi a concepção, desenvolvida desde o final dos anos vinte, de responsabilidade social da em presa. Segundo se acreditava, caberia à empresa, como uma espécie de retribuição aos ser viços prestados pelo emprega do, oferecer-lhe amparo após o término do período ativo de tra. balho.
No Brasil, ao contrário, a Previdência Privada não sur giu como uma conseqüência das pressões da sociedade ou do po der de barganha dos sindicatos. A sua regulamentação se deu. conforme a tradição brasileira, de cima para baixo, sem que houvesse em sua implantação, uma compreensão mais ampla dí responsabilidade social do empresário. O paternalismo es tatal se fez sentir, mais uma vez. como resultante da adoção de um modelo de crescime.ito acelerado em que o planeja mento da economia sob lideran-

ça estatal, era concebido como a forma mais adequada para se alcançar o desenvolvimento. O custo elevado dos planos faz com que o seu acesso se restrinja às grandes empresas atendendo, de maneira prefe rencial, os setores da população que percebem remuneração acima dos níveis salariais mé dios para os quais a aposenta doria significa um risco de di minuição de renda. Dado esse alto custo, 0 maior grau de in teresse na constituição de fun dos de pensão registra-se nas empresas de grande porte, ge ralmente naquelas que têm de cinco a dez mil empregados. Essas empresas mostram-se. quase sempre, propensas a criar entidades fechadas que. na sistemática da Previdência Privada brasileira, possuem al gumas vantagens. Uma delas consiste, precisamente, na sua maior flexibilidade, isto é, na possibilidade de implantação de planos que atendam às neces sidades de cada empresa e seus funcionários, sem obedecer a modelos rígidos.
.'Mcm disso, caracterizamentidades fechadas pelo
se as fato de não gerarem lucro o que faz com que a rentabilidade al cançada por suas aplicações seja reinvestida no próprio fundo. Por outro lado. inexistindo um grupo que assegure n bom funcionamento do plano, os investimentos mal-sucedidos üu os erros dc montagem do programa terão que ser banca dos pela empresa patrocinado ra e pelos participantes do plano. As entidades abertas, não obstante acarretarem maiores custos, oferecem um sistema montado e, portanto, mais ca paz de agilizar a implantação dos planos. Em uma entidade aberta o custo de um plano re presenta, para a empresa, cer ca de 7% de sua folha de pa gamento, índice que poderá
cair pela metade no caso de contribuição dos empregados. As entidades fechadas apresen tam um custo ainda menor, já que a própria entidade se en carrega da administração do programa, recorrendo a tercei ros para intermediar as suas aplicações ou assessorar seus cálculos atuariais.
A estrutura dos fundos de pensão instituídos no Brasil amoldou-se apenas às grandes empresas que, pelo seu vulto, puderam fazer face aos custos que a sua criação acarretava. Daí porque mais de dois terços dos fundos de pensão hoje exis tentes pertencem às empresas estatais, sendo que os restantes são constituídos por empresas transnacionais ou por empresas privadas nacionais, de grande expressão no mercado interno. Pesquisas recentes demons traram que a falta de confian ça, por parte do grande público, em relação às entidades de Previdência Privada e o desco nhecimento do funcionamento do seu mecanismo, têm-se cons tituído em fatores que dificul tam a consolidação da Previ dência Privada no Brasil. Quan to ao primeiro deles, pode-se dizer que a variável confiabili dade foi consideravelmente re forçada a partir da regulamen tação das entidades de Previ dência Privada, ocorrida em 77 e 78. já que hoje o mercado é ocupado por entidades susten tadas por grandes conglomera dos financeiros, o que contribui para oferecer maior segurança aos investidores.
Quanto ao segundo, é fora de dúvida que o modo de regu lamentação de tais entidades concorreu para seu desconheci mento pelo grande público. Sua estruturação se deu sem uma prévia consulta aos agentes in teressados e sem um período em que as instituições que ope ram no mercado se adaptassem às modificações técnicas intro¬
duzidas pela legislação (na Suí ça a adaptação se deu em 13 anos, entre 1972 e 1985). Por úl timo, um dos grandes proble mas que afetam o desenvolvi mento da Previdência Privada no Brasil se refere à situação de crise econômica que atra vessa o País, às incertezas quanto ao futuro e à perda de poder aquisitivo dos salários.
Conclusão: Viabilidade e Alternativas
A análise da evolução das normas referentes à aplicação das reservas técnicas dos fun dos de pensão demonstra, de maneira bastante clara, que a imposição de percentuais cada vez mais elevados a serem aplicados em títulos públicos revela a tentativa de utilização dos recursos da Previdência Privada para o financiamento do déficit público. Este fato comprova que a criação e o desenvolvimento da Previdên cia Privada no Brasil não ocor reu de forma espontânea, co mo consequência das necessida des e pressões dos diversos grupos sociais, mas, ao contrá rio, obedeceu a uma lógica própria peculiar ao modelo desenvolvimentista posto em prá tica a partir de 64, Por isso é que, muitas vezes, a Previdên cia Privada foi utilizada para a realização de certos fins que. de modo geral, nada tem a ver com os objetivos para os quais ela foi criada: manutenção dos níveis de renda após a aposen tadoria e desenvolvimento do Mercado de Capitais.
Aliás, quanto ao primeiro aspecto, a atual crise da Previ dência Social brasileira, além de sua incapacidade em preser var os níveis de renda percebi dos pelo trabalhador, quando em atividade, devido, principal mente, aos índices adotados pa ra 0 cálculo dos salários-benefício, sempre muito inferiores à inflação do período, abre possi bilidades para que haja um ►
maior crescimento da Previ dência Privada entre nós. Mas, para que isso venha a ocorrer, algumas medidas terão que ser tomadas.
Indiscutivelmente, a regu lamentação da Previdência Pri vada levada a cabo pela Lei 6.435/77 e pelo Decreto 81.240/ 78 contribuiu para uma ordena ção mais adequada do setor, subordinando a criação e fun cionamento das entidades de
Previdência Privada ao cum primento de critérios de natu reza técnica que, em última instância, tinham por objetivo proteger a economia popular contra os abusos que pudessem vir a ser praticados. Porém, se isto é verdade, é preciso tam bém reconhecer que a legisla ção 'sobre a Previdência Priva da se enquadrou dentro da ló gica desenvolvimentista do pla nejamento econômico, devendo servir, afinal, à realização de suas metas. Daí, por exem plo.
zes

reunindo 11.800.000 trabalhado res e 3.700,000 pensionistas. Es ses fundos estão associados a empresas privadas e ao setor público sendo que 79.000 deles têm menos de 30 membros c movimentam recursos da ordem de 130 bilhões de libras.
Os “occupational pension schemes” admitem três opções básicas quanto à forma de alo cação dos investimentos:
a) Política de seguros — os recursos pagos pelos partici pantes dos fundos são repassa dos a uma companhia de segu ros que passa a ser responsá vel pelo pagamento dos benefí cios devidos;
b) Auto-administração — a responsabilidade pelos investi mentos é dos gerenciadores dos fundos;
c) Gerência de recursos — os recursos são aplicados atra vés de especialistas em inves timentos, que podem ser uma companhia de seguros, um ban co comercial ou uma corretora de títulos. Os recursos são apli cados em títulos de renda fixa
a faculdade concedida CMN de, mediante reso luções, estabelecer as diretria serem observadas quanto às aplicações das reservas téc nicas tanto das entidades aber tas como das fechadas. Este fato indica, por parte do Governo, um imenso poder de ação sobre o setor, sendo que as entidades envolvidas não têm qualquer participação nas decisões tomadas. Some-se a isto a extrema velocidade ao (títulos governamentais), no Mercado de Ações ou em Imó veis.
com que se processam as mu danças na legislação, devido à necessidade de ajustá-la aos objetivos visados pela política econômica governamental, co locando em risco os níveis mí nimos de certeza e segurança exigidos para o bom funciona mento do setor. A permanência desse estado de coisas pode se constituir, mesmo a curto pra zo, num fator de inibição do desenvolvimento da Previdên cia Privada no Brasil.
Sob determinado ponto de vista, é necessário, ainda, con-
siderar que a implantação da Previdência Privada brasileira foi caracterizada por uma cer ta rigidez. Assim, quem quer hoje constituir um fundo de pensão deve, necessariamente, obedecer ao modelo legal, op tando, quer pela constituição de uma entidade de previdência fechada, quer por uma entida de aberta. Talvez fosse o caso de, numa futura reformulação do sistema, conceder-se maior liberdade ao mercado para que este tivesse a possibilidade de instituir novas formas de Previ dência Privada, o que não sig nificaria a eliminação das al ternativas existentes, mas tãosomente, a ampliação do loque de possibilidades tendo em vis ta a criação de formas maii ágeis e flexíveis, ainda que não ortodoxas. Os exemplos inglês e suíço, a esse respeito, são bas tante elucidativos.
A principal forma de apo sentadoria na Inglaterra é cons tituída pelos “occupational pen sion schemes” isto é, planos de pensão estabelecidos pelos em pregadores que pagam uma parcela das contribuições (na maioria dos casos, maior que a parcela dos empregados). As estimativas são de que existem mais de 90.000 desses fundos
O importante é notar na Inglaterra o caráter pouco con vencional da constituição dos fundos de pensão, sendo a sua implantação meramente contá bil. no próprio plano de con tas da empresa, não havendo necessidade de se obedecer a um aparato institucional. Outro ponto a ser observa do é qué a composição dos fundos é de, geralmente, 30 membros, o que possibilita a empresa constituir fundos pa ra cada categoria profissional. Essa flexibilidade constitutiva e operacional contribui grande mente para a formação de fun dos de pensão nas pequenas e médias empresas.
Na Suíça, além do Seguro Federal AVS/AI, para os casos de invalidez, morte ou velhice, obrigatório para toda popula-
ção, a Previdência Profissional é constituída tendo por objetivo assegurar ao contribuinte um nível de vida mais próximo da quele que tinha antes da apo sentadoria, através de 19.000 caixas de aposentadoria, supe rando 0 nível mínimo garantido pelo AVS/AI. Por essa forma, 0 empregador terá que, forçosamente, inscrever seus traba lhadores numa instituição de previdência de empresa ou si milar, pagando ao menos meta de das cotas (estudos recentes indicam que, em média, hoje o empregador contribui com 70% das cotas atingindo 80% da po pulação ativa). A renda perce bida pelo indivíduo, após o abandono da força de trabalho, se seu salário estiver na faxia de até 36.000 francos anuais, deverá corresponder a 60% do seu último salário, servindo a Previdência Profissional de complemento à renda propor cionada pelo AVS/AI. É perfeitamente possível a inscrição de indivíduos como contribuintes

— aplicar mais em empresas que utilizam verbas de pes quisas na busca de melho ras no processo produtivo e não naquelas que desenvol vem novos produtos; — aplicar mais nas empresa.s que demandam menos ca pital do que as que necessi tam de grande massa de in vestimento; — aplicar mais nas empresas ligadas a recursos naturais que compram reservas exis tentes do que as que se de dicam a investir em explo ração; Esse processo centralizado de decisão dos money managers com uma visão de curto prazo e com a preocupação de retorno muito rápido está com prometendo nos EUA a própria perspectiva do crescimento fu turo das empresas, ocasionan do uma redução na capacidade tecnológica e aumento do grau de vulnerabilidade das empre sas.
Finalmente, podemos ob servar que a constituição dos nossos fundos de pensão tivena tutela estatal independentes, numa instituição de Previdência Profissional. Atualmente, todas as institui ções devem ter disponibilidade imediata de recursos para que um empregado possa transfe rir sua poupança ao mudar de emprego (anteriormente, ape nas a parte do empregado era transferida, o que acarretava num desembolso muito grande do empregado para participar de outro fundo; a parte patro nal ficava incorporada ao fun do).
forma clássica de Previdência Privada, poderia significar uma alternativa viável para aumen tar 0 grau de flexibilidade do sistema atual. Como programa destinado à formação de patri mônio, visa ele ao atendimento de objetivos de natureza so cial: aposentadoria, poupança para a casa própria, educação dos filhos, desemprego prolon gado, invalidez ou morte. Os valores aplicados poderão cons tituir-se numa carteira de in vestimentos individual ou em cotas de investimento coletivo (fundos ou clubes de investi mento). Quanto aos valores aplicados, um terço dos inves timentos em ações e os dois ter ços restantes aplicados em ati vos financeiros de livre esco lha do participante. O resgate dos valores aplicados poderá ser realizado após 10 anos de permanência no programa, na homologação da aposentadoria oficial ou na idade de 65 anos. Com a implementação do programa PAIT, contaríamos com 0 importante retorno do investidor individual, que tanta falta está fazendo a nós e a to dos os principais mercados de capitais do mundo. Por exem plo, a volta do investidor pes soa física teria o condão de evitar o que está sucedendo no mercado americano, também altamente concentrado na mão dos investidores institucionais (60% de todos os títulos no mer cado são controlados pelos ad ministradores dos fundos de pensão e fundos mútuos que detém US$ 1 trilhão aplicado em ações e títulos de renda fi xa e que realiza, em média de 80% a 90% das transações diá rias). Atualmente, em função da alta de juros e da competi tividade dos fundos os money managers (administradores de fundos), estão pautando a sua estratégia na compra de ações da seguinte forma: — aplicar menos em novos ris cos, concentrar as aplica ções em ativos já existentes:
0 seu ram apoio e com uma abrangência principalmente nas companhias estatais; num segundo plano estamos tendo uma tentativa por parte do Codimec — Comi tê de Desenvolvimento do Mer cado de Capitais de implanta ção do PAIT que visaria a atender a um público de clas se média, mas não podemos es quecer que os sindicatos deve ríam também tentar elaborar planos semelhantes para que a classe trabalhadora e de me nor poder aquisitivo tivesse a possibilidade de participar de planos semelhantes. Talvez o exemplo belga, em que o sindi cato portuário criou uma caixa de compensação, objetivando minorar com a contribuição dos portuários o problema do desemprego uma forma simples e objetiva constituir uma espécie de segu ro desemprego.
A Previdência Profissional comporta dois sistemas distin tos de contribuição: no primei ro deles, 0 prêmio é fixo e por tanto, as contribuições são va riáveis, levando-se em conside ração a inflação; no outro, o que é fixo é a prestação paga, acarretando um prêmio variá vel. conseguiu de No Brasil, o próprio PAIT (Sistema de Formação do Pa trimônio Individual do Traba¬ lhador), mesmo não sendo uma >
A perda de poder aquisitivo da classe média, num período de grave crise econômica, tem sido um poderoso obstáculo ao desenvolvimento da Previdên cia Privada entre nós. Pior que isso, talvez seja o dirigismo es tatal e as consequentes distor ções que ele traz para a livre iniciativa. Assim, por exemplo, a imposição, pelo Conselho Mo netário Nacional, de perôen tuais elevados a serem aplica dos em títulos públicos, em re-
lação às reservas técnicas dos fundos, revela uma óbvia ten tativa de utilização dos recur sos da previdência privada pa ra financiamento do déficit pú blico. Com isso. ela acaba por ser desviada para a realização de fins que, de modo geral, na da têm a ver com os objetivos para os quais tinha sido criada, ou seja, para a manutenção dos níveis de renda após a apo sentadoria e para o desenvol vimento do .mercado de capi-
tais. Mas neste momento atual, na perspectiva de modificações, nada mais justo que pensarmos em novas alternativas que po derão auxiliar o futuro dos tra balhadores como também criar uma poupança forte e consoli dada que possa se tornar uma fonte geradora de novos em pregos e também um constante canal para a capitalização da nossa empresa privada nacio nal <

1. Fundos de Pensão não foram Ini ciativa espontânea. Raymundo Magliano Pilho — Folha de São Paulo — 14.Jan.79.
2 A política financeira esvazia os Fundos de Pensão? — Tendência — Abr.81,
3. A Previdência Privada; a hora de .ser previdente — Antonio José Ll* bório — Tendência — Mal.82.
4. Previdência em apuros — juntura Econômica — Jun.82.
Horácio dc Mendonça Neto RBMEC — Mai.Ago.80.
9, Fundações de previdência privada e o mercado de valores mobiliá rios — Luiz Carlos M. da Rocha Paes — RBMEC — Set.Dez.82.
10. Fundos de Pensão públicos e pri vados nos EUA — Eirik Pjrubotn e Peter Rose — RBMEC Mai.AgO.
regulamentação em vigor cio de Mendonça Neto
Horá
16, La prévoyance sociale em Suis.se — Jean-Pierre Beausoleil.
17. Introduction a une politique de prévoyance — Lombard, Odier & Cie — Genebra.
18. Scorc Board Speciat 84 — Business Week. 21 Mar 78
29. Pensions Dankner. Con-
11. Os Fundos de Pensão e o merca do de ações — Revista da BoLsa — Out.79.
R. Steinberg e H
20, The complete retiremem book — F. Bowman. hand-
5. Fundos de Pensão: o futuro sem preocupações — Conjuntura Eco nômica — Jul.83.
12. Fundos de Pensão Moyses Glat.
21. A crise morai e financeira previdência social brasileira Rio Nogueira. cia 13. A revolução invisível — Drucker. Peter 6, O grande negócio do futuro — Antonio Félix — Balanço Finan ceiro — Mar. 84.
7. Previdência Privada — Exame — 22.Fev.84.
8 Regulamentação das aplicações das fundações de seguridade —
14 Previdência social e processo po lítico no Brasil — Amélia Cohn.
15. As aplicações de ativos da pro vidência complementar, a expe riência e o caso brasileiro em fa ce da realidade do mercado e da
22. Ninth Annual Survey of Occupa tional Pensíon Schemes — 1983 — The National Association of Pen sion Funds Limited.
23. Anais do I, II. UI, IV e V Con gressos da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Pre vidência Privada.

Fui colega de Gustavo Ca panema na Faculdade de Direi to de Minas Gerais onde alicer çamos amizade que viria a du rar a vida inteira.
Dotado de alta inteligência, das mais notáveis que conheci pela profundidade e pela exten são, ou seja, pela diversidade das cousas pelas quais se inte ressava, pela rara capacidade de estudar e saber, foi o aluno mais distinto da nossa turma, havendo alcançado a nota má xima em todas as disciplinas do curso, 0 que lhe ofereceu o Prêmio Barão do Rio Branco.
Já nessa época longínqua, ele se interessava pela educa ção e exerceu com muito êxito o magistério particular de que passou para o público, ao re gressar à cidade onde nascera, para cuja escola normal fora nomeado professor, por forma que, quando veio a ser ministro da Educação e Saúde, em 1934, não era um noviço em matéria educacional: já conhecia parte do grande conteúdo do seu Mi nistério, teórica e praticamente — nos livros e nas salas de au la, restando-lhe familiarizar-se com o que dizia respeito à saú de, a que se dedicou afincadamente, lendo, estudando e dis cutindo com os chefes do servi ço dessa área, na qual veio a ser de ampla repersussão o seu trabalho, de que nasceram vá rios serviços de suma importân cia, como, por exemplo, o De partamento Nacional da Crian ça, 0 Departamento de Tuber culose, o Departamento de En-
demias Rurais e várias campa nhas sanitárias de âmbito na cional, entre elas a desfechada contra a febre amarela, que, graças à sua clarividência, con tou com importante auxílio téc nico norte-americano, chefiado pelo ilustre professor Soper, es forço pelo qual o governo dos Estados Unidos lhe concedeu medalha comemorativa.
Além disso, reorganizou a sua repartição na área educa cional, dotando-a de órgãos in dispensáveis, tais, 0 INEP. cuja organização e direção entregou ao grande mestre da pedagogia Lourenço Filho, o Instituto Na cional do Livro, 0 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, confiado ao critério e à inteligência de Rodrigo Mello Franco de Andrade, o Serviço Nacional do Teatro. Demais, criou a Faculdade de Filosofia e a de Ciências Econômicas, bem como a Escola Nacional de Educação Física, e instituições que vieram todas a servir de exemplos e moldes para o res to do País.
Em fevereiro de 1938, foi criado o Colégio Universitário, de cuja organização fui incum bido e que em março começou a funcionar. O seu objetivo era dar preparação específica em disciplinas básicas dos cursos superiores, preservando, ao mesmo tempo, a cultura geral, para o que eram comuns a to dos os cursos português, inglês, francês e literatura. Os resulta dos foram excelentes. Deixou esse órgão de existir alguns
anos depois. Ninguém nunca soube por quê.
Paralelamente, fez funcio nar numerosos cursos avulsos, dos quais é exemplo muito sig nificativo 0 destinado à prepa ração de inspetores para fisca lizar e — mais do que isso — orientar as aulas de educação física nos estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo Gover no Federal.
Outra criação oriunda do mesmo cérebro privilegiado fo ram as escolas técnicas indus trias, dotadas de cursos secun dários adequados aos seus fins, excelentemente aparelhadas do ponto de vista tecnológico, e há muito abandonadas a si mes mas e, portando, não moderni zadas. Infelizmente, no Brasil tudo é mais ou menos assim; por incúria, incompreensão e incompetência nada consegue durar, constituindo exemplos do mesmo gênero o INEP, fundado por Capanema, conforme ficou assinalado; e os Centros Regio nais de Pesquisas Educacionais, frutos da imaginação criadora de Anísio Teixeira e concretiza dos quando tive a honra de ministro da Educação no gover no do raro homem de Estado Nereu Ramos, cuja penetrante inteligência imediatamente com preendeu e aprovou a minha iniciativa.
Tal enumeração, que, aliás, não será completa por deficiên cia da minha memória, falharia > ser
Abgar Renault é ministro aposentado do Tribunal dc Contas da União e membro da .Academia Brasileira dc Litra.s.





Segundo esses interpretadotodos os direitos individireitos imanentes do
Provisório, era o § 4.° do art. 85.
possibilidade desta restrição ab surda. res, duas.
homem, direitos imprescritíveis, direitos que antecedem
Dos nove nomes que assi nam esse projeto a única auto ridade científica é o sr. Rui Barbosa.
“A Constituição america na". diz Thomas M. Cooley, "mede e limita os poderes dos governantes, mas não dos gover nados". e pri mam a todas as leis, acham-se restritos àquele parágrafo.
A todos esses direitos, ao direito de locomoção, ao direito de associação e de reunião, ao direito de inviolabilidade do do micílio, ao direito de liberdade de pensamento, a todos, enfim, aquele mágico parágrafo, que significa 0 que não diz, impõe, segundo essa escola, restrições de que nem a Constituição nem as outras leis jamais cogitaram.
"Não poderão ser admitidos como objeto de deliberação, no Congresso, projetos tendentes a abolir a forma republicana-federativa’’, diz a Constituição.
Logo, concluem os tais interpretadores, logo, os cidadãos, que não são o Congresso, não podem, também, discutir sobre a forma de governo; logo, os que discutirem a forma de go verno e concluírem pela sua condenação, não gozam do di reito de associação e de reu nião. o seu domicílio não é in-
Este incomparável espírito que reviu, senão redigiu todos os artigos desse projeto, com certeza estará horrorizado da interpretação que lhe querem dar os juizês governistas.
Devemos, porém, para me lhor estudo da natureza e do alcance do § 4.° do art. 90, ver a legislação e a prática dos po vos cultos naquele assunto.
Obedecemos assim ao art. 386 do Decreto n.° 848, de 2 de
Número recente do The Economist estampou uma carta gecgráfica do mundo, com os regimes democráticos e os ditatoriais. Estes são maioria. violável, não têm liberdade de pensamento nem de locomoção, quando quiserem externar ou fazer prevalecer a sua opinião, ainda que o façam por meios não violentos.
Pode-se chamar isto uma interpretação?
É, no entanto, a de vários magistrados dos Tribunais Su periores da República.
Esta verdadeira monstruo sidade jurídica vale aos seus sustentadores os elogios dos jornais seus amigos.
Fosse ela externada em exame e sendo os professores conscienciosos, o caso era para bem merecida reprovação.
No entanto, é preciso ver a origem e a extensão desse § 4.° do art. 90 que, no projeto da Constituição, publicada a 23 de outubro de 1890 pelo Governo
outubro de 1890, que organiza a Justiça Federal e que manda considerar os estatutos dos po vos cultos como legislação sub sidiária.
A disposição do § 4.° do art. 90 é uma disposição antiamericana.
E é natural.
Todos os países da Améri ca baseiam o seu edifício polí tico no dogma da soberania na cional. Dizer que uma forma de governo não pode ser mudada, é impor uma restrição inexpli cável à soberania nacional.
Não sonharam os fundado res dos Estados Unidos com a
Naquela República, o direi to de revisão é ilimitado. G. Arnoult, admirando, a esse pro pósito, a sabedoria americana, lembra as expressões enérgicas dos estadistas e jurisconsultos americanos, afirmando a sobe rania ilimitada da nação.
"0 povo fez a Constituição, 0 povo pode desfazê-la", diz o juiz Marshall; “ela é sua cria ção e não existe senão pela sua vontade".
Van Buren diz que o direito de revisão ilimitada é a pedra angular do sistema americano. Estas afirmações, afinal de contas, não são mais do que a teoria proclamada pelos auto res da Declaração da Indepen dência, quando escreveram: “Todas as vezes que uma forma de governo contrarie os fins para que foi criada, o povo tem 0 direito de mudá-la ou de aboli-la, de instituir um novo governo baseado nos princí pios e de organizar os seus poderes na forma que lhe pa recer mais própria, para a ga rantia da sua segurança e da sua felicidade".
A disposição do § 4.° do art. 90 da Constituição da República não se inspirou na Constituição dos Estados Unidos.
E nem de nenhum povo americano.
A Constituição do México diz no art. 39 que o povo con serva sempre e em todo o tem po 0 direito inalienável de al terar ou de modificar o seu go verno.
A Constituição argentina diz po seu art. 30 que a Constitui ção é reformável no seu todo, ou, em cada uma das suas par tes.
A Bolívia, que está agora no gozo da sua décima-segunda Constituição, consigna nesta (art. 132) o mesmo principio.
A Constituição chilena não admite limitação à revisão.
A Constituição da Colômbia estabelece, no seu artigo 209, a revisão ilimitada.
0 Equador, que está afo ra na sua décima primeira Constituição, estabelece princí pio idêntico.
monarquia que tem presidido a maravilhosa e poderosa trans formação daquele país.
A Constituição não nasceu e não existe por vontade do po vo, mas sim por vontade do im perador.
Quem deu ou reconheceu, ao povo ou no povo, o direito de intervir no governo, podia im por restrições nessa dádiva, ou nesse reconhecimento.
Não é esse o caso do Brasil.
A Constituição da Noruega, artigo 112, diz:
“Nenhuma modificação po derá jamais contradizer os prin. cipios desta Constituição, mas somente fazer algumas mudan ças secundárias, sem alterar o espírito daqueles princípios”.
A Constituição da Grécia diz, no artigo 107, que só as dis posições constitucionais não fundamentais podem ser objeto de revisão.

A Constituição da República brasileira dizem que foi feita pelo povo por meio dos seus re.
Na sua sétima Constituição, a de 1861, a revisão constitu cional era restrita; mas, depois disso, as quatro subseqüentes presentantes. ^ constituições equatorianas re- ° peliram essa limitação. disposição tirada das constitui- 0 Haiti, que também faz ÇÕes monárquicas da Europa? parte da integralização republi- cana da América, já teve 17 Na Inglaterra, o Parlamen- constituições e nenhuma delas ^ soberano: pode tudo mudar admitia a limitação que a Re- ^ t^do alterar. _ , . pública brasileira adotou. constituições da Bélgica,
Não admitem também essa úa Holanda, do Luxemburgo, da limitação as constituições de Alemanha, da Prússia, da Ba- São Domingos, de Costa Rica, viera, de Saxe, do Wurtemberg, de Guatemala, de Honduras, do da Áustria, de Portugal, da Di namarca, da Suécia e da Romê nia, não consignam tal restri-
Estas disposições são muito naturais, porque a Constituição norueguense existe em virtu de de um tratado com a Suécia, e é forçoso que uma das par tes só, sem assentimento ou au diência da outra, não tenha, du rante a existência do tratado, o direito de modificar ou alterar 0 objeto do mesmo tratado.
O reino da Grécia foi cons tituído por acordo das potên cias européias; por isso, tam bém essa limitação é justa e ló gica.
Teriam os autores da ConsParaguai, de San Salvador, de Nicarágua, do Uruguai, da Ve nezuela e do Peru.
Está, portanto, provado que não é americana a disposição constitucional, umas estabele cendo a necessidade da iniciati va real. e outras dizendo que esta revisão não se pode reali zar durante uma regência.
A Constituição da Itália e a Constituição da Espanha nada
Não foi, pois, ao Equador dizem sobre a revisão constitu cional. çao. Apenas limitam a revisão do § 4.“ do artigo 90, da Cons tituição do Brasil; pois, na América, nós apenas encontra mo-la, e temporariamente, no Equador que mais tarde a re pudiou.
Temos, pois, acabado a re vista das constituições monár quicas da Europa e nelas não achamos disposições análogas à do 4." artigo 90, da Consti tuição brasileira.
tituição brasileira tirado da Suíça republicana aquela dou trina?
Não.
A Constituição Suíça não impõe nenhuma restrição ao di reito da revisão constitucional. que fomos pedir lições de Direi to Constitucional.
Teriam, porventura, os le gisladores constitucionais da República ido pedir à Ásia li ções de liberdade e ciência constitucional?
Talvez.
Na Constituição do Japão, de 2 de fevereiro de 1889, ar tigo 74, está consignado que nenhuma modificação ao Esta tuto da família imperial pode rá ser submetida às delibera-
ÇÕes da Dieta imperial.
Este silêncio pode ser inter pretado de dois modos: Ou se pode entender que a revisão não é admissível pelos meios ordinários; e em relação à Itália é a opinião de Brussa que diz que só um plebiscito po de destruir o que fez o plebis-
Vamos, porém, encontrar aquela disposição numa lei constitucional francesa, donde foi transladada para o Brasil. É, pois, um preceito cons titucional francês que a Repú blica brasileira copiou da Repú blica francesa.
Devemos, portanto, estudar como ele foi votado em França e como 0 interpreta o legis lador francês, a justiça fran cesa, a administração francesa e os escritores franceses.
Em 1884, 0 Poder Legisla tivo francês, reunido em Concito. Ou, então, pode-se entender, de modo mais liberal, este si lêncio e é o que se faz em Es panha, onde todos os partidos pensam, não só que a ConstiMas a Constituição japone- tuição é reformável, como até sa é uma Carta outorgada pela que o é pelos meios ordinários.
gresso, decretou que ao § 3."’ do artigo 8.° da Lei constitu cional, de 25 de fevereiro de 1875, fosse feito o seguinte acréscimo:
"A forma republicana do governo não pode ser objeto de uma proposta de revisão”, os constituintes brasileiros disseram no § 4."', artigo 90, da Constituição, arti go que se refere às atribuições do Congresso, em matéria de revisão:
Em 1891,

Não poderão ser admitidos como objeto de deliberação no Congresso projetos tendentes a João de Scantimburgo abolir a forma republicana-federativa...
É, como se vê, a transcri ção quase palavra por palavra, da Constituição francesa.
Nenhuma lei brasileira e nem 0 Supremo Tribunal Fede ral interpretaram ainda esta claríssima disposição.
Ora, 0 art. 386 do decreto do Governo Provisório, de 11 de ou tubro de 1890, declara, nos casos omissos, subsidiários da juris prudência e processo federal os estatutos dos povos cultos.
Ora, 0 povo culto, para cujos estatutos escritos e consuetudinários devemos apelar, no caso presente, é o povo fran cês, único, como vimos, que tem, em sua Constituição, dispo sição igual à do S 4. . art. 90, da nossa Constituição.
Ora, como é que em França se tem entendido e aplicado esta disposição?
“Esta disposição", diz o es critor republicano de Bousquet de Florian, ‘‘é uma declaração de princípio e não pretende a resultados práticos. Tudo quan to se pode concluir dela é que, se uma proposta de revisão ten dente a modificar a forma do governo for apresentada às Câ maras. 0 presidente deverá re cusá-la, retirar a palavra ao orador e impedir as manifesta ções”.
Outro escritor, em monogra fia premiada pela Faculdade de
Direito de Paris, vê nesta dispo sição apenas uma declaração teórica que apenas significa que uma assembléia não pode tratar senão de assuntos de sua com petência.
Outro escritor de nota diz: ‘‘A impossibilidade parcial da revisão decretada pela Lei de 14 de agosto de 1884 não tem ção prática”.
O Congresso rejeitou a pro posta do Sr. Villeneuve a afir mar assim a sua vontade posi tiva de significar que, apesar da proibição constitucional da apresentação de projetos ten dentes a mudar a forma repu blicana, em França, o fato de afirmar por discursos, por es critos e por atos a vontade de mudar a forma do governo con tinuava a não ser crime, pois não se lhe impunham penas”.
E há treze anos que figura esta disposição entre os artigos da Constituição francesa, e até hoje ninguém se lembrou de, ba seado nela, proibir nem os jor nais, nem as reuniões, nem os clubes dos monarquistas fran ceses, que gozam de toda a li berdade.
E é por Isso que o povo fran cês é um povo culto e que razão teve 0 sr. Campos Salles man dando considerar os seus esta tutos subsidiários da nossa Ju risprudência.
Gabriel Arnoult diz que a disposição francesa teve apenas por fim fazer cessar a idéia de que a República era, na França, uma espécie de governo provi sório, pois a Constituição de 1875 nem sequer havia proclamado a República.
Camillo Peletan disse que ‘declaração sanera apenas uma mística” (9).
E como poderiam os escritu res franceses ter outra opinião?
O governo que apresentou essa emenda constitucional ex plicou bem 0 seu alcance políti co, e 0 próprio Congresso frances, na própria reunião em que a votou, teve logo ensejo de dar de modo solene a sua interpre tação autêntica e irrecusável.
O deputado Villeneuve pro pôs, como sanção prática da quela emenda, que se declaras se uma penalidade contra quem “por discursos, escritos, ou atos, afirmasse a sua vontade de mu dar a forma do governo”.
É por isso que a mesma li berdade têm os republicanos na Espanha e na Itália, embora na Itália se entenda que não há di reito a reformar em seu todo, a Constituição que os plebisci tos estabeleceram.
Não tivéssemos o exemplo da República francesa para ci tar aos que entendem que no Brasil todos os direitos indivi duais encontram uma restrição no § 4.° do art. 90 da Constitui ção, e poderiamos dizer que a razão desta divergência é que, segundo afirma e demonstra Laveleye, a República é menos favorável à liberdade do que a monarquia Constitucional (10).
Afinal, a questão no Brasil é simples.
‘Nao
A Constituição diz: poderão ser admitidos no Con gresso projetos tendentes a abo lir a forma republicana federa tiva. ..
Daí resulta que no Brasil há quem diga ser crime afir mar por discursos, escritos e
atos a vontade de mudar a for ma de governo.
Na França, o legislador constituinte e uma inalterada ju risprudência de treze anos jà declararam*que isso não é cri me, embora a Constituição fran cesa tenha disposição análoga à do nosso § 4.“ art. 90.
No Brasil, perguntamos nós, que lei já classificou esse cri me?
Que lei ou que artigo do código já lhe impôs penas?
Ora, atos que a lei não clas sifica de crimes, atos para os quais a lei não marca penas, poderão ser tudo quanto quise rem, mas nunca poderão ser cri mes: e, portanto, nunca poden do ser punidos, 0000=» podem ser proibidos.
No Brasil, o art. 90, § 4.° não pode ter nem interpretação nem aplicação diversa do que tem na República francesa disposição idêntica.
O legislador constituinte não quis estabelecer penas para quem escrevesse, falasse con tra a República ou por atos, ma nifestasse a sua vontade de mu dar ,a forma de governo.
O Código Penal, promulga do pela República diz, nos arti gos 107, 108, 115 § 2° que 0 que constitui a criminalidade do ato de tentar, diretamente, e por fa tos, mudar a Constituição ou a forma do governo é o emprego de meios violentos. (***)
Segundo 0 Código, desde que não haja meios violentos a opo sição não é criminosa.
Mais ainda:
O Código Criminal do Im pério considerava crime 0 pro vocar por discursos proferidos em públicas reuniões, alguém a tentar diretamente e por fatos destruir a Constituição ou a for ma de governo. (Art. 90).
Ora, 0 legislador da Repú blica suprimiu ,este artigo no Código Criminal novo, e, por tanto, deixou de haver 0 crime.
Não só podem fazer-se reu niões públicas monarquistas, desde que se não apresentem armados os que a elas concorre rem, como até é lícito fazer dis cursos nessas públicas reuniões contra a forma jrepublicana.
E a lei da República diz claramente quando a polícia po de intervir:
Pode intervir quando os ci dadãos reunidos estiverem ar mados, todos ou alguns (art. 118, Cód. Penal) porque então o ajuntamento é ilícito.
E também diz quando a po-
lícia pode proibir:
Só pode fazê-lo (art. 123, Cód. Penal) no caso de suspen são de garantias constitucionais e guardadas as formalidades dos artigos 121 e 122.
O art. 123 do Código Penal diz que é lícita a reunião para discutir os negócios públicos.
cussao, cios públicos que se podem dis cutir, quais os que não se po dem, discutir.
povo ou do Ministério público.
Esta disposição é própria da legislação de um país civi lizado, porque, tratando dos di reitos individuais, diz Laveleye, (11).
“A liberdade não exclue a ação repressiva da justiça, mas não admite a ação preventiva da polícia”.
O regime republicano pre tende ser fundado na razão e não na fé e, muito .menos, na força.
Se assim é, porque é que teme a discussão?
Para ser lógico, todo 0 re publicano deve poder repetir como Micher de Bourges, em
Não limita a matéria da disnem diz quais os negó1851:
“Pretender que não possa mos ser discutidos é afirmar que somos, não a verdade, mas sim 0 erro”, (12).

O negócio público, por exce lência, da mudança de forma de foi excluído da per- governo nao missão expressa do Código, que é a aplicação do § 8.° do art. 72 da Constituição, que diz que a todos (a Constituição nâo_ ex clui os monarquistas) é lícito o reunirem-se livremente e sem armas.
Ainda que, em contrário à razão, em contrário a todas as conquistas da civilização, que tem firmado os inalienáveis e imprescriptiveis direitos à liber dade de reunião e de pensamen to, se queira admitir que estes direitos estão anulados pelo § 4.0 do art. 90 da Constituição republicana, nem assim se con segue justificar essa opinião bárbara e antijurídica.
Como disse no Supremo Tri bunal o sr. José Hygino, esse artigo pode ser legal e consti tucionalmente regovado, e, por tanto:
O art. l.° do Dec. n.° 173 de 10 de setembro de 1893 admite e favorece, proporcionandolhes os meios de aquisição da individualidade jurídica fundadas para fins Ê lícito trabalhar pela sua revogação, e nenhuma autori dade pode impedir que os cida dãos, por meios não violentos. até as as- promovam essa revogaçao. Nenhuma autoridade sobetem 0 direito de limitar os sociaçoes políticos.
Permite, pois ções políticas em genero é, todas as associações Pplíti- distinção de opiniões. rana seus próprios poderes.
James Bryce relembra que antigas repúblicas gregas houve também 0 desejo de tor nar imutáveis e intangíveis, certas leis. chegando-se a esta belecer a pena de morte para as associaisto nas cas, sem E no art. 11 diz que as as sociações que se verificar, profins ilícitos ou se ser- movem vem de meios ilícitos, serão dis solvidas por sentença, mediante denúncia de qualquer pessoa do quem propusesse a revogaçao dessas leis.
Mas, diz 0 notabilíssimo pu-^
blicista, os que queriam des truir essas leis começavam sempre propondo a revogação da proibição da proposta da mudança e da sua penalidade.
E, diz ainda Bryce, assim sempre aconteceu e sempre deve acontecer.
O ato da União com a Ir landa estabelecia no seu c. 67 que a Igreja Protestante Epis copal seria para sempre a Igre ja oficial na Irlanda e dizia que esta disposição era “essen cial e fundamental”.
Pois, apesar disso, em 1869, a Igreja oficial foi aboli da, como se tal disposição proibitória não existisse (13).
Em França, donde foi co piado 0 § 4.0 do nosso art. 90, entende-se que ele pode ser re vogado.
“Se as duas Câmaras con cordarem em revogar este pa rágrafo”, diz Larcher (14) “e se 0 Congresso efetivamente o revogar, ninguém a isso se po derá opor”.
“Podem-se revogar esta co mo todas as outras disposições constitucionais”.
De Bousquet de Florian (15)
to da Constituição é a sobera nia popular, e esta é livre. O § 4.0 do art. 8 da Constituição francesa (de que o § 4.o do nosso art. 90 é cópia), diz a mesma autoridade, é uma sim ples tese de circunstância e se ria contrário aos princípios re publicanos interpretá-lo no sen tido absoluto.
Saint-Girons (16) diz que a mudança de forma de governo pode ser feita constitucional mente, porque é fora de dúvida que é lícito pedir a revogação daquele paragráfo, e esse, uma vez desaparecido, pode a mu dança ser proposta, discutida e votada no Congresso.
É sem dúvida um fenômeno interessante este que se observa na República brasileira.
Quando se trata de redigir uma lei, todos são liberais, são homens adiantados e de idéias livres.

os juizes na contingência de se desonrarem ou de desagrada rem ao governo, são causa de preferirem alguns o primeiro alvitre.
E por que isto?
Porque, quando se trata do legislar, os redatores das leis da República vão copiá-las de países adiantados, vão tirá-las de livros onde aprenderam, e, quando chega a hora da aplica ção, aparece dominador o espí rito antiintelectual, antijurídico, antiliberal, anticivilizado, anti-humano, que tem sempre presidido à República e que abençoou a união de seus pais: a escravidão e o militarismo.
Elste espírito o que quer é que os seus adeptos disponham dos destinos e dos dinheiros da nação sem um só olhar que oí fiscalize.
Este espírito é o que pre tende fazer da nação o patrimô nio de uma oligargia partidária, senhora da vida e da proprie dade dos cidadãos.
É 0 espírito de barbaria que, ou há de sucumbir, ou há de matar o Brasil.
Ele e só ele, é o inspirador da teoria de que, em virtude do § 4.“ do art. 90 da Constitui ção, é crime ser monarquista.
S. Paulo, 17 de fevereiro de diz:
“Que não se pode afirmar que este parágrafo não possa ser revogado, pois o fundamen- 1897”.
Quando se trata de aplicálas ei-los emaranhados nos tex tos das suas próprias leis, que são embaraços insuperáveis às suas violências e aos seus aten tados contra a liberdade. Eis os seus juizes dando às massas o espetáculo pouco edi ficante das suas contradições, da vulgaridade dos seus concei tos, da sua mal disfarçada ira contra os cidadãos que, pondo
A reforma agrária é assun to complexo, apaixonante e aci ma de tudo polêmico, em que os interessados se separam em facções em defesa do que con sideram as linhas básicas de um Plano de Reforma. Essas linhas se distanciam de um extremo conservador dos que defendem a reforma como apenas mudan ças na política agrícola, por considerarem a propriedade e o uso da terra como direito indis cutível do indivíduo, a um ex tremo oposto dos que desejam mudanças completas no sistema fundiário por considerarem a terra como bem comum da so ciedade, que exige regras espe ciais de uso e de posse. Com 0 novo Plano de Refor ma Agrária que vem de ser pro posto pela Nova República, sur giram de imediato acirrados, apaixonantes e radicalizantes debates sobre os acertos e os desacertos do Plano. Parte des ses debates provém do próprio projeto, da forma inadequada
foi redigido, faltando
em que clareza na exposição de seus propósitos, e, parte da atitude de alguns membros do Incra que fizeram declarações anteci padas e apavorantes a respeito da forma de execução do Plano. Ademais, iniciou-se de imediato movimentação antecipada de agricultores sem terra, evi dentemente orientada, exigindo das terras dos uma a ocupaçao ja.. latifúndios. Não pretendemos discutir esse Plano em seus detalhes. Não falaremos das contradições de suas estatísticas e de seus cálculos numéricos, que já têm sido apontados por muitos. Fa laremos apenas dos objetivos econômicos que alguns estudiojulgam possam ser alcança dos com a implementação do Plano. Tomaremos assim a Re forma Agrária como um dos ca pítulos de política agrícola. Dentro dessa conceituação, os seus propósitos podem ser as sim enunciados: a) combate à sos

pobreza dos agricultores sem terra; b) garantia de produção de alimentos e outros produtos agrícolas a preços baixos; e c) contribuição à retomada do crescimento econômico e social do País. Estes objetivos não estão devidamente explicitados no Plano, mas podem ser acei tos como uma interpretação simpática do mesmo.
Antes de entrar na análise propriamente dita desses obje tivos, faremos algumas conside rações paralelas ao assunto. Constata-se que muitos setores da sociedade brasileira aceitam 0 tema Reforma Agrária com muita simpatia. Possivelmente, por verem nele possibilidades de melhorias econômicas para seus setores. Não são apenas os agri cultores sem terras que vêem na Reforma Agrária possibilidades ►
O autor é economista agrícola e o texto foi apresentado no seminário “A Nova Rn pública: Estado c Sociedade” da lUPEKJ, Rio dc Janclro/RJ, 05 a 09 de agosto de 1985.

de ganho, ou seja, oportunidade de se tornarem proprietários e lavradores independentes. Tam bém os trabalhadores urbanos vêem possibilidades de ganho, com a oportunidade de poder comprar mais alimentos por me nores preços; assim como os di rigentes industriais e comer ciais antevêem a possibilidade da demanda de seus produtos e serviços ser intensamente ampliada no mercado interno, com a entrada da renda gera da pelo aumento de produção dos novos agricultores. Sem fa lar nos intelectuais, que vêem na reforma a possibilidade de se vir a ter no campo uma so ciedade adequadamente politi zada e de altos valores éticos e morais. Toda essa perspectiva de ganho explica a nosso ver a simpatia encontrada no País pe la Reforma Agrária. E é conve niente lembrar que a mesma simpatia se encontra nos países desenvolvidos, quando conside ram os países em desenvolvi mento e apontam todos os lati fúndios, mesmo os produtivos, como responsáveis pelo atraso econômico e social de suas po pulações. Pode dizer-se que a Reforma Agrária é o único tema em que os Estados Unidos e a União Soviética não divergem seriamente, ainda que o primei ro defenda a pequena proprie dade agrícola familiar e o se gundo tenha preferência mar cante pelos grandes assenta mentos coletivos.
Vejamos de onde vem essa simpatia, ou melhor, essa cren ça de que através da Reforma Agrária conseguem-se esses be nefícios. Será de exemplos de outros países? Ou de propagan da ouvida a respeito? Ou, ain da. de outras causas?
Acreditamos que a razão principal se encontre nessas ou tras causas, ou seja, num raciu cínio de certo modo simplista que se inicia com a constatação de que o Brasil tem número enor-
me de agricultores sem terra e imensas áreas de terras sem cultivo, as quais seus proprie tários não mostram interesse de utilizar. E que, portanto, basta transferir essas terras para es ses agricultores para se ter o aumento de produção desejado, de alimentos e matérias-primas de origem agrícola. Esse racio cínio prossegue, na mesma linha simplista quando se aceitam exp>ectativas otimistas, como se jam as de que os centros urba nos ficarão assim plenamente abastecidos, que os preços dos alimentos e dos produtos agrí colas baixarão e as exportações
'Ji L-1.V /
mznji O agricultor não se interessa pela gleba, se não tiver a renda líquida desejada. Esse ponto não tem sido considerado pelos que advogam a Reforma Agrária. 1 .W para o Exterior ampliar-se-ão. E, ainda, que a indústria e o comércio terão acréscimos sen síveis na demanda de seus pro dutos e serviços, com a entrada no mercado consumidor da ren da gerada pelos novos agricul tores, com o aumento de suas produções.
Não há dúvida que tal se quência pode em princípio ocor rer, e que é muito agradável aceitá-la, pois ter-se-á, assim, na Reforma Agrária, a panacéia desejada, para resolver os pro blemas econômicos e sociais da agricultura e para incentivar c desenvolvimento econômico do Pais.
Mas, serão as expectativas econômicas incluídas nessa li nha de raciocínio adequadamen te realistas? Haverá possibili dades desses benefícios virem a ocorrer em nosso País?
Temos dúvidas a respeito, pois há uma série de argumen tos que falam em contrário. Primeiramente, devemos lem brar que para ocorrer essa se quência de benefícios se fazem necessárias duas condições bá sicas: que os sete milhões, ou número parecido, de agriculto res que se pretenda assentar como empresários 'rurais pos sam produzir com muita efi ciência, no sentido de obter ín dices adequados de rendimento, níveis baixos de custos de pro dução e margens satisfatórias de lucros; e que os atuais em presários rurais do País, gran des, médios e pequenos, que vêm dando nas últimas décadas grande expansão à agricultura moderna do País, não sofram uma séria reversão de expecta tiva, reduzindo seus investimen tos e suas atividades agrícolas, com receio de terem suas ter ras e propriedades agrícolas de sapropriadas.E, ainda, uma ter ceira condição que é a das me didas de política agrícola serem abrangentes, de tal forma a não previlegiarem apenas o grupo da área reformada.
Essas condições mostram-se fundamentais para se ter a se quência de benefícios e, portan to, 0 sucesso do atual Plano de Reforma. Pois se o aumento de produção dos novos assentamen tos não for acompanhado por redução de custos de produção, assim que esse aumento chegar no mercado e que os. preços bai xarem por aumento de oferta, os novos agricultores, ao cons tatarem que não estão tendo lu cro, sentir-se-ão desestimulados a continuar em suas glebas de assentamento. E se isso acon tecer teremos sustada a sequên cia de benefícios e o sucesso do

Plano. Do mesmo modo, se os atuais empresários agrícolas, grandes, médios e pequenos, atualmente responsáveis pelo grosso da produção comercial do País, restringirem seus in vestimentos por falta de crédito ou por receio de futuras desa propriações, teremos um impac to adverso na economia do Pais que anulará os benefícios que 0 Plano poderia apresentar. Pode parecer estranha a afirmativa que fizemos há pou co, que 0 agricultor não se in teressa por sua gleba se com ela não obtiver a renda líquida desejada. Aliás, esse ponto não tem sido devidamente conside rado pelos que advogam em fa vor dos planos de Reforma Agrária. Mas julgamos que não há dúvida a respeito. O que o agricultor pobre, sem terra, de seja e quer é renda líquida que lhe permita adquirir bens e ser viços que deseja consumir. Se a gleba não lhe der essa renda ele a abandona, pois julga ter melhor opção vindo para as pe riferias urbanas, viver de pe quenos expedientes e poder, de alguma forma, gozar de parte dos benefícios urbanos. A idéia de Reforma Agrária, o apelo de ter sua própria gleba para tra balhar foi válida no passado, quando a posse da terra era uma garantia de sobrevivência. Somente com a posse de sua gle ba é que 0 homem se sentia se guro. Hoje não ocorre mais isso; r agricultor quer renda para po der comprar, e pode até mes mo ficar na agricultura como pequeno empresário em sua gle ba, se essa lhe trouxer renda, mas certamente dará preferên cia a um emprego ou uma ati vidade na cidade. É o que ca racteriza a evolução de nossa sociedade nos últimos tempos. Voltemos, então, a exami nar as possibilidades de se ter com 0 assentamento de milhões ne novos agricultores o aumen to de produção com altos índi ces de rendimento, baixos ni-
em na
vels de custo e, ainda, margem satisfatória de lucro. Isso, sem dúvida, é difícil de ser obtido, mas muitos países o tem conse guido com ü emprego da mo derna tecnologia agrícola. De vemos, a respeito, lembrar que já foi 0 tempo em que se podia no Brasil fazer agricultura com lucro na base apenas do ma chado, do fogo e da enxada; que havia abundância de florestas virgens e de terras férteis, e que se podia facilmen te ocupá-las ou comprá-las a baixo preço, e formar lavouras base da ‘derrubada e do cul tivo de enxada, sem emprego de máquinas, fertilizantes ou outros insumos. E quando, após de cultivo, os solos se
anos
desgastavam e os rendimentos caíam, o agricultor simplesmen te fazia novas derrubadas e forlavouras, abando- mava novas nando as antigas. Hoje, não há mais floresterras férteis tas virgens com serem ocupadas, a não ser Para se para na região amazônica, conseguir rendimentos satisfa tórios em terras cansadas e erosadas, nas regiões de antiga ocupação agrícola do País, as- áreas de sim como nas novas cerrado, se faz imprescindível trabalhar com a moderna tec nologia agrícola. E isso signifi- altamente dispendioso ca 0 uso de máquinas, tanto no preparo e cultivo de solos, quanto no ■■ bate à erosão e às pragas e mo léstias e, freqüentemente, operações de colheita. O mesmo ocorre com o também dispen dioso uso de insumos modernos, fertilizantes e calcádefensivos químicos, d u 10 s medicinais e comnas como os rios, rações, p r o muitos outros. Com o emprego tecnologia tradicional, e cultivo inana da base do preparo (leouado do solo, sem medidas de combate à erosão, sem o emde fertilizantes quimicos controle sistemático de prego e sem o doenças e pragas, nao se conserendimentos satisfatórios gue
nos solos das regiões de ocupa ção antiga da agricultura. E na agricultura de tecnologia mo derna para se ter custos bai xos faz-se imprescindível que essa tecnologia seja aplicada com muita precisão, ou seja, que as máquinas estejam bem re guladas e que sejam utilizadas de conformidade com a quali dade dos solos e seu grau de umidade; que os fertilizantes e calcários sejam aplicados de acordo com as análises de seus diferentes solos e os defensivos ^lplicados nas épocas e nas quantidades certas, de acordo com os tipos de pragas e de mo. léstias e o grau de infestações das mesmas. Se não houver es se cuidado minucioso no empre go da tecnologia, não se alcan çarão os níveis de rendimento e a redução de custos de pro dução desejados.
Outra característica da mo derna tecnologia agrícola é que sua adoção não depende apenas da vontade e do desejo do agri cultor de se modernizar. Depen de também da presença de uma série de condições relacionadas ao nível de conhecimentos do agricultor, à qualidade do solo e do clima, à exigência do mer cado, aos níveis de preços, tanto dos insumos quanto dos produtos G de uma política favorável em termos de crédito, preços míni mos, seguro, impostos, etc. Ê preciso que os novos assenta mentos atendam a essas condi ções para que a tecnologia mo derna possa ser empregada com sucesso, do ponto de vista eco nômico. Convém esclarecer um pouco mais a respeito dessas condições;
Condições de terra e clima: È preciso que os assentamentos se façam em solos que respon dam ao emprego de fertilizan tes e de calcários, com índices satisfatórios de rendimento por hectare; que as terras sejam topograficamente bem feitas, que permitam o fácil emprego de máquinas agrícolas; que a »●



rantir o aumento da produção agrícola a menores custos e contribuir para a retomada do crescimento econômico e social do País, atendendo, assim, a dois dos três objetivos econômi cos assumidos no Plano.
— Adotando programa espe cial de combate a pobreza no setor agrícola, grama seria atendido o terceiro objetivo econômico do Plano. Em princípio, o programa de veria atender tanto os agricul tores pobres, sem terra, como os pequenos agricultores cujas propriedades agrícolas não têm condições de solo, clima mercado para uma agricultura comercial eficiente
Com esse promais
bora pobre, uma condição mais digna de vida. E que ampliasse seu nível de conhecimento e ca pacidade física de trabalho, de modo a lhe dar possibilidades mais amplas de em futuro trabalhar nos centros banos ou em atividades não agricolas. Com adequada tência em termos de recreação, os agricultores do núcleo não teriam pressa e poderíam to mar 0 ou que propor cione renda líquida adequada. O programa seria estabele cido apenas nas áreas agríco las consideradas impróprias pa ra uma agricultura comercial intensiva com base na tecnolo gia moderna. Nessas áreas se riam assentados núcleos agrí colas em que os agricultores re ceberíam pequenos lotes
sem 0 em-
próximo ur-
assis-
a decisão de deixá-lo quan do assim 0 desejassem. As medidas para fazer sua agricultura tradicio nal, de subsistência, prego de insumos dispendiosos, mas seguindo princípios conservacionistas. Sua moradia construída por mutirão tro residencial do núcleo os benefícios hoje considerados indispensáveis como água, luz, condições sanitárias adequadas. O excedente de sua agricultura seria levado ao mercado constituiria renda. Nesses núcleo*s, tência técnica e o crédito agrí cola seriam ajustados tecnologia tradicional, poupadora de capital, uma vez que as condições, como foi dito, não se mostram adequadas à práti ca de uma agricultura moder na. Haveria, em compensação, intensa prestação de assistên cia social educacional e de saú-
cultores. O total das despesas poderão não ser tão elevadas como o da Reforma Agrária, uma vez que a agricultura tra dicional, de subsistência, sem emprego de insumos dispensiosos não exige os investimentos enormes da agricultura tecnologicamente moderna. Não obstante as dificulda des, achamos que essas medi das poderão atender com realismo o problema da pobre za na nossa agricultura, do que Plano de Reforma Agrária proposto pela Nova República.
seria no cencom e se em sua pequena a assiscom mesmo a uma assim
de, que melhorassem as condi ções de vida do agricultor e sua família, ajudando-o a ter, em-
ora apresenta das como opção do Plano de Reforma Agrária, sabemos que precisam ser melhor estudadas e discutidas em todos seus de talhes. Sabemos que as medi das propostas, são de execução difícil e complexa, pois estabe lece que a assistência técnica e financeira à agricultura de tecnologia moderna seja apli cada apenas nas áreas ou re giões em que há possibilidades dela ter eficiência econômica. E sabemos que não é fácil, ain da que possível, delimitar acerto essas áreas. Do modo, a assistência em termos de educação, de saúde e de recreeação, na escala intensa co mo se faz necessária para se ter benefícios válidos, como a instalação e a admi nistração dos núcleos sugeri dos — sabemos que são todos eles serviços de execução mui to dispendiosos, pois deverão atender muitos milhões de agri-
Com os quadros a seguir, tem-se a comprovação empírica do que foi afirmado no texto a respeito do aumento da produ ção que os empresários agríco las do País, grandes, médios e pequenos, conseguiram nessas últimas décadas, com uma agri cultura moderna, de índices elevados de rendimento. Assim, no quadro I temos o crescimento do valor total de produção vegetal e animal nos Estados da Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, no período de 1973/1974 a 1979 e 1980 (e em ambos os casos produção mé dia dos dois anos): e a seguir ü mesmo confronto no período de 1979 e 1980 a 1983 e 1984, Constata-se pelos dados que no primeiro período de 1973 e 1974 a 1979 e 1978, os valores das produções — em cruzeiros cor rentes nos diferentes Estados — tiveram aumentos que variaram de 9,9 vezes no Estado do Rio Grande do Sul a 25,6 vezes no Estado de Mato Grosso (incluin do 0 Mato Grosso do Sul). Nes se período o crescimento da in flação foi de 9,3 vezes, o que significa que houve um cres cimento do valor real da pro dução. No período seguinte de 1979 e 1980 a 1983 e 1984 os au-
mentos em cruzeiro corrente variaram de 21,9 vezes no Es tado do Rio a 33,3 vezes no Es tado do Rio Grande do Sul, en quanto a inflação no mesmo período cresceu de 27,2 vezes, havendo, portanto, pequeno crescimento no valor real da produção agrícola de alguns Estados e decréscimo em ou tros.
No quadro II temos o cres cimento em toneladas das prin cipais culturas nesses mesmos Estados, no período de 1960 e 1961 a 1983 e 1984. Constata-se que tem sido extremamente favorável o crescimento da grande maioria dos produtos agrícolas nesses últimos 23 anos. Apenas nas três últimas safras é que se observa alguma queda de produção. Os produ tos que podem ser destacados
nos 8 principais Estados dessas regiões, em crescimento em termos de toneladas, são os se guintes;
Açúcar: cresceu 1,4 milhão em 1960 e 61 para 4,3 milhões em 1983 e 84; Álcool: cresceu de 87,9 milhões de litros para 4,6 bilhões em 1983 e 84; La ranja: cresceu de 2,5 milhões de toneladas em 1960 e 61 pa ra 50,6 milhões em 1983 e 84.
Soja: cresceu de 5,2 mil to neladas em 1960 e 61 para 5,3 milhões em 1980 e 81 e redu ziu para 4,2 milhões em 1983 e 84; Trigo: cresceu de 64,1
Tabela I
Valor

mil toneladas em 1960 e 61 para 1,0 milhão em 1983 e 84; Milho: cresceu de 1,3 milhão de toneladas em 1960 e 61 pa ra 5,2 milhões em 1983 e 84.
Café: decresceu de 519,3 mil toneladas em 1960 e 61 para 284,0 mil em 1975.e 76 e cres ceu para 884,7 em 1983 e 84; Milho: cresceu de 1,8 milhão em 1960 e 61 para 2,9 milhões em 1980 e 81 e caiu para 2,6 milhões em 1983 e 84.
Trigo: cresceu de 465,0 mil toneladas em 1960 e 61 para 926,4 mil em 1980 e 81 e caiu para 621,8 mil em 1983 e 84; Soja: cresceu de 220,5 mil em 1960 e 61 para 5,9 milhões em 1980 e 81 e 5,3 milhões em 1983 e 84; Arroz: cresceu de 989,4 mil toneladas em 1960 e 61 para 2,7 milhões em 1983 tí 84; Milho: cresceu de 1,6 milhão de toneladas em 1960 e 61 para 3,5 milhões em 1980 e 81 e 3,3 milhões em 1983 e
84.
Soja: cresceu de 3,9 mil tone ladas em 1960 e 61 para 702,5 mil em 1980 e 81 e caiu para 492,0 mil em 1983 e 84; Milho: cresceu de 606,0 mil toneladas em 1960 e 61 para 3,1 milhões em 1980 e 81 e caiu para 2,0 milhões em 1983 e 84.
Mato Grosso
Soja: não havia produção em 1960 e 61 e em 1970 e 71 era de apenas 12,5 mil toneladas e em 1983 e 84 passou a 830,6 mil toneladas; Arroz: cresceu de 564,4 mil toneladas em 1970 e 71 para 1 milhão em 1980 e 81 e caiu para 728 mil em 1983 e 84.




setor público — compreendido na forma mais ampla — execu ções financeiras equilibradas. É aceitável que haja um défi cit a ser coberto com a emissão de moeda para alimentar e fa vorecer a fluidez do sistema produtivo. Porém, um déficit público, sugando proporção ex pressiva do Produto Interno Bru to e a sua persistência ao longo do tempo, invade os limites dos efeitos perversos. Isto é eviden te nas formas cotidianas de aco modação do déficit do setor pú blico, com efeitos deletérios nos juros, no aumento do serviço da dívida pública, na asfixia do setor privado, no crescimento econômico contido, no aumento da evasão fiscal, na inflação, na queda do salário real, e no aumento na instabilidade social.
1.2) A Indexação e o Mecanis mo de Preços
Os bens e serviços produzidos € consumidos na economia es tão, sem exceção, relacionados entre si através de seus preços. Na economia, o que importa não é o preço absoluto de cada bem mas sim o seu preço em relação ao de outros produtos. Daí a importância crucial que os economistas atribuem aos preços relativos.
Todas as decisões de indi víduos e empresas a respeito da produção e consumo partem dos preços relativos, definidos nos mercados através da oferta e da demanda, ou condiciona dos arbitrariamente pelo poder de grupos políticos, sociais, ou econômicos (governo, sindica tos. cartéis etc.).
Desta forma, o conjunto de preços relativos — a estrutura de preços — é a síntese do conjunto de valores da socieda de, aí incluídas as forças impositivas dos grupos sociais. A preponderância da análise da estrutura de preços sobre qual quer outra questão econômica
decorre das funções que esta estrutura exerce a cada mo mento.
As funções cruciais dos preços de mercado são em nú mero de duas: a) a função in formativa; e b) a função dis tributiva. Na função informati va, os preços relativos estabe lecidos pelo mercado transmi tem a noção de escassez relati va e, conseqüentemente, provo cam estímulos ou desestímulos com efeitos imediatos na ofer ta e no consumo de cada bem, e com impactos dinâmicos atra vés de investimentos e desinvestimentos. A função distribu-

A indexação tornou-se dispersa por uma variante de índices, mais abrangente nas aplicações e mais rígida nos horizontes dos contratos, mas a variedade de índices nada acrescentou à flexibilidade da política econômica.
tiva acompanha naturalmente a função informativa, à medida que a estrutura de preços dos bens e serviços define a estru tura de remuneração dos fato res de produção.
A história econômica mo derna no Brasil caracteriza-se por uma intervenção crescente do Governo através de seu po der sobre a estrutura de pre ços vigentes. Esta forma de in tervenção é muito mais signifi cativa do que até mesmo a eventual estatização dos meios de produção. Através desta in tervenção, o Governo atinge dois objetivos. Primeiro, conse-
gue temporariamente transmi tir para a sociedade (função informativa) a noção de escas sez ou abundância relativa di ferente daquela que seria ob servada no mercado livre. O segundo objetivo é obtido quan do o Governo, ao intervir nos mercados, consegue alterar a distribuição de rendas (função distributiva). Os instrumentos clássicos desta intervenção na estrutura de preços tem sido os impostos, os subsídios, as trans ferências, os tabelamentos, as reservas de mercado, a admi nistração das políticas cambial e tarifária e a fixação de sa lários. No Brasil, o Governo ainda costuma intervir através do tabelamento de juros, de li mites quantitativos e distribui ção discriminatória do crédito, além de mudanças nas regras do instituto de indexação for mal. Adicionalmente, a inter venção qualitativa no mercado é exercida pela regulação ex cessiva, pelas proibições e pelo cerceamento do acesso às ati vidades.
A partir de 1930, a inter venção do Governo no mecanis mo de preços foi orientado pa0 vetor do crescimento eco nômico. na tentativa de acele rar a taxa de acumulação de capital. É possível que nesta fase a intervenção tenha sido positiva, pois o Governo, atuan do como um poder contrastante com as oligarquias privadas regionais e setoriais, conseguiu extrair e orientar recursos de atividade rural para as nascen tes atividades industriais e ur banas. Se esta tese está corre ta é porque se admite que a antiga estrutura de preços im posta pelos grupos privados en tão dominantes continha distor ções que retardavam a acumu lação de capital e contribuíam para maior concentração de renda. O Governo teria então atuado como força corretiva e, portanto, dinamicamente positi-
va no sentido de dar à estru tura de preços uma nova con figuração, que não só informa va novos caminhos no proces so produtivo (industrialização), como também ampliava a base de apropriação das rendas (ur banização). Durante este perío do, a nova configuração de pre ços relativos ensejou transfe rências de recursos dentro do próprio setor privado, reorientando recursos da agropecuária e do Interior em geral para a indústria e as grandes cidades. O Governo, nesta 'etapa, atuou de modo, mais elástico, partici pando apenas como regulador da estrutura de preços e de rendas dentro do setor privado. Na fase histórica mais re cente (principalmente a partir de 1964), a intervenção do Go verno tornou-se mais ambicio sa, pois passou a canalizar compulsoriamente recursos do setor privado (via impostos e emissão de moeda) a seu pró prio favor, assumindo de forma crescente a produção de alguns bens e serviços, vedados ipso facto ao setor privado, o que se convencionou chamar de processo de estatização. Uma vez implantado o parque esta tal de produção, a influência do Estado tornou-se preponde rante na formação e estrutura ção dos preços da economia. O Governo, além de não abdicar dos instrumentos clássicos de regulação de preços, passou também a influir através da fixação arbitrária dos preços dos bens e serviços por ele for necidos (petróleo, comunica ções etc.). Nesta fase de abso luta predominância do governo na formação de preços, ele passou a assumir o papel de uma nova oligarquia diante da qual hoje se contrapõe a pró pria sociedade.
Na fase contemporânea, a postura de intervenção gover namental assumiu dois graves defeitos. Primeiro, ao fornecer estímulos inadequados com os
SALARIOS .ALUGUÉIS RESIDENCIAIS INPC
MA'R

OUTROS (ESTADUAIS E MUNICIPAIS)
EMPRESTIMOS AGRÍCOLAS INDENIZAÇÕES
SALARIOS ESPECIAIS PENDÊNCIAS TRABALHISTAS
MULTAS VALORES BÁSICOS
Cadernetai de poupança
Aluguéis não residenciais
Prestações do SFH
Títulos com correção monetária
Tarifas públicas
Preços de insumos básicos
Preços Controlados
preços administrados, gerou distúrbios nos mercados, provo cando excesso de demanda em alguns e de oferta em outros. Com isto ocorreu uma perda na produção da economia. Segun do, 0 Governo distorceu a inter venção para apropriação de re cursos destinados ao seu parestatal, negligenciando as funções estruturais bási cas de fornecimento de servi ços de saúde, educação, justiça e segurança pública. Ao longo do tempo, estas carências pro vocaram a deterioração na re partição de renda e a amplia ção do nível de pobreza.
Receitas de exportação
Despesas com importação
Débitos em moeda estrangeira
Títulos com correção cambial
Preços do trigo, petróleo e derivados
tração em 1964 iniciou um pro cesso de ajuste de estrutura de preços e, em 1965, formalizou a indexação no Brasil. Na época, devido às dificuldades e incer tezas reinantes nos contratos de longo prazo e à formação de capital, a intervenção econômi ca do Governo foi considerada benéfica, pois compensava uma série de distorções inibidoras do mecanismo de mercado, den tre elas a Lei de Usura de 1933 que limitava as taxas nominais de juros em 12% ao ano.
Com as demandas sociais contidas pelo regime político e com a ausência de vazamentos de rendas e outros distúrbios, 0 sistema de indexação formal sobreviveu e ampliou o seu campo de ação. Ao manter uma certa estrutura de preços con veniente ao Governo e a uns poucos grupos cristalizou-se uma estrutura de renda, que seria severamente criticada mais tarde.
A crise do petróleo em 1973 desnudaria, porém, o artificia- ^ que suas
A acumulação de erros na estrutura de preços e a sua administração demagógica cul minaram, no início da década de 1960, com o estabelecimento de um ambiente econômico e social instável. As pressões de grupos sociais por maior parti* cipação na renda nacional, en dossada pela emissão de moe da, desenvolveram uma espiral inflacionária. A nova adminis¬
lismo do equilíbrio gerado pela intervenção do Governo nos pre ços. Perante as necessárias mo dificações na estrutura de pre ços para compatibilizar a restri ção do consumo de petróleo e estimular a produção doméstica de fontes alternativas, o meca nismo de indexação administra do pelo Governo revelou-se pou co agil. Para compensar a pouca flexibilidade do mecanismo ofi cial de intervenção nos preços, o Governo imporia ainda outras distorções no sistema, em parti cular a concessão de subsídios e 0 aumento da intervenção na própria produção de fontes al ternativas de energia. Com 0 pretexto de flexibili zar os reajustes de preços e es tabelecer defesas mais eficien tes nas rendas, a indexação tornou-se simultaneamente disperuma variedade de índi-
(INPC) reajusta os salários e os aluguéis residenciais; o Maior Valor de Referência (MVR), os valores dos empréstimos agrí colas e as indenizações; o Sa lário de Referência (SR), as pendências judiciais trabalhis tas e os salários especiais; -c outros índices semelhantes são empregados por Estados e Mu nicípios. Esta parafernália ape nas confunde os usuários e tu multua a contabilidade. Pior ainda, é severamente comanda da pelo IGP/DI, no fundo em híbrido de preços por atacado, de custo de vida e de constru cão civil, uma combinação re conhecidamente artificial. Ape sar disto, 0 IGP/DI viu-se pro movido à condição de indexador central.
volvidas e os mecanismos de propagação dos desequilíbrios e da indexação. Iniciando pelo la do direito superior, os exageros cometidos e acumulados na prá tica de tabelamentos de preços, imposições de quotas etc. ge raram a estrutura distorcida de preços. A indexação, por sua vez, introduziu a rigidez nos preços relativos, resultando a perpetuação das distorções exis tentes; a vulnerabilidade da economia aos choques de oferta, a distribuição desigual e crista lizada das rendas; e o forneci mento de informações imper feitas. através dos preços dis torcidos. Como resultado desta última, ocorre uma alocação ine ficiente de recursos e a perda de produção.

1.3) Os Mecanismos de Propagação
ü quadro a seguir resume analiticamente as variáveis en-
Em conseqüência, acumula ram-se as distorções, e os efei tos perversos espalharam-se pe lo sistema produtivo. A inflação física foi desestimulada e os problemas de distribuição de rendas e de desemprego agudi zaram-se. O resultado foi a exa cerbação da crise atual. sa por ces. mais abrangente nas apli cações e mais rígida nos hori zontes de contratos. Entretanto, a variedade de índices usados como base para correção nomi nal nada acrescentou à flexibili dade da política econômica. Ho je contamos com diversos índi ces, com significados diferentes mas crescimento eventualmenie convergente, na medida em que a indexação se generalizou. Gjmo destaque no grande sistema de indexação, o índice Geral dc Preços, Disponibilidade Interna (IGP/DI) reajusta as ORTNs c a taxa de câmbio. A ORTN in dexa os aluguéis industriais o comerciais, as cadernetas dc poupança, as prestações do SFH. as tarifas públicas, os pregos industriais de insumos básicos (aço e eletricidade), de produ tos industriais e serviços (mais de trezentos) produzidos pelo setor privado, A taxa de câmbio define as receitas e despesas das transações comerciais ex ternas, os débitos em dólares, us títulos com correção cambial, i; os preços do trigo e derivados de petróleo. O índice Nacional de Preços ao Consumidor
Pelo lado dos desequilíbrios internos, o déficit operacional do setor público, estimado con servadoramente pela Cedes em Cr$ 12,7 trilhões em 1984, em última instância, terá que ser financiado por emissão da base monetária, e/ou empréstimos crescentes do sistema financei ro e não-financeiro (débitos com fornecedores), e/ou por aumen to da dívida pública, com pres sões que mantêm elevados os juros reais. Pelo lado do desequilíbrio externo. a

necessidade de superávits co merciais significativos impõe a contenção das importações e a geração de excedentes exportáveis elevados, que só po dem ser viabilizados através da demanda doméstica contida. Conjugando a isto os impactos negativos dos altos juros reais sobre os investimentos resulta o crescimento econômico modes to. Duas conseqüências emer gem: (a) 0 baixo nível de absor ção e de geração de emprego e empobrecimento dos trabalha dores — que vão alimentar o desequilíbrio social — e (b) a receita fiscal insuficiente, cau sada em parte pela estagnação da produção e, em parte, pela informalização das atividades. O pagamento de juros reais ele vados sobre a dívida pública, impossibilitado de ser coberto pelo crescimento real adequado da receita fiscal, torna inevitá vel o desequilíbrio financeiro do setor público. Este déficit públi co contribui como um fluxo ne gativo para reforçar o desequi líbrio do setor público.
Outra fonte de exacerbação dos juros reais é a cobertura do déficit público com os em préstimos do setor financeiro e não-financeiro. Como ilustração do processo, os empréstimos dos bancos comerciais ao Gover no (exclusive empresas finan ceiras) cresceram a sua partici pação no total, de 33% em 1981 contra 53% em 1984. Os emprés timos não-financeiros ao setor público são realizados pelos for necedores e prestadores de ser viços através da retenção e adiamento de pagamentos e pe la transferência e rolagem das dividas para os exercícios se guintes.
anual de 1984, a cobertura do déficit operacional de quase Cr$ 13 trilhões correspondería a um crescimento entre 90 e 160% da base monetária, acima do cres cimento de 244% observado em 1984. Nestas condições, a infla ção seria ainda maior, aprofun dando-se na área inibidora da produção. As taxas reais de ju ros também não diminuíram, apesar da liqüidez aparente mente frouxa, pois teriam in corporado 0 prêmio para risco inflacionário. A rolagem da dí vida pública teria que aceitar as regras do mercado e, conseqüentemente, o desequilíbrio do setor público permanecería.
A política econômica, aliada ao amplo sistema de indexação que congela a estrutura de pre ços e rendas, tem ainda o efeito de atrelar à inflação uma série de instrumentos, em particular; política cambial, os salários, os preços administrados e a ba se monetária. Com isto, o Gover no voluntariamente abriu mão do poder que detinha em contro lar os instrumentos de política econômica, tornando-os passi vos e moldados às circunstân cias. Ao vincular desnecessária e perigosamente a taxa de câm bio ao índice Geral de Pregos, resultados da balança comer ciai passaram a depender de condições externas fortuitas, da eficiência do Governo em con trolar a demanda interna e contingenciar as importações. Coprimeira condição não é garantida para o futuro, duas seguintes desejáveis, é inevitável uma regras 1985. a os mo a nem as mudança nas da política cambial de
No tocante aos salários, legislação, até há pouco, inibiu a liberdade de negociação, e os a
(aço e eletricidade) e de mais de trezentos produtos indus triais e serviços providos pelo setor privado, além de quanto muito represar e adiar os rea justes, tiveram o efeito já dis cutido de distorcer o conteúdo informacional dos preços.
A indexação das contas ati vas das autoridades monetárias inviabilizou o controle da base monetária, por si só uma tarefa difícil, pois todo e qualquer de sequilíbrio das contas públicas desemboca no Orçamento Mone tário. Como fonte primária dc liqüidez da economia, a base monetária esteve descontrolada em 1984 — seguindo, aliás, uma longa história — com expansão muito acima da programada e ainda assim mascarada por ar tifícios contábeis (não inclusão das reservas compulsórias devi das pelos bancos regionais).
Ora, à medida que a política torna-se passiva, atrelada à in flação, inevitavelmente ela per de o poder de atuar de forma eficaz no combate à inflação. Com isto, a política econômica simplesmente sanciona a estabi lidade da taxa de inflação. Num regime de indexação generalizada, rígida e instantâ nea, 0 sistema produtivo fica vulnerável a choques de oferta, felizmente pouco graves em 1984. Entretanto, é impossível garantir condições tão favorá veis para o futuro, principal mente considerando a fragilida de da política cambial. Se ocor rerem choques de ofertas, a in flação desloca-se para um novo patamar, prontamente avaliza do pela política monetária pas.siva. A inflação mais elevada, por sua vez, vai realimentar o sistema de inde.xação, iniciando um novo processo na economia.
Se 0 déficit efetivo do setor público fosse coberto por emis são de moeda, o impacto infla cionário seria dos mais graves. Para uma base monetária de Cr$ 15 trilhões em dezembro ou cerca de Cr$ 8 trilhões na média ajustes de preços processaram com a dispensa e recontrataa informalização de acor2 — As Propostas se çao, dos e 0 simples desemprego. A administração e tabelamento dos preços de insumos básicos
A estratégia eficiente de combate à inflação deve com binar um conjunto de medidas^
destinadas à flexibilidade de preços relativos; o controle ri goroso das fontes de dispêndio. principalmente do setor públi co; a recuperação da poupança global; 0 aumento da produti vidade; e, simultaneamente, ofe recer alguma salvaguarda pa ra a base da pirâmide social. Se não atender a este conjunto de condições, a politica de es tabilização incorre nas mesmas deficiências praticadas ao lon go dos últimos anos. Perante este condiciona mento estreito, o ponto de par tida da política de estabiliza ção deverá ser o desmantela mento dos focos básicos da in flação corrente: o déficit do se tor público e 0 mecanismo de indexação, complementado com medidas paralelas, embutidas nas reformas bancária, finan ceira e tributária, esta última discutida em outro trabalho.
2.1) O Saneamento do Setor Público
A magnitude do déficit púalheio às polêmicas blico conceituais — assume destaque nos desequilíbrios atuais da economia brasileira. Indepen dente se encarado ou não como foco central do processo infla cionário, o déficit do setor pú blico, aliado aos crescentes gastos em termos reais, repre senta a asfixia e estreitamento direto do espaço econômico do setor privado. O endividamento do setor público compete com o setor privado por recursos de crédito e pelos fatores de pro dução disponíveis. Quando — por injunções outras — a ofer ta de crédito é restringida, os efeitos sobre as taxas reais de juros são ainda mais acentua dos. Como foco central da in flação, 0 déficit público tem efeitos indiretos.
O saneamento do setor pú blico deve contemplar soluções destinadas a reduzir tanto o saldo da dívida, quanto o fluxo negativo decorrente do excesso
A revisão dos esquemas vigentes de indexação deve compatibilizar a necessária recuperação do poder de manobra da política econômica e o fortalecimento do mercado de capitais, com o reconhecimento da fragilidade de importante segmento da população inferiorizada nas negociações de salários, aluguéis e outras despesas básicas.

de dispêndio sobre as receitas. No primeiro caso será neces sário adotar novos esquemas de rolagem da dívida pública, dilatando o vencimento (hoje inferior a 24 meses) e a liqui dação de débitos vencidos com a venda e entrega de ações e títulos patrimoniais de empre sas estatais aos credores atuais. Esta medida por si só estabelece um novo regime de gestão empresarial, com coparticipação provada, e com efeitos benéficos nos déficits correntes. Esta segunda solu ção tem ainda o mérito de de sestimular a cômoda prática de aumento dos preços das tarifas públicas.
Hoje, 0 setor público tem uma baixa eficiência produtiva e alta eficiência reprodutiva. Porém, a redefinição do papel do setor público com presença forte e eficiente nas atividades cruciais de educação básica, saúde, saneamento, justiça e segurança pública complementares ao setor priva do terá um efeito importante na eficiência global do sistema. A redefinição das funções exi ge uma vigilância estreita não apenas sobre os montantes glo bais dos dispêndios, mas princi palmente sobre a sua composi-
çao.
O controle financeiro do
setor público exige a completa transparência das contas e dos projetos, com a apresentação c submissão orçamentos das estatais. Congresso dos ao
2,2) A Flexibilidade do Sistema de indexação
A flexibilidade dos preços relativos é uma exigência cen tral para integrar o combate à inflação na estratégia compro metida com 0 relançamento da economia. Apesar dos avanços no ajustamento da economia, em particular nos preços agrí colas, de energia, dos serviços tarifas públicas, é preciso manter em mente o caráter dinâmico dos ajustes nos pre ços relativos. Obstá-los signifi ca retardar o ajustamento da e inibir o próprio e
economia relançamento.
A abertura da economia brasileira aos mercados mun diais — por força dos ajusta mentos no desequilíbrio exter no ou decorrente do próprio peso e importância do nosso país nos foros internacionais — significa a rejeição absoluta do modelo introvertido de cresci mento. O que se deseja para o Brasil é uma estrutura dinâ mica, mais competitiva inter nacionalmente. A oitava econo mia em termos de produção bruta não pode esconder-se atrás da estatização paternalis ta e de biombos protecionistas. Neste sentido, os preços inter nacionais, por mais manipula dos que sejam, sempre serão mais próximos da realidade do que os estabelecidos pela ex cessiva intervenção governa mental. Ao Brasil interessa —
e temos porte para isto — par ticipar ativamente do grande mercado mundial, se necessá rio influindo e determinando as cotações dos produtos. Para is to. os preços relativos interna cionais fornecem as indicações seguras para onde devem ca minhar os preços relativos dotodas
mésticos. Apressar o fim da crise significa o gradual ali nhamento dos preços relativos dos bens e serviços dentro do mercado brasileiro às cotações internacionais. A experiência demonstra que os países mais abertos ao Exterior saíram da crise mais rapidamente e com custos sociais mais baixos do que os que haviam optado pelo caminho da introversão.
A indexação generalizada dos preços e rendas é hoje o principal obstáculo à conclusão da fase atual de ajustamento e, portanto, o principal motivo da resistência à queda da in flação. Negar a liberdade de preços, com a manutenção dos esquemas rígidos de indexação, é negar a necessidade de revi sar a distribuição de rendas e de poder da economia. Conseqüentemente, é básico que se implante a revisão drástica da filosofia e das formas de operacionalização do instituto de indexação no Brasil.
A formalização da indexação em 1964 visava a salvaguar dar 0 mercado de capitais e contratos de longo prazo da erosão provocada pela inflação. Após 1979 este princípio foi abandonado, ao mesmo tempo em que os mecanismos de rea justes artificiais e compulsórios ampliaram o seu campo de abrangência nos mercados e encurtaram os intervalos entre reajustes, provocando a conver gência ao atual esquema de indexação generalizada e ins tantânea.
pança), enquanto as suas con tas ativas (receitas de emprés timos) mantinham a correção semestral, e anual, ampliando as dificuldades de sobrevivên cia do sistema. Com a genera lização do reajuste mensal pe lo mercado de poupança, a po pulação passou a gastar ener gias preciosas na tarefa impro dutiva de previsão de índices mensais de correção, dedican do-se cada vez mais às aplica ções financeiras de curtíssimo to.
este esquema de indexação deverá deslocar o interesse das aplicações financeiras pa ra a poupança e o investimenAlém disto, os choques reais que eventualmente ocor rerem têm maior probabilida de de se anularem, dissolven do esses impactos dentro do semestre.
c) Deve ser desvinculado o reajuste do câmbio do IGP/ Dl, em favor de outra regra flexível e competitiva, basea da na cesta de moedas fortes, que mantenha a agressivida de das nossas exportações — principalmente na presença de distúrbios externos. prazo.
A revisão dos esquemas vigentes de indexação deve compatibilizar a necessária re cuperação do poder de mano bra da política econômica e o fortalecimento do mercado de capitais com o reconhecimento da fragilidade de importante segmento da população inferiorizada nas negociações de sa lários, aluguéis e outras despe-
sas básicas. Condizente com este enun ciado, as principais propostas situam-se em seis linhas:
a) Diferenciar as opera ções e contratos de curto e longo prazos para efeito da aplicação da indexação for mal. Os contratos e operações até um ano devem ser ajus tados livremente pelas partes participantes através de es quemas prefixados. Os con tratos e operações a longo prazo devem receber reajus te baseado num índice de pre ços livremente acordado ou de acordo com o esquema des crito abaixo.
d) 'Os salários devem sofrer um reajuste integral até três salários mínimos, e com fle xibilidade de negociação aci ma deste piso. Este esquema é, aliás, um saudável retorno às regras aplicadas no pas sado.

favorecer os
O encurtamento dos inter valos de reajuste teve o efeito indesejável de contratos e operações a curto prazo em detrimehto dos con tratos e acordos a longo prazo, em evidente prejuízo dos in vestimentos produtivos. Para manter a competitividade na captação de recursos, o SFH viu-se forçado a corrigir men salmente suas contas passivas (saldos de cadernetas de pou¬
b) Deve ser abolida a va riedade de índices oficiais, concentrando as formas de reajuste no INPC, considera do mais adequado e estável do que os demais. É crucial o retorno ao antigo esquema de média móvel da inflação num horizonte mais amplo, co mo 0 semestre. Pelo simples fato de ser uma média móvel.
e) As cadernetas de pou pança, como instrumento de captação de recursos a longo prazo, devem garantir a ma nutenção do poder real dos saldos mínimos, mas não de vem transformar-se em depó sitos à vista remunerados. Portanto, a correção de sal dos deve retornar à trimestralidade numa primeira eta pa, e em seguida à semestralidade. O reajuste integral se ria calcado no menor saldo do período, como ocorria no pas sado. A conseqüente redução dos depósitos de poupança co mo instrumento de transação servirá para auxiliar o con trole da liqüidez nominal, im prescindível para o Governo reconquistar o poder de exer citar uma política monetária ativa.
f) A política de dívida pú blica deve ampliar o perfila


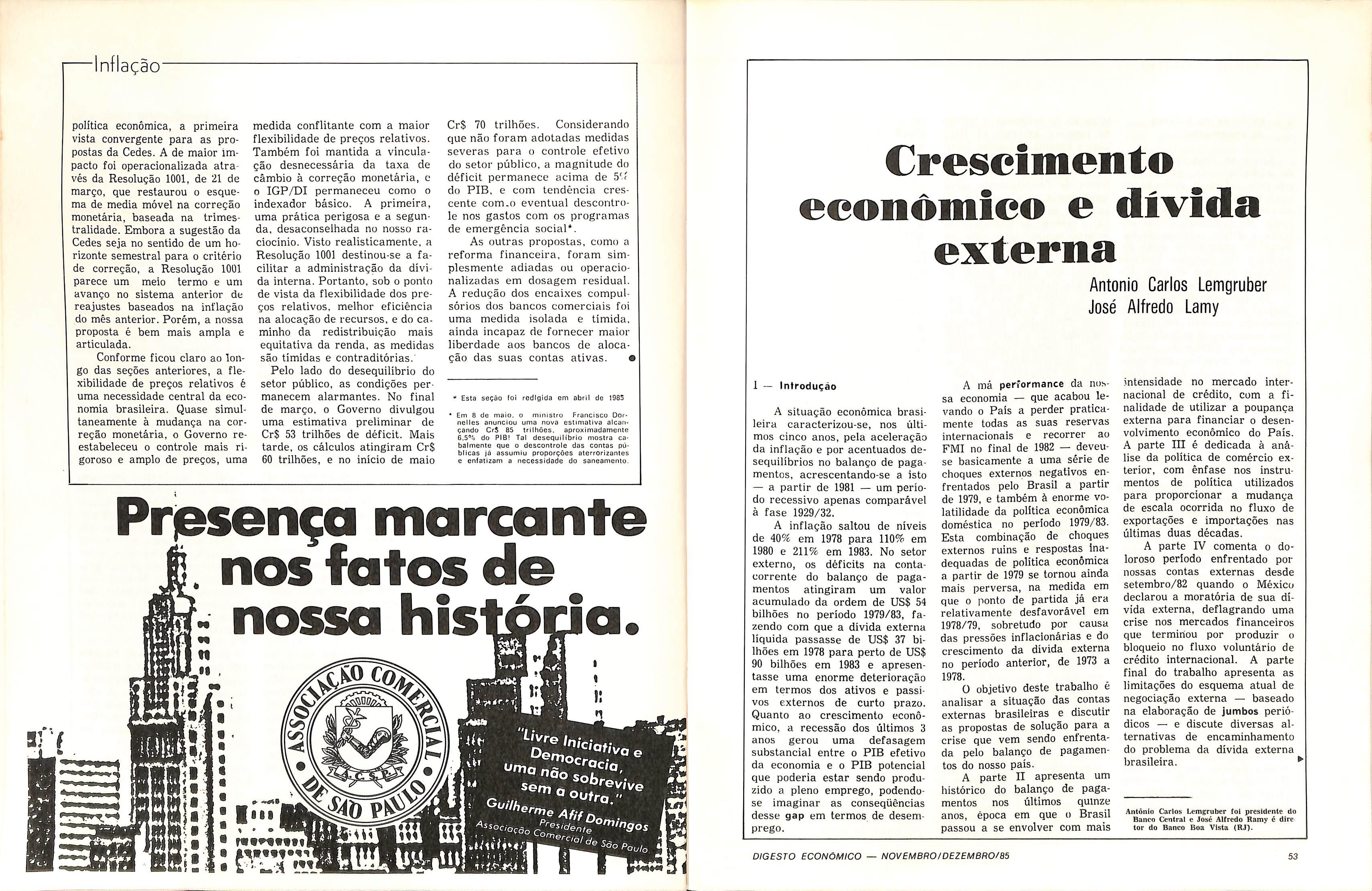
o IGP/DI permaneceu como o A primeira, uma prática perigosa e a segun da, desaconselhada no nosso ra ciocínio. Visto realisticamente. a Resolução 1001 destinou-se a fa cilitar a administração da divi-
política econômica, a primeira medida conflitante com a maior vista convergente para as pro- flexibilidade de preços relativos, postas da Cedes. A de maior Im- Também foi mantida a vinculapacto foi operacionalizada atra- ção desnecessária da taxa de vés da Resolução 1001, de 21 de câmbio à correção monetária, c março, que restaurou o esque ma de media móvel na correção indexador básico, monetária, baseada na trimestralidade. Embora a sugestão da Cedes seja no sentido de um ho rizonte semestral para o critério de correção, a Resolução 1001 parece um meio termo e um da interna. Portanto, sob o ponto avanço no sistema anterior de de vista da flexibilidade dos prereajustes baseados na inflação ços relativos, melhor eficiência do mês anterior. Porém, a nossa na alocação de recursos, e do caproposta é bem mais ampla e minho da redistribuição mais articulada. equitativa da renda, as medidas
Conforme ficou claro ao lon- são tímidas e contraditórias, go das seções anteriores, a fle xibilidade de preços relativos é uma necessidade central da eco nomia brasileira. Quase simul taneamente à mudança na cor reção monetária, o Governo reestabeleceu o controle mais ri goroso e amplo de preços, uma
Considerando Cr$ 70 trilhões, que não foram adotadas medidas severas para o controle efetivo do setor público, a magnitude do déficit permanece acima de do PIB, e com tendência cres cente com.o eventual descontro-
le nos gastos com os programas de emergência social*.
* Esta seção foi redigida em abril de 1985
* Em 8 de maio, o ministro Francisco Dornelles anunciou uma nova estimativa alcan çando CrS 85 trilhões, aproximadamente 6.5'’o do PIB! Tal desequilíbrio mostra ca balmente que 0 descontrole das contas pú blicas já assumiu proporções aterrorizantes e enfatizam a necessidade do saneamento.
As outras propostas, como a reforma financeira, foram sim plesmente adiadas ou operacionalizadas em dosagem residual. A redução dos encaixes compul sórios dos bancos comerciais foi uma medida isolada e tímida, ainda incapaz de fornecer maior liberdade aos bancos de aloca ção das suas contas ativas. < Pelo lado do desequilíbrio do setor público, as condições per manecem alarmantes. No final de março, o Governo divulgou uma estimativa preliminar de Cr$ 53 trilhões de déficit. Mais tarde, os cálculos atingiram Cr$ 60 trilhões, e no início de maio
Antonio Carlos Lemgruber
José Alfredo Lamy
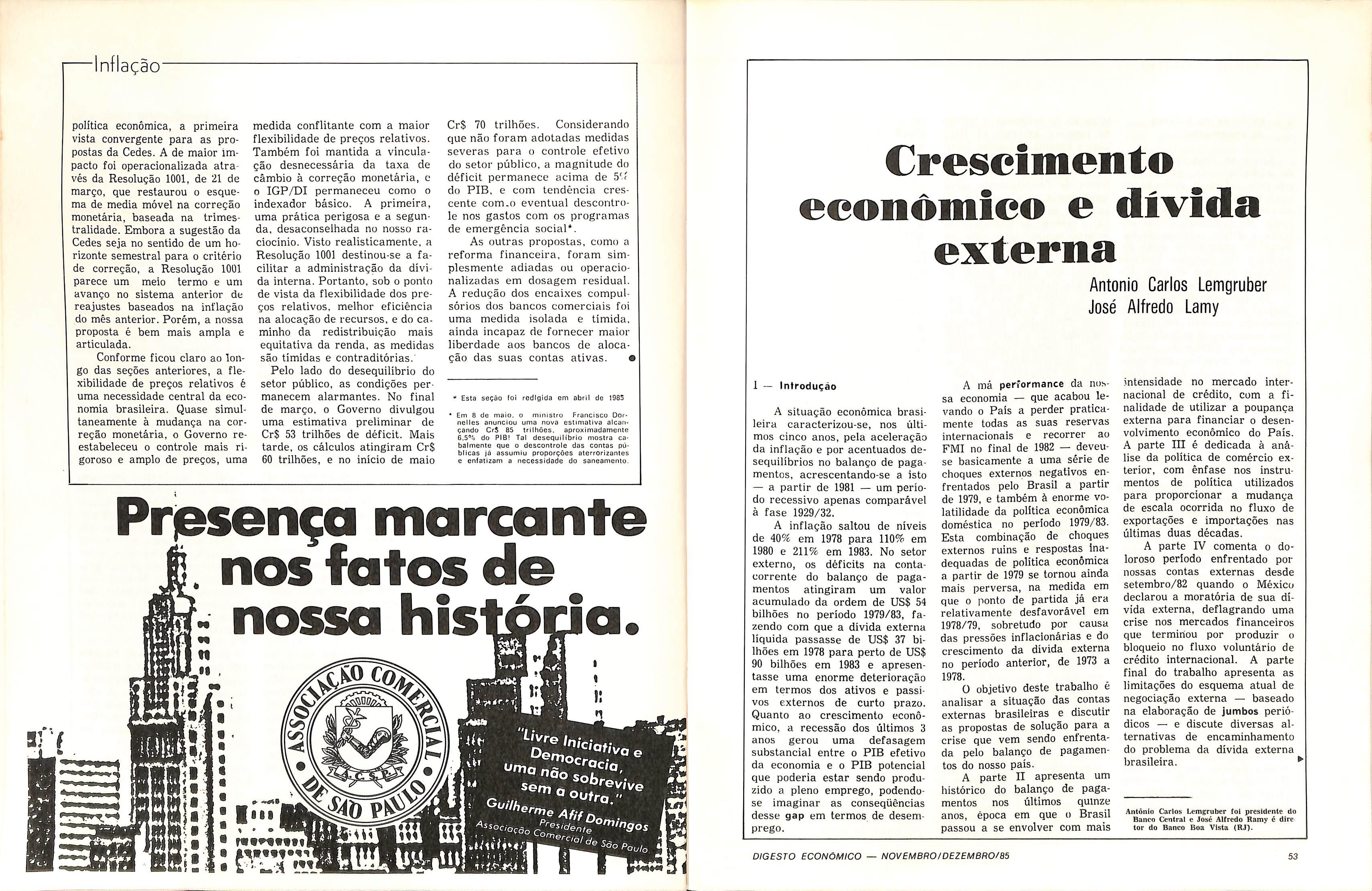
1 Introdução
A situação econômica brasi leira caracterizou-se, nos últi mos cinco anos, pela aceleração da inflação e por acentuados de sequilíbrios no balanço de paga mentos, acrescentando-se a isto — a partir de 1981 — um perío do recessivo apenas comparável à fase 1929/32.
A inflação saltou de níveis de 40% em 1978 para 110% em 1980 e 211% em 1983. No setor externo, os déficits na contacorrente do balanço de paga mentos atingiram um valor acumulado da ordem de US$ 54 bilhões no período 1979/83, fa zendo com que a dívida externa líquida passasse de US$ 37 bi lhões em 1978 para perto de US$ 90 bilhões em 1983 e apresen tasse uma enorme deterioração em termos dos ativos e passi vos externos de curto prazo. Quanto ao crescimento econô mico, a recessão dos últimos 3 anos gerou uma defasagem substancial entre o PIB efetivo da economia e o PIB potencial que poderia estar sendo produ zido a pleno emprego, podendose imaginar as conseqüências desse gap em termos de desem prego.
A má performance da nos sa economia — que acabou le vando 0 País a perder pratica mente todas as suas reservas internacionais e FMI no final de 1982 — deveubasicamente a uma série de choques externos negativos en frentados pelo Brasil a partir de 1979, e também à enorme vo latilidade da política econômica doméstica no período 1979/83. Esta combinação de choques externos ruins e respostas ina dequadas de política econômica a partir de 1979 se tornou ainda mais perversa, na medida em que 0 ponto de partida já era relativamente desfavorável em 1978/79, sobretudo por causa das pressões inflacionárias e do crescimento da dívida externa período anterior, de 1973 a
se no 1978.
recorrer ao
intensidade no mercado intei’nacional de crédito, cum a fi nalidade de utilizar a poupança externa para financiar o desen volvimento econômico do País. A parte III é dedicada à aná lise da política de comércio ex terior, com ênfase nos instru mentos de política utilizados para proporcionar a mudança de escala ocorrida no fluxo de exportações e importações nas últimas duas décadas.
A parte IV comenta o do loroso período enfrentado por nossas contas externas desde setembro/82 quando o México declarou a moratória de sua dí vida externa, deflagrando uma crise nos mercados financeiros que terminou por produzir o bloqueio no fluxo voluntário de crédito internacional. A parte final do trabalho apresenta as limitações do esquema atual de negociação externa na elaboração de jumbos perió dicos — e discute diversas al ternativas de encaminhamento do problema da dívida externa brasileira.
0 objetivo deste trabalho é analisar a situação das contas externas brasileiras e discutir propostas de solução para a vem sendo enfrentabaseado as crise que da pelo balanço de pagamen tos do nosso país.
A parte II apresenta um histórico do balanço de paga mentos nos últimos quinze anos, época em que o Brasil passou a se envolver com mais
II — Evolução do balanço de pagamentos
intenção de estimular o influxo de recursos externos no País. Com, 0 sistema financeiro inter* Como se sabe, o processo no ainda em fase de formação, de endividamento externo de e a economia apresentando um país reflete a evolução do fontes de financiamento ainda seu balanço de pagamentos insuficientes para sustentar um através do déficit em conta cor. processo de expansão econômirente. Na realidade, divida ex- ca, o recurso ao financiamento terna e déficit corrente do ba- externo representava uma imlanço de pagamentos estão as portante contribuição ao prosociados de maneira ● bastante cesso de desenvolvimento eco-
íntima, e revelam aspectos dis- nômico que estava sendo dctintos de um mesmo problema, flagrado naquele período. A opção brasileira pela básicas de financiamento de um abertura da economia ao merresultado negativo em transa- cado financeiro internacional ções correntes: a entrada de in- coincidiu com a fase de expanvestimentos diretos no pais, a são da liqüidez internacional, perda de reservas internacio- que proporcionava nais e a obtenção de emprésti- bastante favoráveis ao endivlmos e financiamentos externos damento externo. Entre 1968 e no mercado internacional de 1973 — considerada a “idade de crédito. Ocorre aumento na dí vida liquida — ou seja, a dívida total em relação às reservas cambiais do país — sempre que 0 déficit em conta corrente não é coberto pela entrada de ca pital estrangeiro relacionado a investimentos diretos. Por outro lado, uma segun da forma de leitura do sinal ne gativo no saldo em conta cor rente de um país é pelo seu im pacto sobre a formação de pou pança externa para financiar o crescimento econômico. A ou tra face do déficit em conta cor rente do balanço de pagamen tos é a absorção líquida de ca pitais externos, construída com ín a finalidade de aumentar a ta xa de poupança global da eco nomia, de forma a gerar recur sos suficientes para os investi mentos necessários à expansão da capacidade produtiva do Ihões. pais.
De fato, são três as fontes

A mudança de padrão de endividamento representou maior ganho de eficiência nas negociações de novos empréstimos externos, derivado do grande dinamismo e agilidade do mercado de capitais.
Este é o ponto de partida da história recente do endivida mento externo do nosso país. No final dos anos 60 — essen cialmente a partir de 1968 — o Brasil passou a se envolver com mais intensidade no mercado internacional de crédito, com a
permitiu que a am-
nanceira pliação dos fluxos de capital ocorresse paralelamente à ex tensão dos prazos de financia mento e à redução nos spreads cobrados sobre as taxas de ju¬ ros dos empréstimos.
Na verdade, o crescimento da dívida externa verificado a partir do final dos anos 60 re gistrou uma mudança impor tante na composição do endivi damento brasileiro. Até então, nossa principal fonte de finan ciamento externo derivava dc
recursos obtidos junto a entida des internacionais e agências governamentais (como Banco Mundial, Banco Interamericacondições no de Desenvolvimento. Exim bank etc.). O ritmo mais ace lerado de crescimento do influ xo dc capitais externos passou a exigir um instrumento mais ágil c dinâmico na aprovação de empréstimos e financiamen tos internacionais. Com a rápi da expansão e sofisticação do mercado de euromoedas — que por não estar sujeito a algumas restrições características dos mercados domésticos de crédi to passou a oferecer maiores níveis de eficiência — o final da década de 60
começou a regis trar uma profunda modificação na estrutura do nosso endivida mento externo através de uma participação crescente dos ban cos privados internacionais. En quanto em 1968 os empréstimos mti em moeda (Resolução ouro” do mercado internacional Instrução n.'’ 289 e Lei n.° 4.131) de crédito — a dívida externa representavam pouco mais dc brasileira apresentou rápido 30% do total da dívida externa, crescimento, passando de US$ refletindo basicamente 3,8 bilhões para US$ 12,6 bi63, n.' as ope rações no mercado de eurodólares, em 1973 esta participação Esta expansão no endivida- do sistema bancário privado inmento, inclusive, velo acompa- ternacional era superior a 60% nhada de melhores condições na do total da dívida, negociação dos empréstimos. A situação de farta liqüidez nn mercado bancário internacio-
A mudança no padrão de endividamento representou, por um lado, um maior ganho de nal, associada à maior confian- eficiência nas negociações de ça na economia brasileira de- novos empréstimos externos monstrada pela comunidade fi- derivado do grande dinamismo DIGESTO

e agilidade do então nascente mercado de euromoedas. Por outro lado, o aumento na par ticipação global dos bancos pri vados na dívida externa propi ciou uma elevação no custo mé dio da dívida. Passaram a ter menor relevância os créditos fornecidos pelas entidades ofi ciais e agências governamen tais a taxas de juros fixas e subsidiadas. Em contrapartida, ganharam importância os em préstimos contratados nos cen tros financeiros internacionais a taxas de juros flutuantes, repactuadas a cada três ou seis meses, de acordo com as osci lações do mercado.
De 1968 a 1973 as contas externas do Brasil se compor taram de maneira bastante equilibrada. O déficit anual em conta corrente manteve-se em média em torno de US$ 1 bilhão, basicamente em função da ba lança de serviços, já que na balança comercial o volume de importações era sistematica mente contrabalançado pela receita proveniente das expor tações.
A entrada de capitais ex ternos, no entanto, ocorria em volume superior ao déficit em conta corrente, proporcionando sucessivos resultados positivos no saldo global do balanço de pagamentos. O crescimento da dívida externa, nesta época, era basicamente canalizado para o aumento das reservas interna cionais do País. O nível de re servas cambiais passou de US$ 0,3 bilhão em 1968 para US$ 6,4 bilhões em 1973. Foram anos de equilíbrio nas contas exter nas e aumento nas reservas cambiais, associados à queda na taxa interna de inflação e expansão no crescimento eco nômico.
O ano de 1974 representa um marco divisório no balanço de pagamentos do Brasil. A ele vação nos preços do petróleo e
as respostas de política econô mica adotadas pelos países in dustrializados mudaram de for ma radical os bons ventos que sopravam da conjuntura inter nacional.
O aumento no preço do pe tróleo impôs uma violenta dete rioração nos termos de troca dos países não exportadores de petróleo. Mais ainda, os países industrializados — em especial os Estados Unidos — resolve ram adotar um ajuste instan tâneo em suas economias para se adaptarem às condições da nova ordem econômica interna cional. Os anos 1974/75 foram de intensa retração na economia norte-americana, que obviamen te transbordou seus efeitos so bre 0 resto da economia mun dial.
O impacto desfavorável da conjuntura internacional sobre as contas externas brasileiras foi imediato e profundo. A ba lança comercial passou de uma situação de equilíbrio em 1973 déficit de US$ 4,7 bi-
Cüpara um Ihões em 1974. Em conseqüênresultado negativo do ba¬ cia, o lanço em conta corrente em 1974 atingiu US$ 7,1 bilhões, quando no ano anterior o défi cit havia sido de apenas US$
ser
1,7 bilhões. Dois comentários podem feitos sobre as respostas de política econômica adotadas in ternamente com relação ao pe ríodo do chamado primeiro cho que do petróleo, que compreen de os anos de 1974 a 1979. Em primeiro lugar, parece claro que o Brasil não respon deu de imediato à nova realida de dos preços do petróleo. Na i'erdade, a expectativa inicial das autoridades era de que a alta do petróleo teria um im pacto temporário sobre a eco nomia, e que a inflação mun dial tendería a suavizar ao lon go dn tempo o choque do petró leo. Esta atitude passiva do Governo brasileiro face ao au-
mento no preço dos combustí veis, diante de uma economia ainda extremamente dependen te do petróleo, permitiu que o volume importado de óleo apre sentasse um crescimento contí nuo ao longo da segunda meta de da década de 70. Em segundo lugar, a opção brasileira frente ao choque do petróleo foi nitidamente em fa vor do “crescimento com endi vidamento”. O brutal desequilí brio no déficit em conta corren te a partir de 1974 impunha ao Governo o dilema entre o ajus tamento ou 0 financiamento do balanço de pagamentos. O Bra sil optou pela manutenção de uma política gradualista, que permitia taxas positivas de cres cimento na economia, mas ten do como contrapartida a expan são no endividamento externo. As boas condições de liqui dez do mercado internacional, associadas à confiança da munidade financeira na política econômica brasileira, permiti ram que 0 déficit em conta cor rente fosse financiado pela to mada de empréstimos junto aos bancos privados internacionais. A dívida externa, neste período, passou de US$ 17,2 bilhões no fi nal de 1974 para US$ 43,5 bilhões em 1978. Por outro lado, é im portante enfatizar que as reser vas internacionais também do braram neste período. De US$ 5,3 bilhões em 1974, o estoque de reservas aumentou para US$ 11,9 bilhões em fins de 1978, In dicando a boa posição de liqui dez do País na época, ü duplo choque e.xterno do petróleo e das taxas internacU»nais de juros em 1979/80 colo cou 0 País numa situação des confortável, dado o elevado ní vel de endividamento já acumu lado e a forte dependência do petróleo importado que ainda permanecia. Mais ainda, a in tensidade da política contracionista empregada nos Estados Unidos a partir do final de 1979 ►
trouxe conseqüências bastante severas sobre a economia brasi leira. A recessão mundial, a re dução no comércio internacio nal, 0 aumento do protecionis mo, a queda nos preços das commodities, a forte valoriza ção do dólar nos mercados in ternacionais de câmbio, aliados ao aumento nos juros interna cionais e nos preços do petróleo — tudo isto representou uma seqüência de choques externos so bre a economia brasileira de uma intensidade até então inc dita.
A reação inicial da política econômica brasileira parecia ser no sentido de maior austeri dade interna e de um movimen to mais firme em direção ao ajustamento externo. No segun do semestre de 1979, no entanto, houve uma forte guinada na condução da política econômica, Uma série de medidas hetero doxas foram adotadas: tabelamento das taxas de juros, e.xpansão de déficit público, au mento no crédito subsidiado, política monetária folgada e maior indexação salarial.

ca
A dificuldade de obtenção de empréstimos externos de longo prazo foi sendo gradativamente agravada, não somente pelos problemas específicos da econo mia brasileira, mas também pe lo próprio agravamento da con juntura internacional.
A crise na Polônia e a Guerra das Malvinas, no inicio de 1982. introduziram mais ele mentos de incerteza ao fluxo de recursos externos. A crise do México, em setembro/82. termi nou por produzir um bloqueio no fluxo voluntário de crédito internacional. Desde então, pas sou-se a.ter reescalonamentos e
J(exportações importações) somava pouco mais de US$ 3 bilhões em 1967. Já no início da década de 80, as operações computadas na balança comer cial alcançavam valores supe riores a US$ 40 bilhões. Mes mo descontando a inflação mun dial do período, não há como negar a mudança de escala ocorrida no comércio exterior brasileiro.
Vários fatores contribuíram
e da desvalorização
A máxi de dezembro/79 veio acompanhada, em janeiro/80, da pré-fixação da correção mo netária cambial. À medida em que a taxa de inflação ia se distan ciando dos níveis pré-estabelecidos no início do ano — explici tando a defasagem cambial e afetando o saldo da balança co mercial — a confiança na polítieconômica ia sendo reduzi da. À maior rigidez na oferta de recursos externos que começava a se observar a partir daquela época, foi acrescentada a menor confiança da comunidade finan ceira internacional nas medidas adotadas pela política econômi ca brasileira.
A partir de 1980. o déficit em conta corrente passou a ser financiado, em grande parte, pela redução nas reservas in ternacionais e pelo aumento no endividamento de curto prazo.
üma política de proteção à indústria nascente, apostando-se na existência de vantagens comparativas dinâmicas ao longo do tempo, permitiu um avanço expressivo na produção exportável de bens manufaturados.
renegociações, em lugar de re ciclagem düs petrudólares que havia prevalecido por vários anos.
III — A Expansão do Comércio Exterior
A abertura da economia brasileira ao fluxo internacio nal de recursos financeiros foi desenvolvida paralelamente com o estímulo ao créscimento do fluxo comercial de bens e serviços. Sem dúvida, a expan são das operações comerciais com 0 Exterior nos últimos quin ze anos foi realmente notável. O comércio exterior brasileiro
para o crescimento das opera ções comerciais com o Exterior. Externamente, o desempenho da economia mundial no final da década de 60 e nos anos 70, apresentando em média taxas positivas de crescimento, esti mulou a expansão do comércio mundial e proporcionou a gera ção de externalidades positivas sobre a comercialização dos produtos dos países em desen volvimento. Ainda no plano ex terno, 0 desenvolvimento de nossas exportações foi auxiliado pela tendência de queda do dó lar no mercado internacional ao longo da década de 70, e pelos juros externos relativamente baixos que prevaleceram até 1978.
No plano interno, o cresci mento do comércio exterior foi estimulado por uma política de liberada de promoção de expor tações desenvolvida a partir do final dos anos 60. O Governo lançou mão de instrumentos fiscais, creditícios e cambiais para desenvolver as vantagens comparativas observadas em al guns setores da economia. O Brasil se utilizou da pequena participação de suas exporta ções em relação ao comércio mundial para promover o cres cimento da venda de seus pro dutos no Exterior.
A análise do crescimento das exportações nas duas últi mas décadas não pode deixar de registrar pelo menos duas mudanças fundamentais na es trutura de nossas vendas exter nas: 0 direcionamento de nos sos produtos para mercados

compradores menos desenvolvi dos, e 0 maior peso dos produ tos manufaturados na composi ção do volume exportado.
A dependência excessiva da nossa pauta de exportações à receita dos produtos primários deixava o País numa situação bastante vulnerável. A grande oscilação de preços caracterís tica dos produtos básicos pro porcionava uma grande variância na receita derivada das ven das externas e adicionava mais um elemento de incerteza à en trada de divisas no País. No fi nal dos anos 60 cerca de 80% das exportações brasileiras re lacionavam-se a produtos pri mários. A parcela restante dis tribuía-se igualmente entre pro. dutos manufaturados e semimanufaturados.
Uma política de proteção à indústria nascente, apostandose na existência de vantagens comparativas dinâmicas ao lon go do tempo, permitiu um avan ço expressivo na produção ex portável de bens manufatura.dos. Através de incentivos fis cais e creditícios, a participa ção dos manufaturados cresceu na pauta de exportações geran do uma profunda alteração na composição das vendas exter nas. Atualmente, mais da me tade das exportações brasilei ras é constituída de produtos manufaturados, e quase 10% re ferem-se a semimanufaturados.
A receita dos produtos primá rios contribui com apenas 40% do total de exportações.
Esta diversificação na pau ta de exportações teve sua im portância evidenciada nos últi mos quatro anos, quando a ele vação das taxas internacionais de juros derrubou os preços de quase todas as principais commodltles. Vários países — mui tos deles dependentes de ape nas um único produto de expor tação — sofreram um impacto em suas exportações bastante superior àquele sofrido pelo Brasil, graças à nossa menor dependência ao desempenho de
produtos específicos do setor primário.
Paralelamente à diversifi cação de produtos na pauta de exportações, o Brasil empreen deu esforços no sentido de tam bém diversificar os mercados
compradores. Uma política ex terna pragmática, visando con ciliar interesses comerciais jun to a países menos desenvolvi dos, foi desenvolvida no sentido de ganhar novos mercados. A participação dos Estados Unidos na composição do destino de nossas exportações foi sendo gradualmente reduzida nos anos 70, enquanto crescia o comércio áreas como a América La- com tina (Argentina, México, Chi le) e países da África. A que da do dólar nos mercados euro peus permitiu também uma de nossas vendas para ex. pansao os países da Europa.
Esta política correta de di versificação de mercados, no entanto, foi penalizada com o agravamento da crise interna cional a partir de 1982. O rom pimento no fluxo voluntário de empréstimos internacionais afe tou de forma dramática a capa cidade de pagamento dos paídesenvolvidos. Afe- ses menos tados pela recessão que se obrigados a enfrentar pa ra ajustarem suas economias, divisas para realizarem importações, os países latino- americanos, principalmente, tireduzida sua participaviram e sem veram ção como mercados compradode nossos produtos.
O movimento verificado na década de 70 em favor de nomercados compradores teve tendência revertida neste início dos anos 80. Comparando 1983 com 1980, a participação latino-americanos res vos sua dos países (Aladi) como compradores de nossos produtos caiu de 16% para 7,7% no ano passado. Em a presença dos compensação, Estados Unidos como mercado comprador cresceu, no período, de 17% para 23%. Em 1983, as exportações brasileiras para os
EUA alcançaram US$ 5,1 bi lhões, indicando um crescimen. to de 15% em relação ao ano anterior.
Um dos principais instru mentos utilizados na promoção de exportações — além dos in centivos fiscais, creditícios e tributários — foi, sem dúvida, a política cambial empregada a partir do final dos anos 60. O sistema de minidesvalorizações cambiais introduzido em 1968 transportava para a taxa de câmbio a idéia da correção mo netária adotada no sistema fi nanceiro nacional.
De 1968 a 1978 a taxa de câmbio foi deesvalorizada de acordo com o diferencial de in flação — medido pelo índice de Preços no Atacado (IPA) — en tre 0 Brasil e os Estados Uni dos. O sistema mantinha a pa ridade do poder de compra das exportações brasileiras, tornan do-as competitivas no mercado internacional. Além disso, uma das limitações da regra de des valorização — 0 fato do Cr$ ser alterado unicamente em função do US$ — acabou por beneficiar as exportações bra sileiras, devido à queda do dó lar nos mercados de câmbio ao longo da década de 70.
Os países industrializados abandonaram o sistema de ta xas fixas de câmbio a partir de 1973, e deixaram suas moedas flutuar livremente nos merca dos internacionais de câmbio. As intervenções dos Bancos Centrais se davam apenas para suavizar as oscilações mais bruscas de mercado, daí o no me de dirty floating que se deu ao sistema de câmbio que se iniciava. Os países menos de senvolvidos, no entanto, manti veram 0 sistema de taxas fixas e, em geral, suas moedas esta vam vinculadas ao dólar norteamericano. Qualquer oscilação do dólar no mercado interna cional afetava a paridade do cruzeiro, por exemplo, em re lação às moedas européias.
Nos anos 70, a desvaloriza- tr


O erro básico das negocia ções de dezembro/82 com os bancos internacionais foi a subestimação das necessidades de recursos externos de longo prazo. A hipótese do balanço de pagamentos apresentava nú meros muito otimistas, como a projeção da entrada de inves timentos diretos de US$ 1,5 bi lhão e 0 volume de suppliers credits de US$ 4,5 bilhões.
A dificuldade de acompa nhamento dos Projetos 3 e 4, devido à falta de registro das operações pelo Banco Central, provocou um forte vazamento nos créditos de curto prazo. A falta de comprometimento for mal dos bancos internacionais, e a impossibilidade do Banco Central de monitorar o fluxo de créditos de curto prazo, re duziu de forma significativa os niveis de linhas trade-related e interbancárias em relação à posição de meados de 1982.
os bancos brasileiros fizessem Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC) mesmo sem a linha de crédito no Exterior. A medida resolveu o problema imediato de capital de giro dos exportadores, porém não solu cionou o problema da entrada de divisas, já que as linhas de pré-financiamento foram redu zidas.
O segundo choque negativo sobre o fluxo de caixa das ex portações no inicio do ano pas sado foi 0 medo crescente de uma maxidesvalorização. Como 0 exportador tem uma boa mar gem de manobra para o fecha mento do câmbio, as mercado rias com embarques previstos para os meses futuros estimu lavam 0 exportador a não fe char 0 câmbio rapidamente, à espera da máxi que lhe propor cionaria maiores ganhos.

cre0 Banco
Outro fator de deterioração do fluxo de caixa do país no início do ano era a divergência entre o saldo accrual da balan ça comercial e o saldo na base cash. Apesar dos bons resulta dos da balança comercial com relação ao embarque e desem barque de mercadorias, o saldo comercial não se materializava na mesma proporção em termos de entrada efetiva de divisas. Isto ocorria basicamente em função do fluxo de caixa das exportações. Dois tipos de choques afe taram negativamente a entrada das divisas de exportação nos primeiros meses do ano. Pri meiro, a própria retração nos créditos de curto prazo do Pro jeto 3. já que boa parte das linhas de pre-export não esta vam sendo renovadas. As ex portações com previsão de em barques futuros não realizaram o fechamento do câmbio, não gerando portanto entrada de di visas. Com a retração ditos trade-related, Central chegou a permitir que
A montagem da Fase II da negociação externa, iniciada partir do segundo semestre de 1983, manteve a mesma estru tura da primeira fase, com a estimativa das necessidades de financiamento do balanço de pagamentos e a formação dc um novo jumbo para cobrir parcela de new money. Alguns aprimoramentos foram introdu zidos
aumento do número e a melhor distribuição geográfica dos ban cos participantes, e o compro metimento formal dos bancos com relação aos créditos dc curto prazo ma de jumbos periódicos para obtenção de recursos adicionais não foi alterado.
porem o esque-
As necessidades de finan
ciamentü do balanço de paga mentos foram estimadas em US$ 11 bilhões para o restante de 1983 e o ano de 1984. A es timativa foi obtida partindo-se de uma hipótese de déficits em conta corrente de US$ 7,7 bi lhões em 1983 e US$ 6 bilhões em 1984 (posteriormente, verlficou-se que o déficit em 1983 foi de apenas US$ 6,2 bilhões, e a previsão de 1984 foi revista para US$ 5,3 bilhões).
A subestimação dos recur sos externos de longo prazo, o vazamento das linhas dos Pro jetos 3 e 4, e a defasagem entrada dos US$ da balança comercial, tudo isto contribuiu para que o Brasil começasse apresentar um fluxo de negativo a partir de fevereiro/ 83. O Pais começou a atrasar pagamentos, e o não cumpri mento das metas com o FMI fez com que o Fundo não libe rasse as outras parcelas dc empréstimo, o mesmo fazendo os bancos privados internacio nais. na no a caixa servas 1984.
Na conta de capital, foi prevista uma entrada de divisas de US$ 3,7 bilhões em 1983/84 — esta estimativa incluía re cursos do BID e Banco Mundi<'I total de US$ 0,9 bilhão em 1983 e US$ 1,1 bilhão em 1984. empréstimos do FMI de US$ 3.7 bilhões nos dois anos, e um au mento de US$ 1 bilhão nas re cambiais do pais em Somando tudo, ficavam
faltando US$ 4,5 bilhões em 1983 e US$ 6,5 bilhões em 1984, total de US$ 11 bilhões no no período 1983/84.
Da parcela restante a ser financiada, US$ 2 bilhões fica riam a cargo de empréstimos com garantias oficiais que se riam renegociados junto ao Clube de Paris. Outros US$ 2,5 bilhões viriam de créditos co merciais de entidades oficiais (official trade credits) que, na verdade, representavam garan tias para operações de finan ciamento de importações, e não empréstimos em moeda. Aos bancos privados internacionais, restaria a parcela
novação automática das amor tizações para empréstimos ga rantidos por entidades governa mentais (Clube de Paris), c a a como a extensão da re- portanto, complementar de US$ 6,o bi lhões, que viria na forma de um empréstimo-jumbo.
A Fase II da negociação

externa melhores condições que a Fase I, tais como maior prazo de carência, menores spreads e fees, maiores prazos de emprés timos e maior valor do empréstimo-jumbo — também foi divi dida em quatro projetos básicos:
Projeto A — New Money Facility; Empréstimo no valor de US$ 6,5 bilhões, com desem bolso de uma primeira parcela de US$ 3 bilhões, e o restante em outras quatro parcelas de mesmo valor. Prazo de emprés timo de 9 anos, com 5 anos de carência. Taxa de juros de 2% sobre a Libor de 3 meses, com pagamentos trimestrais, ou 1 3/4% sobre a prime-rate ou so bre a taxa de Certificados de Depósitos (CD rate).
Projeto B — Deposít Facility: Renovação automática do principal da dívida de médio e longo prazos a vencer em 1984. Novos empréstimos a serem feitos nas mesmas condições do Projeto A: 9 anos de prazo, com 5 de carência, e taxas de juros de 2% sobre a Libor de 3 me ses, ou 1 3/4% sobre a prime ou CD rate.
Projeto C — Trade Facility: Os bancos internacionais comprometem-se a manter os cré ditos comerciais de curto pra zo pelo menos no nível de US$ 10,3 bilhões registrado em ju nho/83. O comprometimento é válido por um ano, a partir da data da assinatura do acordo de negociação externa. Os ban cos credores podem trocar os empréstimos de tomadores, ou seja, podem mudar a composi ção de suas carteiras de clien tes. Se, no entanto, após 5 dias, 0 banco credor não atingir o nível comprometido, terá de repassar os recursos ao Banco Central por 30 dias. Este em préstimo será renovado sempre por 30 dias até o banco credor alcançar o seu nível de compro metimento. Os spreads sobre a Libor ou prime são negociados livremente em cada banco. No que apresentava
caso do empréstimo ao Banco Central, a taxa de juros é de 5/8% sobre a Libor ou prime.
Projeto D — Interbank FacMity: Os bancos internacionais comprometem-se a manter as linhas de crédito interbancárias aos bancos brasileiros no Exte rior pelo menos no nível de US$ 6 bilhões de junho/83. Cada de pósito deve permanecer um mínimo de 30 dias, e qualquer realocação de recursos terá de ser feita com prévio aviso de 10 dias. As taxas de juros são negociadas com cada banco tomador de recursos. No caso de depósito no Banco Central. 0 spread é de 5/8% sobre a Li bor ou sobre a taxa doméstica de juros.
V — Propostas de Renegociação da Dívida
básicas: a moratória unilateral (ou alguma forma de desengajamento temporário do país do mercado financeiro internacio nal). 0 aprimoramento do es quema de empréstimos-jurnbo. algum tipo de capitalização par cial dos juros, ou a esperança no retorno do fluxo voluntário de empréstimos externos.
A quarta alternativa volta à normalidade do merca do internacional — não pode ainda ser visualizada dentro de um horizonte razoável de tem po. Quanto à primeira alterna tiva — moratória unilateral, ou suspensão do pagamento do ser viço da dívida por alguns anos — ela se baseia em pressupos tos falsos, e peca por falta de realismo quanto à situação fi nanceira internacional.
Apesar de o empréstimoJumbo da Fase II da negociação externa conter algumas vanta gens em comparação ao jumbo da primeira fase, não se pode negar que este megaempréstimo poderá voltar a registrar problemas semelhantes aos que se verificaram com o de dezem bro/82, tais como a subestima ção das nossas necessidades de new money, a falta de ajustes automáticos nos seus valores no caso de ocorrência de choques externos negativos e, cbviamente, 0 bloqueio dos desembolsos por falta de cumprimento dos critérios de performance do FMI. ü a nos
A ameaça de subestimação. a falta de automaticidade e. além disso, a excessiva visibi lidade dos jumbos periódicos sugerem, de fato, a necessida de de se buscar novos caminhos de renegociação e reestrutura ção da dívida externa.
Em linhas gerais, a discus são em torno de alternativas de pagamento da divida externa pode ser enquadrada dentro de uma das seguintes quatro idéias
O argumento em defesa da moratória reclama a necessida de de 0 País executar um pro grama de crescimento econômi co, e estabelece que o fim da fase recessiva só podería ser obtido através do rompimento com a comunidade financeira internacional e do acordo com Fundo Monetário Internacio nal. A realidade, no entanto, in dica que a recessão dos últimos 3 anos não foi conseqüência de uma política econômica ortodo xa empregada no País, mas sim resultado da grande instabilida de da política econômica, das elevadas taxas de inflação que economia vêm enfrentando últimos anos, e do baixo ní vel de credibilidade nas medi das adotadas nesse período.
Além disso, a decretação da moratória unilateral tendería a prolongar a fase recessiva, na medida em que afetaria seria mente 0 setor externo da econo mia brasileira. O argumento de que 0 superávit comercial é, ho je em dia, superior ao déficit da balança de serviços exceto juros e que, portanto, a receita de exportações poderia pagar as importações no caso da mora-^


do internacional — e o fim da normalidade no fluxo de em préstimos externos — eliminou a alternativa brasileira de uti lizar a poupança externa para financiar o desenvolvimento da economia do País. A posição do
balanço de pagamentos de nos sos vizinhos latino-americanos que praticamente utilizam recursos externos somente para "rolar” a dívida já existente — indica a necessidade de o Brasil caminhar no sentido de obter superávits elevados na balança to.
Acomercial e eliminar a méclin prazo 0 déficit cm contacorrente, a fim de impedir o cres cimento da dívida externa e re verter a nosso favor a dinâmi ca do processo de endividameii-
Bailey. Norman; Luft. David; Robinson. Roger — "New Debt Reschuduling Methods Urged" — American Bankcr 19/05 83.
Bell, Geoffrey — "Debt Reschedulíng; Can the Banking System Cope?" — The Banker, fevereiro, 1982.
Bell, Geoffrey — "World Lifeboat by Commercial Banks — Financial Times. .... 09/93, 83.
Bolin, William — The Economist Financial Report, 15/09,'83. Brunner. Karl — Journal of Economic Affairs, março. 1983.
is World Growth" Journal. 10/02/'83.

The Wall Street
Kenen, Peter — International Country Rl.sk Guide. outubro. 1983.
Ku(2zynski. Pedro-Pablo" — "Lalin American Debt: Act Two" — Foreign Affairs, 1983. Loulan. Yves — International Country Risk Guide, outubro, 1983.
Lever. Harold
"The Third Muinoiiana, Wiinam D. Word’s Debts" — Pollcy Options, março abril, 1983.
"The Extern of IMF "The International Debt Threat" — The Economist, 09/07,83.
Leslie, Peter — International Country Risk Guide, outubro. 1983.
Mackworth-Young, William — International Country Risk Guide, outubro. 1983.
Mundell. Robert — "The Debt Crisis: Cau ses & Solutions" — Tlic Wall Street Jour nal, 31,01/83, Nowzad, Bahram Involvment in Economic Policy-Mnking" — AMEX Special Paper, N." 7. setembro. 1983.
Dale. Richard S. LDC Debt Problem" — Columbia Journal of World Business. 25/08,83.
Dale. Richard S.
A Proposal for the
Magnífico, Giovanni lhe World Bank" 15/12, 83, Mayer, Martin — "Aceounting for Troubled Debts" — The Wall Street Journal, 23/02, 83, Meltzer, Alan — "How to Defuse the Debt Problem
Rohatyn, Felix — out Global Debt 28/02/83, Solomon, Anthony M, Resilient International Financial System" — FRNY Quarterly Keview, outubro. 1983, Solomon. Robert 24. 02/83. Yassokovich, "A Plan for Stretchlng — Busine.ss Week, "Toward a More
A New Role for Financial Times, Journal of Commcrcc "Country Risk and Bank Regulation" — The Banker, março. 1983. Johnson, G.G. Stamislas Country Risk Guide, outubro, 1983. "The International Debt Threat" — The Economist, 30/04/83.
International 'Aspects of ths Safely Net for International Ranking” — Finance and Development, setembro. 1983. Kemp, Jack — "The Solution to World Debt Zombanakis. Minos Fortune, 28/11/83.
Mendelson, M.S. — "International Deb Cri— The Banker, .iulho, 1983. S1S‘
Tabela 1 — Brasil — Crescimento Econômico, 1966/1983
Taxa ilf Crescimento (""1 PIB
Tabela 2 — Brasil — PIB per capita, 1970/198Í
Tabela 3 — Taxa de Inflação, Correção Monetária e Desvalorização Cambial, 1968/1983 PIB Per Capita
Taxa de Inflação (IGP-DI)
Correção Monetária
● Dados preliminares.
Projeção oficial.
Fonte; "Brazil- Feonomie Praçiram’^, Março I98d Fonte: Fundação Gelúlio Vargas. Fonte: Banco Central do Brasil.
De.svalorização Cambial
Tabela 4

B.6L.4NÇA COMERCIAL ... Exportações Prlmiirlos Mamilaturados Importações Petróleo c Derivados Bens de Capital ... Trigo Matórlas-Prlmas Demais
Viagens Inlcrnaclotiais Transporie e Seguros Lucros Dividendos
TR.4NSFERENCIAS UN1L.4TERAIS ...
SALDO DAS TRANSAÇÕES CORRENTES
CONTA DE CAPITAL
Invcsl. Esirang. no Brasil (liquido)
invest. Brasileiro no Exterior (liquido) Errtprést. c Fmunc. de Médio c Longo Prazos ... Amortimçõc.s de Médio o Longo Prazos Emprésfmos do Curto Prazo (liquido) Outros Capitais
Estimativa prellmlnar. 2 Projeção olicial.
Fonio: flanco Canltol do Brasil
Tabela 5 — Brasil — Balanço Comercial, 1966/1983
EXPORTAÇÕES
IMPORTAÇÕES Tolai ParClcIpaçües ("*) Total Particlpaçõi (●●) SALDO Taxa dr Crrsclmento (“") Taxa dc Crtsclmrnlo CO Srmiinanufatarados US» Produtos Básicos Manufa turados US." .Milhões
Fon(e: CACEX
llrm
Total
Tabela 6 — Balanço Comercial: Divisão por Países, 1980/1983 (Em US$ milhões)
1 Venezuela e Equador incluídos em OPEP. 2 Inclui Grécia desde 1981. ' Inclui Porto Rico. Forno: ‘Biazil: Economic Program", Março ISS4.

Tabela 7 — Crescimento (%) das Exportações para os Estados Unidos: Diversos Países
País Exportador 1683 1983
Canadá (52)
Japão (41)
México (17)
Alemanha Ooldenlal (13)
Reino Unido (12)
Taiwan (11)
Coréia do Sul (7)
Hong Kong (6)
França (6)
Itália (5)
Indon^la (5)
Brasil (5)
Venezuela (5)
Nigéria (4)
Arábia Saudita (4)
Obs.: O número entre parêntese indica o tolai das exportações do pais em 1983 para os Estados Unidos, em USt bi lhões.
Fonte: "International Financial Siatlatics". FMI.
Tabela 8 — Participação do Brasil no Comércio Mundial, 1979/1983 (Em U5$ milhões)
Tabela 9 — Participação (%) das Exportações no PIB; Diversos Países
Paísr» J975 1983
América Latina
Argentina
Brasil
Trusi. junho 1983. Morgan
Tabela 10 — Brasil — Evolução da Divida Externa, 1968/1983 (Em US$ milhões)
● Segundo trimestiu.
Fome; "International Financial Stetislies". FMI.
Tabela 11 — Serviço da Dívida Externa, 1968/1983 (Em USS milhões)
Tabela 12 — Coeficientes Relatívos) de Endividamento Externo, 1968/1983 (Em %)
● Divida de longo prazo. *● Dados bruto.s (rüo considera dividas dc curto prazo das autoridades cnonctárias). Serviço da Dívida Juros Líquidos Amorti zações
Fonte- Banco Centra! do Brasil Ano Serviço da Dívida Exportações Dívida Líquida Regbitrada Exportações
(3) = (1) +
(1)
Tabela 13
Fonto: Fundo Monetário Internacional.
Tabela 14 — Paisep em Processo de Reescalonamenlo da Divida Externa com Bancos Privados Internacionais em 1983
.‘trgentina
Brasil
México
Costa
Equador
Repübl
Dominicana
Honduras
Guiana
Cuba
Asia
Viclnam
América
Nicarágua Peru Uruguai
Coréia do Norte
Filipinas
Zâmbia Zair-j
Libéria Marrocos
Africa <■ Orlcnlc Medio Nigéria
Senegal Madagascar
Sudão
Paises que somunte recorreram uo Clube de Paris: Gana. Togo, Tanzânia, Serra Leone, Uganda. República Central Africana, Bangladesh, Paquistão.
Fome: Fundo Monetário íntemec/ona/-

Desde Í906 fazendo segfuirosn Rua Libero Badaró, 158 ° TeL: 229-0811»
