

ECOIMOMICO
SEBASTIÃO LACERDA - Flavio Galvao
MORITURI MORTUIS - Mello, Cançado
DESESTATIZAÇÃO: INTENÇÃO E REALIDADE — Marcei Domingos SoÜmeo
A EVOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM NOME COLETIVO - Amoldo Wald
A CRISE ENERGÉTICA E A POLÍTICA DE TRANSPORTES NO BRASILEduardo Celestino Rodrigues
O RENASCIMENTO DO SOCIALISMO UTOPICO - Jean Christian Petifils
OBJETIVOS PRIORITÁRIOS DA POLITICA ECONÔMICA - Gilberyo Bladorne
O MOVIMENTO FEMINISTA — Janete Eiko Hiramuki
CONSIDERAÇÕES SOBRE FINANCIAMENTO EMPRESARIALOctávio Gouvêa de Bulhões
N? 267 Maio-Junho de 1979 ● Ano XXXVl - Digesto Econômico

Apresentação
Considerações sobre o financiamento empresarial — Gouvêa de Bulhões
A crise energética e a política dos transportes no Brasil — Celestino Rodrigues
Os Estados Unidos; Uma visão brasileira — Celso Lafer
O problema energético e a economia nacional — Alcides Casado dc Oliveira
Desinformação histórica e segurança nacional — Carlos de Meira Mattos
Sebastião de Lacerda Juiz do Supremo Tribunal Federal — Flavio Galvão
Algumas considerações sobre o capital estrangeiro — Amoldo Wald
Conceito de tecnologia — Januário Francisco Megale
Desestatização — intenção e realidade — Marcei Domingcvs Solimeo
Civilização ocidental cristã — J. O. de Meira Fenila
Os objetivos prioritários da política econômica — Gilberto Blardone
Morituri Mortuis — Mello Cançado
Afonso Arinos 2° e Eu — Gilberto Freire
O movimento feminista — Janete Eiko Hiramuki
O extermínio de milhões de pessoas — Jean Pierre Dujardin ....
Podem os indicadores econômicos e sociais medir a qualidaae de vida? — John P. Huttman e James N. Liner
A avaliação da poluição na modelização da economia mundial — Guy Poquet
O renascimento dos socialismos utopicos — Jean-Christian Petiffils
Bibliografia
Retificação; Na página 181 do N.o de Março e Abril, onde se lê General
Antonio Carlos de Andrade Serpa, leia-se José Maria de Andrada Serpa.
AFKESENTAÇÃO

O DIGESTO ECONOIMICO tem dado suficiente destaque ao proble ma energético. Adotamos como iniciativa editorial, a defesa das fontes alternativas e substitutivas do petróleo, por se tornar imperativo encontra-las. O Brasil especlalmente está seriamente ameaçado em sua economia, iielo alto custo do petróleo. Não dispomos de rede ferro viária compatível com os nossos interesses econômicos, parte dos transportes no Brasil é feita por caminhões. O petróleo é, portanto, vital iiara a circulação da riqueza em nosso país. mente, a Petrobrás, depois de vinte e seis anos de constituída, descobriu petróleo. Provavelmente não o temos em quantidade sufi ciente, e, ainda que nos lembremos do vellio “slogan”, “O petróleo é nosso”, na verdade é nosso o que não possumios. Apenas uma quan tidade pouco inferior a 20% é produzida pelos poços brasileiros, c, assim mesmo, de petróleo cujo refino tem um custo elevado, segundo informações fidedignas. Passaram-se seis anos, desde que o poderoso cartel da OPEP desencadeou a guerra dos preços no mundo. O custo do cru passou de Üs$ 2,60 o barril a Us$ 12,00 e agora já está ÜsS 20,00, tendo sido adquiridas partidas a Us$ 50,00 na Holanda. É uma corrida para o abismo.
fazem do DIGESTO ECONOMICO
A maior Infeliznão em Até mesmo economias solidíssimas como a americana,^ a alemã, a francesa correm o risco de se afundar puma crise catastrófica, se não for oposto um paradeiro a essas altas incontmeutes. No BrasU, dispomos de carvão de baLxa caloria, um carvao que iiao corresponde às necessidades técnicas das instalações industriais. Contudo, é possível ser o mesmo aproveitado. Mas dis pomos de euergia verde. Esta se distribui em quantidade por todo 0 território nacional. A de que possuímos tecnologia apurada, é a do álcool. Somos o maior produtor de açúcar e do álcool. Podemos, portanto, substituir o petróleo, ao menos em grande parte, nos mo tores de veículos. É um recurso iiarcial. Mas significativo, se não perdermos mais tempo. Neste número, os srs. Eduardo Celestino Ro drigues e Alcides Casado de Oliveira defendem pontos-de-vista dos quais se fizeram patronos. Recomendamos a leitura de seus artigos. E recomendamos a leitura de todos os demais, que, como sempre, wma das mais importantes publi cações de estudos políticos, econômicos e sociais do Brasil.
0 MIVDO DOS ^EG0CIOS PA\'0n.1MÍ BIJIESTllAL
Pnbllcado sob os auspícios da ASSOCIAÇÃO COi^lERCIAL
DE S.PAILO
Diretor:
Aatâzüo GoBliJo de Carvalho 1947 a 1973
Diretores:
Joio de Bcanlimhurgo
Paulo Edmur de Souza Queiroz
WUfridea Alves de T-imn
o DIgesto Econflmlco, órfgo de In formações econômicas e financei ras, é publicado bimestralmente pela EdltOra Comercial Ltda.
A direção não se responaabillza pelos dados cujas fontes estejam devldameíito citadas, nem pelos conceitos emitidos em artigos assi nados.
Acelta-se interc&mblo com publi' cações congêneres nacionais « es trangeiras.
ASSINATURAS:
Dlgeito Econômico
Ano (simples) .
Número do mês Atrasado

Cr$ lOO.OC
Cr? 18,OC
PUBLICAREMOS NOS PRÓXIMOS NÚMEROS
DO “QUANTUM” A SER PENHORADO NA EXECUÇÃO
Arnold Wald
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SO BRE O CAPITAL ESTRANGEIRO
Amoldo Wald
UNIVERSIDADE E PLURALISMO CULTURAL
Miguel Reale
UM TEMA POLÊMICO:
O “CRESCIMENTO ZERO
José Testa
ECONOMIA POLÍTICA E ABER TURA
João Paulo de Almeida Magalhães
PELO RETORNO DO INVESTI DOR INDIVIDUAL
Raymundo Magliano Filho
Cr5 25.0Ü QUANDO
Redaçfio e Administração:
Rua Boa Visía, SI — Andar lerreo Telefone: 239-1333 — Ramal 133
Caixa Postal, 8.082
São Paulo
COMPOSTO E IMPRESSO NA
Editora Grâfíca
Ramos de Freitas Ltda.
FONE: 521-7304
FALTAR PETRÓLEO
Peter Nulty
AS FORMAS DE OPÇÃO TOTALITARIA NO BRASIL
Antonio Paim
MODERNIZAÇÃO E DECLÍNIO ECONOMICO DO BRASIL
Alberto Guerreiro Ramos
A POPULAÇÃO: TENDÊNCIAS RE CENTES E CONSEQUÊNCIAS
Victor L. Urquidi
Considerações sobre o financiamento empresarial
OCTAVIO GOUVÊA DE BULHÕES
EXISTE uma tendência mar cante de declínio de finan ciamento da produção por meio de capital próprio e, em sua substituição, é insis tente o apelo ao crédito.
Nos Estados Unidos, existem vá rias indicações do declínio do ca pital acionário e ascensão dos em préstimos.
Em 1950, a distribuição de divi dendos era 2,7 vezes maior que o pagamento de juros. Em 1973, o pagamento de juros é 3,5 vezes maior que a distribuição de divi dendos.
O professor Octavio Gouvêa ãe Bu lhões traça um roteiro econômico propicio à harmonia social e ao fortalecimento da empresa.

eleva-se muito mais que a renda em termos de dividendos.
Feitas as verificações estatísticas da elevada preponderância do ca pital creditício sobre o capital acionário é de perguntar-se qual a finalidade desse registro. Se os
DECLARAÇÃO DE RENDA DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS (1)
(Bilhões de dÕlares)
Igualmente expressiva é a com posição da renda nacional dos in divíduos. Os juros auferidos pelos indivíduos são provenientes da poupança aplicada em instituições particulares e em títulos do Gover no. A renda em termos de juros (I) — Quadros n.°s 844 c 855 do Statístical Abstract dos Estados Unidos de 1976.
empréstimos superam as subscri ções de ações é porque a primeira modalidade de financiamento pas sou a ser preferível à segunda. No financiamento da produção agropecuária, a modalidade creditícia é mais adaptável que a do
(Bílhões de dólares)

levantamento de capital acionário. De maneira mais característica, na i.onstrução residencial. Aí, o fi nanciamento por meio de emprés timos é inevitável. Mas ainda sim, torna-se candidato à habitação disponha de alguma parcela de recursos próprios. Se o financiamento for feito na base de 100% do valor da propriedade, é provável que ocorram sérias dificuldades cumprimento da liquidação do dé bito. Obviamente, nos empreendi mentos empresariais, em que os riscos são consideravelmente maio res, impõe-se a disponibilidade de apreciável parcela de capital pró prio.
ju.stamcnto de juro.s, de acordo com as condições do mercado.
O empréstimo, nas atua^s con dições, conduz ao enfraqucchnonto financeiro das empresas. O prso das dívidas impede-lhes de cuidar da produtividade dos equipamen tos e da eficiência da admhiUt-ação. Qualquer recuperação redun da em aumento de preços. Não sa bem sair da inflação, nem ousam vencer a recessão.
A instituição da correção mone tária, no Brasil, deveria desesti mular o apelo ao crédito e intíuz r a recorrer-se ao capital acionário. Note-se bem a seguinte diferenç’. Um empréstimo com correção s gnifica para o devedor resftuir credor o capital acrescido de soma correspondente à desvalorização monetária do empréstimo, dos juros igualmente corrigidos. No caso do capital acionário a cor reção é equivalente a do emprésti mo, com a enorme vantagem do capital corrigido manter-se empresa. A transferência llmitaasnecessário que o
Empréstimos de longo prazo, su periores a vinte anos, dotados, portanto, de amortizações suaves e juros módicos, rivalizam com o capital acionário. Mas esse rival tornou-se raro em nossos dias, por força da incerteza do valor das moedas, interna e externamente. Os prazos comuns são de dois cinco anos e com cláusulas de reaao além a na
12) — Quadro n.° 641 do Statistlcal Abstract dos Estados Unidos, de 1976.
se ao dividendo ajustado ao pitai corrigido. O acionista recebe sua remuneração assegurada con tra a desvalorização monetária e assegurado está o valor de capital na empresa. O credor do empréstimo, além do juro, recebe de volta o capital corrigido que lhe dá a impressão de ter aufei*ido grande rentabilidade. Se incorre em tão grosseiro erro, destinandoa ao consumo, delapida seu cap‘-
tal. Se for provido de bom sei^o, reinvestirá a soma correspondente à correção monetária. Manter-se-á na mesma posição do acionista. Todavia, para a empresa a moda lidade de financiamento via ca pital acionário é consideravelmen te melhor que o recurso ao em préstimo. Entretanto, prosseguese pelo caminho do crédito, sem cogitar-se do capital acionário. O quadro quo se segue é elucidativo.
POUPANÇA financeira _B_R_UTAJlA_CjONAL (MilhScj; de _cru7j:iro^)

Eriiissno (Ig Açoes {comprcc-ndendo incor poração de reservas no aumento de capit_al)_
Subscrição de ações
FPÍLTI.' (Boletim do Banco Central, janeiro de 1979, pags. 122 e 123, cols. 27, 23 e 21. As somas indicadas sao fluxos acumulados no ano. Rigorosamente de- vGrramos_ter excluído os valores da col. 1, "Havores Monetários". A ex clusão não modificaria a tendência revelada na coluna IV, do Quadro).
A expansão de crédito ultrapassa as disponibilidades de poupança e acaba exercendo pressão sobre o
suprimento de moeda. As autori dades quando verificam a expan são monetária procuram contê-’a.
Chegam, porém, com atraso, pois atacam o efeito e não a causa. É bem verdade que procuram res tringir 0 crédito, mas a correção acarreta fortes embaraços e, desse modo, 0 combate à inflação tor na-se bem difícil.
Os índices de preços, nos Esta dos Unidos, subiram violentaments entre 1972 e 1975. A alta foi de 45%. É interessante registrar-se o seguinte fato na evolução dos em préstimos:
(3) (Bilhões de dólares)
Empréstimos iros Bancos Comerciais ao Setor Privado

Empréstimos
Durante o período que antecede 0 ano de 1969 os acréscimos dos empréstimos mantinham-se ao ní vel correspondente ao acréscimo de 1970 sobre 1969, e a soma da poupança superava esse acréscimo. A grande disparidade ocorreu de pois de 1970.
O aludido confronto entre em préstimos e poupança é falho. De um lado, há maior número de ins tituições de crédito. De outro, além da poupança dos indivíduos, existe a poupança de empresas e de ins-
tituições financeiras que absorvem os títulos públicos, em larga es cala. Contudo, a disparidade apon tada, entre a expansão dos emprés timos e 0 aumento da poupança, é expressiva e coincide com a fase de maior impulso inflacionário.
No Brasil, a intensificação do crédito demonstrou ser extrema mente aguda. Dois exemplos per mitem avaliar a intensidade. Pri meiro, comparemos nossa evolu ção de crédito com a do Japão, país onde os empréstimos atingem a níveis muito elevados:
(3) _ Internacional Financial Statisties, cols. 32d c 88; Statistical Abstract, U.S., 1976, 638, pág. 348. n.“
ANOS

19 72 1 9 7 3
19 7S 1 9 7 f.
EKPRÜSTIXDS DO FIWí.TETP,0 AO
SETOR PRIVADO
BP.ASIL (A)
(milhüos (io cni^eifos)
Acréscimos dos Emprés timos
PfOpOCÇüCS cm i-clnç5o ao produto interno bruto (t)
●JAPA0_J5)
Proporções em reh^çõo ao produto interno bruto (ii) (BiIboes de yens)
Acrcscin.os dos Emprés timos
(4) - .Pevísta do Banco Central, janei)'0 de 1979, col. 33, pag, 137 e Conjuntura Econômica, outubro de 1978, pag. 8, Tabela A.
(5) - International Financial Statisties, cols. 52d s 99b.
O segundo exemplo reside no fato peculiar do Banco Central, em nosso país, repassar emprés timos à rede bancária, priiicipalRESÍIKDS sobre 05 [■■BÚSITOS (6)
mente ao Banco do Brasil. Nestas condições a soma de empréstimos supera consideravelmente o mon tante dos depósitos à vista e a prazo.
(6) - Intcrnalional Financial StalisLies, cols 24, 25 o 32.
No propósito de assinalar me lhor a expansão do crédito do Banco Central via Banco do Bra¬
sil é interessante reproduzir os se guintes dados:
(7)
BnNCO DO BRASIL (Bilhões de cri/7ciros)
(nüc)
(7) - Bolc'íi:n <Jo íiíifico Ce.-ilral, .'nne-iro de 1979 , col . 1, (..in. e fol. 4. ;
O Banco Central para assegurar e do prazo de retorno dos depósi0 repasse de empréstimos à rede tos de importação, bancária, notadamente ao Banco do Brasil, recorre a múltip’as fon tes de receita. Á mais peculiar é a que diz respeito a receitas exigidas ^ para absorver cruzeiros, no pror grama de combate à inflação. As sim, os cruzeiros retirados do mer cado por meio da venda de L'tras foram reintegrados à circulação através dos repasses do Banco Central. Os depósitos de importa ção, instituídos para reforçar a retirada de cruzeiros, voltaram ao mercado nos repasses dos emprés timos.
A despeito do emprego de me didas acertadas, deixou-se de com bater a inflação, porquanto os ins trumentos de restrição dos meios de pagamento converteram-se em alavancas propulsoras da oferta de moeda, Agora, surgem dificul dades de restringí-la, diante do vencimento das Letras do Tesouro

No caso da devolução do.s depó sitos de importação, imaginou-s3 inteligente e engenhoso procedi mento de redução gradativa da exigência de novos depósitos e es tabeleceu-se um esquema de res tituições parceladas dos depósitos feitos anteriormente. À providência da supressão e restituição dos de pósitos de importação adicionouse a disciplina dos subsídios à ex portação, de modo tal a suprimilos em futuro próximo, comp-^nsando-os com uma correção pau latina da taxa cambial.
É inegável a sabedoria e indis cutível a sagacidade da providên cia que 0 Governo tomou. No que se refere, porém, ao vencimento das Letras do Tesouro ainda não pudemos contar com igual decisão. Persiste o simplismo de emitir no vos títulos para liquidar os anti-

gos. Mantém-se um circuito de emissões e resgates, gerador de ju ros, desgarrados da atividade eco nômica, mas que influenciam fi nanceiramente os orçamentos nivel da taxa de juros do mercado. É um circuito financeiro encra vado na economia, isolado das ati vidades benéficas mas de nefasta influência na propagação do custo.
As receitas da venda das Letras do Tesouro, conforme já foi ex plicado, em vez de serem retidas como instrumento de controle mo netário, voltavam à circulação sob a forma de repasses de emprésti mos. Consequentemente, são somas que retornam aos Bancos, na li¬
e 0 ao recurva-
quidação dos empréstimos. Em vez de serem restituidas ao Banco Central são reaplicadas. Havendo somas substanciais para emprésti mos, provenientes das sucessivas transferências do Banco Central no passado, é admissível a descontinuidade do processo. Não vamos reduzir o montante do crédito, mas podemos suprimir a expan são. Se não estou equivocado, é pro vável que 0 montante das trans ferências do Banco Central mercado, como supridor de sos, possa ser estimado pelo Ba lanço Consolidado das Autorida des Monetárias, nos seguintes lores:
(KiLüDLS in: Cr,u/.i;iKos)
SALDOS (5)
Conlribuiçíío iro Banco Ccnlral
86 181
127 642
195 471
300 912
496 426
668 029
8S3 744
Total idüdo iros rir.prõsliiiios
153 375 238 462
370 309 579 580 915 299 1 382 635 1 991 015
(8) - Bolcrtiin do Banco Central, oaneii-o da 1979, pag. 17 col. 33. col, 40 0 pac. 137,
Entre 1977 e 1978 a expansão to tal do crédito foi de 608.580 mi lhões de cruzeiros, contendo a con tribuição de 215.725 milhões do Banco Central. No Orçamento Mo¬ netário para 1979, segundo o que foi publicado, preserva-se o regi me de repasses de empréstimos do Banco Central para a rede bancí ria, com destaque para o Banco do

pressão sobre a alta dos juros, pois
Autoridades vendem as Letras sob a angústia de resgatá-las e efetivam o pagamento de descon tos com elevada margem de preci pitação. as
Os repasses de empréstimos do Banco Central e o redemoinho das Letras do Tesouro desmoralizam qualquer política de combate à in flação.
É bem provável que o Governo tivesse que tomar medidas com plementares de assistência ao cré dito agrícola e às exportações, me diante 0 sistema de compensação da diferença entre taxas subsidia das e às do mercado.
As calamidades verificadas em vários Estados, impondo substan cial assistência financeira, permitem a implantação imediata do que se propõe. Poder-se-ia, po rém, preparar o esquema para o próximo ano.
Começamos esta exposição men cionando 0 exagero do financia mento por meio do crédito o o des caso pelo capital próprio das em presas. Insistímos no perigo dessa tendência porque ela traduz o en fraquecimento das empresas. Uma vez enfraquecidas as empresas, as possibilidades de progresso decli nam, com desastrosas repercussões sobre os indivíduos e, conjunta mente, sobre o país.
Brasil. Adotada a supressão dos sistema financeiro fi- repasses, o caria, em 1979, com um saldo de crédito pouco superior ao de 1978. Não obstante o vulto do saldo e a exorbitância do crescimento em anteriores, haveria queixa de nao anos falta de crédito. O mercado ale garia insuportável ilíquidez. Mas se, simultaneamente, com a su pressão dos repasses de emprésti mo fosse efetivado o resgate das Letras do Tesouro, a liquidez do mercado estaria assegurada. O Banco Central, em decisão única corrigiría o grave erro de ter in corrido em Banco de Fomento e quebraria o círculo vicioso de emis sões e resgastes das Letras do Te souro, circuito que impede que as Letras desempenhem a função re guladora do meios de pagamento. Terminaria a influência nefasta da — III —
Quanto mais as empresas se en dividam, mais crédito necessitam e quanto mais crédito recebem maior a pressão sobre o suprimen to da moeda, gerando sucessivas altas de preços. Os ajustes sala riais tornam-se inevitáveis e ine vitavelmente crescentes exigência, com da elevação dos preços. As autori dades desejosas de combater a in flação, sentem-se impossibilitadas de reduzir o crédito porque as em presas não dispõem de capital pró prio para levar a efeito suas ope rações. Contudo, a precipitação da desvalorização da moeda, impõ© uma restrição que conduz à reces são. Para sair da recessão volta-se à inflação.
em sua o prosseguimento

Há descontentamento, embora, ainda, não seja o caso de desespe ro. As opiniões se contradÍ5^em, ca minhando, porém, para o consenso da falência do capitalismo e da li vre iniciativa. Nada mais injusto e equivocado, porquanto o que ne cessitamos é de livre iniciativa prida de capital próprio para exer cer sua força de progresso. Do que necessitamos é da integração do trabalho na esfera do capital. Em vez de redistribuição de renda, ca recemos da distribuição da pou pança. Cumpre às empresas a con tribuição de somas destinadas a um fundo global de poupança dos empregados, cujas somas sejam aplicadas por instituições financei ras particulares na subscrição de ações novas ou quotas de empresas que realizem investimentos. Os em pregados serão os proprietários das ações e das quotas do con junto das empresas. A seus salá rios adicionam-se, nas folhas de pagamento, os dividendos e lucros encaminhados ao fundo global e por este distribuído aos emprega dos de todas as empresas, segundo os registros mantidos pelo fundo global, administrado por represen tantes dos empregados, dos em pregadores e do Governo. É de es perar-se que essa administração venha a encontrar um método ca¬
paz de evitar o elevado custo ge rencial dos Fundos de Investimen to, nocivo à distribuição de divi dendos aos quotistas. A crescente rentabilidade do Fundo e, portanto, aumento da distribuição de divi dendos seria mesmo assegurada pela indisponibilidade das quotas. No Brasil, como em vários paises, arrecada-se uma contribuição empresarial para o suplemento dos salários. Há, todavia, enorme des perdício das contribuições, uma vez que constituem mera transfe rência de recursos, sob a falsa fi losofia da validade da redistribui ção de renda. É falsa porque o acréscimo da renda do trabalho é feito em detrimento da geração da renda.
O afluxo de renda aos assalaria dos não deve ser em detrimento da capitalização das empresas. Di ficultar a capitalização é cercear a geração de renda, tornando im possível o aumento de sua distri buição. Mais grave ainda quando se procura redistribuir a renda produzida retirando-se parcelas que seriam destinadas à capitali zação. E é precisamente esse erro que se vem cometendo nos países desenvolvidos, conforme foi assi nalado nos primeiros quadros, re forçados com os seguintes: su-
Rl:ída ;{ACIo;;al dos lsiados u:;ílos
(SALmKIOS E LUCROS) (BiUiões de dõlõrcs)

Bssdobranientos principais
e vencinsntos...
de firnas de empresas:
a) antes do imposto de renda
b) depois do impos to de renda SupleíTiento aos salários (contribuições do empre gador)
FONTE: Statistical Abstract, 1975, Tabela 606.
As tabelas justificam plsnamente 0 alarme da burocratização. A despesa com o pessoal do Gover no de 1S50 a 1970 aumenta de 22 para 115 bilhões de dólares, sando de uma participação de 9% para 14% sobre a renda nacional, enquanto o nível da proporção dos salários da área particular tém-se mais ou menos estável. Por outro lado, existem os “suplemen tos salariais” que são somas pagas pelas empresas e destinadas a se guro, pensão, saúde e outras con tribuições sociais. Tais importân cias crescem de 7 para 79 bilhões de dólares. O mal dessas contribui ções está no enfraquecimento dos lucros (reduzidos, também pela bu rocratização) . Contudo, as contri buições poderiam ser capitaliza das, em benefício dos assalariados e das empresas. Em vez de conce der-se um suplemento salarial, a título de redistribuição da renda produzida, sacrificando-se talização, dever-se-ia

man- no-se uma ano. em
a cap:capitalizar nas empresas o suplemento sala rial. O resultado da capitalização, ou sejam os lucros corresponden tes seriam adicionados aos salá-
que se suplementa os salários com lucro da capitalização. Se adi cionarmos sucessivamente as so mas dos suplementos a partir de 1940 até 1970: 0 pas- admitindo que anualmente os suplementos sejam encaminhados ao reforço do ca pital das empresas, mediante subs crição de quotas ou ações, em me de fundos de propriedade dos assalariadctô, em 1970 o valor da capitalização seria de 670 bilhões de dólares (9). Admitindo rentabilidade líquida distribuivel de 8%, o lucro a ser adicionado ao salário seria de 54 bilhões de dólares, quantia aproximadamen te igual ao suplemento desse Haveria, entretanto, a indiscutível vantagem do lucro de 124 bilhões de dólares de 1970 ser acrescido de 54 bilhões de dólares perfazendo o total de 178 passando a correspon der a 22% da renda nacional, lugar de 15,60%, Todo esse aumen to sem reduzir os salários, nem os suplementos.
Os assalariados participariam, em termos globais, dos lucros das empresas; manteriam uma fonte supridora de aumento de seus sa lários; manteriam um patrimônio transferível a seus herdeiros. Es taria, desse modo, assegurada r Ihoria da distribuição da renda, sem^os inconvenientes da redistri buição que ao favorecer a uns pre judica a outros, trazendo, como consequência o que estamos obser vando: inflação, desemprego, falnos.
No primeiros anos, os lucros das aplicações são bem inferiores aos montantes dos suplementos, Na sucessão das acumulações os lu cros se aproximam das anuais dos suplementos. Além dis so preserva-se a solidez da capa cidade produtiva, ao mesmo tempo amesomas

ta de confiança, desânimo. Tudo pode ser eliminado com o isso principio da participação da capi talização, como meio de assegurar a distribuição em plena harmonia com 0 desenvolvimento. É o elo da integração do desenvolvimento com a reforma.
No Brasil estamos mais próxi mos da finalidade acima proposta porque as contribuições exigidas das empresas visam expressamen te à participação dos empregados no lucro do conjunto das empre sas, mediante prévia capitalização das contribuições arrecadadas. A lei brasileira adotou o principio da distribuição da poupança, reco nhecendo como anti-econômica a redistribuição da renda. Na verda de, a riqueza a distribuir somente se apresenta exequível quando se amplia e se intensifica a oportu nidade de produzir, com o aumen to de produtividade e de eficiência.
A pobreza é desconfortante e re voltante com a ostentação do su pérfluo. Não chegaremos, porém, a bons resultados, nivelando a po breza. É fundamental generalizar os investimentos e restringir o afluxo populacional.
Faz bem a Igreja em condenar o consumo ostentatória, perante a miséria, e pleitear a diminuição das desigualdades. Mas a pregação nem sempre é construtiva porque, frequentemente, a riqueza de uns é associada à pobreza de outros. No inicio do capitalismo, a pobreza reinante na Inglatsrra era contundente. Escritores, como Charles Dickens, celebrizaram-ss
no relato da vida dos pobres, em Londres. É compreensível, pois, que tendo o Cardeal Albino Luciant decidido a escrever cartas a pes soas ilustres do passado, publica das no “Messagero di S. Antonio”, ocorre-se-lhe lembrar, iniciadmente, de Dickens. (Tenho a Idéia de que essas cartas contribuiram para à ascensão de Luciani a João Paulo I).
Luciani declara sua simpatia e admiração pelo escritor. Comuni ca-lhe que várias décadas após as suas novelas, a pobreza e as in justiças foram remediadas, na In glaterra e nos demais países indus trializados. A melhoria da vida dos operários resultou da força da união. Relembra a fantasia lite rária de cunho marxista que des creve a marcha triunfante de um camelo no deserto, orgulhoso de espezinhar os grãos de areia. Mas o vento do deserto convidou esses grãos a se unirem em compacta nuvem, sufocadora e soterradora do camelo. Os operários, continua Luciani, que viviam debilmente dispersos como os grãos de areia, uniram-se, impulsionados pelos sindicatos e conquistaram notável melhoria. Do passado para o pre sente, avançaram em todos os campos, atingindo melhor padrão de vida, maior garantia social e apreciável nível cultural. Todavia, Luciani sente a persistência de uma inquietação e observa terem as queixas tomado vulto entre os países ou mesmo entre regiões de um mesmo país. Ao escrever para Marconi, lou vando-lhe a tenacidade nas pes-

quisas e o engenho nas descober tas, reconhece que esse procedi mento, próprio do capitalismo, me rece reconhecimento por promover 0 progresso e assegurar a liberda de pessoal; mas pode ser censura do por ter infligido grande sofri mento aos pobres, no século pas sado, e manter, em nossos dias, profundas desigualdades.
Nas considerações formuladas nas missivas a Dickens e a Marconi existe implícita a inferência do enriquecimento a custo da pobreza quando, de maneira mais precisa, deveriamos falar na falta de gene ralização do enriquecimento, por falta de distribuição da poupança,
Distribuir a poupança significa generalizar a capacidade de inves tir e, consequentemente, intensi ficar e ampliar a geração do lucro, de modo a torná-lo acessível a grande número de indivíduos. Trata-se de descentralizar a riqueza, tornando exequível a melhoria da distribuição da renda, sem os pre judiciais inconvenientes de sua re distribuição, responsável pelo en fraquecimento da economia e pre servação da desarmonia social.
No roteiro da distribuição da poupança, ou seja a distribuição da renda aplicável em investimen tos empresariais está o caminho da eliminação da pobreza, sem os de sentendimentos sociais.
O Papa Leão XIII, tal como seus sucessores, preocupado com o cho cante contraste entre a situação dos empregadores e dos emprega dos, mas não menos apreensivo com as reações revolucionárias da
supressão da propriedade, apelou para a compreensão dos homens na Encíclica “Rerum Novarum”, o mais sábio documento até hoje elaborado no Vaticano.
A valorização do trabalho huma no, diz a “Rerum Novarum”, depen de da manutenção da propriedade. A lei deve ampará-la e na política de sua aplicação cabe o empenho de generalizá-la. Entretanto, em lugar dos Governos e das prega ções eclesiásticas seguirem o ca minho sereno da generalização da propriedade, como fonte equitativa da distribuição da renda, insis tem e continuam a insistir no conflito da redistribuição da renda.
Interessante e muito importan te assinalar é que às vésperas do centenário da “Rerum Novarum”, as idéias de Leão XIII tenham si do absorvidas no Brasil, no “Pro grama de Integração Social”. Nes se “Programa” a finalidade consis te em distribuir aos empregados a poupança destinada a fortalecer a capacidade produtiva das empre sas. São investimentos geradores de lucros a serem adicionados aos salários. B um sistema que asse gura a difusão da propriedade. Os empregados passam a ser acionis tas ou quotistas do conjunto das empresas. Integra-se, em um todo coerente, capital e trabalho, A convergência do capital e do tra balho, prevalente na produção, continua a prevalecer no produto. Trata-se de roteiro econômico pro pício à harmonia social, ao forta lecimento das empresas e à ga rantia do desenvolvimento com estabilidade dos preços.
BRASIL: — O ESFORÇO DA HEVEA PARA SOFISTICAR O PLÁS TICO — Em, 1977, 28% do faturamento de 350 milhões de cruzeiros da Hevea (uma indústria paulista de plásticos, ligada ao grupo Forsa) provinham da linha de artefatos domésticos (o restante veio da linha de componentes plásticos para a indústria de autopeças, eletroeletrõnica, etc). Este ano, aquela participação saltará para 40% e, de acordo com a empresa, deverá se fixar em 50%, a partir de 1979. Duas razões principais levaram a Hevea a essa estratégia. Primeiro, o fato de a rentabilidade dos produtos destinados ao consumo doméstico ser bem mais atraente. Segundo, o deslocamento de boa parte dos pedidos de componentes industriais para aparelhos eletroeletrônicos para a fábrica que a empresa acaba de instalar na Zona Franca de Manaus. A estra tégia escolhida foi a de desenvolver produtos que, além de preenche rem brechas do mercado, fosse altamente inovadores. Surgiu, então, a linha Eva, que entre outros itens tem um balde de gelo, potes hermé ticos para a conservação de alimentos, um espremedor de laranjas com peneira acoplada e uma caixa plástica para acondicionar artigos de corte e costura. Por sinal, a Hevea para não estar só nessa tenta- tiva de atrair para o plástico o consumidor de maior poder aquisitivo. A Trol lançou em março uma linha de potes plásticos para mantimen tos e, segundo Walter Penna, gerente de marketing da empresa, tem planos para novos produtos destinados aos consumidores das classes A e B.

rfc. SECADOR DE CAFÉ SUBSTITUI TERREIRO — A era j terreiro pode estar começando a chegar ao seu . Buscando superar dificuldades de entressafra e partindo de um secador de arroz, a Indústria de Máquinas Vitória, de Pelotas, construiu, anos de trabalho e testes, um secador de café que, informa, substimi completamente o tradicional terreiro. A secagem mecânica do cate sempm constituiu um grande desafio para os fabricantes de secadores devido ao seu alto teor de umidade. Enquanto outros pro dutos agrícolas tem uma umidade variável entre 20 e 22%, o café possui i^a umidade de até 70% no momento da colheita. Mas essas dificul- aades foram superadas pela empresa e a secadora já está em condições de ser comercializada. Segundo a Vitória, as vantagens econômicas e operacionais do secador são excepcionais. Ele deverá ser fabricado em seis tamanhos, correspondendo a capacidades de secagem de 50 a 500 dezesseis horas consecutivas de operação, reduzir a umidade do café para apenas 16% * ^ maneira uniforme . Na secagem tradicional esse trabalho e feito num período de dezesseis dias, e como o emprego de ^ ^ conseguir um teor de umidade uniforme de 16 /o seria da maior importância, permitindo a armazenagem sem problema de mofo por um prolongado período. Evitaria, ainda, despe sas para construção de terreiros e facilitaria um programa de controle de armazenagem sem alterar a qualidade do produto.
e a
EDUARDO CELESTINO RODRIGUES
1 EVOLUÇÃO DA CARGA
INTERURBANA
TRANSPORTADA
O autor defende a tese do trans porte de massa, ao qual deve ser dado relevo. A carga interurbana transporta da no Brasil tem crescido, em mé dia 10,6% ao ano, desde 1970, atin gindo em 1976 um transporte total de carga de 324 bilhões de t. km, com a seguinte evolução:

viário 1'm roviãriü (●.ibntaRoni »ul
'”j '.ir 1 o For Oai-,'i .-ijp-m liii t ()'■. 1 ar IO
:!iiii .: ÜO lÍL'-: Tr. !o .!a a..poi-los : t; r;; o P.H; (Ociparii: ●, r,i ü r /\on.*;viuLÍra t i". lh;vi.ii v.*,i valore;- r. 0,002 bilhÕo.s l.bn
2. CONSUMO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EM 1.000 m3 (1974)
G.nsolin.i
Ga;;olinn Avinçao
Quproj.^ic'
qucroKcaí.^
Diesel
Oleo CoribuiiLÍvel c.L.r.
Liilrifienntes
Cultos
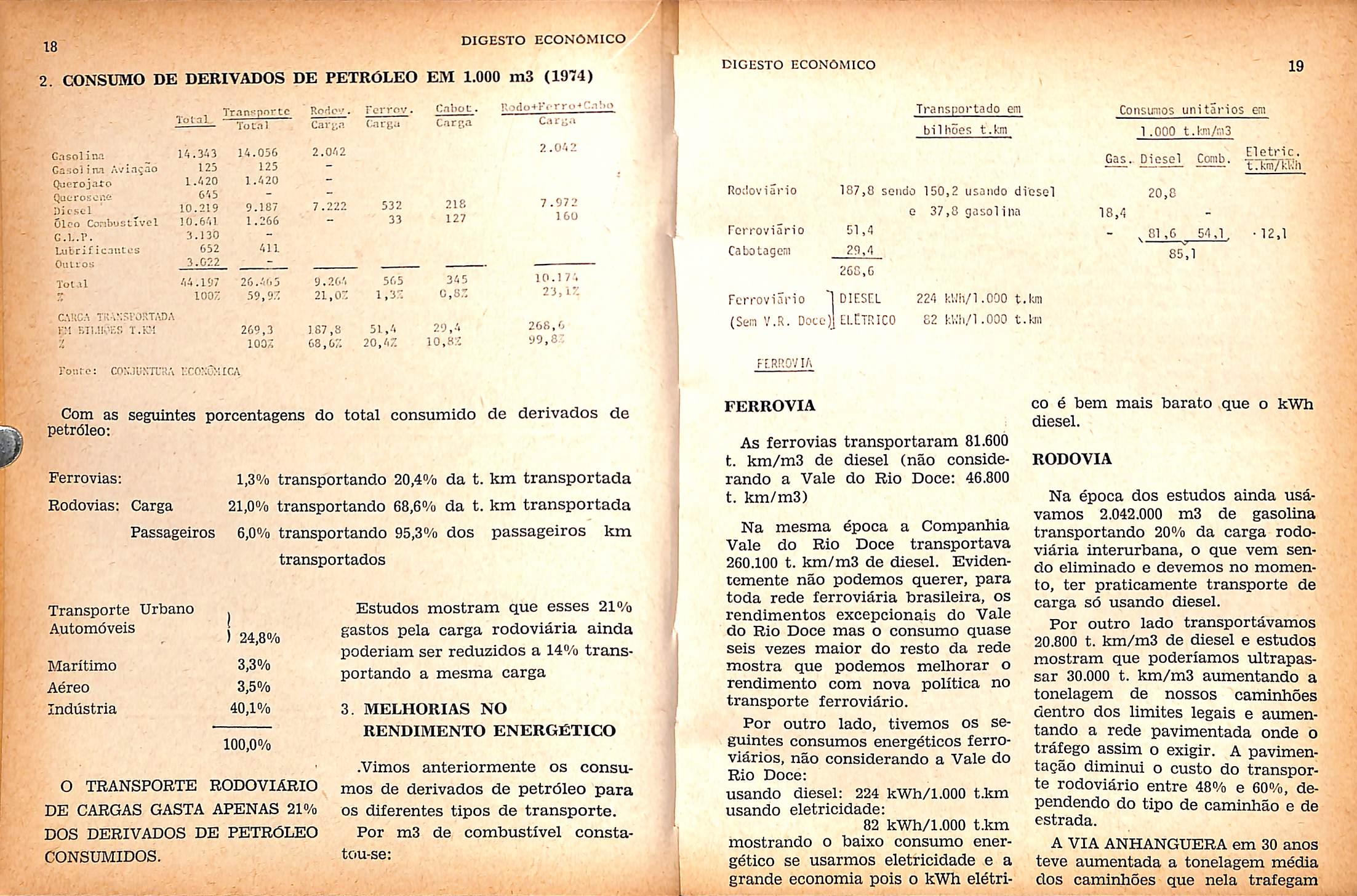
Com as seguintes porcentagens do total consumido de derivados de petróleo:
Ferrovias:
Rodovias: Carga
Passageiros
Transporte Urbano
Automóveis
1,3% transportando 20,4% da t. km transportada 21,0% transportando 68,6% da t. km transportada 6,0% transportando 95,3% dos passageiros km transportados
Estudos mostram que esses 21% gastos pela carga rodoviária ainda poderiam ser reduzidos a 14% trans portando a mesma carga
O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS GASTA APENAS 21% DOS DERIVADOS DE PETRÓLEO CONSUMIDOS.
.Vimos anteriormente os consu mos de derivados de petróleo para os diferentes tipos de transporte. Por m3 de combustível constatou-se:
Co ns um o s unit5t-ios -cni
Transportado cni bilhoos t.km 1.000 t.km/r,i3 _Ele_b'ic. t. km Gas. Diesel Comb.
Rodoviário 107,0 sondo 150,2 usando dioscl e 37,8 gasolina 20,8 18,4
ferroviário
Cabolagoni
Ferroviário
DIESfL
(Sen V..R. Doce) Ll.Cir.ICO
FéRROVIA
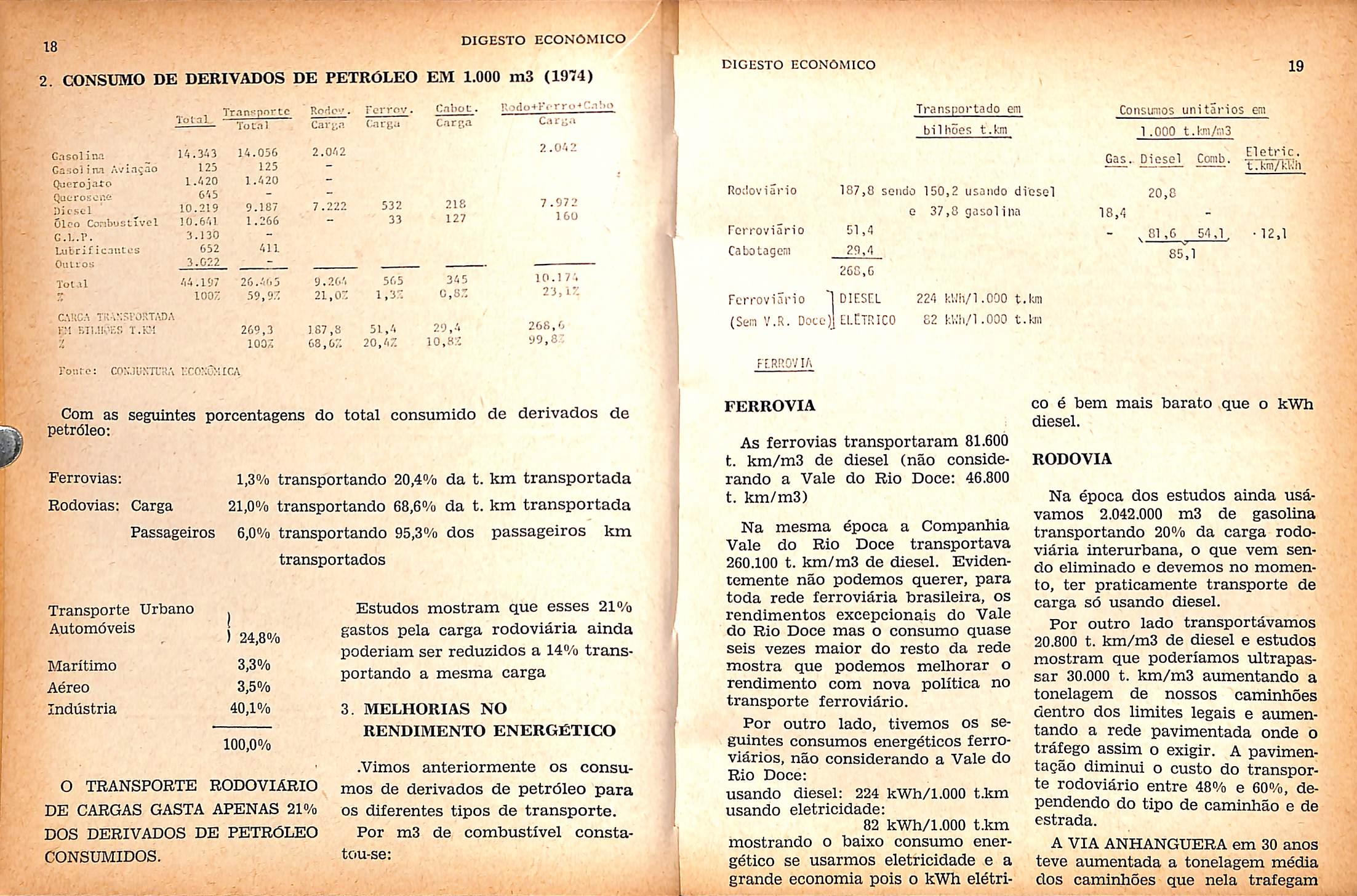
224 .000 t.km
82 kv;ii/1 .000 t.kw
FERROVIA
As ferrovias transportaram 81.600 t. km/m3 de diesel (não conside rando a Vale do Rio Doce: 46.800 t. km/m3)
Na mesma época a Companhia Vale do Rio Doce transportava 260.100 t. km/m3 de diesel. Eviden temente não podemos querer, para toda rede ferroviária brasileira, os rendimentos excepcionais do Vale do Rio Doce mas o consumo quase seis vezes maior do resto da rede mostra que podemos melhorar o rendimento com nova política no transporte ferroviário.
Por outro lado, tivemos os se guintes consumos energéticos ferro viários, não considerando a Vale do Rio Doce;
usando diesel: 224 kWh/1.000 t.km usando eletricidade: 82 kWh/1.000 t.km mostrando o baixo consumo ener¬ gético se usarmos eletricidade e a grande economia pois o kWh elétri-
CO é bem mais barato que o kWb diesel.
RODOVIA
Na época dos estudos ainda usa vamos 2.042.000 m3 de gasolina transportando 20% da carga rodo viária interurbana, o que vem sen do eliminado e devemos no momen to, ter praticamente transporte de carga só usando diesel.
Por outro lado transportávamos 20.800 t. km/m3 de diesel e estudos mostram que poderiamos ultrapas sar 30.000 t. km/m3 aumentando a tonelagem de nossos caminhões dentro dos limites legais e aumen tando a rede pavimentada onde o tráfego assim o exigir. A pavimen tação diminui o custo do transpor te rodoviário entre 48% e 60%, de pendendo do tipo de caminhão e de estrada.
A VIA ANHANGUERA em 30 anos teve aumentada a tonelagem média dos caminhões que nela trafegam
de 4,01 toneladas para 10,35 tone ladas e pode aumentar ainda mais. Ê o que devemos fazer com os ca minhões que trafegam em nossa rede pavimentada.
4. SUBSTITUTOS PARA OS DERIVADOS DE PETRÓLEO
A economia do país está se exau rindo com 0 dispêndio anual de mais de 4,4 bilhões de dólares (qua se 40% da nossa exportação) para a aquisição e transporte do petró leo que importamos, petróleo que representa quase a metade do nosso consumo energético.
Em 1978 produzimos 9,33 milhões de m3 de petróleo e gás (27% na

plataforma continental), apenas 16,0% do nosso consumo e essa por centagem vem caindo nos últimos anos.
Ao mesmo tempo, somos ricos em solos -f- energia solar + água, que através da fotossíntese, produ zem madeira, cana de açúcar e plan tas oleaginosas, elementos esses que representam as grandes soluções para resolvermos nossa atual crise energética.
Para a substituição total da gaso lina e parcial do diesel o processo mais rápido será o uso do álcool, o que já vem sendo usado em mistu ra com gasolina como mostra o qua dro seguinte:
co::.su.^:o m dl: i.nsíos
SÃO PAULO
Xlcüoi Anidro cntif:;;uc para riísCii rn nRASI.L
1’iircic: .do
Con;iu:io de £a.so! ina Consij.no de Car.ol ín.i 1’arrio. .á l.:c)o 1 :íií ;; ciir. no
Aiii<li-o entrej^uc par.-i nincur.i
A produção do álcool etílico MOTORES A GASOLINA
(ETANOL) tem crescido muito nos últimos anos. Em milhões de li tros de uma produção de 664 em 1976/77 passamos a 1530 em 1977/ 78, 2.540 (2.150 para mistura) em 1978/79 e prevê-se 2.800 milhões de litros na próxima safra.
(MOTOR OTTO)
Nos motores a gasolina, o álcool pode ser aditado à gasolina e com vantagem.
O álcool melhora a octanagem (capacidade de suportar pressão sem detonar) da mistura quando adicionado à gasolina.
A OCTANAGEM AUMENTA COM A PORCENTAGEM DE ÁLCOOL NA MISTURA
Numero áe Octanas

Quando a porcentagem de álcool na gasolina é baixa o carro "bate pino”, o que corresponde à mistura detonar antes do tempo.
O álcool aditado à gasolina subs titui, com vantagem, o aditivo chumbo-tetra-etüa, que é altamente poluidor e é importado.
Já vimos que em São Paulo, em 1967, já se usou 13,5% de álcool ani dro misturado à gasolina.
Durante a II Grande Guerra, no quinquênio 1942 a 1946, chegou-se a usar 42% de álcool misturado à ga solina.
Já foi lançado carro usando 100% de álcool hidratado.
uso de álcool 100%, este torna o motor 5% mais potente e consome 10% mais combustível.
MOTORES DIESEL

Ie a
A TELESP de São Paulo está usando 400 carros adaptados movi dos 100% a álcool. Nas mesmas condições a Copei do Paraná tem 100 carros, a TelebrasíUa 50 Celpe de Pernambuco outros 50.
POTÊNCIA DOS MOTORES
Alterando a taxa de compressão do motor (relação entre o volume inicial da mistura ar-combustível e o volume final) de 7:1 (para uso com 100% gasolina) para 10:1 (para uso com 100% álcool), o álcool for nece torque e potência motor 5% maior que a permitida pela gaso lina.
CONSUMO ESPECÍFICO DO COMBUSTÍVEL
O Circuito de Integração Nacio nal, na extensão de 8.000 km, foi percorrido por 3 carros nacionais usando 100% do álcool hidratado e provou que, em relação aos car ros usando gasolina, houve melho ria de potência, melhoria do tor que, menor perigo de incêndio, maior durabilidade do motor e das peças, menor poluição e consumo 10% maior.
Resumidamente: adaptando a ta xa de compressão do motor para
Importaremos menos petróleo se conseguirmos economia de GASO LINA, DIESEL E ÓLEO COMBUS TÍVEL proporcional à produção desses três produtos, daí o interesse em diminuir o consumo do DIESEL e do ÓLEO COMBUSTÍVEL.
O álcool, que tem alta octanagem, não pode ser injetado em substitui ção ao diesel. O combustível no motor diesel ao contrário do motor a gasolina deve inflamar-se com mais baixas temperaturas e pressões e essa propriedade é caracterizada pelo índice de cetanto que é alto no diesel e baixo no álcool.
Assim como se aumenta a octa nagem da gasolina usando aditivos como o álcool e o chumbo-tetraetila, o índice cetano do álcool pode ser aumentado com aditivos espe ciais.
Pensa-se usar nos motores diesel álcool com 10% de nitrato de amila ou usar 100% álcool nos motores diesel usando vela adicional para inflamar o álcool.
Outras alternativas aparecem com motores diesel multi-combustíveis permitindo uso de dois ou mais combustíveis ao mesmo tempo:
CTA
i«r
" Usando 40% diesel injetado nor malmente e 60% de álcool introdu zido no motor em mistura com ar através de carburador adicional

para alimentar o motor com a mis tura ar -t- álcool.
DETROIT ALLISON (GM)
Com alto índice de compressão (23:1) e usando uma mistura 80% álcool e 20% óleo de mamona. Já temos caminhões e ônibus trafe gando no Brasil com esse motor. E o motor usando praticamente qualquer combustível líquido inde pendente do número de octanas ou índice de cetano:
TEXACO (TCCS), que é um mo tor da classe dos chamados MOTO RES DE INJEÇÃO DIRETA COM CARGA ESTRATIFICADA (DISC) que opera com economia idêntica aos motores diesel.
OUTRAS VANTAGENS
NO USO DO ÁLCOOL
É uma energia renovável.
Todo o investimento é em moeda nacional, sem dispêndio de divisas.
À medida que formos substituin do gasolina e diesel por álcool, tere mos que ir adaptando a produção porcentual dos derivados de netróleo e, ao mesmo tempo, importan do, transportando e destilando me nos petróleo.
Nesse interim devemos pesquisar o problema dos motores a diesel, usando parcialmente álcool, 100% de óleos vegetais.
Usando progressivamente menos petróleo, vamos destilar cada vez menos petróleo, e não necessitare mos construir novas refinarias. Podemos, ao mesmo tempo, desa celerar o programa de navios para ou
a importação de petróleo, o progra ma de terminais petrolíferos e o programa de oleodutos para o transporte interno.
E, principalmente, em lugar de darmos dólares aos árabes, vamos dar cruzeiros a nós mesmos brasi leiros.
Se colocarmos as destilarias de álcool o mais próximo possível dos vários centros de consumo e tiver mos um plano racional de tancagem e mistura, vamos ter pouco a transportar, evitando o turismo do álcool.
Para substituir 100% da gasolina e 60% do diesel precisaríamos plan tar 60.000 km2 de cana e daríamos, ao interior do país, uma enorme contribuição para seu progresso, be neficiando brasileiros que lidam com a terra.
Podemos pensar ainda em álcool de mandioca onde houver lenha fá cil e barata para queima na destila ria e álcool metílico, METANOL extraído da madeira (solução boa para os CERRADOS (eucalipto) e AMAZÔNIA), do carvão mineral (so lução boa para o SUL) ou de gás.
Dado o aumento da produção de álcool, o problema agora está no preparo da tancagem, transporte e mistura, aumentando a porcentagem do álcool na gasolina e logo mais na maior produção e adaptação de carros 100% a álcool e distribuição desse combustível nos postos de serviço.
A Indústria Automobilística ne cessita de um cronograma do gover no no uso do álcool para programar sua produção.
OLEOS VEGETAIS
I. COMBUSTÍVEL
Além da substituição nos veículos da gasolina por álcool o maior pro blema hoje é a substituição do diesei.
Já vimos que uma solução seria substituir 60% do diesel por álcool, ou até mais, usando aditivos espe ciais ou aumentando a taxa de com pressão dos motores, mas para uma substituição total, uma boa alterna tiva seria substituir o diesel por óleo vegetal (mamona, soja, algo dão, amendoim, marmeleiro e outros), o que deve ser objeto de imediatas pesquisas e experiências. No passado já usamos óleo de al godão de mamona.

car independentes do petróleo im portado. Forçosamente o preço do cUesel deve subir. Ele já foi igual ao da gasolina, em maio de 1972, e hoje é 56°/o do preço da gasolina (gasolina Cr$ 9,60, diesel Cr.$ 5,40), situação que não pode continuar, obrigando alta no preço do diesel.
O IMPORTANTE NÃO E TER AL TERNATIVAS ENERGÉTICAS DE CUSTOS EQUIVALENTE EM CRU ZEIROS; O IMPORTANTE E NAO GASTAR DÓLARES.
No passado, substituindo o die sel por óleo de algodão, aparecia um depósito de goma na câmara dos motores, o que pode ser obvia do pela introdução de uma certa quantidade de álcool em mistura com ar ou eliminação prévia da goma do óleo. descobertas de petróleo.
No Norte da África, antes das usava-se óJeo de amendoim substituindo óleo diesel).
Hoje o custo do óleo vegetal bru to pode assustar, gomado custa Cr$ 13,90 por litro, enquanto o litro do álcool anidro custa CrS 6,49 (o álcool hidratado CrS 5,52) e é vendido na mistura ao preço da gasolina CrS 9,60 mas, lembrando que o motor diesel some praticamente entre 75% e 50% do combustível do motor a gaso lina ou álcool, o óleo vegetal no mo tor diesel poderá se equivaler em preços aos do álcool ou gasolina no motor usando esses dois últimos combustíveis.
II. LUBRIFICANTES
O de soja desconnorsuas
Hoje o preço do diesel está mui to baixo (5,40) e a substituição ci tada pode parecer absurda, mas devemos lembrar que temos que fi-
O óleo de mamona (Castor-Oil é o seu nome no mercado internacio nal) como óleo lubrificante tem qualidades superiores aos óleos lu brificantes minerais e pode substi tui-los com vantagem, pois tem, em média, quilometragem de uso bem maior (30.000 km contra 3.000 km a 5.000 km dos óleos minerais malmente usados). Devido a altas qualidades tem sido usado como lubrificantes em turbinas de aviões a jato e foguetes espaciais. O óleo de mamona desgomado cus ta Cr$ 15,80/litro e, como rende muito mais, é bem mais barato que oc óleos lubrificantes minerais. Somos os maiores produtores e exportadores (mais de 60% do mer-
cado mundial) de óleo de niamona e podemos facilmente aumentar sua produção.
5. SISTEMAS DE TRANSPORTES
Sob o ponto de vista dos usuá rios, os sistemas se caracterizam:
Rodovias: Transporte porta a por ta e rápido, bom controle das car gas e custo maior.
Ferrovias: Transporte menos rá pido, dificuldade no controle das cargas e custo mais baixo que o ro doviário a partir de distâncias en tre 400 a 500 km.
Basicamente devemos pensar em usar CONTAINERS sempre que pos sível no transporte de carga geral para facilitar o transporte interno, permitindo integração dos diversos tipos de transporte: AQUAVIA — FERROVIA — RODOVIA, facilitan do o transporte porta a porta e pro porcionando transporte mais barato.
Criar terminais de carga permi tindo concentração de mercadorias para um mesmo destino e escolha do mais econômico meio de trans porte,
i. AQUAVIA

Hidrovias e Cabotagem: Trans porte mais lento e custo mais bai- Infelizmente no momento o controle de cargas não é bom e o custo não
Estudos é tão baixo, transporte entre o recentes para Rio de Janeiro e São Salvador, Re cife Fortaleza, Belém mostram van tagem no preço de cabotagem sobre rodovia entre 7% e 14%.
Devemos usar a CABOTAGEM para toda carga que transportamos paralelamente ao litoral, girá menores investimentos e me nores custos.
Isso exixo.
Rever as regras de pessoal de bordo; reformular o TRANSPORTE marítimo INTERNACIONAL; nos portos criar um sistema único de pessoal atendendo aos armadores para CARGA/DESCARGA e TRANS PORTE PORTO-VEÍCULO e PORTOARMAZÉM. Porto é lugar de CAR GA/DESCARGA e não de armaze nagem.
— Melhoria do nível do pessoal.
Dutos: Além dos oleodutos temos mineroduto de 420 km, de diâmetro, podendo agora um de 50 ciíi transportar 4,2 bilhões de t. km por ano de minério de ferro a custos considerados 10% dos ferroviários e outro de 120 km e 25 cm de diâ metro, podendo transportar 144 mi lhões de t. km de fosfatos por ano. com
6. POLÍTICA DOS TRANSPORTES
No TRANSPORTE DE CARGA, fazer maior uso do “Container” e transferir, nos casos possíveis, o máximo de carga para navios de CABOTAGEM.
— Estudo do uso dos NAVIOS, PORTA CARRETAS RO/RO cais especiais, livres das altas des pesas e burocracias portuárias que hoje oneram a cabotagem.
— Facilitar a movimentação dos CONTAINERS nos PORTOS.
— Uso de NAVIOS PORTA-CONTAINERS.
— Aumento das áreas de arma zéns nos portos ligados às opera ções de cabotagens.

Usar as HIDROVIAS onde isso for possivel: BACIA AMAZÔNICA, PARNAÍBA, SÃO FRANCISCO, TIETÊ-PARANÁ, AQUAVIAS DO RIO GRANDE DO SUL.
2. FERROVIA
a) Deve transportar primordialniente cargas homogêneas com va gões lotados, partindo de um termi nal de origem e chegando a um ter minal de destino que pode ser um porto.
São cargas de granéis líquidos ou secos (minerais, cereais e outros) ou cargas gerais colocadas em containers.
Hoje muita carga ferroviária é constituída de pequenas encomen das que na FEPASA representam 70% dos despachos e que utilizam deficitariamente vagões de até 55t para carregar em média 1,5 t. Essa carga terá que passar para as ro dovias,
b) Se traçarmos uma linha VITÓ RIA - BELO HORIZONTE - ARAXAUBERABA, RIO PARANA só a re gião ao Sul dessa linha tem condi ções de ter cargas para ferrovias que representaram em 1977 mais de 90% da t. km ferroviária trans portada.
Ao Norte dessa linha só temos condições no transporte do minério do Amapá e' futuramente nO( de Ca rajás.
Mesmo na região Centro-Sul da linha traçada poucas mercadorias poderão ser transportadas por fer rovias com lucro: minérios (o mi nério de ferro representou em 1977 €6,3% da t. km transportada por
ferrovias, o carvão mineral 2,2°/o e o calcáreo 1,3%), derivados de pe tróleo (5,8%), cimento (3,4%), pro dutos siderúrgicos (3,1%) e meta lúrgicos, cereais (trigo 2,4% e soja 1,7%), fertilizantes (1,5%), álcool, açúcar, automóveis, containers e materiais homogêneos, mas são ne cessários preparo de terminais de origem e destino.
Com o aumento das safras de ce-
reais, açúcar e álcool, novos termi nais terão que ser criados,
c) Melhorar os troncos ferroviá rios de grande densidade de carga com melhoria da via permanente, uniformização da bitola para 1,60 m e eletrificação,
d) Não deve transportar passaEsse trans- geiros interurbanos, porte deve ser feito por ônibus que hoje transportam 96% do transpor tado.
Convém lembrar que as ferrovias tem 3 transportes principais: o de carga nos quais elas devem con centrar sua atividade, o de passa geiros interurbanos que é altamen te deficitário e deve ser substituí do por ônibus, sempre que possível, e o de passageiros metropolitanos e suburbanos que devem ser incen tivados com subsídios, dado seu ráter social. ca-
3. RODOVIAS
a) É o meio mais barato de trans porte até 400 a 500 km (dependen do basicamente do custo do diesel) e de mercadorias não granéis e não colocáveis em containers.
b) É o meio de alimentar e dis tribuir as mercadorias transporta-
das por ferrovia, hidrovia ou cabo tagem,
c) Ao Norte da linha traçada será o meio principal de transporte abrindo novos mercados.
d) É o principal e mais barato meio de transporte interurbano de passageiros (transporta 95,6% dos passageiros km transportados),
e) Maior velocidade, menor ca pital permitindo pequenas empresas privadas, maior aproveitamento do veículo, fácil deslocamento do veí culo de uma zona para outra, mecusto de construção,
í) A rodovia vem desempenhan do papel importante na Integração Nacional.

hoje no Oeste e, no futuro, no No roeste e Norte do continente sulamericano.
Além disso, a rodovia é, primordlalmente, a estrada de penetração em zonas novas criando mercado em alguns casos para futura ferro via.
TRANSPORTE COLETIVO NAS AREAS METROPOLITANAS
Deve ser dado, cada vez mais, re levo ao TRANSPORTE DE MASSA^ em lugar do transporte individual, e incentivar, com substancial ajuda federal, a construção de METRÔS e PRÉ-METRÔS nas grandes trópoles, conjugado com as ferro vias. nor merodovias
Primeiro foi a Belém-Brasilia, de pois a Brasília-Acre e hoje a Tran- samazônica, além de uma série de de ligação inter-regional.
Sem a . . impossível a abertura da Amazônica sendo feita nos últimos
Belém-Brasilia teria sido como vem anos.
Sem a infra-estrutura rodoviária teríamos a desejada Integra-
Das grandes metrópoles, usar,, conforme o caso, os seguintes sis temas que devem sempre ser inte grados quando for usado mais de um sistema:
— ônibus elétrico ou usando ál cool ou bonde, em vias comuns nunca ção Nacional.
Coube à rede rodoviária preparar infra-estrutura de transporte para desenvolvimento do mercado in terno do Brasil, transformando-o, de “ ilhas ro continente integrado e o lança mento das bases para a integração latino-americana, primeiro nó Sul, a o isoladas, num verdadei-
— Ônibus elétrico ou usando ál cool ou Pré-metrôs (bondes) em vias privativas
— Transporte ferroviário subur bano eletrificado
— Metrô eletrificado

BRASIL: — O COMPLEXO INDUSTRIAL DE UMA EMPRESA: DOW QUÍMICA — Quando a Dow Química SA. iniciou suas atividades no Brasil, no ano de 1957, com a instalação de um escritório de vendas na cidade de São Paulo, a grande meta da companhia era construir suas próprias unidades industrias para a fabricação de produtos para o con sumo nacional e até mesmo para exportação. Com o crescimento gra dativo do volume de vendas e vislumbrando ótimas perspectivas de mercado, a Dow resolveu, durante a década de 1960, escolher um local para a instajação de seu complexo industrial. O local escolhido foi Gua- rujá, em São Paulo. O complexo industrial de Guarujá é hoje uma real’riade inaupstionáve].
Ocupando uma área de 1.400 m2 e com mais de 260 funcionários para movimentá-lo, o parque industrial conta com seu próprio Terminal Marítimo para manuseio de produtos de látices carbixilados de estireno butadieno, poliestireno Styron e polióis poliés- teres de marca Voranol, uma unidade de Concentrado de Pigmento de Cor e futuramente uma fábrica de Resinas Epoxi, que será transferida de Paulo. Com o início da produção do Complexo Industrial da Dow Qu^ca em Aratu, Bahia, o terminal passará a servir como ponto mtermediário de estocagem para que seus produtos sejam entambo- raaos e distribuídos para os vários consumidores localizados no Sul do a^. ^nio resultado da associação entre a Dow Química S.A. o Pirâ- ima^ Brasüia Indústria e Comércio, foi formada a empresa Produ- etroquimicos Nacionais SA. — Propenase, com o objetivo de famarca Voranol, utilizados na produção de espumas know-how para este projeto foi fornecido pela “The Company”, que é projetada como a maior fabricante de p p p eno glicol do mundo, componente essencial de colchões, tra- estofados, painéis de automóvel, material de limpeza etc. m lase de e^ansão, a Propenase pretende suprir a demanda total ^ mercado brasileiro, além de exportar Voranol para a Argentina ^ 1973, entrou em funcionamento a sngunda SdS^de eíthSin começou a produzir látices carboxi-
A aplicados na indústria de papel, tintas mil f AAT- o outros. No início, sua capacidade era de 35 rfo fá^riAQ solidos, em oito tipos de látices. Hoje, com a expansão mnnHn info capacidade aumentada, a Dow atende a crescente de manda mtema e as exportações para Venezuela, Colômbia, México'e industrial do Guarujá foi acrescido com uma fábnea de poliestireno. E começaram as atividades da Dow como pro- nacional de poliestireno de melhor qualidade, de alto impacto atóxico e resistente ao calor, igual ao produzido em outros países. Em’ setembro de 1976, a fábrica de poliestireno da Via Anchieta encerrou suas atividades sendo expandida a unidade produtora de Guarujá, passou a ser responsável pela sua produção total. Todos os produtos fabricados no Complexo Industrial do Guarujá são extensivamente tes tados nos devidos laboratórios de Controle de Qualidade, que existem em função das unidades industriais. que
Os Estados Unidos: Uma visão brasílei ra
CELSO LAFER
Desenvolvimento Econômico c
E.stabilidade Política — Dado.s e Fatos
O que me proponho fazer é uma análise necessariamente rápida do sistema político norte-americano, tentando ver como, a partir de uma perspectiva brasileira, alguns aspec tos da experiência política ameri cana merecem estudo e realce. A primeira observação que gostaria de fazer gira em torno do seguinte ponto: os Estados Unidos ingressa ram no terceiro século de sua exis tência independente com uma eco nomia que representa 1/4 do proííuto mundial e cujas dimensões su peram duas vezes a da União So viética, mais de três vezes a do Japão e cerca de quatro vezes a da Alemanha Ocidental. A assim cha mada diminuição do poder ameri cano, da qual tanto se fala, representa, a meu ver, antes a recupe ração econômica de países devas tados pela II Guerra, e também a emergência internacional de outros Estados — com a consequen te e crescente complexidade das re lações internacionais — do que um declínio dos Estados Unidos, cuja condição e situação, enquanto po tência de maior grandeza e pujança, parecem estar asseguradas no ho rizonte provável das próximas déca das. Um indicador dessa tendência, creio, é o dólar que, apesar da crise
Conferência pronunciada dia 2 de 7zoue7;ibro de 1976, na Universidade de Brasília, na “1.°- Jornada de Es tudos de Direito Americano". O au tor é professor da Faculdade de Direito, da USP- A eficiência prU vaãa do mercado e a estridência pública da solicitação política, vêm acionando com bastante sucesso, num clima de liberdade, a inova ção e a mudança do regime ame ricano.

do sistema monetário mundial, con tínua sendo a moeda-chave das transações econômicas internacio nais. A força do dólar provém pre cisamente do tamanho e do alcan ce da economia norte-americana, que tem tornado menos vantajosa qualquer outra alternativa. Esse desempenho, consequência do apro veitamento das potencialidades nor te-americanas no correr destes du zentos anos, indica que a trajetória dessa antiga colonia inglesa, a pri meira nova nação a dar entrada no concerto internacional, é uma tra jetória de sucesso que explica gor da imagem do “fazer a Amé rica”. Essa bem sucedida gestão da sociedade norte-americana vem do operada no quadro de institui ções vigorosas, que foram capazes de transformar-se e adaptar-se sem o VIsen-

rupturas constitucionais desde o Século XVIII. Trata-se, portanto, de um caso dos mais significativos de desenvolvimento econômico com binado com desenvolvimento polí tico, que sugere um exame do re gime político norte-americano, edificado nos termos da Declaração de Independência com a inspiração e a aspiração de garantir aos seus ci dadãos a vida, a liberdade e a bus ca da felicidade.
Origens
As raízes do regime norte-ame ricano remontam à experiência de colonias autônomas e independen tes, de diferentes credos religiosos, cujas pautas de conduta contribui ram para uma tolerância religiosa, política e econômica no contexto geográfico de um novo continente. Tal quadro criou condições para que a Revolução Americana, ao con trário da Francesa e, posteriormen te, da Rússia, não tivesse frentar nem o absolutismo dos gimes europeus, de suas respectivas épocas, nem o reino da necessida de e da pobreza, já que a vida nos Estados Unidos, com exceção da nódoa da escravidão e suas sequelas, viu-se assinalada por um amplo expectro de possibilidades, abertas à iniciativa individual dos seus habi tantes.
Há, neste sentido, importante es tudo de um professor norte-ameri cano — Louis Hartz. Hartz apon ta que os países colonizados pelos europeus, e marcados pela cultu ra européia, caracterizaram-se pela sua vivência do fragmento ideoló gico correspondente à fase da Hisque enre-
tória européia da épcoa em que fo ram colonizados. “ O começo não é apenas metade do todo, mas alcan ça o fim”, como diz Políbio, citado por Hannah Arendt. O fragmento americano, continua Hartz, a ijartir de uma observação de Tocqueville, deriva do fato de que os america nos nasceram iguais e, consequente mente, não conquistaram a igual dade. Este fenômeno resulta da ausência de um passado feudal e marca todo o pensamento político norte-americano, dando-lhe a carac terística do consensus lockeano. O padrão de política “whig”, de jo gar o povo contra a aristocracia, e vice-versa, aliando-se ora a um, ora a outro, não deu resultado pela ausência tanto de “aristocracia”, quanto de “povo”. Hartz ilustra bem este fenômeno pela análise do pensamento sulino anterior à guerra civil (pois o caráter burguês da aristocracia sulina não permitiu a construção de uma ideologia con servadora), bem como pelo estudo do “New Deal” posto que a ausênna tradição marxisNew Deal
cia de “povo ta, permitiu que o senvolvesse um pragmatismo social, dentro do consensus americano, sem ter tido que enfrentar os ataques da esquerda — como por exemplo os liberais na Inglaterra, ou os radi cais na França). de-
Esta experiência é importante para a compreensão da atitude nor te-americana no mundo moderno, pois a tradição liberal norte-ameri cana em política externa tem assu mido dois caminhos: isolacionismo (mais típico dos republicanos) — que responde ao desejo de não-con-

correr
taminação de uma elite puritana que não quer corromper a “socie dade pura” — ou então o desejo de transformar o mundo à sua imagem e semelhança (mais típico dos de mocratas). Creio, por exemplo, que o Presidente Wilson e sua política externa, visando a instaurar a paz logo após a l.a Guerra Mundial, hauria a sua força legitimadora dessa idéia bíblica de querer con verter o mundo à especificidade da experiência norte-americana. De qualquer forma, este consensus lockeano, a que fiz referência; o fato de os americanos terem nas cido iguais e não terem tido a ne cessidade de conquistar a igualda de; a experiência, digamos assim, de uma revolução que se instaurou sem a experiência do absolutismo euro peu e sem ter tido que enfrentar o problema da miséria ou da ne cessidade em larga escala; todos estes fatores consolidaram-se no da História Norte-america-
conservadora, ou à esquerda pelo Jacobinismo revolucionário. Traçadas, portanto. as origens, cabe agora examinar a experiência do pluralismo que é, por assim di zer, o desdobramento do lockeano no Século XX. consensus
A Experiência do Pluralismo
A estabilidade da relação entre regime político e o consentimento dos governados derivou, como tinha previsto Madison no capítulo 10 de “O Pederalista”, do fato de que, nenhum^ interesse exclusivo, nenhu ma região geográfica, nenhum gru po especial deveríam, numa Repú blica, aspirar à representação de uma pretensão hegemônica, posto que esta instauraria a tirania das maiorias e impediría, com o arbí trio, o exercício de uma justa arbi tragem dos múltiplos interesses da sociedade. o A representação desses múltiplos interesses, no desenvolvi mento da prática norte-americana, consubstanciou-se na forma do plu ralismo, o qual busca conciliar novas necessidades da complexa so ciedade americana do Século XX, que tornam difícil uma relação di reta do Estado com o cidadão, com as aspirações clássicas da democra cia, através do entre-choque de gru pos de interesses, organizados âmbito da sociedade civil.
A tendência associativa nos Esta dos Unidos, que já tinha sido ob servada por Tocqueville, permitiu precisamente o aparecimento des sas organizações privadas, que de fendem os mais variados interesses e cujas demandas suprem, pela in formação que trazem, algumas das
na. Em verdade, a presença de uma fronteira geográfica em expansão, até 1890, por exemplo; o desenvol vimento dos negócios até 1929; a recuperação das atividades econô micas durante e após a II Guerra as Mundial, foram fatores que conso lidaram a crença da sociedade nor te-americana na inesgotável capaci dade de melhoria dos seus mem bros. E é por essa razão que o regime político norte-americano nasceu e desenvolveu-se com o con sentimento dos governados, no con texto de um liberalismo à Locke, sem se ver comprimido à direita pela ameaça de uma restauração no

deficiências da representação for mal. Neste sentido, o regime polí tico, ao coordenar, regulamentar, conter e estimular essa vida asso ciativa, desvenda, nesse processo, o “ interesse público com justiça a arbitragem e a esco lha necessária para a boa condução da sociedade.
A pergunta que cabe, diante des se resumo muito rápido daquilo que se propôs fazer o pluralismo norte-americano, é saber em que medida esta é uma experiência ple namente bem sucedida, e quais são os problemas derivados dessa prá tica. Evidentemente, a fórmula não é perfeita e tèm apresentado algumas dificuldades na sua apli cação. A primeira delas envolve uma indagação sobre se, de fato, o governo eíetivamente exprime o "interesse público” através.de polí ticas que resultam de sua interação com os diversos setores da socie dade, organizada na forma de pos de interesses. A segunda, que se prende a primeira, deriva do fato de que, nem todos os membros da sociedade norte-americana são pazes de se organizar em associa ções privadas e atingir, consequen temente, o patamar do sistema po lítico onde as demandas são consi deradas, examinadas e, eventual mente, podem ganhar acatamento através de decisões públicas. Nes te sentido, como apontam os pró prios críticos da vertente america na do pluralismo, importa reconhe cer a exclusão política de importan tes setores da sociedade norte-ame ricana, cujas necessidades, valores e aspirações nem sempre atingem
A recente a máquina do governo, mobilização política desses setores marginais — como por exemplo os negros, os chicanos, as mulheres, os bolsões de pobreza, que têm considerado o pluralismo como um clube fechado — somada à presen ça da contra-cultura e coadjuvada pelo impacto da Guerra do Vietnam, que revelou um distanciamen to entre os fatos do exercício de um
exercendo poder hegemônico e as imagens de uma sociedade liberal, geraram nos Estados Unidos, no contexto de sua própria sociedade, dúvidas quanto à gestão do sisteina político. Essas dúvidas minaram, num determina do momento, a crença de que u'a “mão invisível” sempre desvenda ria 0 interesse público, pois o exer cício interno e externo do poder, nos Estados Unidos, não estaria carregando, no seu bojo, segundo alguns críticos, a moralidade neces sária para legitimá-lo. Dai um as pecto da crise norte-americana, cujas dimensões e alcance cumpre exa,minar.
Esta crise é dado importante na medida que revela uma certa in congruência entre setores e segmen tos da cultura norte-americana e o seu regime político. Nesse sentido, coloca o problema de conflitos en tre o Estado e a sociedade civil, conflito esse, aliás, que não é mo nopólio do regime político norteamericano. Muito pelo contrário, pois os dilemas do relacionamento entre Estado e sociedade atraves sam todas as fronteiras geográficas e ideológicas constituindo, talvez, o problema central da democracia no mundo moderno. Assim, o nó da gruca-

questão não é a existência de uma crise mas sim a possibilidade de en caminhá-la de forma construtiva. Esta possibilidade de gestão da cri se parece-me ser uma opção clara mente aberta aos Estados Unidos, graças às características do seu re gime político, entre as quais cabe examinar a natureza de suas insti tuições e a força do liberalismo.
Resumindo, para prosseguir: se o pluralismo, como fórmula, foi uma tentativa de resolver, através do mecanismo de representação, via as sociações privadas, fruto da capaci dade de iniciativa e organização da sociedade americana, as deficiências e insuficiências da representação formal; se esta fórmula tem, e teve, dificuldades na década de 60, con forme mostram os casos já men cionados, e se essas dificuldades re velam certas incongruências entre
Estado e a sociedade, a pergunta não é se existe uma crise. O per gunta é: esta crise pode ser supe rada e qual o grau, vamos dizer assim, de universalidade da proble mática realçada por essa crise? A meu ver, a crise existe e a proble mática que ela coloca é fundamen tal, pois o que põe em jogo é o relacionamento entre Estado e so ciedade, problema que não é mo nopólio do regime político norte- americano mas que constitui, talo problema central da democrao vez, _ cia no mundo contemporâneo. Daí interesse do assunto, e é por isso que proponho agora a discussão de como e por que, no meu entender, regime norte-americano tem a possibilidade de administrar essa o o crise.
As Instituições Norte-Americanas e a Criatividade do Liberalismo
A administração da crise parece uma opção claramente aberta aos Estados Unidos, graças precisamen te às características do seu regime político, entre as quais gostaria, ago ra, de examinar a natureza de suas instituições e a força do liberalismo. Sabemos que o grau de autonomia e preponderância do Estado como um setor distinto da sociedade va ria de país para país, de acordo com a sua História. A organização de uma experiência comum, que con figura uma memória nacional, pode estruturar-se em torno do Estado. Ê, por exemplo, claramente o caso da França, que é um país consoli dado em torno da idéia da forma ção do Estado Nacional. Ê tam bém, digamos assim, a tradição cul tural alemã e italiana, marcadas pelo desejo de unificação nacional. Num certo sentido, não deixa de ser também uma das dimensões impor tantes da história política brasileira, conforme vem mostrando Raymimdo Faoro na sua análise das ten dências do Estado no Brasil desde as suas origens ibéricas de, através do estamento do poder, marcar a sua presença pela sucção da auto nomia da sociedade civil. Bastaria dar dois exemplos, que me permito rapidamente trazer à baila para ilus trar este assunto:, duas típicas ins tituições da sociedade civil são, na turalmente, o sindicato e o partido político. O sindicato, no Brasil, a partir da década de 30, tem sido emanação e instrumento do poder público, o que configura uma rela-

Ção entre Estado e sindicato, mais na linha de cooptação do que na de representação. Os partidos políti cos, por outro lado, depois de 1945 foram organizados a partir do Es tado, tendo em vista as eleições e a redemocratização. A origem do PTB ou do PSD, claramente é uma origem ligada ao Estado. Os dois partidos atuais
o MDB e a
ARENA — também têm uma clara origem estatal. E as dificuldades encontradas por Pedro Aleixo na formação de um terceiro partido ilustram o dilema do relacionamen to entre Estado e sociedade civil no Brasil contemporâneo, clusão é, portanto, óbvia: tanto Sindicato, quanto o partido — duas típicas instituições da sociedade civil — no caso da experiência bra sileira pela presença do Estado, porque do desenvolvimento, entre nós, de disciplinas como a Teoria Geral do Estado e o Direito Admi nistrativo.
A cono vêem-se muito marcados
Daí o os re-
Já na Inglaterra a organização da mernória nacional fez-se simulta neamente em torno da monarquia, dos nobres e dos commons, o que impediu a centralização do poder no Estado. Esta experiência cons titucional inglesa, tão bem analisa da por Bolingbroke e Montesquieu, é parte desta herança institucional norte-americana. Creio que tal he rança tem uma dimensão muito im portante, e a primeira observação a ser feita deriva da relação entre essas instituições inglesas e a pró pria experiência da Revolução Ame ricana. Como se sabe, revolução
vem do latim revolulio. rcvolutio* iiis, que quer dizer re-gresso, re volver, dar voltas dentro ou em tor no de uma órbita — daí inclusive a própria noção de Copérnico. O sen tido etimológico e originário da Revolução Americana, portanto, é uma restauração. A Revolução Americana é etimológica, originária c politicamente um regresso à Constituição Mista Inglesa e às suas liberdades, que os revolucionários americanos viam como ameaçadas pela prática inglesa da época. Daí, vejam bem, a importância do frag mento e da relação entre a noção de fragmento ideológico, discutido por Hartz, e a Revolução America na, pois esta carregava em seu bojo uma noção de restauração. Mas restauração do que? Restauração da Constituição Mista Inglesa e das instituições Tudor, que permitiram a coexistência e a combinatória da monarquia, dos nobres e dos commons, numa fórmula que impediu a total centralização do poder den tro do Estado.
Isto nos leva também a uma se gunda observação. Toda a experi ência inglesa, como depois a norteamericana, é uma experiência de chccks and balances, de pesos e conLra-pesos. É um modelo, por assim dizer, derivado da Física. Todos modelos de sociedade derivados da Física partem do pressuposto da existência de mecanismos que sultam da ação conjunta dos indiví duos e das atividades necessárias para realizá-los. Em outras pala vras, uma concepção de uma socie dade derivada da Física pressupõe uma organização democrática da

sociedade. Ao contrário, por exem plo, de um modelo de sociedade derivada da Biologia, que toma a sociedade como um organismo, qual os indivíduos estão subordina dos assim como as células o estão às funções gerais do organismo, que configura uma sociedade de desiguais, baseada na subordinação do indivíduo ao todo e numa
o orga
nização autocrática da comunida de política. Daí uma nota que parece muito importante: o modelo americano, que deriva do modelo inglês, parte de uma concepção de sociedade derivada da Física. Parte, portanto, de relações de coordena ção e, consequentemente, de uma or ganização democrática da socieda de. O oposto ocorreu em outras práticas e experiências, que enxer gam a sociedade como um organis mo em que as partes subordinam-se ao todo e o Estado é visto como uma espécie de cérebro do organis mo, ao qual subordinam-se todas as suas partes. Assim, por exemplo, uma reação ao problema dos dile mas de relacionamento entre o Es tado e a sociedade civil é o Roman tismo Europeu — que representa politicamente uma contestação à Ilustração — preocupado com a junção do país real e do país for mal. Tal reação, na tradição fran cesa ou alemã, tem uma nota bio lógica que configura tendências de um pensamento conservador, liga do à idéia de uma concepção orgâ nica fundamentada num princípio de organização autocrática da so ciedade. Ao contrário, a experiên cia norte-americana, precisamente pela influência do modelo da Física,
é um modelo de pesos e contra-pesos, sob o influxo de Newton e tantos outros que marcaram um tipo de atitude e uma forma de con cepção da sociedade, que ajuda a pôr em funcionamento relações de coordenação numa organização de perfil mais democrático. Este pao.rão levou, na prática norte-ameri cana e nos seus desdobramentos, ao federalismo, ao principio da lega lidade e à separação dos poderes, que criaram nos Estados Unidos um regime político onde o governo é o produto de várias instituições que compartilham a máquina do Esta do, e onde existe uma fusão de fun ções e uma divisão de poderes, cuja origens é fruto das preocupações dos fundadores da República Ame ricana, com uma adequada distri buição de poder no sistema políti co. Esta raiz histórica, combinada com a pujança da iniciativa priva da no campo econômico e com a tendência associativa da vida ame ricana, explica porque, nos Estados Unidos, a sociedade civil não é tão fraca, tão inerme em relação ao Estado como em tantas outras par tes do mundo. Essa força traduzse em eficiência do regime político graças ao liberalismo, tal como se consubstanciou na prática norteamericana.
A primeira observação quanto a este assunto é que o liberalismo está ligado ao empirismo. como foi realçada a importância dos mecanismos na concepção da sociedade, importa notar também, agora, que o liberalismo, enquanto ponto de vista, enquanto atitude, está ligado ao empirismo inglês e
Assim
requer, portanto, para sua valida ção, um critério externo aos pró prios governantes. Esse critério é dado pelos governados, cujo con sentimento legitima a gestão do sistema político em relação à socie dade. Esta nota é muito impor tante, pois assim como uma concep ção mecânica da sociedade, baseada no modelo da Física, levava à idéia de indivíduos que se coordenam para a realização de atividades conjuntas no contexto de uma or ganização democrática da socieda de, assim também a influência do liberalismo, na prática das institui ções norte-americanas, está ligada a um tipo de atitude em matéria de conhecimento. Essa atitude é o empirismo, que requer, para sua valida ção, um critério externo ao próprio sujeito que procura conhecer, caso, é algo externo
No aos governan tes e o critério é dado pelos o: vernados, cujo consentimento le^gi- tima a gestão do sistema político em relação à sociedade. Neste tido, fruto do Iluminismo do Século XVIII, do qual, por exemplo, Jefferson foi uma digna encarnação, binado com um grande espírito pragmático que veio a nortear vida norte-americana e do qual Benjamin Franklin foi, ao mesmo tem po, um paradigma e uma antecipa ção. Este padrão permitiu
goseno liberalismo americano é coma que o sistema político norte-americano viesse a ser a primeira experiência de construção, num contexto laico, de um país em escala continental. Essa capacidade de construção prende-se à permeabilidade do re gime político norte-americano, à ne-

Entre
cessidade de mudanças que lhe tem sido transmitida pela sociedade ci vil através dos mecanismos de mer cado e de articulação política. De fato, conforme aponta Albert O. Hirschman, a possibilidade de estancar o declínio e a esclerose de um Estado está ligada à capacida de de aprendizagem e de percepção de situações diferentes, que exigem novas pautas de conduta, estes mecanismos estão tanto os de mercado, quanto os de articulação política, cuja combinatória, nos Estados Unidos, resulta deste com promisso empírico do liberalismo ao qual fiz referência e que exige, dos governantes, uma permanente abertura ao ponto de vista dos go vernados. Se todo sistema se modi fica na medida em que funciona, precisa estar aberto à necessidade de mudança, e o liberalismo, como crientação empírica, precisaniente abriu aos governantes americanos a noção de mudança, e foi isso que permitiu esta combinatória que vou denominar de equação política e econômica dos Estados Unidos, a qual permitiu o funcionamento dos mecanismos de mercado e de arti culação política que, a meu ver, permitirão aos Estados Unidos ge rir essas e outras crises da sua pró pria experiência.
A Equação Política e Econômica
O mecanismo de mercado, regu lado pelo sistema de preços, aloca eficazmente e de maneira descen tralizada os recursos de uma socie dade. Ele padece, no entanto, de duas deficiências: não contém em-

butido dentro de si um critério de distribuição de renda, a partir do qual o mercado opera a alocação de recursos, e não tem como resol ver a questão das externalidades, isto é, dos bens públicos que fruto da ação coletiva centralizada.
Nos Estados Unidos, atualmente, 30% da população detêm mais de 50% da renda,
A esta concentra-
ção da renda soma-se, no plano eco nômico, a concentração de poder, fruto do crescimento e escopo de atuação das grandes empresas ame ricanas. Em 1962, das 420 mil em presas industriais, 28 obtiveram 38% dos lucros depois dos impos tos, ficando os remanescentes 62% a serem divididos entre as demais. É por essa razão que a eficiência privada do mercado, que tem-se tra duzido em crescimento econômico e mudança tecnológica — dimensões positivas, pois o excedente assim criado de recursos e informações facilita a inovação — não é sufici ente. Ela requer, nos seus próprios termos e também numa perspecti va mais ampla da população, uma complementação que leve em conía, na direção geral da sociedade, outros valores e aspirações como, por exemplo, pleno emprego, qua lidade de vida e segurança econô mica, os quais nem sempre são cap tados pelo mercado na medida em que a concentração acima mencio nada instaura um voto ponderado no sistema de alto na preferência do consumidor. Farei aqui um pequeno parêntesis para observar que, talvez, uma das importantes contribuições norteamericanas, como diz Huntington, à
técnica da política internacional,te nha sido precisamente o transnaclonalismo. O transnacionalismo, isto é, a relação entre uma socieda de e outra, que não passa ou não transita necessariamente pelo Es tado — como é o caso das empre sas multinacionais — é uma das di mensões importantes da forma pela qual os Estados Unidos atuam no mundo. E não me parece nada des propositado relacionar isso à força da sociedade civil norte-americana, força essa que transcende o próprio Estado americano e que tem um impacto no conjunto dos demais países. :
Portanto, se no plano do enno aspreços e um censo
Estado a política externa oscila tre a dimensão do isolacionismo e a dimensão da transformação do mundo à sua imagem e semelhança, do ponto de vista da força da so ciedade civil, ela se traduz, transnacionalismo, como uma espe cifica contribuição norte-americana às relações internacionais.
Peitas estas considerações sobre a eficiência dos mecanismos de mer cado e, ao mesmo tempo, sobre as suas limitações, importa mostrar a presença de outro mecanismo, que é o dos valores transmitidos pela articulação política, os quais, ao segurarem o espaço público da pa lavra e da ação, suprem a informa ção necessária para o funcionamen to mais equilibrado do sistema. Seja através de eleições, seja através da liberdade de imprensa e de associa ção, a sociedade civil norte-america na, graças ao seu vigor e autonomia, consegue exprimir, talvez de forma única no mundo, as demais prefe rências da comunidade no pluralis-

de suas reivindicações. Em outras palavras, o que estou que rendo dizer com esse conceito de mecanismos de articulação política é que eles são mecanismos de voz. Tais mecanismos podem ser defini dos como qualquer tentativa de mo dificar, em vez de fugir ou escapar, de um estado de coisas tido como indesejável, peticionando, individual ou coletivamente, às autoridades responsáveis, com o objetivo de for çá-las a mudar tal estado de coisas, reforçando o peso da petição por diversos tipos de ação e protesto, inclusive mobilização da opinião pú blica. Ora, há uma relação eviden te entre essa idéia de voz e de participação política, e também a idéia de que a participação política é um processo pedagógico. Ela é uma espécie de paidéia, como dizia Rousseau, que vai sempre assumin do novas formas e novas direções, requerendo, no entanto, uma prá tica constante.
Justamente a autonomia da socie dade civil norte-americana, o espí rito associativo, vêm permitindo, nos Estados Unidos, a presença da voz e da participação política, num mecanismo de auto-alimentação que assume sempre novas direções e que faz com que, para cada contexto específico, os mecanismos de arti culação política sejam bastante efi cientes na transmissão de informa ções ao sistema político como um todo. Esses mecanismos requerem coragem política, que exige a possi bilidade de divergir. Aliás, a meu ver, esse é o sentido do livro do Presidente Kennody, Profiles in Cour/igc. Keimedy estuda basicamente
uma série de atos de senadores nor te-americanos que tomaram posi ções divergentes no correr da His tória Americana. Ele não discute o problema do porque tomaram tal ou qual atitude, ou se essas atitu des eram corretas ou não. O que ele discute é o tema da coragem po lítica e as dificuldades em assumir uma posição divergente. Se se olhar, por exemplo, para a Corte SuI’rema Norte-Americana, veremos também, claramente, o papel da voz, inclusive da voz dissidente. Holmes e Brandeis foram, durante muitos anos, minoritários nas deci sões da Suprema Corte, mas tive ram precisamente um papel funda mental de ir reconduzindo a orien tação da jurisprudência pela cora gem política de divergir de uma de terminada maioria num determina do momento.
Retomando, portanto, o fio do ra ciocínio: a eficiência privada do mercado e a estridência pública da solicitação política — esta articulan do-se para obter, através de orga nizações, os benefícios da ação co letiva em situações nas quais o me canismo de preços se revela falho, insatisfatório ou insuficiente — vêm acionando, com bastante sucesso, num clima de liberdade, a inova ção e a mudança do regime ameri cano. É por essa razão que, a meu ver, a assim chamada crise do plu ralismo norte-americano parece, an tes, revelar um sintoma de vitali dade dos Estado.s Unidos do quo um diagnóstico do seu declínio. Autoridade, como explica Hannah Arendt, origina-se de aiigere — aumentar, e é por essa razão que
Ela não foi desanos de econômico e
a autoridade de um regime político resulta daquilo que, no tempo, ela acrescenta às instituições proveni entes do seu ato de fundação. A li berdade presidiu à criação e à edi ficação das instituições internas norte-americanas, truída, nesses duzentos crescente sucesso projeção política internacional, por instituições, que foram capazes de enfrentar uma guerra civil, absorver, num mciting pot, uma imigração maciça, reequacionar a intervenção governamentalpara melhorar, com o New Deal, a igualdade de opor tunidades, forçar o término da se gregação racial por uma decisão ju dicial, estancar uma tendência fas cista como foi o macartismo ou coi bir os excessos do Executivo for çando o seu recúo com a renúncia de Nixon.
Essas referências mostram como é significativo o acervo desta expe riência norte-americana na adminis tração de suas crises. Elas justifi cam, portanto, ainda hoje, o oti mismo de Walt Whitman, que foi seu grande vate, e explicam sar das dificuldades de transposição geográfica desse modelo, dada a sua especificidade histórica — a re levância exemplar dos Estados Uni dos, que conseguiram alcançar e manter, no plano interno, nesses du zentos anos, uma democracia ino vadora, atenta aos direitos da mi noria e apoiada numa escolha joritária.
Em .síntese, portanto, e para con cluir: 0 que procurei mostrar no correr desta exposição foi, a partir do registro de determinados dados
e de determinados fatos, uma rela ção positiva entre o desenvolvimen to econômico e a estabilidade polí tica dos Estados Unidos. Tracei a origem do regime norte-americano mostrando a relação entre a expe riência da colonização, a consolida ção dessa experiência e a existên cia de uma idéia de igualdade. Dis cuti o consensus lockeano, que fez com que toda a experiência política norte-americana pudesse ser condu zida sem ter tido que enfrentar, como outras experiências, tanto o problema da necessidade e da po breza absoluta, causa das Revolu ções Francesa, Russa e Chinesa, quanto o problema, digamos assim, de um passado feudal e de regimes autocráticos que as antecederam. Ao contrário, a experiência norteamericana está ligada a uma prá tica inglesa, que era por bastante democrática, ziú-se na fórmula do pluralismo, idéia de Madison, para quem a de mocracia, no mundo moderno, apa rece como mecanismo de adjudica ção do interesse público, fruto da interação e do entrechoque de de mandas postas por associações, plano da sociedade civil, sustenta das pelos mecanismos da represen tação política. Essa experiência tem os seus problemas como qualquer outra, e Por isso discuti algumas das dificuldades do pluralismo te-americano
sua vez Isto traduna

apeno nor— "basicamente, o fa- os setores da so¬ ma- to dc! nem todos ciedade conseguirem organÍKar-se para atingir o patamar do sistema político para serem ouvidos e aten didos. No entanto, a problemática que cumpre examinar não é a exis-
diz respeito às instituiamericanas, fiz referência à No que ções
norte-americana, que comporta tan to mecanismos de mercado, quan to mecanismos de articulação polí tica. Falei sobre a eficiência do me canismo de mercado e, ao mesmo suas limitações, tência da crise, mas a possibilidade de administrá-la. Esta possibilida de parece-me real graças às carac terísticas das instituições norte-amecriatividade de seu li- ricanas e a beralismo. tempo, sobre as mostrando como os mecanismos de articulação política, através da or ganização da voz, complementam o mecanismo

o
capaz experiência série de crises sucessivas. Isto, a meu ver, constitui por si só matéria mais que suficiente para celebrar Bicentenário dos Estados Unidos e para substanciar, em qualquer análise de política comparada, a se dução do paradigma americano. norte-americana, uma
Revolução como uma restauração da Constituição Mista Inglesa e a concepção mecânica da sociede mercado, fazendo que o sistema político, como todo, administre um conjunto de informações que, de outra for ma, ele não teria. Dei alguns exem plos mostrando, inclusive, como esrelação entre mecanismos de mercado e mecanismos políticos foi de enfrentar, na trajetória da com luna dade, que pressupõe uma organiza ção democrática e relações de co ordenação. Falei, também, do pro blema do empirismo e de sua rela ção com o liberalismo, ou seja, como a atitude liberal leva à conum sa cepção de que é preciso um crité rio externo a quem conhece, ou a quem governa, para validar uma gestão e o seu exercício. No caso do liberalismo, essa validação é dada pelos governados aos governantes através do mecanismo do consen so. A partir dai, estudei como isso tudo permitiu a equação política
—O—
ESTADOS UNIDOS: — CARVÃO COM ALTO TEOR DE ENXOFRE CONVERTIDO EM COMBUSTÍVEL com pedra calcária, a McDowell-Wellman converteu carvões com alto teor de enxofre numa forma que pode ser queimada nas caldeiras indus triais e satisfazer os padrões de poluição do ar relativos às partículas de bióxido do enxofre. Quando os “pellets” endurecidos, que se asse melham a briquêtes de carvão vegetal, queimam, a cinza de cal, quimicamente, captura e prende o enxofre. O sulfato de cálcio, sólido, pode ser lançado fora, talvez como hulha betuminosa para asfalto. O depar tamento de energia de Ohio, ansioso para continuar a usar os carvões de alto teor de enxofre que são encontrados abundantemente na área, contribuiu com metade do US$ 1,2 milhão dos fundos para desenvol vimento do processo. Segundo a companhia, os custos serão “ compe titivos” com a estimativa de US$ 20 — 30 por tonelada para liberar as caldeiras industriais do gás de combustão de queima de carvão. O material não é aplicável às caldeiras das empresas públicas. Carvões com 2% de enxofre foram experimentados, agora serão realizados testes com carvões com 4% de enxofre.
Misturando carvão pulverizado
O problema energético e a economia nacional
ALCIDES CASADO DE OLIVEIRA
Quem se dispuser a analisar atentamente a evolução dos acon tecimentos 110 Brasil, na década em curso, certamente, concluirá que a partir de 1974 a questão energética vem sendo a causa principal dos grandes problemas econômicos do pais.
Realmente, o Quadro I mostra o efeito das elevações do preço do petróleo sobre as importações bra sileiras. Convém antecipar que a coluna da direita (gastos adicio nais) foi calculada tomando-se por base a média dos preços do petró leo no quadriênio 1970/73 {= USÇ 24,6/t US$ 3,31/barril), média essa que já era mais elevada que o pre ço médio ao se iniciar a década (= US$ 16,8/t = US$ 2,24/barril)-
“No campo energético, o empresá rio ficou praticamente alijado do processo decisóyno nacional, resul tando que, à medida que a crise energética se agrava, mais aumen ta a perplexidade e a ang^ústia de todos, pois fica-se à espera da ini ciativa governamentaV'. Essa a po sição do autor. Essa a nossa posi ção. A capacidade ãecisória passou do interessado, em cujas mãos sem pre deveria ficar, para, na maior parte dos casos, uma burocracia anônima, que dispõe do imenso -uso e destino da energia. É o estatismo na sua expressão menos com patível com as aspirações nacio nais.
Quadro I — Imiportação de 'petróleo e derivados, pelo Brasil
Valor

Diferença dc preços em relação à média 1970/73 USS/t
Gastos adicio nais por efeito das elevações de preços
Quantiü. 6 6 Preço médio uss/t 6 USSxlO (1)
Fontes: (1) Relatórios PETROBRÁS e CACEX; (2) MME, Balanço Ener gético Nacional,
Ora, 0 total de quase 14 bilhões de dólares gastos a mais (no periodo 1974-1978) com o petróleo importado teria de representar, como de fato representou, uma so brecarga econômica de grande magnitude para as dimensões da economia b;rasileira, e do seu co mércio exterior. É evidente, por tanto, que grandes repercussões
dessa sobrecarga seriam sentidas em todos os setores estratégicos da economia nacional.
Para avaliar corretamente o im pacto derivado desses gastos adi cionais, observe-se, no Quadro II 0 estreito paralelismo entre o apa recimento dos gastos e as mudan ças nas tendências de algumas va riáveis estratégicas da economia.
Quadro II — Sinopse de variáveis estratégicas (Brasil)
Gastos adicionais .c/pctróleo Saldos c!a Balança Divida Externe
de US§

Crescimento do 1MB Incücc Gera! dc Preços Taxas anuais
Como se nota nesse quadro, o grande impacto das alterações do mercado energético sobre a econo mia nacional evidencia-se pronta mente, tornando mesmo dispensá vel outras análises econômicas por métodos mais sofisticados. Faça mos, porém, mais algumas obser vações, relacionadas com o propó sito de ressaltar a transcendental importância que assumiu o pro blema energético brasileiro.
Os déficits da Balança Comercial foram maiores nos primeiros anos da crise (1974 a 1976) e grandes esforços foram realizados, naquele
período e depois até
1978. para reequilibrar as contas comerciais com 0 exterior, procurando o go verno conter as importações ao nível de 12 bilhões de dólares e tentando estimular ao máximo as exportações. Entretanto, deve-se assinalar que os esforços feitos alcançaram resultados satisfató rios, também porque os preços do petróleo importado se mantiveram estáveis no período em apreço (1974-78, vide quadro I). E ainda, é fato conhecido que o reequilibrio no comércio exterior foi rea lizado mediante a concessão de es-

timulos à exportação, principal mente para cujos subsídios exerceram derável pressão inflacionária terna, como não podería deixar de acontecer.
Em termos de tendência, a evo lução desse quadro apresenta pers pectivas de dificuldades crescen tes. Isto porque os preços do pea se desde os manufaturados, consiintróleo importado voltaram elevar significativamente. 1978, O que contribuirá
O arrefecimento da expansão econômica constituiu-se em outra considerável parcela para agra var mais ainda o delicado proble ma energético, e certamente deter minará novos e graves impactos sobre o balanço de pagamentos, sobre o endividamento externo, e sobre os índices de inflação e de crescimento do PIB.
Face a tais do esforço o desequilíbrio para compensar econômico interno. Com efeito, tendo em vista aliviar os déficits da balança comercial e maiores pressões inflacionárias, governo optou por refrear a exevitar o previsões, a prudên- pansao economica e por aceitar cia recomenda que se busquem níveis muito mais altos no endi- luções urgentesvidamento externo, conforme os energético, pois este números do quadro acima eviden ciam claramente. O resultado ge ral da extraordinária elevação dos preços do petróleo sobre a econo mia nacional pode ser interpre tado como se o país, desde 1974, tivesse passado a transferir uma parte do seu crescimento econô mico para terceiros, via déficits da balança comercial e do endivida mento externo; e ainda como se, em contrapartida dessa transfe rência, nosso país recebesse as pressões inflacionárias irresistí veis do setor externo. sopara o problema constitui ho je a causa principal do agravamen to dos grandes problemas nais, quais sejam, os desequilíbrios das contas externas, a inflação continuada e o menor crescimento econômico do país. O que por certo não é sensato e portanto não se justifica, é continuar nacioa transfe rir gratuitamente para o exterior (sob a forma de aumento de ços) os aumentos efetivos de dutividade de nossa economia, que foram tão duramente conseguidos pelo esforço interno de prepronossas in dustrias e de nossa agricultura.
PLANOS ENERGÉTICOS E DESACERTOS A EVITAR
‘ti’abalho é uma contribui ção à resposta, que a presente con juntura reclama, ao apelo de mui tas vozes no sentido de que o pro blema energético brasileiro seja, como deve ser, amplamente deba-
E uma Contribuição de crítico caráter e por isso mesmo, tem seu lugar e pode ser útil no início das discussões, não depois. As criticas contidas neste trabalho nao visam quaisquer pessoas, mas eventual mente as suas opiniões. Também tido.
destruir de modo alcontribuir para o não visam ‘ gum, mas sim
[● estabelecimento de premissas vaüdas que permitam raciocínios corretos, com o objetivo de alcançar conclusões coerentes e verda deiras sobre a questão energética Brasil- Enfim, o intuito maior deste trabalho é o de coadjuvar na prevenção contra os erros a . evitar. no
Equívoco de contexto
petróleo. E os preços de petróleo são definidos no exterior, fora do alcance e independentemente do controle das autoridades econômi cas brasileiras.
ras
Segue-se que é indispensável re tirar a questão energética do con texto geral e equacioná-la conve nientemente, para depois reencaixá-la no plano maior. De outro modo, aplicando-se critérios ou restrições econômicas e financeltradicionais aos setores ener géticos, período após período, fra cassarão certamente os esforços combate à inflação, de controle sobre o balanço de pagamentos e sobre nossa dívida externa, pois, de um modo ou de outro, os au mentos nos preços do petróleo te rão de ser repassados para o lado interno de economia do Pais.
Desvincular, portanto, a produ ção e os investimentos energéti cos, das estratégias gerais, tornaabsolutamente compulsório na elaboração de um bom plano ener gético nacional.
i se f :í ainda que reconhecidos A lógica aparente

O erro mais grave que está sen do cometido no Brasil, a respeito da questão energética, poderá ser chamado “equívoco de contexto”. Com efeito, a presente situação do Brasil está sendo erroneamen te considerada semelhante à situa ção de 1964. Inflação, balanço de pagamentos, dívida e crédito ex ternos, àquela altura, precisavam ser controlados para se restabele cer a normalidade econômica do País. Naquela oportunidade os in vestimentos e gastos do setor ener gético, como de alta prioridade, foram fi xados de modo a respeitar as res trições exigidas pelo controle de inflação e das contas com o exte rior. Entretanto, aceitar para hoje a mesma colocação do problema e determinar idênticas medidas pa ra 0 setor energético em 1979 sig nificaria incorrer em grave erro. Isto porque, a partir de 1974, maior causa isolada da inflação mundial, e da brasileira também, é justa mente a elevação dos preços do
Outro erro grave sobre a ques tão energética é o que provém da armadilha da lógica aparente. Um exemplo: “No Brasil deve existir bastante petróleo; precisa mos descobrí-lo a fim de diminuir nossas importações; para desco brir e explorar nosso petróleo pre cisamos investir mais em pesqulem prospecção e em extração”. sas, Este raciocínio é bastante razoá vel e representa uma posição de-

fendida por muitas pessoas estu diosas e sensatas. Entretanto, há dois pontos bastante fracos nesse raciocínio: Primeiro, não sabemos, apenas acreditamos que haja bas tante petróleo no Brasil; investir inaciçamente em um empreendi mento estratégico, baseados em uma crença, é certamente perigo so; será que sabemos que é muito perigoso? Segundo, mesmo venha a descobrir petróleo, preci saremos de cinco anos para meçar a aproveitá-lo; portanto, teremos de aceitar, hoje, um au mento em nossa dependência ex terna, pelo menos para os próxi mos cinco anos; será que nos da mos conta disso, ao formular aque la série de raciocínios? E que fa remos durante os próximos cinco anos, enquanto não se puder ex plorar 0 petróleo, aquele mesmo petróleo que ainda não descobri mos? Vamos encolher a economia do País, através de um desaquecimento continuado?
Então, qual seria a lógica real, no caso? Certamente, os raciocí nios melhoram muito, se estabe lecidos como segue :“Há boas pos sibilidades de existirem jazidas de petróleo no Brasil, um país com 6,5 milhões de quilômetros qua drados e muitos milhares de qui lômetros ao longo do litoral; até hoje, 0 petróleo tem sido procura do por métodos convencionais, al cançando limites de profundidade compatíveis com os critérios eco nômicos atuais; os preços do pe tróleo irão se elevar, persistente mente; logo, compensará estabe¬
lecer um urgente, vasto e comple to programa de Reavaliação das Reservas Brasileiras de Petróleo, a i7iaiores profundidades”. Isto se ria, evidentemente, lógico e mais sensato do que intensificar custo sos programas de perfuração ba seados em critérios de elevado ris co, na tentativa de encontrar pe tróleo imediatamente e a qualquer custo. Todavia, a maior vantagem do programa proposto seria escla recer, de uma vez por todas, quais as probabilidades petrolíferas do Pais.
co¬ reé muito o enconsuao concom a para realizar mais
Segundo exemplo de lógica apa rente: “O potencial hidráulico manescente ho Brasil grande; energia hídrica é nacional e renovável; logo, deve-se intensi ficar a utilização das fontes hi drelétricas, a fim de substituir petróleo no Brasil”. Ora, aqui no vamente aparecem alguns pontos fracos, que a lógica aparente não evidenciou. Com efeito, uma obra hidrelétrica de porte demanda seis anos para ser projetada e cons truída; a energia elétrica não se apresenta em forma líquida, quanto pelo menos quatro quintos dos derivados de petróleo midos no Brasil são líquidos. Assim somente se poderia contar com a energia hidráulica, para substitui ções maciças de petróleo, a partir do sétimo ano de programação. Se rá que sabemos disso? Ou, trário estaríamos contando energia hidráulica substituições antes de 1985? E ainda: produzida a energia elé trica, seria mister transportá-la a que se
grandes distâncias até os pontos onde agora os derivados de petró leo são consumidos maciçamente; para substituição de grandes quan tidades, teríamos de transformar em combustível líquido uma boa parte da eletricidade transportada aos centros de consumo. Sabemos disso também? Isto tudo sem con siderar problemas de custos e de investimentos que, no caso da ener gia elétrica, são bastante compli cados.
Esses exemplos mostram que não basta enunciar alguns raciocínios numa certa sequência lógica. É preciso completar a análise de to dos os aspectos do problema ener gético, antes de enunciar as con clusões. De outro modo, as conclu sões serão precipitadas e conduzi rão, fatalmente, a programas custosos e arriscados.
Equívoco nos papéis a desempenhar
nacional? Quase todos responde ram que ao Executivo cabe essa responsabilidade. Ora, em conjun to, tais respostas revelam, a distor ção que atualmente existe nos pa péis desempenhados pelo Governo e pelos partidos políticos, pois ca bería a estes e não àquele definir as bases da política energética cm um pais de organização econômica capitalista como o nosso. E assim
0

político,
Importantes também são os er ros de papéis, a saber os equívocos que se referem aos papéis assu midos pelas pessoas e pelas enti dades que, no País, participam dos processos decisórios econômico e administrativo — no campo energético. Nem sempre os papéis são desempenhados por quem deveria fazê-lo.
Gom efeito, em relação ao pri meiro aspecto, 0 político, temos perguntado a diversas pessoas: Qual dos poderes da República deve ser responsável pela formu lação de uma política energética
Executivo, representando a cor rente dominante de pensamento doutrinário, teria de aplicar (exe cutar) uma política compatível com a corrente partidária que o sustenta. Essa distorção conduz à situação errônea em que o Execu tivo formula, aplica e fiscaliza a condução dos problemas energéti cos no Brasil. E, desse erro resul ta um aspecto bastante curioso: a política e a programação energé ticas do País ficam dependentes da opinião particular das pessoas que ocupam os cargos de Minis tros, Governadores, Secretários de Estado, Presidentes e Diretores de Empresas Estatais (PETROBRÁS, ELETROBRÁS, NUCLEBRAS, etc.) . Dependerão, portanto, a política e a programação energéticas do Pais, do particular arranjo de poder que for estabelecido pelas pessoas in dicadas para formar o Executivo, 0 que caracteriza um sistema de funcionamento absolutamente casuístico, sempre dependente das inclinações ou preferências pes soais dos seus integrantes, e não orientado pelas correntes políticas que esses integrantes representas sem.

Sob o ponto de vista econôviico, um desacerto que vem sucedendo no Brasil e está afetando a ques tão energética, diz respeito à subs tituição ãe papéis.
Esse engano tem a seguinte his tória: Em 1964, era pequeno o po der de decisão (e de intervenção) do Governo no campo econômico; a poupança maior e as decisões mais importantes eram tomadas pelo setor privado da economia. Visando a estabelecer um “melhor equilíbrio” nas ações econômicas, o Governo Castelo Branco intro duziu uma série de alterações na área econômica, canalizando para os setores governamentais, direto e indireto, maiores parcelas dá poupança nacional. Paralelamente, introduziu também critérios de controle monetário e de investi mentos que facilitassem o combate à inflação. Sucedeu, porém, que as medidas destinadas a “estabelecer um melhor equilíbrio” transforma ram-se em tendência irreversível, passando a ser crescente a partici pação do poder governamental (o Executivo no caso, conforme o er ro descrito anteriormehte) no pro cesso decisório econômico nacional. A tal ponto essa tendência se acentwow que atualmente é muito raro observar-se uma empresa de porte que, para efetuar suas operações normais no mercado, não dependa de uma concessão ou liberação econômico-financeira de algum orga nismo estatal. Mais ainda: esse fa to tem trazido, como consequên cia frequente, uma acomodação
nos critérios de decisão dos em presários, os quais, para obter os indispensáveis créditos ou estímu los governamentais, sacrificam seus próprios critérios, aceitando os dos organismos oficiais, muitas vezes até em oposição às leis nor mais de mercado. No fundo, é co mo se o funcionário da adminis tração governamental substituísse o empresário em suas decisões es tratégicas, retirando dele, simul taneamente, uma parte do seu lu cro esperado, mas compensando-o com uma redução nas responsabi lidades, e portanto, nos riscos do negócio.
No campo energético. o empre sário ficou praticamente alijado do processo decisório nacional sultando que, à medida que a crise energética se agrava, mais aumen ta a perplexidade e a angústia de todos, pois fica-se à espera da ini ciativa governamental. Porém, mo as iniciativas governamentais (o Executivo, novamente) são des vinculadas dos mecanismos mais de funcionamento do merca do (lucro, risco empresarial), respostas ao agravamento da crise são muito lentas, o que aumenta a perplexidade e a angústia de to dos. O melhor exemplo desta tuação, no Brasil de hoje, é que aqueles empresários tam de óleo combustível, bem agora se devem substituí-lo ou não, pois nada conhecem do funcionamento do mercado ener gético no Brasil e portanto, não sabem quais as opções possíveis, estão todos eles esperando para reconor¬ as Slque necessinão sa-
ver o que o governo (o Executivo, lembre-se) irá fazer.
A terceira forma dos erros de papéis situa-se no campo adminis trativo, e pode ser historiado me diante 0 seguinte exemplo: até re centemente as tarifas de energia elétrica eram estabelecidas, para cada concessionária, com base em um “sistema de prestação de ser viços pelo custo” (incluindo uma remuneração de 10% sobre o.ativo operacional da empresa); a partir de 1964 os ativos vinham sen€o corrigidos monetariamente, permitindo atualização constante dos ijrv. custos; a fiscalização das empre sas CJoncessíonárias e as autoriza ções de preços eram realizadas pe- V; (o DNAEE (Departamento Nacio- I nal de Águas e Energia Elétrica), do Ministério das Minas e Energia. Os sistemas de remuneração e de atualização dos custos ensejavam às empresas elétricas, boas possi bilidades de expansão. Diversas empresas estatais (da União e dos Estados), que entraram no setor a pretexto do enorme volume de in vestimentos exigidos pelo empreen dimento elétrico, também flores ceram e cresceram aceleradamente. Entretanto, de 1975 em diante, o Governo Federal decidiu estabe lecer 0 princípio de equalízação ta rifária. Por este princípio, a tarifa final ao consumidor teria de única, pelo menos ao nível regio nal.
5,. i.J ? ^ \t ser
cia empresarial, passando a haver transferências dc recursos entre empresas de energia elétrica, por critério.s outros que não o do “ser viço pelo custo”. Para agravar mais ainda o problema os níveis finais de investimentos e de tarifas pas saram a depender de orientação e liberação dadas por órgãos dos Mi nistérios do Planejamento e da Fa zenda que, naturalmente, tomam suas decisões baseados no comba te à inflação e, portanto, restrin gem ao mínimo os volumes de in vestimentos e os níveis tarifários. O resultado final dessa superposi ção de papéis, no setor de energia elétrica, é que as empresas se tor nam “não responsáveis” pelo nivel tarifário final, perdem o estimulo à eficiência e abandonam critérios de conseguir redução nos investi mentos para uma mesma presta ção dos serviços, pois esses crité rio poderiam ensejar que os re cursos derivados de sua eficácia fossem transferidos para outras empresas menos eficientes-

Resultou dessa iniciativa, como não poderia deixar de acontecer, que a prestação de serviço elétrico se desvinculou do fator de eficiên-
A conclusão geral sobre esses equívocos de papéis, que vêm sendo cometidos no Brasil, é que todos eles são de natureza institucional. Mas, dificilmente poderão ser es tabelecidos programas energéticos nacionais nos quais se engaje toda a população brasileira, pois ela mesma não poderá discernir outra opção de participação além de sua própria vontade e compreensão. O que é pouco, muito pouco, para o grande potencial de 120 milhões de brasileiros.

Outros enganos comumente cometidos no Brasil sobre a questão energética referem-se ao modo pe- lo qual certas pessoas enfocam o problema, tentando resolvê-lo atra vés de soluções isoladas e incom pletas.
Alguns desses erros aparecem em abordagens que não consideram corretamente a interdependência entre os diversos assuntos energé ticos.
Outros erros cie abordagem duzir as entregas de óleo combus tível e de óleo diesel, para conter as importações. Atualmente, ante a perspectiva ameaçadora de fica rem sem combustível, muitos in dustriais estão preparando suas instalações para consumir mais energia elétrica e menos óleo com bustível; a demanda de energia elétrica, por sua vez, receberá um acréscimo não previsto, e portan to, para o qual o sistema elétrico existente não estava preparado. E assim por diante.
Com efeito, até 1973, os proble mas energéticos podiam ser trata dos independentemente, cada um em seu mercado específico (ener gia elétrica, derivados de petróleo, energia nuclear, produção auto mobilística, etc.); o tratamento isolado gerava, até então, diagnós ticos independentes, porém efica zes.
A deflagração da crise energéti ca. porém, afetou profundamente todos os mercados, generalizando e acentuando relações de interde pendência, anteriormente despre zíveis, de tal modo que, hoje, não se pode tratar isoladamente ne nhum setor energético.
A não observância do principio da interdependência pode condu zir a que, pretendendo-se resolver um problema, se criem outros não previstos no momento da decisão.
Outra falha de abordagem muito frequente no Brasil é a que se re fere à aplicabilidade de uma solu ção em relação ao tempo. Por exemplo: a energia solar direta de pende de desenvolvimento tecnoló gico para se transformar em uma opção energética; pessoas preconizam a utilização de captadores solares como solução energética para o País, fosse imediata e segura em qual quer caso.
Ora, essa opção somente realmente disponível quando será - . , - -0 de¬ senvolvimento tecnológico tiver al cançado um nível de garantia de suprimento compatível com as exi gências mínimas do mercado ener gético. Segue-se que não é possí vel estabelecer _ lização da energia solar, e apenas programas de pesquisas solina. De fato, mistura programas de utisim
Um excelente exemplo da incon veniência do enfoque isolado é o caso da mistura do álcool à gasoprimeiro fez-se a e sobrou gasolina; as so bras passaram a ser exportadas, para se recuperar parte dos gastos com as importações de petróleo; posteriormente, percebeu-se que o nível de importações continuava se elevando; decidiu-se, então, re¬ porem, muitas como se
bre meios e sistemas para aprovei tamento da energia solar.
Finalmente, outro erro de abor dagem tem origem nas discrepâncias entre a magnitude do proble ma e a da solução preconizada, ou seja, 0 mercado energético nacio nal é .de grande magnitude (equi valente a mais de 2 milhões de barris/dia, de petróleo); há gran des concentrações de consumo, como Se verifica nos casos do ABCD em São Paulo, e nos do vale do rio Paraíba entre São Paulo e Rio de Janeiro: para substituir o consumo dos derivados de petróleo nessas áreas, há necessidade de

movimentar maciças quantidades de energia; portanto, não há lu gar, naquelas zonas, para soluções pequenas, do tipo mini-distilarias de álcool, por exemplo.
Entretanto, muitas pessoas pre conizam tais soluções em âmbito nacional, o que evidentemente conduz a distorções lamentáveis.
Assim, a magnitude de cada so lução, supostamente possível, têm de ser compatível com a magnitu de dos nossos problemas energéti cos, para se evitar que surjam outras armadilhas técnicas e eco nômicas no caminho da autono mia energética no Brasil.
ESTADOS UNIDOS: — NOVO PROCESSO PARA TRATAMENTO DA
CELULOSE — Um novo processo de alvejamento de celulose que libera 0 efluente de cloretos, quando não elimina o efluente totalmente foi desenvolvido conjuntamente pela Scott Paper Co. (Filadélfia) Divisão Impco da Ingersoll-Rand Co. (Nashua, N. H.) e nela O processo fun ciona no modo O-Z-E-P: a celulose é tratada primeiramente com oxigê nio (O), então ozonizada (Z), exposta à extração cáustica (E) e, final mente, tratada com peróxido de hidrogênio (P). Depois de cada estágio há um ciclo de lavagem e’todas as águas de lavagem são enviadas para cima, no sentido contra-corrente, eventualmente alcançando os evapora- dores da fábrica de celulose. Dessa maneira, todas as impurezas vidas da celulose vão acabar na fornalha de recuperação. Logo após a etapa de ozonização, uma prensa de dois rolos, fabricada pela Impco, desidrata a celulose até uma concentração que seja 35-55% sólida. ' testes têm demonstrado que isto é ótimo para o alvejamento com ozônio. Joseh K. Perkins, gerente de desenvolvimento de mercado da Impco, vê o processo de ozônio/peróxido como uma resposta ao pro cesso de ciclo fechado da Rapson-Reeve, recentemente comercializado e agora utilizado pela Great Lakes Paper Co. Este processo depende do alvejamento com cloro, mas envia os cloretos de volta ao circuito de fornalha de recuperação, eventualmente soltando-os como NaCl. No novo processo, contudo, não há efluente. O processo de ozônio/peróxido foi testado numa fábrica piloto de 6 a 10 toneadas diárias. A Scott Paper ^ está agora considerando sua comercialização em duas de suas remoOs
Desimiforrirsação históràca e segmrança Biocioríal
CARLOS DE MEIRA MATTOS
TEMOS lido, ultimamente, inú meras críticas ou mesmo ata ques ao que chamam de ■' Dou trina da Segurança Nacional”. Pesquisando a origem dessa nova onda critica, repetitiva nos seus argumentos, encontramos em uma obra recente, o livro do padre belga Joseph Comblin, a fonte pri meira da sabedoria de articulistas sobre a matéria.
A tese de Comblin, em síntese, afirma que “ Doutrina de Segurança Nacional é uma extraordinária sim plificação do homem e dos proble mas humanos. Em sua concepção, a guerra e a estratégia tornam-se a única responsabilidade e a respos ta a tudo”. Diz ainda o autor: “as origens do conceito remontam ao momento em que os Estados Uni dos tiveram acesso à época impe rial, logo após à 2.a Guerra Mun dial”.
Afirmações como estas, e outras do mesmo teor, entusiasmaram vá rios de nossos articulistas que dei xaram de atentar para as fontes históricas do problema e suas raí zes político-filosóficas.
O grande historiador contempo râneo Arnold Toynbee, nos seus alentados livros intitulados, “ Study of History”, “Mankind and Mother Earth”, e “Experiences”, analisan do a façanha do homem sobre a Terra desde os idos da criação da civilização dos sumérios, por volta
O general Carlos de Meira Mattos, laz a defesa da doutrina da segu rança nacional, contra a desinfor mação, por ignorância ou mà fé, de vários jmblicistas que escrevem sobre o tema. O general Carlos de Meira Mattos é autor dos livros B7-asil, geopolitica e destino” e Geopolitica e as projeções do po der”.

de 3.000 anos antes de Cristo, con clui que, para que surgisse uma so ciedade organizada, a fim de que os grupos humanos superassem o pe ríodo de vida vegetativa e se afir massem numa auto-determinação grupai, visando realizar-se como so ciedade, e assim defender-se das forças do ambiente físico e dos gru pos rivais, tiveram de aceitar nor mas de governo que mais tarde pas saram a se chamar “razão de esta do”. Aí surgiu a liderança encarre gada de interpretar os interesses da dinâmica social do grupo, às quais teriam de se submeter as vontades individuais.
Uma doutrina tem sua origem e ' sistematização baseada numa pre missa básica — qual a do princípio de segurança nacional adotado no Brasil: “Segurança Nacional é o grau de garantia que, através de
ações políticas, econômicas, psicos* sociais e militares, o Estado pro porciona à Nação, para a conquista trina de segurança nacional, quane manutenção dos objetivos nacio* do atribuía os deveres de defesa da nais a despeito dos antagonismos ou pressões” (ESG).
Concordamos que esta conceituaexprime numa linguagem
(Primeira República) estabelecia já as premissas básicas de uma dou-
Pátria no exterior e de manutenção i das leis no interior. Separava já, as obrigações de segurança externa e as servidões de segurança inter na que cabiam às autoridades pre servar. A Constituição brasileira de 1934 criou um Conselho de Se gurança Nacional, incumbido de es tudar e coordenar o assessoramento do presidente da República no tocante às questões relativas à Se gurança do Estado. Diz o padre Comblin que o órgão com igual nome foi criado nos Estados UniO dos em 1947 e que nós o copiamos. A nossa liberalíssima Constituição de 1946, além de tratar da defesa externa, inseria o conceito da de fesa interna contra ideologias e dou trinas contrárias à democracia (art. 141, parágrafo 13).
Não é verdade, portanto, que a Doutrina de Segurança Nacional brasileira seja, como se insinua, uma imitação da doutrina elabora da pelo “National War College” fundado em 1946. Omite o autor cino mum
Acreditamos não precisar ir além do que já dissemos para rebater os principais equívocos contidos livro em questão, ultimamente tra tado que as instituições e escolas duzido para o português e ampladestinadas a estudar, no âmbito co- mente divulgado em nosso país. das elites civis e militares, os çao se elaborada, sofisticada, que corres ponde à época em que vivemos. Não seria certamente a linguagem que os reis sumérios das dinastias Eanatom e Sargão teriam usado, mas o princípio, a necessidade so cial das normas que então traça ram para suas sociedades ou Esta dos, há quase 5.000 anos passados, não podiam diferir muito do con ceito hoje adotado pela ESG. que mudou foi o mundo e, em função disto, todos os instrumen tos de controle e proteção de uma sociedade tiveram que evoluir.
problemas da política e da estraté gia para a guerra e para a paz sur giram na Europa muito antes do que nos Estados Unidos, tendo sido pioneiros o “Imperial Defense Col lege” de Londres, criado em 1927, Ècole d’Hautes Études”, de França, inaugurada em 1936.
Esquece-se, por exemplo, que, muito antes que criássemos em 1949 a nossa Escola Superior de Guerra, a Constituição brasileira de 1891
Conceito abrangente
O princípio da Segurança Nacio nal, tão velho como as antigas di nastias do vale do Tigre e do Eufrates que se constituíram nos pri meiros Estados e projeção históri ca, assim como tudo na sociedade humana, vem-se adaptando às exi gências inovadoras do espaço e do tempo. Qual o Estado antigo ou moderno que, sob um dos títulos e a _AS

de razão de estado, estado de ne cessidade, direito de defesa, defesa nacional, direito de polícia, não teve incluídas no seu direito público as premissas básicas de um conceito de segurança? A abrangência da Segurança Nacional no conceito atual é uma decorrência das novas responsabilidades de preservação do Estado Contemporâneo em face das ameaças que o envolvem na
Os instrumentos

então conciliar a segurança do Es tado com a segurança da pessoa”?
Nesse mesmo capitulo, o extraordi nário pensador francês, arquiteto das idéias mestras que deram ori gem à estrutura do Estado demo crático que depois viria surgir com a derrubada da monarquia de Luiz XVI, repete as expressões seguran ça e estabilidade do Estado, corno os suportes indispensáveis ao go verno do ” povo, pelo povo e para o povo”. paz e na guerra, da tecnologia e da indústria moder na superaram as vetustas barreiras a apresentação de alguns exem- que salvaguardavam a integridade pios da legislação vigente sobre a dos Estados — o fechamento e a defesa das fronteiras. Os meios eletrônicos de telecomunicações in vadem hoje os territórios nacionais com todo tipo de mensagens e de propaganda; as armas atuais não se detem mais diante dos limites de alcance nem de poder destrutivo. Os velhos princípios de defesa na cional ou de segurança nacional, quiserem denominar, tiveram
Segurança Nacional nos principais Estados democráticos, cremos que elucidará melhor a necessidade constante de reavaliar e reajustar as premissas básicas de proteção do Estado e que se vêm tornando mais prementes nos últimos 50 anos, em face da velocidade das transfor mações a que estão submetidas to das as nações do globo. como de ser reavaliados na conjuntura
A atual Constituição francesa, no seu art. 16, trata das figuras do estado de sitio e do estado de emer- das novas ameaças e novos perigos ademais, todos os outros como, conceitos foram reajustados às exi gências da dinâmica da sociedade contemporânea — os políticos, os econômicos, os sociais, assim como jurisprudência pública e privada. Não há porque se admirar que o Estado moderno reestude e procure atualizar o seu conceito de prote-
O próprio vocábulo segurança, empregado com o significado atual, não ê a novidade que alguns que rem impingir. Montesquieu, em "L’Esprit des Lois”, capítulo XIV, o utiliza quando pergunta: “ Como
Essas duas situações con- gencia. figuram os perigos a que pode o Estado se ver envolvido em face principalmente da agressão do ini migo interno. Em ambos os casos, concentram-se nas mãos do presi dente da República os poderes que em tempos normais estão divididos entre os três poderes do Estado. Ademais, os estados de sítio e de emergência podem ser decretados pelo Conselho de Ministros, sem necessidade de nenliuma deliberação Gu voto da Assembléia Legislativa, por um prazo não superior a 12 dias. Durante este prazo, nenhuma a ção e de segurança.
norma legislativa ou jurídica res tringe a latitude do poder presiden cial.
Na Bélgica, o Código Penal, no seu livro II, título I, “Dos crimes e delitos contra a Segurança do Es tado”, estabelece as penas contra aqueles que através de atentados e complós, ameaçam a vida do rei e da família real, e a forma de Go verno. Nos capítulos seguintes tra ta dos crimes e delitos contra a se-
Nacional pelos fundadores da gran' de República Democrática do Noríc — George Washington, Thomas Jeí-: ferson, Benjamin Franklin e Alexan; der Hamilton. '
Instituído o princípio, encontra mos no decorrer destes 200 anos d: vida política da República norte americana, várias emendas consti tucionais e leis complementares adaptando o conceito de segurançs' às necessidades conjunturais da ção e à evolução dos instrumentos de agressão psicológica e física a' que está submetido o Estado. Em 1947, os legisladores do Capitólio, de cujo pensamento liberal não sei pode duvidar, incorporaram à ju risprudência do país o Security Act”, visando garantir preservação dos direitos do Estado e dos cidadãos em face dos nagurança exterior e contra a segu rança interior do Estado belga, va riando as penas de prisão com tra balhos forçados à de morte. Quan do trata em particular da seguran ça interna, o direito belga codifica os tipos de atentados — incitação à guerra civil, à devastação de bens, massacre, pilhagem, invasão de pro priedade, seqüestro de bens e de pessoas, e outras figuras de agres são, estipulando penas que, partin do da detenção, alcançam até 20 anos de prisão.
A jurisprudência norte-america na, que cobre o direito de segurança nacional, não deixa dúvida de sua visão conceptual sobre esta proble mática, desde que a primeira Cons tituição da República entrou em vimarço de 1789. Do

National a novos perigos que passaram a ameaçar o mais precioso bem da comunidade nacional as bênçãos da liber dade e da democracia” de que fala a constituição washingtoniana. En contramos no Freedom of Infor mation Act”, promulgado em 1967. cujo objetivo foi oferecer ao povo uma administração transparente, cuidado em excluir dessa transpa rência as informações que possam causar dano à segurança externa interna dos Estados Unidos. O gencia, em preâmbulo desta constam os objeti vos de “ assegurar a tranqüilidade e prover a defesa comum”. No seu artigo I, seção 8.% n.° 15, prevê a convocação, com a aprovação do Congresso, das milícias estaduais, para fazer cumprir as leis da União, sufocar as insurreições e re pelir invasões”. Os dois dispositi vos citados marcam de sobejo a adoção do princípio de Segurança e
Acreditamos não pairar dúvidas nos espíritos lúcidos e descompro metidos de que a França, a Bélgica e os Estados Unidos formam três exemplos indiscutíveis de Estados democráticos moderno. Não acre ditamos que influências espúrias tenham conseguido induzir os legis ladores dessas três nações sobera-
has e respeitáveis a legislarem sobre hiatéria desnecessária, descabida ou atentatória.
Se nos aprofundarmos no estudo tío princípio da segurança nacional ínão interessa o nome desse prin cípio correspondente à época e ao país), encontraremos desde os pri^órdios da história, o que MontesQuieu no seu ●■L’Esprit des Lois” Í1772) chamou de direito político, inerente à preservação do Estado. Os dois veios desse direito político são a segurança externa e a segu rança interna, e o são, como nos ensina o historiador Arnold Toynbee, desde que os primeiros agru pamentos humanos sentiram a ne cessidade de abandonar o cresciniento vegetativo e se afirmar em termos de uma sociedade capaz de superar suas dificuldades e sobre viver. Ninguém inventou o princí pio de segurança nacional, ele foi inventado há mais de 5.000 anos por uma necessidade social.
ARGENTINA:

O que todas as sociedades e na ções vêm fazendo no decorrer des ses milênios é reajustar suas exi gências de superação social e de defesa, diante das novas ameaças dos modernos instrumentos de Nenhuma nação tem vo- agressao. cação suicida; nenhum Estado en¬ carnará os anseios nacionais se não for capaz de preservar o pais dos perigos de desagregação e de agres são. Preferimos, portanto, tomar a posição ao lado desses valorosos homens de estado que, no curso da história, tiveram o desassombro de reavaliar os perigos que hoje pesam sobre nossa sociedade democrática c fortalecer a sua defesa.
Sintetizando nosso pensamento, reafirmamos que não passa de de sinformação histórica e política dizer-se que a doutrina da Segurança Nacional nasceu nos Estados Uni dos após a 2.a Guerra Mundial e que a doutrina brasileira é cópia da norte-americana. —O—
PAPEL DE SALGUEIRO E DE ÁLAMO — Uma
niáquina de papel fabricada pela Valmet Oy’s Rautpohja Works para a companhia argentina Papel Prensa SA. entrou em funcionamento, recentemente, em São Paulo, Argentina. Sendo a primeira máquina papel a operar com polpa de álamo e de salgueiro, suscitou um grande interesse já na ocasião em que o contrato foi firmado. O pedido final foi precedido de um teste que a Valmet realizou na Fin lândia para por à prova a adequabilidade do salgueiro e do álamo para a produção de papel de jornal. A polpa fornecida compunha-se de 80 por cento de salgueiro e 20% de álamo. Esta prova obteve um grande sucesso e o papel resultante foi usado para produzir um jornal. As pro priedades de impressão do papel foram consideradas normais. O início do funcionamento da máquina argentina foi suave e informa-se que a quali dade do papel suplantou as expectativas, satisfazendo todas as exigências papa papel de jornal de alta qualidade. A capacidade de produção de papel de jornal pela máquina é de 105.600 toneladas/ano.
FRANÇA;

—
NOVA VIDA PARA AS ÁGUAS POLUÍDAS
— A L’Air Liquede lançou um novo plano para recuperação de rios e lagos poluí dos, utilizando navios equipados com unidades de oxigênio liquido que realizam o tratamento das águas poluídas “in loco”. A firma francesa de gás industrial construiu dois “Oxinautas” — o Poseidonie C 1000, capaz de tratar 5.800 litros de água por segundo, e o Poseidonie C 500, capacidade de tratamento de aproximadamente 3.000 litros de água por segundo —, que já foram testados com sucesso, nos rios Sena e Deulle, na França. Em outubro passado, o modelo 1.000 concluiu um bem sucedido teste de- um mês nas águas do rio Deulle, que recebe resíduos de fábricas têxteis, de tintas, e produtos alimentícios e é con siderado um dos mais poluídos do país. A técnica de tratamento de águas poluídas mediante a utilização de oxigênio puro não é novidade. Tanto que vem aumentando o número de fábricas de tratamento de resíduos a utilizar oxigênio ao invés da aeração para manter vivas as bactérias que degradam os resíduos orgânicos. A oxigenação das cor rentes também não é um conceito recente; inúmeras fabricas de papel dos Estados Unidos possuem correntes oxigenadas para destruir os po luentes, O que há de realmente novo no procedimento da L’Air Liquide é a utilização de um navio transportando seu próprio oxigênio para o tratamento das águas poluídas. Nas fábricas de tratamento de resíduos, estes são mantidos em tanques enquanto as bactérias aeróbicas con somem os resíduos, para depois depositarem-se no fundo dos tanques. A aeração desses tanques dá vida às bactérias e, comprovadamente , a utilização do oxigênio, ao invés do ar reduz o tempo de tratamento e o espaço exigido. Assim, a L'Air Liquide entrou no crescente ramo de fornecimento de unidades de oxigenação para as fábricas de trata mento de resíduos. A mesma tecnologia é utilizada no sistema de oxi genação a bordo dos navios. A L’Air Liquide observa que, ao contrário das unidades sediadas em terra, os modelos a bordo dos navios podem ser transportados até o local de uma emergência ambiental, ou seja: para onde e quando forem necessários. A companhia acrescenta ainda que o processo pode ser utilizado tanto com resíduos municipais como com resíduos industriais tais como os hidrocarbonatos. de tratamento contínuo a bordo do navio, pás acionadas por turbina misturam o oxigênio líquido transportado no navio com as águas poluídas bombeadas para uma câmara de mistura^ no navio. Tal mis tura é realizada sob uma pressão tal que não^ há qualquer perda de oxigênio no ar. A pressão faz com que o oxigênio se dissolva comple tamente na água. A água oxigenada que retorna proporciona então um ambiente adequado para o crescimento das bactérias, de modo que elas possam consumir os resíduos orgânicos. A L’Air Liquide afirma que o oxigênio é mais eficiente que o ar e evita a formação de bolhas de nitrogênio que poderíam matar qualquer peixe que tenha sobrevi vido nas águas poluídas. Os instrumentos a bordo do navio controlam os níveis de oxigênio dissolvido das águas que estão sendo tratadas. Onando o nível desejado é atingido os navios podem então movimen tar-se para uma outra faixa do rio.
No processo uma
Sebastião de Lacerda, juiz do Sypremo Trsbursa! Federal
FLÁVIO GALVÃO

ué, sem qualquer A »>
LTIMA obra, publicada em começos de 1977, “A casa de meu avó dúvida, a melhor de Carlos Lacerda, do ponto de vista qualidade literária. É realmente úma obra prima, o que explica o seu extraordinário suce.sso.
Entre outras coisas, serviu cia para despertar a atenção para a própria figura do seu avô, Sebas tião Enrico Gonçalve.s de Lacerda, até então de forma geral pouco conhecido, não obstantj tivess.2 exercido altos cargos políticos e administrativos e encerrado sua vida como ministro do Supremo Tribunal Federal, na dificil e ár dua função de distribuir justiça, em instância final.
Sebastião de Lacerda, abolicio nista e republicano, foi o organiza dor do Partido Republicano em 1888, no município fluminense de Vassouras, deputado à Constituin te do Estado do Rio em 1892, depu tado federal em 1894, secretário do Interior e Jusfça do do Rio, em 1897, ministro da Viação e Obras Públicas da Presidência Prudente de Morais no período de 13 de novembro de 1897 a 28 de junho de 1898, presidente da Câ mara Municipal de Vassouras em 1909, deputado estadual e secretá rio geral do governo do Estado do
Sebastião Lacerda foi uvi- grande magistrado. Honrou o direito e o Su-premo Tribunal Federal. Flàvio Gaívão traça o seu perfil. O autor é professor da UniversidadeMackenzie e das Factildaães Metropolita nas Unidas.
Rio logo a seguir e, em 1912, mi nistro do Supremo Tribunal Fe deral, nomeado pelo presidente da República, marechal Hermes da Fonseca.
Como a grande maioria dos ba charéis em direito que tiveram destacada atuação nos planos politico, administrativo e jurídico, Sebastião de Lacerda estudou e formou-se na Faculdade de Direi to de São Paulo, a qual foi a maior fornecedora, pelo menos até 1930, dos quadros dirigentes do País. ● Na velha escola do Largo de São Francisco, na qual também nós estudamos, ele se matriculou em 1880. Ainda não decorrera, então, um ano do decreto n. 7.247, de 19 de abril de 1879, referendado por Leôncio de Carvalho, professor da Faculdade e ministro do Império no gabinete Sinimbu, decreto que declarara completamente livre o , ensino superior em todo o País. A

reforma Leôncio de Carvalho vi gorou até janeiro de 1885, vale di zer sob seu império se desenvol veu o curso de Sebastião de La cerda.
O ano de 1880 foi de luto para a Faculdade. Foi o ano do incêndio que destruiu a maior parte de seu arquivo, causando irrecuperável perda para a .sua história, a de São Paulo e a do Brasil. Às 3 ho ras da madrugada do dia 16 de fevereiro o fogo se manifestou no velho casarão. Ao toque de rebate de todas as igrejas, acudiu ao lo cal enorme multidão, os corpos de urbanos e permanentes, além das tropas de Unha. Mas, em virtude da falta de água, de maquinaria especializada e de pessoal tecni camente capacitado para enfren tar incêndios, as chamas só foram dominadas após três horas, do o arquivo já fora insanavelmente destruído parte. Noticiando o ocorrido, sua edição de 17 de fevereiro, “A Província de S. Paulo” levantou a hipótese de que o fogo tivesse tido origem criminosa, o que, até hoje, não se esclareceu.
Com Sebastião de Lacerda, em 1880 matricularam-se no primeiro ano da Faculdade, entre outros: Edmundo Muniz Barreto, Godofredo Xavier da Cunha e Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo, que, como ele, chegaram a minis tros do Supremo Tribunal Federal; Gastão de Souza Mesquita, que foi ministro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; José Maria Vaz Pinto Coelho e José Maria
Bourroul, magistrados; Julio Joa quim Gonçalves Maia, que foi, por longo período, o secretário da Fa culdade (seu neto, Renato de An drade Maia Júnior, já falecido foi nosso colega de turma). Germano Hasslocher Filho, Antônio Alvares Lobo, Gastão da Cunha e Eduardo da Cunha Canto, prestigiosos po líticos; Olavo Egidio dc Souza Ara nha, um dos chefes do poderoso PRP e senador estadual; Antônio de Padua Sale.s, político paulista que teve vida extraordinariamen te longa e, entre outros cargos, exerceu o de ministro da Agricul tura, Indústria e Comércio na Pre sidência Delfim Moreira; Alves Barroso Júnior, ministro da Justiça no governo Campos Sales, e da Fazenda, no governo Wenceslau Braz; Pedro Manoel de Toquan- ledo, embaixador, ministro Agricultura, Indústria e Comércio na sua maior da Presidência Hermes da Fonseem ca e que se assegurou um lugar na nossa história como dos paulistas na arrancada constitucionalista de 1932; Mansio da Cunha Júnior, indus trial e político gaúcho; Corrêa Dias, Augusto Freire da Sil va Júnior e José Pereira de Quei roz, ilustres advogados; Pedro Au gusto Tavares Júnior, impetuoso advogado da capital federal; Eu gênio de Andrade Egas, conceitua do historiador paulista; Ludgero Antônio Coelho, tradutor da “Arte Poética”, de Horácio, o autor de obras jurídicas; e José de Campos Novais, autor das “Origens Caldeanas do Judaismo”, que Spencer Sabino da governador Possidônio Adolfo
‘

Vampré, o historiador da Facul dade de Direito de São Paulo, con sidera “a mais profunda obra soo assunto, cm lingua portueuesa” (1).
Ao contrário do que se supunha, a Reforma Lcôncio de Carvalho hão provocara o esvaziamento da Faculdade- A turma do IP ano de 1880 era numerosa. Ao fim dos cin co anos de curso, além dos já mencionados colavam grau mais os se guintes bacharéis: Afonso Corrêa l^ias, Alfredo d’Almeida Gama Lo bo d’Eça, Amâncio Guilhermino de Oliveira Penteado. Antônio Celselino Soares, Antônio Crispiniano Barbosa Freire, Antônio Daniel Tanajura Guimarães, Antônio Ma^ia Honorato Mercado, Arlindo Vieira Paes, Artur Prado de Quei roz Teles, Artur Gomes Ferreira Veloso, Benjamin Firmo de Paula Araueira, Bento Ribeiro dos San tos Camargo, Boaventura Seráfico de Brito Guerra, Cândido Carneifo Ribas, Cândido de Toledo Mal ta, Cândido Monteiro da Cunha Bueno, Carlos Marques de Sá. Constantino Ernesto de Figueire do Faro, Constantino Luiz Paleta, Ernesto Leite da Silva, Fábio Pi res Ramos, Francisco Alvares da Silva Campos (o 2.° desse nome), Francisco de Assis Barros Pentea do, Francisco Dias Novais, Fran cisco Xavier Paes de Barros, Gus tavo Galvão, João Batista Martins de Menezes, João Bonifácio Gomes
(1) VAMPRÉ, Spencer. Memórias para IHstórla da Academia de São Pauto. Sarai va. São Paulo. 1924. vol. li, p. 424.
de Figueiredo Júnior, João C. de Almeida Maia, João da Silva Mei reles, João Francisco Malta Jú nior. João Maria do Vale, Joãô Monteiro da Cunha Salgado, João Nepomuceno Nogueira da Mota, Joaquim Álvaro de Souza Camar go. Joaquim Antônio de Oliveira Portes, Joaquim Antônio Ribeiro, Joaquim Delvaux Pinto Coelho, Joaquim Eduardo de Avelar Bran dão, Joaquim Prado d'Azambuja, José Ferraz de Assis Negreiros. Jo sé Luiz Alvares da Silva, José Mariano Pinto Monteiro Júnior, José Ramos Brandão, Luiz Augusto de Carvalho Melo, Luiz Cândido da Rocha, Luiz Pereira Ferreira de Faro, Luiz Sanches de Lemos. Ma noel Augusto de Ornelas, Manuel de Freitas Paranhos. Manoel Mar condes de Andrade Figueira, OUnto Augusto Ribeiro, Pedro Barbo sa Moreira, Pedro Carvalho de Mo rais, Pedro de Alcântara Leite Ri beiro, Pedro Paulo Carneiro de Al meida Pereira. Rogério Pinto Fer raz, Salvador Meyer de Vasconce los, Sebastião Fortunato de Olivei ra Penteado. Toniaz Eurico Gomez, Tito de Souza Rodrigues, Tito Fulgêncio Alves Pereira, Ubaldo Pe reira de Araújo, Virgílio de Toledo Malta e Washington Badaró. Mas não foi apenas com esses co legas de turma que Sebastião de Lacerda conviveu nos cinco anos do período acadêmico, convivência que tem a sua importância, pois não há quem, tendo cursado uma faculdade, ignore que as grandes amizades e as grandes inimizades, aquelas que perduram pela vida, ali
se formam. Hoje, as coisas já assim não se passam, em consequência do crescimento demográfico e da mas sificação da escola. Mas, essa con vivência era estreita na pequena São Paulo de fins do século pas sado, quando a Faculdade de Di reito ocupava posição de relevo na cidade, a tal ponto que Ernani da Silva Bruno, periodizando a sua história, chama-a de “burgo de estudantes” na época que vai de 1828 a 1872 (2).
A escola era o denominador co mum a igualar e a unir os acadê micos, que ao longo de seu curso tinham o tempo suficiente para se conhecer, para concordar ou para divergir. Essa convivência acadê mica constituía, tudo indica, uma das bases do processo de cooptação, pelo qual depois se compu nham os quadros dirigentes do país.
Ao ingressar na Faculdade pau lista, ele ali encontrou: cursando o 5.° ano, José Leopoldo de Bu lhões, que foi deputado à Consti-' tuinte republicana, por Goiás, mi nistro da Fazenda de Rodrigues' Alves e de Nilo Peçanha, Alexandre Cassiano do Nascimento, ministro^ da Fazenda e da Justiça no gover no de Floriano Peixoto, Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, jurista e literato de nomeada; en tre os quartanistas, viam-se Aristides de Araújo Maia, constituinte republicano por Minas Gerais, Jú lio de Castilhos, o legendário e au toritário político gaúcho, Manoel Inácio Carvalho de Mendonça, o notável civilista, o ensaísta Eduardo Prado, 0 poeta Teófilo Dias, o \ jornalista e crítico Valentim Ma galhães; no ano estavam Joa quim Xavier Guimarães Natal, mais tarde seu colega e amigo no Supremo Tribunal Federal, Augus to de Lima e Raimundo Corrêa, poetas de mérito, Oscar Pedernei ras, 0 humorista e caricaturista famoso, Joaquim Francisco de As sis Brasil, político gaúcho de ex traordinário prestígio, cujo nome foi uma bandeira para a implan tação da Segunda República, Silva Jardim, o propagandista da R-pú- podemos lembrar alguns de e Júlio Mesqu’ta o príncipe seus contemporâneos, com os quais poderia ter convivido. Obvia mente. a lembrança é aleatória, essencialmente exemplificativa.
(2) BRUNO, Ernani da Silva. História tradições da cidade de Sao Paulo. José Olym* pio Editora. Rio, 1954, vol. II, Burgo de Estudantes.
Por isso parece-nos importante, para a compreensão de uma de terminada figura, identificar-se quem foram seus companheiros e seus inimigos, na fase estudantil. Com quem mais teria convivido Sebastião de Lacerda, além de seus colegas de ano? Se não temos ele mentos para responder, pelo m^ nos dos jornalistas brasileiros, um dos condutores da opinião pública na cional; entre os alunos dp 2.° ano, víam-se David Campista, o talen toso ministro da Fazenda de Afon^ so Pena e^ que, após a morte de João Pinheiros, chegou a ser o candidato preferencial do Catete

I*
à sucessão, João Alberto Sales, ir mão de Campos Sales e que já foi chamado de “o ideólogo da Repú blica”, e Pedro Lessa. o notável professor da Faculdade de Direito e ministro do Supremo, mineiro de nascimento, paulista de radicação
Além desses veteranos, podem ser lembrados os nomes de outros estudantes, que se matricularam na Faculdade nos anos subsequen tes a 1880, até 1884, cm que Se bastião de Lacerda se formou. Em 1881, ali se inscreveram Enéas Galvão, que chegou também a minis tro do Supremo Tribunal Federal, Borges de Medeiros, o herdeiro e sucessor de Júlio de Castilhos e que governou o Rio Grande do Sul por mais de vinte anos, Raul Pompéia e Luiz Murat, respectivamen te romancista e poeta, e, ainda, Cincinato Braga, financista, admi nistrador e político em 1882, Pe dro Afonso Mibielli e Firmino Whitaker, que foram ministros do Su premo Tiúbunal, Alberto Torres, o ideólogo que, além de ter ocupa do uma cadeira no Supremo, foi ministro da Justiça de Prudente de Morais, e o magistrado e gran de poeta Vicente de Carvalho; em 1883, Ataulfo de Paiva, que chegou a ministro do STF depois de ter Rido desembargador da Corte de Apelação do Distrito Federal e pertenceu à Academia Brasileira de
dei, ilustre professor da Faculda de de Direito de São Paulo e um dos condutores da parcela estu dantil que lutava por uma renova ção nacional, no primeiro quartel deste século, tendo sido um dos fundadores da Liga Nacionalista, Hermenegildo Rodrigues de Barrei, colega e amigo de Lacerda, do Su premo. e Rafael de Almeida Ma galhães, desembargador da Rela ção de Minas Gerais; em 1884, úl timo ano de Sebastião de Lacerda na Faculdade, ram, entre outros, Artur Ribeiro de Oliveira, que chegou a ministro do Supremo Tribunal Federal, An tônio José da Costa e Silva, o ilus tre penalista, que foi ministro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e Francisco Antônio de Almeida Morato, professor da Fa culdade e um dos prestigiosos che fes políticos de São Paulo, da fac ção que se empenhou neste século renovação e saneamento de nossos costumes político-administrativos.
na a mae era namenimonse- Letras, Rivadavia Corrêa, político gaúcho de nomeada que foi minis tro da Justiça de Hermes da Fon seca, Carlos de Campos, que che gou a presidente do Estado de São Paulo, Frederico Vergueiro Stei-
Na Faculdade de São Paulo le cionavam dois tios de Sebastião de Lacerda: Francisco Justirio Gonçalves de Andrade e João Ja cinto Gonçalves de Andrade. Justino de Andrade, como de Sebastião de Lacerda, tural da Ilha da Madeira, tendo vindo para o Brasil ainda no, a convite de seu tio, nhor Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade, que sucedeu a d. Ma teus de Abreu Pereira no bispado de São Paulo. Bacharelou-se Jus tino em São Paulo, turma de 1850, ali se matricula¬

^ N .
Ihe valia ser
veio a ser Direito Constitucional, Direito das Gentes e Diplomacia, em 1868, cadeira que mais tarde permutou pela de Direito Civil. Em 1890, em virtude de um in cidente com estudantes, Justino de Andrade foi jubilado compulsoriamente pelo general Benjamin Constant, então ministro da Ins trução Pública do Governo Provi sório dá República. Sua jubilação foi injusta, causada pela intole rância e sectarismo de estudantes i que, como se vê até hoje, agitando bandeiras de liberdade e outras, na prática intransigentemente não admitem oposição nem divergên cia de suas posições. Justino de Andrade era professor ao velho estilo coimbrão. Dogmático, aus tero, rígido, chegando à rispidez, seco, incapaz de descontrair-se na presença de estudantes. E,-porme nor relevante, falava com sotaque madeirense, o que chamado pelos estudantes de ga lego”, clara manifestação de in justa xenofobia.
O incidente foi ridículo. Após a proclamação da República, toma ram-se os estudantes de furores patriótico-federativos e, assim, re solveram organizar uma Confede ração Acadêmica, abrangendo os que estudavam direito em São Paulo e no Recife, medicina na Bahia e no Rio e os alunos da Poli técnica do Rio. A fundação teria lugar em São Paulo, em sessão so-
Iene na Faculdade de Direito, pre sentes 0 diretor e professores des ta. Justino de Andrade z'ecusou o e logo no ano seguinte defendeu tese de doutoramento. Professor substituto por concurso em 1859, nomeado catedrático de convite dos estudantes para com parecer, entre outros motivos porque no seu entender tais atos e comemorações, fora do calendá rio escolar, prejudicavam — como prejudicam — o ano letivo. Os es tudantes alegaram, depois, que ti nham sido ofendidos pelo mestre, que ainda atingira o governo do País, ao falar em anarquia que “vinha de cima”. Daí prepararem uma manifestação contra Justino, na Faculdade, intento que o pro- fessor frustrou ao suspender a aula em que ela se realizaria, o que fez, segundo os alunos, em termos ofensivos a eles. Por isso constitui- j ram uma comissão, dita “justinici- da”, e telegrafaram ao ministro Benjamin Constant, pedindo o afastamento do mestre. Apesar do apoio da congregação, Justino de Andrade foi afastado, pelo go verno. Dessa comissão “justinicida” fez parte, entre outros, Reinaldo Porchat, mais tarde severo pro fessor da Faculdade e reitor da Universidade de São Paulo, quando esta se organizou em meados da década de 1930.
Quanto ao arcipreste João Jacin- < to Gonçalves de Andrade, formouse em São Paulo em 1864, vinte anos antes do ingresso de Sebas tião de Lacerda na Faculdade. Eni 1868, com a nomeação do irmão Justino, substituto, a que concorreu João Jacinto, que foi aprovado e no meado. Mais tarde foi promovido a abriu-se uma vaga de

lente catedrático de Direito Natu ral, cadeira que depois pc-rmutou pela de Direito Eclesiástico. Como 0 irmão, falava com carregado taque madeirense. De acordo com os historiadores da Faculdade, iTio professor não se destacou por grande inteligência ou saber, mas deixou uma imagem do bondado entre os colegas c estudantes. Jubilou-se no fim de 1890, o mesmo ano do “justinicídio”.
Quais teriam sido as relações en tre Sebastião de Lacerda e seus Parentes professores? É questão a
^P^rar, sobretudo no âmbito fa- *^üiar, em que pode ter sido con'*>crvada alguma informação, transP^itida por via oral.

çanha, um dos chefes politicos da República Velha, atuação no Rio, seu Estado natal e dos Lacerda. Mais tarde, Nilo concorreu
Bernardes, pela Reação Republi cana, que tinha entre seus chefes Maurício de Lacerda, filho de Se bastião de Lacerda.
Por outras palavras, é possivel supor relacionamento de ordem politica entre os Lacerda e Nilo e, poi ai. com a corrente que levou Hermes da Fonseca à chefia da Nação, em oposição ao candidato civilista. Rui Barbosa.
1912, Sebastião Lacerda foi Pomeado ministro do Supremo Tri- ^ânal Federal, pelo presidente da República, então o marechal Herda Fonseca, soà Presidência contra co-
Àquela época, na forma da lei básica, o Supremo Tribunal Fe deral compunha-se de 15 juizes, nomeados pelo Presidente da Re pública, sujeita a nomeação à apro vação do Senado. Dentre seus membros era designado curador geral da República.
Em 1912, três ministros deixa ram 0 Supremo: Epitácio Pessoa, Manoel José Espinola e Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo.
Este último fora colega de turma de Sebastião Lacerda em S. Paulo, e nomeado para o Supremo 1911. E foram nomeados, além dè Sebastião, Enéas Galvão, que fora seu calouro, e Pedro Afonso Mibielli, colega de turma em São Paulo.
Ademais, Hermes fora precedi do, na Presidência, por Nilo Peem Pedro
Encontrou Sebastião, no Supre mo, os seguintes ministros: Antônio de Oliveira Ribeiro (19031917), Amaro Cavalcanti (19061914), Pedro Augusto Carneiro Lessa (1908-1919), Canuto José Sarai va (1906-1919), Godofredo Xavier com base de
0 proSem por em dúvida as suas quanotàvel ^idades para o cargo saber e reputação, como exigia a Constituição de 1891 — pode-se adbiítir que outros fatores tenham Concorrido para sua escolha. Do biínistério inicial de Hermes fizeram parte Pedro de Toledo, que fora seu colega de turma na Fa culdade de Direito, e Rivadávia Corrêa, Francisco Antônio de Sales (que foi presidente do Estado Minas Gerais) e Manoel Edwi6es de Queiroz Vieira, os quais tibham sido contemporâneos seus bas arcadas do Largo de São Fran cisco.
da no governo de Prudente de Morais, do qual foi chefe de po lícia.
da Cunha (1909-1931), que fora seu ano da Facul- colega no primeiro dade, Carolino Leôni Ramos (19101031), Edmundo Muniz Barreto (1910-1931), seu colega de turma em São Paulo, Hermínio Francis co do Espírito Santo (1911-1924), Antônio Augusto Ribeiro de Al meida (1896-1913), Manoel José Murtinho (1897-1917) e André Cano no valcanti de Albuquerque (18971927).
De 1913 a 1925, ano de sua morte, foram nomeados para o Supremo: José Luiz Coelho e Campos (19131919), Augusto Olímpio Viveiros de Castro (1915-1927), João Men des de Almeida Júnior (1916-1922), Antônio Joaquim Pires de Carva lho Albuquerque (1917-1931), Ed mundo Pereira Lins (1917-1937), Hermenegildo Rodrigues de Barros (1919-1937) que fora seu calouro em São Paulo, Pedro Joaquim dos Santos (1919-1931), Alfredo Pinto Vieira de Melo (1921-1923), Geminiano da Franca (1922-1931), Ar tur Ribeiro de Oliveira (19231936), seu contemporâneo em São Paulo, 1925), e Antonio Bento de Faria (1925-1945). Coube a este ú.timo preencher a vaga aberta com a morte de Sebastião de Lacerda. Em 1912, era presidente do Su premo 0 ministro Espírito Santo, nomeado para a corte no ano an terior. Permaneceu na presidência até 1924, em que foi eleito André Cavalcanti de Albuquerque que, apesar da avançada idade, dirigiu Supremo até 1927. Este ministro fora colega de Sebastião de Lacer-
João Luiz Alves (1924o
Como ministro do Supremo, Se- ● bastião de Lacerda veio a distinguir-se pela sua independência, li beralismo e coragem, em especial período final do sua judicatura, governo de Artur Bernardes. que presidiu o Brasil praticamente sob estado de sítio.
O ministro Edgard Costa, que se aposentou no Supremo Tribunal Federal em 1957, depois de 12 anos de profícua judicatura ali, compendiou os principais casos, na sua opinião, apreciados pela corte em quatro volumes, intitulados grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal”, editados pela Civilização Brasileira. O primeiro volume, que veio à luz em 1964. abrange julgamentos compreendi dos entre 1892 e 1925, cobrindo, pois, o período em que Sebastião de Lacerda foi ministro do Su premo.
O primeiro julgamento referido por Edgard Costa e de que parti cipou Sebastião de Lacerda foi do habeas-corpus n. 3.528, impetrado por Leônldas de Rezende (presti gioso jornalista e professor de di reito), apreciado em sessão de 25; de abril de 1914.
Leônldas de Rezende impetrara a ordem por ter sido detido como responsável por artigos pubUcados em “O Imparcial”.
E o que se discutiu, no julga mento, foi o estado de sítio, apre ciando-se sua constitucionalidade. O relator do feito foi o notável


Pedro Lessa, que em seu voto con cedeu a ordem. Começou ele decla rando que nenhuma razão havia para a decretação do estado de si tio, medida excepcional e violenta, como o próprio governo se tinliá encarregado de provar. Depois de apontar a ilegalidade do ato do Executivo, Pedro Lessa concluiu incisivamente: “Dir-se-á, prova¬ velmente, mais uma v:z, que o Tri bunal não tem competência para declarar sem fundamento um ato da atribuição do Poder Executivo. A isso se responderá que, quando se trata de aplicar as leis, a pri meira tarefa do juiz é bem apu rar o fato a que se tem de aplicar as leis. Se o Governo da XJniãò decretasse o estado de sítio, decla rando que 0 fazia por se estar eiti guerra com uma nação estrangei ra, prestar-se-ia o Tribunal à co média criminosa de respeitar os atos em tais condições, quando todos soubessem que nada abso lutamente havia? Quando estives sem em relações quotidianas com o ministro diplomático da nação com a qual se fingisse a guerra, quando vissem a cada passo na Avenida Rio Branco os oficiais de terra e mar, em palestras descuidosas sobre assuntos inteiramente estranhos à fantasiada guerra e na baía todos os vasos de guerra em havia o Tribunal de
ses — perdão, dos mandarins chi neses de outros tempos, que a Chi na de hoje não comporta mais ce nas dessa ordem? Ou apUca-se a Constituição tal foi ideada, e tem sido praticada pelo povo que gendrou essa combinação política, o que é aplicá-la de acordo com as prementes necessidades do país, ou se há de ir caindo de de crime em crime, de miséria em miséria política, até se eliminar um regime que, bem praticado, pode levar um país à grandeza dos nor te-americanos, mas mutilado, des respeitado pelo caudilhismo ricano, e pelas mesquinhas ambi ções e profunda ignorância dos politiqueiros, é uma praga insu portável”.
Mas o gigante Pedro Lessa não encontrou apoio in casu para a sua tese de que o estado de sítio fo ra decretado inconstitucionalmen te. Como relator, ficou sozinho, gando o Supremo a ordem de haheas-corpus impetrada por Leônidas Rezende.
^ Presidiu a sessão o ministro Es pírito Santo, esteve presentecurador geral da República, nistro Muniz Barreto e comparece ram os ministros Manoel Murtinho André Cavalcanti, Oliveira R bnro’ Guimarães Natal, Amaro Cavalcan ti, Canuto Saraiva, Godofredo Cunha, Leoni Ramos, Pedro Mi- bielh. Sebastião de Lacerda Iho e Campos.
erro cm erro, ameneo promirepouso declarar em suas sentenças que não podia conceder o habeas-cor pus, por estar o país em estado de guerra com tal nação? Que ma gistrado se prestaria a esse papel, só próprio dos mandarins chinee Coeno Seo ato do
Em 4 de maio de 1914, Rui Bar bosa proferiu um discurso nado, protestando contra governo que prorrogara, por seis en-

meses, o estado de sítio, ato que, no seu ver, infringia a Constitui ção. Forneceu ele uma cópia de seu discurso ao jornal “O Imparcial”, circulava na capital federal. que mas a publicação foi proibida pe lo chefe de polícia, Francisco Va ladares. Impetrou, então, ao Su premo a garantia do habeas-corpus, “a fim de poder exercer um dos direitos essenciais e desempe nhar um dos principais deveres”, que lhe tocavam por força de seu cargo.
Sustentou Rui Barbosa que a proibição policial condenava à clausura ou reduzia aos limites mesquinhos da publicidade oficial, inacessível ao povo, os debates do Congresso Nacional, atentando não só contra os direitos do Poder Le gislativo mas também de cada uni dos seus membros. Se o governo pudesse tolher, proibir a publica ção dos debates parlamentares, exercería, um verdadeiro sequestro sobre os trabalhos do Poder Legis lativo, encerrando-o entre as pa redes do seu recinto, e obstando ao seu contato necessário com a Nação.
Segundo o impetrante, a publi cidade das sessões, pelo uso uni versal dos corpos legislativos, pressupõe quatro condições im prescindíveis à sua existência real: 1.^) a fixação taquigráfica dos de bates; 2.^) 0 livre acesso às gale rias, em ambas as câmaras, a to dos os cidadãos; 3.^) a autentica ção dos debates mediante a sua inserção quotidiana na ata dos tra balhos, estampada no Diário do
Congresso; 4.^) a sua livre repro dução pela imprensa.
Outrossim, do mandato legislati vo resulta, para o mandante o di reito de tomar conta aos seus mandatários, e para os mandatá rios, o dever de as prestarem. É mediante a publicidade — não ape nas a oficial — mas a geral da imprensa, a sua amplíssima publi cidade, que essas relações de man dantes e mandatários se exercem entre a Nação e os membros do Congresso Nacional.
A proibição faria, pois a Consti tuição, privando a Nação do co nhecimento de atos do Congresso Nacional, essência de todo governo representativo, insulando o Con gresso da Nação, de que ele é ór gão, anulando as relações jurídi cas do mandato, formalmente es tabelecidas pela Constituição (arts. 19, 25, 26, 31 e 21) e transpondo o limite estabelecido às medidas de repressão que a lei fundamental autoriza o presidente da República a usar contra as pessoas, durante o estado de sítio.
E concluía Rui Barbosa: “A me dida, portanto, de que se trata, constitui uma enorme ilegalidade, um múltiplo e gigantesco abuso de poder. Vítima dela, tem, por con sequência, 0 impetrante o mais ir recusável direito à concessão do habeas-corpus que requer, estribado no art. 72, § 22 da Constituição Brasileira, para exercer o seu di reito constitucional de publicar os seus discursos pela imprensa, onde, como e quando convier”.

O processo tomou o nP 3.635 e foi julgado em sessão dc 6 de maio daquele ano.
Antes de prosseguir, convém um registro, já que nos referimos, por duas vezes a “O Imparcial”. Este jornal começara a circular em 1912, no Rio, sob a batuta de José Eduardo de Macedo Soares, um dos maiores jornalistas brasileiros de todos os tempos. Circulou até 1929, mas, desde 1923, entrara em deca dência, vendido a Henrique Laje. o transformou de jornal de oposição em órgão bernardista. Na sessão de julgamento. Rui Barbosa sustentou o pedido, como impetrante. Antes de dar-lhe a pa lavra, 0 presidente Espirito Santo observou que tinha ele somente 15 minutos para a sustentação, nos termos do regimento do Supremo. Mas 0 ministro relator. Oliveira Ribeiro, lendo o art. 117 do Regi mento, declarou que não se tra tava de ouvir o advogado e, sim, informações do impetrante e paciente, não lhe parecendo pois que se devia aplicar o dispositivo que lhe limitava o tempo de pala vra. Atendida essa observação, a palavra foi dada a Rui, que, como de hábito, pode falar longa e eru ditamente.
beiro, e os ministros Pedro Lessa, Pedro Mibielli, André Cavalcanti, Canuto Saraiva e Sebastião de Lacerda, declarando-se impedido Amaro Cavalcanti.
Sebastião de Lacerda, em seu voto, lembrou que o Supremo já decidira acerca das imunidades dos representantes da Nação na vi gência de estado de sitio, as quais não eram atingidas por essa me dida extraordinária e de exceção, por isso que constituíam privilé gios concedidos aos senadores e deputados federais em razão da função que precisavam desempe nhar com independência,no nosso regime político. Corolário dessas imunidades era o direito de levar ao conhecimento da Nação, por eles representada, os atos e ora- ~ ções proferidas no exercício do mandato legislativo. Admitindo-se que no domínio da suspensão de garantias constitucionais a liber dade de impremsa fique sujeita a restrições pela censura, esta não pode compreender os votos e dis cursos dos deputados e senadores, que podem e devem ser publicados, como o são os atos do Poder Exe cutivo e as decisões do Poder Ju diciário. Esta doutrina assenta em princípios que governam as nos sas instituições políticas. Os três poderes ~ Legislativo, Executivo e Judiciário — representam, deiitro das respectivas órbitas, a so berania nacional, e funcionam a precisa independência no período do sítio, porque este não estabeléce um interregno constitucional, não confere ao governo a' ditaduque as
A defesa do governo foi feita pe lo procurador geral da República, ministro Muniz Barreto. Contra um único voto, do minis tro Godofredo Cunha — de marca da orientação governista — o Su premo concedeu a ordem impetra da por Rui Barbosa. Pela conces são votaram o relator, Oliveira Ri¬
ra, a prepotência sobre os outros ramos do poder público.
Em maio de 1914, Rui Barbosa requereu habeas-corpus para os diretores, redatores, revisores, com positores, impressores e vendedo res d“0 Imparcial”, do “Correio da Manhã”, da “Época”, d“A Noite” e da “Careta” — jornais e revis ta que se estampavam na capital da República e, de forma geral, de todos os diários e revistas, a fim de que escudados na garantia constitucional, se pudessem impri mir e distribuir pela circulação pública, livremente, não obstante o estado de sítio decretado e man tido pelo Governo.
Recorde-se, a propósito, obser vação exata de Nelson Werneck Sodré: “O sítio era arma usual para amordaçar a imprensa muito mais do que destinada permitir ao Executivo a liberdade de ação que a Constituição permi tia, em fases assim de exceção. Na imprensa, ao tempo, estava uma das mais poderosas armas de opo sição; ela exercia papel de grande relevo, expressando o descontenta mento da classe média” (3).
sa- Se lhe tivesse dado seria, no ponto de vista democrático, no ponto de vista republicano, no ponto de vista do governo da na ção pela nação, uma Constituição indigna, porque teria dado ao po der, com o direito de suprimir a publicidade, o de suprimir, moral mente, a nação”.
Incisivamente, disse Rui que, para servir à calúnia que contra a Constituição se tinha urdido em benefício de ditaduras militares, uns confundiam a nossa teoria constitucional do estado de sitio com a lei marcial, que só o estado de guerra autoriza, outros com a suspensão do hdbeas-corpus. qu^e só com, o domínio da lei marcial ss justifica. Nesse pressuposto, uns e outro deduziram que o estado de sítio suspendia todas as garantias constitucionais, que o eí.tado de sí tio importava no eclipse total da Constituição e, até, que com o es tado de sítio a própria nação so suspende.

Na fundamentação do pedido. Rui afirmou que “a Constituição, as faculdades que encerrou no estado de sítio, quando decrete o Poder Executivo, não lhe deu o de subtrair a liberdade de imprena de sua com
(3) SODRÉ, Nelson Weracck. História da imprensa no Brasil. Civilização Brasiicira. Rio, 1966, p. 380, nota 254, completando uma citação de Afonso Arinos de Meio Franco.
Segundo ele, os textos constitu cionais repeliam essa cadeia de absurdos, além do que o governo exorbitara, claramente competência constitucional ao de clarar 0 estado de sítio e ao man tê-lo.
O estado de sítio fora decretado a 25 de abril de 1914, oito dias an tes da abertura anual do Congres so, para vigorar até 30 de outubro; O presidente da República era, ainda, Hermes da Fonseca, pois o eleito Wenceslau Braz só assumi ría a 15 de novembro daquele ano.
O habeas-co?'pus recebeu o n.° 3.539 e foi submetido a julgamen to na sessão de 9 de maio de 1914. O relator foi o insigne Pedro Lessa. Como narra Edgard Costa (op. cit.), o grande ministro, depois de concluir a leitura da petição do impetrante, disse que, para com pletar a exposição, tinha um fato a narrar, fato de conhecimento pessoal: residia em São Paulo há trinta anos, onde tinha interesses econômicos, pelo que era assinan te do jornal O Estado de S. Paulo”. Nunca deixara de o receber, a não ser desde que se decretara o esta do de sítio. Reclamara, inutilmen-
te, e ficara sabendo que o jornal não passava de Mogi das Cruzes, demonstrava o estado de o que coação a que estava submetida a imprensa.
Votando pela concessão da or dem, Pedro Lessa disse que o fazia para que os pacientes pudessem publicar os discursos e imprimir seus jornais, livres de qualquer coação.
Novamente, a defesa do governo ficou a cargo do ministro Muniz Barreto procurador geral da Re pública, que sustentou que, sendo a imprensa o meio mais adequado e profícuo para incitar e animar a ação subversiva da ordem pública, não se compreendia que não pu desse ela ser atingida pelas me didas do sítio, só porque este fora declarado na ausência do Con gresso.
lator, pela concessão, votou ape nas Sebastião de Lacerda. Três mi nistros nem sequer queriam que o Tribunal conhecesse do pedido — Godofredo Cunha, Coelho e Cam pos e Pedro Mibielli que, porém, nessa preliminar ficaram vencidos..
Presidiu a sessão o ministro Es pirito Santo. Vencido o relator, foi designado o ministro Enéas Galvão para redigir o acórdão, que firmou, no Supremo, o princípio de que a livre manifestação do pensamento pela imprensa é uma das garantias constitucionais suspensas em vir tude do estado de sítio. Além de Enéas Galvão, negaram a ordem: Manoel Murtinho, Oliveira Ribei ro, Leôni Ramos, Amaro Cavalcan ti, Canuto Saraiva, J. L. Coelho e Campos, Pedro Mibielli e Guima rães Natal.
Concedendo a ordem. Sebastião Lacerda disse que o fazia porque ficara provado que o governo da República prorrogara, por decreto de 25 de abril, o estado de sítio até 30 de outubro, excedendo assim o período da sessão legislativa ordi nária, exorbitando das faculdades que llie eram conferidas, e usur para, pois, função que ao Congres so incumbia precisamente desem penhar, praticara ato nulo, inconstitucional. Consequentemen te, deviam ser amparados pela Justiça os direitos dos pacientes, sujeitos como se achavam a cons trangimento ilegal.

Nomeado pelo governo de Her mes da Fonseca, o ministro Sebas tião Lacerda, integro e independen te, não hesitara em proferir um í -
A maioria do Tribunal ficou com o governo negando a ordem impe trada por Rui Barbosa. Com o reos por vf
voto contra ato do mesmo gover no, pautado apenas por sua cons ciência.
Edgard Costa arrola, ainda em 1914, outro julgamento de reper cussão política, em que o Supremo Tribunal concedeu habeas-corpus preventivo a Nilo Peçanha, para que este pudesse, em 31 de dezem bro de 1914, penetrar no Palácio do Governo do Estado do Rio e exercer as suas funções de presi dente daquele Estado até o térmi no de seu mandato.
Naquela data, 31 de dezembro de 1914, deveria terminar o man dato do presidente do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Chaves de Oliveira Botelho. Em julho rea lizara-se a eleição de seu sucessor e a Assembléia Legislativa, com petente para a apuração do pleito, cindira-se. A facção presidida pela Mesa diretora dos trabalhos da úl tima sessão ordinária, composta pelos deputados João Antônio de ' Oliveira Guimarães, presidente, Constâncio José Monnerat e Raul de Almeida Rego, amparada em ordem de habeas-corpus concedi da pelo Supremo (acórdão de 6 de junho, reiterado por outro de 25 de julho), reconheceu e proclamou Nilo Peçanha presidente eleito do Estado, para o quadriênio de 1915 a 1918. A outra facção, apoiada pe lo governo do Estado, reconheceu e proclamou presidente eleito Feliciano Sodré Júnior.
lo Peçanha, alegando que este se via constrangido na sua liberdade individual, ameaçado de violên cias, que já se preparavam, se gundo justificação processada no Juízo Federal do Estado e, ainda, que era notório que o presidente fluminense não queria passar o poder a Nilo. O habeas-corpiLS era pedido para se assegurasse a Nilo Peçanha sua liberdade individual, a fim de que livre de qualquer constrangimento pudesse penetrar, em 31 de dezembro daquele ano, no Palácio da Presidência do Es tado do Rio e exercer as funções de presidente do mesmo Estado até o término de seu mandato, proibido qualquer constrangimento por parte de autoridades e fun cionários estaduais ou federais.
Em 14 de dezembro o advogado Astolfo Vieira de Rezende impe trou ao Supremo ordem de habeascorpus preventivo em favor de Ni-

Foi o pedido julgado em 16 de dezembro e o Supremo Tribunal concedeu a ordem. O relator foi o ministro Enéas Galvão, que vo tou pela concessão, acompanhado pelos ministros Guimarães Natal, Sebastião de Lacerda, LeônL Ramos e Canuto Saraiva. Contra, votaram Amaro Cavalcanti, Pedro Mibielli e Coelho e Campos. Por ser amigo íntimo de Nilo Peçanha, Godofre do Cunha deu-se por impedido. Presidiu a sessão o ministro Espí rito Santo.
Já na Presidência da República, Wenceslau Braz assegurou o cum primento dessa decisão do Supre mo e Nilo assumiu a presidência do Estado do Rio, que exerceu até 5 de maio de 1917, quando foi no meado ministro do Exterior, em substituição a Lauro Muller.

A sessão de 18 de outubro de 1916, marcou um grande dia para o Supremo, pois à sua tribuna as somaram, para sustentar um pe dido de habeas-corpus, dois giganRui Barbosa e Clóvis Bevi-
Foi a ordem ihabeas-corpus n, 4.104) impetrada em favor do ge neral Taumaturgo de Azevedo e do coronel Francisco Ferreira Li ma Bacuri, para assegurar-lhes o direito de livremente prestarem, a 1.0 de janeiro de 1917, o juramen to constitucional e ex:rc:i\m as funções, respectivamente, de go vernador e vice-governador do Es tado do Amazonas, para cujos car gos teriam sido eleitos e reconhe cidos pelo Congresso Legislativo daquele Estado.
Alegavam os impetrantes que. em 1910, fora promulgada a Cons tituição do Estado do Amazonas, qual ex-vi do seu artigo 68 só poderia ser reformada vinte anos depois. No entanto, fora reforma da em 1910, ficando, por este novo estatuto, suprimidos os cargos de vice-governador e senador. Estes, ameaçados da perda dos seus man datos, impetraram habeas-corpus ao Supremo Tribunal que. em 16 de abril de 1913. lhes concedeu, derrogando, portanto Constituição. Desfarte, subsistin do a Constituição de 1910. confor me reconhecera o Tribunal, o Con gresso legítimo era o eleito no re gime daquela Constituição, e não que fora eleito em 1913, sendo por isso evidente que a apuração da eleição do dr. Alcântara Bacea a mesma o
lar para o cargo de governador do Estado não podia prevalecer contra a eleição dos pacientes.
Alcântara Bacelar informou ao Supremo que já estava afeto ao Congresso Legislativo Federal o caso da organização constitucional do Estado.
Não obstante a envergadura dos advogados impetrantes, duas das maiores, senão as maiores figuras do Direito Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal não conheceu do pedido, entre outros motivos por que se tratava de caso exclusiva mente político fora da competên cia do Poder Judiciário.
Em 16 de janeiro de 1919, faleceu Rodrigues Alves, eleito pela segun da vez presidente da República, para o quatriênio 1918-1922, e an tes de que assumisse o cargo. Pe las forças políticas dominantes foi então apontado, como candidato à sua sucessão, Epitácio Pessoa. Enl oposição, surgiu a candidatura de Rui Barbosa que, aceitando-a, — como registrou José Maria Bello — repetiu, já septuagenário, a campanha eleitoral do civilismo, percorrendo diversas regiões do País, inclusive a Bahia, seu Estado tes laqua.
Presidiu a sessão o ministro Es pirito Santo e foi relator o minis tro Oliveira Ribeiro. Subscreveram o acórdão os ministros Manoel Murtinho, Pedro Mibielli, Viveiros ●' de Castro, J. L. Coelho e Campos, André Cavalcanti, Pedro Lessa e Godofredo Cunha. Votaram venci dos os ministros Guimarães Natal, Canuto Saraiva e Sebastião de La cerda.

natal, de cujo governo, paradoxal mente, partira a primeira impug nação ao seu nome.
As dificuldades criadas à sua campanha na Bahia, em especial em Salvador, levaram Rui Barbo sa ao Supremo Tribunal Federal, através de habeas-corpus impe trado em favor dele, candidato, e de seus correligionários por Artur Pinto da Rocha. Os correligioná rios em favor dos quais também se pedia expressamente a ordem eram Miguel Calmon, Pedro Lago, Simões Filho, Medeiros Neto, Vital Soares, Lemos Brito, Pires de Car valho, Altamirando Requião, Otaviano Saback, Américo Barreto, Al berto Pinto Rodrigues da Silveira, Agenor Chaves, Madureira de Pi nho, Mario Leal, Homero Pires, João Mangabeira, Arquimedes Pi res, Alfredo Rui Barbosa e . Caio Monteiro de Barros. Para os meados, o habeas-corpus preven tivo era impetrado individualmen te e de modo extensivo para todos os correligionários e amigos de Rui Barbosa, para que pudessem, no Estado da Bahia, e, principal mente, na cidade do Salvador, sua capital, reunir-se todos em comí cios, nas praças públicas, ruas, teatros, e quaisquer outros recin tos, onde manifestem, livremente, seus pensamentos e opiniões, ameaçados, como se acham todos, de sofrer violências, e impedidos e coagidos, como estão, por abu sos de autoridade dos poderes pú blicos do Estado, representados por sua polícia”. noU
Entre os fatos mencionados pelo impetrante, para justificar o pe rigo iminente de coação, figurou o comício do dia 25 de março, em Salvador, dispersado a tiros por uma malta, aliciada e posta às or dens do chefe de policia, Álvaro Cova, do deputado federal Álvaro Vilas-Boas, e de Carlos Seabra, fi lho do senador J. J. Seabra.
O julgamento desse liabeas-corpus preventivo, na sessão de 2 de abril de 1919, é um dos arrolados pelo ministro Edgard Costa, na sua história dos grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal.
O pedido tomou o n.° 4.781 e te ve como relator Edmundo Lins. A ordem foi concedida, tendo parti cipado do julgamento e votado nesse, sentido o ministro Sebastião de Lacerda. Ele acompanhou in tegralmente o voto do relator, acentuando, no seu que se tratava do exercício de um direito que de via ser garantido.
Outro julgamento arrolado por Edgard Costa, de que participou Sebastião de Lacerda foi o do liaijeas-corpus impetrado em favor de J. J. Seabra, em 1922, e no qual também se examinou o problema das questões políticas e a compe tência do Supremo Tribunal.
Para o quatriênio de 1922-1926, dois candidatos disputaram a vi ce-presidência da Repúb-ica; Ur bano Santos e José Joaquim Sea bra. O Congresso apurou em fa vor do primeiro 447.595 votos e, do segundo, 330.520 votos. Ocor reu, porém, que Urbano Santos fa leceu antes da apuração e o Con-
gresso mandou que se procedesse, no devido tempo, à nova eleição para o cargo dc vicc-presidente da República.
Em favor de Seabra foi impetra da, então ordem de liabeus-corpxLS ao juiz federai da 2.*^ Vara do Dis trito Federal, que era Otávio Kel ly (veio a ser ministro do Supre mo em 1934, ali permanecendo até 1942). O impetrante, Arlindo Leoni, sustentava que o processo elei toral só se findando com a apu ração. e a proclamação do eleito, peio Congresso, enquanto tal não se dava os fatos que atingiam a capacidade política dos sufragados se equiparavam aos que levavam à inelegibilidade; os votos dados a Urbano Santos não podiam, pois, ser computados por se destinarem à pessoa falecida, extinta, e haven do o paciente, J. J. Seabra, obtido maioria absoluta de votos válidos e mais da metade dos que tivera seu competidor, julgava-se titular do mandato a que se candidatara.
Foi a ordem concedida, em sen tença fundamentada, pelo juiz
Otávio Kelly, de cuja decisão o IP Procurador da República Francis co de Andrade e Silva, interpôs recurso para o Supremo Tribunal.
Foi o recurso apreciado em ses são de 2 de julho de 1922. Tomou ele 0 n.° 8.584 e teve como relator 0 ministro Muniz Barreto. Durou o julgamento 8 horas e, afinal, por maioria, o Supremo, conhecendo o recurso e dando-lhe provimento, cassou a ordem concedida.
Sebastião de Lacerda ficou ven cido, juntamente com os ministros
Guimarães Natal, Leòni Ramos, Hermenegildo de Barros e Pedro Mibielli.
O ministro Lacerda entendia que a questão, nos termos que fora pos ta, não só nao era, em absoluto, meramente política, senão que sumia, sem dúvida alguma, aspec to judiciário. No seu entender, ao Congresso cabia, apuração dos sufrágios obtidos pelos candidatos à presidência e à vice-presidência da República; -na contagem dos votos, na anulação ou no reconhecimento da valida de destes, o Congresso tomava de liberações soberanas, subtraído por completo à esfera de outro poder qualquer. Entretanto, terminada a apuração, ficava obrigado a res peitar as soluções estabelecidas no art. 47 da Constituição, pro clamando presidente e vice-presi dente o candidato que houvesse reunido a maioria absoluta de tos dos eleitores, ou elegendo nm dos dois mais votados, no caso de não ter obtido, nenhum deles, aque la maioria. Não havia dúvida, tanto, que o legislador constituin te adotara o princípio da escolha por sufrágio direto da Nação, mas também não era menos verdade que, estabelecendo o sufrágio in direto para as hipóteses previstas no § 2.0 do art. 47 da Constituição de 1891, revelou bem claro tuito de evitar a repetição do plei to. O juiz de primeira instância, que ‘ concedera a ordem, e o impe trante, fundados no elemehto his tórico do dispositivo constitucio nal, tinham provado exuberanteascertamente, a voporo in.j


mente quanto ele era infenso à realização de segunda eleição di- devendo, por conseguinte, reta, naquele caso, ser feita pelo Con- escolha entre os elegiveis gresso a com maior número de sufrágios.
Sustentou, ainda, Sebastião de Lacerda que perdia, em definitivo, capacidade jurídica e ipso facto gozo dos direitos políticos, o can didato que morre durante o pleito eleitoral. Assim, Urbano Santos nada mais representava ao tema ao o que, no mente ao próprio Congresso.
do requisito natural da capacida de eleitoral passiva, as condições especificadas na Constituição e na lei nP 3.208, obtivera ele direito ao cargo. E desse direito o Con gresso não podia privá-lo. esten dendo a outros candidatos uma capacidade que c só ao impetran te ficara reservada, e entregando corpo eleitoral uma escolha caso, pertencia exclusiva¬
Consequentemente, o direito de Seabra era líquido e incontestável, achava lesado pelo ato que po da apuração, nem mesmo po dendo ser tido como candidato, até que ao consumar-se aquela derradeira fase do pleito, não ad quirira, em hipótese alguma, a qualidade de vice-presidente. Fora absurdo presumí-lo vivo, com o fim de declarar vago o cargo, ao qual ainda não tinha direito, ou julgar extinto o mandato em que ainda não havia sido investido. Ordenara a Constituição que o Lee se nos autos se impugnava.
Por tais fundamentos. Sebas tião de Lacerda negava provimen to ao recurso, para confirmar a decisão recorrida, que concedera a ordem impetrada a J. J. Seabra.
Em nossa modesta opinião, o entendimento de Lacerda e dos que como ele ficaram vencidos nesse julgamento é inatacável, coadunava-se com a lei. E a explicação para a decisão do Supremo, de cassar a ordem de haheas-corpus concedida em primeira instância a Seabra deve, ao que entendemos, ser buscada no quadro político, nos interesses políticos do Executivo.
Para o quatriênio 1922-1926, as
gislativo regulasse o processo para a eleição de presidente e vice-pre sidente da República, e o Congreslei vigente então (lei n.° so na 3-208, de 27-12-1916) estabelecera, de forma geral, que seriam nulos todos os sufrágios que recais.sem em cidadão inelegível, consideran do-se eleito 0 imediato em votos, forças dominantes tinham escolhi do para concorrer à presidência da República o presidente do Estado de Minas Gerais, Artur Bernardes, indicação aceita por Epitácio Pes soa que, de acordo com suas con vicções, se recusara a intervir na escolha de seu sucessor. RecusouEpitácio, também, a indicar o vice-presidente, mas acentuou que se tivesse alcançado mais da me tade dos que obtivera o inelegível, devendo, na hipótese contrária, proceder-se à nova eleição. Além de Urbano Santos, existia apenas um candidato à vice-presidência da República — o impetrante, J. J. Seabra. E como realizada a apura ção e reunidos na sua pessoa, além se

se deveria escolher para o cargo um político de um dos Estados do Norte.
Foi assim que surgiram, nos anais governistas, as candidatu ras dos governadores da Bahia, J. J. Seabra, e de Pernambuco, José Bezerra. Os dois Estados eram go vernistas e essa disputa ameaçava a combinação dos paulistas e mi neiros, que tinham retomado a po lítica do “café com leite”. Para evitar o aprofundamento da cisão, interveio, mas sem resultado, Epitácio Pessoa, que, então, alvitrou a indicação de um terceiro candi dato, também do Norte, o qual veio a ser o senador pelo Maranhão, Urbano Santos, que já fora vicepresidente do quatriênio de Wenceslau Braz.
Preteridos,
Seabra Bezerra aderiram aos políticos dissidentes que acabaram lançando à presidên cia da República e à vice-presidên cia as candidaturas de Nilo Peçanha e do próprio governador da Bahia, não obstante Nilo .fvesse sido um dos primeiros a apoiar o nome de Bernardes. Essa compo sição dc forças foi a chamada Rea ção Republicana.
Nesse quadro, cabe perguntar: Bernardes, eleito, gostaria de ter na vice-presidência, e como seu eventual substituto, J. j. Seabra, isto é, o companheiro de chapa de seu adversário nas eleições? Con cedendo o habeas-corpus a Seabra, o Supremo, ou melhor, os minis tros do Supremo que o fizessem não incorreríam nos ódios do pre sidente eleito da República? O fae
to é que o Supremo cassou, por maioria, a ordem concedida em primeira instância, por um juiz de envergadura, como foi Otávio Kelly.
, Se a nós se afigura fundamen tado o pedido feito em favor de Seabra, da mesma forma que incensurável o voto vencido de Se bastião de Lacerda, há quem, com maior autoridade, pense diversa mente. José Maria Bello, o lúcido historiador da República, referin do a esse haheas-corpus em favor do presidente do Estado da Ba hia, diz; “naturalmente o Tribu nal negou o extravagante pedido” (4).
Com a posse de Bernardes na presidência da República, abriu-se um periodo difícil para o Brasil. Não apenas a grave crise econô mica e financeha constituía uma ameaça para o país, mas era in tensa a efervescência política e permanente a ameaça revolucio nária. O chamado, mais tarde, ci clo revolucionário brasileiro já se desatara, com o levante de 5 de julho de 1922, ainda no governo de Epitácio Pessoa, e iria prosse guir, como prosseguiu, acentuadamente, no de Bernardes, em quem os revolucionários, em especial os jovens militares, personificavam todos os vícios que pretendiam er radicar da vida nacional.
Homem de inegável vocação au toritária, adepto da ordem, a qual quer preço, Bernardes governou,
(4) BELLO, José Maria. História da Re publica. Cia. Editora Nacional Sâo Paulo 1959, 4.a Cd. p. 293.
ra
quase todo o tempo, em estado de maiores inimigos de Bernardes, o sítio, o que lhe permitiu a práticâ homem que os correligionário s de arbitrariedades e violências po- deste tinham tentado matar num líticas de toda a sorte. comício realizado em Juiz-de-Fo- durante a campanha eleitoral. Acresce que Maurício de Lacerda era socialista, e, pois, um “inimi go da ordem”, um “revolucioná rio” perigoso, no ver de Bernar des.
No governo de Bernardes o SuTribunal Federal, pela premo maioria de seus juizes, acoelhouse ante o Executivo e apequenouse. Nessa maioria, porém, não se incluiu o ministro Sebastião de Lacerda, homem reto a indepen dente, que não se curvava a im posições que não emanassem de sua consciência. Como juiz do Su premo, não se prestaria, como não se prestou, a homologar os mane jos do Executivo, o que lhe valeu

Para agravar sua situação pes soal, se tal se pode dizer, além de suas precárias condições de saúde, havia a atividade política de seus filhos, decididamente anti-governistas e revolucionárias. Maurício de Lacerda, um dos maiores tribu nos e jornalistas da Primeira Re pública, formando ao lado de Nilo Peçanha na Reação Republicana, combatera veementemente a can didatura de Bernardes e também de seu antecessor, Epitácio Pes soa, o que lhe valeu passar encar cerados, sem condenação judicial, quase todo o governo do político mineiro, depois de ter sido preso, em 1922, pelo político paraibano. Se 0 juiz Lacerda já não era sim pático a Bernardes, pela sua inde pendência e pelo seu liberalismo político muito menos o era o pai de Maurício de Lacerda, um dos
Pior, ainda, ocorria com outros dois filhos do ministro Sebastião de Lacerda, cm termos de coloca ção no quadro da época: os dois formavam entre os comunistas, o Partido Comunista, Seção Brasilei ra da Internacional Comunista, tendo sido fundado em fins de março de 1922. Os dois. também e por isso,' na época conheceram as prisões de Bernardes.
Assim, independente, liberal, oriundo de forças políticas então em oposição ao governo, pai de homens que, ademais de oposicio nistas, eram “revolucionários”, é claro que o ministro Lacerda era considerado “inimigo”, por Ber nardes. pressões e perseguições, e a sua fàmilia.
Sobre o governo de Bernardes há um depoimento precioso: é o de Maurício de Lacerda. Esse depoi mento foi publicado no Rio, em 1927, sob o título “História de uma Covardia quarta capa, o produto de todas as edições, que dele se tirassem, se ria destinado aos expatriados da Coluna Prestes.
“História de uma Covardia” é hoje obra rara, que está a merecer reimpressão. Muitos anos atrás. a e, como impresso na
depois de ter sido vitima de injus tiça inominável, que foi a suspen são de seus direitos políticos, Car los Lacerda aqui em São Paulo cruzava certo dia o centro da ci dade, em nossa companhia, de re torno ao Hotel Jaragiiá, onde costumeiramcntc se hospedava. Ao passarmos defronte dc uma banca onde se vendiam livros usados, ins talada no começo da rua Xavier de Toledo, à entrada da Ladeira da Memória, ele maquinalmente parou para dar uma olhada, ami go como era dos livros. Foi então que lhe dissemos que ali. naquela banca, tínhamos encontrado e comprado, certo dia, a “História de uma Covardia”, acrescentando que, em nossa opinião, era uma obra de interesse, em especial no quadro em que se vivia- A obrervação pareceu ter causado surpre sa a Carlos Lacerda que pergun tou se, de fato, acreditavamos em que a reimpressão dela seria inte ressante. Ante a nossa confirma ção, silenciou.
Podemos supor, todavia, que idéia não foi esquecida porque, pouco antes de sua morte, sua edi tora, a Nova Fronteira, anunciava, com ênfase, a publicação de segunda edição da “História de uma Covardia”. Tudo indica, po rém, que a morte de Carlos Lacer da desorganizou os planos da edi tora. O depoimento de Maurício de Lacerda não foi reimpresso, o que é uma pena, privando as novas gerações de uma informação que, por mais passional que seja, é ne¬
cessária ao conhecimento do que foi a quadra do governo de Artur Bernardes.
Maurício de Lacerda, esclarecen do sua intenção com esse livro, dis se que tinha eni mira apresentar o estado de sítio como ele real mente é: um recurso dos tiranos e não um instrumento da ordem, e, como recurso de tiranos, bárbaro e cruel, além de grande depressor do caráter e da energia, quer dos governos que com ele se intoxicam de um feroz autoritarismo, quer dos povos que por ele se hu milham num vergonhoso incondicionalismo à lei do mais forte”.

“o execraa
Não visava, no entanto, a descobrir a úlcera do estado de sitio para lhe por os remédios e unguentos liberais, que estavam falhando, mas, como acrescentou, que objetivo é expor à çâo um regime que permite essa flora amazônica de delitos do po der e esmirra, no solo da pátria, enfesados, estiolados e requeiniados pelas soalheiras da legalidade. ' Os direitos de todos”. apenas
Ao denunciar os poderes excep cionais de que dispunha Bernar des, para governar, tirânica e di tatorialmente, Maurício de Lacer da apontou a colaboração que ao governo dava o entibiado Supre mo Tribunal Federal; “Ainda, po rem, que nao dispusesse de tais recursos, um não lhe faltaria - o altíssimo Supremo Tribunal é a cúpula do regime, presenta neledessa panela de
que porque rea grande tampa - compadres, em
que acabou a ficção dos três po deres harmônicos e independen tes entre si. Dispondo de poderes tão amplos e irresponsável, pela subserviência dos dois outros, é o presidente um senhor asiático, dos mais absolutos, por quatro anos”.
Maurício de Lacerda apontou, em seu livro, sem rebuços, a per seguição do presidente da Repú blica a seu pai, ministro do Su premo:
outras palavras, até o governo Bemardes, Fontoura era amigo chegado dos Lacerda, e pois estava moralmente impedido de fazer com eles o que fez, às ordens de Bernardes.

'Peito presidente, Ber- vivia
nardes principou a descontar, no Supremo, os votos de meu pai, aqueles mesmos votos que ele re cebera, como candidato, rilhando os dentes — no caso Seabra e em outros eminentemente decisivos de «sua aspiração fatídica de gover nar 0 Brasil — quer a favor dos militares quer em prol dos civis, contra tal aspiração insurgidos, como era de seu direito, dentro da lei”.
Registre-se que na perseguição movida aos Lacerda, Bernardes usou, obviamente, o seu chefe de polícia, marechal Fontoura. Este se prestou ao papel, não obstante fosse padrinho de casamento de Maurício de Lacerda, compadre de um tio deste e, ainda, tivesse sido subordinado de Sebastião de La cerda, no governo Maurício de Abreu, no Estado do Rio. Mais ain da, como relata Maurício, Fontou ra, em 1909, lhe dera, sob o co mando de um cunhado, Nestor Tra vassos, armas, e instruira soldados para resistir à polícia e aos ca pangas políticos que, naquela épo ca, infestavam Vassouras. Por
Durante o governo de Bernardes, Sebastião de Lacerda já estava gravemente enfermo. E por isso, licenciava-se, com frequência do Supremo Tribunal Federal, para tratamento de saúde- Entretanto, governo no constante
temor de que o venerando ancião desistisse da licença, como o fi zera em rumorosos julgamentos, e o voltasse ao Supremo, “pegar a vio lência pelas suas pontudas ore lhas”. Por isso, desejava o governo ver Sebastião de Lacerda aposen tado, e assim definitivamente afastado do Supremo, para ficar livre de seu voto e para colocar em seu lugar alguém que, como a maioria da corte, formasse ao lado de Bernardes. Vários expe dientes se usaram, sem resultado, para que o ministro pedisse apo sentadoria, inclusive promessas de libertação de seus filhos.
Narra Maurício de Lacerda que, em janeiro de 1925, recebeu um recado do marechal Fontoura, em que este lhe comunicava que sua libertação estava próxima e que, por isso mesmo, não convinha que 0 ministro Sebastião de Lacerda descesse do Comércio (a estação da localidade em que se situava a chácara do juiz, agora imortaliza da na obra de Carlos Lacerda) pa ra votar o habeas-corvus de Ed mundo Bitencourt, o corajoso di-
retor do “Correio da Manhã”, jor nal que também combatia Bernar des implacavelmente.
mércio, isto mesmo depois de ter mandado cessar a censura da im prensa.

o enfermava, e o filho medi-
Diante disso, em car.ta ao pai, da qual foi portador o dr. Virgílio Benvenuto, amigo e antigo com panheiro da Correção, Maurício pediu ao pai que interrompesse a licença e fosse ao Supremo, para participar do julgamento da or dem impetrada em favor do jor nalista. Mas, o velho juiz passava por uma grave crise da moléstia, que co, irmão de Maurício, ocultou-lhe pedido. Além de Maurício, então, um outro filho de Sebastião esta va também preso, por ordem do governo.
Cabe aqui uma digressão. Em 10 de janeiro de 1925, Edmundo Bitencourt, por si e como sócio prin^ cipal do “Correio da Manhã”, jor nal por ele fundado, impetrara haheas-corvus a fim de cessar o constrangimento ilegal que sofria sua liberdade e no seu direito de propriedade, por parte do pre sidente da República, o qual, prevalecendo-se do estado de sítio, o retinha preso, incomunicável, ha via seis meses, sem que ele tives se sido sequer interrogado. Além disso, sem motivo nem a alegação ao menos de um pretexto, em 31 de agosto de 1924, o presidente mandara invadir o Manhã” e colocara à porta uma sentinela para vedar a entrada do edifício, do qual se apropriara, de fato, e nessa atitude se mantinha até então, obstando violentamente a publicação do jornal e o seu co¬
O pedido tomou o n.° 14.583 e foi distribuido ao ministro Muniz Barreto, cuja suspeição foi arguida pelo impetrante, através do ad vogado Moniz Sodré. Baseava-se a arguição na notória inimizade en tre o juiz e 0 jornalista, mas Mu niz Barreto não se deu por sus peito.
O pedido foi a julgamento em 21 de janeiro de 1925. Edmundo Biteiicourt requerera seu comparecimento perante o Supremo, a fim de poder analisar as informações que o governo prestasse e melhor discutir o seu direito. Tal pedido foi vetado como preliminar e o resultado já deixou claro qual se ria a sorte da ordem impetrada. Foi rejeitado pelo relator, e pela maioria governista, ministros Ar tur Ribeiro. Geminiano da Fran ca, Pedro dos Santos e Godofredo Cunha. Ficaram vencidos Hermenegildo de Barros, Guimarães Na tal, Leôni Ramos e Pedro Mibielli, sendo que os dois primeiros eram amigos de Sebastião de Lacerda e, como este, juizes independentes e liberais. É provável que essa ami zade remontasse aos tempos de estudante, os três tendo sido temporâneos na Faculdade de São Paulo, como já se apontou. Convertido em diligência para que o governo prestasse informa ções através do ministro da Justi ça 0 julgamento foi retomado em 28 de janeiro. O procurador geral da República Pires e Albuquerque,
con-
fez a defesa do governo e o haTyeas-corpus foi negado contra os votos apenas de Joaquim Xavier Guimarães Natal e Hermenegildo de Barros, os dois amigos de La cerda. Com a tese do governo fi caram 0 relator, Muniz Barreto, e os ministros Artur Ribeiro, Geminiano da Franca, Pedro dos Santos, Godofredo Cunha, Pedro Mibielli e Leóni Ramos.
Guimarães Natal no seu voto de clarou que considerava “inqualifi cável abuso” a prisão de Edmundo Bitencourt, e que a lei não auto rizava a ocupação, como ocorrera, da sede do jornal “Correio da Ma nhã”.
Maurício de Lacerda tratou ime diatamente de avisar seu pai do plano policial, para que ele, se houvesse de fato asilado alguém, lhe desse outro refúgio, de modo a evitar que, descoberto seu para deiro, ficassem sitiados, c:mo em uma toca, e ele, ministro Lacerda, perdesse, no Supremo, o direito de, como juiz, vir um dia a amparálos, sem suspeição, em qualquer habeas-corpus.

quem quisesse e era uma que nao era
E Hermenegildo de Barros, no seu voto, sustentou que a “doutri na de poder o presidente da Repú blica prender a pelo tempo que quisesse, doutrina que não podia subsistir, era uma doutrina constitucional, era uma doutrina que não era jurídica, era uma dou trina que não era mesmo racional”.
Em fins de fevereiro de 1925, Mauricio de Lacerda, na prisão, soube que a polícia preparava-se nada mais nada menos do que para varejar a casa de seu pai, na Estação de Comércio.
Sem conhecimento dos filhos presos o ministro Sebastião de La cerda acolhera na sua casa a pedi do de um amigo vários foragidos políticos, mas ignorando esta con dição, que lhe fora aliás intencio nalmente ocultada. Entre esses fo ragidos estava o tenente Chevalier, alvo do especial ódio do Catete.
Seu portador, porém, chegou tarde. Quando ele subia para o Co mércio, de lá descia um portador do ministro, com uma carta para Mauricio. Nela, o pai lhe rrlatava que necessitara correr da casa agentes da polícia civil que tinham ali ido dar uma busca. Busca na casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, sem qualquer mandado judicial!
O marechal Fontoura, segundo chegou ao conhecimento de Mau ricio de Lacerda, procurara o pre sidente Bernardes par~lhe jurar que ele, Maurício, se encontrava na casa de Comércio, à testa de um troço de militares evadidos, mas bem armados, promovendo, como cabecilha, um movimento que visava a Barra do Piraí, “tudo isso à sombra das imunidades to gadas do ministro”, Sebastião de Lacerda.
A estória era inverossímel e ri dícula, à primeira vista, mormente para o governo que mantinha pre so Maurício de Lacerda. No entan to, foi admitida a denúncia do “Escuridão”, expressivo apelido do
J..

marechal Fontoura, e o ministro da Justiça, Afonso Pena Junior, mandou até abrir uma sindicância, para que ela fosse apurada.
O governo organizou, então, no va expedição policial-militar à chácara do ministro Sebastião de Lacerda, cm Comércio, estação que hoje ostenta o ncme daquele gran de juiz do Supremo.
O próprio ministro Lacerda dei xou o registro da ocorrência, re produzido pelo filho Maurício, na obra-depoimento:
“Invasão de minha chácara. Aos 28 de março de 1925, estando eu a convalescer-me de uma colite, que me acometera na véspera, durante todo 0 dia, despertou-me a noticia de que copiosa força militar da Brigada Policial do Rio de Janei ro penetrara nas minhas chácaras, cercando-me de todos os cantos, enquanto o 3.° delegado auxiliar pretendia falar-me. Entrada essa autoridade até junto do meu leito, ouví-lhe a missão espantosa que trouxera, de ordem direta do dr. Afonso Pena Júnior, ministro da Justiça. Tal incumbência, segundo me declarou certesmente aquele delegado, era de obter minha per missão para uma vista d’oihos den tro em meu domicílio. Isto porque o seu chefe de polícia recebera de núncias de que, em minha casa so abrigavam pessoas necessárias na polícia carioca. “Busca na residên cia de um ministro do Supremo? Nunca!” retorqui-lhes serena e fir memente”. O dr. há de compreen der que só poderia consentir nes sa diligência, sem lesão da digni-
dade do meu cargo, se ela viesse por intermédio da Justiça. Uma diligência policial feriria a ombridade do meu nome e esta hei de mantê-la intata. Podem, se quise rem. fazer a violência; mas a bus ca com o meu consentimento, isso nunca! E, se eu asilasse quem quer que fosse, ainda um criminoso co mum, só o entregaria a um juiz, como eu. O direito de asilo para mim é e será sempre sagrado. O fato, entretanto, se resume em uma denúncia indigna e o miserá vel marechal Fontoura, que já me prendeu dois filhos o os retém no Rio, fora do pai enfermo, há mais de 8 meses, não recuou de me dar ainda golpe pior!”. “Perdão, sr. ministro” — atalhou o delegado — “não é à ordem do marechal que viemos, senão do próprio ministro da Justiça, a quem teremos de transmitir a decisão de V- Ex.®-, que nos recomendou acatar a todo transe”. “Pois diga ao dr. Pena que muito me surpreende partir de S. Ex.^, herdeiro de nome tão vene rando, semelhante desrespeito à minha pessoa, ao nome de um mi nistro do Supremo Tribunal, cheio de serviços à Pátria e à Justiça. E expüque-lhe que, se me recusei à busca foi para resguardar minha autoridade moral, que, diminuída e humilhada com ela, nunca mais poderia eu me sentar com desassombro e distribuir justiça na ele vada cadeira que ocupo. E veja doutor como trabalha para sassinar este governo: prende-me arbitrariamente dois filhos, recusa permitir que eu os veja aqui, doenme as-

“Quatro horas da tarde de 28-3-1925. Prossegue a vigilância policial em torno e dentro das chá caras a ponto de se achar um mi nistro do Supremo Tribunal vir tualmente preso em sua residên cia. Um empregado que mandei fora, para compras, só pode sair com licença do oficial comandan te da força. Quanta vergonha, não para mim que me julgo mui acima dos desacatos deste governo tirâ nico e atrabiliário, mas para minha pobre Pátria”.
“Domingo, 29 de março de 1925. Mantinha firme minha atitude diante das autoridades oficiais e praças que me cercaram a casa e sempre resolvido com a defesa do meu lar, das pessoas que nele se asilaram, a manter à distância, ou por outra, ao tempo, os que vieram a Comércio por mandado deste go verno indigno. Da janela do meu
mas cere viepor comse eu esalis-
te como estou, mesmo escoltados quarto disse a uma das autorida des policiais que a busca que pe diu permissão para fazer só se rea lizaria mediante o arrombamento das portas que eu mandara fechar. Quando eu enfermo assim resguar dava o meu lar e protegia as pes soas que a polícia queria, por mo tivos políticos, prender, fui sur preendido com a noticia de que elas, para me pouparem abalos, ha viam resolvido entregar-se. Nesse momento eu havia dirigido algu mas palavras aos soldados que es tavam nas varandas, em frente ao meu quarto e cômodos anexos, no tando que as minhas palavras pro duziram neles a mais profunda impressão. Alguns afastaram-se respeitosamente do lugar acima indicado e ensarilharam as armas que traziam. A situação entre mim e os emissários do governo se tor nava cada vez mais critica, eu estava resolvido a sustentá-la até ao termo, embora atormentado pela infernal nevralgia que tanto me quebrantava as forças. Em to momento, os generosos moços que eu defendia se reuniram ram dizer-me que preferiam um termo àquela cena que os pungia sem que lhes diminuísse a gratidão pelo meu generoso asilo. “Meus filhos queridos, tivesse vigoroso preferiría tar-me entre os revolucionários a ocupar uma posição que hoje pa ra mim nada vale, porque não me evita a prisão arbitrária de dois filhos, privados de me visitarem, a defesa de meu lar, a proteção dos que nele se asilaram. Sossega o e por uma vez, agora que se agra varam os meus padecimentos; enagentes que me invadeín via-me desatenciosamente a propriedade, obrigando-me a expulsá-los com as próprias mãos; e, por último, le vando ao extremo sua desatenção, numa busca em meu doml- pensa cílio. O governo pode matar-me mas nunca me desautorará sem- o meu protesto solene”. Diante des sa resposta a autoridade despe diu-se, deixando, porém, dentro das próprias chácaras, e em torno de las, toda a força que trouxera. Que miséria! Deus se apiede do Brasil e da pouca gente de caráter, que ainda o habita”.
meu coração ao escrever estas li nhas porque minha conduta devia ser a que tracei. Deus perdoe aque les que concorreram para o des fecho da luta, 0 meu acabrunhamento e quiçá a minha morte”.
“Na mesma data supra 29, es creví, digo, no dia 30 de março de 1925 escrevi a meus dois filhos Maurício, e Paulo a carta que se¬ gue”.
Nessa carta antecipando a mor te que o espera, Sebastião de La cerda disse, entre outras coisas: uma coisa lhes peço: “Agora so Continuem a ser dignos e confiem na energia física e moral de seu pai. Com o que houve foi o meu prestígio de ministro do Supremo Tribunal, de cidadão livre! Depois disto a minha existência é inglória. Devo esperar com resignaçao o mo mento de desaparecer deste mun do. Adeus. A bênção do pai e ami go”. . .
O impacto moral sofrido por Se bastião de Lacerda foi enorme, re sultando num traumatismo que certamente deve ter contribuído abreviar seus dias. Ele dei- para xou escritas as causas que, no seu entender, tinham, contribuído para depauperamento físico e paavanço da moléstia que viria prostrá-lo. E a primeira aponta da era a prisão de Maurício de Lacerda, no governo de Epitácio Pessoa, em julho de 1922.
colhidos — é licito inferir — para a missão: um estava envolvido no sinistro caso de Conrado Niemeyer, que agitou o Rio naquela época, cir culando duas versões sobre sua morte ocorrida numa repartição policial: a de que se suicidara, ver são oficial, e a de que fora assas sinado friamente pela policia, ver são corrente entre o povo; e o ou tro, fora excluido da força flumi nense pelo próprio Sebastião de Lacerda, em 1910, quando fora se cretário geral do governo do Esta do do Rio.

O governo usava de tudo para atingir a família Lacerda. No cerda chácara, em Comércio, sa lientaram-se dois oficiais, tenentes Nadyr e Jovita, especialmente eso seu ra 0 a co
Ante a violação de suas imunidades, o ministro Lacerda apelou para o Supremo que preferiu, po rém, em vez de desagravá-lo, manter-se prudente e comodamente em silêncio. Mais ainda, um mi nistro, da maioria bernardista, deixou claro, no Supremo, que sua casa podia ser vistoriada se a po lícia julgasse útil a diligência à legalidade. Tal ministro tinha um filho que era delegado da policia... Em carta de 3 de abril de 1925, aos filhos Maurício e Paulo, Se bastião dizia que continuava doen te, em Comércio, tudo fazendo pa ra readquirir forças e voltar ao exercício de suas funções como magistrado. E a respeito destas acrescentava:- “Desde o primeiro dia de carreira de magistrado pro curei dar aos julgamentos do Tri bunal uma orientação liberal e firme. Nunca tive, que se possa dizer, naquela corporação um mo mento de vacilação, em frente a abusos e violências de governos.
Que eu possa deixar aos filhos esse patrimônio de honra, de civismo, é o que diariamente imploro ao Criador”.
Em carta de 15 de abril, escrita pela mão do filho Fernando, d z'a Sebastião aos outros dois filhos: “Aguardo qualquer manifestação do Tribunal, para, suficientemente desafrontado do que me fizeram, reassumir o exercício do meu car go, se a saúde m’o consentir, ou solicitar nova licença, caso o dr. Couto m’a aconselhe”.
Sua saúde estava então, real mente, muito abalada. Em carta de 19 de abril de 1925, a Mauricio, o grande Miguel Couto, que médico do ministro, descreve-lhe 0 estado físico e conclui: “Tudo isso significa arterioesclerose, com dilatação da aorta e enfisema pul monar”. Miguel Couto apontou, ainda, nessa carta, o perigo que representava o exercício da função de juiz, num tribunal coletivo, ra Sebastião de Lacerda cluiu por recomendar que ele se conservasse em repouso, ainda por algum tempo.
conveniente a seus interesses, o Executivo, através de ministros do próprio Supremo, ameaçou o mi nistro Lacerda de concessão de li cença para tratamento de saúde sem vencimentos. Aliás, no exame de um dos pedidos de licença por ele formulados, houve um minis tro — Edmundo Lins — que votou nesse sentido, de licença som ven cimentos!
Outro ministro, o valetudinário André Cavalcanti, envolvido no es candaloso “caso da Revista do Su premo”, por mais de uma vez pro curou Sebastião de Lacerda, no hospital em que se encontrava este internado, para convencê-lo aposentar-se ou a licenciar-se. li cença — antecipou — que seria sem vencimentos, como já tinham assentado os ministros! Ao antigo colega do governo Prudente de Mo rais, Lacerda respondeu: rei ministro do Supremo Tribunal”. Dias depois. a era o
Morresegundo registra Maurício Lacerda, o ministro Ed mundo Lins teria sugerido, no Su premo, que se distribuíssem fermo Sebastião de Lacerda os fei tos que lhe tocavam pae conao enna sua “ca no livro da Secretaria, vez que ele não apresentava, escrito, 0 seu pedido de licença. Foi então que Maurício fez que soubessem que, como filho, re cebería os autos dos processos que fossem distribuídos a seu pai e. pura e simplesmente, os poria, fogo. Nenhum processo foi envia-
O estado de saúde e a necessida de da licença passaram então a constituir os argumentos do Exe cutivo para ver se conseguia afas tar Lacerda do Supremo definiti vamente, pela aposentadoria, ou ao menos, se conseguia afastá-?o, tem porariamente, pela licença, impe dindo-o de participar nos julga mentos que diziam respeito à or dem política. Insistindo na aposen tadoria, que era a solução mais

sa uma por com no do.
O governo estava empenhado, então, no afastamento de Sebas-

tião de Lacerda porque estava prestes a ser julgado no Supremo caso de repercussão política: o dos vencimentos ou da liberdade de Jo sé Oiticica, líder anarquista, preso também em julho de 1924 e compa nheiro de prisão de Maurício de Lacerda, Edmundo Bitcncourt, Jo sé Eduardo de Macedo Soares € outros na famosa “Sala da Cape la”. Fora o governo informado de que a esposa de Oiticica. líder anarquista, solicitara a Lacerda que participasse do julgamento.
Tudo isso levou Maurício a re gistrar, no seu depoimento, “a con vicção, em que sempre estive, de que pior do que o sítio e pior do que Bernardes, que dele se servia sem restrições, foram os ministros do Supremo Tribunal Federal, os quais anuiram às violações da lei, aos desmandos da autoridade, às covardias do ditador político, cheios de imunidades, de benesses da lei e da força constitucional, no pináculo mesmo de todos os po deres”.
O último julgamento de que Se bastião de Lacerda participou, no Supremo Tribunal, foi o de um lia'beas-corpus impetrado por ex-alu nos da Escola Militar. Interrom peu ele sua licença e com risco da própria vida, foi julgar o pedido, na sessão de 25 de junho de 1925.
Sebastião de Lacerda votou con cedendo a ordem, mas o habeascorpus foi denegado. O Supremo, como observa, com procedência, Maurício de Lacerda, segundo a doutrina do ministro Pires e Al¬
buquerque, então procurador-ge ral da República, preferiu forta lecer a autoridade do que defen der a lei, que confessava ter sido violada na exclusão dos ex-alunos da Escola Militar, por necessida des de ordem pública.
Nessa ocasião, tendo falecido um irmão de Sebastião, coletor em Petrópolis, o presidente Bernardes. narra Maurício, apressou-se em telegrafar ao ministro, assegurando-lhe estar empenhado em lavrar logo o ato de nomeação de um pri mo dos Lacerda para o cargo.
A resposta do ministro ao presi dente da República foi comparecer ao Supremo e votar pela concessão do habeas-corpus aos jovens da Escola Militar, desta expulsos por terem participado do primeiro 5 de julho (o levante do Porte Co pacabana).
Ao deixar o Supremo, voto ven cido naquele julgamento, Sebas tião de Lacerda, que já sentia a ronda da morte, pediu a Maurício de Lacerda para que fosse enter rado sem a toga de juiz. Naquele dia, quando ele se retirava do re cinto do Tribunal por uma saida oposta a dos ministros, isto é, pela saida do lado do povo, vendo que ele se aprestava para tirar a toga e sentindo uma corrente de ar, Maurício lhe pedira para que não' se desvestisse ao ar corrente, se achava enfermo. Respondeu Se bastião, referindo-se à toga: “Ela está mais doente do depois, em casa, repetiu: enterre com ela, que já nada mais exprime, nem vale”. pois que eu”. E Não me
Sebastião de Lacerda faleceu a 5 de julho de 1925, em sua resi dência da rua do Leão n. 30, bairro
das Laranjeiras, no Rio. Cumprin do sua recomendação, não lhe ves tiram a toga do Supremo Tribunal Federal. Este interpelou a família, para saber se estava cumprindo pedido do ministro falecido ou se deliberara tal por este. A resposta foi a de que se o ministro não ti vesse feito o pedido a família, que não olvidara os agravos a ele fei tos, não lhe vestiria a toga.
Pouco antes da morte.

para a sua
a um juiz excepcional e não ser o seu colega, ainda insepulto, exce ção tamanha, e, antes, como juiz muito digno, a regra geral daquele Tribunal..
O “Correio da Manhã”, que vol tara a circular depois de 10 meses de interrupção provocada pela ocupação policial, registrou os Viltimos instantes que Sebastião de Lacerda passou com o filho Mau rício, a quem permitiram deixar a prisão para assistir à morte do pai. Disse o ministro, segundo o jornal: “Tenho sofrido muito meu filho. Nós temos sofrido muito. Mas res ta-nos, pelo menos, um consolo; temos sofrido por sermos dignos. Meu filho, continue a minha obra! Esteja sempre ao lado dos guidos, dos pequenos, dos humil des, dos que precisam de prote ção” (5)
o minis tro André Cavalcanti ligara o te lefone para a casa de Sebastião de Lacerda. Queria saber se este já morrera mesmo, alegando que cor ria boato nesse sentido e que o Palácio do Catete já estava solici tando providências substituição! Era a vaga de Sebas tião de Lacerda que interessava a Bernardes. perse-
Como sói ocorrer, o ministro da Justiça, Afonso Pena Júnior, mandara cercar a casa de Sebas tião de Lacerda, em Comércio pretendera varejá-la sem autoriza ção judicial, mandou um repre sentante ao velório e Artur Ber nardes enviou, para o mesmo fim, o secretário da Presidência.
Nada sintetiza melhor a vida de Sebastião de Lacerda do que frase por ele mesmo dita no último voto que proferiu no Supremo Tribunal Militar, dias antes de sua morte, naquela sessão a que compareceu para conceder o haheas-corpus re querido pelos jovens excluídos da Escola Militar em função do meiro 5 de julho:
“Comparecerei sereno, rante a justiça de Deus, por não ter querido deixar na ter ra a justiça dos homens como uma palavra vã e sem senti do” (6).
Do que se passou no Supremo, Maurício de Lacerda registrou: Supremo, dois colegas de turma de meu pai não indispor-se com o governo, fazendo-lhe o elogio, e um foi até pretender impedir a homena gem da suspensão dos trabalhos, alegando ser a mesma destinada que que pripe.. .no quiseram mesmo
(5) DULLES, John W. Fosler. Anarquis tas c Comunistas no Brasil. Nova l-rontcira. Rio, 1977; Correio da Manhã. 7. jul 1925' (6) LACERDA, Carlos, avô. Nova Fronteira, Rio, 1977, p. 152. A casa do meu
Algumas considerações sobre o capital
estrangeiro
(Ilegalidade das discriminações sem base na lei federal)
ARNOLDO WALD
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” (Art. 153 § 2.“ da Constituição Federal).
1. Um dos problemas que tem sido recentemente discutidos tan to na área administrativa, como tribunais, é o referente ao re gime jurídico das empresas con troladas por estrangeiros, domici liados ou não no pais, e as restri ções que podem sofrer em virtu de de normas regulamentares fe derais ou de leis estaduais ou mu nicipais. A matéria não tem me recido maiores estudos, até o pre sente momento, mas justifica um dos seus aspectos jurídicos, fase de importantes invesnos
exame numa timentos estrangeiros no país, de vendo ser fixadas, com clareza e ambiguidades, as regras refe- sem rentes ao capital que entra no Brasil e que necessita conhecer as lhes são aplicáveis. nonnas que
2. Temos sempre entendido que, somente em virtude de lei (e não de Decreto ou outro diploma de nivel hierárquico inferior) ral (e não estadual ou municipal), pode haver discriminação entre brasileiros e estrangeiros ou entre brasileiros natos e brasileiros nafede-
O assunto é canãente, em país como o 710SS0, onãe não ohstante as 710SSÜS necessidades, o capital estrangeiro é coml^atido, através dos “slogans" contra as multina cionais.

turalizados. Efetivamente, o prin cipio constitucional estabelece a equiparação de nacionais e estran geiros na forma da lei, que deve ser interpretado como aplicável tanto às pessoas físicas, como às pessoas jurídicas. Consequente mente, só a legislação federal e, nela, os textos de leis em sentido formal é que podem estabelecer uma distinção entre nacionais e estrangeiros pois, se a equipara ção decorre da lei federal, somen te ela é que pode admitir exce ções, que significam, na realida de, a derrogação da norma legis lativa, que não pode ocorrer em virtude de Decretos, Portarias, Instruções ou Avisos.
3. A necessidade de norma legal específica para que possa haver a restrição dos direitos dos estran geiros decorre de vários manda mentos constitucionais. Na reali-

dade, o art. 153 § 23, da Emenda Constitucional n.o I, que decorre de uma longa tradição da legisla ção brasileira, assegura igualmente trangeiros, que não tenha o seu a nacionais e estrangeiros:
“O exercício de qualquer traba lho, ofício ou profissão.”
Trata-se de norma aplicável tanto às pessoas físicas como às pessoas jurídicas, pois, o texto constitucional não faz a respeito qualquer distinção e o intérprefe não pode discriminar no silêncio do texto constitucional. eminente Pontes de Miranda, che gam à conclusão que qualquer dis criminação entre brasileiros e esfundamento na lei rederal é in constitucional, concluindo que mesmo a legislação ordinária fe deral só poderia estabelecer dis tinções com base na Constituição Federal. (Pontes de Miranda, Dez ajios de parece7-es. Rio, Francisco Alves Editor, 1974, vol. I. parecer n.o 20, páginas 193/194).
4. A aplicação do principio constitucional às pessoas jurídi cas e, em particular, às sociedades civis e comerciais decorre da pró pria tradição do nosso direito constitucional inspirado na lição dos publicistas norte-americanos, para os quais a referência consti tucional à pessoa devia pre entendida como abrangente, compreendendo tanto o indivíduo como as corporações. Assim, interpretação da Emenda n.o 14 à Constituição norte-americana, que assegura a todas as pessoas o direito à propriedade, ao due process of law e à igual proteção das leis, a Suprema Corte americana entendeu, desde a segunda meta de do século passado que a norma se aplicava às sociedades comer ciais.
ser semna
6. Não há, pois, qualquer dúvi da. nem na doutrina, nem na ju risprudência brasileira quanto ao princípio de acordo com o qual to da limitação ou restrição dos di reitos dos estrangeiros deve neces sariamente constar em lei, em sen tido formal, em virtude do que dispõe o art. 153 § 2.o da Consti tuição vigente de acordo com o qual:
“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
7. A lei que rege o assunto é fe deral, pois abrange o regime juridico dos estrangeiros que consti tui, incontestavelmente, a matéria de que trata o art. 8.o, inciso XVII. letras “o” e “p” que se referem respectivamente, à “nacionalida(V. Louis H. Pollak, The de, cidadania, naturalização”, e à Constitution and the Supreme “emigração e imigração, entrada. Court, 1966, Creveland <Sc New extradição e expulsão de estranYork, The world publishing Cy, geiros”. vol. r, pág. 286).
8. De qualquer modo a legisla5. Mesmo os juristas que diver- ção sobre direitos e deveres dos gem dessa interpretação, como o estrangeiros sempre foi federal,

como se verifica pelo Decreto-lei n.o 941 de 13.10.1969 (especialmen te titulo IX) c pelo Decreto n.o 66.689, de 11 de junho de 1970, que o regulamentou (titulo X).
9. No tocante ao regime de es trangeiros, devemos acrescentar que a Constituição Federal vigen te (Emenda Constitucional n.o 1) concede competência supleti- nao va aos Estados para legislar a res peito de assunto fart. 8. XVII § único).
10. O principio da igualdade entre nacionais e estrangeiros já constava no art. 3.0 do Código Ci vil e somente durante o Estado Novo, é que algumas normas de nível inferior à lei estabeleceram distinção, que não mais pode uma prevalecer diante do texto consti tucional vigente.
11. Neste sentido é a lição de Haroldo Valladão que a respeito esclarecia, na vigência da Consti tuição de 1967, que:
“Um retrocesso temporário se verificará entre 1937 e 1945, com o regime ditatorial de pre-guerra, na Carta de 1937, e em numerosos Decretos-leis e Decretos e Resoluções discriminatórios, não mais vigen tes em face dos preceitos terminantes da Constituição de 1946, arts. 31, I e 141 e § l.o, e da atual, 9.0,1, 140, §§ 1.0 e 2.0, e 150 e § l.o. íHaroldo Valladão, Direito Inter nacional Privado, Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos S.A., 1968, pág. 402).
12. Ê idêntico o pensamento do Procurador e eminente jurista Dardeau de Carvalho, na sua ex celente monografia sobre a “Situação jurídica de estrangeiros no BrasiV’, na qual salienta:
20 — As restrições constitucio nais impostas aos estrangeiros, co mo Se vê, eram bastante limita das. Mas, entre as Constituições de 1937 e 1946, e mesmo depois desta, surgiram, nas leis ordiná rias, numerosas restrições, não só às atividades dos estrangeiros, co mo às atividades dos próprios na turalizados. Contaram-se, em cer to momento, mais de cem ativida des vedadas aos estrangeiros, mui tas delas sem nenhum amparo constitucional e mesmo ao arrepio da Constituição. Uma das tarefas mais árduas da comissão interministerial que elaborou o ante-projeto do Estatuto (vigente) foi pre cisamente a de proceder à revisão dessas limitações, reduzindo-as ao estritamente necessário e conve niente aos interesses e à seguran ça nacionais, porque, país de imi gração, não pode o Brasil deixar de oferecer incentivos aos estran geiros que nos procuram. Resultou desse exame a fórmula do Titulo IX do Estatuto, anterior, porém, à Emenda Constitucional n.o 1. que passaremos a analisar. (A. Dardeau de Carvalho, Situação Jurídica do estrangeiro no Brasil. S. Paulo, Sugestões Literárias, 1976, pág. 184, n.o 20).
13. Por sua vez, a legislação so bre capital estraneeiro estabelece

o mesmo tratamento para as em presas nacionais e as sob controle de acionistas que não tenliam a nacionalidade brasileira, conforme se verifica do texto peremptório do art. 2.0 da Lei n.o 4.131, de 02.09.1962, que tem a seguinte redação:
Ao capital estrangeiro que se investir no País, será dispensado tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de condições, / SENDO
VEDADAS QUAISQUER DISCRI
MINAÇÕES NÃO PREVISTAS NA PRESENTE LEI”.
14. Comentando o referido arti go, 0 Professor Herculano Borges da Fonseca teve o ensejo de pon derar que:
15. O principio, que se encontra na Lei n.o 4.131, foi reafirmado u
“Quis o legislador, na lei sobre capitais estrangeiros, que estes gozassem de todas as garantias e que não sofressem outras discri minações senão as previstas na Lei n.o 4.131. Essa qualificação é muito útil e evita que, em virtu de de Decretos, Instruções ou Por tarias, se pretenda acrescentar restrições outras, que possam per turbar os investimentos estrangei ros e criar um clima menos favo rável para aqueles que confiem no País e para ele tragam seus bens e capitais”. (Herculano Bor ges da Fonseca, Regime Juvidico do Capital Estrangeiro, Rio de Ja neiro, Editora Letras e Artes, 1963, pág. 67).
no decreto que a regulamentou, com uma única modificação de re dação, que não afeta a norma aplicável ao caso. Efetivamente, enquanto a Lei entendeu que não poderia haver restrições ao capi tal estrangeiro, a não ser aquelas que ela própria estabelecia, o De creto reafirma a equiparação de tratamento entre os capitais na cional e alienígena, ressalvadas as exceções previstas “em lei”, ou se ja, tanto na Lei n.o 4.131, como nos eventuais diplomas posterio res, desde que tenham o nivel de lei em sentido formal (leis ou decretos-leis) elaborados pelo Con gresso Nacional e sancionados pe lo Presidente da República (leis) ou por este baixados e posterior mente aprovados pelo Poder Legis lativo (Decretos-Leis).
16. Na realidade determina o art. 2 do Decreto n.o 55.762, de 17 de fevereiro de 1965 que:
“Art. 2.0 — Ao capital estrangei ro que se investir no Pais será dispensado tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de condi ções, sendo vedadas quaisquer dis criminações não previstas em lei (Lei 4.131, art. 2.o)”.
17. Posteriormente, a legislação federal, que fratou dos estrangei ros, e que consta do Decreto-lei n.o 941, de 1969, e no Decreto n.o 66.689, de 11 de junho de 1970, rei terou o princípio da igualdade e da reserva legal, ou seja, reafir mou a equiparação dos estrangei ros aos nacionais, ressalvados tão

somente as exceções contidas em lei, devendo esta ser entendida no sentido formal.
18. Efetivainente, determina o art. 115 do Decreto lei n.o 941 que:
Art. 115 — O estrangeiro resi dente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasilei ros, nos termos da Constituição Federal e das Leis”.
19. Ensina a respeito José Brito Alves que: u
1 o art. 115 trata do gozo dos direitos, que se distingue do dos direitos. Gozar de
ti exercício direitos é ter a faculdade abstra ta de participar das vantagens que a lei concede; exercer direitos é usar efetivamente dos direitos lei abstratamente ad- cujo gozo a mite. No exercício dos direitos é manifesta realmente a vi- que se da jurídica do cidadão. Não se tra ta mais, no exercício dos direitos, de simples definições abstratas da lei, mas, sim, dos casos reais e con cretos de sua Brito Alves, A Regulamentação do Capital Estrangeiro no Brasil, Rio de Janeiro, Sindicato dos Bancos do Estado da Guanabara, 1975, pá.g aplicação”. (José ●fei 66).
20. Comentando ainda o referi do artigo, Dardeau de Carvalho sua excelente monografia lhe dá a adequada interpretação ao escrever que:
O estrangeiro residente no Bra sil, consoante dispõe o art. 115, pode gozar (faculdade abstrata) de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da na
Constituição e das leis. Em prin cípio, pois, todo direito reconliecido aos brasileiros, na Constituição e nas Leis, pode ser exercido pe los estrangeiros residentes, ressal vadas, porém, as exceções que ex pressamente consignarem”. (Dardeau de Carvalho, obra citada, pág. 179).
21. Cabe, aliás, salientar que o referido diploma fez o levanta mento de todas as limitações aos direitos de estrangeiros para in cluí-las no art. 118, pretendendo apresentar uma enumeração ta xativa das restrições aos estran geiros que, na realidade, só não se tornou exaustiva por terem surgi do outras limitações posteriores em outros diplomas legais.
22. O Decreto n.o 66.689, de 11 de junho de 1970, trata dos direi tos e deveres dos estrangeiros no seu título X (art. 142 e 151), rea firmando de inicio que
“O estrangeiro residente no Bra sil goza de todos os direitos reco nhecidos aos brasileiros, nos ter mos da Constituição Federal e da^ Leis”, (art. 142).
23. O mesmo Decreto contém, 110 seu art. 145, as restrições ao estrangeiro na área civil e comer cial e, no art. 146, as limitações de ordem política, reiterando, as sim, as normas já constantes de
lei.
24. No tocante ao dh-eito ciai, cabe salientar que o § único do art. 60 da antiga Lei das So ciedades Anônimas (Decreto-lei n.o 2627), deteiminava que: u comer-

P“Quando a LEI exigir que todos os acionistas ou certo número de les sejam brasileiros, as ações da companhia ou sociedade anônima revestirão a forma nominativa”. Essa disposição foi mantida pela lei vigente (art. 300 da lei n.o 6404 de 15.12.76).
25. Verifica-se, assim, que sem pre se entendeu que a exigência de nacionalidade brasileira para o exercício de certo tipo de ativi dade comercial ou o controle de certas empresas só podia constar em texto legislativo federal.
26. Recentemente, a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro teve 0 ensejo de titucionalidade de lei local estabeleceu
arguir a meonsque discriminação entre empresas nacionais e es trangeiras para fins de licitação.
Trata-se da Lei Municipal n.o 6, de 27 de junho de 1977, contra a qual foi apresentada, no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, uma representa ção que passou a ter o n.o 15/77 e
está aguardando julgamento. Ofe recida a representação pelo Pro curador Geral da Justiça, o Pre feito, representado pela Procura doria do Estado, ingressou no fei to como litisconsorte e, na peti ção dirigida ao Desembargador Relator, entendeu que a discrimi nação entre empresas estrangei ras e nacionais feria a legislação federal, devendo, pois, ensejar a declaração de inconstitucionalidade de diploma municipal.
27. Concluímos, pois, que qual quer discriminação em virtude da nacionalidade da empresa ou de seus controladores só pode decor rer da Constituição e da lei fede ral, sendo, consequentemente, in constitucionais ou ilegais quais quer normas federais de nível in ferior (Decretos, Portarias, Avi sos, Instruções, Resoluções) quaisquer normas estaduais municipais que estabeleçam tal distinção sem amparo na Consti tuição ou na lei federal.
uma ou ou
ESTADOS UNIDOS: — CORANTES VERMELHOS MATAM
MOSCAS — Através de experiencias realizadas pela Mississipi State University íorarn descobertos dois corantes vermelhos que matam tanto moscas quanto suas larvas. O biólogo James Heitz testou alguns corantes de xanteno em fazendas com criações de aves, gado, equinos, suínos e ovmos, obtendo 75% de sucesso no extermínio das larvas de mosca. Um dos corantes, a eritrosina B, já foj designado como vermelho 3 em relaçao a cosméticos, drogas e alimentos e existem dados bastante amplos sobre sua segurança com relação aos seres humanos. Mais eficiente porém, segundo Heitz, é o rosa-de-bengala, uma versão clorada do vermelho 3.
Contudo, esse corante vermelho azulado não foi ainda De acordo com as pesquisas, após a larva ou
testado suficientemente, uma mosca adulta ter ingerido uma porção do corante, a exposição à luz solar provoca uma “explosão de energia” no interior da mosca me diante a produção de uma única molécula de oxigênio.
CONCEITO DE TECNOLOGIA
JANUÁRIO FRANCISCO MEGALE

Introdução
Dentro do tema proposto para Grupo 17, coube-nos o item: Con ceito de Tecnologia. Procuramos aqui fixar este conceito, © tecer algumas considerações sobre o te ma — tecnologia e sua importân cia para o desenvolvimento nómico-social.
Baseamo-nos nas conferências e na bibliografia indicada no fi nal deste trabalho. As limitações são muitas, desde a formação em área de ciências sociais, as ativi dades profissionais até o tempo escasso para uma mais profunda compreensão do tema.
A tecnologia é /aíor indispensável no desenvolvimento, mas deve vir seguida de uma visão humanistica.
da atividade humana. O pais que tem tecnologia mais avançada, tem mais poder de influência e de decisão. Dai a importância da tecnologia como fonte de poder e de independência. eco-
CiêJida e Tecnologia
A tecnologia se vincula a uma das expressões do Poder Nacio nal, uma vez que a expressão eco nômica está baseada em grande parte na capacidade da nação em absorver e em criar tecnologia própria, adquirindo assim uma relativa independência neste se tor. A tecnologia serve como ins trumento para o aprimoramento das demais expressões do Poder Nacional uma vez que todas são harmonicamente ligadas e inter dependentes.
A própria civilização caminhou a longos passos, em etapas pro gressivas, sobre o domínio de téc nicas, das mais rudimentares até as mais complexas da vida temporânea e em todos os setores
Ciência e tecnologia são tão an tigas quanto o ser humano. Nos primórdios da humanidade, a tec nologia era rústica, surgindo co mo simples extensão das mãos pa ra habilidades manuais. Os conhe cimentos sobre as coisas que cer cavam o espaço habitado eram adquiridos pelo bom senso, por ensaio e erro, envoltos ambos em muitos mitos e crendices. A curio sidade inata permitiu adquirir mais conhecimentos. Ao mesmo tempo em que a experiência era a fonte do aumento de conhecimen tos, a dedução e a indução desen volveram-se como capacidade ló gica de apreensão da realidade material que cercava o grupo so cial primitivo.
con-
A preocupação com a sobrevi vência em meio hostil troiixe ao
homem a busca de recursos de pro teção, alimentação e relativo con forto para o organismo na vida primitiva.
Embora confundidas na origem, hoje distinguimos ciência de tec nologia. Ciência é- o saber por que enquanto tecnologia é o saber cosaber como fazer. É bem ver- mo, dade que ciência e tecnologia ca minham juntas, tão ligadas estão na prática. Hoje a ciência e a tec nologia são aceitas, elogiadas e criticadas por todas as conquistas humanas sobre a matéria, sobre b mundo em que vivemos, com tu do o que de bom nos trouxe, ao lado de uma qualidade de vida que já se deteriora em algumas re giões, pela exploração irracional dos recursos de que dispomos nes te planeta. Ciência e tecnologia surgem como os “deuses benéfi cos” dignos de adoração de um la do, e de outro, como “perversos demônios” estampados no ódio pelos malefícios trazidos pela au tomação, pela poluição. (Niskier, 1972:89)

nossa çao a maneira
ração, localização, posição em re lação aos outros objetos, estamos procurando definir o objeto. Esta atitude do espírito se exprime nu ma ciência descritiva designada pelo sufixo grafia acrescido ao ra dical do objeto em questão. Quan do a inteligência se preocupa em compreender, isto é, em responder às questões que resumem curiosidade: por que? e como?, procurando as leis gerais que pre sidem a existência do objeto, es tamos diante de uma ciência teó rica, significada pelo sufixo logia. Enfim, quando a inteligência ten de a usar o objeto para íazê-lo na rotina das atividades humanas e atribuir-lhe uma funprática na realização de um objetivo, procurando de aplicar e adaptar o objeto à necessidade humana, e a explicar esta utilização de maneira cada vez mais útil, estamos diante de ciência técnica, designada A distinção
uma pelo sufixo tecnia. destes três tipos de conhecimen tos tornou-se clássica na epistemologia contemporânea. Percebeclareza desta distinção enciências designadas por
Emile Callot aponta as três ciências de um objeto enquanto conhecido e estudado pela inteli gência humana. Qualquer que se ja 0 objeto, este pode ser co nhecido cientificamente de três maneiras, segundo a finalidade da inteligência que sobre ele se apli ca. Quando se procura compreen dê-lo tal qual se apresenta espon taneamente na natureza, em sua forma global e em suas qualida des superficiais, captando sua dumos a tre as grafia, logia e tecnia. A ciência moderna se restringe aos ramos de saber conhecidos pela termi nação de logia, e a técnica ou apUda ciência pela terminaO sufixo grafia uma descrição cação ção de tecnia. designa apenas completa do objeto, fase prepara- ciência e a aplicação tória para a deste conhecimento. (Callot, 1957: 1 e 2). Diante desta distinção, pe-

lo critério de objetivo do conhe cimento, qual a posição do concei to de tecnologia, uma vez que es te é composto de dois sufixos re ferentes a preocupação da inteli gência face ao conhecimento do objeto, ou seja, dos sufixos tecnia e logia? Será a tecnologia a ciên cia da técnica, a ciência do por que e do como conhecer e aplicar todos os conhecimentos adquiri dos pelo homem? Exatamente. Tecnologia designa a história dos longos e penosos esforços do ho mem para controlar o meio am biente em beneficio próprio. A tecnologia designa a aplicação de conhecimentos teóricos e a busca de novos conhecimentos decorren tes desta aplicação.
Ciência e tecnologia estão inti mamente ligadas. A Ciência pro picia conhecimento para o desen volvimento e aplicação de tecno logia, e esta, por sua vez, cria condições de novos conhecimentos e novos campos de pesquisa para a ciência. Há um processo con tinuo de interação entre ciência e tecnologia.
Esta interação se dá em três fa¬
1) descoberta de novos conheci mentos;
2) transmissão e operacionalização destes novos conhecimentos adquiridos, e
3) aplicação deste conheciinento.
A tecnologia praticamente é a terceira fase, mas pressupõe ne cessariamente as duas anteriores. O motivo ou a causa para a bus-
ca de novos conhecimentos, novos inventos é a necessidade humana sempre crescente, insaciável. Sem este estimulo, sem este impulso por melhores condições de vida, maior produtividade etc, não teriamos o desejo de pesquisar, de buscar como aplicar a tecnologia nova em nosso processo produti vo de bens e serviços.
Tecnologia e Desenvolvimento Sócio Econômico
Entendemos por desenvolvimen to socioeconôinico a mudança ocorrida nos setores de atividade humana de modo a afetar subs tancialmente o sistema produtivo de bens e serviços bem como a or ganização social e os valores da sociedade. O mero crescimento econômico é fator primordial pa ra o desenvolvimento, mas deve ser seguido por uma melhoria da qualidade de vida para todas as camadas, classes ou estratos da sociedade. A visão humanística do desenvolvimento deve perma necer intacta em qualquer das fa ses do desenvolvimento, do cresci mento econômico, e mesmo em qualquer uma das três grandes fonnas de sociedades existentes no mundo: sociedades primitivas, selvagens ou ágrafas, sociedades rurais e sociedades urbano-industriais. O humanismo é o núcleo, ou pelo menos, deve ser o núcleo de toda organização social, o ho mem é sempre a medida de todas as coisas, de todas as conquistas científicas e tecnológicas. ses;
Ora, se o desenvolvimento socioeconômico pressupõe o cresci mento econômico, neste último a 158).
tecnologia é fator de importân cia capital nos três setores do sis tema produtivo. De fato, é a tec nologia, decorrente da pesquisa cientifica que vai aumentar a pro dutividade, que vai propiciar noempregos, que vai garantir melhores condições sanitárias, edu cacionais, etc. A tecnologia é a pe dra angular de todo o desenvolvi mento. A industrialização sem a tecnologia não passaria do pro cesso primitivo que conhecemos nos povos agrafos e no meio rural atrasado. A tecnologia acompa nha 0 desenvolvimento em todas
vos

as suas fases. “Cada modo de vi ver do homem é uma resposta à sua circunstância. Cada ambiente e localização geográfica, com seu clima próprio, condições topográ ficas, altitude, latitude, cria soli citações e propicia soluções que seriam todas diferenciadas e di versas não fora o intercâmbio de experiências que ocorre no comér cio exterior” (Junqueira, 1978:14).
O desenvolvimento ao solicitar mais recursos e melhores condi ções de vida condiciona a pesqui sa e a aplicação imediata desta na tecnologia aplicada; estas, por sua vez, impulsionarão o cresci mento econômico num contínuo. É claro que há sempre o risco do próprio industrialisnio tecnológico em esvaziar sistemati camente 0 conteúdo humano, ten do assim a substituir no indivíduo o desejo de ser pelo desejo de ter,
de possuir cada vez mais na so ciedade de consumo (Morais, 1977;
A revolução tecnológica propicia e condiciona a evolução sociocultural, Revolução tecnológica aqui quer dizer transformações prodi giosas no equipamento de ação humana sobre a natureza, de ou de ação bélica, que correspondem a alterações qualitativas em todo o modo de ser sociocultural das sociedades (Ribeiro, 1968:34). As diversas etapas da evolução socio cultural da humanidade foram to das marcadas por revoluções tec nológicas: revolução agrícola, re volução urbana, revolução do regadio, revolução metalúrgica, re volução pastoril, revolução mer cantil, revolução industrial e re volução termonuclear. Todas estas revoluções são caracterizadas por processos tecnológicos novos, que induziram mudanças substanciais na própria organização social c nos valores de cada povo onde ocorreram.
A tecnologia foi e está sendo o motor da civilização contemporâ nea, trazendo os benefícios do pro gresso, do desenvolvimento, e as consequências nefastas do mesmo progresso. A poluição e a quebra constante do equilíbrio ecológico processo já se fazem sentir não só nos paí ses altamente desenvolvidos, mas também nos países em desenvol vimento. Somente uma tomada do consciência e consequente ação normativa poderão garantir o em prego racional da tecnologia, mi-
nimizando os prejuízos ecológicos e protegendo a qualidade de vida da humanidade.
CONCLUSÃO
desafio da circunstância. Jornal “O Estado de São Paulo” Suple mento Cultural, Ano II n.o 101; 14-15.
Morais, J.F. Regis de — 1977 — Ciência e tecnologia. Introdução metodológica e crítica. São Paulo, Cortez & Morais Ltda, 181p.
Niskier, Arnaldo impacto da tecnologia. Rio, Ed. Bloch; 266p.
Ribeiro, Darcy — 1968 — Estu dos de Antropologia da civilização I — O processo civilizatório. Eta pas da evolução soclocultural. Rio; Civilização Brasileira; 265p. (Perspectivas do homem vol. 44 Série Antropologia).
A7ie.ro
Etapas da Evohição Sociocultural (l) zer
mem como deste planeta.
cas
Anexos: Etapas da evolução so ciocultural e revoluções tecnológicorrespondentes (Ponte: Dar cy Ribeiro, 1968).
Revoluções Tecnológicas, respec tivos processos civiUzatórios e Formações Socioculturais corres pondentes
1 — Revolução Agrícola
2 — Revolução Urbana
3 — Revolução do Regadio
Vimos muito rapidamente a dis tinção entre ciência e tecnologia e a interrelação entre tecnologia e desenvolvimento A tecnologia é fator indispensável no desenvolvimento, mas deve vir seguida de uma visão humanistica, a qual a humanidade toda socioeconõmico. O 1972 sem sairá prejudicada num mundo on de a qualidade de vida deteriorará cada vez mais. A participação nos frutos da tecnologia deverá abran ger todas as camadas ou classes sociais com um mínimo de bem estar para os setores mais despre parados e mais pobres da socieda de. A tecnologia é uma utilíssima ferramenta ao progresso da huma nidade, mas seu abuso poderá traconsequências danosas ao ho0 habitante racional ^4
Callot, Emile — 1957 L’Histoiet la géographie au point de sociologique. Paris, Ed. Berre vue ger-Levrault; 287p.

4 — Revolução Metalúrgica
bibliografia ■l
5 — Revolução Pastoril
6 — Revolução Mercantil
7 — Revolução Industrial
8 — Revolução Termonuclear
^ — Povos tribais: Aldeias Agrí colas indiferenciadas Pastoris nômades
Junqueira, J.L. de Almeida — 1978 — Tecnologia: resposta ao Hordas
2 e 3 — Etnias Nacionais: Esta dos Rurais artesanais - Impérios Teocráticos de Regadio
4^ 5 e 6 — Civilizações Regionais: Impérios Mercantis escravistasImpérios Despóticos salvacionistas - Chefias Pastoris Nômades - Ca pitalismo Mercantil - Colonialis mo escravista - Colonialismo Mer cantil
7 e 8 — Civilizações Mundiais: Imperialismo Industrial - Colonia lismo de povoamento nialismo

(1)
nário - Socialismo Evolutivo - Na cionalismo Modernizador NeocoloSocialismo RevolucioTranscrito resumidamente de "O Processo CiviUzatório”, con forme citação feita.
^ST^OS UNIDOS: — PLÁSTICOS: CRESCIMENTO REFREADO
PELA MATURIDADE — A Indústria de plásticos norte-americana está amadurecendo e, como resultado, seu crescimento tornar-se-á um tanto ^to, de acordo com uma análise econômica efetuada pela Charles H. Hme & Co. O prognóstico da firma, de um crescimento anual de 0,7% até 1980, contrasta, grandemente, com os índices de dois dígitos experimentados até 1972. Os materiais plásticos e as resinas, que repre sentam 14,3 /o dos embarques da indústria química, são ainda o seg- mento de crescimento mais rápida dessa indústria. De acordo com o relatório, os embarques domésticos nos Estados Unidos de polímeros TToe^ii e ^o^^l^zaram 33 bilhões de libras, avaliados em 11,b oilhoes. O processamento destes polímeros em produtos plás ticos acrescentou USS^ 28,6 bilhões às vendas, elevando o total da indús tria a US$ 40,2 bilhões. Os sinais do primeiro nível de maturidade estão sendo observados em certos tipos de produtos tais como os fenólícos (dentro do grupo dos termofixos) e os celulósicos. Prevê-se tam bém que os plásticos especiais (principalmente os polímeros termofixos de baixo volume), que representam 13% do consumo total, crescerão menos que a média de crescimento da indústria, exceção neste grupo são os 650 milhões de libras de plásticos de enge nharia, cujo índice de crescimento anual é estimado em 12%. Outros polímeros com índices de crescimento anual acima da média são: acrinonitrila-butadieno-estireno (12,9%), acrílicos (11%), polietileno de alta densidade (10,7_%) e poliésteres não-saturados (10,4%). A previsão para o polipropileno, o cloreto de polivinil e o polietileno de baixa den sidade é que tais materiais apresentarão um índice de crescimento ligei ramente mais rápido do que o índice médio da indústria. Desde meados da década de sessenta que o desenvolvimentode novos produtos alcançou um platô. A Kline relata que apenas alguns novos materiais especiais foram desenvolvidos desde então — por exemplo, poliéster termoplástico para peças eletrônicas (1970), polibutileno para tubulação e em balagem (1973) e resinas de barreira de nitrilo para garrafas (1975). Entretanto, uma

Desestofezação - intenção e realidade
MARCEL DOMINGOS SOLIMEO
presidente João Baptista de Figueiredo, no discurso de apresentação de seu Ministé rio, ao definir as linhas ge rais de seu programa afir mou que seu Governo estimulará a iniciativa privada e que “a aber tura política exige maior latitude de iniciativa, menor ingerência economia, relações mais livres e igualitárias entre os poderes da . Recomendou aos Ministros
na naçao então apresentados “que propomediclas necessárias à nham as privatização das empresas e servi ços estatais, não estritamente in dispensáveis à correção de imper feições do mercado, ou a atender às exigências da segurança nacional”.
Parece-nos que não poderia ser mais clara a manifestação de in tenção do General de promover a desestatização da economia brasiPode-se, contudo, indagar caminho anunciado é o que leira. se o melhor conduzirá à consecução desse objetivo. A transferência de algumas empresas hoje em poder do setor público para o privado representa ato concreto de deses tatização mas não assegura que o de estatização da economia grau brasileira esteja se reduzindo. Se não forem atacadas as causas que conduziram a um acelerado avan ço da estatização esse avanço po derá continuar rnesmo com a pas-
O autoi' estuda a questão, muito attial, da estatização da ecoiiomia, iormulando a esperança de que o governo ataque as suas camisas. sagem de algumas empresas da órbita do Estado para a particular. Entendo que qualquer programa de desestatização deve procurar em primeiro lugar deter o proces so de crescimento da participação estatal na economia atuando so- ’ bre as causas que tem levado a esse crescimento. Como segunda etapa poder-se-ia transferir para 0 setor privado, ou simplesmente desativar, algumas empresas que, ostensivamente, atuam em áreas indevidas para o setor público. Em uma fase posterior, depois de detido 0 processo de crescimento e de corrigidas as distorções exis tentes poder-se-ia executar en tão um processo de desestatiza ção envolvendo empresas de maior porte que atuam em setores “não estritamente indispensáveis à cor reção de imperfeições do merca do, ou a atender às exigências da segurança nacional.
A discussão sobre os limites da participação do Estado na econo mia é um tema extremamente complexo e que extravasa o cam po puramente econômico, exigin do da parte do analista opções de
r natureza política. O que se pro cura na análise da “intervenção estatal na economia” é encontrar os limites que essa intervenção pode atingir sem descaracterizar 0 que se convencionou chamar de regime de economia mista de mer cado, que é o prevalecente no País. Busca-se verificar até que ponto a intervenção estatal pode aumen tar a eficiência do sistema eco nômico, mantendo as característi cas básicas do regime, consagra das na Constituição, que pressu põe o primado da livre empresa no processo de desenvolvimento.
Nos países em desenvolvimento, como é 0 nosso, o Estado pode de sempenhar importante papel na tarefa do crescimento. E aqui não me parece tanto importante dis cutir 0 grau de participação, mas sim qual tem sido a tendência, para uma extrapolação para um futuro próximo e um futuro mais distante. Nas economias moder nas, é inquestionável a presença do Estado como órgão regulador das atividades econômicas. Hoje, admite-se, também, a pres-nça direta do Estado, mesmo como executor direto de serviços. O que se deve procurar é um grau ade quado para a participação do Es tado. Mais ainda, deve-se procu rar a forma e o caminho mais efi cientes para a promoção do de senvolvimento. Porque feita de forma ineficiente, a participação do Estado será prejudicial mesmo naqueles setores onde se justifica ria sua presença. -
Partindo-se da decisão política de que deve caber, preferencial mente, à livre empresa a realiza ção dos empreendimentos de cará ter econômico, é preciso que a ação governamental seja coerente com ela, garantindo e facilitando o fun cionamento das instituições sobre as quais se apóia a iniciativa pri vada: direito e propriedade, liber dade de consumo, do trabalho e de produção, e reconhecimento do lu cro como objetivo do empreende dor privado, ressalvados, natural mente, os demais princípios esta belecidos no Art. 157 da Carta Magna, que, junto com a liberda de de iniciativa, definem a Ordem Econômica, a saber: valorização do trabalho; função social da pro priedade; harmonia e solidarieda de dos fatores de produção; de senvolvimento econômico, e re pressão ao abuso do poder econô mico. É necessário, principalmen te, assegurar o funcionamento adequado do sistema de preços . através do qual, em uma econo mia de mercado, se coordena a atividade dos produtores e consu midores. Este é um ponto de fun damental importância, pois em períodos de inflação prolongada, como temos experimentado, é no sistema de preços que se verificam as maiores distorções da interven ção governamental. Qualquer me dida ou intervenção do Estado que afeta a essência de qualquer uma dessas instituições, gera contradi ções no sistema econômico, que di ficilmente podem ser resolvidas com base no primado da livre em-

presa. É preciso que se garanta a existência daquelas instituições e um funcionamento relativamente livre do sistema de preços, para que a intervenção estatal se faça nos limites definidos, de forma bastante genérica, na Constitui ção. Não Se pretende questionar o direito do Estado intervir na Eco nomia, mas apenas enfatizar que é difícil conciliar o principio da iniciativa privada, com a elimina ção ou deformação profunda das instituições que constituem sua base. Quando ocorre essa elimina ção, ou essa deformação, a inter venção progressiva do Estado se torna inevitável: cada intervenção do Estado que acarreta distorções, redunda em novas intervenções do Estado visando a corrigir tais dis torções.
tarifas públicas; e alguns casos, surtos nacionalistas e estatizantes, que se manifestaram em algu mas épocas, como na criação da Petrobrãs, quase 30 anos atrás, com o famoso movimento do “O Petróleo é Nosso”.
Acredito, porém, que o fator mais importante desse processo tenha a inflação como base. A in-- % fiação corrói todo o sistema de preços, e acaba sempre levando o Estado a intervir, em busca de corrigir as distorções, com o que ; J se produzem novas distorções. Ou- ^ tro fator, que se fez sentir princi palmente a partir de 1964, foi a própria política antünflacionária. Basicamente, o principal foco da inflação, antes de 1964, era cons tituído pelos deficits de caixa do Tesouro. Os governos revolucioná rios, especialmente o primeiro,' tu do fizeram para subjugar esse fo co da inflação, com forte elevação da carga tributária — contribuin do bastante, para aumentar a par ticipação do Estado na economia do Pais. À medida em que o Esta do aumenta sua participação, no bolo, através do aumento de car ga tributária, retira recursos do setor privado.
Um aspecto da atividade do Es tado, que só mais recentemente tem sido estudado, é a sua parti cipação direta na economia, atra vés de empresas. Entre res empresas brasileiras atuais tão sempre as empresas estatais. Basta ver a Petrobrãs, grande presa até em termos mundiais, bsm como o caso do Banco do Brasil,

E é muitx) difícil, a vosteriori. determinar as causas que levaram à acentuada participação atual do Estado na nossa economia, seja através dos mecanismos indiretos, através de suas empresas. ■a seja Uma dessas causas é a maior com plexidade das relações econômicas resultante do processo de cresci mento experimentado pelo Pais; depois, o próprio processo de in dustrialização, calcado no mode lo de substituição das importações e em um modelo nitidamente pro tecionista; a necessidade de criacão de serviços básicos, que du rante alguns anos ficaram estag nados, principalmente em resul tado de intervenções ineficientes do próprio Estado no tocante às . H ■ as maioesem-

pandir-se, têm novos recursos a qualquer momento; quando pre cisam captar recursos lá fora, tém o aval do Tesouro Nacional. Além do mais, quase todas elas atuam em setores onde detêm ou um mo nopólio de direito ou um monopó lio de fato. Além disso, contam com uma série de privilégios: só recentemente estão sendo obriga das a pagar Imposto de Renda. Elas já iniciam com forte base da capitalização, atuam em setores monopolistas, e, sem um poder co ercitivo para controlar seus pre ços, praticamente elas tém um po der de tributação sobre a ativida de econômica. Elas, na verdade, conseguiram acumular tão inten samente seus recursos de forma
que não tinham capacidade ou in teresses em reinvestir em suas ati¬ na
da Vale do Rio Doce e inúmeras outras. Uma característica dessas empresas estatais é a dí.versificade suas atividades. Normalmente, essas empresas são criadas com finalidade especifica: a Petrobrás foi especificamente cria da para dar auto-suficiência de petróleo ao Brasil, e hoje - atua numa série de atividades outras; a Vale do Rio Doce, criada para dar vasão aos minérios onde atua, ho je opera no reflorestamento, na pesquisa do ouro, em engenharia, e tem até uma subsidiária nas Bahamas. A Petrobrâs tem subsiçao diária por toda parte, e ainda atua na área de insumos básicos, condi cionando as atividades de todo um complexo industrial desenvolvido pelo setor privado. Grande núme ro de empresas privadas estão dependência de fornecimento de vidades básicas, por isso passaram matéria prima pela Petrobrâs, é monopolista. O mesmo
que a reinvestir em outras atividades, ocorre altamente lucrativas, deslocando em relação à barrilha afeta à Cia.
Nacional de Álcalis e muitos ou tros insumos básicos. O poder do Estado não reside só no que suas empresas representam, mas tam bém pelo condicionamento com que ela pode alcançar determina dos setores.
Qual é 0 fator principal a ex plicar esse rápido crescimento das empresas estatais, quando as em presas privadas estão enfrentando tantas dificuldades para seu de senvolvimento? Sem dúvida, o fator principal é o ca pital. Para sua constituição, as empresas estatais têm capital a custo zero; quando precisam exdas empresas estatais economia. sombra de
a empresa privada de muitos se tores que lhe eram característi cos: — Mas o problema da parti cipação da empresa estatal não é apenas quantitativo; os dados quantitativos são bastante expres sivos, mas extrapolando, como se faz em outro estudo para a CONCLAP, todos os investimentos das empresas governamentais, encontra-se forte tendência para cres cimento participando da nossa E temos que verificar também o aspecto qualitativo. Como medir a eficiência de uma empresa esta tal? Analisar seu balanço e encon trar o lucro, será um critério ra¬

zoável? Quem tem abundância de capital, monopólio e o Governo por trás, tem lucro muito fácil. Inclusive porque o objetivo da em presa estatal não é o lucro, mas sim atender uma finalidade espe cífica, para a qual foi criada. Só vejo um critério para medir a efi ciência: verificar até que ponto ela atingiu o objetivo para o qual foi criada. A Petrobrâs foi criada para dar auto-suficiência de pe tróleo ao Brasil. Não discuto se fez outras coisas ou não. Mas, face ao objetivo para o qual foi criada, ela não se mostrou eficiente. E está faltando um estudo no Bra sil — sobre a participação das em presas estatais, quanto a esse as pecto qualitativo: quantas delas realmente se mostraram eficien tes em atingir os objetivos? — E outro ponto: até que ponto o Go verno controla, efetivamente, as empresas que cria? E até que pon to essas empresas condicionam a atitude do Governo? O I e o Et PND talvez representem muito interesses de expansão
muitos deles se afastassem dos seus objetivos iniciais. — Agora, submeter essas empresas á pres tação de contas perante imi tri bunal de contas, não resolve nada. Eles vão verificar apenas a pro babilidade administrativa no uso dos recursos, não o problema da política da criação das empresas. Na medida em que essas empresas crescem e vão adquirindo um po der político, torna-se muito mais dificil condicioná-las a uma orien tação geral.
Outro ponto importante considerar é o que acontece com os recursos financeiros, no País. O Governo montou lun mecanismo compulsório de captação de recur sos: 0 FGTS, logo após a Revolu ção, depois 0 PIS, o depósito com pulsório para importação e o mes mo para o turismo. Mesmo rever tendo ao setor privado — e mui tos deles revertem, em forma de empréstimos — quem diz qual o setor que será .beneficiado, é o Go verno. Então, ele direciona a eco nomia. Além disso, o Governo tem hoje uma participação muito gran de, e crescente, nos recursos vo luntários. A participação do Banco do Brasil e dos Bancos Estaduais no crédito é superior a 60%,. Nas poupanças populares, Econômicas têm crescido a um rit mo vertiginoso. Então o Governo, além de ter montado um mo para drenagem de através de vias compulsórias, mo PIS, FGTS, etc., está avançan do violentamente voluntárias, através de a se mais os das empresas estatais do que, real mente, as aspirações gerais da co letividade. Porque essas empresas acabam adquirindo vida própria e alto grau de autonomia, criando dilema muito sério. Muitas dessas empresas foram criadas com vis tas a uma flexibilidade operacio nal: órgãos burocráticos foram transformados em empresas, com essa finalidade. Na medida em que tal flexibilidade foi concedida. Governo perdeu seu controle so bre aqueles órgãos, permitindo que as Caixas mecanisrecursos coo nas poupanças seus agen-
tes financeiros. Sem uma política consciente e deliberada do Goversentido de reduzir sua par- no, no ticipação na canalização dos re~ ele pode tomar todas as cursos, medidas já anunciadas e por anunciar, que isso não será sufi ciente. Porque, quem vai determicrescimento dos setores é o nar o fator capitalização, e o Governo detêm quase a totalidade dos re cursos disponiveis no País, e mesaplicando através do setor pri vado, é ele quem direciona.
Parece, portanto, que, para se proceder a uma efetiva reversão dà tendência de crescimento da participação do Estado na econo mia é necessário muito mais do

ifica a sua manutenção em mãos do Estado. Fraccionaria também o poder político dessas empresas, muitas das quais, graças a seu gi gantismo, se superpõe aos Minis térios a que estão subordinadas, o que permitiria controle mais efe tivo de seus objetivos.
Os lucros das empresas estatais devem também ser cuidadosamen te analisados tanto em relação a sua origem como destino. Quanto a origem para verificar se os lu cros não estão sendo obtidos pe la imposição de onus excessivos à coletividade em virtude de poder monopolístico (de direito ou de fato). Com relação ao destino paao invés de aplicado em mo ra que atividades diferentes seja distribuido ao acionista principal (o Governo) aquilo que exceder ao necessário para os reinvestimentos indispensáveis para que a em presa cumpra (ou venha a atin gir) o objetivo para a qual foi criada. Não tem sentido o Goverrecorrer a empréstimos (ou emissão, ou tributação) para ob ter recursos para atender algumas de suas empresas enquanto outras aplicam seus excedentes (que per tencem aos acionistas) no merca do financeiro ou em outras ativi-
que a passagem de algumas em presas de secundária importância do setor público para o privado. Em primeiro lugar é necessário 0 combate à inflação, combate es se que tem que envolver também o próprio setor público. Depois é necessário criar-se mecanismos para fortalecer a capitalização da empresa privada nacional. Isso só será possível com a canalização de parcela significativa da pança para o mercado acionário o que implica em o Governo liberar essa poupança hoje extremamen te concentrada (não só a compul sória como a voluntária) nas mãos do setor público.
no pou-
O fracionamento dos conglome rados estatais, transformando as subsidiárias em empresas indepen dentes permitirá melhor avaliação do desempenho de cada uma e ve rificar-se até que ponto se justí-
dades.
Esperamos que o programa de desestatização do Governo Figuei redo ataque as causas que leva ram a estátização crescente da economia brasileira e não se limi te a alguns efeitos menos impor tantes desse processo.
ACivDliz0ção Ocidental Cristã
J.
O. DE
MEIRA PENNA
expressão ●' civilização ociden tal cristã” tem sido objeto de criticas sarcásticas por parte daqueles para os quais o Cris tianismo não mais seria um fa tor influente no desenvolvimento da humanidade civilizada. E a invoca ção de Cristianismo em defesa de “estruturas obsoletas” seria um re curso desmoralizado, para a defesa de indignos interesses capitalistas burgueses ou imperialistas da socie dade de consumo. Que sentido faz hoje falar em Cristianismo numa so ciedade inteiramente materializada, secularizada e interessada apenas na satisfação de seu egoismo? Como se pode qualificar de “cristãos” po vos responsáveis pelo horror de duas guerras mundiais, o holocaus to judaico e a bomba de Hiroxima? A estas perguntas cabe responder, receio de ridiculo. Há bases
A opinião publica marxista assis~ iiu com per-feita serenidade e equanimidade ao genocídio perpe trado pelo Khmer vermelho no Camboja e à invasão desse pais pelo exército vietnairiita, apoia do pela União Soxnética. O autor è embaixador de carreira.

tríplice origem judaica, helênica e romana, equivale a fazer tabula rasa de toda tradição, segundo os dese jos dos marxistas. A essência es piritual da sociedade cristã é que ela possui uma consciência e um sentimento de culpa. Isto é, que reconhece plenamente o contraste entre a realidade pragmática de sua história e o paradigma ideal que exalta e venera.
A sociedade cristã histórica é a mesma que empreendeu a 4.a Cru zada, deturpando seu objetivo e sa queando Constantinopla. E também a que, ao tomar Jerusalém na Pri meira Cruzada, massacrou toda a população civil da Cidade Santa. Também a que gerou Torquemada, realizou o massacre de São Barto^ lomeu e, nas guerras de religião, tor- turou e queimou em nome da Pé -vimento de pessoas, a livre troca de Aquela que alegando a propagação ideias e de opmioes, ao exame de do Cristianismo, é responsávíl pe- consciencia na política e na econo- los horrores da Conquista nas Amé, , ricas, e também a que instaurou a Ignorar que essa abertura é con- escravidão negra. Em Cajamarca, sequencia do Cristianismo, em sua no Peru, os padres que acompanha¬ sem para a referência à civilização cris tã ocidental, como contrastando com toda sociedade neopagã e to talitária. O que distingue a nossa de todas as outras sociedades é que ela constitui, na expressão de Bergson em obra de clássica beleza, uma sociedade aberta. Mesmo quando os princípios políticos que a nor teiam possam parecer imperfeitos ou condenáveis, ela é aberta ao mo¬
pode e não deve ser confundido com Até mesmo romano, Marco
Pizarro apresentaram os Evan- vam gelhos ao inca Atahualpa e, como este não compreendesse o gesto pérfido e jogasse a Bíblia ao chão, invocaram o falso sacrilégio para, gritos, incentivar os soldados a a polis ateniense real. lun Imperador Aurélio, soube distinguir a Roma o império ideal que governava e abarcando toda a Humanidade. Em S. Agostinho está difinitivamente implantada, em sólidas ba ses filosóficas e teológicas, a distin ção entre os dois amores e as duas cidades. Não é possível confundir a Cidade de Deus com qualquer instituição existente neste mundo. A própria Igreja apenas reflete, na história, a Ecclcsia perfeita e eter na da Civitas Dei.
aos massacrar, às centenas, os desarma dos guardas do potentado.
Crueldades, traições, guerras, in vasões, opressões foram, no correr dos séculos, perpetradas em nome de Cristo e, em seu nome, mil vezes mais inocentes foram sacrificados do que todos os mártires que são heróis de nossa fé. coisas são verdadeiras, reconhecidas.
Todas essas Todas são Muitas injustiças mais clamorosas foram perpetradas por povos cristãos do que por não cristãos. Mas devemos, assim mes mo, repelir como hipócrita o quali ficativo de cristãos que damos povos ocidentais?
Dois argumentos podemos invocar em favor da tese. O primeiro é que possuímos uma tradição mais duas vezes milenar. aos que O segundo é que, repetindo o que disse Graham Greene numa conferência pronun ciada em 1948, “talvez com nada mais possamos contar do que com uma mente dividida, uma consciên cia inquieta e o sentido do malo gro pessoal”. A consciência cristã constitui o único sinal satisfatório da vigência de uma civilização cristã.

Com esta distinção, atuante na al ma de todos os fiéis, nasceu em todo cristão o angustiante senti mento de culpa, a consciência divi dida, a tensão que nos estraçalha entre o que é e o que deveria ser. A tensão é adequadamente expressa pelo malogro e desespero de um deus crucificado entre dois ladrões. Ê ela que nos faz reconhecer a in justiça, mesmo quando a pratica mos. Que nos permite indigitar nosso egoismo, mesmo quando an siamos pelo ato de caridade. Que nos obriga a pensar e nos força a sentir o crime em nosso meio. O
que é cristão é o sentimento pro fundo da nossa própria inadequa ção, em confronto com os princípios que proclamamos.
A tradição cristã é anterior próprio Cristianismo. Já nas objurgações dos profetas de Israel distinguimos o Reino de Deus das estru turas políticas pragmáticas. Platão, a República ideal é um pa radigma transcendente que não ao a Em
O Cristianismo se manifesta no comportamento de um Thomas à Becket, subitamente convencido que hora de Deus sobrepuja a sua fidelidade ao amigo e soberano, Henrique II Plantageneta. E este, mesmo quando ordena o assassinato de Thomas pelos seus sequazes, ar-
repende-se e ordena aos monges que o açoitem em ato público de contrição.
O Cristianismo é o Imperador Carlos V, retirando-se para um mos teiro após uma vida dedicada à am bição e à violência. São os pró prios clérigos espanhóis, sobretudo Las Casas, protestando contra atentados à Justiça perpetrados du rante a Conquista. Ê o Convencio nal francês, de 1793, gritando “Pémsent les colonios, plutôt lirincipe!” ao perceber que Iiressão do movimento de indepen dência de Haiti contrariava os

Os na-
Comparai essa experiência exis tencial de uma alma dividida com a boa consciência de um déspota oriental ou de um tirano totalitá rio. Para nós, o fim não justifica os meios. Para os neopagãos, fins da Revolução justificam o prego de quaisquer recursos de vio lência, terror ou tramóia, zistas vencidos tentaram todos jus tificar-se, alegando que cumpriam ordens superiores e que a respon sabilidade última por seus atos de via ser atribuída aos chefes, pois de estranhar que a única sistência interna Hitler os em-
fosse encabeçada por homens pro fundamente imbuídos dos impera tivos da moral cristã.
Assim também, o maior testemu nho de uma consciência cristã, nos dias que correm, nos é oferecido por um pensador tão essencialmen te russo, tão profundo expoente do patriotismo russo quanto Alexandre Soljenitsyn.
E precisamente o aparecimento, em nosso século, de doutrinas to talitárias desprovidas de compunção moral e favorecidas com admirável boa consciência ■ seguição dos fins do Estado que induz a enfatizar o que de cristão sobrevive em nossa civilização. To memos um simples exemplo recen te de politica internacional: vejam o contraste entre os espasmos da opinião pública norte-americana, obrigando finalmente o Governo a abandonar a intervenção do Vietnam e a perfeita serenidade e equanimidade com que a opinião públi ca marxista assistiu tanto ao geno cídio perpetrado pelo Khmer Ver melho no Camboja, quanto à inva são desse país pelo Exército vietna mita, apoiado pela URSS. os qii’un a reuma na pernos prin cípios em nome dos quais fora feita a Revolução. É a Igreja renovada neste século, clamando pela justiça social, num mundo de desequilíbrios e violência.
Isto, escreve Graham Greene, “é a assinatura de uma civilização cristã: desafiados por nossos inimi gos, podemos admitir nossos crimes porque, através da história, é possí vel identificar
Não é reque enfrentou a Conspiração de 1944 nossos remorsos”.
. Técnica de alvejamento - o instituto Ucra mano de Pesquisa para a Indústria do Papel acaba óp processo de alvejamento meoanoquimico para Lutose Este proc”esIS conSto 0 aíveTante" de prensagem e desintegragão drcIlu^oL^Tm contato corn o alyejante. Desta maneira, a espessura da celulose é alte rada entre 50 a 55 por cento e 25 a 30 por cento.
FRANÇA: — A RHONE-POULENC PROCURA EMPREGOS P^\^ ●^EUS trabalhadores — No início do ano passado, quando o maior fabricante de produtos químicos da França, a Rhone-Poulenc, informou Que fecharia algumas fábricas e reestruturaria suas operações têxteis e de fibras, a companhia prometeu que tentaria encontrar empregos para todos os seus empregados dispensados durante esse processo. O cum primento desta promessa, com o lento crescimento econômico da França, é um grande encargo. A companhia, porém, está fazendo algum_ pro gresso, alugando ou vendendo os locais de suas antigas fábricas têxteis e de fibras a novas indústrias, que proporcionam novos empregos aos ex-empregados da Rhone-Poulenc. Para ajudar a atrair as novas com panhias, a Rhone-Poulenc, através de sua subsidiária, a Sociedade para a Promoção de Novas Atividades (Sopran), proporciona serviços de apoio e oferece-se para participar em novos empreendimentos. Além de ajudar a absorver os empregados demitidos, o programa está criando oportuni dades de diversificação para a Rhone-Poulenc. Por exemplo, entre as companhias que estão aproveitando o programa da Rhone-Poulenc está a Informatek, um fabricante de equipamento médico que utiliza compu tadores e raios gama para fazer os gráficos de anormalidades do corpo humano. A Rhone-Poulenc subscreveu com 8“/o para um aumento de capital de US$ 500.000 levado a efeito pela Informack. Em setembro, a Informatek planeja iniciar o funcionamento de uma unidade manufatora em Besancon, onde a Rhone-Poulenc está fechando algiunas de suas fábricas de fios e fibras de nylon e de poliéster. O projeto da Informatek é o liltimo e o mais notável de uma dúzia de projetos simi lares desenvolvidos pela Rhone-Poulenc. As operações variam desde aquelas tecnologicamente elevadas, como as de Informatek, até a fabri cação de bolas de boliche. A Sopran, que foi formada há 18 meses, examinou os dossiês de 150 companhias, cerca de 40 delas pertencentes a capital estrangeiro, que esperam se beneficiar com um relacionamento com a Rhone-Poulenc. Jacques Durieux, presidente da Sopran, informa que se tornou uma tarefa importante para ele convencer as companhias céticas de que o principal objetivo da Rhone-Poulenc é encontrar trabalho para seus empregados demitidos e não auferir lucros de quaisquer pos síveis investimentos em novas indúsrtias. A Rhone-Poulenc oferece-se para investir nas companhias que ela ajuda a estabelecer, porém não segue nenhuma norma inflexível sobre a percentagem de participação. Em seus contratos, a companhia estipula sempre que seu sócio pode eventualmente comprar de volta as ações que a RhonePoulenc possui. Entretanto, o programa da Sopran não pode realizar todo o trabalho de reerapregar os empregados da Rhone-Poulenc, já que o plano da com panhia é reduzir seu quadro atual de 13.000 empregados no setor têxtil para 6.000 em 1981. Mesmo com as aposentadorias antecipadas e as trans ferências realizadas dentro da companhia, cerca de 3.000 empregos de vem ser encontrados e o necessário treinamento providenciado. Confor me Durieux, até agora, os esforços da Sopran ajudaram a de 700 empregos. Além dos recursos financeiros da Rhone-Poulenc para possíveis investimentos uma nova companhia, a Sopran pode oferecer instalações e meios de transporte.
criar cerca

Os objetivos prioritários do política econômica
GILBERTO BLARDONE
Uma problemática original
Estudos de programações econô micas já foram realizados nesses últimos anos. Mas o que faz a ori ginalidade e o interesse do progra ma animado por W. Léontief, é a problemática nova que adota.
É com efeito a primeira vez que ura estudo de programação econô mica se situa resolutamente dentro da perspectiva da Declaração de l.o de maio de 1974, sobre a nova or dem econômica internacional. Con fere ao desenvolvimento, como ob jetivo prioritário, a satisfação das necessidades fundamentais das po pulações e funda as relações inter nacionais sobre os interesses recí procos dos parceiros.
O relatório Léontief, realizado por encomenda das Nações Unidas, é mais estritamente econômico do qxie 0 relatório do Clube de Roma. Esforça-se por determinar o impac to futuro, desde agora até o ano 2.000, das diferentes politicas de desenvolvimento econômico sus ceptíveis de serem realizadas com o apoio das Nações Unidas. Este é um comentário sobre esse rela tório.

Dentro desta ótica, o desenvolvi mento econômico desde agora até ano 2.000, deve conceder priori dade às necessidades do mercado interior dê cada país mais do que às do mercado mundial. Por outro lado, as regras do jogo do mercado que conduziam até agora a uma es pecialização dos países neste merca do (divisão internacional do traba lho) baseada nas relações de for ças frequentemente desfavoráveis ao desenvolvimento, deverão ser modi ficadas afim de que as trocas re pousem sobre os interêsses recípro cos dos parceiros. Estas modifica ções são levadas em conta no rela tório Léontief.
É também a primeira vez que um estudo de programação econô mica contém entre seus objetivos prioritários a proteção do ambien te. Com efeito, a interrogante nova e fundamental do relatório Léontief para o ano 2.000 é a seguinte: “Podese preservar o ambiente e ao mes mo tempo favorecer o desenvolvi mento” afim de diminuir as desi gualdades entre as nações e dentro das nações?
As Nações Unidas esperavam des te estudo, escreve W. Léontief, que permitisse responder a duas ques tões centrais: “ Certos recursos sen do limitados, o crescimento dese jado pela O.N.U. era realista? A luta contra a poluição e a proteção do ambiente arriscavam afetar riamente o desenvolvimento econô mico e deveriam, por conseguinte, ocasionar uma revisão dos difereno
tes objetivos nacionais e interna cionais do desenvolvimento?”.
O mundo em 15 regiões e 8 cenários

re-
meio
recursos
eco-
Para conduzir este estudo pro gramado, foi elaborado um modelo econômico. Trata-se de uma repre sentação simplificada da realidade, mas suíicientemente precisa de qual quer modo para ser válida e forne cer informações úteis sobre as lações entre as políticas de desen volvimento e as políticas de ambiente, os problemas da alimen tação, da agricultura, dos minerais, da poluição, as transfor mações de estruturas das nomias, as balanças de pagamentos e as modificações a serem feitas nas relações econômicas internacio nais.
Esta representação leva conta diferenças existentes entre diversas regiões do mundo.
em as
A economia mundial foi dividida em quinze regiões, cada uma ven tilada em 45 setores de atividade. As ligações mantidas entre as re giões permitem reconsiderar as ex portações e as importações de 40 categorias de bens e serviços, os flu xos de capitais, as ajudas e os pa gamentos de lucros estrangeiros. Também são mantidas as transfor mações tecnológicas futuras e as ‘●modificações possíveis dos custos de produção e os preços relativos”
forme variem ou não nossos com portamentos atuais, permitem cons tatar por um lado que as conclu sões fundamentais concernindo os problemas colocados (matérias pri mas, alimentação, poluição, desi gualdades, etc.) permanecem muito próximas umas das outras quais quer que sejam as hipóteses manti das, sendo que por outro lado a margem de redução das desigual dades entre as nações (renda mé dia) de agora até o ano 2.000, se gundo as políticas e os comporta mentos adotados, é da ordem de 50%.
Reduzir pela metade as desigualdades em 25 anos
O relatório parte do novo objeti vo que as Nações Unidas querem fixar para o mundo para o ano 2.000, a saber reduzir pela metade as desigualdades existentes atual mente entre as nações e portanto fazer com que a distância da ren da média de 12 para 1 em 1970 passe a 7 para 1 no ano 2.000. Trata-se de repartir melhor o bem estar entre países desenvolvidos e subde senvolvidos, sem esgotar os recursos e sem poluir o ambiente.
W. Léontief e sua equipe explora ram oito caminhos possíveis para alcançar este objetivo. Construi ram oito cenários.
A originalidade do método consis- Obstáculos políticos e sociais le, a partir dos dados existentes, em fazer várias hipóteses para o desen volvimento mundial desde agora até o ano 2.000. Estas previsões dife rentes sobre dados diferentes, con-
Qualquer que seja o caminho se guido, a melhoria das condições de desenvolvimento e a redução das de sigualdades desde agora até o ano
2.000 esbarram em obstáculos. Pri meiramente há dificuldades ligadas à escassez dos recursos e à abun dância dos homens; há em seguida dificuldades de ordem política, so cial e institucional que, segundo Léontief, são muito mais temíveis do que as primeiras.
Com efeito, contrariamente ao que a maioria dos grandes estudos anteriores afirmaram, e notadamente os do Clube de Roma, o relató rio Léontief estima que obstáculo principal para o desenvolvimento nos próximos 25 anos não é a es cassez dos recursos nem o cresci mento excessivo da população, mas, antes de tudo, a organização polí tica, as mentalidades e as regras atuais do jogo nas relações interna cionais.
A análise depende portanto pri meiramente do tipo de relações que se estabelecerá entre os homens e os recursos.
População: equilíbrio em 2075
e 2.000. Nos países sub-desenvolvidos ela dobrará. Pode-se portanto esperar uma pressão alimentar con siderável de agora até o ano 2.000.
Quadruplicar a produção agrícola em 30 anos
E nesse ponto que o relatório Léontief surpreenderá mais. Com efeito, ele estima — e evidentemen te, mostra como chega a estas con clusões — que é possível alimentar o planeta no futuro, com a condi ção, por um lado, de cultivar gran des superfícies de terras cultiváveis não exploradas, por outro lado de dobrar e depois triplicar os rendi mentos.
O objetivo, com efeito, deve ser crescimento anual de 5% da um produção agrícola, quer dizer mais de um quadruplicamento em 30 . Uma taxa de 2,5% permitiría anos somente o dobramento, ou seja o mantenimento dos níveis de consu mo atuais já muito baixos.
O crescimento da população não c exponencial. As taxas de cresci mento têm tendência a aumentar, depois a declinar, quando um certo nível de renda e um certo grau de urbanização forem atingidos (3). Nos países desenvolvidos, estas ta- produtividade da terra nos países xas já começaram a cair. Nos paí ses sub-desenvolvidos, continuarão aumentar até o ano 2.000 no
Isto supõe estender a superfície de terras em culturas nos países subdesenvolvidos de 229 milhões de hectares de agora ao ano 2.000 (ou seja 30% a mais do que a superfí cie cultivada em 1970); triplicar a
subdesenvolvidos e aumentá-la de 60 a 100% nos países desenvolvidos. Para manter simplesmente o nível de consumo atual, seria necessário de qualquer modo aumentar a pro dutividade em 60% nos países sub desenvolvidos. a mesmo ritmo que entre 1950 e 1975. A diminuição se fará sentir a par tir do ano 2.000 e o equilíbrio esta cionário deveria ser atingido por volta do ano 2.075. Nessas condições, a população mundial aumentará de 60% aproximadamente entre 1975
A conclusão, é de que uma revolução verde” é necessária em escala mundial nova mas mellior adap-

iadas do que a precedente às rea lidades complexas das diversas so ciedades e às mentalidades.
O relatório estima que um tal aumento dos rendimentos agrícolas é realizável porque já foi realizado.
Os Estados Unidos, entre 1971 e 1975, aumentaram em média em 80% com relação ao período de 1941-1945 sua produção agrícola por ●unidade de superfície total. A União soviética aumentou em média em

Recolocam em
timento, o crédito, as ferramentas e o equipamento, questão, costumes e comportamen tos, etc. Chocar-se-ão com mentalidades e interesses. A verdadeira ba talha, a mais difícil, é a que se dará neste terreno que deverá ser vito riosa.
Recursos minerai.s: nuo, escassez absoluta mas aumento dos custos de pesquisa e de extração 79% sua produção agrícola por uni dade de terra cultivada entre 19461950, e 1971-1974.' A produção de cereais dobrou
O aumento do consumo mundial de minerais e de energia será gantesco” entre 1970 e 2.000 levan do em conta entretanto economias possíveis, influência das tecnologias futuras sobre o consumo, fenôme nos de substituição e uma taxa de reciclagem dos materiais de de 55%. A demanda de couro será multiplicada por 4,8 a de bauxito e de zinco por 4,2, de niquel 4,3, de chumbo por 5,3, de mineral de ferro por 4,7, de petróleo 5.2, de gás natural por 4,5, de vão por 5.
O relatório insiste primeiramente sobre o caráter “altamente lativo” — e portanto incerto — das estimativas do nível dos recursos naturais e mundiais. gi* e a de algodão aumentou sua produção média de trigo em 30% nos últimos 30 anos. Nas Filipinas e na Tailândia, as pro duções aumentaram em média em cerca de 50% entre 1960 e 1970 (ou seja o equivalente a 3,4 vezes período de 30 anos). O relatório dá ainda outros resultados obtidos nesses últimos anos. É porisso que é possível alimentar o planeta a condição de
O mundo inteiro deveria niir no espaço de 30 anos três quatro vezes mais matérias primas do que o fez desde o início da ci vilização”. Isto é possível?
É por esta razão que é muito prudente aproximação do problema e resposta a esta questão.
Se — a hipótese mais pessimista — não se leva em conta descobertas que poderíam intervir (novas jazisua sua
cerca num por com que o impulso maior para o abastecimento de bens ali mentícios venha do aumento da pro dução agrícola no terceiro mundo” e não das importações provenien tes dos países desenvolvidos. O de senvolvimento agrícola do terceiromundo deve portanto ser conside rado como um dos objetivos prin cipais do desenvolvimento mundial de agora ao ano 2.000. Para alcançá-lo, será necessário tomar medidas energéticas no pla no político, social e institucional nos países em desenvolvimento”. Con cernem 0 direito de propriedade e portanto as reformas agrárias, o desbravamento, a irrigação, o invespor carconsuou especu-
das, novas fontes, tais como os nódulos suhmarinhos), dois minerais estariam em via de esgotamento: o chumbo e o zinco. Poderia haver penúria para o amianto, o flúor, o ouro, o mercúrio, o fósforo, a prata, o estanho e o tungstênio.
Se, — a hipótese mais otimista — se integra “às reservas hipotéti cas" citadas nas investigações geo lógicas, o nível das reservas mun diais será suficiente para cobrir as necessidades desde agora até o ano 2.025.
Assim, '● o problema dos recursos minerais não é, no caso de um de senvolvimento acelerado, um pro blema de escassez absoluta para este século, mas, no pior dos casos, um problema de exploração de ja zidas que se tornaram menos pro dutivas, de custo de extração mais elevado e de pesquisa intensiva de novas jazidas, particularmente nas regiões pobres em reservas, afim de reduzir as desigualdades na repar tição.”
Custo da poluição: 30% a mais do que a ajuda ao Terceiro-mimdo.
Quanto à poluição, também pode ser vencida. Os processos de tra tamento existem, salvo para certos poluentes como o enxofre, os óxidos . de azôto, o monóxido de carbono, os hidro-carbonos, os pesticidas, o depósito de resíduos de adubos, os poluentes agrícolas e os lixos ra dioativos.
Mas, em todos estes domínios, há pesquisas em curso. O custo da luta pública contra a poluição, com preendidos os investimentos, oscila¬
ria entre 1 e 2% do produto nacio nal bruto. A isto é preciso acres centar os investimentos anti-póluição das empresas privadas. Repre sentaram no período de 1973-1975, nos Estados Unidos cerca de 5% da totalidade do investimento indus trial privado. O custo do arma mento mundial representa 6% do produto mundial.
Nas bases atuais, nos países indus trializados, isto suporia, se o custo da luta pública anti-poluição atinge 1% do P.N.B., um esforço dos go vernos em 30% superior ao que é atualmente a ajuda pública ao de senvolvimento do terceiro-mundo (0,70% do P.B.).
Nos' países do terceiro-mundo, para considerar uma indústria de tratamento da poluição, “é preciso estar pronto a retirar entre 0,5 e 1% do P.N.B. em favor da produção de instalações de despoluição, em detrimento do consumo e dos in vestimentos diretamente produti vos”. W. Léontief estima que este custo elevado “ não é entretanto um obstáculo intransponível ao desen volvimento econômico destes paí ses”.

O
“Chegamos à conclusão, escreve, de que a poluição, embora seja um grave problema para a humanidade, é tecnologicamente superável. custo econômico para mantê-la nos limites controláveis é suportável... A poluição e os problemas que sus citam sua redução não constituem um obstáculo insuperável ao desen volvimento acelerado.”
Assim, portanto, para W. Léontief e sua equipe, é possível, desde ago ra até o ano 2.000 reduzir pela me-
tade as desigualdades entre as na ções assegurando ao mesmo tempo melhoria da alimentação de uma população mundial em crescimento de 60%, sem esgotar os recursos na turais e sem destruir o ambiente por uma poluição aumentada, minuição das desigualdades e das injustiças, salvaguarda da natureza e desenvolvimento econômico se riam portanto compatíveis. Mas em que condições?
Investir 30% da renda anual
das, portanto mais justiça social. Cada família, com efeito deve estar em condições de poupar. Para isso, sua renda deve ser superior ao es trito mínimo vital. As despesas de consumo das famílias não deverão ultrapassar de 60% aproximada mente suas rendas, contra cerca de 70% atualmente. A i^oupança de verá ser coletiva e orientada para as compras de equipamentos pro dutivos por um sistema bancário adaptado.
Por outro lado, o Estado deverá modificar a estrutura de suas des pesas, consumir menos, fazer me nos despesas improdutivas, para aumentar os investimentos públicos produtivos (tratamento dos solos, irrigações, colocação de meios de estocagem, de transportes, etc.). Não se pode gastar de 25% do orça mento do Estado (100 milhões de francos sobre 400) unicamente para a coroação de um chefe de Estado, como foi o caso recentemente África, ou para qualquer outra des pesa de caráter suntuário, cujo pri meiro resultado é enriquecer o es trangeiro.
Industrializar e desenvolver cooperação Industrial entre vizinhos
Valorizar novas terras, melhorar os rendimentos agrícolas, economi zar as matérias primas, a energia, reduzir a poluição, supõe primei ramente a colocação nos países em desenvolvimento de meios e de equipamentos suplementares e adap tados. É porisso que a primeira condição para atingir estes objeti vos é aumentar a parte da renda nacional consagrada à criação e à instalação destes equipamentos, quer dizer, ao investimento. O es forço médio deverá atingir de 30 a 35% da renda dos países sub-desenvolvidos. Deverá variar segun do as regiões: no Oriente Médio e nos países produtores da África, deverá passar de 20% (média de 1970) a 41% em 2.000; na América Latina de 17-20% a 31-33%; nos paí ses não produtores de petróleo da Asia e da África de 15% a 23-25%. Estes países deverão contar primei ramente com sua própria poupança para financiar estes investimentos; a ajuda exterior não pode ser mais que complementaria. Isto supõe primeiramente, nestes países, uma redução das desigualdades de rena Di¬ na a Somente uma industrialização adaptada às realidades dos países e às necessidades internas pode con duzir a um verdadeiro crescimento, o que não é o caso das industriali zações atuais voltadas sobretudo para produções de exportação. A indústria pesada deverá fornecer produtos de base necessários à agri cultura e ao equipamento (energia, j


aço, adubo, produtos químicos, má quinas, ferramentas, etc.) mas, em numerosos casos, uma tal indústria Eó pode ver o dia se vários vizinhos se associam para construí-la. As taxas de crescimento da indústria pesada deverão atingir de 7 a 8,5% nos países não produtores de petró leo da África, de 8 a 8,5% na Asia, de 9 a 10% na América latina e de 16 a 17% nos países produtores de petróleo da Asia e da África. A cooperação industrial entre países em desenvolvimento é portanto uma necessidade.
Na escala de cada país, as indús trias leves de transformação utilisando matérias primas complemen tarão a estrutura industrial pesada das regiões.
A última condição para o suces so será certamente a mais difícil a se obter, considerando o estado atual das relações internacionais e as relações de força no mercado mundial. Para evitar, com efeito, que o desenvolvimento interno ace lerado se realize através de imporlações e de um endividamento tal que o déficit anual exterior do terceiro-mundo atinja 67 bilhões de dólares no ano 2.000, é com efeito necessário mudar a -natureza das relações e as regras do jogo entre países desenvolvidos e países sub desenvolvidos.
Jledistribuição das cartas na escala planetária
Para que os recursos do terceiromundo sejam suficientes ao finan ciamento de seu desenvolvimento, as novas regras internacionais a se promover deverão permitir que os
preços das matérias primas possam evoluir mais favoravelmente que os l^reços dos produtos manufaturados dos países industriais. É preciso prever que desde agora até o ano 2.000 os preços das matérias pri mas terão triplicado. A ajuda pú blica ao terceiro mundo deveria do brar, seja cerca de 30 bilhões de dólares em vez de 15 dos tempos atuais. Atualmente, as despesas militares (300 bilhões de dólares por ano), ou seja cerca de 6% do produto mundial (mais de 8% nos países industrializados) ultrapassam amplamente as necessidades de aju da ao desenvolvimento e as da luta contra a poluição. W. Léontief es tima que, se os homens voltassem à razão e substituíssem o medo pela solidariedade, as somas atualmente consagradas ao armamento consti tuiríam nômicas que o mundo possui” para o desenvolvimento.
Enfim, os regulamentos do comér cio mundial deveríam favorecer as exportações dos produtos manufa turados do terceiro mundo para os países ricos. O fruto de tais trans formações nas trocas conduziría globalmente o terceiro mundo a economia estimada em 8 bias maiores reservas ecouma Ihões de dólares em 1980, a 34 bi lhões em 1990 e a 73 bilhões no ano 2.000.
Esta redistribiüção das cartas na escala mundial, conjugada aos es forços internos igualmente radicais para multiplicar por quatro a pro dução agrícola, investir, industria lizar, reduzir as poluições e as de sigualdades, etc, levaria o terceiro mundo a ver sua parte no produto
bruto mundial passar de lõ% em 1970 a 28% no ano 2.000, enquanto sua parte na produção de bens ma nufaturados passaria de 9 a 24%.
A renda por habitante dos mais po bres países da Ásia e da África seria multiplicada por 4 (400 dólares em valor de 1970); os outros países en trariam na categoria dos 1.000 a 2.000 dólares.
trói para o futuro afim de explorar os caminhos susceptíveis de aumen tar o hem estar dos povos e de re duzir as desigualdades no horizonte 2 000, indica o que é razoavelmente possível entrever e tentar.

por
Paralela-
Mas, para que esta possibilidade se torne realizável, W. Léontief não esconde que os mais temíveis obs táculos a vencer serão, não de or dem natural, "mas de ordem polí tica, social e institucional. No que concerne ao século 20, escreve, ne nhuma barreira física se opoe ao desenvolvimento acelerado dos paí ses em desenvolvimento”.
Cf. C.J.N. n.os 188 e 189 outubronovembro de 1977. Título do relató rio Léontief: " 1999 — A especiali zação W, Léontief: um estudo da ONU sobre a economia mundial fu tura”. Ed. Dunod 1977.
aumenem En-
Isto se faria com um crescimen to médio do produto mundial de 4,8% por ano, um crescimento do produto bruto de 3,6% (3% habitante) para os países desenvol vidos e 6,9% (4,9% por habitante) para o terceiro mundo, mente, a dependência exterior do lerceiro-mundo pelas importações podería diminuir de 10% em 1980, de 18% em 1990 e de 26% no ano 2.000 enquanto a parte do terceiro mundo nas exportações mundiais de produtos manufaturados taria de 10% em 1980, de 22% 1990 e de 35% no ano 2.000. fim, as desigualdades entre ricos e pobres diminuiríam pela metade, passando de 12 para 1 a 7 para 1.
O combate do homem
Que pensar de tais previsões? São demasiado otimistas, relevam do sonho mais que da realidade? O próprio W. Léontief responde a esta questão (4): "Não digo que eu seja otimista, porque o que penso são os fatos ou as possibilidades”. Na análise da situação atual da população, da agricultura, dos re cursos naturais, da poluição, das re lações Norte-Sul... o relatório Léontief se dedica a liberar os fa tos. Nas oito hipóteses que cons-
Notadamente trabalhos do Clube de Roma: “Parada ao crescimento”, D.L. Meadows, Ed. Fayard, Paris 1972; “ Estratégia para amanhã” (2.o relatório), M. Mesarovic e Ed. Pestel, Ed. du Seuil 1974; “Um mundo ■ para todos: o modelo latino ameri cano”, A. Herrera, Ed. P.U.F. 1977.
“ Relatório sobre a população mundial em 1970-1975 e suas consequecias a longo-prazo” (Publicações das Nações Unidas n.o E 74 XIII-4 p. 58-59); Chesnay, Revista "Population, novembro-dezembro de 1976: “Cidades e “bidonvilles” do terceiro mundo, estruturas demográficas e habitat”.
Entrevista de W. Léontief na te levisão francesa a 16-1-1976, Emissão “ Questionnaire de J. L. ServanSchreiber.
MORITURI MORTUIS
MELLO CANÇADO
HO relógio da vida esta não é uma hora de tristeza. De sua ve saudade será, sem dúvi da. Mas, ter saudade — per gunta Dorival Caymmi — se rá algum defeito? Então, todos somos defeituosos.
Mas, certamente este é um ri tual cristão de alegria. Com efei to, como aconselhava o poeta roimortal, que foi Virgílio, —
mano nunca devemos esquecer-nos de trazer flores para o túmulo de Marcelo (‘‘Manibus date lília plenis”, “Eneida”, VI, 883)
Humanista, latinista, como é de tradição em Minas, o autor evoca alffuns mortos queridos.

0 privilégio e a fortuna, desde 1907 — ano de sua fundação —, de po der contar com uma galeria fas cinante de pro-homens opulentando os seus quadros.
E é o que estamos realizando, preito de vassalagem aos só- 0 num cios beneméritos falecidos — co mo Juscelino Kubitschek, e aos sócios honorários como Clovis Sal gado, Manoel Costa, Pedro Aleixo quem já em outra sessão nos re- Raimundo Gonçalves
Prof. José Vieira de a ferimos, a da Silva e ao Mendonça.
E como não proclamar, aqui e a nossa solidariedade no agora, tempo, que hoje se tornou eviterno, aos companheiros de tantas jornadas cívicas e científicas que foram Miguel Teodorovith Chquíloff, Antonio Camillo de Faria Alvim, José Quintela Vaz de Mello, Alberto Deodato Maia Barreto, Waldemar Alves Baeta e Aloysio Leite Guimarães?
O Instituto Histórico e Geográ fico de Minas Gerais sempre teve
como
0
E era esse, precisamente, o pen samento que a respeito de nossa Casa de João Pinheiro alimentava saudoso historiador Frei Venãncio Willeke, falecido também nes te ano de 1978, o qual, integrante da quase unanimidade dos Insti tutos Históricos dos Estados do Brasil, entremostrou a maior soli citude em ingressar também aqui, correspondente, como que desejoso de enriquecer ainda mais elenco de seus títulos de benemerência.
Ora
como explicar o fascínio desta Casa sempre emanou?
O nosso inesquecível Dr. Copérnico pinto Coelho explicava o fe nômeno, na linguagem quase mu da de seu entranhado amor à nos sa vida e à nossa obra, focalizan do toda a secreta beleza que va mos descobrindo nos morgadios da História, da Geografia, da Ar queologia, da Paleontologia, da que

Etnografia, da Estatística, do Fol clore e das Artes-plásticas à me dida que, ao longo dos anos, se vão desdobrando à nossa inteli gência e à nossa sensibilidade através da contribuição dos consócios, todos eles gloriosos na sua humildade de sábios, e todos eles sábios na glória silenciosa de sua operosidade, dilatando os espaços da cultura integral de nossa terra e de nossa gente.
De Juscelino Kubitschek, por exemplo, que mais poderiamos di zer, após ter dito Carlos Drummoiid de Andrade, e outz’os escri tores maiores do que este ta, que ora ocupa a tribuna, tu do quanto de prodigioso realizou ‘telegrafista de Diamantina” que se transformou em “Cidadão do Mundo”? cronis-
0 Ainda bem me recordo de frase: desta solidão sua “peste Planalto Central, - que em breve se transformará em cérebro das al tas decisões nacionais, lanço olhos mais uma vez sobre o amameus nhã do meu País, e antevejo esta alvorada, com a fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino”.
E eu pergunto: — Que aconte ceu depois? Fale ainda o próprio Juscelino: “Quando os ponteiros marcaram 20 minutos do dia 21 de abril de 1960, e vi o espetáculo de som céu, e, olhando em torno, via a multidão contrita e com lágrimas nos olhos, não consegui me con ter! Cobri 0 rosto com as mãos e, e cores que armara no
quando dei fé de mim, as lágri mas corriam dos meus olhos”.
— Senhores! Eis uma página digna dos maiores historiadores!
Pela simples chamada à colação do nome de Juscelino Kubitschek de Oliveira, pode-se avaliar, de pronto, que o valor de todos quan tos, nesta noite, estamos convo cando para os nossos aleluias, os nossos hosanas de louvor, sobrelevam, imensamente, todas as pa lavras de nosso frágil vocabulário de gratidão. — Valha-nos o roma no Ovídio: “Materiam superabat opus! íMetam., II, 5)
Clovis Salgado, o médico huma nitário e o político fidalgo pela cultura e pela educação, Governa dor de Estado e Ministro da Re pública, Conselheiro em Brasília e Diretor de Medicina em Belo Ho rizonte, solidário com seus ami gos sem jamais desdenhar de seus inimigos, foi realmente um paradigma de lutador em prol da saúde espiritual e corporal de nos sa gente.
Manoel Costa, outro herói do Bem Comum, a quem todos olha vam com 0 respeito que merecem quantos trabalham pela Res Publi ca, isto é, pela felicidade alheia antes de se deter, egoisticainente, na promoção da própria prospe ridade.
Pedro Aleixo, severo para con sigo e benfazejo para com os ou tros, foi tudo na vida; — mas só desejou, verdadeiramente, ser o que foi: “vir bonus, dicendi peritus”.
Grande Pedro Aleixo, Pro-
fessor de Direito e Mestre de vida honrada!
Raymundo Gonçalves da Silva, outro varão que o sempre citado Plutarco jamais omitiria no qua dro dos cidadãos prestantes, dos exemplares de honradez, dos ministradores e administradores de “essa felicidade que
Doni Quixote que se deixasse der rotar. Herói manchego de verda de, Miguel Teodorovith viu, afi nal, coroada de louros a maratona que empreendeu em prol do reco nhecimento público e oficial do maior toreuta que jamais se co nheceu nas condições sub-humanas em que trabalhou e em que morreu. justiça, existe, sim — mas nós não a al cançamos// porque está sempre apenas onde a pomos// e nunca a onde nós estamos” (Vicen-
Outro inesquecível amigo e mes tre foi Antonio Camillo de Faria Alvim. Nobre na República, repu blicano na nobreza, Antonio Ca millo legou-nos a lição da polidez. Ele gostava de ouvir-me, — dou tor em Francês que era —, quanpomos te de Carvalho).
E como esquecer a figura alta e imponente de corpo e fina e fidal ga de espirito que foi o Prof. José Vieira de Mendonça que este con-' sócio saudou em Português e o no bre Presidente José Geraldo de Faria recebeu com um discurso primoroso em Língua Latina! “Eheu! Fugaces labuntur anni, Postume,” — diria agora o velho Horácio ao Prof. Vieira, que, ver sado profimdamente no mesmo idioma do Velho Lácio, lhe dedi caria também uma Ode sobre a efenieridade das rosas de Malherbe que duram as horas de uma manhã e sobre a rapTdez das nos sas Kalendas! ai de nós! tão cuidosos de tantas coisas vãs, quan do somente uma — a prática do é necessária para a vida
Bem — eterna!
De Miguel Chquiloff diremos que sua grande paixão foi defender patrimônio soberbo que nos her dou Antonio Francisco Lisboa, o “Aleijadinho”. Foi uma dura ba talha, um pedregoso itinerário, o que feriu Chquiloff. Não era um a o

do eu lhe citava Gustavo Tliibon: “A terra se tornaria in-habitável se cada um deixasse de fazer por polidez 0 que é incapaz de fazer O mundo seria quase por amor.perfeito se cada um conseguisse fazer por amor o que faz somente por polidez”.
Alberto Deodato Maia Barretto era um raio de sol permanentemente a iluminar a vida própria e a vida alheia! Quando, há pouDeus Senhor dos Mundos o le vou de nosso convívio, o mundo ficou muito mais pobre, como ele, gostosamente, dizia com o nosso também saudoso Jair Silva: tanto em Oropa, como em França, como em Bahia... E eu acrescento, por minha conta: Também o Brasil, 0 “Gorutuba muito grande”, di minuiu com a ausência do Mestre e Amigo de todos nós! Do quadro de nossos sócios efe tivos, ainda há que falar, com proco.
funda emoção, do desfalque que sofremos com a morte de Valdemar Alves Baeta e José Quintela Vaz de Mello.
Para ambos, a exclamação do jà citado Virgílio: “Portunate senex”, como, na sua Écloga I, v. 46), o poeta mantuano põe nos lábios do manso pastor Melibeu ao dirigirse ao velho Títiro, que vive rodea do de paz, de amigos, de felicida-
ma escrever certo por linhas tor tas.

PWaldemar Baeta, de Queluz de Minas, era um apaixonado pela flora. O reflorestamento, através de modernas técnicas de planta ção, alargou o seu campo de vi são de Engenheiro ilustre que tan to fez por Minas e pelo Brasil. Seu lema era o de Vicente de Paula orago da Caridade: “Quem não vive para servir, não viver”. Extraordinário todos os departamentos da vida!
Já 0 querido consócio Quintela se dedicava mais ao estudo das línguas. Sabia, como ninguém, de cifrar os idiomas deste planeta de que, ultimamente, andamos es quecidos para plantar eucaliptos (quem sabe?) na Lua ou eni Mar te. E que poesia clássica escrevia nosso José Quintela, que tam bém . entendia de Paleontologia e Etnografia sem, entretanto, fazer alarde de seus saberes...
Falemos agora, comoção, sobre o nosso Dr. Aloy sio Leite Guimarães que iiúamos receber, efetivamente, mos meses. O destino é capricho so, bem 0 sabemos. E Deus costu, 0
Esperávamos, ansiosos, pelo “si nal verde” do Prof. Aloysio, tão bondoso, tão generoso, para o sau darmos, desta tribuna no dia de sua posse! Entretanto, alegando sempre os seus múltiplos afazeres que nenhum de nós desconhecia, procrastinou tanto o seu ingresso, de juro, nesta nossa Corporação em que penetrara, de jacto, há longo tempo, que, afinal, a saudação-saudade que lhe é promovida, nesta noite singular, há de perma necer nos anais da “Casa de João Pinheiro” como o sinal sensivel e eficaz de sua posse definitiva, e de seu juramento de que jamais deixará de ser. Professor de His tória que era, ativa de nossos tempos que ele hu manizava, a iuz que sempre pro curou a Verdade para si e para o próximo, um Mestre de vida valio sa para o céu e para a terra e um mensageiro do Passado que deve servir de farol para a Esperança do nosso Futuro!
a testemunha serve para varão em pa0 com carinhosa nos proxi-
Meus Senhores! É tempo de rar. Fiquemos, porém, caminhan do como aqueles Três Magos que vieram do Oriente, orientados pe la Estrela. Há eternamente Aque le Menino à nossa espera! A “Ca sa de João Pinheiro”, volvendo o olhar para os dias que se foram, pede, apenas, mas veementemente, — que os minutos, as horas e os anos que nos espreitam possam registrar, de nós próprios, a bele za com que assinalaram a legen da dos que já se foram! de.
E que, clc cada um de nós, pos sam os pósteros afirmar também: “Virtute vixit” — Viveu com vir tude
“Gloria vivit” — Vive, na Glória “Memória vivet’ nossa memória, eternamente! B.H., 27 de dezembro de 1978 Viverá em _o—
ITÁLIA: — CAPITAL ÁRABE NA MONTEDISON — A Montedison, a maior fabricante de produtos químicos da Itália, poderá em breve ter um novo acionista substancial. Ghaith Pharaon, empresário da Arábia Saudita, pretende tomar posse de uma porção substancial — talvez 17% — dos USS 235 milhões de títulos recém-emitidos, tornando-se um acio nista de 10% da companhia. Pharaon, que ficou famoso no ano passado por suas aquisições de bancos americanos, provavelmente será nomeado para o conselho diretor da Montedison. Informa-se que ele comprará as novas ações a 170 liras cada, bem abaixo de seu atual valor de mer cado. A Montedison, muito provavelmente, é vista pelos sauditas como mais do que apenas um lugar para se pôr fundos excessivos de inves timentos. Sabe-se que Pharaon está ligado à distribuição de petróleo saudita e a Montedison, que compra 6 milhões de barris por ano de petróleo bruto, podena tornar-se um freguês certo para o petróleo árabe. Além do mais, os países produtores de petróleo^ têm construído refina rias de petróleo e é provável que, dentro de três ou quatro anos, eles estejam em busca de mercados compradores ocidentais para seus pro dutos semi-acabados. Informa-se que o novo acionista, que há quatro anos comprou a companhia construtora Incas Bonna, então pertencen te à Montedison, e transferiu seus escritórios centrais para a Arabiá Saudita, negociou pelo menos o controle da distribuição dos produtos da Montedison nos países do Oiáente- Médio. Aproximadamente 12% das exportações da Montdison no ano passado foram para o Orient Médio. O que se sabe é que a Montedison necessita de dinheiro. Em abril último, os acionistas votaram na depreciação do capital da companhia, p_ara US$ 173 milhões, em antecipação da recapitalização para USS 419 milhões, conside rados mais ou menos a metade do que a companhia realmente necessita, para manter todas as operações das fábricas e para um investimento sau dável em pesauisa e desenvolvimento. O débito da Montedison perfaz USS 2,6 bilhões, 59% do qual são a curto prazo. Embora, informa-se, Pharaon tenha declarado que está trabalhando só (presumivelmente através de sua base financeira da Saudi Research and^ Deyelopment Corp.), há, todavia, uma leve impressão de que ele está agindo com o apoio de bancos da Alemanha Ocidental. De qualquer maneira, enquanto parece que as relações entre a Montedison e a Arábia Saudita tornar-se-ão mais estreitas no futuro, presumivelmente para benefício de ambos, o futuro imediato da Montedison é ainda nebuloso. Numa recente reunião de d’>etoria, anunciou-se que a companhia continua a perder em média ÜS$ 50 milhões por mês, não obstante um aumento de 7,6 nas vendas durante os últimos seis anos. Os porta-vozes da companhia não vêem nenhum alívio de imediato e estão se preparando para outro ano de prejuízo recorde.

ESTADOS UNIDOS:
CLORATO NA INDÚSTRIA DO PAPEL — No mês passado, a Erco Industries (Toronto) iniciou, em Monroe, La., a construção de uma nova fábrica de clorato de sódio de 13 milhões de dólares. Esta é a mais recente adesão à corrida em direção ao aumento de capacidade que os produtores de clorato estão preparando para um mercado que poderá atingir 310.000 toneladas nos Estados Unidos em 1985. De fato, segundo a Hooker Chemical, uma das principais fornece doras de clorato de sódio, suas pesquisas de mercado indicam que 10 novas fábricas de 25.000 t/ano de clorato terão que ser construídas nos Estados Unidos durante os próximos oito anos. O principal motivo: uma provável mudança na sequência de branqueamento das fábricas de Os fabricantes de papel estão mudando para :■: sequências de branqueamento a fim de satisfazer os cada vez mais seve ros padrões de controle de efluentes. Durante muitos anos, a forma padrao de branquear celulose era através de cloração e subsequente ex tração caustica — designados pelas letras de código C e E na linguagem dos que trabalham na indústria de papel. Esta sequência, porém é limitada em sua capacidade de aumentar o brilho sem danificar’ fibras celulosicas.
Ppapel e celulose. novas as No princípio da década de 1950 um grupo de nes- quisas liderado por Howard Rapson, dos laboratórios da International Paper, em Hawkesbury, Ontário, descobriu que a aplicação de dióxido ue cimo (letra de código D) e mvez de cloro em um ou dois estágios mais brilhante e menos suscetível a inversão de cor. Usando dióxido rio código D) em vez de cloro em um ou dois estágios queamento, os fabricantes de celulose descobriram ser possível “oTpeSemT indústrS de oiíT iri branqueamento começaram a pensar numa seonên cia de processamento CEDED. que significLa um aumento n^producão de clorato de sódio para satisfazer as necessidades de dióxido de cloro. Agora, os fabricantes de papel estão trabalhando novamente nessa tecno^ logia a^ iim de reduzir ou eliminar o cloro desde o primeiro estáeio cloro e um bom agente de branqueamento.
O ^ a sequência de bran- Queamento atual produz um efluente de fábrica cujo teor de composto orgânicos clorados é alto demais para satisfazer os padrões ecológicos cada vez mais rígidos. Até agora as fábricas satisfizeram de 1977, usando uma certa combinação de tratamento os padrões . primário ou se¬ cundário e também, removendo uma parte do cloro da sequência do branqueamento. Todavia, para satisfazer os padrões de 1983, os fabri cantes devem considerar mudanças mais drásticas, que possam incluir o uso de 75% de dióxido de cloro e 25% de cloro no primeiro estágio ou mudando para um branqueamento oxialcalino (A/O) no primeiro estagio. Em qualquer um dos casos, isto significa um mercado cada vez maior para clorato de sódio J. L. Ward, diretor do setor de clorato de Hooker Chemical (Niagara Falis N. Y.), espera que o consumo esta dunidense de clorato em várias sequências de branqueamento atinja 245.000 toneladas em 1980 e 310.000 toneladas em 1985. Esta taxa de
Cont. na pag. 126 .i

Afonso Arinos 2.° e Eu
GILBERTO FREYRE

Aeu, mais.
FONSO Arinos 2.0 e eu somos dois setentões ele, menos — inevitavelmen te afins nuns pontos e, por vezes, discordantes noutros. Com Os avanços no tempo, as afi nidades talvez estejam se acen tuando e as discordâncias talvez diminuindo. Incluo-me entre seus maiores admiradores, com o júbi lo de contá-lo entre meus compa nheiros de geração: uma “inclita geração brasileira”.
A geração brasileira a que per tencemos ele e eu, e que inclui Sua Excelência Reverendissima Dom Hélder Câmara, é uma das mais marcantes, dentre as que vêm dei xando pelas suas elites, sinais de sua presença sobre a cultura e o comportamento nacionais do Bra sil. Afirmativa um tanto enfática. Mas como deixar-se de reconhe cer tal característico num grupo a que pertenceram, ou ainda per tencem, tantos brasileiros emi nentes: desde Drummond, a Pru dente de Morais Neto; de Rodrigo M.F. de Andrade a Sérgio Buarque; de Anísio Teixeira a Gustavo Capanema.
Como, dadas as diferenças en tre mim e Arinos 2.o, eu as carac terizaria? Reconhecendo nele um brilhante equivalente, nessa sua e minha geração, de Joaquim Nabuco, e, em mim, um como que outro —: palidamente outro — Eucli-
O festejado autor de “Casa Grande e Senzala” e outras ohras primas, escreve sobre outro escritor de raça, Afonso Arinos de Melo Franco.
des da Cunha. Ele, quase de todo, apolineo. Eu, talvez, mais dioni síaco que apolineo. Ele, homem de feitio neoclássico. Eu, talvez, bar roco embora podendo repetir Euclides: mistura de “celta tapuio e grego”. Mistura barroca de con trários.
Quando nos conhecemos ambos tanto estrangeirados pelos um nossos contactos de jovens com instituições e gentes de fora do Brasil, espantou-se ele com o meu chapéu desabado à Santos Dumont. Talvez, aos seus olhos, acadecerto Contrastava faj estado, com 0 seu gelô hierático; e quase hieraticamente vitoriano. Chapéu de futuro detentor de tantos carilustres enquanto, convidado cátedras e cargos também gos para ilustres, eu os recusaria.
Evidentemente, o jovem mineiro, saído da adolescência, já se toma va mais a sério do que o pernam bucano, aliás não menos do que ele. Ambos, entretanto, ao mesmo tempo que europeizados, quase uns Henrys Jamés^ caboclos,. narciso

Logo no início da nossa amiza de, Afonso, sempre cordial comi go, quis ele próprio levar-me a Mi nas, ele guiando o carro e guianum o ta
muito ciosos da comum brasilida- do o adventício. Viagem inesque cível. Minas a revelar-se de todo a um pernambucano, nos esplen dores do seu passado. Menos quatrocentona que Pernambuco, porém abrilhantada pelo gênio do Aleijadinho. Barbacena, Ouro Preto, São João del-Rei. Em Congonhas, rendi-me a Minas diante dos olhos triunfantes de Afonso. Barroco brasileiríssimo. Único. Diferente dos sub-europeus. Apenas um por menor: chegamos ao alto de Con gonhas por uma ladeira que logo me pareceu demasiadamente ín greme. Mas confiei no guia. A ver dade é que, ao chegarmos ao topo, fomos saudados por uma multi dão. Nunca carro nenhum subira por tal ladeira. Afonso tranquilo. Era como se a tivesse subido vá rias vezes. de.
in-
Não tardaria um a surgir com livro um tanto escrito, como de Euclides, menos com perfeielegância euroacadêmica do que com um quase cipó; e aos olhos do outro, “chulo” — sua exa ta expressão de crítico quase vito riano — na linguagem: linguagem cheia de africanismos, de indigenismos e, segundo alguns purita nos de então, de obscenidades e de pornografias. Inacadêmíco. Es tuprando, por vezes, a filologia convenientemente erudita, segun do reparo de Rodrigo M.P. de An drade. Enquanto Arinos Segundo surgiria com um ensaio elegante e ortodóxamente acadêmico O dio Brasileiro e a Revolução Fran cesa. O mdio brasileiro retratado pelo autor com carinho montaigniano, é certo. Porém simpatia literária do empatia revelada pelo autor de Casa-Grande e Senzala no seu tra to, quer da cunhã quer do próprio afronegro ou do então desdenhadíssimo português ou portuga. O que não significa que essa simpa tia da parte de Afonso não fosse, além de literária, humana. E de nunciasse, no brilhante historia dor ainda jovem, o futuro autor, como político, da Lei Afonso Ari nos contra o preconceito racial no Brasil.
Fomos colegas na Constituinte de 46. Os dois, então, presidencia listas. Ele, liberal, se tornaria par lamentarista. Eu, já, nesses dias, a longo prazo anarquista trutivo (Sorel, Bertrand Russell, o federalismo
com mais que com a consanticentralista Maurras), não hesitaria, em ser pragmaticamente adepto, a curto prazo, ante a situação inter nacional enfrentada pelo Brasil, de um executivo vigoroso. Socio logicamente monárquico, até- Con tradição. de porem,
Recentes pronunciamentos de Afonso Arinos 2.o me fazem con cluir que ele hoje tende a consi derar-me menos despreparado pa ra opinar sobre assuntos políti cos do que em 46: quando parece

ter lamentado minha — para ele despreparo jurídico de sorelista — falta de saber jurídico. Entre tanto, eu fora discípulo, em Columbia, de tão grandes mestres de proustianamente sociológico. AleDireito Público — Munro e John Barret Moore, Sir Alfred Zimmern, de Oxford seus. Apenas considerava a polí tica sob uma perspectiva antropossocial que só íiltimamente vem sendo a sua.
Que diz o Afonso de agora? Que 0 Direito Político no Brasil tem sido “muito rotineiro”: o que eu dizia em 46 com o meu alegado
sensível ao fator irracional, transjurídico, intimamente social e até
gra-me o Afonso de agora a con cordar comigo; com o meu discur so sobre constituições ou Consti tuinte de 46. Com a minha criti ca de então às “constituições per feitas no seu purismo jurídico”. Chega a louvar aqueles transjuristas como os de Colúmbia — Beard, um deles — para os quais a cha mada ciência política não poderia ignorar o “irracional”. O ilógico. quanto os
INGLATERRA: — FÁBRICAS FLUTUANTES DE PRODUTOS QUÍ
MICOS — A Davy Powergas revelou um esquema sem precendentes para construir fábricas de produtos químicos num determinado lugar e, de pois, embarcá-las para seu destino final, onde serão instaladas. Os planos da companhia britânica de engenharia referem-se a uma fábrica Uutuante de metanol, mas, conforme a própria firma, este conceito pode se aplicar a inúmeros tipos diferentes de fábricas de produtos químicos. O que conduziu a esse conceito é o fato de que talvez possa ser mais barato construir uma fábrica de metanol num país desenvolvido e, de pois, embarcá-la numa_ chata para um país menos desenvolvido onde, presumivelmente, a mão de obra não é suficientemente especializada para construir a fábrica economicamente. Embora nenhuma fábrica de metanol tenha sido construída sobre chatas e nenhum contrato tenha sido ainda assinado para que se inicie a construção, a Day Powergas
A Companhia aponta para fábricas que já foram construídas a bordo, incluindo instalações de processamento para refinação de óleo, fabricação de madeira compen sada e produção de celulose. A Davy Powergas afirma que embora o custo inicial do equipamento e materiais empregados na construção da fábrica sobre a chatà exceda em 25% aquele necessário para a cons trução de uma fábrica convencional, quando a fábrica convencional de metanol estivesse concluída, esta custaria cerca de 19% mais em custos totais de capital. Estas cifras são baseadas nos custos de equipamento e construção para fábricas comparáveis de 2.200 t/dia. Os custos de produção, excluindo o custo de matéria-prima para as mesmas fábricas também excederiam cerca de 19% com uma fábrica convencional, prin cipalmente devido aos custos mais elevados de manutenção, seguro de preciação e despesas de capital. ’ declara que a tecnologia dará resultado.

Concl. da pag. 122
5% de crescimento anual faz supor que os níveis de brilho da indústria do papel serão mantidos. Ward nota que uma fábrica de 750/ t/dia de celulose “kraft” de madeira macia branqueada numa sequência de branqueamento CEDED compra, corretamente, cerca de 6.000 t/ano de clorato.
Caso essa fábrica mudasse para um primeiro estágio oxial-
calino (isso é, A/O DED), o uso do clorato aumentaria para 8.500 tone ladas a fim de alcançar os níveis de brilho, em que insistem os fabri cantes de papel. Se a fábrica mudasse para uma sequência de DcEDED (“Dc” denota o uso de dióxido de cloro e cloro no primeiro estágio), o consumo de clorato elevar-se-ia a 13.000 toneladas por ano. Em várias fábricas estão sendo realizadas experiências para se determinar a melhor sequência de branqueamento. Ward, porém, prevê um total de três fábricas de 750 t/dia nos Estados Unidos usando 75% de dióxido de cloro no primeiro estagio em 1980. Ainda segundo ele, em 1985, 13 fábricas estarão operando dessa maneira. Ao mesmo tempo, duas fábri cas estarão usando oxigênio no branqueamento de primeiro estágio em 1980 e 13 em 1985.
BRASIL: — “KNOW-HOW” DA SERRANA PARA ZÂMBIA E ÍNDIA
A Serrana-Quimbrasil, empresa de fertilizante pertencente ao grupo argentino Bunge & Born, está vendendo para a Zâmbia e índia o seu know-hov/”, desenvolvido no Brasil, para a concentração de rocha fosfática pelo processo de flotação. Segundo Ruy Altenfelder, diretor da Serrana, o processo se adapta a estes países em virtude de as carac terísticas de suas rochas serem semelhantes às existentes no Brasil, seja, os jazimentos são pobres em teor de nutriente fosfórico (P206). O contrato de venda de patente e assistência técnica foi feito com Zâmbia através da empresa estatal Mindeco e prevê três fases de exe cução dos trabalhos, a serem desenvolvidos na região de Caiu: ensaios tecnológicos, levantamentos de dados regionais e relatório final sobre a viabilidade econômica da implantação de uma usina mineradora. a índia, o contrato da Serrana tem as mesmas características do reali zado com a Zâmbia. A empresa que está transacionando a compra do “know-how” e assistência técnica é a Rajastahn State Mine and Mineral Ltda., pertencente ao governo indiano. A região em que a Serrama .vai atuar na exploração de rocha fosfática é a de Jhamarkotra. Segundo Ruy Altenfelder, o processo de concentração de minério por flotação se aplica também à exploração de caulim. A Serrana já está realizando contatos com o Peru, com o objetivo de vender também para este país a sua tecnologia, com aplicação na mineração do caulim. ou a Com
© M0V8MENTO FEMINISTA
JANETE EIKO HIRAMUKI
INTRODUÇÃO:
Nas sociedades primitivas a mu lher tinha papéis fundamentais, porque não havia uma separação entre o mundo doméstico e o pú blico. Com 0 aparecimento da pro priedade e a divisão do mundo em doméstico e público, a muUier foi concentrando-se nas o homem permaneceu ligado às atividades econômicas, políticas e religiosas.
A sociedade competitiva criou o mito de que os indivíduos pode ríam encontrar uma via concreta de realização através de suas qua lidades. Para alcançar essas posi ções sociais, entretanto, as mulhe res não partilharam das mesmas condições que as dos homens. Elas já traziam consigo uma subvalorização de sua capacidade tradu zida em mitos justificadores da supremacia masculina.
A autora é de opmião que as pers pectivas para a imilher são signi^cativas.
ras, por exemplo, mostram o fato gradativamente de que a mão de obra feminina é tarefas domésticas, enquanto usada de acordo com as necessi dades sociais, pois, nesses perío dos, as mulheres são empregadas na produção, ocupando as vagas deixadas pelos homens, em vii‘tu- i de da guerra.
Como Se vê, a mulher vem so frendo determinadas pressões, sempre que tenta entrar ou par ticipar no processo de produção ou em qualquer atividade na qual tenha que competir com o homem. Essas pressões datam de há mui to, porém, sabe-se que elas têm aumentado à medida em que o ca pitalismo, que é uma sociedade Por outro lado, a economia des- competitiva, foi evoluindo, pois o sas sociedades, baseando-se no mito de que a mulher é mais fráemprego de equipamentos mecâni- gU que o homem, que sua função COS cada vez mais aperfeiçoados, deve ser a de esposa e mãe já a absorção da mão de obra foi existia desde que existe a religião, tornando-se cada vez menor. Di- com a diferença de que esse misante dessa imposição, a mulher ticismo em torno da mulher foi sendo gradativamente afasta- meçou a ser explorado pela da da atividade produtiva. É a so- dade competitiva a fim de poder ciedade competitiva que coloca manipular a mão de obra femínibarreiras para impedir a integralização social da mulher. As guercosociena de acordo com a conveniência social.

à medida em que a opressão foi aumentando, em vários lugares do mundo, a mulher começou a cons cientizar-se da sua situação social e iniciou uma luta por uma maior participação na sociedade.
O MOVIMENTO NO MUNDO
(ALGUNS PAÍSES) :
Sabe-se que na França, duran te a Revolução Francesa, com a mudança do regime político, para 0 reverso do regime feudal, pre gava-se a igualdade formal dos membros pela necessidade de mão de obra livre. A sociedade compe titiva, porém, só fez dilatar as di ferenças entre homens e mulhe res. Daí surgiu 0 feminismo tem porariamente, sumindo mais menos durante 3 décadas e res surgiu aliado ao socialismo utó pico.
As primeiras manifestações fo ram através do jornal “A mulher livre”, em 1832. Em 1833. é funda do 0 “Conselho das mulheres”.
A 3 de março de 1948, o decreto que instituía o sufrágio universal e dele excluía as mulheres foi o que acendeu o estopim das lutas feministas. Essas lutas reivindica ram durante muito tempo o direi to do voto feminino, partindo de pois para as outras reivindicações.
1792. A obra continha idéias ver dadeiramente revolucionárias para a época, na medida em que res ponsabilizava a educação para deformações da personalidade fe minina e reivindicava para a mu lher a possibilidade de frequentar as mesmas escolas que os homens a fim de capacitá-las a levar uma existência independente. Aqui o movimento surge gradativamente, pois as que se lançaram na luta pela conquista de melhores opor tunidades de educação e de tra balho e por liberdade política fo ram as mulheres dos estratos mé dios. Estas, porém, foram muito combatidas pelos anti-feministas (incluindo mulheres) imbuídos da mentalidade vitoriana, com sua moral hipócrita e anacrônica, im pelindo muitas vezes o feminismo inglês a assumir formas violentas.

muem
Na Inglaterra, a primeira expo sição sistemática de protesto pe las condições existenciais da lher foi realizada por Mary Wollstonecraft em seu livro “Vindication of the rights of women’
O movimento sufragista só nas ceu no final do século passado, muito tímido, porém, somente em princípios deste século o feminis mo inglês se lança decididamente à militância; praticam todo tipo de violência, lançam mão de to-* dos os instrumentos ao seu alcan ce para mobilizar a opinião públi ca a seu favor. De 1907 a 1912 foi um período marcado pelas mani festações feministas de toda or dem, desde interrompimento de discursos no Parlamento, apedrejamento a policiais, greve de fome na prisão, até incêndio em casa inabitada.
Em 1914, com a guerra, as vagas nos empregos que os homens dei-

xavam foram ocupadas pelas mu lheres. Esta situação estendeu a todas as mulheres em idade de trabalhar a possibilidade de se provarem iguais aos homens no sistema de produção de bens e ser viços.
Em 1918, foi concedido o direi to de voto às mulheres com mais de 30 anos, proprietárias ou espo sas de, 0 que vem mostrar um ca ráter marcadamente classista no sistema eleitoral. Em 1928, cai a distinção, podendo votar as mu lheres com mais de 21 anos.
Nos Estados Unidos, a mais an tiga onda do feminismo, no sécu lo passado, emergiu num período de fermentação: a expansão geo gráfica, desenvolvimento indus trial e reforma social. Seus primei ros esforços visavam a ampliar as oportunidades mulher, abolicionista da década de 1830 que o movimento pelos direitos da mulher como tal teve sua origem política. A causa da mobilização de contingentes femininos, no en tanto, é a própria estrutura escra vocrata da sociedade americana. Quando as mulheres começaram a trabalhar pela abolição da escra vatura, viram que não podiam agir em pé de igualdade com seus amigos varões. Quando elas ten taram falar, em público, numa dessas organizações abolicionistas, elas foram barradas e tivrram de travar uma luta pelo simples direi to de falar em público.
Este momento (mais ou menos 1837) marca a amplidão da cons ciência que as mulheres tomam da necessidade de se reformar a sociedade americana, pois ao lu tar contra a escravidão do negro, as mulheres examinam sua con dição à luz das idéias abolicionis tas e organizam um movimento de reforma das instituições que as colocavam numa condição relati vamente próxima à do negro. O ponto de partida para uma toma da de consciência foi, então, o movimento abolicionista e este foi, também, o seu próprio veícu lo pelo qual foram assumindo no vos papéis.
A emancipação feminina ame ricana tinha seus horizontes deli mitados pelo capital, pois, com a evolução do sistema econômico, desintegrou-se a unidade de pro dução que ela formava juntamen te com a família, com o apareci mento do mito de que os indiví duos poderíam encontrar uma via de realização através de suas qua lidades. E 0 que elas buscam em declarações de direitos é educacionais da mas foi no movimento o suas acesso à propriedade, por ser uma via possível de afirmação na so ciedade capitalista.
A sociedade, então, começa a re viver os mitos religiosos, pois é deles que ela costuma lançar mão para impedir ou retardar a eman cipação de uma categoria social que se impõe à tarefa da liberta ção.
As primeiras lutas feministas vi savam à emancipação política e
somente em 1919 conseguiram o direito de voto. Depois de ganha essa batalha, o feminismo' ficou adormecido por uns 40 anos (um dos motivos foi a guerra) até a publicação, em 1963, do livro “Mís tica Feminina”, de Betty Friedan, que levou à conscientização de todas as insatisfações subjuga das durante todo esse tempo pelo consolo em ter seus maridos de volta dos campos de batalha. O argumento de Betty Priedan con tra a mística feminina de que “maternidade e a vida do lar eram as ocupações mais compensadoras para a mulher” foi: “a única ma neira de a mulher, como também 0 homem, encontrar a si mesma e conhecer-se como pessoa é atra vés do trabalho criativo próprio”. O impacto do livro foi 0 movimento pela libertação da mulher, tal como existe hoje Bstados Unidos, data dessa publi cação. E, atualmente, reivindicam a equiparação dos direitos femini nos a dos direitos masculinos todos os setores sociais, pela forma da legislação.
O movimento, porém, tomou im pulso com a obra de Betty Friedan, uma vez que ela era bastan te polêmica, pois procurava atri buir culpas, ganhava vigor pela intensidade de seu argumento e nem ao menos procurava dissi mular nessa análise dos males so ciais 0 cunho altamente “apaixo nado”.
A autora diagnosticou as inquie tações, mal-estares e insatisfa¬
ções, de que as mulheres em ge- , ral se queixavam, de “problema sem nome” que se baseava num senso de inutilidade intelectual. O motivo seria o fato de as mulheres não estarem usando os talentos e as habilidades que haviam aprendido nos anos escolares, pois estando ocupadas todo o tempo com Os afazeres domésticos, esta riam trabalhando muito abaixo de sua capacidade intelectual ou social. E a sua solução para o ca so era simples: o trabalho profis sional. Ela dá muitos exemplos de mulheres que alcançaram o suces so através dessa solução, tornan do-lhes a vida mais fácil, os fi lhos mais felizes e o seu relacio namento com os maridos mais gratificantes.
Em 1966, Betty Friedan fundou formalmente a NOW (NATIONAL ORGANIZATION OF WOMEN), um grupo moderado que agia co mo uma antecâmara de pressão pela igualdade das mulheres em todas as esferas. Era composto em sua maioria de donas de casas (classe média) e de profissionais femininas, de metas predominan temente político-econômicas.
A NOW, com seu apoio intensi vo, foi responsável em grande par te pela aprovação, no Congresso, da Emenda da Igualdade de Direi tos e também pela retirada, da seção de classificados dos jornais, de especificações quanto ao sexo, como também no cumprimento da Lei de Salários Iguais, de 1963; e por volta de 1970 mais $ 17 mi-


Ihões de diferença salarial eram pagos a mais de 50.000 traballiadoras.
A organização, porém, parece que não atendeu às exigências emocionais de mulheres mais jo vens e de classes inferiores, que buscavam um confronto mais pri mário ou mais profundo ■ ou até racional com os homens, menos surgindo logo em seguida facções disputa, dai a formação de dissidentes e novas orgaem grupos nizações que exigem um total redas relações e dos papéis exame homem-mulher. Algumas querem ■ " de instituições como a abolição do até uma revisão tradicionais, casamento, por ter “o mesmo efei to que tinha a instituição da es cravatura”.
Há uma linha de acusação con tra os homens, seguida pelas femi nistas radicais, na qual se classifi ca as fundamentalmente políticas, seja, conforme salienta Kate Mil- lett, elas são “os ajustes através dos* quais um determinado grupo de pessoas é controlado por ou tro”. Diz ainda que o status con cedido à mulher, desde o apareci mento da sociedade patriarcal, tem sido um status degradante, o de escrava e de doméstica.
pelos homens, provavelmente co mo uma consequência natural de diferenças físicas, enquanto a criação dos filhos, os afazeres do mésticos mais sedentários eram funções exclusivamente femininas.
Ainda segundo a tese de Kate Murdock e de outras feministas extremadas a situação da mulher presa ao lar e aos afazeres domés ticos, a sua limitação, tudo isso foi 0 resultado de uma conspira ção deliberada e egoísta por par te dos homens.
De acordo com a antropóloga Glória Levitas, essas diferenças entre o homem e a mulher são consideradas simplesmente como o efeito de pressões evolucionárias que conduziram à diferenciação entre os sexos, contribuindo para sobrevivência humana.
Nas descobertas feitas pelo an tropólogo George Murdock, po rém, constatou-se que, mesmo em épocas pré-patriarcais, em muitas sociedades primitivas, os trabalhos pesados e perigosos, mesmo a guerra, eram executados sempre a relações entre os sexos como ou
As exigências feitas pelos gru pos feministas incluem eliminação das desigualdades nos benefícios econômicos e sociais concedidos ao homem e à mulher, repúdio às leis do aborto, desenvolvimento de me lhores anticoncepcionais e partici pação do homem na tarefa de cui dar dos filhos. Porém, o ponto bá sico do movimento é a transfor mação psicológica visando a que a mulher deixe de crer que sua fun ção é satisfazer sexualmente o homem e gerar filhos à sociedade.
A homossexualidade feminina e a total rejeição da gestação e das funções sexuais são apoiadas por facções mais extremistas. Já os grupos menos radicais insistem na possibilidade da mulher desenvol-

Pver atividades em aditamento ou em substituição àquelas tradicio nais (maternidade).
Na história, a seleção (darwiniana) parece ter favorecido as mu lheres mais sedentárias e menos ambiciosas, em detrimento de suas irmãs mais agressivas. Ainda se gundo Glória Levitas, “se elas in sistirem em ser tratadas como ho mens, não destróem este processo, ajudam-no a se manter”. A mu lher pode trocar a sexualidade lo poder e a maternidade pelo cesso.
llierá sua semente, abrigará o fe to e produzirá a criança. O que atualmente parece alarmar mui tos homens e causar descontenta mento e incerteza às mulheres não é 0 desvio da sadia feminilidade biológica e sim os deslocamentos e choques da transição dos encargos sociais femininos Que ambos, ho mem e mulher, confundem com a feminilidade biológica essencial.
O psicólogo Joseph Adelson en foca uma questão um tanto quan to intrigante sobre o movimento: o lugar da criança e da educação infantil no pensamento do movi mento. “De maneira geral parece não ter lugar algum. Pode-se ler uma vasta antologia de corajosos documentos do movimento e despesumas ao exigir que os pa drões femininos se igualem aos masculinos e ao insistir que a sua fisiologia seja irrelevante, poderá acabar perpetuando sua própria desvantagem e discriminação con tra eles.
Como se pode observar, 6XÍS^0 preocupação por parte dos antropologos uma 110 sentido de que transformação cultural a das”. por que passa esta geração aconteça den tro de uma estrutura biológica, nutrindo uma vaga esperança de que haja um reconhecimento fu turo de que homens e mulheres têm seu lugar deritro da natureza e não acima ou fora dela.
cobrir que as crianças são conce bidas apenas como coisas que não devem ser concebidas ou, se con cebidas, que devem ser aborta-
As crianças, principalmente da classe média superior, sofrem grande negligência dos pais, que denota uma extraordinária absor ção, narcisismo que, sem dúvida, deverá produzir também um nar cisismo reativo na criança.
A feminilidade, em qualquer epoca, de acordo com Morton Hunt, é um conjunto de que a mulher tem
M.
encargos para com as pessoas que a cercam; alguns biológicos (imutáveis) sociais (sujeitos a grandes varia ções). Por exemplo, biologicamen te, a mulher será sempre te sexual do homem; também aco-
sao e outros a aman-
O que é bastante problemático na literatura do movimento, co mo em grande parte das manifes tações públicas desta época, é a presença frequente de um narci sismo ferido, o sentimento de ter sido privado e enganado; fala-se muito do ego (auto-realização, auto-determinação) e tão pouco de dedicação e responsabilidade

para com outros. Segundo Adelson, talvez isso explique a estra nha ausência da criança em gran de parte dessa literatura do movi mento. “Com tão pouco sentimen to disponível para o próprio ego, que pode restar para oferecer a outrém ? ”
Mas, na realidade, não se pode negar o cunho libertador de que se reveste o pensamento do mo vimento, no sentido de transfor mar a estrutura social para que ela abrigue novos valores, em de trimento de outros, já ultrapassa dos pela sua própria evolução ou até mesmo ao lado de outros va lores, o que seria dizer a criação de novos valores convivendo ao lado dos já existentes. Isso talvez seja apenas uma consequência da evolução social a que chegamos, pelo avanço da tecnologia pela transformação do sistema econô mico, principalmente, e, conse quentemente, pela evolução da formação cultural, intelectual do nosso tempo. Por outro lado, não se pode esquecer que tudo o que há são consequências da tradição cultural da espécie; portanto, to mar uma posição radical no movi mento como os grupos extremis tas que veementes, acusam ho mens ds terem conspirado para a criação das diferenças sexuais denotaria, talvez, que o elemento não conhece o próprio contexto, dentro do qual se desenrola esse movimento, e isso seria equivalen te a afirmar que, apesar de se di zer dos mais conscientes da clas se (fcm.), na verdade, tomou-se
de “febre” ou exaltação por uma ideologia, a tal ponto que come çou a se enevoar a própria visão da realidade. Toda pessoa que se exalta por uma idéia e chega às suas extremas consequências, ao tentar impô-la, naturalmente, por estar tão impregnado dela, não quererá nem ao menos considerar as possiveis reações ou argumen tos que lhe forem apresentados. Ora, sair de um extremo para passar para o outro extremo, de certa forma, estaremos substituin do somente os antigos pelos no vos padrões, tabus e condiciona mentos. Não seria, portanto, a de cisão mais racional a de introdu zir mudanças na estrutura sociaU sem com isso abalar a estrutura biológica, natural do ser humano, uma vez que ele nasce com sexo e funções biológicas diferenciados do sexo oposto? Não estaria este momento histórico querendo dizer à humanidade que a diferença de sexos foi criada para que eles se complementem ém suas diferen ças biológicas e que cabe ao bom senso humano acabar ou diminuir as diferenças sociais inadequadas ao convívio social harmonioso dos seres humanos?
O MOVIMENTO NO BRASIL:
As manifestações femininas têm início no Brasil pouco antes da I Guerra Mundial, em consequência da visita da Dra. Bertha Lutz a Londres no momento em que o feminismo inglês se encontrava em uma de suas fases mais vio-

1918, Bertha Lutz
lentas. De volta ao Brasil, já li cenciada em Ciências pela Facul dade de Ciências da Universidade de Paris, em transforma-se na primeira pregadora, através da imprensa e da tribuna, da- emancipação da mu lher.
Em 1919, tendo assumido a lide rança do movimento feminista brasileiro, representa o Brasil, juntamente com Olga de Paiva Meira, no Conselho Feminino In ternacional da Organização Inter nacional do Trabalho, em cuja primeira Conferência são apro vados, dentre outros, os seguintes princípios gerais: igual, sem distinção de ra o mesmo trabalho; e a obriga ção de cada Estado de organizar um serviço de inspeção incluindo mulheres, a fim de assegurar aplicação das leis e regulamentos para a proteção dos trabalhado res. o de salário sexo, paa
Regressando de uma Conferên cia dos Estados Unidos, Bertha Lutz fundou a primeira Sociedade Feminista Brasileira. Em 1922, Rio de Janeiro, essa associação transformou-se na Federação Bra sileira pelo Progresso Feminino (FBPF). A luta que começou a ser desenvolvida pela FBPF ficava de lineada nos sete itens gerais que integravam suas finalidades, se gundo consta do Art. 3 e seus es tatutos: no
Promover a educação da mulher e elevar o nível da instru ção feminina; 1
2 — Proteger as mães e a ínfânda;
3 — Obter garantias legislati vas e práticas para o trabalho fe minino;
4 — Auxiliar as boas iniciativas da mulher e orientá-la na escolha de uma profissão;
5 — Estimular o espírito de so ciabilidade e de cooperação entre as mulheres e interessá-las pelas questões sociais e de alcance pú blico;
6 — Assegurar à mulher os di reitos políticos que a nossa Cons tituição lhe confere e prepará-la para o exercício inteligente desses direitos;
7 — Estreitar os laços de ami zade com os demais países ameri canos a fim de garantir a manu tenção perpétua da paz e da jus tiça no Hemisfério Ocidental.
Como se pode observar, a FBPF nasceu voltada para suas congê neres norte-americanas, quer se atente para os pontos básicos de seu programa de ação no que tan ge à consecução dos direitos femi ninos, quer se enfoque seu desejo expresso de promover e reforçar a integração do Brasil no conjunto de países que integram o chama do Bloco Ocidental.
O espírito da época, porém, mos trava a necessidade de se lutar pelo direito ao voto feminino. A FBPF luta incansavelmente pela instituição do sufrágio feminino, provocando divergências de opi nião entre os juristas na interpre tação dos artigos da Constituição

mo já foi visto, só que com a evolu ção do sistema econômico, a mu lher passou a ser manipulada pe la sociedade, de acordo com a ne cessidade social, independente mente de ser o sistema econômico referentes à questação pleiteada. Entretanto, somente em 1934 ter minaria a luta vitoriosa das su fragistas, com a Constituição de 1934.
A partir daí, começam as lutas pela legislação conveniente sobre o trabalho feminino. Foi criado o Estatuto da mulher, que introdu zia uma proteção desnecessária a ela, vulnerabilizando-a ou discri minando-a, segundo as feministas. A legislação brasileira, sob certo aspecto, é muito avançada. Ela protege muito a mulher e essa pro teção não deixa de ser uma discri minação, uma maneira de mini mizar a competição, o que vem re forçar o mito de que a mulher é inferior ao homem. A legislação deixa explicitada a idéia de que o papel da mulher é o de proteger a prole, quando na realidade, o que está em jogo não são esses fato res, mas a necessidade de elimi nação da competição para a ma nutenção dos índices de desempre go num nível satisfatório para o equilíbrio social (em se tratando de homens). Porém, existe outra explicação na qual a razão real, que se verifica, do sistema econô mico seria o de conseguir estoque de mão de obra para conseguir com isso um barateamento da mão de obra. E os mitos criados em torno da mulher só vêm favore cer o sistema econômico capita lista.
Existem outras explicações sobre o fenômeno, que partem dos fa tores históricos e biológicos, co¬
capitalista ou socialista, pois mes mo em certos países, onde a eco nomia é centralizada, existem dis criminações em relação ao traba lho da mulher, no sentido em que ainda prevalece a imagem da es posa e mãe, isso verificado na fre quência maior da mão de obra fe minina em serviços em que ela cuida de pessoas. Por exemplo, enfermeiras, médicas, nutricionis tas etc. Outro fator é o de que países ainda têm um nível esses de produção não satisfatório, em relação aos Estados Unidos, por exemplo, daí a necessidade de uti lização de toda mão de obra dis ponível.
Diante disso, uma conclusão pode esboçar-se: o papel da mu lher na sociedade, em termos de mercado de trabalho, ainda é o de instrumento do sistema econô mico para tentar manipular os fa tores que possam influenciar a sua estabilidade como um grupo de classe social. Como ilustração, podemos verificar que nos grandes centros urbanos, a mulher tem boa parcela na participação das atividades sociais. Porém, esta se verifica em grande porcentagem nas vagas deixadas pelos homens, a medida em que vão ascendendo em suas funções no sistema eco nômico, ou ainda quando a eco nomia deseja diminuir os custos
da mão de obra, incentivando a entrada da mulher na competição de um lugar no sistema econômi co. E o movimento feminista lu ta, por conseguir uma igualdade de direitos, no sentido de eliminar as legislações discriminativas exis tentes, muito embora essa luta ainda se encontre num nível de conscientização da classe femini na.
Segundo Saffioti, porém, no Brasil não há propriamente mo vimento feminista. O que há são grupos de estudo preocupados o problema. No Brasil alguns jor nais procuraram explorar os as pectos negativos do movimento americano. Esse expediente foi usado sobretudo para funcionar juntamente com o complexo de machismo, como uma espécie de repulsa a qualquer reivindicação feminina.

complexo de ambiguidade, do qual a sociedade se utiliza para trans formar a mulher numa força de trabalho-reserva”.
Diante disso tudo, fica-nos a questão: “Afinal, o movimento trouxe algum benefício à mulher, como elemento de uma classe so cial?” De que maneira ele é atuan te para a classe e quais as suas perspectivas para o futuro?
De maneira geral, creio que o movimento beneficiou a mulher, pela sua conscientização, ainda não total, como também a do ho mem, de que está havendo uma mudança de valores nos costumes, na tradição cultural de toda a hu manidade, resultado da própria evolução das relações sociais, pro piciada principalmente pela evo lução do sistema econômico. É na tural que todo desenvolvimento econômico seja acompanhado de uma evolução cultural e política, pois do contrário resultaria, sem dúvida, que 0 homem, ao criar novas tec nologias, novos padrões, reestruturar-se
Então, se uma mulher resolve engajar-se num movimento desse tipo, logo passa a ser chamada de lésbica, porque as mulheres foram socializadas para assumir papéis de mãe e esposa. Quando uma mulher sacrifica a sua família em benefício de uma atividade ocupacional, imediatamente, é chama da de mãe desnaturada ou esposa sem um desequilíbrio, visto precisa adequadamente para poder usufruir das inova ções. E essa conscientização ain da está começando a se processar, em grau maior ou menor, confor me o desenvolvimento da socieda de em que se vive, e isso é tradu zido na percepção que as mulhe res têm de que existem barreiras à sua participação, até mesmo no campo das idéias, em qualquer se tor da sociedade. Talvez nesse sen tido é que o movimento seja responsabilidade. Ela é atin gida naquilo que lhe é mais caro. Se, por acaso, ela deixa sua ati vidade ocupacional, acaba fican do com complexo de culpa não estar se dedicando mais às por atividades profissionais. Enfim, “é 0 que costuma ser chamado de

mu¬
atuante, de abrir os olhos da lher e também do homem de que a mulher sempre encontra obstá culos à sua emancipação; mas que isso pode ser alterado, aliviando tensões, trazendo ao próprio ho mem uma libertação de suas tra dições que o íaziam exigir muito de si próprio, quando na realida de, em havendo uma maior matu ridade, em todos os sentidos, do ser humano, homem e mulher po dem se realizar em qualquer as pecto, porém, juntos, sem neces sidade de se competirem como classes, ao invés, um se comple mentando ao outro. Isso é feito através de divulgações dessas idéias inseridas em todos os veiculos possíveis que chegam à co munidade, pelas vias de comuni cação que conhecemos, como a te levisão, a literatura, o jornal, a revista etc., ainda que não atinja todos os niveis de compreensão, mas algum ponto da mentalidade dessas pessoas deve ser atingido.
inclinados, cada vez mais, aò as sunto, por ser bastante contro verso.
FONTES BIBLIOGRÁFICAS:
1 — Saffioti, Helleieth Iara Bongiovani — A mulher na Socieda de de Classes: Mito e Realidade. Petrópolis, Editora Vozes — 1976 (Coleção Sociologia Brasileira — Volume 4).
2 — Saffioti, Helleieth Iara Bongiovani — Entrevista realizada pe la BANAS — 1 055 — 01-07-74.
3 — Kapp, Isa — 1972 — O neofeminismo. “Diálogo” vol. 5 (4) out-dez:69-77.
4 — Adelson, Joseph — 1972 — Uma crítica ao “Women’s Lib” “Diálogo” vol. 5(4) out.-dez; 79-87
5 — Vários — 1970 — A eman cipação dás mulheres. Seção es pecial de Diálogo” vol/ (4)
6 — Saffioti, Helleieth Iara BonA posição feminina:
As perspectivas da classe femi nina para o futuro, creio que são significativas, pois a tendência é ela participar cada vez mais no “Folha de São Paulo”, edição de campo profissional e, daí por dian te e como consequência natural, nos outros setores, muito embora eu creia que. para tanto se vá aingiovani tema sempre atual (entrevista na 21-abr.-1976.
7 — Centro Nacional de Recur sos Humanos — “Aspectos da dis criminação da mulher no do de trabalho” — R.j. _ ipea/ CNRH — mar/1970 13p.
8 — Marly A. Cardone — Entre vista pessoal com a Autora deste tudiosos de vários setorès, e até artigo realizada entre maio/junho mesmo por leigos, que se sentem de 1978. merca¬ da passar por processos múltiplos de transformação, onde o tema aqui tratado deverá ser por muito tempo um objeto de estudo de grande interesse, por parte de es-
BRASIL- — AS OPÇÕES PARA A VINHAÇA — Um equipamento dpsenvolvido recentemente pela Borag, uma empresa de São Paulo, se nropõe a resolver o grave problema da degradação dos rios pelo lança mento contínuo de vinhaça de caldo de cana pelas destilarias de álcool. Trata-se do evaporador de vinhaça integrado na destilação que, segundo o fabricante, permite o aproveitamento total da matéria-prima como adubo orgânico, ou sua transformação em ração peletizada. Em prin cípio, a vinhaça pode ser totalmente aproveitada como adubo orgânico, pois contém sais minerais, como potássio, nitrogênio e fósforo, além do grande teor de matérias orgânicas. Mas o problema surge porque a vinhaça, particularmente a de cana de açúcar, possui apenas 6% de sóli dos e 94% de água. Por causa disso, seu grande peso acaba encarecendo de tal modo o transporte da matéria-prima que ela se torna mais cara que os adubos minerais, quando transportada a uma distância superior a 5 hm. O novo equipamento reduz o teor de líquido de 94% para ape nas 40%, viabilizando o custo da vinhaça como adubo, ele não consome vapor adicional, pois utiliza a condensação dos vapores alcoólicos, diminui o consumo de água da destilação em 30% e elimina a incrustração, problema que normalmente ocorre quando a formação de certos sais acaba obstruindo os condutores da destilaria. Caso o usineiro, que muitas vezes também é agricultor de cana, não decida utilizar a vinhaça como adubo, haverá outro caminho: o de sua trans formação em ração peletizada para animais. Para isso, o equipamento já é projetado para receber um secador que extrai totalmente a água. Além disso.

BRASIL: NOVA FÁBRICA PRODUZIRÁ PRODUTOS À BASE DE SILICONE — Até o final de março, o Brasil contará com a produção de mais uma empresa. Trata-se da Wacker Química do Brasil, fundada recentemente pela firma alemã Wacker Chemie, de Munique, em asso ciação com a Hoechst AG. O objetivo da nova empresa consiste em iniciar a produção de borracha e outros produtos à base de silicone. Em complementação a estas atividades, a Wacker já apresentou ao Conselho de Desenvolvimento Industrial ura projeto voltado à produção de maté rias-primas, prevendo investimentos de US$ 40 milhões. Esta unidade industrial deverá ser instalada no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, e produzirá silanos e produtos básicos para a fabricação de silicones, utilizando a tecnologia da Wacker Chemie e silício e metanol (matérias- primas nacionais). Os produtos de silicone têm aplicação_ em quase todos os ramos industriais como fabricação de óleos, emulsões, graxas, pastas, resinas e elastômeros e o seu consumo serve, inclusive, como indicador do grau de industrialização de um país. Na unidade a ser instalada em Camaçari, juntamente com sócio brasileiro ainda desco nhecido, 85, por ceito das máquinas e equipamentos necessários à execu ção do projeto serão de procedência nacional. No que diz respeito a produção da unidade, uma parte considerável da mesma se destinará ao mercado externo.
O ext«irmíríío de milhões de pessess
JEAN PIERRE DUJARDIN

NPara dizer
A China, as coisas não foram muito diferentes. “A revolu ção não é um jantar de gala”, proclamava Mao Tse-turig em março de 1927. as coisas corretamente”, acrescen tava ele, “é preciso criar durante algum tempo o terror em cada re gião rural”. Subindo ao poder em 1949, depois de duas guerras civis, o PC chinês achou-se no dever de realizar esse programa.
Desde 1948-1949, vários milhões de homens e mulheres são “liqui dados”. Muitas execuções”, escre ve o professor Richard L. Walker, diretor do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade de Carolina do Sul, em um relatório preparado para o Senado norteamericano e publicado em 1971 pela revista Issues and, Studics, “ tiveram lugar em consequência de processos públicos durante os quais as multidões reunidas, superexcitadas até o frenesi por agita● dores misturados a suas fileiras, reclamavam invariavelmente a pe na de morte e nenhuma piedade pelos acusados”, públicos” foram organizados dia riamente nas grandes cidades da China no momento em que se pu nha em prática a coletivização agrária. Durante a campanha “anticontra - revolucionária”, 1951-1952, enumeram-se mais de um milhão e meio de execuções. 1952-1953, as campanhas dos
A reportagem que se vai ler, pu~ blicada pelo jornal francês “Le Figaro", em seu suplemento de -dezembro do ano passado, dá bem a inimaginável dimensão do extermínio de milhões de pessoas, pelos tiranos comunistas do sécu lo XX.
anti” e do^ “cinco anti” traduziram-se por massacres.
Tais “processos exe-
Em 29 de agosto de 1954, o go verno de Pequim adota uma lei so bre a “educação pelo serviço do trabalho”. Esclarecendo: sobre os trabalhos forçados. Campos de concentração são instalados em todo o país. Em 1955, no momen to da apuração de Kao Kang e Jao Chu-chin, Mao lança uma campanlia contra os “ contra-revolucionários ocultos”. Dois anos mais tar de, a “campanha das cem flores” visa aos intelectuais e à "direita” do partido. Eni seu relatório ao Congresso Nacional Popular de ju nho de 1957, Chu En-lai esclarece que, desde 1949, 16% dos “contrarevolucionários” presos foram cutados.
Em três
Para o período de 1949 a 1958, o New York Times (2 de junho de 1969) apresentou o número de 30 milhões de “ opositores dos. de executaA Rádio Moscou (7 de abril de 1969) falou em “mais de 25 mi-
de chineses exterminados Ihões entre 1949 e 1965. Em 1958-1960, a campanha do ‘●grande passo à frente” faz, no mínimo, dois milhões de mortes.
estimativa mais moderada é de 500 mil mortos no conjunto desse pe ríodo.

Ao mesmo mobilizados
No total, Richard L. Walker apre senta uma avaliação que n&o é in ferior a 63,7 milhões de mortes de vidas ao comunismo chinês. O nú mero é o que se retém mais geral mente. Estimativas mais altas, chegando até 86 milhões de mor tos (Free China Relief Association, junho de 1978) e até 120 milhões de mortos, também foram apre sentadas.
Nenhuma estimativa à taxa
“Só em 1960”, esclarece a Rádio Moscou, “o governo de Mao Tsétung suprimiu mais chineses do que os que morreram durante toda a guerra do Japão”. A luta contra as minorias nacionais, inclusive o Tibet, chega à eliminação de milhão de oponentes, tempo, mais de 100 milhões de chi neses são declarados para o trabalho”. Em 1955, um re latório das Nações Unidas fala 25 milhões de deportados. Em 30 de maio de 1967, a Rádio Moscou apresenta o número de 18 milhões de detidos, é inferior a 12 milhões, de mortalidade anual de 10%, isso ainda significa 25 milhões de mor tos. um
A “revolução cultural proletária” (1965-1969) provocou também cho ques sangrentos. Calcula-se em 50 mil o número dos mortos, cidade de Wutcheu (Kiangsi), du rante o verão de 1968. de corpos atirados à água chegam às praias de Hong-Kong. O “rusticamento” dos ex-guardas vermelhos traduz-se pelo envio campo de 25 milhões de jovens. A so na Milhares ao
Finalmente, se levarmos em con ta — sem com isso procurar “in flar” os números as vítimas do comunismo na URSS e na China, mas também as mor tes provocadas no mundo por di versas invasões, guerrilhas e outras agressões de inspiração marxista, sem nos esquecermos das vítimas de- repressão na Europa Oriental, nem das dos expurgos realizados em países como o Cambodge (onde dois milhões e meio de indivíduos foram massacrados desde abril de 1975), chegamos a uma cifra estarrecedora, pouco afastada de 150 milhões de vítimas, e que, no en tanto, ainda ameaça estar aquém da realidade.
apenas
O comunismo no poder resultou no maior holocausto de todos os tempos.
O ETNOCIDIO UCRANIANO (1921 — 1923)
1. Vítimas da carestia de 1921 — 1922
2. Mortos de fome durante a carestia de 1931 — 1932 Executados” ou "liquidados” durante o mesmo período
3.
é. Mortos em deportação
O TERROR STALINISTA (1936 — 1938)
População das prisões e dos campos no início de 1937
Prisões e deportações de janeiro de 1937 a dezembro de 1938
Número das execuções em 1937 — 1938
Número de falecimentos nos campos em 1937 — 1938
Número dos presos (campos e prisões em fins de 1938

INGLATERRA: — NOVOS USOS PARA OS NÃO-TECIDOS FUNDI
DOS DA ICI — Um novo e extraordinário uso para os não-tecidos fun didos foi desenvolvido pela ICI Fibres em colaboração com o Ministério da Defesa Britânico na Royal Aircraft Establishment, em Farnborough: onde se descobriu que tais materiais proporcionam um meio de proteger os tanqués de combustível dos aviões militares, diminuindo o risco de incêndio ou explosão nestes aviões caso sejam alvo de um impacto direto proveniente de um ataque inimigo. Dois novos produtos foram desenvolvidos para este fim. Um deles foi denominado “Promel” e é um material feito de fibras de nylon fundidas que foi planejado para ser usado dentro dos tanques de combustível. Sua função é absorver o calor de uma explosão potencial e suprimi-la se um projétil entrar no tanque acima do nível do combustível. Com sua baixíssima densi dade de aproximadamente 0,5 libras por pé quadrado (0,0085 de gravi dade específica), o aumento de peso é muito pouco. Como o material ocupa apenas cerca de 0,75 por cento do espaço destinado ao com bustível e retém apenas cerca de 2,25 por cento do combustível, a redu ção da capacidade é de apenas 3 por cento. Até agora, somente o poliuretano vinha sendo utilizado para este fim. Porém, embora o “Promel” seja várias vezes mais caro, ele tem as vantagens especiais de ser mais leve, absolutamente neutro, não solta pó e é capaz de su portar uma temperatura de pelo menos 100°C — cerca de 50° elevada que a temperatura máxima de operação do poliuretano. O segundo produto, complementar, é a fibra fundida “Atomel”, que neste caso é feita a partir de uma fibra com base de poliéster. é utilizado nos vãos secos ao redor do tanque de combustível ■ ; i função é suprimir incêndios do combustível resultantes de projéteis que penetram num tanque abaixo do nível do combustível. O "Atomel” é também um material de baixa densidade, com cerca do dobro da gra vidade específica do "Promel à água. quinas.
mais O Atomel e sua e é tratado a fim de se tornar refratário Material flexível, ele pode ser laminado e trabalhado em má-
BRASIL: — OS DEFENSIVOS DA ELI LILLY-BIOBRÁS — A Eli I^ly and Corapany, 169.* maior empresa em faturamento (US$ 1,5 bilhão) dos Estados Unidos, decidiu ampliar seus negócios no Brasil, onde já atua na área de medicamentos. A empresa participará com 49% do capital da Bioquisa Agroquímica, em associação com a Biobrás Bioquí mica Brasileira, de Minas Gerais. Essa nova “ joint-venture” pretende aplicar, nos próximos anos, US$ 50 mühões de implantação de uma fá brica de defensivos agrícolas, no Triângulo Mineiro ou no Sul do Estado. Basicamente, a Bioquisa terá uma linha de produção centrada em três produtos. Os herbicidas “Trifluralina” (para as culturas de soja, algo dão e amendoim) e o “Tebutiuron” para as culturas de cana-de-açúcar ou para a conservação das margens de ferrovias e linhas de transmissão quando aplicado em doses concentradas. E ainda o fungicida “ TriciHidrasino”, especificamente destinado às culturas
A Lilly concentrava-se no setor de medicamentos, no Brasil, e só recentemente iniciou sua atividade na área de produtos químicos para a agropecuária, através de sua divisão Elanco. Para fortalecer sua posição no setor de medicámentos no Brasil, onde domina o mercado ● ^ Lilly associou-se com a própria Biobrás, no ano passado, cnando a Biofar, em Montes Claros, onde implanta a 2.“ maior fábrica do mundo de cristais de bovino e suíno. clasol”, a base de de arroz.
-j ‘Insulina”, obtidos por extração do pâncreas ● i..., Biofar, a Lilly participa com 46% do capital e estão ■?Qrta milhões. Originalmente, a Biobrás foi ideali- indiic^-Ic insumos para indústria farmacêutica e outras imnnrta procurando oferecer matérias-primas que o País oriffem montar uma rede de coleta de subprodutos de mac rífvr o f ^5®^°mago 6 pancrcas), a Biobrás passou a produzir enzi mas por extraçao, como lítica, além de coalho
a
Pepsina”, “Pancreatina” e mistura proteorip «-Rrnr«^inx,«» queijos. Recentemente, acrescentou a pro dução de Bromelma , por extraçao da raiz do abacaxi.

BRASIL: « -1 CARNALITA AJUDARÁ BALANÇA COMERCIAL — O Brasil poderá econom^ar, futuramerite, cerca de US$ 66 milhões, atual- ^ importação de fertUizantes, caso a exploração da j^ida de carnalita, em Sergipe, seja viável. Essa auto-suficienc ia no setor o ^ a agrici^tura está a depender, ainda, dos estudos que a Pundaçao Umversidade Empresa de Tecnologia e Ciências, do Rio Lrrande do aful, está realizando sobre a eficiência da carnalita. Os pri meiros resultados cordirmam a suspeita dos técnicos sobre suas quali dades. No entanto, há outros aspectos a examinar, pois os técnicos pre tendem estender as experiências na próxima safra de milho, quando o minério será testado em condições de lavoura. Os estudos já estão sendo realizados, há dois anos, com a finalidade dé, confirmados os méritos da carnalita, reduzir as importações de fertilizantes potásticos, que chegam a 1,2 bilhão de t/ano. A jazida de Sergipe tem dez bilhões de t do mi nério, cuja extração está sendo estudada pela Petrobrás Mineração.
indicadores econômicos e soemis
JOHN P. HUTTMAN
JAMES N. LDTER
(...) Nesses últimos anos, hou ve um interêsse crescente, nos pla nos nacional e internacional, pe la qualidade da vida e pela ela boração de indicadores para avaliá-la(l). A interpretação dada por D.C. Harland, segundo a qual a qualidade da vida é sinônimo de vida agradável, de bem estar so cial, de proteção social geral e de progresso social, reflete em geral a maioria dos pontos de vista ex pressos a esse respeito(2). Os au tores deste artigo podem se ligar a esta definição. Paralelamente às tentativas feitas para definir e avaliar a qualidade da vida, esbocou-se uma tendência a ordenar

Sob o titulo: “Os indicadores econômicos e sociais e a qualidade da vida”, '‘Travail et Société”, revista do Instituto Internacional de Es tudos sociais, de Genebra, 'publi cou, no seu número de janeiro de 1978, vol. 3 n? 1, um estudo de John P. Huttman e James N. Liner. Encontraremos a seguir amplos extratos deste estudo”. 0 precedente econômico
(...) A revolução industrial mo dificou profundamente a noção da qualidade da vida, fazendo surgir valores compatíveis com a nova ordem econômica. O meio natural assim como os recursos humanos foram explorados como fontes de energia, de matérias primas, de mão de obra e, num plano supe rior, suscitaram o espírito de in venção e de organização. Na Eu ropa ocidental, os antigos valores da sociedade rural estática cairam ou foram adaptados, em al guns casos, ao novo mundo indus trial e progressivamente urbaniaado do século XVIII. Uma dis tância crescente separou os ho mens psicológica e materialmente de seus pontos de referência preindicadores sociais, que se utiliza combinando-os com outros, notadamente de natureza econômica, estimativas entre as quais as quantitativas de situações, muta ções e problemas sociais, que vi sam avaliar os acontecimentos, permitir a discussão de políticas gerais e controlar os efeitos das medidas tomadas” (3). Ou então, como F.M. Andrews observa, ‘‘o movimento mundial para a orga nização, o controle e a utilização crescente dos indicadores sociais provam que não só se deseja me dir e compreender o bem estar humano, como também contribuir para ele”(4).

cedentes. Abandonaram suas rai zes, tendo chegado a adotar valo res e atitudes que, em certos ca sos, reforçaram suas possibilida des de adquirirem riquezas e pDder, e, mais frequentemente, lhes permitiram adaptar-se a situa ções nas quais podiam lutar para sobreviver (5).
O capitalismo industrial fez do consumo material um critério da qualidade da vida. A degradação do ambiente e a desorganização da ordem social sao ligadas consumo material e
sao aceitas por aqueles que estão prontos a forniular um julgamento (se for possível pensar a . , em fazê-lo), a tecnologia industrial bastante mitiva no início era i preservar pn- incapaz de o ambiente assegurando mesmo tempo a produção. A pobreza_ e a impotência criaram uma mao de obra maleável mente dócil. Aqueles competência. geralque tinham ambiciosos, às vezes os garantidos, reagiram às incitações econômicas que visa vam mobilizar o capital, mo organizar os recursos dução- Porjou-se os assim coe a propela persuasão mao de obra disciplinada. As circunstâncias tornaram necessá ria uma
uma racionalização íntelec- tual para justificar a sociedade industrial, legitimar os valores es tabelecidos e, incidentemente de finir um contexto uo qual se pos sa interpretar a qualidade da vi¬ da.
Esta idealização do novo mun do industrial foi caracterizada tadamente pelo aparecimento da no-
concorrência. Os filósofos e os ob servadores mais pragmáticos e mais perspicazes da vida sócioeconôinica, da qual Adam Smith foi um dos mais iminentes, subli nharam as vantagens da concor rência. Atribuiu-se à população um apetite vivo e quase insaciável por bens materiais, certos teóricos discernindo nela tanto consumido res como trabalhadores. O clima de concorrência próprio à socie dade industrial encorajou as ino vações. Todo o sistema era basea do sobre o papel do capitalista responsável pelas decisões. Bene fícios recompensariam momenta neamente os realizadores que sa biam interpretar os sinais do mer cado. A concorrência no mercado era considerada não apenas como sã e construtiva, mas também co mo indispensável ao funcionamen to da economia, na falta de outras forças capazes de imprimir-lhe uma orientação.
O modelo da concorrência foi es tabelecido e utilizado como o ins trumento essencial das análises econômicas. Os elementos do mo delo assim concebido englobavam os produtores e os consumidores e um número infinitamente grande de micro-unidacles, das quais ne nhuma pod’a influir mesmo que pouco sobre os preços ou o forneci mento do mercado. A natureza abstrata deste modelo permanecia sem efeito sobre o processo pelo qual cada consumidor tentava realizar o melhor negócio no mer cado livre. O modelo tinha por ob jetivo principalmente a repartição
dos raros recursos c a satisfação global. As estruturas da distribui ção na sociedade não prendiam em nada a atenção. A desigualda de era inevitável. Alguns ofere ciam seu trabalho, enquanto ou tros traziam suas competências mais preciosas em matéria de ges tão, a remuneração de cada um sendo proporcional ao seu papel.
A TEORIA DA UTILIDADE
Um interesse renovado pelo pa pel do consumidor, no funciona mento do sistema do mercado, ma nifestou-se com o aparecimento, nos anos de 1870, da teoria da uti lidade e da análise da curva de indiferença nos anos de 1880. A teoria da utilidade está essencial mente fundada sobre a diminuição da utilidade marginal, ou satisfa ção tirada de cada unidade adi cional de um produto, o estado de equilíbrio do consumo sendo ins taurado quando a utilidade ginal por unidade monetária gas ta na última unidade de cada pro duto tornava-se a mesma que pa ra qualquer outro produto. A aná lise da curva de indiferença ten dia sobretudo a conhecer binações de produtos aos quais os consumidores permaneciam indi ferentes, não mostrando preferên cia por nenhum deles. As combi nações que fornecem uma maior quantidade de um produto, pelo menos, oferecendo ao mesmo tem po a mesma quantidade dos outros produtos, seriam mais apreciadas, enquanto aquelas que produzem
uma menor quantidade de pelo menos* um produto e a mesma quantidade dos outros produtos seriam menos apreciados. O con sumidor era freiado na sua esco lha sem limite das combinações mais apreciadas por imperativos orçamentários, levando em conta os preços dos produtos. A análise da curva de indiferença eludia os problemas de qualificação ineren tes à teoria da utilidade, mas, nos dois casos, a teoria pecava pelo fa to de que tratava do comporta mento do consumidor na base de hipóteses não verificadas. As teo rias sobre o comportamento dos consumidores reforçaram as aná lises rigorosas que explicavam as decisões dos realizadores e o pro cesso global de repartição, mas não informavam sobre o processo da escolha operado pelos consu midores.
Desde o começo da revolução in dustrial, as economias de merca do afastaram-se em geral sensi velmente dos modelos teóricos da concorrência e das suas variantes. Estas construções fornecem aos economistas instrumentos muito
eficazes para extrapolar o compor tamento dos realizadores, mas dei xam de lado um amplo setor da economia e das atividades não eco nômicas que estão ligadas a ela na sociedade considerada. A capa cidade de ganhar e de gastar di nheiro, a acumulação mo de bens representam uma parte dos interesses e das mo tivações dos indivíduos. A
as come 0 consuapenas organização e as reorganizações possí-


veis das estruturas e das ativida des profissionais constituem um. outro aspecto da vida econômica em relação ao qual os graus de sa tisfação podem se modificar. A implantação dos equipamentos de lazeres, a facilidade ao seu acesassim como as possibilidades de distração oferecidas pelo lugar de residência e a distância que o separa do lugar de trabalho cons tituem as fontes potenciais de sa tisfação. As atividades religiosas e as outras atividades sociais podem apresentar uma utilidade ver uma satisfação equivalente ao consumo de produtos. Pode-se me dir a qualidade da vida pelo grau de satisfação ou de utilidade que se pode retirar. Parece entretan to duvidoso estes graus de satisfação ou de utilidade se eles levam ta quase unicamente os aspectos da sociedade que podem mir sob forma de dinheiro ou de bens de consumo. so,
tendo reconhecido ou pro-
A INTERVENÇÃO DO SETOR PÚBLICO
Ganhando em maturidade e ao mesmo tempo permanecendo liga das à economia de mercado, as sociedades industriais bem esta belecidas são levadas a consagrar cada vez mais recursos ao setor público. O aumento das despesas militares, devido em parte e indlretamente à complexidade tecno lógica da indústria, como tam bém os esforços desenvolvidos pa ra assegurar à indústria fontes
distantes de matérias primas ex plicam, entre outras razões, que 0 setor público absorva uma pro porção aumentada dos recursos econômicos. Falta ao mercado um mecanismo de autoregulação gra ças ao qual os trabalhadores e os chefes de empresa — com ou sem sorte poderiam facilmente trocar seus papéis; este fato, os governos tiveram que intervir para criar um clima pro pício à mobilidade econômica. Na maioria dos países de economia de mercado, o governo encarregouse, com o consentimento da quase-totalidade dos setores econômi cos, de promover o crescimento econômico, a estabilidade e o em-
prego.
A teoria não se verifica sempre perfeitamente na prática, quer se trate dos custos suportados ou dos lucros obtidos pelas partes nu ma transação comercial. O homem tende naturalmente a conservar os lucros e a dividir os tributei, em detrimento, frequentemente, da saúde, do bem estar geral e do ambiente. A poluição das águas e do ar, a degradação da paisagem, a diminuição do deleite oferecido pelas cidades, a congestão das zo nas urbanas e a frequência cada vez maior das doenças e dos aci dentes são outras consequências desta tendência dos produtores e dos consumidores a repercutir certos custos. Estas consequências são às vezes inevitáveis, já que economicamente que se possa assimilar em conse expn-
não é sempre possível a um particular tomar medidas visando reparar os pre-
juízos sofridos pela sociedade ou pelo ambiente: às vezes também, foram almejadas, mas pouco im porta, o resultado é o mesmo. A necessidade de dispor de capitais importantes e de uma tecnologia complexa pode reforçar as tendên cias naturais à criação de mono pólios. Alguns cessam às vezes de investir e de produzir segundo um sistema ótimo de concorrência pa ra criar artificialmente estruturas que os consumidores dizem prefe rir. Quando o setor público Intervem para compensar o fato de que 0 setor privado se afasta do mo delo concorrencial, constata-se de ordinário um aumento das despe sas públicas.
Idealmente, o modelo econômi co leva em conta aqueles que par ticipam da produção. Entretanto, dentro da realidade complexa da sociedade industrial é preciso ad mitir que uma boa parte da po pulação não participa da produ ção, nem efetivamente nem mes mo potencialmente. Ora, está ex cluído que esta fração da popu lação cesse de participar do con sumo. O problema se deve à inca pacidade de uma parte da popu lação (notadamente os jovens e as pessoas idosas) de contribuir para a produção. A mão de obra existente e a produtividade eleva da do capital podem reduzir as possibilidades de expansão da mão de obra. Encontramo-nos em presença de uma transferência de rendas ou de recursos em espé cies, sem que os beneficiários for neçam uma contribuição corres¬
pondente à produção. O setor pú blico pode assumir outras obriga ções quando é amplamente admi tido que 0 Estado deve velar pelo bem estar geral fornecendo bens e serviços essenciais, tais como talvez a educação, os cuidados mé dicos, os transportes públicos, a segurança da população, além dos cuidados hospitaleiros e de uma moradia decente(6).
Seja (jitada pela necessidade ou proceda de uma opção, uma vasta intervenção do setor público na economia aumenta mais ainda a distância entre a teoria e a prá tica no que concerne o funciona mento da economia de mercado, decalagem já provocada pela ten dência dos produtores a evitar as situações de concorrência. As ati vidades do setor público represen tam diversas formas de transfe rência das rendas que devem ser financiadas por fontes exteriores ao mecanismo do mercado: a im posição e outras retiradas sobre a renda. Como estas atividades re duzem a parte da renda de que podem dispor os indivíduos, esta renda perde progressivamente sua utilidade enquanto medida do grau de satisfação ou da qualidade da vida. Nas sociedades industriais modernas e relativamente ricas, setores cada vez mais amplos da população exprimiram nesses úl timos anos sua preferência por outros estilos de vida, participa ção dos trabalhadores nas deci sões das direções das empresas e modalidades diferentes de indeni zação dos elementos não ativos da


caracte- população formulando outras su gestões concernindo a modifica das instituições sócio-econôclássicas, e provando com moradia, observam que rísticas precisas suscitam de um modo muito geral sentimentos es treitamente ligados à renda. Co mo se poderia esperar, os questio nados de renda elevada estimam mantenimento da sua parte é bom, enquanto aqueles cuja ren da é fraca consideram-no mau; “os questionados cão micas isso que não ligam diretamente a qualidade da vida apenas ao ní vel de renda ou às estruturas do consumo que conhecem. O funcio namento do modelo teórico da concorrência na economia de mer cado deveria favorecer em condi ções ideais uma satisfação máxi ma ou seu equivalente (qualida de da vida), mas esta faculdade lhe é de agora em diante tada.
A utilização dos indicadores sócio-econômicos
(● ● ●) Avaliar a qualidade da vi da apresenta um aspecto impor tante que parece dever-se essen- cmlmente à relação entre os in dicadores subjetivos e os indica dores objetivos do bem estar Campbell, Converse e Rodgers ob servam, a respeito da qualidade da vida, que
● ● o acordo entre os juizes e, portanto, a estreiteza dos laços entre as situações obje tivas e as avaliações subjetivas vão diminuindo à medida em que o objeto do julgamento se torna cada vez mais multidimensional e ambíguo e em que a avaliação passa do descritivo ao afetivo”. Assim, estes autores mostram a avaliação é o mais fácil, com re lação a elementos tais como a renda ou a educação, a respeito dos quais os graus de insatisfação são elevados. No que concerne à
que o entretanto, . pobres exprimiram em geral tan ta satisfação a parte como os ricos passando de uma situação relati vamente objetiva, em que a ava liação é sobretudo material, a uma situação relativamente subj etiva, em que a avaliação se torna glo bal, é menos fácil prever as rea ções a condições objetivas(7). A análise que se segue — trata dos problemas colocados por certos in dicadores sócio-econômicos obje tivos e vários estudos subjetivos — tenta precisar diversos limites da análise objetiva.
respeito da sua . No fundo, contes-
OS DEFEITOS DOS INDICADORES OBJETIVOS
Os indicadores que acentuam o aspecto econômico estão entre os mais importantes. Assim, os índi ces de emprego foram adotados como indicadores nos estudos da qualidade da vida. Ocupam úm lu gar importante no estudo de Liu. Entretanto, apresentados sob uma forma global, na escala nacional, estes índices nada ensinam ãobre 0 desemprego local nem sobre as ilhotas de desemprego que se esque
boçam no nivel dos estados ou no plano local. Não fornecem tam pouco informações sobre as cau sas do desemprego nem sobre as características dos desempregados. Não se poderia medir a gravidade das consequências do desemprego unicamente pelos dados relativos aos trabalhadores à procura de emprego, porque não indicam a amplitude dos recursos privados e públicos dos quais essas pessoas podem dispor. Liu esforça-se pór estudar as características dos de sempregados do ponto de vista da raça, do sexo e do local de resi dência. mas estas qualificações não projetam nenhuma luz sobre os mecanismos institucionais do mercado de emprego, nem sobre os níveis de qualificação destes desempregados(S). Estes indica dores não dão nenhuma idéia dã intensidade da procura de um em prego nem do comportamento dos desempregados com relação ao trabalho: são entretanto aspectos importantes para as proposições que poderíam ser formuladas num novo programa (9).
Os defeitos dos indicadores eco nômicos globais ressaltam igual mente cifras concernentes à ren da por habitante, que mascaram a estrutura da repartição da ren da. A validade da cifra da renda por habitante é ainda reduzida pelo fato de que ele não leva em conta a fortuna, as necessidades econômicas especiais nem a renda futura descontada. Mesmo as ava liações globais operadas com a ajuda de indicadores distintos —
tais como a porcentagem dos pro prietários de sua moradia, o valor médio das moradias ocupadas por seu proprietário, a poupança por habitante e a renda pessoal mécomportam ainda graves lacunas. As dívidas e outras obri gações financeiras, por exemplo, podem ter sido negligenciadas. O pagamento do prêmio de seguro, normalmente não é conside-
dia que rado, arrisca tornar as pessoas que têm problemas de renda me nos capazes de levar uma vida da mesma qualidade.
Um exame atento permite tam bém discernh os defeitos de uma outra categoria importante de in dicadores, aqueles que se baseiam na saúde, na educação e nas ati vidades sociais. Por exemplo, as despesas de educação por habitan te imputadas aos recursos públipelos poderes públicos locais não dão nenhuma indicação sobre qualidade da educação e não permitem tampouco saber se créditos foram repartidos confornecessidades. O número de 4
COS a os me as alunos por ensinante não nos in forma nada sobre a função do ensinante, ou seja, não permite sa ber se 0 ensinante assegura uma educação corretiva ou um ensino progressivo, ou ainda se se con tenta em fazer reinar a discipli na. A existência de recursos médicos (número de leitos de hospi tal ou de médicos por bilhão de habitantes) não informa nada so bre a eficácia do conjunto das prestações asseguradas ou sobre sua acessibilidade (10).


comquando se das
As diferenças entre as defini ções e as situações locais fazem que as estatísticas dos crimes e dos delitos não sejam uniformes, o que problema não se limita aos indi cadores econômicos e sociais, mas estende-se igualmente a aqueles que concernem à ecologia. Assim, no Canadá, H. Inhaber sentiu di ficuldades para a organização de indicadores deste tipo. Teve difi culdades notadamente, em deter minar a influência das institui ções quando quis fixar índices de ponderação, para saber se os indi cadores devem ser baseados numa tomada de medidas dos efluentes ou do ambiente e para decidir co mo seria possível compensar as variações da cobertura geográfi ca parando o índice global rela tivo ao ar, a água e ao solo, para nao falar da inevitável dificulda de do ajuntamento dos dados(i2) O problema colocado pelos indica dores concernindo a ecologia plíca-se mais ainda planeja ponderá-los em função da densidade da população, cifras globais da população oú das indicações relativas à renda obti das nas regiões consideradas. Pa rece evidente que os indicadores objetivos não sejam definidos de modo suficientemente objetivo e que são frequentemente escolhidos de modo subjetivo. com diminue o seu valor(ll). o
A AVALIAÇAO SUBJETIVA
Provas cada vez mais numero sas permitem pensar que a relação
entre as condições objetivas e os níveis subjetivos de satisfação não é tão forte como muitos pensavam antes. Algumas conclusões do es tudo de Campbell, Converse e Rodgers, de que já se falou, parecem confirmar a debilidade desta re lação. Assim, pode parecer razoá vel supor a existência de uma cor relação positiva entre a satisfação dos indivíduos em matéria de mo radia, por um lado, e sua situação social e elevação progressiva na escala social, por outro lado. En tretanto mostra que, mesmo quan do se leva em conta a idade e ou tras características, a satisfação tirada da moradia é por assim di zer sem relação com a renda e a educação. Relevam que, tratandose desta última, “... o grupo que segue .0 das pessoas mais instruí das exprimiu um grau relativa mente fraco de satisfação”. Cons tataram também que “... as pes soas de condição modesta dizemse mais satisfeitas com todos os aspectos de sua existência que as pessoas vivendo no conforto” (13). Uma das conclusões do estudo é que 0 descontentamento depende talvez menos da situação objetivá que do conhecimento de outros ti pos de existência.
M. Coughenour, num estudo so bre a qualidade da vida das famí lias rurais do Kentucky oriental, pôde demonstrar que, embora os indicadores objetivos tivessem re velado melhoras sensíveis das con dições de vida, "... a maioria dos rurais exprimiram um desconten tamento muito forte” com relação

à situação política e econômica e de modo geral com o lugar do in divíduo na sociedade. Se foram estabelecidas correlações entre o crescimento da renda da popula ção abastada e o de suas aspira ções, Coughenour não pôde deixar de concluir que “o descontenta mento geral suscitado pela situa ção do homem na sociedade era mais difundido no começo dos anos setenta do que uma dezena de anos antes” (14).
Duncan provou, num estudo so bre as donas de casa da região de Detroit, efetuado entre 1955 e 1971, que “... a elevação do nível de vida em cifras não tende a uma melhoria subjetiva do nivel de vida do conjunto da popula ção”. Observa igualmente que a satisfação inspirada pelo nível de vida parece depender menos de um simples aumento de sua ren da que do fato de gozar de um ní vel de vida superior ao de certos grupos de referência. As medidas da satisfação não nos ensinam, por si mesmas, “se a sorte de uma população tendo uma renda mé dia superior é verdadeiramente melhor que a de uma população de renda mais fraca” (15).
Num estudo no qual mediu as xelações entre os indicadores so ciais objetivos das condições de vida em meio urbano e a avalia ção subjetiva individual da quali dade da vida em treze cidades americanas, M. Schneider con clui: “Não existe nenhuma rela ção entre o nível de bem estar ob servado numa cidade, tal como é
medido com a ajuda de um am plo leque de indicadores objeti vos comumente utilizados, e a qualidade da vida que conhecem subjetivamente os habitantes des ta cidade... Em resumo, o nível de bem estar nas cidades, defini do unicamente por meio de indi cadores sociais objetivos, não nos ensina aparentemente nada sobre o “bem estar” ou a “qualidade da vida” de que gozam efetivamente os indivíduos que vivem nestas ci dades”. É importante observar que estes indicadores objetivos servi ram mais para comparar a quali dade da vida entre as cidades do que entre as comunidades. Segun do Schneider, não está excluída ■ condições objetivas que reineste ou naquele bairro de cidade, bairro que os indiví-
que as nam uma duos conhecem muito l^em, estão mais de acordo de modo geral com avaliações subjetivas, do que condições de vida no conjunto da cidade”(16).
Estes estudos permitem tirar certas conclusões quanto às rela ções existentes entre os meios ob jetivos e os meios subjetivos de avaliação. Primeiramente, parece haver uma separação entre as me didas objetivas das condiçoes de vida e a avaliação subjetiva do bem estar. Em seguida, o valor que apresentam da qualidade da vida, estudos tais como os de Smith, que adotou uma fórmula inter-cidades e inter-estados, e os de Liu, com suas medidas globais, depende da aptidão dos indicado res para atingir a finalidade proas as
curada. Por fim, parece igualmen te que não é possível basear-se apenas nos indicadores objetivos nem exclusivamente nos indicado res subjetivos para medir a qua lidade da vida.
A qualidade da vida nas sociedades vlanificadas
(...) As sociedades ditas já desenvolvem impor tantes esforços para dotar-se de expedientes servindo para medir qualidade da vida. A preocupação das ditas sociedades em elaborar ormulas para este efeito inscre ve-se na perspectiva marxista de uma estrutura socio-econômica global abraçando todos os aspec-
so¬ cialistas a da nem de uma -j mundo em mas mais de suvez vez
qualidade da ^ , considerada como sinônimo fn , de tipo marxis- lenimsta” pelo sociólogo checo J. Filipec, não pode decorrer simplesmente dos conhecimentos mais aprofundados saturação irracional do bens de consumo, uma “remodelagem” revolucioná ria das condiçoes sociais e do con junto das condições que impul sionam a vida humana, isso põe um processo de criação pela sociedade de qualidades cada mais nobres, quer dizer cada mais humanas.. .”(17).
servirá para desviar e controlar a vida social.
(...) Os objetivos econômicos foram muito estudados e ocupam em geral um papel prioritário nos Estados socialistas da Europa oriental, mas quando se trata de avaliar a qualidade da vida, os fatores sociais ultrapassam geral mente os fatores econômicos. A avaliação do consumo no setor privado como no setor público è, em grande medida negligenciada. Certos críticos poderíam afirmar que a mediocridade aparente do consumo privado é um argumento poderoso para que não seja utili zada como critério de avaliação da qualidade da vida. mas poderse-ia retorquir que a amplitude do setor público tira sua importância do setor privado. Além disso, se a satisfação tirada do consumo ma terial, público ou privado é em grande medida função, como per mite pensar a experiência ociden tal, dos níveis de consumo de gru pos e de indivíduos de referência, então a tendência à igualdade, em particular quanto ao consumo do setor público, permite crer que as pesquisas fariam muito pouco ca so deste elemento de satisfação nas suas respostas às questões re lativas à qualidade da vida orien tadas para o consumo.

se considera sob esta perspectiva, medir a qualidade da vida signi fica apenas descobrir os critérios que permitirão
Quando determinar graus atuais de satisfação, mas também forjar o instrumento que os
O TRABALHO B OS LAZERES
Nos países socialistas da Euro pa oriental, insiste-se sobre o fato de que o trabalho e os lazeres são elementos importantes para ava liar a qualidade da vida. Estes
dois aspectos estão estreitamente ligados, pois, como observa o eco nomista soviético B. Boldirev: “Considerando a redução sistemá tica da semana de trabalho outorga de férias mais longas, ou seja, o aumento do tempo de re pouso, é ainda mais necessário organizd-lo de modo apropriado” (18). Boldirev revela que a dura ção hebdomanária média do tra balho. é ligeiramente inferior a quarenta horas e que a duração média das férias pagas é de três semanas. O ideal, como afirmou 0 polonês A. Sicinski: “...é uma redução relativa da distinção en tre vida profissional e vida extraprofissional...” (19). Entretanto, a realização deste objetivo dar-seá, na melhor das hipóteses, num futuro distante. Os soviéticos E. A. Yakuba e A. M. Andryuschenko chegam nos seus estudos a conclu são de que, quanto mais elevado for o potencial de criatividade de uma profissão, o que seria parti cularmente 0 caso das profissões intelectuais e altamente qualifica das, será satisfatória, segundo a concepção soviética (20)- A. Jasinska e R. Siemienska prestam home nagem à profecia marxista segun do a qual, no contexto de uma for ma posterior de comunismo, se não na transição socialista, a reorga nização institucional do controle e da gestão da produção converterá trabalhador em um participante entusiasta (21). Entretanto, uma outra socióloga polonesa, D. Dobrowoiska, afirma que atualmente os trabalhadores procuram em ge¬
ral adquirir qualificações que lhes permitam evitar as profissões ma nuais e que os estudantes aspiram a profissões que lhes confira auto ridade e prestígio (22). Em geral, os estudos efetuados nos países socialistas da Europa oriental pro curam mostrar que se, na opinião pública, as disparidades entre os trabalhos manuais mais modestos e as profissões intelectuais mais exigentes diminuiram no curso destes últimos anos, distinções muito marcadas persistem na clas sificação hierárquica das profis sões, como é o caso na Europa oci dental.
Os lazeres estão atualmente no centro de um certo número de es tudos relativos à qualidade da vi da efetuados recentements' por sociólogos de estados socialistas da Europa oriental. No caso do tral^alho, pelo menos por dedu ção, a igualização dos graus de sa tisfação ligados à prática das di ferentes profissões deixa supor, do ponto de vista marxista, uma redução do conflito de classes e a existência de arranjos econômi cos de tipo capitalista. Por extra polação, poder-se-ía concluir que a qualidade da vida da população encontrar-se-ia melhorada. O pro blema apresenta-se difcrent-m::nte no caso dos lazeres neste sen tido em que os indivíduos veriam provavelmente a qualidade de vida melhorar se atividade se modificasse. Numa afirmação bastante representati va dos pontos de vista ocidentais, J. R. Kelly observa que “os lazee a 4 sua seu genero de

AS DIFICULDADES DA ESCOLHA escolhemos fazer res são o que contexto social formado pe- num Ias atividades familiares e outras atividades não profissionais. Os la zeres são, porque decididos, a marda liberdade e da satisfação”. Kelly acentua a liberdade de es colha no que concerne os lazeres, deplorando que uma grande parte destes lazeres sejam desperdiça dos e que os participantes consa grem pelo menos uma parte de seu tempo e de seus esforços a certas tarefas de modo que a no ção de lazeres apresenta também um lado ilusório (25). Contraria mente à concepção ocidental dos lazeres, sinônimo de livre escolha das atividades, a interpretação marxista acentua o comportamen to determinista dos indivíduos, porque exercem uma atividade durante seu tempo “livre” quadro de sua profissão. A soció loga soviética V. V. Vodzinskaya afirma que, possibilidade de uma livre
ou no quando falamos da esco lha de atividades em matéria de lazeres, não falamos de liberdade abstrata, mas de liberdade relati va, no sentido em que nos senti mos subjetivamente mais “livres” nas nossas atividades de lazeres do que nas nossas atividades profis sionais... Entretanto, um exame atento do problema mostra que, também no domínio dos lazeres, agimos em função dos imperativos do nosso ambiente social e da$ pos sibilidades que nos oferece, num momento determinado, o conjun to do sistema das relações sociais e da organização social” (26).
(...) O trabalho e os lazeres são duas atividades entre muitas outras que são levadas em conta na avaliação da qualidade da vida da maioria das pessoas. Apesar de sua enorme importância, trabalho e lazeres não passam de dois nu merosos aspectos das atividades humanas segundo as quais podése pensar que a maioria das pes soas avaliam a qualidade de sua vida. A concepção pela qual as dis tinções entre as diferentes catego rias de pessoas se reduzem nos domínios do trabalho e dos laze res, é conforme à noção marxista que quer que o progresso do socia lismo proporcione uma redução do conflito e da diferença de classes. Entretanto, não resulta necessa riamente que mesmo as pessoas que têm a inclinação ideológica desejada chegarão a considerar os progressos da transformação po lítica e social como uma melho ria da qualidade da vida.
S. de Grazia adianta de modo convincente que a participação no trabalho, a satisfação nas ativi dades de lazeres e o consumo de bens são, em graus diversos, intercambiáveis: vidade pode ser superficialmente classificada como atividade pro fissional, atividade de subsistên cia ou lazer... Um homem pode comprar clubes de golf sa aparentemente feita visando seus lazeres — para estar em con dição de jogar num clube com um grupo de homens de negócios sus-
...nenhuma atidespe.1

ceptíveis de aumentar suas das por suas compras, asseguran do-lhe promoção ou um melhor emprego. Neste caso, clubes de gol fe constituem uma compra de cócios ou uma compra profissio nal. Pode igualmente comprá-los por puros motivos de lazeres...” (27). Nos esforços que desenvol veram para analisar o trabalho, os lazeres e o consumo, isolada mente ou aproximando-os de uma avaliação da qualidade da vida, ou mesmo com relação a outras esferas de atividade, os economis tas da Europa oriental parecem ter esbarrado com as mesmas di ficuldades que os dos paises oci dentais; suas incertezas concerni ram os elementos a escolher e as categorias a manter nas suas aná lises, a fixação dos coeficientes de ponderação, a adoção das escalas de valor, a avaliação dos dados subjetivos e o estabelecimento de um modo de interpretação.
Uma real necessidade

rennere-
cessidade de realizar rapidamen te na planificação, uma foimula global para avaliar a qualidade da vida. Admite-se atualmente o que se ignorava antigamente; é impossível para esta região man ter indefinidamente normas eleva das de qualidade da vida diante do crescimento econômico. Estu dando os planos de construção, na região, de uma nova grande usina petroquímica, o Bay Area Pollution Control District calculou que o fornecimento suplementar em po luentes levaria a carga global des tes a um nível intolerável na gião considerada. Nesta perspecti va, somente uma redução corres pondente dos poluentes emanando de outras fontes situadas na mes ma região permitiria criar esta usina, que seria um novo fator de poluição.
Em numerosas regiões dos Es tados Unidos e de outros países, as autoridades que possuem o sen tido de suas responsabilidades e 03 cidadãos interessados têm cada vez mais consciência de que uma planificação geral a longo prazo é necessária a fim de reforçar, pelo menos de manter a qualida de da vida de que se goza.
(...) O exemplo oferecido pela zona da baía de São Francisco, que engloba nove territórios da Califór nia do Norte, testemunha ou casos„ a ne-
A forte e rápida expansão da população do setor norte da re gião mencionada acima conduziu rapidamente muitas comunidades que aí se encontram a se oporem a um crescimento econômico con tínuo. De fato, a qualidade da vida regrediu nestas comunidades, na medida em que os parques, as es colas, as redes de distribuição de água, etc., eram muito requisita das à contribuição por uma po pulação cada vez mais numerosa. Se bem que todos os obstáculos ao crescimento econômico levan tados pela comunidade tenham si do contestados e, em certos modificados ou mesmo suprimidos, as medidas tomadas mostram que a opinião pública toma cada vez

mais consciência das relações que existem entre o crescimento eco nômico e a aceita, em certa medida, a qualidade da vida e que noção de capacidade de carga.
As decisões concernindo a im plantação de uma empresa, como no caso da usina de produtos pe troquímicos, e o ritmo de expan são das cidades, como na baía de São Francisco, influem sobre a qualidade do ar, sobre a saúde, so bre o emprego, sobre os impostos municipais e sobre muitos outros componentes da qualidade da vida. Esta noçao torna necessário me das relações entre o ambiente, a atividade econômica zação social, é preciso determinar corretamente os objetivos cuja realização ultrapassa os meios disponíveis.
Uma atitude critica
0 exae a organi-
a perspectiva através da qual con sideramos 0 progresso e o declínioUma atitude crítica diante do crescimento, imparcial mas sensí vel aos custos e aos benefícios, combinada com uma apreciação justa dos limites dos elementos otyetivos e subjetivos da avalia ção, é indispensável para que a interpretação da qualidade da vi da seja considerada como válida e recolha uma ampla aprovação. Seria lamentável no estágio atual do desenvolvimento, que as mitações aparentes, dos instru mentos e dos sistemas que per mitem avaliar a qualidade da vida impedissem recorrer-se a estes meios de análise em vista dos pro cessos de decisão. Se não se adotar esses meios, arrisca-se a tomar decisões inevitáveis fundadas em postulados ainda menos fiáveis.
NOTAS:
A utilidade prática de toía ava liação da qualidade da vida co'oca problemas de definição e de ap'i- cação. A análise objetiva apresentando um valor muito de, tem suas limitaçõss; entretan to, a análise subjetiva também é uma panacéia. Antigamente, progresso econômico era sinônimo de progresso social. Se acentuamos exageradamente a análise objetiva como forma de avaliação e o cres cimento econômico como objetivo, podemos chegar a uma orientação metodológica que negligencia a análise subjetiva enquanto fonte de informações úteis e que falseia
mesmo grannao
John P. Huttmiin c professor associado dc economia, na Universidade do Estado de São Francisco c professor associado convidado, na Universidade da Califórnia, Berkeley. J-mieS N. Liner é assistente de pesquisa, na Uni versidade do Estado dc São Francisco.
(I) M. Strong: "The qualily of lifc”. Columbia School of World Business, n.® 7, setembro dc 1972, pp. 5-31, c D. lohnston: "National social indientor reports: some comparisons and prospccts”, do cumento apresentado na Assembléia ge ral da World Future Society. Washing ton, 25 de junho dc 1975.
(2) D. Harland; ture context do apresentado cm ciety. Canod-.l. 25 de novembro de 1971), citado cm R. Onlcll: “The quality of elght American cities, selectcd indicators of urban conditions and trends (Ariington, Virginia, ERIC Document Rc- produetion Service, ED/120/277, 197*5), lifc in
1-2. pp,
Social indicators in a fu(documento não publicaOtawa Futures So-

me-
(3) C. Moscr: "Social indicntors syslcms. thods íiiui problcms", The Revicw of Income and Wcalth, súric 19, n.® 2 ju nho de 1973, pp. 133-142.
(4) F. Andrews: Social indicators of per- ceived quality of lifc", Social Indicators Research. 1, p. 280.
(5) W. Woociruff; Impact of Western.. num: A study of Europc’s role in the world cconomy (New York, se, 1967), passim.
(15) Dimcan: “Does inoney buy saiisfactiòn?" Social Indicoiors Research, n.» 2, de zembro dc 1975, pp. 270 e 273, passim.
(16) M. Schncidcr:
The quality of lifc in large American cities: objccllvc and subjcctive social indicators". Social Indicalors Research, n.“ 1. março de 1974, pp. 505-506.
The way of life and social St. MartiiVs Pres-
(6) H. Wilensky: The wcifme State .and equality (Berkelcy Univeisity of Califór nia Presse, 1975), cap. 1. 4 e 3.
(17) I. Filipec: Systems, documento apresentado no Con gresso mundial de sociologia, Toronto, agosto dc 1974, p. 4.
(18) B. Bolciirev: Rest in the URSS, its organisation and finance, documento apre sentado no XXI.» Congresso mundial da União internacional das cidades e pode res locais (Lausanne, junho dc 1973), p. 1.
Russcl Sage Foundalion,
(7) A. Campbell. P. Converse e W. Roclgers: The quality of American life; ceptions, evalualions (New York, 1976), pp, 479-481. passim.), perand satisfaclions
(8) B. Liu: Qualily of life indicators in US mctropolitan arcas, 1970: sive asscssmcnt (Washington, ronmenlal Prolection Agcncy, 1975) pp. 57, 60 c 75-77, passim.
a comprehenUS Envi-
(9) J. dc Neufvillc: Social indicators and public policy (New York, Elsevicr, (1975), pp. 70-86 c 285-286, e M, Spenccr: Conicmpornry cconomics (New York, Worth Publischers, 1974), pp, 148-156.
(10) D. Smilh: The gcography of social wcll being in the United States: an introduction to territorial social indicators (São Francisco, McCrnw-Hill, 1973), pp. 82-83, passim, c Liu, op. cit. observar que nem Smlth nem Liu resol vem este problema com seus indicado res.
(11) De Neufvillc, op, cit., pp, 101-119 e 288.
(19) O. Sicinski: Stylc of life in socíalist socicty (obra publicada sob a direção dc N. Mnnsurov e colaboradores) (Moscou c Varsóvia, Academia das ciências da URSS e Academia das ciências da Po lônia, 1974), p. 190.
(20) E. Yakuba c A. Andryuschcnko: “The so cial work orientation bn the personality and social activity”, na obra publicada sob a direção de N. Mansurov e cola boradores: Perspial activity in the socialist society (Moscou e Varsóvia, Aca demia de ciências da l'RSS e Academia das ciências da Polônia, 1974), pp. 314315.
(21) A. Jasinska e R. Sicmienskn: “-Social ac tivity nnd lhe socialist modcl of perso nality”, Pcrson.al activity in lhe aocialist cocicty, op. cit., p. 285-310.
(22) D. Dobrowolska: "The volue of work an individual in Polnnd”, Personal activüy in the socisHst society. op. cit., pp. 227-250. p. 68. Devc-sc
(23) e (24) — (faltando na revista), (12) H. inhaber: Philosophy and limitations of environmcntal indices”, Social Inülcators Research, n.» 1, junho dc 1975. pp. 39-51.
(13) Campbell, Converse e Rodgcrs od cit pp. 115-134 c 479.
(14) M. Coughenour: Quality of life of coun- ty familics in- four Eastern Kentucky counties: change and persistent problcms 1961-1973 (Ariington, Virginia. ERIC Do cument Reproduetion Service ED/I25/ 825, 1975), p. 26. '
(25) J. Kelly: "Life styles and leisure choices”, The Family Coordlnator, abril de 1975, pp. 185-190.
(26) V. Vodzinskaya: “Activity of perso nality in the sphere of leisure", P''-sonal activity in the socialist society, pp 12-
13.
(27) Sebastian de Grazia; Of time, work and leisure (New York, Anchor Books, bleday, 1964), pp. 96-97. Dou-
t^rac;tt- projeto aumentara A PRODUÇÃO DE CAFÉ DES- CATEINADO - O B^sU deverá aumentar sua participaçao no mercado mlS^S^e café?dTsSfeinados. um mercado que está em crescimento nos países industrializados (principalmente na ^Jemanha Franga e EÜ^. atendendo a consumidores que apreciam o gosto do cafe mas temem a ação da cafeína. Para isso, a Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé investirá 6 milhões de dólares numa Jpmt venture” com grupos europeus; esses grupos vão garantir a aq^içao de 40% da produção, estimada, no projeto da nova usina, em IQÜ mii sacas por ano (no valor de 20 milhões de dólares). A Cooperativa de xupé tem 1,472 associados dispersos em 23 municípios^ inclusive dois paulistas, e uma produção de café estimada em 1,5 milhão de sacas por ano. A entidade dispõe de 181.500 m2 de área, dos quais 14.600 cobertos por armazéns, com capacidade para estocar 480 mil sacas._ Segundo seu presidente, Isaac Ferreira Leite, ela já investiu 40 milhões de cru zeiros (17 milhões de recursos próprios) em equipamentos que a capa citarão a preparar e padronizar quatrocentas sacas de café/hora (prélimpeza, classificação por peneira, catação eletrônica e padronização). Além do café descafeinado (a cafeína extraída do grão, por processo espe cial de lavagem, é vendida para utilização em refrigerantes e produtos farmacêuticos), a cooperativa pretende, a médio prazo, exportar extrato de café (em tambores, congelado), destinado a indústrias de solúvel pelo processo liofilizado (“freeze dried”), empregando 50 mil sacas/ano de grão cru e investindo 5 milhões de dólares. Outro projeto é associar- se com grupos estrangeiros para lançar no mercado café em saquinhos; nas negociações que mantém com uma empresa alemã, que detem know-how” próprio, a Cooperativa de Guaxupé entrará apenas com a matéria-prima.

ESTADOS UNIDOS:
— ALGODÃO PETRIFICADO — Pesquisadores do Centro de Pesquisa da Região Sul do Departamento de Agricultura transformaram o algodão num produto petrificado semelhante ao vidro que poderá ter aplicações no campo da eletrônica ou da energia solar. Pesquisando maneiras nas quais os produtos químicos têxteis pudessem ser unidos mais facilmente ao algodão, o físico Truman L. Ward e a química Ruth R. Benerito embeberam o algodão numa solução aquosa de plumbito de chumbo. O teor de chumbo elevou-se a 40% e quando os pesquisadores tentaram converter o material em cinza, este petrifi cou-se e tornou-se semelhante ao vidro a 1.100''P. O teor de chumbo pode ser variado; os algodões vítreos de baixo teor de chumbo podem tmir certos tipos de vidro que são comumente difíceis de unir. Além disso, 0 algodão vítreo pode se tomar eletrocondutivo, cobrindo-se o tecido tra tado com uma folha de alumínio antes de aquecê-lo. Quando aquecida, folha de alummio desaparece na película vítrea. a
A avoSiação da poluição na
modeSizaçõo da
economia mundial
GUY POQXJET
Constatando que 'o hálito do homem é mortal para os seus se melhantes”, Rousseau sublinhava que a existência humana, assim como toda existência animal,-é na turalmente poluente. Não foi ele 0 primeiro, nem o último a fazer esta advertência. Mas o apareci mento e depois o desenvolvimento da civilização téciiico-industrial, fundada sobre uma filosofia que percebe a natureza como estando a serviço exclusivo do homem (1), engendraram um desequilíbrio en tre a emissão e a reabsorção dos diversos poluentes, o que justifica as inquietações atuais. Tanto mais que este desequilíbrio não se revela somente quantitativo, mas tam bém qualitativo, e que não existem na nossa sociedade
mecanismos
jogando automaticamente a favor do meio ambiente natural (2).
Fato inédito na história da hu manidade, encontramo-nos, para alguns, diante de uma possibilida de de auto destruição coletiva (3). Se repudiamos ao mesmo tempo o medo pânico e a atitude estóica, que são talvez as duas faces de uma mesma irresponsabilidade, co mo reagir para dominar uma evo lução cujos efeitos a longo prazo poderíam revestir um caráter tremamente grave? Numerosos tudos tentaram responder

O meio ambiente «
Soh o titulo: nos modelos mundiais”, '‘2000”, re vista “Aménagement du territoiré”, da França, publicou, no seu núme ro 41 de 1977, o seguinte artigo, de Guy Poquet, da Associação Inter nacional “Futuribles". È um estudo sobre um dos mais graves proble mas dos nossos dias.
questão, mas tratando dos pro blemas da poluição isoladamente, chegavam apenas a visões frag mentárias e portanto julgadas in suficientes. Daí a tentativa, inau gurada em 1972 com o primeiro relatório ao Clube de Roma (4), de construir modelos matemáticos apreendendo o mundo de modo global e visando fornecer urna me lhor representação dos problemas relativos à sociedade humana, da sua evolução no tempo e das dife rentes opções políticas submetidas aos que decidem (5).
No conjunto dos modelos mun diais cujas conclusões puderam ser analisadas, encontramos apenas três que se dedicam a dar uma representação da poluição. Tratase do modelo “Limites ao cresci mento exda eqüipe Meadows, do modelo “Estratégia para a sobreviesessa
vencia” de Mesarovic e Pestel e do estudo ‘O futuro da economia dirigido por Wassily mundial”
Leontief (6). Enquanto o relatório Meadows descreve a evolução a longo prazo dos indicadores dos níveis de poluição, com retroação sobre os outros setores, e que o estudo de Léontief se dedica ao problema da redução da poluição e sobretudo de seu custo econô mico, “Estratégia para a sobrevitrata sumariamente do vencia sub-sistema ambiente, sem ligar poluição aos outros setores de ati vidades. É por isso que atenção sé dirigirá unicamente dois primeiros estudos dos e aos modelos que os subenten dem. a a nossa aos menciona-
tudo dé Léontief é no momento o último fruto.

Primeiro modelo na ordem cro nológica, adotando a metodologia dita “dinâmica dos sistemas borada por Jay Forrester (7), “o livro dos limites” constituiu ’ um acontecimento maior e suas proje ções malthusianas tiveram um im pacto considerável sobre a opinião pública, que nelas via um equacionamento da catástrofe, com a ajuda do prestigioso instrumento que é 0 ordenador .Este relatório passou por preconizar uma para da brutal do crescimento. Mas co mo se observou na sequência, tra ta-se talvez menos da descrição de um futuro inevitável, do que de uma condenação do presente (8). E apesar de todas as suas imper feições, este modelo conserva, b mérito de ter favorecido esforços de reflexão prospectiva num nível mundial, esforços dos quais o es-
Constituido por uma representa ção da economia mundial com a ajuda de uma matri?: input-output (9), este modelo tinha primeira mente por finalidade mostrar as interrelações possíveis entre as di versas estratégias econômicas e as numerosas aproximações do meio ambiente. Deveria em parti cular permitir responder à seguin te questão: a avaliação do conjun to dos problemas do meio ambien te deveria frear o desenvolvimen to econômico e impor um reexame das previsões e dos objetivos nacionais e internacionais do de senvolvimento? Ou seja tratavase de tentar avaliar o custo de uma certa sabedoria.
ela-
O equacionamento da catástrofe
Para os autores do l.° relatório ao Clube de Roma, o domínio do comportamento futuro dos siste mas ecológicos esbarra com quatro dificuldades.
Em primeiro lugar, a quantifica ção das consequências das ativi dades humanas sobre o ambiente é recente, incompleta e nos en contramo-nos na impossibilidade de avaliar definitivamente a capa cidade de absorção que a terra possui. Apesar deste inconveniente, os poucos tipos de poluição medi dos num período relativamente longo permitem pensar que se ca racterizam por um crescimento exponencial.
Por outro lado. pode-se certa mente extrapolar curvas exponenciais. Mas ignora-se até que ponto a poluição pode perturbar o equi líbrio ecológico da terra sem con sequências graves: o que significa que os máximos absolutos que po dem ser assinalados nas curvas permanecem desconhecidos.
ferença entre a taxa de poluição e a da sua reabsorção;
— ocorre um prazo entre a emis são do poluente e seu desapareci mento;
— a quantidade de poluição ab sorvida por unidade de tempo de pende da quantidade total de po luição e do prazo necessário para absorver uma unidade de poluição;
Existem ainda adiamentos natu rais nos processos ecológicos. Com referência, por exemplo, às subs tâncias tóxicas de degradação len ta (10), pode decorrer um longo luição aumenta à medida em que prazo entre a época da emissão do poluente e o momento em que ele Se transforma em substância ino-
fensiva. Além disso, retardamen tos da mesma ordem decorrem en tre o momento em que se começa a reduzir a taxa de emissão do po luente e 0 momento em que suas consequências se atenuarão.
— o tempo de absorção da po0 nivel total da poluição aumenta;
— a poluição crescente age so bre o nível de esperança de vida no nascimento e sobre a fertilidade das terras cultiváveis.
Apesar dessas áreas de incerteza, os autores do relatório consideramse possibilitados a usar a série de hipóteses que se seguem, para ela borar a estrutura do modelo do sub-conjunto do meio ambiente:
— a criação da poluição persis tente depende das atividades in dustriais e agrícolas segundo uma reação linear;
— a quantidade da poluição acumulada é determhiada pela di¬ que as
Em função da estrutura do mo delo deste sub-conjunto tal como está aqui esquematizadò; pode-se Enfim, quarta fonte de dificul- pi’ecisar os limites da poluição? Esdades, os poluentes são dispersos ta última dependendo da população, pelo mundo inteiro e sua nocivi- da industrialização e do desenvoldade pode se manifestar muito vimento de técnicas particulares, longe dos seus pontos de origem não se pode evidentemente preci sar nada sobre a evolução da sua (11). curva exponencial global. Entre tanto, apoiando-se na hipótese de uma população de 7 bilhões dé pessoas no ano 2000 (estimativa comumente admitida) benefician do de um PNB por cabeça equiva lente ao dos Estados Unidos em 1970, os autores afirmam présáões exercidas pela poluição sobre o ambiente natural seriam multiplicadas por 10. Ninguém po de dizer se a terra estará em con dições de suportá-la. Existe entre-


tanto um limite de absorção dos dows fornece um exemplo imprespoluentes pela terra, limite que já sionante: se 50.000 dólares são neteria sido ultrapassado em certos pontos. O prosseguimento de tais fera de uma grande aglomeração tendências tornaria portanto ine- americana 5% de vapores de S02 vitável uma catástrofe. e 22% de partículas sólidas, 26 É possível, por essa razão, erra- milhões de dólares levarão respecdicá-las? Como- o constata igual- tivamente estas cifras a 48% e mente Léontief, o custo da elimi- 69%. Mas, mesmo no caso de enornação dos poluentes aumenta sen- mes sacrifícios financeiros consivelmente em função da percen- sentidos pelos estados, a situação tagem eliminada. O relatório Mea- continuaria a preocupar.
Produção industrial
Taxa de criação da poluição
Terra cultivável
cessários para eliminar da atmos-
Multiplicador da duração de vida pela poluição, duração de vida mé¬ dia
Fertilidade da terra prazo
Taxa de aparecimento da poluição
Taxa de absorção da poluição
Taxa de absorção da poluição
Estrutura do modelo do sub*conjunto do meio ambiente nos " Limites ao crescimento”.
Fonte: H. Cole e al. Tanti-Malthus Paris Le Seuil, 1974.
Com efeito, mesmo na hipótese, altamente irrealista segundo os autores, de recursos ilimitados graças à reciclagem e outras téc nicas, e de uma redução da polui ção a uma taxa de 25% de seu valor previsto a partir de 1975, a catástrofe permanece inevitável. Pois, se uma tal política permite evitar a crise devida à poluição; se a população e a produção in dustrial per-capita crescem além do maximum precedente; se as reservas de matérias-primas e os níveis de poluição não colocam problemas, a quota alimentar de clina e o sistema de desmorona,
desta vez por efeito da falta de alimento.
É por isso que o relatório Meadows não vislumbra saída a não ser na criação de um estado de equilíbrio global, caracterizado por uma população e um capital es sencialmente estáveis, as forças que tendem a aumentá-los ou a diminuí-los sendo cuidadosamente equilibradas. Convém ainda iniciar sem demora tal política de estabi lização, todo retardamento nesta realização servindo apenas para diferir um fracasso que seria en tão fatal.

0 preço de uma certa sahedona ficientes antes da despoluiçao pa ra cada setor industrial e unidade de produçuo são os dos Estados Unidos, sob reserva de alguns ajustes.
A aproximação prudente e con servadora da equipe dirigida por W. Léontief contrasta com esta es pécie de contra-utopia escrita com a ajuda do ordenador (12). Esta análise econômica do problema da poluição considerada no seu con junto, parte de uma série de pre missas que traçam rigorosamente seus limites.
O modelo só leva em conta as emissões de alguns poluentes entre os mais importantes: as partícu las que engedram a poluição do ar, a falta de oxigênio biológico, os sólidos em suspensão e em disso lução, os fosfatos, os nitrogênios que poluem a água, os pesticidas e os lixos sólidos. Por outro lado, em 48 setores da atividade econô mica recenseados, 5 concernem as atividades de despoluição: trata mento da poluição do ar, trata mento primário, secundário e ter ciário da poluição da água, e soterramento ou incineração dos li xos urbanos.
Os coeficientes das emissões po luentes medem os volumes de po luentes em milhões de toneladas por unidade de produção nos se tores industrial e agrícola. Para os lixos urbanos líquidos e sólidos, coeficientes análogos são associa dos ao nível do consumo. As esta tísticas sobre a poluição e a despo luição sendo entretanto muito ra ros, estes coeficientes são aproximativos e as hipóteses; sobre os ní veis de despoluição, um pouco ar bitrários. A grosso modo, estes coe-
No que concerne os lixos sólidos urbanos, e as águas residuais ur banas, sua produção está fundada em regressões para as diferentes regiões, fazendo abstração das en tidades nacionais. Enfim, na fal ta de dados específicos regionais, os coeficientes das atividades de despoluição são considerados uni formes no mundo inteiro.
Nestas bases é calculada para cada setor econômico a poluição nítida, que é igual ao volume de emissões poluentes menos o volu me das emissões tratadas pelas atividades de despoluição. Note mos que os procedimentso de des poluição eliminam apenas uma parte das emissões poluentes e que, para certos poluentes como os pesticidas, não existe nenhum procedimento conhecido de des poluição.
É assim que após a despoluição, duas categorias de poluentes con tinuam a afetar o ambiente; aque les que não foram tratados e aque les que resistiram em parte à des poluição. Uma última hipótese vem completar os fundamentos deste estudo: a informação sobre os pro cedimentos de despoluição em es cala mundial sendo incompleta, foi considerado que a despoluição seria mais intensiva em altos ní veis do PIB do que em baixos ní veis.
O modelo leva em conta quatro cenários de despoluição e desen volve-os na base do PIB per-capita da região estudada; os padrões de despoluição, correspondentes aos níveis do produto per-capita, são estabelecidos ponderando-se os coeficientes de despoluição dispo níveis, eles próprios baseados nos padrões de despoluição dos Esta dos Unidos em 1970.
Assim, em cada região onde produto per-capita ultrapassa 2.000 dólares (dólares constantes 1970), mas sem atingir esta soma nos períodos precedentes, os pa drões aplicados' são os dos Esta dos Unidos
de em 1970; nas regiões a^tação dos diferentes
SEGUNDO AS REGIÕES

Ásia (planificada)
Japão
Ásia (baixas rendas)
onde 0 produto per-capita ultra passa 2.000 dólares e ultrapassava esta soma nos períodos preceden tes, o nível de emissão é mantido no estágio do primeiro período quando os padrões americanos fo ram aplicados; nas regiões onde o produto per-capita é compreendi do entre 700 e 2.000 dólares, a re dução da poluição seria igual à metade dos padrões americanos de 1970; enfim, nas regiões em que o produto per-capita é inferior a 700 dólares, nenhuma redução da poluição é considerada, estas re giões poluindo muito debilmente cm razão de seu baixo nível de desenvolvimento.
CENÁRIOS DE DESPOLUIÇÃO
Cenário 1: Despoluição zero. Cenário 2; Despoluição em nível de 50% com relação aos padrões americanos. Cenário 3: Standars americanos aplicados. Cenário 4: Emissões mantidas ao nível de primeiro período em que a despoluição “total” foi aplicada.
Fonte: W. Léontief e al. op. cit.
Em função das hipóteses e dos cenários que precedem, o relató rio descreve a evolução de alguns tipos de poluição no mundo entre 1970 e 2000 (ver os quadros que figuram no anexo).
concerne os resíduos sólidos, for tes diferenças regionais, assim co mo uma forte progressão nos paí ses pobres. Convém ainda notar que os resíduos sólidos dos setores industriais e agiúcolas não são le vados em conta na falta de infor mação, e que a estimativa só se refere aos lixos do setor urbano. Por outro lado, as situações per manecem muito variáveis no cam-

função das quantidades destruídas de sólidos em suspensão. E os pa drões americanos de 1970 repre sentam a eliminação de 44,31% destes sólidos.
Estas projeções devem ser inter-
Estes últimos revelam, no que pretadas, evidentemente com gran de prudência, pelo fato de que re ferem-se apenas a um conjunto li mitado de poluentes conhecidos e às atividades de controle que os concerne. Além disso, essas ativi dades, pela própria confissão dos autores, não representam mais' que cerca de 45% das que são con sideradas regularmente nas recen tes estimativas americanas.
po da poluição do ar, tributo da industrialização. Mas as partícu las em suspensão constituem o único tipo de poluição do ar ana lisado... Os padrões americanos em 1970 para a destruição destas partículas se elevavam a 90-94% das emissões brutas. Observemos que, apesar de tais padrões, a América do Norte é a região onde a emissão total nítida (4,21 milhões de toneladas) permanece a mais forte, mesmo com relação às re giões onde a destruição das partí culas é inexistente.
Enfim a poluição da água é su jeita a fortes progressões. Se a água é tratada pelos 3 processos de despoluição (primário, secundá rio e terciário), uma parte somen te dos 5 poluentes (falta de oxi gênio biológico, nitrogênio, fosfatos, sólidos em suspensão e em dis solução) é eliminada. O estudo mede este nível de despoluição em ra
W. Léontief e sua equipe afir mam entretanto, ao termo de sua análise, que o problema da polui ção não é mais insolúvel. Pois, paevitar o crescimento da polui ção, podemos recorrer a tecnolo gias já existentes, trazendo assim esta poluição a níveis aceitáveis. Além disso, se os regulamentos adotados pelos Estados Unidos fos sem universalmente aplicados, a poluição não pioraria em termos absolutos com relação a 1970 e o custo total da luta anti-poluição se aproximaria de 1,4-1,9% do pro duto bruto. Esta porcentagem cai ría a 0,5-1% para os países.em desenvolvimento.
Poderiamos ficar impressionados com a modéstia destas avaliações. É por isso que os autores do rela tório que necessitou três anos de esforços viram-se pressionados -a fornecer uma última precisão: "O fato de que nossas estimativas do custo da despoluição sejam mo-
deradas, não deve ser interpretado baixas rendas a porcentagem' será menos elevada.
Se os custos econômicos da despoluíção são calculados em por tos”. É um modo de acentuar de centagem dos custos em capital forma discreta os limites da sua com relação ao PIB, representam para as atividades de controle con sideradas, menos de 1 % do PIB, mesmo nas regiões desenvolvidas. como significando que o mundo pode evitar toda desagregação do meio ambiente com poucos gasanálise.
Qual será o custo de tal despoluição? O estudo indica o capital investido nessas atividades por re gião no curso dos 4 decênios 19702000. As comparações no tempo mostram que existe uma nítida relação entre o nível de emissões nítidas e o nível do Investimento despoluição”. Nas regiões de altas rendas, a emissão nítida ce constante para três poluentes (partículas, lixos urbanos lidos em
permanee sólisuspensão), enquanto os poluentes susceptíveis de elimina ção progridem moderadamente. Mas nas regiões de baixas rendas, emissão nítida aumenta rapida mente por efeito das taxas de crescimento mais rápidas da indús tria. a

O feticismo da quantidade
Como a apresentação desses dois modelos permite perceber as criti cas a seu respeito não faltam (13) Com efeito, se alguns vêem nesses ensaios de modelização um imen so progresso para a compreensão dos problemas mundiais a longo prazo, outros observam que eles não implicam uma tomada de po sição ideológica, não trazendo por tanto uma visão objetiva da rea lidade, que a sua utilidade para os que tomam as decisões deixa pe lo menos cético, e que além disso sofrem de insuficiências técnicas. Além destas censuras, parece que a critica mais fundamentada que se possa fazer ao conjunto destes modelos mundiais é a de su-
Por outro lado, se se considera a proporção entre o capital grado à despoluição e as reservas de capital total em cada região, cumbirem a uma espécie de feti- constata-se que à medida em que chismo da quantidade. Como bem estas últimas adotam os padrões salientou G. Picht na obra já ci- dos países de altas rendas, a parte tada, uma análise que se limita a de capital afetada na despoluição aumenta. Segundo as cifras do reconsadados quantificáveis não pode por definição estudar nada além das funções cujo curso está determi nado. É por isso que, “o modelo matemático que está na base da análise de sistema, é de espírito das^ no. çurso dos dois próximos determinista. Só leva em conta decênios,-enquanto, nas regiões de processos que se desenvolvem no latório, 0 controle da poluição ten derá a absorver entre 2 a 4% do investimento, total nas regiões de rendas moderadas e de altas ren-
campo de uma determinação cau sai”.

do Oeste (baixas rendas) AJRSS/ Europa do Leste/Ásia (planificada)
Todo modelo reduz o sistema que Japão/Ásia (baixas rendas)/Orienambiciona reproduzir, mas esta te Médio/África árida/África troredução só se justifica na medida pical/África setentrionai/Oceania. em que a estrutura deste sistema seja corretamente posta em evi dência. Ora, a estrutura da socie dade humana possui uma dinâmica determinada por iiin jogo estreito de relações entre fatores quanti tativos e fatores que apesar de to dos os progressos das ciências so ciais, permanecem não qualificá-
EMISSÕES TOTAIS NÍTIDAS DE POLUENTES SÓLIDOS EM SUSPENSÃO
NA ÁGUA, EM MILHÕES
DE TONELADAS
Região: (idem) (2000, revista do Aménagement do território, n. 41, 1977). veis.
NOTAS:
É por isso que a solução dos pro blemas a longo prazo de nossas sociedades só pode ser encontrada pondo-se um termo ao reinado já demasiado longo da quantidade, do qual o instrumento matemático é o principal suporte. Uma ação eficaz deve, com efeito, passar ne cessariamente pela indicação dos tlirão que 6s este objeto querido que todos os outros devem servir e no qual, aqui cm baixo toda a criatura se refere”.
elementos qualitativos que moldam a evolução sócio-econômica. Não se deveria encontrar aí a mola de toda política responsável?
GVY POQUET
(1) “O livro da natureza”, obra dc Cou- sin-Despréaux, 1844, 5.a ed. 6 significativa este respeito. Pode-se encontrar nela, cn tre outras, esta apóstrofe ao leitor: “jZonsl- dera que não há na terra criatura tao fa vorecida quanto tú. Leva teu olhar a tudo o que te rodeia, e contempla o espetáculo dii natureza, Interroga o céu, a terra e c mor, os animais, as plantas; cm uma pala vra, todos os seres que existem, e eles tu a
(2) Cf. Bertrand dc Jouvenct, “Lc ihéme de I'environnement'’, Anúlise e Previsão, X dc setembro dc 1970.
(3) Georg Plcht, “Rdflexion au bord du gouffre. Paris, Laffont, 1970.
Anexo
A evolução da poluição no mundo
MILÕES de TONELADAS DE PARTÍCULAS EMITIDAS NA ATMOSFERA
Região: América do Norte/Amé- rica Latina (rendas médias) /Amé rica Latina (baixas rendas )/Europa do Oeste (altas rendas)/Europa
(4) Mcadows (òDennis L.) e al. Relató rio sobre os limites ao crescimento — Paris, Fayard, coleção ecológica, 1972.
(5) Ura modelo, matemático ou não, é uma representação mais ou menos simplifica da de ura sistema, no qual os componen tes, que possuam propriedades e caracterís ticas específicas, estão ligados por cone xões determinados. A elaboração dos mode los mundiais comporta por um lado a cons trução de um modelo muito simplificado do sistema total e por outro lado a construção de sub-sistemas (por exemplo o meio ambi ente permitindo o estudo do comportamen to do sistema total.
(6) Mesarovic (Mihajlo) e Pestel (Eduard). — "Estratégia para amanhã”, 2.o relatório no Clube de Roma. — Paris, Le Seuil, co leção Equilibres, 1974.
Léontief (Wassily) c al. — “1999 rexper- tise de Wassily Léontief. Um estudo da ONU sobre a economia mundial futura. — Paris, Dunod, 1977.
W. Forrester, World dynamics, Wright-Allcn Press, Massachus- (7) Tay Cambridge, sclts, 1971.
(8) Este relatório seria mais uma conde nação do presente do que o modelo mundial proposto comporta, segundo F. Meyer, va riáveis manifestamente inferiores à rcalida dc, conduzindo assim as distorções no nível das interações entre as variáveis. Sobre a dc curva supracxponencial, ve: F.
“Surchauffe dc la croissance”.
de aprcsenlação documental do sistema dc \V. Léonlicf, Paris, Mouton, 1*^66.
(10) O relatório sc refere ao D.D.T.
(11) Exemplo: a Groenlândia onde os de pósitos dc chumbo nos gclos aumentaram de 500% por ano desde 1940.
(12) Georg Picht demonstra bem o cará ter anti-utópico do relatório Meadows num recolho dc ensaios sobre o crescimento: "Die Zuk, Bertclsmann Universitats Vcrlng, umpt des Wackstums". 1975.
II. Cole c al, 0 Limites ao uma critica dos Doçao Meyer,” Paris, Fayard, 1974.
(9) Ver; lean Viet, Input-output, Ensaio
(15) Ver entre outros: anti-mailhus, crescimento", Paris. Le Scuil, 1974 c B. de Jouvenel, Análise crítica do relatório dc W. Léonlier, Futuribles, n.« 10. primavera, 1977.
INGLATERRA: — O MAIOR NAVIO DE PLÁSTICO
— Foi lançado à água, recentemente, em Southampton, nos estaleiros da Vosper Thornycroft, um caça-minas feito inteiramente de plástico reforçado de fibra de vidro (GRO). Trata-se certamente do maior navio de plástico do mundo e foi feito para a Marinha Real britânica. O “HMS Brecon”, primeiro de uma série de barcos de defesa contra minas da classe Hunt, tem um deslocamento padrão de 615 toneladas, um comprimento de 60 metros e uma largura de 9,9 metros. É impulsionado por dois motores a diesel que dão uma velocidade de 17 nós e tem uma tripulação de 45 homens, O barco está equipado com o que há de mais moderno na Grã-Bretanha para a busca e desativação de minas. A Marinha Real britânica será a primeira a colocar, em uso operacional, uma classe de caça-minas de GRO. Seu desenho e construção são resultados de vários anos de pes quisas, desenvolvimento e provas com GRO para navios, inclusive com testes de choque estrutural e de explosão. Toda a pesquisa tinha como meta encontrar um material com as necessárias qualidades de resistên cia e dureza para o casco de um navio de guerra, exercendo ao mesmo tempo pouca ou nenhuma influência magnética, para não atrair minas sensíveis à presença de materiais magnéticos. Obteve êxito total um caça-minas experimental de GRO, o “HMS Wilton”, que passou várioS meses trabalhando com a Marinha Real na limpeza do leito do Canal de Suez. O “Brecon” foi construído nas instalações originalmente ergui das para a produção do “Wilton”, sendo que o molde do casco foi leito em liga de alumínio. i

O renascimento dos socialismos
utópicos
JEAN-CHRISTIAN PETITFILS
NUNCA se ialou tanto de uto pias e de socialismos utópicos como nesses últimos anos: tra balhos, estudos, artigos, colóquios multiplicaram-se sobre Saint-Simon, Owen, Fourier ou Gabet cujas principais obras foram reeditadas. O fenômeno não se li mita somente ao domínio da pes quisa universitária. Alguns tenta ram por em prática a utopia. É assim que nos Estados Unidos, nos anos sessenta, numerosos marginais reviveram o itinerário das tentati vas comunitárias do século XIX, com as mesmas esperanças e as mesmas ilusões, criando novos " Falanstérios ou livres “icárias”, à mar gem da sociedade moderna. Mesmo na França, o florescimento dos slo gans surrealistas de maio de 1968, a festa autogestionária dos “Lip” ou a marcha pacífica dos “loucos do Larzac” lembraram a generosi dade confusa e o idealismo um pou co ingênuo dos grandes ancestrais octogenários. Até mesmo nossos modernos ecologistas se deixaram tentar pelas seduções da utopia. Um de seus mais célebres represen tantes, o professor René Dumont redigiu há alguns anos um ensaio de titulo significativo: “A Utopia ou a morte?” Em suma, tudo se pas sa como se assistíssemos, não à manifestação isolada de alguma so brevivência folklórica mas ao re nascimento de uma velha corrente
Soh este titulo, a revista “France'jOTum", de Paris, publicoii o arti go que se vai ler, sobre o renas cimento ãa utopia socialista, à qual uma parte do mundo volta, iludida.
Com efeito a no tória social ou, em sis”, nos em
O súbito ressurgimento do
Xiolítica que se podería crer desa parecida para sempre sob a pesada dialética do “socialismo científico” os apelos irracionais e, inconvenien tes à sociedade lúdica da primeira geração socialista, marcha conquistadora do marxismo fim do século XIX tinha acaba do por reduzir os utopistas ao pa pel de simples precursores apenas dignos de figurar no museu da his' morceaux choiClássicos do Povo”. Ora, alguns anos, esta perspectiva tranquilizadora encontra-se derru bada, pensamento utópico no mundo con temporâneo parece provar que lon ge de ser uma simples etapa na his tória do socialismo (etapa rapida mente ultrapassada por formas de pensamento mais elaboradas), cons titui na realidade uma corrente autô noma que caminha e se desenvolve paralelamente a outros tipos de so cialismo. É em todo caso uma hipó tese que o historiador das idéias


priori sem tê- não pode rejeitar la examinado. a
Revolução, reforma e utopia
Para dizer a verdade, quando se íala em socialismo utópico, esbarcom um delicado problema ra-se de definição, de tal modo o nome traz em si mesmo uma forte dose de subjetivismo. Não tem cada teórico uma tendência natural a qualificar dé " científico prio sistema e de “utópico outros? No sentido próprio, a uto pia é a ilha feliz e perfeita à qual todos os homens aspiram; é a vi são global e idílica de uma socie dade regenerada que, em razão da complexidade da vida social e das imperfeições da natureza humana, não conseguirá inscrever-se jamais plenamente na realidade. Era já o sentido que lhe tinha dado o futu ro chanceler da Inglaterra, São Thomas More, na sua célebre obra apa recida em 1516 em Louvain: ●● A seu proo dos utopia discurso do muito excelente homem Raphael Hythloday sobre a melhor constituição de uma repú blica”. Confesso facilmente, dizia More no fim do livro segundo, que há nos Utopistas quantidade de coi sas que desejo ver estabelecidas nas nossas cidades. Desejo-o mais do que o espero”.
Como o mito, a utopia represen ta um papel motor na História. Invade de todos os lados o campo político, ocupa o espaço que se es tende da extrema direita à extrema esquerda: há utopias reacionárias como a de Maurras que idealiza e
sistematiza o passado propondo por modelo uma fictícia monarquia tu telar protetora das liberdades. Há utopias liberais ou néo-bberais nas quais as aspirações à autonomia in dividual deveríam equilibrar-se harmoniosamente com os interesses da coletividade (não encontraram al guns recentemente alguns acentos utopistas na “Democracia France sa, o livro de M. Giscard d’Esiaing?). Há utopias racistas que pretendem fundar a sociedade sobre uma comunidade de sangue, utopias anarquistas ou comunistas que vi sam instaurar, depois do desapare cimento das classes sociais, uma so ciedade igualitária, sem Estado, sem exército, nem polícia, na qual o homem seria naturalmente bom, trabalhador, pacifico, altruísta e de dicado à coletividade... Enfim, não é excessivo dizer que todo pro jeto político global, assim que se apresenta como um ideal social de perfeição, constitue uma utopia. E a política é precisamente esta ação permanente que visa tornar reali záveis as utopias sobre a terra.
Até agora só consideramos o ní vel teleológico no qual, acima de sua diversidade, todos os grandes sistemas políticos se encontram na utopia. Para distinguir o que faz a especificidade do socialismo utó pico — dever-se-ia dizer dos socialismos utópicos pois existem tan tos quanto teóricos — em relação a outras formas de socialismo, con vém utilizar uma outra aproxima ção que consiste em abandonar o domínio dá escatologia pelo da es tratégia política. Para chegar à ci dade ideal, três caminhos são apa-

to caminhar, sem violência, reali zado por meio de reformas demo cráticas sucessivas. Nao nos esObservaremos
apenas que a linha de demarcação entre o reformismo e a revolução não é tão clara como se podería crer. Sabe-se que no momento atual a maioria dos partidos comu nistas ocidentais que se ligam ao que é chamado o eurocomunísmo ocupam uma posição intermediária
rentemente possíveis. O primeiro é ruptura brutal, mas como um len- o mais radical: é a revolução vio lenta, a derrubada brutal da ordem antiga e a constituição de um novo poder, a ditadura dos oprimidos tenderemos sobre esta estratégia sobre seus antigos opressores. É que é a dos partidos socialistas precisamente a posição de Marx p ocidentais, sejam eles ou não de in- de Lenine. È também a estratégia fluência marxista, que foi aplicada na Rússia em 1917. Mas a corrente revolucionária re monta a muito mais longe no pas sado. É dela que é necessário apro ximar certos teóricos pré-socialisras como Lin^ier ou o cura^d'Etrepigny, Jean Meslier, que no seu cé lebre testamento (1723-1725), aposcasíava todos os dogmas religiosos bastante ambígua entre o caminho e desejava a grande revolução so- revolucionário e o caminho reforcial no curso da qual todos os gran- mista. Por exemplo, a estratégia da união da esquerda na França é tipicamente uma estratégia refor-
des e todos os nobres seriam “ en forcados e estrangulados com os cordões dos padres. O chefe da mista, conspiração dos Iguais, Gracchus Babeuf, ou Blanqui TEnfermé tencem a esta mesma corrente re volucionária, igualmente os anarquistas
Quanto à terceira corrente que é per- precisamente a dos socialistas utó picos, caracteriza-se pela rejeição Pode-se ligar a ela dos modelos precedentes e por uma como carência bastante singular no nível Bakoimine ou Kropotklne ou os estratégico. “O caráter comum de anarco-sindicalistas do fim do sé- todos os utopistas declarados ou culo passado. À diferença dos co- não, escreveu M. Alfred Sauvy, é rnunistas que imaginaram muitas que eles vêm uma sociedade muito fases de transição para o estágio fi- mais ordenada do que a atual sem nal da sociedade perfeita, os anar- se preocuparem com a caminho quistas crêm a tal ponto nas virtu- que nos levará a ela particularmendes características da revolução que te nos primeiros metros” (1). Os se persuadiram de que a socieda- utopistas com efeito só se preocude nova, sem lei nem opressão, nas- pam com a perfeição de seu modecerá espontaneamente sobre as ruí nas do velho mundo. lo, sem quererem saber se é apli cável às condições atuais. A ação O segundo caminho que pode con- política do dia a dia, o combate duzir ao socialismo é o reformista. Sob esta perspectiva, a passagem da sociedade capitalista à sociedade socialista não é concebida como
eleitoral interessa-os muito pouco de tal modo estão persuadidos de que as instituições desabarão por si mesmas, quando o mimdo tomar - uma J
conhecimento da Verdade, desta de perfeição. É ela quo quer meverdade da qual se imaginam ser os Ihorar antes mesmo de modificar únicos detentores. No fundo, par- as estruturas da sociedade. A transtilham a mesma ilusão dos filósofos formação social não passa para ele racionalistas do século XIX que de uma consequência da transforacreditavam no triunfo inelutável mação do próprio homem. Deste da Razão sobre o fanatismo e o ponto de vista os utopistas proceobscurantismo. Se o homem está dem, sem dúvida do otimismo das no erro é porque está enganado ou Luzes e do humanismo racional do de má fé, mas bem esclarecido só século XVIII. poderá aderir à única verdade! Para utopistas como Roberú Owen, Fou- Esquerdismo e utopia rier ou o Barão Colins, é pregando incansavelmente o ideal utópico, sem se preocupar com o tempo nem com as contingências, que o homem sairá do seu erro. Para eles, ^ cação e a propaganda substituem de certo modo o conceito de revolu ção na transformação futura da ciedade.
so-

Os utosi mesmo,
Alcançada esta definição, podemos nos interrogar sobre o atual renas cimento dos socialismos utópicos e a edu- em particular sobre uma tese bas tante difundida que tende a assi milar o esquerdismo a um novo avatar do utopismo. Para alguns com efeito, o impulso contestatário que eclodiu em maio de 1968 seria para nossa sociedade tecnocrática e burocratizada o que foi para o e que seu capitalismo nascente o socialismo humanista e romântico de 1848. In-
O homem não forma mesmo seu caráter, Owen no comêço do século do, formam-no para ele”, pistas estão convencidos de modelo se imporá por r pela “força de sua própria virtu de”, como diz Engels. E também, para convencer os recalcitrantes,’ vem-lhes frequentemente a tentação de criar a título experimental micro modelo social praticante das receitas dos tempos futuros e vivenpor escrevia si passa-
capaz de criar por si mesmo uma revolução, este impulso teria apenas feito com que nossa sociedade to masse consciência da esclerose de suas instituições e dos novos con flitos sociais nascidos das recentes transformações econômicas. Mas em falta de saber criar a transforum do em campos fechados como uma ilhota pacífica no meio dos elemen tos desencadeados. mação, a contestação teria desem bocado na revolta cultural, no so nho acordado e no discurso utópico. Tal é por exemplo a posição do sociólogo Alain Touraine que es tima que o movimento de maio “foi mais um movimento social do que uma ação política. E continua; um
Enfim, enquanto o marxismo fun da sua análise no estude das decadencias sócio-econômicas das socie dades industriais, o utopismo põe - suas esperanças na bondade original da natureza humana — o homem é bom mas a sociedade o corrompe século após o socialismo utópico e — nas -suas possibilidades infinitas- no nascimento da sociedade tecno-

crática é a expressão do comunismo duz profundas divergências doutriutópico”. Esbarrando com "uma nais. Tres correntes pelo menos diutopia dominante, a dos mestres da videm a ultra esquerda: o trotskissociedade, proclamando que os pro- mo, o maoismo e o anarquismo, úlemas sociais consistiam somente A primeira destas correntes, com cm modernizar, adaptar, integrar”, toda evidência, não constitue em 0 movimento contestatório de 1968 qualquer nível um movimento utó:eria portanto elaborado " uma pico. Os partidos e grupos subvercontra-utopia libertária e anti-auto- sivos nascidos da Quarta Interna* ritária, comunitária e espontanis- cional lembram suficientement e sua ca” (2). vontade revolucionária para que va¬ lha à pena insistir. Do mesmo mo do seria difícil alinhar os sectatá*
Para dizer a verdade, esta expli cação parece bem sumária e não explica a complexidade de um mo vimento que os sociólogos e histo riadores sem dúvida não acabaram de analisar e de dissecar. É certo
que os slogans irrealistas ou provocadores pintados nos muros da Sor-
rios de Mao-Tsé-Toung entre os utopistas: são partidários da violên cia revolucionária, que censuram os soviéticos e os partidos comunistas ocidentais por terem renunciado aos dogmas leninistas e abandonarem-se traiçoeiramente às moles sebonne ou do Odéon parecem muito ,^yções do revisionismo. Alguns chelíiais próximos do universo erótico e fantástico de Charles Fourier que da fria e rígida dialética dos boicheviques de 1917 “ Tomem seus de sejos por realidade”, “Trabalhado res de todos os países, divirtam-se”, “O sonho é verdadeiro”... Tais
garam mesmo a elaborar teorias in verossímeis a respeito da guerrilha urbana, da qual o mínimo que se pode dizer é que se adapta muito mal às realidades das sociedades desenvolvidas.
Sobram os anarquistas. Nesse caso, a hesitação é permitida. Não se encontram nos escritos de certos anarquistas referências tomadas aos utopistas? Um grupo anarquisante como a internacional situa cionista, dos anos sessenta, não fa zia referência a Charles Fourier? A crítica do mundo contemporâneo Mas ainda resta dizer que o es- por esse grupo ultrapassava, amplaquerdismo não constitue, longe dis-, mente por exemplo, a análise marso, um bloco homogêneo que me- xista, exclusivamente orientada para reça globalmente o qualificativo de o estudo das forças econômicas e utopista. A multiplicação dos grupinhos antes e depois de 1968 não se explica somente por rivalidades entre pessoas ou aparelhos mas tra-
os apelos irracionais à sociedade lúdica, tais as lembranças da velha utopia confusa e generosa dos pro fetas barbudos de 1848 que acre ditavam todos na reconciliação es pontânea das classes sociais e na fraternidade dos paraísos perdidos e reencontrados. sociais. A internacional situacio nista permanecia entretanto cen tralizada no princípio da tomada do poder pela revolução, afastando-se

por conseguinte das soluções uto- morais e mesmo familiares. A reipistas. Pode-se dizer o mesmo do vindicação da libertação sexual vem conjunto da corrente anarquista, talvez diretamente de Wilhelm Reich com algumas excessões (como cer- e de Marcuse, mas não é indiferente tos não violentos de inspiração saber que já foi expressa um século tolstoiana que, esses, podem apro- antes pelo padre Enfantin e sobreximar-se efetivamente dos utopistas).
Os hippies e a utopia
tudo por Fourier (notada'mente na sua delirante obra
Monde Amoureux” surgido somen te em 1967). Sua idéia de que uma educação nova pode servir de berço Onde se encontram portanto os à sociedade de amanhã, sem violên- u opis as a a ualidacie? Mais do nem revolução, encontra os pro- esquerdistas, organi- jetos de pedagogia utopista de Ro- intn fril r.1 ° eombate político e a bert Owen e de Etienne Cabet. Sua riani-P 'va.ga e abun- busca de uma espiritualidade nova nrlmpiram^ ^ hippy que se deve que se manifestou notadamente nos correntp mni^f Procurá-los. Nesta Estados Unidos pela “Revolução de dPfim'T7oi ^ orme e dificilmente Jesus” e a voga das religiões orien- tnHPc ’ e^eontram-se certamente tais está bastante próxima do de- todas as tradições políticas ou filo sóficas amalgamadas às vezes em es tranhos cocktaíls: Rousseau, FouTier, Marx, Freud, Mao, Marcuse, Reich, Guevara aparecem mestres do pensamento da geração contestatária do “ underground
Entretanto, muitos temas desta corrente lem bram as preocupações de seus an cestrais utopistas do século XIX. Como eles, os hippies são revole não revolucionários —
sejo que tiveram a maioria dos uto pistas de integrar a seu sistema so cial uma religião nova. Sem remon tar à “República” de Platão ou à “Cidade do Sol” do monje Campanella, pode-se citar Saint-Simon que e sonhava com um “ novo Cristianis mo”, Owen que se pretendia o pro feta da religião racional, Enfantin o pontífice da nova Jerusalém, Fou rier o profeta “post-curseur” de Jesus Cristo e Collins o messias da ciência religiosa”...
A aspiração a uma vida simples em contato com a natureza, a neces sidade de levar em comum uma aventura exaltante incitaram fre-
quentemente os marginais a cons tituir o que é chamado “ pequenas comunidades ”. Todas as comuni dades existentes não relevam evi¬ dentemente socialismo utópico. Al-
como os da “ contra-cultura ”. íados que não têm ambição de tomar o poder mas de " mudar a vida”, aqui e agora, sem esperar o ” grande dia”, sem mesmo preocupar-se com as estruturas do velho mundo. A uto pia é a chave de acesso a um mun do melhor. “Reality is for privilidged class” dizem os hippies ameri canos que aspiram à sociedade li bertária, autogerada (3), desligada gumas são grupos de inspiração de tcdas as suas entraves culturais, religiosa como a comunidade não
Le Nouveau

A primeira fase
violenta do Arco, criada em 1948 no Hérault pelo filósofo Lanza dei Vasto, outras especializaram-se na música “pop”, nos casamentos em grupo, no naturalismo, no vegeta rianismo, no nacionalismo regional ou mesmo no uso de alucinógenos. Alguns contaram ou contam ainda muitas centenas de marginais, como c Estado livre de Christina em Copenhague. No seu apogeu, durante o verão de 1968, Harbinger, comu nidade do Lake County, teve até cento e cincoenta residentes insta lados nas construções em ruinas de uma antiga estação termal. Em Olompali, a sessenta quilômetros ao norte de São Francisco, viviam no fim dos anos sessenta uma cen tena de hippies sob a direção auto ritária de Don Mac Coy (4). Citase ainda Morningstar Ranch na Ca lifórnia ocidental fundada por vol ta de 1967 por Lou Cottleib, Wheller’s Ranch, instalada em cento e quarenta hectares perto de Mor ningstar e fundada por um jovem hippy americano, Bill Wheeler, que acabava de receber uma substan ciosa herança, sem contar as cencenas de pequenas comunidades anônimas da Califórnia, da Corrèze, ou da Ardèche. da comunização, escreve Irène Anclrieu na “France marginale” ope ra-se frequentemente em um gran de apartamento ( comunidade urba na de habitat) onde todos os gastos de gestão e de mantenimento são colocados em comum. Encontrase em Paris atualmente algumas tre zentas comunidades deste gênero repartidas indiíerentemente em to dos os bairros, havendo preferência (5).
entretanto pelo subúrbio próximo accessível aos transportes em co mum.
A segunda fase consiste em ins talar-se no meio rural, o que certos grupos fazem às vezes diretamen te, alugando ou ocupando uma fa zenda abandonada, um castelo em ruinas ou num aprisco isolado. A sobrevivência da comunidade de pende entãó de múltiplos fatores. Alguns meses de criação de animais ou de trabalhos agrícolas são ge ralmente suficientes para vencer os intelectuais que embarcam nesta aventura. Acontece também que o grupo arrebenta do interior pela falta de homogeneidade social ou por conflito de autoridade. Mas há comunidades que duram mais, dois ires, às vezes quatro anos depois cindem, se dispersam para às vezes renascer noutro lugar.
Entre os grupos que reivindicam (ou reivindicavam) tradições utópi cas, notar-se-á Derby House em Berkeley que publicava uma pequena revista intitulada *’Modem Utopia”, “Vocations for Social Change”, ins talada perto do canyon de Oakland, Free Press Commune de San Diego que editava igualmente um jornal político. Os membros destes grupos não procuravam somente subsistir à margem da sociedade, queriam lealmente transformar as relações sociais e apresentavam sua comuni dade como um protótipo da organi zação social futura. A ideologia vei culada por estes grupos é geral mente bastante pobre. Reivindicam um vago anarquismo não violento ou um néo-cristianismo comunizan-
te sem grandes referências. Muito frequentemente, ligam-se ao que Edgar Morin chamou no seu “ Jor nal da Califórnia” o “fouriérismo
Erook Farm, Wisconsin Phalanx, e North American Phalanx (7); para os anarquistas não violentos, os ambientes livres de Vaux e d’Aiglemont, e sobretudo a colônia Cecilia, no Estado do Paraná no Brasil, fun dada pelo agrônomo italiano Giovanni Rossi e da qual Jean-Louis Comolli tirou em 1976 o assunto de um filme. Na galeria das comunios dades utópicas, é preciso citar ígualmente Oneida criada por um gmpo , , ^ ^ - do unitarianos dissidentes, sob a savel, barbudo e cabeludo, que pa- direção de John Humphrey Noyes, ° ® uma gravura român- que durou trinta e dois anos (1848- , rava. Somos fouri^istas”. 1880) e levou em prática mais de yuan o se perguntava a estfc ame- um século antes de certos grupos Fourier?”, ele hippies o "casamento complexo”, honesto e desinvolto, fi- quer dizer a comunidade das no do audio-visual, da cultura por lheres. ouvir dizer: “Não,(We have been told) comunidade durou O interessante respondia a muitas : cidas por Fourier” (6). selvagem”. Dominique Desanti con tou a história desta comunidade cha mada “O Estar Junto” (Togetherness) que tinha se instalado perto de Big Sur, nas imediações de São Francisco, em edifícios rurais em forma de ferradura, segundo bons princípios arquiteturais des critos por Fourier. "Seu responmu-
mas nos fala¬ ram Esta Paul Goodman; a utopia comunitária apenas dezoito meses. e que ela regras estabele-
A atitude dos hippies fugindo à , , “Prostituta da Babilônia” para ir V em 1 ar que o socialis- edificar, à margem da civilização mo experimental nao é uma novidade. ^ contra-sociedade e uma contra- O século XIX foi crivado cultura não é aprovada por todos por experiencias comunitárias que os utopistas contemporâneos aliás acabaram tão mal como do século XX. Citemos alguns bres nos Estados Unidos. Paul exemplos: para os partidários de Goodman (1911-1972) chegou Robert Owen a vila de New HarUm de seus representantes mais céle- as a es tigmatizar o mito do retorno à mony (1825-1827); para os fouriéris- natureza inspirado em David-Henry tas, as tentativas de pré-falansté- Thoreau ou em Jean-Jacques Rousnos no Condé-sur-Vesgre (1832) na seau. Para ele, não é tentando re- abadia de Citeaux (1841-1843), em presentar os modernos Robinson Palmitar no Brasil (1841-1846), em que se poderá encontrar uma res- Reunião perto de Dallas, no Texas posta satisfatória à confusão das (1855-1857), sem contar a sessente- sociedades post-industriais. Ensana de falanges americanas nascidas da ativa propaganda de Albert Brisbane e seus amigos, notadamente políticas numa trintena de obras
ista, romancista, filósofo, poeta. Paul Goodman expôs suas idéias

das quais as mais célebres são: “The Empire City” (1959), “Grov/ingUp Absurd” (1960) e "Utopian Essays and practical proposals” (1962).
Politicamente, é um individualis ta não violento, inspirando-se no anarquismo federativo de Proudhon e no fouriérismo americano. De onde seu ódio visceral pela con centração dos poderes, a urbaniza ção tentacular, a invasão do estadismo, a burocracia anônima, o feu dalismo industrial. Enfim o que denuncia incansavelmente é a as censão nas sociedades modernas do centralismo que vai de par com o gigantismo e a desmedida. É o que chama o “ Sistema Organizado”, que se encontra tanto na União Sovié tica como nos Estados Unidos. “O Jnodo de organização centralista foi levado tão longe em todos os compartimentos da sociedade que se tornou ineficaz, economicamen te dispendioso, humanamente idiotizante e fatal à democracia” (8), Goodman anuncia aqui a contes tação ‘●radical” e a tese de Ivan Illich segundo a qual todas as téc nicas modernas apresentam uma base de eficiência ótima, a não ser ultrapassada, falta do que se cairá na desordem. As consequências deste hipercentralismo são para Goodman desastrosas e conduzem diretamente ao mundo sem alma descrito por George Orwell no seu célebre romance 1984; alienação crescente do homem que perde o o contato com a natureza e as co munidades naturais, desenraizamento intelectual e móral, crise religio sa e espiritual, idolatria da ciência
e da sociedade que acaba por se tornar sua própria finalidade (“Sociolatria”), apatia das massas, as censão insidiosa de um novo tota litarismo fascista que arrisca con duzir-nos à guerra, proliferação dos marginais de toda espécie, neuroses, delinquentes ou hippies quê recu sam todos de um modo ou de outro a integração à ordem estabelecida.
Diante desta situação, Goodman cesenvolve os delineamentos de seu ‘●utopismo realista” (9), que se fun da sobre uma volta às realidades humanas. Volta sobre um problerr.a que os filósofos abordaram pou co desde Rousseau, o da natureza humana. Contrariamente à opinião da maioria dos sociólogos contem porâneos (influenciados nisso pelo marxismo), Goodman crê no valor desse conceito: acredita numa natu reza primeira do homem, autônoma, invariável, irredutível, preexistente à História. Esta natureza se ex prime ções: a sexual e a função comunitária, esta última ocupando aliás um papel primordial desde que sem ela a exis tência das duas outras seria despro vida de significado. Ora, precisa mente, esta natureza humana encon tra-se atualmente alienada no “Sis tema Organizado”. De onde o di vórcio entre o indivíduo e a socie dade, a ruptura entre a natureza e a cultura. A sociedade moderna é anti-natural. Não responde às exi gências profundas da natureza hu mana que se deve restaurar na sua integridade (10). O homem deve reencontrar sua criatividade primei ra, libertar-se dos tabús sexuais e
através de tres grandes funfunção criadora, a função


mserir-se numa comunidade frater nal,
Tudo isto supõe a supressão
do “Sistema Organizado” e sua substituição por uma sociedade ao mesmo tempo descentralizada, autogestionária e comunitária. A des centralização, diz Goodman, tornouse possível graças às técnicas mo dernas. É preciso portanto aplicála a todos os domínios: ensino, ur banismo, pesquisa científica, vida cultural, mass média... Pouco im porta se a produtividade diminue posto que o objetivo não truir uma sociedade de crescimento mas uma sociedade na escala hu mana. A autogestão introduzida sistema de produção restituirá trabalhadores
e consno aos uma parte de seu po der atualmente alienado pelo siste-
Enfim, o desenvolvimento de mna rede de pequenas comunidades autonomas, evitará o trágico isola mento dos indivíduos e facilitará seu desenvolvimento social, sob a condição entretanto de que à dife rença das comunidades de antiga mente, opressoras e fechadas sobre si mesmas, as do futuro sejam aber tas, democráticas e conflituais. ma.
Como atingir esta utopia? Pela ruptura? Vimos que Goodman con denava a estratégia hippy da fuga. Só se pode mudar o mundo a par tir do interior. A revolução vio lenta de tipo leninista? Todas-as revoluções só reforçaram até ago ra, o poder central. A ação refor mista? Goodman seria tentado a prestar-se a ela, pois pelo contato político quotidiano pode-se instalar, empiricamente, diz, contrapesos salutares, mas o perigo consiste em atolar-se na “ es-
“peça por peça”.
colha do mal menor” e na pala re formista que não muda nada era profundidade. Em definitivo, Good man escolheu o único caminho res tante: a inversão do mundo pela utopia. No seu furor destruidor, o “Sistema Organizado” só deixou uma coisa intacta, porque está fora do seu alcance: a natureza humana. Para transformar o mundo, o ho mem deve ele próprio se transfor mar, arrancar-se às alienações que o limitam, reencontrar sua identida de profunda: o espírito criador, Eros, o sentido da comunidade. Deve viver “de outro modo”, rea prender o respeito, praticar a obje ção de consciência e a ação não vio lenta à Gandhi. Com o tempo, esta liberação pacífica não poderá dei xar de ter repercussão sobre o sis tema. É o que Goodman chama “a intervenção utopista arbitrária” (11), quer dizer a contestação li bertária mas não violenta, limita da e controlada. Graças a ela, pen sa, poder-se-á “ multiplicar as esfe ras de ação livre até que estas cons tituam o essencial da vida social” (12). Naturalmente, nesta estraté gia de subversão dos poderes, Good man reserva um lugar escolhido para a juventude estudantil cujo espírito contestatário conhecia bem-
Dumont e lUich: a utopia ecológica
A corrente hippy e comunitária conheceu seu apogeu entre 1966 e 1968, depois entrou em lenta deca dência. Atualmente, se ainda res tam na Europa e nos Estados Uni dos alguns grupos de marginais
tentando sobreviver, estima-se que a maioria das grandes comuni dades quebraram ou desapare ceram. A esta corrente suce deu no começo dos anos setenta 0 movimento ecológico que pode ser considerado igualmente como uma das formas modernas do utopismo. Certamente, aqueles que se preocu pam em lutar contra os estragos e as poluições de nossas sociedades industriais não são, todos felizmen te, utopistas; os programas preci sos e concretos de defesa do ambi ente que foram elaborados aqui ou ali, por governos ou partidos polí ticos, nãò relevam necessariamen te do domínio dos sonhos impossí veis e permitiriam sem dúvida, se lossem mais bem aplicados, reme diar situações trágicas e prevenir muitos desastres futuros. No sen tido estrito do termo, a Ecologia é uma disciplina científica que tem por objeto o estudo das relações do homem com o meio ambiente. Nes te vasto quadro era lógico que a pesquisa contemporânea tivesse se orientado particularmente para os problemas ligados às recentes degradações naturais, às múltiplas poluições e ao esgotamento dos re cursos raros do planeta. Mas, des de o momento em que a ecologia abandonou o caminho científico e procurou se definir como uma ideo logia nova e autônoma, transcen dendo as camadas políticas tradicio nais de direita e de esquerda, teve tendencia a se transformar em pura utopia e a revitalizar os velhos so nhos agro-pastoris dos escritores bucólicos do século XVIII. Com Jean-Jacques Rousseau e Restif de
la Bretonne, os ecologistas não com partilham a mesma noção impreci sa e ambigua de “natureza” que cobre ao mesmo tempo a natureza selvagem e a natureza domesticada (mas não degradada)?
Em todo caso, não é duvidoso que os ecologistas modernos intro duzam uma dimensão nova na reivindicação dos cidadãos. Viu-se bem isso por ocasião das últimas eleições municipais na França quando os candidatos “verdes” não leclamavam apenas algumas qua dras e jardins suplementares nas grandes cidades, não lutavam so mente contra os excessos da polui ção pelo automóvel, a invasão do cimento armado ou a proliferação das centrais nucleares. É a própria hnalidade da sociedade industrial seus modelos de crescimento F”. com “desumanos” que discutiam, pedin do um novo modo de vida, uma nova orientação da economia (13).
RENÉ DUMONT
Para se convencer basta ler os escritos de um de seus mestres pensadores, o professor René Dumont, como "A Utopia ou a morte” (1973) ou seu último ensaio “So mente uma ecologia socialista” (1977) ... Novo profeta do Apo calipse, o antigo candidato à pre sidência da República pensa que o mundo no ritmo atual corre à ca tástrofe: a demografia galopante, o desperdício dos recursos naturais pelos países garantidos, a pilhagem do terceiro-mundo, a destruição dos eco-sistemas, a erosão dos solos e o esgotamento dos recursos plane-

tários conduzem-nos diretamente ã pequeno planeta só existem em núíome e à guerra atômica. O único mero e em quantidade limitadas. É remédio possível não é a revolução preciso construir um “ socialismo de ou a luta de classes mas a progres- sobrevivência” a partir de uma piasiva tomada de consciência pela hu- nificação mundial das economias manidade dos perigos que corre, ‘ uma tomada de consciência popu lar, bastante forte, bastante ampla para se impor aos governos, às mi norias privilegiadas que estão poder” (14). te utópica, sendo o caso, pois faz

Pameaça.
a gra- - Trata-se ainda cte transformar o homem antes de modificar a estrutura social, ecologia socialista, escreve René Dumont, vai portanto muito longe do que todos comuns da direita
‘●A mais os programas ^ e mesmo da es¬ querda. Situa-se " bem longe à es querda da esquerda”, numa ótica totalmente nova. Não é apolítica pois é anticapitalista. Exige muito mais de nós, uma revolução interna de nossos conceitos, de nossas talidades, de nossas relações. Obri ga-nos a procurar ser mais e não ter mais (15).
men-
Trata-se, escreve René Dumont, de elaborar um “projeto global de ci vilização a baixo consumo de ener gia e de minerais, vivendo em har monia com a natureza, portanto capaz de longa sobrevivência”
Dumont não crê na utopia final propõe o marxismo: a sociedade igualitária de abundância onde cada um recebería segundo suas sidades, pois os recursos do nosso
nacionais e uma exploração racio nal e coletiva de todos os recursos energéticos conhecidos. A limita ção "por todos os meios” (o que não deixa de ser inquietante...) do crescimento demográfico permiti, , . - rá alimentar corretamente todos os apelo exclusivamente ao sentido da cidadãos do mundo, razao no homem: a humanidade acabará por parar à beira do abis mo, a não ser que se lhe sublinhe com suficiente intensidade vidade da no Conduta tipícamenAs grandes regiões do globo ver-se-ão aliás re¬ equilibradas demograficamente. As sim, os grandes excedentes da Ásia serão vertidos nas zonas despopuladas da Sibéria, da África ou da América. No plano político, uma organização dotada de um verda deiro poder de decisão fará preva lecer suas visões mundiais sobre o cgoismo instintivo dos governos na cionais. Na base, René Dumont imagina uma multidão de micro-sociedades governando-se por si pró prias segundo os princípios liber tários e autogestionários. Mas sua autonomia será apesar de tudo res tringida pelos imperativos da sobre vivência coletiva. “ Os neo-falanstérios que se pode imaginar não po derão, assim como as nações serem os únicos senhores dentro de seu território: pois deverão respeitar as necessidades mundiais de sobrevi vência” (17). Desta sociedade nova ‘●agradável, sossegada, serena", na (16). qual o homem reencontrará por que fim o prazer de viver, o professor Dumont esboça um quadro idílico: a descentralização da indústria no neces- campo terá posto fim às gigantes cas conturbações atuais. O auto-
IVAN ILLICH

mem e a estrutura técnica da má quina, em seguida — e como conse quência — entre o homem e profis sões cujo interesse consiste em man ter esta estrutura técnica”.
móvel individual, poluidor e estorvante, será substituído pela bicicle ta. A navegação a vela conhecerá um novo impulso. Os serviços pú blicos serão gratuitos. Os homens trabalharão o estrito necessário e. Illich observa que passado um certo grau de desenvolvimento, o instrumento não é mais dominável graças a seus abundantes lazeres, reencontrarão o contacto com a na tureza. Nas vilas e nos campos, re vitalizados pelo declínio das gran des cidades, a vida cultural renas cerá sob múltiplas formas. Em breve, no país de sonho da ecologia, obrigatória que, em vez de ser um a vida será uma festa permanente! instrumento de libertação cultural, , só serve para perpetuar o espírito de casta e de liierarquia, para es magar os indivíduos pelo jogo pe-
A utopia de Ivan Illich, o célebre rigoso do espírito de competição e de seleção, para desenraiza-los inculcando-lhes uma falsa cultura dis tanciada da vida, para afastar dos pelo homem. Ele obedece às suas próprias leis de desenvolvimento e acaba por alienar os dois que deve ria libertar. Assim é com a escola
apóstolo da ” sociedade convivial não está tão distanciada da de René Dumont, mas tem por ponto de par- . tida uma reflexão sobre a crise do postos de responsabilidade aqueles mundo contemporâneo de nature- que não correspondem às normas Para o antigo culturais ou que têm o espirito cnanimador do Centro Internacional tico muito desenvolvido. Em resudesenvolvimento da escolariza muito diferente. de Documentação de Cuernavaca no México (18), a raiz do mal não se situa somente na degradação dos meios naturais ou na exploração co lonialista mas na alienação do ho mem pela máquina e na monopolização das máquinas em geral por uma minoria todo-poderosa de téc nicos. Desse modo, Illich se sepa ra igualmente do marxismo para quem o nó das contradições polí ticas e das lutas reside nas relações sociais.
mo, o dade joga contra a libertação do indivíduo e reforça o caráter opresPor essa razão, limite do razoável, sivo do sistema. ultrapassou o afirma Illich em “uma sociedade (19). Em “Némésis (20), obra que deveria sem escola medicai suscitar os protestos violentos e in dignados do corpo médico, anuncia reflexão semelhante a respeito uma da medicina dos países desenvolvi dos e do consumo excessivo de pro dutos farmacêuticos. Não somen-
O que interessa, escre¬ ve ao contrário Illich, em “ La Convivialité”, não é a oposição entre te a medicina moderna custa cada classe de homens explorados vez mais caro à sociedade, diz basi? camente, mas acaba por tornar do entes aqueles que não o são! Por outro lado, confere um imenso pouma c uma outra classe proprietária das máquinas, mas a oposição que se coloca .primeiramente entre o ho-
— às mãos de uma casta fechada, intolerante e perigosa. Os transportes são ainda um outro exemplo de instrumento que ultra passou o limite da " desutilidade marginal, tanto, para dar-se conta, diz Illich, as perdas de tempo e de dinheiro que representam a circulação dos automóveis individuais nos centros urbanos.
Que se contabilize porEm breve, atualmente, “as crianças nascidas no hospital, alimentadas por receitas, empantur- radas de antibióticos, adultos que respiram comem um alimento vivem uma existência de grandes cidades tomam-se um ar viciado, envenenado e sombras _ modernas situação, observa as so.
das mfp “âustrializadas adianta- das, que ele chama de , “méga-outil”, ideologia que capitalista e

De zeres
aliás socíedades do qualquer que seja a as anime. O mundo o mundo comunista percorrem o mesmo caminho, co nhecem as mesmas experiências so frem as mesmas degradações lógicas e se encaminham mesmo ecopara o tendo livre desastre planetário _ onde este aforismo: "A ditadura do proletariado e a civilização dos la- são duas variantes políticas da mesma dominação por uma ma quinaria industrial em constante expansão” (22). De nada serve pla- nificar a produção ou nacionalizar as grandes empresas se não se modifica “ a estrutura anti-humana da máquina”.
Colocada esta crítica radical dos sistemas industriais, Illich pode de senvolver os temas de sua utopia.
der — o da saúde de cada indivíduo Em oposição ao mundo moderno no qual o homem se tornou o es cravo da máquina, a sociedade convivial será aquela na qual as rela ções entre a ferramenta e sua utili zação são radicalmente invertidas. Se se quisesse caricaturar Illich, poder-se-ia dizer, sem muito exagêro, que ele imagina para o futuro uma sociedade sem escola, sem me dicina, sem automóvel, tendo reen contrado a felicidade natural e sim ples das sociedades primitivas nas quais o poder e o saber eram difu sos, ao mesmo tempo gozando de certas vantagens das técnicas mo dernas — porque não se trata de re negar tudo globalmente — cuidado samente limitadas e controladas afim de não recair no erro do gi gantismo e da mega-ferramenta. Em convivialidade, todas as castas, to das as hierarquias serão abolidas. Contrariamente ao que se passa nas civilizações modernas onde predo mina a regra da especialização e a divisão de trabalho, os cidadãos dos tempos futuros serão de algum modo “ generalistas acesso a todas as ferramentas a to das as técnicas sem ter que passar por uma série de provas ou de di plomas. A cultura será generaliza da. Cada um poderá ser seu pró prio médico, seu próprio arquiteto, poderá produzir seu próprio alimen to e será às vezes ensinante, às ve zes ensinado. O recurso a profis sionais especializados será marginal. Por todas essas razões as barreiras entre oS homens cairão. O poder de decisão sendo descentralizado ao máximo, a vida social será livre e alegre, reencontrando a dimensão
pessoal e comunitária das socieda des pré industriais.
Podemos nos pergimtar em que medida a utopia de Illich se encon tra com as de Marx e Engels que vislumbravam também na fase fi-

vivialidade, será necessário,) ao con trário, respeitar normas sociais, do minar a produção e a reprodução e sobretudo não ultrapassar os li mites de nocividade da ferramenta, o que pode implicar às vezes a des-
alegre e equilibrada”. Como disse mos, a crítica de Illich ultrapassa tanto o modelo capitalista de superconsumo como o modelo soviético de superprodução e considera-os confusos, concebidos numa época de crescimento ilimitado. Na con- nal do comunismo integral uma era de pura liberdade quando as barrei ras de classes e as barreiras do sa ber se encontrariam totalmente abo lidas? A sociedade comunista, escre viam na " Ideologia Alemã”, me dará ‘‘a possibilidade de fazer hoje isso, amanhã aquilo, de caçar de manhã, Iruição das invenções destruidoras pescar depois do almoço e cuidar od socialmente perigosas. O essen- dos animais à tarde, de fazer critica “al é que haja um equUíbrio entre segundo meu atel prazer, sem jamais “ homem e a ferramenta, de modo me tornar pescador, pastor ou cri-
a Qde o primeiro conserve sempre ^ c perfeito domimo sobre o segun¬ do. A liberdade futura se fará acompanhar portanto de certas licoletiva e de-
mitações que serão mocraticaraente fixadas. “Proteger ambiente, escreve Illich, pode sig nificar proibir os transportes suEvitar que a polarizao persomeos. ção social se torne intolerável, pode significar proibir os transportes aéreos. Defender-se contra o mono pólio radical, pode significar proi bir os carros. Na ausência de tais medidas o transporte ameaça a so ciedade.' O equilibrio dos fins e dos meios que sublinho aqui nos fornece -um novo critério de sele ção da ferramenta. A consideração deste novo equilíbrio nos conduzi rá talvez a proscrever todos os transportes públicos com veloci dade superior à da bicicleta”. (23).
No caminho de acesso à socieda-
Esta aproximação, para di- tico”, zer a verdade é menos esclarecedora do que pode parecer à primeira vista. Se é verdade que o comunis mo e a convivialidade desembocam, ambos na visão edênica de um mun do libertário e autogestionário, o socialismo convivial deixa de lado no entanto o problema da apropria ção privada que estava no centro das reflexões dos teóricos do co munismo do século XIX. Mas fun damentalmente, Marx e Engels não concebiam o estágio supremo do co munismo de outro modo que como uma era de “ desenvolvimento das forças produtivas”, sem a qual a ●■prise au tas” não seria concebível. Ora, para Illich, o acesso à socieda de convivial supõe que os homens aceitem viver no interior de certos limites, que renunciem à idolatria da ciência, às cadências industriais, aos excessos, do progresso e do su- de convivial, Ivan Illich como todos percrescimento, em breve, que se os utopistas, mostra-se bastante discontentem com uma “ austeridade ereto.
desperdício, de limitar a população c a produção para atingir o cres cimento zero. Em vez de discorrer ra, ou sobre a felicidade futura da e em-
Teme o cataclisma final previsto por certos ecólogos e se pÕe a du vidar que se possa freiá-lo a não ser pela “conversão” dos indivíduos aos sobre a difusão ilimitada da cultubenefícios do socialismo ecológico e convivial. Mas não acredita nas humanidade enfim liberada pelos virtudes da revolução nem nas lutas robots das tarefas repetitivas dos partidos políticos. De que serve brutecedoras, inquietam-se com a substituir um poder por um outro ruptura dos equilíbrios ecológicos se não se é capaz de dominar o demônio do crescimento que vive no homem moderno?
É necessário antes de tudo mudar modos de pensar, man, lllich estima finalmente é por um lento trabalho de nossos torna
Como Good- / f ma
e reclamam um socialismo de so brevivência”... Quando o mundo vai depressa demais a utopia se regressiva. Ninguém ousa ainda condenar francamente o proque gresso técnico. Entretanto, é exata.,7 . ■ mente disso que se trata quando se ' ideoloeia dnm' ^ contestação da considera as aspirações da geração
na raiz o fnnpin ^ apaixonada de Goodman à socieda- ^ mais importantes Tnínt tecnológica, as ameaças apoca- uma revolução l^Pticas e milenaristas de Dumont do que toTa?T ® que cada o poder” (24) ° - ^ secreta suas utopias, como acrescenta, qul poupLáTaltef i^^i^íduo seus próprios fantas- dois terco; ÍT vessia da trãgica era indusírial. " re:7£T;en^^^^ consciência da nossa civilização.
—oOo—
NOTAS:
(1) “Croissance zéro?
(2) Alain Toiirai C.nlman-Lcvy, 1973. , Lc Communismc ulo- P‘9UC; lu mouvcmcnl dc mni 1968”. j 968. nc: Lc Scuil, ca.
o pensamento de lllich permite perceber o ponto em comum de to das as utopias sociais de.nossa époEnquanto durante todo o sé culo XIX os teóricos utopistas, de Saint-Simon a Edward Bellamy não paravam de acentuar o papel ben feitor do
(5) O tema da auíogcstão não é típico dc uma forma de socialismo. E encontrado cm J'Ourier rriíts também cm Louis-Blanc e cm J roudlion (que odiava as utopias e os so cialistas utópicos), (c não sòmcntc entre os revolucionários es querdistas mas igualmcnlc no seio da es querda socialista c reformista.
É encontrado alualmcn- progresso que deveria conduzir a humanidade ao país do .sonho, seus descendentes do sécu lo XX parecem a tal ponto drontados com a evolução do do moderno que não falam de outra coisa que de parar a pilhagem e o
(4) "As comunas c a cultura hippies Bob FUch.
(5) Iréne Andricu: Albin Miclicl, 1975.
(6) Doininique Desanti: dc rUtopic”. Fayot, 1970. püi Esprit", outubro dc 1970. amemun- La Franco marginalc. Les Socialismes f

(7) Hcnri Dcsrüclics: “I-a Sodclc fcstivc; du fouricrismc «íciit aux fourit3rismcs pra liquiis: Lc Scuil, 1975.
(8) Citado por Bcrnnid Vincont: '‘Paul Goodman ct Ia roconquôto du Picsonl". Lo Seuil, 1976. Bernaid Vinccnt que tornou Goodman conliccido na França prepara atualmente uma tese de doutorado sobre es te utopismo.
(9) B. VincetU: op. cit.
(10) Haveria aliás um interessante estudo comparativo entre as noções de natureza luiniana c de alienação cm Goodman, no jo vem Marx (antes da ●'ruptura epislemológica") c num utopista do século XIX como Moscs Hess, o teórico do socialismo verda deiro”.
(II) B. Vinccnt. kl.
(12) B. Vinccnt: op. dl.
(13) Existem na França numerosos grupos
c gvupctos de ecologistas que lutam nesse sentido como "Os amigos da Terra" anima do por Brice Lalonde, o "Correio da Uto pia”, “Diógenes", “Poluição reza c Vida”, "Sobreviver c Viver”, etc.
(14) R. Dumond; “Sciiie une écologie socialiste...” R. Laffont, 1977.
(15) R. Dumont: op. cit.
(16) R. Dumom: “L’Uiopic ou la mon". Le Scuil. 1973.
(17) R. Dumont: op. cit.
(18) A atlvid,adc do C.l.D.O.C. cesseu cm 1976.
(19) I.C Seuil. 1971.
(20) Le Scuil, 1975.
21) "La Convivialilé”. Le Seuil. 1973. (22) “La Convivialilé”, Lc Seuil, 1973.
1975.
(23) "La Convivialilé”. Le Seuil, (24) “La Convivialilé”. Lc Seuil, 1973. Não”, Natu-
INTERNACIONAL: — PERIGO NA INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS
| INDUSTRIAIS — Pesquisadores europeus que estudarn os subprodutos provenientes da incineração de resíduos estão trazendo à tona resultados que podem ter implicações na crescente tendência de incinerar resíduos industriais na Europa e nos Estados Unidos. Cientistas da Itália, Ho landa e Suíça, trabalhando independentemente, descobriram que a inci neração de lixo urbano comum, inclusive resíduo industrial, produz grande quantidade de dioxinas e de outras substâncias altamente tóxicas. A maior parte da pesquisa, porém, está ainda nos estágios iniciais e peritos estão, agora, tentando identificar, exatamente, quais os com ponentes dos resíduos que produzem os subprodutos tóxicos e que grau de contaminação pode ser tolerado pelos seres humanos. Pesquisa<^res holandeses, os primeiros a suspeitarem ^ué a incineração de lixo urbano cinzas de incineradores e descobriram vesos I podia produzir dioxinas, analisaram fumaça e em três cidades — Arhheim, Amsterddã e Alkanar — tígíos tóxicos de policlorodibenzo-para-dioxina (PCDD) e policlorodibenzo- furan (PCDF). Numa tentativa de reproduzir os incineradores urbanos no laboratório, os suíços descobriram que a queima dos clorofenóis mais comumente usados produz formas de PCDD nas cinas dos mcmeradorèS. E descobriram, também, que o PCDF é produzido pela queima de bife- nilos policlorados. O Dr. Alberto Frigerio, que chefia uma equipe de pesquisa que estuda o problema do Instituto de Farmacologia Mario ● Negri (Milão, Itália), observa que ainda bá muito a aprender sobre os '● efeitos das dioxinas nos seres humanos. Acrescenta ele que nem mesmo a experiência de Seveso, Itália, onde em 1976 uma explosão ocorrida numa fábrica de produtos químicos lançou uma nuvem de dioxina sobre vastas áreas, trouxe alguma luz sobre os níveis de tolerância dos seres humanos à substância ou que efeitos,ela exerce sobre o organismo humano. à

BIBLIOGRAFIA
ISEB: FÁBRICA DE IDEOLOGIAS, por Caio Navarro de Toledo — 2.a ed. São Paulo: Editora Átiça, 1978 pio apoio, desenvolvendo este Ins— 195p. (Ensaios, 28)
O ISEB — Instituto Superior de Estudos Brasileiros — foi cria do em julho de 1955 e extinto em abril de 1964. Como prescrevia o seu Regulamento Geral, o ISEB era^criado no Ministério de cação e Cultura, diretamente bordmado ao Ministro
composto de três ^ ^ Diretoria Executiva. O ISEB reuniu intelectuais repre sentativos das Ciências Sociais Brasil, como os responsáveis seus Departamentos: Álvaro Vieira Pinto; Cândido Mendes; Sociologia: Al berto Guerreiro Ramos; Política: Helio Jaguaribe, e ISEB cursos, conferências, semanas de estudos, pesquisas, onde partici param representantes das Forças Armadas, do Conselho de Seguran ça Nacional, do Congresso Nacio nal, dos Ministros de Estado, in dustriais, líderes sindicais, profes sores e estudantes universitários, profissionais liberais e funcioná rios públicos. O ISEB
volvimento nacional, sobretudo no governo Juscelino que lhe deu amtituto a teoria do desenvolvimen to e do nacionalismo brasileiros.
O presente livro é o resultado da tese de doutoramento em 1974 na FFLC de Assis, hoje UNESP. Pro cura examinar algumas das pro duções teóricas desta Instituição criada e mantida pelo Estado du rante os anos de sua existência. Procura captar a ideologia nacio nal desenvolvimentista do ISEB. Edusu, , . - de Estado e dotado de autonomia adminis trativa e plena liberdade de quisa, de opinião Era
pese de cátedra. A obra está dividida em três p - orgaos: o partes: 1) a ideologia como ante- ôonsemo Consultivo, o Conselho factum; 2) pressupostos filosóficos uurador
das análises isebianas, e 3) a ideo logia nacional desenvolvimentista do ISEB. no
Filosofia:
por A_ primeira parte é uma intro dução teórica ao tema, ou melhor, ao objetivo proposto: tratar da ideologia do desenvolvimento seus critérios e exigências. As três teses desta ideologia ideologia do desenvolvimento tem necessariamente de ser um fenô meno de massas; 2) o processo de desenvolvimento é função da cons ciência de massas, e 3) a ideolo gia do desenvolvimento tem de proceder da consciência de mas sas. Ao tratar da ideologização da ideologia o autor aponta que os isebianos foram vítimas de pro cesso de ideologização do pensa mento, ‘foram incapazes de se li vrarem da ideologização da pró-

História: e de Ciência sao: 1) a congregou posições ideológicas extremamente ecléticas e conflitantes. Procurou \ ser 0 arcabouço teórico do desen-
pria ideologia que buscavam pro- Aqui o Autor chama a atenção duzir como verdade do momento para algumas falhas do ISEB no que se refere ao tema: falta de embasamento teórico e de uma pesquisa empírica, o que redunda em “imprecisões e lacunas que re percutirão ao nível da prática po lítica que se pretendia transfor madora”. Um quadro sinótico ilushistórico”.
Passando para a segunda parte — Pressupostos filosóficos das análises isebianas, temos no pri meiro capítulo a discussão da alie nação como conceito central dos isebianos, seguida pelo capitulo tra segundo vários isebianos, a II onde 0 Autor trata das fontes filosóficas do ISEB. Embora a teo ria desenvolvimentista seja o nú cleo do trabalho, é nesta segun^' parte que o Autor destaca os alide toda a construção inte-
A terceira parte — A Ideologia
Nacional desenvolvimentista — ini cia-se com um estudo sobre as classes sociais, que para os isebiacompostas na socieda— com 0 nos, eram de brasileira após 1930, por dois setores: de um lado os dinâmicos e produtivos e de outro os estátiparasitários, podendo cada COS e setor abrigar parcelas das três classes fundamentais: burguesia, nos classe média e proletariado. Em dução”. torno do setor tradicional estavam a classe latifundiária, a burguesia mercantil e a classe média não produtiva acompanhada por par celas do proletariado- O setor mo derno agrupava a burguesia indus trial, o proletariado (urbano e rural) e a classe média produtiva.
O presente livro encontra o seu complemento no recente trabalho de Nelson W. Sodré — A Verdade sobre o ISEB.
Prof. JANUÁRIO FRANCISCO MEGALE — FEA/USP

existência de classes no subdesen volvimento, com a sua principal contradição e os protagonistas desta, bem como a ação do impe rialismo e/ou do capital estran geiro. Na conclusão o Autor apon ta que: “Presos a ideologias de cunho humanista, nada mais fizefam do que reproduzir uma certa desenvolvimentista que contagia ponderável parcela da in telectualidade latino-americana em particular muitos cientistas so- ciais — durante a década de 50. Porém, em princípios dos anos 60 esgotamento da chama da “política de substituição de im portações” — o desenvolvimento econômico tout court revelava-se não ser equivalente à autonomia e à liberação nacionais; muito meainda, sinônimo da convivên cia harmoniosa de classes antagô nicas ao nível das relações de procerces lectual do ISEB. Esta parte é fun damental para o trabalho acadê mico do autor como tese defendi da e é importante ao leitor como teórico de referência da 1 euforia esquema visão e dos trabalhos do ISEB.
Interpretação de Camões, João de pícios da Universidade de São Scantimburgo, Secretaria de Cultu- Paulo, ra. Universidade de São Paulo, Me lhoramentos, São Paulo, 245 pá ginas.
Após o prematuro desaparecimen to de João Camilo de Oliveira Tor res, singular historiador e ensaísta social de alentada obra e homem de imprensa de Minas Gerais e que tanto colaborou neste jornal com seu humanismo cristão e brasUeiro,_ temos agora a colaboração de João Scantimburgo, ensaísta fessor paulista e também autor com quatorze obras publicadas nos u timos trinta e cinco anos, em que tsm versado a problemática da Pohtica à luz do Tomismo humanismo e a filosofia da Téc nica, o Destino Humano, as Ilu sões, e Desilusões do Desenvolvi- mei^o e entre o mais o seu Trata do Geral do Brasil de 1971.
Enquanto lhe aguardamos
e pro-
Trata-se de outro alentado en¬ saio monográfico de duas cente nas e meia de páginas em que Scantimburgo justifica a opção que fez de propor Camões à luz de Santo Tomás de Aquino, quan do há teses de que o grande poeta luso foi marcado pela filosofia platônica. A obra em foco é apre sentada pelo próprio autor e con ta com breve prefácio do mestre tomista que é o venerando Alexan dre Correia, que, com Leonardo Van Acker, tem sido baluartes de Aquinatense na gleba bandeirante.
Se a bibliografia camoniana é de fôlego e da mesma ultimamente lemos 0 que lhe escreveu Antonio Sérgio, bem como versos e algu ma prosa de Luiz de Camões e seu “Diário” em versos, aqui temos uma obra que é inédita em sua espécie, pois o gênero tem sido bastante especulado.
. - . 3- pu¬ blicação da Filosofia de Maurice Blondel em O Universo Dramáti co, temário que nos é grato pois durante a Guerra Mundial de 1939 demos um curso de crítica ao Blondelismo, que não nos foi possível então publicar, temos a expectati va também de sua obra sobre Café, tema que já suscitou até ópe ra de Koellreutter e os ensaios de Mário de Andrade e Sérgio Milliet. o Estamos nas vésperas do Ano de Camões, cujo quarto centenário da Cosmologia morte transcorre em 1980, ótima primicia temos com a sua parábola do Destino, a ‘‘Máquina recente publicação de INTERPRE TAÇÃO DE CAMÕES, sob os aus-
Estamos com o mestre Alexan dre Correia, João Scantimburgo estuda vivamente o sentimento re ligioso na epopéia e lírica camo niana à luz da filosofia e teologia tomista, não pretendendo com isto afirmar o ensaísta que Camões ti vesse tido conhecimento direto da obra genial do Aquinatense.
Em quatro capítulos, Scantim burgo desenvolve sua obra. O pri meiro versa sobre Metafísica e
em que propoe que a Poesia não tem idade e Deus é a uma do Mundo e seu Autor”, além de tratar da - Causa Primeira ê das /

causas segundas c Camões como místico da morte, bem como fixa os Desconcertos do Mundo.
No capítulo da Moral, analisa a Reconquista da Paz, propõe Ca mões como apóstolo da moral cris tã, versa sobre a beatitude divina, 0 justo e a justiça em Camões, a virtude da prudência e a eficácia da moral religiosa.
No que tange a Psicologia, foca liza 0 amor em Santo ■ Tomás e aqui faz a refutação do alegado platonismo de Camões, sublinhan do, isso sim, a influência de u.n platonismo difuso e o autor dos “Lusíadas” como paladino do amor e como firme namorado entre mui tos amores e um Amor e, final mente, no plano da Lógica, anali sa a Operação do pensamento ca moniano e sua linguagem, que abre horizontes e a comunicação do pensamento pelo discurso, tendo em vista Camões e a lógica da lin guagem, finalizando sua tese e en saio com a lógica aristotélico-tomísta de Camões, tendo de notar nisso tudo que Scantimburgo fun damenta cada tópico, capítulo e proposta com os textos poéticos bem capturados através das obras do vate luso e com bom lastro fi losófico e crítico, não sendo de esQuecer que, com a Revolução de 1964, os comunistas lusos procura ram renegar a Camões, como Chi na comunista também tentou mas em vão negar o velho Confúcio. Se, em 1972, aqui comemoramos os 400 anos de Os Luziadas e, ém 1974, os 4 séculos de seu nasci mento, agora é a vez de sua efe¬
méride póstuma, em cujas véspe ras temos a palpitante oferenda e tese que é a obra dè João Scan timburgo.
ALDO OBINO
História da História do Brasil, l.a parte. Historiografia Colonial. José Honório Rodrigues. São Paulo: Nacional; Brasília: MEC/INL. 1979. 534 p. Brasiliana: Série grande for mato V. 21)
no
Este livro é a última parte da tri logia: Teoria da história do Brasil (l.a edição 1949 e 5.a 1978), Pesqui sa histórica no Brasil (l.a ed. 1952 G 3.a 1978) mais esta que se inicia presente volume, sendo seguida por dois outros volumes já em pre paro: Historiografia nacional (sécu los XIX e XX) e Historiografia e ideologia.
Logo no prefácio o autor define o seu objetivo: “A obra histórica deve ser vista e examinada como obra liistóríca, pelo seu valor intrínseco, como contribuição ao desenvolvi mento de sua disciplina. O critério Uterário e formal não é o definitivo.
Se o autor escrevia muito bem, tanto melhor. Mas Varnhagen, que não é padrão da língua; é, incontestavelmente, o maior historiador brasileiro, pela contribuição pres tada." (pág. XV). Neste sentido — libertação da disciplina da história literária — o autor diz que no Brasil há somente três precursores ao seu trabalho: Capistrano de Abreu, Al cides Bezerra e Sérgio Buarque de Hollanda. Como critério de inclu são de autores e escritos nesta his toriografia foi escolhida a dístin-


mais antigos documentos sobre o Maranhão na pessoa do Padre jesuí ta Luís Figueira, seguido de Martim Soares Moreno, Diogo de Camentre documento histórico e do- cao cumento historiográfico, sendo que somente este e seu autor entraram Como nem todo docu- no estudo, mento histórico é historiográfico pos Moreno, Manuel de Souza de (embora todo documento historio- Sá e Alexandre de Moura, Pedro gráfico seja histórico), o autor con- Rodrigues e Manuel Gomes, sidera a historiografia como a his tória da história e só “os escritos
acabados na forma da descrição ou da interpretação podem ser consi derados historiográficos, relatem ou não fatos do passado, ou se limi tem ao seu presente.”
A obra compõe-se de dez livros com vários capítulos cada: I) his toriografia da conquista; 2) histo riografia das invasões; 3) do Mara nhão; 4) do bandeirismo seiscentís5) regional; 6) religiosa; 7) das rebeliões; 8) militar; 9) econômica e social, e 10) crônica geral colonial. No livro 1, o capítulo primeiro trata das cartas e relações ou rela tórios. Aqui os documentos: carta de Caminha, as Cartas de A. Vespúcio, a Relação do piloto anô nimo, o Livro da Nau Bretoa, Nova Gazeta do Brasil, o Diário da Navegação de Pero Lopes de Sousa, a Narração de Cabeza de Vaca, a Viagem de Ulrico Schmidel e as Aventuras de Hans Staden são visa tos todos como documentos em sua autenticidade, suas edições, seus autores e seu conteúdo. Ê fácil com preender a abundância da bibliogra fia consultadas, o que enriquece e documenta, sob a forma de notas de rodapé, esta primorosa obra de nosso conhecido historiador.
Muitas histórias dos Estados atuais têm a sua fonte e a sua ori gem nesta obra monumental, fora os fatos históricos cuja exclusiva fonte está aqui contida. A historio grafia com mais fontes documen tadas é a regional, com 44 documen tos que tratam da historiografia paulista, de Minas, de Mato Grosso, de Goiás, do Rio Grande do Sul e de outros Estados. A Crônica Ge ral Colonial vem em segundo lu gar com 32 fontes históricas, seguida pela historiografia da Conquista com 20; do Maranhão, com 17; re ligiosa, com 15; das invasões, com 13; econômica e social, com 10; do ^ bandeirismo seiscentista, com 8; mi litar, com 4, e das rebeliões com 3. Ao todo o autor descreve 166 fontes ou documentos, desde livros até cartas, narrativas e crônicas. Fonte preciosa e permanente de pesquisa histórica, não só pelos tex tos examinados, mas também pelas obras, citadas que nos remetem ao original ou aos primeiros escritos e comentários sobre cada texto em foco.
A precisão e a fartura de referên cias acompanha a obra toda. Assim, c capítulo II nos traz notícias dos Januário Francisco Megale
Formação da Comunidade Científica no Brasil. Simon Schwartzman. São Paulo: Nacional; Rio de Janeiro: FINEP. 481p (Biblioteca Universi tária; série 8.a Estudos em ciência e tecnologia; v. 2)

Depois de uma explicação sobre diversos órgãos oficiais dedicados ao financiamento e amparo da pes quisa no país, encontramos a obra dividida em dez capítulos, o es tudo abrange o período da Reforma de Pombal, 1772 até nossos dias, tra tando de todas as áreas do conhe cimento científico. Acompanha o texto um Apêndice — Cronologia da ciência brasileira (1500-1945) de Tjerk Guus Franken e um outro com as notas biográficas dos cien tistas entrevistados no total de 66.
O livro é um excelente estudo. Embora com 332 páginas apenas para tão vasto período em foco, a bibliografia indicada enriquece muito a obra e facilita um eventual aprofundamento deste ou daquele ponto pelo leitor. A cronologia (pags. 333-446) é uma fonte de re ferência útil, pois indica em duas colunas a produção cientifica e a institucionalização da ciência.
Ninguém nega o crescimento exponencial da ciência e as suas apli cações. O impacto social, cultural e econômico causado pela aplicação da ciência em todas as áreas, mor mente na energia atômica, na ele trônica e na biologia, é que moti vou o uso de indicadores sociais como parâmetros de se aferir o de senvolvimento de um país e a qua lidade de vida de seu povo. O capítulo 2 nos fala da herança intelectual e cultural do século XVIII e o 3, da ciência e educação superior no Brasil do século XIX, em que os naturalistas ocupam lu gar de destaque na descrição e pes quisa de nossa fauna, flora, subsolo e de nossos habitantes. A ascenção
to.
ram
de Pombal ao poder trouxe um impulso com Alexandre Rodrigues Ferreira, primeiro naturalista bra sileiro que havia estudado em Coim bra. A Sociedade Científica do Rio de Janeiro foi fundada em 1772, mas a vinda da família real foi o que lealmente motivou a criação de vá rias instituições: A Academia de Guardas-Marinha, o Colégio Médicocirúrgico da Bahia, a Escola Médicocirürgica do Rio de Janeiro, a Bi blioteca Nacional e o Jardim Botâ nico do Rio, originalmente Real HorA química e a siderurgia tiveos seus primórdios no Rio em
1812. Em 1874, com a Reforma Vis conde do Rio Branco, criou-se a Es cola Politécnica do Rio de Janeiro.
ca
A república trouxe a consolidação prmcipais tradições, tanto as sim que o autor distingue, baseado cronologia da criação das insti tuições, sociedades e cursos, dois períodos: um de 1880 a 1900 e outro ■ 1915 a 1930. No primeiro foram criadas novas Faculdades e Escolas de nível superior: Escola Politécnide S. Paulo (1893); Engenharia Mackenzie (1896); Engenharia de Porto Alegre (1896); Farmácia de S. Paulo (1898); Agricultura e Me dicina Veterinária no Rio (1898) Agricultura Luiz de Queiroz (1901), e duas Escolas de Comércio, em 1902, uma no Rio e uma em S. Paulo. O Museu Paulista e o Museu Para ense (hoje Emilio Goeldi) foram criados ambos em 1893. O final do século passado e o início são marcados pelas Comissões Geológi cas: Comissão Geológica- do Impélio (1875-1877); Comissão Geográfi ca e Geológica de São Paulo (1886); na ae
Universidade de São Paulo — come c. sociais.
Megale Januário Francisco —oOo—
BÉLGICA:

Comissão de Exploração Geográfica tamente empresarial, mcentivo e de Minas Gerais {1891-1899) e Ser- investir no desenvolvimento de tç viço Geológico e Mineralógico do nologias próprias e autônomas. Brasil, 1907. Falta no livro a menção de Assim por diante O autor caminha rios Institutos ou Centros pelas instituições de ensino e pes- quisa criados nestas duas u in O cap. 7 traz o título — A décadas e mesmo outros um p- co mais antigos. Há alguns cent o duplo objetivo — cultural e polí* que colaboram na forniação de r. tico — de sua criação e a ação per- sa juventude universitária, so ^rc manente de Júlio de Mesquita Filho, do na área de ciências huma Armando de Salles Oliveira e Paulo Não foi citado o ISEB nem Duarte. Depois de discorrer sobre n CEBRAP, o Centro João a física, a química e a genética — e o IPEA. Foi dado pouco desta bases da ciência moderna — de às ciências humanas, o q.uo mencionar as contribuições interna- preensível devido ao caráter sui cionais de incentivo à pesquisa, de rio da obra. Este livro comí tratar de Reforma Universitária de menta a já antiga “A cultura r; 1968, o autor aponta os dilemas do leira” e outros trabalhos ja c ii>_^ presente. O atraso científico e tec- cidos, sem se esquecer da nológico entre Brasil e os países cão de mestrado, 1974 mais desenvolvidos e a experiência üSP de Vanya M. SantAnna _ histórica dos EUA e Japão que se Ciência e Sociedade no Brasi . ^ desenvolveram no século XIX em podemos deixar de mencionar g nível tecnológico similar ao da In- apenas dois entrevistados glaterra, com um ambiente cientí- são da área de ciências humanas , íiCO bem inferior ao deste país e ao da Alemanha. Parece não haver no Brasil, do ponto de vista estri* i i quisa.
— NOVO
TIPO DE
AEROSOL — Diante dos % o aerosol impulsionado a gás apresenta sob diversos aspectos, ^ quisadores belgas, Therese e Henri Schumacker, acabam de ^ uma invenção relativa a um aerosol propulsionado a ar q^.® numerosas vantagens sobre o sistema atualmente utilizado, ' campo da ecologia. Não é poluente, nem inflamável, nem expiosivo^ permite acondicionar mais produtos ativos que nos aerossois cortixij^^ No campo industrial, 0 uso do sistema aerossol Pepo (nome dado seus inventores) não requer nenhuma transformação na cadeia de fabr caçao e de enchimento, já que 0 novo sistema foi aperfeiçoado no ser tido de sua aplicação com as válvulas e recipientes utilizados atualmej^i nos aerossóis comuns, sejam de alumínio, vidro ou plástico. No diz respeito à vaporização, um dos mais importantes fatores exigidos p.' los acondicionadores, o aerosol Pepo produz o mesmo “spray” que comum, permitindo a vaporização dos produtos acondicionados nos pr. sentes aerossóis. bi
que também utilizam as

da Associação Comercial de S. Paulo. Informações rápidas, econômicas e da maior confiabilidade (afinal, são quase 80 anos de bons serviços).
Consulte-nos para melhor orientação de seus negócios.,
Telefone para 239-1333 - Dep. de Expansão Socíaí R. Boa Vista, Bi - 2.0 andaf - S' Paulo
LUCRO - SEGURANÇAPARTICIPAÇÃO
Ação, método e objetivo regulam o desempenho do empresário na condução de seu negócio.
A ação é o trabalho, que visa a obtenção de lucro legí timo na produção e distribui ção da riqueza.
O método é a sua atuali zação e segurança na prática de suas atividades.
E objetivo é a sua integra ção na coletividade, assu mindo responsabilidades pe rante seus concidadãos e o Poder Público.
A Associação Comercial de São Paulo, que há 80 anos defende a classe empre sarial em suas legítimas as pirações e subsidia a ação governamental na condição
de Órgão Técnico e Consulti vo, proporciona aos empre sários os instrumentos ade quados para o desenvolvi mento de sua ação, o apri moramento dos seus méto dos de trabalho e a obtenção dos resultados visados em seus objetivos. Para tanto, coloca a sua disposição os seguintes servi- ^. ços: ^ Departamento de Informa ções Confidenciais - DIC 'j Serviço Central de Proteção ao Crédito-SCPC Instituto Jurídico Instituto de Economia Gastão Vidigal
UTILIZE-OS E CONFIE NO ' ACERTO DE SUA ESCO- j LHA.
Rua Boa Vista, 51 - Tel. 239-1333

li
