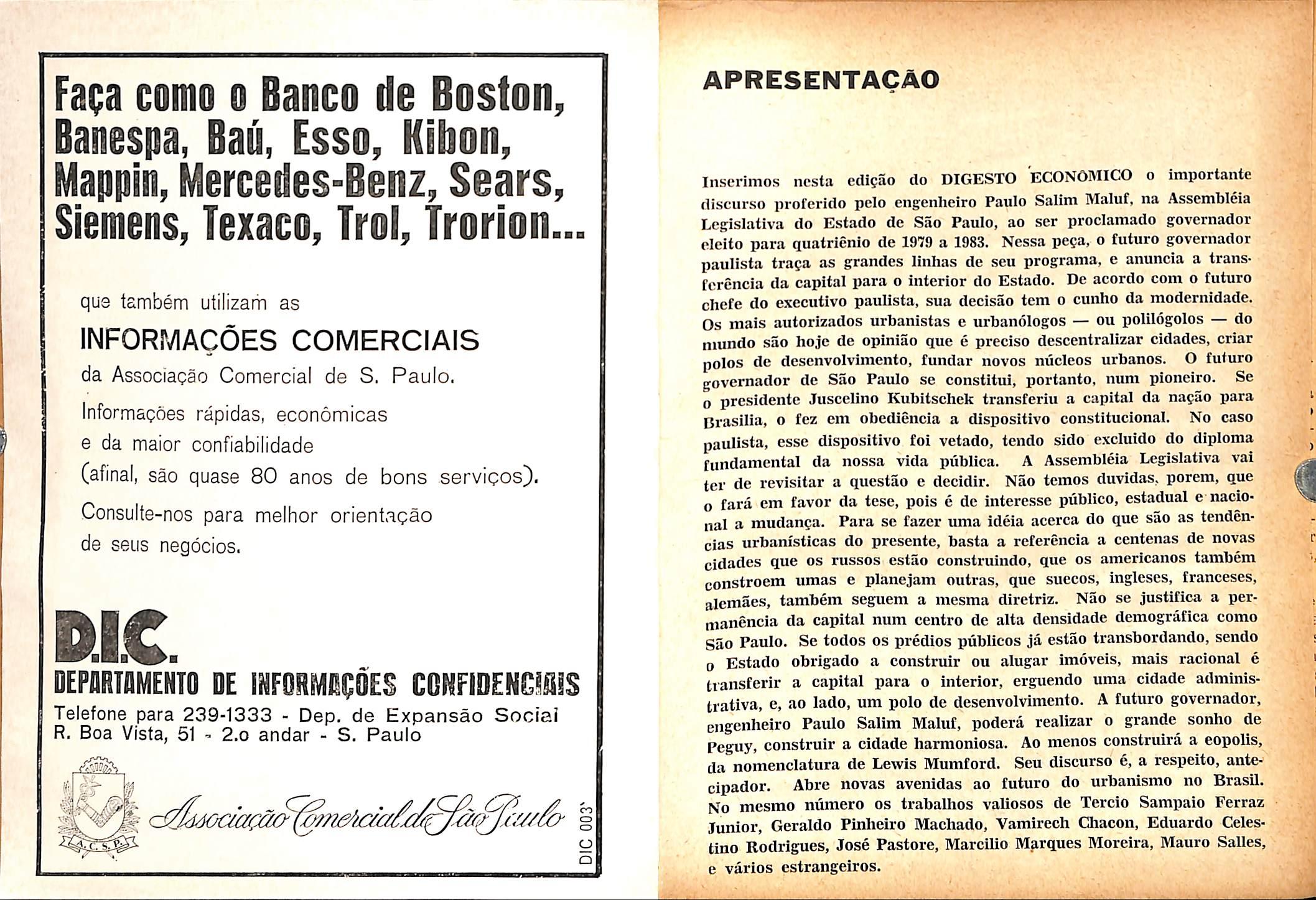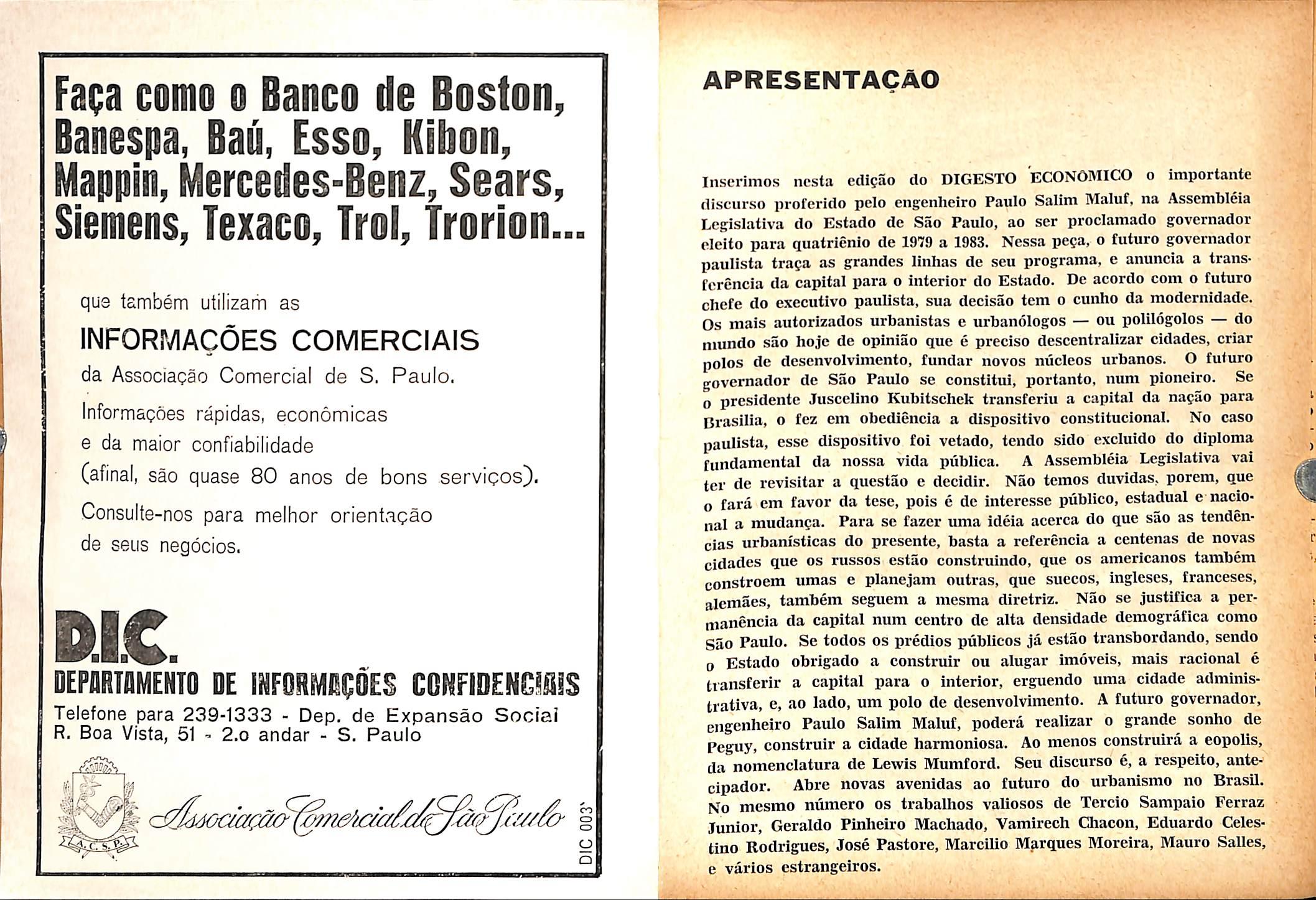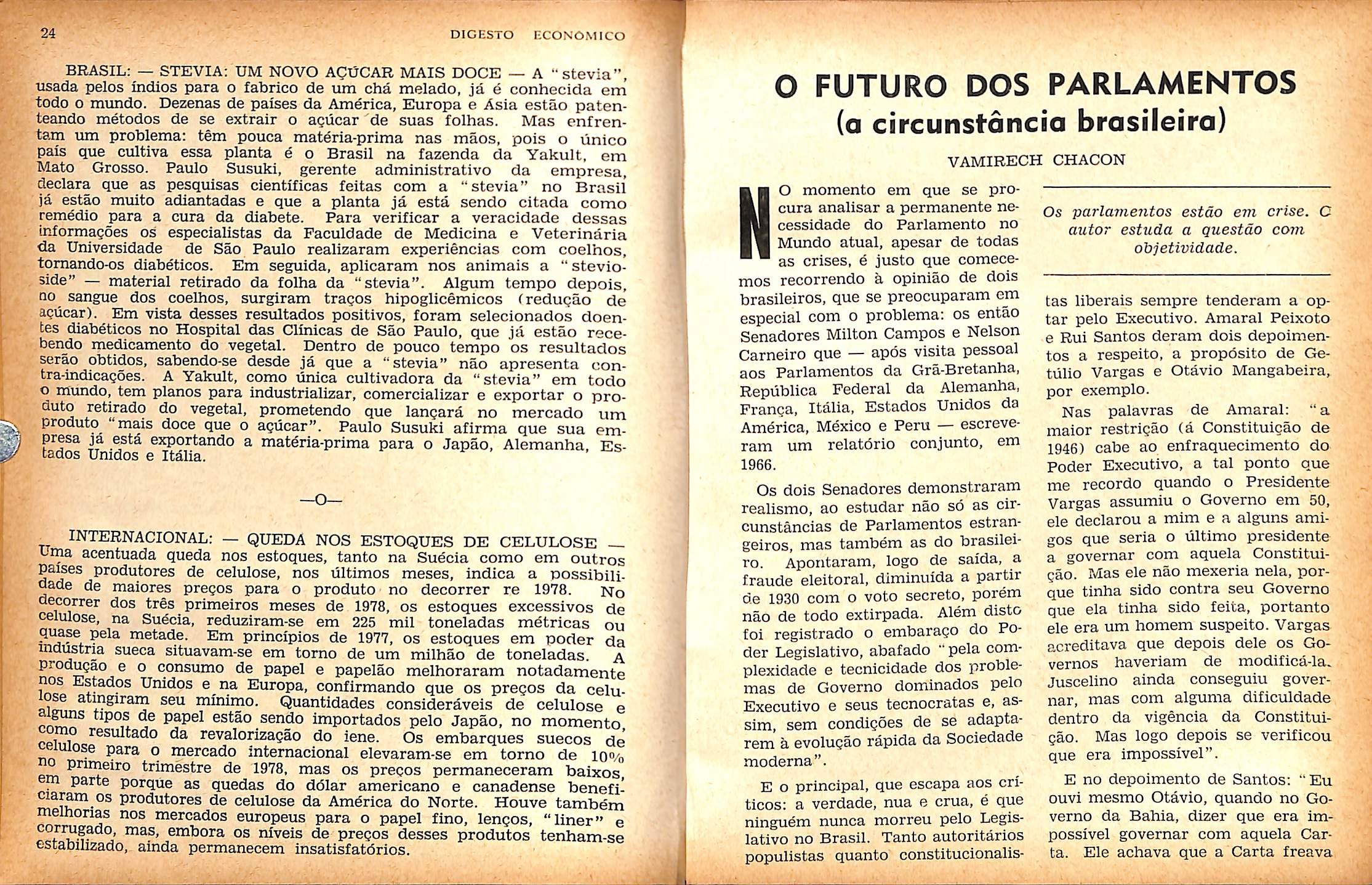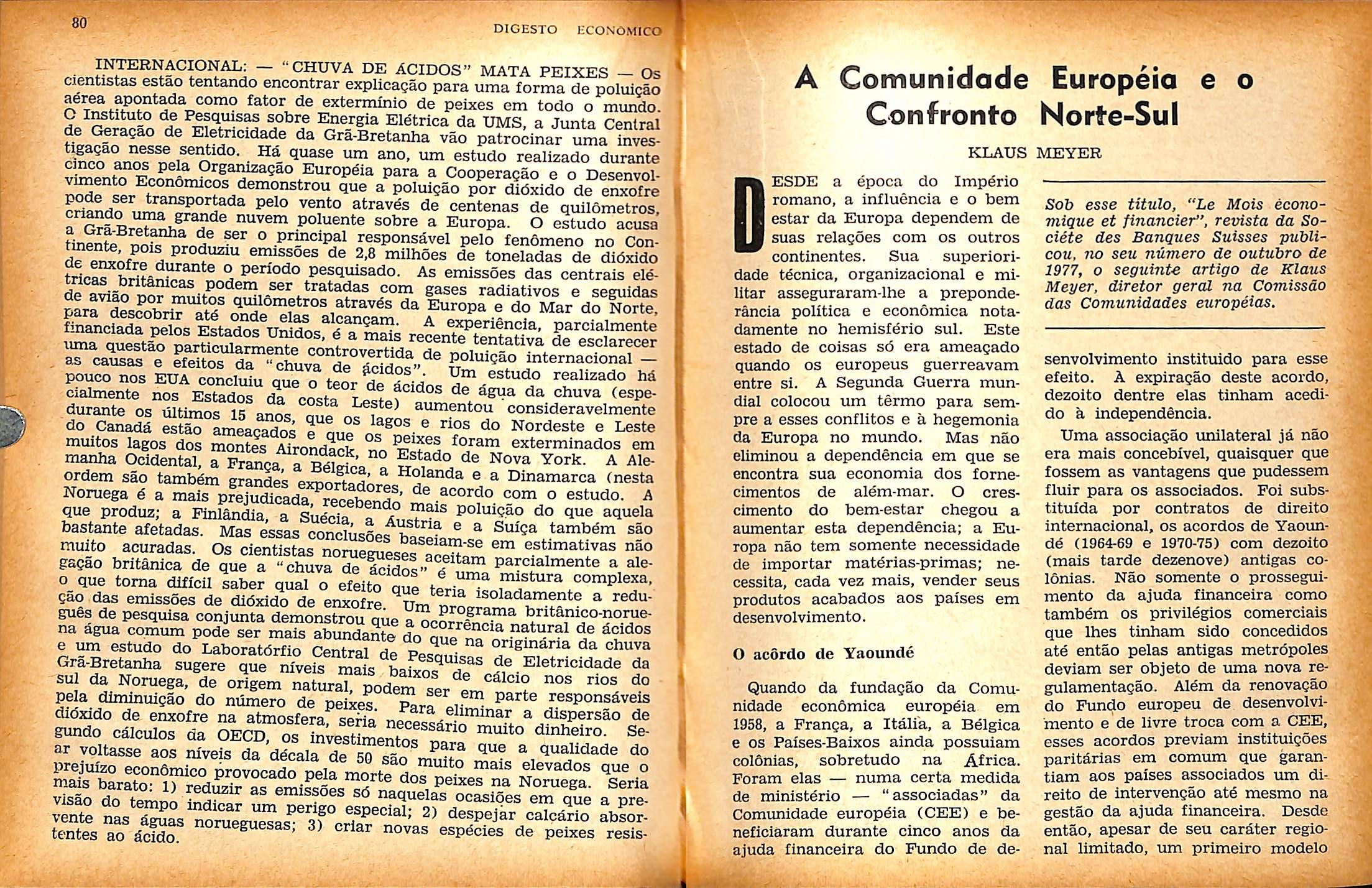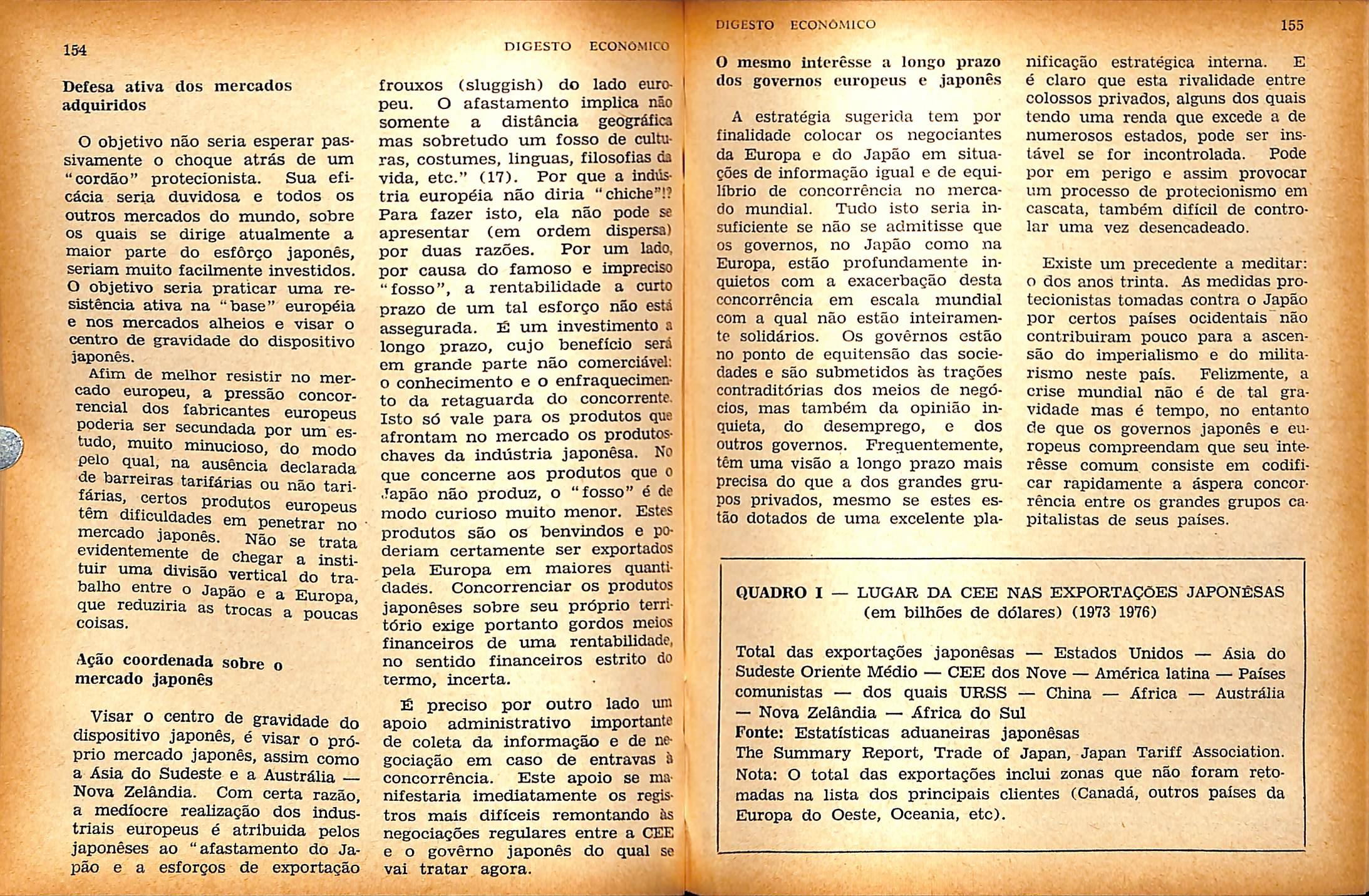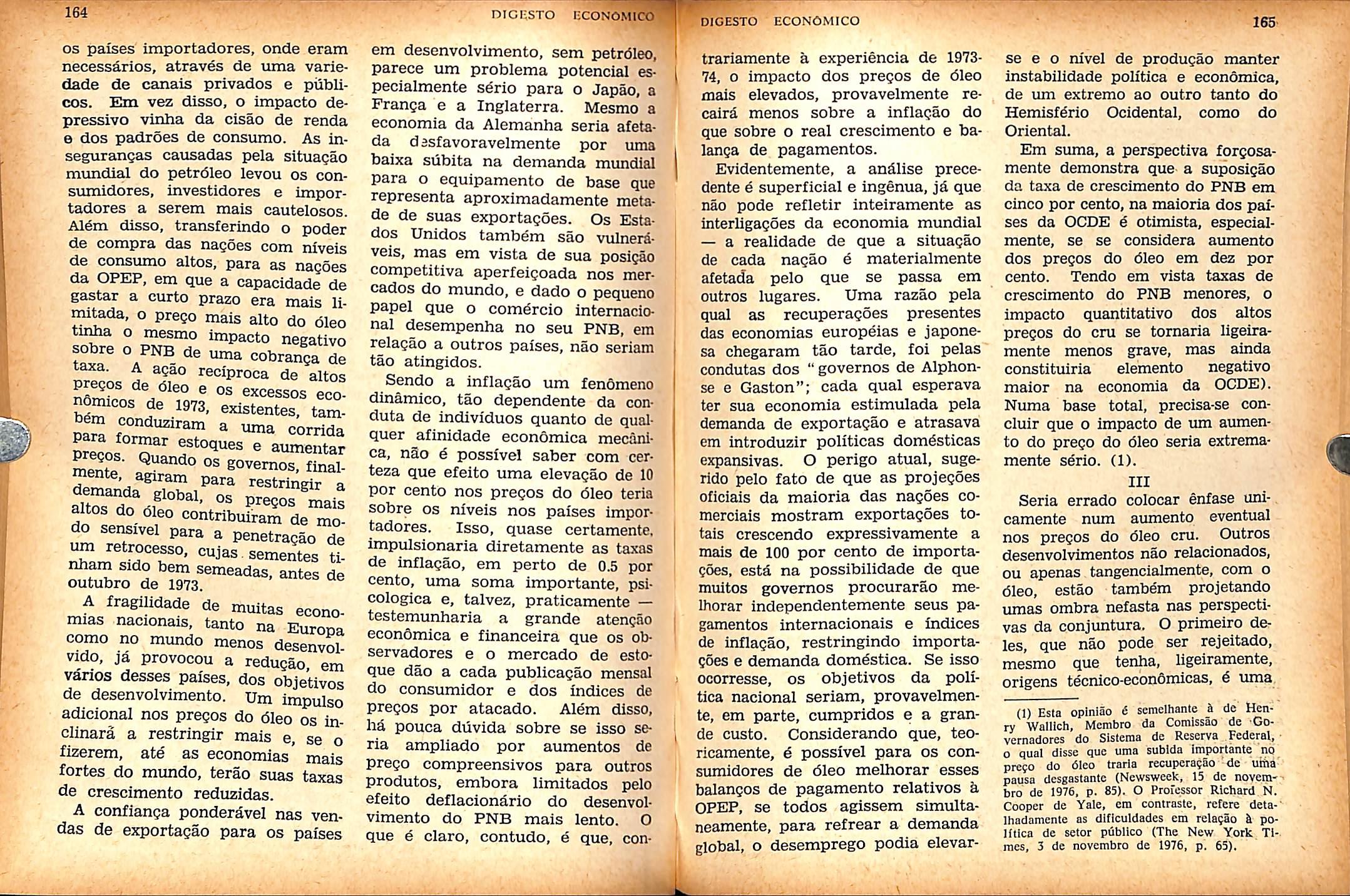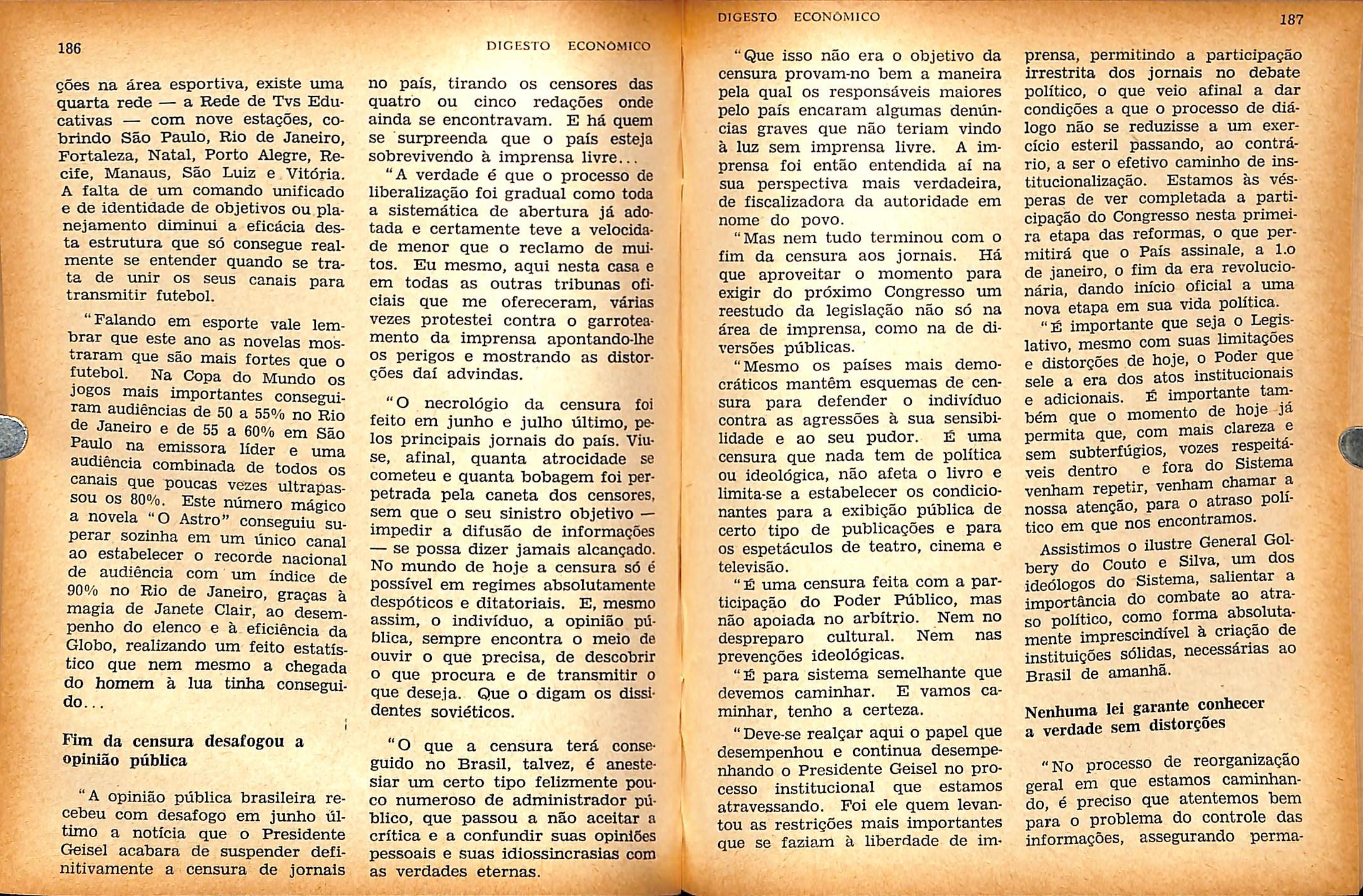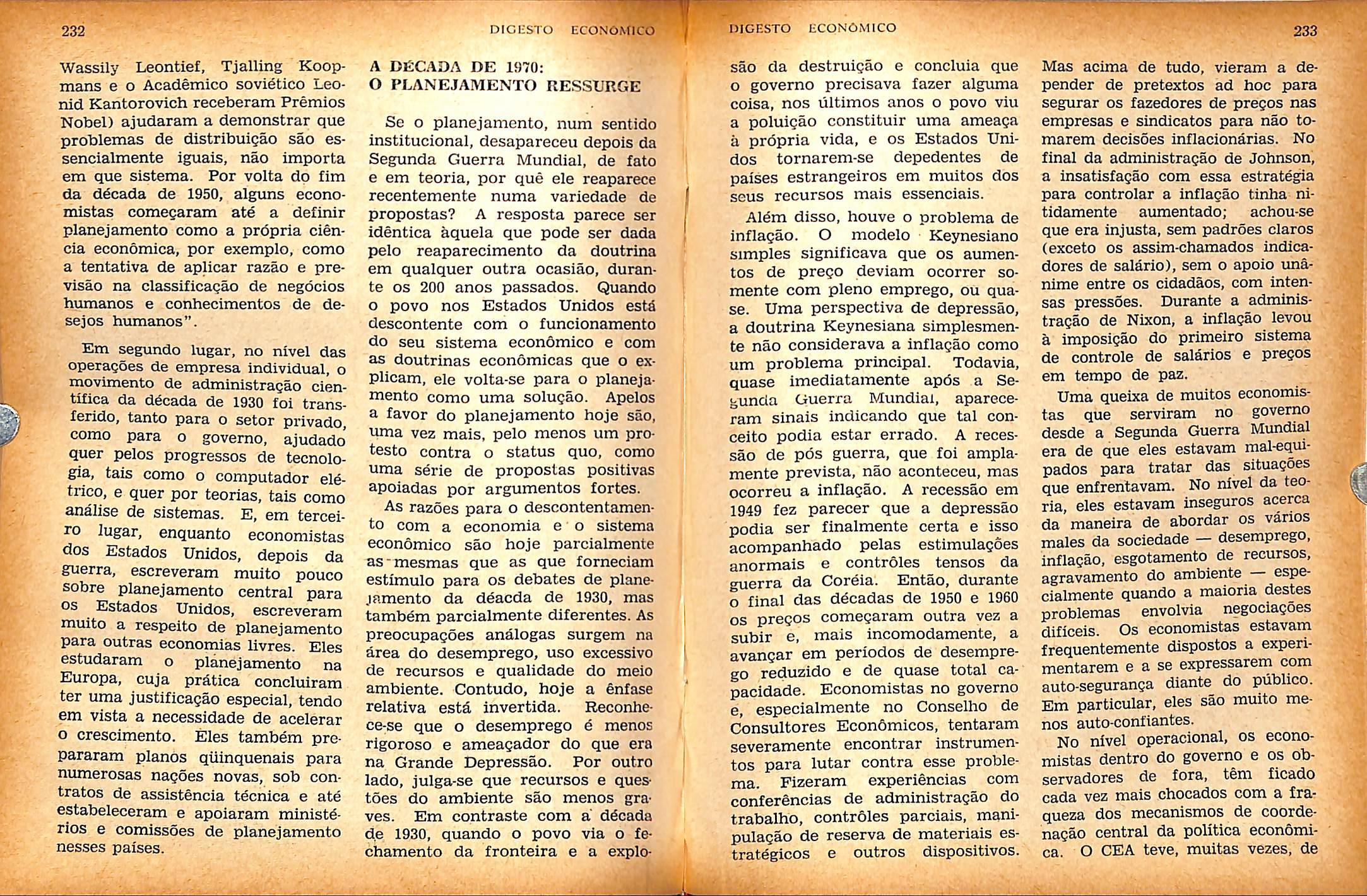O papel pioneiro do direito bancário
ARNOLDO WALD
I. A importância tios bancos
importância do crédito que pode riamos afirmar que a imagem do nosso país e a vida de cada um de nós, individualmente, seria di ferente se ele não existisse.
A relevância e a complexidade crescentes do crédito fizeram com que alguns autores chegassem a de fender a existência do direito creditício como ramo autônomo da ciência jurídica. É evidente que nos últimos trinta anos, ocorreu indiscutível ampliação das formas e dos instrumentos de financiamen to. Basta lembrar que, nos dias que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945, só co nhecíamos basicamente três formas de crédito: o crédito pessoal, ba seado na nota promissória; o cré dito comercial, com o desconto de duplicatas e o imobiliário, garanti do por hipoteca. Basta comparar o leque de alternativas que conhe cemos, hoje, com o reduzido nú mero de instrumentos existentes naquela época para verificar quan to evoluiu o direito bancário em nosso país em, relativamente, pou co tempo. De fato, passamos a co nhecer, hoje, as cédulas pignoratí-
Conferência proferida na Faculda de de Direito da Universidade de São Paulo nas primeiras Jornadas Brasileiras de Direito Bancário. Se devéssemos indicar quais os dois fatores que maior influência estão exercendo no " choque do futuro ” que o homem contempo râneo enfrenta, diriamos que são respectivamente a transformação do crédito e a modificação das fontes de energia. Num mundo que atravessa uma fase de intenso de senvolvimento, o crédito exerce função relevante, pois permite a antecipação das realizações futuras, mediante o financiamento. Assim, tanto no campo da produção como do consumo, em relação aos indi víduos nas suas relações de direi to privado, como no tocante ao próprio Estado, na realização de obras públicas de infra-estrutura e na implantação de novas indús trias, o recurso ao crédito é essen cial para alcançar mais rapidamen te certas metas que elevam o nível de vida da população. O simples exame da conjuntura brasileira nos revela um niimero crescente de projetos financiados a curto, mé dio e longo prazo. Podemos afir mar que, em grande parte, foi o crédito que permitiu transformar o “Brasil, pais do futuro” ao qual se referia Stefan Zweig, há cerca de trinta e cinco anos, no gigante in dustrial que conhecemos atualmen te, ensejando a oportuna afirmação de acordo com a qual “ o amanhã é hoje.” É, assim, de tal ordem a






cia na história, de sistemas rígidos e flexíveis, sendo os primeiros cor rigidos e readaptados de acordo com as necessidades do momento pelos segundos. Assim, em Roma, 0 direito pretoriano e o ius gentium humanizaram o ius civile. glaterra, a equity foi um elemento de reciclagem da common law. Do mesmo modo, o direito comercial constituiu, na Idade Média Renascimento, o elemento renova dor do direito privado. Talvez pos samos hoje afirmar que o direito bancário, sendo o mais comercial dos ramos do direito mercantil, apresenta como um conjunto pio neiro de normas que abre perspectivas aos direitos já sedi mentados, amoldando-os às novas necessidades e à tecnologia do nosso tempo.
Na Ine no uma se novas
criação legislativa, que deu dimen sões a uma potencialidade até en tão não desenvolvida. No campo do direito bancário, a criação pela lei dos Bancos de Investimentos, a diversificação das instituições financeiras e a regulamentação do crédito ao consumidor e da aliena ção fiduciária constituem incontes táveis contribuições do legislador para ampliar o crédito e elevar o nível de vida da população. Have ría assim, ao lado do empirismo jurídico do comercialista, verdadeira pedagogia legislativa, que se encontra no direito bancá rio e que merece um estudo em profundidade.
Já se disse que o direito comer cial se desenvolveu mediante regulamentação a posteriori basea da no empirismo jurídico. Ao exa minar 0 direito bancário brasileiro, podemos afirmar que, multas ve zes, em vez de consolidar
IV. A formação democrática do direito bancário e o modelo brasileiro
uma
Uma das características do direito bancário tem sido a sua for mação dialogada, eminentemente democrática e caracterizada pela existência de um consenso entre as autoridades e as classes interessa das. Talvez não se encontre outro setor da economia brasileira nosso praxes e usos já consagrados pela prática, criou institutos novos que apresen tou ao mercado para dar soluções aos problemas que a vida bancária não conseguia resolver, se falar na revolta dos fatos contra o Direito, mas não se tem dado a devida importância à revolta do di reito contra os fatos. Queremos fazer referência a técnica e instru mentos criados pelo legislador e por ele implantados na vida co mercial do país. Assim, considera mos que, em certo sentido, o atual mercado de capitais no Brasil foi em que a participação empresarial se tenha apresentado com a densidadade que observamos no meio ban cário.
Costuma-
A legislação delegada, re presentada por Resoluções e Circu lares, tem sido, em muitos casos, o fruto de negociações, em alto ní vel, entre banqueiros e autoridades e cada congresso de instituições fi nanceiras costuma ensejar nume rosas recomendações que, frequen temente, se transformam em deci-
sões administrativas de caráter normativo.
No mundo de hoje, costuma-se assinalar o fenômeno da crescente burocratização do Estado mediante a consolidação do poder dos tecnocratas que acabam asfixiando qualquer iniciativa individual e di ficultando o diálogo entre a em presa e o governo. Recentemente, Fernando Pedreira teve a ocasião de condenar essa hipertrofia buro crática no seu excelente ensaio in titulado "A liberdade e a ostra”. Na Europa, posição idêntica assu miu o ministro francês Alain Peyrefitte, no seu livro “Le Mal Franeais”. Comprova-se, assim, que o mal não é de um país mas, na realidade, do mundo inteiro.
Ora, nessa fase de domínio tecnocrático, a área financeira tem conseguido manter, com as autori dades, um diálogo construtivo con sagrando a economia de mercado sem abusos e distorções.
dor do Estado como a anarquia decorrente de um liberalismo fisiocrata. A política bancária do pais e as normas jurídicas que de la decorreram refletiram, na maio ria dos casos, um consenso entre administrador e administrados, en tre governo e iniciativa privada. O consenso existiu normalmente na elaboração da política e consequen temente na sua aplicação. A pu blicidade dos debates, a participa ção de todos os interessados no processo decisório, a divulgação das teses pela imprensa deram ao direito bancário brasileiro uma ín dole essencialmente democrática, quando a sua forma de legislação delegada poderia ter levado a uma posição autoritária e tecnocrática que desprezasse completamente a colaboração dos banqueiros.
um
O II.o PND afirmou a intenção do Governo de “consolidar modelo econômico social baseado numa economia moderna de mer cado, com as conquistas a ela in corporadas, nas economias desen volvidas, ativamente, pelo Governo; preocupação contínua com o cres cimento, preservação de grau ade quado de competição.”
Poderiamos caracterizar a inten ção governamental como sendo a de construir uma economia dialo gada ou contratual para utilizar a expressão que foi consagrada pela doutrina francesa. Trata-se, na rea lidade, de uma posição que rejeita tanto o autoritarismo constrange-
Michel Vasseur, em magnífico ensaio sobre a importância. cres cente do contrato, teve o ensejo de explicar que a intervenção eco nômica do Estado só pode produ zir bons frutos quando o planeja mento governamental conta com a adesão de todos os interessados. O moderno direito bancário retoma assim a tese dos antigos usos co merciais, evidenciando que não há norma eficiente sem que haja con senso. Dentro dessa ordem de idéias, afirma Vasseur que é me ramente platônico o píano que não conta com a adesão dos interessa dos, adesão que evidentemente pressupõe a negociação prévia. E conclui reconhecendo que, ao lado do direito imposto, está sendo construído um direito negociado de tal modo que na análise dos mo-
dos contemporâneos de formação do direito, o papel da negociação prévia não pode ser desprezado.
Talvez coubesse um estudo espe cífico sobre as características do novo direito bancário, como direi to do diálogo e da colaboração entre empresários e governantes, dando um exemplo ao pais de uma economia contratual em sentido amplo. Do mesmo modo que não se pode admitir, no século XX, os abusos de direito do indivíduo ou do empresário, também torna-se inadmissível o abuso de direito do tecnocrata e daí a necessidade de um sistema de freios e contra-pesos que possa assegurar a. elaboração de um direito decorrente do diálo go e da participação. Ao controle popular que existia no passado e era exercido pelo Congresso Nacio nal, substitui-se, assim, para maté rias técnicas, um outro controle, não menos e até talvez mais efi ciente, que é 0 das classes interes sadas.
cidade das decisões, a sensibilidade para os problemas de mercado, a dedicação de funcionários fizeram certamente do Banco Central o órgão menos burocrático da admi nistração brasileira, dando, assim, um exemplo fecundo para outras áreas governamentais, que também vivem em contato estreito com o empresariado.
Nas próprias decisões administra tivas individuais, a autoridade mo netária tem criado um processo decisório dialogado que concretiza aplicação dos princípios da demo cratização do direito e do duo process of law. a
Quando se cogitou da criação do Banco Central nos moldes atuais, ou seja, inspirado em parte das agências e das comissões norteamericanas, houve certos receios de que tal estrutura
não pudesse atuar adequadamente dentro do nosso sistema jurídico. As mesmas apreensões voltaram a ser mani festadas recentemente por ocasião da estruturação da Comissão Na cional de Valores. Na realidade, tais instituições não só enquadram perfeitamente na nossa sistemática como ainda renovam de modo dio a estrutura administrativa, tra zendo importante elemento de desburocratização, eficiência e demo cratização de poder decisório. Inicialinente, houve também dúvidas quanto ao reconhecimento pelo po der Judiciário da validade dos atos normativos das autoridades tárias, mas, muito rapidamente, magistrados admitiram a legitimi dade do novo direito bancário de corrente de uma delegação de po-
Essa característica do novo di reito bancário é devida, em grande parte, aos próprios princípios da Lei da Reforma Bancária, como também à formação desburocra tizada das autoridades do Banco Central. Constituiu também fator importante para essa solução a presença de homens de iniciativa privada nos órgãos que fixam a política monetária e a utilização de antigos funcionários da área ban cária estatal nos setores privados. Criou-se samoneassim, um clima de com preensão e de respeito mútuo, que nem sempre existe entre a adminis tração e ó jurisdicionado. A veloos ii
deres que, além de válida, se im punha por motivos de ordem téc nica e por necessidades práticas.
O principal órgão criador da nos sa regulamentação bancária é hoje incontestavelmente o Banco Cen tral, que atua como elemento nor mativo, fiscalizador e garantidor do sistema. Lembra Galbraith que, na história, muitas vezes as ins tituições financeiras se rebelaram contra as funções normativas e fiscalizadoras dos Bancos Centrais mas, assim fazendo, esqueceram-se de que, somente com o exercício de tais encargos, poderia o Gover no garantir a segurança do merca do, condição básica para a sua prosperidade e seu crescimento. O equilíbrio obtido no direito bancá rio consiste justamente em criar uma sistemática que evite os abu sos e distorções sem tolher as ini ciativas e a liberdade de decisão, conciliando assim, o difícil binô mio constituído pela liberdade e pela segurança. É preciso garantir a liberdade de ação do banqueiro e a segurança ao depositante e ao Investidor.
V. Confiança e Responsabilidade no direito bancário
Dizia J. P. Morgan que concedia os empréstimos exclusivamente de acordo com o caráter do cliente. Já o Banker’s Handbook, num dos seus artigos, sugere que os três C, de acordo com os quais o banquei ro julga o financiado (Caráter, Ca pital e Capacidade) também po dem ser interpretados como os três R (Recursos, Reputação e Rapacidade). De qualquer modo, de am bos os lados, a confiança se impõe e já se afirmou que o banqueiro precisa basicamente inspirar con fiança is to be trusted, not to be liked”.
O aspecto fiduciário do direito ' bancário tem ensejado a criação de importantes instrumentos jurídicos, como o triist e a alienação fiduciária. O recente desenvolvimento
"The function of bankers da vida bancária tem por outro lado provocado a multiplicação de negócios íiduciários de toda espé cie, exigindo até a reformulação da jurisprudência na matéria.
A presumida confiança do cliente em relação ao banqueiro tem exi gido a elaboração de normas espe ciais que agravam a sua responsa bilidade. A legislação que estabe leceu a responsabilidade solidária e ilimitada dos diretores de institui ções financeiras e garantiu os di reitos dos depositantes mediante utilização do Imposto de OperaFinanceiras retrata o aspecto
Uma das caiacteristicas básicas da operação bancária é a confiança. Essa confiança deve evidentemen te existir por parte do banqueiro mas a do cliente não é menos in dispensável, razão pela qual os tratadistas consideram o elemento fi duciário como um dos traços bá sicos do direito bancário. a çoes legislativo da conceituação do bancomo verdadeiro serviço públi co. Por outro lado, a jurisprudên cia e a doutrina têm consagrado a responsabilidade do banqueiro com base no risco profissional, como se verifica pela Súmula n.o 28, do Su¬ co J
demais o Poder Executivo, tolhia a sua ação.
A raiz desta tendência vem de í longe.
Pedro I entrou em choque com a 1 jirimeira Assembléia Constituinte y brasileira, logo ao alvorecer da In dependência, concluindo por fechar .suas portas e decretar uma Cons tituição híbrida. Pedro II dissolveu o Parlamento várias vezes, a pretexto de novas eleições melhor serK vindo suas composições executivas.
7 Deodoro e Floriano cedo se desenC tenderam com o nascente Congres- ^ .so republicano. Vargas cerrou as _ portas de dois Parlamentos,,desde 5^ 0 da República dita Velha, em 1930, * à chamada República Nova em 1934. t, E o Congresso, reinaugurado 1946 sob maus augúrios desde o iní cio, percorreu o ordálio muito bem f descrito por Afonso Arinos de Melo jv. JPranco, ele próprio parlamentar em r’ diversas ocasiões.
quias e outras agências descentrali zadas” fossem “desvirtuando com pletamente as suas finalidades e propósitos”.
Ainda Afonso Arinos testemunha o fim da fase: “O processo foi (...) a supressão da Democracia Repre sentativa e a emergência de um processo caótico de decisões e ações de um Poder instável. O mecanismo se instalou com a dissolução interna dos Partidos, instrumentos básicos da Democracia, e o aparecimento de grupos que se aliavam por cima das legendas e que começavam atuar, fora do Parlamento, em es treita ligação com outros grupos, estes sem representação eleitoral nem existência legal, mas com irre sistível poder de pressão sobre um Governo ambicioso, irresoluto e in capaz”.
Se o Legislativo não era represen tativo, naquele momento, também o Executivo disso não se mostrou capaz, embora as acusações desa bassem sobre o Parlamento, sob velho pretexto de que ele permane cia conservador diante de exigên cias renovadoras, como se ambos não brotassem das mesmas circuns tâncias históricas...
- A propósito registra que, entre ; 1946 e 1964, A atividade mais fre& qüente se cifra em concessões de f ● 'vantagens salariais' ou outras, aos É ■ servidores públicos, civis e militaB e às demais classes de assalariados. Fora disto, as leis de certa importância mais freqüentes são as f de prorrogação anual da proteção' ao inquilinos, da elevação dos trijj- butos, também rotineiramente riódica, para fazer face (sempre de ^ modo insuficiente) ao alargamento y do desequilíbrio orçamentário e, lí' finalmente, à própria Lei do Orça mento”. o peEsta última elaborada mais na Câmara que no Senado, seu “grande trabalho” embora a inflação e os vasamentos das
autar-x&. i:.'.
Daí a falta de enraizamento do Legislativo e a final preponderância, de fato, do Executivo enquanto tal. Ora, conviría lembrar a adver tência, ao mesmo tempo realista e sábia, de Bertrand de Jouvenel: “O Poder pode ser fundado apenas pela força, sustentado apenas pelo hábito, porém não sabería crescer senão pela confiança, que não logicamente inútil â sua criação
chamava de " Monocracia ●● Policracia”, no equilíbrio entre detentores e destinatários do Poder (“power holders” e “power addressees”).
pela à sua manutenção”. Por outras pa lavras, o Poder precisa convencer e não sd vencer, o que só é óbvio à primeira vista e muito difícil na prática.
12 Karl W. Deutsch mostrou que o amplo sentido da Legitimidade coincide com a Justiça, "pelo que significam a compatibilidade de uma ação, ou prática política, con figurando valores prevalecendo nu ma determinada Comunidade”. Daí que, " Ao romper-se a Legitimidade, os acordos desmoronam ou são re duzidos a questões imediatistas, possíveis de verem-se quebradas quando convém. As conseqüências podem ser a Tirania, a Revolução, Secessão ou qualquer outra for ma de rutura”. o esquema de
Não queremos nos alongar na dis cussão em torno da divisão, inter dependência e equilíbrio dos Pode res. Desculpem-nos a Iconoclastia, mais que Heterodoxia, de concordar com Karl Loewenstein, quando con sidera *■ obsoleto Locke, Montesquieu...
Loewenstein — alemão radicado nos Estados Unidos, tanto quanto o outro Karl, Deutsch, novos gre gos transferidos para a Nova Roma da República Imperial, a que se refere Raymond Aron, — Karl Loe wenstein mostrou que o antigo TriDevido à crescente complexidade partitismo se baseava,- em última da Vida social moderna, as deci- instância, numa mecanicística divipassaram a adotar-se pelo ca- são do trabalho. E, o pior: "O que se chama, coloquialmente, mes mo errado, de separação de Pode res, é operacionalmente apenas a distribuição de especificas Funções estatais entre diversos órgãos do a soes minho da Representação, embora precisando continuar legítima. Nas palavras de Karl Loewenstein; Na moderna Sociedade de Massa, o úni co meio praticável para fazer os destinatários do Poder participar mesmo Estado”. Daí Loewenstein processo político é a Técnica da preferir “separação de Poderes”. Representação, que, no principio A maior participação possível do foi meramente simbólica e, mais Povo deve ocorrer por dentro de todos os Poderes, e não só do Le gislativo, elegendo-os e controlan do-os. no tarde, real”.
Mas a Representação vai além do Presente; ela antecipa o Futuro, na observação de Georges Burdeau. Com efeito, o representante freqüentemente se apóia nas reivindi cações dos representados, para mais longe e melhor, sem deixar de tudo dever às raízes.
Pois é ao Legislativo que se deve superação do que Loewenstein
Outro alemão também radicado nos Estados Unidos, Franz Neuman, demonstrou como “ O Estado liberal tem sempre sido tão forte como exigia a situação política e social e os interesses da Sociedade. Tem parcipado de guerras e tem esmagado greves. Com ajuda de ver a .
^ fortes armadas tem protegido seus '■ investimentos, e com a de podero* sos exércitos tem defendido e aumentado suas fronteiras, como também tem restaurado " Paz e Ordem” com a ajuda de sua Po lícia. Tem sido um Estado forte, precisamente nas áreas em que ti nha que ser forte e que desejava sê-lo”.
O problema principal consiste em dar eficiência e responsabilidade ao Estado moderno. Nunca uma di mensão sem a outra.
Dai Loewenstein propor um novo Tripartitismo: decisão fundamental política {“ policy determination ”), execução da decisão ("policy execution") e controle político (" po licy control ”).
A primeira decisão fundamental consiste na prdprla escolha do sis tema político e dos padrões de go verno a adotar pela SocícclaúQ. Ô acordo rege a solução do choque entre interesses e ideologias diver sas. Sua execução reside, por anto.nomásia, nas mãos do Executivo. O controle político, por sua vez, divide-se sob a invocação da res ponsabilidade, periodicamente pos ta à prova diante de um eleitora do universal e livre, numa estru tura institucionalizada.
As técnicas de controle seriam de dois tipos, ainda no novo posicio^amento de Loewenstein: controles ^ intra-orgânicos e interorgânicos. No primeiro caso, as lideranças coleti¬ vas ou apenas duas dentro do mesmo órgão; no segundo, os tradicionais contrapesos da divisão do trabalho estatal supervisionado pelos
eleitores, representam as duas complementadoras propostas de Loe wenstein.
Têm funcionado a contento estas experiências, principalmente ao ní vel legislativo, agora aqui discu tido?
Todos estes modelos apresentam pontos altos e baixos .
Pelo "Parliament Act” de 1911, os projetos de meios ("Money bilis”), privilégio da Câmara dos Comuns, convertem-se em leis um mês após aprovação, mesmo se a Câmara dos Lords discordar. Já os projetos de leis, propriamente ditos, também apresentáveis pela Câmara dos Lords, podem ser apro vados contra esta, se a Câmara dos Comuns aoeitú-los por três vezes dentro de dois anos.
Pürdm, diante chx complcxitUiclo dpfi problemas atuais e da arbitra riedade que parece ser a doença ocupacional da burocracia segundo A. PI. Hanson, o parlamento bri tânico vê-se na urgência de modifi car-se, procurando acompanhar e influenciar as transformações so ciais através de comissões especia lizadas.
se-
Nos Estados Unidos, o eixo do poder vem flutuando entre Exe cutivo, Legislativo e Judiciário, gundo o demonstram as pesquisas de inúmeros politólogos e constitucionalistas, mas a força maior de dispor do dinheiro flui cres centemente para as mãos do pre sidente da República, por intermé dio dos quatro caminhos aponta dos por Louis Fisher: “1) ações rotineiras adotadas em nome da
eficiência administrativa; 2) retira das com apoio estatutário; 3) re tiradas dependentes de argumentos constitucionais, em especial, segun do a cláusula de Comandante-emChefe e 4) sob pretexto de prover fundos à administração prioritá ria”.
Na França, todos o sabem, vivese temendo que o Semipresidencialismo venha a perder a maioria parlamentar, entrando no impasse de um presidente, eleito diretamen te, ficar obrigado a aceitar um Primeiro-ministro escolhido de mo do unilateral pelos parlamentares, quando aquele pode também de signá-lo e demiti-lo pela Constitui ção gaullista, nisto herdeira de Weimar. Então o artigo 16 fran cês, inspirado no 48 weimariano, podoria .significar a porta aberta ti Ditadura, conformo ooorrou quando Hindenburg o usou para afastar Bruening em 1932 e convo car Hitler no ano seguinte, após preparar seu advento, acostumando o povo alemão ao uso contumaz de decretos-leis.
Participação e poliarquia
A raiz do problema da crise do Parlamento está, enfim, na necessi dade de novas formas de partici pação.
André Chandernagor, deputado ha Coalisão de Esquerdas que apoia Françoise Mitterand, enfren tou com coragem o tema. Para ele, os Parlamentos latinos tendem, por temperamento, a comporta rem-se enquanto “forum” e teatro, numa perigosa ambivalência.
État-provi- no
No caso da França, a Constitui ção gaullista de 1958, redigida sem assistência do Parlamento e refe rendada pelo povo, destinara-se a minimizar um Parlamento então fragmentado e turbulento. O re sultado foi propiciar o extremo oposto: excesso de langor, diante de um Executivo legiferante, oni presente através dos seus tecnocratas, eleito diretamente pelo povo. Assim passou a esvaziar-se a Sobe rania representativa do Parlamento e a superar-se a tradicional divisão de Poderes. Era a conversão do " État-gendarme dence”. Não faltando o perigo corporativista, agora materializado nas representações paralelas dos empregadores e autônomos no Con selho Econômico e Social, diante dos empregados no Conselho do Trabalho, em diálogo interno, inde pendente do Parlamento.
Chandernagor propunlia, então, além do fortalecimento, quantitati vo e qualitativo, das comissões es peciais, a mobilização da partici pação em todos os níveis, nas pe gadas de Gaston Deferre, anteces sor de Miterrand na liderança da quela ampla frente: "Para conse guir-se a mobilização dos imensos recursos necessários ao seu Desen volvimento, será preciso que a De mocracia se incarne na Educação, na vida quotidiana da Empresa, nas relações com Estado”.
Dai a ênfase do Programa comum da Coalisão na “gestão democrá tica”, definida enquanto "gestão tripartite”, reunindo "os represen tantes dos Poderes públicos, dos trabalhadores, dos consumidores”.
em "Comissões de Empresa” (“Co mitês d’Entsrprise”).
Começando por dar o exemplo nas empresas estatais, as Comissões "disporão da autonomia da gestão. Elas determinarão sua política, de cidindo notadamente seu programa, seu orçamento, seus mercados. Elas fixarão os acordos a firmar com as outras empresas nacionali zadas e 0 setor privado. O con trole do Estado, e em particular o da Assembléia Nacional, sobre sua gestão, se exercerão à posteriori. Assim a Nacionalização não será Estatização”. Pois, A Naciocionalização não deve ser Estatiza ção” (os grifos são nossos).
É bem verdade que o programa gauUista também insiste na Partici pação, porém, sem a ênfase do pró- prio de Gaulle, por mais estranho que pareça.
Com efeito w:.
\ o programa de Jacques Chirac, por exemplo, limitase a regozijar-se pelos grandes avanços a respeito, na V República,
ma do seu retorno à vida privada, quando fez tudo girar em torno de mudanças rumo ã participação de todos na Administração da Empresa e do Governo.
Em documento especial, prepara do pelo instituto, que tem o seu nome, os continuadores da luta in sistem na origem francesa deste terceiro caminho, embora a co-gestão (“Mitbestimmung”) já tenha se consolidado na Alemanha Federal e esteja rumando também na dire ção da co-propriedade.
Estas tentativas de revitalizar a Democracia, descentralizando-a e assim procurando incluir iodos na participação, tentam exorcisar anti gas e novas ameaças.
opimao
“ É preciso também generalizar a participação ao nível da atividade profissional, por uma profunda e verdadeira re forma da Charles de Gaulle tinha bem mais profunda.
sua criaçao
^ o que -ressalta da dos primeiros prise”, já em 22 de fevereiro de 1944, em pleno alvorecer da Liberfi e conclui vagamente: empresa".
“ Comitês d’Enter( ’ f ' confessa inspiração de i , Capitant. De Gaulle insistina no assunto, ao longo da sua 'VI a política, culminando a prepróprio plebiscito de 1J69, por ele perdido e causa 'últi●f.
A Sociedade tem de gerar suas instituições e não o contrário. Es tas não podem ser todas derivadas de uma única instituição, o Estado, tudo decretando de cima para bai xo. Ao lado dele necessitam multi plicar-se e fortalecer-se as institui ções ou “corpos intermediários, na definição, remontando a Montesquieu e Tocqueville, por nós desdo brada em vários artigos recentes: a Família, a Universidade, a Em presa, o Sindicato, a Fundação, as Forças Armadas, as Igrejas, os Par tidos e quantos mais possam pa recer. Instituições-meio, porque só o Homem é origem e meta do Po der e da Sociedade.
Loewenstein reconhece não ter este “Plui’alismo Organizado” re cebido suficiente atenção dos espe cialistas. O que comprova sua vita lidade, emergindo sem artificiais induções de qualquer tipo.
A mais recente formulação desta Teoria dos "corpos intermediários” foi isroposta por Robert A. Dahl, através do que ele chama de “De mocracia Poliárquica”.
Políarquia e MacUson
A "Democracia Poliárquica” se ria, por assim dizer, uma nova ex pressão da "Democracia Madisoniana” ou, implicitamente, da para lela versão das “maiorias concor rentes” de John C. Calhoum. Pois James Madison se colocava no ex tremo oposto ao otimismo populis ta. Para Madison, segundo ainda Dahl, Os homens são instrumen tos” dos seus desejos. Tentam sa ciá-los, se lhes for dada oportuni dade. Um deles é o desejo de Po der sobre os outros individuos, não só porque o Poder satisfaz direta mente, quanto também possue va lor instrumental, porque dele de pende uma ampla variedade de saciedades”. Daí ter-se de evitar que a maioria, ou a minoria, consiga satisfazer-se por completo às expensas da outra, negando-lhe o Direito de Sobrevivência.
Como possibilitar o equilíbrio? Madison procurou estabelecer re gras mínimas, em alguns fundamen tais ensaios d’0 Fecleralista. Aci ma de tudo no décimo. Ali ele repudia o que denomina “facção (“ faction”, “Extremismo ”), decla rando-a uma ação coletiva, da maioria ou da minoria, contra o Todo social. Donde o conceito madisoníano de “Tirania”, explícito no ensaio 47 d’0 Federalista, defi nida enquanto “a acumulação de todos os Poderes, Legislativo, Exe¬
cutivo e Judiciário, em algumas mãos, sejam de uns poucos, sejam de muitos”, quando nas mãos do Executivo ou do Legislativo. Ra ramente descambando para a Dita dura de Judiciário, considerada madisonianamente por Mac Closkey, "O menos perigoso dos Poderes”. Assim também existiria a possi bilidade de que o próprio Jefferson — um madisoniano nos seus me lhores momentos, classificava de “Despotismo Electivo”. Com efei to, a ascensão de Hitler ao Poder, em 1933, procedeu-se através da eleição de uma quase maioria abso luta do Partido Nazista no Parla mento alemão, onde acabou predo minando, graças a coalisões com Partidos afins.
Daí profeticamente Madison pre venir, no ensaio 49 d’ O Federalista, que 0 processo eleitoral, por si mesmo não se apresenta nem infa lível, nem às vezes aconselhável para tomar certas decisões, conducentes à Tirania da Maioria. E no ensaio 51, James Madison apresen ta-se ainda mais cru: “A Ambição precisa contrapor-se à Ambição”. Maquiavel é colocado a serviço da Democracia, em estranha aliança com Hobbes... Quase numa espé cie de Álgebra Política, os valores negativos individuais transformamse em positivos, embora mais atra vés da confrontação do que por soma. Atinge-se o consenso pelo avesso. O Diabo faz-se Ermitão... Castigando-se mutuamente, os Ho mens afugentariam seus demô nios. ..
O Parlamento seria o supremo estuário dos debates e o maior “fo-
ESTADOS UNIDOS: — BISCOITOS FEITOS COM SUBPRODUTO
DA CERVEJA — O químico Neville Prentice do Laboratório de Malt & Cevada do Departamento de Agricultura, da Universidade de Wisconsin. desenvolveu um estudo através do qual é possível fazer biscoitos a partiJ de grãos de cevada já utilizados na produção de cerveja. Cada barril de cerveja deixa cerca de 14 libras de grãos que são então des cartados. ^teriormente, esses grãos eram simplesmente lançados em terrenos baldios; agora, porém, muitas cervejarias estão vendendo os mesmos como ração para gado. Os grãos de cevada usados contém ate 90% de proteína e cerca de 40% de fibra dietética, ambas as per* ^ntagens bens superiores àquelas da proteína e fibra dietética conti ^s na farinha comum. Prentice utilizou esse grão moído para subs- titu^ parte da farinha empregada em receitas comerciais para fabri- caçao de biscoitinhos de chocolate, farinha de aveia, melaço gengibre manteiga de amendoim e açúcar. O teste do sabor, realizado com mais de 200 pessoas, indicou que o sabor dos biscoitinhos começa a mudar se mais de cerca de 15% da farinha forem substituídos pelos graos de cevada. Prentice também vem obtendo bons resultados com a utilpiaçao dos grãos de cevada no pão branco integral e em bolinhos de tngo ou milho. O futuro comercial da utilização desses grãos de cevada nos iter^ acima dependerá do suprimento dos grãos e da de manda. Prentice acredita que, se a escassez mundial concretizar-se conforme o previsto, os grãos usados tomar-se-ão uma fonte boa e barata de fibra e proteína para o consumo humano.
—O—
JAPÃO:
TTTQ . 1 J^NESES DESATIVAM FÁBRICAS DE FERTILIZAN
TES Enfretando um possível maior declínio nas exportações a indús- tna japonesa de fertilizantes químicos pretende reduzir sua canacida- de de produção e aumentar as vendas de tecnologia aos países do Terceiro Mundo. Antecipando a modificação do papel da indústria a maior produtora japonesa de uréia, Mitsui Toatsu Chemicals Inc ven deu fábricas de fertilizantes completas à China, índia. Coréia do Sul, Irã e Argélia. Algumas das transferências de tecnologia da Mitsui Toatsu envolveram licenciamento de seus processos de produção e ins talação de equipamentos por sua filiada Toyo Engineering Corp. Outras' mportantes firmas japonesas, inclusive a Asahoi Chemical lndn«;trv e Mitsubishi Chemical Industries Ltd., também estão tentando ven der suas fábricas. No plano interno, a Associação da Indústria de ^ Amônla, composta de 19 importantes produtores de fertilizantes, quer reduzir sua capacidade, de 4 milhões de toneladas tS/ ^% em alguns anos. Operando atualmente com 50% a 55 /o de sua capacidade, a indústria espera eliminar algumas fábricas e elevar a utilização de capacidade para 80% ou 85%. Outro obietivo oa industria é reduzir a dependência das exportações dos atuais 75% para cerca de 50%. Nos últimos anos, a indústria tem sofrido sérias perd^ por causa dos controles governamentais sobre os preços dos rertil^antes vendidos às cooperativas agrícolas locais, juntamente com a redução das vendas no mercado externo .

A dimensão social da Democracia
TERCIO SAÍ.IPAIO FERRAZ JR.
tema em questão pode ser co locado a meu ver, sob dois ângulos. O primeiro tem um sentido mais doutrinário e vi sa a indagar como os ideais demo cráticos transcendem os limites po líticos e se aplicam ou devem ser estendidos aos fenômenos sociais stmeto sensu. Assim poder-se-ia falar, por exemplo, na democratida família, da empresa, do sindicato, da vida urbana, da vida rural. etc. O segundo tem um sen tido mais analítico e procura dis cutir a questão do eventual condi cionamento social da democracia. O que se pergunta, neste caso, é, por exemplo, se os ideais da demo cracia política exigem certos re quisitos de desenvolvimento social para que possa atualizar-se plena mente.
Nossa opção é pela segunda co locação. Propomos, pois, uma dis cussão analítica sobre a dimensão social como uma eventual condicionante da democracia.
“Num sistema democrático, a /ormula legitimadora não está, curio samente, na obtenção do consenso, mas na generalização do dissenso”.
A palavra Democracia é um dos lugares comuns mais importantes da retórica política de nossos dias. Poucos são os regimes que têm a audácia de se proclamarem anti democráticos. Mesmo os países comunistas que, por princípio, se reconhecem como ditaduras do proletariado, suavisam suas posi ções, apresentando-se como demo cracias populares. Outros relativizam-nas, falando em democracia liberal, social, cristã a que contra põem pejorativamente, democra cia, plutocracia, formalista, etc.
Historicamente, o ideal democrá tico configurado pelos pensadores iluministas do século XVIII signi ficou uma forma de legitimação das relações entre governantes e governados. Este ideal sustenta-se sobre dois pilares: a idéia de re presentação dos governados pelos governantes e a idéia de identifi cação ou comunhão entre ambos. Representação significou, no cor rer dos anos, participação mediatizada e institucionalizada através dos instrumentos políticos tradi cionais, como eleições, mandatos populares, pluralismo partidário. zaçao um
maior
É bom, contudo, antes de explo rarmos 0 tema, definir operacionalmente os termos que o com põem. O primeiro e mais compli cado deles é Democracia. Talvez não seja conveniente, para lograr entendimento com o auditório, determinar-lhe concretamente o sentido, mantendo um nível de abstração suficiente para margem de reflexão.
liberdade de expressão, etc. Iden tificação ou comunhão quis dizer participação consciente, identidade autêntica de idéias, politização tanto de governantes quanto de governados,
Embora os dois pilares possam ser entendidos como constituindo ●um conjunto solidário no sentido de que, idealmente, a participação democrática do governado no Go verno deveria, excluir a representatividade manipulada quanto a identificação forjada, na prática, ambos impõem um jogo difícil, muitas vezes ambíguo e que trouxe para o debate político muitas in certezas.
Assim, por exemplo, na Europa de após guerra (n Guerra), assis timos a um contínuo debate torno da redemocratização que conduziu, de 'um lado, à institucio nalização da representatividade Alemanha, na Itália, na França, mas, de outro, forçou também as discussões em torno da autentici dade da representação, o apareci mento da chamada “oposição extraparlamentar”, responsável por encaminhamentos que, no limite, produziram as crises estudantis de 1968. Nos países em vias de desen volvimento, 0 mesmo debate em torno da Democracia tem mostra do e aflorado o complicado proble ma dos pré-requisitos básicos da Democracia.
A idéia dos pré-requisitos signi fica para muitos o pressuposto de que os ideais democráticos só serão ■viáveis se se consegue reproduzir, nos países em transição, o curso
dos países desenvolvidos que reali zaram, historicamente, a moderni zação da sua sociedade e a indus trialização da sua economia. Esta idéia, paradoxalmente, está bas tante influenciada por Marx, para quem “o pais industrialmente mais avançado representa, para os me nos desenvolvidos, um panorama do seu futuro.” Quando supomos, pois, que a democratização só é possível caso seja possível repetir uma experiência histórica compro vada, estamos afirmando por exemplo que o pilar da representa tividade só se consolida quando identificação consciente é alcança da. Ora, se a identificação ciente não se dá, se, socialmente, povo não atingiu certo estágio de desenvolvimento, se a alfabetiza ção não foi difundida razoavel mente, se certos padrões econômi cos não foram obtidos, etc., então Democracia política sem eles seria pura utopia.
Um dos grandes problemas dos países subdesenvolvidos, que ram um regime democrático coino uma forma de aperfeiçoamento político, parece ser, justamente, conseguir um razoável equilíbrio na politização dos seus conflitos. Sendo em geral, as sociedades em desenvolvimento, verdadeiros cor pos informes de interesses nivela dos, torna-se difícil fazer prevale cer interesses transcendentes aos indivíduos com a sua anuência, bem como submetê-los a regras objetivas do jogo social. Por isso alguns países procuram encami nhar-se para a estratégia de pria cons0 em nos na a acpi-
meiro conquistar as bases sociais e econômicas, isto é, modernizar, pa ra depois instaurar a Democracia. Esta tese tem três premissas: pri meira, a Democracia se caracteriza pela sua enorme flexibilidade de absorver contestações; segunda, é ingenuidade pensar que a simples descompressão política restaure prontamente a lealdade ao siste ma; terceira, uma certa dose de autoritarismo é inevitável numa fase final de modernização. Se gue-se dai que o regime democrá tico representativo tradicional passa a ser acusado de ser incapaz de manter uma elevada taxa de
industrialização sem excessiva in flação, desordem social e desequi líbrios internos (Roberto Campos:
A Nova Eco7i.07n.2a Brasileira, em colaboração com Mário Henrique Simonsen).
futuro, 0 bom funcionamento da sociedade política, onde, ao final, todas as divergências estariam acomodadas. No fundo, os que de fendem a tese da necessidade do autoritarismo para obter-se a mo dernização, entendem, assim, por Democracia (a ser instaurada pos teriormente) um regime bem pró ximo daquilo que proclamam ser impossível no momento: a Demo cracia Liberal do século XIX.
apro-
Temos para nós, entretanto, que por de trás desta tese está a possibilidade utópica de realizar integralmente as altas taxas de desenvolvimento econômico, veitando inclusive a poupança ex terna —● 0 que coloca para os sub desenvolvidos 0 problema da auto nomia nacional — B) a eficiência governamental ~ C) o bem-estar social a curto prazo, e, D) a eleva ção na taxa de incerteza que a participação política extensa nor malmente acarreta.
Ora, esta tese pressupõe, na verdade, uma espécie de naturalis mo político, a possibilidade de se afftstar os obstinados políticos e uma boa parte dos agentes des contentes, do que resultaria, no
De fato, porém, o que se obser va é que a exigência de pré-requi sitos é que torna a Democracia utó pica e não o contrário. Isto é, ela não é utópica porque só se realiza com os pré-requisitos, mas porque os pré-requisitos são ilusórios. No fundo, esta idéia de pré-requisitos envolve uma concepção fatalista da história, como se a efetivação de uma possibilidadejá estivesse, des de sempre, pré-determinada, o que exclui a visão de que o homem, dentro de certos limites, é livi'e e de que o curso histórico depende de suas decisões.
No plano empírico, Samuel Huntington nos mostra assim que os avanços em modernização, sobre tudo, como mobilização social e participação política, não impli cam necessariamente em desenvol vimento político, podendo ocorrer, inclusive, o movimento oposto, isto é, a decadência política. Admitin do-se que o ideal democrático constitua um objetivo do desenvol vimento político, seria preciso ve rificar, pois, se realmente ele pres supõe a modernização social.
A principal questão que estamos discutindo se localiza no modo co mo um regime que se pretende de mocrático consegue conciliar representatividade com identificação consciente de idéias. Se entende mos que a representatividade au têntica só é possível quando é alto o coeficiente de identificação cons ciente, a Democracia se torna uma utopia. Por quê?
Não apenas porque a identifica ção consciente pressupõe pre-requisitos que nem sempre são possí veis, mas porque, sobretudo, uma identificação consciente total destrói a própria Democracia.
Identificação consciente total significa a politização de todos conflitos sociais. Ou seja, configu ra a hipótese de que o consenso politico só é autêntico quando os cidadãos, em todos os seus atos, agem com a consciência do signi ficado político deles. A politização de todos os conflitos, porém, ao in vés de gerar consenso, gera um dissenso de proporções incontroláveís. Isto pode ser observado, por exemplo, em regimes totalitários, onde a chamada conscientização política acaba redundando na im posição de critérios exteriores à própria vida de fórmulas artifi ciais que uniformizam as opiniões ficticiamente ou até de fato atra vés de manipulação dos meios de comunicação de massa. Em outras palavras, a politização de todos os conflitos não conduz à Democra cia, mas ao totalitarismo, porque vida a representatividade.
Neste sentido, a Democracia, na sua dimensão social, não deve pressupor de nenhuma forma, a conscientização política de todos os conflitos sociais. A sua instaura ção não depende portanto, do au mento da conscientização através de modernização sócio-econòmicocultural, mas do modo como se tra balha a escassez de conscientiza ção. Em outros termos, o grau de democratização de um Regime não se mede pelo alto grau de consci ência política dos cidadãos, mas pelo modo como o sistema político se legitima apesar da baixa politi zação, ou seja, a representativida de como um dos pilares da Demo cracia não pressupõe politização total, mas uma politização relati va. Que significa isto?
os e esgoverconcoexis-
O mundo moderno é o resultado de sociedades complexas, caracte rizadas pela multiplicidade pecialização crescente das funções. Esta complexidade gera a escassez de consenso. Neste sentido, nar uma sociedade complexa signi fica enfrentar a escassez de senso, descobrindo mecanismos ca pazes de estabelecer uma tência entre as necessidades de to mar às vezes rapidamente uma de cisão com as inevitáveis decepções que ela provoca. Por exemplo, a de cisão de conceder aumentos tarifá rios para serviços de transportes frustra a expectativa de poupança do usuário e, vice-versa, a não concessão decepciona as empresas concessionárias. As decepções, por tanto, são impossíveis de ser elími-
i
É preciso saber conviver cairmos ou numa utopia ou num totalitarismo. Neste sentido, a ins tauração da Democracia passa a depender da presença de certos procedimentos institucionalizados como a eleição. O Parlamento, a imprensa livre, a Universidade au tônoma, mas entendidos como ins trumentos capazes de tornar de cepções inevitáveis em decepções difusas, na forma de ressentimen tos generalizados, para os quais não há canais de manifestação.
A utopia da conscientização total repousa, como vimos, na possi bilidade de racionalizarmos todos os nossos conflitos e nos conduz a uma ficção totalitária. Num sistedemocrático, a fórmula legitimadora não está, curiosamente, na obtenção do consenso, mas na ge neralização do dissenso. Se a pos sibilidade de decepção é tão gran de e maior que a possibilidade de eliminá-la, o recurso democrático é abrir válvula de escape, criar condições para a manifestação e captação controlada de protestos.
Isto é conseguido, por exemplo, por uma atitude perante o consen so, não no sentido de que ele seja conscientemente dado, mas no sentido de que toda participação, consciente ou não, é reconhecida como importante no processo polí tico. Num regime democrático, ne nhuma opinião deve ser, a priori, descartada. Assim, a representati vidade se torna autêntica não pelo consenso concreto, mas pela garan tia institucionalizada da manifesção do dissenso.
Assim, o decepcionado que teima em manter suas expectativas desi ludidas não enfrenta muitas alter nativas: ou tem a oportunidade de voltar a manifestar o seu protesto ou é estabilizado socialmente no papel de marginalizado politico, si tuações que tem de suportar com grandes riscos e custos sociais. Nos sistemas políticos democrá ticos, os seus membros são convi dados a manifestar continuamen te as suas insatisfações e através de inúmeros canais. Isto porque os conflitos sociais só podem ser ab sorvidos e legitimados no sistema quando a complexidade de exigên cias e interesses podem ser canali zadas para decisões vinculantes. Para que isto ocorra é preciso, pri meiro, incerteza autêntica sobre qual vai ser a decisão, isto é, a de mocracia se fortalece justamente na medida em que exige uma certa dose de insegurança como condi ção de motivação política. Segundo, ela tem de desenvolver, em conse quência, certa tolerância para com situações de risco e indeterminação. Por último, deve ser capaz de nadas, com elas.
A fórmula da generalização do dissenso parte, sem dúvida, da hi pótese de que na sociedade civil há, de um lado, expectativas per manentes que estabelecem um mí nimo de consenso (tradição, usos, costumes) e, de outro, decepções igualmente permanentes (desi gualdades nas oportunidades, nos níveis de consumo, de salário, nos acessos à educação) que não po dem ser eliminadas, sob pena de ma


































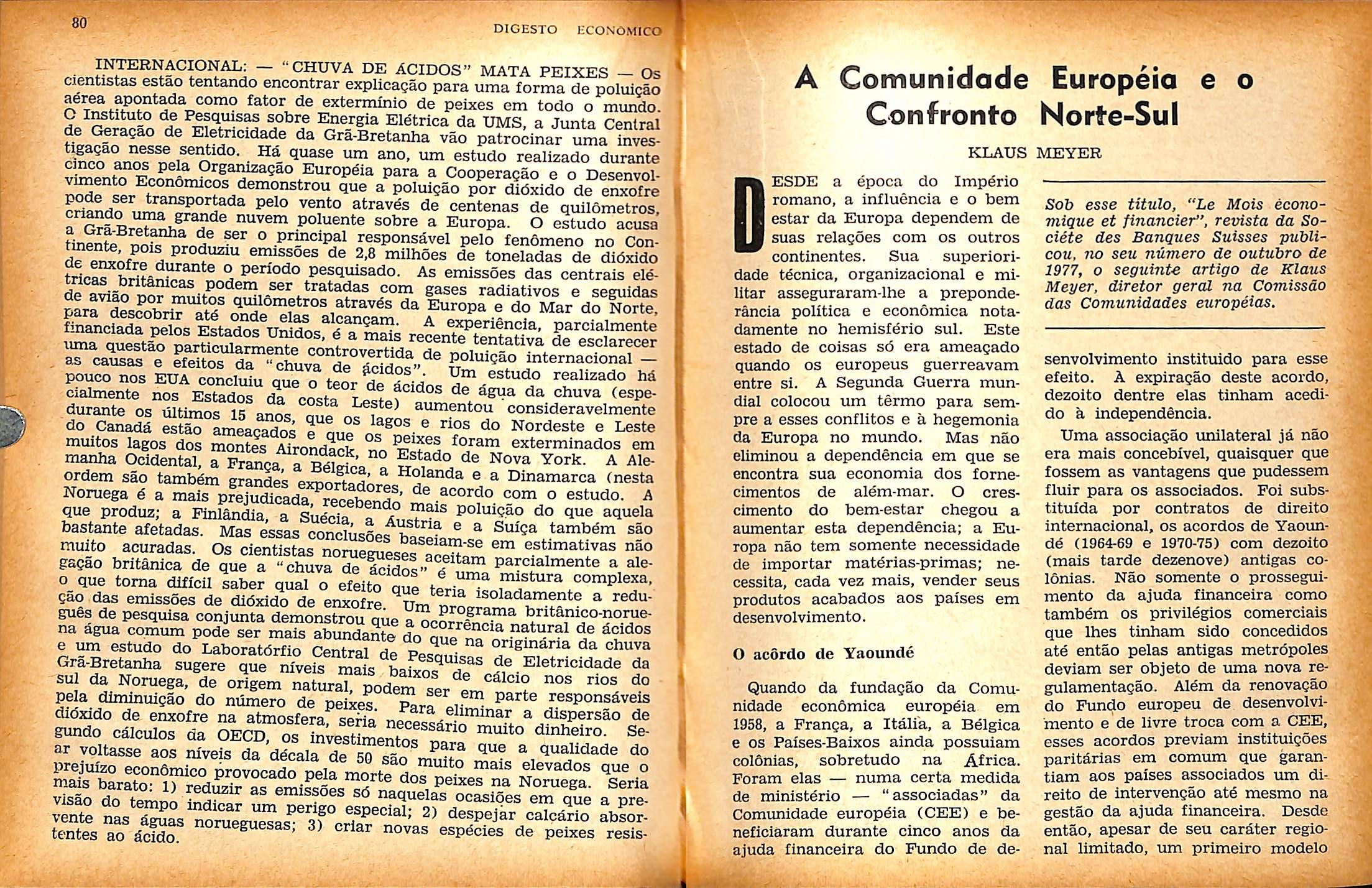
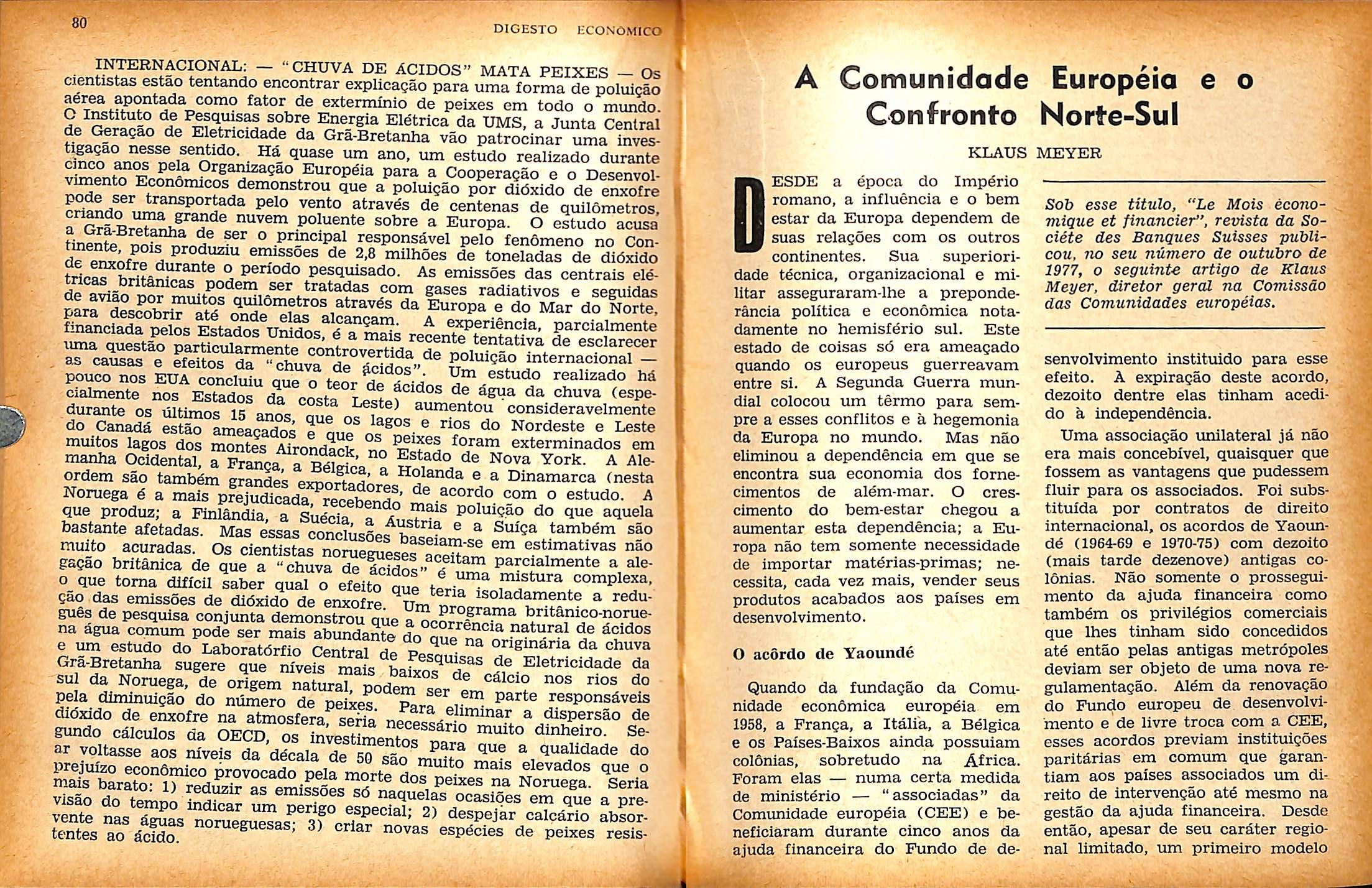









































































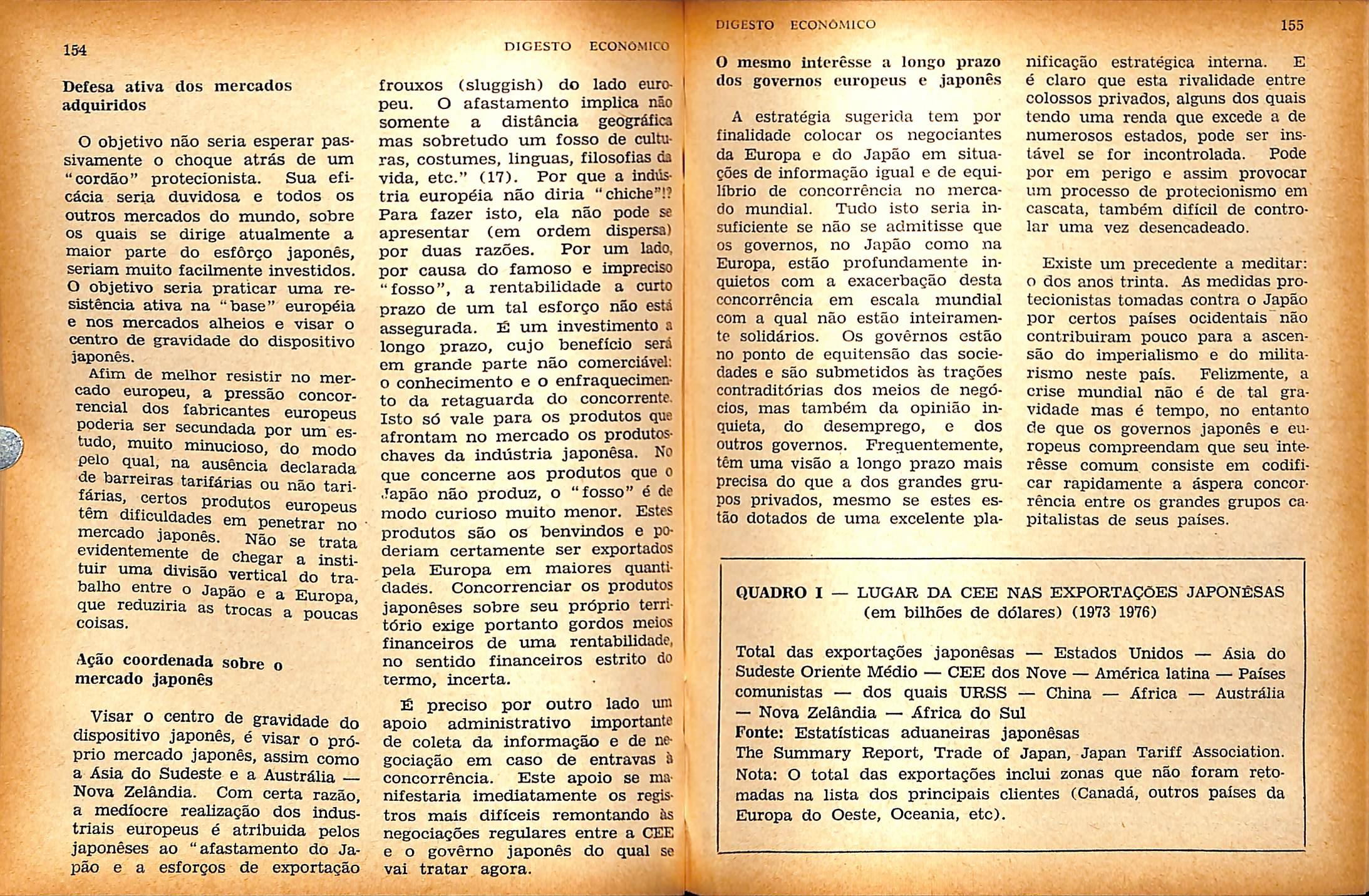
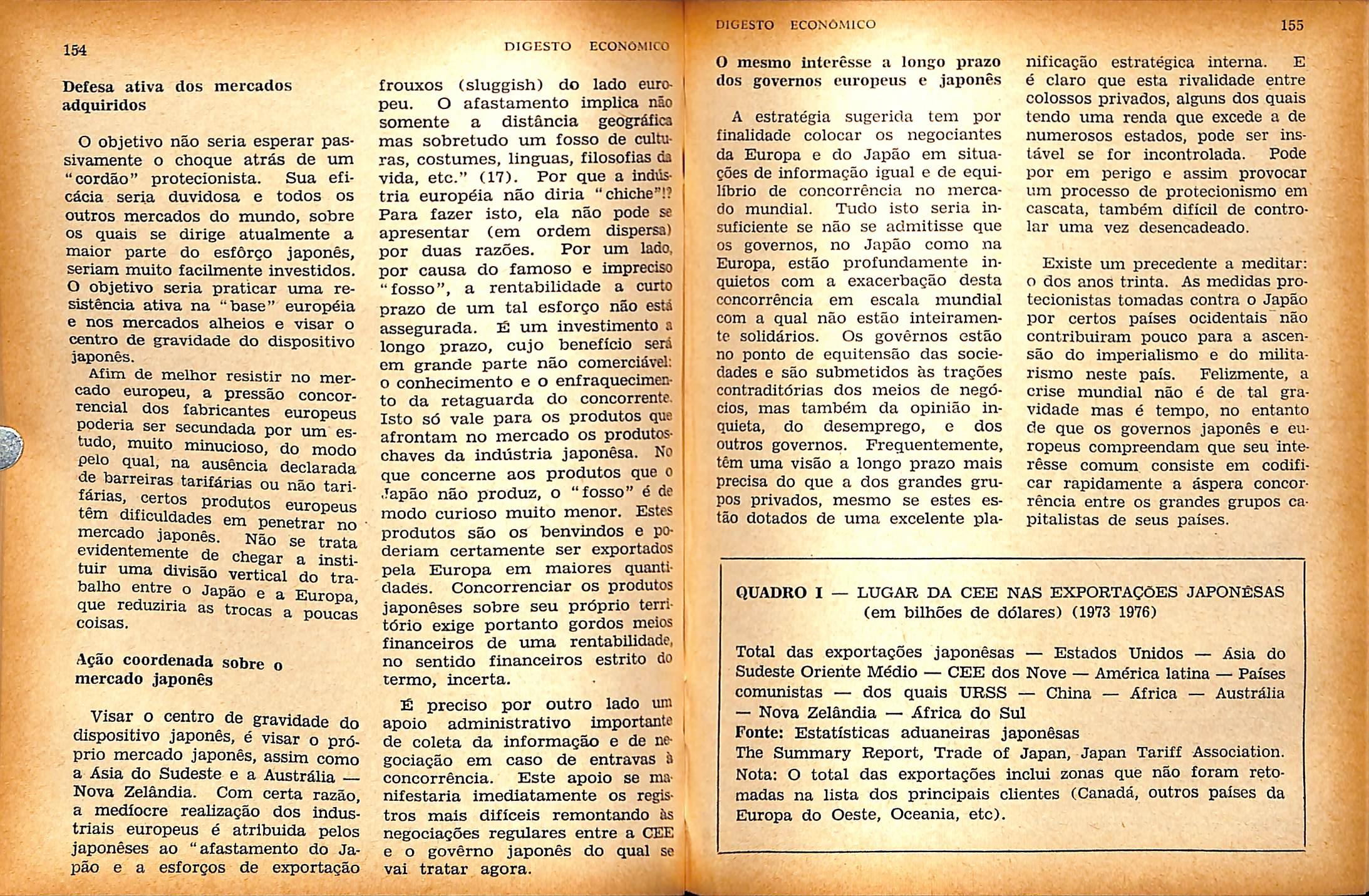








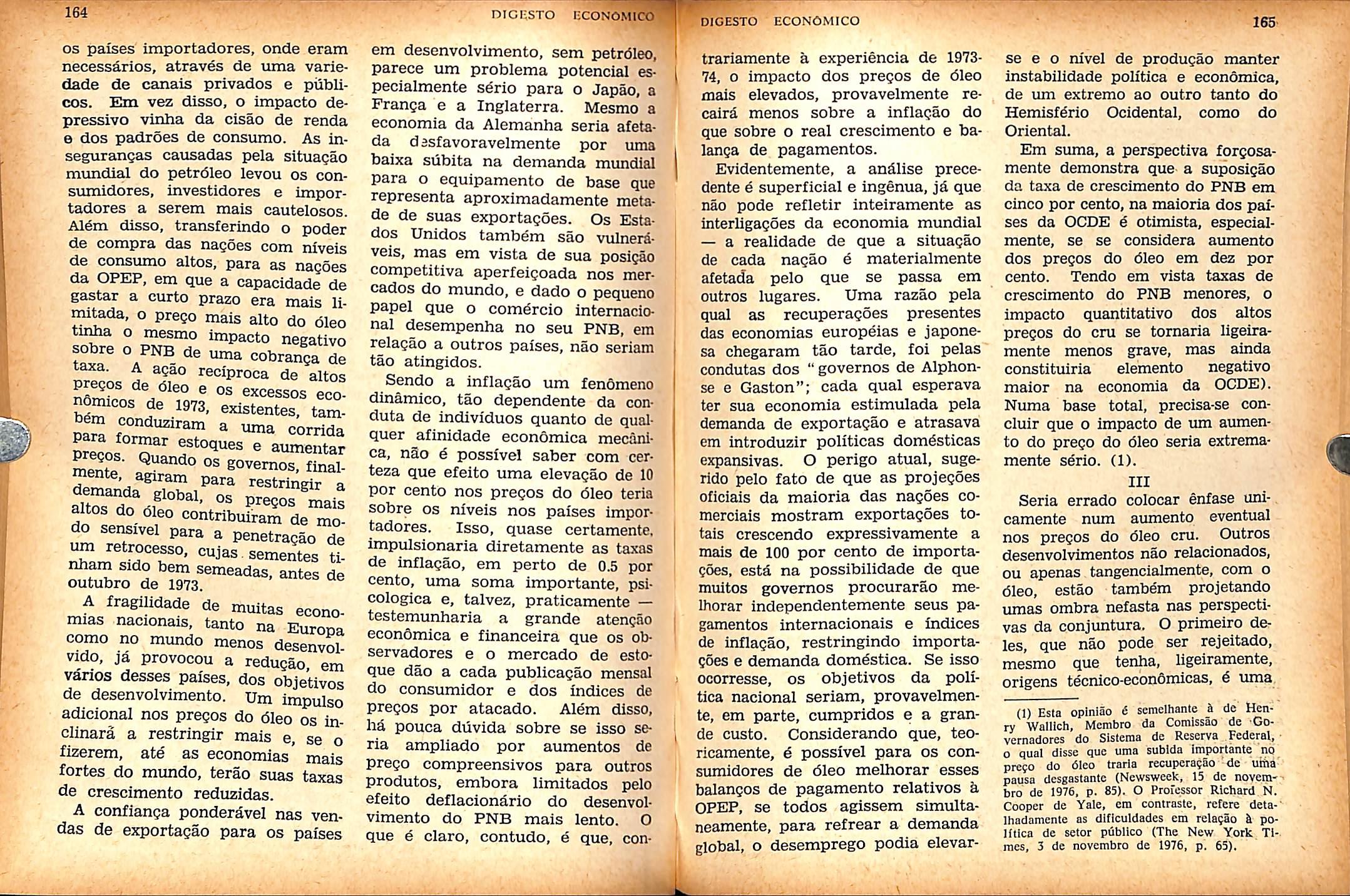
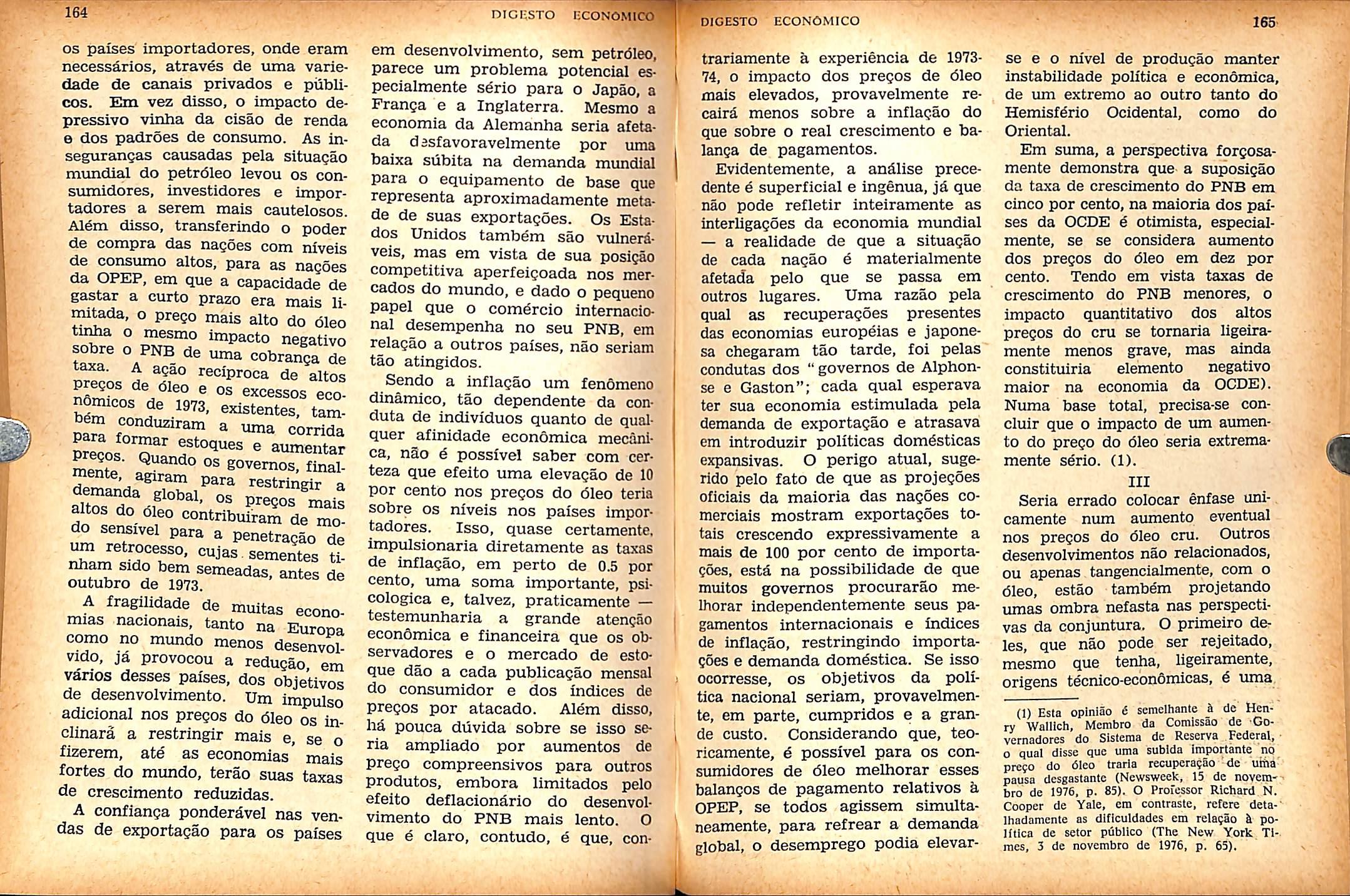




















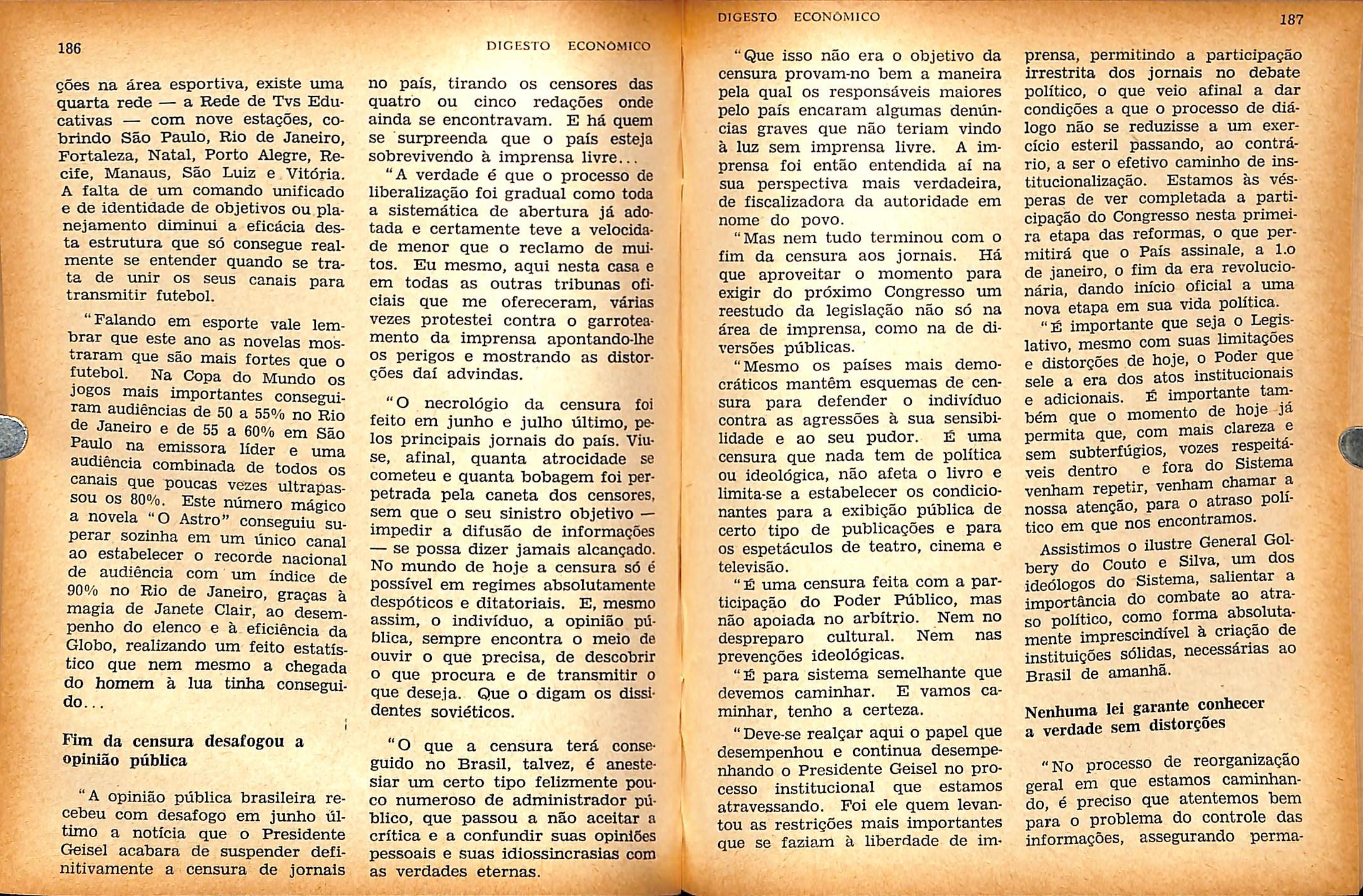
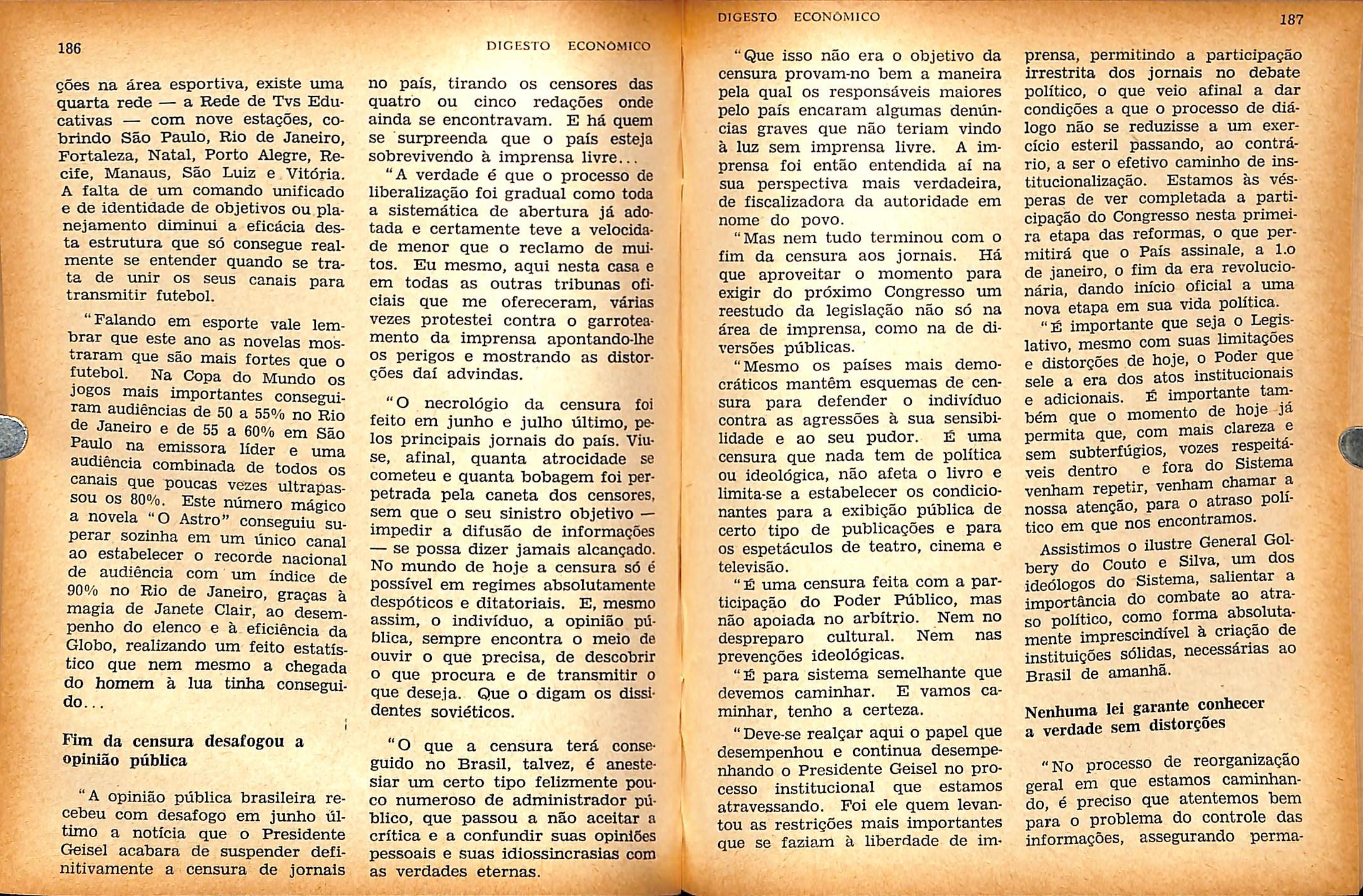












































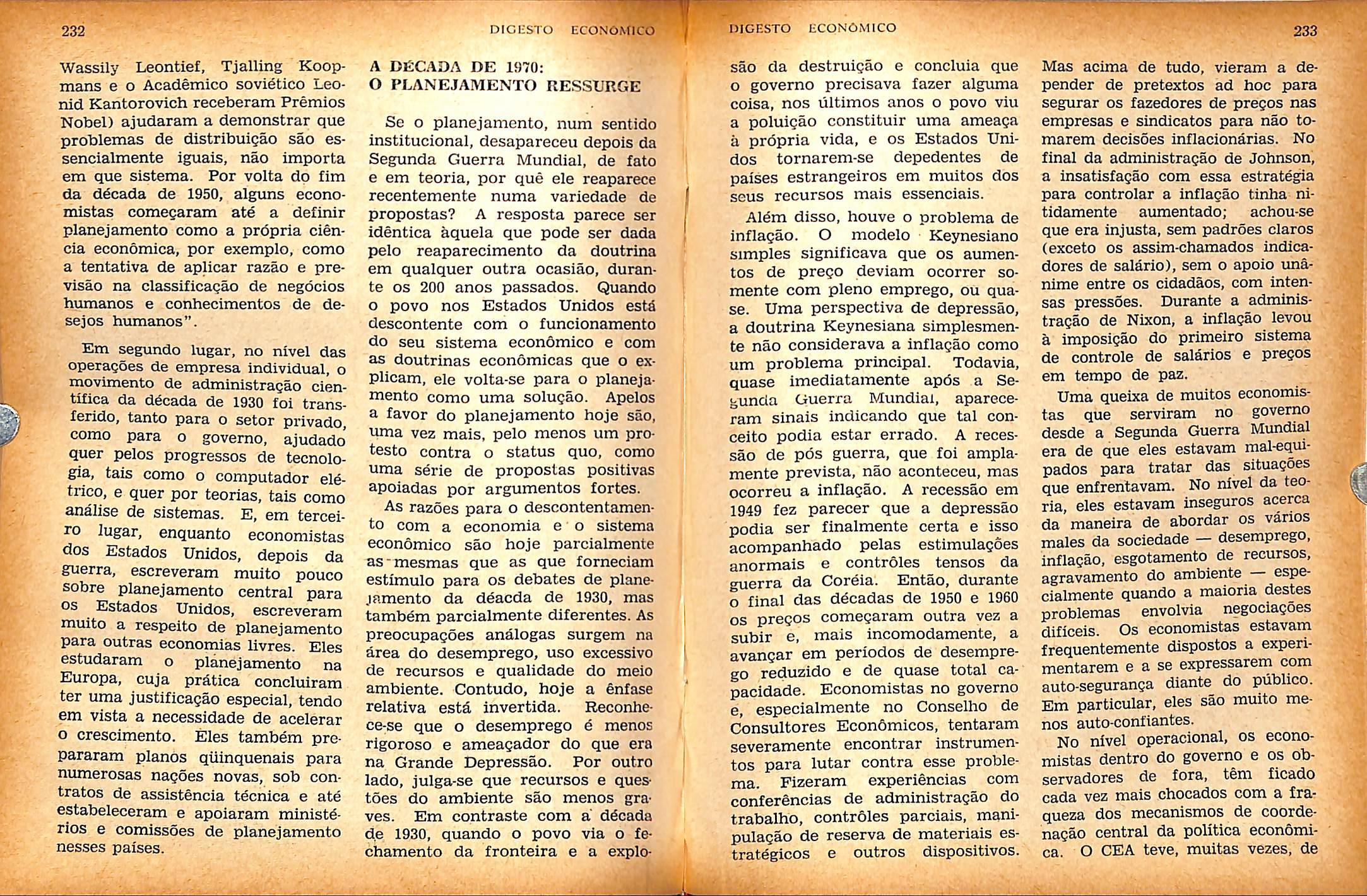
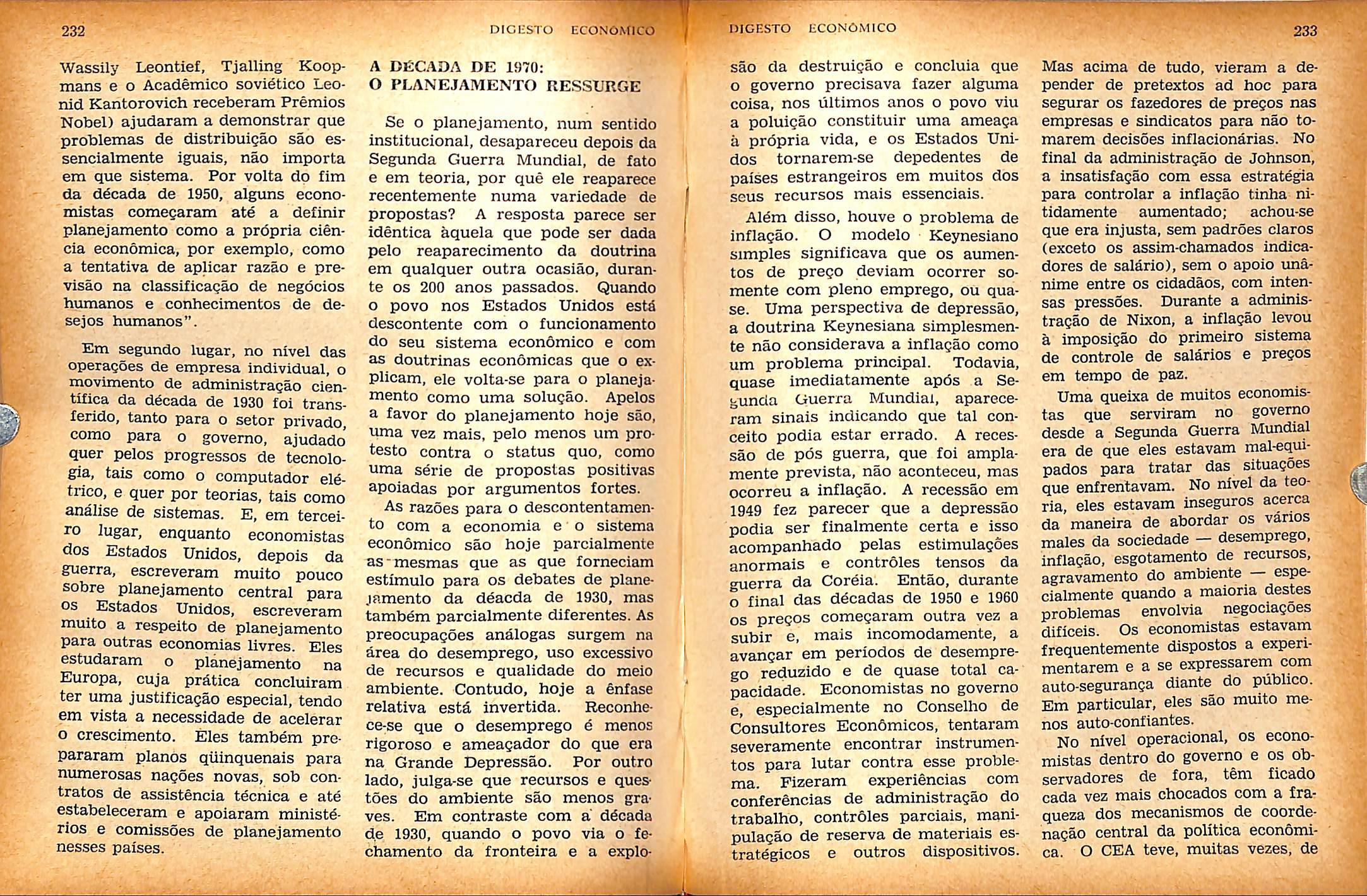






ISRAEL: — NOVO PROCESSO DE ALVEJAMENTO MELHORA A QUALIDADE TÊXTIL — O Instituto de Fibras de Israel, em Jerusalém, desenvolveu um processo dé alvejamento que já íoi aplicado em escala industrial a mais de 2 milhões de metros de tecido de algodão. De acordo com Yehudit Koblakov, I. Ziderman e Janine Bel Ayche, que desenvolveram o processo, este elimina os pequenos orifícios provoca dos por queimaduras que, frequentemente, são encontrados no tecido alvejado. Acredita-se que esses orifícios são causados pela presença de catalisadores metálicos que intensificam a atividade da solução alve- jante. Estes cientistas não divulgaram os nomes dos aditivos utilizados, nias afirmam tei descoberto uma fórmula para se adicionar à solução cte alvejamento que pode proteger a celulose de impurezas metálicas
BRASIL: —
LIARES NO RS experiência desastrosa l_* ^ utilização de adubos foliares e soja resultou desastrosa. J-unares a experiência.
COM OS ADUBOS FOnas lavouras de trigo Os fabrinant™™ agricultores que fizeram ram apreensivos as etntatWas íe" íertiiizantes. folhas, pois apresenta respiram aliviados. . que acompanha- adoçao da técnica de pulverização ao da adubação da terra das um custo inferior lura, onde conseguem^LÍiTesultrrin'"'"^"' restritos apenas à fruticul- corrência nas culturas de mpr h condições de oferecer con- foi decretado oücialmente. o’"ltn ÍTs^na^^b' ° rpSq™ s^d^Tr^^^
ac resquisa do Trigo, o estudo do smi, do órgão da Empresa em Passo Fundo, revelou vou que os adubos foliares vista a produtividade, lhas resultou em
Os agricultores que tentaram cerca de Cr$ 255,00 por hectare, agora divulgada pelos pesquisadores
pelo Centro Nacional pesquisador Roque Gilberto Brasileira de Pesquisa Agrícola que o exame Toma(Embrapa) comparativo da produção causaram prejuízo. Segundo ele. tendo fertilizantes diretamente aproximadamente dois proem nas fosacos de perda por hectare, fracassaram não só no trigo mas^tarníl?^ eonta própria também Embrapa consideraram quato tipos de adubos Miares''!"oT^rdeno nunaçao comercial Nutrion, Piant Prod, Envy e Wuxal _ obtendo resultados medios tanto em 1975 como em 1976, com prejuízos de Para os industriais locais, a conclusão . - representa uma tranquilidade, pois impedira defimtivamente que os bancos financiem os produtores que utilizarem esse tipo de adubo.