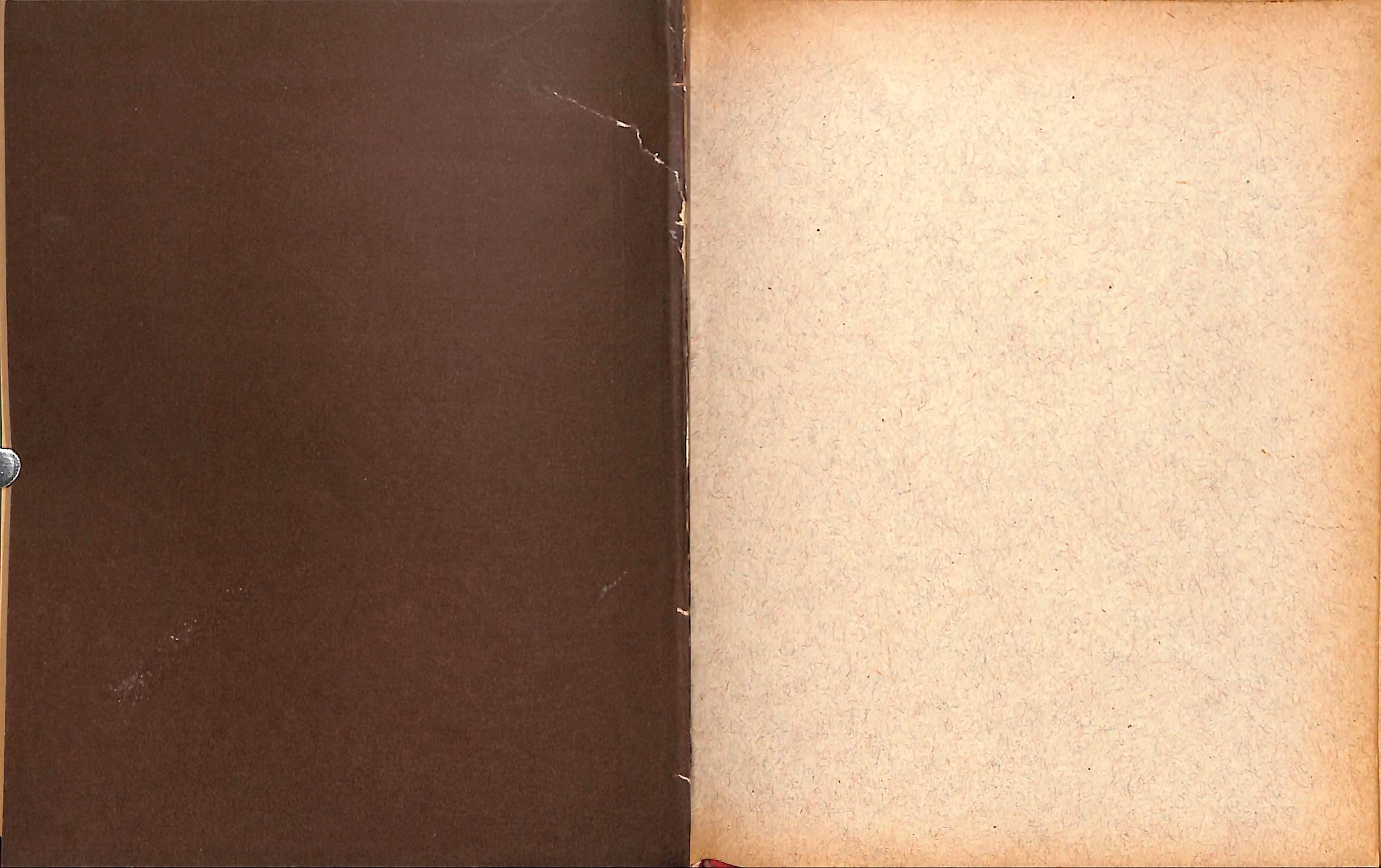Vai o DIGESTO ECONOMICO enífar no seu Irigesimo lerceíro ano de existência. É uma vida regularmente longa para uma revista de alta ca tegoria, em cujas páginas são estampados artigos de indagação cultural, de interesse permanente, estudos sociais e políticos de notorio valor. Editado pela Associação Comercial de São JPaulo, que assim dá ao pensamento nacional e internacional contribuição de reconheci do merecimento, para a analise dos problemas brasileiros e das grandse ques tões internacionais, o DIGESTO ECONOMICO procura, sempre, agasalhar
ensaios economicos colunas o que de melhor pode e deve ser publicado no país. Cumtranscorrer seu aniversário, qu©
em suas pre sua missão, com regularidade, e, ao lhes ofe- coincide com o do novo ano, se compromete com seus leitores a produção intelectual, nos mais variados campos do saber, susceptível de atrair a atenção do estudioso. Consideramos, por isso, um leitores a edição recer, sempre, a
presente de ano novo o que proporcionamos aos nossos que enriquecem suas periódica do DIGESTO ECONOMICO, com os paginas, pela colaboração nelas inserta. Quem der um balanço na vasta, e nomes hoje preciosa coleção do DIGESTO ECONOMICO, nela vai encontrar os mais ilustres das letras brasileiras e estrangeiras, em vários domi- nomes nios da cultura. Não houve um só problema brasileiro de grande relevân cia, que não fosse estudado e focalizado nas paginas do DIGESTO ECONOMICO. Os problemas internacionais, por seu turno, são, também eles, objeto de tratamento dos colaboradores da revista. Se nos louvarmos, comq diretores, nas inúmeras opiniões sobre o DIGESTO ECONOMICO, durante anos publicadas em suas paginas, não exageramos das melhores revistas do mundo em seu genero. Festejando, nesH afirmando que edita* mos uma mês, o Natal e o Ano Novo, congratulamo-nos com nossos leitores pelo apoio que nos dão, permitindo-nos aumentar, sempre, a nossa tiragem, que vem crescendo significativameníe, e lhes entregaremos edições do mesmo nível até agora observado no futuro que se desdobra à nossa frente. A linha até hoje seguida pelo DIGESTO ECONOMICO é a nossa balisa. Com ela entramos no futuro, como vimos fazendo desde o nosso primeiro número. ..A .
● HKDO DOS KEGÓnOS MTH PA\0BAH,t BLHEnB.U
Pabllcado sob os auspícios da ASSOCIAÇiO COMERCIAI DE S.PAIILO
Diretor:
ABÍÔnlo Gonlijo de Carralho
1947 a 1973
Diretores:
Jo&o de ScBBllzaburgo
Paulo Edmur de Souxa Queiroz
Wilfridez Alves de Umg
0 DIgcsto Econfimico, órgfio de in formações econômicas e financei ras, é publicado blmestralmeote pela Edltôra Comercial Ltda.
A direção não se responsabiliza pelos dados cujas fontes estejam devidamente citadas, nem i>el08 conceitos emitidos em artigos aailoados.
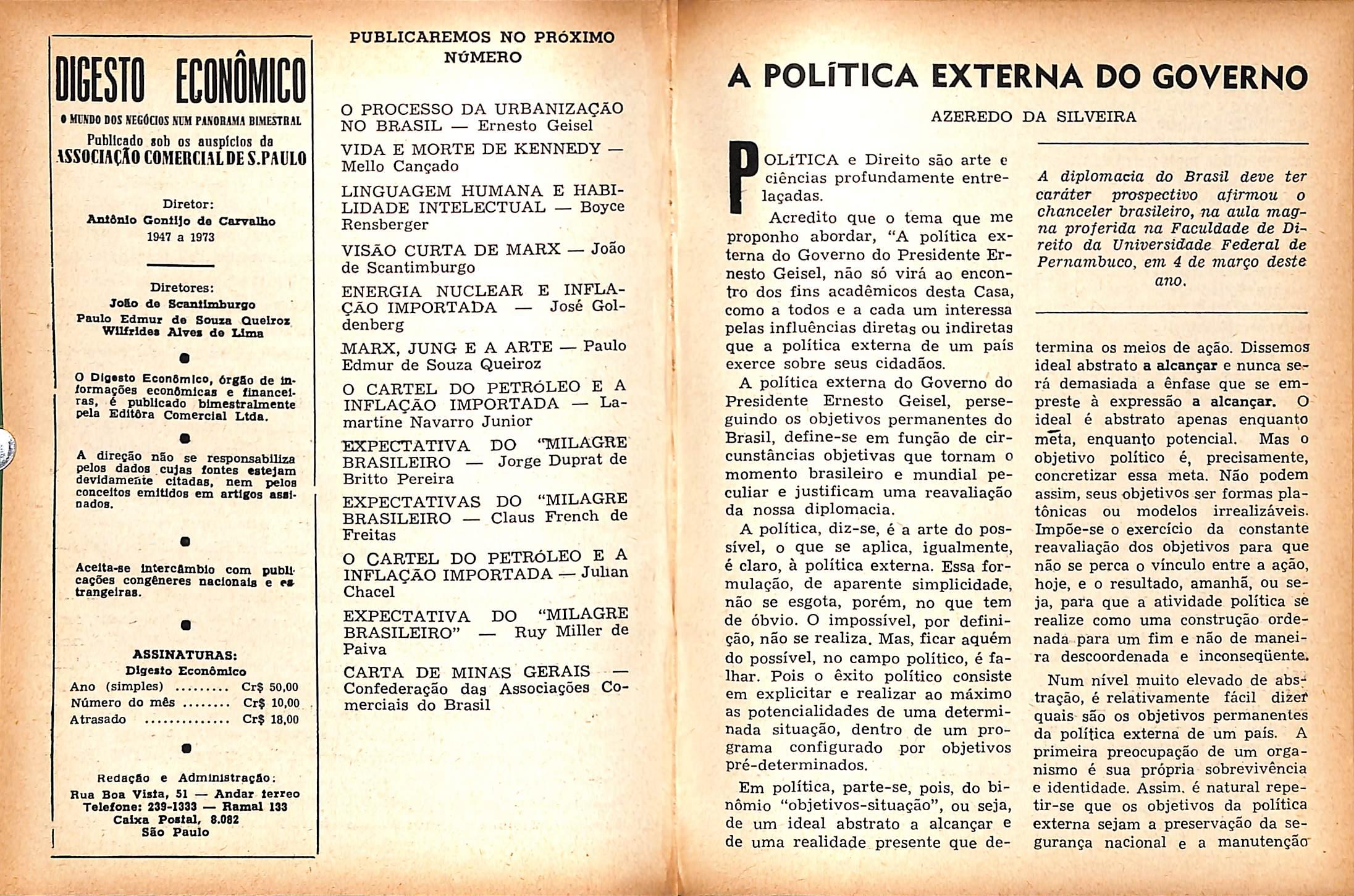
Acelta-se Intercâmbio com pubU cações congâneres nacionais e e» trangelras.
ASSINATURAS:
Dlgeiío Econômico
Ano (simples)
Número do mês
Atrasado
CrÇ 50,00
CrÇ 10,00
CrÇ 18.00
Redação e Administração;
Rua Boa Visía, 51 — Andar terreo
Telefone: 239-1333 ~ Ramal 133
Caixa Postal, 8.082
São Paulo
O PROCESSO DA URBANIZAÇÃO NO BRASIL — Ernesto Geisel
VIDA E MORTE DE KENNEDY — Mello Cangado
LINGUAGEM HUMANA E HABI
LIDADE INTELECTUAL — Boyce Rensberger
VISÃO CURTA DE MARX — João de Scantimburgo
ENERGIA NUCLEAR E INFLA ÇÃO IMPORTADA denberg
MARX, JUNG E A ARTE — Paulo
Edmur de Souza Queiroz
O CARTEL DO PETRÓLEO E A INFLAÇÃO IMPORTADA — Lamartine Navarro Junior
"MILAGRE
EXPECTATIVA DO BRASILEIRO — Jorge Duprat de Britto Pereira
MILAGRE EXPECTATIVAS DO BRASILEIRO — Claus French de Freitas
O CARTEL DO PETRÓLEO E A INFLAÇÃO IMPORTADA — Julian
Chacel
EXPECTATIVA DO BRASILEIRO
Paiva
milagre
Ruy Miller de
CARTA DE MINAS GERAIS — Confederação das Associações Co merciais do Brasil
AZEREDO DA SILVEIRA
POLÍTICA e Direito são arte e ciências profundamente entre laçadas.
Acredito que o tema que me proponho abordar, "A política ex terna do Governo do Presidente Er nesto Geisel, não só virá ao encon tro dos fins acadêmicos desta Casa, como a todos e a cada um interessa pelas influências diretas ou indiretas que a política externa de um país exerce sobre seus cidadãos.
A política externa do Governo do Presidente Eimesto Geisel, perse guindo os objetivos permanentes do Brasil, define-se em função de cir cunstâncias objetivas que tornam o momento brasileiro e mundial pe culiar e justificam uma reavaliação da nossa diplomacia.
A política, diz-se, é a arte do pos sível, o que se aplica, igualmente, é claro, à política externa. Essa for mulação, de aparente simplicidade, não se esgota, porém, no que tem de óbvio. O impossível, por defini ção, não se realiza. Mas, ficar aquém do possível, no campo político, é fa lhar. Pois o êxito político consiste em explicitar e realizar ao máximo as potencialidades de uma determi nada situação, dentro de um pro grama configurado por objetivos pré-determinados.
Em política, parte-se, pois, do bi nômio “objetivos-situação”, ou seja, de um ideal abstrato a alcançar e de uma realidade presente que de-
A diplomacia do Brasil deve ter caráter prospectivo afirmou o chanceler brasileiro, na aula mag na proferida na Faculdade de Di reito da Universidade Federal de Perna7nbuco, em 4 de março deste ano.
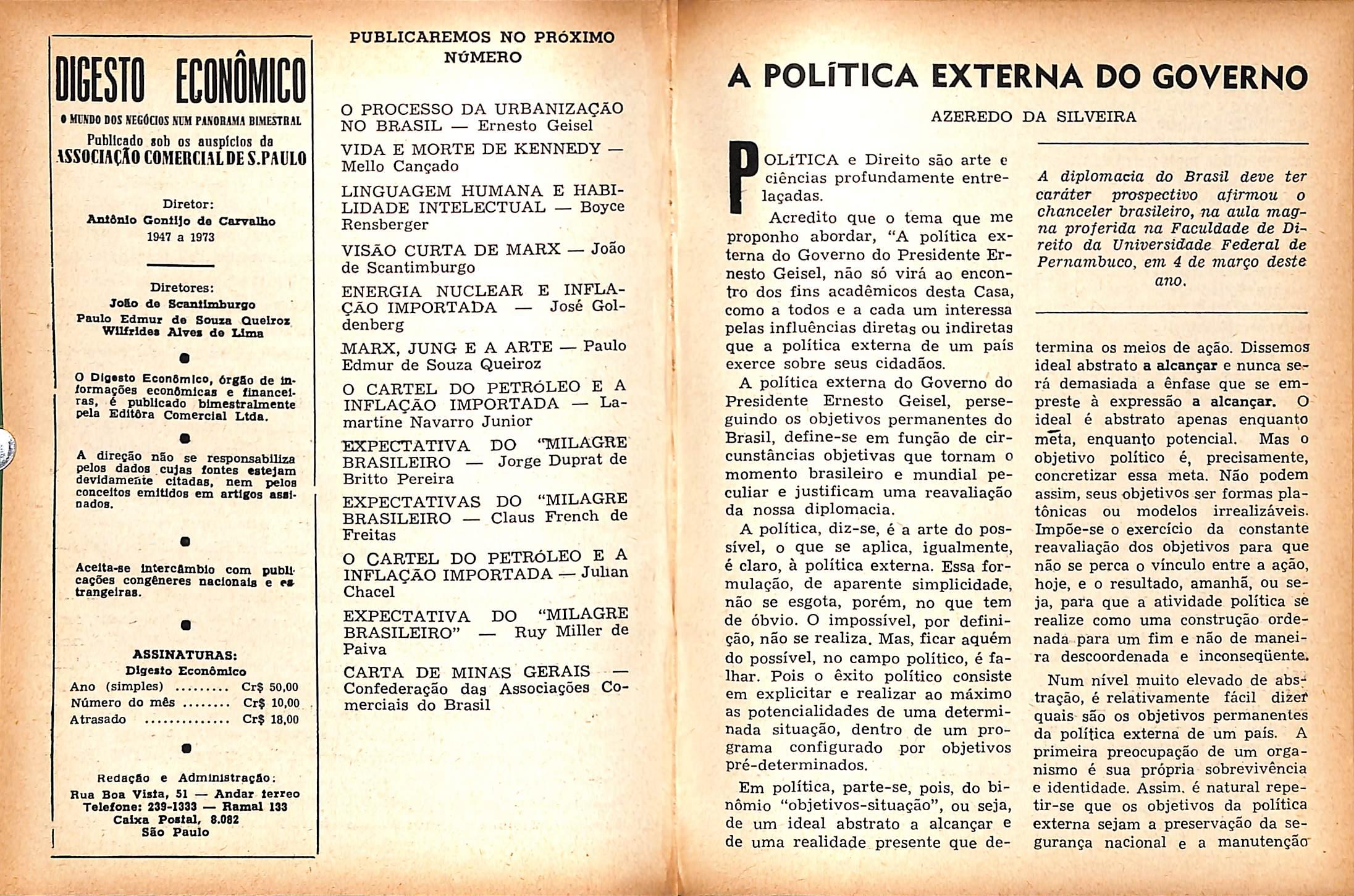
termina os meios de ação. Dissemos ideal abstrato a alcançar e nunca se rá demasiada a ênfase que se em preste à expressão a alcançar. O ideal é abstrato apenas enquanto mTta, enquanto potencial. Mas o objetivo político é, precisamente, concretizar essa meta. Não podem assim, seus objetivos ser formas pla tônicas ou modelos irrealizáveis. Impõe-se o exercício da constante reavaliação dos objetivos para que não se perca o vínculo entre a ação, hoje, e o resultado, amanhã, ou se ja, para que a atividade política se realize como uma construção orde nada para um fim e não de manei ra descoordenada e inconseqüente.
Num nível muito elevado de abs tração, é relativamente fácil dizef quais são os objetivos permanentes da política externa de um país. A primeira preocupação de um orga nismo é sua própria sobrevivência e identidade. Assim, é natural repetir-se que os objetivos da política externa sejam a preservação da se gurança nacional e a manutenção'
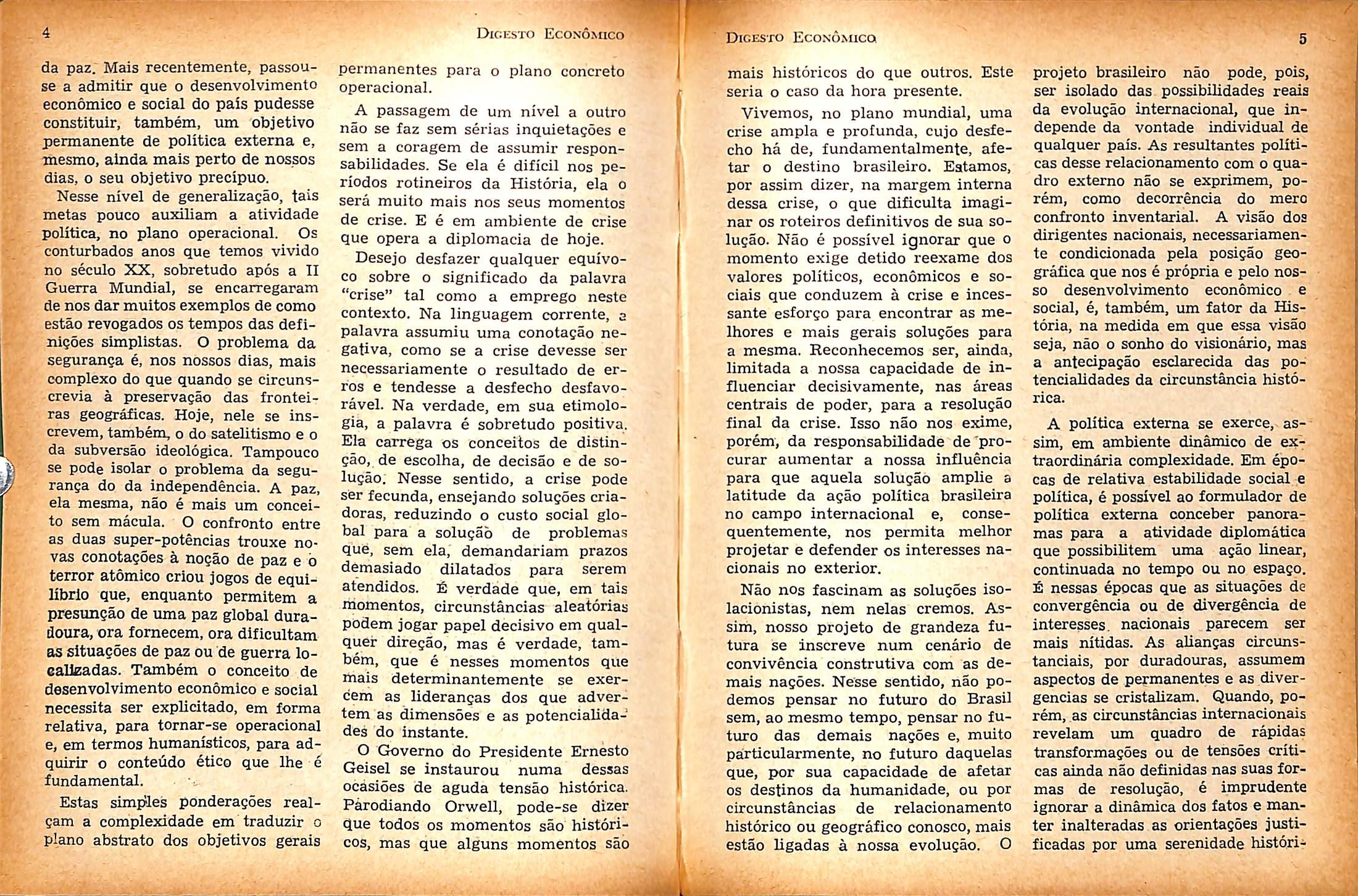
da paz. Mais recentemente, passouse a admitir que o desenvolvimento econômico e social do país pudesse constituir, também, um objetivo permanente de política externa e, ■mesmo, ainda mais perto de nossos dias, o seu objetivo precípuo.
Nesse nível de generalização, tais metas pouco auxiliam a atividade política, no plano operacional. Os conturbados anos que temos vivido no século XX, sobretudo após a II Guerra Mundial, se encarregaram de nos dar muitos exemplos de como estão revogados os tempos das defi nições simplistas. O problema da segurança é, nos nossos dias, mais complexo do que quando se circuns crevia à preservação das frontei ras geográficas. Hoje, nele se ins crevem, também, o do satelitismo e o da subversão ideológica. Tampouco se pode isolar o problema da segu rança do da independência. A paz, ela mesma, não é mais um concei to sem mácula. O confronto entre as duas super-potências trouxe vas conotações à noção de paz terror atômico criou jogos de equi líbrio que, enquanto permitem presunção de uma paz global dura doura, ora fornecem, ora dificultam as situações de paz ou de guerra localleadas. Também o conceito de desenvolvimento econômico e social necessita ser explicitado, em forma relativa, para tornar-se operacional e, em termos humanísticos, para ad quirir o conteúdo ético que lhe é fundamental.
Estas simples ponderações real çam a complexidade em traduzir o plano abstrato dos objetivos gerais
permanentes para o plano concreto operacional.
A passagem de um nível a outro não se faz sem sérias inquietações e sem a coragem de assumir respon sabilidades. Se ela é difícil nos pe ríodos rotineiros da História, ela o será muito mais nos seus momentos de crise. E é em ambiente de crise que opera a diplomacia de hoje.
Desejo desfazer qualquer equívo co sobre o significado da palavra “crise” tal como a emprego neste contexto. Na linguagem corrente, a palavra assumiu uma conotação ne gativa, como se a crise devesse ser necessariamente o resultado de er ros e tendesse a desfecho desfavo rável. Na verdade, em sua etimolo gia, a palavra é sobretudo positiva. Ela carrega os conceitos de distin ção, de escolha, de decisão e de so lução. Nesse sentido, a crise pode ser fecunda, ensejando soluções cria doras, reduzindo o custo social glo bal para a solução de problemas que, sem ela, demandariam prazos demasiado dilatados para serem atendidos. É verdade que, em tais momentos, circunstâncias aleatórias podem jogar papel decisivo em qual quer direção, mas é verdade, tam bém, que é nesses momentos que mais determinantemente se exer cem as lideranças dos que adver tem as dimensões e as potencialida des do instante.
O Governo do Presidente Ernesto Geisel se instaurou numa dessas ocasiões de aguda tensão histórica. Pàrodiando Orwell, pode-se dizer que todos os momentos são históri cos, mas que alguns momentos são no* e o a
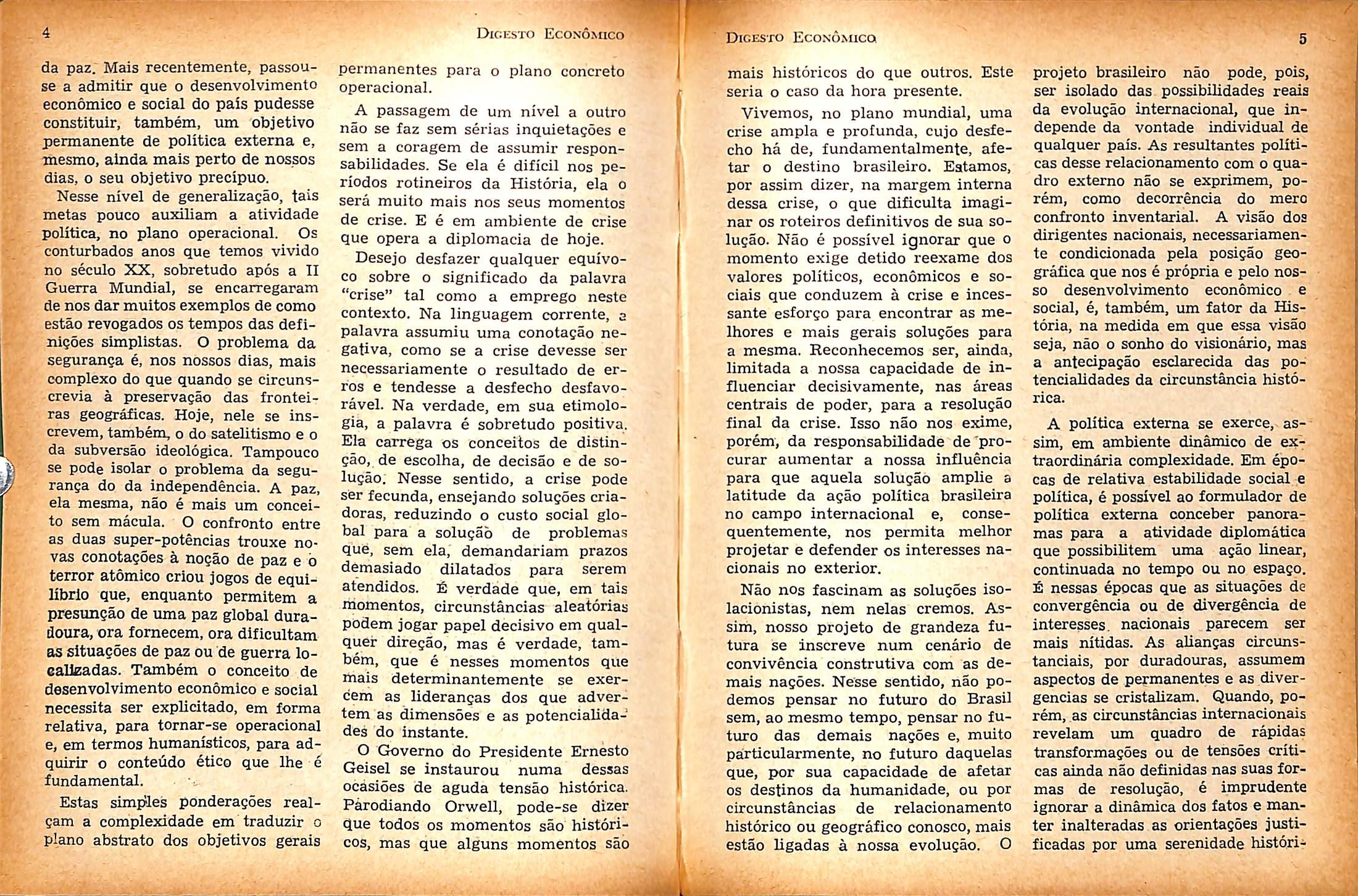
seria o caso da hora presente.
mais históricos do que outros. Este projeto brasileiro não pode, pois, ser isolado das possibilidades reais da evolução internacional, que in depende da vontade individual de qualquer país. As resultantes políti cas desse relacionamento com o qua dro externo não se exprimem, po rém, como decorrência do mero confronto inventariai. A visão dos dirigentes nacionais, necessariamen te condicionada pela posição geo gráfica que nos é própria e pelo nos so desenvolvimento econômico e social, é, também, um fator da His tória, na medida em que essa visão seja, não o sonho do visionário, mas a antecipação esclarecida das po tencialidades da circunstância histó rica.
Vivemos, no plano mundial, uma crise ampla e profunda, cujo desfe cho há de, fundamentalmente, afe tai' o destino brasileiro. Eatamos, por assim dizer, na margem interna dessa crise, o que dificulta imagi nar os roteiros definitivos de sua so lução. Não é possível ignorar que o momento exige detido reexame dos valores políticos, econômicos e so ciais que conduzem à crise e inces sante esforço para encontrar as me lhores e mais gerais soluções para a mesma. Reconhecemos ser, ainda, limitada a nossa capacidade de in fluenciar decisivamente, nas áreas centrais de poder, para a resolução final da crise. Isso não nos exime, A política externa se exerce, asporém, da responsabilidade de 'pro- sim, em ambiente dinâmico de ex'7 curar aumentar a nossa influência traordinária complexidade.Em épopara que aquela solução amplie a cas de relativa estabilidade social e latitude da ação política brasileira política, é possível ao formulador de no campo internacional e, conse- política externa conceber panoraquentemente, nos permita melhor mas para a atividade diplomática projetar e defender os interesses na- que possibilitem uma ação linear, cionais no exterior. continuada no tempo ou no espaço. É nessas épocas que as situações de convergência ou de divergência de interesses, nacionais parecem ser mais nítidas. As alianças circunsNão nos fascinam as soluções isolacionistas, nem nelas cremos. As sim, nosso projeto de grandeza fu tura se inscreve num cenário de convivência construtiva com as de mais nações. Nesse sentido, não po demos pensar no futuro do Brasil sem, ao mesmo tempo, pensar no fu turo das demais nações e, muito párticularmente, no futuro daquelas transformações ou de tensões criti que, por sua capacidade de afetar cas ainda não definidas nas suas for os destinos da humanidade, ou por circunstâncias de relacionamento histórico ou geográfico conosco, mais estão ligadas à nossa evolução.
tanciais, por duradouras, assumem aspectos de permanentes e as diver gências se cristalizam. Quando, po rém, ,as circunstâncias internacionais revelam um quadro de rápidas mas de resolução, é imprudente ignorar a dinâmica dos fatos e man ter inalteradas as orientações justi ficadas por uma serenidade história O
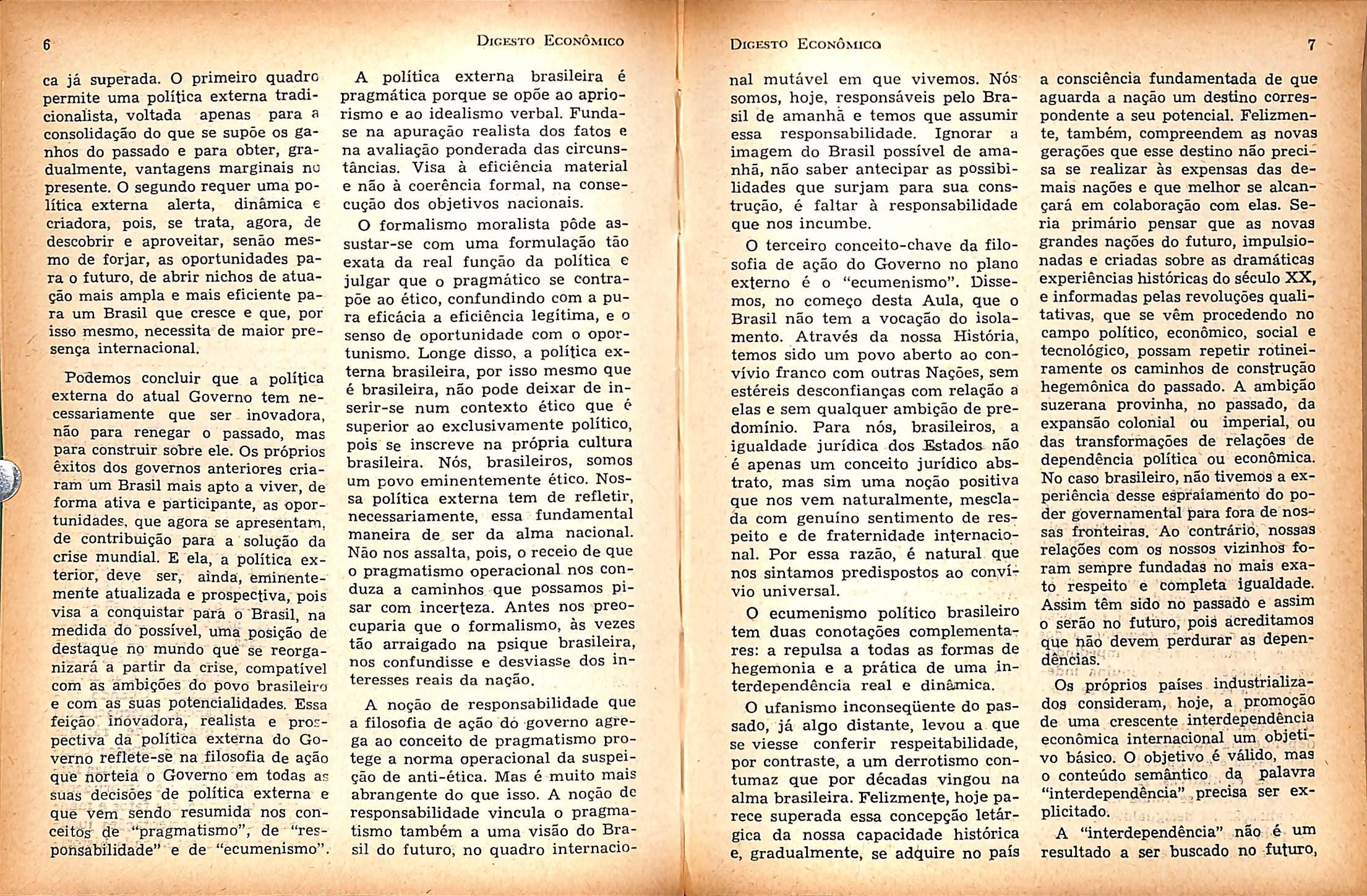
já superada. O primeiro quadre permite uma política externa tradi cionalista, voltada apenas para a consolidação do que se supõe os ga nhos do passado e para obter, gra dualmente, vantagens marginais no presente. O segundo requer uma po lítica externa alerta, dinâmica e criadora, pois, se trata, agora, de descobrir e aproveitar, senão mes mo de forjar, as oportunidades pa ra 0 futuro, de abrir nichos de atua ção mais ampla e mais eficiente pa ra um Brasil que cresce e que, por isso mesmo, necessita de maior pre sença internacional.
Podemos concluir que a política externa do atual Governo tem ne cessariamente que ser inovadora, não para renegar o passado, mas para construir sobre ele. Os próprios êxitos dos governos anteriores cria ram um Brasil mais apto a viver, de forma ativa e participante, as opor tunidades. que agora se apresentam, de contribuição para a solução da crise mundial. E ela, a política ex terior, deve ser, ainda, eminente mente atualizada e prospectiva, pois visa a conquistar pàrà o Brasil, medida do possível, uma posição de destaque ho mundo que se reorga nizará a partir da crise, compatível com as ambições do povo brasileiro e com as suas potencialidades. Essa feição inovadora, realista e prorrpectiva da política externa do Go verno reflete-sé na filosofia de ação que norteia o Governo em todas as suas decisões de política externa e qué vem sendo resumida nos con ceitos' de “pragmatismo”, de “res ponsabilidade” e de “ecumenismo”.
A política externa brasileira é pragmática porque se opõe ao apriorismo e ao idealismo verbal. Fundase na apuração realista dos fatos e na avaliação ponderada das circuns tâncias. Visa à eficiência material e não à coerência formal, na conse cução dos objetivos nacionais.
O formalismo moralista pôde as sustar-se com uma formulação tão exata da real função da política e julgar que o pragmático se contra põe ao ético, confundindo com a pu ra eficácia a eficiência legítima, e o senso de oportunidade com o opor tunismo. Longe disso, a política ex terna brasileira, por isso mesmo que é brasileira, não pode deixar de inserir-se num contexto ético que é superior ao exclusivamente político, pois se inscreve na própria cultura brasileira. Nós, brasileiros, somos um povo eminentemente ético. Nos sa política externa tem de refletir, necessariamente, essa fundamental maneira de ser da alma nacional. Não nos assalta, pois, o receio de que o pragmatismooperacional nos con duza a caminhos que possamos pi sar com incerteza. Antes nos preo cuparia que o formalismo, às vezes tão arraigado na psique brasileira, nos confundisse e desviasse dos in teresses reais da nação.
A noção de responsabilidade que a filosofia de ação dó governo agre ga ao conceito de pragmatismo pro tege a norma operacional da suspeição de anti-ética. Mas é muito mais abrangente do que isso. A noção de responsabilidade vincula o pragma tismo também a uma visão do Bra sil do futuro, no quadro internacio-
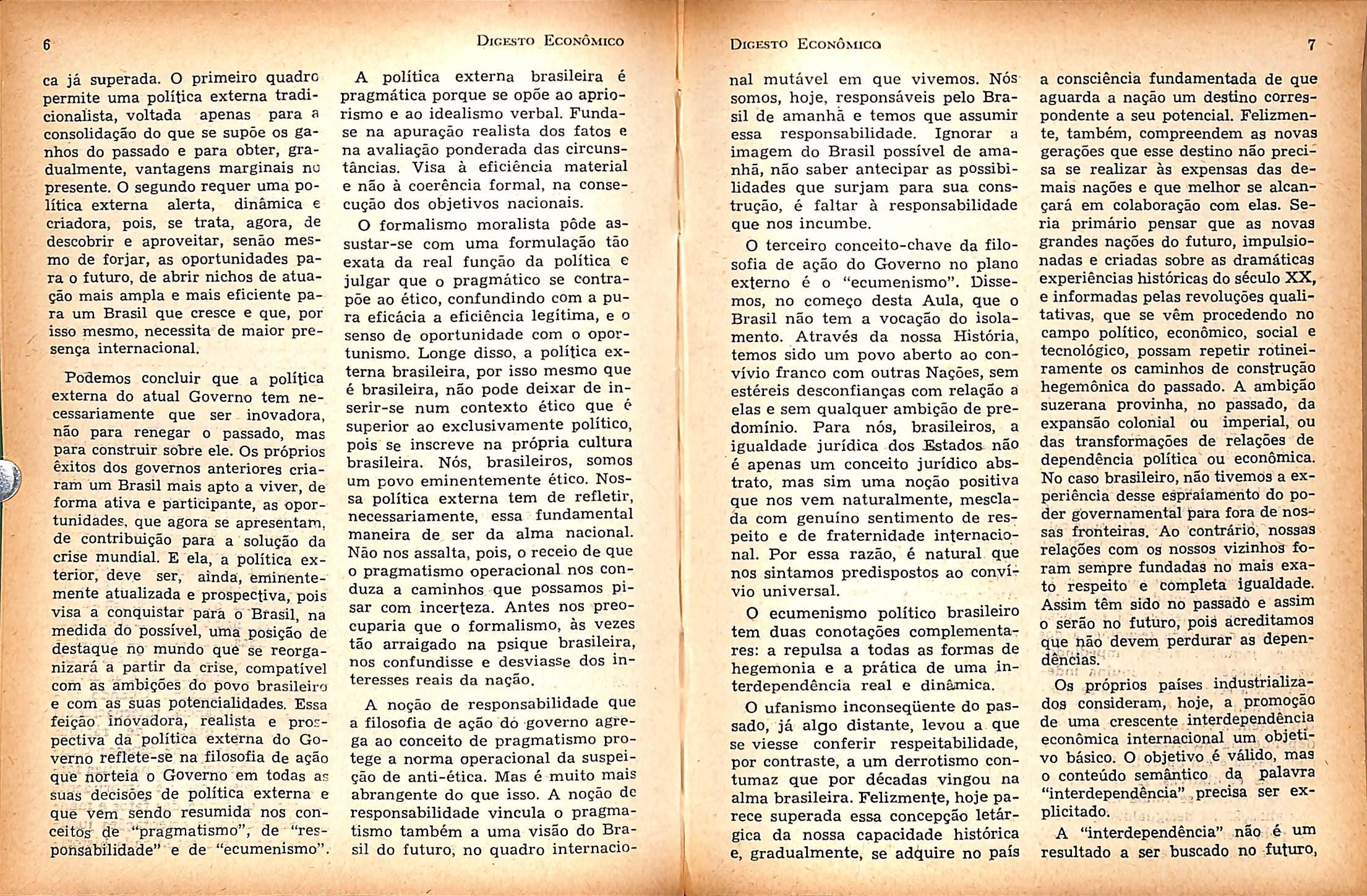
nal mutável em que vivemos. Nós somos, hoje, responsáveis pelo Bra sil de amanhã e temos que assumir essa responsabilidade. Ignorar a imagem do Brasil possível de ama nhã, não saber antecipar as possibi lidades que surjam para sua cons trução, é faltar à responsabilidade que nos incumbe.
O terceiro conceito-chave da filo sofia de ação do Governo no plano externo é o “ecumenismo”. Disse mos, no começo desta Aula, que o Brasil não tem a vocação do isola mento. Através da nossa História, temos sido um povo aberto ao con vívio franco com outras Nações, sem estéreis desconfianças com relação a elas e sem qualquer ambição de pre domínio. Para nós, brasileiros, a igualdade jurídica dos Bstados não é apenas um conceito jurídico abs trato, mas sim uma noção positiva que nos vem naturalmente, mescla da com genuíno sentimento de res peito e de fraternidade internacio nal. Por essa razão, é natural que nos sintamos predispostos ao conví vio universal.
O ecumenismo político brasileiro tem duas conotações complementa res: a repulsa a todas as formas de hegemonia e a prática de uma in terdependência real e dinâmica.
O ufanismo inconsequente do pas sado, já algo distante, levou a que se viesse conferir respeitabilidade, por contraste, a um derrotismo con tumaz que por décadas vingou na alma brasileira. Felizmente, hoje pa rece superada essa concepção letár gica da nossa capacidade histórica e, gradualmente, se adquire no país
a consciência fundamentada de que aguarda a nação um destino corres pondente a seu potencial. Felizmen te, também, compreendem as novas gerações que esse destino não preci sa se realizar às expensas das de mais nações e que melhor se alcan çará em colaboração com elas. Se ria primário pensar que as novas grandes nações do futuro, impulsio nadas e criadas sobre as dramáticas experiências históricas do século XX, e informadas pelas revoluções quali tativas, que se vêm procedendo no campo político, econômico, social e tecnológico, possam repetir rotinei ramente os caminhos de construção hegemônica do passado. A ambição suzerana provinha, no passado, da expansão colonial ou imperial, ou das transformações de relações de dependência política ou econômica. No caso brasileiro, não tivemos a ex periência desse espfaiamehto do po der governamental para fora de nos sas fronteiras. Ao contrário, nossas relações com os nossos vizinhos fo ram sempre fundadas no mais exa to respeito e completa igualdade. Assim têm sido no passado e assim o serão no futuro, pois ácreditamos que nãó devem perdurar as depen dências.
Os próprios países industrializa dos consideram, hoje, a promoção de uma crescente interdependência econômica internacional um. objetibásico. O objetivo é válido, mas conteúdo semântico da, palavra “interdependência” , precisa ser ex plicitado.
A “interdependência” não é resultado a ser buscado no futuro, vo o um
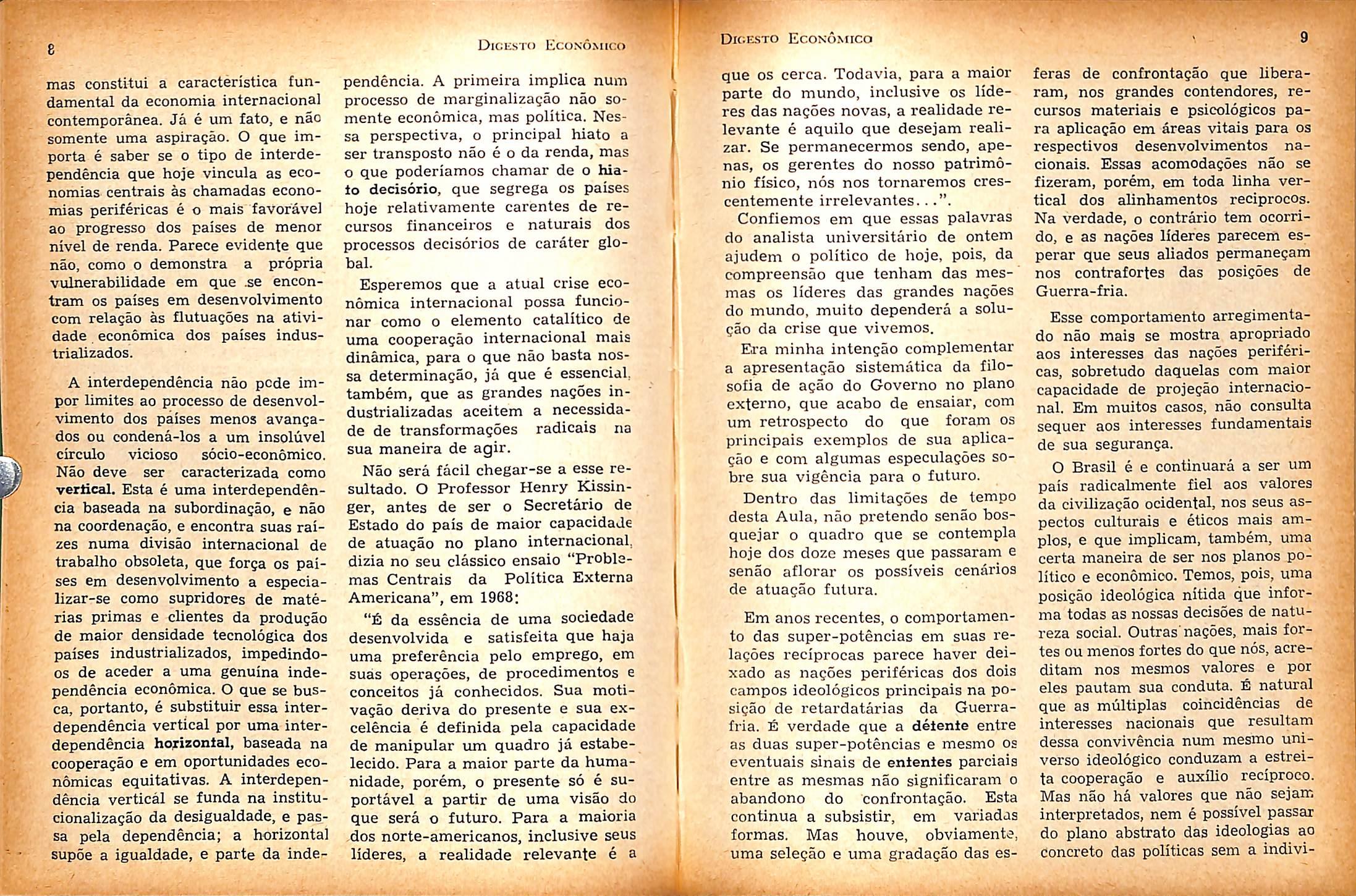
constitui a caractérística fun- mas damental da economia internacional contemporânea. Já é um fato, e não somente uma aspiração. O que im porta é saber se o tipo de interde pendência que hoje vincula as eco nomias centrais às chamadas econo mias periféricas é o mais favorável ao progresso dos países de menor nível de renda. Parece evidente que não, como o demonstra a própria vulnerabilidade em que .se encon tram os países em desenvolvimento com relação às flutuações na ativi dade econômica dos países indus trializados.
A interdependêncianão pede im por limites ao processo de desenvol vimento dos países menos avança dos ou condená-los a um insolúvel sócio-econômico. círculo
vidoso
Não deve ser caracterizada como vertical. Esta é uma interdependên cia baseada na subordinação, e não na coordenação, e encontra suas raí zes numa divisão internacional de trabalho obsoleta, que força os paí ses em desenvolvimento a especializar-se como supridores de maté rias primas e clientes da produção de maior densidade tecnológica dos países industrializados, impedindoos de aceder a uma genuína inde pendência econômica. O que se bus ca, portanto, é substituir essa inter dependência vertical por uma inter dependência horizontal, baseada na cooperação e em oportunidades eco nômicas equitativas. A interdepen dência verticál se funda na institu cionalização da desigualdade, e pas sa pela dependência; a horizontal supõe a igualdade, e parte da inde-
pendência. A primeira implica num processo de marginalização não so mente econômica, mas política. Nes sa perspectiva, o principal hiato a ser transposto não é o da renda, mas o que poderiamos chamar de o hia to decisório, que segrega os países hoje relativamente carentes de refinanceiros e naturais dos
cursos processos decisórios de caráter glo¬ bal.
Esperemos que a atual crise eco nômica internacional possa funcio0 elemento catalítico de nar como uma cooperação internacional mais dinâmica, para o que não basta nos sa determinação, já que é essencial, também, que as grandes nações in dustrializadas aceitem a necessida de de transformações radicais na sua maneira de agir.
Não será fácil chegar-se a esse re sultado. O Professor Henry Kissinger, antes de ser o Secretário de Estado do pais de maior capacidade de atuação no plano internacional, dizia no seu clássico ensaio “Proble mas Centrais da Política Externa Americana”, em 1968:
“É da essência de uma sociedade desenvolvida e satisfeita que haja uma preferência pelo emprego, em suas operações, de procedimentos e conceitos já conhecidos. Sua moti vação deriva do presente e sua ex celência é definida pela capacidade de manipular um quadro já estabe lecido. Para a maior parte da huma nidade, porém, o presente só é su portável a partir de uma visão do que será o futuro. Para a maioria dos norte-americanos, inclusive seus líderes, a realidade relevante é a
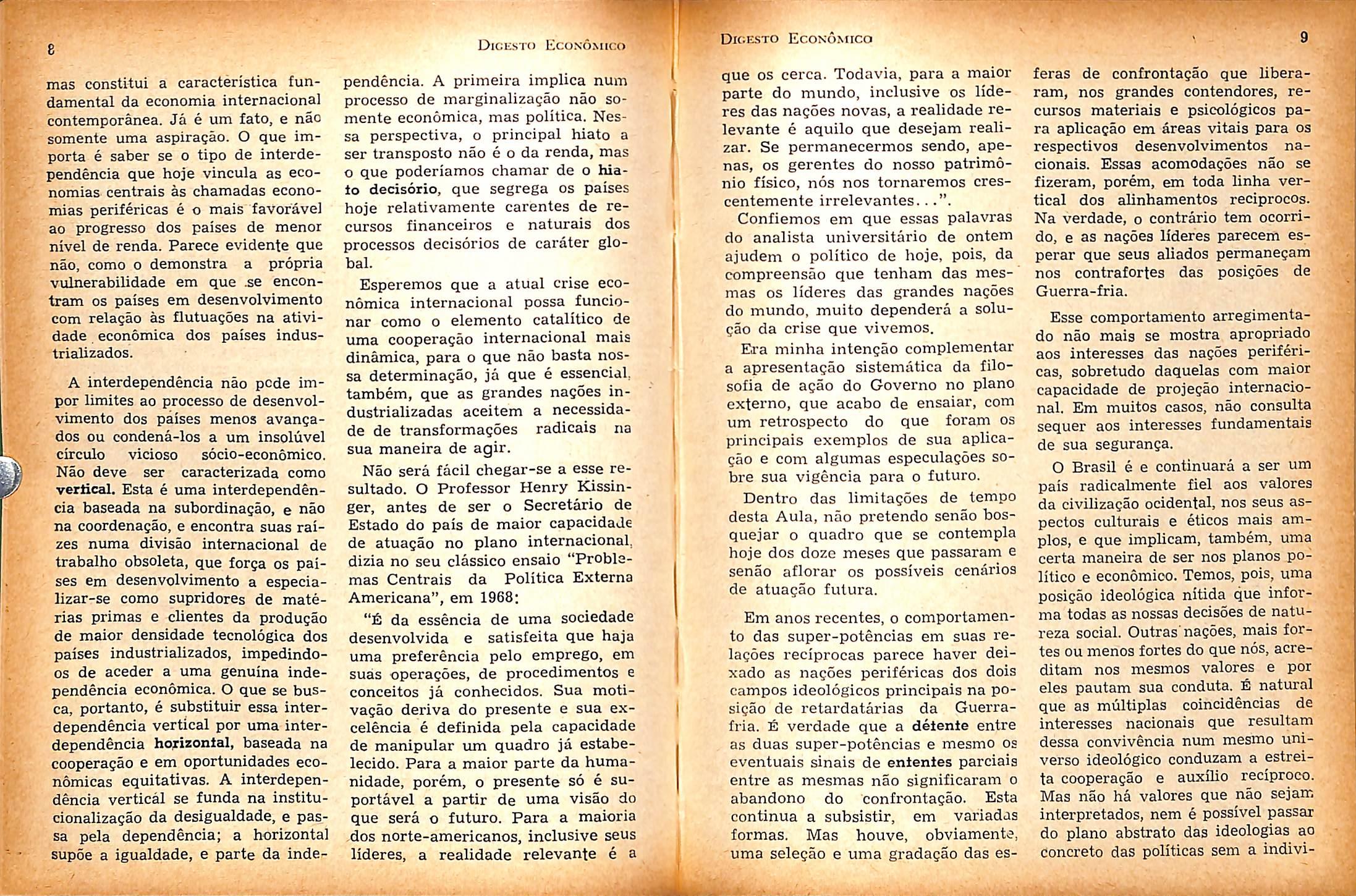
que os cerca. Todavia, para a maior parte do mundo, inclusive os líde res das nações novas, a realidade re levante é aquilo que desejam reali zar. Se permanecermos sendo, ape nas, os gerentes do nosso patrimô nio físico, nós nos tornaremos cres centemente irrelevantes..
Confiemos em que essas palavras do analista universitário de ontem ajudem o político de hoje, pois, da compreensão que tenham das mes mas os líderes das grandes nações do mundo, muito dependerá a solu ção da crise que vivemos.
Era minlia intenção complementar a apresentação sistemática da filo sofia de ação do Governo no plano externo, que acabo de ensaiar, com um retrospecto do que foram os principais exemplos de sua aplica ção e com algumas especulações so bre sua vigência para o futuro.
Dentro das limitações de tempo desta Aula, não pretendo senão bosquejar o quadro que se contempla hoje dos doze meses que passaram e senão aflorar os possíveis cenários de atuação futura.
Em anos recentes, o comportamen to das super-potências em suas re lações recíprocas parece haver dei xado as nações periféricas dos dois campos ideológicos principais na po sição de retardatárias da Guerrafria. É verdade que a déiente entre as duas super-potências e mesmo os eventuais sinais de ententes parciais entre as mesmas não significaram o abandono do confrontação. Esta continua a subsistir, em variadas formas. Mas houve, obviamente, uma seleção e uma gradação das es¬
feras de confrontação que libera ram, nos grandes contenderes, re cursos materiais e psicológicos pa ra aplicação em áreas vitais para os respectivos desenvolvimentos na cionais. Essas acomodações não se fizeram, porém, em toda linha ver tical dos alinhamentos reciprocos. Na verdade, o contrário tem ocorri do, e as nações líderes parecem es perar que seus aliados permaneçam nos contrafortes das posições de Guerra-fria.
Esse comportamento arregimenta do não mais se mostra apropriado aos interesses das nações periféri cas, sobretudo daquelas com maior capacidade de projeção internacio nal. Em muitos casos, não consulta sequer aos interesses fundamentais de sua segurança.
O Brasil é e continuará a ser um país radicalmente fiel aos valores da civilização ocidental, nos seus as pectos culturais e éticos mais am plos, e que implicam, também, uma certa maneira de ser nos planos político e econômico. Temos, pois, uma posição ideológica nítida que infortodas as nossas decisões de natusocial. Outras'nações, mais for¬ ma reza tes ou menos fortes do que nós, acre ditam nos mesmos valores e por eles pautam sua conduta. É natui*al que as múltiplas coincidências de interesses nacionais que resultam dessa convivência num mesmo uni verso ideológico conduzam a estrei ta cooperação e auxílio recíproco. Mas não há valores que não sejam interpretados, nem é possível passar do plano abstrato das ideologias ao concreto das políticas sem a indivi-
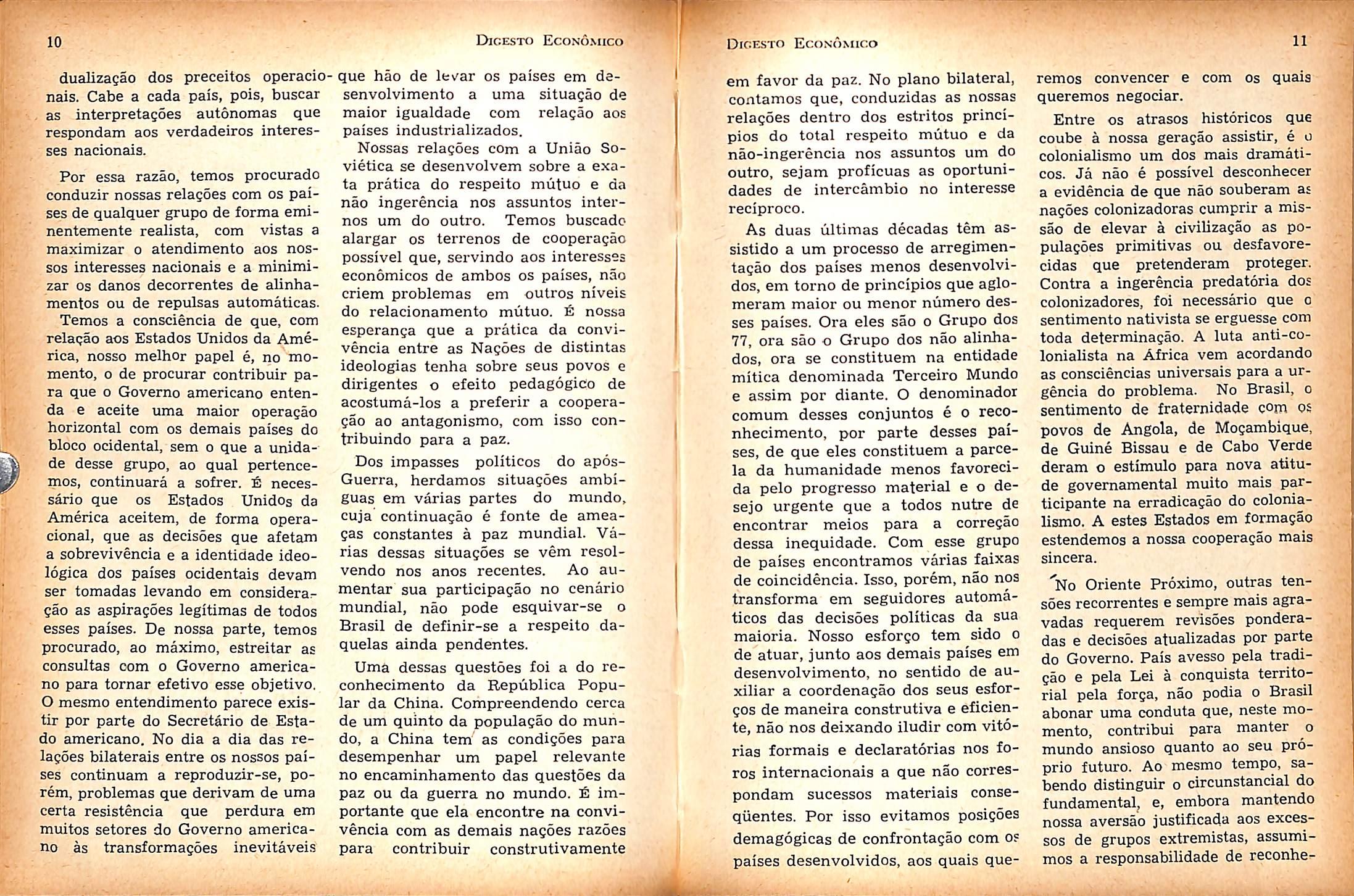
dualização dos preceitos operacio- que hão de levar os países em denais. Cabe a cada país, pois, buscar senvolvimento a uma situação de as interpretações autônomas que maior igualdade com relação aos respondam aos verdadeiros interes- países industrializados.
Por essa razão, temos procurado conduzir nossas relações com os paí ses de qualquer grupo de forma emi nentemente realista, com vistas a maximizar o atendimento aos nos sos interesses nacionais e a minimi zar os danos decorrentes de alinha mentos ou de repulsas automáticas. Temos a consciência de que, com relação aos Estados Unidos da Amé rica, nosso melhor papel é, no mo mento, 0 de procurar contribuir pa ra que 0 Governo americano enten da e aceite uma maior operação horizontal com os demais países do bloco ocidental, sem o que a unida de desse grupo, ao qual pertence mos, continuará a sofrer. É neces sário que os Estados UnidOs da América aceitem, de forma opera cional, que as decisões que afetam a sobrevivência e a identidade ideo lógica dos países ocidentais devam ser tomadas levando em considera ção as aspirações legítimas de todos esses países. De nossa parte, temos procurado, ao máximo, estreitar as consultas com o Governo america no para tornar efetivo esse objetivo. O mesmo entendimento parece exis tir por parte do Secretário de Esta do americano. No dia a dia das re lações bilaterais entre os nossos paí ses continuam a reproduzir-se, po rém, problemas que derivam de uma certa resistência que perdura em muitos setores do Governo america no às transformações inevitáveis
Nossas relações com a União So viética se desenvolvem sobre a exa ta prática do respeito mútuo e da não ingerência nos assuntos inter nos um do outro. Temos buscado alargar os terrenos de cooperação possível que, servindo aos interesses econômicos de ambos os países, não criem problemas em outros níveis do relacionamento mútuo. É nossa esperança que a prática da convi vência entre as Nações de distintas ideologias tenha sobre seus povos e dirigentes o efeito pedagógico de acostumá-los a preferir a coopera ção ao antagonismo, com isso con tribuindo para a paz.
Dos impasses políticos do apósGuerra, herdamos situações ambí guas em várias partes do mundo, cuja continuação é fonte de amea ças constantes à paz mundial. Vá rias dessas situações se vêm resol vendo nos anos recentes. Ao au mentar sua participação no cenário mundial, não pode esquivar-se o Brasil de definir-se a respeito da quelas ainda pendentes.
Uma dessas questões foi a do re conhecimento da República Popu lar da China. Compreendendo cerca de um quinto da população do mun do, a China tem as condições para desempenhar um papel relevante no encaminhamento das questões da paz ou da guerra no mundo. É im portante que ela encontre na convi vência com as demais nações razões para contribuir construtivamente ses nacionais.
favor da paz. No plano bilateral, contamos que, conduzidas as nossas relações dentro dos estritos princí pios do total respeito mútuo e da não-ingerência nos assuntos um do outro, sejam profícuas as oportuni dades de intercâmbio no interesse recíproco.
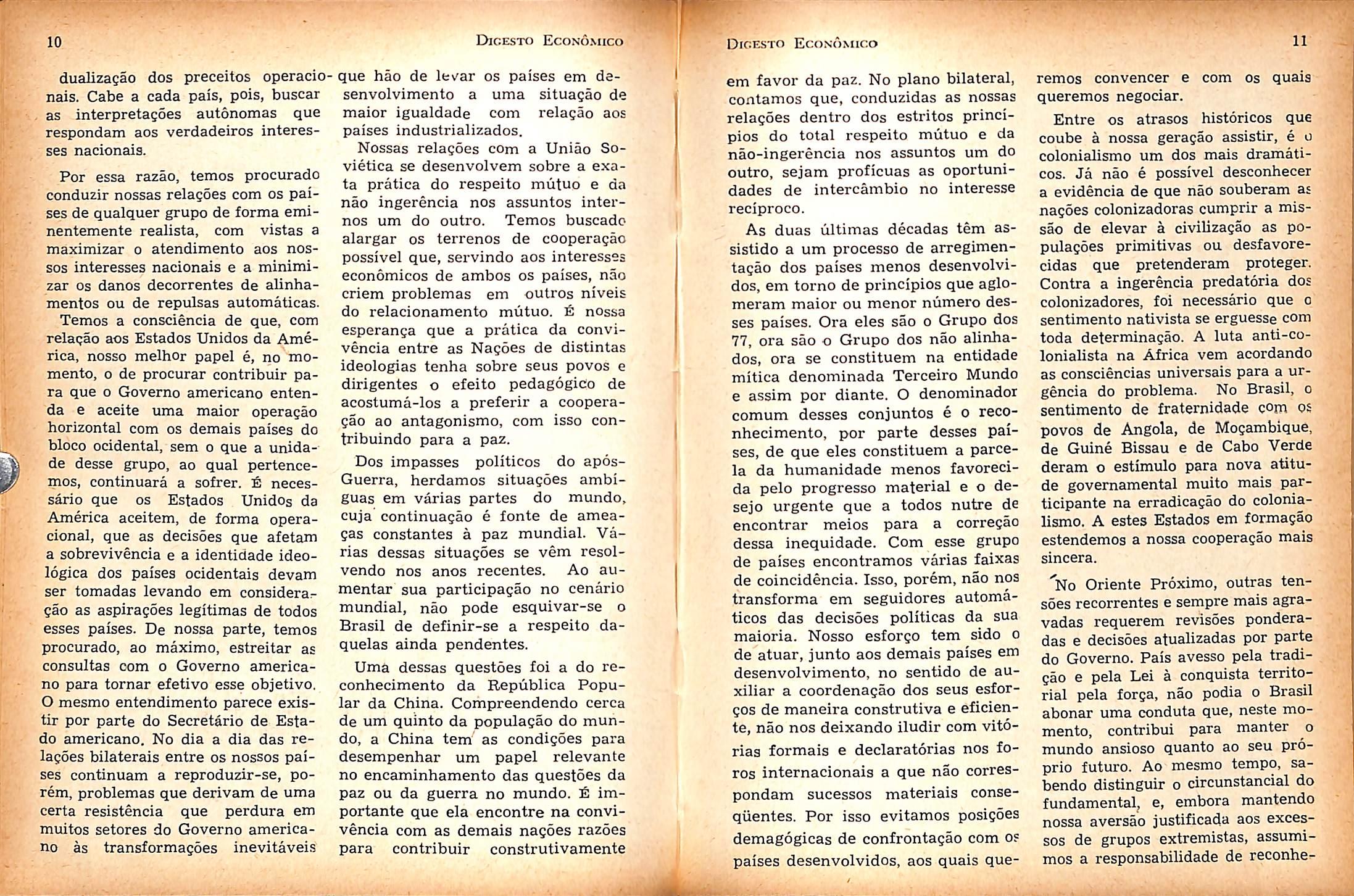
remos convencer e com os quais queremos negociar.
Entre os atrasos históricos que coube à nossa geração assistir, é u colonialismo um dos mais dramáti cos. Já não é possível desconhecer a evidência de que não souberam as nações colonizadoras cumprir a mis são de elevar à civilização as po pulações primitivas ou desfavore cidas que pretenderam proteger. Contra a ingerência predatória dos colonizadores, foi necessário que o sentimento nativista se erguesse com toda determinação. A luta anti-co lonialista na África vem acordando as consciências universais para a ur gência do problema. No Brasil, o sentimento de fraternidade com os povos de Angola, de Moçambique, de Guiné Bissau e de Cabo Verde deram o estímulo para nova atitu de governamental muito mais par ticipante na erradicação do colonia lismo. A estes Estados em formação estendemos a nossa cooperação mais sincera.
As duas últimas décadas têm as sistido a um processo de arregimentação dos países menos desenvolvi dos, em torno de princípios que aglomenor número des- meram maior ou ses países. Ora eles são o Grupo dos 77, ora são o Grupo dos não alinha dos, ora se constituem na entidade mítica denominada Terceiro Mundo diante. O denominador e assim por comum desses conjuntos é o reco nhecimento, por parte desses paí ses, de que eles constituem a parce la da humanidade menos favoreci da pelo progresso material e o de sejo urgente que a todos nutre de encontrar meios para a correção dessa inequidade. Com esse grupo de países encontramos várias faixas de coincidência. Isso, porém, não nos transforma em seguidores automá ticos das decisões políticas da sua maioria. Nosso esforço tem sido o de atuar, junto aos demais países em desenvolvimento, no sentido de au xiliar a coordenação dos seus esfor ços de maneira construtiva e eficien te, não nos deixando iludir com vitó¬ rias formais e declaratórias nos fo ros internacionais a que não corres pondam sucessos materiais conseqüentes. Por isso evitamos posições demagógicas de confrontação com o? países desenvolvidos, aos quais quesos mos a
"No Oriente Próximo, outras ten sões recorrentes e sempre mais agra vadas requerem revisões pondera das e decisões atualizadas por parte do Governo. País avesso pela tradi ção e pela Lei à conquista territo rial pela força, não podia o Brasil abonar uma conduta que, neste mo mento, contribui para manter o mundo ansioso quanto ao seu pró prio futuro. Ao mesmo tempo, sa bendo distinguir o circunstancial do fundamental, e, embora mantendo nossa aversão justificada aos excesde grupos extremistas, assumiresponsabilidade de reconhe-
cer aos palestinos os legítimos di reitos à nacionalidade e à soberania, de que foram privados. No plano continental, temos sido até abundantes nas nossas reitera-
calípticos. 2001 é o cenário dos utopistas sonhadores.
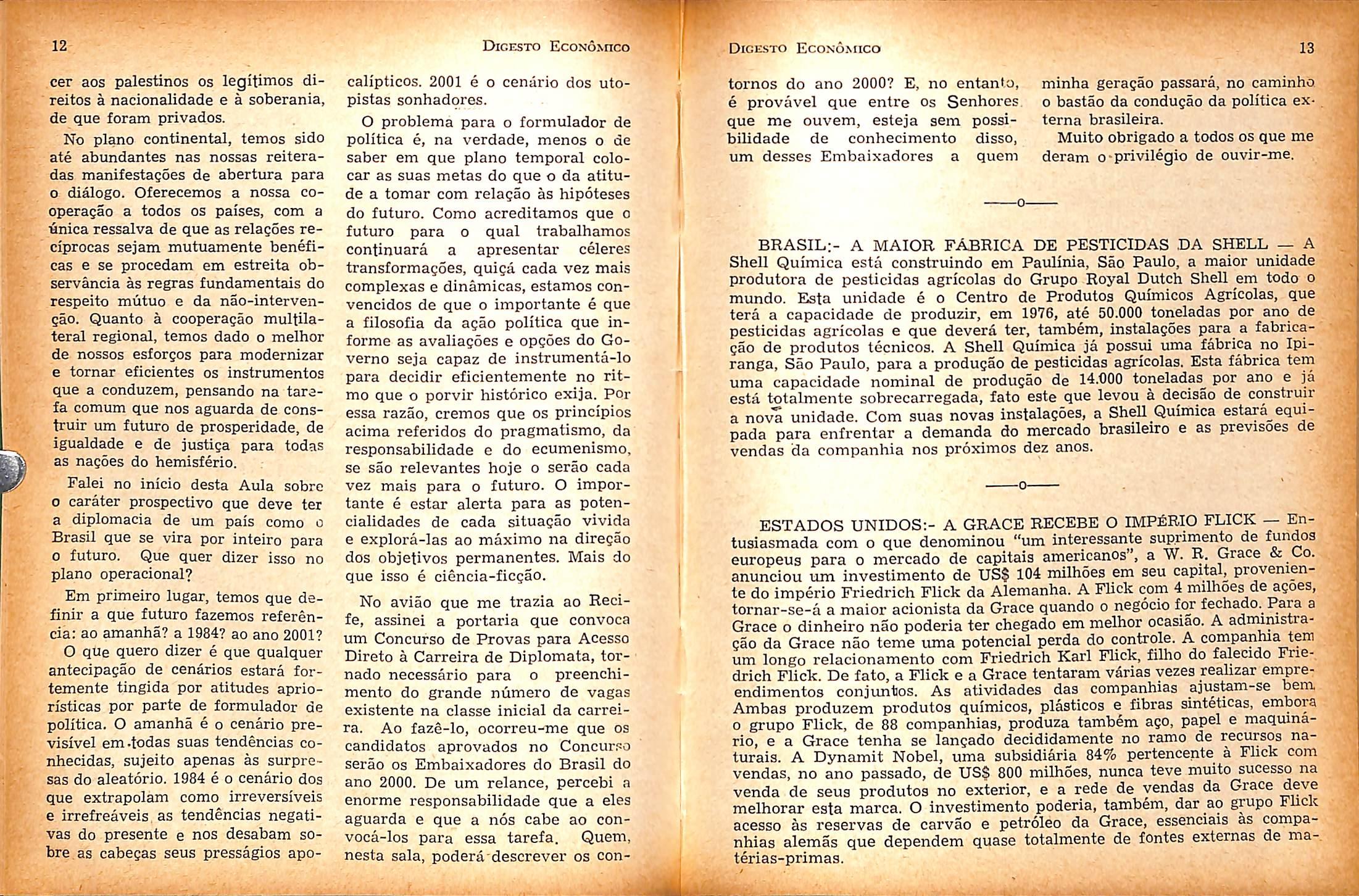
do futuro. Como acreditamos que o futuro para o qual trabalhamos continuará a apresentar céleres transformações, quiçá cada vez mais
O problema para o formulador de política é, na verdade, menos o de saber em que plano temporal colodas manifestações de abertura para car as suas metas do que o da atituo diálogo. Oferecemos a nossa co- de a tomar com relação às hipóteses operação a todos os países, com a única ressalva de que as relações re cíprocas sejam mutuamente benéfi cas e se procedam em estreita ob servância às regras fundamentais do complexas e dinâmicas, estamos conrespeito mútuo e da nâo-intervenção. Quanto à cooperação multüateral regional, temos dado o melhor de nossos esforços para modernizar e tornar eficientes os instrumentos que a conduzem, pensando na tare fa comum que nos aguarda de cons truir um futuro de prosperidade, de igualdade e de justiça para todas as nações do hemisfério.
Falei no início desta Aula sobre o caráter prospectivo que deve ter a diplomacia de um país Brasil que se vira por inteiro 0 futuro. Que quer dizer isso plano operacional?
como 0 para no
Em primeiro lugar, temos que de finir a que futuro fazemos referên cia: ao amanhã? a 1984? ao ano 2001?
O que quero dizer é que qualquer antecipação de cenários estará for temente tingida por atitudes apriorísticas por parte de formulador de política. O amanhã é o cenário pre visível em .todas suas tendências co nhecidas, sujeito apenas às surpre sas do aleatório. 1984 é o cenário dos que extrapolam como irreversíveis e irrefreáveis, as tendências negati vas do presente e nos desabam so bre, as cabeças seus presságios apo-
vencidos de que o importante é que a filosofia da ação política que in forme as avaliações e opções do Go verno seja capaz de instrumentá-lo para decidir eficientemente no rit mo que o porvir histórico exija. Por essa razão, cremos que os princípios acima referidos do pragmatismo, da responsabilidade e do ecumenismo, se são relevantes hoje o serão cada vez mais para o futuro. O impor tante é estar alerta para as poten cialidades de cada situação vivida e explorá-las ao máximo na direção dos objetivos permanentes. Mais do que isso é ciência-ficção.
No avião que me trazia ao Reci fe, assinei a portaria que convoca um Concurso de Provas para Acesso Direto à Carreira de Diplomata, tor nado necessário para o preenchi mento do grande número de vagas existente na classe inicial da carrei ra. Ao fazê-lo, ocorreu-me que os candidatos aprovados no Concur.‘=o serão os Embaixadores do Brasil do ano 2000. De um relance, percebi a enorme responsabilidade que a eles aguarda e que a nós cabe ao con vocá-los para essa tarefa. Quem, nesta sala, poderá'descrever os con-
tornos do ano 2000? E, no entanto, é provável que entre os Senhores que me ouvem, esteja sem possi bilidade de conhecimento disso, um desses Embaixadores a quem o-
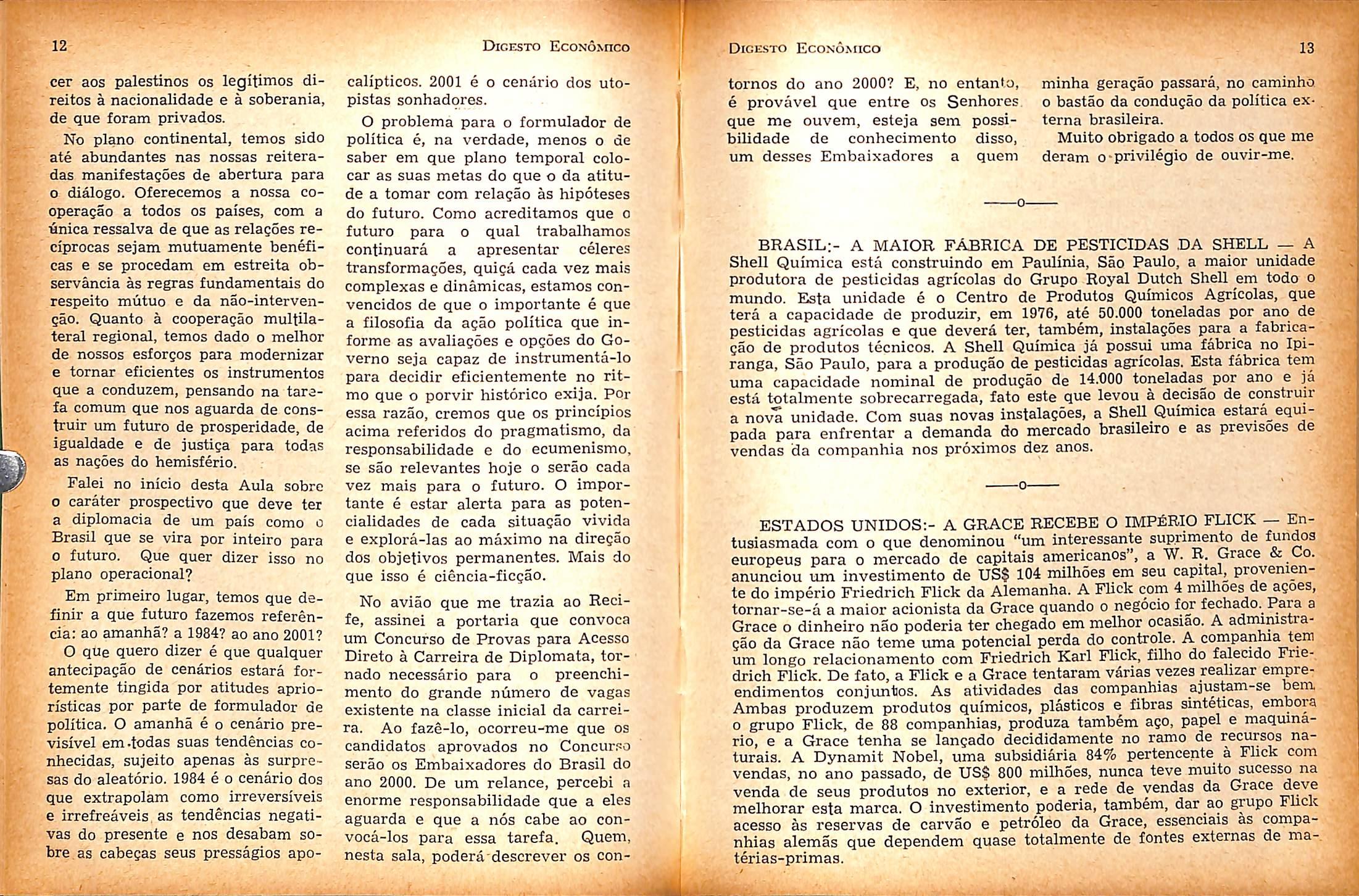
minha geração passai*á, no caminho 0 bastão da condução da política externa brasileira.
Muito obrigado a todos os que me deram o-privilégio de ouvir-me.
Shell Química está construindo em Paulínia, São Paulo, a maior unidade produtora de pesticidas agrícolas do Grupo Royal Dutch Shell em todo o mundo. Esta unidade é o Centro de Produtos Químicos Agrícolas, que terá a capacidade de produzir, em 1976, até 50.000 toneladas por ano de pesticidas agrícolas e que deverá ter, também, instalações p^a a fabrica ção de produtos técnicos. A Shell Química já possui uma fábrica no Ipi ranga, São Paulo, para a produção de pesticidas agiúcolas. Esta fábrica tem uma capacidade nominal de produção de 14.000 toneladas^ por ano e já está totalmente sobrecarregada, fato este que levou à decisão de construir a novl unidade. Com suas novas instalações, a Shell Química estara^ equi pada para enfrentar a demanda do mercado brasileiro e as previsões de vendas da companhia nos próximos dez anos. 0-
A GRACE RECEBE O IMPÉRIO FLICK — En tusiasmada com o que denominou “um interessante suprimen^ de europeus para o mercado de capitais americanos , a W. R. Grace & oo. anunciou um investimento de US$ 104 milhões em seu capital, provenien te do império Friedrich Flick da Alemanha. A Flick com 4 milhões de açoes, tornar-se-á a maior acionista da Grace quando o negocio for fechado. Para a Grace o dinheiro não poderia ter chegado em melhor ocasiao. A administra ção da Grace não teme uma potencial perda do controle. A companma tem um longo relacionamento com Friedrich Karl Flick, fillio do falecido Frie drich Flick. De fato, a Flick e a Grace tentaram várias vezes realizar empre endimentos conjuntos. As atividades das companhias ajustem-se Ambas produzem produtos químicos, plásticos e fibras sintéticas, embora 0 grupo Flick, de 88 companhias, produza também aço, papel e maquina- rio, e a Grace tenha se lançado decididamente no ramo de recursos na turais. A Dynamit Nobel, uma subsidiária 84% pertencente à Flick com vendas, no ano passado, de US$ 800 milhões, nunca teve muito sucesso na venda de seus produtos no exterior, e a rede de vendas da Grace ^eve melhorar esta marca. O investimento poderia, também, dar ao grupo Fück acesso às reservas de carvão e petróleo da Grace, essenciais as compa nhias alemãs que dependem quase totalmente de fontes externas de ma térias-primas.
ESTADOS UNIDOS: MONSANTO EXPANDE A PRO.DUÇÃO DE ACRILO —Prevê-se um crescimento de 10-12%, durante vários anos, para í) mercado de Acrilonitrila,diz a Monsanto, dos Estados Unidos, que corro bora essa previsão com uma grande expansão que a tornará a maior pro dutora de acrilo dos Estados Unidos, por volta de 1977. Outros grandes produtores permanecem fixos mas podem vir a estudar a probabilidade de que uma maior capacidade será necessária por volta de 1978. No início deste ano, a Monsanto tornou público seus planos para a construção de uma grande fábrica de acrilo em Chocolate Bayou, Texas, mais que du plicando sua capacidade e elevando a produção a 1 bilhão de libras/ano Recentemente a companhia comunicou que lopo iniciará a terraplanagem para a nova fábrica, que deverá estar funcionando em 1976. Os fabrican tes de acrilo produziram 135 milhões de libras em abril, o que equivale a uma taxa anual de mais ou menos 1,63 bilhões de libras. Isso excede a capacidade nominal, indicando que os usuários do acrilo poderão con sumir mais.
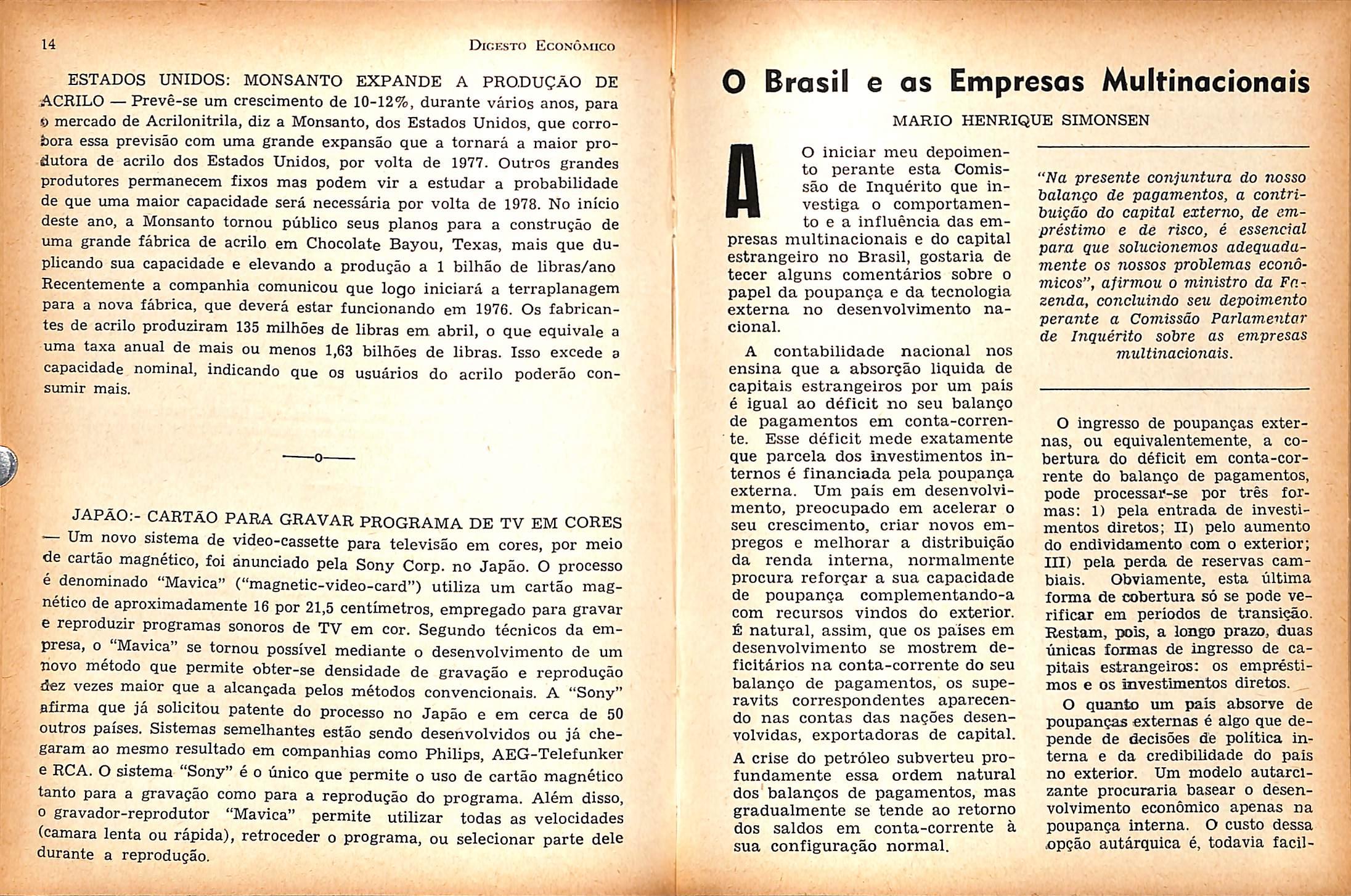
GRAVAR PROGRAMA DE TV EM CORES
— Um novo sistema de video-cassette para televisão em cores, por meio de cartão magnético, foi anunciado pela Sony Corp. no Japão. O processo é denominado “Mavica” (“magnetic-video-card”) utiliza um cartão mag nético de aproximadamente 16 por 21,5 centímetros, empregado para gravar e reproduzir programas sonoros de TV em cor. Segundo técnicos da em presa, o^ Mavica” se tornou possível mediante o desenvolvimento de um novo método que permite obter-se densidade de gravação e reprodução dez vezes maior que a alcançada pelos métodos afirma que já solicitou patente do convencionais. A “Sony” processo no Japão e em cerca de 50 outros países. Sistemas semelhantes estão sendo desenvolvidos ou já che garam ao mesmo resultado em companhias como Philips, AEG-Telefunker e RCA. O sistema ‘Sony” é o único que permite o uso de cartão magnético tanto para a gravação como para a reprodução do programa. Além disso, o gravador-reprodutor “Mavica (camara lenta ou rápida), retroceder o programa, ou selecionar parte dele durante a reprodução.
permite utilizar todas as velocidades
MARIO HENRIQUE SIMONSEN
AO iniciar meu depoimen to perante esta Comis são de Inquérito que in vestiga o comportamen to e a influência das em presas multinacionais e do capital estrangeiro no Brasil, gostaria de tecer alguns comentários sobre o papel da poupança e da tecnologia externa no desenvolvimento na cional.
A contabilidade nacional nos ensina que a absorção liquida de capitais estrangeiros por um pais é igual ao déficit no seu balanço de pagamentos eni conta-corrente. Esse déficit mede exatamente que parcela dos investimentos in ternos é financiada pela poupança externa. Um país em desenvolvi mento, preocupado em acelerar o seu crescimento, criar novos em pregos e melhorar a distribuição da renda interna, normalmente procura reforçar a sua capacidade de poupança complementando-a com recursos vindos do exterior. É natural, assim, que os países em desenvolvimento se mostrem de ficitários na conta-corrente do seu balanço de pagamentos, os superavits correspondentes aparecen do nas contas das nações desen volvidas, exportadoras de capital.
A crise do petróleo subverteu pro fundamente essa ordem natural dos balanços de pagamentos, mas gradualmente se tende ao retorno dos saldos em conta-corrente à sua configuração normal.
“Na 'presente conjuntura do nosso balanço de pagamentos, a contri buição do capital externo, de em préstimo e de risco, é essencial para que solucioneyjios adequada mente os nossos problemas econô micos’', afirmou o ministro da Fa zenda, concluindo seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as empresas multinacionais.
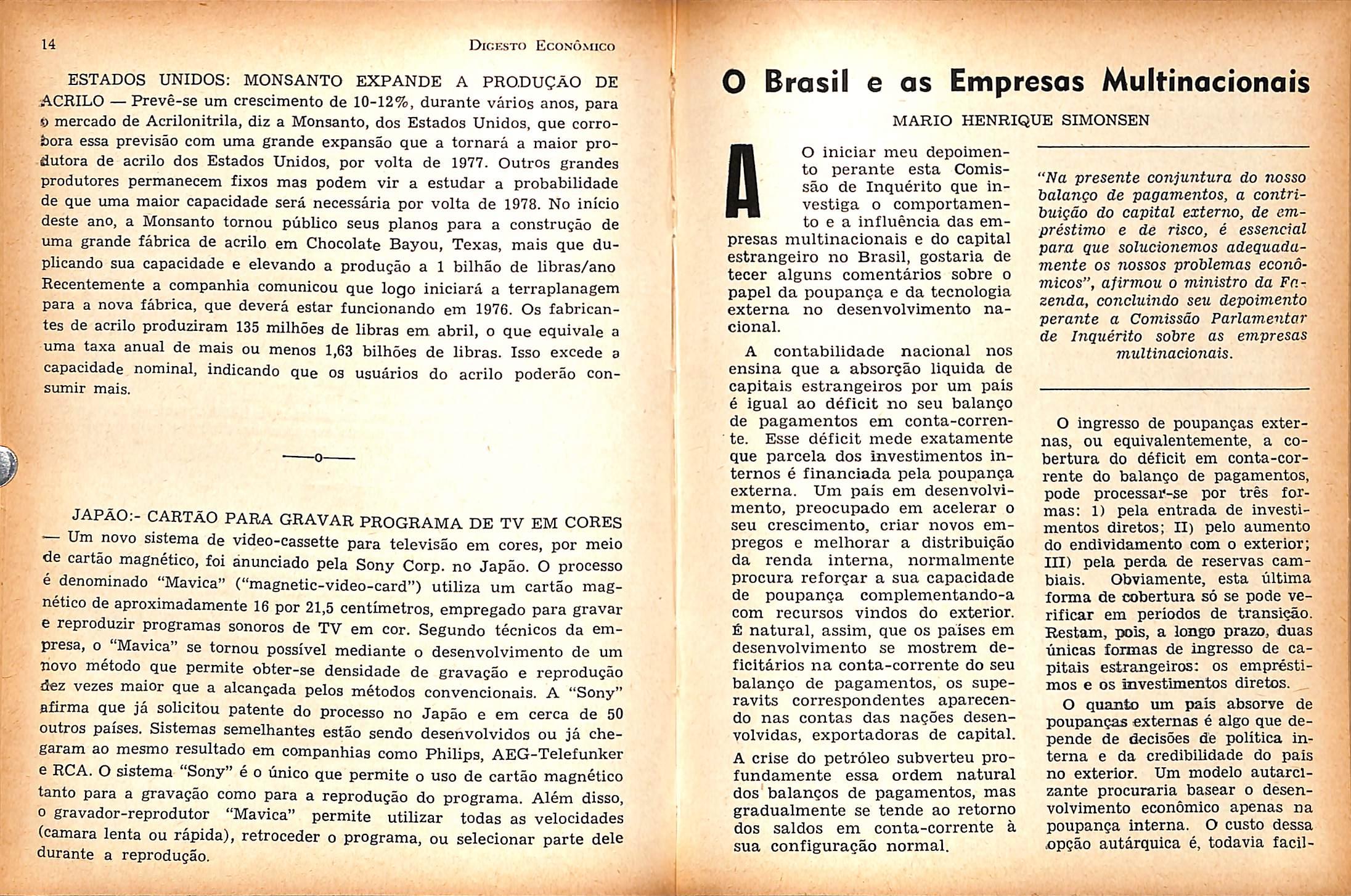
O ingresso de poupanças exter nas, ou equivalentemente, a co bertura do déficit em conta-cor rente do balanço de pagamentos, pode processar-se por três for mas: 1) pela entrada de investi mentos diretos; II) pelo aumento do endividamento com o exterior; III) pela perda de reservas cam biais, forma de cobertura só se pode ve rificar em períodos de transição. Restam, pois, a longo prazo, duas únicas formas de ingresso de ca pitais estrangeiros: os emprésti mos e os investimentos diretos. O quanto um pais absorve de poupanças externas é algo que de pende de decisões de política in terna e da credibilidade do pais no exterior. Um modelo autarclzante procuraria basear o desen volvimento econômico apenas na poupança interna. O custo dessa opção autárquica é, todavia facil-
Obviamente, esta última
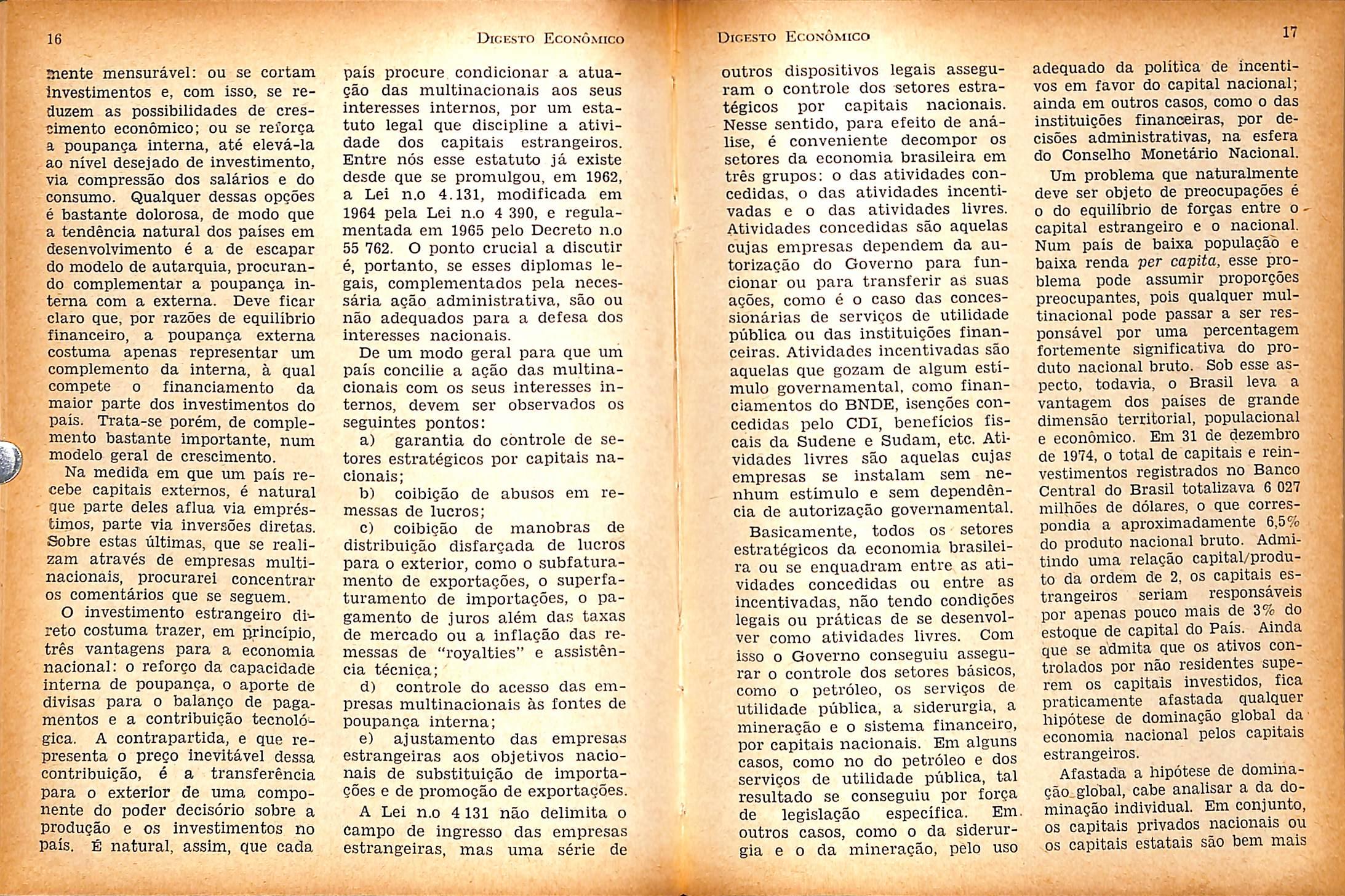
mente mensurável: ou se cortam Investimentos e, com isso, se re duzem as possibilidades de cres cimento econômico: ou se reforça a poupança interna, até elevá-la ao nível desejado de investimento, via compressão dos salários e do consumo. Qualquer dessas opções é bastante dolorosa, de modo que a tendência natural dos países em desenvolvimento é a de escapar do modelo de autarquia, procuran do complementar a poupança in terna com a externa. Deve ficar claro que, por razões de equilíbrio financeiro, a poupança externa costuma apenas representar um complemento da interna, à qual compete o financiamento da maior parte dos investimentos do país. Trata-se porém, de comple mento bastante importante, num modelo geral de crescimento.
Na medida em que um país re cebe capitais externos, é natural que parte deles aflua via emprés timos, parte via inversões diretas. Sobre estas últimas, que se reali zam através de empresas multi nacionais, procurarei concentrar os comentários que se seguem.
O investimento estrangeiro di reto costuma trazer, em princípio, três vantagens para a economia nacional: o reforço da capacidade interna de poupança, o aporte de divisas para o balanço de paga mentos e a contribuição tecnoló gica. A contrapartida, e que re presenta o preço inevitável dessa contribuição, é a transferência para o exterior de uma compo nente do poder decisório sobre a produção e os investimentos no país. É natural, assim, que cada
país procure condicionar a atua ção das multinacionais aos seus interesses internos, por um esta tuto legal que discipline a ativi dade dos capitais estrangeiros. Entre nós esse estatuto já existe desde que se promulgou, em 1962, a Lei n.o 4.131, modificada em 1964 pela Lei n.o 4 390, e regula mentada em 1965 pelo Decreto n.o 55 762. O ponto crucial a discutir é, portanto, se esses diplomas le gais, complementados pela neces sária ação administrativa, são ou não adequados para a defesa dos interesses nacionais.
De um modo geral para que um país concilie a ação das multina cionais com os seus interesses in ternos, devem ser observados os seguintes pontos:
a) garantia do controle de se tores estratégicos por capitais na cionais;
b) coibição de abusos em re messas de lucros;
c) coibição de manobras de distribuição disfarçada de lucros para o exterior, como o subfatiiramento de exportações, o superfaturamento de importações, o pa gamento de juros além das taxas de mercado ou a inflação das re messas de "royalties” e assistên cia técnica;
d) controle do acesso das em presas multinacionais às fontes de poupança interna;
e) ajustamento das empresas estrangeiras aos objetivos nacio nais de substituição de importa ções e de promoção de exportações.
A Lei n.o 4 131 não delimita o campo de ingresso das empresas estrangeiras, mas uma série de
outros dispositivos legais assegu ram o controle dos setores estra tégicos por capitais nacionais. Nesse sentido, para efeito de aná lise, é conveniente decompor os setores da economia brasiieira em três grupos: o das atividades con cedidas, 0 das atividades incenti vadas e o das atividades livres. Atividades concedidas são aquelas cujas empresas dependem da au torização do Governo para fun cionar ou para transferir as suas ações, como é o caso das conces sionárias de serviços de utilidade pública ou das instituições finan ceiras. Atividades incentivadas são aquelas que gozam de algum esti mulo governamental, como finan ciamentos do BNDE, isenções con cedidas pelo GDI, benefícios fis cais da Sudene e Sudam, etc. Ati vidades livres são aquelas cujas instalam sem ne-
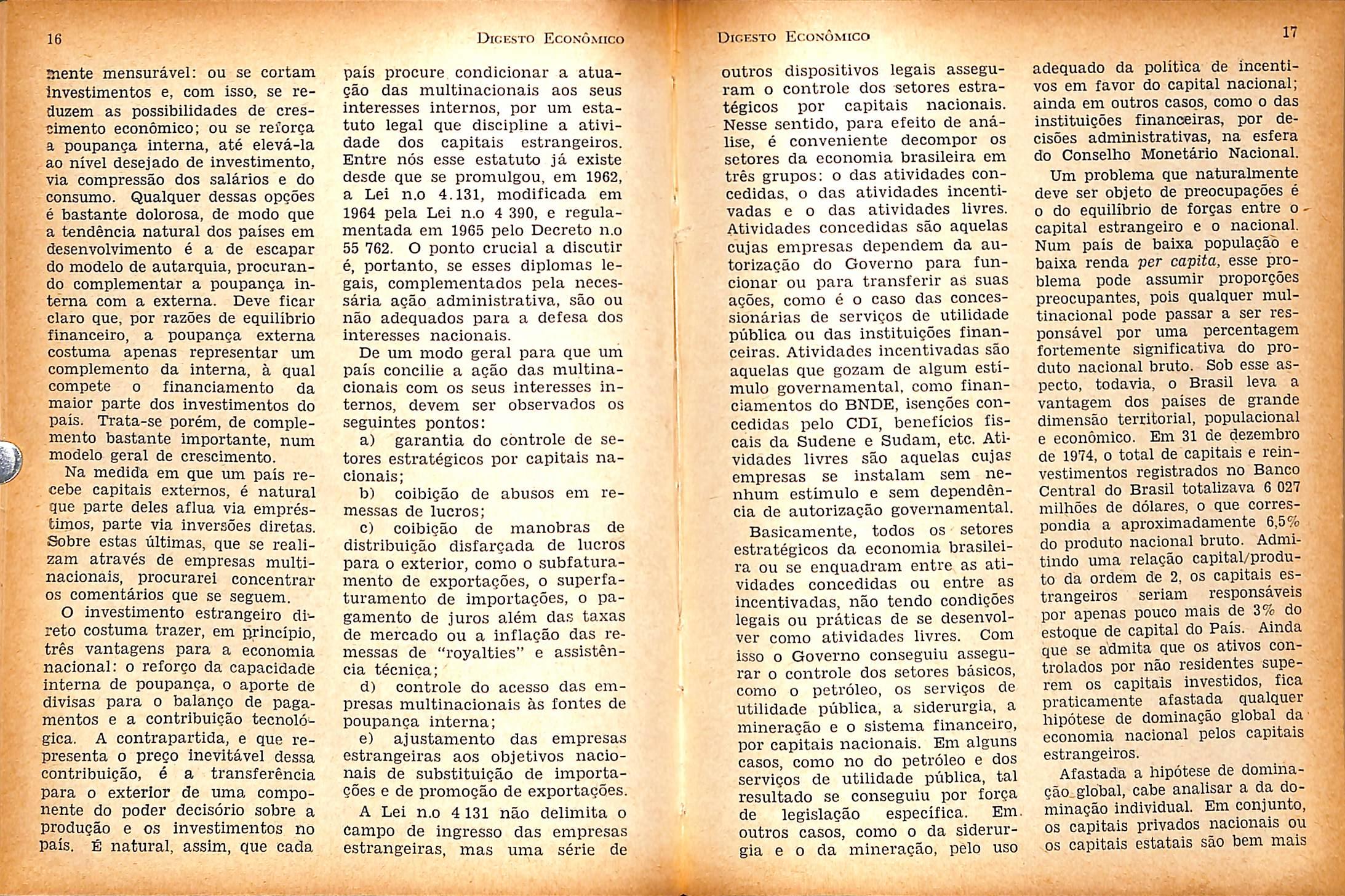
adequado da política de incenti vos em favor do capital nacional; ainda em outros casos, como o das instituições financeiras, por de cisões administrativas, na esfera do Conselho Monetário Nacional.
Um problema que naturalmente deve ser objeto de preocupações é do equilíbrio de forças entre ocapital estrangeiro e o nacional. Num pais de baixa população e baixa renda per capita, esse pro blema pode assumir proporções preocupantes, pois qualquer mul tinacional pode passar a ser res ponsável por uma percentagem fortemente significativa do pro duto nacional bruto. Sob esse as pecto, todavia, o Brasil leva a vantagem dos paises de grande dimensão territorial, populacional e econômico. Em 31 de dezembro de 1974, 0 total de capitais e reinvestimentos registrados no Banco Central do Brasil totalizava 6 027 milhões de dólares, o que corres pondia a aproximadamente 6,5% do produto nacional bruto. Admi tindo uma relação capital/produ to da ordem de 2, os capitais es trangeiros seriam por apenas pouco mais de 3% do estoque de capital do Pais. Ainda admita que os ativos con-
rem os ps
empresas se nhum estimulo e sem dependên cia de autorização governamental. todos os setores Basicamente, estratégicos da economia brasilei ra ou se enquadram entre as ati vidades concedidas ou entre as incentivadas, não tendo condições legais ou práticas de se desenvol ver como atividades livres. Com isso o Governo conseguiu assegu rar 0 controle dos setores básicos, como o petróleo, os serviços de utilidade pública, a siderurgia, a mineração e o sistema financeiro, por capitais nacionais. Em alguns casos, como no do petróleo e dos serviços de utilidade pública, tal resultado se conseguiu por força de legislação específica. Em. outros casos, como o da siderur gia e 0 da mineração, pelo uso responsáveis que se trolados por não residentes supecapitais investidos, fica praticamente afastada qualquer hipótese de dominação global da' economia nacional pelos capitais estrangeiros.
Afastada a hipótese de domina ção, global, cabe analisar a da do minação individual. Em conjunto, os capitais privados nacionais ou capitais estatais são bem mais
que operam
Mas, quando se passa na esenuma
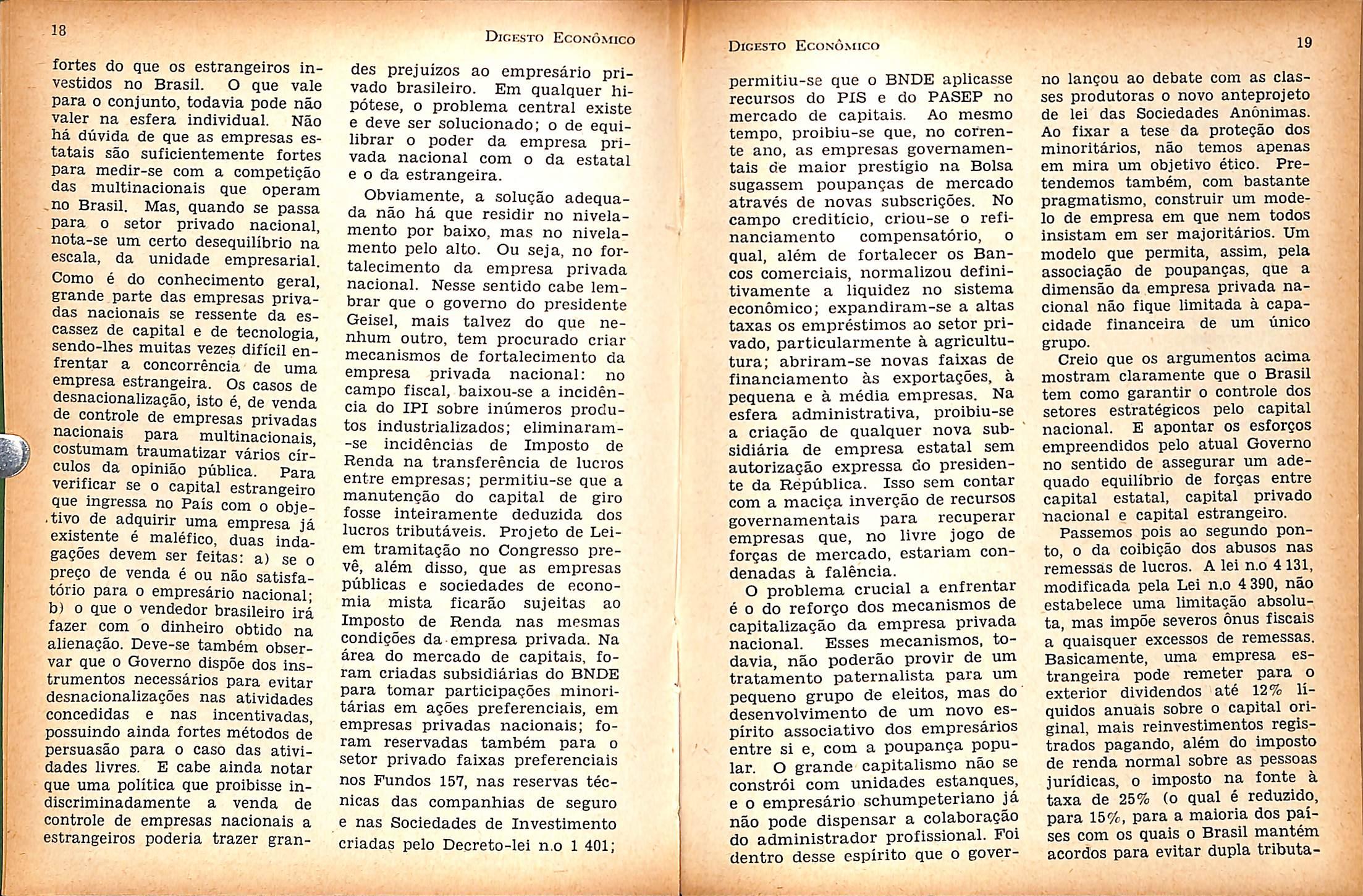
Para
a) se o na
des prejuízos ao empresário vado brasileiro. Em qualquer hi pótese, o problema central existe e deve ser solucionado: o de equi librar o poder da empresa vada nacional com o da estatal e o da estrangeira.
fortes do que os estrangeiros in vestidos no Brasil. O que vale para o conjunto, todavia pode não valer na esfera individual. Não há dúvida de que as empresas es tatais são suficientemente fortes para medir-se com a competição das multinacionais ,no Brasil, para o setor privado nacional, nota-se um certo desequilíbrio escala, da unidade empresarial. Como é do conhecimento geral, grande parte das empresas priva das nacionais se ressente da cassez de capital e de tecnologia, sendo-lhes muitas vezes difícil frentar a concorrência de empresa estrangeira. Os casos de desnacionalização, isto é, de venda de controle de empresas privadas nacionais para multinacionais, costumam traumatizar vários cír culos da opinião pública. verificar se o capital estrangeiro que ingressa no País com o obje- ● tivo de adquirir uma empresa já existente é maléfico, duas inda gações devem ser feitas: preço de venda é ou não satisfa tório para o empresário nacional; b) 0 que o vendedor brasileiro irá fazer com o dinheiro obtido alienação. Deve-se também obser var que 0 Governo dispõe dos ins trumentos necessários para evitar desnacionalizações nas atividades concedidas e nas incentivadas, possuindo ainda fortes métodos de persuasão para o caso das ativi dades livres. E cabe ainda notar que uma política que proibisse in discriminadamente a venda de controle de empresas nacionais a estrangeiros poderia trazer granpnpri-
Obviamente, a solução adequa da não há que residir no nivela mento por baixo, mas no nivela mento pelo alto. Ou seja, no for talecimento da empresa privada nacional. Nesse sentido cabe lem brar que o governo do presidente Geisel, mais talvez do que ne nhum outro, tem procurado criar mecanismos de fortalecimento da empresa privada nacional; no campo fiscal, baixou-se a incidên cia do IPI sobre inúmeros produ tos industrializados; eliminaram-se incidências de Imposto de Renda na transferência de lucros entre empresas; permitiu-se que a manutenção do capital de giro fosse inteiramente deduzida dos lucros tributáveis. Projeto de Leiem tramitação no Congresso pre vê, além disso, que as empresas públicas e sociedades de econo mia mista ficarão sujeitas ao Imposto de Renda nas mesmas condições da empresa privada. Na área do mercado de capitais, fo ram criadas subsidiárias do BNDE para tomar participações minori tárias em ações preferenciais, em empresas privadas nacionais; fo ram reservadas também para o setor privado faixas preferenciais nos Fundos 157, nas reservas téc nicas das companhias de seguro e nas Sociedades de Investimento criadas pelo Decreto-lei n.o 1 401;
permitiu-se que o BNDE aplicasse recursos do PIS e do PASEP no mercado de capitais. Ao mesmo tempo, proibiu-se que, no corren te ano, as empresas governamen tais de maior prestigio na Bolsa sugassem poupanças de mercado através de novas subscrições. No campo creditício, criou-se o refi nanciamento compensatório, o qual, além de fortalecer os Ban cos comerciais, normalizou defini tivamente a liquidez no sistema econômico; expandiram-se a altas taxas os empréstimos ao setor pri vado, particularmente à agricultutura; abriram-se novas faixas de financiamento às exportações, à pequena e à média empresas, esfera administrativa, proibiu-se a criação de qualquer nova sub sidiária de empresa estatal sem autorização expressa do presiden te da República. Isso sem contar com a maciça inverção de recursos governamentais para empresas que, no forças de mercado, estariam con denadas à falência.
no lançou ao debate com as clas ses produtoras o novo anteprojeto de lei das Sociedades Anônimas. Ao fixar a tese da proteção dos minoritários, não temos apenas em mira um objetivo ético. Pre tendemos também, com bastante pragmatismo, construir um mode lo de empresa em que nem todos insistam em ser majoritários. Um modelo que permita, assim, pela associação de poupanças, que a dimensão da empresa privada na cional não fique limitada à capa cidade financeira de um único grupo.
Creio que os argumentos acima mostram claramente que o Brasil tem como garantir o controle dos setores estratégicos pelo capital nacional. E apontar os esforços empreendidos pelo atual Governo sentido de assegurar um ade quado equilíbrio de forças entre capital estatal, capital privado nacional e capital estrangeiro.
Na no recuperar livre jogo de a um de eleitos, mas do se e o nao
O problema crucial a enfrentar é o do reforço dos mecanismos de capitalização da empresa privada nacional. Esses mecanismos, to davia, não poderão provir de um tratamento paternalista para pequeno grupo desenvolvimento de um novo es pírito associativo dos empresários entre si e, com a poupança popu lar. O grande capitalismo não constrói com unidades estanques, empresário schumpeteriano já pode dispensar a colaboração do administrador profissional. Foi dentro desse espírito que o gover-
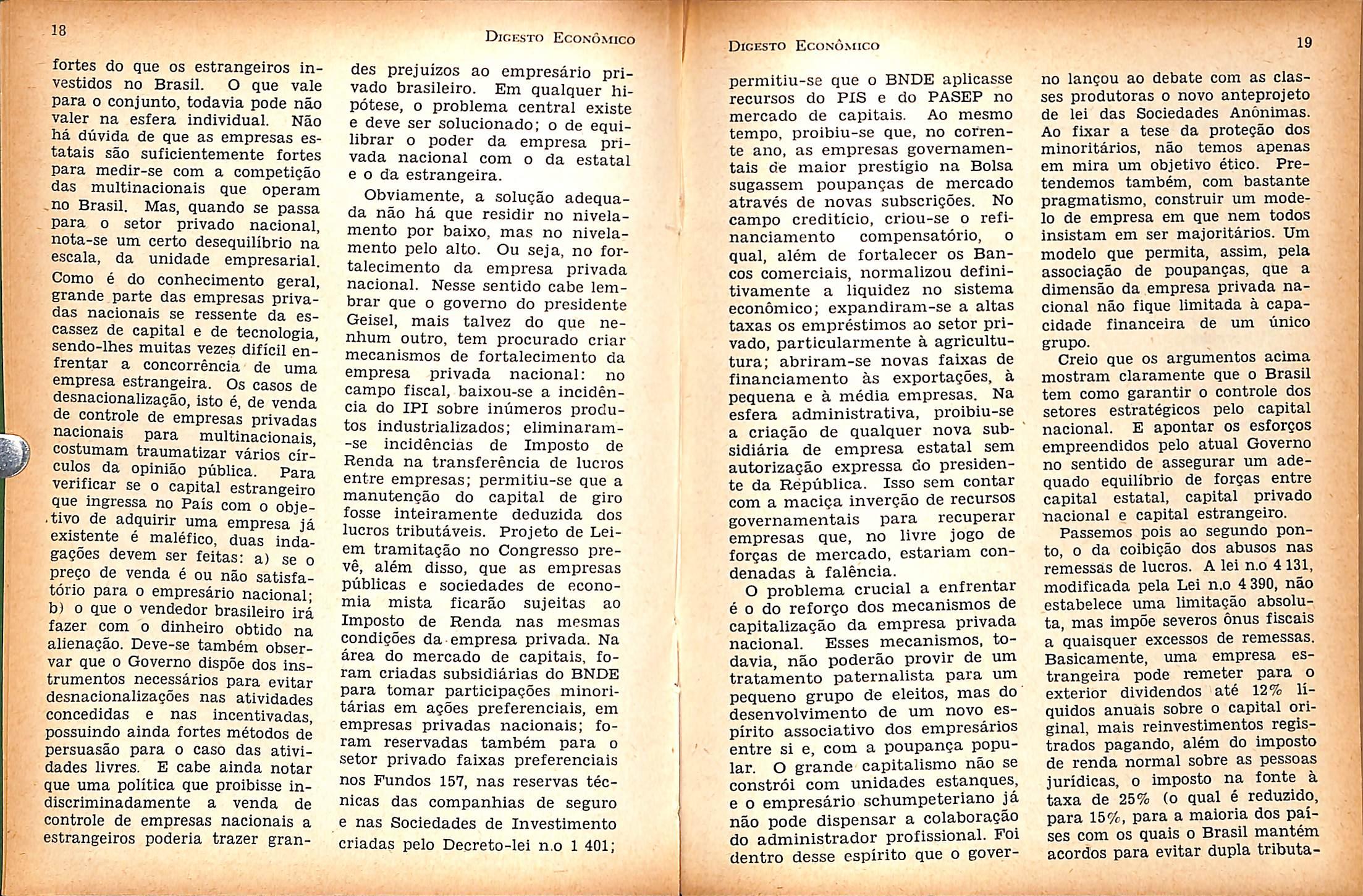
Passemos pois ao segundo pon to, 0 da coibição dos abusos nas remessas de lucros. A lei n.o 4 131, modificada pela Lei n.o 4 390, não estabelece uma limitação absolu ta, mas impõe severos ônus fiscais quaisquer excessos de remessas. Basicamente, uma empresa es trangeira pode remeter para o exterior dividendos até 12% lí quidos anuais sobre o capital ori ginal, mais reinvestimentos regis trados pagando, além do imposto de renda normal sobre as pessoas jurídicas, o imposto na fonte à taxa de 25% (o qual é reduzido, para 15%, para a maioria dos paí ses com os quais o Brasil mantém acordos para evitar dupla tributa-
ção). Se as remessas ultrapassam, como média trienal, 12% sobre o capital, mais reinvestimentos, a parcela excedente fica sujeita a um imposto suplementar na fonte, proibitivo, cujas alíquo tas vão de 40 a 60%. Assim, pra ticamente a lei limita as remes sas a 12% anuais sobre capital mais reinvestimento.
biais. Assim, em 1974, foram metidos para o exterior 242 mi lhões de dólares de lucros e divi dendos, contra 307 milhões de via gens ao exterior, 1.250 milhões de juros e 12.580 milhões de impor tações FOB. reao ano
A experiên-
cia dos últimos anos demonstra, todavia, que a taxa efetiva de messas tem-se mantido perma nentemente abaixo de 6% ao
re-
ano, sobre os capitais registrados mais ' reinvestimentos.
Há quem discuta por que putar os reinvestimentos na base de cálculo para as comremessas. As razões são de ordem teórica e prá tica. Teoricamente, o lucro re presenta a remuneração do capi tal e do risco: como tal, a parcela não distribuída passa mesmo papel do capital original; mais ainda, o reinvestimento pode ser concebido
a exercer o como o equiva lente a um lucro remetido para o exterior, e imediatamente trazido de volta sob a forma de ingresso de capital. Praticamente, reinvestimentos não fossem putados na base de cálculo, todas as empresas estrangeiras trata riam de remeter para o exterior todos os seus lucros ou o máximo que a lei permitisse: além do mais o Brasil se tornaria muito pouco atraente para os capitais estrangeiros, tal como ocorreu em 1962 e 1963. Deve-se assinalar que, quantitativamente, o problema das remessas está longe de representar um item predominante no pj-' quadro das nossas despesas cam-
se os com-
preços, a corres pondência entre o valor das ex portações e importações mercado internacional. Esse caso abrange a maior parte do nosso comércio exterior. Uma segunda hipótese é a de produtos importados, e que são fabricados em regime de monopólio, por uma única empresa, sediada no exte rior. o controle possível reside verificação de que o preço de ven da ao Brasil é igual ao cobrado de outros e os preços do .’k na países importadores.
Vejamos agora o problema das manobras de distribuição disfar çada de lucros para o exterior, via superfaturamento das importa ções, subfaturamento das expor tações ou pagamentos inflados de royalties e assistência técnica. A Lei n.o 5.025, de 1966, regulamen tada pelo Decreto n.o 59.607, do mesmo ano, atribui à CACEX a competência para fiscalizar pre ços, pesos, medidas, qualidades e tipos, nas operações de importa ção e exportação. Os mecanismos pormenorizados através dos quais esse controle é realizado foram exaustivamente descritos perante esta Comissão Parlamentar de in quérito, no depoimento do Diretor da CACEX, Dr. Benedito Fonseca Moreira. No ca.so de produtos que dispõem de cotação internacional, o controle é reiativamente sim ples: basta verificar, por catálo gos e listas de
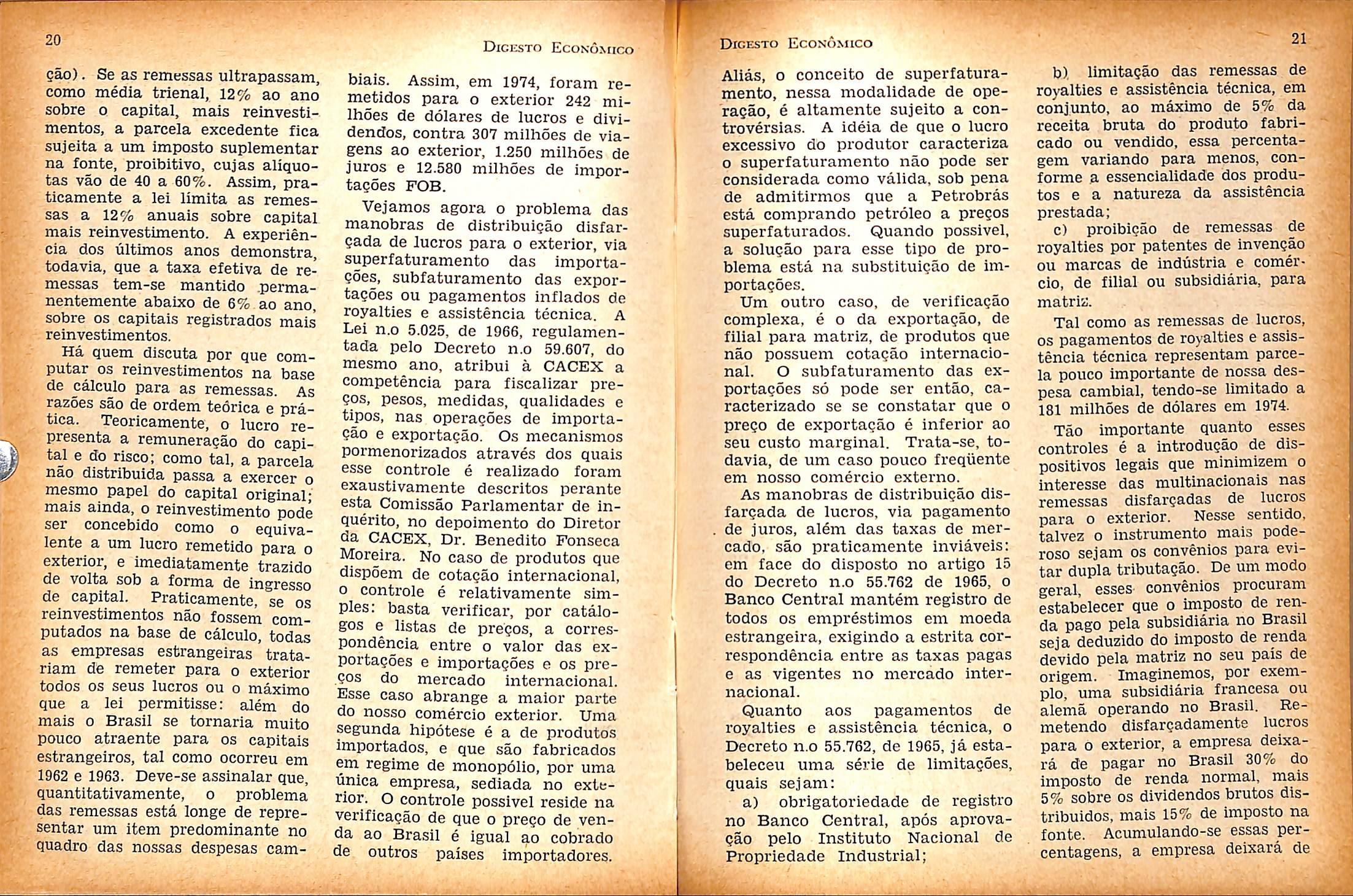
Aliás, o conceito de superfaturamento, nessa modalidade de ope ração, é altamente sujeito a con trovérsias. A idéia de que o lucro excessivo do produtor caracteriza o superfaturamento não pode ser considerada como válida, sob pena de admitirmos que a Petrobrás está comprando petróleo a preços superfaturados. Quando possível, a solução para esse tipo de pro blema está na substituição de im portações,
Um outro caso, de verificação complexa, é o da exportação, de filial para matriz, de produtos que não possuem cotação internacio nal. O subfaturamento das ex portações só pode ser então, ca racterizado se se constatar que o preço de exportação é inferior ao seu custo marginal. Trata-se, to davia, de um caso pouco freqüente em nosso comércio externo.
As manobras de distribuição dis farçada de lucros, via pagamento . de juros, além das taxas de mer cado. são praticamente inviáveis: em face do disposto no artigo 15 do Decreto n.o 55.762 de 1965, o Banco Central mantém registro de todos os empréstimos em moeda estrangeira, exigindo a estrita cor respondência entre as taxas pagas e as vigentes no mercado inter nacional.
Quanto aos pagamentos de royalties e assistência técnica, o Decreto n.o 55.762, de 1965, já esta beleceu uma série de limitações, quais sejam: a) obrigatoriedade de registro no Banco Central, após aprova ção pelo Instituto Nacional de
b), limitação das remessas de i royalties e assistência técnica, em * conjunto, ao máximo de 5% da ^ receita bruta do produto fabricado ou vendido, essa percenta- ^ gem variando para menos, con- \ forme a essencialidade dos produ- A tos e a natureza da assistência prestada;
c) proibição de remessas de royalties por patentes de invenção ou marcas de indústria e comér cio, de filial ou subsidiária, para matriz.
Tal como as remessas de lucros, os pagamentos de royalties e assis tência técnica representam parce la pouco importante de nossa des- j cambial, tendo-se limitado a V pesa 181 milhões de dólares em 1974.
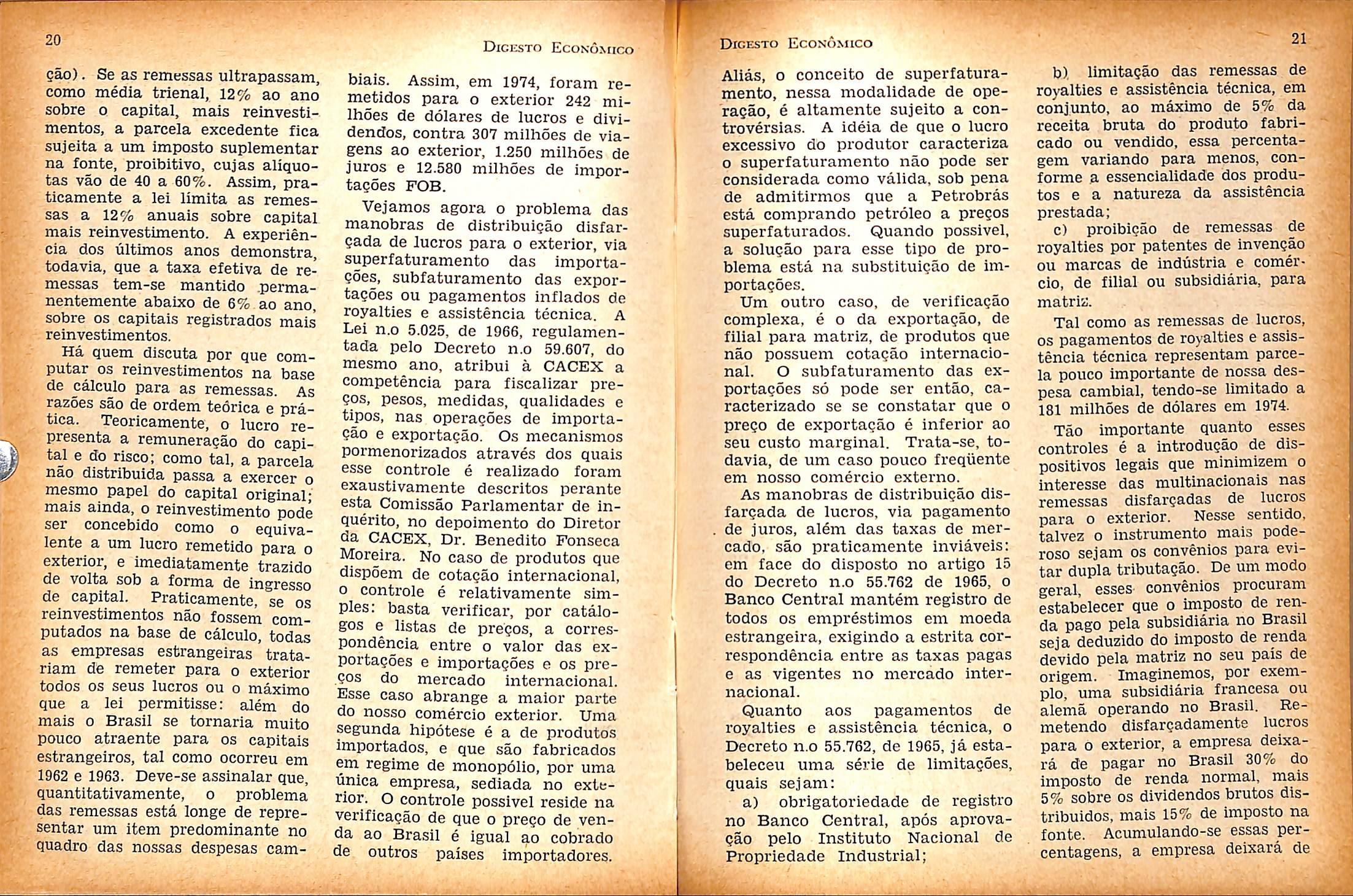
Tão importante quanto controles é a introdução de dispositivos legais que minimizem o interesse das multinacionais nas disfarçadas de lucros Nesse sentido. _ esses t remessas para o exterior, talvez o instrumento mais pode- ; roso sejam os convênios para evi- // tar dupla tributação. De um modo geral, esses convênios procuram estabelecer que o imposto de renda pago pela subsidiária no Brasil seja deduzido do imposto de renda devido pela matriz no seu país de *● Imaginemos, por exem- origem. ^ pio, uma subsidiária francesa ou alemã operando no Brasil. Re metendo disfarçadamente lucros para o exterior, a empresa deixa rá de pagar no Brasil 30% do imposto de renda normal, mais 5% sobre os dividendos brutos dis tribuídos, mais 15% de imposto na Acumulando-se essas per- i .J fonte, centagens, a empresa deixará de jjj
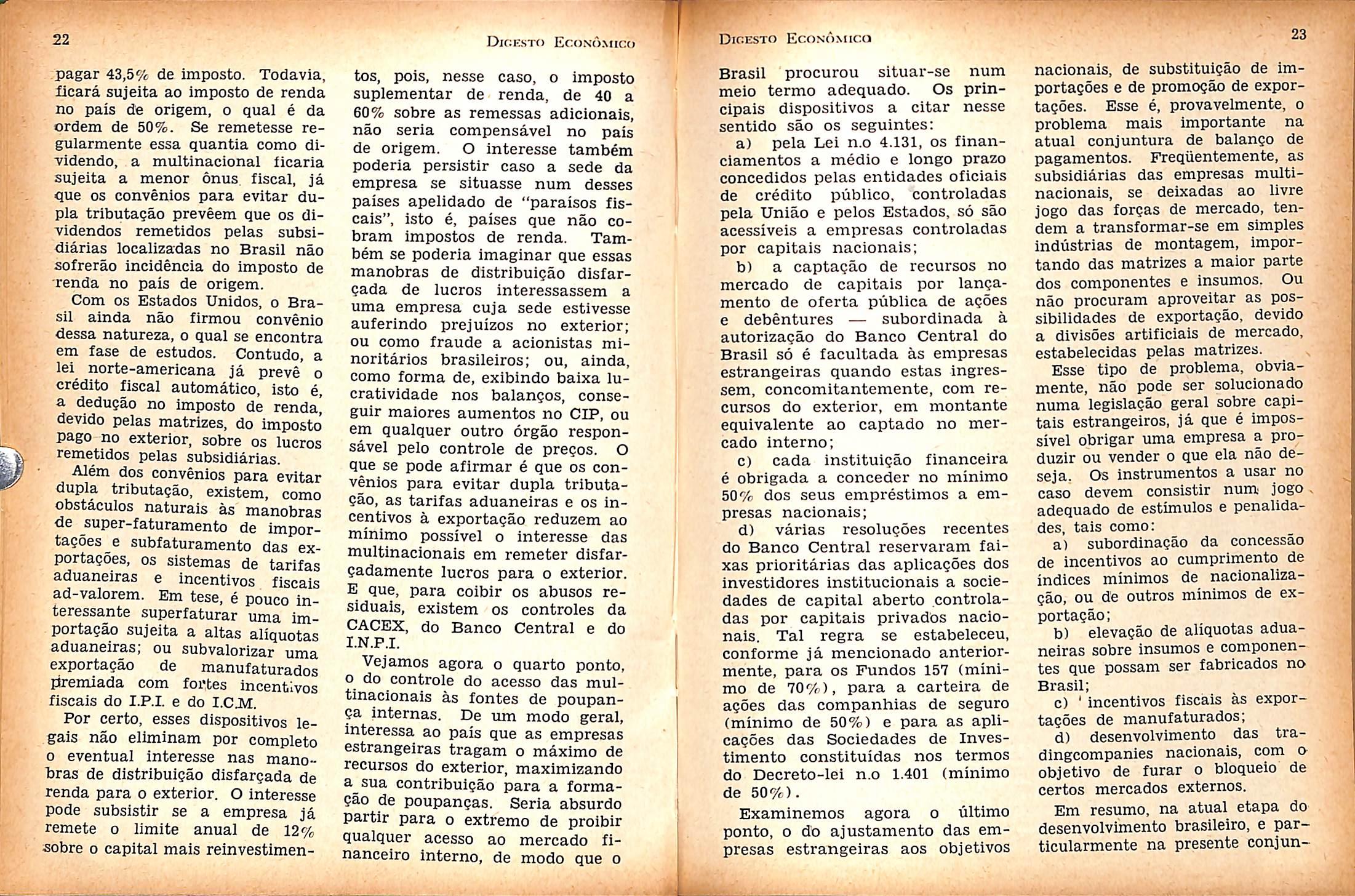
pagar 43,5% de imposto. Todavia, íicará sujeita ao imposto de renda no país de origem, o qual é da ordem de 50%. Se remetesse re gularmente essa quantia como di videndo, a multinacional ficaria sujeita a menor ônus fiscal, já que os convênios para evitar du pla tributação prevêem que os di videndos remetidos pelas subsi diárias localizadas no Brasil sofrerão incidência do imposto de renda no país de origem.
Com os Estados Unidos, o Bra sil ainda não firmou convênio dessa natureza, o qual se encontra em fase de estudos. Contudo, a lei norte-americana já prevê o crédito fiscal automático, isto é, a dedução no imposto de renda| devido pelas matrizes, do imposto pago no exterior, sobre os lucros remetidos pelas subsidiárias.
Além dos convênios para evitar dupla tributação, existem, como obstáculos naturais às manobras de super-faturamento de impor tações _e subfaturamento das ex portações, os sistemas de tarifas aduaneiras e incentivos fiscais ad-valorem. Em tese, é pouco in teressante superfaturar
, _ uma im¬ portação sujeita a altas alíquotas aduaneiras; ou subvalorizar uma exportação de manufaturados premiada com fortes incentivos fiscais do I.P.I. e do I.CJM. Por certo, esses dispositivos le gais não eliminam por completo o eventual interesse nas bras de distribuição disfarçada de renda para o exterior. O interesse pode subsistir se a empresa já remete o limite anual de 12% -sobre o capital mais reinvestimenmano-
tos, pois, nesse caso, o imposto suplementar de renda, de 40 a 60% sobre as remessas adicionais, não seria compensável no pais de origem. O interesse também poderia persistir caso a sede da empresa se situasse num desses países apelidado de “paraísos fis cais”, isto é, países que não co bram impostos de renda. Tam bém se poderia imaginar que essas manobras de distribuição disfar çada de lucros interessassem a uma empresa cuja sede estivesse auferindo prejuízos no exterior; ou como fraude a acionistas mi noritários brasileiros; ou, ainda, como forma de, exibindo baixa lu cratividade nos balanços, conse guir maiores aumentos no CIP, ou em qualquer outro órgão respon sável pelo controle de preços. O que se pode afirmar é que os con vênios para evitar dupla tributa ção, as tarifas aduaneiras e os in centivos à exportação reduzem ao mínimo possível o interesse das multinacionais em remeter disfarçadamente lucros para o exterior. E que, para coibir os abusos re siduais, existem os controles da CACEX, do Banco Central e do I.N.P.I.
Vejamos agora o quarto ponto, 0 do controle do acesso das mul tinacionais às fontes de poupan ça internas. De um modo geral, interessa ao país que as empresas estrangeiras tragam o máximo de recursos do exterior, maximizando ^_sua contribuição para a forma ção de poupanças. Seria absurdo partir para o extremo de proibir qualquer acesso ao mercado fi nanceiro interno, de modo que o
Brasil procurou situar-se num meio termo adequado. Os prin cipais dispositivos a citar nesse sentido são os seguintes:
a) pela Lei n.o 4.131, os finan ciamentos a médio e longo prazo concedidos pelas entidades oficiais de crédito público, controladas pela União e pelos Estados, só são acessíveis a empresas controladas por capitais nacionais;
b) a captação de recursos no mercado de capitais por lança mento de oferta pública de ações e debèntures autorização do Banco Central do Brasil só é facultada às empresas estrangeiras quando estas ingres sem, concomitantemente, com re cursos do exterior, em montante equivalente ao captado no mer cado interno;
subordinada à a
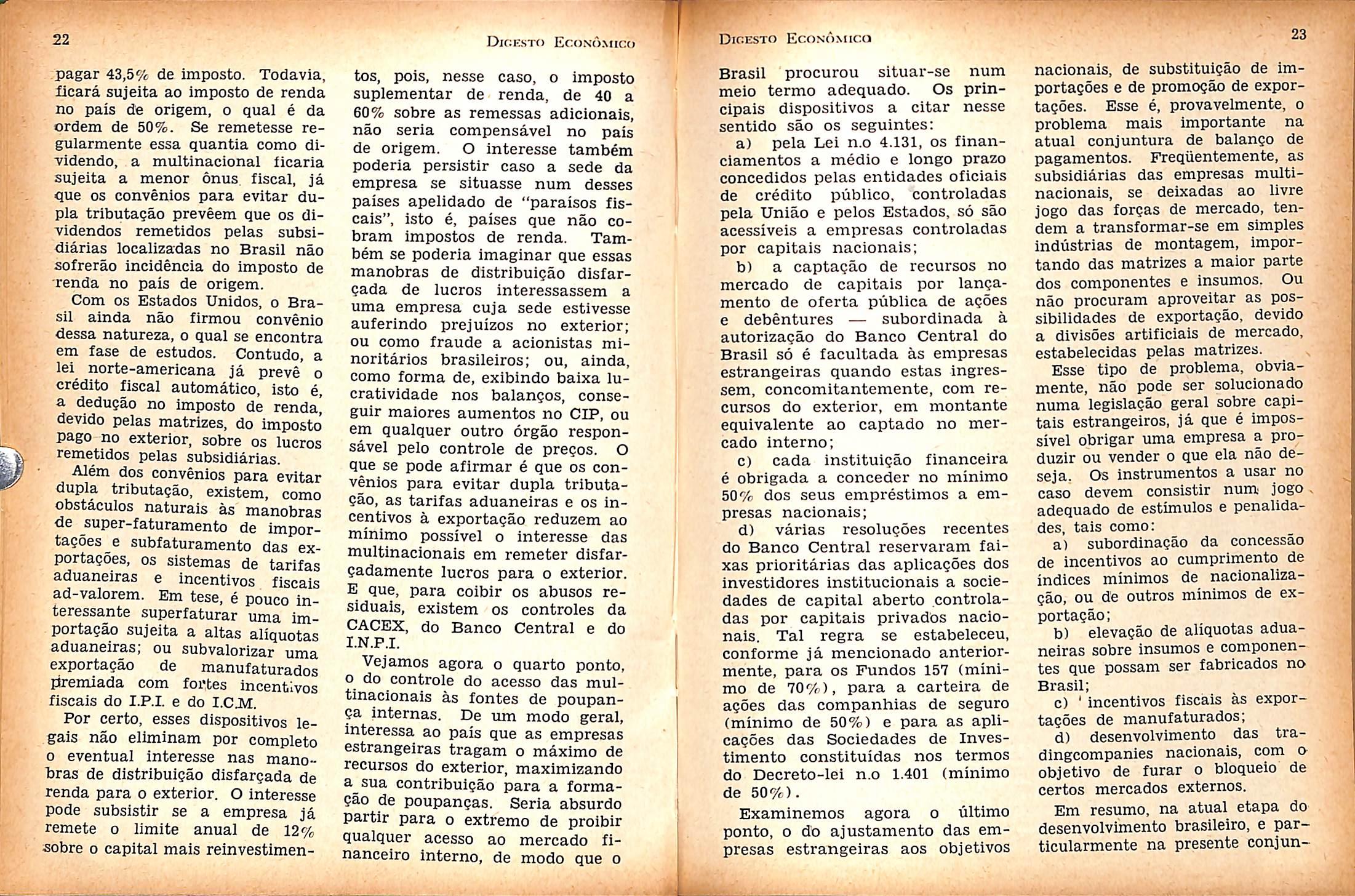
c) cada instituição financeira é obrigada a conceder no mínimo 50% dos seus empréstimos a em presas nacionais;
d) várias resoluções recentes do Banco Central reservaram fai xas prioritárias das aplicações dos investidores institucionais a socie dades de capital aberto controla das por capitais privados nacio nais. Tal regra se estabeleceu, conforme já mencionado anterior mente, para os Fundos 157 (míni mo de 70%), para a carteira de ações das companhias de seguro (mínimo de 50%) e para as apli cações das Sociedades de Inves timento constituídas nos termos do Decreto-lei n.o 1.401 (mínimo de 50%).
Examinemos agora o último ponto, o do ajustamento das em presas estrangeiras aos objetivos
nacionais, de substituição de im portações e de promoção de expor tações. Esse é, provavelmente, o problema mais importante na atual conjuntura de balanço de pagamentos. Freqüentemente, as subsidiárias das empresas multi nacionais, se deixadas ao livre jogo das forças de mercado, ten dem a transformar-se em simples indústrias de montagem, impor tando das matrizes a maior parte dos componentes e insumos. não procuram aproveitar as pos sibilidades de exportação, devido divisões artificiais de mercado, estabelecidas pelas matrizes. Esse tipo de problema, obvia mente, não pode ser solucionado numa legislação geral sobre capi tais estrangeiros, já que é impos sível obrigar uma empresa a pro duzir ou vender o que ela não deOs instrumentos a usar no devem consistir num jogo,
seja. caso adequado de estímulos e penalida des, tais como: subordinação da concessão de incentivos ao cumprimento de índices mínimos de nacionalizade outros mínimos de exa) çao, ou portação;
b) elevação de alíquotas adua neiras sobre insumos e componenser fabricados no tes que possam Brasil; incentivos fiscais às expor tações de manufaturados;
c)
d) desenvolvimento das tradingcompanies nacionais, com o objetivo de furar o bloqueio de certos mercados externos.
Em resumo, na atual etapa do desenvolvimento brasileiro, e par ticularmente na presente conjun-
tura do nosso balanço de paga mentos, a contribuiçÊlo do capital externo, de empréstimo e de risco, é essencial para que solucionemos adequadamente os nossos proble mas econômicos. Como todo país que recebe inversões diretas, é importante dispormos de meca nismos legais e administrativos capazes de harmonizar os interes¬
ses das multinacionais com os do desenvolvimento do pais. À vista do exposto, creio que esses meca nismos já existem. O Governo, todavia, está sempre aberto a su gestões no sentido de seu aperfei çoamento, desde que elas se en quadrem na moldura do pragma tismo que procura orientar a nos sa política econômica.”
ITÁLIA:- A MONTEDISON FAZ NOVAS CONQUISTAS — A Montedison da Itália conseguiu uma grande participação no complexo petro- quimico argentino de Bahia Blanca, apesar do governo argentino inten sificar ^ainda mais o seu controle sobre essas instalações. Inicialmente, as operaçoes de olefinas básicas dirigidas pelo estado, que eram realizadas naquele local, se destinavam a suprir as fábricas interessadas, sendo que cada uma dessas fabricas seria controlada por uma companhia particular se^rada._ Forem agora, todo o projeto será administrado por uma única Mn controlada pelo estado. Os 49% restantes ficarão com a serão_ somente de sua propriedade ou, então, divididos particulares por ela escolhidos. Uma fábrica de etileno, ■ capacidade de até 200.000 toneladas métricas/ano, já se encontra em As fábricas interligadas, agora planejadas especificarlnrAfn políeüleno de baixa-densidade, monômero de rif» cnda ^ oxido de etíleno; estando também incluída üma fábrica reto da nnlivinU + fabricas para a produção de, por exemplo, do çura .sejam construídas mais tarde. A Argentina pro- utili2ará “knnw , “^^^PO^vel no mundo” para cada fábrica e não utilizara know-how”,exclusivamente da Montedison.
™ CAPIM PARA BOIS E PORCOS — Uma f PitifrrIVa rr- amostras apresentadas na Feira Nacional de Gado ^ Vani,^ tS método para utilizar o mes- f-' gado vaciuTi 0 suíno e que oferece dupla economia, combustível e proteínas. O sistema consiste essencialmente uma prensa que extrai os sumos, que são tratados para concentrar çao de proteína. A maior dificuldade ^ com economia, o que foi obtido mo em a porsempre foi a de conseguir faze-lo /^TTT3r^^ c ● t 1 - Instituto Nacional de Pesquisas Sobre Criaçao (NIRD). Suas instalações podem produzir cerca de 5 toneladas de material verde picado _por hora e extrair 2.500 quilos de suco. Esse novo processo de desidrataçao significa grande economia do custo do pro- cessamento: o consumo de combustível foi reduzido em 40 por cento e í aumento de 30 por cento na pordução horária de material seco. 'S vez viu-se que o- sumo fresco é util na alimentação de porcos como fonte de proteínas, quando misturado a cereais. f r
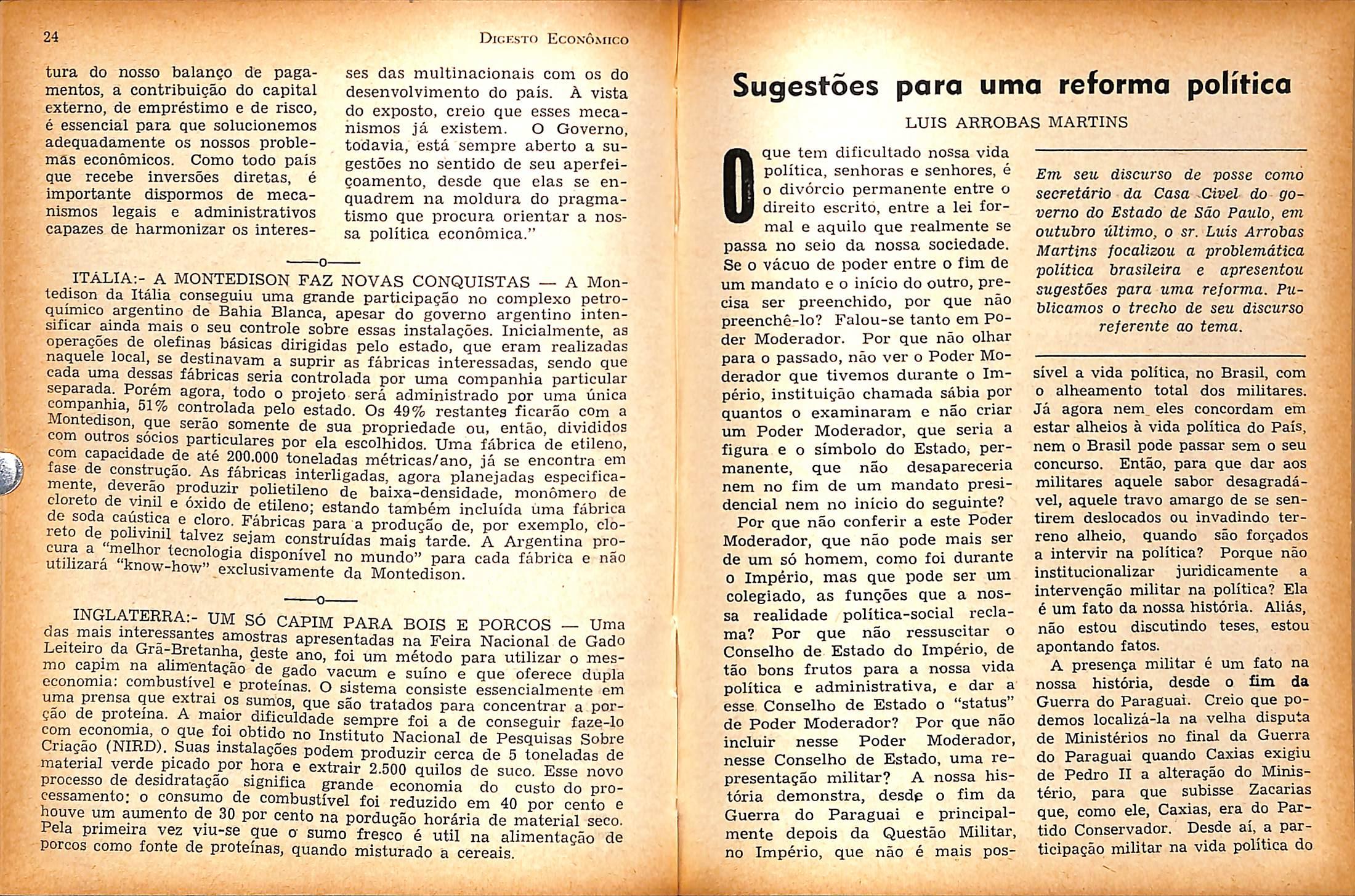
LUIS ARROBAS MARTINS
0que tem dificultado nossa vida política, senhoras e senhores, é o divórcio permanente entre o direito escrito, entre a lei for mal e aquilo que realmente se passa no seio da nossa sociedade. Se 0 vácuo de poder entre o fim de um mandato e o início do outro, pre cisa ser preenchido, por que não preenchê-lo? Falou-se tanto em po der Moderador. Por que não olhar para o passado, não ver o Poder Mo derador que tivemos durante o Im pério, instituição chamada sábia por quantos o examinaram e não criar um Poder Moderador, que seria a figura e o símbolo do Estado, per manente, que não desaparecería nem no fim de um mandato presi dencial nem no início do seguinte? por que não conferir a este Poder Moderador, que não pode mais ser de um só homem, como foi durante o Império, mas que pode ser um colegiado, as funções que a nos sa realidade política-social recla ma? Por que não ressuscitar o Conselho de Estado do Império, de tão bons frutos para a nossa vida política e administrativa, e dar a esse Conselho de Estado o “status” de Poder Moderador? Por que não incluir nesse Poder Moderador, nesse Conselho de Estado, uma re presentação militar? A nossa his tória demonstra, desde o fim da Guerra do Paraguai e principal mente depois da Questão Militar, no Império, que não é mais pos-
Em seUr discxirso de posse como secretário da Casa -Civél do go verno do Estado de São Paulo, em outubro último, o sr. Luis Arrobas Martins localizou a problemática política brasileira e apresentou sugestões para uma reforma. Pu blicamos 0 trecho de seu discurso referente ao tema.
sível a vida política, no Brasil, com j o alheamento total dos militares. Já agora nem_ eles concordam em estar alheios à vida política do País, nem o Brasil pode passar sem o seu concurso. Então, para que dar aos militares aquele sabor desagradá vel, aquele travo amargo de se sen tirem deslocados ou invadindo ter reno alheio, quando são forçados a intervir na política? Porque não institucionalizar juridicamente intervenção militar na política? Ela . é um fato da nossa história. Aliás, estou discutindo teses, estou ;í nao apontando fatos.
A presença militar é um fato na , nossa história, desde o fim da Guerra do Paraguai. Creio que po demos localizá-la na velha disputa de Ministérios no final da Guerra do Paraguai quando Caxias exigiu de Pedro II a alteração do Minis tério, para que subisse Zacarias que, como ele. Caxias, era do Par tido Conservador. Desde aí, a participação militar na vida política do
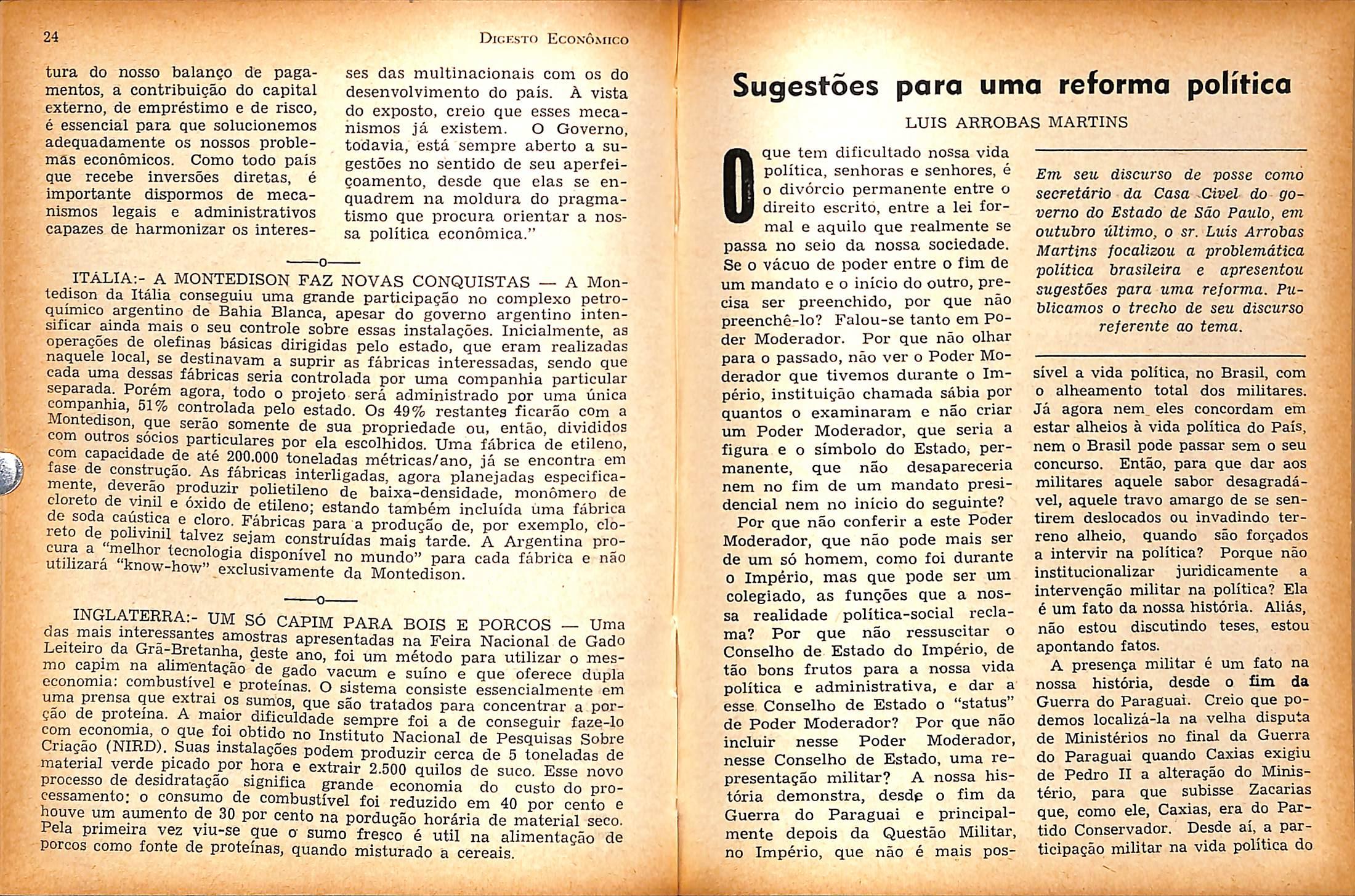
Brasil só fez crescer. Foi má? É questão a investigar, mas é absolutamente impossível negar que muitas delas, a maioria delas, sem dúvida, foram salutares, foi a intervenção de ultima hora, que im pediu a completa derrocada da Nação. Se os fatos são esses, se a história é esta, porque insistir em que a intervenção militar tenha sempre que ser extra-legal? Por que não legalizar a intervenção mi litar? Porque não lhe dar um lu-
gar, um posto, uma tribuna, o Po der Moderador', por exemplo, o Conselho de Estado, por exemplo, para que lá se faça representar e possa jogar ^o jogo da segurapça nacional que nas mãos dela está? Cito este fato como mero exemplo. Muitos outros haveriam. Seria pre ciso que perdessemos o amor a cer tos preconceitos, a certas idéias pu ramente fantasiosas, puramente utópicas que queremos transformar em realidade. !0A política é, prin cipalmente, atividade, não é ideo logia. E na atividade, há circuns tâncias, como na guerra, põem mudanças constantes obter-se a vitória, sem abandono dos princípios e dos fins. que im¬ para Outro ponto, e paro aqui, senho ras e senhores, pois já me alongo demais, que a tese me levaria lon ge — outro ponto é a revisão das funções do Executivo em relação ao Legislativo. Ainda há dois ou três dias, o professor Seabra Fa gundes em entrevista a um jornal, tocava neste assunto. A Constitui ção de 46 já nasceu obsoleta em certos pontos, porque desconheceu
0 movimento que já andava pelo mundo todo e que conferia cada vez soma maior de poder ao Executivo, tirando-os em parte do Legislativo. Há uma tendencía do Legislativo em considerar isto uma diminui ção, em achar que se lhe impõe um esvazicunento. Longe disso. O Legislativo, e os deputados aqui presentes sabem disso, o Legisla tivo hoje, teria enormes, quase insuperáveis dificuldades para elaborar a maioria das leis. Não porque lhes falte inteli gência, cultura, competência, mas porque as leis, hoje, dada ?’ enormidade da invasão do Estado no terreno social, as leis, hoje, são cada vez mais complexas e exigem equipes de técnicos, especialistas para que elas sejam elaboradas. E os deputados sozinhos, ou mesmo com a colaboração de um ou outro, ou de assessores, não têm condições para isso, porque, inclusive, os da dos são difíceis de obter. Só com a enorme máquina comandada pe lo Executivo é que esses dados po dem ser obtidos. Mas, nisto não vai nenhum desprimor para o Po der Legislativo que não só conti nuaria e deveria continuar com o poder de aprovar ou não as leis, de alterá-las, mas também com o poder de exercer a fiscalização do exercício do poder pelo Executivo, não apenas pelos governadores e pelos presidentes da República, pe los ministros, pelos secretários, mas poi* todos os mais altos funcioná rios. Esta é a grande missão do Parlamento. O IParlamento é a voz do povo, dentro dos organismos
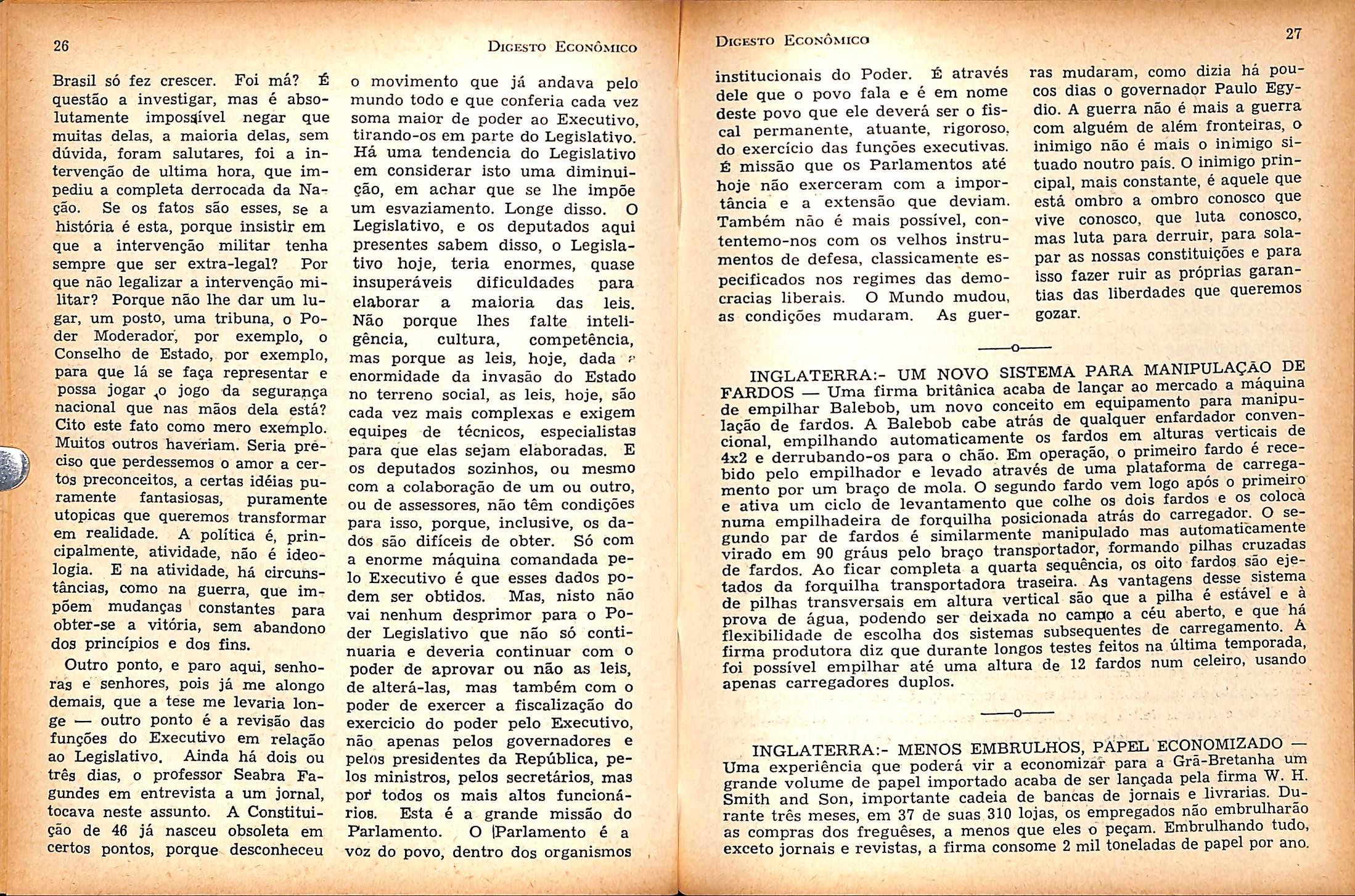
É através institucionais do Poder, dele que o povo fala e é em nome deste povo que ele deverá ser o fis cal permanente, atuante, rigoroso, do exercício das funções executivas. É missão que os Parlamentos até hoje não exerceram com a impor tância e a extensão que deviam. Também não é mais possível, contentemo-nos com os velhos instru mentos de defesa, classicamente es pecificados nos regimes das demo cracias liberais. O Mundo mudou, as condições mudaram. As guer-
ras mudaram, como dizia há pou cos dias 0 governador Paulo Egydio. A guerra não é mais a guerra com alguém de além fronteiras, o inimigo não é mais o inimigo si tuado noutro país. O inimigo prin cipal, mais constante, é aquele que está ombro a ombro conosco que vive conosco, que luta conosco, luta para derruir, para sola-
mas par as nossas constituições e para isso fazer ruir as próprias garan tias das liberdades que queremos gozar.
FARDOS — Uma firma britânica acaba de lançar ao mercado a maquina de empilhar Balebob, um novo conceito em equipamento para manipu lação de fardos. A Balebob cabe atras de qualquer Sê ciLal, empilhando automaticamente os fardos em alturas verticais de 4x2 e derrubando-os para o chão. Em^operaçao, o fjmeiro Perdo e rece bido pelo empilhador e levado através de uma plataforma^ de c^rega mento por um braço de mola. O segundo fardo vem logo apos o p . e ativa um ciclo de levantamento que colhe os dois fardos e os wloc numa empilhadeira de forquilha posicionada atras do gundo par de fardos é similarmente manipulado mas automaticamente virado em 90 graus pelo braço transportador, formando Pdb^s de fardos. Ao ficar completa a quarta sequencia, os oito tados da forquilha transportadora traseira._ As vantagens d ss de pilhas transversais em altura vertical sao que a pilha e es prova de água, podendo ser deixada no campo a ceu aber o, e que flexibilidade de escolha dos sistemas subsequentes de carregamento, a firma produtora diz que durante longos testes feitos na ultima temporada, altura de 12 fardos num celeiro, usando foi possível empilhar até uma apenas carregadores duplos.
●o-
— ● ' Gra-Bretanha um Uma experiência que poderá vir a economizar para a ttt tr grande volume de papel importado acaba de ser lançada pela firma Smith and Son, importante cadeia de bancas de jornais e livrarias. Du rante três meses, em 37 de suas 310 lojas, os empregados nao embrulharão as compras dos freguêses, a menos que eles o peçam. Embrulhando tudo, exceto jornais e revistas, a firma consome 2 mil toneladas de papel por ano. j
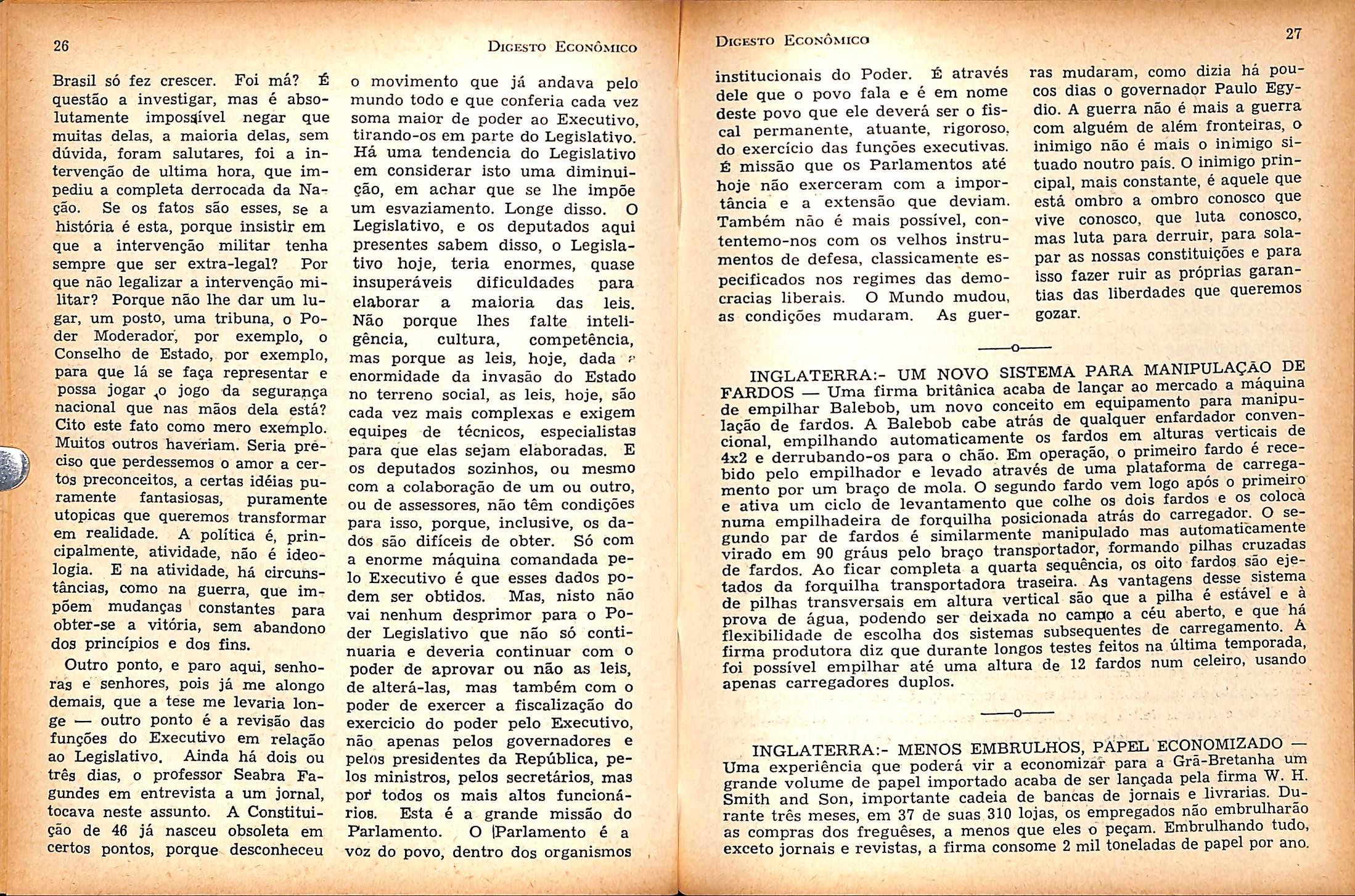
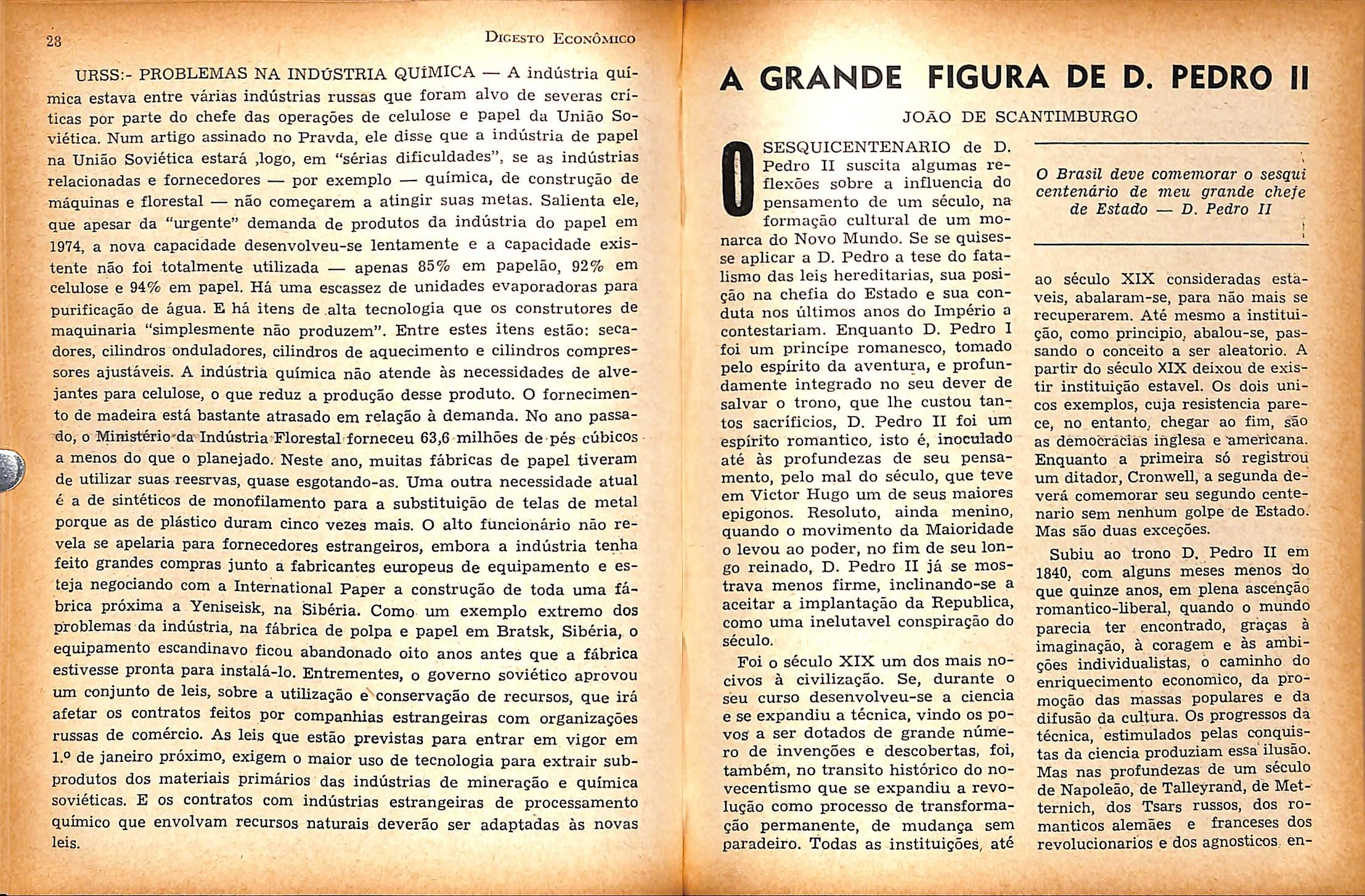
URSS:- PROBLEMAS NA INDÚSTRIA QUÍMICA — A indústria quí mica estava entre várias indústrias russas que foram alvo de severas crí ticas por parte do chefe das operações de celulose e papel da União So viética. Num artigo assinado no Pravda, ele disse que a indústria de papel União Soviética estará ,logo, em “sérias dificuldades”, se as indústrias relacionadas e fornecedores — por exemplo — química, de construção de máquinas e florestal — não começarem a atingir suas melas. Salienta ele, que apesar da “urgente” demanda de produtos da indústria do papel em 1974, a nova capacidade desenvolveu-se lentamente e a capacidade exis tente não foi totalmente utilizada — apenas 85% em papelão, 92% em celulose e 94% em papel. Há uma escassez de unidades evaporadoras para purificação de água. E há itens de alta tecnologia que os construtores de maquinaria “simplesmente não produzem”. Entre estes itens estão: seca dores, cilindros onduladores, cilindros de aquecimento e cilindros compres sores ajustáveis. A indústria química não atende às necessidades de alvejantes para celulose, o que reduz a produção desse produto. O fornecimen to de madeira está bastante atrasado em relação à demanda. No ano passa do, 0 Ministério'da Indústria Florestal forneceu 63,6 milhões de pés cúbicos a menos do que o planejado. Neste ano, muitas fábricas de papel tiveram de utilizar suas reesrvas, quase esgotando-as. Uma outra necessidade atual é a de sintéticos de monofilamento para a substituição de telas de metal porque as de plástico duram cinco vezes mais. O alto funcionário não re vela se apelaria para fornecedores estrangeiros, embora a indústria tenha feito grandes compras junto a fabricantes europeus de equipamento e es teja negociando com a International Paper a construção de toda uma fá brica próxima a Yeniseisk, na Sibéria. Como um exemplo extremo dos problemas da indústria, na fábrica de polpa e papel em Bratsk, Sibéria, o equipamento escandinavo ficou abandonado oito anos antes que a fábrica estivesse pronta para instalá-lo. Entrementes, o governo soviético aprovou conjunto de leis, sobre a utilização e conservação de recursos, que irá afetar os contratos feitos por companhias estrangeiras com organizações russas de comércio. As leis que estão previstas para entrar em vigor em l.° de janeiro próximo, exigem o maior uso de tecnologia para extrair sub produtos dos materiais primários das indústrias de mineração e química soviéticas. E os contratos com indústrias estrangeiras de processamento químico que envolvam recursos naturais deverão ser adaptadas às novas leis.
JOÃO DE SCANTIMBURGO
SESQUICENTENARIO de D.
Pedro II suscita algumas re flexões sobre a influencia do pensamento de um século, na formação cultural de um mo narca do Novo Mundo. Se se quises se aplicar a D. Pedro a tese do fata lismo das leis hereditárias, sua posi ção na chefia do Estado e sua con duta nos últimos anos do Império a contestariam. Enquanto D. Pedro I foi um princípe romanesco, tomado pelo espírito da aventura, e profun damente integrado no seu dever de salvar o trono, que lhe custou tan tos sacríficios, D. Pedro II foi um espírito romântico, isto é, inocuiado até às profundezas de seu pensa mento, pelo mal do século, que teve em Victor Hugo um de seus maiores epígonos. Resoluto, ainda menino, quando o movimento da Maioridade o levou ao poder, no fim de seu lon go reinado, D. Pedro II já se mos trava menos firme, inclinando-se a aceitar a implantação da Republica, como uma inelutável conspiração do século.
Foi o século XIX um dos mais no civos à civilização. Se, durante o seu curso desenvolveu-se a ciência e se expandiu a técnica, vindo os po vos a ser dotados de grande núme ro de invenções e descobertas, foi, também, no transito histórico do novecentismo que se expandiu a revo lução como processo de transforma ção permanente, de mudança sem paradeiro. Todas as instituições, até
O Brasil deve comemorar o sesqui centenário de me\i grande chefe de Estado — D. Pedro II
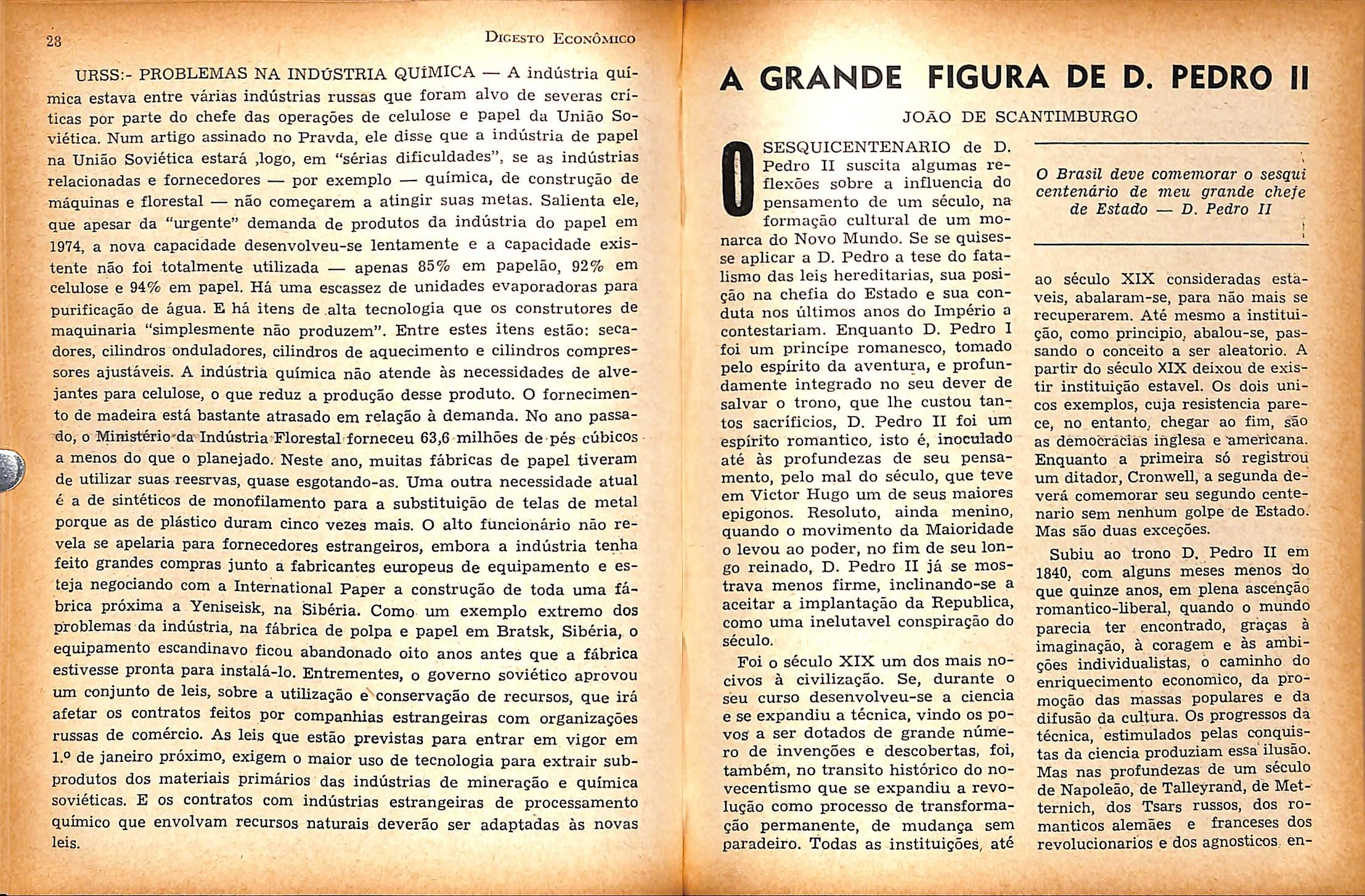
ao século XIX consideradas está veis, abalaram-se, para não mais se recuperarem. Até mesmo a institui ção, como principio, abalou-se, pas sando o conceito a ser aleatorio. A partir do século XIX deixou de exis tir instituição estável. Os dois úni cos exemplos, cuja resistência pare ce, no entanto, chegar ao fim, são as democráciás inglesa e americana. Enquanto a primeira só registrou um ditador, Cronwell, a segunda de verá comemorar seu segundo cente nário sem nenhum golpe de Estado. Mas são duas exceções.
Subiu ao trono D. Pedro II em 1840, com alguns meses menos do que quinze anos, em plena ascenção romantico-Mberal, quando o mundo parecia ter encontrado, graças à imaginação, à coragem e às ambiindividualistas, o caminho do çoes enriquecimento economico, da pro moção das massas populares e da difusão da cultura. Os progressos da técnica, estimulados pelas conquis tas da ciência produziam essa ilusão. Mas nas profundezas de um século de Napoleão, de Talleyrand, de Metternich, dos Tsars russos, dos ro mânticos alemães e franceses dos revolucionários e dos agnósticos en-
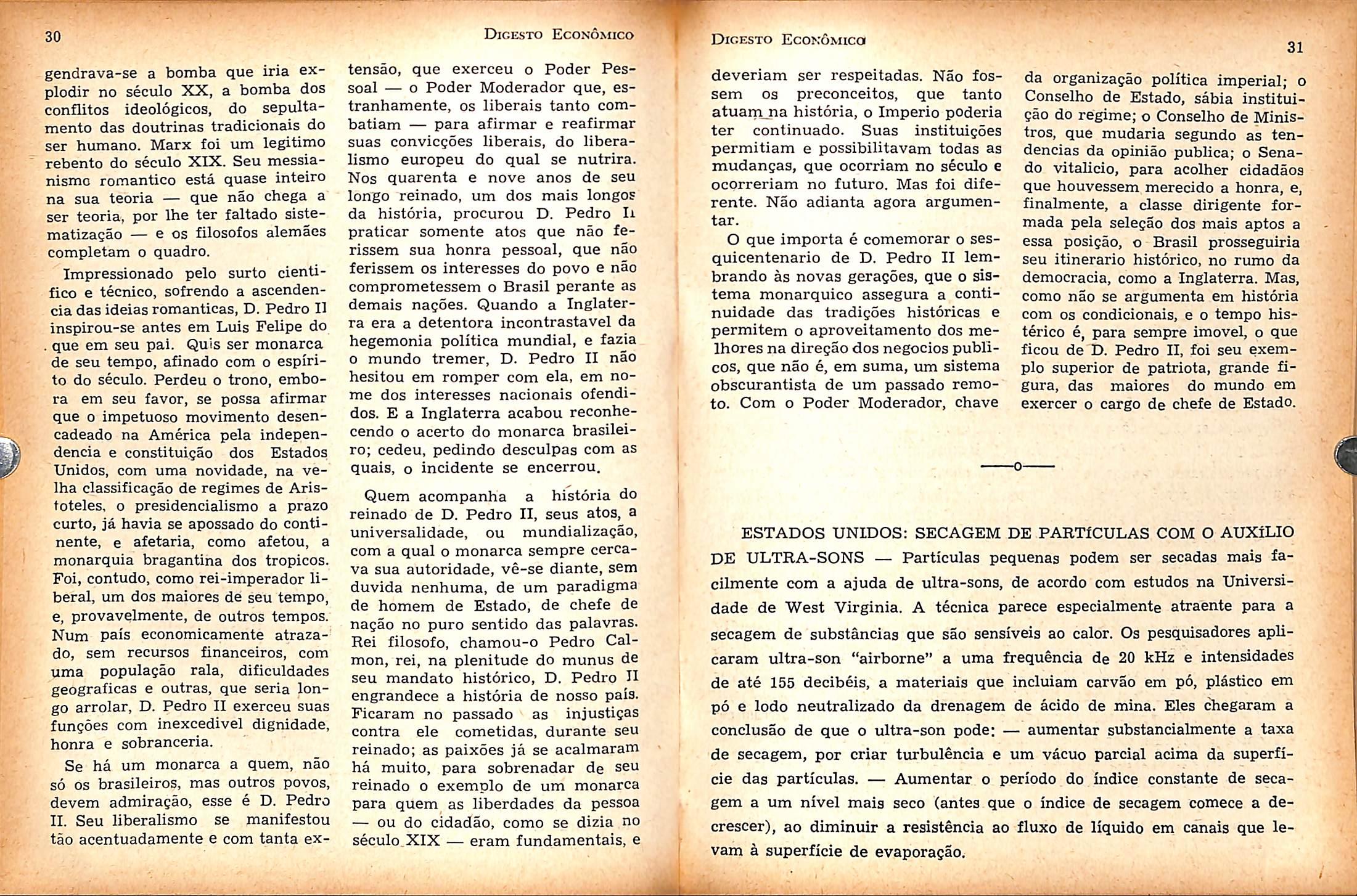
gendrava-se a bomba que iria ex plodir no século XX, a bomba dos conflitos ideológicos, do sepultamento das doutrinas tradicionais do humano. Marx foi um legitimo rebento do século XIX. Seu messia nismo romântico está quase inteiro na sua teoria — que não chega a teoria, por lhe ter faltado sistematização — e os filosofos alemães completam o quadro.
Impressionado pelo surto cienti fico e técnico, sofrendo a ascendên cia das idéias românticas, D. Pedro II inspirou-se antes em Luis Felipe do . que em seu pai. Quis ser monarca de seu tempo, afinado com o espíri to do século. Perdeu o trono, embo ra em seu favor, se possa afirmar que 0 impetuoso movimento desen cadeado na América pela indepen dência e constituição dos Estados Unidos, com uma novidade, na ve lha classificação de regimes de Aris tóteles, 0 presidencialismo a prazo curto, já havia se apossado do conti nente, e afetaria, como afetou, a monarquia bragantina dos tropicos. Foi, contudo, como rei-imperador li beral, um dos maiores de seu tempo, e, provavelmente, de outros tempos. Num país economicamente atrazado, sem recursos financeiros, com uma população rala, dificuldades geográficas e outras, que seria lon go arrolar, D. Pedro II exerceu suas funções com inexcedivel dignidade, honra e sobranceria.
Se há um monarca a quem, não só os brasileiros, mas outros povos, devem admiração, esse é D. Pedro II. Seu liberalismo se manifestou tão acentuadamente e com tanta exser ser
tensão, que exerceu o Poder Pes soal — o Poder Moderador que, es tranhamente, os liberais tanto com batiam — para afirmar e reafirmar suas convicções liberais, do libera lismo europeu do qual se nutrira. Nos quarenta e nove anos de seu longo reinado, um dos mais longos da história, procurou D. Pedro Ii praticar somente atos que não fe rissem sua honra pessoal, que não ferissem os interesses do povo e não comprometessem o Brasil perante as demais nações. Quando a Inglater ra era a detentora incontrastavel da hegemonia política mundial, e fazia o mundo tremer, D. Pedro II não hesitou em romper com ela, em no me dos interesses nacionais ofendi dos. E a Inglaterra acabou reconhe cendo o acerto do monarca brasilei ro; cedeu, pedindo desculpas com as quais, o incidente se encerrou,
Quem acompanha a história do reinado de D. Pedro II, seus atos, a universalidade, ou mundialização, com a qual o monarca sempre cerca va sua autoridade, vê-se diante, sem duvida nenhuma, de um paradigma de homem de Estado, de chefe de nação no puro sentido das palavras. Rei filosofo, chamou-o Pedro Calmon, rei, na plenitude do munus de seu mandato histórico, D. Pedro II engrandece a história de nosso país. Ficaram no passado as injustiças contra ele cometidas, durante seu reinado; as paixões já se acalmaram há muito, para sobrenadar de seu reinado o exemplo de um monarca para quem as liberdades da pessoa — ou do cidadão, como se dizia no século XIX — eram fundamentais, e
deveriam ser respeitadas. Não fos sem os preconceitos, que tanto atuam_na história, o Império poderia ter continuado. Suas instituições permitiam e possibilitavam todas as mudanças, que ocorriam no século e ocorreriam no futuro. Mas foi dife rente. Não adianta agora argumen tar.
O que importa é comemorar o sesquicentenario de D. Pedro II lem brando às novas gerações, que o sis tema monárquico assegura a conti nuidade das tradições históricas e permitem o aproveitamento dos me lhores na direção dos negocios públi cos, que não é, em suma, um sistema pio superior de patriota, grande fiobscurantista de um passado remo- gura, das maiores do mundo em to. Com o Poder Moderador, chave exercer o cargo de chefe de Estado.
da organização política imperial; o Conselho de Estado, sábia institui ção do regime; o Conselho de Minis tros, que mudaria segundo as ten dências da opinião publica; o Sena do vitalicio, para acolher cidadãos que houvessem merecido a honra, e, finalmente, a classe dirigente for mada pela seleção dos mais aptos a essa posição, o Brasil prosseguiría seu itinerário histórico, no rumo da democracia, como a Inglaterra. Mas, como não se argumenta em história com os condicionais, e o tempo his térico é, para sempre imóvel, o que ficou de B. Pedro II, foi seu exem-
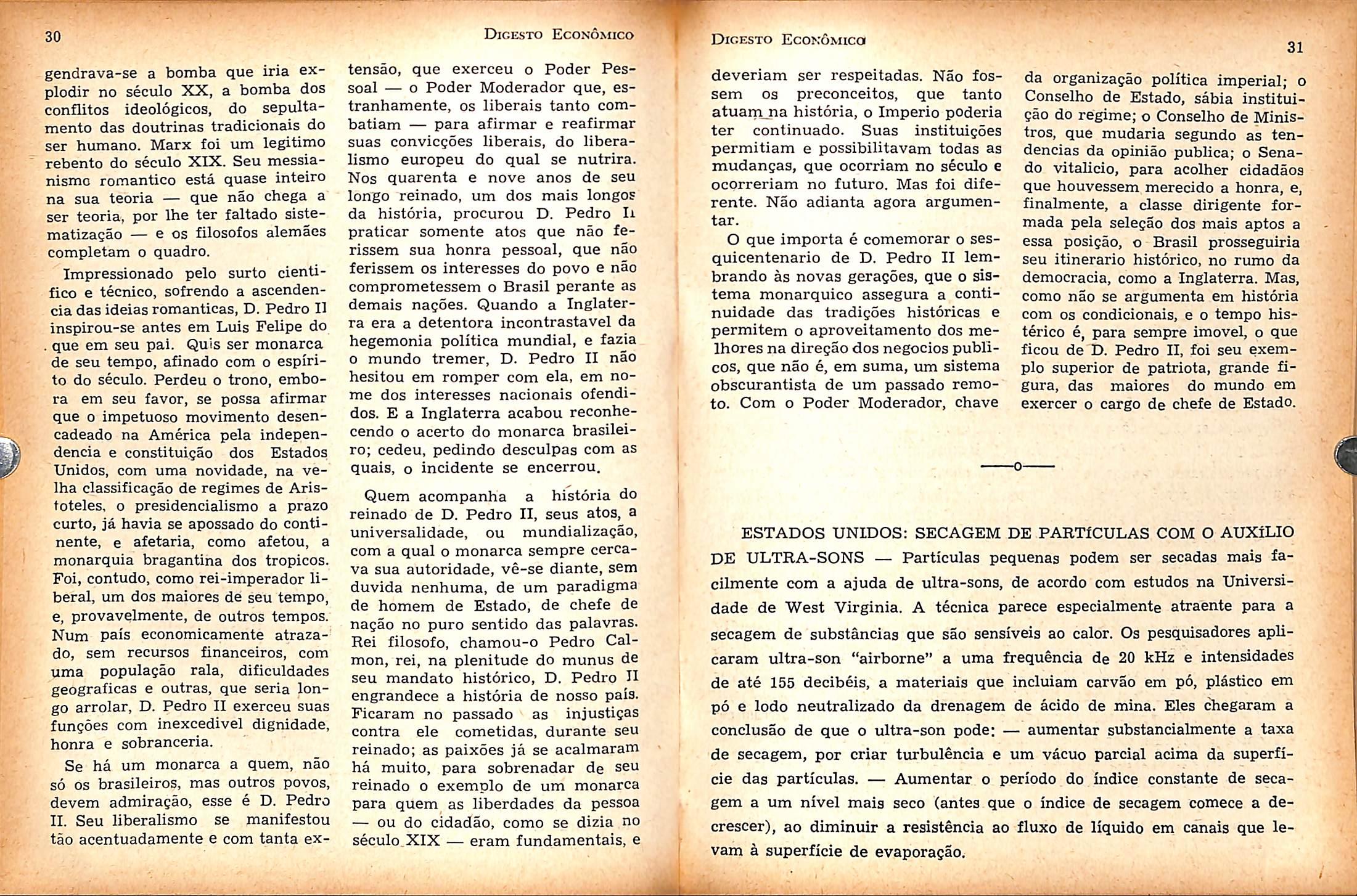
ESTADOS UNIDOS: SECAGEM DE PARTÍCULAS COM O AUXÍLIO de ULTRA-SONS — Partículas pequenas podem ser secadas mais fa cilmente com a ajuda de ultra-sons, de acordo com estudos na Universi dade de West Virgínia. A técnica parece especialmente atraente para a secagem de substâncias que são sensíveis ao calor. Os pesquisadores aplia uma frequência de 20 kHz e intensidades de até 155 decibéis, a materiais que incluiam carvão em pó, plástico em pó e lodo neutralizado da drenagem de ácido de mina. Eles chegaram a conclusão de que o ultra-son pode; — aumentar substancialmente a taxa de secagem, por criar turbulência e um vácuo parcial acima da superfí cie das partículas. — Aumentar o período do índice constante de seca gem a um nível mais seco (antes que o índice de secagem comece a decrescer), ao diminuir a resistência ao fluxo de líquido em canais que le vam à superfície de evaporação. caram ultra-son “airborne'
‘ na sua
Ehime aconteceu 12 anos depois que a firma encerrou a procom-
JAPÃO;- A TORAY DESISTE DO RAYON — Junho marcou o íim da produção de rayon pela Toray Industries, o maior produtor de fibras sin téticas do Japão. O fechamento das instalações de íioco de rayon fábrica em dução de filamento de rayon. A Toray. Chamada Toyo Rayon quando foi fundada há quase 50 anos para produzir filamento de viscose, é o primeiro dos três maiores produtores de fibras sintéticas do Japão a se retirar pletamente da produção de materiais celulósicos. A produção japonesa de materiais celulósicos tem se mantido virtualmente estável desde 1965, quando a produção combinada de fibras de rayon, acetato e cupramônio atingiu a marca de meio milhão de toneladas métricas. Atingindo o ponto máximo com 539.000 toneladas métricas em 1973, a produção declinou no ano passado para 473.000 toneladas métricas — de volta ao nível de 1963. O rayon baixou 15% em relação ao ano anterior, para 387.000 toneladas métricas, um nível que é ainda 15% mais alto do que a produção ameri cana de rayon em 1974. A Toray, tendo que enfrentar a substituição das já decadentes instalações de rayon numa época de contínua e severa cessão para todos os têxteis, optou por descontinuar o que já se tornara uma parte ínfima (menos de 0,5%) de sua atividade. A Teijin Ltd., que foi a pioneira do rayon no Extremo Oriente em 1918 (seu nome original, Teikoku Jinzo Kenshi, significa “Seda Artificial Imperial”), descontinuou a produção de rayon em 1971. Mas seu ramo de filamento de acetato, agora com 20 anos, atingiu US§ 31 milhões no ano findo em março último — cerca de 3% das vendas. A companhia mais dedicada a materiais celuló sicos entre os três maiores produtores de fibras japoneses é a Ashai Che mical Industries, que tem sua origem numa firma estabelecida em 1931 para fabricar fibras de cupramônio. Embora a fibra acrílica seja agora atividade mais rentável da companhia, os produtos de cupramônio presen temente respondem por cerca de 9% das vendas da Asahi e 10% de seu lucro líquido. Os produtos de rayon e acetato juntos representam outros 8% das vendas. Mas eles são atualmente os líderes de perdas da linha de produtos da firma, representando juntos uma perda líquida de quase US$ 2 milhões no semestre findo em março último. Mas, contrariando os ruJapão de que ela desistirá dessas linhas ,a Asahi Chemical nega
rea i . mores no enfaticamente qualquer plano de descontinuar a produção de rayon ou
acetato.
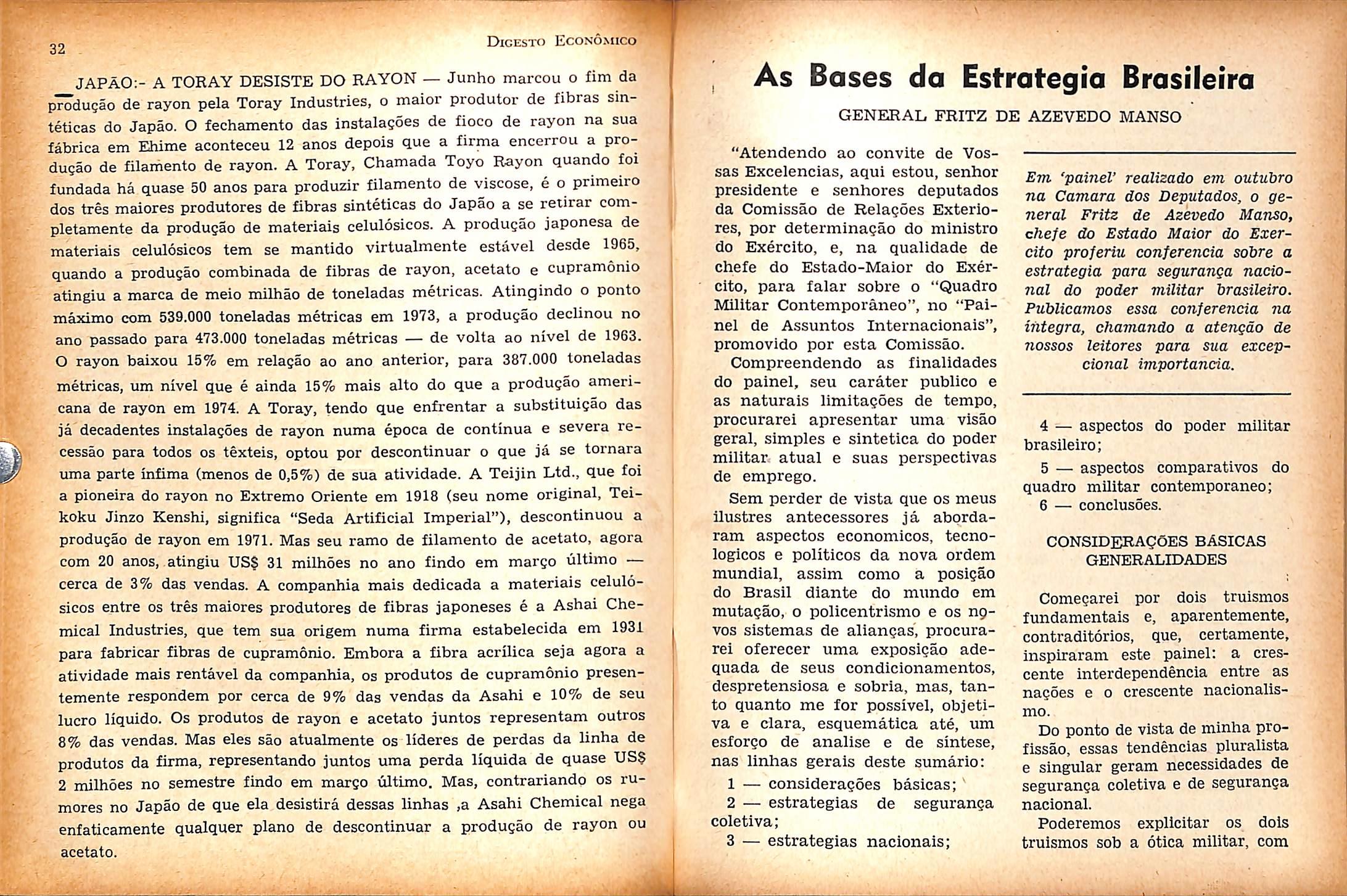
GENERAL FRITZ DE AZEVEDO MANSO
“Atendendo ao convite de Vos sas Excelências, aqui estou, senhor presidente e senhores deputados da Comissão de Relações Exterio res, por determinação do ministro do Exército, e, na qualidade de chefe do Estado-Maior do Exér cito, para falar sobre o “Quadro Militar Contemporâneo”, no “Pai nel de Assuntos Internacionais”, promovido por esta Comissão.
Compreendendo as finalidades do painel, seu caráter publico e as naturais limitações de tempo, procurarei apresentar uma visão geral, simples e sintética do poder militar atual e suas perspectivas de emprego.
Sem perder de vista que os meus ilustres antecessores já aborda ram aspectos economicos, tecno lógicos e politicos da nova ordem mundial, assim como a posição do Brasil diante do mundo em mutação, o policentrismo e os nçvos sistemas de alianças, procura rei oferecer uma exposição ade quada de seus condicionamentos, despretensiosa e sóbria, mas, tan to quanto me for possível, objeti va e clara, esquemática até, um esforço de analise e de síntese, nas linhas gerais deste sumário:
1 — considerações básicas;
2 — estratégias de segurança coletiva;
3 — estratégias nacionais;
Em ‘painel’ realizado em outubro na Camara dos Deputados, o ge neral Fritz de Azevedo MaTiso, chefe do Estado Maior do Exer cito proferiu conferência sobre a estratégia para segurança nacio nal do poder militar brasileiro. Publicamos essa conferência na integra, chamando a atenção de iiossos leitores para sua excep cional importância.
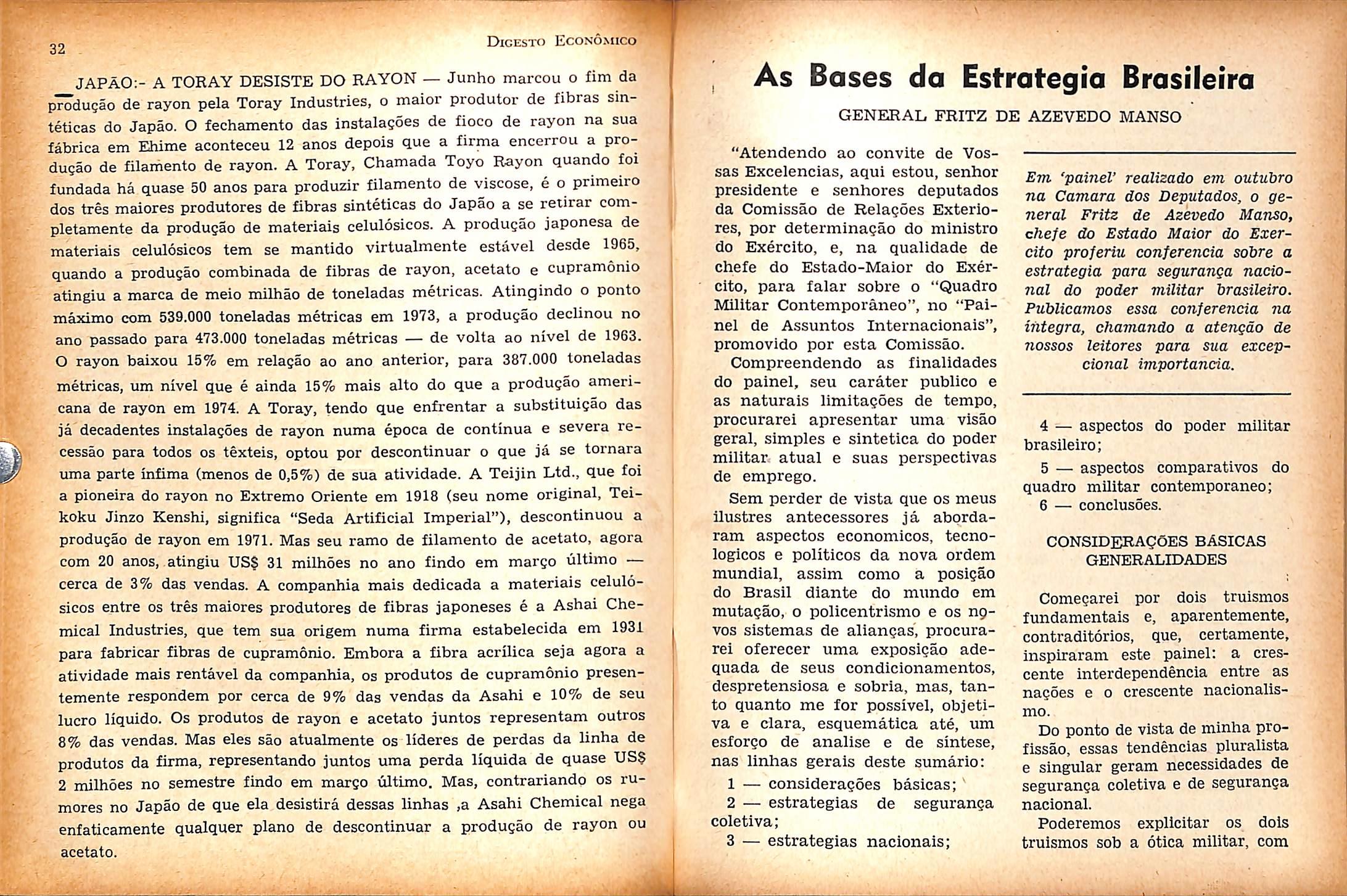
4 — aspectos do poder militar brasileiro;
5 — aspectos comparativos do quadro militar contemporâneo;
6 — conclusões.
considerações Básicas
Começarei por dois truismos fundamentais e, aparentemente, contraditórios, que, certamente, inspiraram este painel: a cres cente interdependência entre as crescente nacionalis- nações e o mo.
Do ponto de vista de minha pro fissão, essas tendências pluralista e singular geram necessidades de segurança coletiva e de segurança nacional.
Poderemos explicitar os dois truismos sob a ótica militar, com
duas afirmações que, parecendo se contradizerem, na verdade, se ex plicam e se completam. Na primeira, procuro valer-me da palavra do saudoso presidente Castelo Branco; “Nenhum país, seja no mundo ocidental, seja no soviético, poderá defender-se so zinho contra um ou outros dos centros dominantes do poder. A defesa tem de ser necessariamen te associativa”. E completo com esta verdade indiscutível: nenhu ma nação aceita entregar a defe sa de sua soberania à outra na ção.
SÍNTESE DA EVOLUÇÃO
verdade, abria caminho ao imobilismo estratégico e à surpre sa da Guerra da Coréia, a que se seguiram tantos conflitos limi tados.
O poder nuclear, provocando extraordinária reorganização dos meios e processos de combate, ge rou 0 equilíbrio do terror que, eli minando ou adiando a grande guerra, trouxe todos os tipos de guerras menores: a guerra limi tada, a guerra localizada, e, aci ma de tudo, a guerra permanente, a mini-guerra, a guerrilha.
em . Era sábia a ironia de Rudyar Kipling: “a arma não vale pelo seu tamanho, mas pela possibili dade de ser usada”. Enquanto o infinitamente grande da energia nuclear impunha a perplexidade, a paralisia e a defensiva, o infini tamente pequeno
Dois fatos essenciais caracteri zaram a evolução militar depois da Segunda Guerra Mundial: nuclear e o ideologico.
Esses dois fatos haveríam de 0 comportamento das marcar duas maiores potências vencedo-
A União Soviética emergeria go ras.
do Dia da Vitória suficientemen te poderosa para expandir sua ideologia.
da guerrilha o a iniciativa de todas assegurava as partes a quem quisesse assu mi-la, porque abdicar do empreda força é transigir em cir cunstancias que podem ser evi tadas apenas pela violência, e dar 0 controle da situação a quem es tiver disposto a empregá-la. O crescimento do clube atômifim da bipolaridade das duas tendendo

A um no; viam se a
e a ciça política de “détente” e o surto de novo isolacionismo americao uso do poder militar como parte de um processo de barganha
Unidos foram os únicos a possuir nuclear, depositaram nela ilimitada confiança e, permonopolio, acharam que Enquanto os Estados co; o superpotências, aquilo que se convencionou cha mar de pentagrama; o apogeu decadência da “retaliação mae da “resposta flexível”, a para a arma uma dido o tudo se resumia em possuir mais bombas atômicas que o rival, estratégia do aniquilamento, de que Hiroshima e Nagasaki hasido 0 coroamento, seguiuestrategia da dissuação que,
política; a revolução tecnológica que vai tornando a guerra, cada vez mais, uma luta de cerebros, contribuindo também para que o comércio de armas altamente so fisticadas e flexíveis seja um dos itens principais da pauta de ex portações de vários países; e, co mo fundo de cena permanente, a violência levada a domicílio, pelo terrorismo e pela guerrilha — são os passos mais recentes da evolu ção do quadro militar mundial nestes trinta anos de depois da Segunda Guerra Mundial.
Feito esse rápido retrospecto da evolução do quadro militar a par tir de 1945, cumpre-nos fazer uma reflexão sobre as características da guerra contemporânea.
Longe estamos daquela guerra tradicional, caracterizada por ser declarada, por ser externa e en tre estados, por ser reconhecida por organismos internacionais, e por utilizar, em princípio, a plena capacidade de forças militares.
Há, diante do problema, duas posições: para os comunistas, o mundo está em guerra, a despeito da coexistência pacifica; para os democratas, o mundo passa por sucessivas crises, enfrentadas por meios diplomáticos, por ações pre ventivas, por medidas conjuntas de segurança e, até mesmo, por episódicas aplicações do poder militar. A quase totalidade dos
democratas repugna aceitar a te se de alguns, de que já está em curso uma Terceira Grande Guerra Mundial, toda especial e particularmente lucrativa para os que admitem a teoria da guerra global e permanente.
A concepção comunista de guerra, de acordo com Lenine, e inspirada em Clausewitz difere fundamentalmente da ocidental, porque, para Lenine: “a paz é a continuação da guerra por outros meios”, “a guerra deve ser tra tada como um todo”, e “a paz e a guerra são apenas dois aspectos de uma mesma luta permanente e necessária”.
Confirmando essa concepção de guerra permanente e universal, subversiva e psicológica, aqui estão algumas afirmações de teoricos comunistas da coexistência pací fica. Disse Kruschev, em janeiro de 1961: “A política de coexis¬ tência pacífica, em relação ao seu conteúdo social, é uma forma de intensa luta ideológica do prole tariado contra as forças agres sivas do imperialismo”,
Em conferência realizada na ESG, em 1961, o general Castelo Branco esboçou uma classificação dos tipos e formas de guerra, di zendo, preiiminarmente, que “o tipo de guerra assenta dominan temente na política, no espaço geográfico envolvido e no vulto dos meios empregados”, enquanto “as formas de guerra são caracte rizadas, sobretudo, pela natureza dos meios empregados e, decor-

y .1
réntemente, pela forma que as operações tomam".
Segundo o grande estadista e chefe militar, teriamos os seguin tes tipos de guerra.
Tipos de guerra quanto ao vulto dos elementos empregados:
— Guerra total;
— Guerra limitada;
— Tipos de guerra quanto ao condicionamento político;
— Guerra declarada (clássica);
— Guerra não declarada, revo lucionária ou insurrecional.
Tipos de guerra quanto ao con dicionamento espacial-geográf ico:
— Guerra global ou mundial;
— Guerra terrestre, aérea e marítima;
— Guerra limitada ou locali zada;

Tipo
Total
Fonnas de guerra quanto ao emprego das armas nucleares, no quadro estratégico ou tático:
— Guerra total ou geral;
— Guerra limitada.
Formas de guerra quanto ao emprego de armas especiais:
— Guerra química;
— Guerra biológica;
— Guerra radiológica;
— Guerra psicológica;
— Guerras econômicas.
Esquematizando as idéias pode remos ter, então, esto quadro dos principais tipos e formas de guer ra contemporânea:
Os pensadores soviéticos admi tem três tipos de guerras:
— Guerras de “libertação na cional";
— Guerras limitadas;
Forma
Objetivo Fundamental Arma Decisiva Nuclear
Conquista ou
Força Militar Convencional ou
Território ou
Limitada Revolucionária
Formas de guerra quanto às características das armas empre gadas :
— Guerra nuclear;
— Guerra não nuclear ou con vencional;
Conquista das Mentes
Agressão Psicológica
— Guerras ilimitadas ou gene ralizadas.
As primeiras são sempre consi deradas justas e merecedoras de apoio material ou, no mínimo, de sólido apoio moral, político e psi-

cológico, constituindo aquilo que se convencionou chamar de “es tratégia de ação indireta", na qual, sem correr grandes riscos e sem sofrer maiores ônus, eles con seguem infligir imenso desgaste aos seus reais oponentes.
Generalidades
Reunidos em torno de potên cias dominantes e por um impe rativo de defesa associativa, os países de todas as partes do mun do, principalmente, no último quarto de século, estabeleceram uma série de alianças e tratados, dentre os quais se destacam:
— O Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ;
— o Pacto de Varsovia (PV)
— o Tratado do Centro (CEN TO);
— 0 Tratado do Sudeste Asiá tico (SEATO).
A estes, devem juntar-se, ainda que apresentem características um tanto diversas e nem sempre bem definidas:
— Liga Arabe.
— a Organização para a Liber tação da Palestina, a Organização da Unidade Africa na (OUA).
— os Pactos Regionais Franceses,
— o Anzus e o Anxuk,
— a Organização dos Estados Americanos (OEA-TIAR)
A OTAN surgiu do tratado assi nado, em Washington, em 4 de abril de 1949, como uma resposta ao expansionismo do comunismo soviético, que violara a Carta das Nações Unidas, dominando 500.000 km2 de território e 24 milhões de pessoas e transformando algu mas nações em satelites sob sua influência, em xun total de 1 mi lhão de km2 e 88 milhões de ha bitantes.
A organização é integrada por 14 nações: Bélgica, Dinamarca, EUA, França, Inglaterra, Islandia, Italia, Holanda, Luxemburgo, No ruega, Portugal, República Fede ral da Alemanha e Turquia. A França abandonou as organiza ções militares do Tratado em 1966 e a Grécia afastou-se após a in vasão da Hha de Chipre pelos turcos.
É uma aliança militar de cará ter defensivo, com uma zona de ação englobando os territórios dos países membros, o Oceano Atlân tico e seus mares adjacentes: o Mar do Norte, e Báltico e o Me diterrâneo.
Agindo no âmbito de uma estra tégia global que inúmeras estra tégias servem, sua estrutura de base foi orientada para uma ati tude geral de guerra total, de ca ráter defensivo, a qual foi sendo progressivamente concretizada: — Na criação e no desenvolvi mento de uma estratégia de dis-
assente em moldes cláse nucleares; suasão sicosna previsão de açoes macide agressão, contra retaguardas imelonginquas do agressor; & !> ças, em caso as tropas e as diatas e . na previsão de uma retirada, de insucesso para bases
<em caso periféricas, para daí partir, logo reorganizadas as forças, para uma reconquista.
que
Aferrada a esses princípios, a aliança construiu, durante muitos força que a fez respeitada, evoluiu geograficamente.
ria, Checoslovàquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia e Ro mênia, destinada à defesa dos ter ritórios europeus dos Estados membros. A Albania desligou-se do Pacto em setembro de 1968, possivelmente, por influência chi nesa.
O Pacto de Varsóvia não foi criado apenas por um imperativo de oposição a OTAN. Havendo se tornado patente, ao governo soviétãco, após o Iugoslávia, em seguida a morte de Stalin, que lhe seria dificil man ter subordinados os partidos co munistas dos países satélites, ado tou três decisões fundamentais:
Os grandes problemas que a OTAN hoje, enfrenta são o enten dimento com os países do Leste Europeu, 0 acordo de segurança e cooperação generalizadas, a redu ção mutua e equilibrada de forças limitação das armas estratétI e a gicas.
O Pacto de Varsóvia é uma aliança militar multilateral. for mada pelo “Tratado de Amizade, Assistência Mutua e Cooperação”, assinado, em Varsóvia, em 14 de de 1966, pelos governos da f maio União Soviética, Albania, Bulgá-

— Conferências periódicas dos chefes nacionais do partido, como instrumento de domínio político;
— Criação do conselho para o auxílio econômico mutuo (COMECON), como instrumento de dominio econômico;
afastamento da anos, a mas nao não conseguiu contornar as crises internas — no que se refere ao acesso às armas nucleares e a po# lítica do seu emprego, e nao se adaptou à evolução da situação internacional e aos riscos globais que há muito se haviam alargado às terras da África, da Asia, das Américas e dos oceanos que as banham.
— Assinatura do Pacto de Var sóvia, como Instrumento de do mínio militar.
Cumpre notar que, em caso de guerra, ‘todas as forças ficarão subordinadas ao alto comando so viético e que o comando do siste ma de defesa aérea que cobre toda a área do Pacto está centralizado em Moscou e é dirigido pelo co mandante em chefe das forças da defesa aérea soviética, Quatro grandes conjuntos de forças compõem as forças terres tres do Pacto de Varsóvia:
— Grupo de forças do Norte, em Legnica, na Polônia;
— grupo de forças do Sul, em Budapeste:
—grupos de forças soviéticas na Alemanha, perto de Berlim;
— grupo central de forças, em Milovice, ao norte de Praga.
As forças taticas aéreas sovié ticas encontrain-se estacionadas na Polônia, na Alemanha Orien tal, na Hungria e na ChecoslovaQuia.
A União Soviética instalou lan çadores de foguetes de pequeno alcance, terra-terra (SSM), Europa Oriental, deixando os de maior alcance em seu território.
O conceito estratégico básico do Pacto é também de natureza de fensiva e aplicável à uma zona geográfica limitada, não cobrindo mesmo uma eventual ação sobre os territórios asiáticos.
Sendo o Pacto de Varsóvia com pletado por tratados de amizade
e cooperação assinados pelos paí ses membros, a essência da defe sa da Europa Oriental não depen de apenas do Pacto mas do con junto de acordos estabelecidos.
Embora o Pacto comece a sen tir os efeitos dos pruridos nacio nalistas dos países membros — por vezes estranhos à homogenei dade que faz a sua força, bem como aos seus anseios de progres so econômico e de aproximação com 0 Ocidente, continua a ter um valor real prático para a Uniiâo Soviética, que, pqr meio dele, assegura o domínio incontrastável da Europa Oriental.
Breve Confronto Militar entre a OTAN, e 0 Pacto de Varsóvia.
Apresentamos, a seguir, alguns quadros comparativos do poder militar das duas grandes alianças, no que diz respeito a forças ter restres, forças navais, forças aéreas e forças estratégicas.
Aspecto
maioria prontas
Efetv.

a
prontas 8 a 12.000 h r div sov (65.000 h/1.500 cc) 6 div hung (95.000 h/1.500 cc) a
Observações: (1) inclusive as forças francesas na RFA (120.000h) (2) 640.000 na tos RFA,
MEIOS
Av. rec.
Av. c. bom.
Av. caça
Total av. táticos
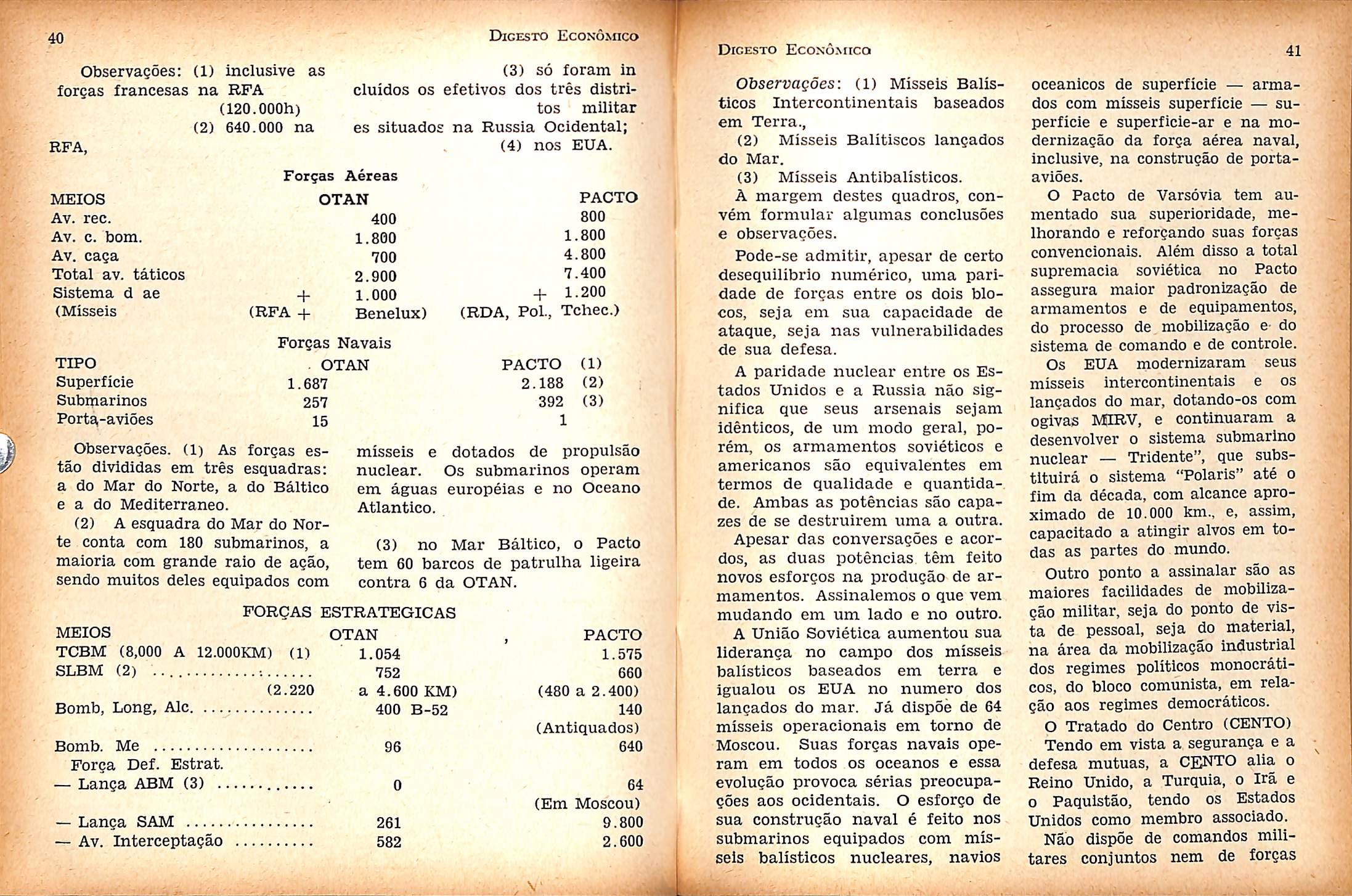
(3) só foram in cluídos os efetivos dos três distriinilitar es situados na Rússia Ocidental; (4) nos EUA.
OTAN
1.000 Benelux) + (RFA +
Forças Navais
Pol., Tchec.)
Superfície
Submarinos
Porta,-aviões
Observações. (1) As forças es tão divididas em três esquadras: a do Mar do Norte, a do Báltico e a do Mediterrâneo.
(2) A esquadra do Mar do Nor te conta com 180 submarinos, a maioria com grande raio de ação, sendo muitos deles equipados com
MEIOS
mísseis e dotados de propulsão nuclear, em águas européias e no Oceano Atlântico. Os submarinos operam (3) no Mar Báltico, o Pacto tem 60 barcos de patrulha ligeira contra 6 da OTAN.
TCBM (8,000 A 12.000KM) (1)
SLBM (2)
Bomb, Long, Alc,
Bomb. Me
Força Def. Estrat. — Lança ABM (3) .
OTAN
(2.220 a 4.600 KM) 400 B-52 (480 a 2.400)
(Antiquados)
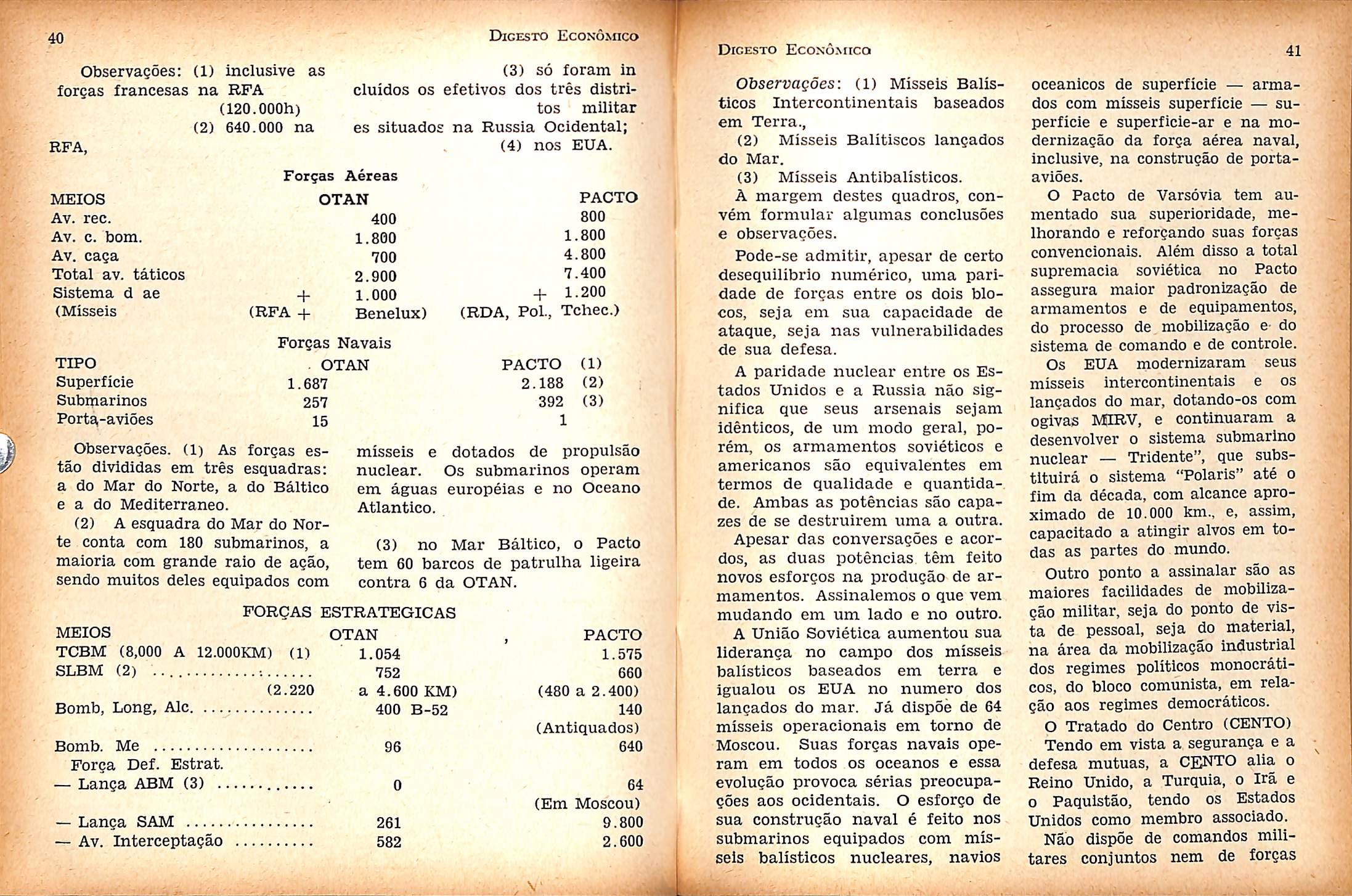
Observações: (1) Mísseis Balís ticos Intercontinentais baseados em Terra.,
(2) Mísseis Balítiscos lançados do Mar,
(3) Mísseis Antibalísticos.
À margem destes quadros, con vém formular algumas conclusões € observações.
Pode-se admitir, apesar de certo desequilíbrio numérico, uma pari dade de forças entre os dois blo cos, seja em sua capacidade de ataque, seja nas vulnerabilidades de sua defesa.
A paridade nuclear entre os Es tados Unidos e a Rússia não sig nifica que seus arsenais sejam idênticos, de um modo geral, po rém, os armamentos soviéticos e americanos são equivalentes em termos de qualidade e quantida de. Ambas as potências são capa zes de se destruírem uma a outra.
Apesar das conversações e acor dos, as duas potências têm feito novos esforços na produção de ar mamentos. Assinalemos o que vem mudando em um lado e no outro.
A União Soviética aumentou sua liderança no campo dos mísseis balísticos baseados em terra e igualou os EUA no numero dos lançados do mar. Já dispõe de 64 mísseis operacionais em torno de Moscou. Suas forças navais ope ram em todos os oceanos e essa evolução provoca sérias preocupa ções aos ocidentais. O esforço de sua construção naval é feito nos submarinos equipados com mís seis balísticos nucleares, navios
oceânicos de superfície — arma dos com mísseis superfície — su perfície e superficie-ar e na mo dernização da força aérea naval, inclusive, na construção de portaaviões.
O Pacto de Varsóvia tem au mentado sua superioridade, me lhorando e reforçando suas forças convencionais. Além disso a total supremacia soviética no Pacto assegura maior padronização de armamentos e de equipamentos, do processo de mobilização e- do sistema de comando e de controle.
Os EUA modernizaram seus mísseis intercontinentais e os lançados do mar, dotando-os com ogivas MIRV, e continuaram a desenvolver o sistema submarino nuclear — Tridente”, que subs tituirá 0 sistema “Polaris” até o fim da década, com alcance apro ximado de 10.000 km., e, assim, capacitado a atingir alvos em to das as partes do mundo.
Outro ponto a assinalar são as maiores facilidades de mobiliza ção militar, seja do ponto de vis ta de pessoal, seja do material, na área da mobilização industrial dos regimes políticos monocrátido bloco comunista, em rela ção aos regimes democráticos.
COS: o
O Tratado do Centro (CENTO) Tendo em vista a segurança e a ^ defesa mutuas, a CEINTO alia o Reino Unido, a Turquia, o Irã e Paquistão, tendo os Estados Unidos como membro associado.
Não dispõe de comandos mili tares conjuntos nem de forças
atribuídas, mas tão somente de um quadro permanente de repre sentantes militares de cada país e de comitês militar, econômico e de contra-subversão, sendo o ra mo econômico da aliança, atual mente, o mais importante.
Cumpre observar que esta alian ça começou, em 1956, como “Pacto de Bagdad”, firmado entre a Turquia e o Iraque, em 1959, o Iraque retirou-se da aliança, com o que a organização mudou de nome e de sede, agora em Ancara. A CENTO representa uma alian ça militar de proteção, a cuja sombra o Irã, o Paquistão e a Turquia procuram progredir eco nômica, política e culturalmente.
A Organização do Tratado do Sudeste da Asia (SEATO).
Tratado de Defesa Coletiva do Sudeste da Asia, a SEATO foi criada em 1954 pelos Estados Uni dos, Austrália, Grã-Bretanha, França, Nova Zelandia, Paquistão, Filipinas e Tailandia. Propuse ram-se a consultar-se para a de fesa conjunta, em caso de agres são contra qualquer deles ou con tra 0 Cambodja, o Laos e o Vietnã do Sul, definidos estes três como “Estados de Protocolo”, surgido da 'c'Oi¥venção de paz da Primeira Guerra da Indochina.
O Laos e Cambodja renuncia ram à essa proteção, o Paquistão deixou a SEATO após a Guerra Indo-Paquistanesa e, em 1974, a França cessou sua contribuição fi nanceira.
Embora a SEATO não disponha ^ de comando militar conjunto nem i de forças atribuídas, adotou uma série de planos militares e tem I executado manobras militares regulares, voltando suas atenções, nos últimos anos, para projetos nacionais de anti-subversão.
O desfecho da Guerra do Vietnã e os últimos acontecimentos no Sudeste Asiático parecem indicar o acaso da SEATO, já se prevendo para os próximos dois anos o fim de suas atividades.
A Austrália, a Nova Zelandia e os Estados Unidos em 1951, assi naram acordo de duração inde finida, pelo qual se dispuseram a enfrentar, conjuntamente. um ataque armado contra os territó rios metropolitanos e insulares ou sobre aeronaves e embarcações, de cada um deles, na área do Pa cífico.
A Austrália, Nova Zelandia, a Grã-Bretanha, a Malásia e Singa pura assinaram, em novembro de 1971, este acordo, em substituição ao antigo Tratado de Defesa Anglo-Malaio, estabelecendo que, na eventualidade de qualquer ataque armado, organizado ou apoiado externamente contra a Malásia ou Singapura, os cinco governos se consultarão para decidir as me didas a adotar, em conjunto, ou separadamente.
O Tratado dispõe da força ANZUK, composta de unidades ter-
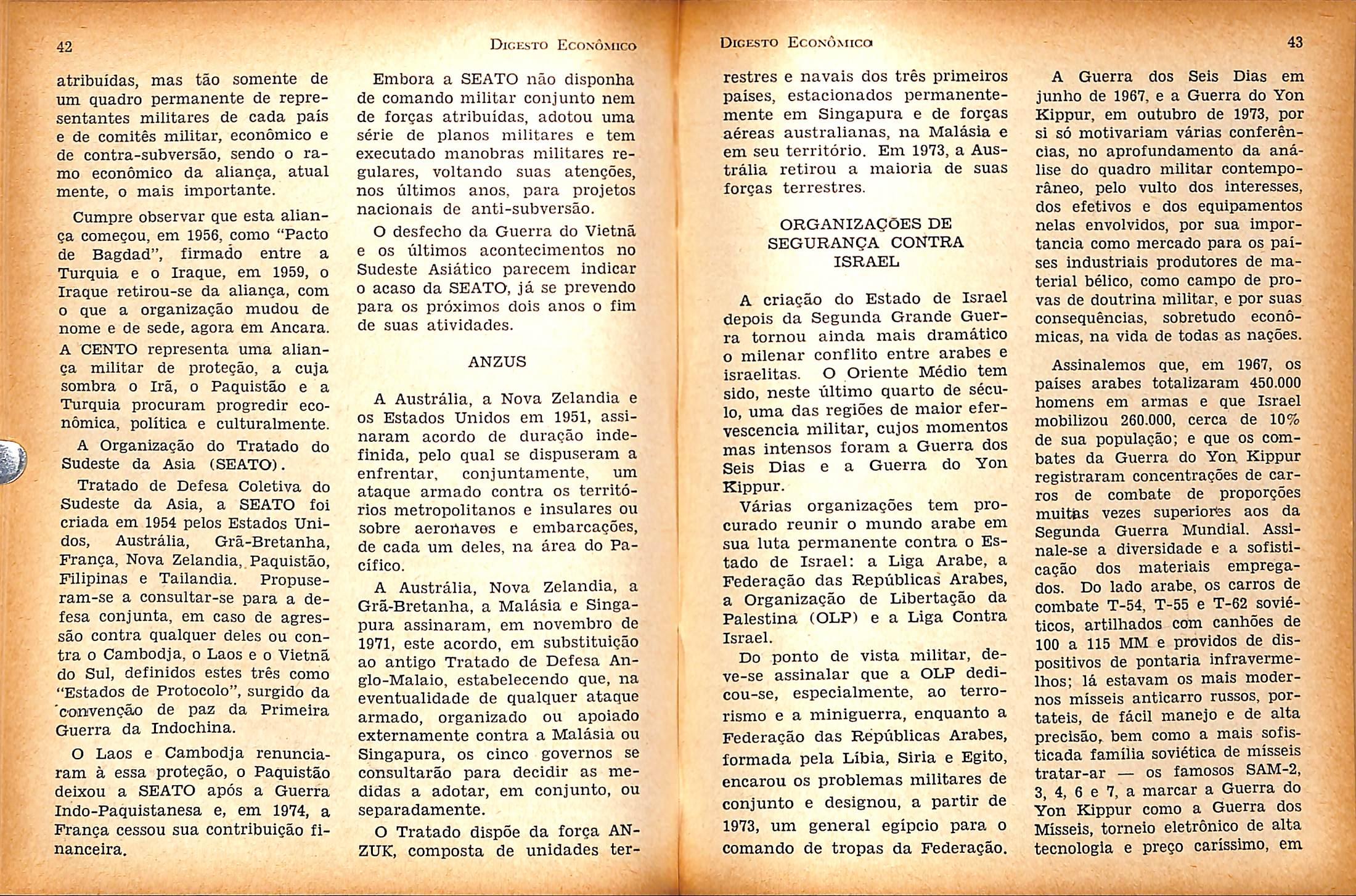
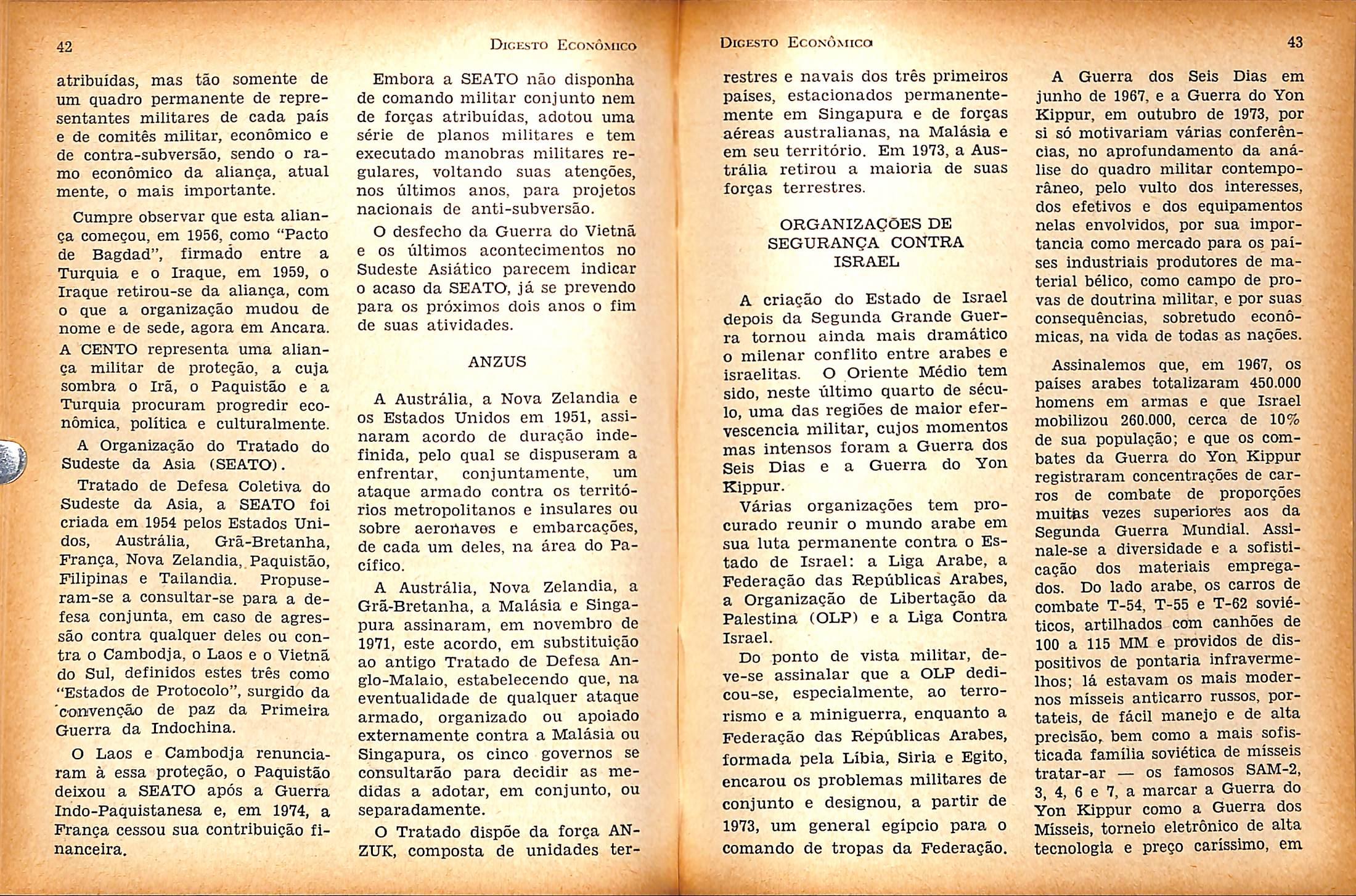
Dicesto Economico
restres e navais dos três primeiros países, estacionados permanentemente em Singapura e de forças aéreas australianas, na Malásia e em seu território. Em 1973, a Austrália retirou a maioria de suas forças terrestres,
A criação do Estado de Israel depois da Segunda Grande Guertornou ainda mais dramático milenar conflito entre arabes e israelitas. O Oriente Médio tem sido, neste último quarto de sécu lo, uma das regiões de maior efervescencia militar, cujos momentos mas Seis Dias e a Kippur.
Várias organizações tem pro curado reunir o mundo arabe em sua luta permanente contra o Es tado de Israel: a Liga Arabe, a Federação das Repúblicas Arabes, a Organização de Libertação da Palestina (OLP) e a Liga Contra Israel.
Do ponto de vista militar, deve-se assinalar que a OLP dedicou-se, rismo e a miniguerra, enquanto a Federação das Repúblicas Arabes, formada pela Líbia, Siria e Egito, encarou os problemas militares de conjunto e designou, a partir de 1973, um general egípcio para o comando de tropas da Federação. ra o
A Guerra dos Seis Dias em junho de 1967, e a Guerra do Yon Kippur, em outubro de 1973, por si só motivariam várias conferên cias, no aprofundamento da aná lise do quadro militar contempo râneo, pelo vulto dos interesses, dos efetivos e dos equipamentos nelas envolvidos, por sua impor tância como mercado para os paí ses industriais produtores de ma terial bélico, como campo de pro vas de doutrina militar, e por suas consequências, sobretudo econô micas, na vida de todas as nações.
Assinalemos que, em 1967, os países arabes totalizaram 450.000 homens em armas e que Israel mobilizou 260.000, cerca de 10% de sua população; e que os com bates da Guerra do Yon Kippur intensos foram a Guerra dos Guerra do Yon registraram concentrações de car ros de combate de proporções muitas vezes superiobes aos da Segunda Guerra Mundial. Asslnale-se a diversidade e a sofistidos materiais emprega- cação dos. Do lado arabe. os carros de combate T-54, T-55 e T-62 sovié ticos, artilhados com canhões de 100 a 115 MM e providos de dis positivos de pontaria infraverme lhos; lá estavam os mais moder nos mísseis anticarro russos, por táteis, de fácil manejo e de alta precisão, bem como a mais sofis ticada família soviética de mísseis os famosos SAM-2, especialmente, ao terrotratar-ar 3, 4, 6 e 7, a marcar a Guerra do Yon Kippur como a Guerra dos Mísseis, torneio eletrônico de alta tecnologia e preço caríssimo, em
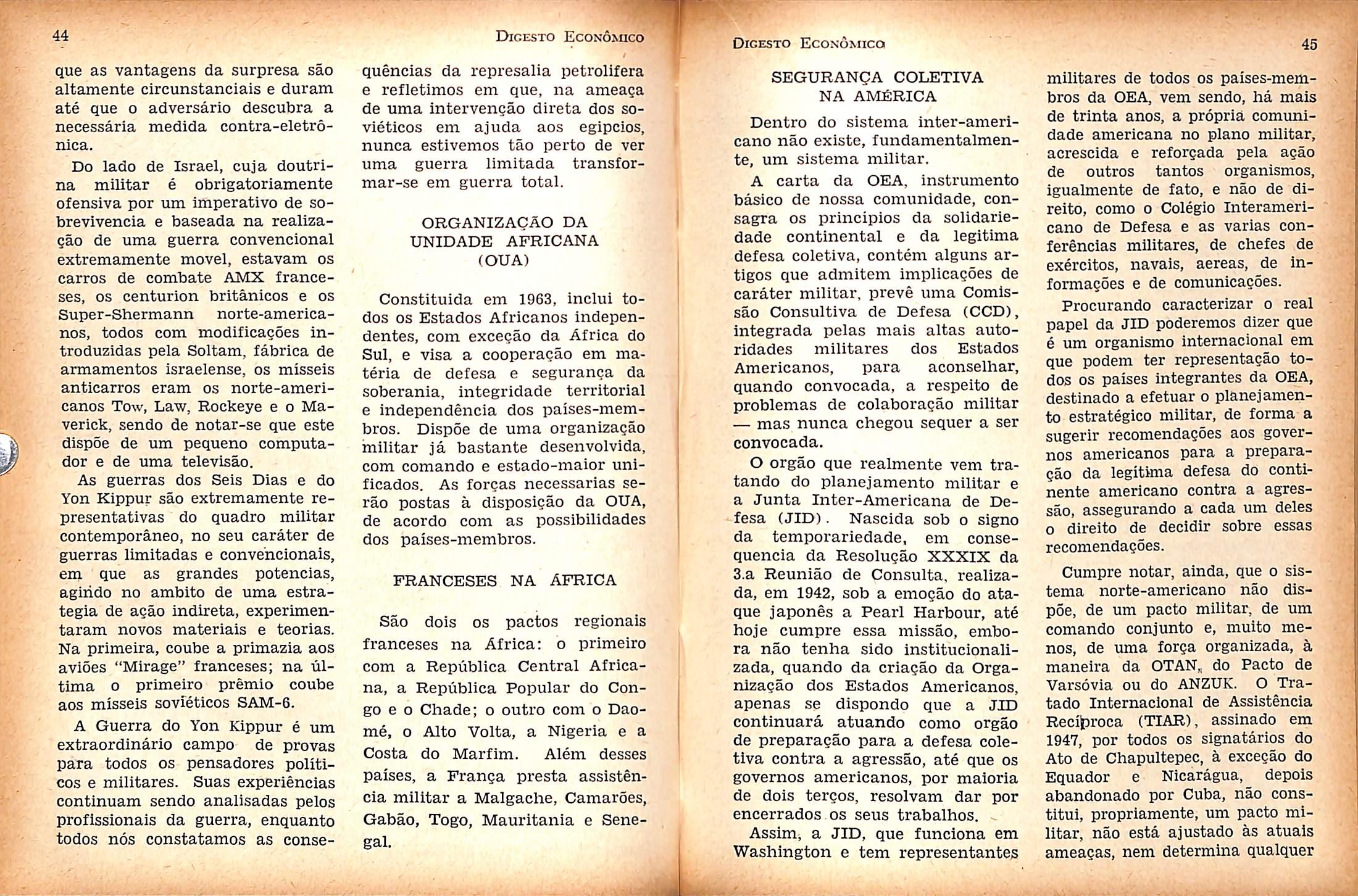
que as vantagens da surpresa são altamente circunstanciais e duram até que o adversário descubra a necessária medida contra-eletrônica.
Do lado de Israel, cuja doutri na militar é obrigatoriamente ofensiva por um imperativo de so brevivência e baseada na realiza ção de uma guerra convencional extremamente movei, estavam os carros de combate AMX france ses, os centurion britânicos e os Super-Shermann norte-america nos, todos com modificações in troduzidas pela Soltam, fábrica de armamentos israelense, os misseis anticarros eram os norte-ameri canos Tow, Law, Rockeye e o Maverick, sendo de notar-se que este dispõe de um pequeno computa dor e de uma televisão.
As guerras dos Seis Dias e do Yon Kippur são extremamente re presentativas do quadro militar contemporâneo, no seu caráter de guerras limitadas e convencionais, em que as grandes potências, agirido no âmbito de uma estra tégia de ação indireta, experimen taram novos materiais e teorias. Na primeira, coube a primazia aos aviões “Mirage” franceses; na úl tima 0 primeiro prêmio coube aos mísseis soviéticos SAM-6.
A Guerra do Yon Kippur é um extraordinário campo de provas para todos os pensadores politicos e militares. Suas experiências continuam sendo analisadas pelos profissionais da guerra, enquanto todos nós constatamos as conse¬
quências da represália petrolífera e refletimos em que, na ameaça de uma intervenção direta dos so viéticos em ajuda aos egipcios, nunca estivemos tão perto de ver uma guerra limitada tvansformar-se em guerra total.
Constituida em 1963, inclui to dos os Estados Africanos indepen dentes, com exceção da África do Sul, e visa a cooperação em ma téria de defesa e segurança da soberania, integridade territorial e independência dos países-mem bros. Dispõe de uma organização militar já bastante desenvolvida, com comando e estado-maior uni ficados. As forças necessárias se rão postas à disposição da OUA, de acordo com as possibilidades dos países-membros.
São dois os pactos regionais franceses na África: o primeiro com a República Central Africa na, a República Popular do Con go e o Chade; o outro com o Daomé, o Alto Volta, a Nigéria e a Costa do Marfim, países, a França presta assistên cia militar a Malgache, Camarões, Gabão, Togo, Mauritania e Sene gal. Além desses
Dentro do sistema inter-americano não existe, íundamentalmente, um sistema militar.
A carta da OEA. instrumento básico de nossa comunidade, con sagra os princípios da solidarie dade continental e da legitima defesa coletiva, contém alguns ar tigos que admitem implicações de caráter militar, prevê uma Comis são Consultiva de Defesa (CCD), integrada pelas mais altas auto ridades militares dos Estados Americanos, para aconselhar, quando convocada, a respeito de problemas de colaboração militar — mas nunca chegou sequer a ser convocada.
O orgão que realmente vem tra tando do planejamento militar e a Junta Inter-Americana de De fesa (JID). Nascida sob o signo da temporariedade, em conse quência da Resolução XXXIX da 3.a Reunião de Consulta, realiza da, em 1942, sob a emoção do ata que japonês a Pearl Harbour, até hoje cumpre essa missão, embo ra não tenha sido institucionali zada, quando da criação da Orga nização dos Estados Americanos, apenas se dispondo que a JID continuará atuando como orgão de preparação para a defesa cole tiva contra a agressão, até que os governos americanos, por maioria de dois terços, resolvam dar por encerrados os seus trabalhos. Assim, a JID, que funciona em Washington e tem representantes
militares de todos os países-mem bros da OEA, vem sendo, há mais de trinta anos, a própria comuni- . dade americana no plano militar, acrescida e reforçada pela ação de outros tantos organismos, igualmente de fato, e não de di reito, como o Colégio Interamericano de Defesa e as varias con ferências militares, de chefes de exércitos, navais, aereas, de infoi-mações e de comunicações.
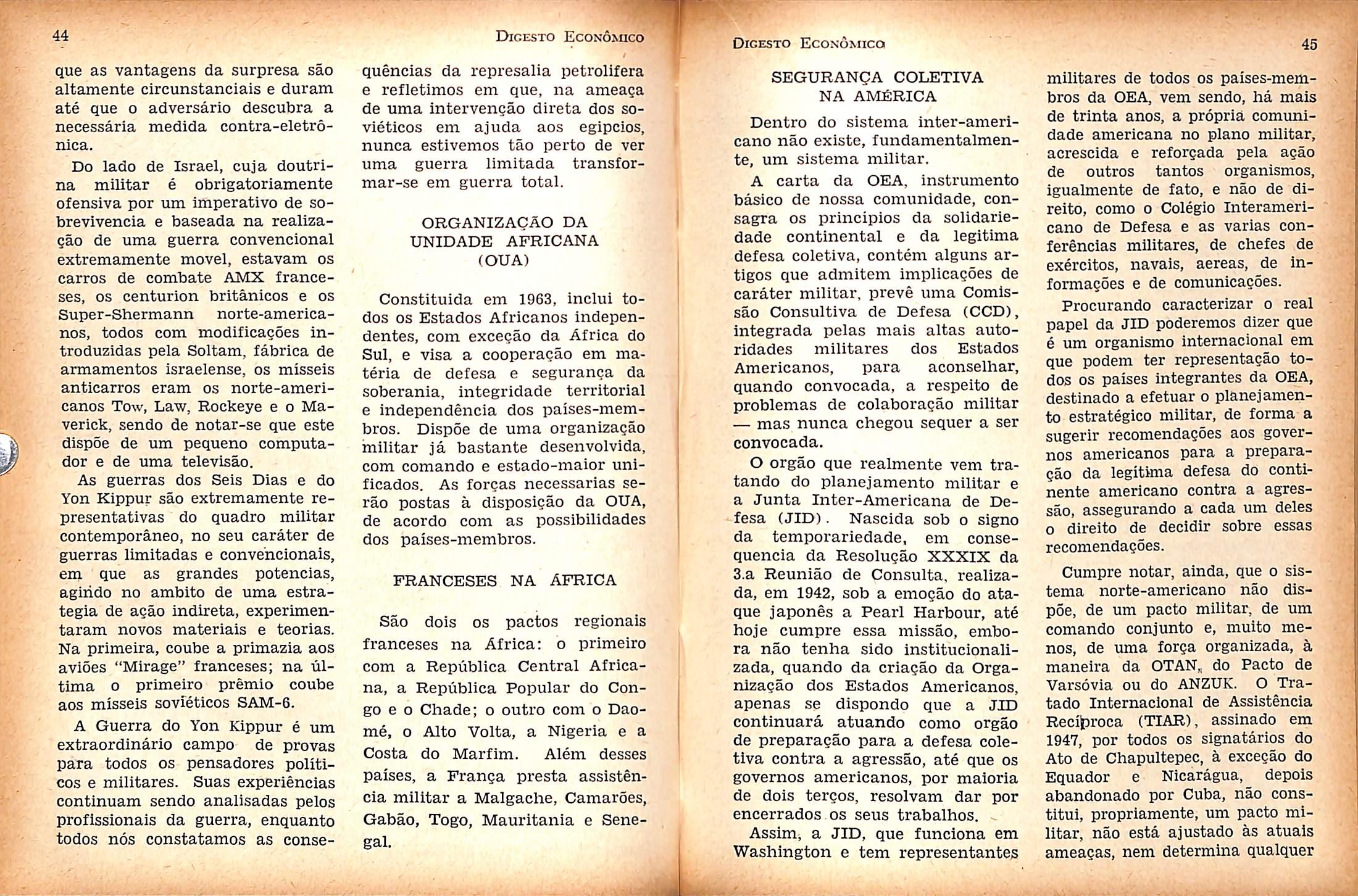
çao sao.
0
Procurando caracterizar o real papel da JID poderemos dizer que é um organismo internacional em que podem ter representação to dos os países integrantes da OEA, destinado a efetuar o planejamen to estratégico militar, de forma a sugerir recomendações aos gover nos americanos para a prepara da legítima defesa do conti nente americano contra a agresassegurando a cada um deles direito de decidir sobre essas recomendações.
Cumpre notar, ainda, que o sis tema norte-americano não dis põe, de um pacto militar, de um comando conjunto e, muito me nos, de uma força organizada, à maneira da OTAN,^ do Pacto de Varsóvia ou do ANZUK. O Tra tado Internacional de Assistência Recít>roca (TTAR), assinado em 1947, por todos os signatários do Ato de Chapultepec, à exceção do Equador e Nicarágua, depois abandonado por Cuba, não cons titui, propriamente, um pacto mi litar, não está ajustado às atuais ameaças, nem determina qualquer
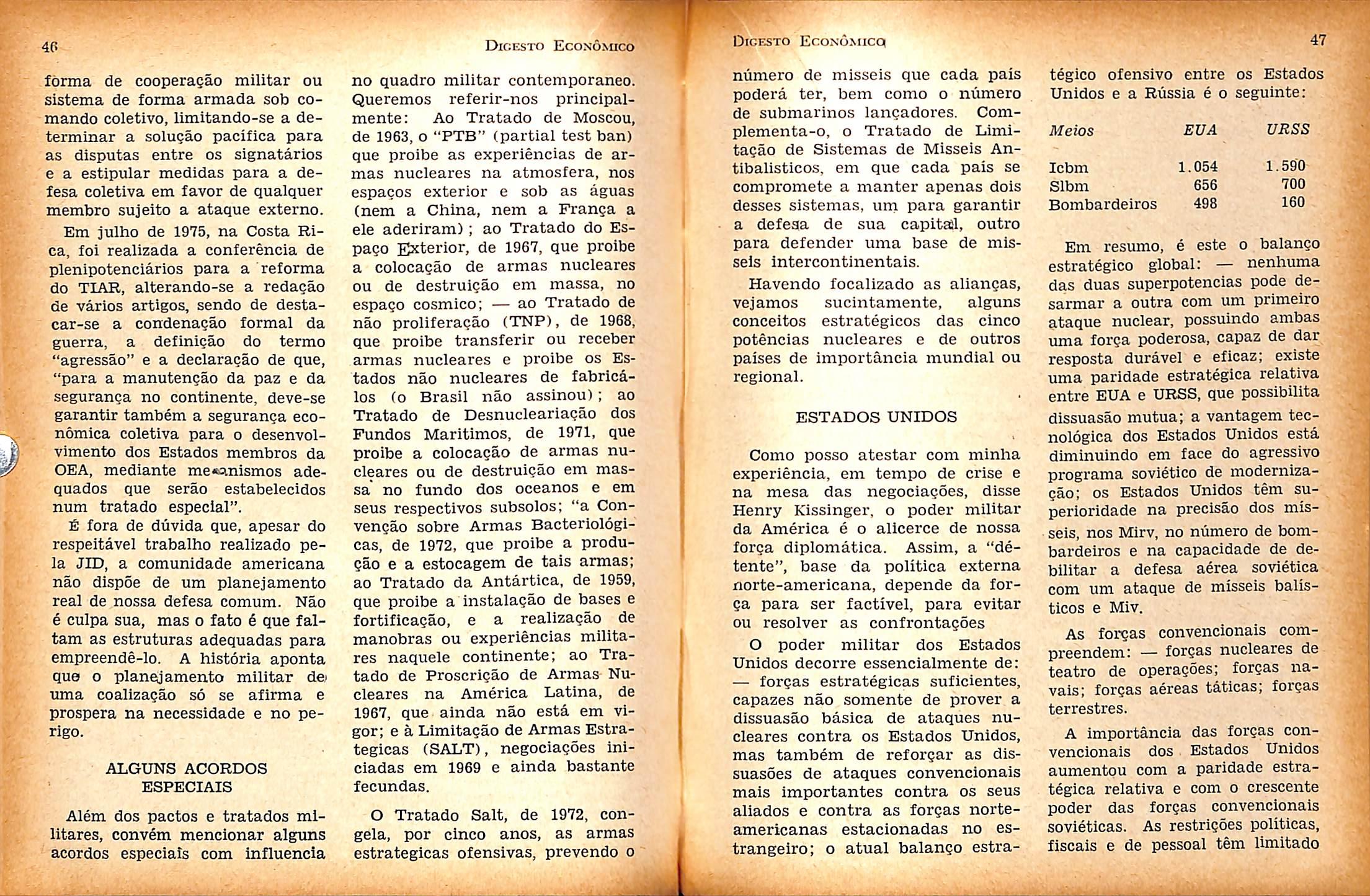
fôrma de cooperação militar ou sistema de forma armada sob co mando coletivo, limitando-se a de terminar a solução pacifica para as disputas entre os signatários e a estipular medidas para a de fesa coletiva em favor de qualquer membro sujeito a ataque externo.
Em julho de 1975, na Costa Ri ca, foi realizada a conferência de plenipotenciários para a reforma do TIAR, alterando-se a redação de vários artigos, sendo de destacar-se a condenação formal da guerra, a definição do termo “agressão” e a declaração de que, para a manutenção da paz e da segurança no continente, deve-se garantir também a segurança eco nômica coletiva para o desenvol vimento dos Estados membros da OEA, mediante me«i>,nismos ade quados que serão estabelecidos num tratado especial”.
É fora de dúvida que, apesar do respeitável trabalho realizado pe la JID, a comunidade americana não dispõe de um planejamento real de nossa defesa comum. Não é culpa sua, mas o fato é que fal tam as estruturas adequadas para empreendê-lo. A história aponta que 0 planejamento militar dC' uma coalização só se afirma e prospera na necessidade e no pe rigo.
no quadro militar contemporâneo. Queremos referir-nos principal mente : Ao Tratado do Moscou, de 1963, 0 “PTB” (partial test ban) que proibe as experiências de ar mas nucleares na atmosfera, nos espaços exterior e sob as águas (nem a China, nem a França a ele aderiram); ao Tratado do Es paço Exterior, de 1967, que proibe a colocação de armas nucleares ou de destruição em massa, no — ao Tratado de
espaço cosmico; não proliferação (TNP), de 1968, que proibe transferir ou receber armas nucleares e proibe os Es tados não nucleares de fabricá- u los (o Brasil não assinou); ao Tratado de Desnucleariação dos Fundos Maritimos, de 1971, que proibe a colocação de armas nu cleares ou de destruição em mas sa no fundo dos oceanos e em seus respectivos subsolos; “a Con venção sobre Armas Bacteriológi cas, de 1972, que proibe a produ ção e a estocagem de tais armas; ao Tratado da Antártica, de 1959, que proibe a instalação de bases e fortificação, e a manobras ou experiências milita res naquele continente; ao Tra tado de Proscrição de Armas Nu cleares na América Latina, de 1967, que ainda não está em vi gor; e à Limitação de Armas Estra tégicas (SALT), negociações ini ciadas em 1969 e ainda bastante fecundas.
Aiém dos pactos e tratados mi litares, convém mencionar alguns acordos especiais com influencia
realização de
O Tratado Salt, de 1972, con gela, por cinco anos, as armas estratégicas ofensivas, prevendo o
número de misseis que cada país poderá ter, bem como o número de submarinos lançadores. Com plementa-o, o Tratado de Limi tação de Sistemas de Misseis Antibalisticos. em que cada pais se compromete a manter apenas dois desses sistemas, um para garantir a defesa de sua capita'1, outro para defender uma base de mis seis intercontinentais.
Havendo focalizado as alianças, vejamos sucintamente, alguns conceitos estratégicos das cinco potências nucleares e de outros países de importância mundial ou regional.
Como posso atestar com minha experiência, em tempo de crise e na mesa das negociações, disse Henry Kissinger, o poder militar da América é o alicerce de nossa força diplomática. Assim, a “détente”, base da política externa norte-americana, depende da for ça para ser factível, para evitar ou resolver as confrontações
O poder militar dos Estados Unidos decorre essencialmente de: — forças estratégicas suficientes, capazes não somente de prover a dissuasão básica de ataques nu cleares contra os Estados Unidos, mas também de reforçar as dis suasões de ataques convencionais mais importantes contra os seus aliados e contra as forças norteamericanas estacionadas no es trangeiro; o atual balanço estra-
tégico ofensivo entre os Estados Unidos e a Rússia é o seguinte:
çao; os
Em resumo, é este o balanço estratégico global: das duas superpotências pode de sarmar a outra com um primeiro ataque nuclear, possuindo ambas força poderosa, capaz de dar resposta durável e eficaz; existe paridade estratégica relativa nenhuma uma uma entre EUA e URSS, que possibilita dissuasão mutua; a vantagem tec nológica dos Estados Unidos está diminuindo em face do agressivo programa soviético de modernizaEstados Unidos têm su- , perioridade na precisão dos mís seis, nos Mirv, no número de bom bardeiros e na capacidade de de bilitar a defesa aérea soviética com um ataque de mísseis balís ticos e Miv.
As forças convencionais com preendem: — forças nucleares de teatro de operações; forças na vais; forças aéreas táticas; forças terrestres. '4
A importância das forças condos Estados Unidos vencionais aumentou com a paridade estra tégica relativa e com o crescente poder das forças convencionais soviéticas. As restrições políticas, fiscais e de pessoal têm limitado
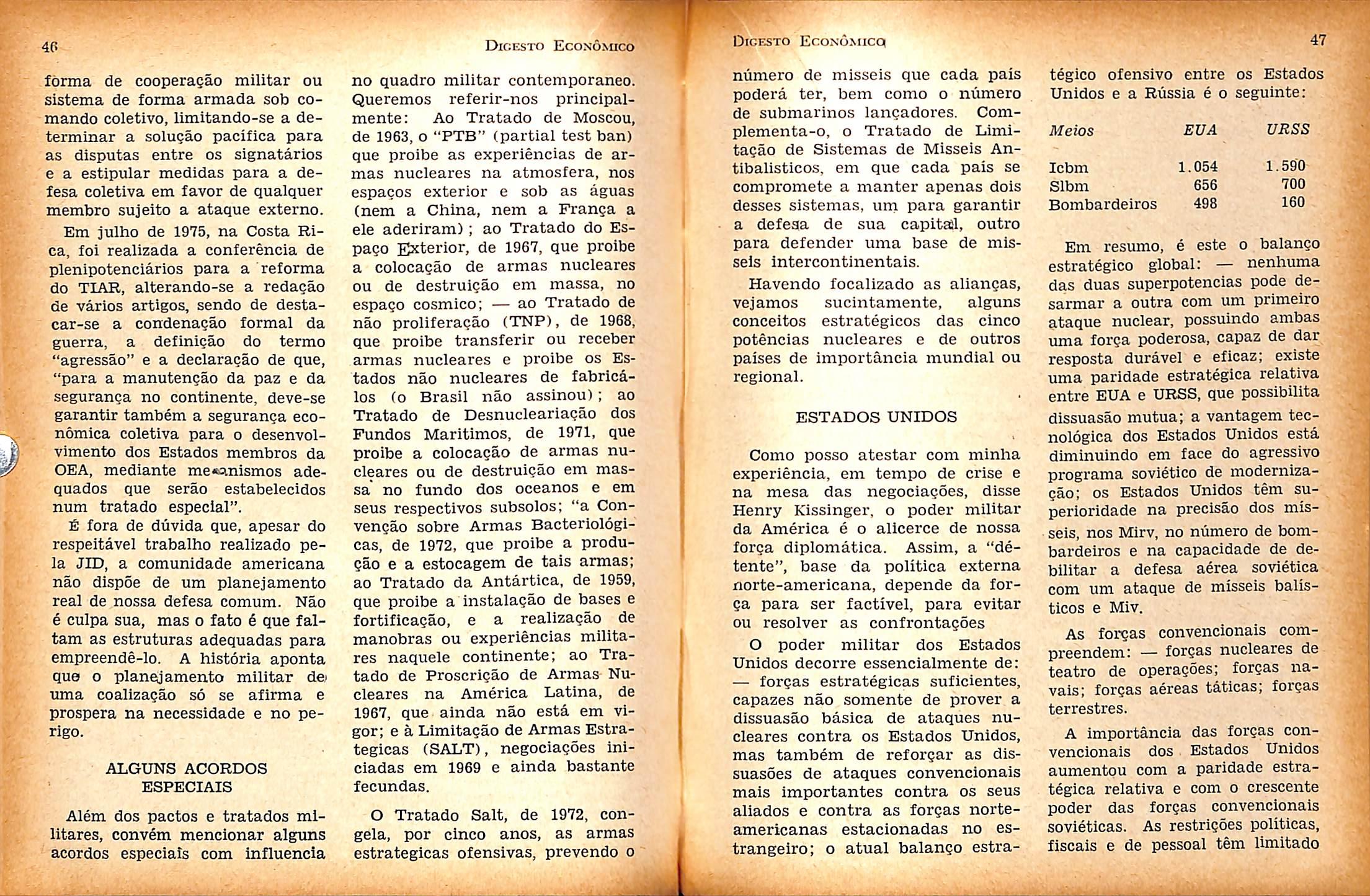
a expansão das forças convencio nais norte-americanas, impondo a opção por forças menores e mais eficientes.
As forças terrestres dos Esta dos Unidos são constituídas de: forças da ativa, do Exrcito e do Corpo de Fuzileiros (cerca de 1 milhão de homens); — unidades da reserva organizada, do Exér cito, do Corpo de Fuzileiros e da Guarda Nacional (cerca de 700.000 homens); pessoal relacio nado para a reserva (cerca de 1 e meio milhão de homens).
A despeito de sua extraordiná ria capacidade nuclear, estratégi ca e de teatro, os Estados Unidos consideram que a dissuasão de pende, basicamente, da possibili dade de manter certas áreas tratégicas. Em vez de dispersar forças em todas as áreas, cepção estratégica dos Estados Unidos visa a atender a contin gências principais.., guardando a possibilidade de rápido desloca mento para qualquer teatro. A Eu ropa Central é a área principal, e a Coréia a secundária. Em Okinawa, nas Filipinas e nos Estados Unidos, são mantidas forças po derosas, dotadas de mobilidade estratégica, prontas a responder rápida e efetivamente às situa ções de emergência.
doutrina comunista é dinâmica, multiforme e aparentemente pa radoxal, adaptável às contingên cias de tempo e de lugar, visceral mente aética até porque nos ensinamentos de Lenine, tudo o que favoreça a tarefa revolucio nária é intrinsecamente bom e perfeitamente moral.
São os seguintes os aspectos bá sicos da estratégia soviética: — a teoria marxista da internacionalidade da luta de classes; — o incremento às “guerras de liber tação nacional”; pacífica; — a ameaça da força.
UNIÃO SOVIÉTICA
es-
a con-
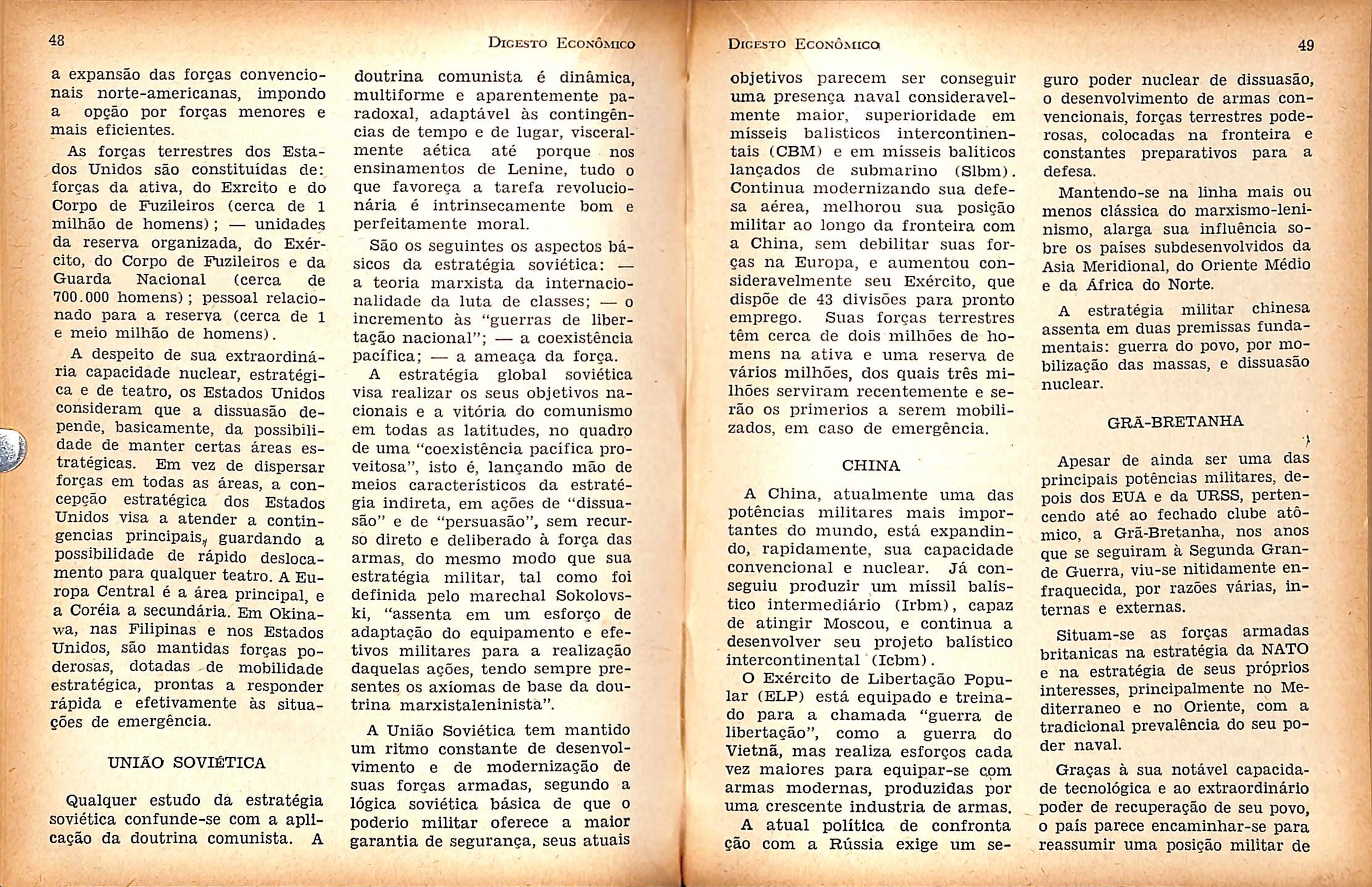
A estratégia global soviética visa realizar os seus objetivos na cionais e a vitória do comunismo em todas as latitudes, no quadro de uma “coexistência pacifica pro veitosa”, isto é, lançando mão de meios característicos da estraté gia indireta, em ações de “dissua são” e de “persuasão”, sem recur so direto e deliberado à força das armas, do mesmo modo que sua estratégia militar, tal como foi definida pelo marechal Sokolovski, “assenta em um esforço de adaptação do equipamento e efe tivos militares para a realização daquelas ações, tendo sempre pre sentes os axiomas de base da dou trina marxistaleninista”.
A União Soviética tem mantido um ritmo constante de desenvol vimento e de modernização de suas forças armadas, segundo a lógica soviética básica de que o poderio militar oferece a maior garantia de segurança, seus atuais a coexistência
Qualquer estudo da estratégia soviética confunde-se com a apli cação da doutrina comunista. A '-L
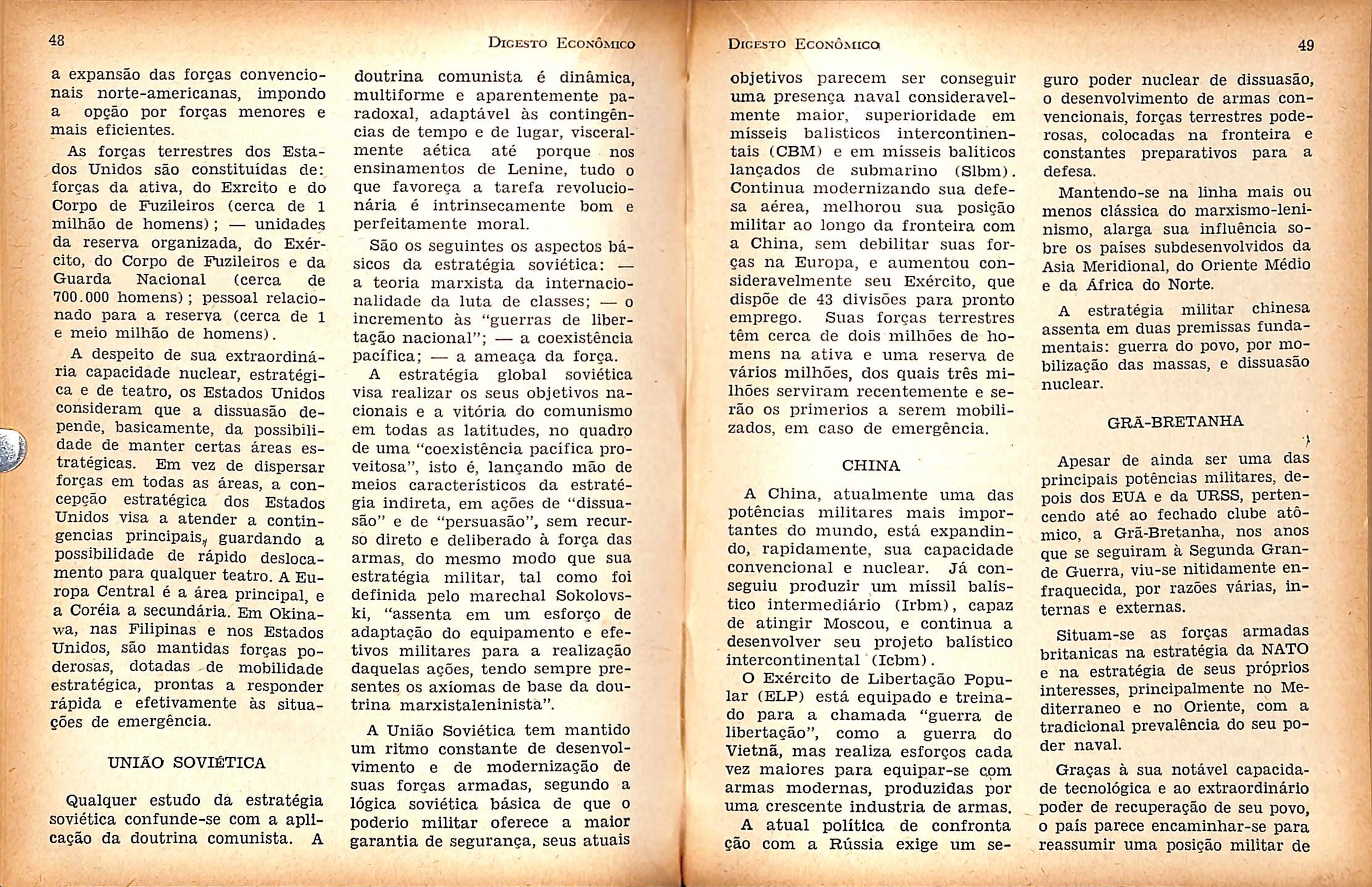
Suas forças terrestres
objetivos parecem ser conseguir uma presença naval consideravel mente maior, superioridade em mísseis balísticos intercontinen tais (CBM) e em mísseis baliticos lançados de submarino (Slbm). Continua modernizando sua defe sa aérea, melhorou sua posição militar ao longo da fronteira com a China, sem debilitar suas for ças na Europa, e aumentou con sideravelmente seu Exército, que dispõe de 43 divisões para pronto emprego, têm cerca de dois milhões de ho mens na ativa e uma reserva de vários milhões, dos quais três mi lhões serviram recentemente e se rão os primerios a serem mobili zados, em caso de emergência.
A China, atualmente uma das potências militares mais impor tantes do mundo, está expandin do, rapidamente, sua capacidade convencional e nuclear. Já con seguiu produzir um míssil balís tico intermediário (Irbm), capaz de atingir Moscou, e continua a desenvolver seu projeto balístico intercontinental (Icbm).
O Exército de Libertação Popu lar (ELP) está equipado e treina do para a chamada “guerra de libertação”, como a guerra do Vietnã, mas realiza esforços cada vez maiores para equipar-se com armas modernas, produzidas por uma crescente industria de armas.
A atual política de confronta ção com a Rússia exige um se-
guro poder nuclear de dissuasão, 0 desenvolvimento de armas con vencionais, forças terrestres pode rosas, colocadas na fronteira e constantes preparativos para a defesa.
Mantendo-se na linha mais ou menos clássica do marxismo-leninismo, alarga sua influência so bre os países subdesenvolvidos da Asia Meridional, do Oriente Médio e da África do Norte.
A estratégia militar chinesa assenta em duas premissas funda mentais: guerra do povo, por mo bilização das massas, e dissuasão nuclear.
●)
Apesar de ainda ser uma das principais potências militares, de pois dos EUA e da URSS, perten cendo até ao fechado clube atô mico, a Grã-Bretanha, nos anos que se seguiram à Segunda Gran de Guerra, viu-se nitidamente en fraquecida, por razões várias, in ternas e externas.
forças armadas
Situam-se as britânicas na estratégia da NATO e na estratégia de seus próprios interesses, principalmente no Me diterrâneo e no Oriente, com a tradicional prevalência do seu po der naval.
Graças à sua notável capacida de tecnológica e ao extraordinário poder de recuperação de seu povo, 0 país parece encaminhar-se para reassumir uma posição militar de
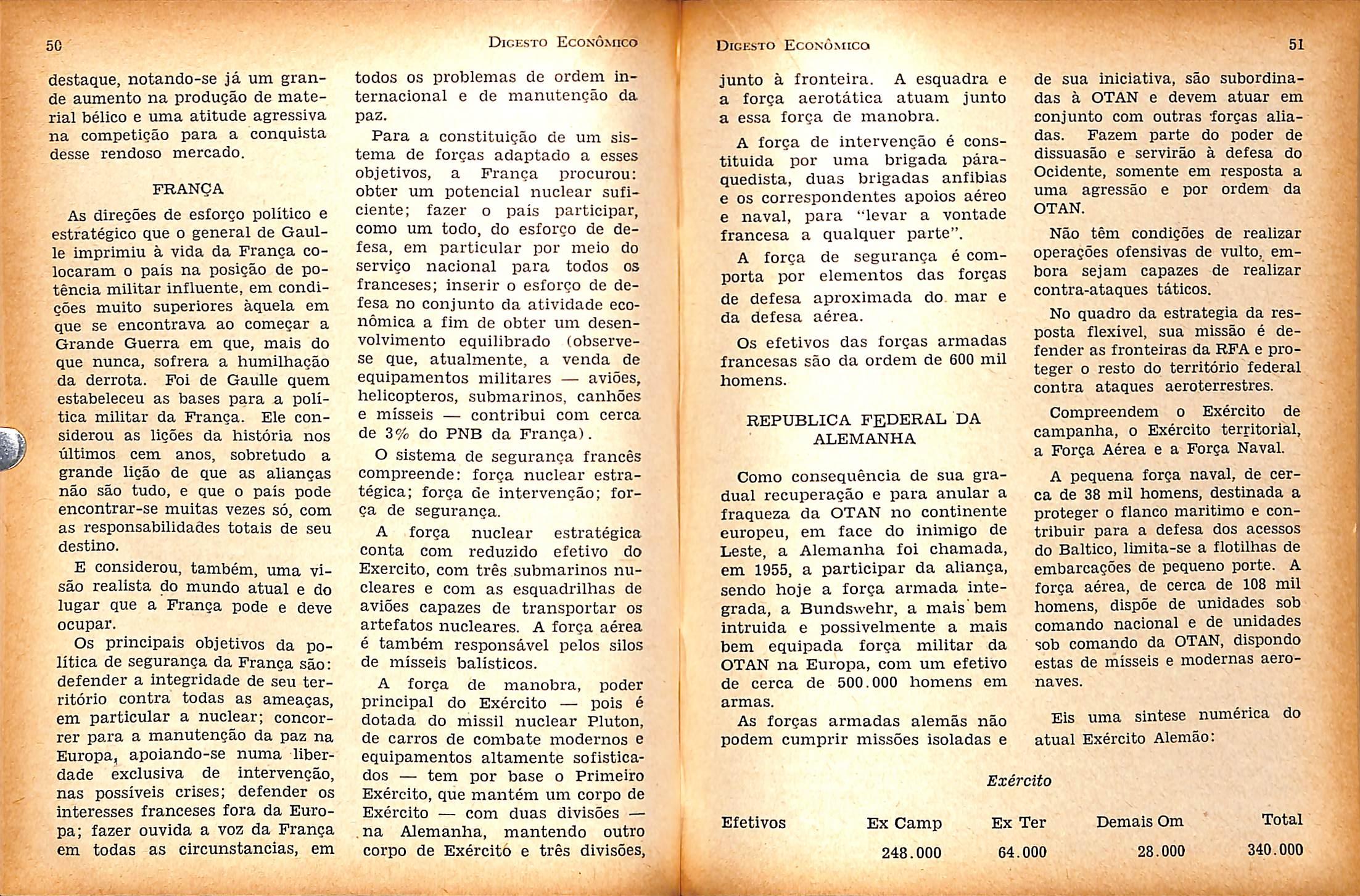
destaque, notando-se já um gran de aumento na produção de mate rial bélico e uma atitude agressiva na competição para a conquista desse rendoso mercado.
As direções de esforço político e estratégico que o general de Gaulle imprimiu à vida da França co locaram o país na posição de po tência militar influente, em condi ções muito superiores àquela em que se encontrava ao começar a Grande Guerra em que, mais do que nunca, sofrerá a humilhação da derrota. Foi de Gaulle quem estabeleceu as bases para a polí tica militar da França. Ele con siderou as lições da história nos últimos cem anos, sobretudo a grande lição de que as alianças não são tudo, e que o país pode encontrar-se muitas vezes só, com as responsabilidades totais de seu destino.
E considerou, também, uma vi são realista do mundo atual e do lugar que a França pode e deve ocupar.
Os principais objetivos da po lítica de segurança da França são: defender a integridade de seu ter ritório contra todas as ameaças, em particular a nuclear; concor rer para a manutenção da paz na Europa, apoiando-se numa liber dade exclusiva de intervenção, nas possíveis crises; defender os interesses franceses fora da Euro pa; fazer ouvida a voz da França em todas as circunstancias, em
todos os problemas de ordem in ternacional e de manutenção da paz.
Para a constituição de um sis tema de forças adaptado a esses objetivos, a França procurou: obter um potencial nuclear sufi ciente; fazer o país participar, como um todo, do esforço de de fesa, em particular por meio do serviço nacional para todos os franceses; inserir o esforço de de fesa no conjunto da atividade eco nômica a fim de obter um desen volvimento equilibrado (observese que, atualmente, a venda de equipamentos militares — aviões, helicópteros, submarinos, canhões e mísseis — contribui com cerca de 3% do PNB da França).
O sistema de segurança francês compreende: força nuclear estra tégica: força de intervenção; for ça de segurança.
A força nuclear estratégica conta com reduzido efetivo do Exercito, com três submarinos nu cleares e com as esquadrilhas de aviões capazes de transportar os artefatos nucleares. A força aérea é também responsável pelos silos de mísseis balísticos.
A força de manobra, poder principal do Exército — pois é dotada do missil nuclear Pluton, de carros de combate modernos e equipamentos altamente sofistica dos — tem por base o Primeiro Exército, que mantém um corpo de Exército — com duas divisões — na Alemanha, mantendo outro corpo de Exército e três divisões.
1
junto à fronteira, a força aerotálica atuam junto a essa força de manobra.
A força de intervenção é cons tituída por uma brigada páraquedista, duas brigadas anfibias e os correspondentes apoios aéreo e naval, para “levar a vontade francesa a qualquer parte”.
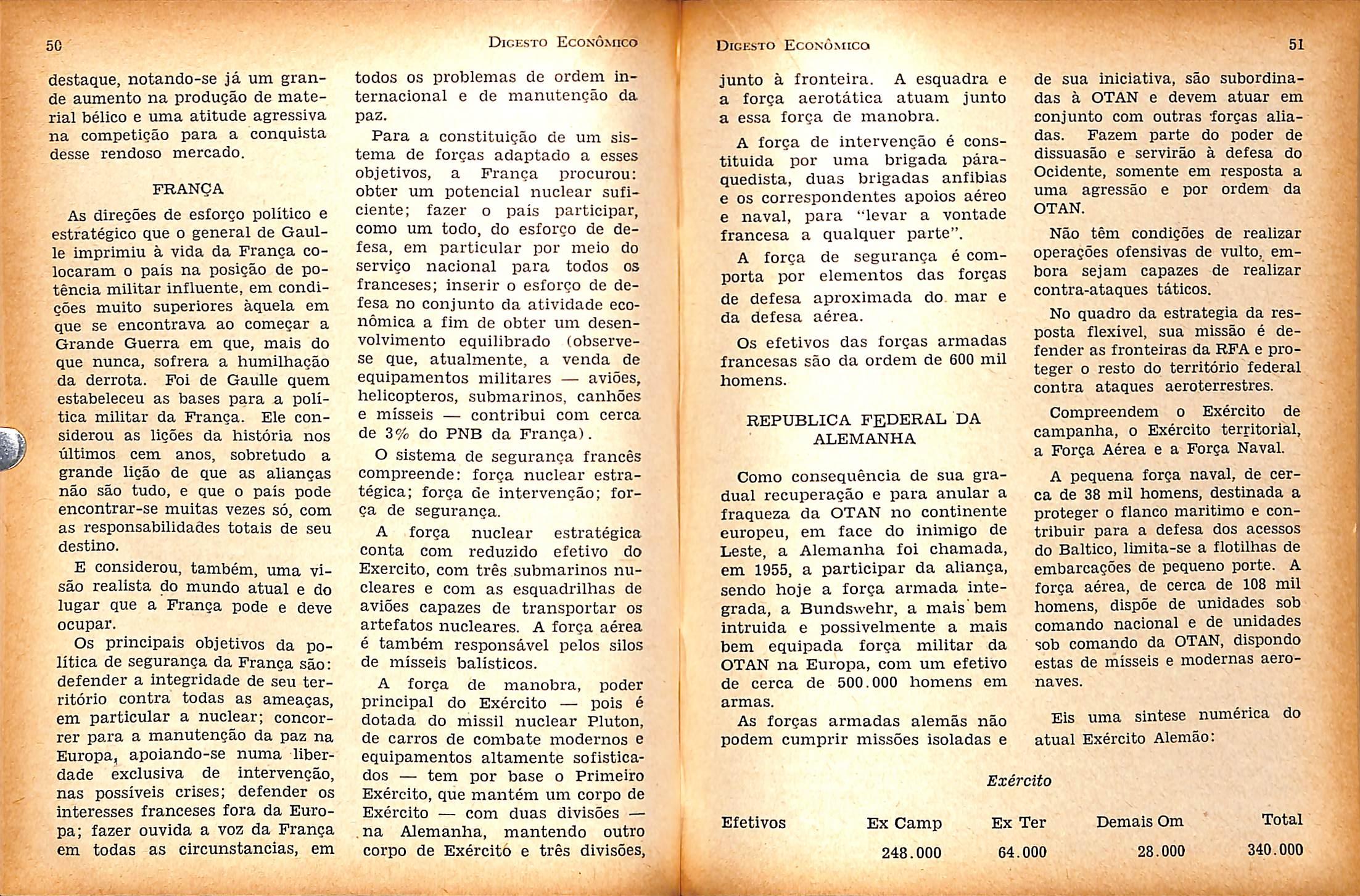
A esquadra e Fazem parte do poder de
A força de segurança é com porta por elementos das forças de defesa aproximada do mar e da defesa aérea.
Os efetivos das forças armadas francesas são da ordem de 600 mil homens.
Como consequência de sua gra dual recuperação e para anular a fraqueza da OTAN no continente europeu, em face do inimigo de Leste, a Alemanha foi chamada, em 1955, a participar da aliança, sendo hoje a força armada inte grada, a Bundswehr, a mais' bem intruida e possivelmente a mais bem equipada força militar da OTAN na Europa, com um efetivo de cerca de 500.000 homens em armas.
As forças armadas alemãs não podem cumprir missões isoladas e
de sua iniciativa, são subordina das à OTAN e devem atuar em conjunto com outras -forças alia das, dissuasão e servirão à defesa do Ocidente, somente em resposta a uma agressão e por ordem da OTAN.
Não tém condições de realizar operações ofensivas de vulto, em bora sejam capazes de realizar contra-ataques táticos.
No quadro da estratégia da res posta flexivel, sua missão é de fender as fronteiras da RFA e pro teger 0 resto do território federal contra ataques aeroterrestres.
Compreendem o Exército de campanha, o Exército territorial, a Força Aérea e a Força Naval.
A pequena força naval, de cer ca de 38 mil homens, destinada a proteger o flanco maritimo e con tribuir para a defesa dos acessos do Baltico, limita-se a flotilhas de embarcações de pequeno porte. A força aérea, de cerca de 108 mil homens, dispõe de unidades sob comando nacional e de unidades sob comando da OTAN, dispondo estas de mísseis e modernas aero naves.
Eis uma sintese numérica do atual Exército Alemão:
Observações
Incluindo tropas de Ar, Cmb. e Ap. Log.
Divisões Blindadas
Divisões de Infantaria Blindada
Divisões de Infantaria (Caçadores)
Divisão de Montanha
Divisão Aeroterrestre
Brigadas Blindadas
Brigadas de Infantaria Blindada
Brigadas de Infant. (Caçadores)
Brigadas de Montanha
Brigadas Aeroterrestres
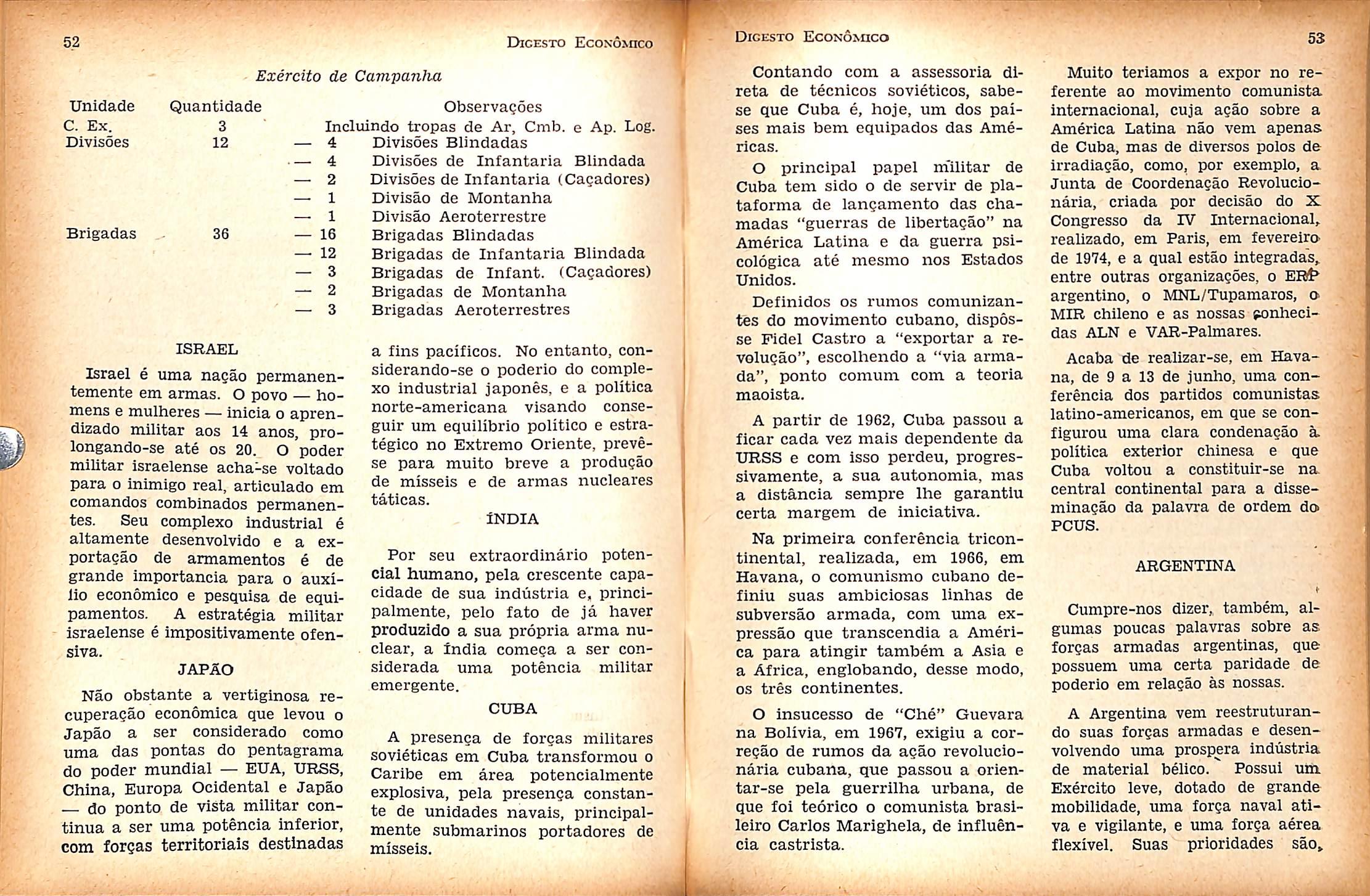
ISRAEL
anos, pro-
a fins pacíficos. No entanto, con siderando-se o poderio do comple xo industrial japonês, e a política norte-americana visando conse guir um equilíbrio político e estra tégico no Extremo Oriente, prevêse para muito breve a produção de mísseis e de armas nucleares táticas.
e a ex-
Israel é uma nação permanen temente em armas. O povo — ho mens e mulheres — inicia o apren dizado militar aos 14 longando-se até os 20. O poder militar israelense acha-se voltado para o inimigo real, articulado em comandos combinados permanen tes. Seu complexo industrial é altamente desenvolvido portação de armamentos é de grande importância para o auxí lio econômico e pesquisa de equi pamentos. A estratégia militar israelense é impositivamente ofen siva.
Por seu extraordinário poten cial humano, pela crescente capa cidade de sua indústria e, princi palmente, pelo fato de já haver produzido a sua própria arma nu clear, a índia começa a ser con siderada uma potência militar emergente.
A presença de forças militares soviéticas em Cuba transformou o Caribe em área potencialmente explosiva, pela presença constan te de unidades navais, principal mente submarinos portadores de mísseis. com
Não obstante a vertiginosa re cuperação econômica que levou o Japão a ser considerado como uma das pontas do pentagrama do poder mundial — EUA, URSS, China, Europa Ocidental e Japão do ponto de vista militar con tinua a ser uma potência inferior, forças territoriais destinadas
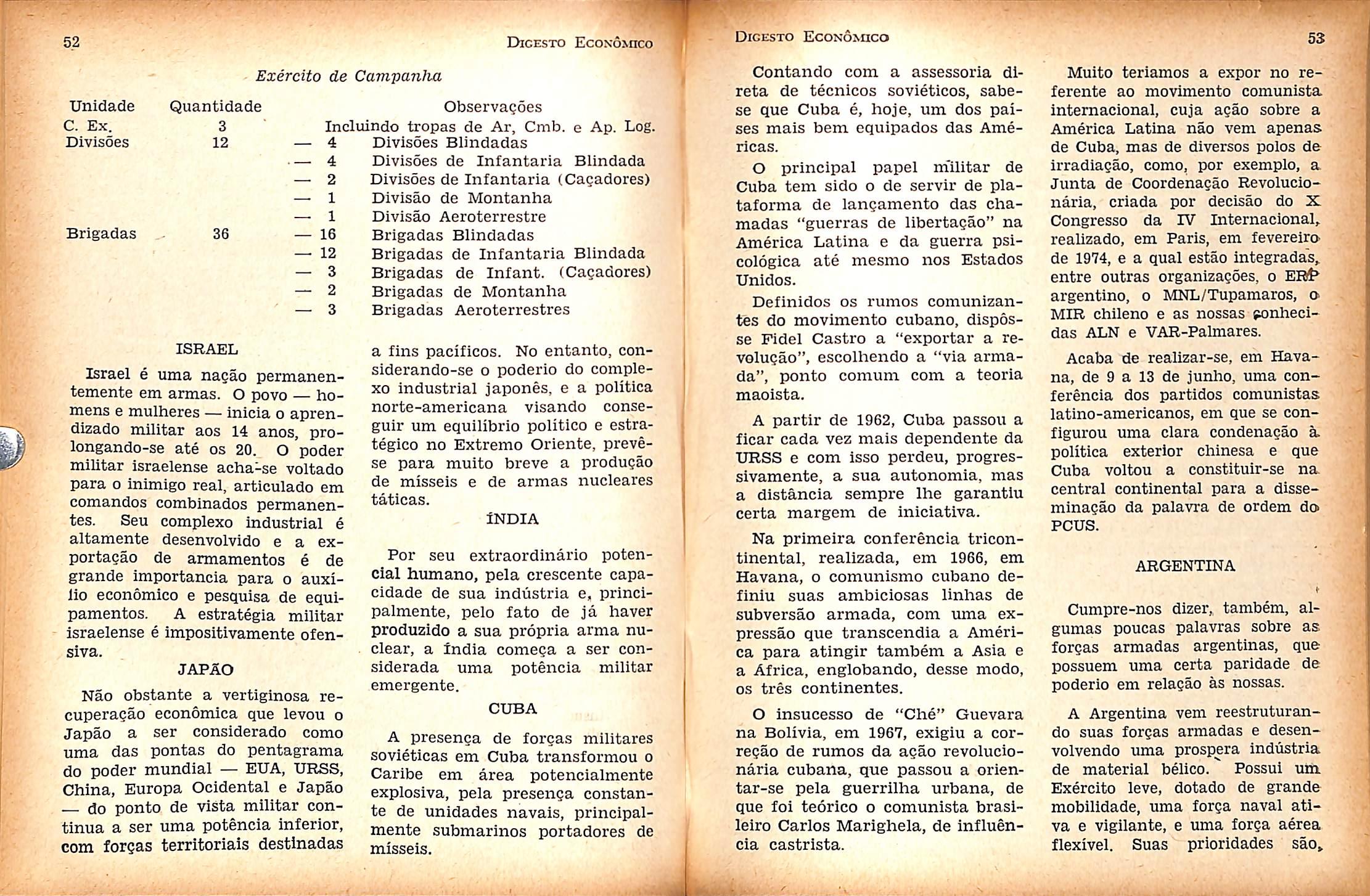
Contando com a assessoria di reta de técnicos soviéticos, sabese que Cuba é, hoje, um dos paí ses mais bem equipados das Amé ricas.
O principal papel militar de Cuba tem sido o de servir de pla taforma de lançamento das cha madas “guerras de libertação” na América Latina e da guerra psi cológica até mesmo nos Estados Unidos.
Definidos os rumos comunizantes do movimento cubano, dispôsse Fidel Castro a “exportar a re volução”, escolhendo a “via arma da”, ponto comum com a teoria maoista.
A partir de 1962, Cuba passou a ficar cada vez mais dependente da URSS e com isso perdeu, progres sivamente, a sua autonomia, mas a distância sempre lhe garantiu certa margem de iniciativa.
Na primeira conferência tricontinental, realizada, em 1966, em Havana, o comunismo cubano de finiu suas ambiciosas linhas de subversão armada, com mna ex pressão que transcendia a Améri ca para atingir também a Asia e a África, englobando, desse modo, os três continentes.
O insucesso de “Ché” Guevara na Bolívia, em 1967, exigiu a cor reção de rumos da ação revolucio nária cubana, que passou a orien tar-se pela guerrilha urbana, de que foi teórico o comunista brasi leiro Carlos Marighela, de influên cia castrista.
Muito teriamos a expor no re ferente ao movimento comunista internacional, cuja ação sobre a América Latina não vem apenas de Cuba, mas de diversos polos de irradiação, como, por exemplo, a Junta de Coordenação Revolucio nária, criada por decisão do X Congresso da IV Internacional,, realizado, em Paris, em fevereire de 1974, e a qual estão integradas,, entre outras organizações, o ERÍ» argentino, o MNL/Tupamaros, a MIR chileno e as nossas WJnhecidas ALN e VAR-Palmares.
Acaba de realizar-se, em Hava na, de 9 a 13 de junho, uma con ferência dos partidos comunistas latino-americanos, em que se con figurou uma clara condenação à. política exterior chinesa e que Cuba voltou a constituir-se na. central continental para a disse minação da palavi'a de ordem dc« PCUS.
Cumpre-nos dizer, também, al gumas poucas palavras sobre as forças armadas argentinas, que possuem uma certa paridade de poderio em relação às nossas.
A Argentina vem reestruturando suas forças armadas e desen volvendo uma prospera indústria de material bélico. Possui um Exército leve, dotado de grande mobilidade, uma força naval ati va e vigilante, e uma força aérea flexível. Suas prioridades são>
nesta ordem, para a guerra re volucionária, a guerra continen tal e a guerra extracontinental.
Cumpre notar, ainda, o extraor■dinário esforço que a Argentina ●vem realizando no campo da ■energia nuclear, com uma progra mação muito bem feita e que vem sendo cumprida, apesar das instabilidades internas.
É evidente que a consideração <ias Forças Armadas Brasileiras, ●ou apenas do nosso Exército, mo tivaria todo um painel.
Limitar-me-ei a considerar so mente o Exército e a, praticamen te, citar alguns trechos da íerência do ministro do Exército, íeita na EG, neste ano.
cesso de criação de sua própria tecnologia”.

“Também o Exército vem trendo a grande transformação. Habituados de longa data, a adap tar as organizações militares de outros países às condições brasi leiras, sem poder, no entanto, -acompanhar a rapida evolução da tecnologia militar, o Exército Bra sileiro compreendeu, afinal, que ■cumpriría melhor as suas finali dades ao adotar soluções próprias — exequiveis coerentes e gra duais — para a satisfação de suas necessidades e ao iniciar o proconu so-
“A nova dimensão do Brasil, geradora de outros antagonismos e incompreensões, claramente ca racterizada pelo infundado temor a um inadmissível imperialismo brasileiro, e, agora mesmo, pela celeuma internacional provocada pela negociação de acordos na área da energia nuclear, motivou e estimulou a vocação profissional dos quadros do Exército, que vem perseguindo o objetivo de manter forças organizadas, instruídas e equipadas para pronto emprego, preparar reservas e planejar a mobilização, coerente com as pe culiaridades dos possíveis ambien tes operacionais, as limitações dos nossos recursos e as peculiarida des de nossa gente”.
A Revolução de março de 1964 vem representando para todos os , ;setores da vida nacional, intensa ■transformação de mentalidade, de processos e de estruturas”.
“Repito que tem sido intensa a atividade do Exército, no campo da segurança interna, como res posta ao desafio imposto pela guerra revolucionária”.
Reafirmo que a nação muito deve à sua força terrestre na ma nutenção intransigente da ordem e da tranquilidade pública. Não têm preço as sabotagens que fo ram evitadas, as paralisações não consumadas de setores vitais de nossa economia, os atentados e sequestros impedidos, a baderna que não foi feita, o caos que não foi plantado — tudo porque o Exército cumpriu e cumpre, du ramente, o seu dever”.
“O Exército Brasileiro não está dimensionado coerentemente cóm

as proporções nacionais, conside radas em sua extensão territorial, em seu continente humano, e em sua posição no mundo”.
Na tentativa de oferecer uma super-sintese, e já agora, não mais citando o ministro Sylvio Frota, direi que nossa força ter restre compreende 182.000 ho mens, dispostos por 17 brigadas, de vários tipos — de Infantaria, de Infantaria Motorizada, de In fantaria Blindada, de Infantaria de Selva, de Cavalaria Mecani zado e de Cavalaria Blindada — além de 5 grupamentos. Exército em franco processo de reequipamento e de modernização, ao lado da Marinha e da Aeronáutica, também profundamente empenha das em sya renovação, aptos a proporcionar aquele mínimo de segurança compatível com o má ximo de desenvolvimento. Poderse-ia dizer que são três as estra tégias militares brasileiras: na or dem interna, a estratégia da pre sença; na ordem externa, a estra tégia das alianças (ou das coali zões) ; e a estratégia de ação in dependente.
A estratégia da presença é aquela que impulsiona as forças armadas a estarem presentes, em qualquer parte do território na cional, para prevenir ou repelir ameaças a nossa segurança inter na. Exige uma articulação de for ças flexíveis e móveis, que permi ta a oportuna concentração de meios.
A estratégia das alianças impõe as tarefas de acompanhamento das doutrinas militares dos prin cipais focos de poder do mundo, ocidental, a instrução dos quadros, bem como a existência de efetivosminimos, capacitados a, em cur to prazo, a nos representar nas coalizões a que nos leve a defesa, dc nossos interesses, no espaço considerado de nossa projeção.
A estratégia de ação indepen dente impõe: guardar e manter inviolabilidade da fronteira eda orla marítima; estar em con dições de antecipar-nos, no tempo e no espaço, contra o provável in vasor, quando isso for caracteri zado pelo amparo legal da legí tima defesa, e, em qualquer caso„ defender aquelas fronteiras, repe lindo 0 inimigo e assegurando a. integridade territoral.
a nossa
Aspectos comparativos do qua dro militar contemporâneo.
À guisa de síntese apresentare— dois aspectos coniparativos do< contemporâneo,. mos quadro militar base em publicação do Ins- com tituto Internacional de Estudos Estratégicos, de Londres — balanço comparativo entre EUA,. URSS e China, e uma visão global das despesas militares de alguns um. países:
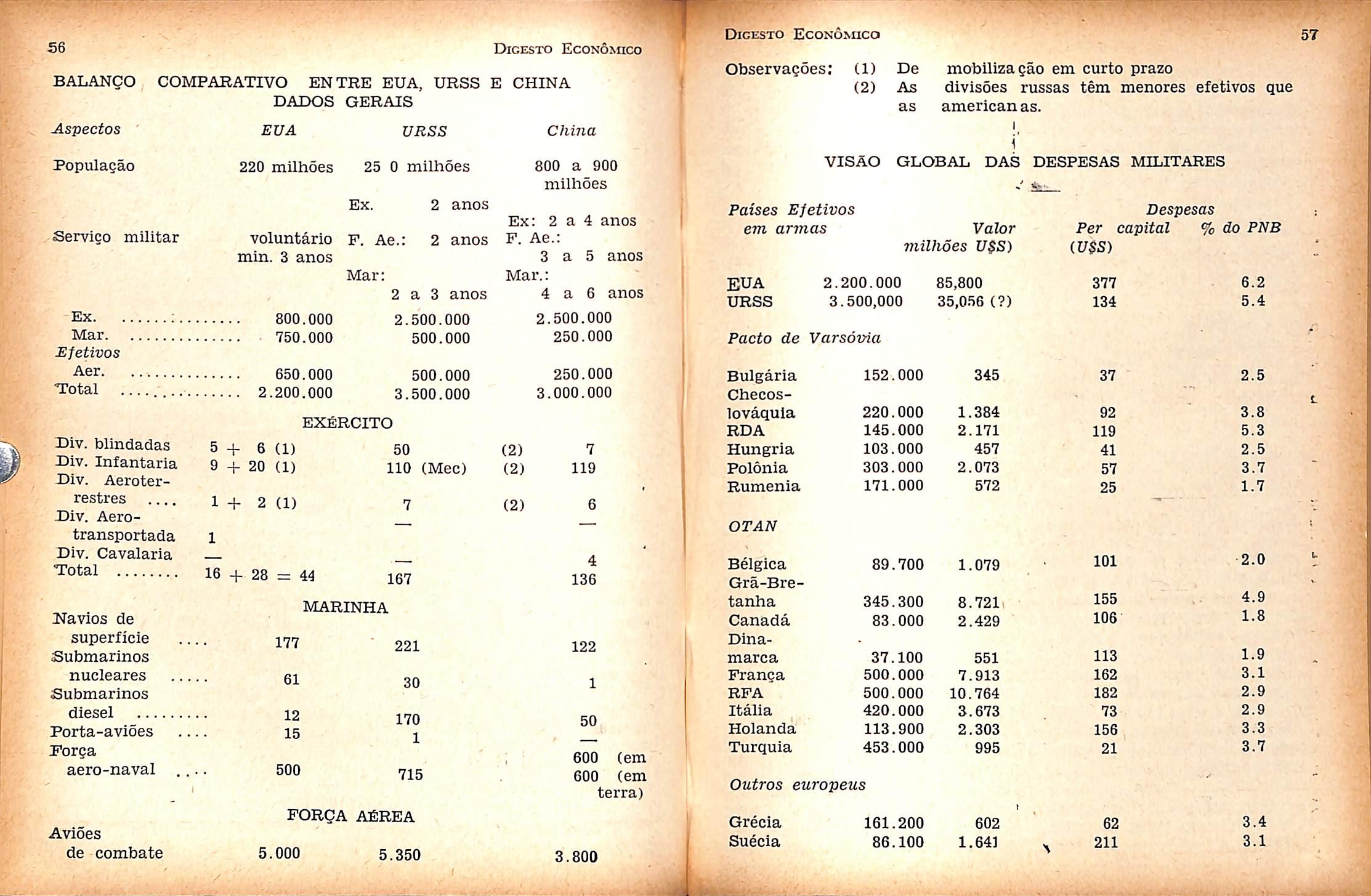
As-pectos China URSS
População
Serviço militar
EVA
220 milhões 25 0 milhões
Ex. 2 anos
800 a 900 milhões
Ex: 2 a 4 anos
voluntário F. Ae.: 2 anos F. Ae.: min. 3 anos
Div. blindadas
Div. Infantaria
Div. Aeroterrestres
●Div. Aerotransportada
Div. Cavalaria
líavios de superfície
Submarinos nucleares
Submarinos
Porta-aviões
Aviões
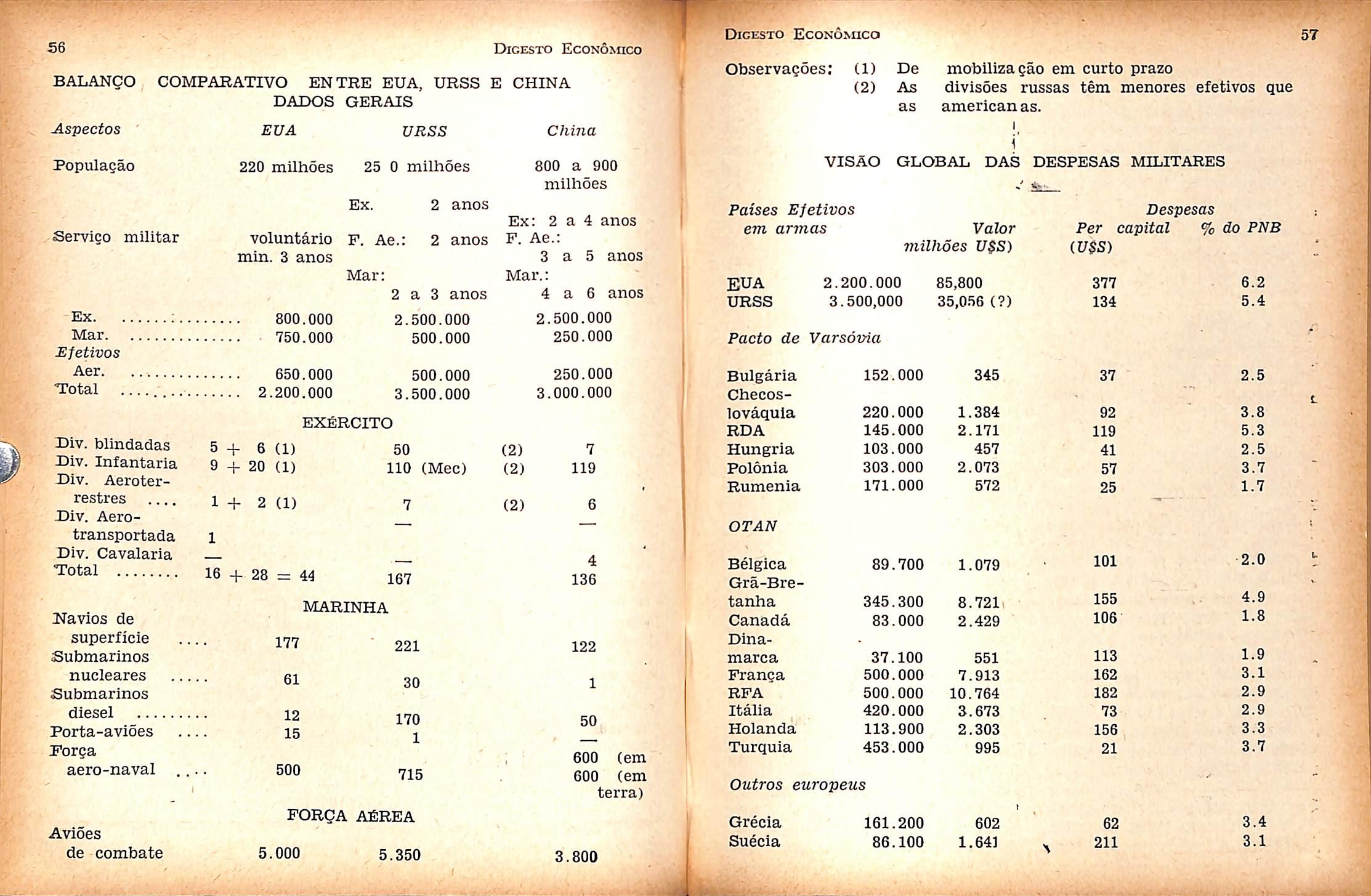
Observações: (1) De mobilização em curto prazo As divisões russas têm menores efetivos que as americanas. (2)
CONCLUSÕES
A situação estratégico-militar mundial continua se caracterizan do pela existência de dois polos de poder militar nucleados, res pectivamente, em torno dos Esta-
Oriente Médio:
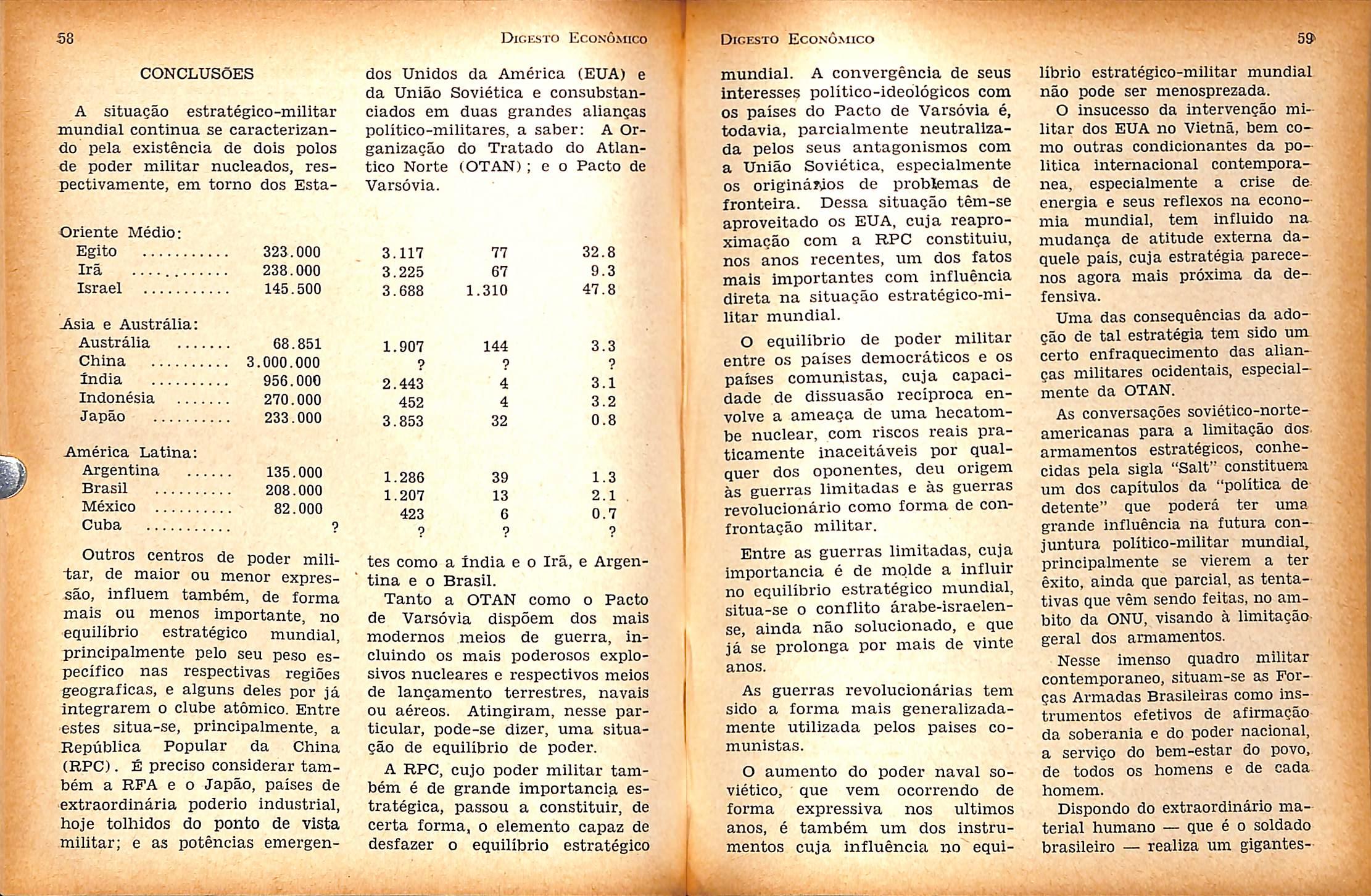
dos Unidos da América (EUA) e da União Soviética e consubstan ciados em duas grandes alianças político-militares, a saber: A Or ganização do Tratado do Atlân tico Norte (OTAN); e o Pacto de Varsóvia.
Asia e Austrália:
Austrália
China
índia
América Latina:
Outros centros de poder mili tar, de maior ou menor
tes como a índia e o Irã, e Argenexpres- ‘ tina e o Brasil. são, influem também, de forma mais ou menos importante, equilíbrio estratégico
Tanto a OTAN como o Pacto de Varsóvia dispõem dos mais modernos meios de guerra, in cluindo os mais poderosos explo sivos nucleares e respectivos meios de lançamento terrestres, navais ou aéreos. Atingiram, nesse par ticular, pode-se dizer, uma situa ção de equilíbrio de poder.
A RPC, cujo poder militar tam bém é de grande importância es tratégica, passou a constituir, de certa forma, o elemento capaz de desfazer o equilíbrio estratégico no mundial, principalmente pelo seu peso pecífico nas respectivas regiões geográficas, e alguns deles por já integrarem o clube atômico. Entre estes situa-se, principalmente, a República Popular da China (RPC). É preciso considerar tam bém a RFA e 0 Japão, países de esextraordinária poderio industrial, hoje tolhidos do ponto de vista militar; e as potências emergen-
mundial. A convergência de seus interesses politico-ideòlógicos com os países do Pacto de Varsóvia é, todavia, parcialmente neutraliza da pelos seus antagonismos com União Soviética, especialinente originárjos de problemas de fronteira. Dessa situação têm-se aproveitado os EUA. cuja reaproximação com a RFC constituiu, nos anos recentes, um dos fatos mais importantes com influência direta na situação estratégico-mi litar mundial. a os
O equilíbrio de poder militar entre os países democráticos e os países comunistas, cuja capaci dade de dissuasão reciproca en volve a ameaça de uma hecatom be nuclear, com riscos reais pra ticamente inaceitáveis por qualdos oponentes, deu origem
líbrio estratégico-militar mundial não pode ser menosprezada.
O insucesso da intervenção mi litar dos EUA no Vietnã, bem co mo outras condicionantes da po lítica internacional contemporâ nea, especialmente a crise deenergia e seus reflexos na econo mia mundial, tem influido na. mudança de atitude externa da quele país, cuja estratégia parecenos fensiva.
agora mais próxima da de-
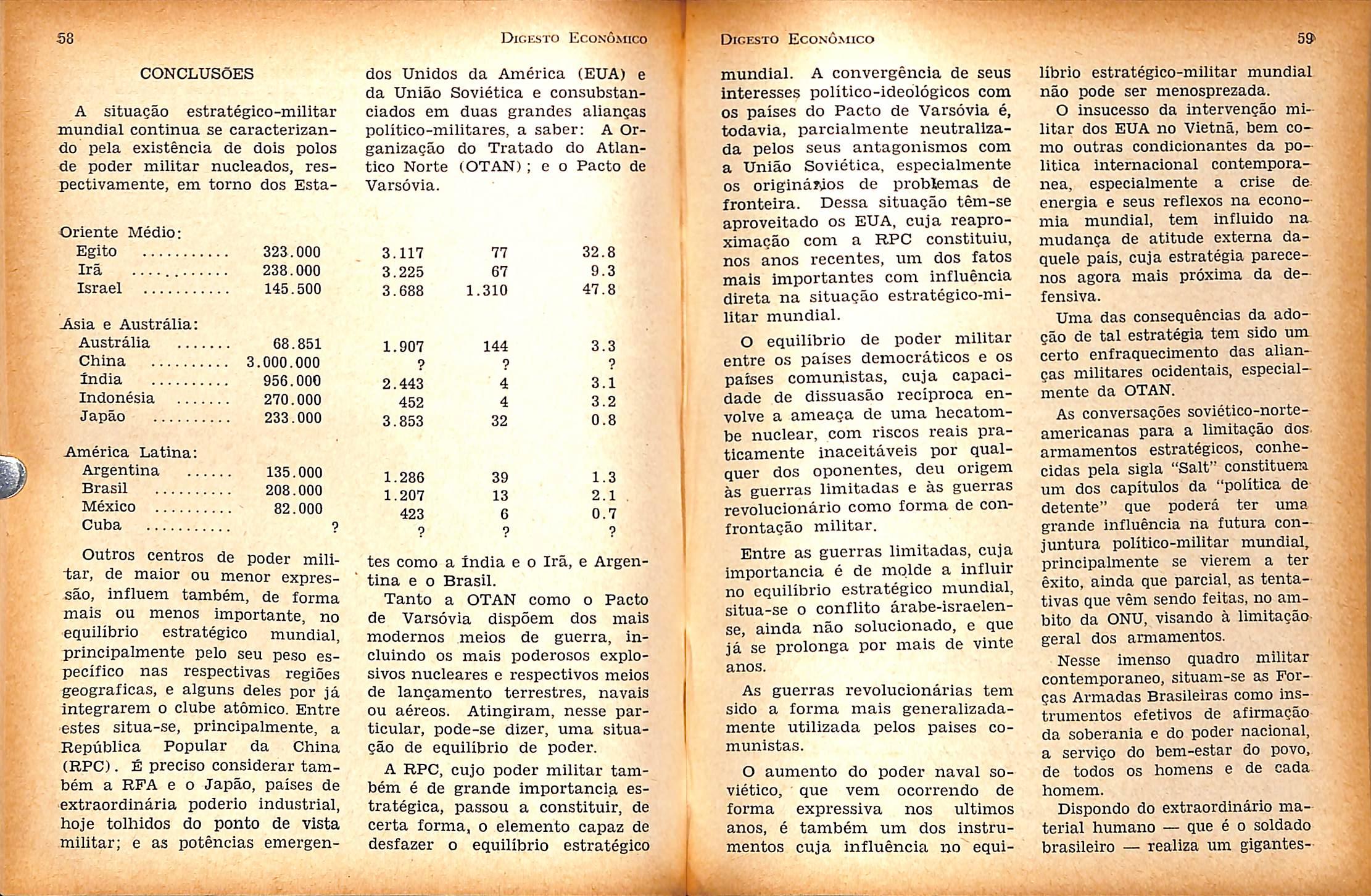
ças
Uma das consequências da ado ção de tal estratégia tem sido um certo enfraquecimento das alianmilitares ocidentais, especial mente da OTAN.
As conversações soviético-norteamericanas para a limitação dos. armamentos estratégicos, conhe cidas pela sigla “Salt” constituem dos capítulos da “política de que poderá ter uma quer às guerras limitadas e às guerras revolucionário como forma de con frontação militar.
Entre as guerras limitadas, cuja importância é de molde a influir no equilíbrio estratégico mundial, situa-se o conflito árabe-israelense, ainda não solucionado, e que já se prolonga por mais de vinte anos.
As guerras revolucionárias tem sido a forma mais generalizada mente utilizada pelos paises co munistas.
um detente’ grande influência na futura con juntura político-militar mundial, principalmente se vierem a ter êxito, ainda que parcial, as tenta tivas que vêm sendo feitas, no âm bito da ONU, visando à limitaçãogeral dos armamentos.
Nesse imenso quadro militar contemporâneo, situam-se as For ças Armadas Brasileiras como ins trumentos efetivos de afirmação da soberania e do poder nacional, a serviço do bem-estar do povo, de todos os homens e de cada
O aumento do poder naval so viético, que vem ocorrendo de forma expressiva nos últimos anos, é também um dos instru mentos cuja influência no equihomem.
Dispondo do extraordinário ma terial humano — que é o soldado brasileiro — realiza um gigantes-
CO esforço de modernização, em bases realmente brasilfeiras, de suas estruturas, de seu equipa mento, de sua doutrina.
Trata-se de nacionalizar, ao máximo, os instrumentos de nos sa segurança, de que a Imbel, cuja lei de criação o Congresso acaba de aprovar, é a esperança maior.
Trata-se de formular um cor po de princípios, suficientemente ilexível, que, levando em conta as
limitações do nossos recursos e as peculiaridades dos nossos panora mas geográficos e humanos, per mita que nos organizemos e nos equipemos, nas medidas da di mensão real do Brasil, em condi ções de vencer quaisquer ameaças e desafios, seja no quadro da es tratégia das alianças, seja no quadro da estratégia de ação in dependente’'.
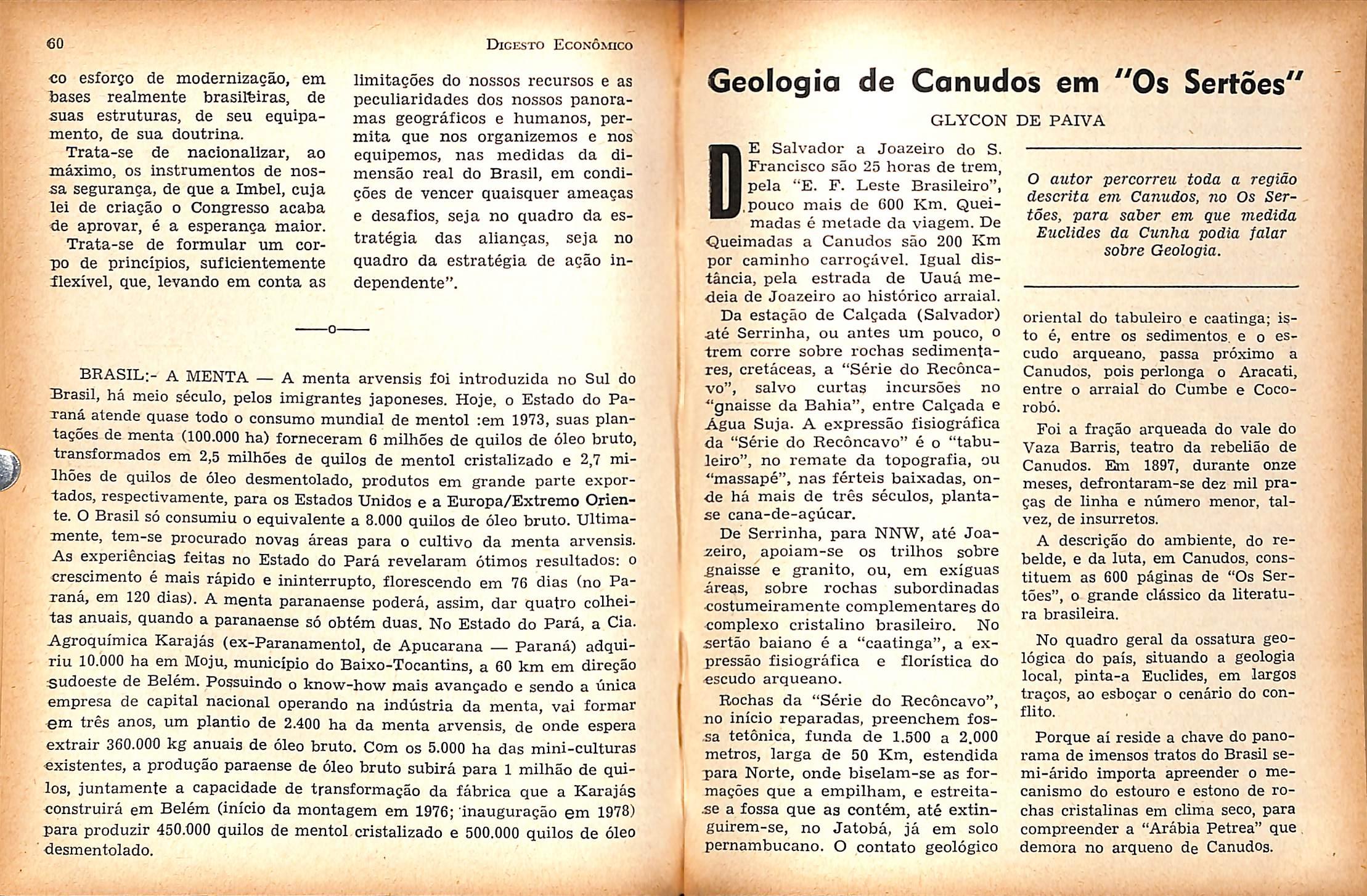
BRASIL:- A MENTA — A menta arvensis foi introduzida no Sul do Brasil, há meio século, pelos imigrantes japoneses. Hoje, o Estado do PaTaná atende quase todo o consumo mundial de mentol tem 1973, suas plan tações de menta (100.000 ha) forneceram 6 milhões de quilos de óleo bruto, transformados em 2,5 milhões de quilos de mentol cristalizado e 2,7 mi lhões de quilos de óleo desmentolado, produtos em grande parte expor tados, respectivamente, para os Estados Unidos e a Europa/Extremo Orien te. O Brasil só consumiu o equivalente a 8.000 quilos de óleo bruto. Ultima mente, tem-se procurado novas áreas para o cultivo da menta arvensis. As experiências feitas no Estado do Pará revelaram ótimos resultados: o crescimento é mais rápido e ininterrupto, florescendo em 76 dias (no Parana, em 120 dias). A menta paranaense poderá, assim, dar quatro colhei tas anuais, quando a paranaense só obtém duas. No Estado do Pará, a Cia. Agroquímica Karajás (ex-Paranameníol, de Apucarana — Paraná) adqui riu 10.000 ha em Moju, município do Baixo-Tocantins, a 60 km em direção sudoeste de Belém. Possuindo o know-how mais avançado e sendo a única empresa de capital nacional operando na indústria da menta, vai formar em três anos, um plantio de 2.400 ha da menta arvensis, de onde espera extrair 360.000 kg anuais de óleo bruto. Com os 5.000 ha das mini-culturas ●existentes, a produção paraense de óleo bruto subirá para 1 milhão de qui los, juntamente a capacidade de transformação da fábrica que a Karajás construirá em Belém (início da montagem em 1976; inauguração em 1978) para produzir 450.000 quilos de mentol cristalizado e 500.000 quilos de óleo desmentolado.
GLYCON DE PAIVA
DE Salvador a Joazeiro do S. Francisco são 25 horas de trem, pela ‘‘E. F. Leste Brasileiro”, .pouco mais de 600 Km. Quei madas é metade da viagem. De Queimadas a Canudos são 200 Km por caminho carroçável. Igual dis tância, pela estrada de Uauá me deia de Joazeiro ao histórico arraial.
Da estação de Calçada (Salvador) até Serrinha, ou antes um pouco, o trem corre sobre rochas sedimenta res, cretáceas, a “Série do Recônca vo”, salvo curtas incursões no gnaisse da Bahia", entre Calçada e Agua Suja. A expressão íisiográfica da “Série do Recôncavo” é o “tabu leiro”, no remate da topografia, ou “massapé”, nas férteis baixadas, on de há mais de trôs séculos, plantase cana-de-açúcar.
De Serrinha, para NNW, até Joa2eiro, apoiam-se os trilhos sobre gnaisse e granito, ou, em exíguas áreas, sobre rochas subordinadas costumeiramente complementares do complexo cristalino brasileiro. No sertão baiano é a “caatinga”, a ex pressão íisiográfica e ílorística do escudo arqueano.
Rochas da “Série do Recôncavo”, no início reparadas, preenchem fos,sa tetônica, funda de 1.500 a 2.000 metros, larga de 50 Km, estendida para Norte, onde biselam-se as for mações que a empilham, e estreita.se a fossa que as contém, até extinguirem-se, no Jatobá, já em solo
O autor percorreu toda a região descrita em Canudos, no Os Ser tões, vcira saber em que medida Eucliães da Cunha vodia falar sobre Geologia.
oriental do tabuleiro e caatinga; is to é, entre os sedimentos, e o es cudo arqueano, passa próximo a Canudos, pois perlonga o Aracati, entre o arraial do Cumbe e Cocorobó.
Foi a fração arqueada do vale do Vaza Barris, teatro da rebelião de Canudos. Em 1897, durante onze meses, defrontaram-se dez mil pra ças de linha e número menor, tal vez, de insurretos.
A descrição do ambiente, do re belde, e da luta, em Canudos, cons tituem as 600 páginas de “Os Ser tões”, o grande clássico da literatu ra brasileira.
No quadro geral da ossatura geo lógica do país, situando a geologia local, pinta-a Euclides, em largos traços, ao esboçar o cenário do con flito.
Porque aí reside a chave do pano rama de imensos tratos do Brasil se mi-árido importa apreender o me canismo do estouro e estono de ro chas cristalinas em clima seco, para compreender a “Arábia Petrea” que demora no arqueno de Canudos.
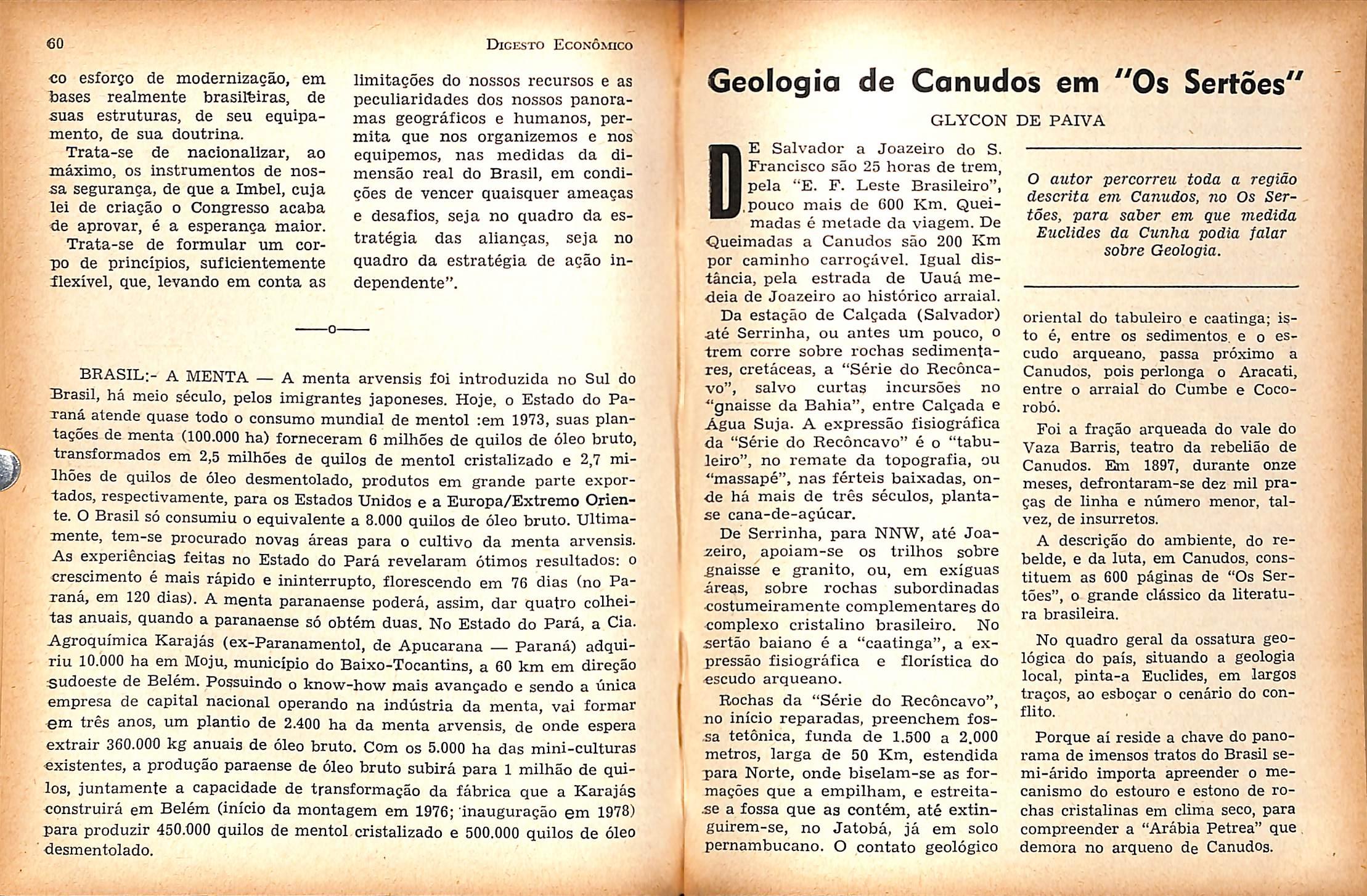

Em países quente e secos, as rochas principalmente as desprotegidas de vegetação ou de manto residual de decomposição, aquecem-se durante o dia até 75 ou 80 graus centígrados. Desigualmente dilatam-se, porque compostas de dois, três ou mais minerais, cada qual com seu coeficiente de dilata ção específico. De outro lado, asso ciam-se na mesma rocha minerais claros e escuros; mais se aquecem estes que aqueles, e, diferentemen te, alóngam-se, contraem-se. Ambas as causas conjugam-se para relaxa mento da textura da rocha precipuamente se eruptiva ou metamórfica. Por desintegrar em fragmentos a massa rochosa, sem alteração quí mica, acaba o repetir freqüente e superficial de esforços internos al ternados, decorrentes de aqueci mento diurno e arrefecimento notui*no, particularmente acusados nos climas secos. Sobre o dorso escal dante das pedras, acelera o processo o desabar de aguaceiros súbitos.
Daí estouro e estono das rochas que, extensivos à generalidade dos aci dentes topográficos positivos, à re gião emprestam inconfundível selo de paisagem esfoliada ou descarnada. Trincas pretéritas de consolidação das eruptivas, ou planos de cisalhamento, satélites de deformações principais, contemporâneos de pas sadas orogêneses, muitas vezes, as tensões internas reavivam, dessa maneira provocadas pela irradiação solar. Pela disjunção, a descamação é dirigida, ou pelas deformações per manentes latentes nas rochas, pro movendo, dom frequência, indivicristalinas,
dualização de matacões com certo arranjo geométrico, de acordo com mecânica retrospectiva.
Da umidade ambiente depende a intensidade da ação descamadora e disjuntora. Mais úmido o clima, con tra ela mais protegidas as rochas, porque melhor conduz o calor a água que a pedi-a, e maior capaci dade de absorvé-lo ou cedê-lo dis põe, graças a mais elevado calor es pecífico, poupando, esse trabalho, à rocha que embebe.
A prática do processo em clima seco, comanda a disposição das for mas topográficas em região petrologicamente homogênea, em grande escala, caso do Nordeste do Brasil: — perdem altura as áreas de ro chas negras ou multiminerais; per manecem elevadas ou ganham mais saliência as rochas claras ou monominerais.
As unidades topográficas rochosas positivas assim se protegem, aos poucos, com um manto de matacões, quando o declive das escarpas nãoultrapassa o ângulo natural de re pouso de pedras empilhadas. Resul ta, afinal, que a estrutura das sali ências topográficas, no Noi'deste. dispõe de ossamenta monolítica nu clear, à prova de irradiação solar, recamada, em todos os flancos, de matacões ciclópicos. Procure-se, em Euclydes, a descrição das encostas do Cambaio, pois exemplos abun dam:
“Patamares sucessivos lembrandO' desmetidas bermas de algum ba luarte derruido de titans”;
“Serras de pedra naturalmente so brepostas formando fortalezas e redutos inexpugnáveis"; “necrópoles vastas"; “rimas de blo cos em alinhamentos de penedias"; “barbacans de velhíssimos caste los”; “silhares em desordem”; “renques de plintos, torres e pilastras truncadas”; “montanhas em ruínas”.
Se o declive não permite mútuo repouso dos matacões, rolam até o vale intermontano. e nova superfí cie da ossamenta monolítica apre senta-se, para sofrer a ação do pro cesso de estouro e estono. Alteiamse, assim, aqui e acolá, lisos como dorsos isolados pães de açúcar so bre o mar de matacões.
Se umedecessem os ares do Nor deste, por vários séculos consecuti vos, a topografia respondería à mu dança, estabelecendo-se outra, for mada de “meias laranjas” como acontece no planalto fluminense.
Simplesmente, tradução lapidar da continuidade e permanência de um clima, desde as últimas horas do passado geológico até o instante atual é a topografia da região cris talina do Nordeste do Brasil. Signi fica reação física da rocha regional à inclemência de clima peculiar.
A observação, comezinha ao pro fissional, certo não escapou à com preensão do estilista; não o satis fez, porém. Para esculpir Canudos, pediu agentes menos prosaicos: cha mou pelas misteriosas forças geoló gicas de caráter catastrófico tão de agrado dos geólogos franceses dos meados do Século XIX.
Já as rochas sedimentares, como arenitos e folhelhos, litologicamente homogênas, mesmo em pequena es cala, se horizontalmente dispostas, ao clima não reagem como grani tos e gnaisses. — De fato, porque monominerais, não propiciam nas cimento a tensões internas de apre ço; porque mais porosas, amplo es paço interno oferecem a ajustamen tos de dilatações; porque estratificadas, dispõem de juntas de dilatação que a camada imediata poupam a transmissão do processo; porque , possuidoras de muito espaço interparticular, guardam a umidade que existe, ainda que escassa, e a água restante age como volante frente ao calor, a rocha eximindo o papel.

Em suma: um
Embora permaneça o clima, mu dadas as rochas, cessa a topografia pontilhada de matacões: extensíssimos areais, mesquinhas barreiras de teiTa vermelha, ou raros boulders isolados de canga são a múltipla res posta de sedimentos horizontais ao mesmíssimo clima, clima, duas rochas e duas topogra fias antípodas.
Ora. acontece que, nos arredores de Canudos, a cerca de 25 Km ao oriente, passa importante contato geológico: o das rochas sedimenta res da fossa baiana com os terrenos gi-aníticos e gnáissicos do escudo de Canudos, Monte Santo e Queima das. Dá-se, aí, brutal contraste entre “caatinga” e acham Geremcabo, Bom Conselho e Cumbe. E mais violenta não pode ría ser a mudança, nem mais propí cia ao efeito psicológico necessário para emprestar a Canudos o misté-
tabuleiro”, onde se

Em países quente e secos, as rochas principalmente as desprotegidas de vegetação ou de manto residual de decomposição, aquecem-se durante o dia até 75 ou 80 graus centígrados. Desigualmente dilatam-se, porque compostas de dois, três ou mais minerais, cada qual com seu coeficiente de dilata ção específico. De outro lado, asso ciam-se na mesma rocha minerais claros e escuros; mais se aquecem estes que aqueles, e, diferentemen te, alóngam-se, contraem-se. Ambas as causas conjugam-se para relaxa mento da textura da rocha precipuamente se eruptiva ou metamórfica. Por desintegrar em fragmentos a massa rochosa, sem alteração quí mica, acaba o repetir freqüente e superficial de esforços internos al ternados, decorrentes de aqueci mento diurno e arrefecimento notui*no, particularmente acusados nos climas secos. Sobre o dorso escal dante das pedras, acelera o processo o desabar de aguaceiros súbitos.
Daí estouro e estono das rochas que, extensivos à generalidade dos aci dentes topográficos positivos, à re gião emprestam inconfundível selo de paisagem esfoliada ou descarnada. Trincas pretéritas de consolidação das eruptivas, ou planos de cisalhamento, satélites de deformações principais, contemporâneos de pas sadas orogêneses, muitas vezes, as tensões internas reavivam, dessa maneira provocadas pela irradiação solar. Pela disjunção, a descamação é dirigida, ou pelas deformações per manentes latentes nas rochas, pro movendo, dom frequência, indivicristalinas,
dualização de matacões com certo arranjo geométrico, de acordo com mecânica retrospectiva.
Da umidade ambiente depende a intensidade da ação descamadora e disjuntora. Mais úmido o clima, con tra ela mais protegidas as rochas, porque melhor conduz o calor a água que a pedi-a, e maior capaci dade de absorvé-lo ou cedê-lo dis põe, graças a mais elevado calor es pecífico, poupando, esse trabalho, à rocha que embebe.
A prática do processo em clima seco, comanda a disposição das for mas topográficas em região petrologicamente homogênea, em grande escala, caso do Nordeste do Brasil: — perdem altura as áreas de ro chas negras ou multiminerais; per manecem elevadas ou ganham mais saliência as rochas claras ou monominerais.
As unidades topográficas rochosas positivas assim se protegem, aos poucos, com um manto de matacões, quando o declive das escarpas nãoultrapassa o ângulo natural de re pouso de pedras empilhadas. Resul ta, afinal, que a estrutura das sali ências topográficas, no Noi'deste. dispõe de ossamenta monolítica nu clear, à prova de irradiação solar, recamada, em todos os flancos, de matacões ciclópicos. Procure-se, em Euclydes, a descrição das encostas do Cambaio, pois exemplos abun dam:
“Patamares sucessivos lembrandO' desmetidas bermas de algum ba luarte derruido de titans”;
“Serras de pedra naturalmente so brepostas formando fortalezas e redutos inexpugnáveis"; “necrópoles vastas"; “rimas de blo cos em alinhamentos de penedias"; “barbacans de velhíssimos caste los”; “silhares em desordem”; “renques de plintos, torres e pilastras truncadas”; “montanhas em ruínas”.
Se o declive não permite mútuo repouso dos matacões, rolam até o vale intermontano. e nova superfí cie da ossamenta monolítica apre senta-se, para sofrer a ação do pro cesso de estouro e estono. Alteiamse, assim, aqui e acolá, lisos como dorsos isolados pães de açúcar so bre o mar de matacões.
Se umedecessem os ares do Nor deste, por vários séculos consecuti vos, a topografia respondería à mu dança, estabelecendo-se outra, for mada de “meias laranjas” como acontece no planalto fluminense.
Simplesmente, tradução lapidar da continuidade e permanência de um clima, desde as últimas horas do passado geológico até o instante atual é a topografia da região cris talina do Nordeste do Brasil. Signi fica reação física da rocha regional à inclemência de clima peculiar.
A observação, comezinha ao pro fissional, certo não escapou à com preensão do estilista; não o satis fez, porém. Para esculpir Canudos, pediu agentes menos prosaicos: cha mou pelas misteriosas forças geoló gicas de caráter catastrófico tão de agrado dos geólogos franceses dos meados do Século XIX.
Já as rochas sedimentares, como arenitos e folhelhos, litologicamente homogênas, mesmo em pequena es cala, se horizontalmente dispostas, ao clima não reagem como grani tos e gnaisses. — De fato, porque monominerais, não propiciam nas cimento a tensões internas de apre ço; porque mais porosas, amplo es paço interno oferecem a ajustamen tos de dilatações; porque estratificadas, dispõem de juntas de dilatação que a camada imediata poupam a transmissão do processo; porque , possuidoras de muito espaço interparticular, guardam a umidade que existe, ainda que escassa, e a água restante age como volante frente ao calor, a rocha eximindo o papel.

Em suma: um
Embora permaneça o clima, mu dadas as rochas, cessa a topografia pontilhada de matacões: extensíssimos areais, mesquinhas barreiras de teiTa vermelha, ou raros boulders isolados de canga são a múltipla res posta de sedimentos horizontais ao mesmíssimo clima, clima, duas rochas e duas topogra fias antípodas.
Ora. acontece que, nos arredores de Canudos, a cerca de 25 Km ao oriente, passa importante contato geológico: o das rochas sedimenta res da fossa baiana com os terrenos gi-aníticos e gnáissicos do escudo de Canudos, Monte Santo e Queima das. Dá-se, aí, brutal contraste entre “caatinga” e acham Geremcabo, Bom Conselho e Cumbe. E mais violenta não pode ría ser a mudança, nem mais propí cia ao efeito psicológico necessário para emprestar a Canudos o misté-
tabuleiro”, onde se
rio de que precisava como teatro da representação processada, que Euclydes descreve,
Todas as expedições militares tri lharam os matacões do arqueano, salvo duas: a 3.a, de Moreira César, quando deixou no arraial do Cumbe, para palmilhar o tabuleiro da “Série do Recôncavo”, e àquele re gressar antes de Rosário; e a 4.a, do General Savaget, que cruzou toda a fossa baiana para simultaneamente esbarrar, com o arqueano e o inimi go, em Cocorobó.
Tal a observação geral que um geólogo pode fazer sobre a subs tância da obra de Euclydes quando buscou, descrevendo a geologia, fun damentar o capítulo “A Terra”.
Se se pretende esmiuçar, importa dizer que causam estranhez ao geologo ^profissional as seguintes ex pressões ou concepções de Euclydes (“Os Sertões”, 11.a edição — 1929):
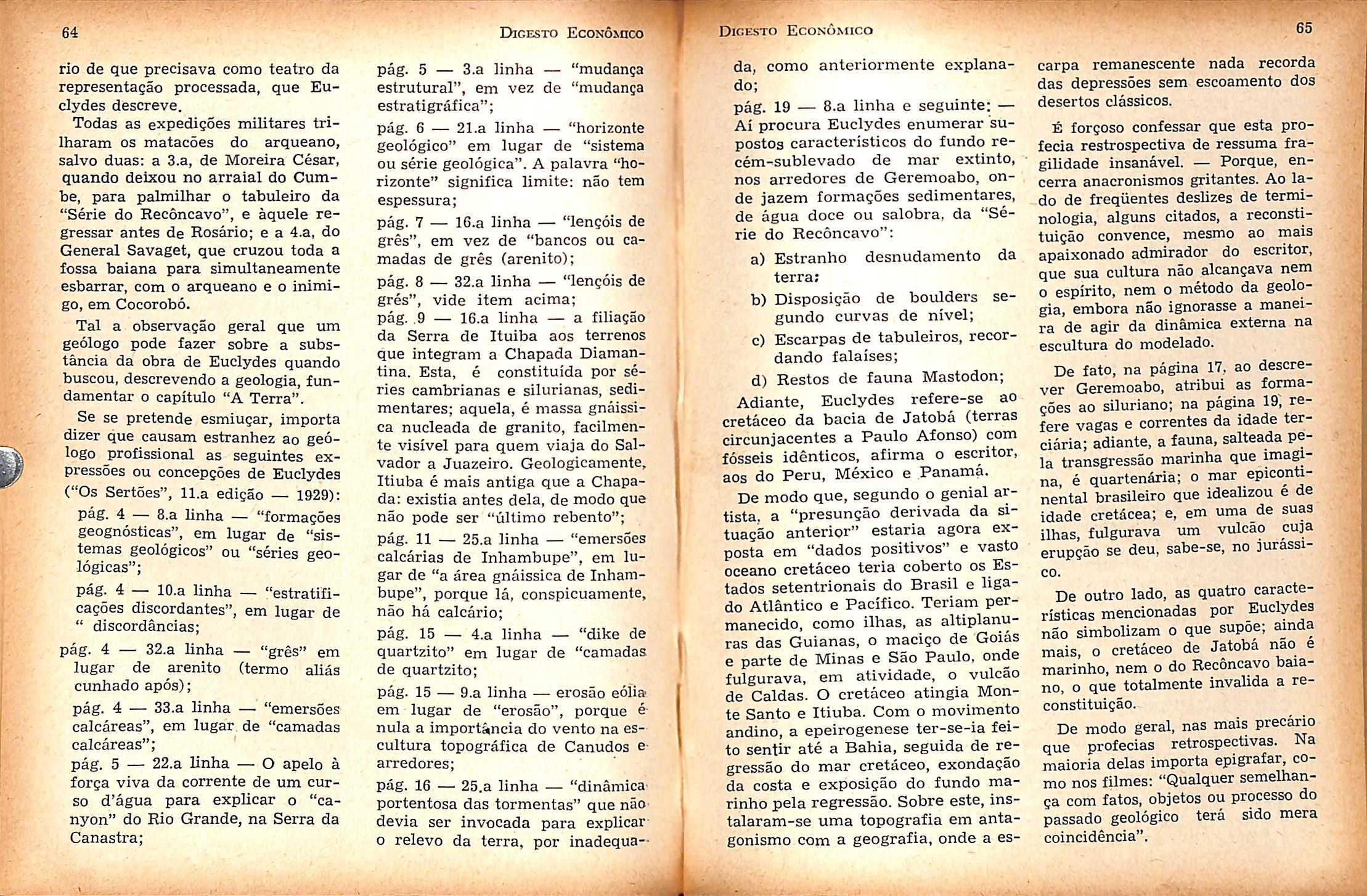
pág. 5 — 3.a linha — “mudança estrutural”, em vez de “mudança estratigráíica”;
pág. 6 — 21.a linha — “horizonte geológico” em lugar de “sistema ou série geológica”. A palavra “ho rizonte” significa limite: não tem espessura;
pág. 7 — 16.a linha — “lençóis de grês”, em vez de “bancos ou ca madas de grês Carenito);
pág. 8 — 32.a linha — “lençóis de grés”, vide item acima;
pág. ,9 — 16.a linha — a filiação da Serra de Ituiba aos terrenos que integram a Chapada Diaman tina. Esta, é constituída por sé ries cambrianas e silurianas, sedi mentares; aquela, é massa gnáissica nucleada de granito, facilmen te visível para quem viaja do Sal vador a Juazeiro. Geologicamente, Itiuba é mais antiga que a Chapa da: existia antes dela, de modo que não pode ser “último rebento”;
“sis-
pág. 4 — 8.a linha — “formações geognósticas”, em lugar de temas geológicos” ou “séries geo lógicas”;
pág. 4 — 10.a linha — cações discordantes “ discordâncias;
estratifiem lugar de grês” em
pág. 4 — 32.a linha — lugar de arenito (termo aliás cunhado após);
pág. 4 — 33.a linha — “emersões calcáreas”, em lugar de “camadas calcáreas”;
pág. 5 — 22.a linha — O apelo à força viva da corrente de um cur so d’água para explicar o “canyon” do Rio Grande, na Serra da Canastra;
pág. 11 — 25.a linha — “emersões calcárias de Inhambupe”, em lu gar de “a área gnáissica de Inham bupe”, porque lá, conspicuamente, não há calcário;
pág. 15 — 4.a linha — “dike de quartzito” em lugar de “camadas de quartzito;
pág. 15 — 9.a linha — erosão eólia em lugar de “erosão”, porque énula a importância do vento na es cultura topográfica de Canudos eaz-redores;
pág. 16 — 25.a linha — “dinâmicaportentosa das tormentas” que nãodevia ser invocada para explicaro relevo da terra, por inadequa--
remanescente nada recorda da, como anteriormente explana- carpa das depressões sem escoamento dos desertos clássicos. do;
pág. 19 — 8.a linha e seguinte: —
Aí procura Euclydes enumerar su postos característicos do fundo recém-sublevado de mar nos arredores de Geremoabo, on de jazem formações sedimentares, de água doce ou salobra, da “Sé rie do Recôncavo”:
a) Estranho desnudamento da terra;
b) Disposição de boulders se gundo curvas de nível;
c) Escarpas de tabuleiros, recor dando íalaíses;
É forçoso confessar que esta pro fecia restrospectiva de ressuma fraextinto, - giiidade insanável. — Porque, en cerra anacronismos gritantes. Ao la do de freqüentes deslizes de termi nologia, alguns citados, a reconsti tuição convence,apaixonado admirador do escritor, cultura não alcançava nem método da geolomesmo ao mais que sua 0 espírito, nem o gia, embora não ignorasse a manei ra de agir da dinâmica externa na escultura do modelado.
d) Restos de fauna Mastodon;
De fato, na página 17, ao descreGeremoabo, atribui as formaao siluriano; na página 19, re correntes da idade terver ções Euclydes refere-se ao Adiante, cretáceo da bacia de Jatobá (terras circunjacentes a Paulo Afonso) com fósseis idênticos, afirma o escritor, aos do Peru, México e Panamá.
De modo que, segundo o genial arderivada da si-
tista, a “presunção tuação anterior’ posta em “dados positivos” e vasto oceano cretáceo teria coberto os Es tados setentrionais do Brasil e liga do Atlântico e Pacífico. Teriam per manecido, como ilhas, as altiplanuras das Guianas, o maciço de Goiás e parte de Minas e São Paulo, onde fulgurava, em atividade, o vulcão de Caldas. O cretáceo atingia Mon te Santo e Itiuba. Com o movimento andino, a epeirogenese ter-se-ia fei to sentir até a Bahia, seguida de re gressão do mar cretáceo, exondação da costa e exposição do fundo ma rinho pela regressão. Sobre este, instalaram-se uma topografia em anta gonismo com a geografia, onde a esestaria agora ex-
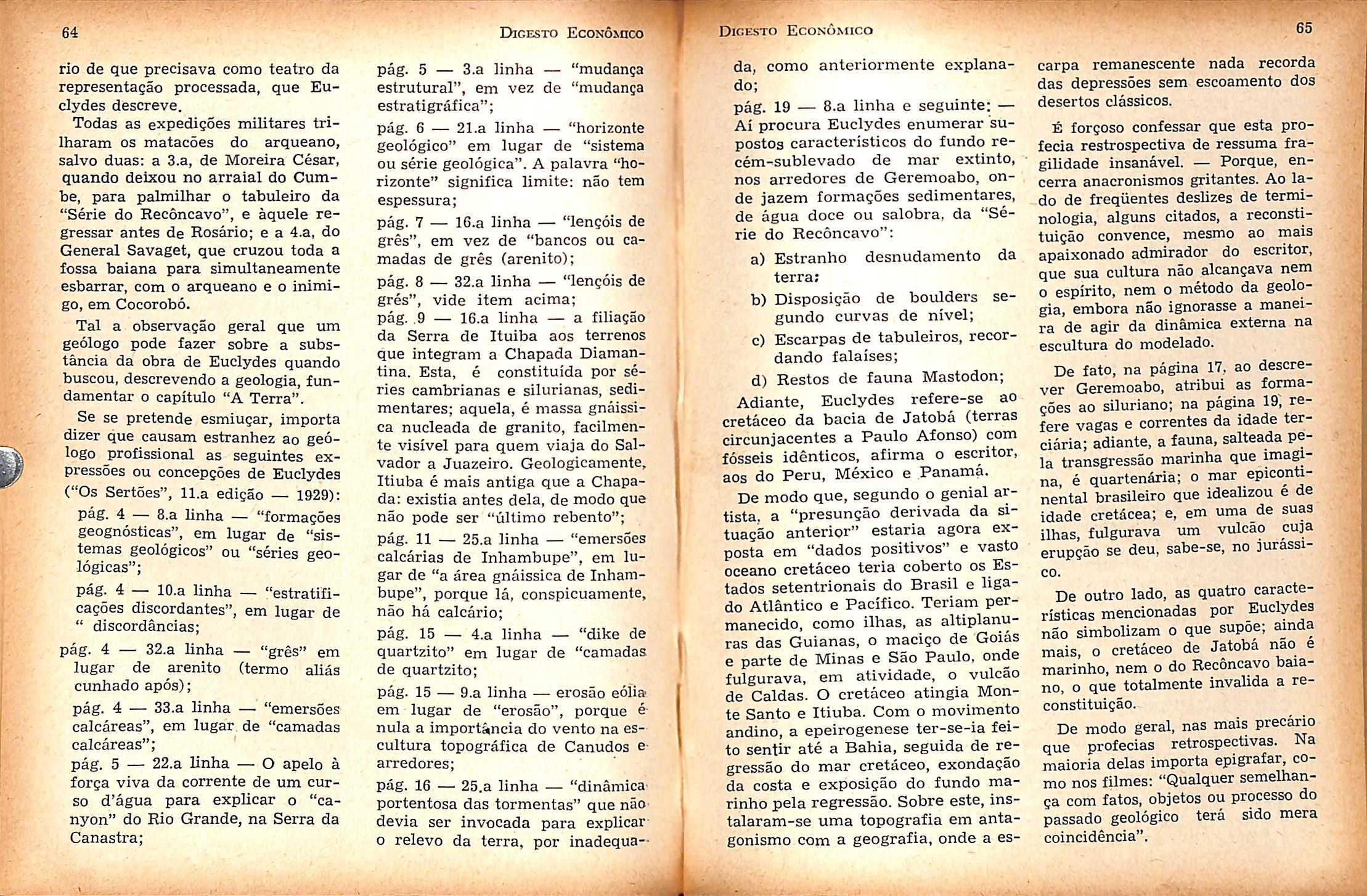
fere vagas e ciária; adiante, a fauna, salteada pe- marinha que imagi- la transgressão . é quartenária; o mar epiconti-idealizou é de na, nental brasileiro que idade cretácea; e, em uma de suas ilhas, fulgurava um vulcão cuja erupção se deu, sabe-se, no ]urassi-
co.
De outro lado, as quatro caracte rísticas mencionadas por Euclydes simbolizam o que supõe; ainda cretáceo de Jatobá não e do Recôncavo baiatotalmente invalida a renao mais, o marinho, nem o no, o que constituição.
De modo geral, nas mais precário que profecias retrospectivas. Na maioria delas importa epigrafar, co mo nos filmes: “Qualquer semelhan ça com fatos, objetos ou processo do passado geológico terá sido mera coincidência”.
A meu ver, Buclydes não ganha nem perde em ser anatomicamente examinado por um profissional de geologia. Não é, nesta ciência, que reside a importalidade de seu gênio. Muitos geólogos escreveram e es creverão páginas mais acertadas so bre a geologia da Bahia e não serão lembrados pela posteridade. Não me cabe dizer onde paira seu valor, pa ra não incidir no engano do sapa teiro de Apeles.
Sinto todavia, em toda a sua obra, afirmação vertical. Tenho impressão que Euclydes criou nova técnica de escrever, fazendo-o da maneira co mo os engenheiros representam per fis de estradas: com a escala verti cal sobre-alçada. Dou exemplo para justificar a afirmativa e finalizar:
quatro sons molliados sucessivos. Ganhou música a frase, ao passo que a substância para suportá-la, não passa de mero reflexo de sol em cascalho quartzífero, tão encontradiço nos caminhos do Brasil.
Se procuro, na arquitetura, sím bolo plástico de sua prosa, à minha mente ocorre o perfil da ogiva.
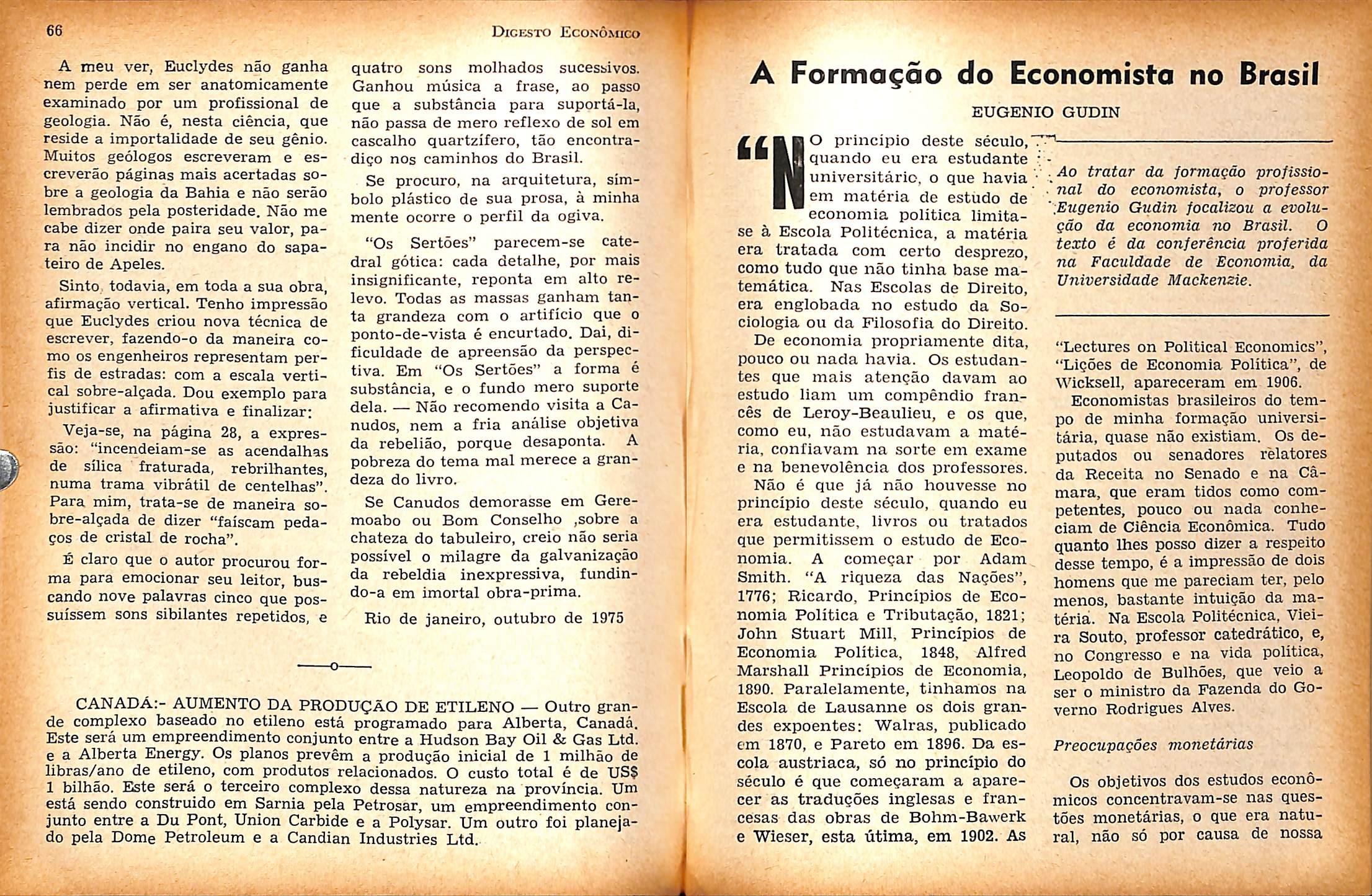
rebrilhantes. so-
Veja-se, na página 28, a expres são: “incendeiam-se as acendalhas de silica fraturada, numa trama vibrátil de centelhas”. Para mim, trata-se de maneira bre-alçada de dizer “faíscam peda ços de cristal de rocha”.
É claro que o autor procurou for ma para emocionar seu leitor, bus cando nove palavras cinco que pos suíssem sons sibilantes repetidos, e
“Os Sertões” parecem-se cate dral gótica: cada detalhe, por mais insignificante, reponta em alto re levo. Todas as massas ganham tan ta grandeza com o artifício que o ponto-de-vista é encurtado. Dai, di ficuldade de apreensão da perspec tiva. Em “Os Sertões” a forma é substância, e o fundo mero suporte dela. — Não recomendo visita a Ca nudos, nem a fria análise objetiva da rebelião, porque desaponta. A pobreza do tema mal merece a gran deza do livro.
Se Canudos demorasse em Geremoabo ou Bom Conselho ,sobre a chateza do tabuleiro, creio não seria possivel o milagre da galvanização da rebeldia inexpressiva, fundin do-a em imortal obra-prima.
Rio de janeiro, outubro de 1975
CANADÁ:- AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ETILENO — Outro gran de complexo baseado no etileno está programado para Alberta, Canadá. Este será um empreendimento conjunto entre a Hudson Bay Oil & Gas Ltd. e a Alberta Energy. Os planos prevêm a produção inicial de 1 milhão de libras/ano de etileno, com produtos relacionados. O custo total é de US$ 1 bilhão. Este será o terceiro complexo dessa natureza na província. Um está sendo construído em Sarnia pela Petrosar, um empreendimento con junto entre a Du Pont, Union Carbide e a Polysar. Um outro foi planeja do pela Dome Petroleum e a Candian Industries Ltd.
EUGENIO GUDIN
O principio deste século, . quando eu era estudante ● ● universitário, o que havia ● ^ lormação profissio- nal do econoinista, o professor ‘[Eugênio Gudin focalizou a evolu ção da economia no Brasil, texto é da conferência proferida na Faculdade de Economia, da Universidade Mackenzie.
em matéria cie estudo de economia política limitase à Escola Politécnica, a matéria era tratada com certo desprezo, como tudo que não tinha base ma temática. Nas Escolas de Direito, era englobada no estudo da So ciologia ou da Filosofia do Direito.
De economia propriamente dita, pouco ou nada havia. Os estudan tes que mais atenção davam ao estudo liam um compêndio fran cês de Leroy-Beaulieu, e os que, como eu, não estudavam a maté ria, confiavam na sorte em exame e na benevolência dos professores.
Não é que já não houvesse no princípio deste século, quando eu era estudante, livros ou tratados que permitissem o estudo de Eco nomia. A começar por Adam Smith. “A riqueza das Nações”, 1776; Ricai'do, Princípios de Eco nomia Política e Tributação, 1821; John Stuart Mill. Princípios de Economia Política, 1848, Alfred Marshall Princípios de Economia, 1890. Paralelamente, tinhamos na Escola de Lausanne os dois gran des expoentes: Walras, publicado em 1870, e Pareto em 1896. Da es cola austríaca, só no princípio do século é que começaram a apare cer as traduções inglesas e francesas das obras de Bohm-Bawerk e Wieser, esta útima, em 1902. As
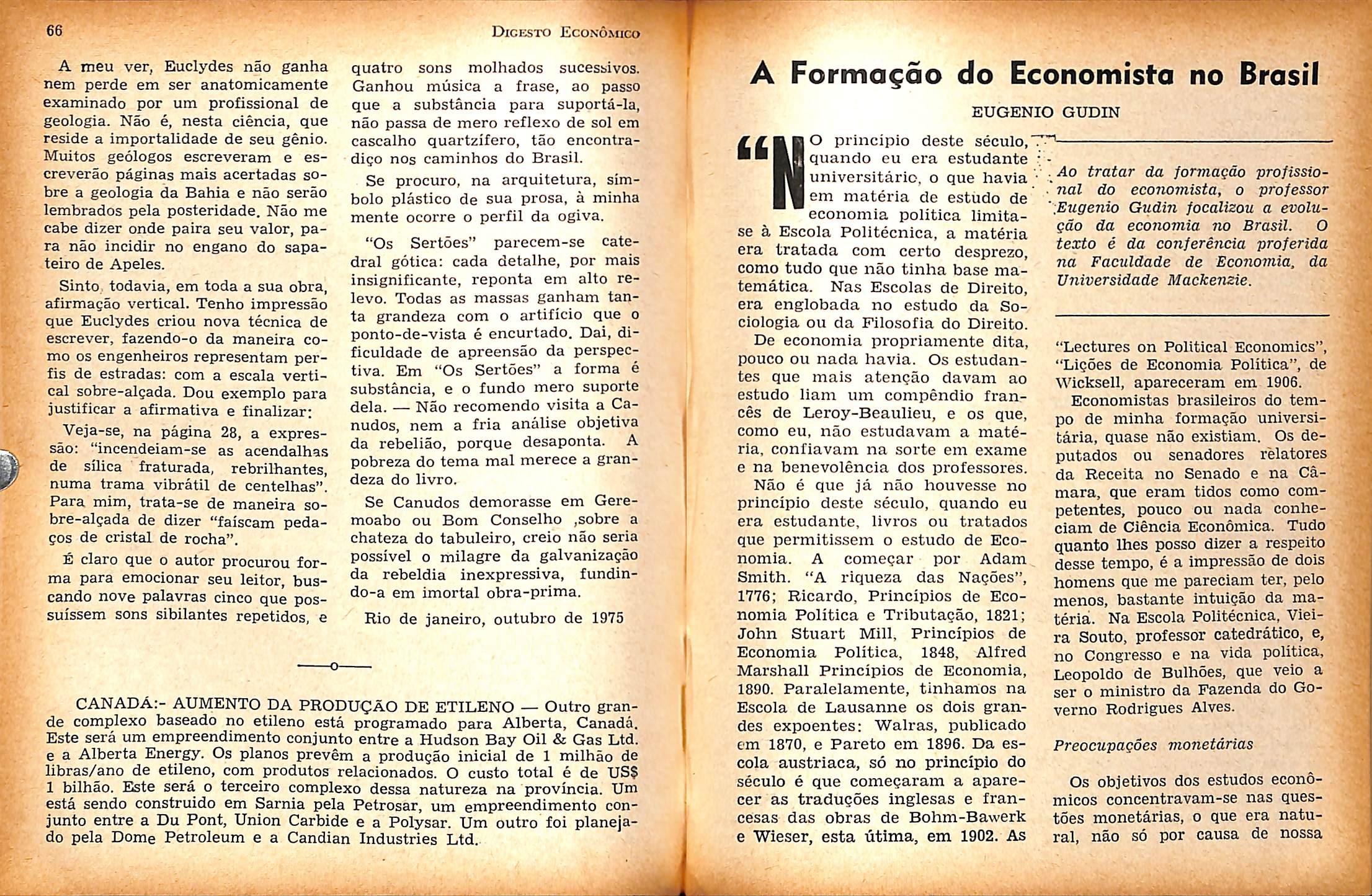
“Lectures on Political Economics”, “Lições de Economia Política”, de Wicksell, apareceram em 1906. Economistas brasileiros do tem po de minha formação universi tária, quase não exisüam. Os de putados ou senadores relatores da Receita no Senado e na Câ mara, que eram tidos como com petentes, pouco ou nada conhe ciam de Ciência Econômica. Tudo quanto lhes posso dizer a respeito desse tempo, é a impressão de dois homens que me pareciam ter, pelo menos, bastante intuição da ma téria. Na Escola Politécnica, VieiSouto, professor catedrático, e, no Congresso e na vida política, Leopoldo de Bulhões, que veio a ser o ministro da Fazenda do Go verno Rodrigues Alves.
Preocupações monetárias
Os objetivos dos estudos econô micos concentravam-se nas ques tões monetárias, o que era natu ral, não só por causa de nossa
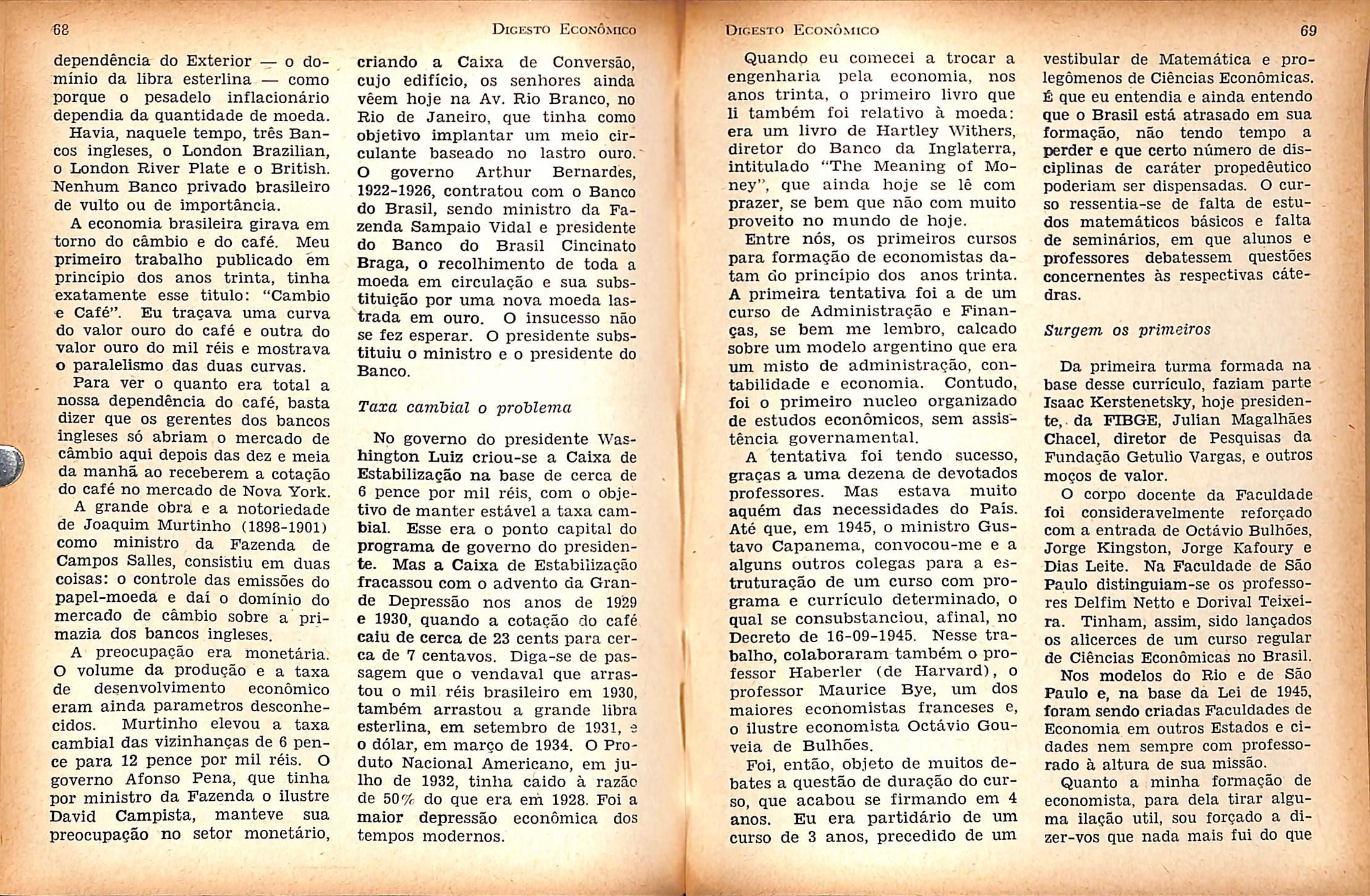
dependência do Exterior — o do mínio da libra esterlina — como porque o pesadelo inflacionário dependia da quantidade de moeda. Havia, naquele tempo, três Ban cos ingleses, o London Brazilian, 0 London River Plate e o British. Nenhum Banco privado brasileiro de vulto ou de importância.
A economia brasileira girava em torno do câmbio e do café. Meu primeiro trabalho publicado em princípio dos anos trinta, tinha exatamente esse titulo: “Cambio ■e Café”. Eu traçava uma curva do valor ouro do café e outra do valor ouro do mil réis e mostrava o paralelismo das duas curvas. Para ver o quanto era total a nossa dependência do café, basta dizer que os gerentes dos bancos ingleses só abriam o mercado de câmbio aqui depois das dez e meia da manhã ao receberem a cotação do café no mercado de Nova York.
A grande obra e a notoriedade de Joaquim Murtinho (1898-1901) como ministro da Fazenda de Campos Salles, consistiu em duas coisas: o controle das emissões do papel-moeda e daí o domínio do mercado de câmbio sobre a pri mazia dos bancos ingleses.
A preocupação era monetária. O volume da produção e a taxa de desenvolvimento econômico eram ainda parâmetros desconhe cidos. Murtinho elevou a taxa cambial das vizinhanças de 6 pence para 12 pence por mil réis. o governo Afonso Pena, que tinha por ministro da Fazenda o ilustre David Campista, manteve sua preocupação no setor monetário,
criando a Caixa de Conversão, cujo edifício, os senhores ainda véem hoje na Av. Rio Branco, no Rio de Janeiro, que tinha como objetivo implantar um meio cir culante baseado no lastro ouro.
O governo Arthur Bernardes, 1922-1926, contratou com o Banco do Brasil, sendo ministro da Fa zenda Sampaio Vidal e presidente do Banco do Brasil Cincinato Braga, o recolhimento de toda a moeda em circulação e sua subs tituição por uma nova moeda las trada em ouro. O insucesso não se fez esperar. O presidente subs tituiu o ministro e o presidente do Banco.
Taxa cambial o problema
No governo do presidente Was hington Luiz criou-se a Caixa de Estabilização na base de cerca de 6 pence por mil réis, com o obje tivo de manter estável a taxa cam bial. Esse era o ponto capital do programa de governo do presiden te. Mas a Caixa de Estabilização fracassou com o advento da Gran de Depressão nos anos de 1929 e 1930, quando a cotação do café caiu de cerca de 23 cents para cer ca de 7 centavos. Diga-se de pas sagem que o vendaval que arras tou 0 mil réis brasileiro em 1930, também arrastou a grande libra esterlina, em setembro de 1931, e 0 dólar, em março de 1934. O Pro duto Nacional Americano, em ju lho de 1932, tinha caido à razão de 50% do que era em 1928. Foi a maior depressão econômica dos tempos modernos.
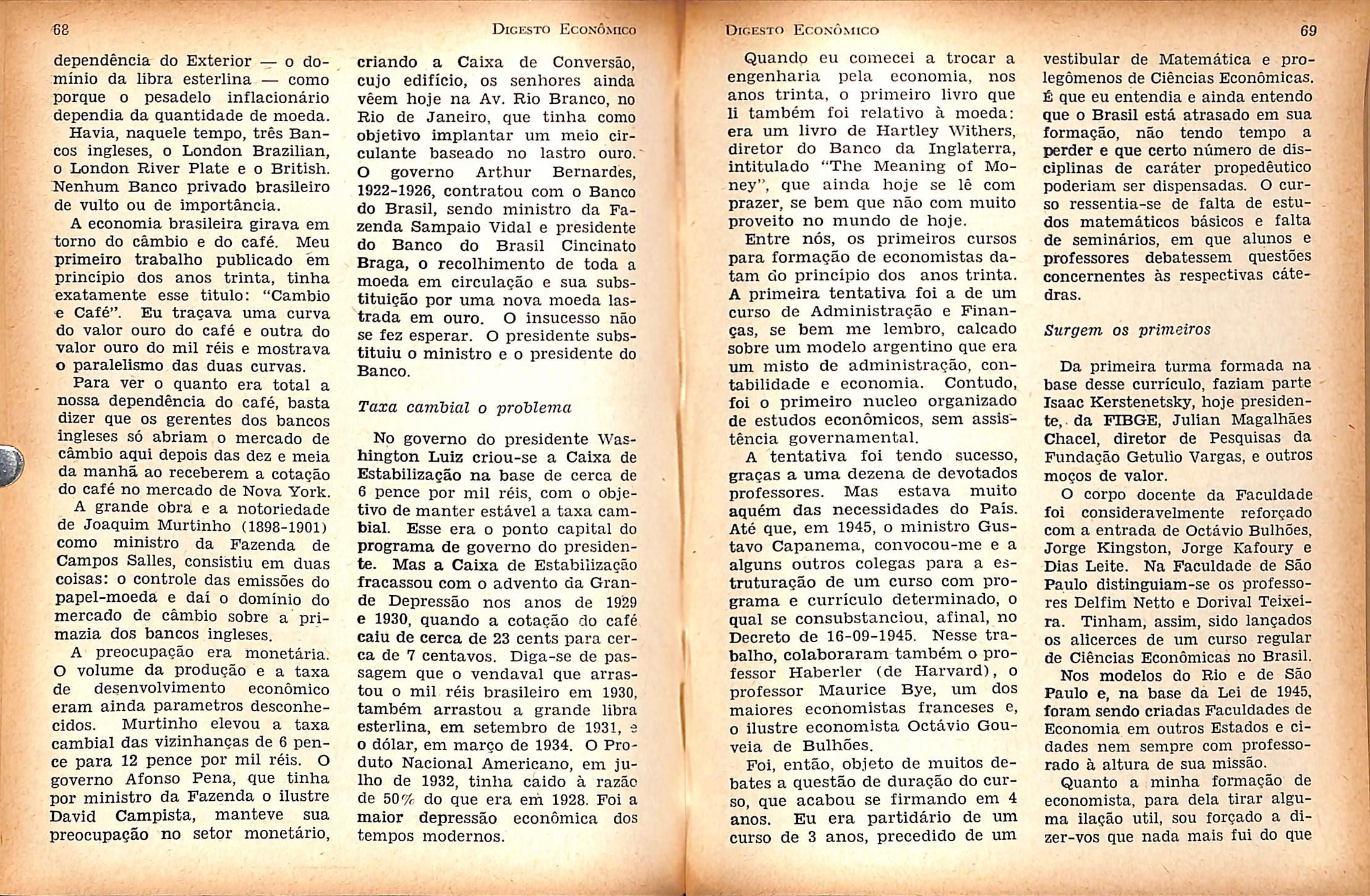
Quando cu comecei a trocar a engenharia pela economia, nos anos trinta, o primeiro livro que li também foi relativo à moeda; era um livro de Hartley Withers, diretor do Banco da Inglaterra, intitulado “The Meaníng of Money”, que ainda hoje se lê com prazer, se bem que não com muito proveito no mundo de hoje.
Entre nós, os primeiros cursos para formação de economistas da tam do princípio dos anos trinta. A primeira tentativa foi a de um curso de Administração e Finan ças, se bem me lembro, calcado sobre um modelo argentino que era um misto de administração, con tabilidade e economia. Contudo, foi o primeiro núcleo organizado de estudos econômicos, sem assis tência governamental.
A tentativa foi tendo sucesso, graças a uma dezena de devotados professores. Mas estava muito aquém das necessidades do País. Até que, em 1945, o ministro Gus tavo Capanema, convocou-me e a alguns outros colegas para a es truturação de um curso com pro grama e currículo determinado, o qual se consubstanciou, afinal, no Decreto de 16-09-1945. Nesse tra balho, colaboraram também o pro fessor Haberler (de Harvard), o professor Maurice Bye, um dos maiores economistas franceses e, ilustre economista Octávio Gou-
Foi, então, objeto de muitos de bates a questão de duração do cur so, que acabou se firmando em 4
vestibular de Matemática e prolegómenos de Ciências Econômicas. É que eu entendia e ainda entendo que 0 Brasil está atrasado em sua formação, não tendo tempo a I>erder e que certo número de dis ciplinas de caráter propedêutico poderiam ser dispensadas. O cur so ressentia-se de falta de estu dos matemáticos básicos e falta de seminários, em que alunos e professores debatessem questões concernentes às respectivas cáte dras.
Surgem os primeiros
Da primeira turma formada na base desse currículo, faziam parte Isaac Kerstenetsky, hoje presiden te, da FIBGE, Julian Magalhães Chacel, diretor de Pesquisas da Fundação Getulio Vargas, e outros moços de valor.
O corpo docente da Faculdade foi consideravelmente reforçado com a entrada de Octávio Bulhões, Jorge Kingston, Jorge Kafoury e Dias Leite. Na Faculdade de São Paulo distinguiam-se os professo res Delfim Netto e Dorival Teixei ra. Tinham, assim, sido lançados os alicerces de um curso regular de Ciências Econômicas no Brasil.
Nos modelos do Rio e de São Paulo e, na base da Lei de 1945, foram sendo criadas Faculdades de Economia em outros Estados e ci dades nem sempre com professorado à altura de sua missão.
Quanto a minha formação de economista, para dela tirar algu ma ilação util, sou forçado a di zer-vos que nada mais fui do que o veia de Bulhões.
Eu era partidário de um anos. curso de 3 anos, precedido de um
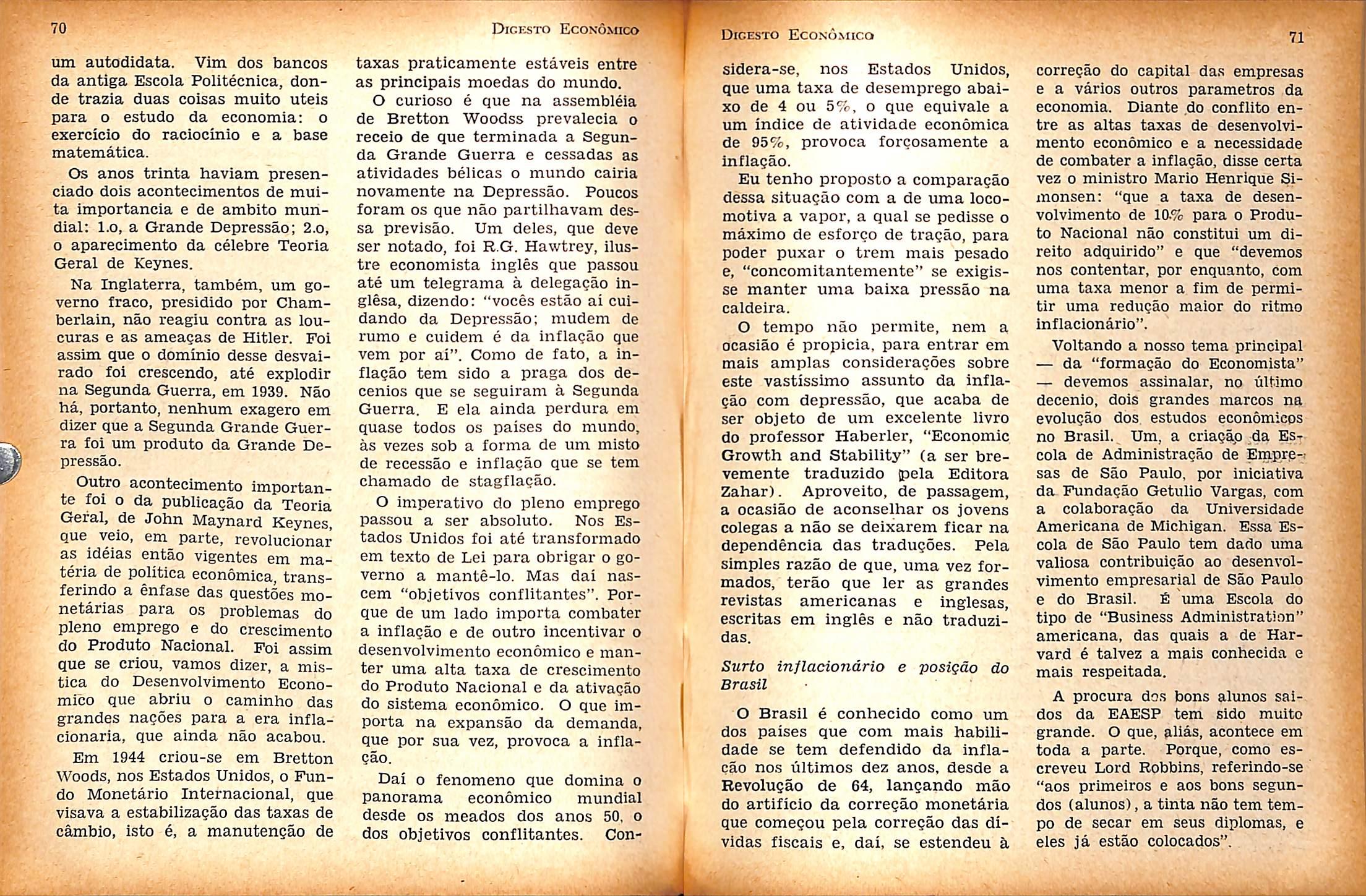
um autodidata. Vim dos bancos da antiga Escola Politécnica, don de trazia duas coisas muito uteis para o estudo da economia: o exercício do raciocinio e a base matemática.
Os anos trinta haviam presen ciado dois acontecimentos de mui ta importância e de âmbito mun dial: 1.0, a Grande Depressão; 2.o, o aparecimento da célebre Teoria Geral de Keynes.
Na Inglaterra, também, um go verno fraco, presidido por Chamberlain, não reagiu contra as lou curas e as ameaças de Hitler, Foi assim que o domínio desse desvai rado foi crescendo, até explodir na Segunda Guerra, em 1939. Não há, portanto, nenhum exagero em dizer que a Segunda Grande Guer ra foi um produto da Grande De pressão.
Outro acontecimento importan
te foi 0 da publicação da Teoria Geral, de John Maynard Keynes, que veio, em parte, revolucionar as idéias então vigentes téria de política econômica, trans ferindo a ênfase das questões netárias para os problemas do pleno emprego e do crescimento do Produto Nacional.
em mamoFoi assim que se criou, vamos dizer, a mistica do Desenvolvimento Economico que abriu o caminho das grandes nações para a era infla cionária, que ainda não acabou.
Em 1944 criou-se em Bretton Woods, nos Estados Unidos, o Fun do Monetário Internacional, que visava a estabilização das taxas de câmbio, isto é, a manutenção de
taxas praticamente estáveis entre as principais moedas do mundo. O curioso é que na assembléia de Bretton Woodss prevalecia o receio de que terminada a Segun da Grande Guerra e cessadas as atividades bélicas o mundo cairia novamente na Depressão. Poucos foram os que não partilhavam des sa previsão. Um deles, que deve ser notado, foi R.G. Hawtrey, ilus tre economista inglês que passou até um telegrama à delegação inglêsa, dizendo: “vocês estão ai cui dando da Depressão; mudem de rumo e cuidem é da inflação que vem por aí”. Como de fato, a in flação tem sido a praga dos de cênios que se seguiram à Segunda Guerra. E ela ainda perdura em quase todos os países do mundo, às vezes sob a forma de um misto de recessão e inflação que se tem chamado de stagflação.
O imperativo do pleno emprego passou a ser absoluto. Nos Es tados Unidos foi até transformado em texto de Lei para obrigar o go verno a mantê-lo. Mas daí nas cem “objetivos conflitantes”. Por que de um lado importa combater a inflação e de outro incentivar o desenvolvimento econômico e man ter uma alta taxa de crescimento do Produto Nacional e da ativação do sistema econômico. O que im porta na expansão da demanda, que por sua vez, provoca a infla ção.
Dai o fenomeno que domina o panorama econômico mundial desde os meados dos anos 50. o dos objetivos conflitantes. Con-
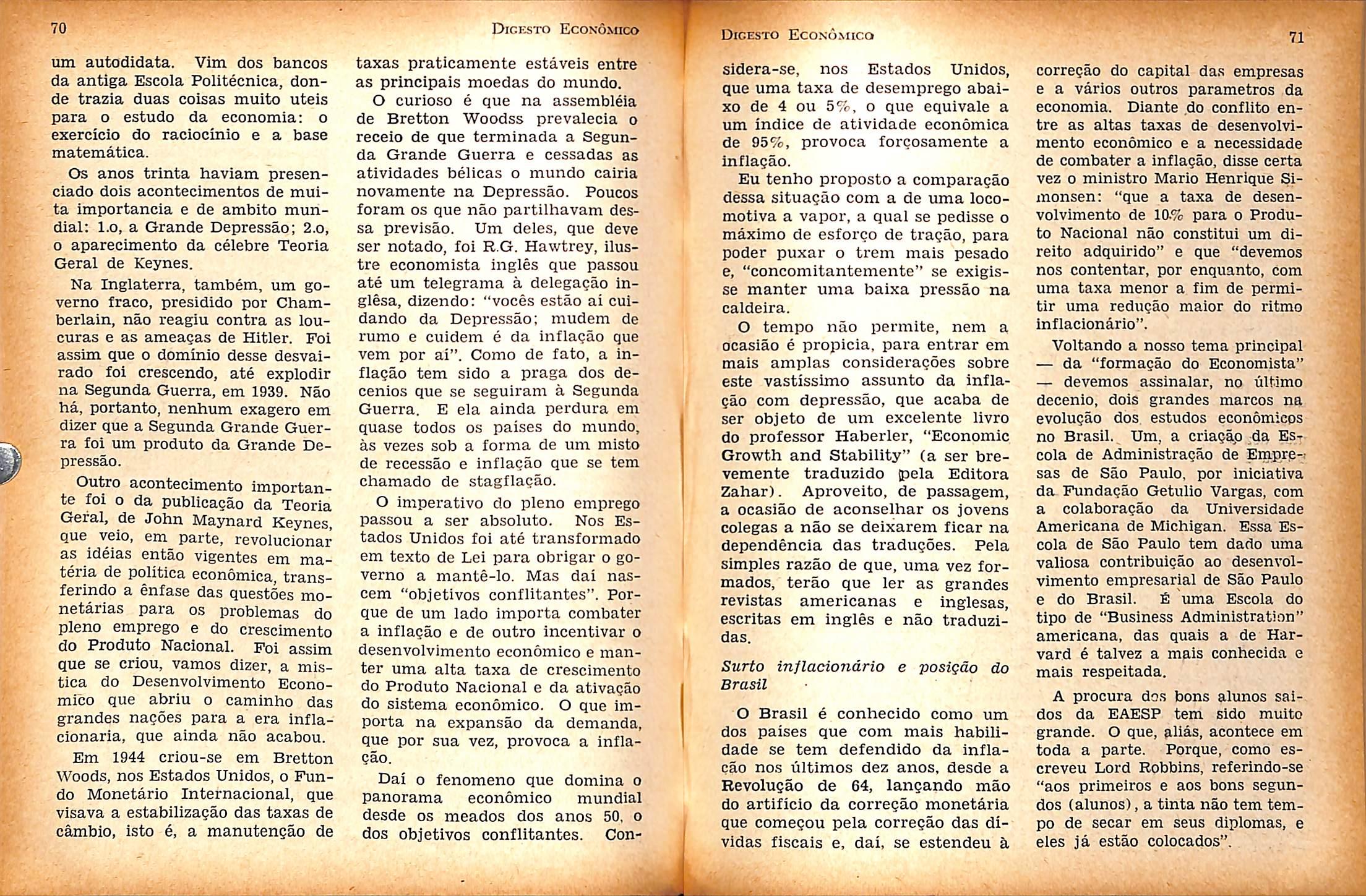
sidera-se, nos Estados Unidos, que uma taxa de desemprego abai xo de 4 ou 59r. o que equivale a um índice de atividade econômica de 95%, provoca forçosamente a inflação.
Eu tenho proposto a comparação dessa situação com a de uma loco motiva a vapor, a qual se pedisse o máximo de esforço de tração, para poder puxar o trem mais pesado e, “concomitantemente” se exigis se manter uma baixa pressão na caldeira.
O tempo não permite, nem a ocasião é propicia, para entrar em mais amplas considerações sobre este vastíssimo assunto da infla ção com depressão, que acaba de ser objeto de um excelente livro do professor Haberler, “Economic Growth and Stability” (a ser bre vemente traduzido (pela Editora Zahar). Aproveito, de passagem, a ocasião de aconselhar os jovens colegas a não se deixarem ficar na dependência das traduções. Pela simples razão de que, uma vez for mados, terão que ler as grandes revistas americanas e inglesas, escritas em inglês e não traduzi das.
Surto injlacionário e 'posição ão Brasil
O Brasil é conhecido como um dos países que com mais habili dade se tem defendido da infla ção nos últimos dez anos, desde a Revolução de 64, lançando mão do artificio da correção monetária que começou pela correção das di vidas fiscais e, daí, se estendeu à
correção do capital das empresas e a vários outros parâmetros da economia. Diante do conflito en tre as altas taxas de desenvolvi mento econômico e a necessidade de combater a inflação, disse certa vez o ministro Mario Henrique Simonsen: “que a taxa de desen volvimento de 10.% para o Produ to Nacional não constitui um di reito adquirido” e que “devemos nos contentar, por enquanto, com uma taxa menor a fim de permi tir uma redução maior do ritmo inflacionário”.
Voltando a nosso tema principal — da “formação do Economista” — devemos assinalar, no último decenio, dois grandes marcos na evolução dos estudos econômicos no Brasil., Um, a criaçãp jda Es.^ cola de Administração de Empre-/ sas de São Paulo, por iniciativa da Fundação Getulio Vargas, com a colaboração da Universidade Americana de Michigan. Essa Es cola de São Paulo tem dado uma valiosa contribuição ao desenvol vimento empresarial de São Paulo e do Brasil. É uma Escola do tipo de “Business Administration” americana, das quais a de Harvard é talvez a mais conhecida e mais respeitada.
A procura dos bons alunos saidos da EAESP tem sido muito grande. O que, aüás, acontece em toda a parte. Porque, como es creveu Lord Robbins, referindo-se aos primeiros e aos bons segun dos (alunos), a tinta não tem tem po de secar em seus diplomas, e eles já estão colocados”.
Situada na margem do Charles River, ela tem seus cursos inteira mente separados da Faculdade de Economia da mesma Universida de. Acontece que havia, entre nós, uma corrente de opinião, no sen tido de integrar os dois cursos de Administração de Empresas e de Economia em Geral. Tive, então, ocasião de perguntar a um grupo de professores de Harvard o que achavam dessa idéia. Estavamos diante de uma janela sobre o Charles River e, eles me disseram: “Se você lá no Brasil tem um rio, ponha cada Escola de um lado do rio; e se não tiverem um rio, abram um canal, mas separem as duas Escolas.
Outro acontecimento dos últi mos dez anos foi o da criação da Escola de Pós-Graduação em Eco-
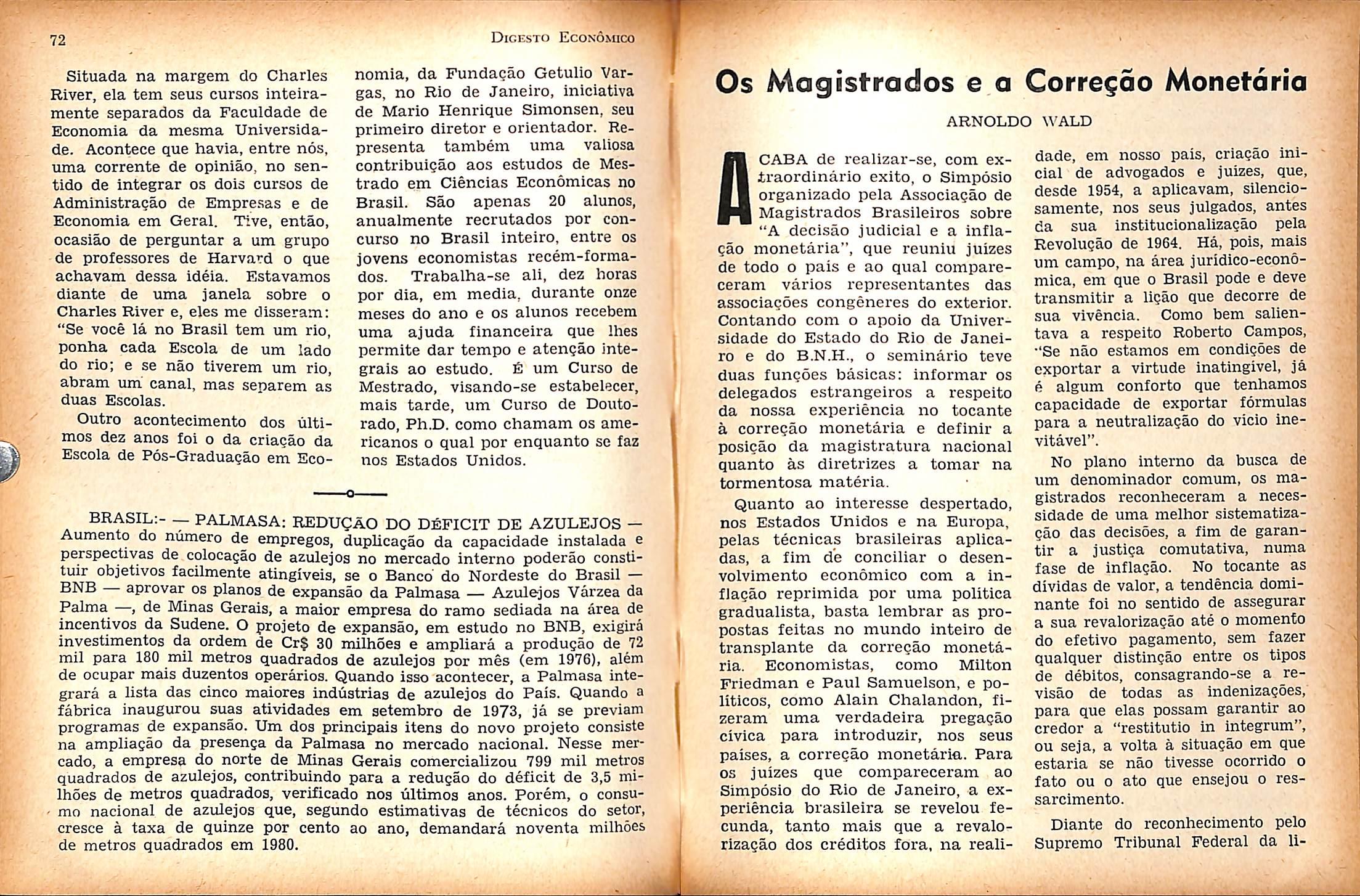
nomia, da Fundação Getulio Var gas, no Rio de Janeiro, Iniciativa de Mario Henrique Simonsen, seu primeiro diretor e orientador. Re presenta também uma valiosa contribuição aos estudos de Mes trado em Ciências Econômicas no Brasil. São apenas 20 alunos, anualmente recrutados por con curso no Brasil inteiro, entre os jovens economistas recém-formados. Trabalha-se ali, dez horas por dia, em media, durante onze meses do ano e os alunos recebem uma ajuda financeira que lhes permite dar tempo e atenção inte grais ao estudo. É um Curso de Mestrado, visando-se estabelecer, mais tarde, um Curso de Douto rado, Ph.D. como chamam os ame ricanos o qual por enquanto se faz nos Estados Unidos.
Aumento do número de empregos, duplicação da capacidade instalada e perspectivas de colocação de azulejos no mercado interno poderão consti tuir objetivos facilmente atingíveis, se o Banco do Nordeste do Brasil — BNB aprovar os planos de expansão da Palmasa — Azulejos Várzea da Palma —, de Minas Gerais, a maior empresa do ramo sediada na área de incentivos da Sudene. O projeto de expansão, em estudo no BNB, exigirá investimentos da ordem de Cr$ 30 milhões e ampliará a produção de 72 mil para 180 mil metros quadrados de azulejos por mês (em 1976), além de ocupar mais duzentos operários. Quando isso acontecer, a Palmasa inte grará a lista das cinco maiores indústrias de azulejos do País. Quando fábrica inaugurou suas atividades em setembro de 1973, já se previam programas de expansão. Um dos principais itens do novo projeto consiste na ampliação da presença da Palmasa no mercado nacional. Nesse mer cado, a empresa do norte de Minas Gerais comercializou 799 mil mehos quadrados de azulejos, contribuindo para a redução do déficit de 3,5 mi lhões de metros quadrados, verificado nos últimos anos. Porém, o consu● mo nacional de azulejos que, segundo estimativas de técnicos do setor, cresce à taxa de quinze por cento ao ano, demandará noventa milhões de metros quadrados em 1980. a
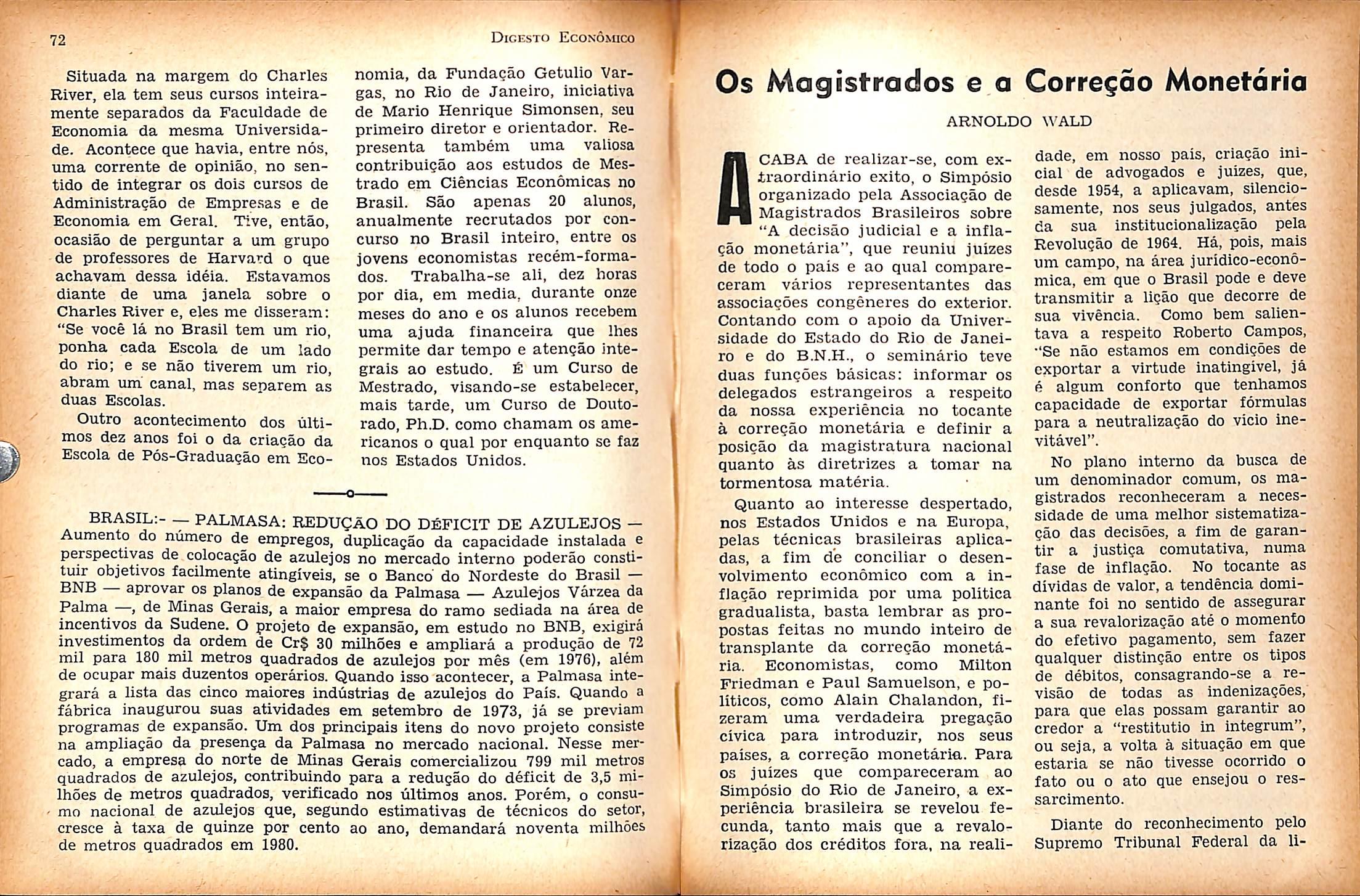
ARNOLDO WALD
ACABA de realizar-se, com ex traordinário exito, o Simpósio organizado pela Associação de Magistrados Brasileiros sobre “A decisão judicial e a infla ção monetária”, que reuniu juizes de todo o pais e ao qual compare ceram vários representantes das associações congêneres do exterior. Contando com o apoio da Univer sidade do Estado do Rio de Janei ro e do B.N.H., o seminário teve duas funções básicas: informar os delegados estrangeiros a respeito da nossa experiência no tocante à correção monetária e definir a posição da magistratura nacional quanto às diretrizes a tomar na tormentosa matéria.
Quanto ao interesse despertado, nos Estados Unidos e na Europa, pelas técnicas brasileiras aplica das, a fim de conciliar o desen volvimento econômico com a in flação reprimida por uma politica gradualista, basta lembrar as pro postas feitas no mundo inteiro de transplante da correção monetá ria. Economistas, como Milton Friedman e Paul Samuelson, e po líticos, como Alain Chalandon, fi zeram uma verdadeira pregação cívica para introduzir, nos seus países, a correção monetária. Para os juizes que compareceram ao Simpósio do Rio de Janeiro, a ex periência brasileira se revelou fe cunda, tanto mais que a revalo rização dos créditos fora, na reali-
dade, em nosso pais, criação ini- ■ ciai de advogados e juizes, que, desde 1954, a aplicavam, silencio samente, nos seus julgados, antes da sua institucionalização pela Revolução de 1964. Há, pois, mais um campo, na área jurídico-econômica, em que o Brasil pode e deve transmitir a lição que decorre de sua vivência. Como bem salien tava a respeito Roberto Campos, “Se não estamos em condições de exportar a virtude inatingivel, já é algum conforto que tenhamos capacidade de exportar fórmulas para a neutralização do vicio ine vitável”.
No plano interno da busca de um denominador comum, os ma gistrados reconheceram a neces sidade de uma melhor sistematização das decisões, a fim de garan tir a justiça comutativa, numa fase de inflação. No tocante as dividas de valor, a tendência domi nante foi no sentido de assegurar a sua revalorização até o momento do efetivo pagamento, sem fazer qualquer distinção entre os tipos de débitos, consagrando-se a re visão de todas as indenizações, para que elas possam garantir ao credor a “restitutio in integrum”, ou seja, a volta à situação em que estaria se não tivesse ocorrido o fato ou o ato que ensejou o res sarcimento.
Diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da li-

citude das cláusulas de correção direito como técnica de harmoniincluídas nos contratos, os juizes zação social e econômica, é de também admitiram que não have- suma importância salientar o tra ria motivo para impugnar a con- balho construtivo e equilibrado que venção de reajustamento de acordo está sendo realizado no tocante à com um índice determinado. A correção monetária. Já se disse matéria ainda não é pacifica no que o Judiciário tem funcionado, tocante à chamada “comissão de conforme o caso, como freio ou permanência”, cobrada pelas ins- como acelerador do Poder Legistituições financeiras, embora já lativo. No tocante à correção mohaja decisões da mais alta corte netária, cabe indiscutivelmente reconhecendo a sua licitude. É aos juizes o papel de construtores estranho que no projeto de Código de uma política, mas é preciso que Civil, que vai ser remetido ao Con- os demais Poderes lhes assegurem gresso Nacional, a nova regula- o apoio de que necessitam. Só a mentação discrepe da jurisprudên- lei poderá evitar certa desordem cia atualmente dominante, só per- jurisprudencial e funcionar como mitindo a correção quando legal mente prevista. norma preventiva! A idéia de apli car a correcão aos devedores mo¬ rosos, defendida pelos magistrados e desenvolvida na doutrina e na imprensa, mereceu ser formulada em alguns projetos de lei, que não tiveram andamento, quando, na realidade, seria medida de incon testável justiça e até de economia processual, evitando a procrastinação de processos por devedores, que encontram, no foro, o dinhei ro mais barato do mercado.
no o
Quanto ao atraso no pagamento das dívidas de dinheiro, as conclu sões do Simpósio são também sentido de se conceder ao Juia a liberdade de encontrar uma fór mula adequada para compensar credor pelo prejuízo não coberto pelo simples juros de mora. Repe tiu-se, muito, no decorrer dos de bates que 0 nominalismo tornarase um mito e uma ficção e que era possível sacrificar a justiça mitos e ficções, nos quais o pró prio Estado não mais acreditava, pois tinha imposto a correção mo netária aos seus devedores.
nao a Numa época na qual se fala mui to no misoneismo e na ineficiên cia dos juristas e no declínio do
Num momento em que se fle xibiliza a correção monetária, me diante a diversificação dos índices aplicados, justifica-se que o dese jo dos magistrados encontre uma adequada ressonância e uma efe tiva colaboração tanto do Legisla tivo como do Executivo, encami nhando-se e aprovando-se projeto de lei sobre a matéria.

NICOLAS BOÉR
Apolítica exterior de uma po tência situa-se no ponto de coincidência das perspectivas que se abrem do pais para o Exterior e das perspectivas da constelação mundial que, par tindo de uma visão global, con signam a cada país um lugar no sistema dos Estados, cujo manejamento se chama política inter nacional. Há sempre uma con frontação constante nos impera tivos do interesse nacional, cujo meio é o poder nacional, com as possibilidades da sua realização, decorrentes das relações de poder internacional. Por interesse na cional — conceito básico de qual quer política externa — enten dem-se os imperativos da existên cia e do desenvolvimento do cor po político dentro da integridade do seu território, incluindo as ga rantias políticas, sociais e econô micas de sua plena realização, ou seja, da atualização de todas as suas potencialidades materiais e espirituais, autodeterminação de seu povo, soberania do seu Esta do, integração e prosperidade de toda a sua população. E como a liberdade de um indivíduo, numa sociedade organizada segundo os critérios da razão, só pode ser condicionada pela liberdade de todos os outros cidadãos e pela moral natural, cuja realização dá sentido à liberdade, assim tam bém o interesse nacional, num sistema mundial de Estados orga nizados de acordo com o direito e
O professor Nicolas Boér é um dos viaiores especialistas brasileiros em política internacional. O texto que se vai ler é de sua conferência no Congresso Nacional, em outubro último.
a moral internacionais, só pode ser limitado pelo interesse nacio nal de todos os outros Estados, bem. como pela estabilidade do próprio sistema de Estados, 0 que exige o respeito dos acordos e tratados li vremente estipulados e não de nunciados. Como a liberdade de cada indivíduo é interdependente e não pode ser assegurada, satis fatoriamente, de outra maneira, assim também 0 interesse nacio nal é interdependente e não pode ser satisfatoriamente assegurado de outra forma.
A formulação concreta do in teresse nacional, além de seus ele mentos constantes, supõe uma avaliação crítica do que é neces sário e desejável num dado mo mento para a existência nacional e do que é possível dentro da rea lidade internacional, consideran do-se as disponibilidades de poder que está à disposição do que têm 0 encargo de manejá-lo. O outro conceito básico da política exter na, mas subordinado ao interesse nacional, assim como 0 meio é su bordinado ao fim, é o poder na cional. O poder, nas relações in ternacionais, define-se como
potencialidade que uma naçao e capaz de atualizar, a fim de fazer valer seu interesse nacional, no conceito das nações, em relação aos outros Estados e dentro do sistema de Estados, aliados e ad versários. Esse poder, no entanto, não se traduz exclusivamente em termos fisicos, materiais, ou seja, militares: seus componentes são as potencialidades econômicas e culturais de uma nação e a sua valorização política, a coesão e a vitalidade das suas estruturas so ciais e das suas forças espirituais, a qualidade de sua liderança po lítica, o grau e a intensidade com que a sociedade aprova e segue a orientação interna e externa do seu governo, a força atrativa da personalidade e da mensagem na cionais e, enfim, embora não último lugar, a maneira e o êxito com que um Estado sabe benefi ciar-se dos sistemas de alianças de que participa.
O poder nacional e as relações de poder internacional achaní-se em constante processo de mudança, Mas é tarefa da geopolitica quisar, verificar e analisar as lações de poder internacional em constante mudança em cada mo mento historico, por se tratar do meio através do qual se pode des cobrir o angulo de refração dos raios das perspectivas mundiais que incidem sobre o país. Neste contexto e para evitar qualquer
equivoco, convém esclarecer que por geopolitica não entendemos as “razões” invocadas pelo capitão Alfred Tliayer Maham para justi ficar 0 imperialismo norte-ameri cano na época de Theodore Roosevelt. Nada está mais longe das nossas intenções do que a reabi litação da versão da geopolitica cultivada pela “escola alemã” de Ratzel e Haushofer, “escola” que motivando as tendências expansionistas do Kaiser Guilherme II e mais tarde oficializada, veio a formar o corpo doutrinário, bas tante pobre, do nacional-socialismo, perdendo todo o seu crédito no mundo das ciências. O fato de certos e determinados imperialisavassalaram a história
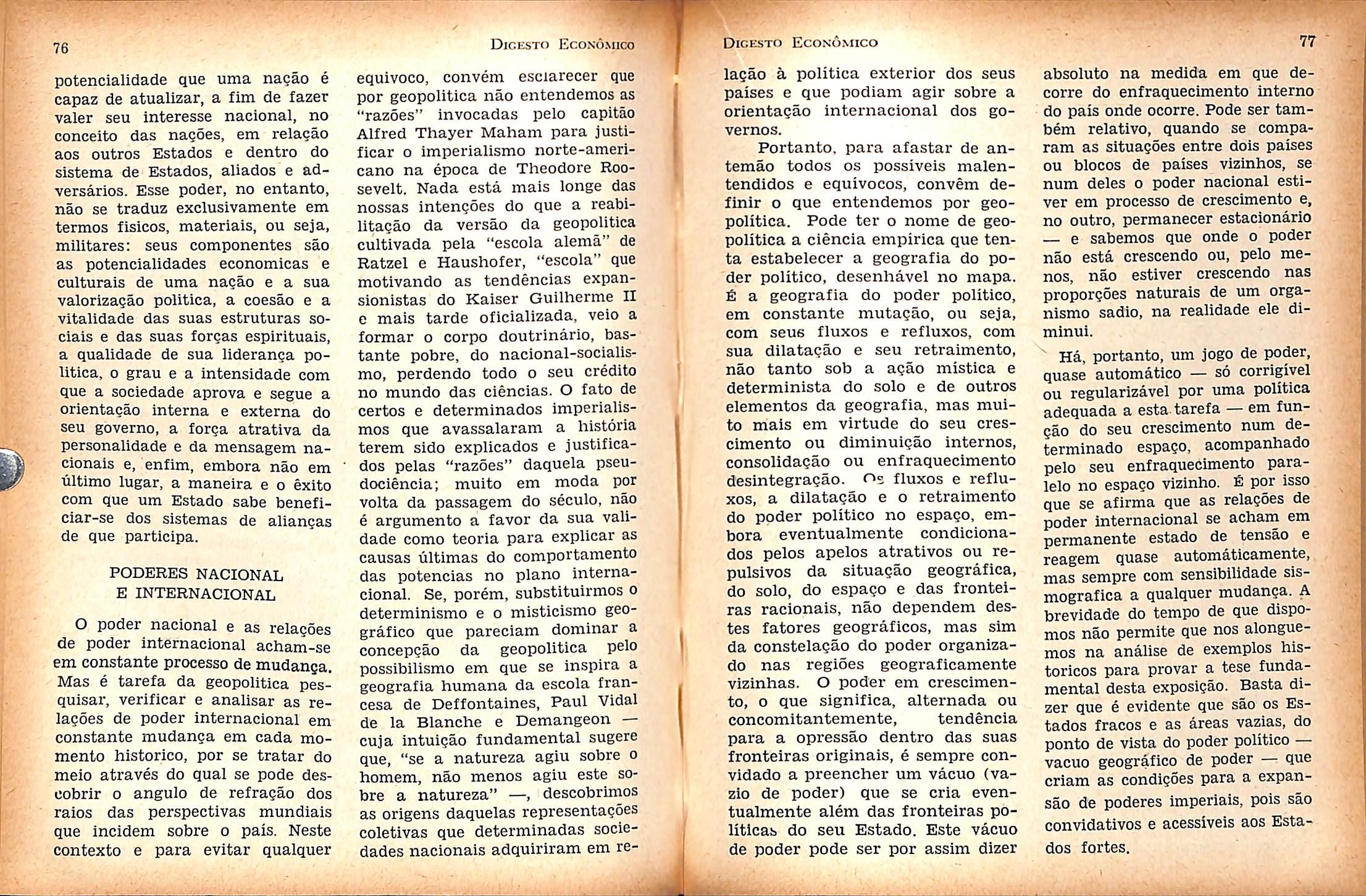
concepção
mos que terem sido explicados e justifica dos pelas “razões” daquela pseudociéncia; muito em moda por volta da passagem do século, não é argumento a favor da sua vali dade como teoria para explicar as causas últimas do comportamento das potências no plano interna cional. Se, porém, substituirmos o determinismo e o misticismo geo gráfico que pareciam dominar a da geopolitica pelo possibilismo em que se inspira a geografia humana da escola frande Deffontaines, Paul Vidal de la Blanche e Demangeon — cuja intuição fundamental sugere se a natureza agiu sobre o
pesre- cesa que, homem, não menos agiu este so bre a natureza” —, descobrimos as origens daquelas representações coletivas que determinadas socie dades nacionais adquiriram em re-
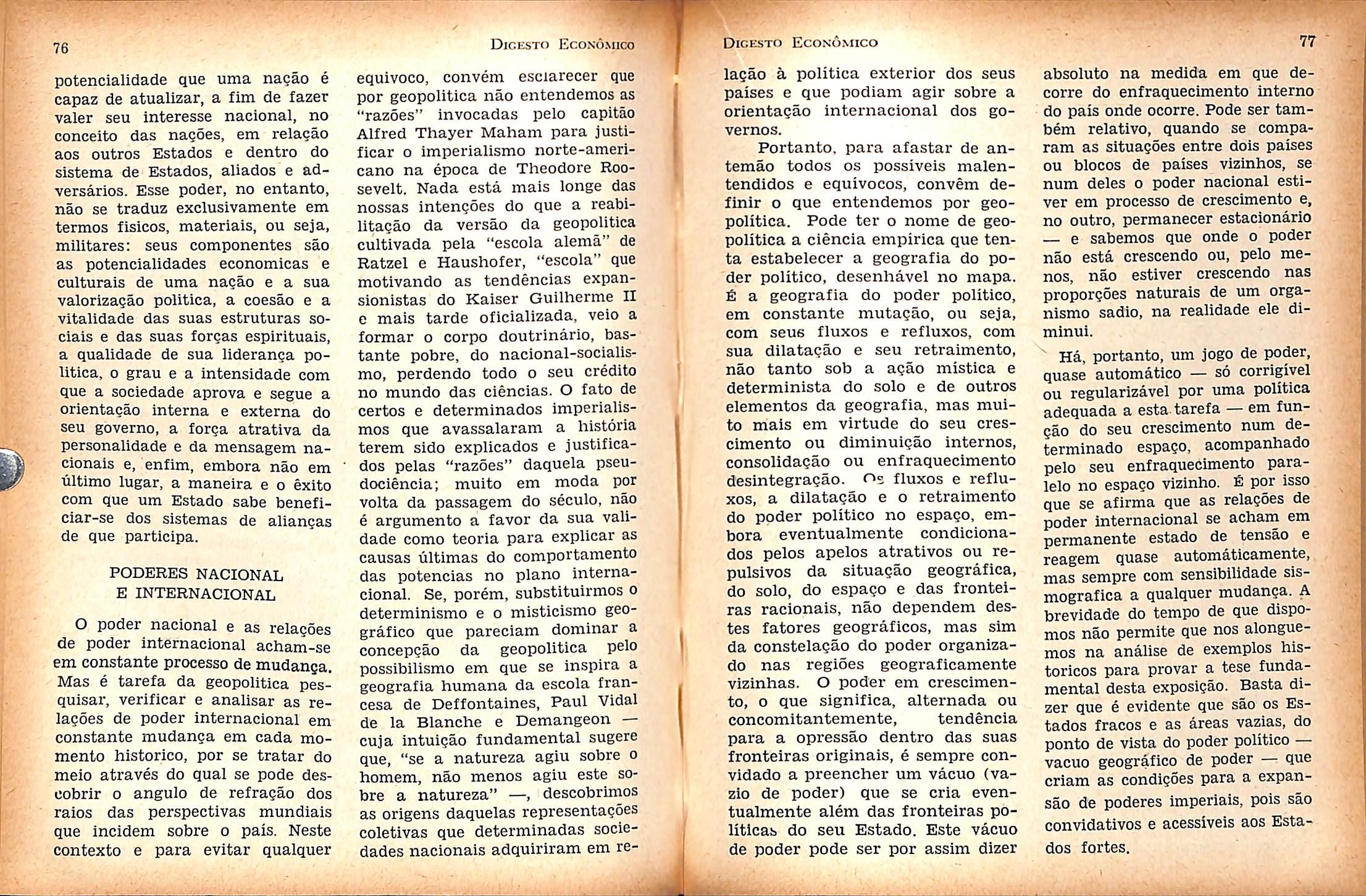
lação à política exterior dos seus países e que podiam agir sobre a orientação internacional dos go vernos.
Portanto, para afastar de an temão todos os possíveis malen tendidos e equívocos, convêm de finir o que entendemos por geopolítica. Pode ter o nome de geo politica a ciência empírica que ten ta estabelecer a geografia do po der político, desenhável no mapa. É a geografia do poder político, em constante mutação, ou seja, com seus fluxos e refluxos, com sua dilatação e seu retraimento, não tanto sob a ação mística e determinista do solo e de outros elementos da geografia, mas mui to mais em virtude do seu cres cimento ou diminuição internos, consolidação ou enfraquecimento desintegração. fluxos e reflu xos, a dilatação e o retraimento do poder político no espaço, em bora eventualmente condiciona dos pelos apelos atrativos ou re pulsivos da situação geográfica, do solo, do espaço e das frontei ras racionais, não dependem des tes fatores geográficos, mas sim da constelação do poder organiza do nas regiões geograficamente vizinhas. O poder em crescimen to, o que significa, alternada ou concomitantemente, para a opressão dentro das suas fronteiras originais, é sempre con vidado a preencher um vácuo (va zio de poder) que se cria even tualmente além das fronteiras po líticas do seu Estado. Este vácuo de poder pode ser por assim dizer
absoluto na medida em que de corre do enfraquecimento interno do país onde ocorre. Pode ser tam bém relativo, quando se compa ram as situações entre dois países ou blocos de países vizinhos, se num deles o poder nacional esti ver em processo de crescimento e, no outro, permanecer estacionário — e sabemos que onde o poder não está crescendo ou, pelo meestiver crescendo nas
nao nos, proporções naturais de um orgasadio, na realidade ele di- msmo minui.
Há, portanto, um jogo de poder, quase automático — só corrigível regularizável por uma política adequada a esta. tarefa — em funcrescimento num deou ção do seuterminado espaço, acompanhado pelo seu enfraquecimento para lelo no espaço vizinho. É por isso afirma que as relações de que sepoder internacional se acham em permanente estado de tensão e automáticamente, com sensibilidade sis- reagem quase mas sempre mografica a qualquer mudança. A brevidade do tempo de que dispopermite que nos alongueanálise de exemplos hismos nao mos na toricos para provar a tese funda mental desta exposição. Basta di que é evidente que são os Es tados fracos e as áreas vazias, do ponto de vista do poder político — vacuo geográfico de poder — que criam as condições para a expanzer tendência são de poderes imperiais, pois são convidativos e acessíveis aos Esta¬ dos fortes.

Essa teoria explica o agigantamento dos Estados Unidos e da Rússia czarista nos séculos XVIII e XIX: os Estados Unidos, seguin do os impulsos do seu “Manífest Destiny” e expandindo-se rumo a Oeste, através da ocupação de áreas demográfica e politicamente vazias, e a Rússia expandindo-se no rumo Leste pela conquista pro gressiva e sistemática das regiões despovoadas da Sibéria e pela anexação de províncias afastadas do poder central enfraquecido e desintegrado da China, acabaram encontrando-se no Estreito Behring. Um dos resultados mais nefastos e pressagiosos da Primei ra Guerra Mundial foi, após a derrota das potências centrais desmembramento do multinacio nal Império Austro-Hungaro, dos pilares do equilíbrio europeu, em numerosos pequenos Estados, não apenas igualmente multina cionais, mas fracos e viáveis, criando aquele vácuo de poder fatal nas paragens da Eu ropa Oriental, o qual foi primeiro preenchido pelo imperalismo nazialemão e, em seguida, pelo impe rialismo russo-soviético. Após a derrota de Hitler, toda a Europa, tanto Oriental quanto Ocidental' transformou-se num extenso vá cuo de poder, contribuindo para que as duas superpotências — a anglo-saxonica e a russa — se encontrassem no coração da Eu ropa, ao longo do rio EIba, que assinala também as linhas de de marcação das suas zonas de in fluência. Foi o que determinou o
surgir do sistema bipolar do poder mundial.
Em última análise, é a geo-política que explica o fenômeno da expansão colonialista das potên cias européias durante os quatro séculos chamados “eurocêntricos”, em função- do desequilíbrio de po der entre a Europa e a Asia e a África, respectivamente. A ex pansão russa nos séculos XIX e XX, na Europa Balcanica, na Criméia e no Caucaso, ou seja, nos antigos territórios do Império Otomano (o “grande doente” do Bósforo), prosseguiu na medida e no ritmo em que o poder neste império se desintegrou, deixando atrás de si um vácuo que convi dava o poder vizinho em pleno processo de agigantamento e ins pirado, naquela época, pelo missionarismo ortodoxo e conservador da Santa Rússia. Este processo prossegue atualmente no Oriente Médio, antigo território do Impé rio. Otomano, o qual, quando foi também abandonado pelo colonia lismo europeu, não conseguiu or ganizar um poder suficientemente forte para resistir à nova expan são. Na realidade, todos os ter ritórios asiáticos e africanos, emancipados após a retirada das forças coloniais européas, em grau variável, representam um vácuo de poder e é por isso*” que neles a “guerra fria” se trava com maior intensidade e virulência. Aliás é através dos continentes do cha mado “terceiro mundo” — no qual se inclui errada e anti-historicamente e por interesses da ideo-
logia do beligerante ofensivo da “guerra fria” a América Latina — digo, através destes continentes que o “eurocentrismo” considera “periféricos” e através dos países meridionais e mediterrâneos, a Grécia, a Itália, a Espanha e Por tugal, cujo poder está em franco processo de desintegração, graças a uma operação desenvolvida pe los flancos é que se tenta cercar o poder central da Europa com o intuito de solapá-lo por meio de pressões externas e também iiiternamente, inculcando na consciên cia dos líderes e dos povos euro peus aquela mentalidade, seme lhante àquele torpor psicológico que outrora prevaleceu entre os soldados da linha Maginot, que assistiram, inermes, ao colapso da FYança, atacada pelos seus flan cos setentrionais.

das forças mundiais. Para evitar equívocos, é mister esclarecer al guns conceitos básicos. O policentrismo do poder em alianças democráticas não é apenas um fe nômeno natural, mas também uma lei e um fim almejados, pelo menos na medida em que não pri va a aliança da sua própria razão . de ser, nem amèaça seu funciona mento, enquanto a bipolarização do poder numa aliança que se proclama “monolítica que substitui a realidade tota litária —, significa que as tendênhegemônicas e imperialistas. — eufemis¬ mo cias visando ã inversão do “status quo” mundial, se desdobram eni duas correntes paralelas e rivais, mas, mesmo tempo, complementares e mutuamente estimuladoras. No mundo ocidental, a potència-líder.
Estados Unidos, representa o papel de priinus interpares com responsabilidades globais de ao os
GUERRA FRIA OU “DÉTENTE” suas natureza subsidiária, disposta e mesmo desejosa de abandoná-las logo que os centros regionais do poder pluralista se julgarem autosuficientes para arcar com suas
Neste momento culminante da luta pelo poder mundial, que assu me proporções intercontinentais e cósmicas, a “guerra fria” é para doxalmente rebatizada com o no me de “détente”. Ao mesmo tem po, fala-se na transformação do sistema bipolar do poder mundial num policentrismo que visaria a manutenção da ordem mundial pe la formação das novas alianças.
Impõe-se descobrir o que há de realmente autêntico e de autenti camente espúrio nesta verificação que parece ser mais uma hipótese ou tentativa diplomática do que uma mudança real da constelação responsabilidades.
A diferença dos padrões de com portamento dos dois blocos, o oci-. dental, pluralista e policéntrico, e oriental, monolitico e totalitário, foi evidenciada pelo fato de os Estados Unidos se haverem con formado com a retirada da Fran ça em 1966 da NATO, organização militar da Aliança Atlantica e de 0
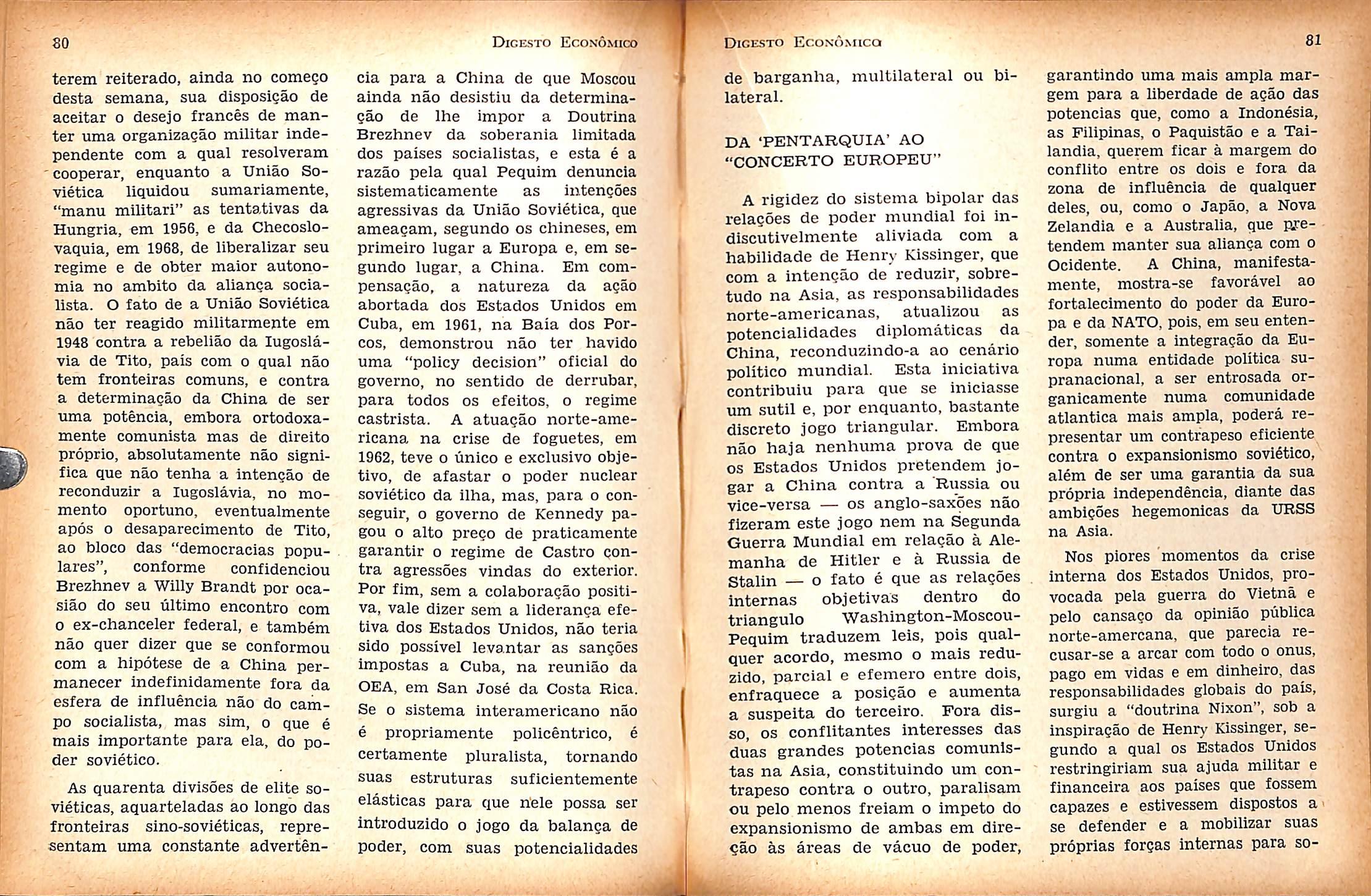
terem reiterado, ainda no começo desta semana, sua disposição de aceitar o desejo francês de man ter uma organização militar inde pendente com a qual resolveram ' cooperar, enquanto a União So viética liquidou sumariamente, “manu militari” as tentativas da Hungria, em 1956, e da Checoslovaquia, em 1968, de liberalizar seu regime e de obter maior autono mia no âmbito da aliança socia lista. O fato de a União Soviética não ter reagido militarmente em 1948 contra a rebelião da Iugoslá via de Tito, país com o qual não tem fronteiras comuns, e contra a determinação da China de ser uma potência, embora ortodoxa mente comunista mas de direito próprio, absolutamente não signi fica que não tenha a intenção de reconduzir a Iugoslávia, no mo mento oportuno, eventualmente após o desaparecimento de Tito, ao bloco das “democracias lares”, conforme Brezhnev a Willy Brandt por oca sião do seu último encontro o ex-chanceler federal, e também não quer dizer que se conformou com a hipótese de a China manecer indefinidamente fora da esfera de influência não do po socialista, mas sim, o que é mais importante para ela, do po der soviético.
As quarenta divisões de elite so viéticas, aquarteladas ao longo das fronteiras sino-soviéticas, repre sentam uma constante advertên¬
cia para a China de que Moscou ainda não desistiu da determina ção de lhe impor a Doutrina Brezhnev da soberania limitada dos países socialistas, e esta é a razão pela qual Pequim denuncia sistematicamente as intenções agressivas da União Soviética, que ameaçam, segundo os chineses, em primeiro lugar a Europa e, em se gundo lugar, a China. Em com pensação, a natureza da ação abortada dos Estados Unidos em Cuba, em 1961, na Baía dos Por cos, demonstrou não ter havido uma “policy decision” oficial do governo, no sentido de derrubar, para todos os efeitos, o regime castrista. A atuação norte-ame ricana na crise de foguetes, em 1962, teve o único e exclusivo obje tivo, de afastar o poder nuclear soviético da ilha, mas, para o con seguir, o governo de Kennedy pa gou o alto preço de praticamente garantir o regime de Castro con tra agressões vindas do exterior. Por fim, sem a colaboração positi va, vale dizer sem a liderança efe tiva dos Estados Unidos, não teria sido possível levantar as sanções impostas a Cuba, na reunião da OEA, em San José da Costa Rica. Se o sistema interamericano não é propriamente policêntrico, é certamente pluralista, tornando suas estruturas suficientemente elásticas para que nele possa ser introduzido o jogo da balança de poder, com suas potencialidades popuconfidenciou com percam-
de barganha, multilateral ou bi lateral.
A rigidez do sistema bipolar das relações de poder mundial foi in discutivelmente aliviada com a habilidade de Henry Kissinger, que intenção de reduzir, sobre-
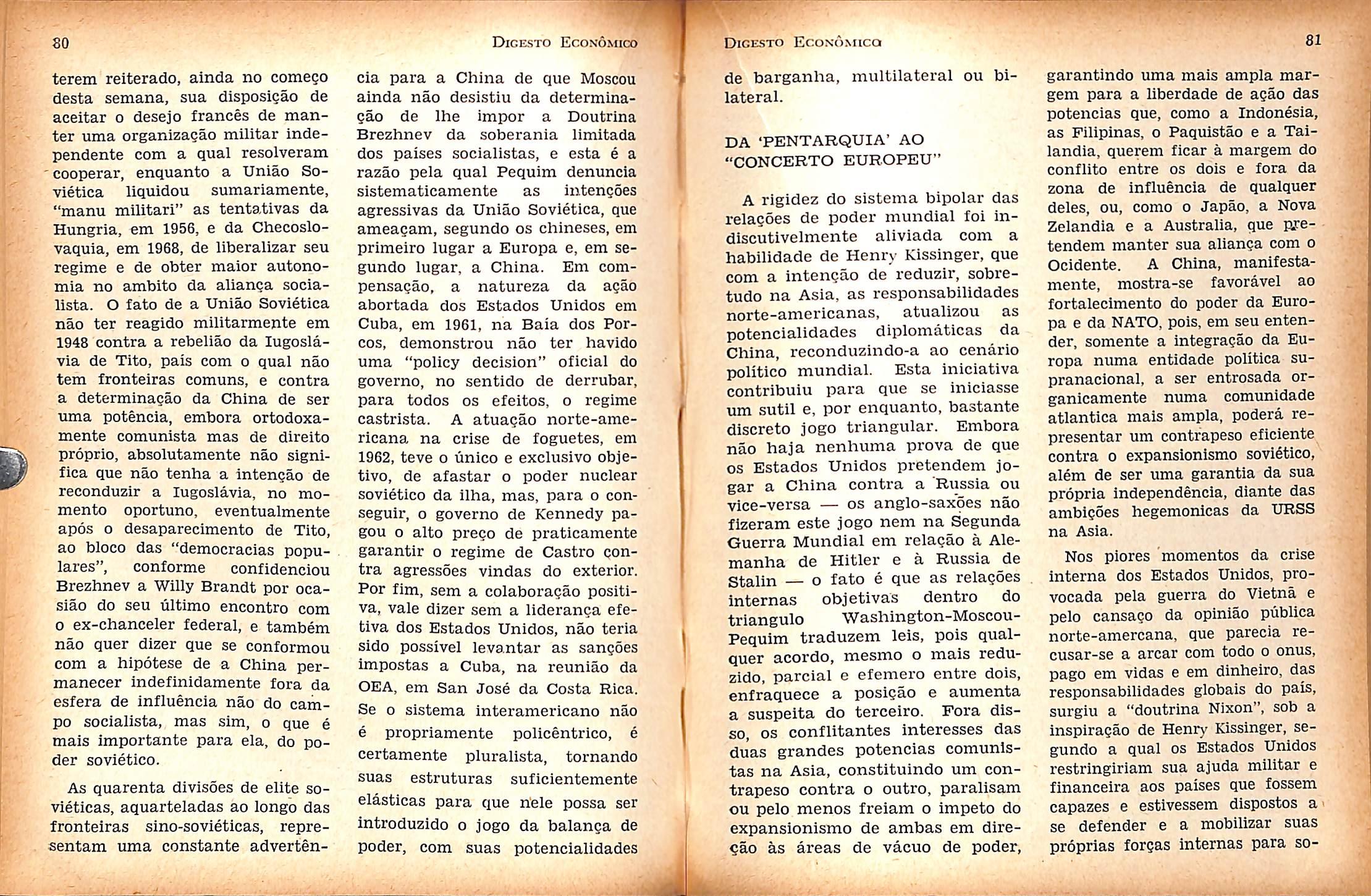
garantindo uma mais ampla mar gem para a liberdade de ação das potências que, como a Indonésia, as Filipinas, o Paquistão e a Tailandia, querem ficar à margem do conflito entre os dois e fora da zona de influência de qualquer deles, ou, como o Japão, a Nova Zelandia e a Australia, que pre tendem manter sua aliança com o Ocidente, mente, fortalecimento do poder da Euro pa e da NATO, pois, em seu enten der. somente a integração da Eu ropa numa entidade política su pranacional, a ser entrosada or ganicamente numa comunidade atlantica mais ampla, poderá re presentar um contrapeso eficiente contra o expansionismo soviético, além de ser uma garantia da sua própria independência, diante das ambições hegemônicas da IFRSS na Asia.
A China, manifestamostra-se favorável ao com a tudo na Asia, as responsabilidades atualizou as norte-americanas, potencialidades diplomáticas da China, reconduzindo-a ao cenário político mundial. Esta iniciativa contribuiu para que se iniciasse um sutil e, por enquanto, bastante discreto jogo triangular. Embora haja nenhuma prova de que nao os Estados Unidos pretendem joa China contra a Rússia ou gar vice-versa — os anglo-saxões não fizeram este jogo nem na Segunda Guerra Mundial em relação à Ale manha de Hitler e à Rússia de Stalin — o fato é que as relações objetivas dentro do Washington-Moscou-
Nos piores momentos da crise interna dos Estados Unidos, pro vocada pela guerra do Vietnã e pelo cansaço da opinião pública norte-amercana, que parecia rea arcar com todo o onus, vidas e em dinheiro, das internas triângulo
Pequim traduzem leis, pois qualacordo, mesmo o mais redu- cusar-se quer zido, parcial e efemero entre dois, enfraquece a posição e aumenta a suspeita do terceiro. Fora disconflitantes interesses das pago em responsabilidades globais do país, doutrina Nixon”, sob a surgiu a inspiração de Henry Kissinger, se gundo a qual os Estados Unidos restringiríam sua ajuda militar e financeira aos países que fossem capazes e estivessem dispostos a se defender e a mobilizar suas so, os duas grandes potências comunis tas na Asia, constituindo um con trapeso contra o outro, paralisam ou pelo menos freiam o impeto do expansionismo de ambas em dire ção às áreas de vácuo de poder, próprias forças internas para so-
lucionar suas crises e para enfren tar os desafios externos. Esta doutrina consiste também em en corajar as potencias-chave das mais diversas regiões do mundo a assumir a responsabilidade pela paz e pela ordem em sua área. Propõe também a substituição das tensões bipolarizadas pelo equilí brio que é proporcionado pela ba lança das convergências e das di vergências, num mundo policentrico, entre cinco superpotências.
Atribuiu-se, estão, com certeza erradamente, a Henry Kissinger a idéia de projetar em escala mun dial o sistema de Estados que asse gurou a paz, na Europa, com poue curtos intervalos, pratica mente desde 1814, fim das guer ras napoleônicas até 1914 e início da Primera Guerra Mundial. Após 0 Congresso de Viena, a pentarquia (Áustria, Prússia, Rússia, In glaterra e França) dominava Eui-opa e, consequentemente, o mundo. Estávamos ainda na épo-
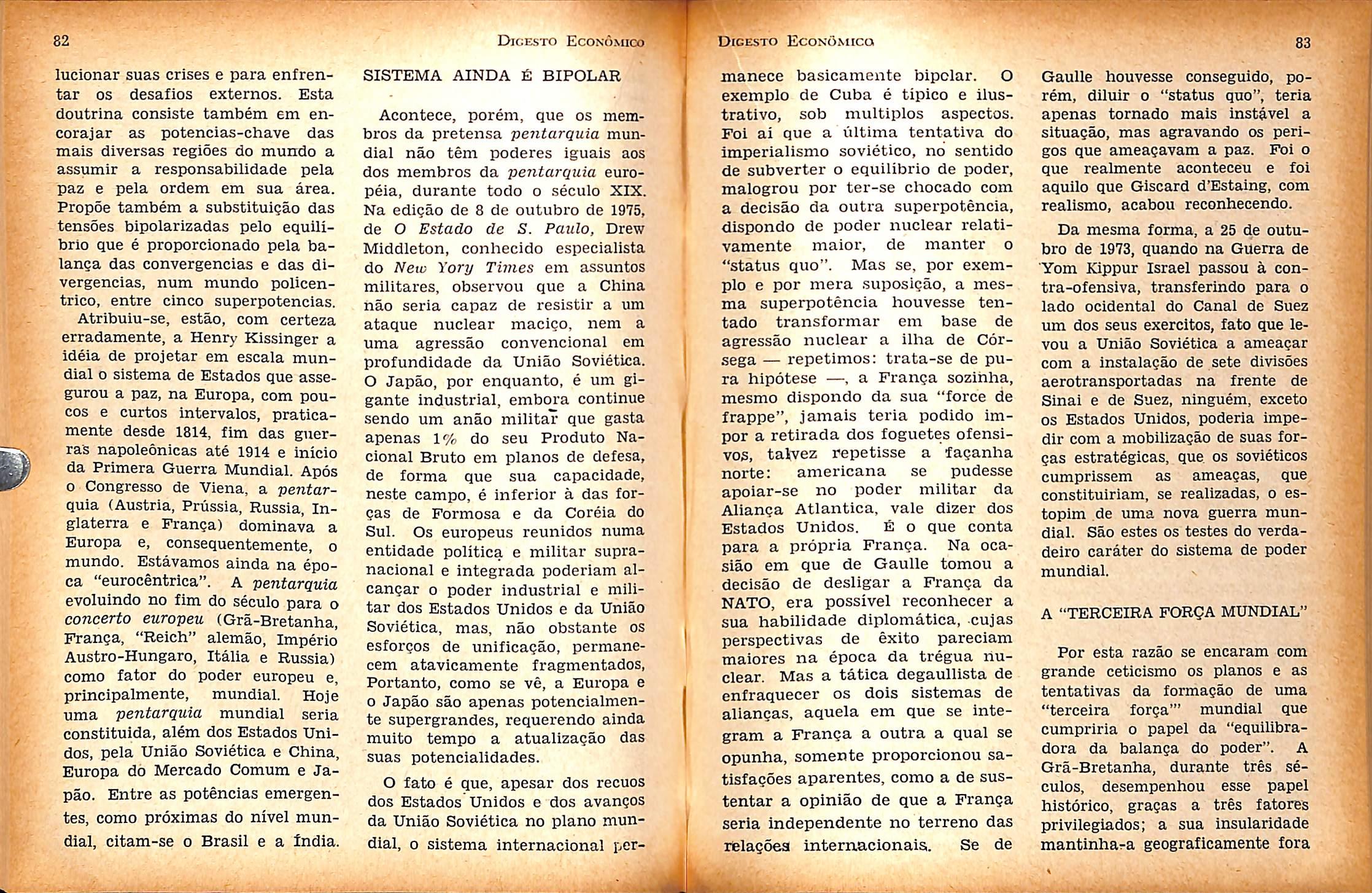
A pentarquia evoluindo no fim do século para concerto europeu (Grã-Bretanha, França, “Reich” alemão. Império Austro-Hungaro, Itália e Rússia) como fator do poder europeu e, principalmente, mundial. Hoje uma pentarquia mundial seria constituída, além dos Estados Uni dos, pela União Soviética e China, Europa do Mercado Comum e Ja pão. Entre as potências emergen tes, como próximas do nível mun dial, citam-se o Brasil e a índia.
Acontece, porém, que os mem bros da pretensa pentarquia mun dial não têm poderes iguais aos dos membros da pentarquia euro péia, durante todo o século XIX. Na edição de 8 de outubro de 1975, de O Estado de S. Paulo, Drew Middleton, conhecido especialista do New Yory Times em assuntos militares, observou que a China não seria capaz de resistir a um ataque nuclear maciço, nem a uma agressão convencional em profundidade da União Soviética. O Japão, por enquanto, é um gi gante industrial, embora continue sendo um anão militar que gasta apenas 1% do seu Produto Na cional Bruto em planos de defesa, de forma que sua capacidade, neste campo, é inferior à das for ças de Formosa e da Coréia do Sul. Os europeus reunidos numa entidade política e militar supra nacional e integrada poderíam al cançar o poder industrial e mili tar dos Estados Unidos e da União Soviética, mas, não obstante os esforços de unificação, permane cem atavicamente fragmentados. Portanto, como se vê, a Europa e o Japão são apenas potencialmen te supergrandes, requerendo ainda muito tempo a atualização das suas potencialidades.
O fato é que, apesar dos recuos dos Estados Unidos e dos avanços da União Soviética no plano mun dial, o sistema internacional percos a ca “eurocêntrica”. o
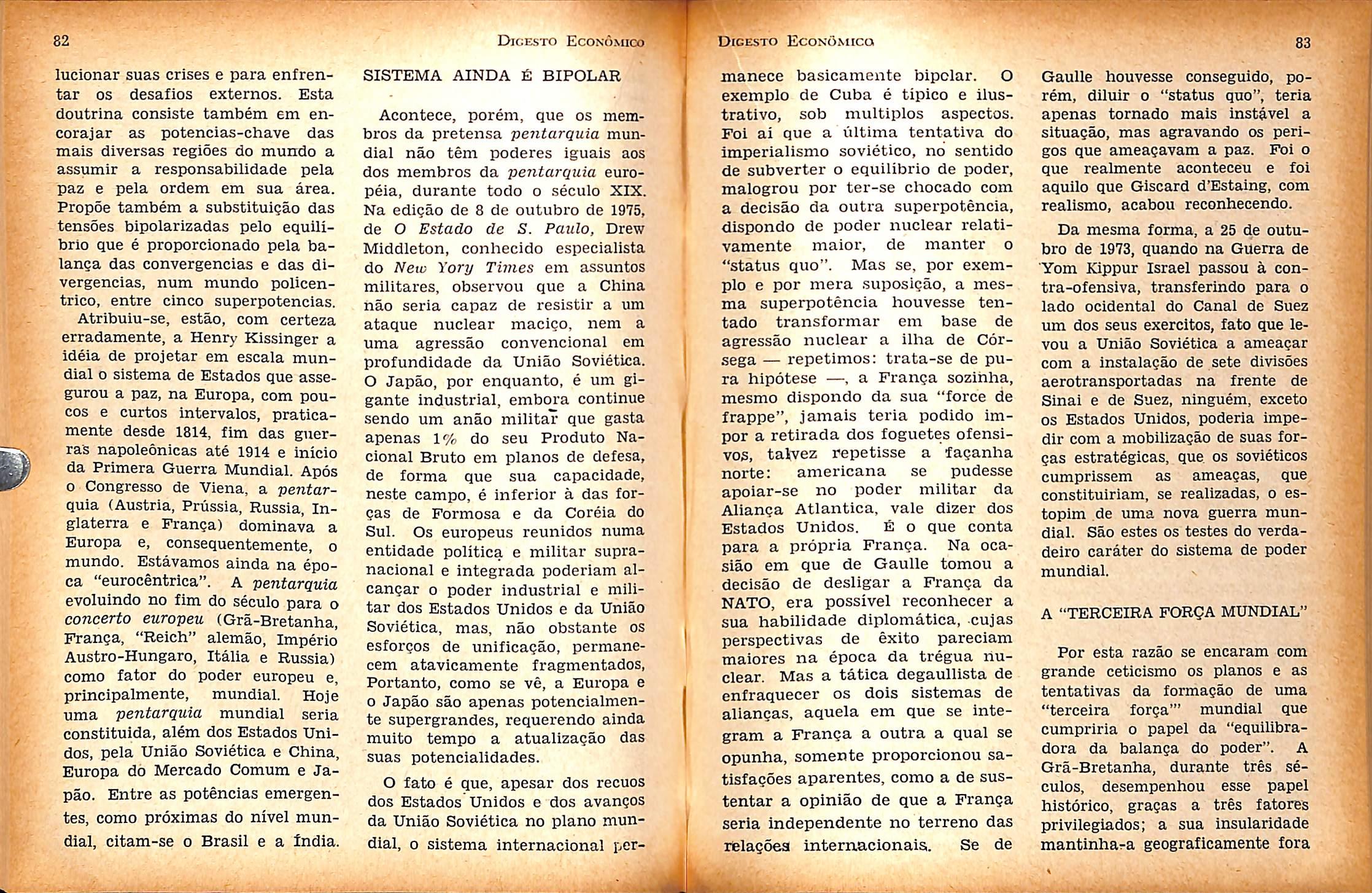
manece basicamente bipclar. O exemplo de Cuba é tipico e ilus trativo, sob múltiplos aspectos. Foi ai que a última tentativa do imperialismo soviético, no sentido de subverter o equilibrio de poder, malogrou por ter-se chocado com a decisão da outra superpotência, dispondo de poder nuclear relati vamente maior, de manter o
status quo”. Mas se, por exem plo e por mera suposição, a mes ma superpotência houvesse ten tado transformar em base de nuclear a ilha de Córti agressao sega — repetimos: trata-se de pu ra hipótese —, a França sozinha, mesmo dispondo da sua “force de frappe”, jamais teria podido im por a retirada dos foguetes ofensi vos, talvez repetisse a façanha norte: americana se pudesse apoiar-se no poder militar da Aliança Atlantica, vale dizer dos Estados Unidos. É o que conta para a própria França. Na oca sião em que de Gaulle tomou a decisão de desligar a França da NATO, era possível reconhecer a sua habilidade diplomática, -cujas perspectivas de êxito pareciam maiores na época da trégua nu clear. Mas a tática degaullista de enfraquecer os dois sistemas de alianças, aquela em que se inte-
Gaulle houvesse conseguido, po rém, diluir 0 “status quo”, teria apenas tornado mais instável a situação, mas agravando os peri gos que ameaçavam a paz. Foi o que realmente aconteceu e foi aquilo que Giscard d’Estaing, com realismo, acabou reconhecendo.
Da mesma forma, a 25 de outu bro de 1973, quando na Giíerra de Yom Kippur Israel passou à con tra-ofensiva, transferindo para o lado ocidental do Canal de Suez um dos seus exercitos, fato que le vou a União Soviética a ameaçar com a instalação de sete divisões aerotransportadas na frente de Sinai e de Suez, ninguém, exceto os Estados Unidos, podería impe dir com a mobilização de suas for ças estratégicas, que os soviéticos cumprissem as ameaças, que constituiríam, se realizadas, o es topim de uma nova guerra mun dial. São estes os testes do verda deiro caráter do sistema de poder mundial.
Por esta razão se encaram com grande ceticismo os planos e as tentativas da formação de uma terceira força cumpriria o papel da “equilibradora da balança do poder”. A Grã-Bretanha, durante três sé culos, desempenhou esse papel histórico, graças a três fatores privilegiados; a sua insularidade mantinhara geograficamentefora mundial que ti a França a outra a qual se gram opunha, somente proporcionou sa tisfações aparentes, como a de sus tentar a opinião de que a França seria independente no terreno das reiaçõea internacionais,. Se de
turos parceiros renunciem à pro teção da superpotência dos Esta dos Unidos, que procuram suprir com seu poder o que lhes falta do sistema europeu; seu império ultramarino conferia-lhe poten cialidade inigualável de poder e de reservas, e a sua supremacia naval garantiu-lhe o controle das rotas de comunicação mundial. O general de Gaulle teve a ambição de transformar a Europa — não se sabe se ele pensou na Europa Ocidental ou no que sobrou da Europa ou na “Europa do Atlân tico aos Urais” — numa "terceira força”, que assumiría o papel de equilibradora da “balança do po der” entre os dois colossos, o nor te-americano e o soviético.
Em
sua concepção, porém, prevaleceu 0 sentimentalismo nacionalista, mas não a irresistível clareza da lógica cartesiana.
para se defenderem, e que peçam a proteção da França, que deseja que seus parceiros supram com seu poder 0 que falta à França para obrigar os Estados Unidos a se retirar da Europa, deixando os indefesos diante do seus parceiros desafio da outra superpotência, a soviética. Após o desaparecimento do general de Gaulle do cenário mundial, também a idéia da Eu ropa, como “terceira força mun dial” perdeu seu valor em seu tempo aparentemente atrativo.
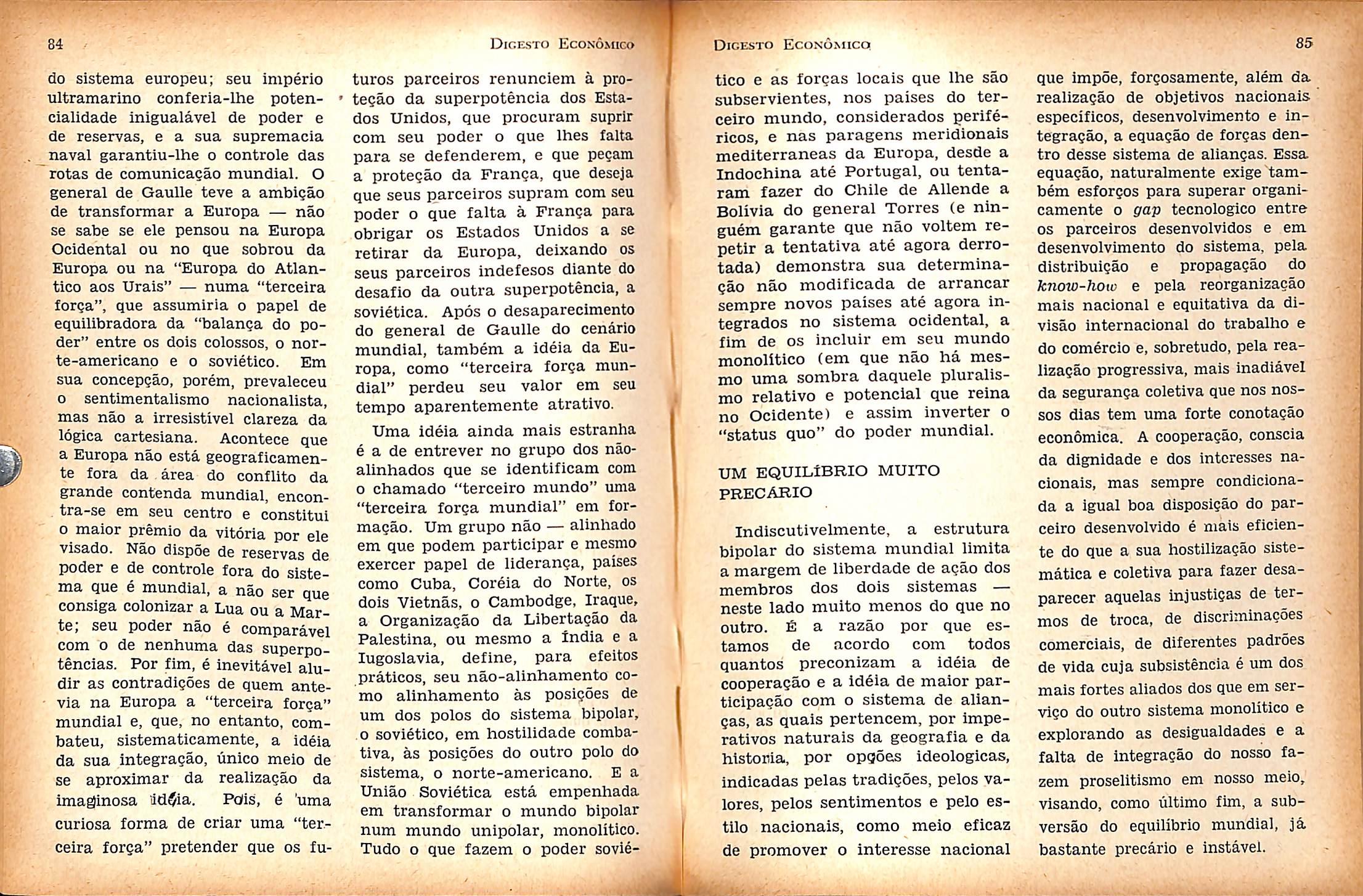
encon-
Acontece que a Europa não está geograficamen te fora da área do conflito da grande contenda mundial, tra-se em seu centro e constitui 0 maior prêmio da vitória por ele visado. Não dispõe de poder e de controle fora do siste ma que é mundial, a não
reservas de ser que consiga colonizar a Lua ou a Mar te; seu poder não é comparável superpo tências. Por fim, é inevitável alu dir as contradições de quem ante via na Europa a “terceira força” mundial e, que, no entanto, com bateu, sistematicamente, a idéia da sua integração, único meio de se aproximar da realização da imaginosa dd^ia. com 0 de nenhuma das Pois, é 'uma curiosa forma de criar uma “ter ceira força” pretender que os fu-
Uma idéia ainda mais estranha é a de entrever no grupo dos nãoalinhados que se identificam com 0 chamado “terceiro mundo” uma “terceira força mundial” em for mação. Um grupo não — alinhado em que podem participar e mesmo exercer papel de liderança, países como Cuba, Coréia do Norte, os dois Vietnãs, o Cambodge, Iraque, a Organização da Libertação da Palestina, ou mesmo a índia e a Iugoslávia, define, para efeitos práticos, seu não-alinhamento co mo alinhamento às posições de um dos polos do sistema bipolar, o soviético, em hostilidade comba tiva, às posições do outro polo do sistema, o norte-americano. E a União Soviética está empenhada em transformar o mundo bipolar num mundo unipolar, monolítico. Tudo o que fazem o poder sovié-
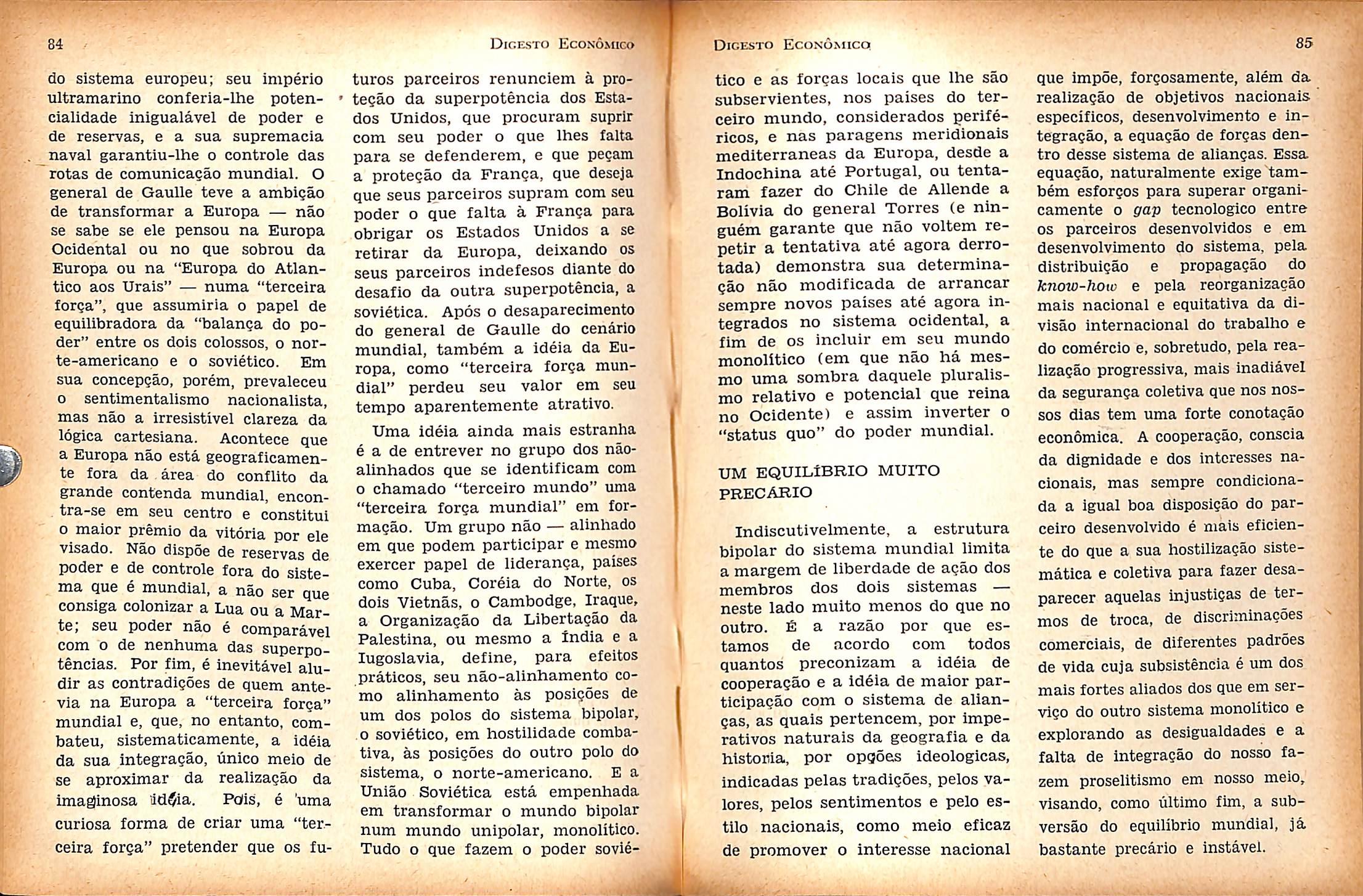
tico e as forças locais que lhe são subservientes, nos países do ter ceiro mundo, considerados perifé ricos, e nas paragens meridionais mediterrâneas da Europa, desde a Indochina até Portugal, ou tentafazer do Chile de Allende a
ram
Bolívia do general Torres (e nin guém garante que não voltem re petir a tentativa até agora derro tada) demonstra sua determinanão modificada de arrancar çao sempre novos países até agora in tegrados no sistema ocidental, a fim de os incluir em seu mundo monolítico (em que não há messombra daquele pluralisrelativo e potencial que reina Ocidente) e assim inverter o status quo” do poder mundial. mo uma mo no
PRECÁRIO
Indiscutivelmente, a estrutura bipolar do sistema mundial limita a margem de liberdade de ação dos membros dos dois sistemas — neste lado muito menos do que no outro. É a razão por que es tamos de acordo com todos quantos preconizam a idéia de cooperação e a idéia de maior par ticipação com o sistema de alian ças, as quais pertencem, por impe rativos naturais da geografia e da historia, por opgões ideológicas, indicadas pelas tradições, pelos va lores, pelos sentimentos e pelo es tilo nacionais, como meio eficaz de promover o interesse nacional
mos
que impõe, forçosamente, além da realização de objetivos nacionais especificos, desenvolvimento e in tegração, a equação de forças den tro desse sistema de alianças. Essa equação, naturalmente exige tam bém esforços para superar organi camente o gap tecnologico entre os parceiros desenvolvidos e em desenvolvimento do sistema, pela distribuição e propagação do knoio-how e pela reorganização mais nacional e equitativa da di visão internacional do trabalho e do comércio e, sobretudo, pela rea lização progressiva, mais inadiável da segurança coletiva que nos nos sos dias tem uma forte conotação econômica. A cooperação, conscia da dignidade e dos interesses na cionais, mas sempre condiciona da a igual boa disposição do par ceiro desenvolvido é mais eficien te do que a sua hostilização siste mática e coletiva para fazer desa parecer aquelas injustiças de terde troca, de discriminações comerciais, de diferentes padrões de vida cuja subsistência é um dos mais fortes aliados dos que em ser viço do outro sistema monolítico e explorando as desigualdades e a falta de integração do nosso fa zem proselitismo em nosso meio, visando, como último fim, a sub versão do equilíbrio mundial, já, bastante precário e instável.

A MOBIL
— A Mobil Oil Corp. americana revelou os termos de sua proposta para adquirir 51% da Marcor, Inc. O plano da grande companhia internacional de pe tróleo — retardado por demoradas negociações com a administração da companhia holding sediada em Chicago — veio a se constituir em uma das maiores ofertas a vista já feitas em uma encampação. A Mobil tornou público que pagaria USS 35,00 por ação ordinária da Marcor, USS 70,00 por ação preferencial serie A, e USS 200 milhões por uma nova emissão de preferenciais com direito a voto. No computo peral isto tudo custaria a Mobil tanto quanto USS 800 milhões A companhia que a Mobil pretende controlar é empresa que controla a Montgomery Ward & Co. e a Container Corp. of America. A Marcor lucrou USS 96,7 milhões sobre vendas de pouco mais de USS 4 bilhões em 1973, sendo a Montgomery Ward respon sável por USS 62,1 milhões dos lucros e USS 3,2 bilhões das vendas. O setor varejista dos negócios da Marcor incluiu 449 lojas no país inteiro, e a Montgomery Ward fez a previsão orçamentária de USS 80 milhões para 1974 para 20 novas lojas — a maioria das quais são lojas de departamen tos de linha completa, localizadas nas áreas metropolitanas de maior im portância.
VIÉTICOS — Os funcionários russos estão preocupados com as condições de comércio com a Europa Ocidental. Uma razão dò seu descontentamento são as reclamações francesas referentes aos crescentes preços das matériasprimas e energia russas. Um artigo no jornal soviético “Indústria Socia lista”, que reflete os pontos de vista do comitê central do Partido Comu nista Soviético, declara: Seria estranho se a U.R.S.S. fornecesse produtos a preços anügos enquanto paga três vezes mais por equipamentos- ociden tais”. O artigo salienta que o comércio da Rússia com a Alemanha Oci dental está em mas condições porque a Republica Federal fornece “prin cipalmente equipamentos de produção e produtos industriais em troca de matérias-primas e produtos semi-acabados russos”, e as crescentes capa cidades de produtos acabados na U.R.S.S. não são levadas em consideração. O jornal crítica a recusa da Alemanha Ocidental em conceder em préstimos governamentais subsidiados para projetos soviéticos, como a França, Itália e Inglaterra o fizeram recentemente, Ele ataca também regulamento do Mercado Comum que proibe países membros de fazer cer tos tipos de acordos bilaterais de longo alcance, fora do Mercado Comum. um
ROBERTO APPY
SEMPRE perigoso para um jornalista suceder a
um professor de econo mia, especialmente pe rante uma platéia de economistas. Mas, talvez o modo de se salvar seja utilizar as estatísticas para só dar maior força às afirma ções dos mestres em economia. O tema do debate de hoje. “Re cessão Econômica e a Desordem Mo netária Mundial” nos foi colocado partindo da crise do petróleo, e par tindo de uma constatação que o pro fessor Aranha apresentou com certo otimismo que, aliás, estou pronto a
1
Conferência do jornalista econô mico Roôerto A-ppy na I Semana de Economia, da Fundação Ar7najido Alvares Penteado. Piiblicamos a transcrição taquigrafica da conferência.
Se tomarmos o exemplo de alguns países industrializados, verificamos que a taxa de crescimento do produ to nacional bruto foi, na Alemanha Ocidental, de 1969 a 1973, numa mé dia aiátmética de 5%, chegando a 5,3% em 1973. No ano passado, o crescimento foi de 0,4% na Alema nha Ocidental. compartilhar.
Realmente, estamos numa situa ção de recessão no mundo industria lizado, mas não estamos numa crise do tipo de 1929. Se partirmos da de finição que nos dá Arthur Sheldon, Dicionário de Economia”,
no seu sobre a recessão, veremos que é um cresceu de 2,2%. declínio na atividade econômica as sinalado por uma disseminação do desemprego e uma queda generali zada na produção, nos lucros e nos preços. E ele acrescenta: A uma re cessão, geralmente, sucede um sur to de prosperidade caracterizado pe lo pleno emprego, alta produção e preços crescentes.
Realmente, em parte nos encon tramos diante de uma situação que corresponde à definição do Dicioná rio, 0 que nem sempre acontece.
Para os Estados Unidos, país me nos dinâmico, a média de 1969 a 1973 foi de 3,5%, mas em 1973 che gou a 5,9%, e no ano passado de-
Na França, pais que nos últimos anos se apresentou com grande dia média de 1969 a 1973 foi namismO: de 6,1%, valor que se verificava áinda em 1973. No ano passado, a Fi*ança foi um dos raros países indus trializados a apresentar um cresci mento razoável de 4,8%, crescimen to, todavia, abaixo da média dos útimos anos.
No Reino Unido, país que está atravessando por dificuldades há muitos anos, a média foi de 2,8%
1 im^ia

^ de 1969 a 1973, mas houve uma rea ção bastante boa em 1973, com um crescimento de 6%. No ano passado, houve uma retração de 0,5%.
Na Itália, na desordem social, de pois do milagre conseguiu, no pe ríodo de 1969 a 1973, acusar um crescimento de 4,2%, 5,9% em 1973 e 4,8% em 1974.
No Japão, que é o mais interessan te fenômeno, talvez em termos bra sileiros, foi um dos países que man teve a maior taxa de crescimento durante alguns anos. De 1969 a 1971, a média aritmética foi de 9,7%, em 1973 foi 10,5% e em 1974 houve uma queda no produto nacional bruto de 3,3%.
Realmente, o ano de 1974 marcou um índice de recessão, quando nos referimos ao crescimento econômi co. Mas, nosso Dicionário nos diz também que a recessão é caracte rizada pela queda dos preços, mas a realidade atual nos mostra algo um pouquinho diferente. O que pode mos verificar é que nos últimos anos, desde 1969, a inflação nos paí ses industrializados foi anormal mente elevada, mas ela explodiu em 1974, o ano da recessão. Foi de 6,5% na Alemanha, país que é talvez o mais sensível à alta dos preços no mundo, porque saiu de um conflito que lhe custou muito sangue.
Nos Estados Unidos a taxa de in flação — todas estas taxas de infla ção se referem ao preço ao consu midor, porque os preços por ataca do são muito mais elevados — foi de 10,2%. Na França, foi de 13,5%.
No Reino Unido, 16,1%. Japão, 24% e Itália 25%.
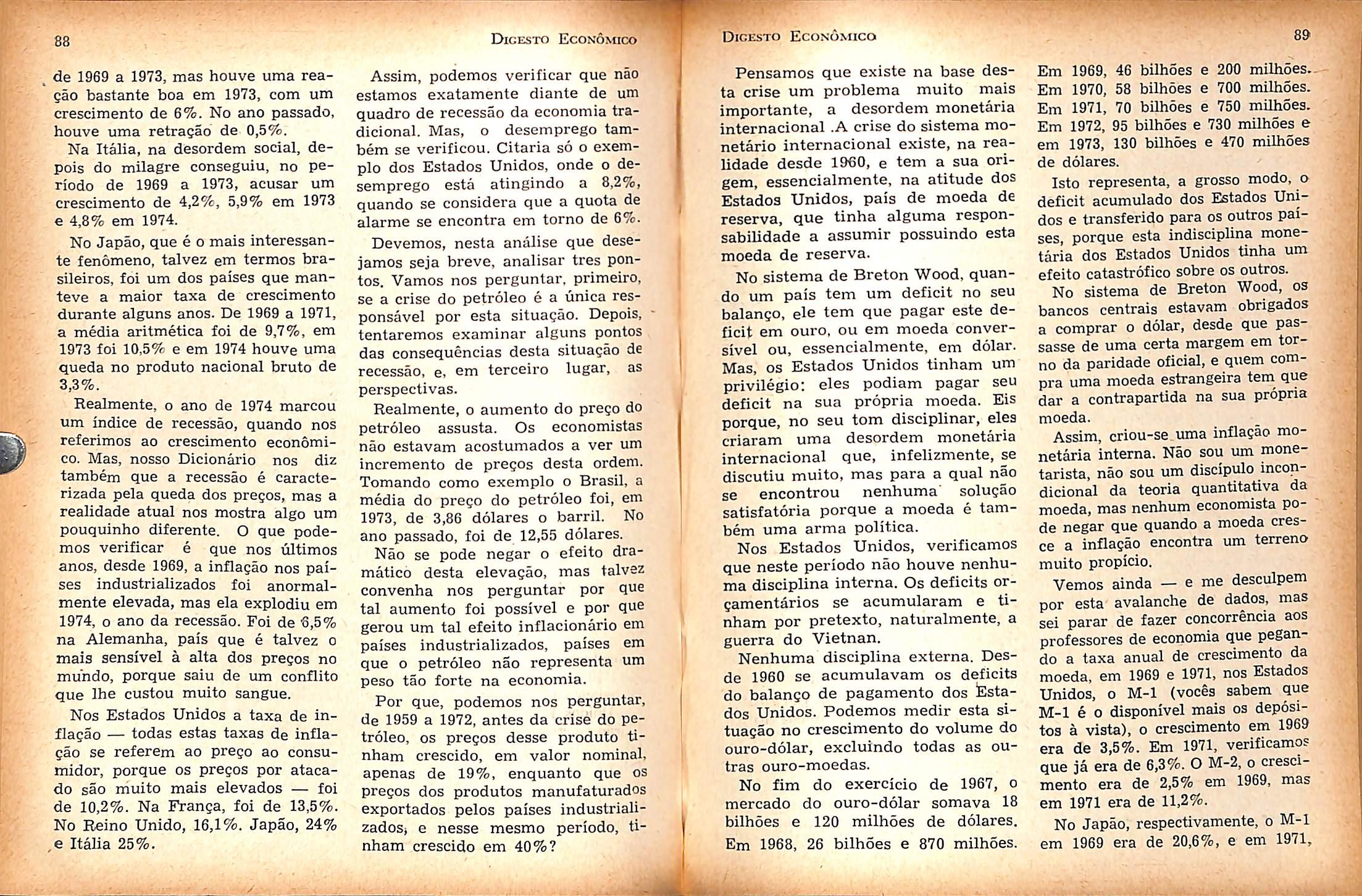
está atingindo a 8,2%,
Assim, podemos verificar que nao estamos exatamente diante de um quadro de recessão da economia tra dicional. Mas, o desemprego tam bém se verificou. Citaria só o exem plo dos Estados Unidos, onde o de semprego quando se considera que a quota de alarme se encontra em torno de 6%.
Devemos, nesta análise que dese jamos seja breve, analisar tres pon tos. Vamos nos perguntar, primeiro, se a crise do petróleo é a única res ponsável por esta situação. Depois, tentaremos examinar alguns pontos das consequências desta situação de terceiro lugar, as
recessão, e. em perspectivas.
Realmente, o aumento do preço do petróleo assusta. Os economistas não estavam acostumados a ver um incremento de preços desta ordem. Tomando como exemplo o Brasil, a média do preço do petróleo foi, em 1973, de 3,86 dólares o barril. No ano passado, foi de 12,55 dólares.
Não se pode negar o efeito dra mático desta elevação, mas talvez convenha nos perguntar por que tal aumento foi possível e por que gerou um tal efeito inflacionário em países industrializados, países que o petróleo não representa um peso tão forte na economia. em
Por que, podemos nos perguntar, de 1959 a 1972, antes da crise do pe tróleo, os preços desse produto ti nham crescido, em valor nominal, apenas de 19%, enquanto que os preços dos produtos manufaturados exportados pelos países induslrializadoSj e nesse mesmo período, ti nham crescido em 40% ?
Pensamos que existe na base des ta crise um problema muito mais a desordem monetária importante, internacional .A crise do sistema mo netário internacional existe, na rea lidade desde 1960, e tem a sua ori gem, essencialmente, na atitude dos Estados Unidos, país de moeda de reserva, que tinha alguma respon sabilidade a assumir possuindo esta em ses, moeda de reserva.
No sistema de Breton Wood, quan do um país tem um déficit no seu balanço, ele tem que pagar este dé ficit em ouro, ou em moeda conver sível ou, essencialmente, em dólar. Mas, os Estados Unidos tinham um privilégio! eles podiam pagar déficit na sua própria moeda. Eis porque, no seu tom disciplinar, eles desordem monetária
Em 1969, 46 bilhões e 200 milhões.Em 1970, 58 bilhões e 700 milhões. Em 1971, 70 bilhões e 750 milhões. Em 1972, 95 bilhões e 730 milhões e 1973, 130 bilhões e 470 milhões de dólares.
Isto representa, a grosso modo, o déficit acumulado dos Estados Uni dos e transferido para os outros paíporque esta indisciplina mone tária dos Estados Unidos tinha um efeito catastrófico sobre os outros.
No sistema de Breton Wood, os bancos a comprar o sasse de uma da paridade oficial, e quem commoeda estrangeira tem que contrapartida na sua própria
centrais estavam obrigados dólar, desde que pascerta margem em tor¬ no seu pra uma dar a moeda.
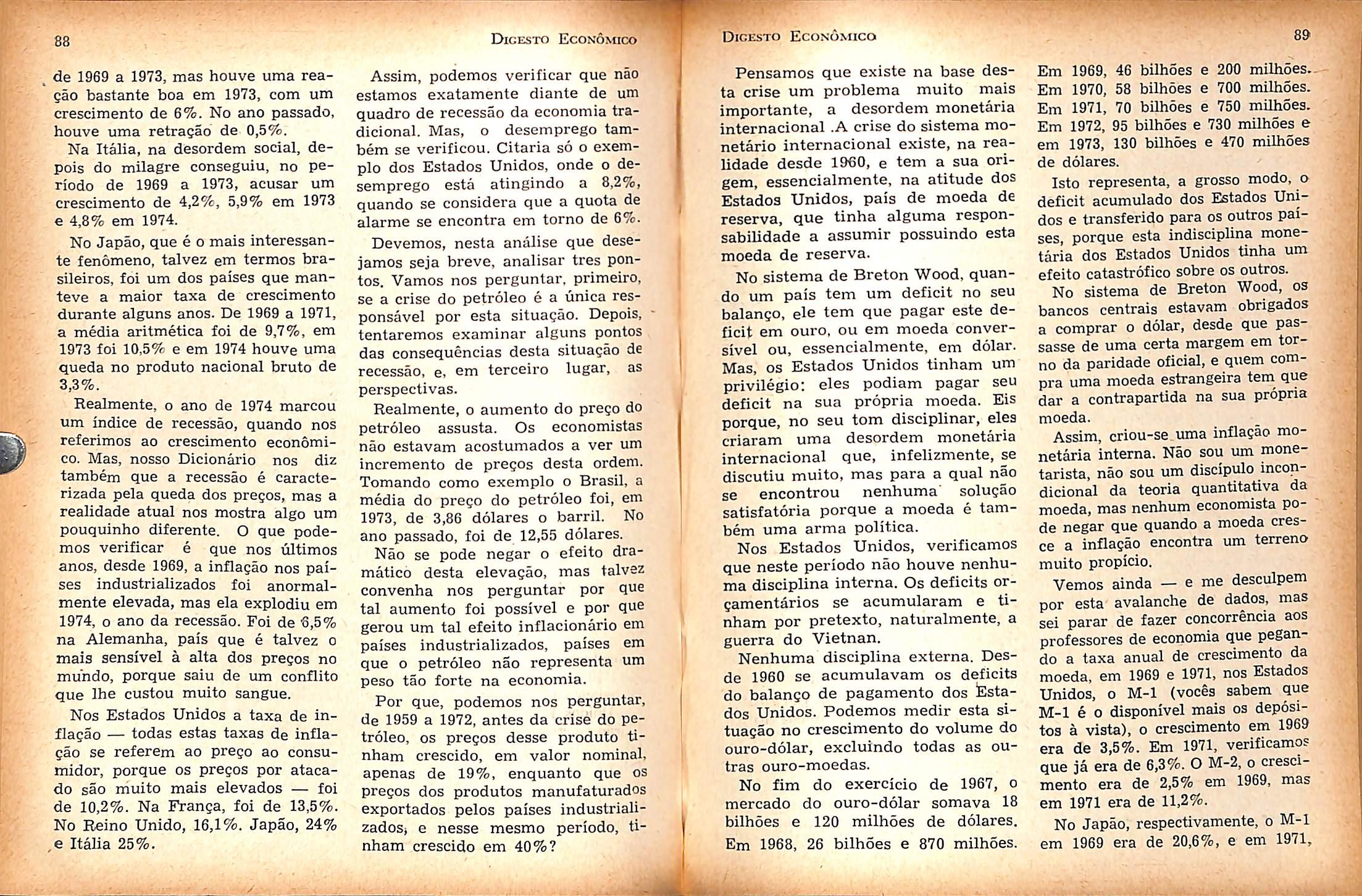
se
criaram uma internacional que, infelizmente, se discutiu muito, mas para a qual não nenhuma solução encontrou satisfatória porque a moeda é tam bém uma arma política.
Nos Estados Unidos, verificamos que neste período não houve nenhu ma disciplina interna. Os deficits or çamentários se acumularam e ti nham por pretexto, naturalmente, a guerra do Vietnan.
Nenhuma disciplina externa. Des de 1960 se acumulavam os deficits do balanço de pagamento dos etsta dos Unidos. Podemos medir esta si tuação no crescimento do volume do ouro-dólar, excluindo todas as ou tras ouro-moedas.
ce a
Assim, criou-se. uma inflação mo netária interna. Não sou um monetarista, não sou um discípulo incon dicional da teoria quantitativa da moeda, mas nenhum economista po de negar que quando a moeda cresinflação encontra um terreno muito propício.
desculpem Vemos ainda — e me esta avalanche de dados, mas de fazer concorrência aos por sei parar professores de economia que pegan do a taxa anual de crescimento da moeda, em 1969 e 1971, nos Estados Unidos, o M-1 (vocês sabem que M-1 é 0 disponível mais os depósi tos à vista), 0 crescimento em 1969 de 3,5%. Em 1971, verificamos que já era de 6,3%. O M-2, o cresci mento era de 2,5% em 1969, mas em 1971 era de 11,2%. era
No fim do exercício de 1967, o mercado do ouro-dólar somava 18 bilhões e 120 milhões de dólares. No Japao, respectivamente, o M-1 em 1969 era de 20,6%, e em 1971, Em 1968, 26 bilhões e 870 milhões.

29,7%. O M-2, em 1969, 18,5%, e em 1971 era de 24,3%.
Não vou citar todos os países, mas vou citar um país que foi sempre considerado o país da melhor polí tica monetária, a Suiça. A Suiça ti nha um crescimento do M-1 bastan te elevado em 1969, 6,9%, mas em 1971 era de 39,5%, e para o M-2, em 19-o9, tinha 18,9%, enquanto que o M-2 em 1971 era de 26,6%.
Por que isso na Suiça? Porque a Suiça, como a Alemanha, era um desses países que recebia os ourodólares. Nesse clima, naturalmente, tivemos um impressionante cresci¬ mento, como mostrei nos dados an teriores. Tivemos generosos reajus tes salariais, sem se acompanhar de uma queda de produtividade nos países industrializados, produtividade cresce quando tem uma certa pressão e diminui quando não tem pressão. Tivemos gos porque, realmente, porque a emprequando a oconomia cresce, o emprego cresce ainda mais, cuidando do custo da mão-de-obra, especialmente quando tem fiação para sustentar esse mento. porque ninguém está uma incresci-
Tivemos também um impressio nante crescimento do comércio in ternacional. De 1967 a 1973 houve um aumento, é verdade em valor nominal, de 172%, mas chegamos à inflação com dois algarismos, em 1974, porque não houve milagre.
O professor Aranha lembrou o golpe mortal que o presidente Nixon, a 15 de agosto de 1971, deu ao sistema de Breton Wood. Mas, quando um país ou um sistema tem
por fundamento um padrão que se chama dólar, o padrão, normalmen te, tem que ficar estável. Imaginem se o metro se modificasse a cada ano, ou se no mercado de Londres fosse um pouquinho mais curto que no mercado de Zurich.
E a 15 de agosto, a partir daí se acabou com o sistema que, essencial mente, nominativamente, se chama va “gold exchange standard realidade o nome verdadeiro era “dólar standard” — se acabou como padrão mas se continuou guardan do o padrão. E, ao contrário, a par tir de 15 de agosto de 1971, o dólar estava ainda mais dominador no sis tema monetário internacional.
Houve duas desvalorizações ofi ciais do dólar, e iriam seguir-se ou tras desvalorizações, porque na de sordem total criada por esta situa ção não havia outro meio senão acei tar-se um sistema de câmbio flu tuante em toda a economia mundial, e o que flutua é o dólar.
Vamos ver a valorização de al gumas moedas, de 14 de agosto de 1971 até à metade de 1974. Ilm re lação ao dólar, o marco alemão se valorizou, nesse período, de 48%. O franco suiço de 49%. O florim ho landês, de 38,8%. O ien japonês, de 28,8% e o franco francês, 14,3%.
A libra não se desvalorizou em relação ao dólar, ficou estável, en quanto a lira italiana se desvalori zou em relação ao dólar em 1,1%, Se vocês fizerem o jogo matemá tico de Crosswright, vocês poderão imaginar o que é o trabalho do ope rador de câmbio em bancos, para todos os dia se ajustar a esse siste-
ma de câmbio flutuante. E se tiver mos alguns bancos ilustres que caí rem numa situação dramática, en quanto que outros grandes bancos conseguirem se salvar, embora com grandes perdas, vocês entenderão o que é a desordem monetária inter nacional.
Fiz esta longa análise apenas para mostrar que o petróleo, como é pró prio de um combustível, veio ape nas acender um fogo um pouquinho maior, porque o fogo já existia. E temos que reconhecer que estes paí ses que, há um ano atrás, eram ain da países muito subdesenvolvidos, tinham alguns direitos, e possuindo o ouro negro, aquele ouro que não se põe nos cofres, mas que se pÕe nos motores dos nossos automóveis, poderíam se aproveitar para se im por num momento brutal.

mos um superávit de 70 bilhões de dólares, e para os outros países um déficit de 50 bilhões de dólares.
Não se preocupem se há um dese quilíbrio entre o déficit e o superá vit, primeiro, porque faltam alguns países, segundo, que a contabilidade de um país não corresponde a outro, porque têm tres meses, geralmente, para a contabilidade.
As receitas do petróleo para os países da OPEP — São 13 países — passaram de 23 bilhões de dólares, em 1973, para 90 bilhões de dólares, em 1974.
Mas, o meu tema foi demonstrar que, se o petróleo não foi a origem da crise, apenas a agravou, o pe tróleo também não está resolvendo
a crise. Poderiamos pensar que, re almente, os países industrializados, que são os grandes importadores de petróleo, sofreram muito este esvasiamento. Por isso temos que nos
Aliás, foram muito ajudados pe los países industrializados, que há dois anos antes tinham publicado o perguntar: para onde foram estes famoso Relatório do Clube de Roma. famosos 70 bilhões de petrodólares? O Fundo Monetário Internacional acaba de nos fornecer os dados. Coanunciando, com certa ingenuidade, aliás — que dentro de oito anos a crise do petróleo seria muito gran de, não porque o preço aumentaria — eles não tinham pensado nisso mas porque as reservas se esgota riam.
locação no mercado das ouro-moedas: 21 bilhões. Crédito para expor tação de petróleo: 16 bilhões de dó lares. (Um parêntese: o Brasil não tem crédito para importar petróleo, países industrializados conseeste crédito.) Aplicação de
As consequências estamos vendo atualmente, numa total modificação do panoi-ama internacional. Para os países da OPEP, a Organização dos Países Exportadoresde Petróleo, ti vemos no ano passado um exceden te nas contas correntes — e lembro que as contas correntes são o balan ço comercial, mais os serviços e mais as transferências umilaterais — tiveso os guiram petrodólares em títulos dos Estados Unidos, títulos oficiais e privados: 11 bilhões de dólares. Aplicação em títulos no Reino Unido; 7 bilhões de dólares. Empréstimos aos países in dustrializados, à exceção dos Estados Unidos e do Reino Unido; 5 bilhões de dólares, e empréstimo aos países.
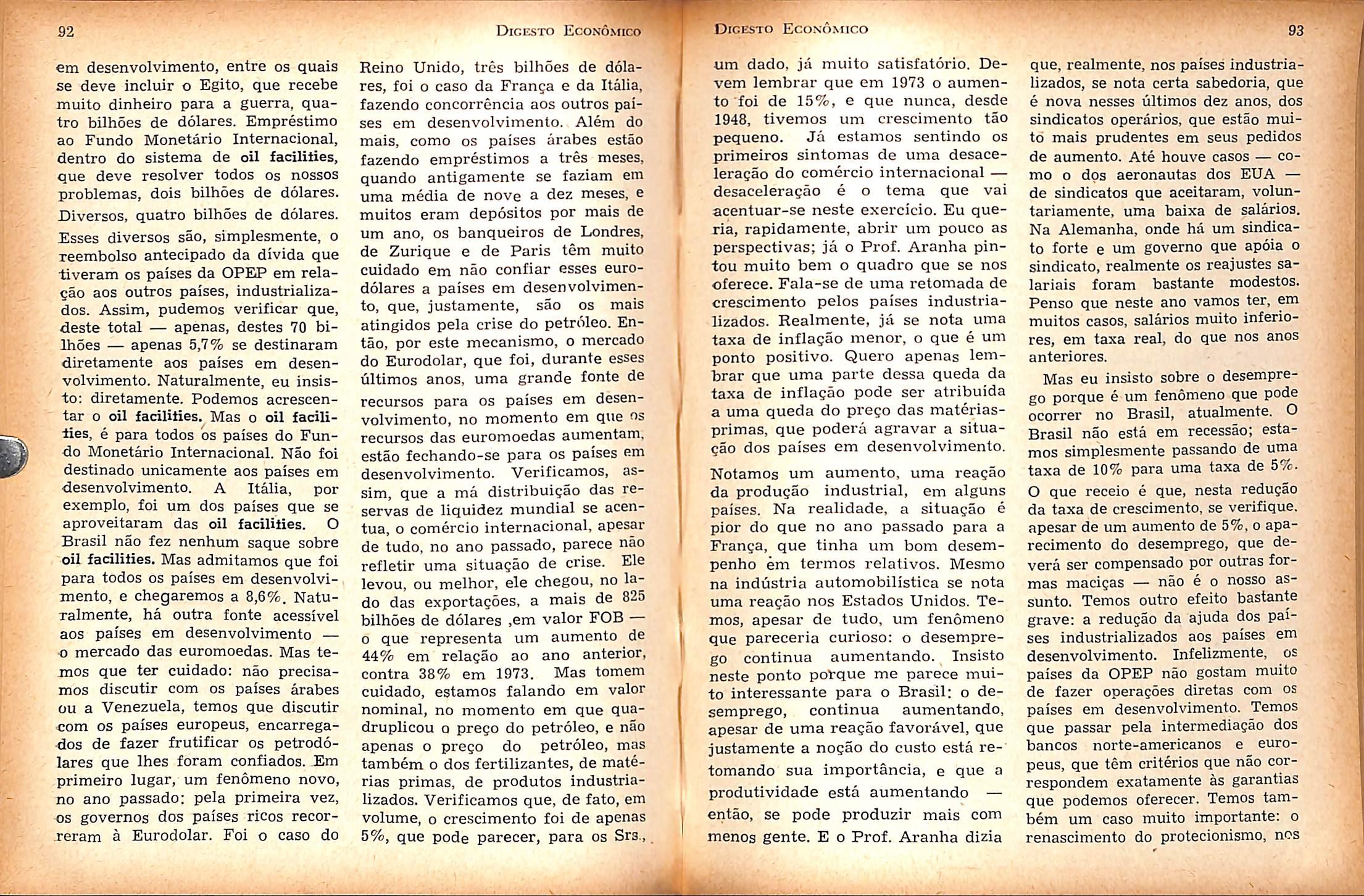
em desenvolvimento, entre os quais se deve incluir o Egito, que recebe muito dinheiro para a guerra, qua tro bilhões de dólares. Empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, dentro do sistema de oil facilities, que deve resolver todos os nossos problemas, dois bilhões de dólares. Diversos, quatro bilhões de dólares.
Esses diversos são, simplesmente, o reembolso antecipado da dívida que tiveram os países da OPEP em rela ção aos outros países, industrializa dos. Assim, pudemos verificar que, d.este total — apenas, destes 70 bi lhões — apenas 5,7% se destinaram diretamente aos países em desen volvimento. Naturalmente, eu insis to: diretamente. Podemos acrescen tar o oil facilities. Mas o oil facili ties, é para todos os países do Fun do Monetário Internacional. Não foi destinado unicamente aos países em ■desenvolvimento. A Itália, por exemplo, foi um dos países que se aproveitaram das oil facilities. O Brasil não fez nenhum saque sobre oil facilities. Mas admitamos que foi para todos os países em desenvolvi mento, e chegaremos a 8,6%. Naturalmente, há outra fonte acessível aos países em desenvolvimento — 0 mercado das euromoedas. Mas te mos que ter cuidado: não precisa mos discutir com os países árabes ou a Venezuela, temos que discutir com os países europeus, encarrega dos de fazer frutificar os petrodólares que lhes foram confiados. Em primeiro lugar, um fenômeno novo, no ano passado: pela primeira vez, os governos dos países ricos recor.reram a Eurodolar. Foi o caso do
Reino Unido, três bilhões de dóla res, foi 0 caso da França e da Itália, fazendo concorrência aos outros paí ses em desenvolvimento. Além do mais, como os países árabes estão fazendo empréstimos a três meses, quando antigamente se faziam em uma média de nove a dez meses, e muitos eram depósitos por mais de um ano, os banqueiros de Londres, de Zurique e de Paris têm muito cuidado em não confiar esses eurodólares a países em desenvolvimen to, que, justamente, são os mais atingidos pela crise do petróleo. En tão, por este mecanismo, o mercado do Eurodolar, que foi, durante esses últimos anos, uma grande fonte de recursos para os países em desen volvimento, no momento em que os das euromoedas aumentam. recursos estão fechando-se para os países cm desenvolvimento. Verificamos, assim, que a má distribuição das re de liquidez mundial se acen- servas tua, o comércio internacional, apesar de tudo, no ano passado, parece refletir uma situação de crise, levou, ou melhor, ele chegou, no la~ do das exportações, a mais de 825 bilhões de dólares ,em valor FOB — o que representa um aumento de 44% em relação ao ano anterior, contra 38% em 1973. Mas tomem cuidado, estamos falando em valor nominal, no momento em que qua druplicou Q preço do petróleo, e não apenas o preço do petróleo, mas também o dos fertilizantes, de maté rias primas, de produtos industria lizados. Verificamos que, de fato, em volume, o crescimento foi de apenas 5%, que pode parecer, para os Srs.,.
nao Ele
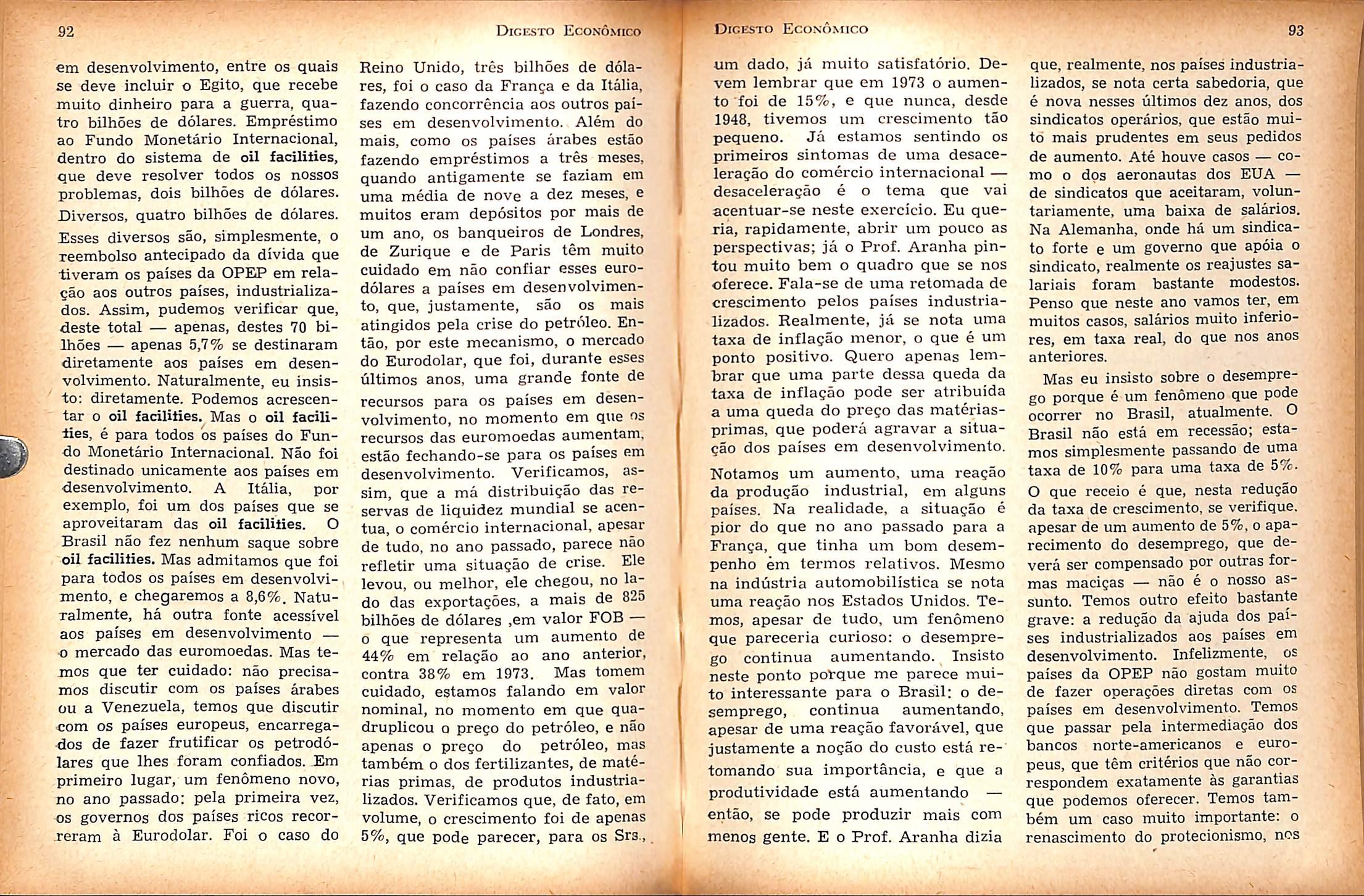
ym dado, já muito satisfatório. De vem lembrar que em 1973 o aumen to foi de 15%, e que nunca, desde 1948, tivemos um crescimento tão Já estamos sentindo os que, realmente, nos paises industria lizados, se nota certa sabedoria, que é nova nesses últimos dez anos, dos sindicatos operários, que estão mui to mais prudentes em seus pedidos de aumento. Até houve casos — co mo o dps aeronautas dos EUA — de sindicatos que aceitaram, volun tariamente, uma baixa de salários. Na Alemanha, onde há um sindica to forte e um governo que apóia o sindicato, realmente os reajustes sa lariais foram bastante modestos. Penso que neste ano vamos ter, em muitos casos, salários muito inferio res, em taxa real, do que nos anos anteriores.
pequeno, primeiros sintomas de uma desace leração do comércio internacional — desaceleração é o tema que vai acentuar-se neste exercício. Eu que ria, rapidamente, abrir um pouco as perspectivas; já o Prof. Aranha pin tou muito bem o quadro que se nos oferece. Fala-se de uma retomada de crescimento pelos países industria lizados. Realmente, já se nota uma taxa de inflação menor, o que é um ponto positivo. Quero apenas lem brar que uma parte dessa queda da taxa de inflação pode ser atribuída a uma queda do preço das matériasprimas, que poderá agravar a situa ção dos países em desenvolvimento.
O que receio é que, nesta redução da taxa de crescimento, se verifique, apesar de um aumento de 5%, o apa recimento do desemprego, que de verá ser compensado por outras for— não é o nosso as¬ mas maciças sunto. Temos outro efeito bastante redução da ajuda dos paí~ grave: a ses industrializados aos países em desenvolvimento. Infelizmente, os países da OPEP não gostam muito de fazer operações diretas com os países em desenvolvimento. Temos que passar pela intermediação dos bancos norte-americanos e euro peus, que têm critérios que não respondem exatamente as garantias que podemos oferecer. Temos tam bém um caso muito importante: o renascimento do protecionismo, nos go cor-
Mas eu insisto sobre o desempre- fenômeno que pode Brasil, atualmente. O go porque e um ocorrer no Brasil não está em recessão; estasimplesmente passando de uma taxa de 10% para uma taxa de 5%. mos Notamos um aumento, uma reação da produção industrial, em alguns países. Na realidade, a situação é pior do que no ano passado para a França, que tinha um bom desem penho èm termos relativos. Mesmo na indústria automobilística se nota uma reação nos Estados Unidos. Te mos, apesar de tudo, um fenômeno que parecería curioso: o desemprecontinua aumentando. Insisto neste ponto porque me parece mui to interessante para o Brasil; o de semprego, continua aumentando, apesar de uma reação favorável, que justamente a noção do custo está re tomando sua importância, e que a produtividade está aumentando — então, se pode produzir mais com menos gente. E o Prof. Ai-anha dizia
países industrializados — já o tive mos na Itália, na Dinamarca e acho que o mais sintomático é o trade-up de 1974, que, certamente, é uma das peças mais nobres do protecionistoda a sua sutileza. Mas te¬ mo, em mos que analisar também as pers pectivas em função da crise do pe tróleo. Os países industrializados re ceberam esse aumento dos preços verdadeiro desafio, que como um eles querem enfrentar. Eles preten dem aproximar-se, o mais depressa possível, da auto-suficiência ener gética. Em 1985, segundo um relató rio da OCDE, esses países — pra ticamente todos os países industria lizados do mundo ocidental — co¬ brirão 80%, pelo menos, das suas necessidades energéticas. Antes da crise, previa-se que em 1985 eles cobriríam apenas 55%. Em 1972, an tes da crise, os países da OCDE co briam 62% das suas necessidades.
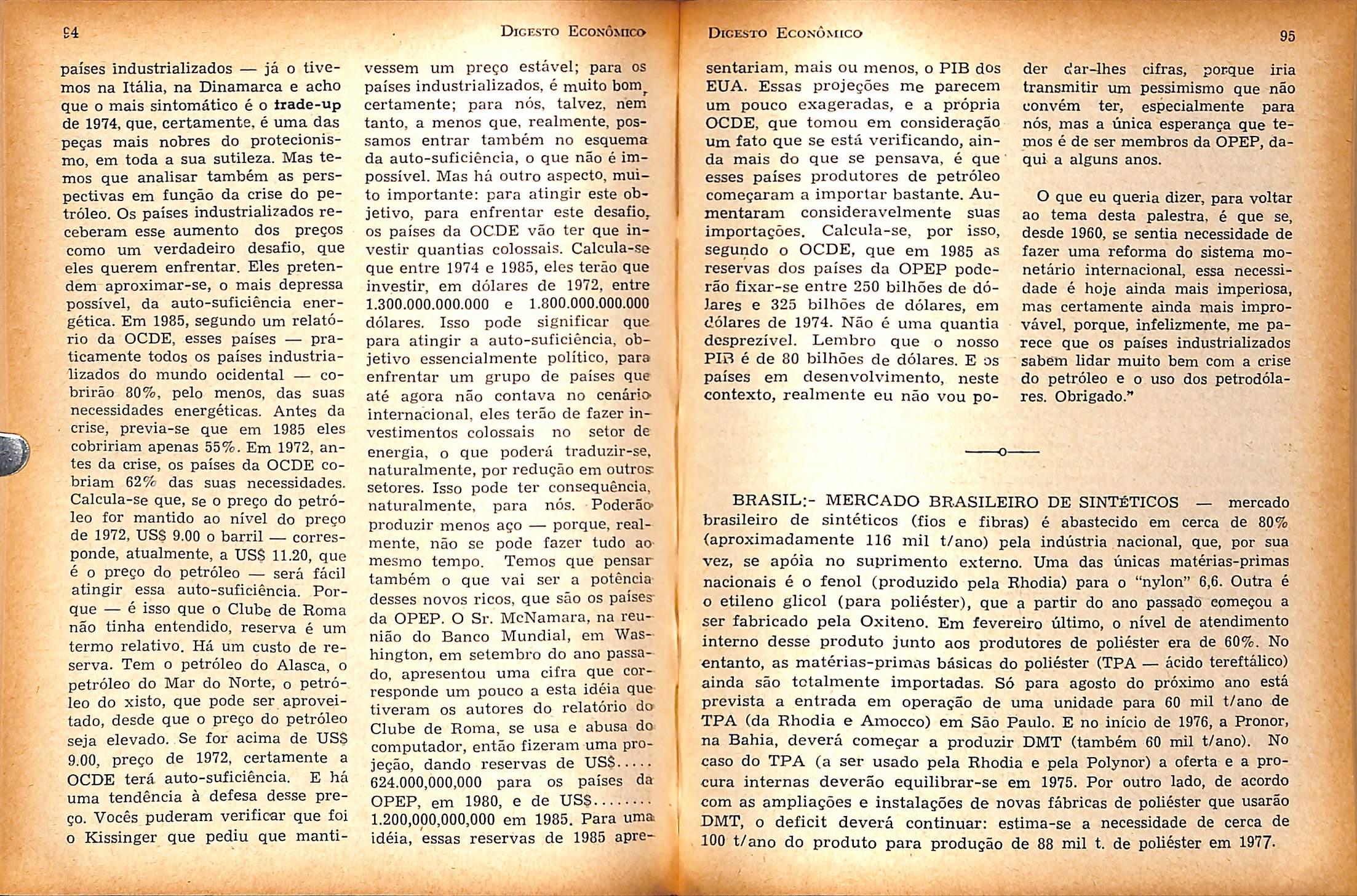
vessem um preço estável; para os países industrializados, é muito bom^ certamente; para nós, talvez, nem tanto, a menos que, realmente, pos samos entrar também no esquema da auto-suficiência, o que não é im possível. Mas há outro aspecto, mui to importante: para atingir este ob jetivo, para enfrentar este desafio. os paises da OCDE vão ter que in vestir quantias colossais. Calcula-.se que entre 1974 e 1985, eles terão que investir, em dólares de 1972, entre 1.300.000.000.000 e 1.800.000.000.000 dólares. Isso pode significar que para atingir a auto-suficiência, ob jetivo essencialmente politico, para enfrentar um grupo de países que até agora não contava no cenário internacional, eles terão de fazer in vestimentos colossais no setor de energia, o que poderá traduzir-se, naturalmente, por redução em outros: setores. Isso pode ler consequência, naturalmente, para nós. Poderão produzir menos aço — porque, real mente, não se pode fazer tudo aO' mesmo tempo. Temos que pensar também o que vai ser a potência desses novos ricos, que são os paísesda OPEP. O Sr. McNamara, na reu nião do Banco Mundial, em Was hington, em setembro do ano passa do, apresentou uma cifra que cor responde um pouco a esta idéia quetiveram os autores do relatório do Clube de Roma, se usa e abusa do computador, então fizeram uma pro jeção, dando reservas de USS 624.000,000,000 para os países da OPEP, em 1980, e de USS 1.200,000,000,000 em 1985. Para uma idéia, essas reservas de 1985 apre¬
Calcula-se que, se o preço do petró leo for mantido ao nível do preço de 1972, USS 9.00 o barril — corres ponde, atualmente, a USS 11.20, que é o preço do petróleo — será fácil atingir essa auto-suficiência. Por que — é isso que o Clube de Roma não tinha entendido, reserva é um termo relativo. Há um custo de re serva. Tem o petróleo do Alasca, o petróleo do Mar do Norte, o petró leo do xisto, que pode ser aprovei tado, desde que o preço do petróleo seja elevado. Se for acima de USS 9.00, preço de 1972, certamente a OCDE terá auto-suficiência. E há tendência à defesa desse prei uma ço. Vocês puderam verificar que foi o Kissinger que pediu que manti-
sentariam, mais ou menos, o PIB dos EUA. Essas projeções me parecem um pouco exageradas, e a própria OCDE, que tomou em consideração um fato que se estií verificando, ain da mais do que se pensava, é que qui a alguns anos. esses países produtores de petróleo começaram a importar bastante. Au mentaram consideravelmente suas importações. Calcula-se, por isso, segundo o OCDE, que em 1985 as reservas dos países da OPEP pode rão fixar-se entre 250 bilhões de dó lares e 325 bilhões de dólares, em dólares de 1974. Não é uma quantia desprezível. Lembro que o nosso PIB é de 80 bilhões de dólares. E os países em desenvolvimento, neste contexto, realmente eu não vou po-
der dar-lhes cifras, porque iria transmitir um pessimismo que não convém ter, especialmente para nós, mas a única esperança que te mos é de ser membros da OPEP, da-
O que eu queria dizer, para voltar ao tema desta palestra, é que se, desde 1960, se sentia necessidade de fazer uma reforma do sistema mo netário internacional, essa necessi dade é hoje ainda mais imperiosa, mas certamente ainda mais impro vável, porque, infelizmente, me pa rece que os países industrializados sabem lidar muito bem com a crise do petróleo e o uso dos petrodólares. Obrigado.”
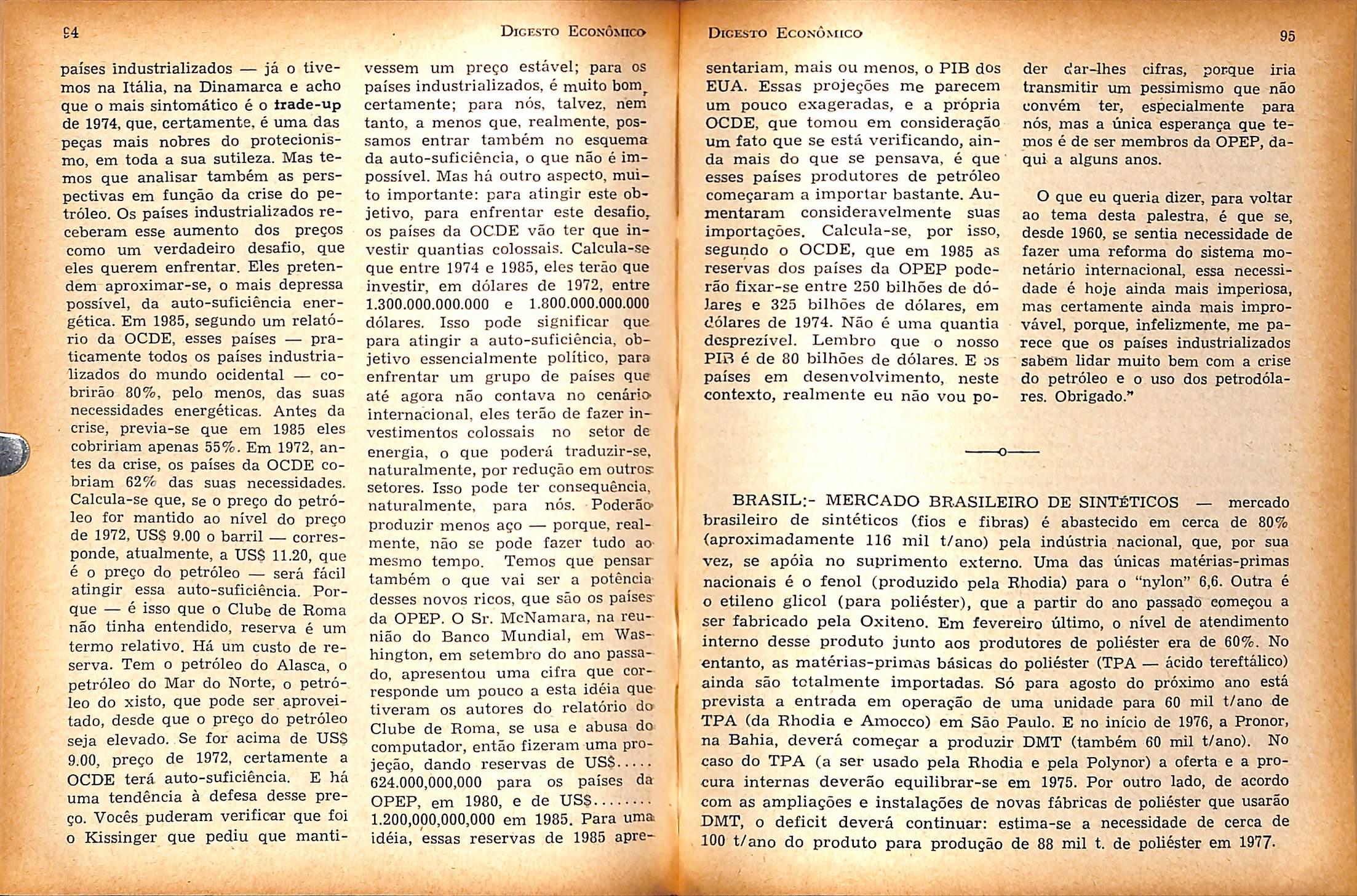
BRASIL;- MERCADO BRASILEIRO DE SINTÉTICOS mercado brasileiro de sintéticos (fios e fibras) é abastecido em cerca de 80% (aproximadamente 116 mil t/ano) pela indústria nacional, que, por sua vez, se apoia no suprimento externo. Uma das únicas matérias-primas nacionais é o fenol (produzido pela Rhodia) para o “nylon” 6,6. Outra é o etileno glicol (para poliéster), que a partir do ano passado começou a ser fabricado pela Oxiteno. Em fevereiro último, o nível de atendimento interno desse produto junto aos produtores de poliéster era de 60%. No entanto, as matérias-primas básicas do poliéster (TPA — ácido tereftálico) ainda são tctalmente importadas. Só para agosto do próximo ano está prevista a entrada em operação de uma unidade para 60 mil t/ano de TPA (da Rhodia e Amocco) em São Paulo. E no início de 1976, a Pronor, na Bahia, deverá começar a produzir DMT (também 60 mil t/ano). No caso do TPA (a ser usado pela Rhodia e pela Polynor) a oferta e a pro cura internas deverão equilibrar-se em 1975. Por outro lado, de acordo com as ampliações e instalações de novas fábricas de poliéster que usarão DMT, o déficit deverá continuar: estima-se a necessidade de cerca de 100 t/ano do produto para produção de 88 mil t. de poliéster em 1977I

INGLATERRA:- ESTERILIZAÇÃO COM ULTRAVIOLETA — O tra tamento de água nem sempre produz resultados agradáveis para o pala dar humano. Alguns processos provocam mudanças no gosto e chegam mesmo a alterar a composição química do líquido. Para resolver esse pro blema, a empresa inglesa Hanovia-Lamps desenvolveu um sistema de es terilização ultravioleta para matar bactérias, virus e demais microrganismos perigosos contidos na água e outros líquidos. Segundo os técnicos bri tânicos, o novo sistema leva vantagem sobre os demais por se constituir num método simples, eficaz e natural de esterilizar a água. O emprego de ultravioleta não provoca qualquer mudança no sabor e composição quí mica do líquido. E qualquer gás ou sal mineral que possa dar um sabor especial ou resultar em qualidades medicinais é mantido. O novo equipa mento consiste basicamente em um tubo de arco voltaíco que proporciona a quantidade exata de energia ultravioleta, eliminando o perigo do em prego de uma dose excessiva como acontece nas aplicações de cloro. O equipamento também elimina a possibilidade de interação química entre a água e a canalização ou recipiente.
SUÉCIA:- RECEITA PARA FABRICAS LIMPAS — Não resta dúvida que a Suécia é uma das nações que mais trabalhou no combate à polui ção resultante das operações das fábricas de papel e de polpa. Um esfor ço típico da Suécia, nesse campo, é um novo estudo, de 6,5 milhões de dólares, o qual estabelece como aperfeiçoar os sistemas de controle de poluição atuais e como projetar novos sistemas para futuras fábricas. Fi nanciado conjuntamente por empresas florestais (5 milhões de dólares) e agencias governamentais (1,5 milhão de dólares), espera-se que o es tudo de proteção ao meio-ambiente, o SSVL (sigla sueca para fundação de pesquisas sobre a poluição da água e do ar em indústrias florestais), se torne a “bíblia” da indústria nos próximos anos. Esse estudo cobre um período de 5 anos (1969-1973) e está dividido nas seguintes partes: sistemas de circuito fechado e de recirculação para cozimento; lavagem e filtragem; alvejamento; evaporação e tratamento do condensado; des cargas acidentais; tratamento de resíduos; sistemas de circuito fechado e recirculação em fábricas de papel; tratamento químico e biológico de efluentes e redução da poluição do ar.
LINTER — O ácido sulfurico diluido pode remover linters do caroço de algodão, num processo experimentado pela Cotton, Inc. O novo método promete ser mais rápido e causar menos problemas de descarte de resí duos do que o tratamento convencional com ácido sulfurico concentrado. Nesta técnica, o caroço de algodão é imenso em uma solução ácida dilujda (cerca de 20 libras de ácido a 93% por tonelada de caroço de algodão), drenado, seco em centrifugadr e passado através de um secador rotativo. À medida que a água evaporar no secador ,a solução ácida no caroço de algodão hidroliza os linters.

MIGUEL COLASUONNO
AANÁLISE do comportamen to da balança comercial do Brasil no ano de 1974 revela que, contrariando tendência anteriormente observada as transações de mercadorias (FOB) do País com o exterior proporcio naram um saldo negativo da ordem de 4,5 bilhões de dólares. De acordo as estimativas mais recentes,
A exportação é a variavel .mais conveniente para a sociedade al cançar os objetivos simultâneos de expansão do nivel de emprego interno^ crescimento econômico e independência internacional, afir ma o economista e professor Miguel Colasuonno com espera-se que, em 1975, as exporta ções deverão se situar em torno de 9 bilhões de dólares, enquanto as importações, muito provavelmente, alcançarão o montante de USS 12 bilhões, mantendo-se, portanto, déficit comercial ao redor de USS 3 bilhões, nível inferior ao do ano passado.
A causa fundamental da inversão observada na posição do comércio externo brasileiro reside na evolu ção dos preços internacionais do pe-
tróleo, originando gastos adicionais com essa matéria-prima em 1974, ao redor de USS 2 bilhões em confron to com 0 ano de 1973.
Além disso, a crise do petróleo e a inflação mundial decorrente im plicaram, indiretamente, em acrés cimos substanciais nas despesas com fertilizantes, produtos químicos or gânicos, máquinas e equipamentos, ferro fundido e aço, trigo e metais não-ferrosos.
Balanço de pagamento do Brasil: comportamento das transações correntes (1970-1974 Em USS Milhões
Discriminação
1. Balança Comercial (1)
Exportações
Importações
2. Serviços
Receitas
Despesas
3. Trnasferências
4. Transações Correntes
FONTE: Banco Central do Brasil — Relatório 1974 (1) Valores FOB
Em recente pronunciamento, no Encontro de atualização sobre Ex portações, realizado na Federação do Comercio do Estado de São Paulo, 0 ministro Reis Velloso, do Plane jamento, ressaltou que o problema vivido pela economia brasileira, na hora presente, não se resume apenas em buscar uma saída para o balan ço de pagamentos mas sobretudo em procurar soluções que sejam condicente com o crescimento do Brasil. E, para tanto, acentuou que é preciso usar a imaginação, visan do a conciliar o balanço de paga mentos, a preservação das taxas de crescimento, o combate à inflação e a manutenção dos programas so ciais,
Na busca dessas soluções, torna- se imperativo evitar a ampliação do déficit do balanço de em transações correntes, sobretudo se se pretende, como meta, evitar o excessivo endividamento externo.
ções por parte dos orgãos governa mentais, foi estabelecido um meca nismo de controle das compras no exterior, a nível de orçamento pre viamente aprovado. Através de me didas que culminaram com a expedi ção de importantes decretos, com plementando, aliás, normas já em vigor desde abril ultimo, estabele ceu-se que as importações dos or gãos governamentais, em 1976, de verão situar-se 15% abaixo do ní vel alcançado em 1975. No âmbito do Estado de São Paulo, a norma preconizada pelas autoridades fede rais foi igualmente adotada, em meados de maio.
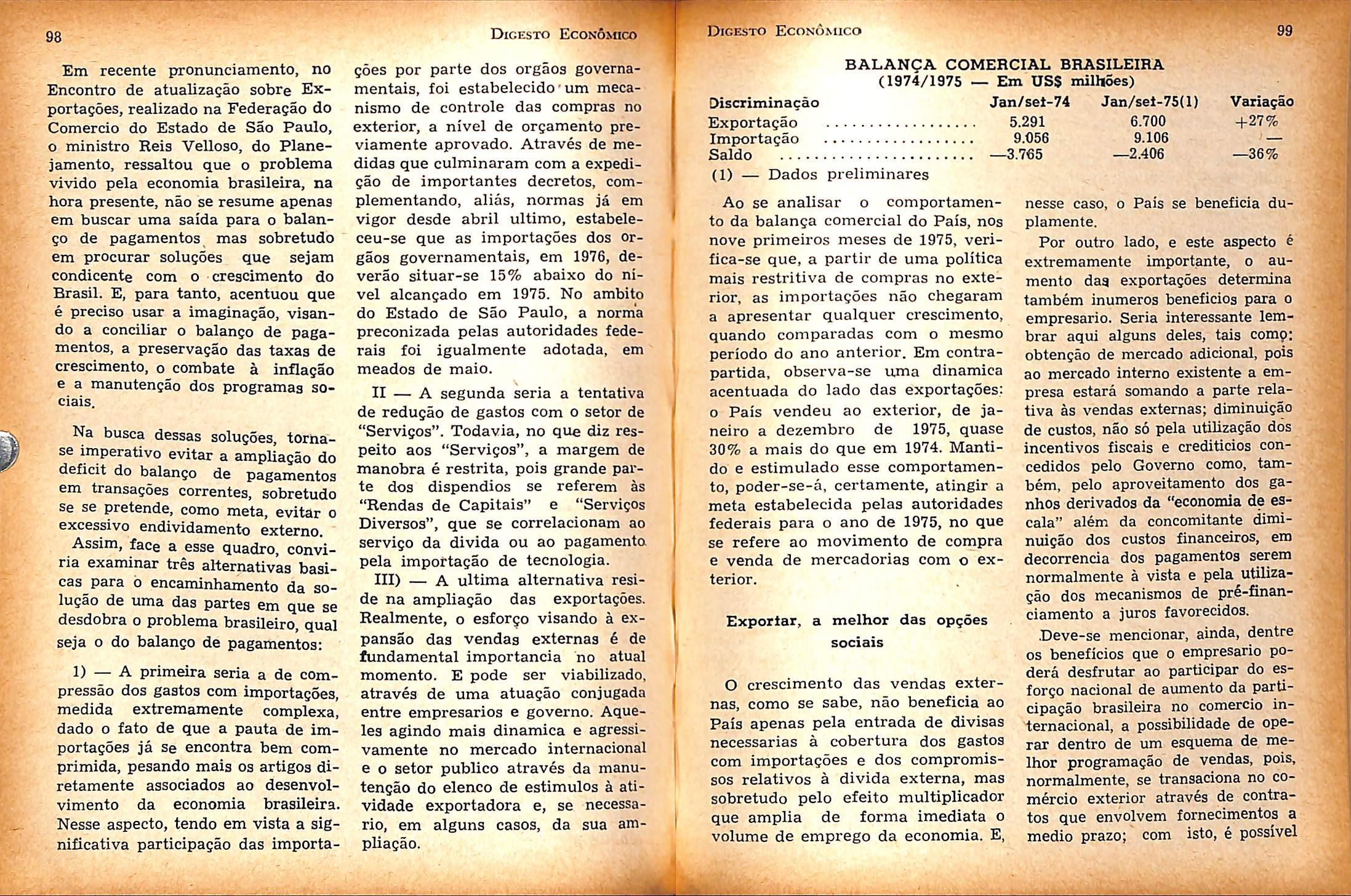
Assim, face a esse quadro, conviexaminar três alternaüvas basicas para ò encaminhamento da lução de uma das partes em que se desdobra o problema brasileiro, qual seja o do balanço de pagamentos:
1) — A primeira seria a de com pressão dos gastos com importações, medida extremamente complexa, dado o fato de que a pauta de im portações já se encontra bem com primida, pesando mais os artigos di retamente associados ao desenvol vimento da economia brasileira.
Nesse aspecto, tendo em vista a sig nificativa participação das importapagamentos na so-
II — A segunda seria a tentativa de redução de gastos com o setor de “Serviços”. Todavia, no que diz res peito aos “Serviços”, a margem de manobra é restrita, pois grande par te dos dispendios se referem às “Rendas de Capitais” e “Serviços Diversos”, que se correlacionam ao serviço da divida ou ao pagamento pela importação de tecnologia.
III) — A ultima alternativa resi de na ampliação das exportações. Realmente, o esforço visando à ex pansão das vendas externas é de fundamental importância no atual momento. E pode ser viabilizado, através de uma atuação conjugada entre empresários e governo. Aque les agindo mais dinamica e agressi vamente no mercado internacional e o setor publico através da manu tenção do elenco de estímulos à ati vidade exportadora e, se necessá rio, em alguns casos, da sua am pliação.
Discriminação
Exportação
Importação
Saldo
(1) — Dados preliminares
Ao se analisar o comportamen to da balança comercial do País, nos nove primeiros meses de 1975, verifica-se que, a partir de uma política mais restritiva de compras no exte rior, as importações não chegaram a apresentar qualquer crescimento, quando comparadas com o mesmo período do ano anterior. Em contra partida, observa-se uma dinamica acentuada do lado das exportações: o País vendeu ao exterior, de ja neiro a dezembro de 1975, quase 30% a mais do que em 1974. Manti do e estimulado esse comportamen to, poder-se-á, certamente, atingir a meta estabelecida pelas autoridades federais para o ano de 1975, no que se refere ao movimento de compra e venda de mercadorias com o ex terior.
Exporíar, a melhor das opções sociais
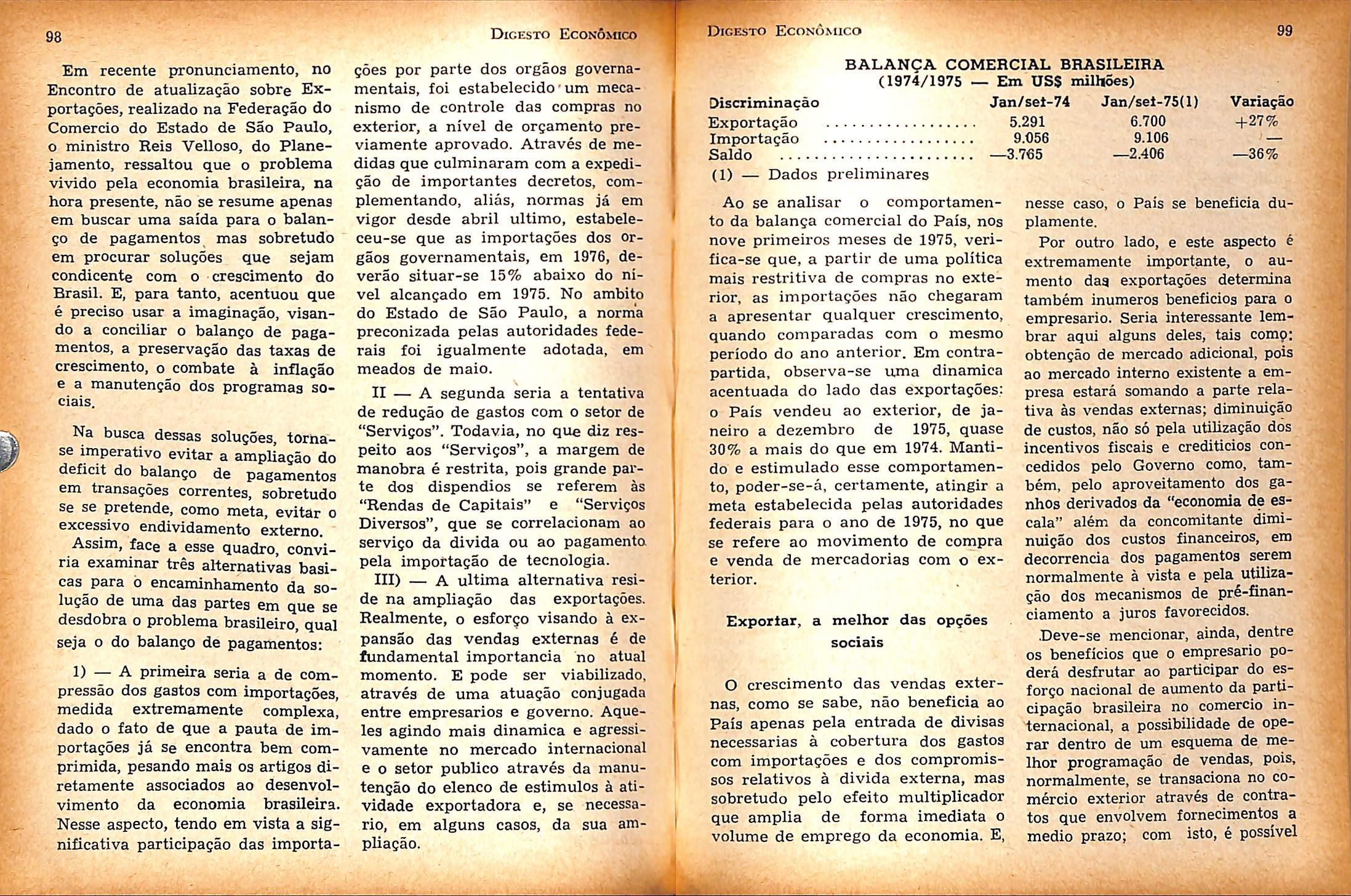
nesse caso, o País se beneficia du plamente.
Por outro lado, e este aspecto é extremamente importante, o au mento daa exportações determina também inúmeros benefícios para o empresário. Seria interessante lem brar aqui alguns deles, tais como; obtenção de mercado adicional, pois ao mercado interno existente a em presa estará somando a parte rela tiva às vendas externas; diminuição de custos, não só pela utilização dos incentivos fiscais e crediticios con cedidos pelo Governo como, tam bém, pelo aproveitamento dos ga nhos derivados da "economia de es cala” além da concomitante dimidos custos financeiros, era nuiçao decorrência dos pagamentos serem normalmente à vista e pela utiliza dos mecanismos de pr.é-financiamento a juros favorecidos. çao
,Deve-se mencionar, ainda, dentre os benefícios que o empresário po derá desfrutar ao participar do es forço nacional de aumento da parti cipação brasileira no comercio ternacional, a possibilidade de opedentro de um esquema de me lhor programação de vendas, pois, normalmente, se transaciona no co mércio exterior através de contra tos que envolvem fornecimentos a medio prazo; com
O crescimento das vendas exter nas, como se sabe, não beneficia ao País apenas pela entrada de divisas necessárias à cobertura dos gastos com importações e dos compromis sos relativos à divida externa, mas sobretudo pelo efeito multiplicador que amplia de forma imediata o volume de emprego da economia. E, mrar isto, é possível
programar-se adequadamente a pro dução e as vendas, resultando em melhor rotação dos ativos com con sequente redução de custos. Por ou tro lado, as vendas firmes a medio prazo podem se constituir numa ga rantia contra eventuais oscilações conjunturais do mercado interno. Intimamente associados a esses as pectos altamente beneficos estão os ganhos mercadológicos. A empresa exportadora tem condições de pro jetar uma “imagem” de entidade ca paz de produzir artigos de alta qua lidade, dada sua aceitação no mer cado internacional.
po externo, está condicionado a um comportamento de molde a obser var:
I — Manutenção da qualidade dos seus produtos;
II — Constância no fornecimento;
III — Prestação de assistência adequada ao comprador;
IV) — Proximidade e afinidade com o mercado;
V) — Rapidez em absorver a tec nologia mais adequada e, se for o caso, adaptar o produto às especifi cações exigidas pelo importador;

PNesse
no a procomo
Finalmente, deve-se destacar ou tro ganho conjunto, que beneficia ao mesmo tempo empresários e go verno: trata-se das melhorias tecno lógicas e da produtividade, aspecto, a necessidade de atendi mento das especificações estabele cidas pelos importadores pode le var a modificações qualitativas sistema produtivo e no controle de qualidade, permitindo, inclusive, absorção de técnicas mais moder nas, com efeitos multiplicadores de tecnologia nos demais setores dutivos. Veja-se a respeito, exemplos concretos, o caso da in dustria de laminados de madeira e o da industria de calçados.
Se, por um lado, são evidentes os benefícios que o empresário obteria ao lançar-se numa política de ex portação, convem assinalar, da mes ma forma, a necessidade de obser var uma serie de precauções.
VI) Firme determinação no senti do de orientar sua produção, tendo em vista os requisitos do exigente mercado internacional.
Subjacente a tudo isso, o que se impõe, ao final, é a necessidade de que exista realmente um espirito empresarial voltado para a expor tação, ou seja, uma vez fixado esse objetivo, deve haver, por parte do empresário, a preocupação funda mental com a atividade exportadora, deixando esta de ser meramente “marginal” ou “bissexta”.
O governo federal, consciente do seu papel na condução do desenvol vimento brasileiro, vem dedicando enfase especial ao incremento das exportações, não só pelo seu papel altamente estratégico na obtenção de maior volume de emprego, mas tam bém como instrumento capaz de rninimizar os nefastos efeitos de um de-
Assim, é necessário que os empre sários exportadores se precavenham sequilíbrio nas relações do País com para o fato de que o exito, no cam- o resto do mundo. Nesse sentido.
tem procurado ampliar o trabalho de coordenação entre os vários orgãos atuantes na area de comercio exterior; Ministério da Industria e do Comercio, das Relações Exterio res, da Fazenda, Coneex. Cacex, Banco Central e entidades estaduais, visando agilizar as medidas relacio nadas ao comercio exterior. Ao lado desse trabalho, busca-se também a ampliação, consolidação e consistên cia na divulgação das informações de mercado objetivando colocar os dados à disposição de todos os inte ressados.

leiras. O empresário nacional deve buscar uma exata compreensão das “trading companies”, ou seja, co nhecer bem suas formas organiza cionais e politicas de atuação no mercado internacional, alargando a area de atuação e sobrepondo-se aos limites normalmente impostos pela sua base tradicional. Assim, através da modificação da forma de atuação das “trading companies” poder-seia consolidar uma mentalidade ex portadora pela união de esforços, aliando-se maior capacidade finan ceira, administrativa e mercadoló gica, tornando mais acessivel o mercado internacional para os pro dutos nacionais.
Em ultima analise, ainda é a ex portação a variavel mais convenien te para a sociedade alcançar os ob jetivos simultâneos de expansão do nível de emprego interno, mento economico e independencia internacional.
Revela-se também, como preocu pação marcante do governo, o as pecto relacionado com a formação e treinamento de recursos humanos voltados para a exportação. ^ Dentro desse quadro de analise e de perspectivas, restaria alertar pa ra um outro aspecto extremamente importante, quanto as possibilidades de expansão das exportações brasi0 crescí-
MENTE À CERÂMICA — Lâminas de cobre podem ser afixadas mente à cerâmica sem o uso de um adesivo, diz a General Electric, o Estados Unidos, que tem planos de usar a nova técnica da montagem de circuitos eletrônicos híbridos. A firma alega que o novo processo pod afixar um formato complexo de cobre diretamente a urn substrato de cerâmica, produzindo aderência mais forte que 20.000 psi. A aderencia é criada ao se aquecer o cobre em contato com a cerâmica em uma atmosfera gasosa inerte e controlada que contém somente poucOs centesimos de um por cento de oxigênio. O calor faz com que o oxigênio e o cobre na superfície da lâmina, formem uma liga eutética. Regulando-se a temperatura do processo entre o ponto de fusão da liga eutetica (1.065°C) e o ponto de fusão do cobre (1.083°), a liga eutética na super fície do cobre pode ser fundida para se obter um contato íntimo com o substrato de cerâmica.
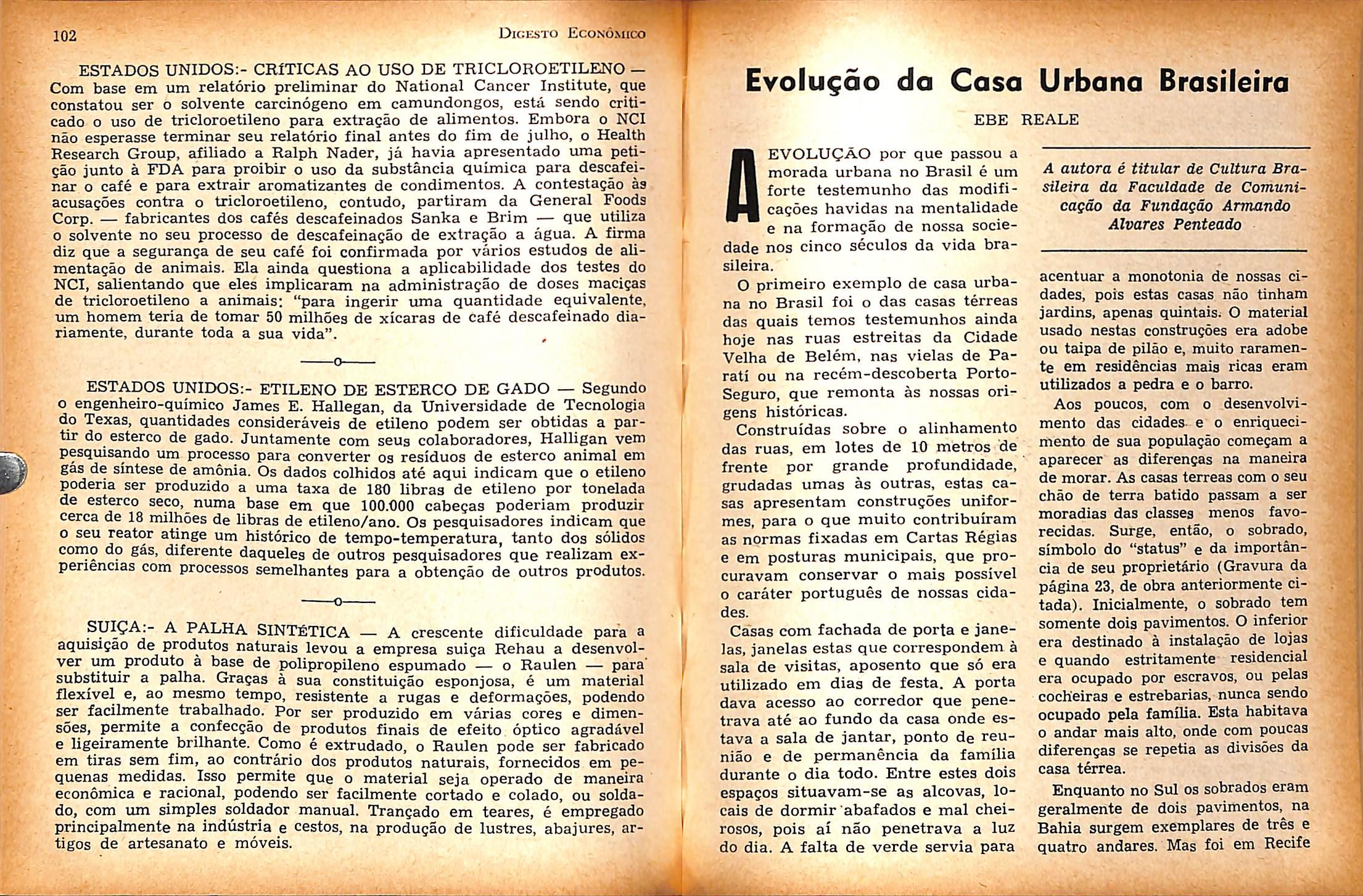
— Com base em um relatório preliminar do National Câncer Institute, que constatou ser o solvente carcinógeno em camundongos, está sendo criti cado o uso de tricloroeüleno para extração de alimentos. Embora o NCl não esperasse terminar seu relatório final antes do íim de julho, o Health Research Group, afiliado a Ralph Nader, já havia apresentado uma peti ção junto à PDA para proibir o uso da substância química para descafeinar o café e para extrair aromatizantes de condimentos. A contestação às acusações contra o tricloroetileno, contudo, partiram da General Foods Corp. — fabricantes dos cafés descafeinados Sanka e Brim — que utiliza o solvente no seu processo de descafeinação de extração a água. A firma diz que a segurança de seu café foi confirmada por vários estudos de ali mentação de animais. Ela ainda questiona a aplicabilidade dos testes do NCI, salientando que eles implicaram na administração de doses maciças de tricloroetileno a animais; “para ingerir uma quantidade equivalente, um homem teria de tomar 50 milhões de xícaras de café descafeinado dia riamente, durante toda a sua vida”.
UNIDOS:- ETILENO DE ESTERCO DE GADO — Segundo o engenheiro-químico James E, Hallegan, da Universidade de Tecnologia do Texas, quantidades consideráveis de etileno podem ser obtidas a par tir do esterco de gado. Juntamente com seus colaboradores, Halligan vem pesquisando um processo para converter os resíduos de esterco animal em gás de síntese de amônia. Os dados colhidos até aqui indicam que o etileno podería ser produzido a uma taxa de 180 libras de etileno por tonelada de esterco seco, numa base em que 100.000 cabeças poderiam produzir cerca de 18 milhões de libras de etileno/ano. Os pesquisadores indicam que o seu reator atinge um histórico de tempo-temperatura, tanto dos sólidos como do gás, diferente daqueles de outros pesquisadores que realizam expenencias com processos semelhantes para a obtenção de outros produtos.
^ palha sintética — A crescente dificuldade para a aquisição de produtos naturais levou a empresa suiça Rehau a desenvol ver um produto à base de polipropileno espumado — o Raulen — para' substituir a palha. Graças à sua constituição esponjosa, é um material flexível e, ao mesmo tempo, resistente a rugas e deformações, podendo ser facilmente trabalhado. Por ser produzido em várias cores e dimen sões, permite a confecção de produtos finais de efeito óptico agradável e ligeiramente brilhante. Como é extrudado, o Raulen pode ser fabricado em tiras sem fim, ao contrário dos produtos naturais, fornecidos em pe quenas medidas. Isso permite que o material seja operado de maneira econômica e racional, podendo ser facilmente cortado e colado, ou solda do, com um simples soldador manual. Trançado em teares, é empregado principalmente na indústria e cestos, na produção de lustres, abajures, ar tigos de artesanato e móveis.
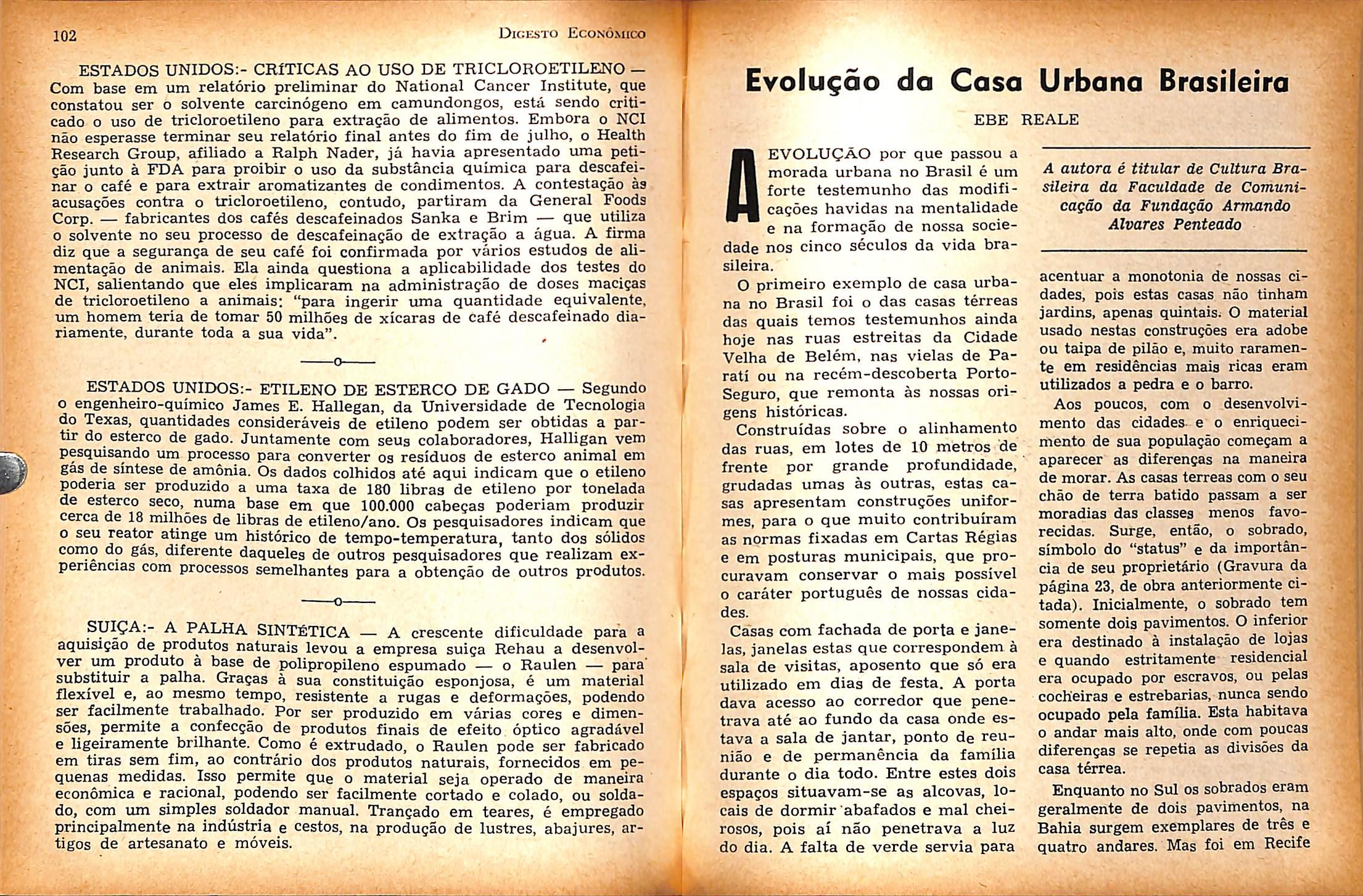
EBE REALE
AEVOLUÇÃO por que passou a morada urbana no Brasil é um forte testemunho das modifi cações havidas na mentalidade e na formação de nossa socie dade nos cinco séculos da vida bra sileira.
O primeiro exemplo de casa urbaBrasil foi o das casas térreas
na no das quais temos testemunhos ainda hoje nas ruas estreitas da Cidade Velha de Belém, nas vielas de Pa rati ou na recém-descoberta PortoSeguro, que remonta às nossas ori gens históricas.
Construídas sobre o alinhamento das ruas, em lotes de 10 metros de frente por grande profundidade, grudadas umas às outras, estas ca sas apresentam construções unifor mes, para o que muito contribuíram as normas fixadas em Cartas Régias
e em posturas municipais, que pro curavam conservar o mais possível o caráter português de nossas cida des.
Casas com fachada de porta e jane las, janelas estas que correspondem à sala de visitas, aposento que só era utilizado em dias de festa. A porta dava acesso ao corredor que pene trava até ao fundo da casa onde es tava a sala de jantar, ponto de reu nião e de permanência da família durante o dia todo. Entre estes dois espaços situavam-se as alcovas, lo cais de dormir abafados e mal chei rosos, pois aí não penetrava a luz do dia. A falta de verde servia para
A autora é titular de Cultura Bra sileira da Faculdade de Comuni cação da Fundação Armando Alvares Penteado
acentuar a monotonia de nossas ci dades, pois estas casas não tinham jardins, apenas quintais. O material usado nestas construções era adobe ou taipa de pilão e, muito raramen te em residências mais ricas eram utilizados a pedra e o barro. Aos poucos, com o desenvolvi mento das cidades e o enriqueci mento de sua população começam a aparecer as diferenças na maneira de morar. As casas terreas com o seu chão de terra batido passam a ser moradias das classes menos favo recidas. Surge, então, o sobrado, símbolo do “status” e da importân cia de seu proprietário (Gravura da página 23, de obra anteriormente ci tada). Inicialmente, o sobrado tem somente dois pavimentes. O inferior era destinado a instalação de lojas e quando estritamente residencial era ocupado por escravos, ou pelas cocheiras e estrebarias, nunca sendo ocupado pela família. Esta habitava o andar mais alto, onde com poucas diferenças se repetia as divisões da casa térrea.
Enquanto no Sul os sobrados eram geralmente de dois pavimentos, na Bahia surgem exemplares de três e quatro andares. Mas foi em Recife
que surgiram os mais altos, com cin co e seis andares assim ocupados; no primeiro andar ficava o arma zém e a senzala, no segundo eram os escritórios, no terceiro e quarto a sala de visitas e os quartos de dor mir, no quinto a sala de jantar no sexto a cozinha. Acima de tudo ain-
transporte dos "tigj-es”, barris com esgotos, que eram despejados nas praias ou rios mais próximos. É de admirar que com tal grau de sanea mento urbano, acrescido do clima tropical, o Brasil não tenha sido as solado no período colonial por pes tes muito mais numerosas.
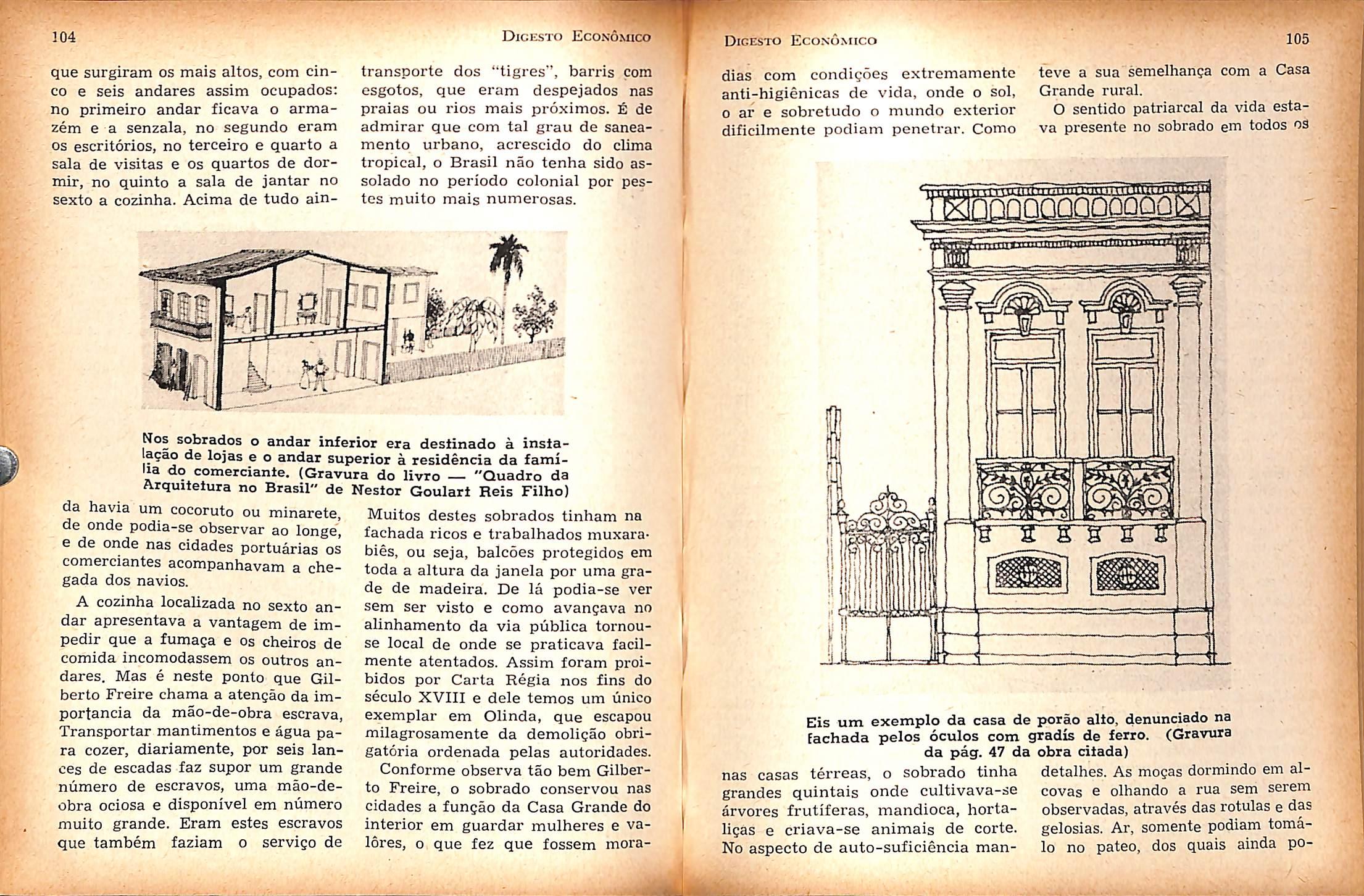
Nos sobrados o andar inferior era destinado à inslaaçao de lojas e o andar superior à residência da famí lia do comerciante. (Gravura do livro "Quadro da Arquitetura no Brasil" de Nestor Goulart Reis Filho)
da havia urn cocoruto ou minarete, de onde podia-se observar ao longe, e de onde nas cidades portuárias comerciantes acompanhavam a che gada dos navios. os
A cozinha localizada no sexto an dar apresentava a vantagem de im pedir que a fumaça e os cheiros de comida incomodassem os outros dares. Mas é neste ponto que Gil berto Freire chama a atenção da im portância da mão-de-obra escrava, Transportar mantimentos e água pa ra cozer, diariamente, por seis lan ces de escadas faz supor um grande número de escravos, uma mão-deobra ociosa e disponível em número muito grande. Eram estes escravos que também faziam o serviço de an-
Muitos destes sobrados tinham na fachada ricos e trabalhados muxarabiês, ou seja, balcões protegidos em toda a altura da janela por uma gra de de madeira. De lá podia-se ver sem ser visto e como avançava no alinhamento da via pública tornouse local de onde se praticava facil mente atentados. Assim foram proi bidos por Carta Régia nos fins do século XVIII e dele temos um único exemplar em Olinda, que escapou milagrosamente da demolição obri gatória ordenada pelas autoridades. Conforme observa tão bem Gilber to Freire, o sobrado conservou nas cidades a função da Casa Grande do interior em guardar mulheres e va lores, o que fez que fossem mora-
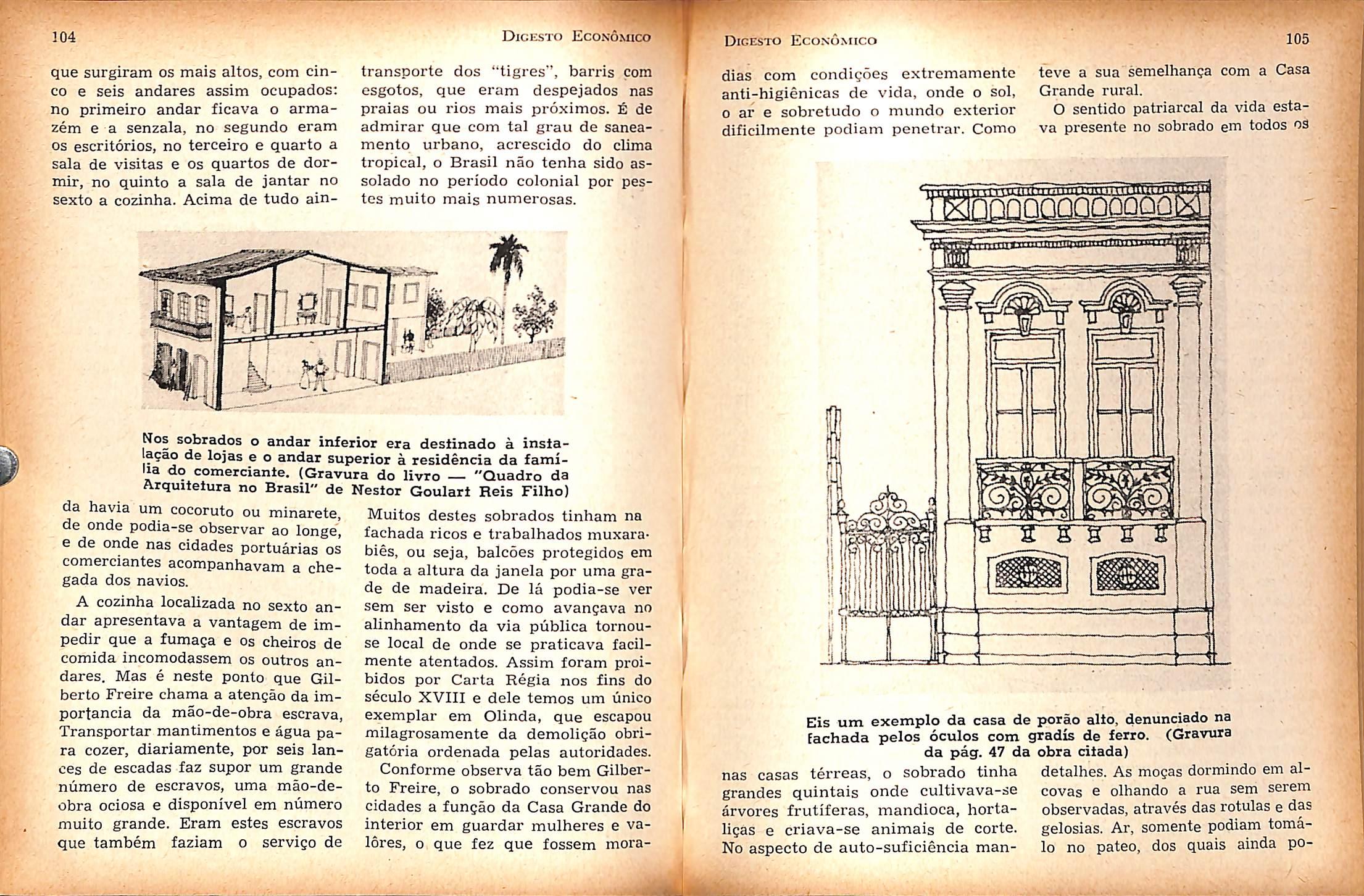
O sentido patriarcal da vida esta va presente no sobrado em todos oS dias com condições extremamente anti-higiênicas de vida, onde o sol, 0 ar e sobretudo o mundo exterior dificilmente podiam penetrar. Como
nas casas térreas, o grandes quintais onde cultivava-se árvores frutíferas, mandioca, horta¬ liças e criava-se animais de corte. No aspecto de auto-suficiência man-
teve a sua semelhança com a Casa Grande rural.
Eis um exemplo da casa de porão alto, denunciado na fachada pelos óculos com gradís de ferro. (Gravura da pág. 47 da obra citada) sobrado tinha detalhes. As moças dormindo em alcovas e olhando a rua sem serem observadas, através das rotulas e das gelosias. Ar, somente podiam tomálo no pateo, dos quais ainda po-
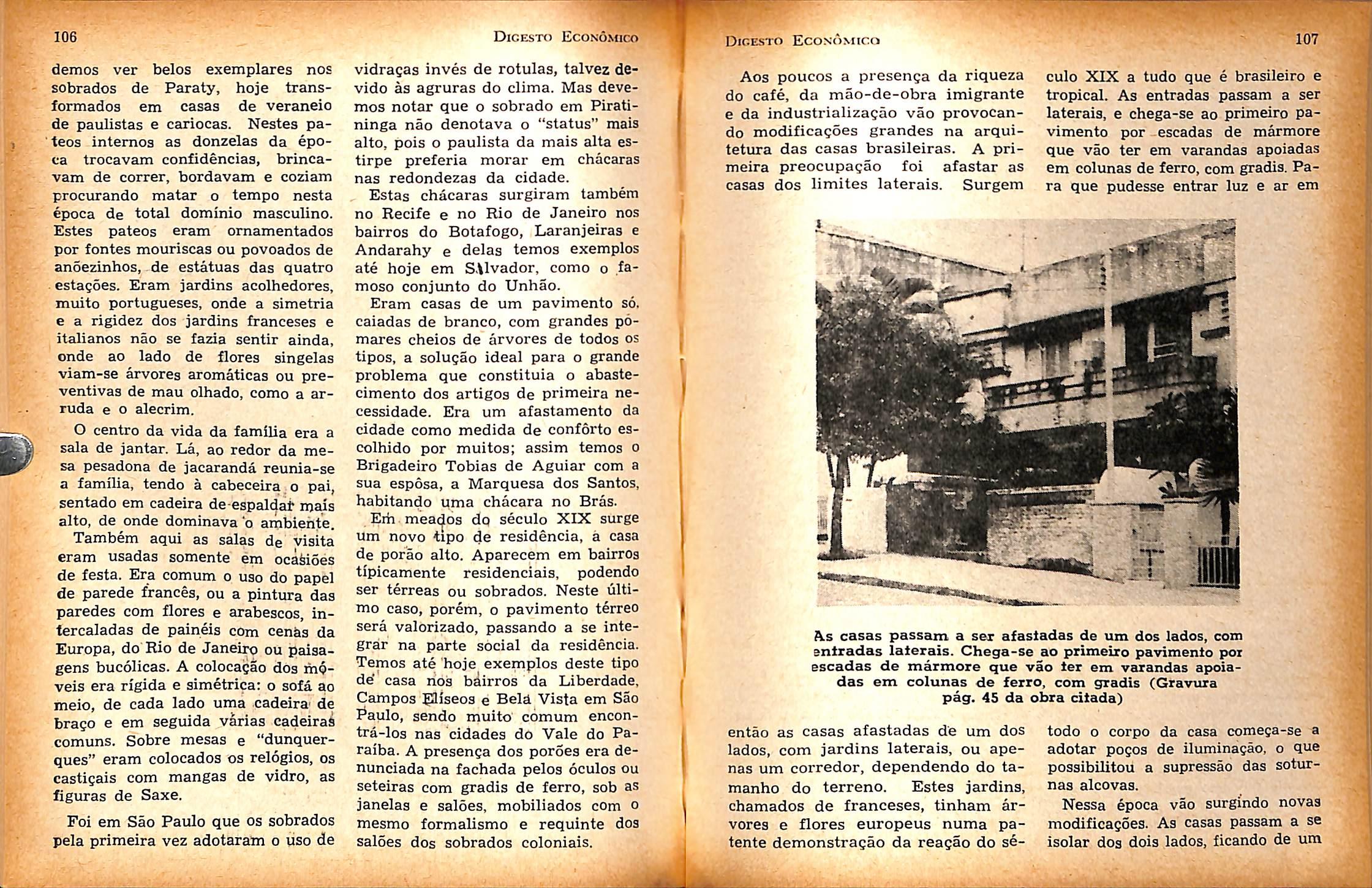
demos ver belos exemplares nos sobrados de Paraty, hoje trans formados em casas de veraneio de paulistas e cariocas. Nestes pateos internos as donzelas da épo ca trocavam confidências, brinca vam de correr, bordavam e coziam procurando matar o tempo nesta época de total domínio masculino. Estes pateos eram ornamentados por fontes mouriscas ou povoados de anõezinhos, de estátuas das quatro estações. Eram jardins acolhedores, muito portugueses, onde a simetria e a rigidez dos jardins franceses e italianos não se fazia sentir ainda, onde ao lado de flores singelas viam-se árvores aromáticas ou pre ventivas de mau olhado, como ruda e o alecrim. a ar-
O centro da vida da família era a sala de jantar. Lá, ao redor da sa pesadona de jacarandá reunia-se a família, tendo à cabeceira o pai, sentado em cadeira de-espaldaí mais alto, de onde dominava b ambiente. Também aqui as salas de visita eram usadas somente em ocàáiões de festa. Era comum o uso do papel de parede francês, ou a pintura das paredes com flores e arabescos, in tercaladas de painéis com cenas da Europa, do Rio de Janeiro ou paisa gens bucólicas. A colocação dos mó veis era rígida e simétrica: o sofá ao
memeio, de cada lado uma cadeira- de braço e em seguida várias cadeiras comuns. Sobre mesas e “dunquereram colocados os relógios, os ques castiçais com mangas de vidro, as figuras de Saxe.
Foi em São Paulo que os sobrados pela primeira vez adotaram o uso de
vidraças invés de rotulas, talvez de vido às agruras do clima. Mas deve mos notar que o sobrado em Piratininga não denotava o “status” mais alto, pois o paulista da mais alta es tirpe preferia morar em chácaras nas redondezas da cidade.
Estas chácaras surgiram também no Recife e no Rio de Janeiro nos bairros do Botafogo, Laranjeiras e Andarahy e delas temos exemplos até hoje em S.\lvador, como o fa moso conjunto do Unhão.
Eram casas de um pavimento só. caiadas de branco, com grandes po mares cheios de árvores de todos os tipos, a solução ideal para o grande problema que constituía o abaste cimento dos artigos de primeira ne cessidade. Era um afastamento da cidade como medida de confôrto es colhido por muitos; assim temos o Brigadeiro Tobias de Aguiar com a sua esposa, a Marquesa dos Santos, habitando uma chácara no Brás.
Erh meados do século XIX surge um novo tipo de residência, à casa de porão alto. Aparecem em bairros tipicamente residenciais, podendo ser térreas ou sobrados. Neste últi mo caso, porém, o pavimento térreo será valorizado, passando a se inte grar na parte social da residência. Temos até hoje exemplos deste tipo dé casa nos bairros da Liberdade, Campos Eliseos ç Belá Vista em São Paulo, sendo muito comum encon trá-los nas cidades do Vale do Pa raíba. A presença dos porões era de nunciada na fachada pelos óculos ou seteiras com gradis de ferro, sob as janelas e salões, mobiliados com o mesmo formalismo e requinte dos salões dos sobrados coloniais.
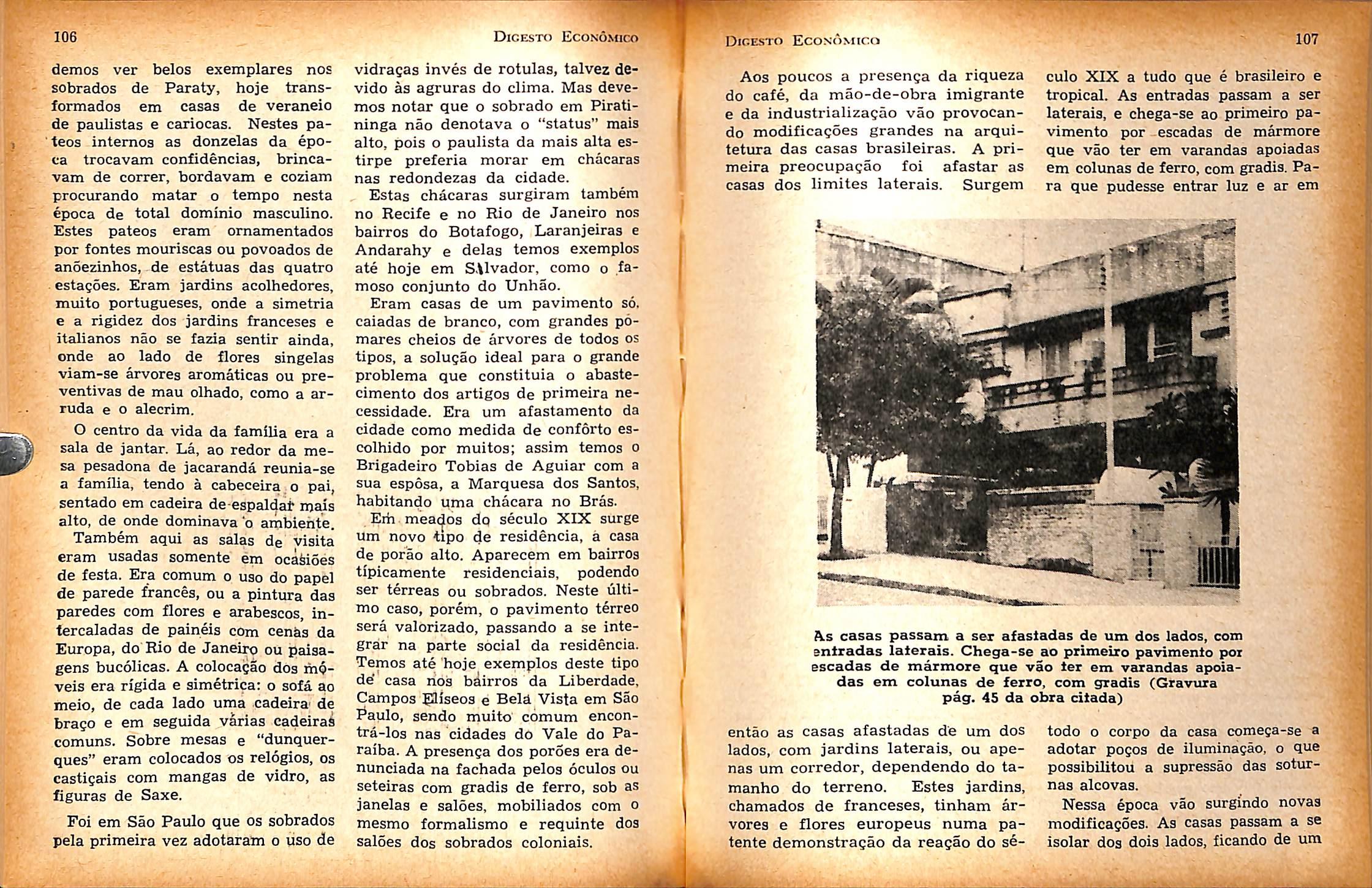
Aos poucos a presença da riqueza culo XIX a tudo que é brasileiro e do café, da mão-de-obra imigrante tropical. As entradas passam a ser e da industrialização vão provocan do modificações grandes na arqui tetura das casas brasileiras. A pri meira preocupação foi afastar as casas dos limites laterais. Surgem
laterais, e chega-se ao primeiro pa vimento por escadas de mármore que vão ter em varandas apoiadas em colunas de ferro, com gradis. Pa ra que pudesse entrar luz e ar em
As casas passam a sex afastadas de um dos lados, com entradas laterais. Chega-se ao primeiro pavimento pox escadas de mármore que vão ter em varandas apoia das em colunas de ferro, com gradis (Gravura pág. 45 da obra citada) - > então as casas afastadas de um dos lados, com jardins laterais, ou ape nas um corredor, dependendo do ta manho do terreno, chamados de franceses, tinham ár vores e flores europeus numa pa tente demonstração da reação do sé-
todo o corpo da casa começa-se a adotar poços de iluminação, o que .5 possibilitou a supressão das soturnas alcovas. .'fe'
Nessa época vão surgindo novas tq modificações. As casas passam a se isolar dos dois lados, ficando de um ^ Estes jardins,
lado, o menos nobre apenas um pequeno corredor, passagem para criados ou para entrar lenha, em ci dades onde ainda não havia gás.
de Higienópolis e Campos Elísios e o mesmo se repetia nos palácios da Avenida Paulista, em ciue a nostal gia da terra distante dos emigrantes enriquecidos se faz presente através da reprodução da arquitetura de sua terra natal, nas novas mansões onde ostentarão o novo econômico.
Devemos notar que as casas des sa época acompanhavam os limites dos terrenos e tinham as divisões in-
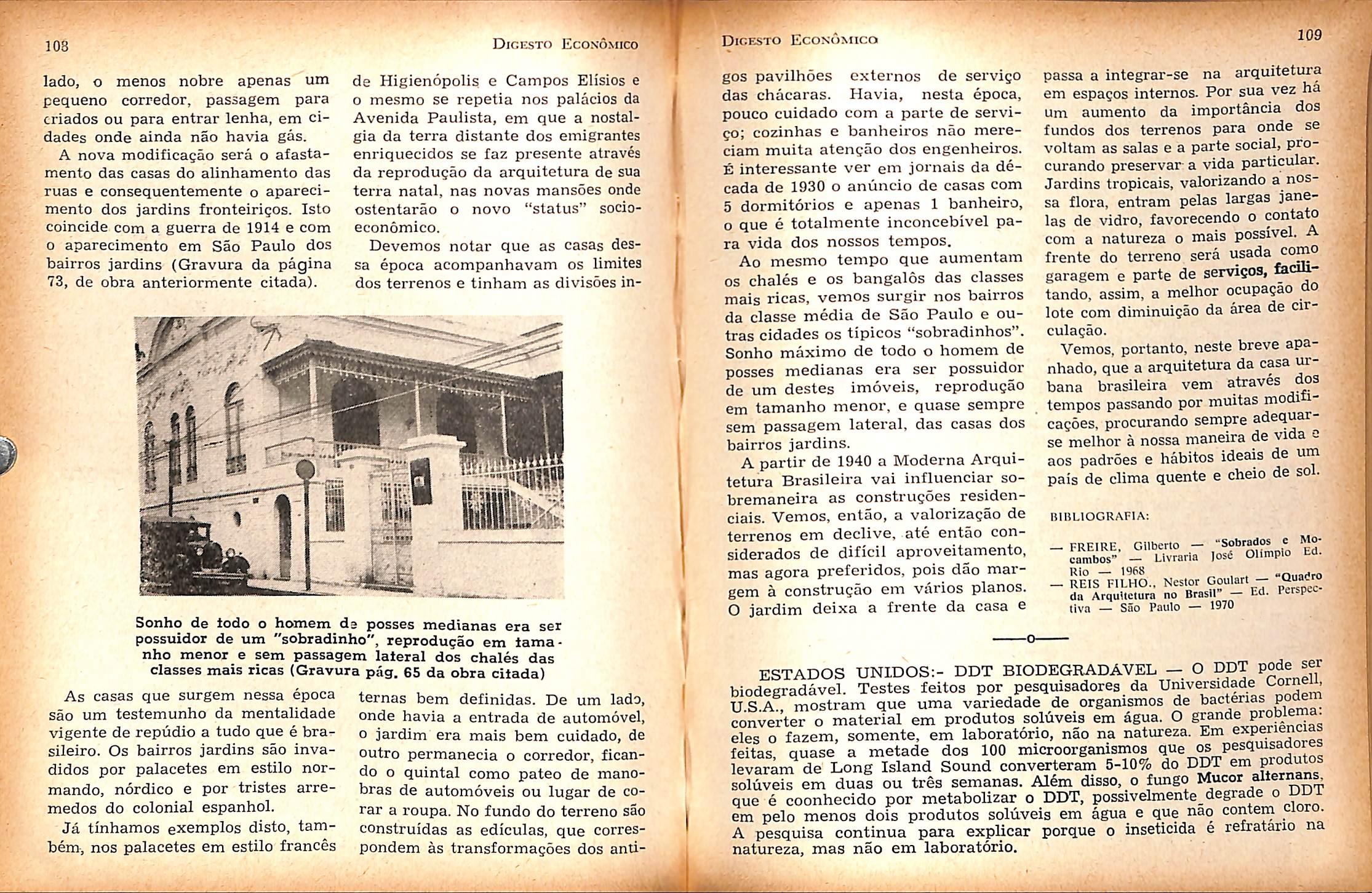
A nova modificação será o afasta mento das casas do alinhamento das ruas e consequentemente o apareci mento dos jardins fronteiriços. Isto coincide com a guerra de 1914 e com o aparecimento em São Paulo dos bairros jardins (Gravura da página 73, de obra anteriormente citada). I status” socio-
Sonho de iodo o homem de posses medianas era ser possuidor de um "sobradinho", reprodução em tama nho menor e sem passagem lateral dos chalés das classes mais ricas (Gravura pág. 65 da obra citada)
As casas que surgem nessa época são um testemunho da mentalidade vigente de repúdio a tudo que é bra sileiro. Os bairros jardins são inva didos por palacetes em estilo normando, nórdico e por tristes arre medos do colonial espanhol.
Já tínhamos exemplos disto, tam bém-, nos palacetes em estilo francês
ternas bem definidas. De um lado, onde havia a entrada de automóvel, o jardim era mais bem cuidado, de outro permanecia o corredor, fican do o quintal como pateo de mano bras de automóveis ou lugar de co rar a roupa. No fundo do terreno são construídas as edículas, que corres pondem às transformações dos anti-
gos pavilhões externos de serviço das chácaras. Havia, nesta época, pouco cuidado com a parte de servi ço; cozinhas e banheiros não mere ciam muita atenção dos engenheiros. É interessante ver em jornais da dé cada de 1930 o anúncio de casas com 5 dormitórios e apenas 1 banheiro, o que é totalmente inconcebível pa ra vida dos nossos tempos. Ao mesmo tempo que aumentam os chalés e os bangalôs das classes mais ricas, vemos surgir nos bairros da classe média de São Paulo e ou tras cidades os típicos “sobradinhos”. Sonho máximo de todo o homem de medianas era ser possuidor reprodução
um
passa a integrar-se na arquitetui*a em espaços internos. Por sua vez ha aumento da importância dos fundos dos terrenos para onde se voltam as salas e a parte social, pro curando preservar- a vida particular. Jardins tropicais, valorizando a nos sa flora, entram pelas largas janecontato
las de vidro, favorecendo o com a natureza o mais possível, frente do terreno será usada como garagem e parte de serviços, tando, assim, a melhor ocupação u lote com diminuição da área de cir culação.
Vemos, portanto, neste breve apa nhado, que a arquitetura da casa m- bana brasileira vem através dos tempos passando por muitas modifi cações, procurando sempre adequar- se melhor à nossa maneira de vida o aos padrões e hábitos ideais de um país de clima quente e cheio de sol. posses de um destes imóveis. em tamanho menor, e quase sempre passagem lateral, das casas dos bairros jardins.
A partir de 1940 a Moderna Arqui tetura Brasileira vai influenciar so bremaneira as construções residen ciais. Vemos, então, a valorização de terrenos em declive, até então con siderados de difícil aproveitamento, agora preferidos, pois dão marsem
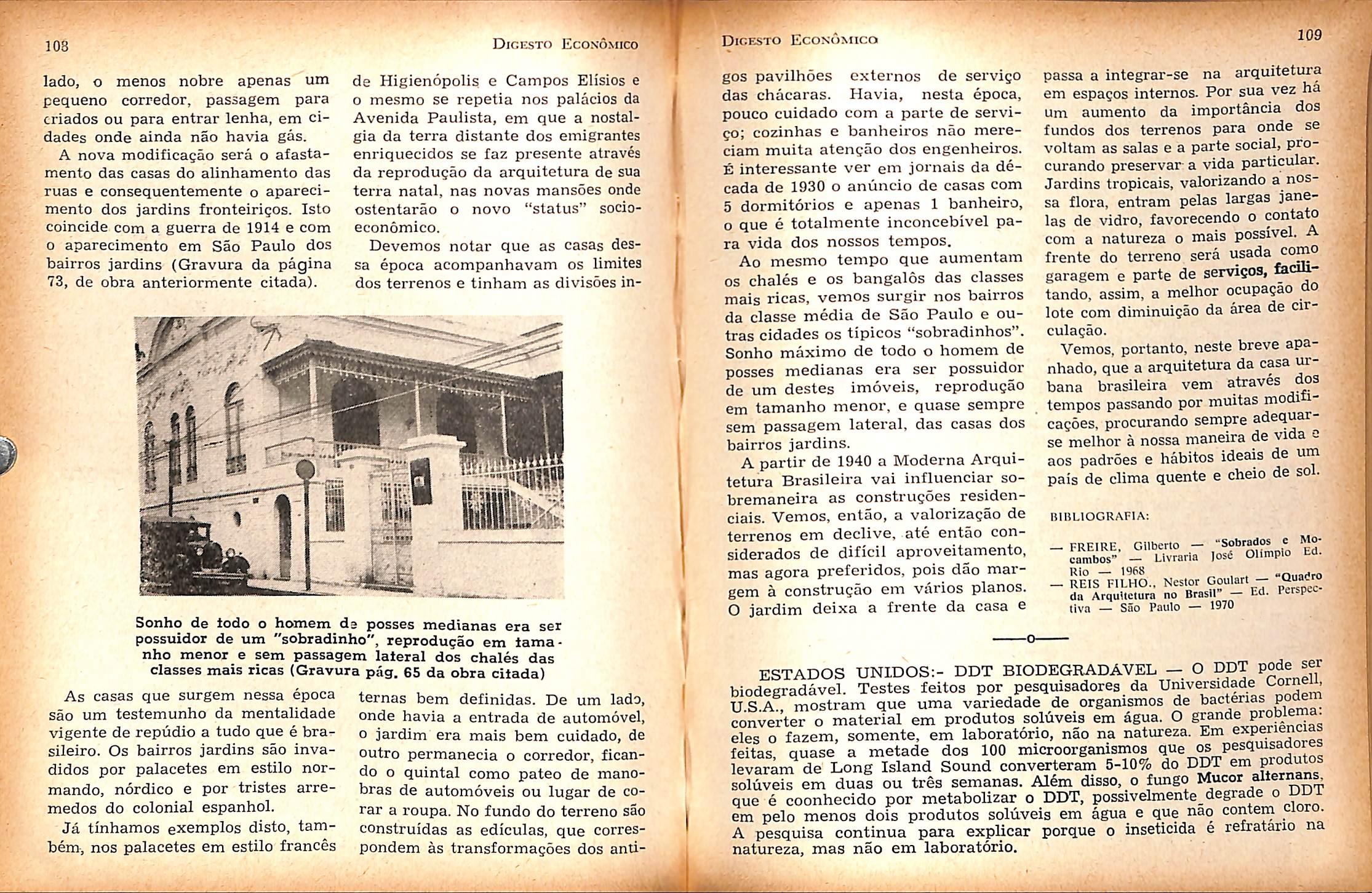
ninUOGRAFIA:
"Sobrodos c MoOlimplo td. Rio — 19f8 -Oiiadro — REIS FlU-lO.. Nestor Goulart ●- Qua<:r<> dii Arquitetura no Brasil — Ed. le P tiva — São Paulo — 1970 — FREIRE. Gilberto cnmbos" — L Livraria los^ mas gem à construção em vários planos. O jardim deixa a frente da casa e o-
- O DDT Pode ser biodegradável. Testes feitos por pesquisadores da Universidade Oorn^ USA, mostram que uma variedade de organismos de bactérias P converter o material em produtos solúveis em água. O ,.5 eles o fazem, somente, em laboratorio, nao na natureza. Em feitas quase a metade dos 100 microorganismos que ^ levaram de Long Island Sound converteram 5-10% do DDT em solúveis em duas ou três semanas. Além disso, _ o fungo ^ucor alternan^ que é coonhecido por metabolizar o DDT, possivelmente degrade ° em pelo menos dois produtos solúveis em água e que nao contem A pesquisa continua para explicar porque 0 inseticida é refx’atano na natureza, mas não em laboratório.
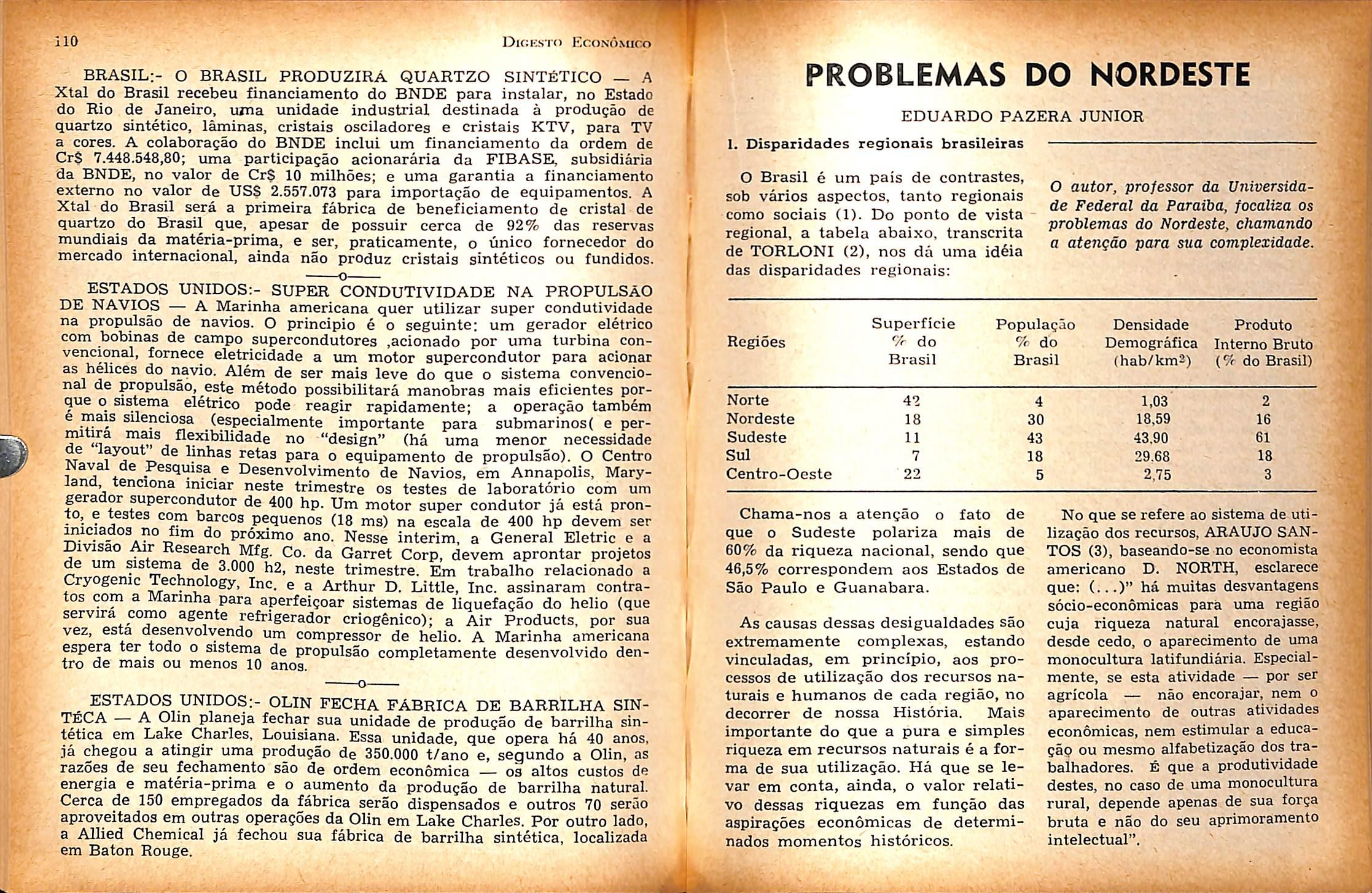
Xtal do Brasil recebeu financiamento do BNDE para instalar, no Estado do Rio de Janeiro, uma unidade industrial destinada à produção de quartzo sintético, lâminas, cristais osciladores e cristais KTV, para TV a cores. A colaboração do BNDE inclui um financiamento da ordem de CrS 7.448.548,80; uma participação acionarária da FIBASE, subsidiária da BNDE, no valor de CrS 10 milhões; e uma garantia a financiamento externo no valor de USS 2.557.073 para importação de equipamentos. A Xtal do Brasil será a primeira fábrica de beneficiamento de cristal de quartzo do Brasil que, apesar de possuir cerca de 92% das reservas mundiais da matéria-prima, e ser, praticamente, o único fornecedor do mercado internacional, ainda não produz cristais sintéticos ou fundidos.
DE NAVIOS — A Marinha americana quer utilizar super condutividade na propulsão de navios. O principio é o seguinte; um gerador elétrico com bobinas de campo supercondutores ,acionado por uma turbina con- vencional, fornece eletricidade a um motor supercondutor para acionar as helices do iiavio. Além de ser mais leve do que o sistema convencio nal de propulsão, este método possibilitará manobras mais eficientes por que o sistema elétrico pode reagir rapidamente; a operação também ® Silenciosa (especialmente importante para submarinos( e per mitira flexibilidade no “design” (há uma menor necessidade ●NT^ Imhas retas para o equipamento de propulsão). O Centro ava de Pesquisa e Desenvolvimento de Navios, em Annapolis, Mary- an , tenciona iniciar neste trimestre os testes de laboratório com um supercondutor de 400 hp. Um motor super condutor já está pron- , e s es com barcos pequenos (18 ms) na escala de 400 hp devem ser miciaaos no fim do próximo ano. Nesse interim, a General Eletric e a Divisao mr Research Mfg. Co. da Garret Corp, devem aprontar projetos *^®ste trimestre. Em trabalho relacionado a Cryogenic Technology, Inc. e a Arthur D. Little, Inc. assinaram contra tos com a Marinha para aperfeiçoar sistemas de liquefação do helio (que servira como agente refrigerador criogênico); a Air Products, por sua vez, esta desenvolvendo
, , . ^ compressor de helio. A Marinha americana espera ter todo o sistema de propulsão completamente desenvolvido den tro de mais ou menos 10 anos.
SINTÉCA A Olin planeja fechar sua unidade de produção de barrilha sin tética em Lake Charles, Louisiana. Essa unidade, que opera há 40 anos. já chegou a atingir uma produção de 350.000 t/ano e, segundo a Olin, as razões de seu fechamento são de ordem econômica — os altos custos de energia e matéria-prima e o aumento da produção de barrilha natural. Cerca de 150 empregados da fábrica serão dispensados e outros 70 serão aproveitados em outras operações da Olin em Lake Charles. Por outro lado, a Allied Chemical já fechou sua fábrica de barrilha sintética, localizada em Baton Rouge.
EDUARDO PAZERA JUNIOR
1. Disparidades regionais brasileiras
O Brasil é um pais de contrastes, sob vários aspectos, tanto regionais como sociais (1). Do ponto de vista regional, a tabela abaixo, transcrita de TORLONI (2), nos dá uma idéia das disparidades regionais:
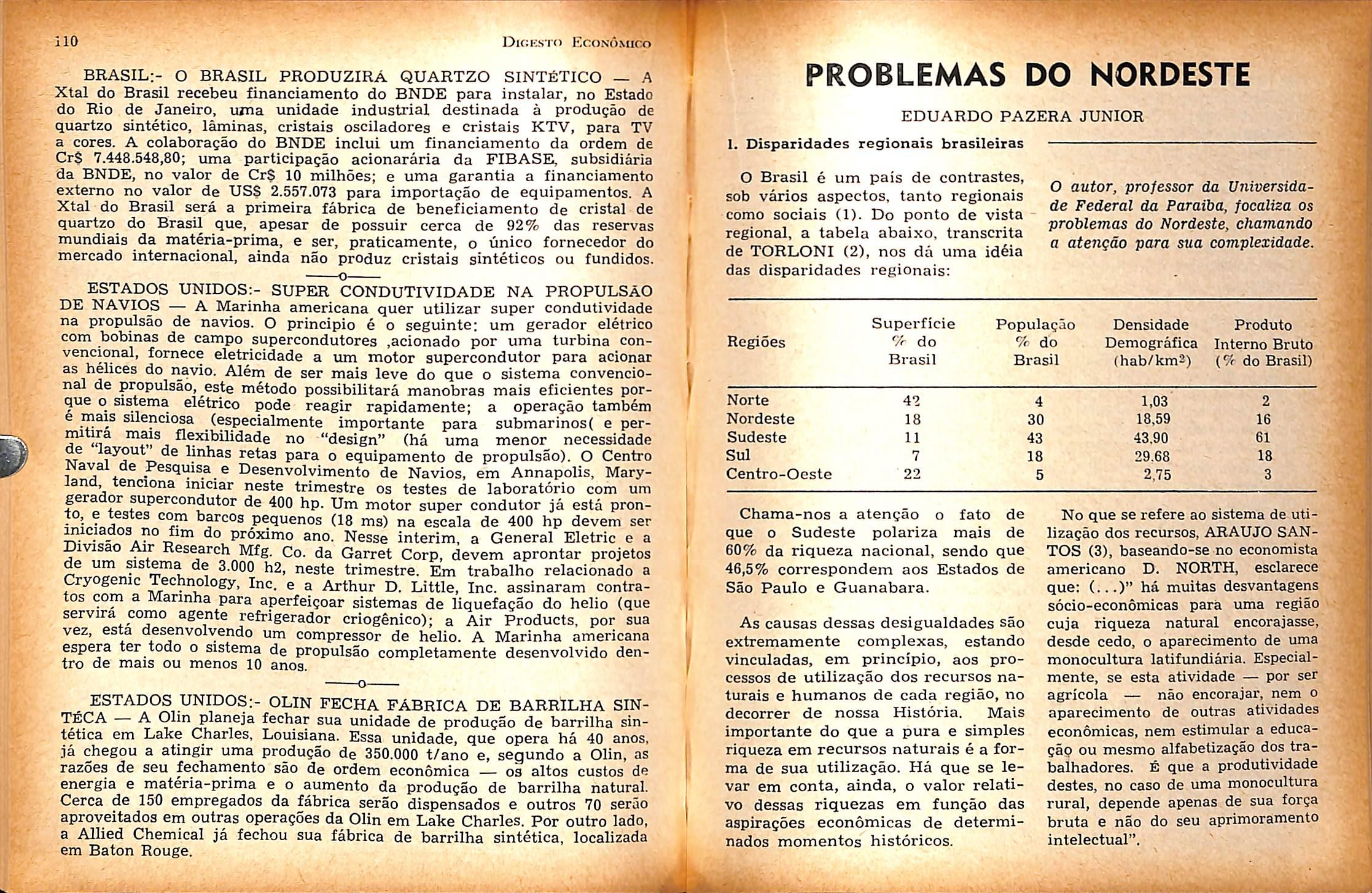
Regiões
do Brasil
O autor, pro/essor da Universida de Federal da Paraíba, focaliza os problemas do Nordeste, chamando ■ a atenção para sua complexidade.
do Brasil
Brasil)
Chama-nos a atenção o fato de que o Sudeste polariza mais de 60% da riqueza nacional, sendo que 46,5% correspondem aos Estados de São Paulo e Guanabara.
As causas dessas desigualdades são extremamente complexas, estando vinculadas, em principio, aos pro cessos de utilização dos recursos na turais e humanos de cada região, no decorrer de nossa História, importante do que a pura e simples riqueza em recursos naturais é a for ma de sua utilização. Há que se le var em conta, ainda, o valor relati vo dessas riquezas em função das aspirações econômicas de determi nados momentos históricos.
não encorajar, nem o Mais
No que se refere ao sistema de uti lização dos recursos, ARAÚJO SAN TOS (3), baseando-se no economista americano D. NORTH, esclarece que: (...)" há muitas desvantagens sócio-econômicas para uma região cuja riqueza natural encorajasse, desde cedo, o aparecimento de uma monocultura latifundiária. Especial mente, se esta atividade — por ser agrícola aparecimento de outras atividades econômicas, nem estimular a educaçãp ou mesmo alfabetização dos tra balhadores. É que a produtividade destes, no caso de uma monocultura rural, depende apenas de sua força bruta e não do seu aprimoramento intelectual”.
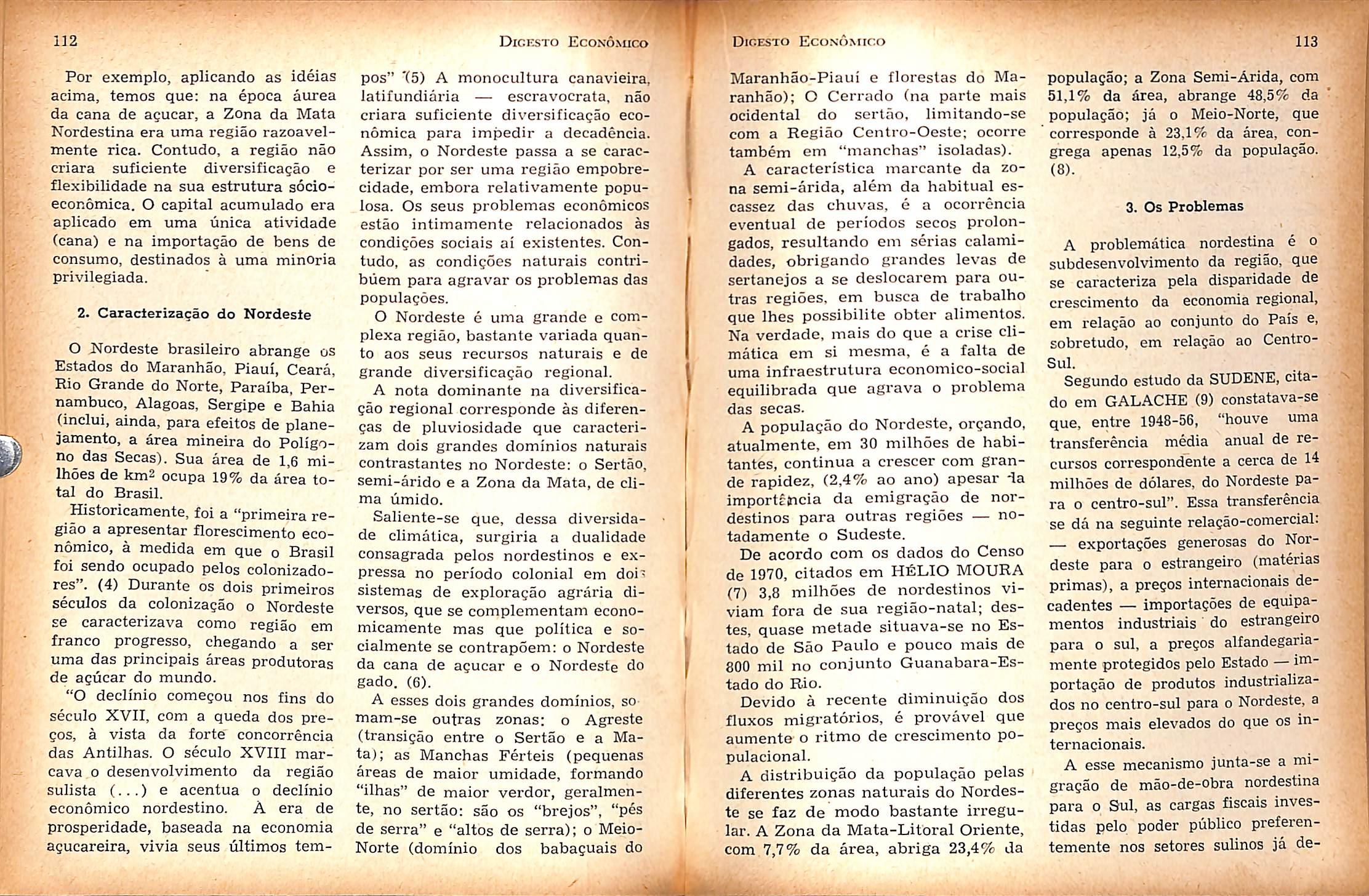
Por exemplo, aplicando as idéias acima, temos que: na época áurea da cana de açúcar, a Zona da Mata Nordestina era uma região razoavel mente rica. Contudo, a região não criara suficiente diversificação e flexibilidade na sua estrutura sócioeconômica, O capital acumulado era aplicado em uma única atividade (cana) e na importação de bens de consumo, destinados à uma minoria privilegiada.
O Nordeste brasileiro abrange os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Per nambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (inclui, ainda, para efeitos de plane jamento, a área mineira do Polígo no^ das Secas). Sua área de 1,6 mi lhões de km2 ocupa 19% da área to tal do Brasil.
Historicamente, foi a primeira re gião a apresentar florescimento nômico, à medida em que o Brasil foi sendo ocupado pelos colonizado res . (4) Durante os dois primeiros séculos da colonização o Nordeste se caracterizava como ecoregião em franco progresso, chegando a ser uma das principais áreas produtoras de açúcar do mundo.
pos” '(5) A monocultura canavieira, latifundiária criara suficiente diversificação eco nômica para impedir a decadência. Assim, o Nordeste passa a se carac terizar por ser uma região empobrecidade, embora rolativamente popu losa. Os seus problemas econômicos estão intimamenle relacionados às condições sociais aí existentes. Con tudo, as condições naturais contri buem para agravar os problemas das populações.
O Nordeste é uma grande c com plexa região, bastante variada quan to aos seus recursos naturais e de grande diversificação regional.
A nota dominante na diversifica ção regional corresponde às diferen ças de pluviosidade que caracteri zam dois grandes domínios naturais contrastantes no Nordeste; o Sertão, semi-árido e a Zona da Mata, de cli ma úmido.
Saliente-SG que, dessa diversida de climática, surgiria a dualidade consagrada pelos nordestinos e ex pressa no período colonial em doi' sistemas de exploração agrária di versos, que se complementam econo micamente mas que política e so cialmente se contrapõem: o Nordeste da cana de açúcar e o Nordeste do gado. (6).
“O declínio começou nos fins do século XVII, com a queda dos pre ços, à vista da forte concorrência das Antilhas. O século XVIII mar cava 0 desenvolvimento da região sulista (...) e acentua o declínio econômico nordestino, prosperidade, baseada na economia açucareira, vivia seus últimos tem-
À era de
A esses dois grandes domínios, so mam-se outras zonas; o Agreste (transição entre o Sertão e a Ma ta); as Manchas Férteis (pequenas áreas de maior umidade, formando “ilhas” de maior verdor, geralmen te, no sertão: são os “brejos”, “pés de serra” e “altos de serra); o MeioNorte (domínio dos babaçuais do escravocrata, não
Maranhão-Piaui e florestas do Ma ranhão); O Cerrado (na parte mais ocidental do sertão, limitando-se com a Região Contro-Oeste; ocorre também em “manchas” isoladas).
população; a Zona Semi-Árida, com 51,1% da área, abrange 48,5% da população; já o Meio-Norte, que corresponde à 23,1% da área, con grega apenas 12,5% da população.
A característica marcante da zo na semi-árida, além da habitual es cassez das chuvas, é a ocorrência eventual de períodos secos prolon gados, resultando em sérias calami dades, obrigando grandes levas de sertanejos a se deslocarem para oubusca de trabalho (8).
A problemática nordestina é subdesenvolvimento da região, que caracteriza pela disparidade de ●escimento da economia regional, 0 se tras regiões, em que lhes possibilite obter alimentos. Na verdade, mais do que a crise cli mática em si mesma, é a falta de infraestrutura economico-social ci
em relação ao conjunto do País c, sobretudo, em relação ao CentroSul. uma equilibrada que agrava o problema das secas.
A população do Nordeste, orçando, atualmente, em 30 milhões de habi-
Segundo estudo da SUDENE, cita do em GALACHE (9) constatava-se uma ‘houve que, entre 1948-56, média anual de re- transíerência cursos correspondente a cerca de H milhões de dólai*es, do Nordeste pa" ra o centro-sul”. Essa transferência se dá na seguinte relação-comercial: do Nortantes, continua a crescer com gran de rapidez, (2,4% ao ano) apesar da importância da emigração de nor destinos para outras regiões — notadamente o Sudeste.
De acordo com os dados do Censo de 1970, citados em HÉLIO MOURA (7) 3,8 milhões de nordestinos vi viam fora de sua região-natal; des tes, quase metade situava-se no Es tado de São Paulo e pouco mais de 800 mil no conjunto Guanabai*a-Estado do Rio.
Devido à recente diminuição dos fluxos migratórios, é provável que aumente o ritmo cie crescimento po pulacional.
A disUúbuição da população pelas diferentes zonas naturais do Nordes te se faz de modo bastante irregu lar. A Zona da Mata-Litoral Oriente, com 7,7% da área, abriga 23,4% da
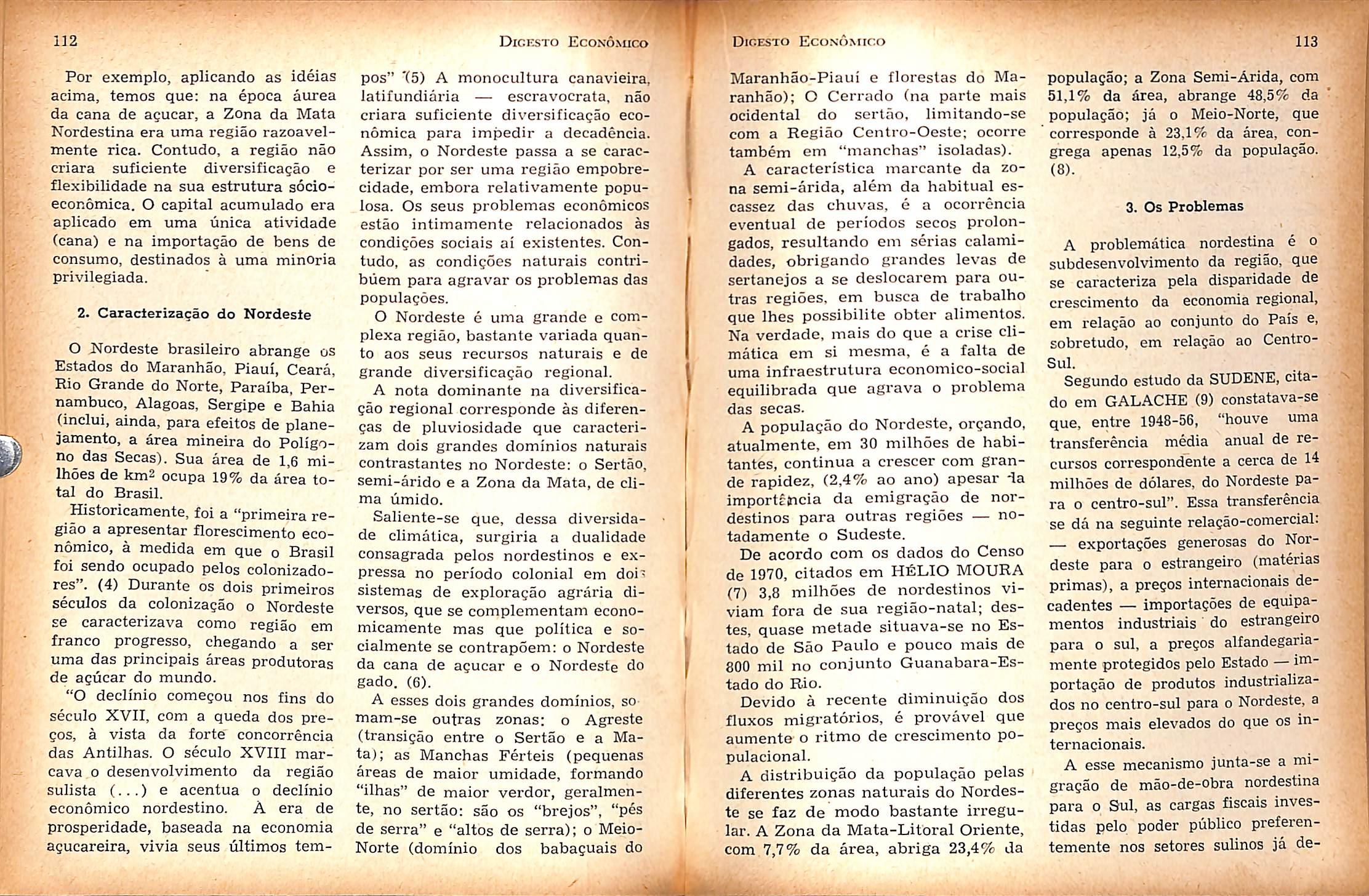
— exportações generosas estrangeiro (matérias deste para o primas), a preços internacionais de cadentes — importações de equipa mentos industriais do estrangeiro para o sul, a preços alfandegariamente protegidos pelo Estado — portação de produtos industrializa dos no centro-sul para o Nordeste, a preços mais elevados do que os in ternacionais. im-
A esse mecanismo junta-se a mi gração de mão-de-obra nordestina Sul, as cargas fiscais inves- para o tidas pelo poder público preferentemente nos setores sulinos já de-
senvolvidos, a desvalorização dos produtos agrícolas nordestinos no mercado do sul.
Assim, sob certos aspectos, o sub desenvolvimento nordestino financia 0 desenvolvimento sulista.
Por outro lado, o expressivo cres cimento industrial nordestino nos não contribuiu para últimos anos sanar todos os problemas. A nova industrialização, caracterizada pelo uso de “alta tecnologia e capital in tenso, não absorve mão-de-obra, que passa a sub-empregar-se no campo dos serviços ou fica desem pregada (...). Um processo de con centração de renda nos estratos de
Zonas

LITORAL
ORIENTAL
população mais elevados e de empo brecimento doa mais baixos é a con sequência desse novo tipo de indus trialização (...) O povo ficou mais pobre e o rico se fez mais rico, acumulando todos os benefícios da industrialização nordestina” (10).
Do ponto de vista da problemáti ca das diferentes áreas do Nordeste, transcrevemos a seguir um trecho de estudo de 1972, elaborado por uma comissão da ARENA (11).
‘‘O quadro abaixo nos dá, segundo a SUDENE, o resumo dos problemas das 4 principais Zonas, ocupando 92,2% da área total e tendo 96% da população da Região:
Problemas
a) Áreas metropolitanas
— gigantismo urbano;
— deficiência dos serviços básicos;
— incapacidade de absorção da mão-de-obra marginal, por parte da indústria e dos serviços, b) Zonas rurais
— monocultura canavieira e cacaueira;
— organização agrária do tipo “plantation”;
— baixo nível de tecnologia agrícola;
— estrutura fundiária caracterizada por elevado número de latifúndios ociosos ou subaproveitados;
E DA com MATA
— elevado grau de concentração de renda grandes contingentes populacionais de baixo po der aquisitivo, o que limita a expansão de mer cado interno;
— ausência de alternativas de trabalho, 'dado P caráter monocultor da agricultura, levando à prolétarização e desruralização de trabalhador, à acentuação da monocultura, à redução das pos sibilidade de aumento da produção de alimen tos e à migração para os aglomerados urbanos de maior porte.
A-GRESTE

a) Áreas metropolitanas ( — os da Sub-Região da Mata (atenuados). ^
b) Áreas rurais
j
— sistema agrícola primitivo e extensivo, com bai- ^ xa produtividade (apenas escassamente aparecem áreas de lavoura intensiva);
— estrutura fundiária geralmente heterogênea^, co- h existência do latifúndio e minifúndio; í
— baixos padrões sócio-culturais, com barreiras à ' i melhoria dos processos produtivos e de organi- ^ zação das comunidades. 1 DO
— baixos níveis de renda, resultantes da explora- 4 ção de glebas de tamanho insuficiente para manutenção das famílias, com redução das receitas * dos agricultores, devido ao pagamento relativa- A mente elevado pela utilização de terra e vícios e distorções no sistema de comercialização; t
a) Áreas metropolitanas s
— idênticos aos da Sub-Região do Litoral e sími- « les aos da Sub-Região Mata.
b) Ái*eas rurais ú
— sistema agrícola mais que primitivo, com pequena produtividade;
— enorme dependência dos fatores climáticos, com ] o domínio de complexo pecuária/algodão — cul- j tura de subsistência;
— escassez de terras aptas à agricultura; solos 'i rasos; \
— estrutura rural arcaica; ò
— ínfimo grau de capitalização da economia; '●
— insuficiência de insumos e implementos agríco- j Ias, com uso de sementes não selecionadas; ,1
I
— atividades industriais de mínima importância, limitando-se, praticamente, ao aproveitamento do algodão (têxtil) citicica, mamona. ■, ●i,
— culturas rudimentares, embora sem sujeição às alternativas climáticas, com baixa rentabilidade;
— extrativismo com métodos pré-históricos;
— infra-estrutura de transporte não consolidada.
..U.
que de problemas regionais especí ficos, a exemplo do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
e tnuitos outros organismos.
“A primeira entidade federal en carregada de executar politica de desenvolvimento regional foi a Codo Vale do São Francisco, 4. As tentativas de desenvolvimento
O processo clássico fe espontâneo) de tentativa de equilíbrio entre as regiões tem sido o processo migra tório. A tendência mais frequente das migrações é a de encaminhar pessoas de regiões de salários bai xos para as regiões de salários mais altos.
tt ... se OS residentes das regiões pobres necessitam das oportunidades oferecidas pelas regiões ricas, estas necessitam também da mão-de-obra vinda das regiões pobres”. (...)
As ondas migratórias não só re solvem o problema pessoal dos que emigram. Resolvem, também os pro blemas econômicos das áreas mais ricas para onde a mão-de-obra se dirige”. (13)
Não obstante, não fica resolvido o problema da área de emigração, em bora pessa ser um pouco atenuado.
Muitos mecanismos visam a corri gir os desequilíbrios regionais, des de as várias políticas de incentivos fiscais aos organismos regionais e complexos programas de âmbito nacicnal.
O governo federal manifesta, há muito, sua preocupação com os pro blemas regionais.
As primeiras tentativas de solução orientam-se, todavia, para o enfo-
missao instituída pela Lei 541, de 15-121948. Tinha autonomia financeira e administrativa e era subordinada di retamente ao Presidente da Repúbli ca.” (14)
Mas, o primeiro órgão de grande vulto de que se valeu a União para realizar um programa global de de senvolvimento regional, no caso, no Nordeste, foi a SUDENE (sua cria ção deu-se com a Lei 3.692, de 1512-59). Seus objetivos básicos são:
‘*a) estudar e propor diretrizes padesenvolvimento do nordeste;
ra o b) supervisionar, coordenar e con trolar a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos federais na região, que se relacionam espe cíficamente com o seu desenvolvi mento; c) executar diretamente, ou mediante convênio, acordo ou con¬ trato, os projetos relativos ao de senvolvimento do nordeste que lhe forem atribuídos” (15). Os planos di retores da SUDENE visam a inten sificar e racionalizar os investimen tos de infra-estrutura e dinamizar a empresa privada, através dos recur sos oriundos dos incentivos fiscais conhecidos por 34/18.
REFERENCIAS BIIILIOGRAITCAS
(1) BASTI DE, Roger Conirastcs, l-itl. S, Paulo. 196U.
(2) TORLONI. Hilário blcmas Brasileiros — neira, S. Paulo, 1972. Brasil, País úc Difusão Européia do Livro, Estudo dc Prop. 60, Livraria Pio*

Os problemas da Zona de Man chas Férteis são semelhantes aos da Zona da Mata, e os da do Cerrado ainda não estão bem equacionados, por se tratar do maior vazio demo gráfico de todo o Nordeste”. (12) I

(3) SANTOS, 1-rancibco de Araújo — "Dis paridades Regionais e Desigualdades Socio- Econômicas", in Hrasil. Realidade c Desen volvimento, p. 25Ü, lúl. Sugestões Literarias, S. Paulo. 1972.
Rio. GUIDO
Desenvolvimento, p. S. Paulo, 1972.
"Nordeste", in 15Ü, A
As viiriaçõcs mi194Ü, 197Ü
(4) BERNARDES. Nilo — Üeografiü II, p. 127, Ed. Liceu. (5) FIDELIS. Brasil. Realidade e Ed. Sugestões Literarias. (6) ANDRADE. Manoel Correia de Tcrra c o Homem uo Nordeste — Ed. Urusilicnsc. S. l’aulü. 1964. (7) .MOURA. Hélio gratórias no Nordeste 11-13, Seminário gional. Ministério do Planejamento. 1972.
Sohrc DcscnvülvImctUü Rchrasilin, p.
^S) ARENA (Aliança Renovadora Nacional) Comissão Coordenadora dc Estudos do Nordeste (COCEME), Estudo n.o 1 — “Me didas e Propostas para o Desenvolvimento do Nordeste e sua Integração à Economia Nacional", p. 61 — Brasília, 1971.
— Brasil 336, Ed. (9) GALACHE. G. (c) ANDRÉ, M. Processo c Integração, p. 335 — Loyola, S. Paulo. 1972. (10) id., ib.. p. 538-339. (11) ARENA — op. cil., p. 62-6J. (12) id., ib., 62-63. (13) SANTOS — op. cU., p. 2jj. (14) "O Brasil cresce" — Suplemento Es pecial da revista Realidade, p. 88 — Ed. Abril, S. Paulo, julho 1970. (15) id. ib., p. 89.
Um processo de remoção de fósforo originalmente recebido com ceUcis- mo será comerciado pela União Carbide Corp. dos U.S.A. O processo PhoStrip patenteado pela Biospheries Inc. é um sistema pelo qual bactérias om uma estação de tratamento de esgotos de lama ativada, podem ser induzidas a ingerir, através de arejamento extra, mais fosfato do que precisam para o crescimento e a reprodução. As bactérias então devol vem este fosfato extra (‘‘de luxo)) sob condições anaeróbicas à solução supernadante, da qual é precipitado. O processo PhoStrip, que foi anun ciado pela primeira vez em junho de 1965, pareceu ser ineficiente duran te os testes, em 1968, an estação de tratamento de esgotos do distrito sa nitário de Manassas (Virgínia). O projeto em Manassas, contudo, não inunidade cluía um tanque de separação anaeróbica que se afirma ser uma necessária. o-
A indústria da alimentação é única sob muitos aspectos, mas, principal mente, pela variedade e multiplicidade de produtos que manufatura, de senvolve e comercializa. Os produtos alimentícios surgem e desapare cem com rapidez crescente e muitos dos artigos expostos nos supermer cados hoje, não mais são encontrados daqui a três anos, e, alguns, nem mesmo daqui a três meses. É interessante observar-se, comparativamen- te, que o conceito de produtos de proteína vegetal data de mais de cem anos e que faltam apenas 5 anos para o centésimo aniversário da primena proteína vegetal similar à carne.
Os tambores de plástico, que foram bem aceitos na Europa, parecem estar quase pron tos para desafiar o aço no mercado de tambores de 55 galões dos Estados Unidos. O Departamento de Transportes está terminando os detalhes de seu contrato com o National Bureau of Standards para o desenvolvimento de critérios para embalagem plástica de materiais perigosos. Será avaliado o desempenho dos tambores de plástico. O Steel Shipping Container Institute introduziu emenda nos seus estatutos, em julho, a fim de admitir fabricantes de baldes, barris e tambores de plásticos como membros asso ciados. E a Society of the Plastics Industry organizou o Plastic Drum Institute no princípio deste ano. Os tambores feitos de polietileno de alta den sidade, de alto peso molecular, têm distintas vantagens sobre o aço, se gundo vários fabricantes de recipientes. Eles têm maior resistência ao im pacto, pesam menos, não enferrujam, não exigem revestimento interno ou externo, e podem ser mais facilmente reciclados. O custo do tambor de plástico é mais ou menos o mesmo que o de um tambor de aço com reves timento interno. As siderúrgicas, enquanto isso, estão sendo forçadas a instalar dispositivos de controle de poluição e terão de transferir esses custos. Um fabricante de tambores de plástico prediz que, dentro de três anos, os tambores de plástico terão pelo menos 10% — e possivelmente um terço do mercado de tambores novos. (Com base em cifras do Departa mento de Comércio, cerca de 25 milhões de tambores novos feitos cada ano), um preço méí^o de cerca de USS 15,00/tambor, esse é um mercado em poten^cial de mais de USS 110 milhões. E é um mercado para cerca de 150 milhões de libras de resina de alto peso molecular, com base no uso de 20 libras/tambor.
os
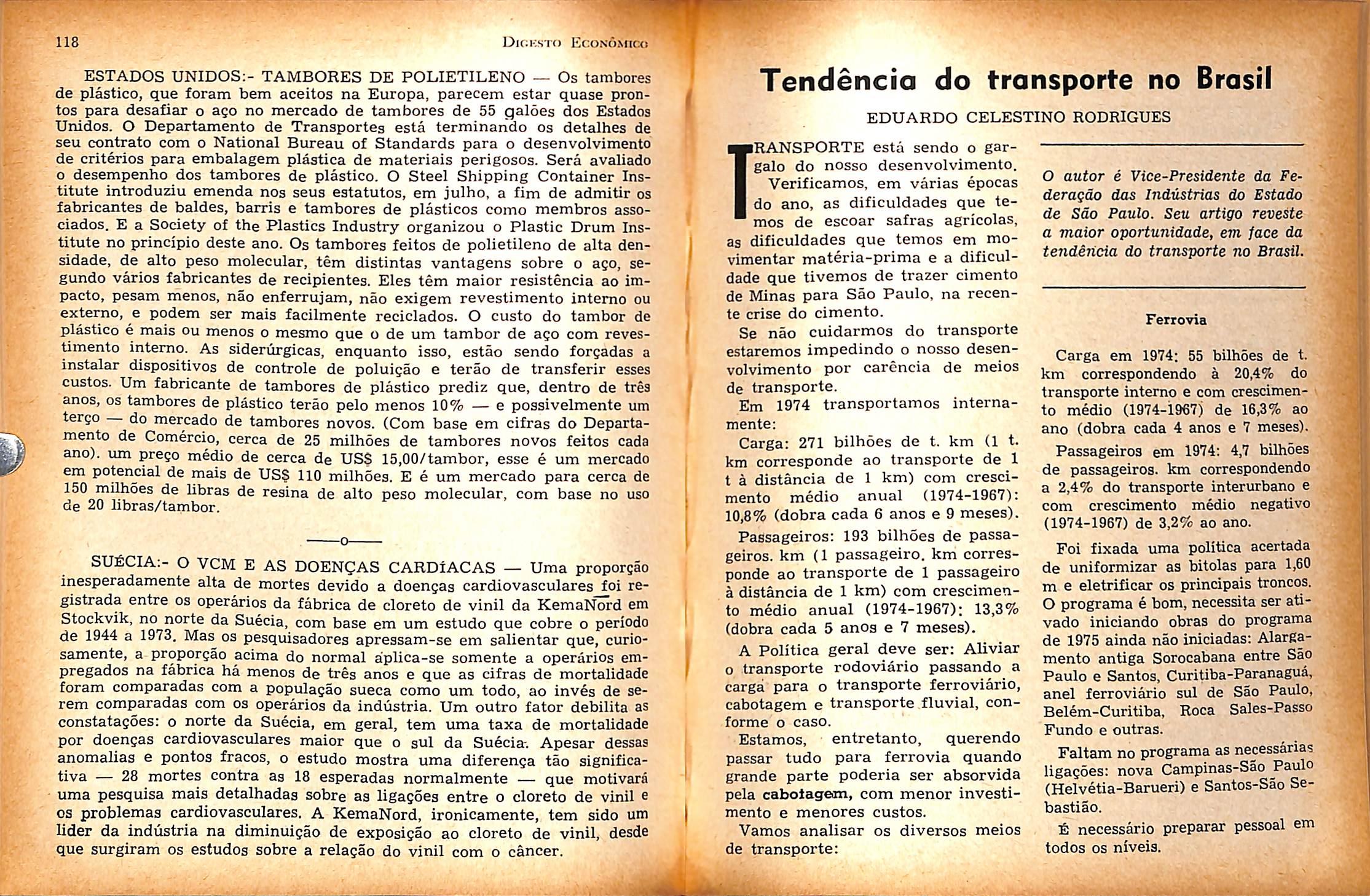
cloreto de vinil, desde ao
SUÉCIA:- O VCM E AS DOENÇAS CARDÍACAS — Uma proporção inesperadamente alta de mortes devido a doenças cardiovasculares foi re gistrada entre os operários da fábrica de cloreto de vinil da KemaNord em Stockvik, no norte da Suécia, com base em um estudo que cobre o período de 1944 a 1973. Mas os pesquisadores apressam-se em salientar que, curio samente, a proporção acima do normal áplica-se somente a operários em pregados na fábrica há menos de três anos e que as cifras de mortalidade foram comparadas com a população sueca como um todo, ao invés de se rem comparadas com os operários da indústria. Um outro fator debilita as constatações: o norte da Suécia, em geral, tem uma taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares maior que o sul da Suécia-. Apesar dessas anomalias e pontos fracos, o estudo mostra uma diferença tão significa tiva — 28 mortes contra as 18 esperadas normalmente — que motivará uma pesquisa mais detalhadas sobre as ligações entre o cloreto de vinil e os problemas cardiovasculares. A KemaNord, ironicamente, tem sido um lider da indústria na diminuição de exposição que surgiram os estudos sobre a relação do vinil com o câncer.
EDUARDO CELESTINO RODRIGUES
RANSPORTE está sendo o gar galo do nosso desenvolvimento.
Verificamos, em várias épocas do ano, as dificuldades que te mos de escoar safras agrícolas, as dificuldades que temos em mo vimentar matéria-prima e a dificul dade que tivemos de trazer cimento de Minas para São Paulo, na recen te crise do cimento.
Se não cuidarmos do transporte estaremos impedindo o nosso desen volvimento por carência de meios de transporte.
Em 1974 transportamos interna mente:
Carga: 271 bilhões de t. km (1 t. km corresponde ao transporte de 1 t à distância de 1 km) com cresci mento médio anual 10,8% (dobra cada 6 anos e 9 meses).
Passageiros: 193 bilhões de passa geiros. km (1 passageiro, km corres ponde ao transporte de 1 passageiro à distância de 1 km) com crescimen to médio anual (1974-1967): 13,3% (dobra cada 5 anos e 7 meses).
O autor é Vice-Presidente da Fe deração das Indústrias do Estado de São Paulo. Seu artigo reveste a maior oportunidade, em face da ● tendência do transporte no Brasil.
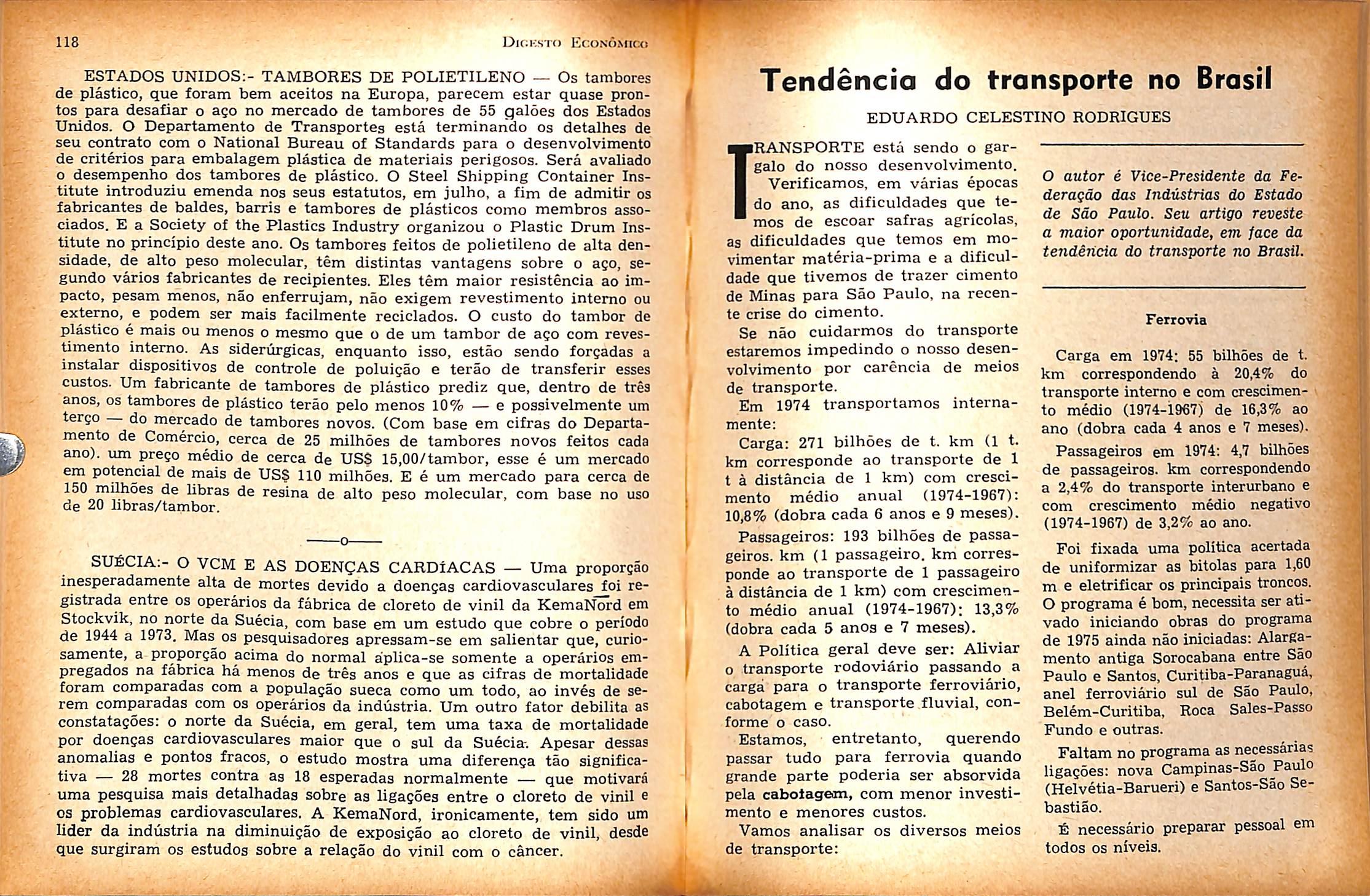
Ferrovia
Carga em 1974: 55 bilhões de t. J km correspondendo à 20,4% do ji transporte interno e com crescimen- to médio (1974-1967) de 16,3% ao ^ ano (dobra cada 4 anos e 7 meses). j
Passageiros em 1974: 4,7 bilhões .J de passageiros, km correspondendo ^ a 2,4% do transporte interurbano e 'á com crescimento médio negativo J (1974-1967) de 3,2% ao ano. !
(1974-1967): m
A Política geral deve ser: Aliviar 0 transporte rodoviário passando a carga para o transporte ferroviário, cabotagem e transporte fluvial, con forme o caso.
Estamos, entretanto, querendo passar tudo para ferrovia quando grande parte poderia ser absorvida pela caboiagem, com menor investi mento e menores custos.
Vamos analisar os diversos meios de transporte:
Foi fixada uma política acertada ^ de uniformizar as bitolas para 1,60 ^ e eletrificar os principais troncos. O programa é bom, necessita ser ativado iniciando obras do programa !| de 1975 ainda não iniciadas: Alarga- j mento antiga Sorocabana entre São / Paulo e Santos, Curitiba-Paranaguá, ... anel ferroviário sul de São Paulo, Belém-Curitiba, Roca Sales-Passo Fundo e outras.
Faltam no programa as necessárias ligações: nova Campinas-São J^aulo (Helvétia-Barueri) e Santos-São Se bastião.
É necessário preparar pessoal em todos os níveis.
Rodovia
Carga em 1974: 186 bilhões de t. km correspondendo a 68,6% do transporte interno e com crescimen to médio (1974-1967) de 10,5% ano (dobra cada 6 anos e 11 meses).
Passageiros em 1974: 184 bilhões de passageiro, km correspondendo a 95,3% do transporte interurbano ou quase a totalidade e com crescimen to médio (1974-1967) de 14,1% ano (dobra cada 5 anos e 3 meses).
A rodovia não é o vilão no consu mo de derivado de petróleo. Trans porte absorve menos de 57% dos de rivados de petróleo consumidos, do que a rodovia menos de 52%.
sen-
4. Ser o principal meio de trans porte de passageiros.
Fluvial
Carga em 1974: 1.436.570 t. km correspondendo a 0,0005% do trans porte interno ou praticamente zero e com crescimento médio 6,5% ao ano.
Passageiro em 1974: praticamente zero.
O II PND prevê a construção de 489 navios com 206.000 t. destinadas à navegação fluvial.
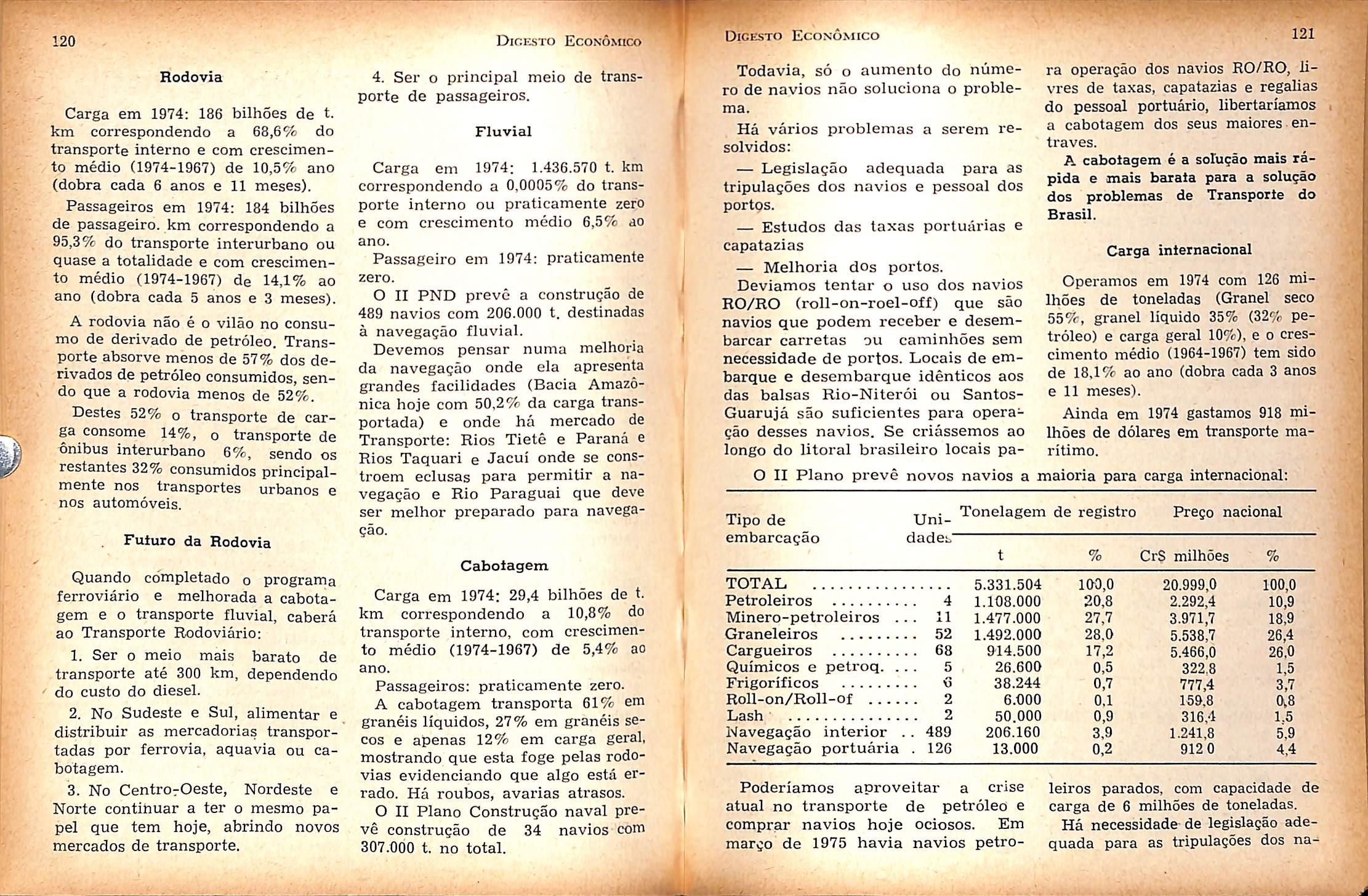
sendo os
Destes 52% o transporte de car ga consome 14%, o transporte de ônibus interurbano 6%, restantes 32% consumidos principal mente nos transportes urbanos e nos automóveis.
Futuro da Rodovia
Quando completado o programa ferroviário e melhorada a cabota gem e o transporte fluvial, caberá ao Transporte Rodoviário:
1. Ser 0 meio mais barato de transporte até 300 km, dependendo do custo do diesel.
2. No Sudeste e Sul, alimentar e distribuir as mercadorias transpor tadas por ferrovia, aquavia ou ca botagem.
3. No CentrorOeste, Nordeste e Norte continuar a ter o mesmo pa pel que tem hoje, abrindo novos mercados de transporte.
Devemos pensar numa melhoria da navegação onde ela apresenta grandes facilidades (Bacia Amazô nica hoje com 50,2% da carga trans portada) e onde há mercado de Transporte: Rios Tietê e Paraná e Rios Taquari e Jacuí onde se cons tróem eclusas para permitir a na vegação e Rio Paraguai que deve ser melhor preparado para navega ção.
Cabotagem
Carga em 1974; 29,4 bilhões de t. 10,8% do km correspondendo a transporte interno, com crescimen to médio (1974-1967) de 5,4% ao ano.
Passageiros: praticamente zero. A cabotagem transporta 61% em granéis líquidos, 27% em granéis se cos e apenas 12% em carga geral, mostrando que esta foge pelas rodo vias evidenciando que algo está er rado. Há roubos, avarias atrasos.
O II Plano Construção naval pre vê construção de 34 navios com 307.000 t. no total.
Todavia, só o aumento do núme ro de navios não soluciona o proble ma.
Há vários problemas a serem re solvidos:
— Legislação adequada para as tripulações dos navios e pessoal dos portos.
— Estudos das taxas portuárias e capatazias
— Melhoria dos portos.
Devíamos tentar o uso dos navios RO/RO (roll-on-roel-off) que são navios que podem receber e desem barcar carretas ou caminhões sem necessidade de portos. Locais de em barque e desembarque idênticos aos das balsas Rio-Niterói ou SantosGuarujá são suficientes para opera ção desses navios. Se criássemos ao longo do litoral brasileiro locais pa-
ra operação dos navios RO/RO, li vres de taxas, capatazias e regalias do pessoal portuário, libertaríamos a cabotagem dos seus maiores en traves.
A cabotagem é a solução mais rá pida e mais barata para a solução dos problemas de Transporte do Brasil.
Operamos em 1974 com 126 mi lhões de toneladas (Granel seco 55%-, granel líquido 35% (32% pe tróleo) e carga geral 10%), e o cres cimento médio (1964-1967) tem sido de 18,1% ao ano (dobra cada 3 anos e 11 meses).
Ainda em 1974 gastamos 918 mi lhões de dólares em transporte ma rítimo.
O II Plano prevê novos navios a maioria para carga internacional:
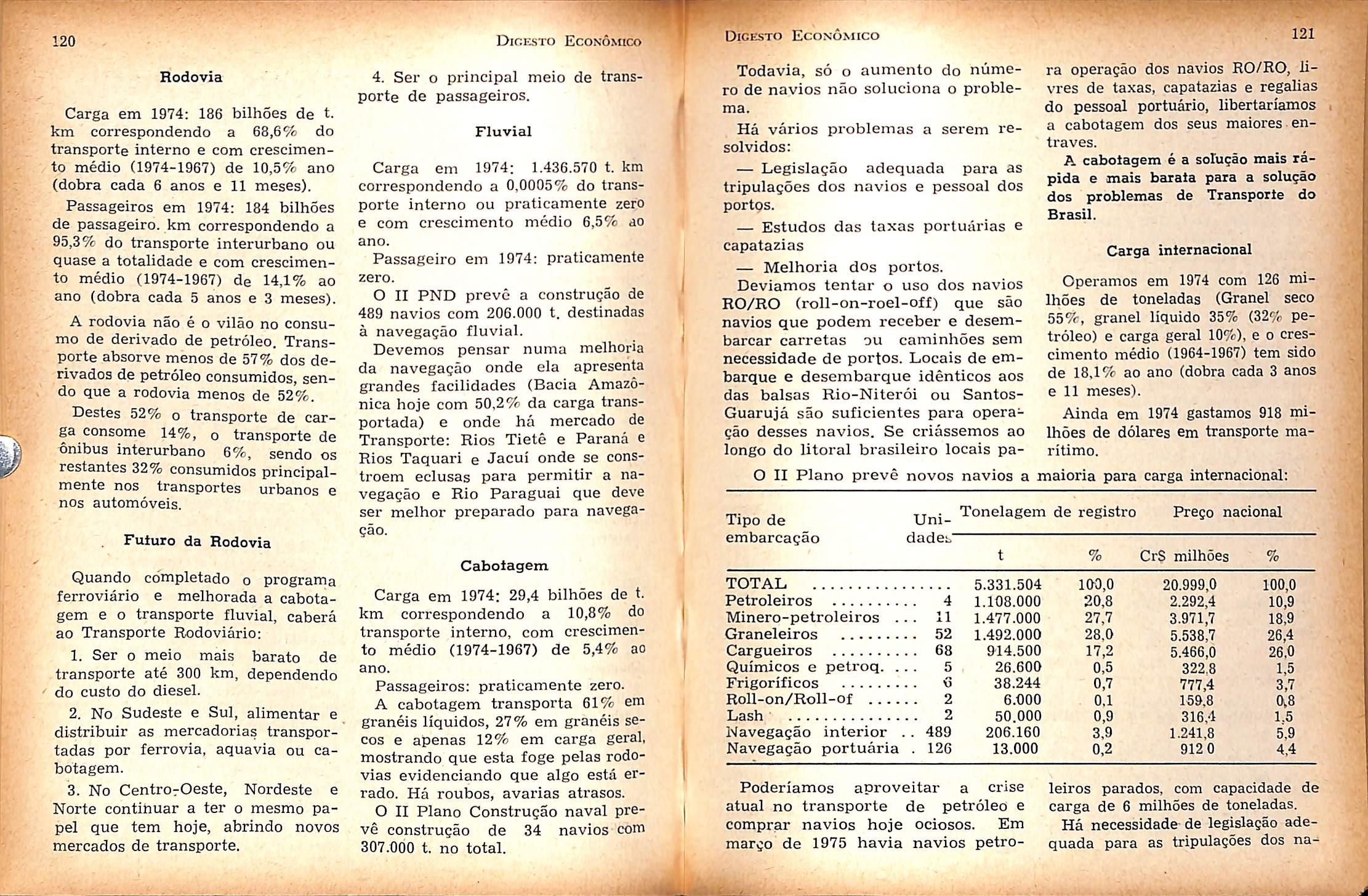
Petroleiros
Minero-petroleiros .. .
Graneleiros
Cargueiros
Lash ■
Navegação interior . . 489
Navegação
Poderiamos aproveitar a crise atual no transporte de petróleo e comprar navios hoje ociosos. Em março de 1975 havia navios petro¬ leiros parados, com capacidade de carga de 6 milhões de toneladas. Há necessidade de legislação ade quada para as tripulações dos na-
vios. Há navios brasileiros do pró prio governo registrados na Libéria para fugir à nossa legislação! Não é mais fácil mudar a legislação?
Movimentamos 176 milhões de to neladas em 1974 com crescimento médio (1974-1967) de 16,5% ao ano (dobra cada 4 anos e 6 meses). O II
PND como vimos prevê compra de grandes petroleiros e graneleiros e devemos operar com grandes navios porta-containers; todavia temos por tos para petroleiros até 500.000 t- e graneleiros de minério de ferro fal tando, todavia, bons portos para grandes graneleiros (profundidade 24 metros que os atuais portos não têm) de cereais e .grandes navios porta-containers (grande espaço pa ra manobra que os atuais portos não tem). Os portos atuais devem ficar para cabotagem, carga geral inter-
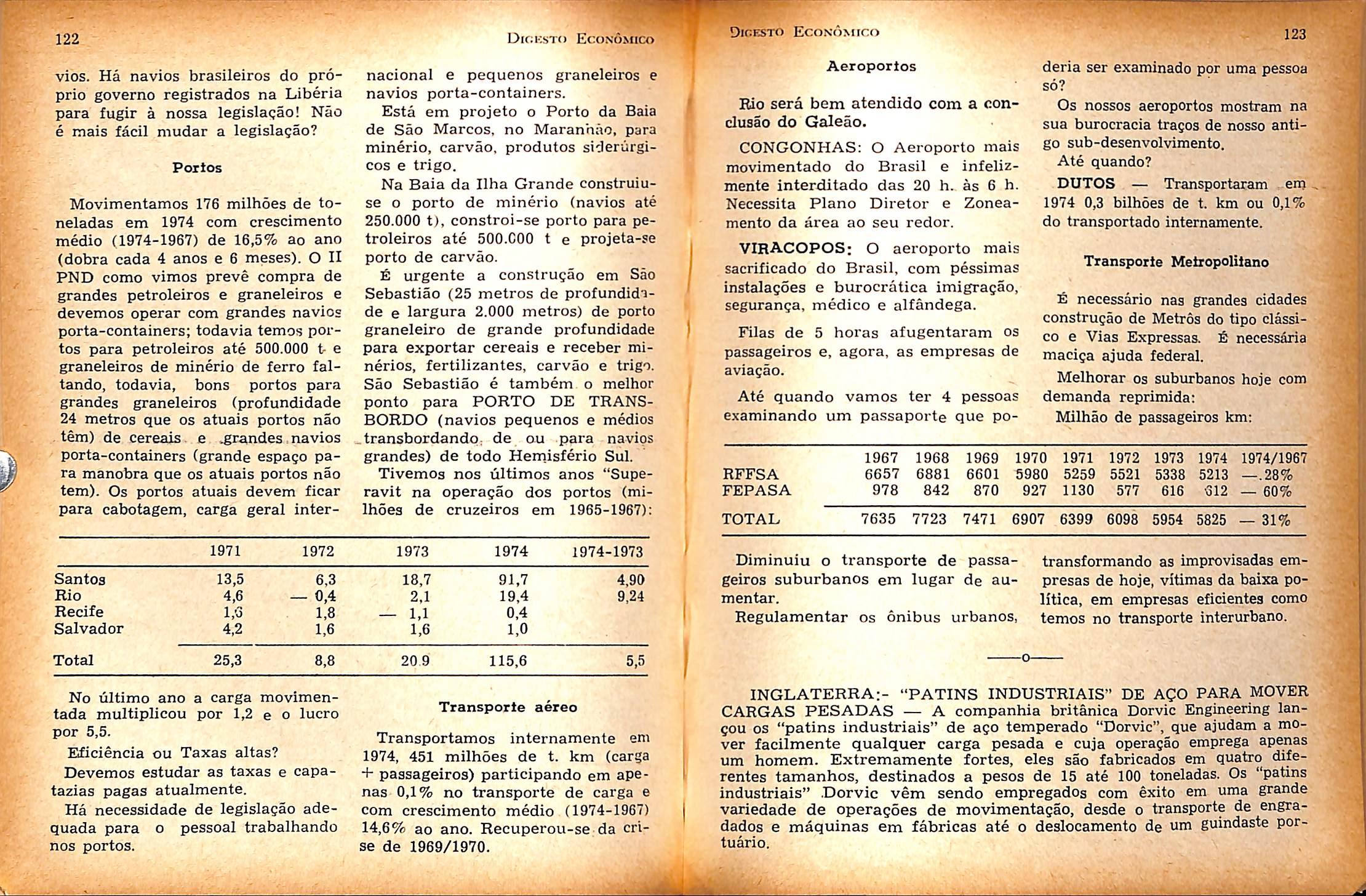
No último ano a carga movimen tada multiplicou por 1,2 e o lucro por 5,5.
Eficiência ou Taxas altas?
Devemos estudar as taxas e capatazias pagas atualmente.
Há necessidade de legislação ade quada para o pessoal trabalhando nos portos.
nacional e pequenos graneleiros e navios porta-containers.
Está em projeto o Porto da Baia de São Marcos, no Maranhão, para minério, carvão, produtos siderúrgi cos e trigo.
Na Baia da Ilha Grande construiuse o porto de minério (navios até 250.000 t), constroi-se porto para pe troleiros até 500.COO t e projeta-se porto de carvão.
É urgente a construção em São Sebastião (25 metros de profundida de e largura 2.000 metros) de porto graneleiro de grande profundidade para exportar cereais e receber mi nérios, fertilizantes, carvão e trigo. São Sebastião é também o melhor ponto para PORTO DE TRANS BORDO (navios pequenos e médios transbordandO: de ou para navios grandes) de todo Hemisfério Sul.
Tivemos nos últimos anos “Supe rávit na operação dos portos (mi lhões de cruzeiros em 1965-1967):
Transporte aéreo
Transportamos internamente en\ 1974, 451 milhões de t. km (carga + passageiros) participando em ape nas 0,1% no transporte de carga e com crescimento médio (1974-1967) 14,6% ao ano. Recuperou-se da cri se de 1969/1970.
Aeroportos
Rio será bem atendido com a con clusão do Galeão.
CONGONHAS: O Aeroporto mais movimentado do Brasil e infeliz mente interditado das 20 h. às 6 h. Necessita Plano Diretor e Zoneamento da área ao seu redor.
VIRACOPOS: O aeroporto mais sacrificado do Brasil, com péssimas instalações e burocrática imigração, segurança, médico e alfândega.
Filas de 5 horas afugentaram os passageiros e, agora, as empresas de aviação.
Até quando vamos ter 4 pessoas examinando um passaporte que po-
deria ser examinado por uma pessoa só?
Os nossos aeroportos mostram na sua burocracia traços de nosso anti go sub-desenvolvimento.
Até quando?
DUTOS Transportaram em 1974 0,3 bilhões de t. km ou 0,1% do transportado internamente.
Transporie Meiiopolilano
É necessário nas grandes cidades construção de Metrôs do tipo clássi co e Vias Expressas. Ê necessária maciça ajuda federal.
Melhorar os suburbanos hoje com demanda reprimida: Milhão de passageiros km:
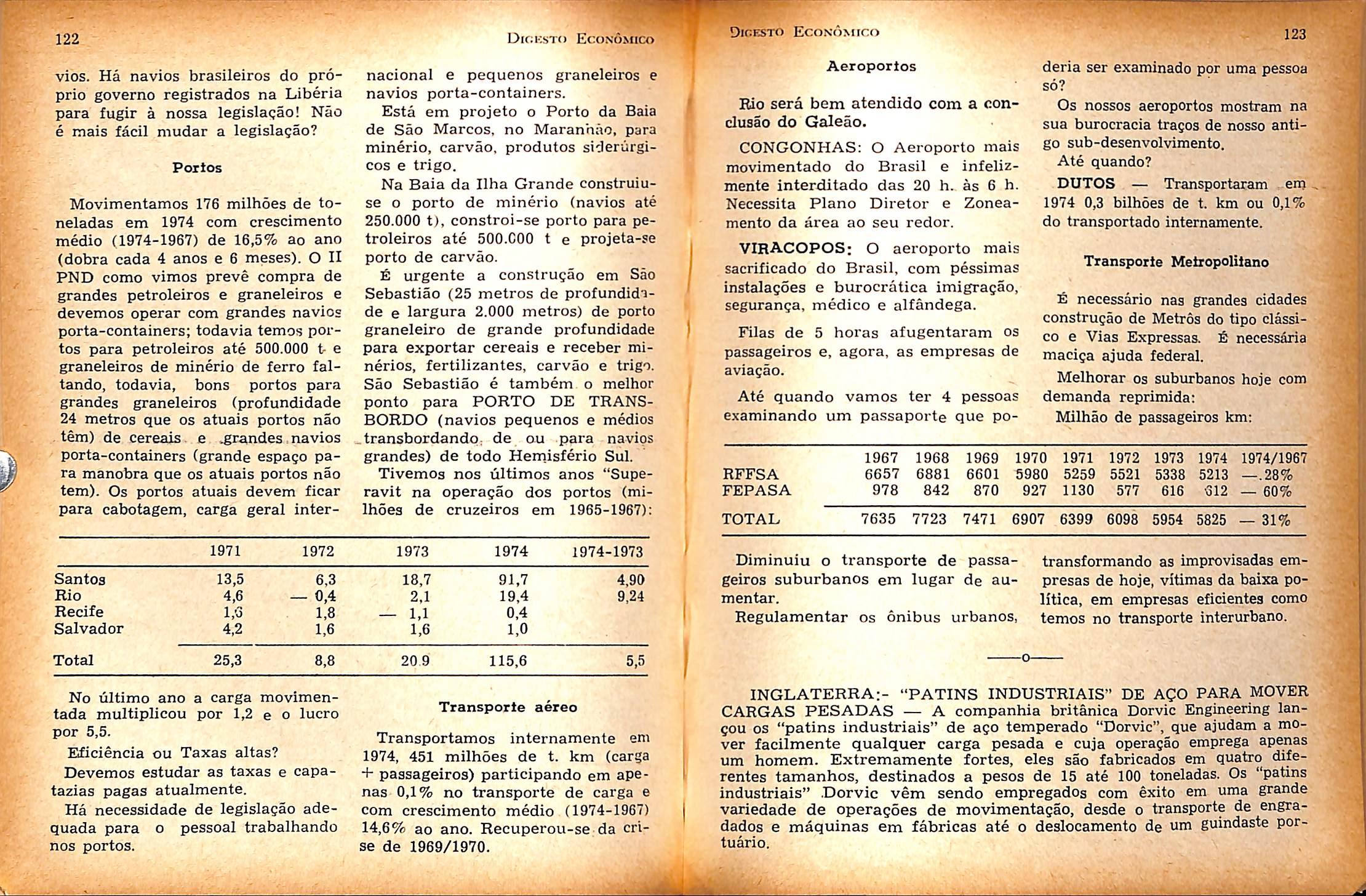
Diminuiu o transporte de passa geiros suburbanos em lugar de au mentar.
Regulamentar os ônibus urbanos, transformando as improvisadas em presas de hoje, vítimas da baixa po lítica, em empresas eficientes como temos no transporte interurbano.
O-
INDUSTRIAIS” DE AÇO PARA MOVER CARGAS
— A companhia britânica Dorvic Engineering lan çou os “patins industriais” de aço temperado “Dorvic”, que ajudam a mo ver facilmente qualquer carga pesada e cuja operação emprega apenas um homem. Extremamente fortes, eles são fabricados em quatro dife rentes tamanhos, destinados a pesos de 15 até 100 toneladas. Os “patins industriais” .Dorvic vêm sendo empregados com êxito em uma grande variedade de operações de movimentação, desde o transporte de engradados e máquinas em fábricas até o deslocamento de um guindaste por tuário.
BRASIL;- ÁLCOOL NO LUGAR DO ÓLEO É SOLUÇÁO? — Se a indústria automobilística já teve no Brasil, a prioridade dentro da polí tica de investimentos, a petroquímica concorre hoje com a siderurgia na formação de poderosos setores básicos na indústria. Contudo, a falta ge neralizada de matérias-primas ameaça frustrar os planos de expansão da petroquímica nacional. Muito mais que a escassez, a alta dos preços do petróleo liquidou as provisões de custo e produção dessas empresas inci pientes. Este fato é bem ilustrado pela falta de polietileno no mercado. Este produto é fabricado por empresas que dependem do fornecimento de etileno pela Petroquímica União e Europa. A Union Carbide e a Com panhia Brasileira de Estireno reativaram suas unidades produtoras de etileno a partir do álcool, abandonadas por serem inviáveis economicamente. Agora, com altos preços do petróleo acionando a alta dos derivados, essas empresas esperam resolver o problema da carência de óleo pela utilização de álcool. Embora este produto tenha lAA já assegurou que fornecerá o álcool para a petroquímica. No caso da petroquímica, a situação assume um caráter mais grave pois o planeja mento para o setor, feito em tempo de “paz” é aplicado em tempo de “guerra”. destino certo no mercado, c um

ano e a
FRANÇA:-FUSaO DE GRANDES INDÚSTRIAS QUÍMICAS — Duas das quatro indústrias químicas estatais da França concordaram em traba lhar juntas em várias e importantes linhas de produtos, num pacto que poderia ser o primeiro passo em direção a grandes mudanças na indústria química francesa. A Entreprise Minière et Chimique (EMC) e a CdF-Chi- mie construirão em conjunto um completo industrial para produzir mo- noi^ro de cloreto de vinil e cloreto de polivinil na região da Alsácia. E a EMC comprará 50% de uma fábrica de PVC que a CdF porá em funcio namento em Mazingarbe no final de 1975. Também foi planejada a cons trução conjunta de uma unidade de cloreto de benzil de 10.000 toneladas/ coordenação da produção de amônia e fornecimentos de fosfato. O acordo poderá levar a uma fusão das companhias, dentro de dois ou três anos, segundo planejadores do governo.
ALEMANHA OCIDENTAL:- INVESTIMENTOS DA ICI — A Imperial Chemica_l Industries (ICI) da Grã-Bretanha expandirá suas posições na íabricaçao de tintas e ácidos nítrico na Alemanha ,através da aquisição de 70% do maior fabricante de tintas independente da Alemanha Ocidental, a Hermann Wiederhold. Desde a assinatura, no ano passado, de um acordo de comercialização cooperativo entre essas duas companhias, já era espe rado que a ICI assumiría completamente a companhia. A ICI já opera a Spangeberge Werke ,outra fabricante de tintas alemã que, agora, será integrada à Wiederhold. O empreendimento da ICI com relação ao ácido nítrico será a construção de uma fábrica de 175.000 t/ano, no valor de 17,6 milhões de dólares, em Billingham, cuja produção será utilizada na fabricação de nitrato de amônio e com início de funcionamento previsto para 1977.
PIERRE HAMON
pAo decidi- ARIS, outubro rem, há 30 anos. abandonar o carvão em favor do iDCtróleo, os industrializados elegiam
Seria iiecessário encontrar méto dos que 'permitam alcançar riiveis de produção.necessários, a fim de evitar a escassez e a instabilidade do mercado durante a década de 80. afirma o autor. países a energia barata. Hoje, em que do ouro negro triplicou em um ano, não se cogita mais em vol tar atrás e o futuro já não pertence à hulha. A curto ou médio prazo, é urânio que as nações induso preço pai*a o triais dirigem a atenção. Nonagésimo segundo elemento da classificação periódica dos elemen tos, onde se situa dentro da série dos actínidos e no grupo VI dos ele mentos de transição depois do cromo, do molibdônio e do tungstênio, o urânio é conhecido há muito tem¬
mente em 1938 a fissão nuclear foi descoberta pelo italiano Fermi, pe los alemães Mahn e Strassmann, e pelos franceses Irene Curie e Savitch. No ano seguinte Frédéric Joliot- Curie, H. Halban e L. Kowarski, na França, e Lise Mertner e Frisch, na Alemanha, descobrem a reação em cadeia. Em plena guerra, a 2 de dezembro de 1942, Eurico Fer mi faz divergir o primeiro reator nuclear em Chicago. Havia nascido a energia nuclear e, muito rapida mente, ia desviar-se sua vocação pacifica para tomar o aspecto inquietante da bomba atômica. po.
Setenta e nove anos antes da nosregião de Nápoles, colovidro com urânio. Na Idasa era, na ria-se o de Média, os mineiros saxões conhe ciam a pechblenda, e no ano da grande revolução francesa, Martin Heinrich Klaproth descobria, nesse mineral, um novo elemento que, in fluenciado pelo recente descobri mento do sétimo planeta, batisou

Traiamenio Clássico
Produtor de energia, o urânio, to davia, parece relacionar-secom ou tros metais não ferrosos clássicos, não só por sua natureza, como tam bém pelo aspecto de suas jazidas e pelo tratamento a que deve ser sub metido desde a extração até o refi-
Entretanto, embora se conhecesse o uranio, não se sabia que este me tal não era inteiramente como os demais. Ignorava-se que podia px*oduzir energia. Foi necessário um cer to tempo para que se percebesse isso. Embora em 1896 Becquerel te nha posto em evidencia a radioati vidade dos minerais de uranio, sòno.
A crosta terrestre contém quanti dades enormes de urânio; uma mécomo uranio.
dia de 3 a 4 gramas por tonelada. Apesar da grande proporção em que este metal se encontra na capa ter restre, como 0 indica claramente esta cifra, ele não é, porém, explorável em todas as partes, Para que seja extraído em condições econômicamente aproveitáveis, é necessá rio que a relação de metal contido alcance 1 quilo por tonelada. Jazi-
primeiro caso estão sob forma tetravalente e têm um aspecto negro ou escuro como a pechblenda, a uranita, a cofinita, a branerita ou titanato de urânio. Esta forma de urâ nio existe, também, nos carvões, nos xistos betuminosos ou associada a certos metais e terras raras. No se gundo caso o urânio é hexavalente.
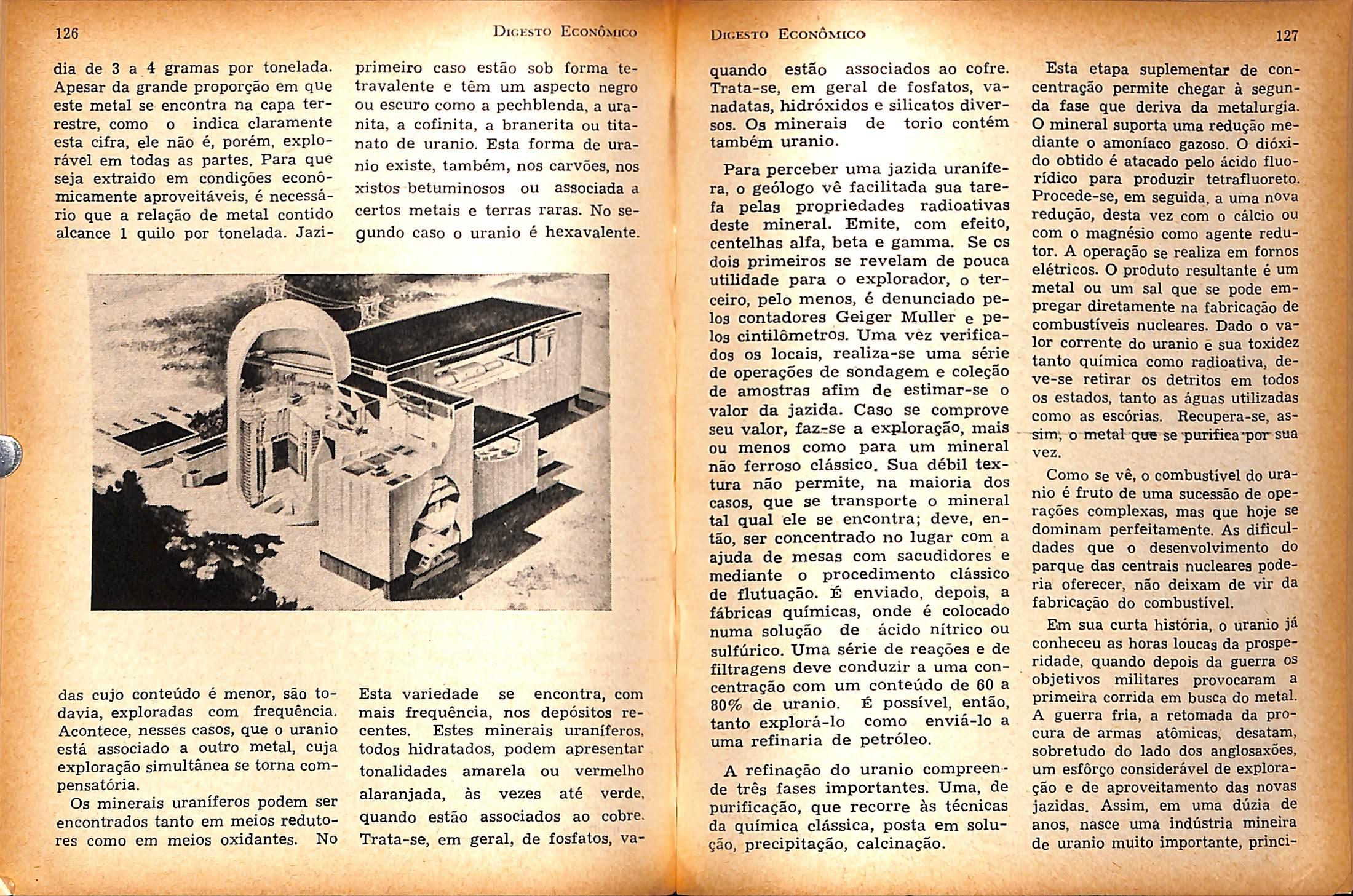
das cujo conteúdo é menor, são to davia, exploradas com frequência. Acontece, nesses casos, que o urânio está associado a outro metal, cuja exploração simultânea se torna com pensatória.
Os minerais uraníferos podem ser encontrados tanto em meios redutores como em meios oxidantes. No
Esta variedade se encontra, com mais frequência, nos depósitos re centes. Estes minerais uraníferos, todos hidratados, podem apresentar tonalidades amarela ou vermelho alaranjada, às vezes até verde, quando estão associados ao cobre. Trata-se, em geral, de fosfatos, va-
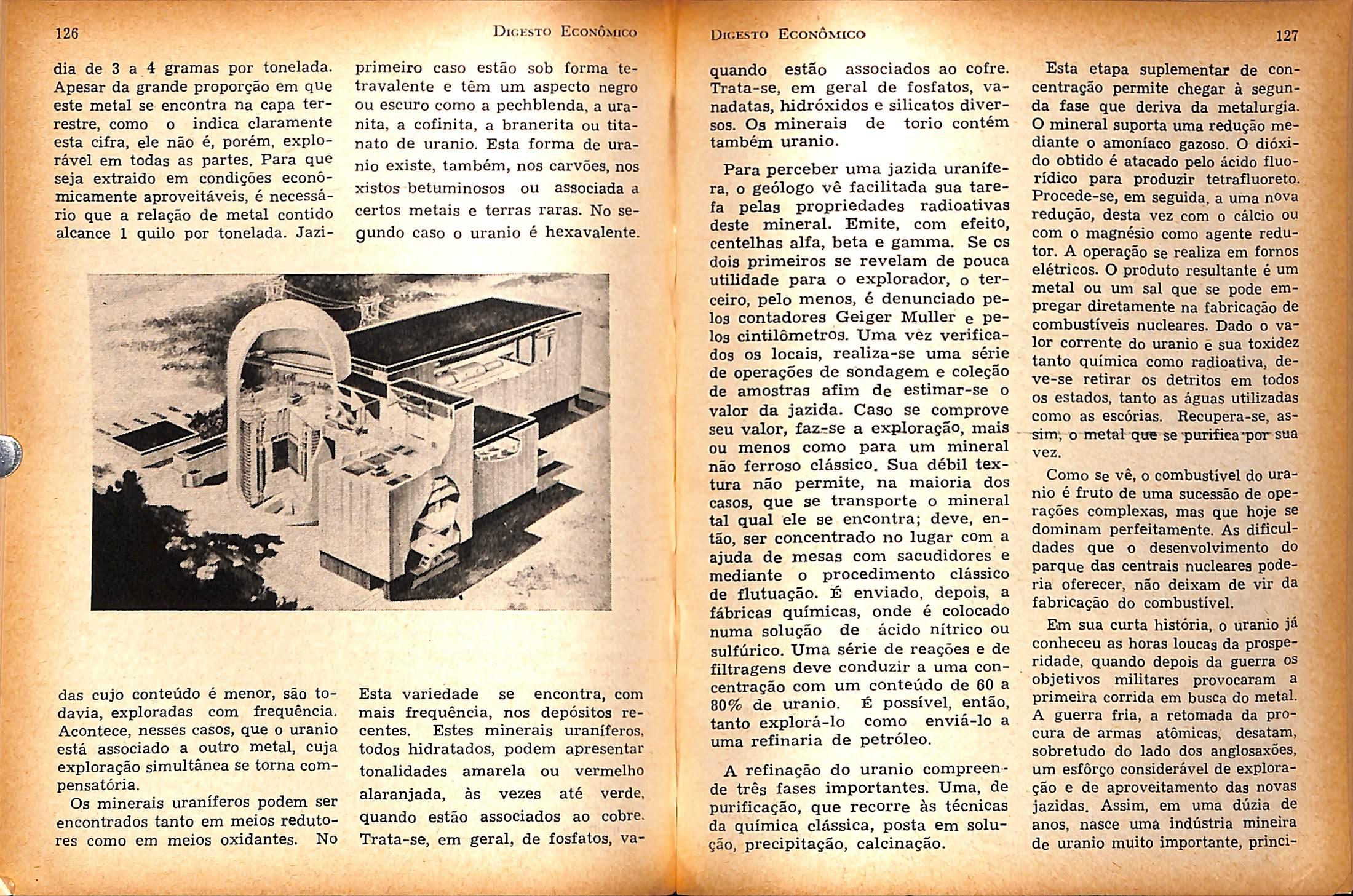
quando estão associados ao cofre. Trata-se, em geral de fosfatos, vanadatas, hidróxidos e silicatos diver sos. Os minerais de torio contém também urânio.
Para perceber uma jazida uranífera, o geólogo vê facilitada sua tare fa pelas propriedades radioativas deste mineral. Emite, com efeito, centelhas alfa, beta e gamma. Se os dois primeiros se revelam de pouca utilidade para o explorador, o ter ceiro, pelo menos, é denunciado pe los contadores Geiger Muller e pe los cintilômetros. Uma vez verifica dos 03 locais, realiza-se uma série de operações de sondagem e coleção de amostras afim de estimar-se o valor da jazida. Caso se comprove seu valor, faz-rse a exploração, mais ou menos como para um mineral não ferroso clássico. Sua débil tex tura não permite, na maioria dos casos, que se transporte o mineral tal qual ele se encontra; deve, en tão, ser concentrado no lugar com a ajuda de mesas com sacudidores e mediante o procedimento clássico de flutuação. É enviado, depois, a fábricas químicas, onde é colocado numa solução de ácido nítrico ou sulfúrico. Uma série de reações e de filtragens deve conduzir a uma concentração com um conteúdo de 60 a 80% de urânio. É possível, então, tanto explorá-lo como enviá-lo a refinaria de petróleo.
Esta etapa suplementar de con centração permite chegar à segun da fase que deriva da metalurgia. O mineral suporta uma redução me diante 0 amoníaco gazoso. O dióxi do obtido é atacado pelo ácido fluorídico para produzir tetrafluoreto. Procede-se, em seguida, a uma nova redução, desta vez com o cálcio ou com 0 magnésio como agente redutor. A operação se realiza em fornos elétricos. O produto resultante é um metal ou um sal que se pode em pregar diretamente na fabricação de combustíveis nucleares. Dado o va lor corrente do urânio è sua toxidez tanto química como radioativa, de ve-se retirar os detritos em todos os estados, tanto as águas utilizadas como as escórias. Recupera-se, as sim', 0 metal que se'purifica*por sua vez.
Como se vê, o combustível do urâ nio é fruto de uma sucessão de ope rações complexas, mas que hoje se dominam perfeitamente. As dificul dades que o desenvolvimento do parque das centrais nucleares pode ría oferecer, não deixam de vir da fabricação do combustível.
Em sua curta história, o urânio já conheceu as horas loucas da prospe ridade, quando depois da guerra os objetivos militares provocaram a primeira corrida em busca do metal. A guerra fria, a retomada da pro cura de armas atômicas, desatam, sobretudo do lado dos anglosaxÕes, um esforço considerável de explora ção e de aproveitamento das novas jazidas. Assim, em uma dúzia de anos, nasce umâ indústria mineira de urânio muito importante, princiuma
A refinação do urânio compreen de três fases importantes. Uma, de purificação, que recorre às técnicas da química clássica, posta em solu ção, precipitação, calcinação.
palmente nos Estados Unidos, Ca nadá, Austrália, África do Sul. E o ano de 1959 vê o urânio elevar-se à 3.a categoria dos metais não terro sos, depois do ouro e do cobre, com uma produção de 33.000 toneladas que representam uma cifra de ne gócios por volta de mil milhões de dólares. Mas as necessidades milita res foram amplamente exageradas e
nuclear se encontra, ainda, limitado pela competição que lhe movem os produtos petrolíferos cujo preço bai xo, incita os governos a orientar seus esforços para a construção de centrais alimentadas pelo petróleo. Que acontece no momento atual? Os dirigentes dos países industriais fa zem voltas de 90°. Assim a França se propõe a dispor em 1985 de uma
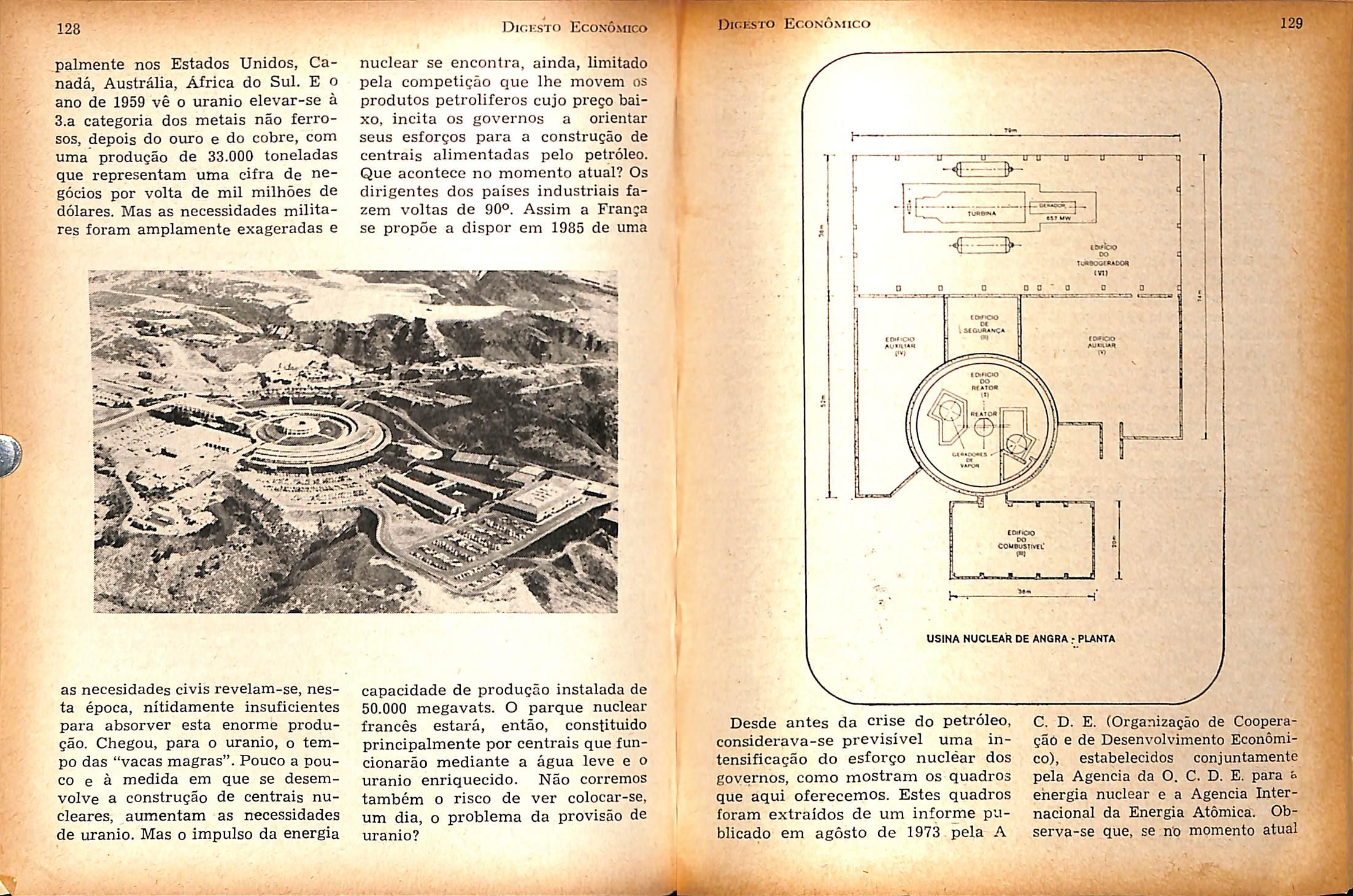
as necesidades civis revelam-se, nes ta época, nitidamente insuficientes para absorver esta enorme produ ção. Chegou, para o urânio, o tem po das “vacas magras”. Pouco a pou co e à medida em que se desemvolve a construção de centrais nu cleares, aumentam as necessidades de urânio. Mas o impulso da energia
capacidade de produção instalada de 50.000 megavats. O parque nuclear francês estará, então, constituído principalmente por centrais que fun cionarão mediante a água leve e o urânio enriquecido. Não corremos também o risco de ver colocar-se, um dia, o problema da provisão de urânio?
USINA NUCLEAR DE ANGRA : PUNTA
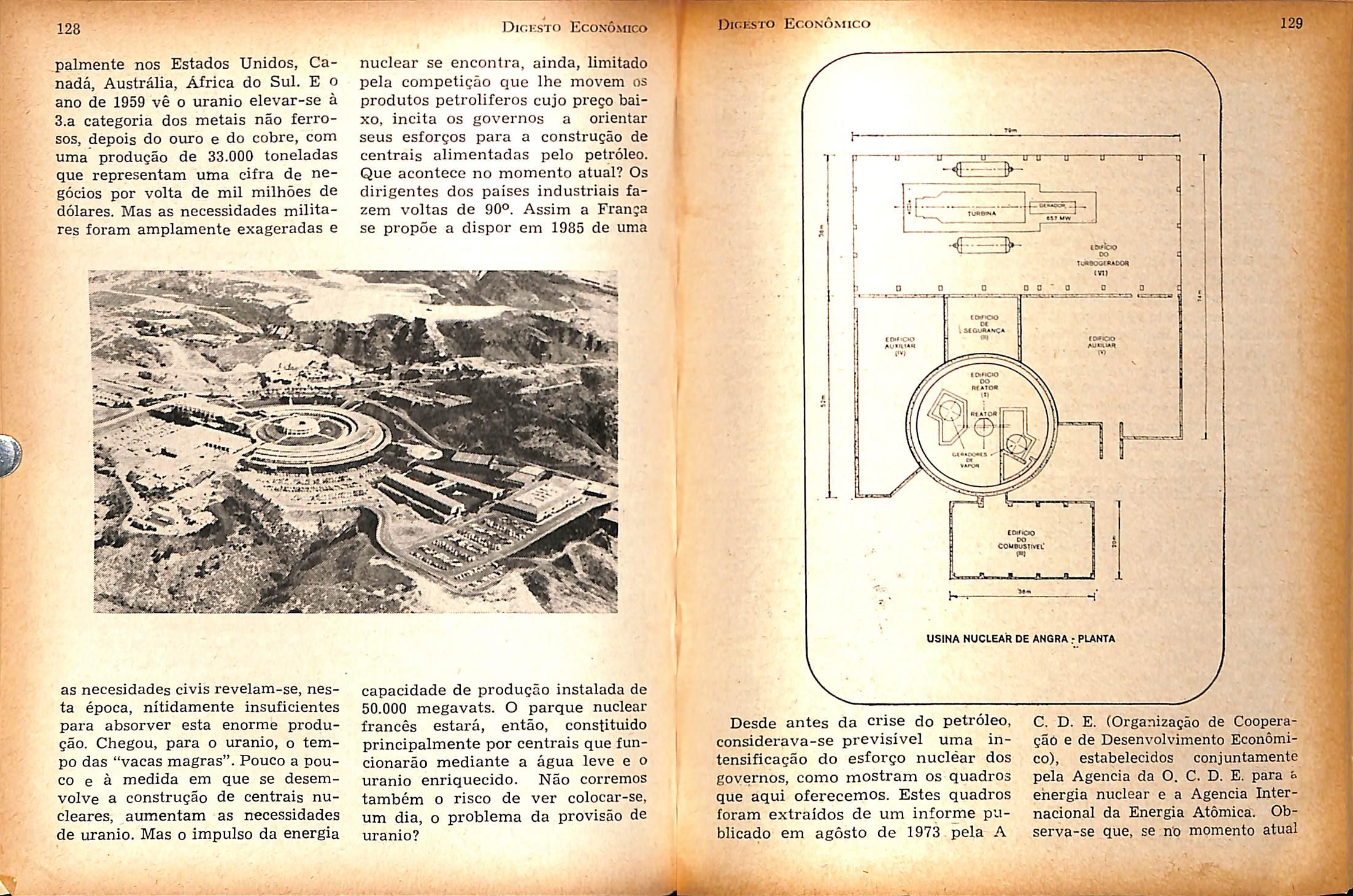
Desde antes da crise do petróleo, considerava-se previsível uma in tensificação do esforço nucléar dos governos, como mostram os quadros que aqui oferecemos. Estes quadros foram extraídos de um informe pu blicado em agosto de 1973 pela
C. D. E. (Organização de Coopera ção e de Desenvolvimento Econômi co), estabelecidos conjuntamente pela Agencia da O. C. D. E. para & energia nuclear e a Agencia Inter nacional da Energia Atômica. Ob serva-se que, se no momento atual
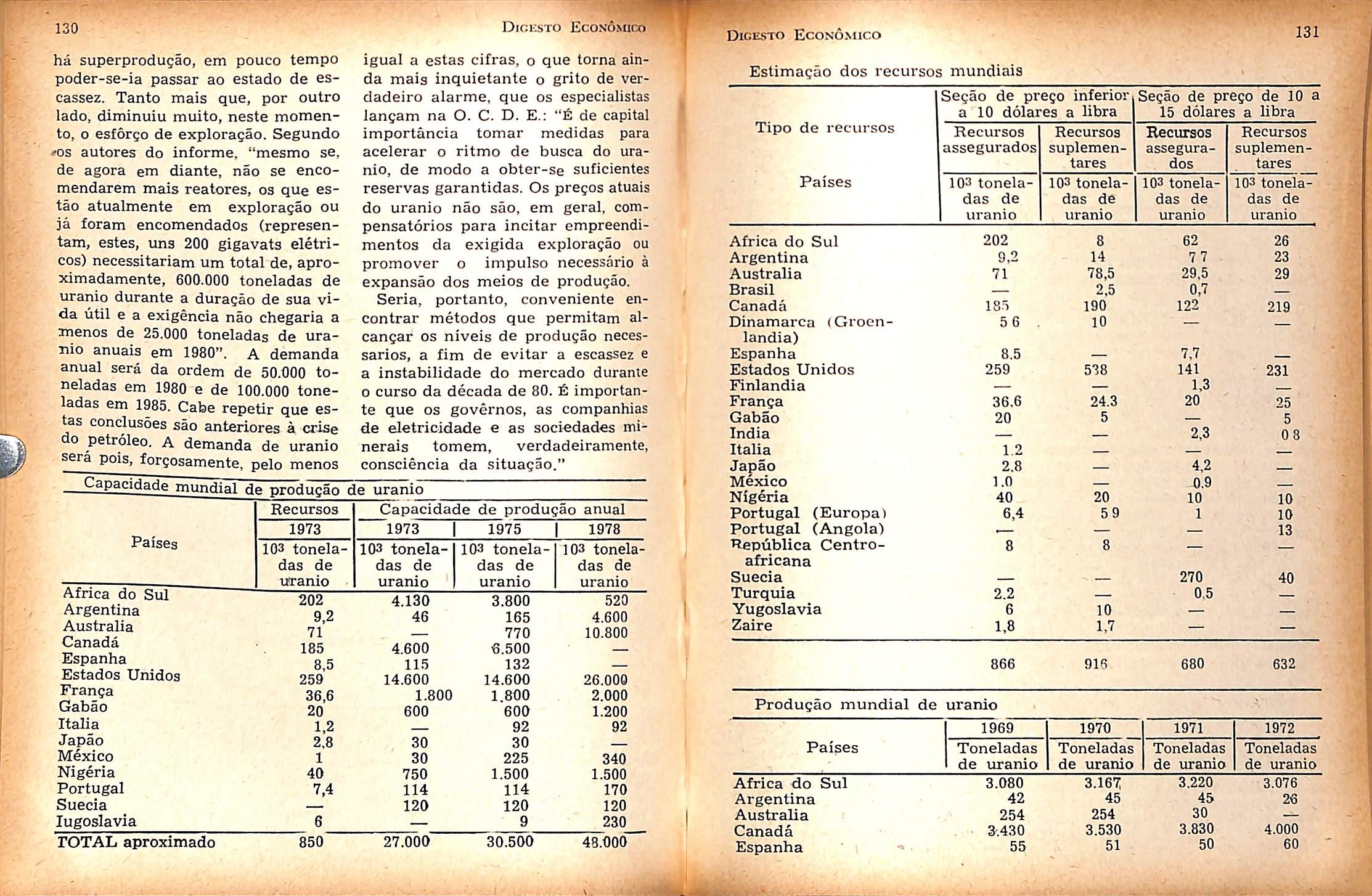
ura-
há superprodução, em pouco tempo poder-se-ia passar ao estado de es cassez. Tanto mais que, por outro lado, diminuiu muito, neste momen to, o esforço de exploração. Segundo <-03 autores do informe, “mesmo se, de agora em diante, não se enco mendarem mais reatores, os que es tão atualmente em exploração ou já foram encomendados (represen tam, estes, uns 200 gigavats elétri cos) necessitariam um total de, apro ximadamente, 600.000 toneladas de urânio durante a duração de sua vi da útil e a exigência não chegaria a menos de 25.000 toneladas de nio anuais em 1980”. anual será da ordem de 50.000 to neladas em 1980 e de 100.000 tone ladas em 1985. Cabe repetir que es tas conclusões são anteriores à crise do petróleo. A demanda de urânio sera pois, forgosamente, pelo
igual a estas cifi'as, o que torna ain da mais inquielanle o grito de ver dadeiro alarme, que os especialistas lançam na O. C. D. E.: “É de capital importância tomar medidas para acelerar o ritmo de busca do ura-
nio, de modo a obter-se suficientes reservas garantidas. Os preços atuais do urânio não são, em geral, com pensatórios para incitar empreendi mentos da exigida exploração ou impulso necessário à promover expansão dos meios de produção.
Seria, portanto, conveniente en contrar métodos que permitam al cançar os níveis de produção neces sários, a fim de evitar a escassez e a instabilidade do mercado duranie o curso da década de 80. É importan te que os governos, as companhias de eletricidade e as sociedades mi-
A demanda nerais tomem, verdadeiramente, consciência da situação,”
Capacidade mundial de produção
tonela das de urânio
Estimação dos recursos mundiais
Seção de preço inferior a 10 dólares a libra
Tipo de recursos Recursos assegurados Recursos suplemen tares
África do Sul
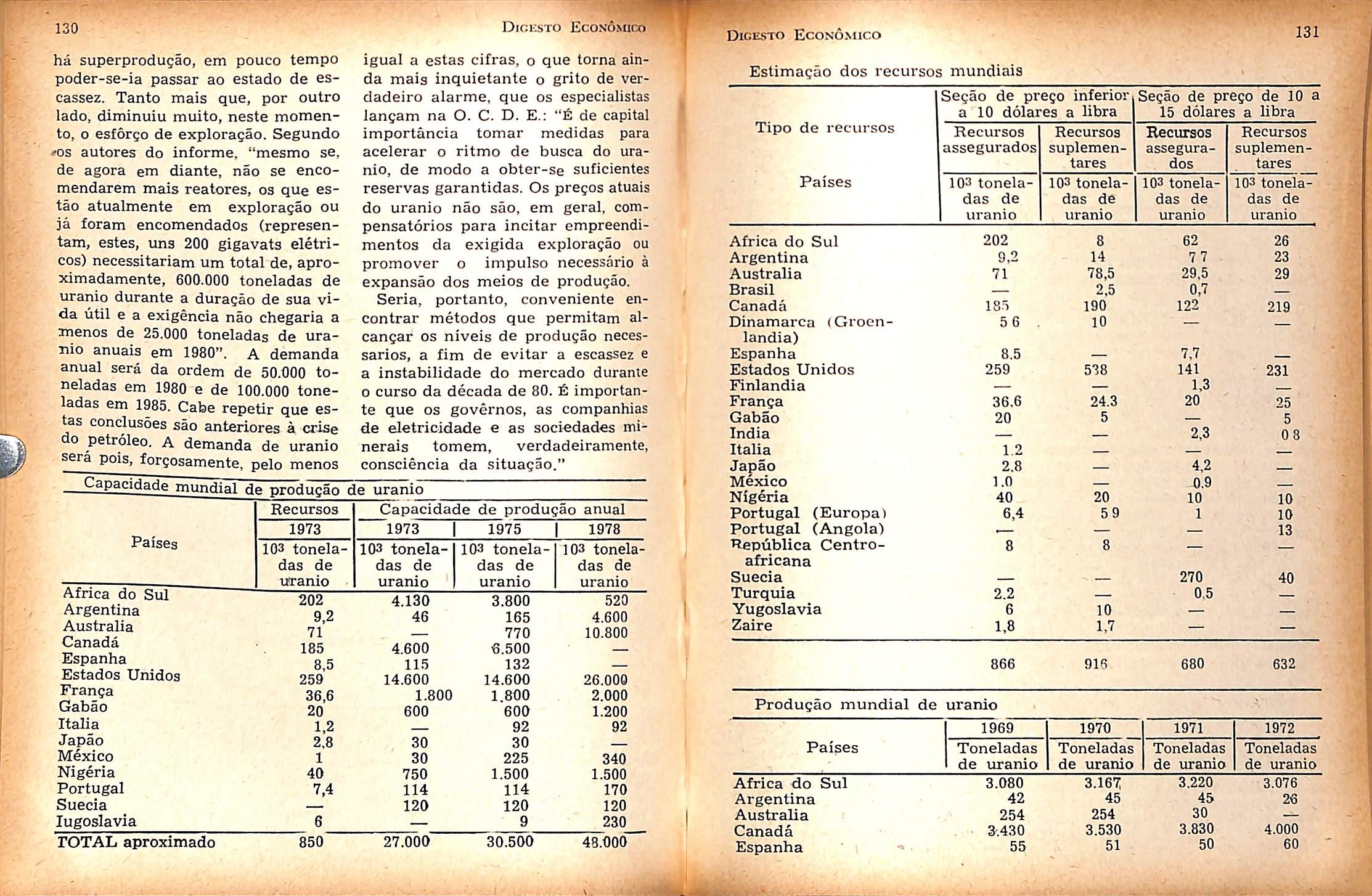
(Groen lândia) Espanha
Estados Unidos Finlandia França Gabão
índia
Italia
Japão
México
Nigéria
Portugal (Europa)
Portugal (Angola)
República Centroafricana
Suécia
Turquia Yugoslavia
Produção mundial de uranio
Seção de preço de 10 a 15 dólares a libra
Estados Unidos
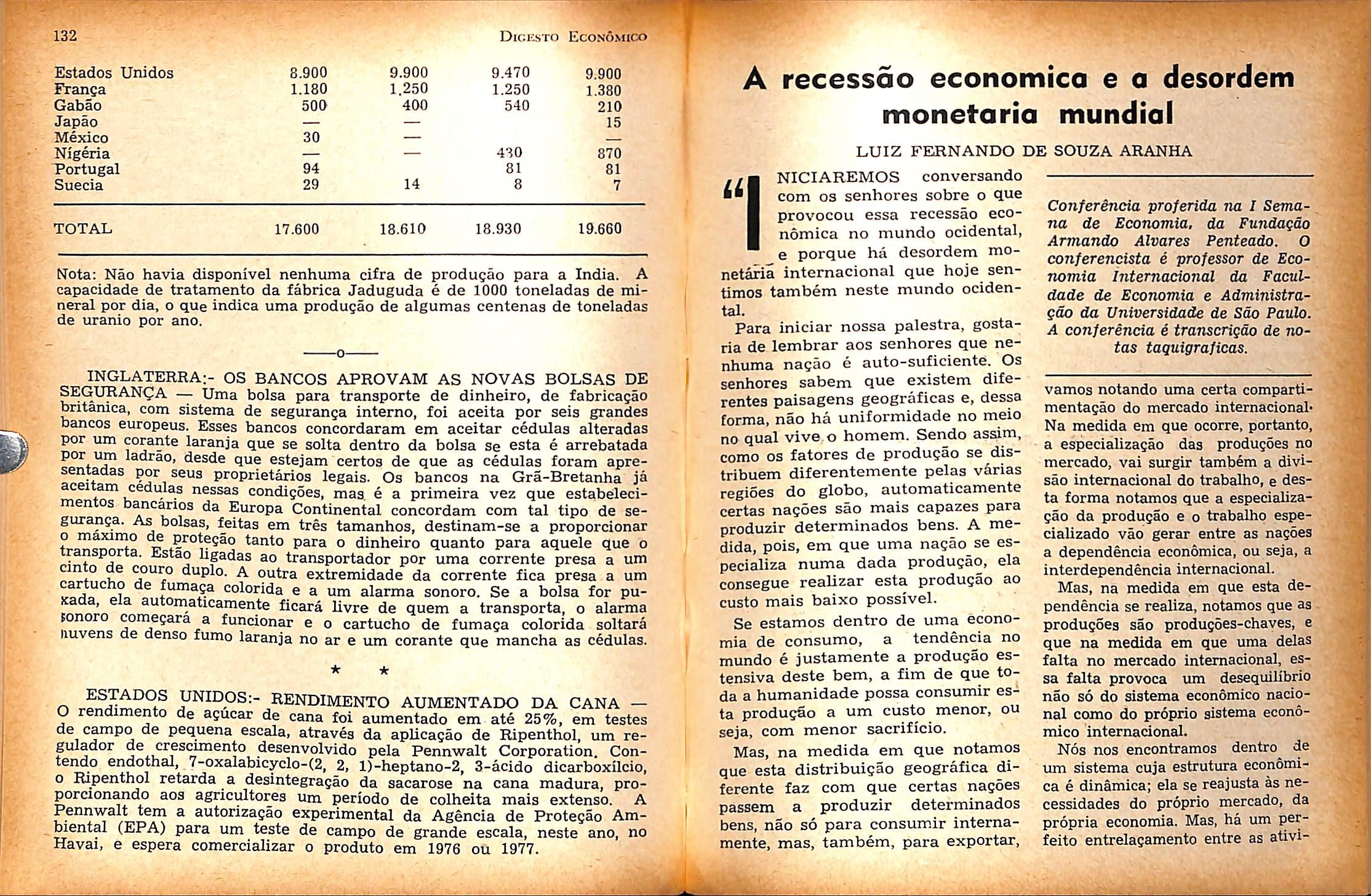
Suécia
Nota: Não havia disponível nenhuma cifra de produção para a índia. A capacidade de tratamento da fábrica Jaduguda é de 1000 toneladas de mi neral por dia, o que indica uma produção de algumas centenas de toneladas de urânio por ano.
Uma bolsa para transporte de dinheiro, de fabricação bntamca, com sistema de segurança interno, foi aceita por seis grandes bancos europeus. Esses bancos concordaram em aceitar cédulas alteradas por um corante laranja que se solta dentro da bolsa se esta é arrebatada por um ladrao, desde que estejam certos de que as cédulas foram apreproprietários legais. Os bancos na Grã-Bretanha já cédulas nessas condições, mas, é a primeira vez que estabeleci- en s bancanos da Europa Continental concordam com tal tipo de se gurança. As bolsas, feitas em três tamanhos, destinam-se a proporcionar o maxinio ctó proteção tanto para o dinheiro quanto para aquele que o ranspor a. Lstao ligadas ao transportador por uma corrente presa a um coum duplo. A outra extremidade da corrente fica presa a um fumaça colorida e a um alarma sonoro. Se a bolsa for pu- ’ omaticamente ficará livre de quem a transporta, o alarma mn r corneçara a funcionar e o cartucho de fumaça colorida soltará nuvens de denso fumo laranja no ar e um corante que mancha as cédulas.
O rendimento de açúcar de cana foi aumentado em até 25%, em testes de campo de pequena escala, através da aplicação de Ripenthol, um re gulador de crescimento desenvolvido pela Pennwalt Corporation, Con- tei^o endothal, 7-oxalabicyclo-(2, 2, l)-heptano-2, 3-ácido dicarboxílcio, o Ripenthol retarda a desintegração da sacarose na cana madura, pro porcionando aos agricultores um período de colheita mais extenso. A Pennwalt tem a autorização experimental da Agência de Proteção Am biental (EPA) para um teste de campo de grande escala, neste Havai, e espera comercializar o produto em 1976 ou 1977. ano, no
LUIZ FERNANDO DE SOUZA ARANHA
NICIAREMOS conversando com os senhores sobre o que provocou essa recessão eco nômica no mundo ocidental, e porque há desordem monet^iã internacional que hoje sen timos também neste mundo ociden-
Co7iferência 'proferida na / Senta ria de Economia, da Fundação Armando Alvares Penteado. O conferencista é professor de Eco nomia internacional da Facul dade de Economia e Administra ção da Universidade de São Paulo. A conferência é transcrição de no tas taquigraficas. tal.
Para iniciar nossa palestra, gosta ria de lembrar aos senhores que ne nhuma nação é auto-suficiente. Os senhores sabem que existem dife rentes paisagens geográficas e, dessa forma, não há uniformidade no meio no qual vive o homem. Sendo asrim, fatores de produção se dis-
como os tríbuem diferentemente pelas várias regiões do globo, automaticamente certas nações são mais capazes para produzir determinados bens. A me dida, pois, em que uma nação se es pecializa numa dada produção, ela consegue realizar esta produção ao custo mais baixo possível.
Se estamos dentro de uma econo mia de consumo, mundo é justamente a produção tensiva deste bem, a fim de que to da a humanidade possa consumir es ta produção a um custo menor, ou seja, com menor sacrifício.
Mas, na medida em que notamos esta distribuição geográfica dia tendência no esque ferente faz com que certas nações passem a produzir determinados bens, não só para consumir interna mente, mas, também, para exportar,
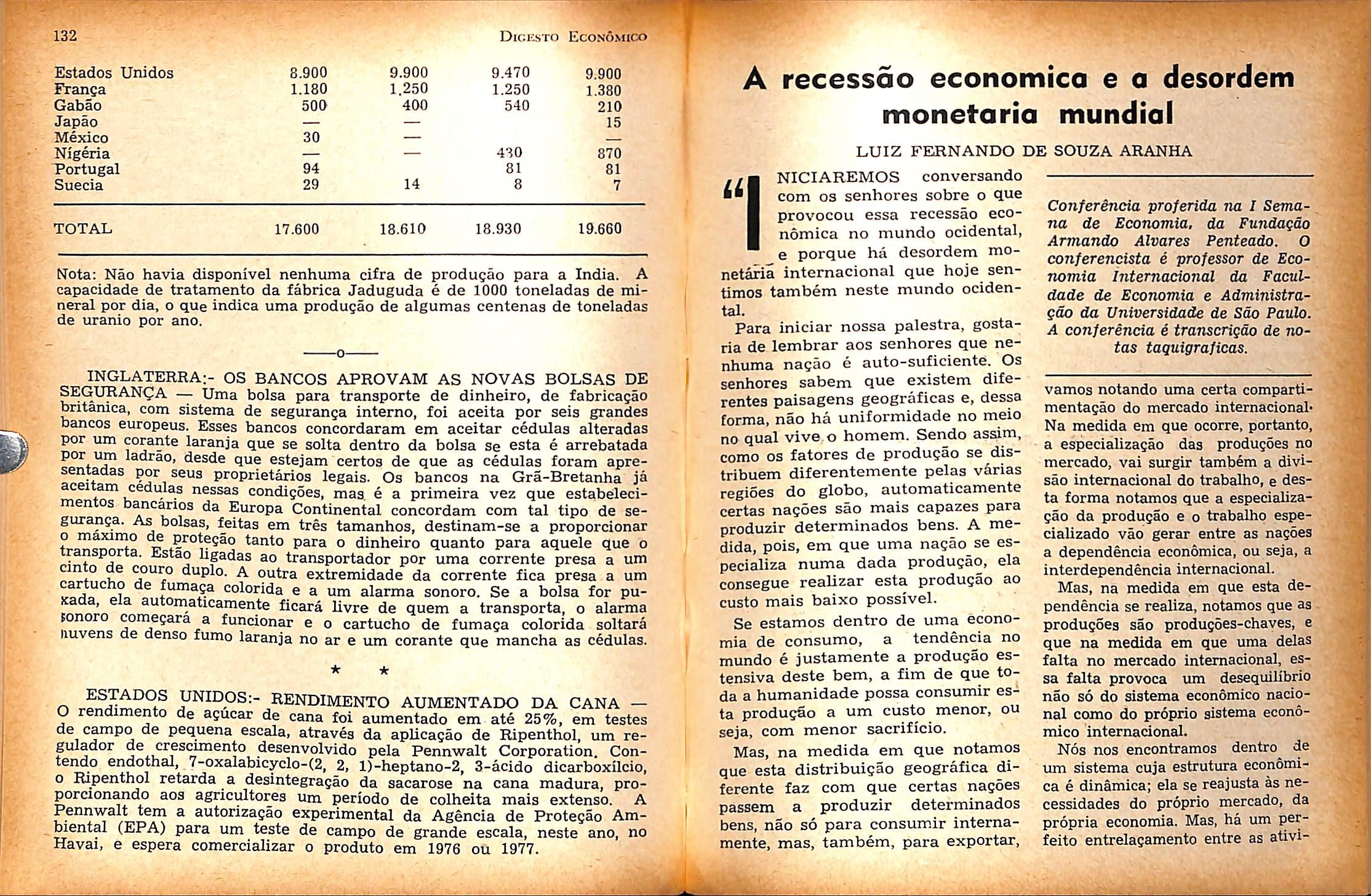
vamos notando uma certa compartimentação do mercado internacional*
Na medida em que ocorre, portanto, a especialização das produções no mercado, vai surgir também a divi são internacional do trabalho, e des ta forma notamos que a especializa ção da produção e o trabalho espe cializado vão gerar entre as nações a dependência econômica, ou seja, a interdependência internacional.
Mas, na medida em que esta de pendência se realiza, notamos que as produções são produções-chayes, e que na medida em que uma delas falta no mercado internacional, es sa falta provoca um desequilíbrio não só do sistema econômico nacio nal como do próprio sistema econô mico internacional.
Nós nos encontramos dentro de um sistema cuja estrutura econômi ca é dinâmica; ela se reajusta às ne cessidades do próprio mercado, da própria economia. Mas, há um per feito entrelaçamento entre as ativi-
dades primárias, secundárias e ter ciárias. Desta forma, na medida em que passamos a nos especializar e a dividir este trabalho especializado em tarefas, cada vez mais tornamos nossa economia nacional e interna cional interdependentes. E o blo queio de uma das atividades, auto maticamente, afeta as demais ativi dades e o sistema econômico como lun todo.
De certa forma, o que temos nota do no mundo é que os sistemas eco nômicos nacionais e internacional se apoiam em determinadas produ ções ou indústrias chaves e na medi da em que há um desequilíbrio numa destas produções o. sistema econômico entra em colapso.
E esta interdependência cada mais estreita está provocando mundo o que chamamos de integra ção econômica internacional, provocarmos o desequilíbrio deste mercado, automaticamente, afetare mos a economia do mundo ocidental como um todo.
bloqueio que provocaria o bloqueio do próprio sistema e das indústrias do mundo ocidental.
De início, o temor levou as nações que desta matéria-prima precisa vam. e que desta fonte de energia precisavam, a comprar em excesso e manter este estoque do produto pa ra que pudessem fazer face a um possível bloqueio novamente, se isso viesse a ocorrer no mercado inter nacional.
Se houve este desequilíbrio e hou ve esta grande procura no mercado, o petróleo teve seu preço pratica mente multiplicado ou aumentado em cinco vezes no período de um ano.
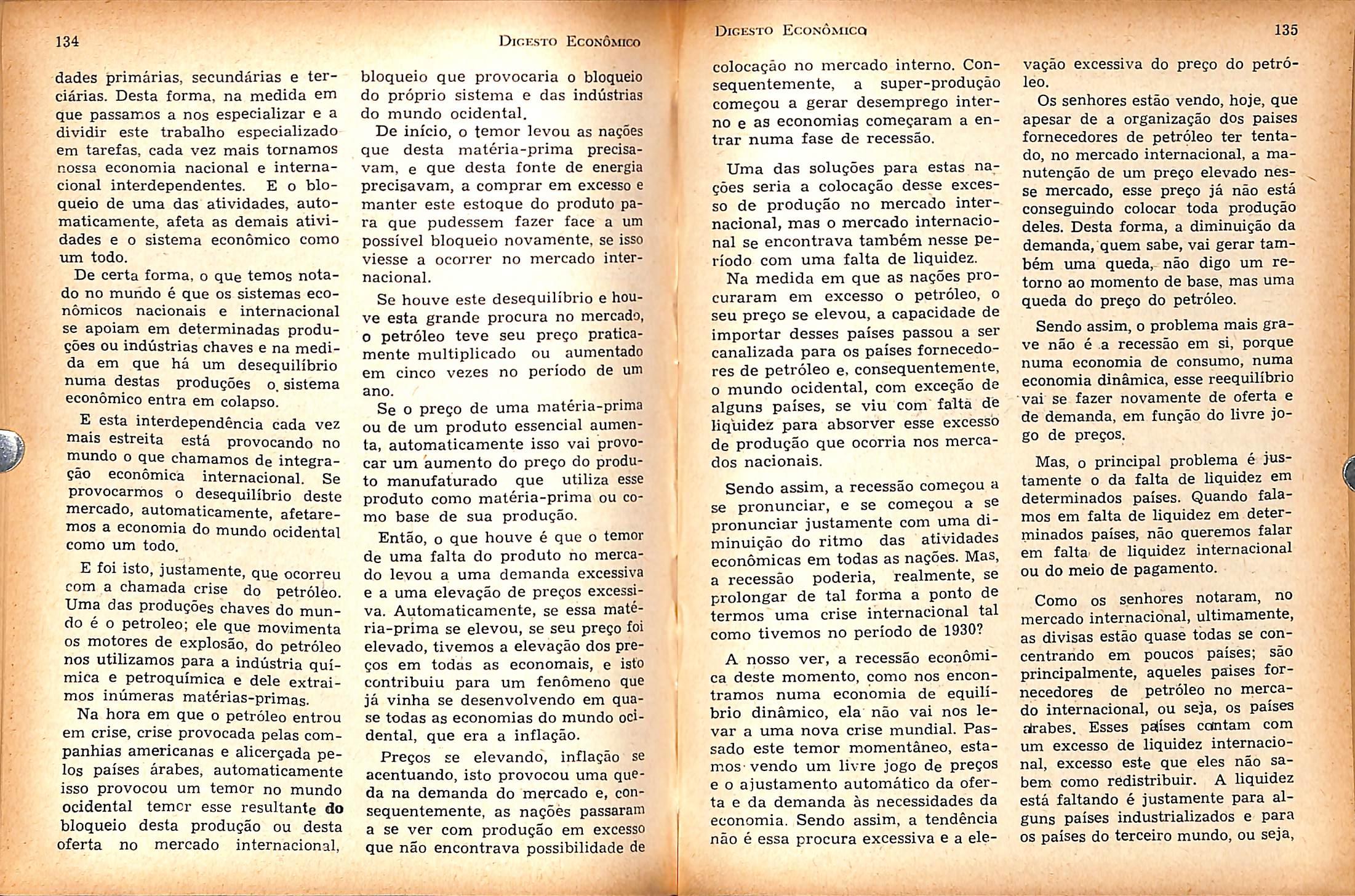
Na hora em que o petróleo entrou em crise, crise provocada pelas com panhias americanas e alicerçada pe los países árabes, automaticamente isso provocou um temor no mundo ocidental temer esse resultante do bloqueio desta produção ou desta oferta no mercado internacional, vez no Se que ocorreu
Se o preço de uma matéria-prima ou de um produto essencial aumen ta, automaticamente isso vai provo car um aumento do preço do produ to manufaturado que utiliza esse produto como matéria-prima ou co mo base de sua produção.
E foi isto, justamente, com a chamada crise do petróleo. Uma das produções chaves do mun do é o petroleo; ele que movimenta os motores de explosão, do petróleo nos utilizamos para a indústria quí mica e petroquímica e dele extraí mos inúmeras matérias-primas.
Então, o que houve é que o temor de uma falta do produto no merca do levou a uma demanda excessiva e a uma elevação de preços excessi va. Automaticamente, se essa materia-prima se elevou, se seu preço foi elevado, tivemos a elevação dos pre ços em todas as economais, e isto contribuiu para um fenômeno que já vinha se desenvolvendo em qua se todas as economias do mundo oci dental, que era a inflação.
Preços se elevando, inflação se acentuando, isto provocou uma que da na demanda do mercado e, con sequentemente, as nações passaram a se ver com produção em excesso que não encontrava possibilidade de
colocação no mercado interno. Con- vaçáo excessiva do preço do petrósequentemente, a super-produção leo. começou a gerar desemprego inter no e as economias começaram a en trar numa fase de recessão.
Uma das soluções para estas ções seria a colocação desse excesde produção no mercado inter nacional, mas 0 mercado internacio nal se encontrava também nesse pe ríodo com uma falta de liquidez.
Na medida em que as nações pro curaram em excesso o petróleo, o seu preço se elevou, a capacidade de importar desses países passou a ser canalizada para os países fornecedo res de petróleo e, consequentemente, mundo ocidental, com exceção de alguns países, se viu com falta de liquidez para absorver esse excesso de produção que ocorria nos merca dos nacionais.
Os senhores estão vendo, hoje, que apesar de a organização dos paises fornecedores de petróleo ter tenta do, no mercado internacional, a ma nutenção de um preço elevado nes- ^ se mercado, esse preço já não está conseguindo colocar toda produção deles. Desta forma, a diminuição da demanda, quem sabe, vai gerar tam bém uma queda, não digo um re torno ao momento de base, mas uma queda do preço do petróleo.
Sendo assim, o problema mais gra ve não é a recessão em si, porque numa economia de consumo, numa economia dinâmica, esse reequilíbrio vai se fazer novamente de oferta e de demanda, em função do livre jo go de preços,
Mas, o principal problema é jus tamente 0 da falta de liquidez em determinados países. Quando fala mos em falta de liquidez em deter minados países, não queremos falar falta de liquidez internacional ou do meio de pagamento.
Sendo assim, a recessão começou a pronunciar, e se começou a se pronunciar justamente com uma di- do ritmo das atividades econômicas em todas as nações. Mas, realmente, se se minuiçao em a recessão poderia, prolongar de tal forma a ponto de internacional tal
termos uma crise como tivemos no período de 1930? as sao A nosso ver, a recessão econômi ca deste momento, como nos encon tramos numa economia de equilí brio dinâmico, ela não vai nos leuma nova crise mundial. Pas- var a sado este temor momentâneo, esta mos vendo um livre jogo de preços e o ajustamento automático da ofer ta e da demanda às necessidades da economia. Sendo assim, a tendência não é essa procura excessiva e a ele-
Como os senhores notaram, no mercado internacional, ultimamente, divisas estão quase todas se con centrando em poucos países; principalmente, aqueles paises for necedores de petróleo no merca do internacional, ou seja, os países íírabes. Esses países cantam com um excesso de liquidez internacio nal, excesso este que eles não sa bem como redistribuir. A liquidez está faltando é justamente para al guns países industrializados e para os países do terceiro mundo, ou seja.
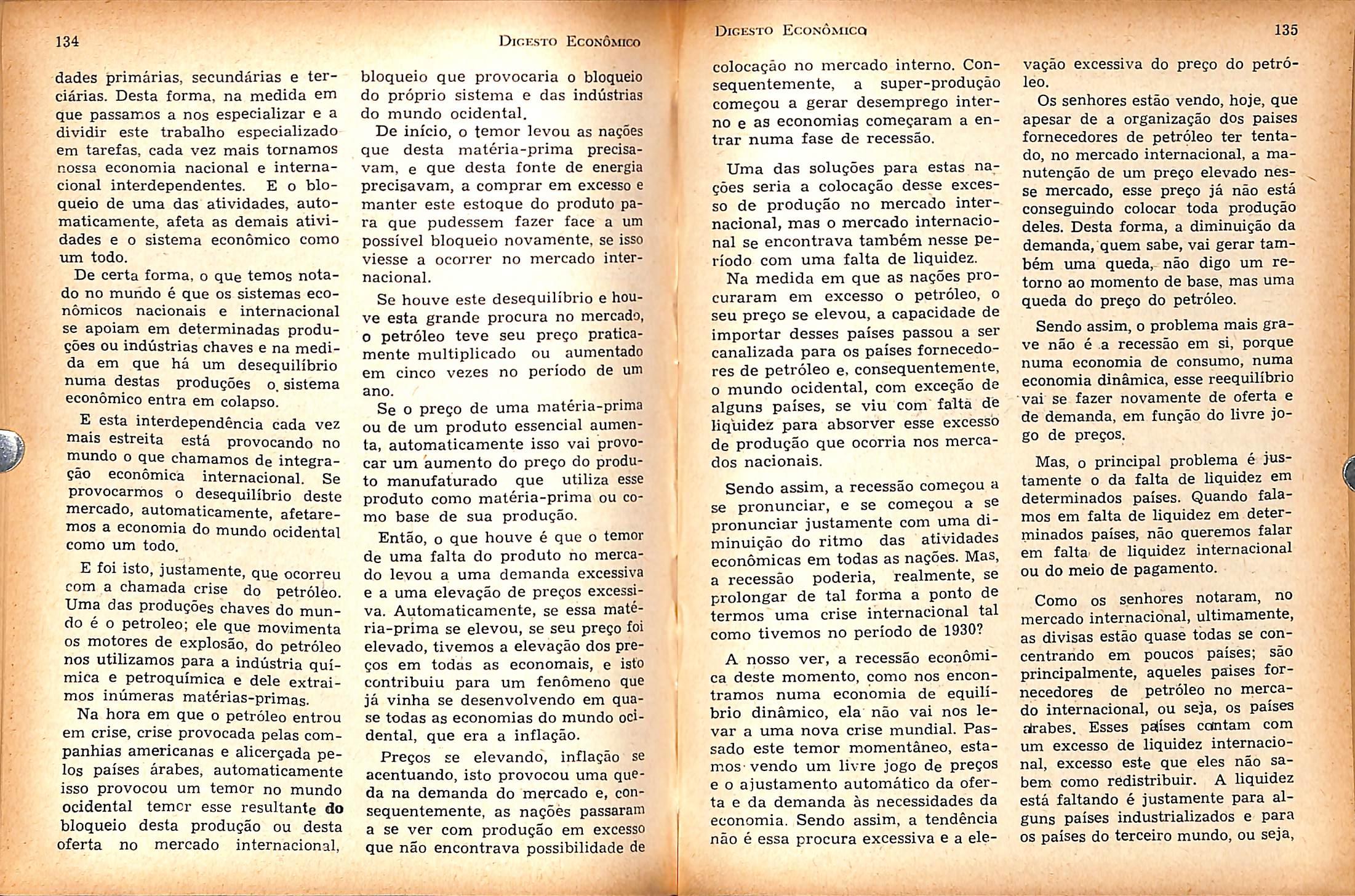
os países em lase de desenvolvimen to econômico.
Para resolver este problema, o que decidiram os países subdesenvolvi dos? (Se eles estão em fase de desen volvimento é porque são subdesen volvidos). Eles resolveram ampliar os preços das matérias-primas. Re almente, como as mercadorias que eles exportam têm fraco valor espe cífico, automaticamente, o seu ba lanço de pagamento se apresenta sempre deficitário. Mas, eles esque cem o seguinte; eles fornecem ma téria-prima e produtos de alimenta ção. São produtcs que vão ser trans formados em outras nações, e, quando mais não seja, isto vai fazer par te do custo de vida do trabalhador que elabora esta transformação.
A medida em que elevamos 0 pre ço, automaticamente, o produto ma nufaturado ou semi-manufaturado terá também seu preço elevado, uma vez que ao valor pelo qual ele ad quiriu essa mercadoria terá que adicionado outro custo, terão ser adicionados outros valores são. ser que que resultantes da transformação da matéria-prima em produto acabado.
justamente.
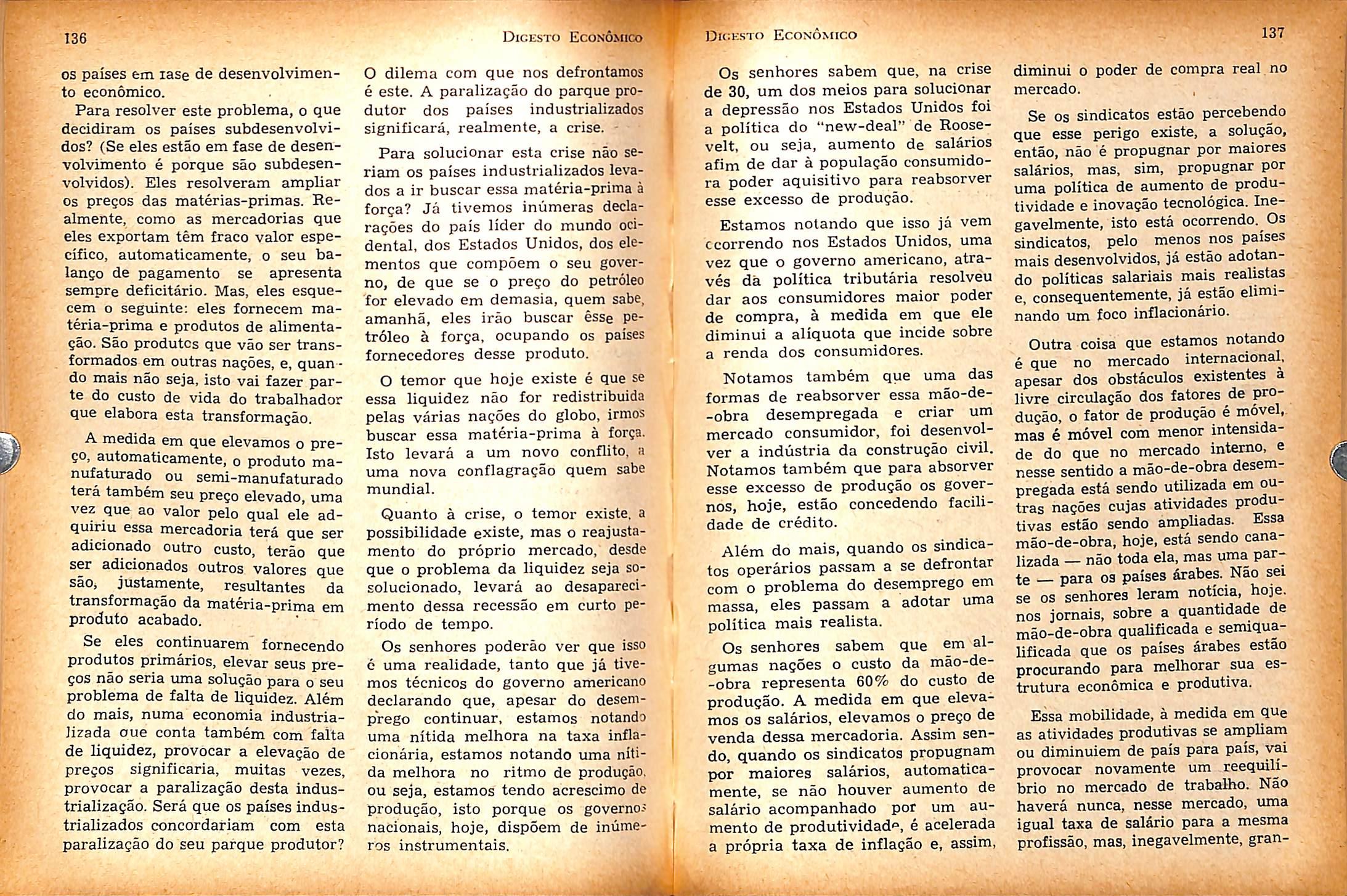
Se eles continuarem fornecendo produtos primários, elevarços não seria uma solução para problema de falta de liquidez. Além do mais, numa economia industria lizada oue conta também com falta de liquidez, provocar a elevação de preços significaria, muitas vezes, provocar a paralização desta indus trialização. Será que os países indus trializados concordariam com esta paralização do seu parque produtor? seus preo seu
O dilema com que nos defrontamos é este. A paralização do parque pro dutor dos países industrializados significará, realmente, a crise. -
Para solucionar esta crise não se riam os países industrializados leva dos a ir buscar essa matéria-prima à força? Já tivemos inúmeras decla rações do pais líder do mundo oci dental, dos Estados Unidos, dos ele mentos que compõem o seu gover no, de que se o preço do petróleo for elevado em demasia, quem sabe, amanhã, eles irão buscar êsse pe tróleo à força, ocupando os países fornecedores desse produto.
O temor que hoje existe é que se essa liquidez não for redistribuída pelas várias nações do globo, irmos buscar essa matéria-prima à força. Isto levará a um novo conflito, a uma nova conflagração quem sabe mundial.
Quanto à crise, o temor existe, a possibilidade existe, mas o reajustamento do próprio mercado, desde que o problema da liquidez seja sosolucionado, levará ao desapareci mento dessa recessão em curto pe ríodo de tempo.
Os senhores poderão ver que isso ó uma realidade, tanto que já tive mos técnicos do governo americano declarando que, apesar do desem prego continuar, estamos notando uma nítida melhora na taxa infla cionária, estamos notando uma níti da melhora no ritmo de produção, ou seja, estamos tendo acréscimo de produção, isto porque os governo-' nacionais, hoje, dispõem de inúme ros instrumentais.
Os senhores sabem que, na crise de 30, um dos meios para solucionar a depressão nos Estados Unidos foi a política do “new-deal” de Roosevelt, ou seja, aumento de salários afim de dar à população consumidopoder aquisitivo para reabsorver esse excesso de produção.
diminui o poder de compra real no mercado.
Se os sindicatos estão percebendo existe, a solução, que esse perigo então, não é propugnar por maiores salários, mas, sim, propugnar por política de aumento de produ tividade e inovação tecnológica. Ine gavelmente, isto está ocorrendo. Os sindicatos, pelo menos nos países mais desenvolvidos, já estão adotan do políticas salariais mais jealistas e, consequentemente, já estão elimi nando um foco inflacionário. ra
uma
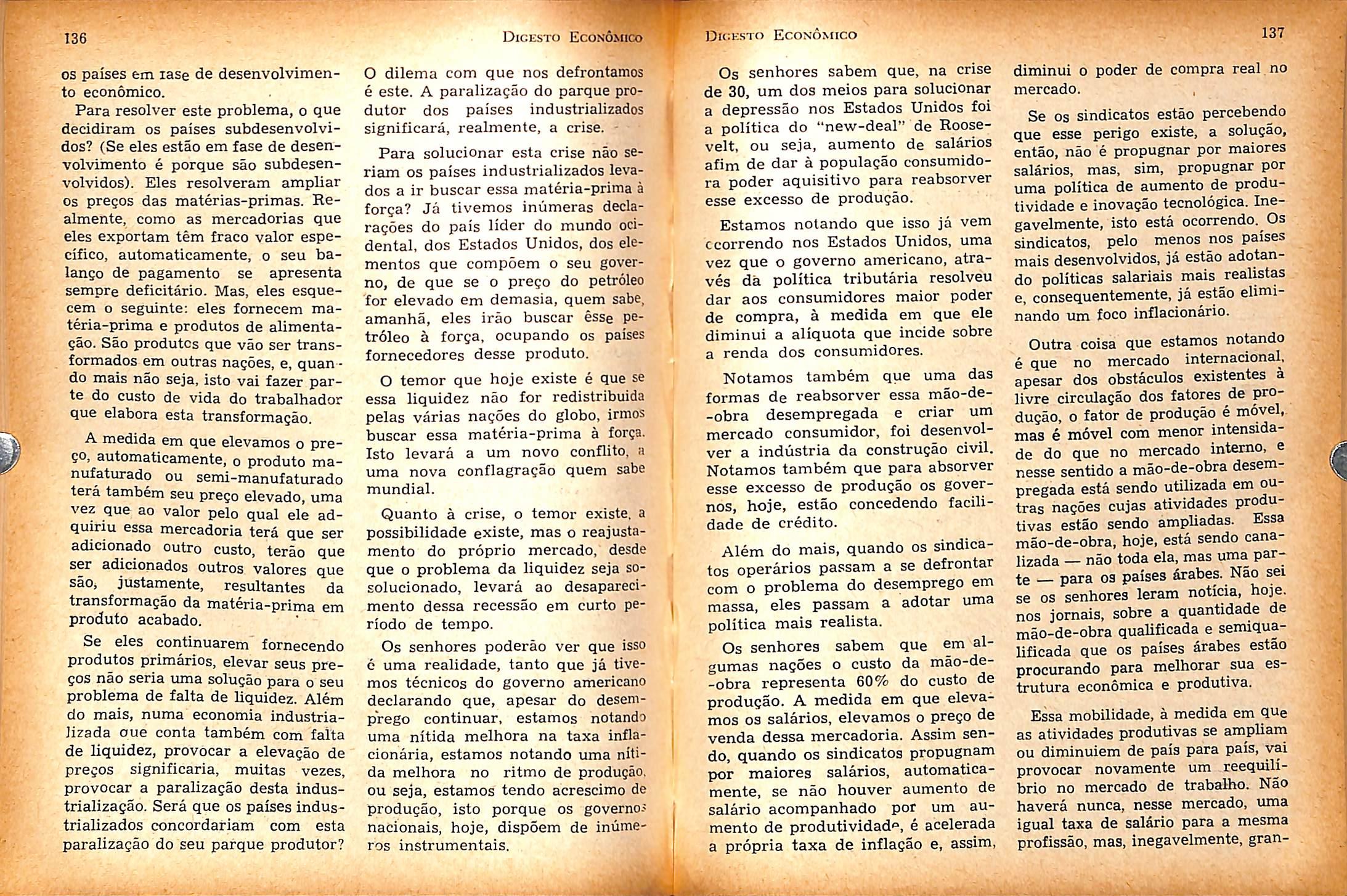
Estamos notando que isso já vem ccorrendo nos Estados Unidos, uma vez que o governo americano, atra vés dà política tributária resolveu dar aos consumidores maior poder de compra, à medida em que ele diminui a alíquota que incide sobre renda dos consumidores.
Outra coisa que estamos notando mercado internacional, dos obstáculos existentes à a é que no Notamos também que uma das formas de reabsorver essa mão-de-obra desempregada e mercado consumidor, foi desenvolindústria da construção civil. apesar livre circulação dos fatores de pro dução, o fator de produção é móvel, ê móvel com menor intensidamercado interno, e criar um
ver a Notamos também que para absorver esse excesso de produção os gover nos, hoje, estão concedendo facili dade de crédito. ou-
Além do mais, quando os sindicadefrontar tos operários passam a se problema do desemprego em com o massa, eles passam a adotar uma política mais realista.
em al gumas nações o custo da mão-de- -obra representa 60% do custo de produção. A medida em que eleva- os salários, elevamos o preço de venda dessa mercadoria. Assim sen do, quando os sindicatos propugnam salários, automatica mente, se não houver aumento de salário acompanhado por um mento de produtividad'^, é acelerada a própria taxa de inflação e, assim.
Os senhores sabem que procurando para trutura econômica e produtiva.
mas e de do que no nesse sentido a mão-de-obra desem pregada está sendo utilizada em tras nações cujas atividades produ tivas estão sendo ámpliadas. Essa mão-de-obra, hoje, está sendo cana lizada — não toda ela, mas uma parpara os países árabes. Não sei se os senhores leram notícia, hoje. nos jornais, sobre a quantidade de mão-de-obra qualificada e semiqualificada que os países árabes estão melhorar sua es-
Essa mobilidade, à medida em que atividades produtivas se ampliam ou diminuiem de país para país, vai provocar brio no mercado de trabalho. Não haverá nunca, nesse mercado, uma igual taxa de salário para a mesma profissão, mas, inegavelmente, granmos as novamente um reequilí- por maiores au-
de parte dessa mão-de-obra será reabsorvida.
Da mesma forma, quando o preço da matéria-prima se amplia, isso favorece o aquecimento de sucedâ neos no mercado. Os senhores viram que a elevação do preço do petróleo, hoje, já está levando as nações a pensar em novas fontes de energia. Já se fala em utilizar, amanhã o hi drogênio, já se fala na energia so lar e em várias outras formas de energia.
Além do mais, à medida em quo preço do petróleo se elevou, ções que possuem petróleo mas que não tinham condições de no mercado, passaram a explorar as suas fontes de energia. Nesse senti do, com o preço mais elevado, temos possibilidade de surgirem dutos no mercado.
ser corrigida, porque num mercado dinâmico as forças da oferta e da demanda novamente conduzirão o mercado ao equilíbrio.
Sendo assim, o problema que mais nos assusta é de como fazer a redistribuição da liquidez internacional' Propostas inúmeras têm sido feitas. Uma delas é a de canalizar a liqui dez dos países árabes para o Fundo Monetário Internacional, a fim de que este organismo redistribua a liquidez pelas várias nações. internacional as na-
Mas, ai surge um temor: à medida voto no Fundo Monetário em que o Internacional é ponderado, é dado concorrer em função das quotas que as nações possuem nesse organismo, aumentar a liquidez dos países árabes signifi ca aumentar a própria participação destes países no Fundo Monetário Internacional, novos pro-
Estas novas atividades e a explo ração de novas fontes de vãõ provocar também o aparecimen to de novos empregos; tido ü nível de energia
Não lenho certeza, mas, se nao me engano, 15% dos votos é suficiente Desde tenha 15% dos votos e nesse senempregos será amnações. absorvendo uma parcela da mão-de-obra desempregada.
nao somos pessimistas a ca-
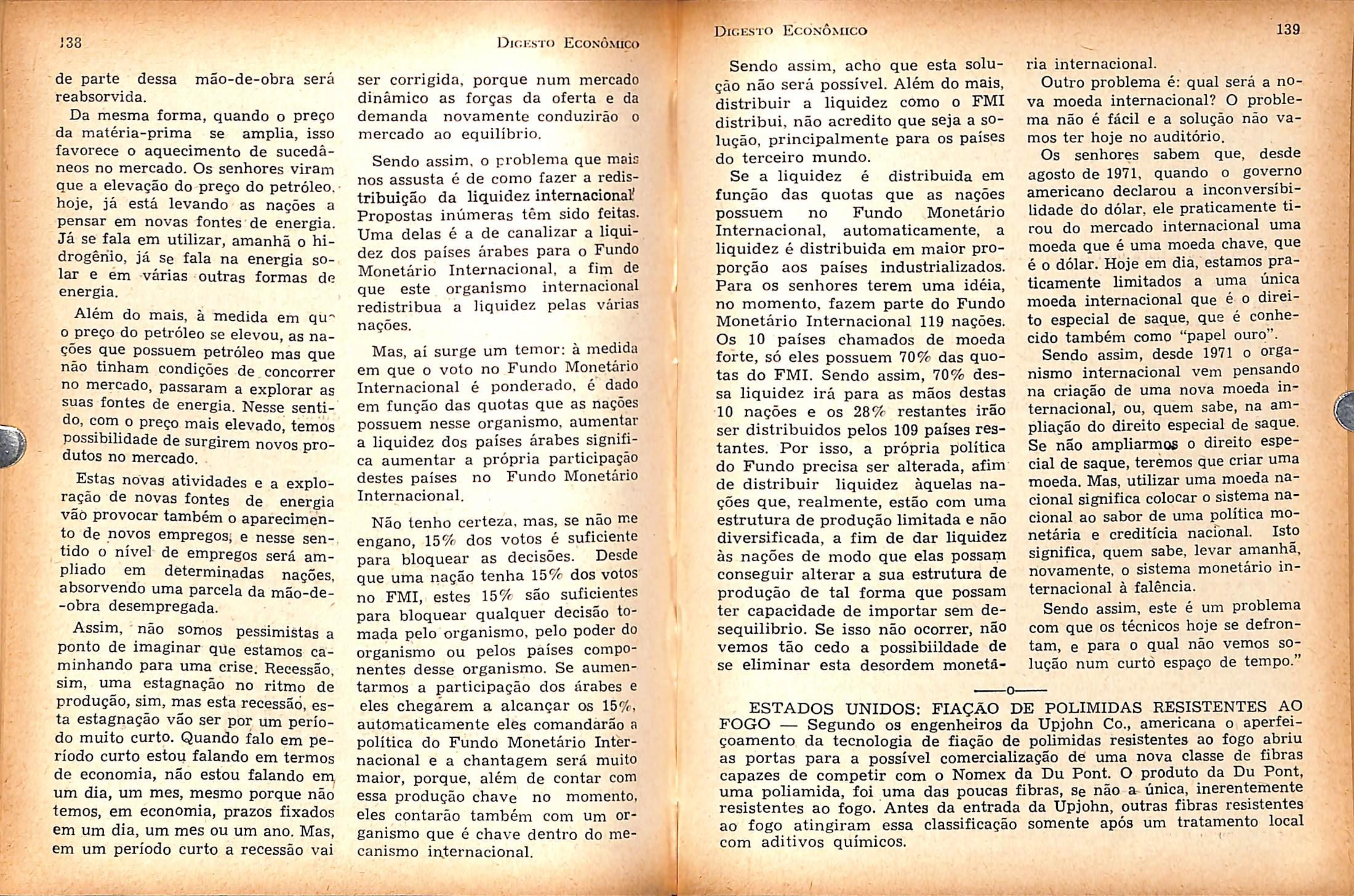
em pe-
eles chegarem a alcançar os 15%, automaticamente eles comandarão a política do Fundo Monetário Inter nacional e a chantagem será muito maior, porque, além de contar com essa produção chave no momento, eles contarão também com um or ganismo que é chave dentro do me canismo internacional. es-
bloquear as decisões. para que uma nação FMI, estes 15% são suficientes para bloquear qualquer decisão to mada pelo oi'ganismo, pelo poder do organismo ou pelos países compo nentes desse organismo. Se aumen tarmos a participação dos árabes e pliado em determinadas no Assim, ponto de imaginar que estamos minhando para uma crise. Recessão, sim, uma estagnação no ritmo de produção, sim, mas esta recessão, ta estagnação vão ser por um perío do muito curto, Quando falo ríodo curto estou falando em termos de economia, não estou falando ern um dia, um mes, mesmo porque não temos, em economia, prazos fixados em um dia, um mes ou um ano. Mas, em um período curto a recessão vai
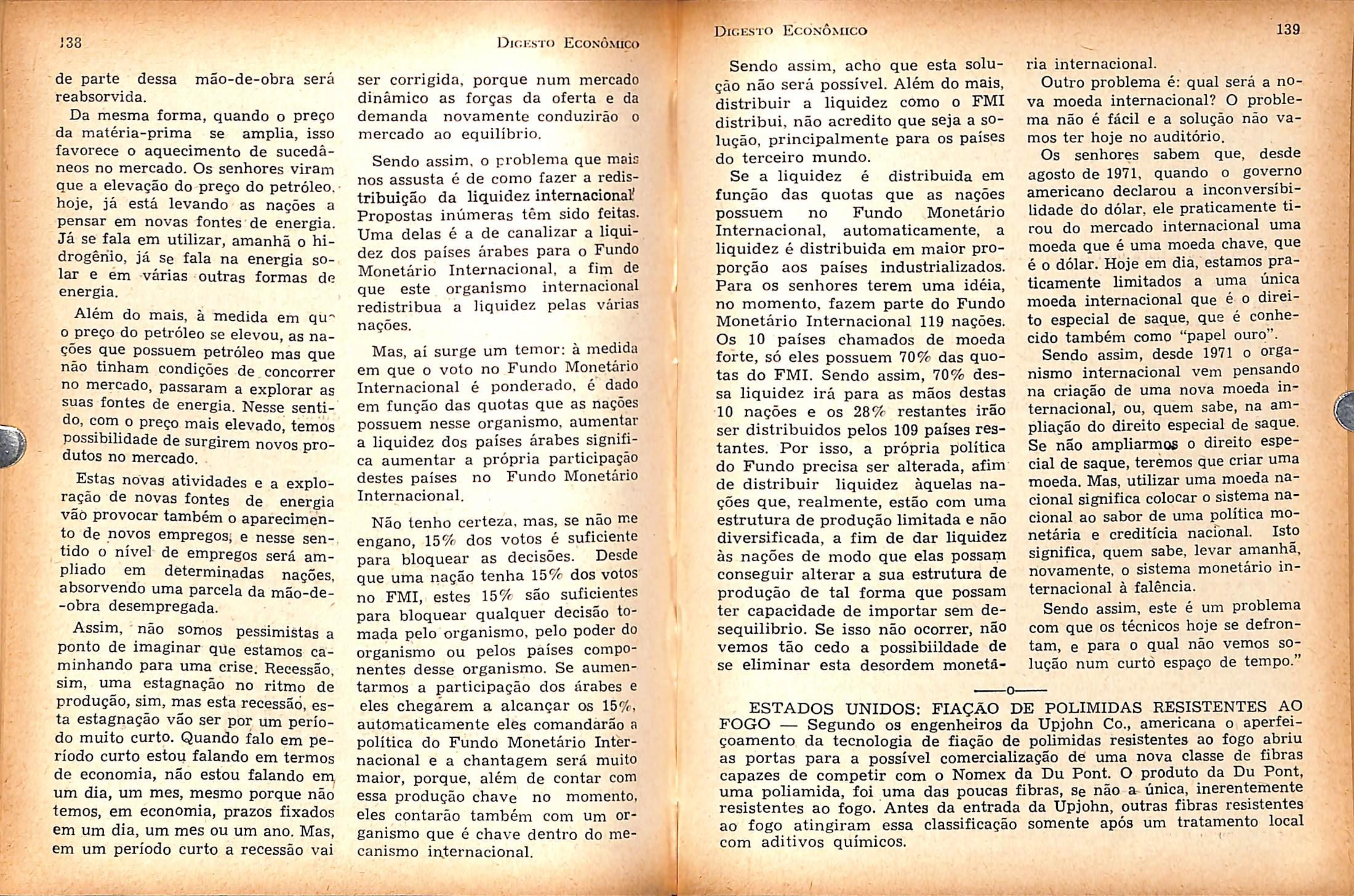
Sendo assim, acho que esta solu ção não será possível. Além do mais, distribuir a liquidez como o FMI distribui, não acredito que seja a so lução. principalmente para os países do terceiro mundo.
Se a liquidez é distribuída em função das quotas que as nações possuem no Fundo Monetário Internacional, automaticamente, a liquidez é distribuída em maior pro porção aos países industrializados. Para os senhores terem uma idéia, no momento, fazem parte do Fundo Monetário Internacional 119 nações. Os 10 países chamados de moeda forte, só eles possuem 10% das quo tas do FMI. Sendo assim, 70% des sa liquidez irá para as mãos destas 10 nações e os 28% restantes irão ser distribuídos pelos 109 países res tantes. Por isso, a própria política do Fundo precisa ser alterada, afim de distribuir liquidez àquelas na ções que, realmente, estão com uma estrutura de produção limitada e não diversificada, a fim de dar liquidez às nações de modo que elas possam conseguir alterar a sua estrutura de produção de tal forma que possam ter capacidade de importar sem de sequilíbrio. Se isso não ocorrer, não vemos tão cedo a possibiildade de se eliminar esta desordem monetá¬
ria internacional.
Outro problema é: qual será a no va moeda internacional? O proble ma não é fácil e a solução não va mos ter hoje no auditório.
Os senhores sabem que, desde agosto de 1971, quando o governo americano declarou a inconversíbilidade do dólar, ele praticamente ti do mercado internacional uma moeda que é uma moeda chave, que é o dólar. Hoje em dia, estamos pra ticamente limitados a uma única moeda internacional que é o direi to especial de saque, que é conhe cido também como “papel ouro”.
Sendo assim, desde 1971 o orga nismo internacional vem pensando de uma nova moeda inrou na cnaçao ternacional, ou, quem sabe, na am pliação do direito especial de saque. Se não ampliarmos o direito espe cial de saque, teremos que criar uma moeda. Mas, utilizar uma moeda na cional significa colocar o sistema na cional ao sabor de uma política mo netária e creditícia nacional. Isto significa, quem sabe, levar amanhã, novamente, o sistema monetário internacional à falência.
Sendo assim, este é um problema com que os técnicos hoje se defron tam, e para o qual não vemos so lução num curto espaço de tempo.”
FOGO — Segundo os engenheiros da Upjohn Co., americana o aperfei çoamento da tecnologia de fiação de polimidas resistentes ao fogo abriu as portas para a possível comercialização de uma nova classe de fibras capazes de competir com o Nomex da Du Pont. O produto da Du Pont, uma poliamida, foi uma das poucas fibras, se não a única, inerentemente resistentes ao fogo. Antes da entrada da Upjohn, outras fibras resistentes ao fogo atingiram essa classificação somente após um tratamento local com aditivos químicos.
BRASIL:- CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S/A. — O projeto da CENIBRA prevê tanto a fabricação de celulose como a de papel devendo, entretanto, concentrar-se, inicialmente, na produção de celulose, que terá início em fins de 1976. A CENIBRA é o resultado de uma “Joint-Venture” iniciada em junho de 1973, através da associação entre a Cia. Vale do Rio Doce (51%) e um grupo de empresas japonesas, reunidas na Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co. Ltd. (49%). Apesar de já pos suir uma máquina para fazer papel, com capacidade de produção de 200 toneladas diárias, não há data prevista para o início da produção. Toda a produção de celulose está sendo programada para a exportação, sendo 50% para o Japão, 25% a serem comercializadas pela Vale (no Japão ou outros mercados) e 25% para outros mercados sob controle da Vale. A CENIBRA pretende executar três projetos o de Ipatinqa-MG, onde as obras não in- dusrtiais já estão concluídas, bem como 30 a 40% das obras industriais. Já em 1987, deverá produzir 255 mil toneladas de celulose, passando, em 1986, a 510 mil toneladas; o do Espirito Santo, coin o inicio de produção marcado para 1979 (204 mil toneladas) explorando as florestas da Flo- nibra — Empreendimentos Florestais S/A., também formada em associa ção com a Japan Brazil Paper and Pulp Resources. Em 1984, a produção yra aumentada para 544 mil toneladas e, em 1986, para 680 mil tonela das; e 0 do Vale de Jequetinhonha-MG, onde poderá instalar outrr unidade industrial, junto a uma reserva de 368.000 ha, prontos para serem reflorestados. Provavelmente, serão plantados 75% de pinheiros e 25% de eucaliptos, permitindo a instalação de fábricas que produzi ríam cerca de 3.500 t. diárias de celulose; porém, não antes de 1986.
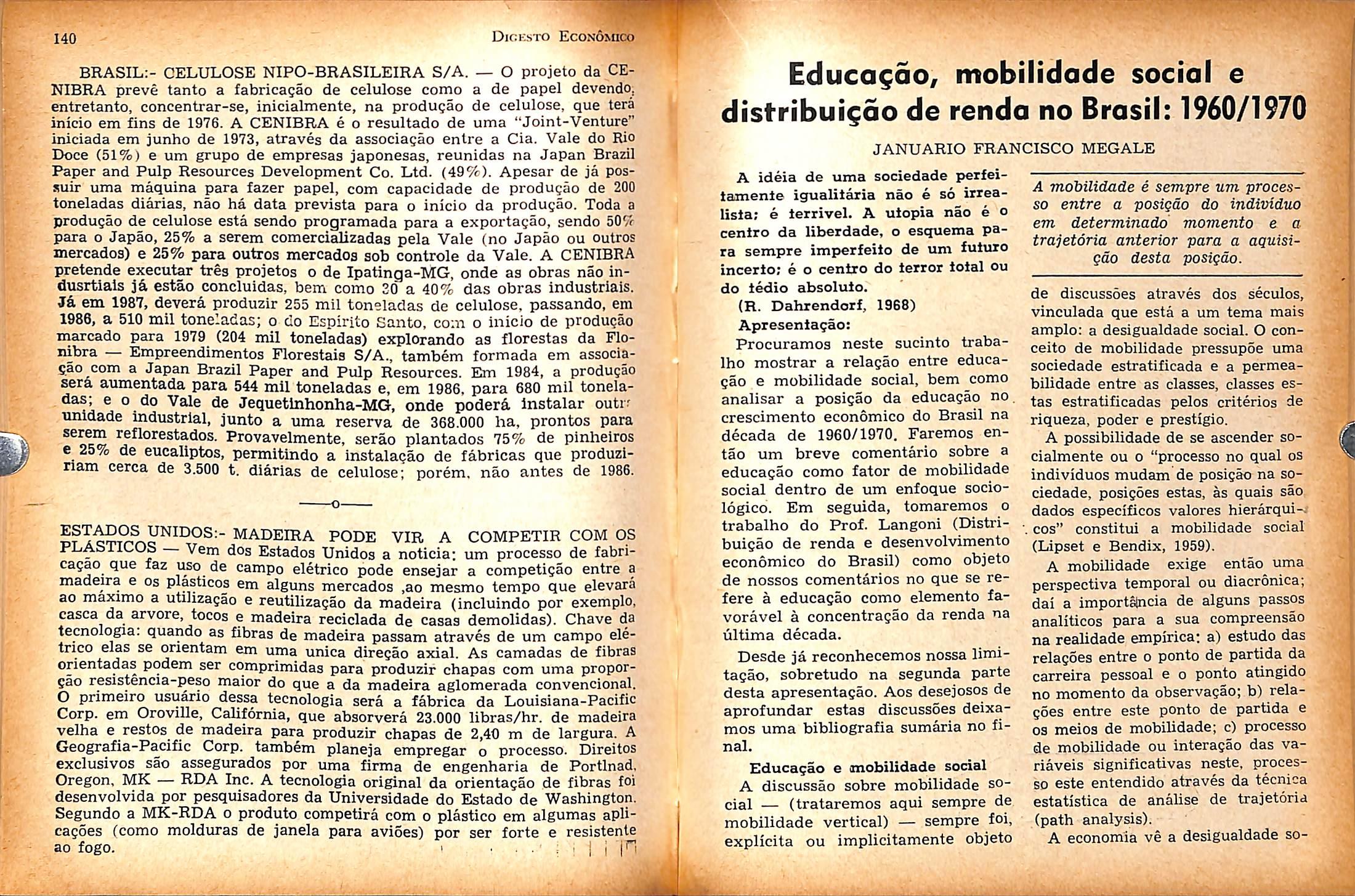
madeira pode vir A COMPETIR COM OS PLÁSTICOS Vem dos Estados Unidos a noticia; um processo de fabri- caçao que faz uso de campo elétrico pode ensejar a competição entre a madeira e os plásticos em alguns mercados ,ao mesmo tempo que elevará ao maximo a utilização e reutilização da madeira (incluindo por exemplo, casca da arvore, tocos e madeira reciclada de casas demolidas). Chave da tecnologia: quando as fibras de madeira passam através de um campo elé trico elas se orientam em uma unica direção axial. As camadas de fibras orientadas podem ser comprimidas para produzir chapas com uma propor ção resistencia-peso maior do que a da madeira aglomerada convencional. O primeiro usuário dessa tecnologia será a fábrica da Louisiana-Pacific Corp. em Oroville, Califórnia, que absorverá 23.000 libras/hr. de madeira velha e restos de madeira para produzir chapas de 2,40 m de largura. A Geografia-Pacific Corp. também planeja empregar o processo. Direitos exclusivos são assegurados por uma firma de engenharia de Portlnad. Oregon, MK — RDA Inc. A tecnologia original da orientação de fibras foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade do Estado de Washington. Segundo a MK-RDA o produto competirá com o plástico cações (como molduras de janela para aviões) por ser forte e resistente ao fogo. I algumas apU- em
JANUARIO FRANCISCO MEGALE
A idéia de uma sociedade peifeitamente igualitária não é só irrea lista; é terrível. A utopia não é o
centro da liberdade, o esquema pafutuTO ra sempre imperfeito de um incerto; é o centro do terror total ou do tédio absoluto.
Apresentação:
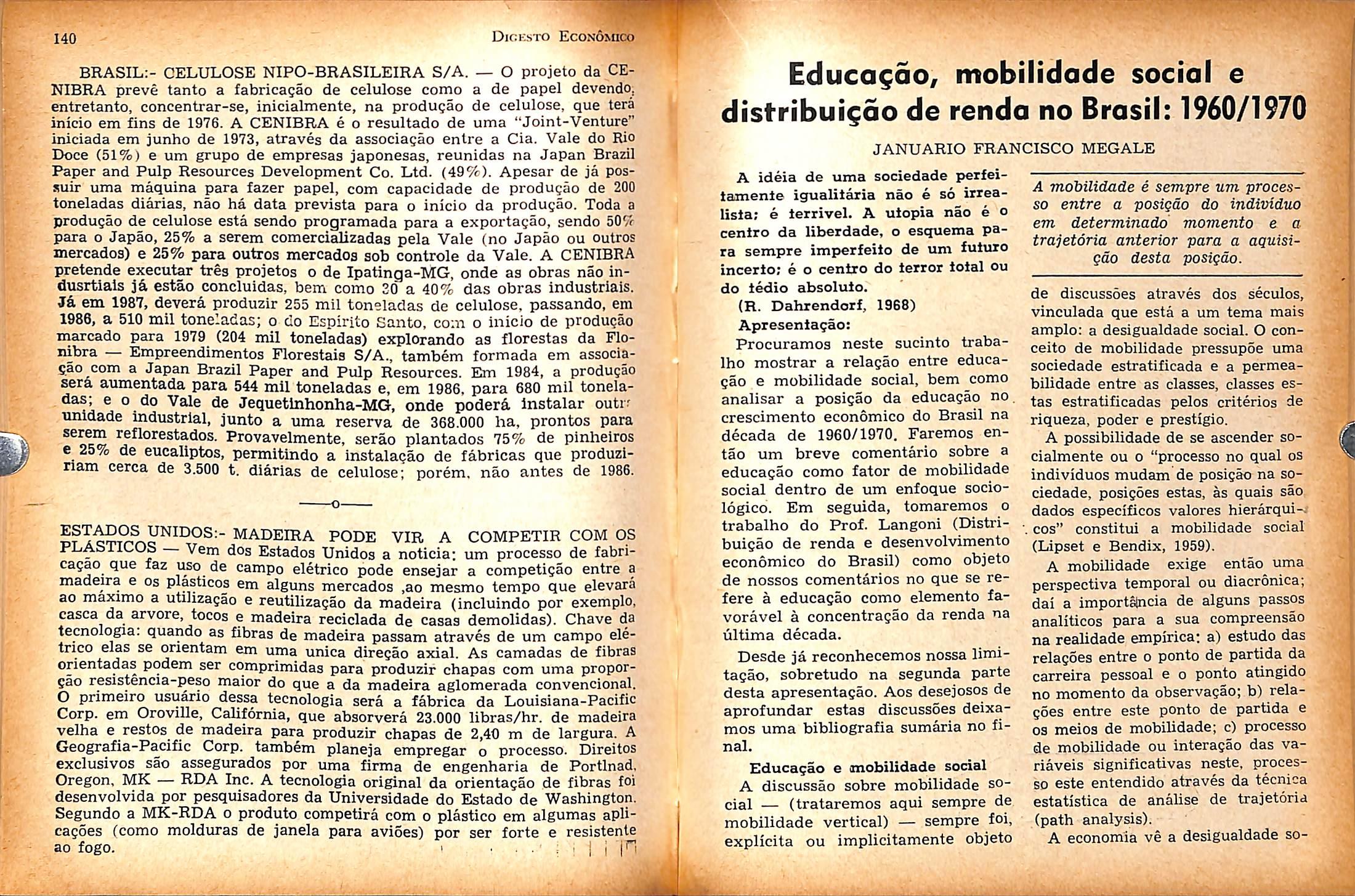
A mobilidade é sempre um proces so entre a posição do indivíduo em determinado momento e a trajetória anterior para a aquisi ção desta posição.
(R. Dahrendorf, 1968) de discussões através dos séculos, vinculada que está a um tema mais amplo: a desigualdade social. O con ceito de mobilidade pressupõe uma Iho mostrar a relação entre educa- sociedade estratificada e a permeação e mobilidade social, bem como bilidade entre as classes, classes es- analisar a posição da educação no. estratificadas pelos critérios de crescimento econômico do Brasil na
Procuramos neste sucinto trabariqueza, poder e prestígio.
década de 1960/1970. Faremos en tão um breve comentário sobre a educação como fator de mobilidade social dentro de um enfoque socio lógico. Em seguida, tomaremos o trabalho do Prof. Langoni (Distri buição de renda e desenvolvimento econômico do Brasil) como objeto de nossos comentários no que se re fere à educação como elemento fa vorável à concentração da renda na última década.
Desde já reconhecemos nossa limi tação, sobretudo na segunda parte desta apresentação. Aos desejosos de aprofundar estas discussões deixa mos uma bibliografia sumária no fi nal.
Educação e imobilidade social
A possibilidade de se ascender so cialmente ou 0 “processo no qual os indivíduos mudam de posição na so ciedade, posições estas, às quais são dados específicos valores hierárqui-. constitui a mobilidade social
'. cos (Lipset e Bendix, 1959).
A mobilidade exige então^ uma perspectiva temporal ou diacrônica; daí a importáíncia de alguns passos analíticos para a sua compreensão realidade empírica; a) estudo das relações entre o ponto de partida da carreira pessoal e o ponto atingido momento da observação; b) rela ções entre este ponto de partida e meios de mobilidade; c) processo de mobilidade ou interação das va riáveis significativas neste, proceseste entendido através da técnica na no os
A discussão sobre mobilidade so- so ciai (trataremos aqui sempre de estatística de análise de trajetória mobilidade vertical) — sempre foi, (path analysis). explícita ou implicitamente objeto A economia vê a desigualdade so-
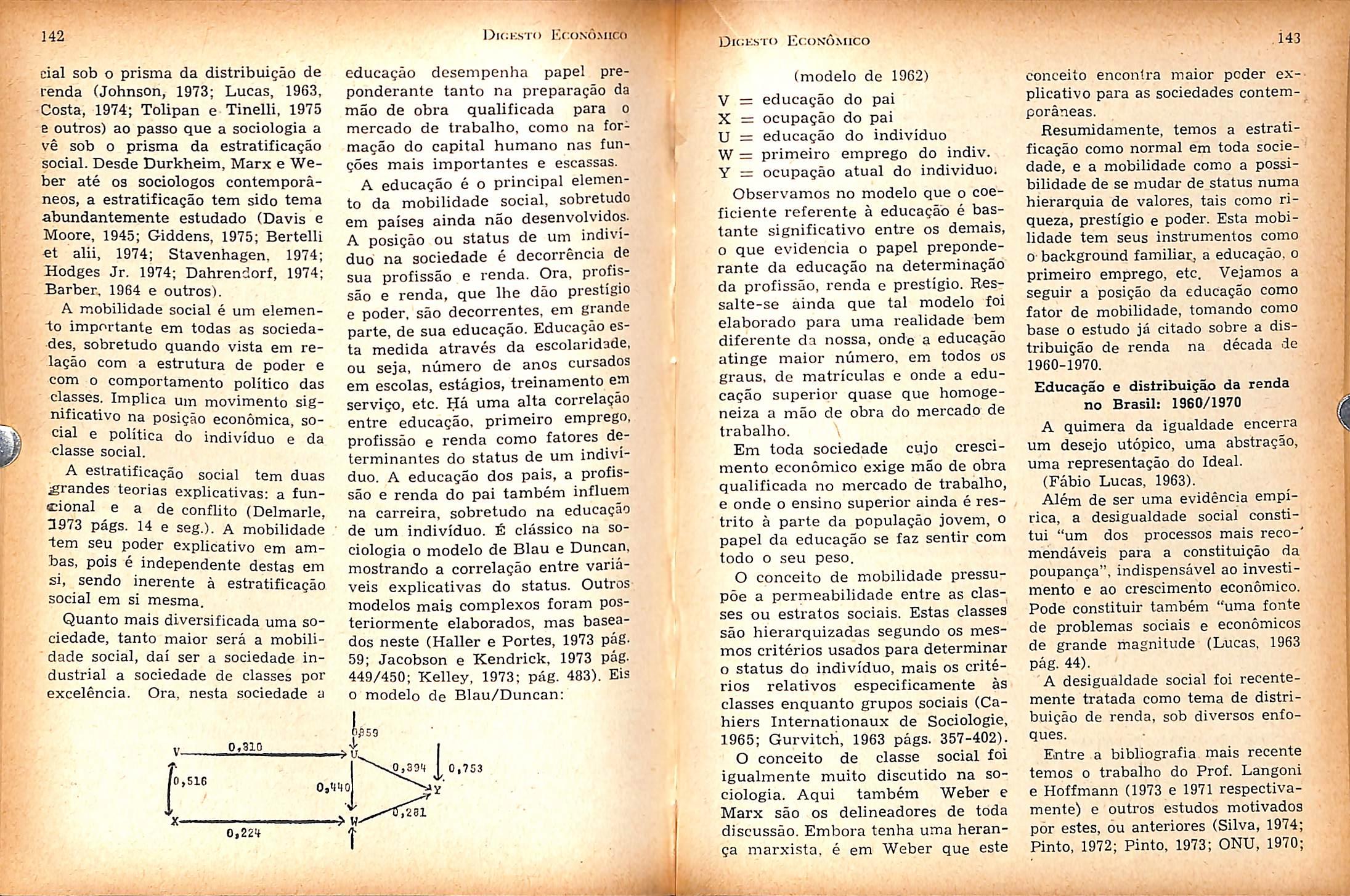
ciai sob o prisma da distribuição de renda (Johnson, 1973; Lucas, 1963, Costa, 1974; Tolipan e Tinelli, 1975 E outros) ao passo que a sociologia a vê sob o prisma da estratificação social. Desde Durkheim, Marx e Weber até os sociologos contemporâ neos, a estratificação tem sido tema âbundantemente estudado (Davis e Moore, 1945; Giddens, 1975; Bertelli et alii, 1974; Stavenhagen. 1974; Hodges Jr. 1974; Dahrendorf, 1974; Earber, 1964 e outros).
A mobilidade social é um elemenio importante em todas as socieda des, sobretudo quando vista lação com a estrutura de poder e com em reo comportamento político das classes. Implica um movimento sig nificativo na posição econômica, so cial e politica do indivíduo classe social. em e da
A estratificação social tem duas .grandes teorias explicativas: a fun cional e a de conflito (Delmarle, 1973 págs. 14 e seg.). A mobilidade "tem seu poder explicativo bas, pois é independente destas si, sendo inerente à estratificação social em si mesma.
em am¬ em
Quanto mais diversificada uma so ciedade, tanto maior será a mobili dade social, daí ser a sociedade in dustrial a sociedade de classes por excelência. Ora, nesta sociedade a
educação desempenha papel pre ponderante tanto na preparação da mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, como na for mação do capital humano nas fun ções mais importantes e escassas. A educação é o principal elemen to da mobilidade social, sobretudo em países ainda não desenvolvidos. A posição ou status de um indiví duo na sociedade é decorrência de sua profissão e renda. Ora, profis são e renda, que lhe dão prestígio e poder, são decorrentes, em grande parte, de sua educação. Educação es ta medida através da escolaridade, ou seja, número de anOs cursados escolas, estágios, treinamento em serviço, etc. Há uma alta correlação entre educação, primeiro emprego, profissão e renda como fatores de terminantes do status de um indiví duo. A educação dos pais, a profis são e renda do pai também influem na carreira, sobretudo na educação de um indivíduo. É clássico na so ciologia o modelo de Blau e Duncan, mostrando a correlação entre variá veis explicativas do status. Outros modelos mais complexos foram pos teriormente elaborados, mas basea dos neste (Haller e Portes, 1973 pág. 59; Jacobson e Kendrick, 1973 pág449/450; Kelley, 1973; pág. 483). Eis 0 modelo de Blau/Duncan:
(modelo de 1962)
V = educação do pai
X = ocupação do pai
U = educação do indivíduo
W = primeiro emprego do indiv.
Y = ocupação atual do individuo. Observamos no modelo que o coe ficiente referente à educação é bas tante significativo enti-e os demais, o que evidencia o papel preponde rante da educação na determinação da profissão, renda e prestígio. Res salte-se ainda que tal modelo foi elaborado para uma realidade bem diferente da nossa, onde a educação atinge maior número, em todos os graus, de matrículas e onde a edu cação superior quase que homogede obra do mercado de
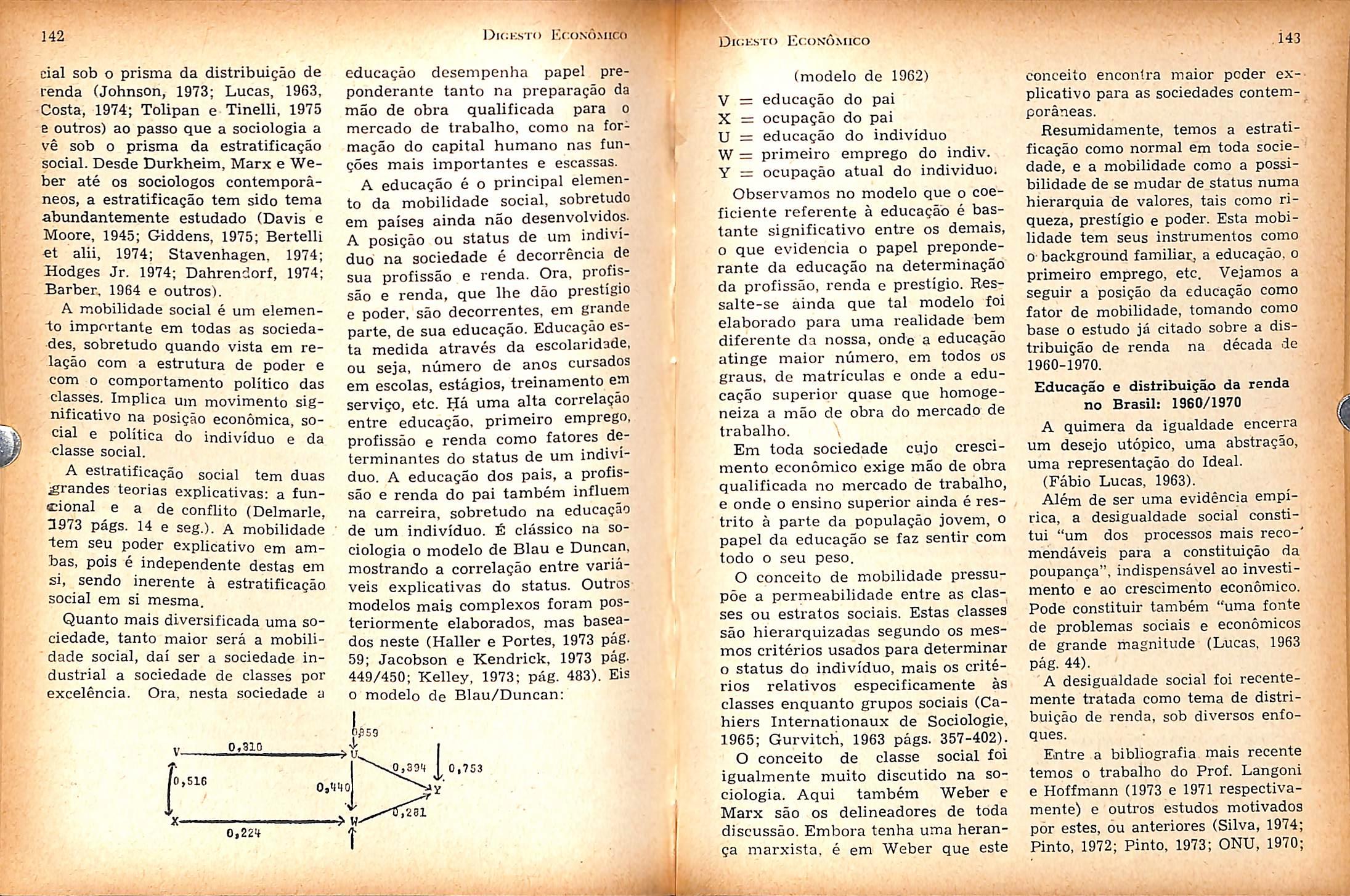
conceiío encontra maior peder ex plicativo para as sociedades contem porâneas.
Resumidamente, temos a estrati ficação como normal em toda socie dade, e a mobilidade como a possi bilidade de se mudar de status numa hierarquia de valores, tais como ri queza, prestígio e poder. Esta mobi lidade tem seus insti-umentos como
0 background familiar, a educação, o Vejamos a primeiro emprego, etc. seguir a posição da educação como fator de mobilidade, tomando como base o estudo já citado sobre a disdécada de tribuição de renda na 1960-1970.
Educação e distribuição da renda Brasil: 1960/1970 no neiza a mao trabalho.
Em toda sociedade cujo mento econômico exige mao de obra qualificada no mercado de trabalho, e onde o ensino superior ainda é res trito à parte da população jovem, papel da educação se faz sentir com todo o seu peso.
O conceito de mobilidade pressu põe a permeabilidade entre as clas ses ou estratos sociais. Estas classes
A quimera da igualdade encerra desejo utópico, uma abstração, representação do Ideal. (Fábio Lucas, 1963).
Além de ser uma evidência empía desigualdade social constidos processos mais reco-' cresci- um uma o rica, tui “um mendáveis para a constituição da poupança”, indispensável ao investi mento e ao crescimento econômico. Pode constituir também “uma fonte de problemas sociais e econômicos de grande magnitude (Lucas, 1963 são hierarquizadas segundo os mes mos critérios usados para determinar o status do indivíduo, mais os crité rios relativos especificamente às classes enquanto grupos sociais (Cahiers Internationaux de Sociologie, 1965; Gurvitch, 1963 págs. 357-402).
O conceito de classe social foi pág. 44).
A desigualdade social foi recente mente tratada como tema de distri buição de renda, sob diversos enfo¬ ques.
Entre a bibliografia mais recente temos 0 trabalho do Prof. Langoni e Hoffmann (1973 e 1971 respectiva- igualmente muito discutido na so ciologia. Aqui também Weber e Marx são os delineadores de toda mente) e outros estudos motivados pór estes, ou anteriores (Silva, 1974; Pinto, 1972; Pinto, 1973; ONU, 1970;
discussão. Embora tenha uma heran ça marxista, é em Weber que este
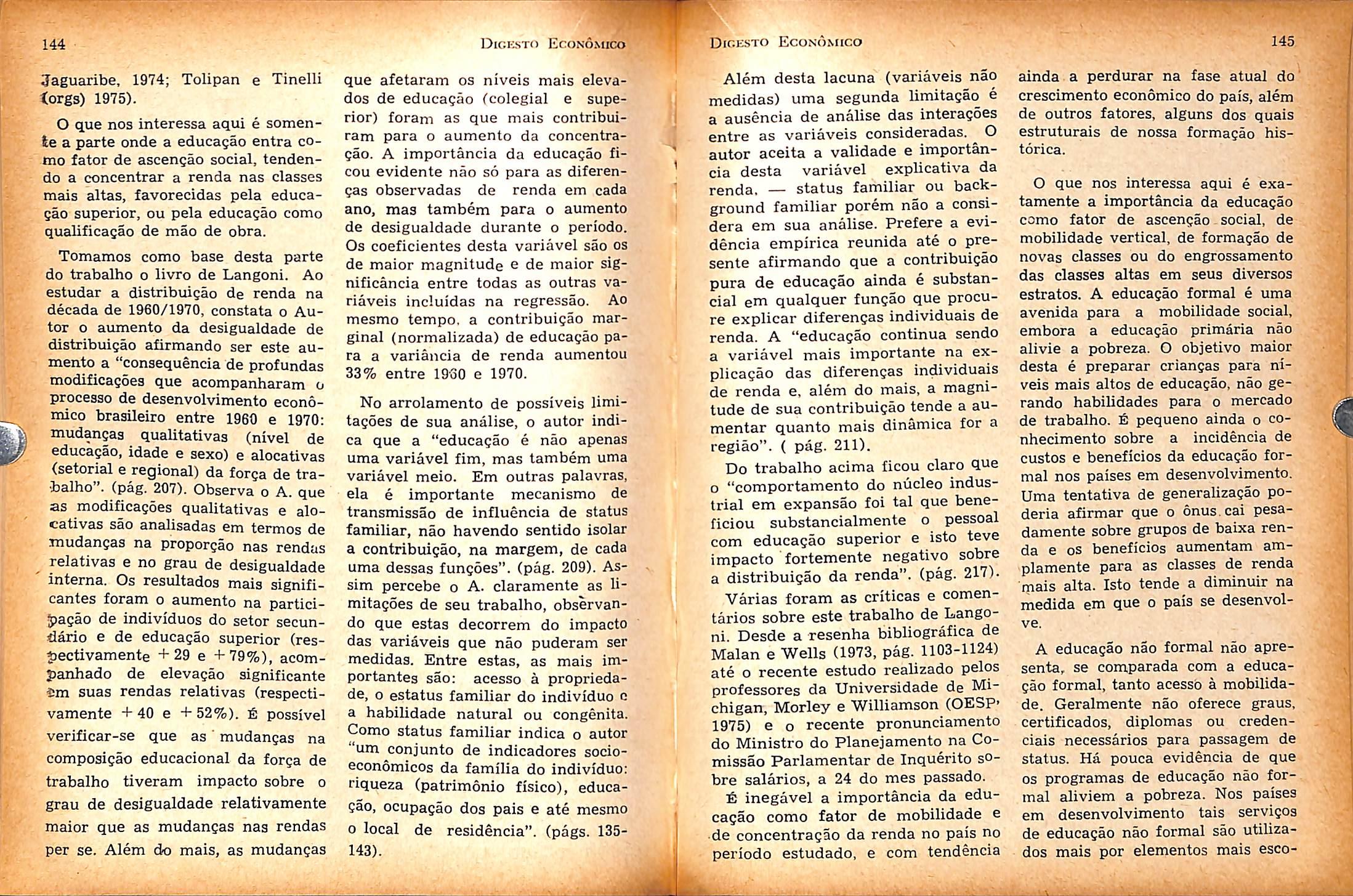
Jaguaribe, 1974; Tolipan e Tinelli torgs) 1975).
O que nos interessa aqui é somen te a parte onde a educação entra co mo fator de ascenção social, tenden do a concentrar a renda nas classes mais altas, favorecidas pela educa ção superior, ou pela educação como qualificação de mão de obra.
Tomamos como base desta parte do trabalho o livro de Langoni. Ao estudar a distribuição de renda na década de 1960/1970, constata o Au tor o aumento da desigualdade de distribuição afirmando ser este au mento a “consequência de profundas modificações que acompanharam o processo de desenvolvimento econô mico brasileiro entre 1960 e 1970: mudanças qualitativas (nível de educação, idade e sexo) e alocativas (setorial e regional) da força de tra balho”. (pág. 207). Observa o A. que as modificações qualitativas e alo cativas são analisadas em termos de mudanças na proporção nas rendas relativas e no grau de desigualdade ' interna. Os resultados mais significantes foram o aumento na partici5>ação de indivíduos do setor secun dário e de educação superior (res pectivamente + 29 e +79%) panhado de elevação significante iím suas rendas relativas (respecti vamente + 40 e + 52%). É possível verificar-se que as mudanças composição educacional da força de trabalho tiveram impacto sobre o grau de desigualdade relativamente maior que as mudanças nas rendas per se. Além do mais, as mudanças
que afetaram os níveis mais eleva dos de educação (colegial e supe rior) foram as que mais contribui ram para o aumento da concentra ção. A importância da educação fi cou evidente não só para as diferen ças observadas de renda em cada ano, mas também para o aumento de desigualdade durante o período. Os coeficientes desta variável são os de maior magnitude e de maior significância entre todas as outras va riáveis incluídas na regressão. Ao mesmo tempo, a contribuição mar ginal (normalizada) de educação pa ra a variância de renda aumentou 33% entre 19o0 e 1970.
acomna
No arrolamento de possíveis limi tações de sua análise, o autor indi ca que a “educação é não apenas uma variável fim, mas também uma variável meio. Em outras palavras, ela é importante mecanismo de transmissão de influência de status familiar, não havendo sentido isolar a contribuição, na margem, de cada uma dessas funções”, (pág. 209). As sim percebe o A. claramente as li mitações de seu trabalho, observan do que estas decorrem do impacto das variáveis que não puderam ser medidas. Entre estas, as mais im portantes são: acesso à proprieda¬ de, o estatus familiar do indivíduo o a habilidade natural ou congênita. Como status familiar indica o autor “um conjunto de indicadores socioeconômicos da família do indivíduo; riqueza (patrimônio físico), educa ção, ocupação dos pais e até mesmo 0 local de residência”, (págs. 135143).
O
Além desta lacuna (variáveis não medidas) uma segunda limitação é a ausência de análise das interações entre as variáveis consideradas. ^ autor aceita a validade e importânvariável explicativa da
ainda a perdurar na fase atual do crescimento econômico do país, além de outros fatores, alguns dos quais estruturais de nossa formação his tórica.
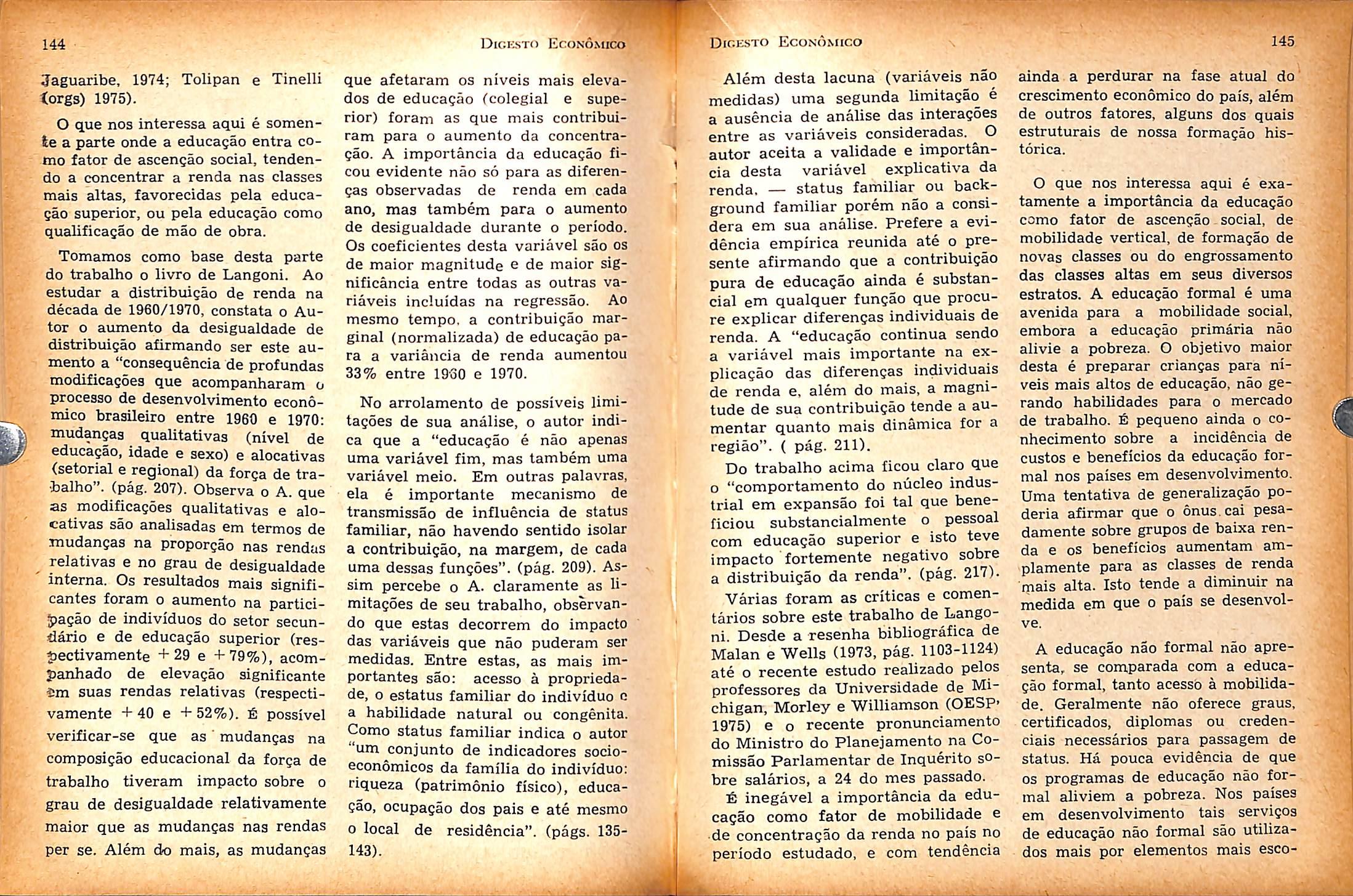
cia desta renda, — status familiar ou background familiar porém não a consi dera em sua análise. Prefere a evi dência empírica reunida até o pre sente afirmando que a contribuição de educação ainda é substan-
pura
ciai em qualquer função que procu re explicar diferenças individuais de renda. A “educação continua sendo a variável mais importante na ex plicação das diferenças individuais de renda e, além do mais, a magni tude de sua contribuiçãotende a au mentar quanto mais dinâmica for a região”. ( pág. 211).
o
Do trabalho acima ficou claro que “comportamento do núcleo indus trial em expansão foi tal que bene ficiou substancialmente o pessoal com educação superior e isto teve impacto fortemente negativo sobre a distribuição da renda”, (pág. 217).
Várias foram as críticas e comen tários sobre este trabalho de Lango ni. Desde a resenha bibliográfica de Malan e Walls (1973, pág. 1103-1124) até o recente estudo realizado pelos professores da Universidade de Michigan, Morley e Williamson (OESP* 1975) e o recente pronunciamento do Ministro do Planejamento na Co missão Parlamentar de Inquérito so bre salários, a 24 do mes passado. É inegável a importância da edufator de mobilidade e ve,
caçao como de concentração da renda no país no período estudado, e com tendência
O que nos interessa aqui é exa tamente a importância da educação como fator de ascenção social, de mobilidade vertical, de formação de novas classes ou do engrossamento das classes altas em seus diversos estratos. A educação formal é uma avenida para a mobilidade social, embora a educação primária não alivie a pobreza. O objetivo maior desta é preparar crianças para ní veis mais altos de educação, não ge rando habilidades para o mercado de trabalho. É pequeno ainda o co nhecimento sobre a incidência de custos e benefícios da educação for mal nos países em desenvolvimento. Uma tentativa de generalização po dería afirmar que o ônus. cai pesadamente sobre grupos de baixa ren da e os benefícios aumentam am plamente para as mais alta. Isto tende a diminuir na medida em que o país se desenvol-
Iclasses de renda
A educação não formal não apre senta, se comparada com a educa ção formal, tanto acesso à mobilida de. Geralmente não oferece graus, certificados, diplomas ou creden ciais necessários para passagem de status. Há pouca evidência de que programas de educação não for mal aliviem a pobreza. Nos países em desenvolvimento tais serviços de educação não formal são utiliza dos mais por elementos mais escoos
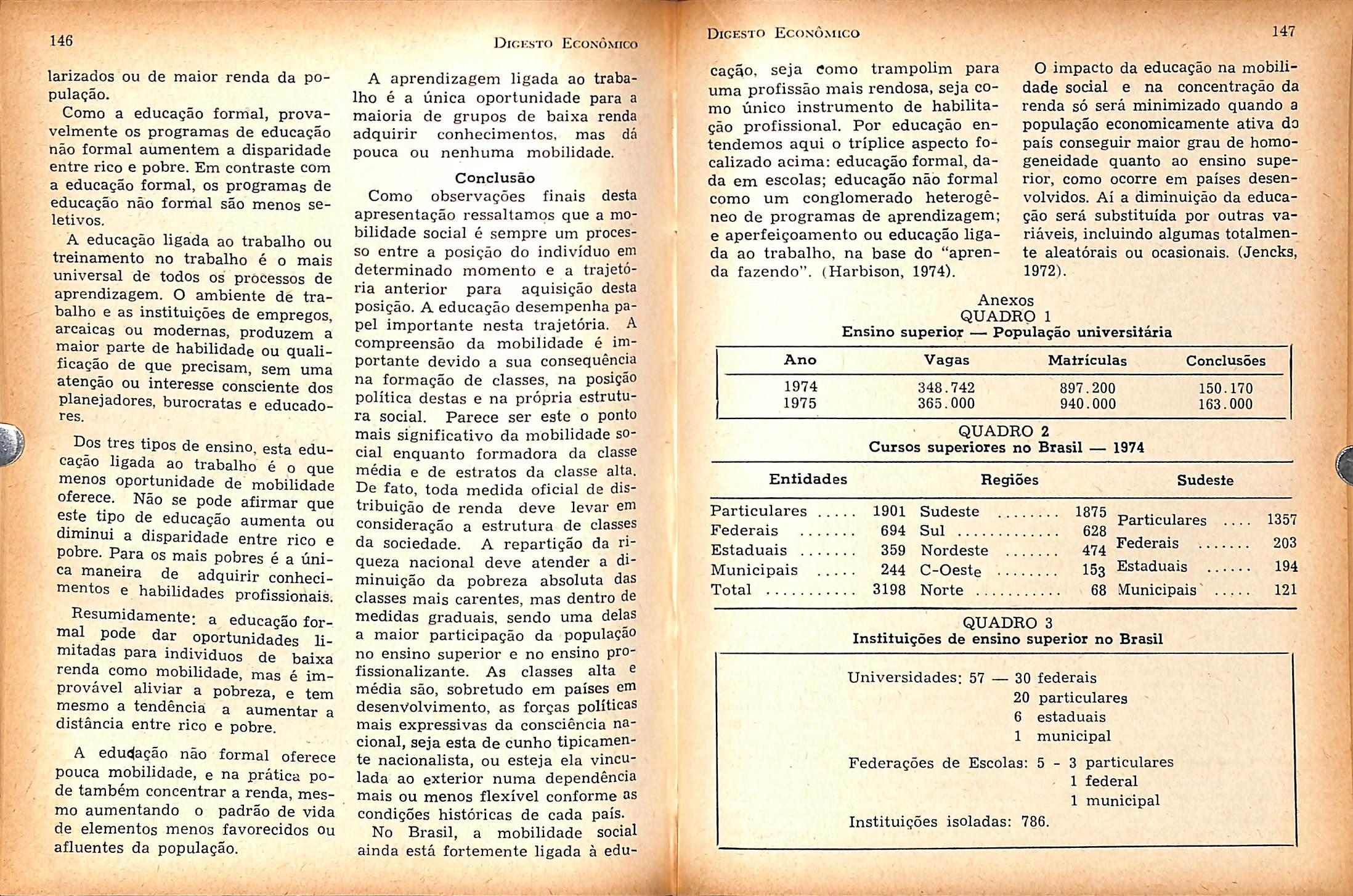
larizados ou de maior renda da po pulação.
Como a educação formal, prova velmente os programas de educação não formal aumentem a disparidade entre rico e pobre. Em contraste com a educação formal, os programas de educação não formal são menos se letivos.
A educação ligada ao trabalho ou treinamento no trabalho é o mais universal de todos os processos de aprendizagem. O ambiente de tra balho e as instituições de empregos, arcaicas ou modernas, produzem a maior parte de habilidade ou quali ficação de que precisam, atenção ou interesse consciente dos planejadores, burocratas e educado res.
Dos tres tipos de cação ligada ao trabalho é o que menos oportunidade de mobilidade oferece.
ensino, esta eduNao se pode afirmar que este tipo de educação aumenta diminui a disparidade entre pobre. Para os mais pobres é a únide adquirir conheci mentos e habilidades profissionais. ou nco e ca maneira
Resumidamente; a educação for mal pode dar oportunidades li mitadas para individuos renda como mobilidade, provável aliviar mesmo a tendência distância entre rico e pobre. de baixa mas é ima pobreza, e tem a aumentar a
A educação não formal oferece pouca mobilidade, e na prática de também concentrar a renda, mes mo aumentando o padrão de vida de elementos menos favorecidos ou afluentes da população. po-
A aprendizagem ligada ao traba lho é a única oportunidade para a maioria de grupos de baixa renda adquirir conhecimentos, mas dá pouca ou nenhuma mobilidade.
Conclusão
Como observações finais desta apresentação ressaltamos que a mo bilidade social é sempre um proces so entre a posição do indivíduo em determinado momento e a trajetó ria anterior para aquisição desta posição. A educação desempenha pa pel importante nesta trajetória. A compreensão da mobilidade é im portante devido a sua consequência na formação de classes, na posição política destas e na própria estrutu ra social. Parece ser este o ponto mais significativo da mobilidade so cial enquanto formadora da classe média e de estratos da classe alta. De fato, toda medida oficial de dis tribuição de renda deve levar em consideração a estrutura de classes da sociedade. A repartição da ri queza nacional deve atender a di minuição da pobreza absoluta das classes mais carentes, mas dentro de medidas graduais, sendo uma delas a maior participação da população no ensino superior e no ensino pro fissionalizante. As classes alta e média são, sobretudo em países cm desenvolvimento, as forças políticas mais expressivas da consciência na cional, seja esta de cunho tipicamen te nacionalista, ou esteja ela vincu lada ao exterior numa dependência mais ou menos flexível conforme os condições históricas de cada país. No Brasil, a mobilidade social ainda está fortemente ligada à edu-
cação, seja Como trampolim para uma profissão mais rendosa, seja co mo único instrumento de habilita ção profissional. Por educação en tendemos aqui o tríplice aspecto fo calizado acima: educação formal, da da em escolas; educação não formal como um conglomerado heterogê neo de programas de aprendizagem; e aperfeiçoamento ou educação liga da ao trabalho, na base do “apren da fazendo”. (Harbison, 1974).
O impacto da educação na mobili dade social e na concentração da renda só será minimizado quando a população economicamente ativa do pais conseguir maior grau de homo geneidade quanto ao ensino supe rior, como ocorre em países desen volvidos. Aí a diminuição da educa ção será substituída por outras va riáveis, incluindo algumas totalmen te aleatórais ou ocasionais. (Jencks, 1972).
Anexos
QUADRO 1
Ensino superior — População universitária
Ano Vagas Matrículas Conclusões
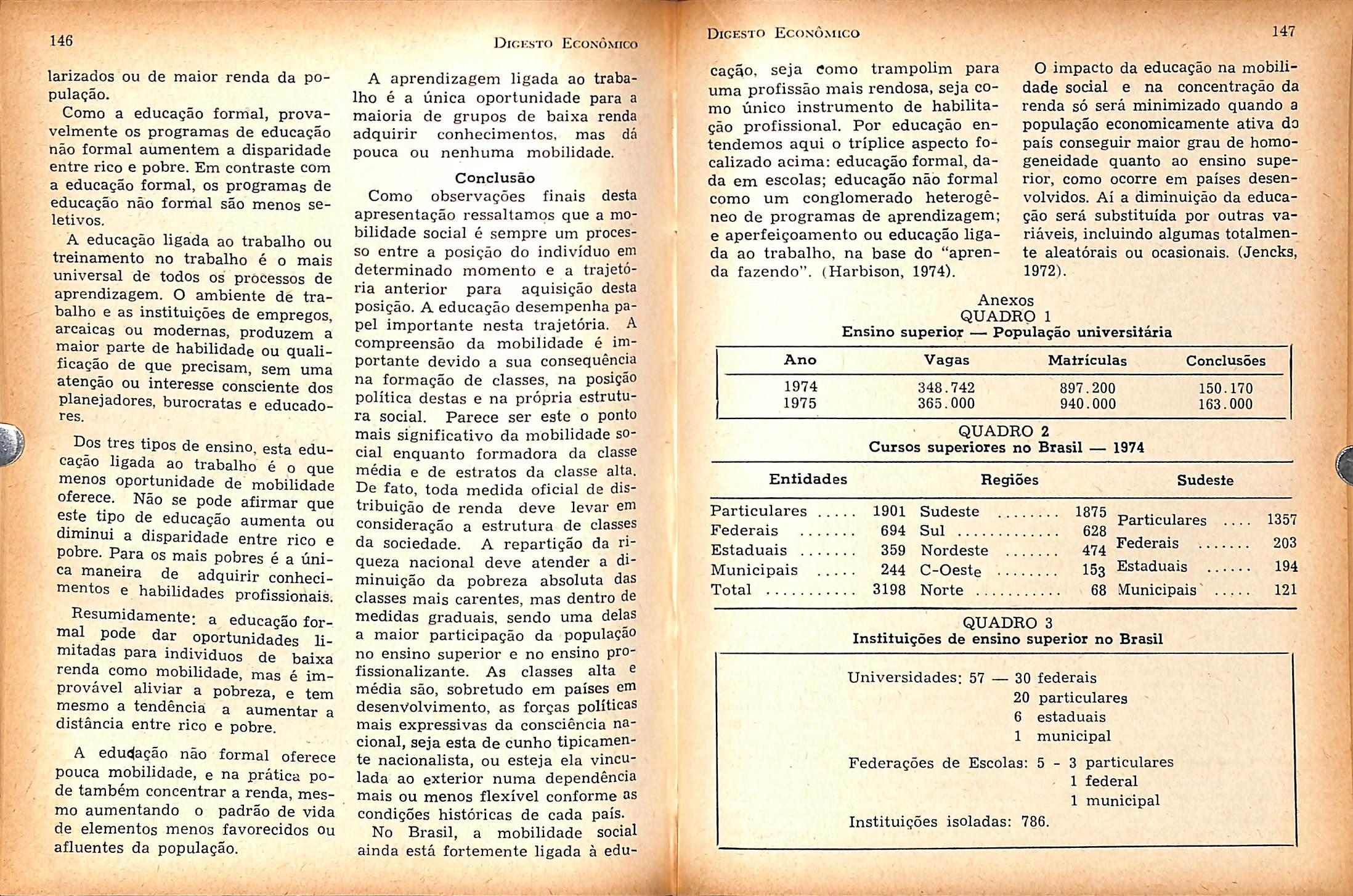
Entidades
Particulares
Federais
Estaduais .
Municipais
Total
QUADRO 2
Cursos superiores no Brasil 1974
Regiões Sudeste
QUADRO 3
Instituições de ensino superior no Brasil
Universidades: 57 — 30 federais
20 particulares
6 estaduais
1 municipal
Federações de Escolas: 5-3 particulares
1 federal
1 municipal
Instituições isoladas: 786.
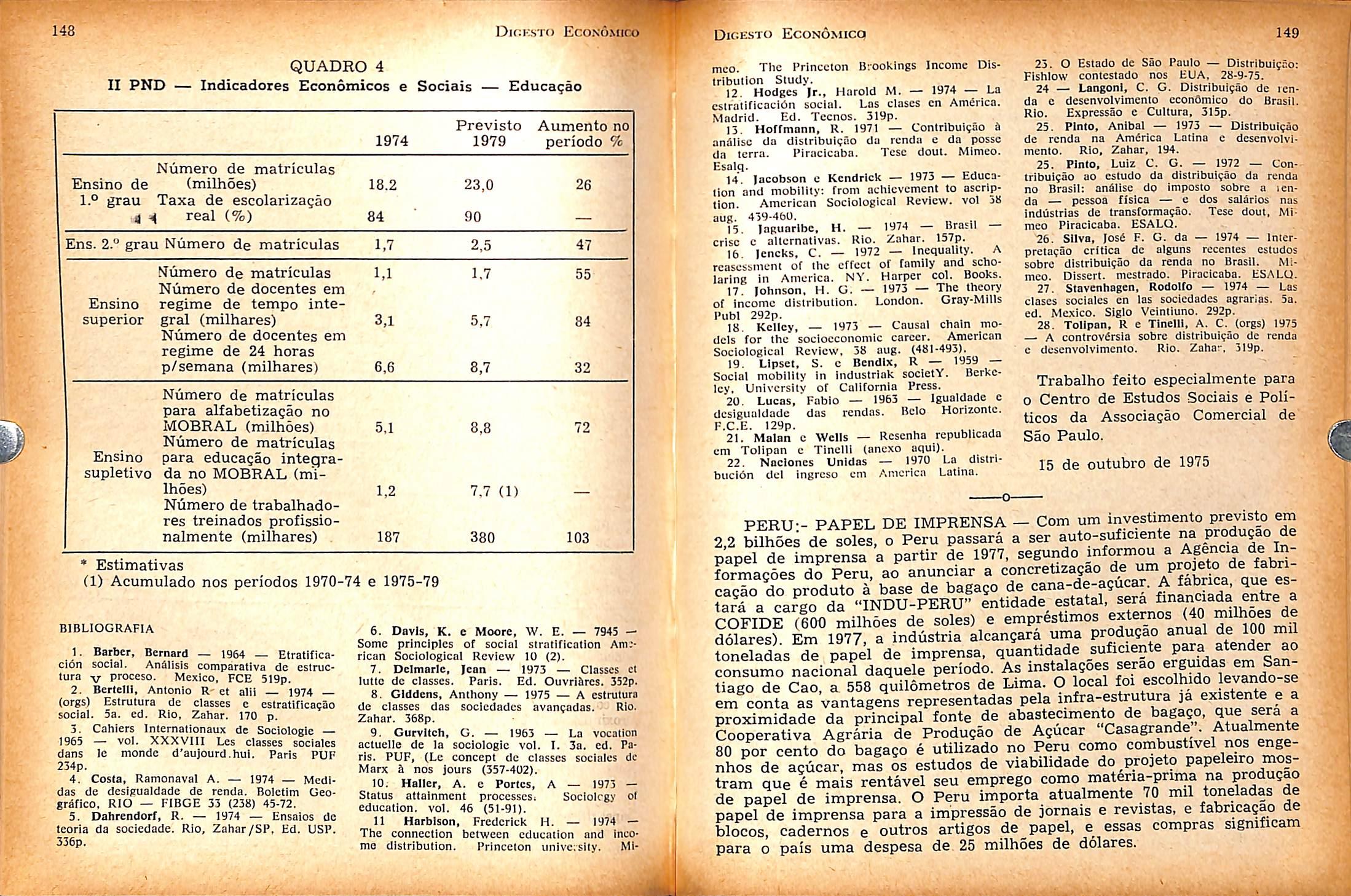
de
Número de matrículas (milhões)
l.° grau Taxa de escolarização real (%)
a 4
Ens. 2.“ grau Número de matriculas
Número de matrículas
Número de docentes em Ensino regime de tempo intesuperior gral (milhares)
Número de docentes em regime de 24 horas p/semana (milhares)
Número de matrículas para alfabetização no MOBRAL (milhões)
Número de matrículas
Ensino para educação integra- supletivo da no MOBRAL (m'iIhões)
Número de trabalhado res treinados profissio nalmente (milhares)
* Estimativas (1) Acumulado nos períodos 1970-74 e 1975-79
BIBLIOGRAFIA
1. Barber, Bernard — 1964 ción social. EtratiíicaAnãlisis comparativa dc eslruc* México, FCE 519p.
6. Dnvis, K. e Moorc, W. E. — 7945 — Some principies of social sinitificalion Amirican Sociological Rcvicw lü (2). 1973
7. Dclmarlc, jeon Classes ct tura V proceso. Rio.
2. Bcrtclli, Anlonio R-ct alü 1974 (orgs) Estrutura de classes e cstratificação social. 5a. ed. Rio. Zahar. 170 p.
5^ Cahiers Internationaux de Sociologie — vol. XXXVIII Les classes sociales dans Ic monde d’aujourd.hui. Paris PUF 234p.
lutlo dc classes. Paris. Ed. Ouvriãrcs. 352p.
8. Glddcns, Anthony — 1975 — A estrutura dc classes das sociedades avançadas. Zahar. 368p.
9. Gurvltch, G.
1963
1965 1973
4. Costa, Ramonaval A. — 1974 — Medi das de desigualdade de renda. Boletim Geo gráfico, RIO — FIBGE 33 (238) 45-72.
5. Dafirendorf, R. — 1974 teoria da sociedade. Rio, Zahar/SP. Ed. USP. 336p.
La vocation actuelle de la sociologie vol. I. 3a. cd. Pa ris. PUF, (Lc concept de classes sociales dc Marx à nos jours (357-402).
10. Hallcr, A. e Portes, A Status attoinmcnt processes^ education. vol. 46 (51-91).
Sociolcgy of Ensaios üc 11 1974 Ml- Princcton univcisity.
Harblson, Frcdcrick H. The conncction beiwecn education and inco me distríbution.
The Princcton Brookings Jncome Dis- meo. Iribulion Study.
12. Hodges Jr., Harold M. — 1974 “ La cstratificación social. Las clases cn América. Madrid. Ed. Tecnos. 519p.
13. Hoffmonn, R. 1971 — Contribuição ã aniilisc da distribuição da renda e da posse Tese dout. Mimeo. Piracicaba. da terra. Esalq.
14 )acobson e Kcndrlck — 197o — Educa- lion and mobilUy. from achievement to ascrip- Amcrican Sociological Revlcw. vol j8
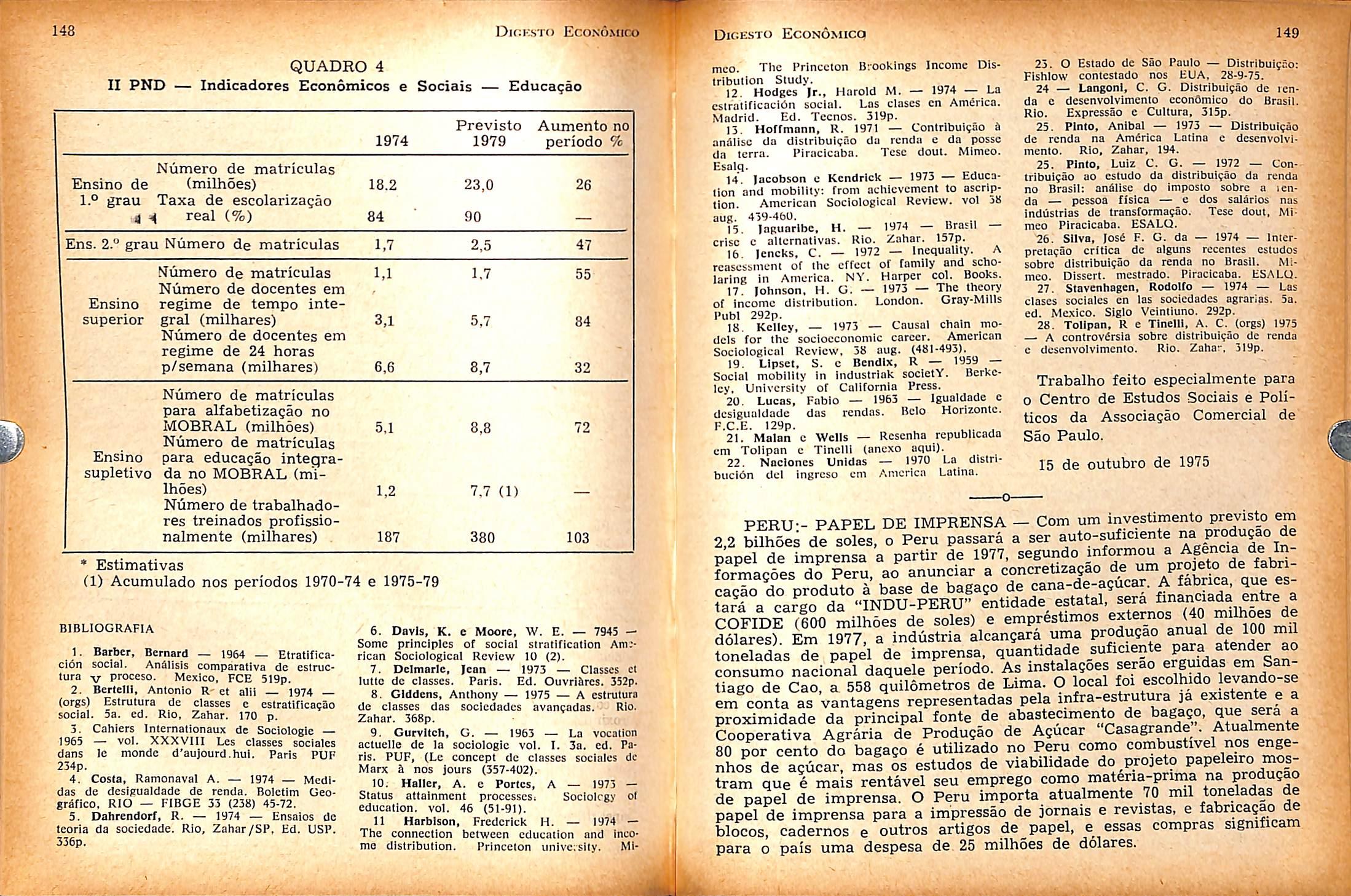
25. O Esiado dc São Paulo — Distribuição: Fishiow conlcslado nos EUA, 28-9-75.
24 — Langonl, C. G. Distribuição de icnda e desenvolvimento econômico do Brasil. Rio. Expressão c Cultura, Õ15p.
25. Pinto, Anibal — 1973 — Distribuição de renda na Amírico Latina c desenvolvi mento. Rio, Zohar, 194.
1972 Conlion. aug. 439-4bU.
15. Jaguarlbc, H. crise c alternativas. Rio. Zahar. 157p.
25. Pinto, Luiz C. G. tribuição ao estudo da distribuição da renda no Brasil: análise do imposto sobre a lenda — pessoa física — e dos salários nas indústrias de transformação. Tese dout, Mimeo
Piracicaba. ESALQ.
Brasil 1974 Milaring in America.
16. Icncks, C. — 1972 — Inequality. A rcasessnicnt oí ihc cffect of family and scho* NY. Harper col. Books. 1973 — The thcory of income disiribution. London. Publ 292p.
17. Jolinson, H. G. meo.
Gray-Mills
18. Kcllcy, deis for ihe socioeconomic corcer. Sociological Rcvicw, 58 aug. (481-493).
Causai Chain moAmerican 1975
26. Silva, José F. G. da — 1974 — Inter pretação crítica dc alguns recentes estudos sobre distribuição da renda no Brasil. Dissert. mestrado. Piracicaba. ESALU.
27. Siavenhagcn, Rodolfo — 1974 — Las clases sociales cn las sociedades agrarias. 5a. cd. México. Siglo Veintiuno. 292p.
28- Tolipan, R e Tlnelli, A. C. (orgs) 1975 A controvérsia sobre distribuição de renda e desenvolvimento.
Rio. Zahav, 519p. 1959 Berkc-
19. Lipsct, S. e Bcndlx, R — Social mobility in induslriak socictY. Icy. Universilv of Califórnia Press. 1965 — Igualdade c Belo Horizonte.
20. Lucas, Filbio desigualdade das rendas.
F.C.E. I29p. .
21. Malnn c Wells — Resenha republicada cm Tolipan c Tinelli (anexo aqui).
22. Nacloncs Unidas — 1970 La dislnbución dei ingreso em America Latina.
Trabalho feito especialmente para Centro de Estudos -Sociais e Polí ticos da Associação Comercial de São Paulo.
15 de outubro de 1975
PAPEL DE IMPRENSA — Com um investimento previsto em auto-suficiente na produção de PERU; 2,2 bilhões de soles, o Peru passará a ser -- Ap£nna Hp Tn papel de imprensa a partir de 1977, miormoua Aêenc.^ d^^^ formações do Peru, ao anunciar a concretizaçãoJ^e um projeto^de fa^^^ cação do produto à base de bagaço de cana-d ^ .í, j ’ entre a tará a careo da “INDU-PERU” entidade estatal, sera financiada entre a COFIDE (600 milhões de soles) e empréstimos externos (40 dólares) Em 1977, a indústria alcançará uma produção anual de 100 mil toneladas papel de imprensa, quantidade suficiente para atender ao conlumo nacional daquele período. As instalações f.^^°"^Smdas em San tiago de Cao, a 558 quilômetros de Lima. O local foi escolhido ®e em conta as vantagens representadas pela infra-estrutura ja existente e a proximidade da principal fonte de abastecimento de bagaço, sera a Cooperativa Agrária de Produção de Açúcar ‘ 80 Dor cento do bagaço é utilizado no Peru como cornbustivel nos enge nhos de açúcar, mas os estudos de viabilidade do projeto papeleiro rnos- tram que é mais rentável seu emprego como matena-priina de papel de imprensa. O Peru importa atualmente 70 mil toneladas de papel de imprensa para a impressão de jornais e revistas, e fabricaçao blocos, cadernos e outros artigos de^papel, e essas compras significam para o país uma despesa de 25 milhões de dólares.
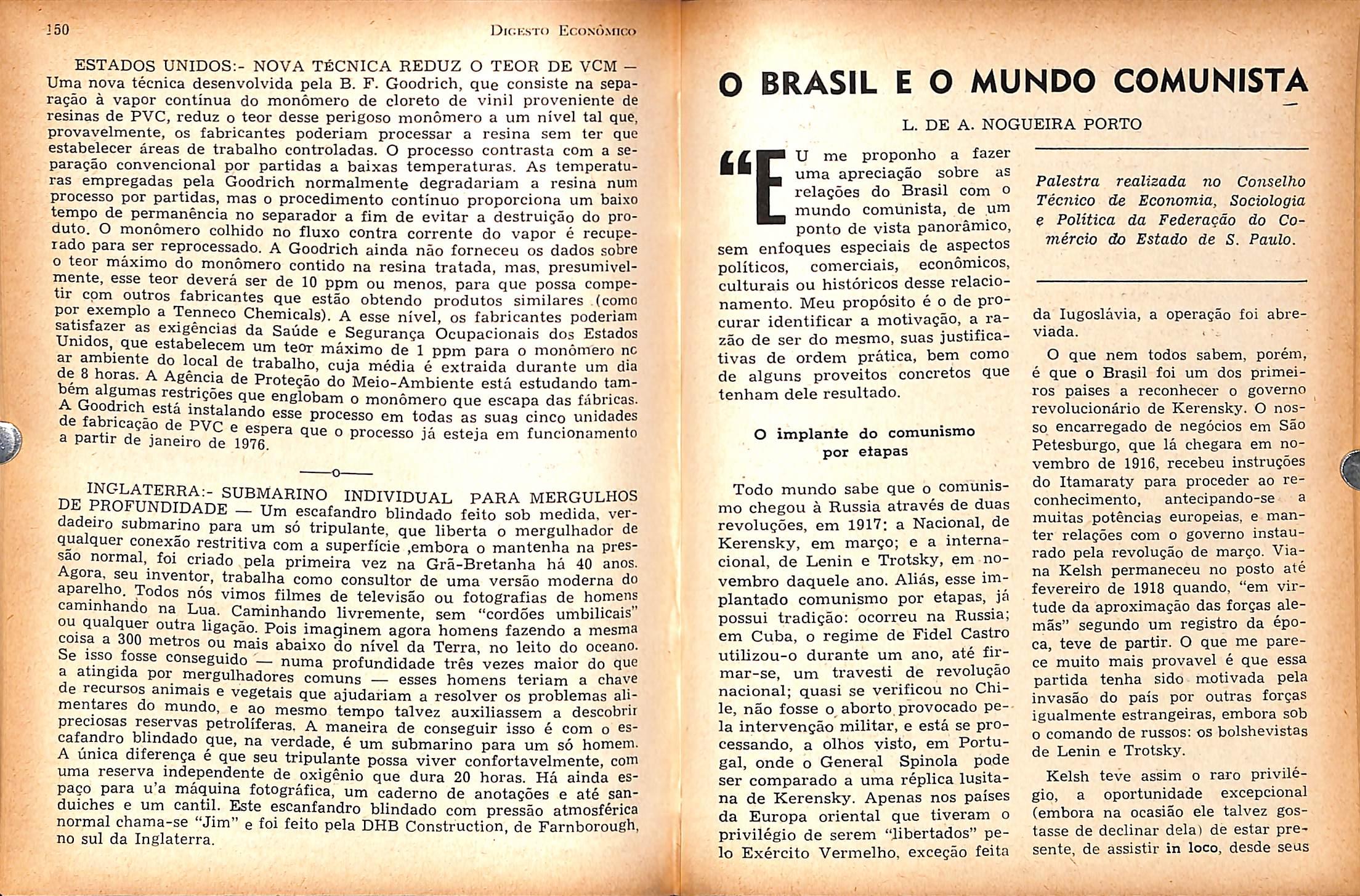
ESTADOS UNIDOS:- NOVA TÉCNICA REDUZ O TEOR DE VCMUma nova técnica desenvolvida pela B. F. Goodrich, que consiste na sepa ração à vapor continua do monómero de cloreto de vinil proveniente de resinas de PVC, reduz o teor desse perigoso monómero a um nível tal que, provavelmente, os fabricantes poderíam processar a resina sem ter que estabelecer áreas de trabalho controladas. O processo contrasta com a se paração convencional por partidas a baixas temperaturas. As temperatu ras empregadas pela Goodrich normalmente degradariam a resina num processo por partidas, mas o procedimento contínuo proporciona um baixo tempo de permanência no separador a fim de evitar a destruição do pro duto. O monómero colhido no fluxo contra corrente do vapor é recupe rado para ser reprocessado. A Goodrich ainda não forneceu os dados sobre o teor máximo do monómero contido na resina tratada, mas, presumivel- rnente, esse teor deverá ser de 10 tir com outros fabricantes ppm ou menos, para que possa compeque estão obtendo produtos similares (como por exemplo a Tenneco Chemicals). A esse nível, os fabricantes poderíam exigências da Saúde e Segurança Ocupacionais dos Estados ííT. estabelecem um teor máximo de 1 ppm para o monómero nc Hp r hnrac \ A trabalho, cuja média é extraída durante um dia hprr* Agcncia de Proteção do Meio-Ambiente está estudando tam- A Goodrirh pçoes que englobam o monómero que escapa das fábricas, de fabricacãn Hp processo em todas as suas cinco unidades a partir d| janeiro d^ ° processo já esteja em funcionamento
O-
daHpi K — Um escafandro blindado feito sob medida aaaeiro submarino para um só tripulante, que liberta o mergulhador de qualquer conexão restritiva com a superfície ,embora o mantenha na pres são normal, foi criado pela primeira vez na Grã-Bretanha há 40 anos. como consultor de uma versão moderna do ^ ● .fodos nos vimos filmes de televisão ou fotografias de homens camin ando na Lua. Caminhando livremente, sem “cordões umbilicais" outra ligação. Pois imaginem agora homens fazendo a mesma a o metros ou mais abaixo do nível da Terra, no leito do oceano, conseguido — numa profundidade três vezes maior do qne ^ ^ *^?^®ulhadores comuns — esses homens teriam a chave e cursos animais e vegetais que ajudariam a resolver os problemas ali mentares do mundo, e ao mesmo tempo talvez auxiliassem a descobrir preciosas reservas petrolíferas. A maneira de conseguir isso é com o es cafandro blindado que, na verdade, é um submarino para um só homem. A unica diferença e que seu tripulante possa viver confortavelmente, com uma reserva independente de oxigênio que dura 20 horas. Há ainda es paço para u a máquina fotográfica, um caderno de anotações e até san duíches e um cantil. Este escanfandro blindado com pressão atmosférica normal chama-se “Jim” e foi feito pela DHB Construction, de Farnborough, no sul da Inglaterra. , ver-
EU me proponho a fazer uma apreciação sobre relações do Brasil com mundo comunista, de um ponto de vista panorâmico, enfoques especiais de aspectos econômicos,
as
Palestra realizada no Conselho Técnico de Economia, Sociologia e Política da Federação do Co mércio do Estado de S. Paulo. o sem políticos, comerciais, culturais ou históricos desse relacio namento. Meu propósito é o de pro curar identificar a motivação, a ra zão de ser do mesmo, suas justifica tivas de ordem prática, bem como de alguns proveitos concretos <3ue tenham dele resultado.
da Iugoslávia, a operação foi abre viada.
Todo mundo sabe que o comunis mo chegou à Rússia através de duas revoluções, em 1917: a Nacional, de Kerensky, em março; e a interna cional, de Lenin e Trotsky, em no vembro daquele ano. Aliás, esse im plantado comunismo por etapas, já possui tradição: ocorreu na Russia; em Cuba, o regime de Fidel Castro utilizou-o durante um ano, até firtravesti de revolução mar-se, um nacional; quasi se verificou no Chi le, não fosse o aborto provocado pe la intervenção militar, e está se pro cessando, a olhos yisto, em Portu gal, onde o General Spinola pode ser comparado a uma réplica lusita na de Kerensky. Apenas nos países da Europa oriental que tiveram o privilégio de serem “libertados” pe lo Exército Vermelho, exceção feita
O que nem todos sabem, porém, é que o Brasil foi um dos primei ros paises a reconhecer o governo revolucionário de Kerensky. O nos so encarregado de negócios em São Petesburgo, que lá chegara em no vembro de 1916, recebeu instruções do Itamaraty para proceder ao re conhecimento, antecipando-se a muitas potências europeias, e man ter relações com o governo instau rado pela revolução de março. Via na Kelsh permaneceu no posto ate fevereiro de 1918 quando, “em vir tude da aproximação das forças ale mãs” segundo um registro da épo ca, teve de partir. O que me pare ce muito mais provável é que essa partida tenha sido motivada pela invasão do país por outras forças igualmente estrangeiras, embora sob comando de russos: os bolshevistas de Lenin e Trotsky.
o Kelsh teve assim o raro priviléa oportunidade excepcional gio, (embora na ocasião ele talvez gos¬ tasse de declinar dela) de estar pre sente, de assistir in loco, desde seus
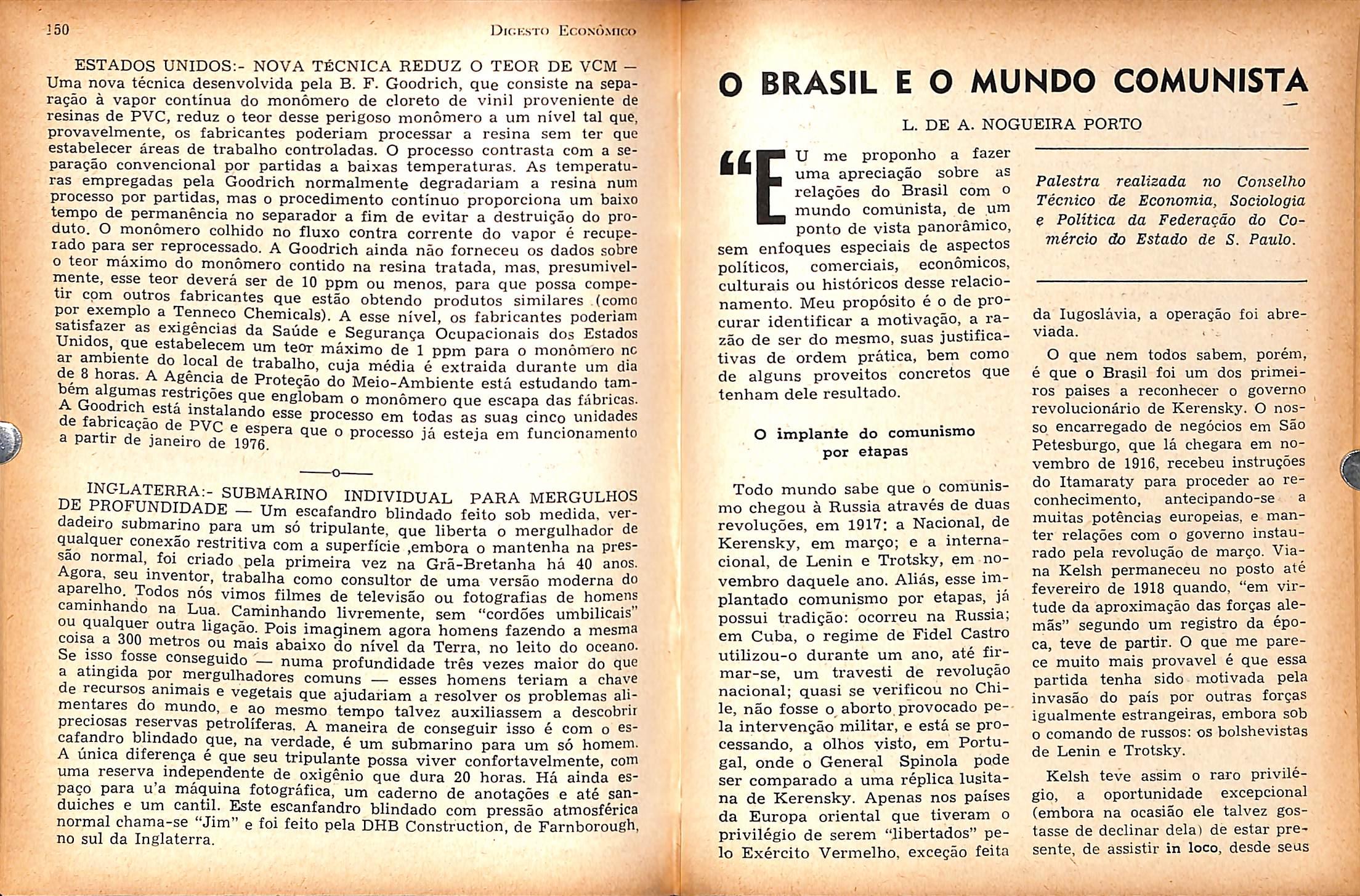
O implante do comunismo por etapas 4
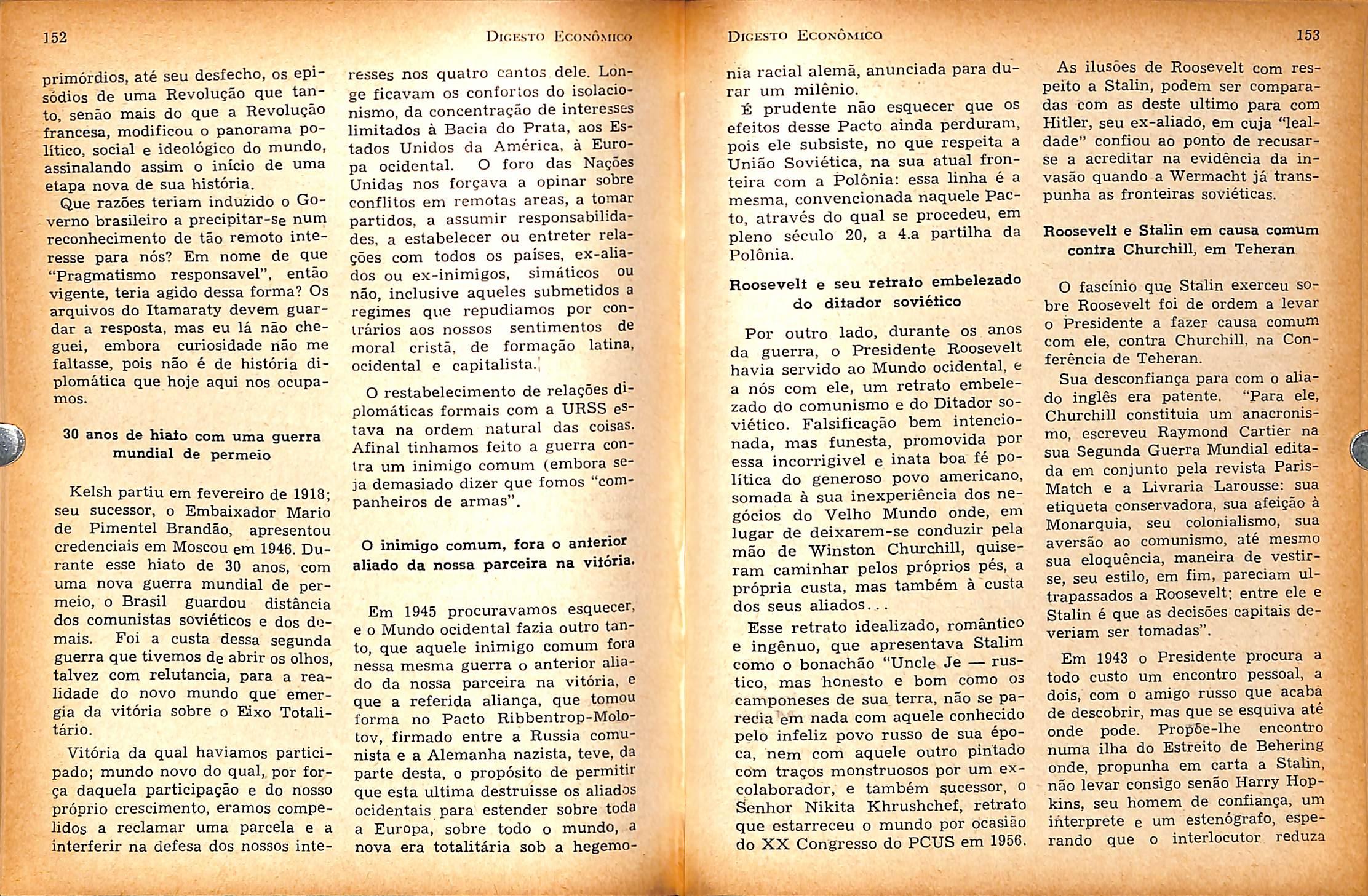
ge
resses nos quatro cantos dele. Lonficavam os confortos do isolacionismo, da concentração de interesses limitados à Bacia do Prata, aos Es tados Unidos da América, à Euroocidental.
O foro das Nações sobre pa ou con-
irarios aos nossos moral cristã, de formação latina, ocidental e capitalista.,
Unidas nos forçava a opinar conflitos em remotas areas, a tomar partidos, a assumir responsabilida des, a estabelecer ou entreter rela ções com todos os países, ex-alia dos ou ex-inimigos, simáticos não, inclusive aqueles submetidos a regimes que repudiamos por sentimentos de primórdios, até seu desfecho, os epi sódios de uma Revolução que tan to, senão mais do que a Revolução francesa, modificou o panorama po lítico, social e ideológico do mundo, assinalando assim o início de uma etapa nova de sua história, Que razões teriam induzido o Go verno brasileiro a precipitar-Se num reconhecimento de tão remoto inte resse para nós? Em nome de que “Pragmatismo responsável”, então vigente, teria agido dessa forma? Os arquivos do Itamaraty devem guar dar a resposta, mas eu lá não cheguei, embora curiosidade não me faltasse, pois não é de história di plomática que hoje aqui nos ocupa mos.
30 anos de hiaio com uma guerra mundial de permeio
Kelsh partiu em fevereiro de 1918; seu sucessor, o Embaixador Mario de Pimentel Brandão, apresentou credenciais em Moscou em 1946. Du rante esse hiato de 30
O restabelecimento de relações di plomáticas formais com a URSS es lava na ordem natural das coisas. Afinal tínhamos feito a guerra conira um inimigo comum (embora se ja demasiado dizer que fomos “com panheiros de armas”.
O inimigo comum, fora o anterior aliado da nossa parceira na vitóris* anos, com uma nova guerra mundial de per meio, o Brasil guardou distância dos comunistas soviéticos e dos do¬
Foi a custa dessa segunda mais. guerra que tivemos de abrir os olhos, talvez com relutância, para a rea lidade do novo mundo que emer gia da vitória sobre o Eixo Totali tário.
Vitória da qual haviamos partici pado; mundo novo do qual, por for ça daquela participação e do nosso próprio crescimento, éramos compe lidos a reclamar uma parcela e a interferir na defesa dos nossos inte-
e 0
Em 1945 procuravamos esquecer, Mundo ocidental fazia outro tan to, que aquele inimigo comum fora anterior alia-
nessa mesma guerra o do da nossa parceira na vitória, e que a referida aliança, que tomou forma no Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado entre a Rússia comu nista e a Alemanha nazista, teve, da parte desta, o propósito de permitir que esta ultima destruísse os aliados ocidentais para estender sobre toda a Europa, sobre todo o mundo, a nova era totalitária sob a hegemo-
nia racial alema, anunciada para du rar um milênio.
É prudente não esquecer que os efeitos desse Pacto ainda perduram, pois ele subsiste, no que respeita a União Soviética, na sua atual fron-
Polônia: essa linha é a convencionada naquele Pacteira com a mesma to, através do qual se procedeu, em pleno século 20, a 4.a partilha da Polônia.
Roosevelt e seu retrato embelezado do ditador soviético
Por outro lado, durante os anos Presidente Roosevelt da guerra, o havia servido ao Mundo ocidental, e a nós com ele, um retrato embele zado do comunismo e do Ditador so viético. Falsificação bem intencio nada, mas funesta, promovida por essa incorrigível e inata boa fé po-
As ilusões de Roosevelt com res peito a Stalin, podem ser compara das com as deste ultimo para com Hitler, seu ex-aliado, em cuja ‘leal dade” confiou ao ponto de recusarse a acreditar na evidência da in vasão quando a Wermacht jâ trans punha as fronteiras soviéticas.
Roosevelt e Stalin em causa comum contra Churchill, em Teheran
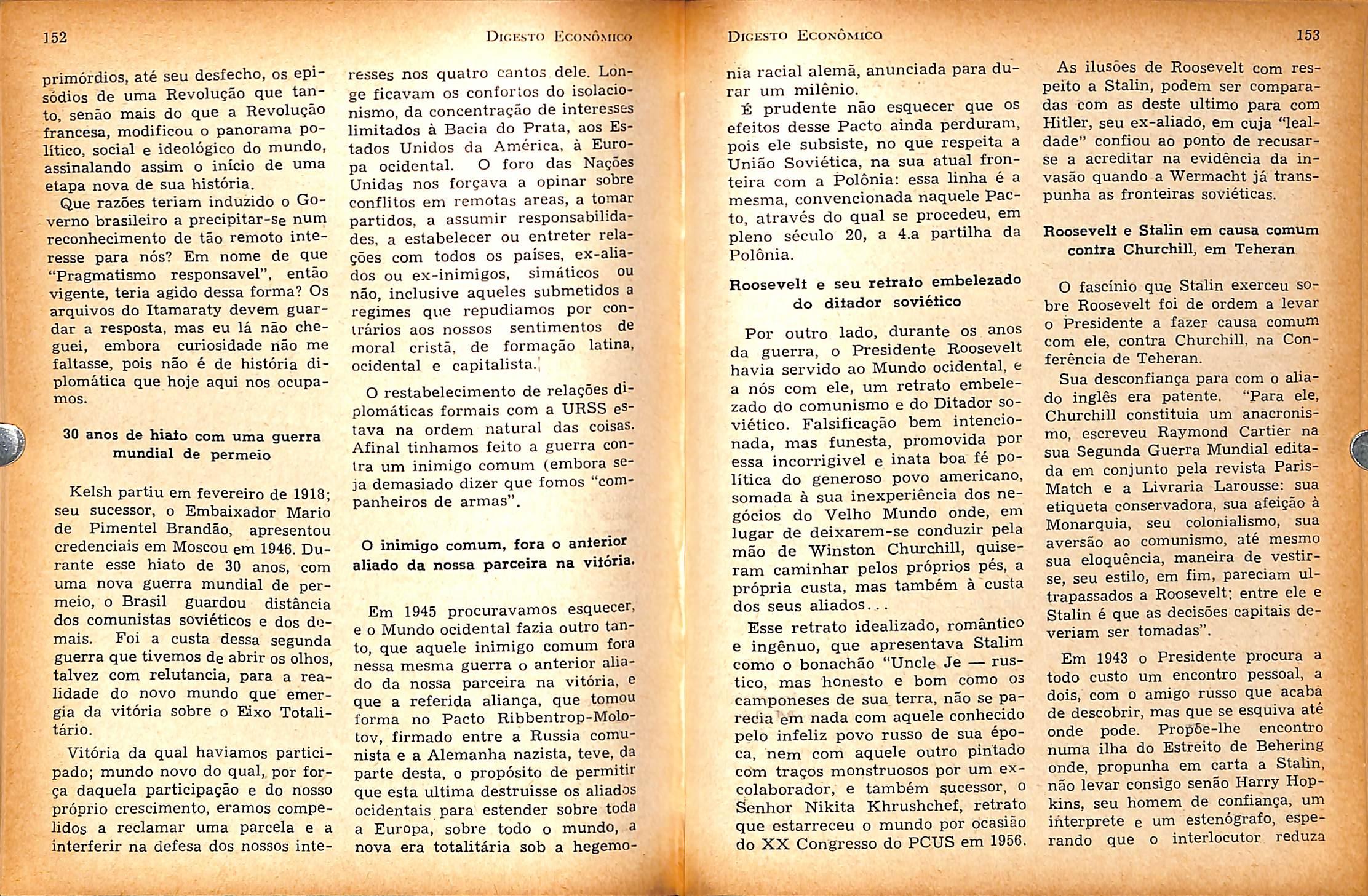
o
O fascínio que Stalin exerceu sor bre Roosevelt foi de ordem a levar Presidente a fazer causa comum com ele, contra Churchill, na Con ferência de Teheran.
Sua desconfiança para com o alia‘Para ele. do inglês era patente. Churchill constituía um anacronisescreveu Raymond Cartier na Segunda Guerra Mundial editamo, sua da em conjunto pela revista ParisMatch e a Livraria Larousse: sua etiqueta conservadora, sua afeição à Monarquia, seu colonialismo, comunismo, até mesmo lítica do generoso povo americano, somada à sua inexperiência dos nedo Velho Mundo onde, em gocios lugar de deixarem-se conduzir pela mão de Winston Churchill, quise ram caminhar pelos próprios pés, a própria custa, mas também à custa dos seus aliados.. . sua aversao ao sua eloquência, maneira de vestirestilo, em fim, pareciam ul- se, seu trapassados a Roosevelt; entre ele e Stalin é que as decisões capitais deser tomadas”.
Esse retrato idealizado, romântico e ingênuo, que apresentava Stalim como o bonachão “Uncle Je — rús tico, mas honesto e bom como os camponeses de sua terra, não se pa recia em nada com aquele conhecido pelo infeliz povo russo de sua épo ca, nem com aquele outro pintado com traços monstruosos por um excolaborador, e também sucessor, Senhor Nikita Khrushchef, retrato que estarreceu o mundo por ocasiao do XX Congresso do PCUS em 1956.
venam
Em 1943 o Presidente procura a todo custo um encontro pessoal, a dois, com o amigo russo que acaba de descobrir, mas que se esquiva até onde pode. Propõe-lhe encontro ilha do Estreito de Behering numa onde, propunha em carta a Stalin, levar consigo senão Harry Hop- o nao kins, seu homem de confiança, um interprete e um estenógrafo, espe rando que o interlocutor, reduza
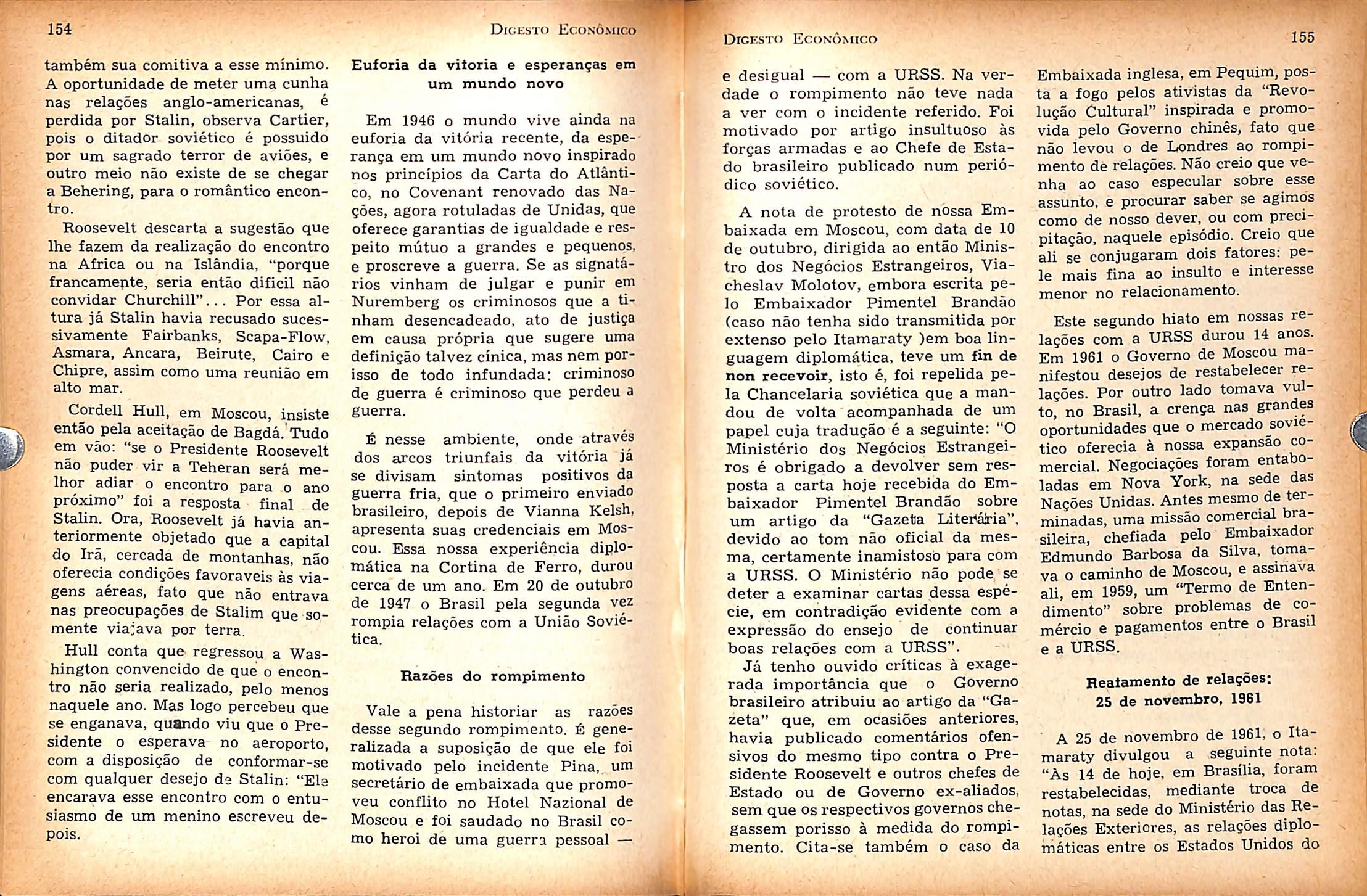
também sua comitiva a esse mínimo. A oportunidade de meter uma cunha nas relações anglo-americanas, é perdida por Stalin, observa Cartier, pois o ditador soviético é possuido por um sagrado terror de aviões, e outro meio não existe de se chegar a Behering, para o romântico encon tro.
Roosevelt descarta a sugestão que lhe fazem da realização do encontro na África ou na Islândia, “porque francamepte, seria então dificil não convidar Churchill”... Por essa al tura já Stalin havia recusado suces sivamente Fairbanks, Scapa-Flow, Asmara, Ancara, Beirute. Cairo e Chipre, assim como uma reunião em alto mar.
Cordell Hull, em Moscou, insiste então pela aceitação de Bagdá.’Tudo em vao: se o Presidente Roosevelt não puder vir a Teheran será me lhor adiar o encontro para o ano próximo” foi a resposta final Stalin. Ora, Roosevelt já havia an teriormente objetado que a capital do Ira. cercada de montanhas, oferecia condições favoráveis às via gens aéreas, fato que não entrava nas preocupações de Stalim que mente viajava por terra. de nao so-
Hull conta que regressou a Waso encon- hington convencido de que tro não seria realizado, pelo menos naquele ano. Mas logo percebeu que se enganava, quando viu que o Pre sidente o esperava no aeroporto, com a disposição de conformar-se com qualquer desejo de Stalin: “Ela
Euforia da vitoria e esperanças em um mundo novo
Em 1946 o mundo vive ainda na euforia da vitória recente, da espe rança em um mundo novo inspirado nos princípios da Carta do Atlânti co, no Covenant renovado das Na ções, agora rotuladas de Unidas, que oferece garantias de igualdade e res peito mútuo a grandes e pequenos, e proscreve a guerra. Se as signatá rios vinham de julgar e punir em Nuremberg os criminosos que a ti nham desencadeado, ato de justiça em causa própria que sugere uma definição talvez cínica, mas nem porisso de todo infundada: criminoso de guerra é criminoso que perdeu a guerra.
É nesse ambiente, onde através dos arcos triunfais da vitória já se divisam sintomas positivos da guerra fria, que o primeiro enviado brasileiro, depois de Vianna Kelsh, apresenta suas credenciais em Mos cou. Essa nossa experiência diplo* mática na Cortina de Ferro, durou cerca de um ano. Em 20 de outubro de 1947 o Brasil pela segunda vez rompia relações com a União Sovié tica.
Razões do Tompimenlo
Vale a pena historiar as razões desse segundo rompimento. É gene ralizada a suposição de que ele foi motivado pelo incidente Pina, um secretário de embaixada que promo veu conflito no Hotel Nazional de Moscou e foi saudado no Brasil co mo herói de uma guerra pessoal — encarava esse encontro com o entu siasmo de um menino escreveu de¬ pois.
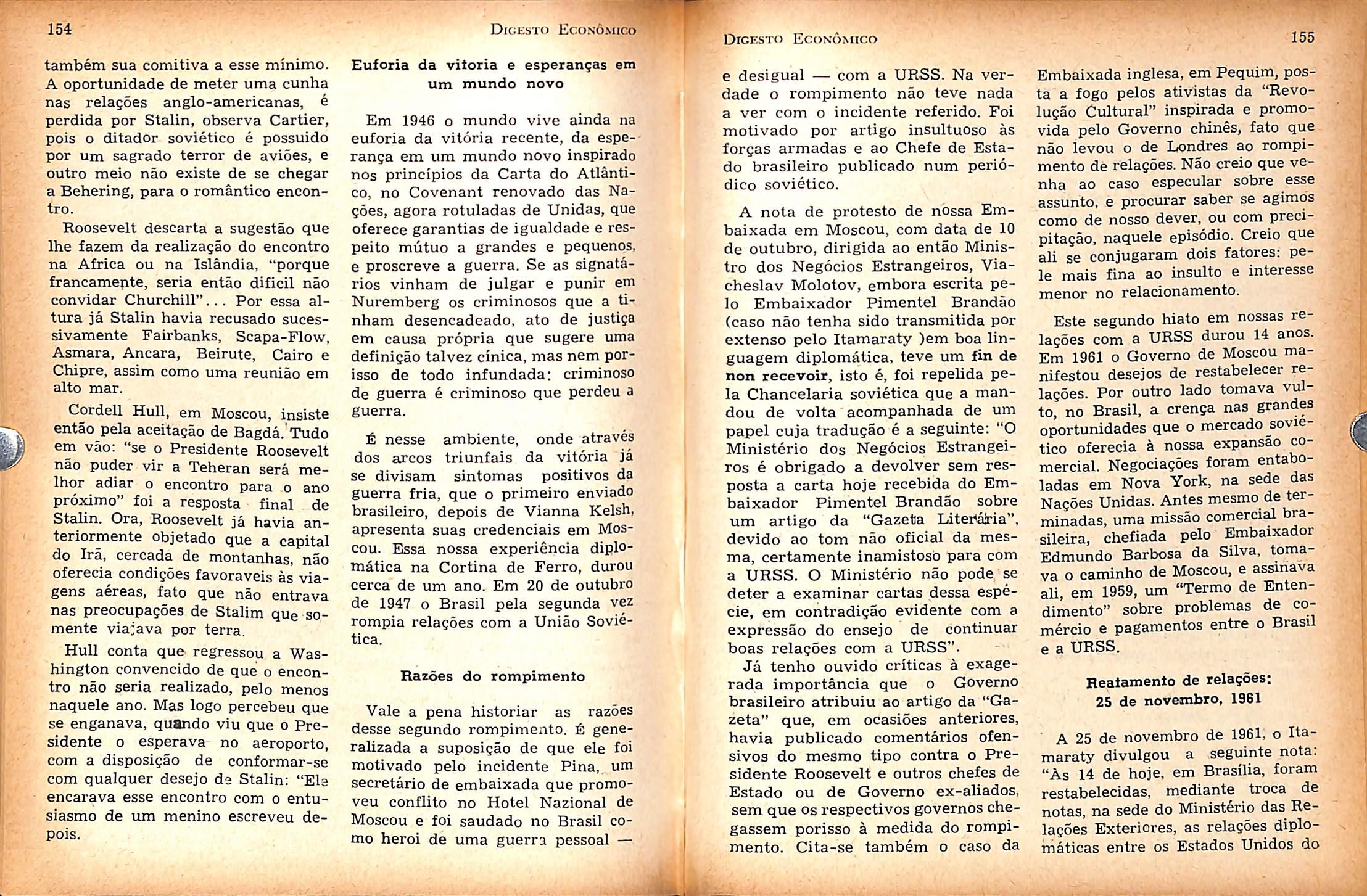
com a URSS. Na ver- e desigual dade o rompimento não teve nada a ver com o incidente referido. Foi motivado por artigo insultuoso às forças armadas e ao Chefe de Esta do brasileiro publicado num perió dico soviético.
A nota de protesto de nossa Em baixada em Moscou, com data de 10 de outubro, dirigida ao então Minis tro dos Negócios Estrangeiros, Viacheslav Molotov, embora escrita pe lo Embaixador Pimentel Brandão
(caso não tenha sido transmitida por extenso pelo Itamaraty )em boa lin guagem diplomática, teve um fin de non recevoir, isto é, foi repelida pe la Chancelaria soviética que a man dou de volta acompanhada de um papel cuja tradução é a seguinte: “O Ministério dos Negócios Estrangei ros é obrigado a devolver sem res posta a carta hoje recebida do Em baixador Pimentel Brandão sobre 'Gazeta Litei^áiria”, um artigo da devido ao tom não oficial da mes¬ ma, certamente inamistosò para com a URSS. O Ministério não pode se deter a examinar cartas dessa espé cie, em contradição evidente com a expressão do ensejo de continuar boas relações com a URSS”.
Governo
Já tenho ouvido críticas à exage rada importância que o brasileiro atribuiu ao artigo da “Ga zeta” que, em ocasiões anteriores, havia publicado comentários ofen sivos do mesmo tipo contra o Pre sidente Roosevelt e outros chefes de Estado ou de Governo ex-aliados, sem que os respectivos governos che gassem porisso à medida do rompi mento. Cita-se também o caso da
Embaixada inglesa, em Pequim, pos ta a fogo pelos ativistas da “Revo lução Cultural” inspirada e promo vida pelo Governo chinês, fato que não levou o de Londres ao rompi mento de relações. Não creio que ve nha ao caso especular sobre esse assunto, e procurar saber se agimos como pitaçâo, naquele episódio. Creio que ali se conjugaram dois fatores: pe le mais fina ao insulto e interesse relacionamento.
de nosso dever, ou com precimenor no
Este segundo hiato em nossas re lações com a URSS durou 14 anos. Em 1961 o Governo de Moscou ma nifestou desejos de restabelecer re lações. Por outro lado tomava vul to, no Brasil, a crença nas grandes oportunidades que o mercado _sovie- tico oferecia à nossa expansão co mercial. Negociações foram entaboladas em Nova York, na sede das Nações Unidas. Antes mesmo de ter minadas, uma missão comerei^ bra sileira, chefiada pelo Embaixador Edmundo Barbosa da Silva, tomacaminho de Moscou, e assinava 'Termo de Enten-
va o ali, em 1959, um dimento” sobre problemas de mércio e pagamentos entre co0 Brasil URSS, e a
Reatamento de relações; 25 de novembro, 1961
A 25 de novembro de 1961, o Itamaraty divulgou a seguinte nota: “Às 14 de hoje, em Brasília, foram restabelecidas, mediante troca de notas, na sede do Ministério das Re lações Exteriores, as relações diplo máticas entre os Estados Unidos do
Brasil e a União das Repúblicas So cialistas Soviéticas. Os dois países trocarão Embaixadores e Plenipotenciários.
Esse reatamento não se concluiu sem forte reação parlamentar. De fendido na Câmara, naquele mesmo dia, pelo então Ministro das Rela ções Exteriores, San Tiago Dantas, a decisão do Governo foi vivamente combatida por um grupo de depu tados que esgrimiam com vigor ar gumentos de ordem sentimental, em maioria.
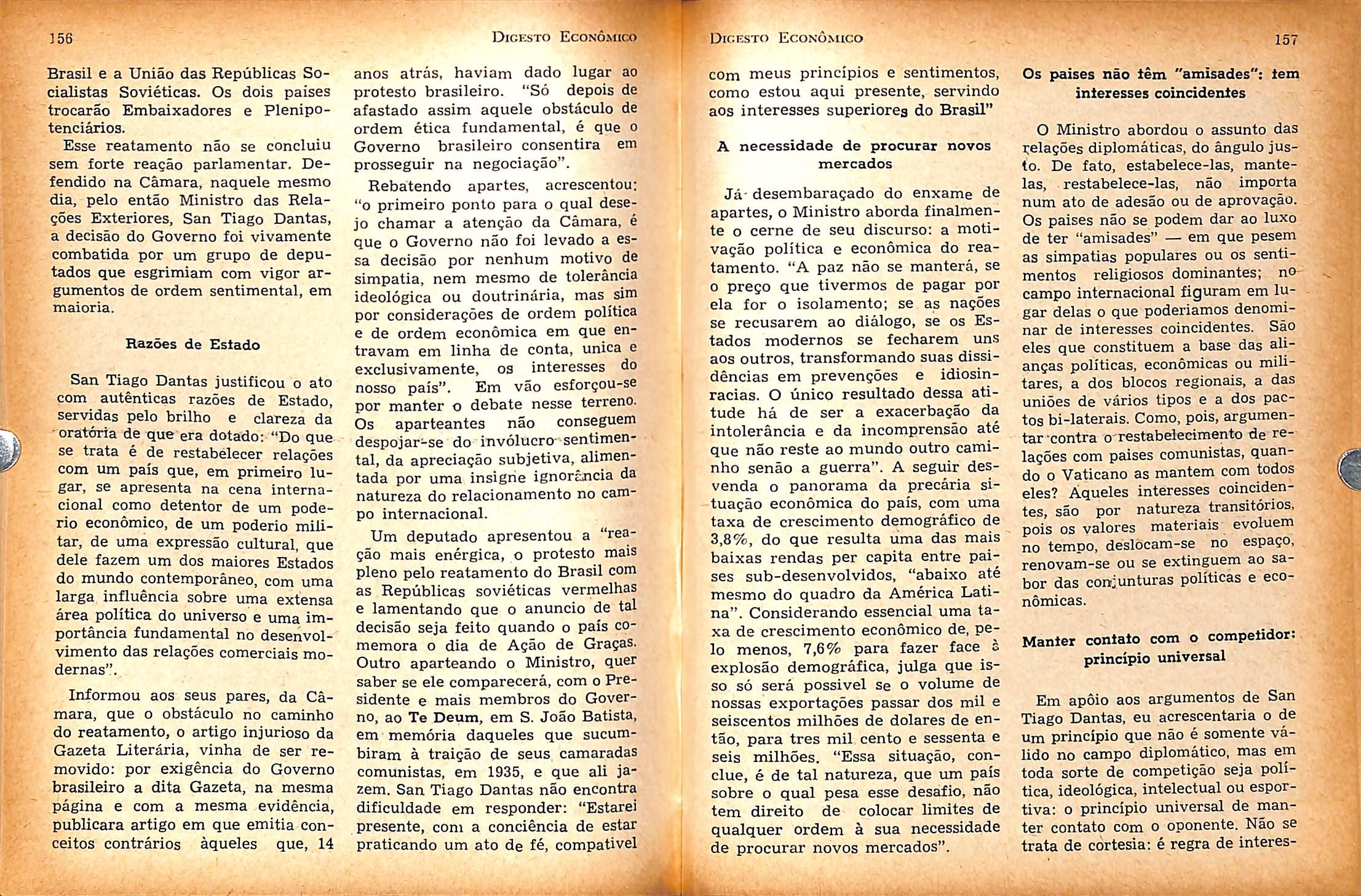
e uma im-
anos atrás, haviam dado lugar ao protesto brasileiro. “Só depois de afastado assim aquele obstáculo de ordem ética fundamental, é que o Governo brasileiro consentira em prosseguir na negociação”.
Rebatendo apartes, acrescentou: “o primeiro ponto para o qual dese jo chamar a atenção da Câmara, é que o Governo não foi levado a es sa decisão por nenhum motivo de simpatia, nem mesmo de tolerância ideológica ou doutrinária, mas sim por considerações de ordem política e de ordem econômica em que en travam em linha de conta, unica e interesses do
Hazões de Estado exclusivamente, os San Tiago Dantas justificou o ato com autênticas razões de Estado, servidas pelo brilho e clareza da oratória de que era dotado: “Do que se trata é de restabélecer relações com um país que, em primeiro lu gar, se apresenta na cena interna cional como detentor de um pode rio econômico, de um poderio mili tar, de uma expressão cultural, que dele fazem um dos maiores Estados do mundo contemporâneo, com uma larga influência sobre uma extensa área política do universo portância fundamental no desenvol vimento das relações comerciais mo dernas”.
Informou aos seus pares, da Câ mara, que o obstáculo no caminho do reatamento, o artigo injurioso da Gazeta Literária, vinha de ser re movido; por exigência do Governo brasileiro a dita Gazeta, na mesma página e com a mesma evidência, publicara artigo em que emitia conceitos contrários àqueles que, 14
Em vão esforçou-se nosso país”, por manter o debate nesse terreno, conseguem Os aparteantes não despojar-se do invólucro- sentimen tal, da apreciação subjetiva, alimen tada por uma insigne ignorância da natureza do relacionamento no cam¬ po internacional.
'rea-
Um deputado apresentou a ção mais enérgica, o protesto mais pleno pelo reatamento do Brasil com as Repúblicas soviéticas vermelhas e lamentando que o anuncio de tal decisão seja feito quando o país co memora o dia de Ação de Graças. Outro aparteando o Ministro, quer saber se ele comparecerá, com o Pre sidente e mais membros do Gover no, ao Te Deum, em S. João Batista, em memória daqueles que sucum biram à traição de seus camaradas comunistas, em 1935, e que ali ja zem. San Tiago Dantas não encontra dificuldade em responder: “Estarei presente, com a conciência de estar praticando um ato de fé, compatível
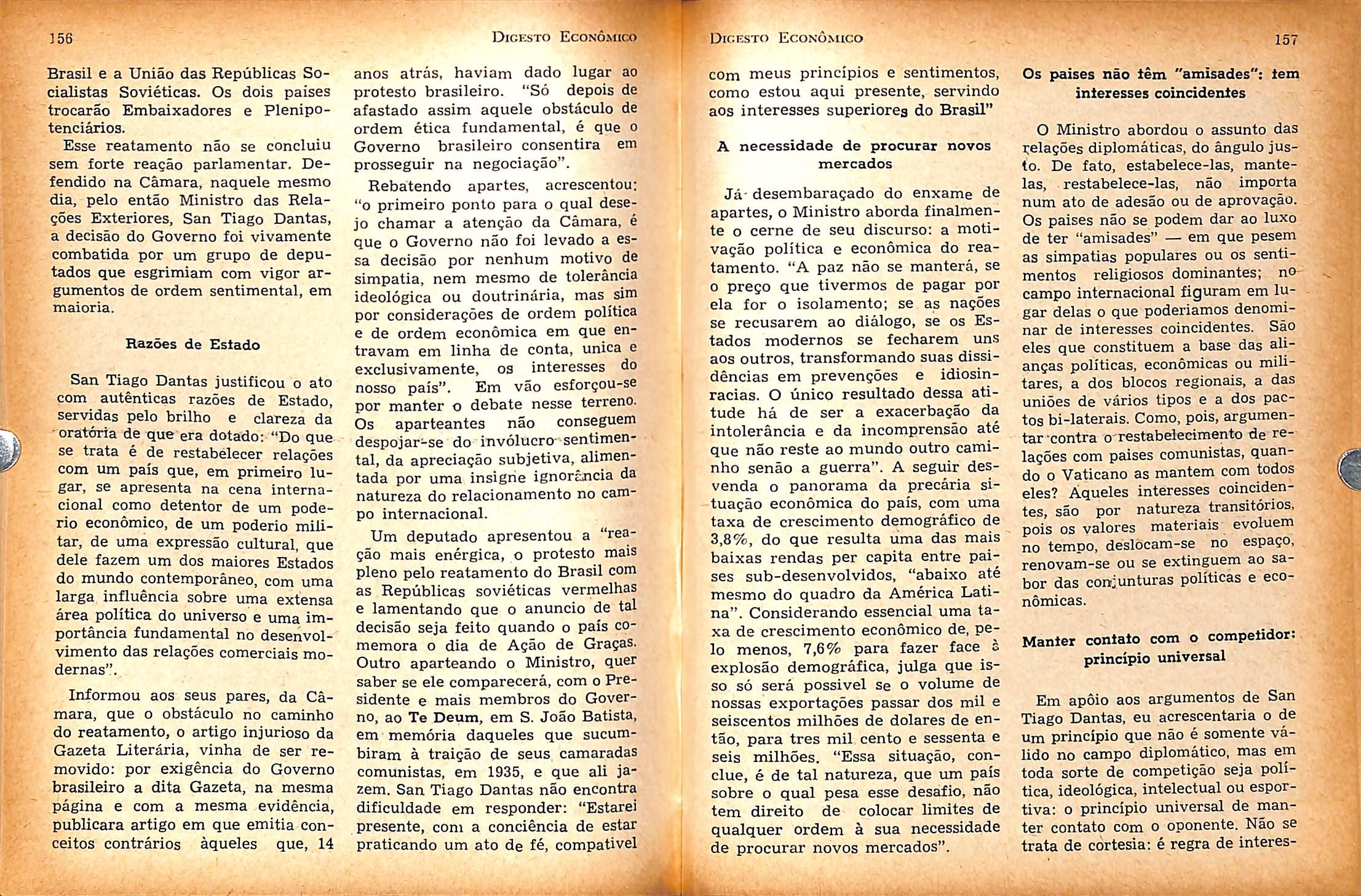
com meus princípios e sentimentos, como estou aqui presente, servindo aos interesses superiores do Brasil”
A necessidade de procurar novos mercados
Já- desembaraçado do enxame de apartes, o Ministro aborda finalmen te o cerne de seu discurso: a moti vação política e econômica do rea tamento. “A paz não se manterá, se o preço que tivermos de pagar por ela for o isolamento; se as nações se recusarem ao diálogo, se os Es tados modernos se fecharem uns aos outros, transformando suas dissi dências em prevenções e racias. O único resultado dessa ati tude há de ser a exacerbação da intolerância e da incomprensão até que não reste ao mundo outro cami nho senão a guerra”. A seguir des venda o panorama da precária si tuação econômica do país, com uma taxa de crescimento demográfico de 3,8%, do que resulta uma das mais baixas rendas per capita entre pai ses sub-desenvolvidos, “abaixo até mesmo do quadro da América Lati na”. Considerando essencial uma ta xa de crescimento econômico de, pe lo menos, 7,6% para fazer face s explosão demográfica, julga que is so só será possível se o volume de nossas exportações passar dos mil e seiscentos milhões de dólares de en tão, para tres mil cento e sessenta e seis milhões. “Essa situação, conclue, é de tal natureza, que um pajs sobre o qual pesa esse desafio, não tem direito de colocar limites de qualquer ordem à sua necessidade de procurar novos mercados”.
Os paises não iêm "amisades”: tem interesses coincidentes
O Ministro abordou o assunto das i^elações diplomáticas, do ângulo jus to. De fato, estabelece-las, mantelas, restabelece-las, não importa num ato de adesão ou de aprovação. Os paises não se podem dai' ao lu.xo de ter “amisades” — em que pesem as simpatias populares ou os senti mentos religiosos dominantes; nocampo internacional figuram em lu gar delas o que poderiamos denomide interesses coincidentes. São
nar eles que constituem a base das anças políticas, econômicas ou mili tares, a dos blocos regionais, a das de vários tipos e a dos pac-
idiosinunioes tos bi-laterais. Como, pois, argumen tar contra o'restabelecimento de re lações com paises comunistas, quan do 0 Vaticano as mantem com todos eles? Aqueles interesses coinciden tes, são por natureza transitórios, pois os valores materiais evoluem tempo, deslocam-se ou se extinguem ao sano espaço. no renovam-se bor das conjunturas políticas e eco¬ nômicas.
Manter contato com o competidor: princípio universal
Em apôio aos argumentos de San Tiago Dantas, eu acrescentaria o de um princípio que não é somente vá lido no campo diplomático, mas em toda sorte de competição seja polí tica, ideológica, intelectual ou espor tiva: o princípio universal de man ter contato com o oponente. Não se trata de cortesia: é regra de interes-
se tático. Na guerra, então, a per manência do contato com o inimigo é primordial: perde-lo equivale a uma exposição a riscos imprevisí veis.
Entretanto, no estabelecimento, entretenimento ou expansão de re lações com 0 mundo comunista, por parte de um país de feitio e tradi ções ocidentais, como é o caso do Brasil, que vem de elevar à catego ria de embaixadas suas representa ções em países da Europa oriental e de criar uma em Pequim, é preciso ter presente, não perder nunca de vista, certas realidades do comunis mo, algumas vezes olvidadas, ou menosprezadas no nosso mundo oci dental. Vale a pena enumerar algu mas:
‘ Nenhum whishful íhinking deve ser entretido, fundado ta “humanização” do comunismo, no “aburguesamento” da Revolução, na formulação e execução de políti ca com país de filiação marxista. Quanto ao “aburguesamento”, fato verificado na URSS e na Europa oriental, como bem denunciaram os chineses (nenhum espírito revolu cionário pode sobreviver por meio século) isso deve ser interpretado como uma transferência de enfase do campo ideológico, já esclerosado, para o político, em pleno vigor. Não se deve também perder de vis ta que no jargão comunista, imperia lismo, fascismo colonialismo, reacio narismo, são sinônimos de capitalis mo. Não tem sentido pois, esperar daquelas sociedades enclausuradas.
nada parecido com uma colabora ção leal, um modus vivendi honesto com o capitalismo esse sócio indese jável, cuja falência já foi anunciada 10 vezes, por gerações sucessivas de líderes marxistas, cujo “enterro” o Senhor Nikita Khrushchev profeti zou para data já ultrapassada, e que não toma conhecimento, na sua indesses fatos consuma-
consciência, dos, antes prossegue na participa ção do usofruto do poder e das ri quezas deste mundo, convencido de que a democracia, como no dizer de Churchill. é o pior de todos os regimes, com exceção de qualquer outro já tentado em seu lugar.
A corda e o enforcado
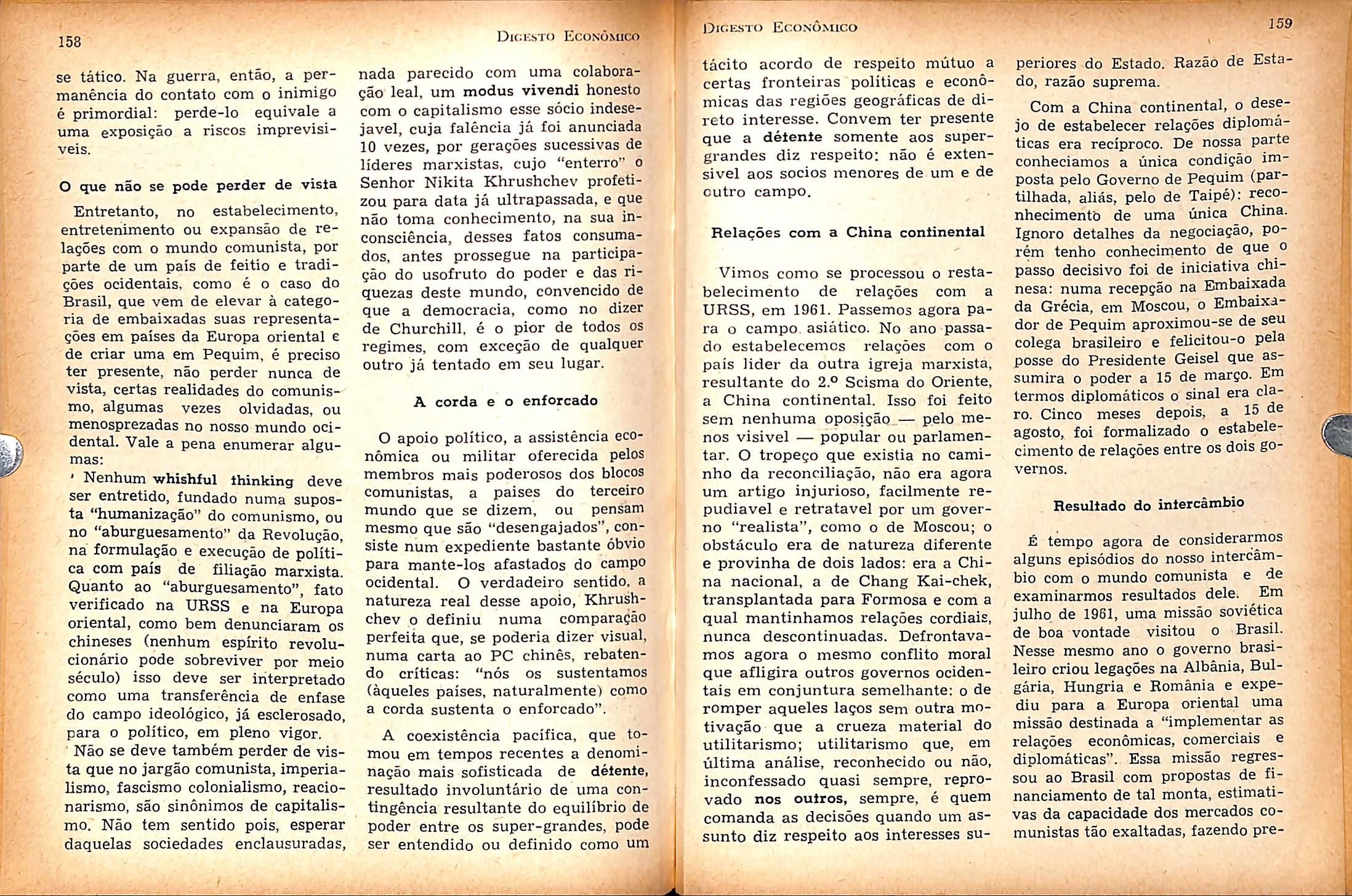
numa suposou 'nós os sustentamos
O apoio político, a assistência eco nômica ou militar oferecida pelos membros mais poderosos dos blocos comunistas, a paises do terceiro mundo que se dizem, ou pensam mesmo que são “desengajados”, con siste num expediente bastante óbvio para mante-los afastados do campo ocidental. O verdadeiro sentido, a natureza real desse apoio, Khrush chev o definiu numa comparação perfeita que, se poderia dizer visual, numa carta ao PC chinês, rebaten do críticas: (àqueles países, naturalmente) como a corda sustenta o enforcado".
A coexistência pacífica, que to mou em tempos recentes a denomi nação mais sofisticada de détente, resultado involuntário de uma con tingência resultante do equilíbrio de poder entre os super-grandes, pode ser entendido ou definido como um
tácito acordo de respeito mútuo a certas fronteiras políticas e econô micas das regiões geográficas de di reto interesse. Convem ter presente que a détenie somente aos supergrandes diz respeito: não é exten sível aos socios menores de um e de cutro campo.
Relações com a China continental
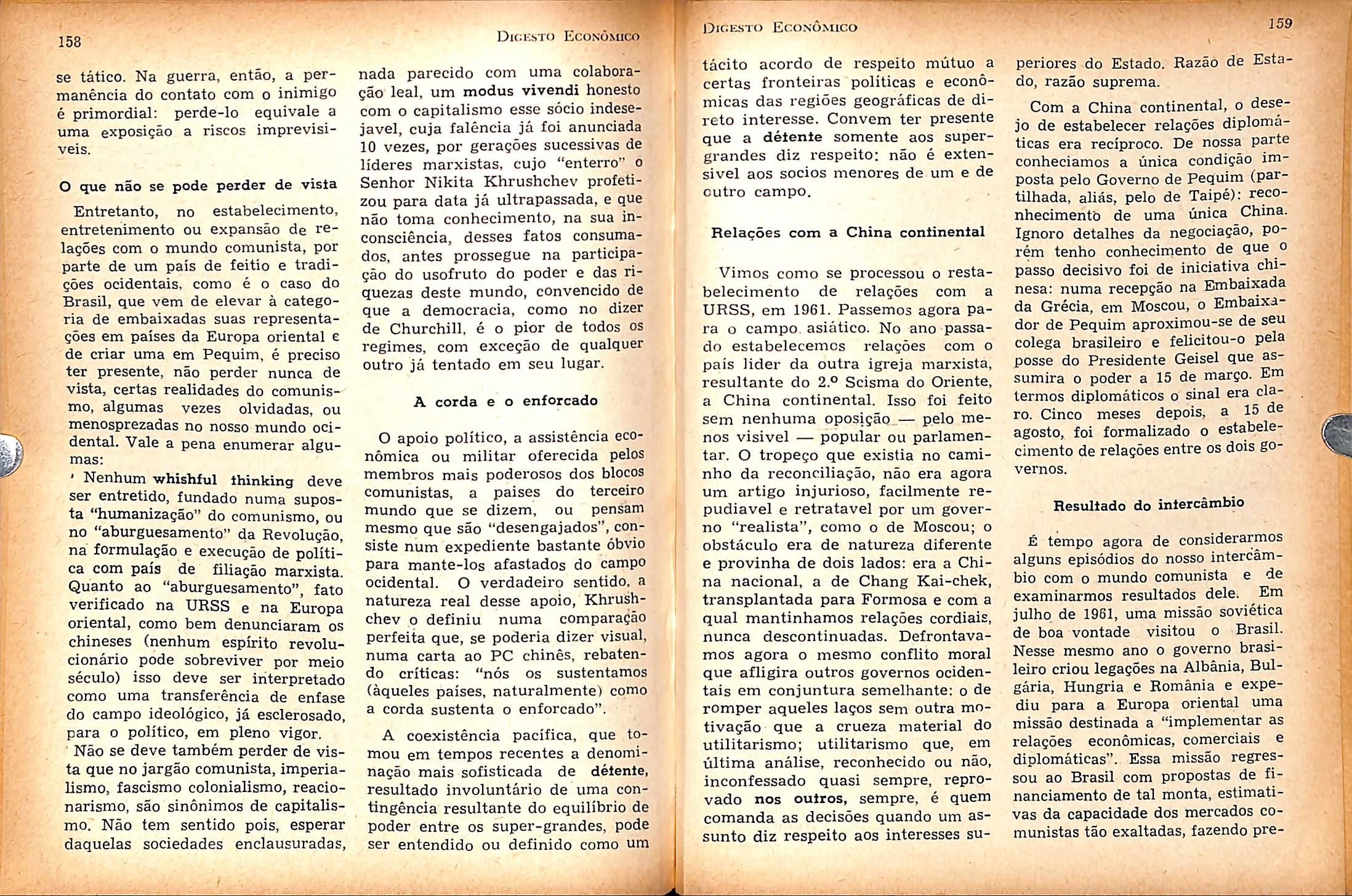
periores do Estado. Razão de Esta do, razão suprema.
Com a China continental, o dese jo de estabelecer relações diplomá ticas era recíproco. De nossa parte conhecíamos a única condição im posta pelo Governo de Pequim (par tilhada, aliás, pelo de Taipé): reco nhecimento de uma única China. Ignoro detalhes da negociação, po rém tenho conhecirnento de que o decisivo foi de iniciativa chiEmbaixada
Vimos como se processou o resta belecimento de relações com a URSS, em 1961. Passemos agora pa ra o campo asiático. No ano passa do estabelecemos relações com o país lider da outra igreja marxista, resultante do 2.° Scisma do Oriente, a China continental. Isso foi feito passo nesa: numa recepção na da Grécia, em Moscou, o Embaixa dor de Pequim aproximou-se de ssu colega brasileiro e felicitou-o pels do Presidente Geisel que as- posse sumira o poder a 15 de março. termos diplomáticos o sinal era cla ro. Cinco meses depois, a 15 de agosto, foi formalizado o estabele cimento de relações entre os dois gosem nenhuma oposição — pelo me nos visivel tar. O tropeço que existia no cami nho da reconciliação, não era agora um artigo injurioso, facilmente repudiavel e retratavel por um gover-
popular ou parlamenvemos.
Resultado do iníercâmbío no “realista”, como o de Moscou; o obstáculo era de natureza diferente e provinha de dois lados: era a Chi na nacional, a de Chang Kai-chek, bio com o mundo comunista e de examinarmos resultados dele. Em É tempo agora de considerarmos alguns episódios do nosso intercamtransplantada para Formosa e com a .. .... qual mantínhamos relações cordiais, julho de 1961, uma missão sovie íca nunca descontinuadas. Defrontava- de boa vontade visitou o Brasi . Nesse mesmo ano o governo brasi leiro criou legaçÕes na Albânia, Bul gária, Hungria e România e expe diu para a Europa oriental uma missão destinada a “implementar as mos agora o mesmo conflito moral que afligira outros governos ociden tais em conjuntura semelhante: o de romper aqueles laços sem outra mo tivação que a crueza material do utilitarismo; utilitarismo que, em última análise, reconhecido ou não, inconfessado quasi sempre, repro vado nos oulros, sempre, é quem comanda as decisões quando um as sunto diz respeito aos interesses surelações econômicas, comerciais e diplomáticas”. Essa missão regres sou ao Brasil com propostas de fi nanciamento de tal monta, estimati vas da capacidade dos mercados co munistas tão exaltadas, fazendo pre-
ver volume tão alto de intercâmbio com 0 Brasil, que permitiam com paração com as naiTativas de Mar co Polo quando voltou a Itália de sua primeira viagem a China e lhe valeram o apelido de Marco Miglioni. A realidade era mais modesta, bem mais modesta, mas nem porisso desprezível.
tor oficial; sua inexperiência de competir no mercado privado e, so bretudo, inexistência de uma infra estrutura, no Brasil, que proporcio nasse assistência técnica e suprisse de peças de reposição, capaz de manter em funcionamento os equi pamentos fornecidos. O comércio, realizado em base de barler, onde o dolar-convênio figurava apenas pa ra fins contábeis, estagnou.
No ano anterior havíamos firma¬ do Acordos de Comércio e Paga mentos com a Tcheco-Slováquia e a Polônia, paises com os quais já pos^ suimos uma tradição comercial. Em 1963 concluímos com a URSS um Acordo Básico de Comércio e Pa- no Itamaraty o COLESTE (Comissão gamentos, fruto da Missão Barbosa de Comércio com o Leste Europeu) da Silva, que vigora até hoje, mer- destinado a incrementar aquelas re- cê de protocolos adicionais. Ainda lações mediante o que foi anuncianesse ano veio ao Brasil o Ministro do Comercio Exterior daquele país, Patolichev, que colocou a disposição do Governo brasileiro um crédito de 100 milhões de dólares aquisição de máquinas mentos na URSS.
para a e equipa-
Créditos inutilizados e balança
● de comércio em nosso favor
No ano anterior tinha sido criado do como “uma nova filosofia da ação”. De 19'o4 em diante, e mal grado 0 discurso presidencial no Ins tituto Rio-Branco revelando “a fir me orientação do Governo Federal em favor do desenvolvimento do co mércio com aqueles países” — a re ferida Comissão não encontrou, na prática, a anunciada orientação e teve de limitar sua atividade a ges tões destinadas a solucionar alguns paises problemas pendentes- Em 1965, po rém, aquele setor começa a manifestar alguns sinais de animação. São retomados contatos entre as ‘ mistas procurando au- ' mentar o volume do intercâmbio, encontrar destino para os saldos credores em nosso favor, buscar meios para a utilização das linhas de cródito oferecidas, diversificar a pauta brasileira de exportações. Ainda naquele ano realizou-se em Viena a Primeira reunião de chefes de mis-
Ml Na mesma ocasião outros da Europa oriental nos ofereceram o mesmo tipo de vendas financiadas. Entretanto, tais créditos permane ceram inaproveitaveis enquanto, de Comissões outra parte, acumulavam-se os sal dos devedores de todos aqueles paí ses, nas suas contas convênio com o Brasil. Para essa situação, vários fatores concorriam: falta de tradi ção em nosso mercado, dos produ tos oferecidos; preferência daque les Governos em negociar com o se-

sôes brasileiras sediadas no Leste europeu com o objetivo de trocar in formações diretas e de sugerir dire trizes para a nossa política em to dos cs terrenos naquela área.
milhões em 1970, para cerca de 13,5 em 73. Os saldos favoráveis ao Bra-
sil se acumulavam de maneira alar mante. Em 1974 porém, se verifica uma dramática inversão de posições: naquele ano o Brasil éxporta (esti mativa) 90 milhões e suas importa ções da área crescem para 160 mi lhões. A razão é simples: compras petróleo soviético. Nesta altura, e embora a contra gosto, não tenho remédio senão usar alguns dados estatísticos em ajuda desta minha exposição. Não tenho, em principio, nada contra as esta tísticas, nem mesmo aquela crítica atribuída ao atual Embaixador Ro¬ de macissas
Quanto ao desequilibrio em nosso favor nos anos anteiàores, se explipèlas compras de volumes cres centes de café. cacau e açúcar pe los países da área, e à retração dos fornecimentos de petróleo ao Bra sil. Quanto ao trigo, nem se fala: da pauta desde 1969, l ca berto Campos de que elas são como os biquínis; revelam o supérfluo e escondem o essencial, mas não igno ro que os auditórios se retraem, nu ma reação de legitima defesa, ante linguagem refrigerante dos gráficcs. quadros e percentuais. Lingua gem, aliás nem sempre apenas re frigerante, mas as vezes desorientanão iniciados: basta
desapareceu quando os russos passaram a rece be-lo da América do Norte, fenô meno devido àquele milagre sovié tico, referido por uma suposta Ra dio Erivan, a quem os russos aiji- buem a origem das maliciosas estó rias que inventam contra o regime, plantamos trigo na Ucrania, nasce Canadá! O caso é que na quadra citada, 1970-74. o comércio exterior global do Brasil com a Europa on- ental, passou de 25 milhões, em 1970 para 250 milhões de dólares (esti mados) em 1974. Naturalmente nos so parceiro mais importante na area é a União Soviética, para a qual ex portamos, além dos produtos bási cos já mencionados, fios de lã, óleos vegetais, cisai, e já agora, produtos industrializados. a ' dora para lembrar que, de acordo com sua ren da per capita que se equipara à da Suécia, 03 Sultanato de Abu-Dabi, Golfo pérsico, figura nas esta tísticas no rol dos países ricos (o que ele de fato é, em petróleo) fato que alguém poderia confundir com de senvolvido, uma vez que aquele ín dice é um dos elementos para a caraterização do desenvolvimento econo no Ml nômico.
A balança do comercio com o Leste europeu, de 1970 a 74

160 milhões, enquanto nossas
De 1970 a 73 as exportações FOB do Brasil para a Europa oriental do braram de valor de ano para ano. passando de 21 milhões de dólares para importações GIF cresceram de 3,5
da Comissão De fato, a reunião Mista de comércio com a URSS, es te ano, marcou resultados positivos. Entre outros a conclusão de um Pro tocolo, no quadro do Acordo Básico
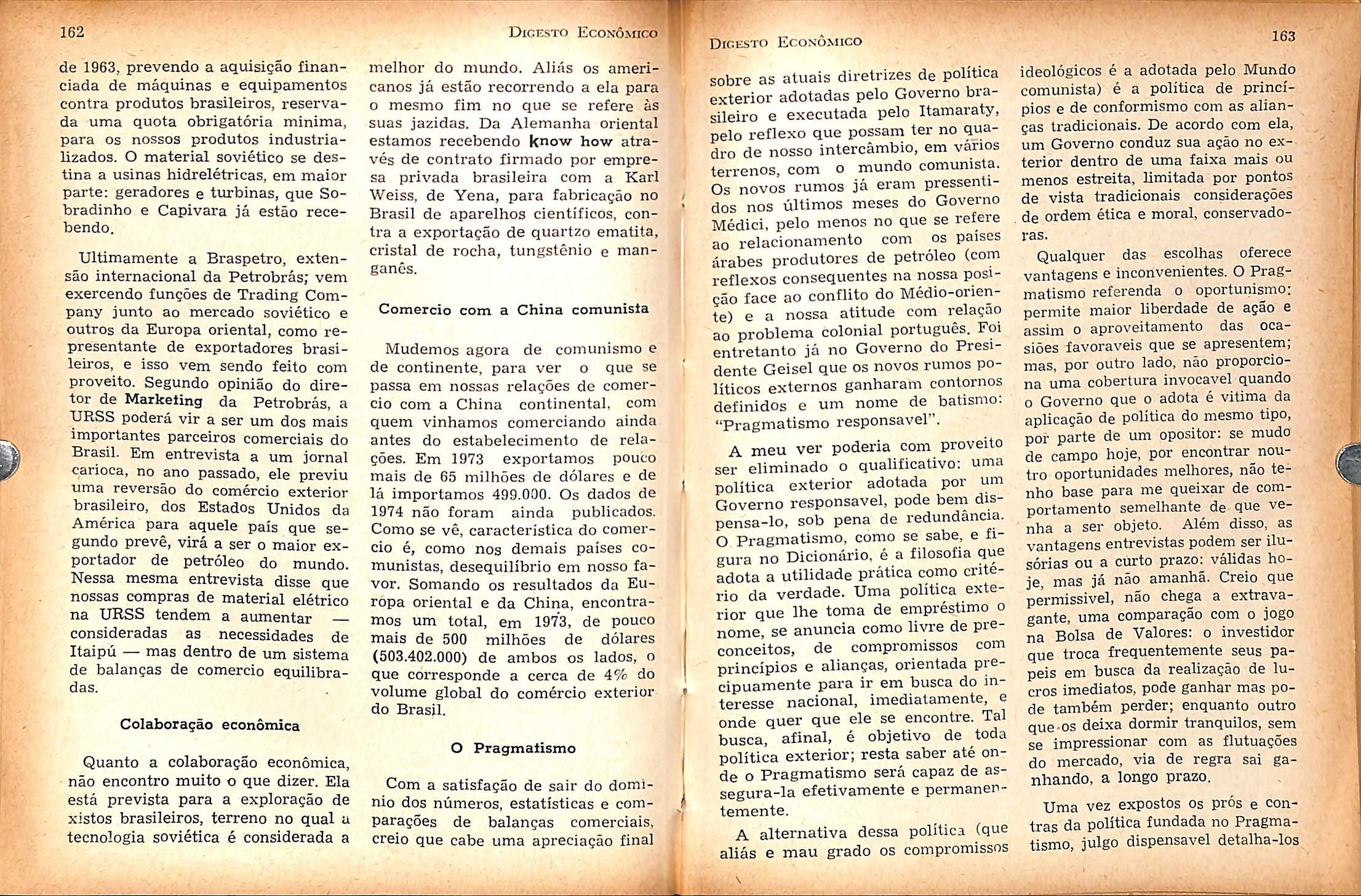
de 1963, prevendo a aquisição finan ciada de máquinas e equipamentos contra produtos brasileiros, reserva da uma quota obrigatória minima, para os nossos produtos industria lizados. O material soviético se des tina a usinas hidrelétricas, em maior parte: geradores e turbinas, que Sobradinho e Capivara já estão rece bendo.
XJltimamente a Braspetro, exten são internacional da Petrobrás; vem exercendo funções de Trading Company junto ao mercado soviético e outros da Europa oriental, como re presentante de exportadores brasi leiros, e isso vem sendo feito proveito. Segundo opinião do dire tor de Marketing da Petrobrás, yRSS poderá vir a ser um dos mais importantes parceiros comerciais do Brasil. Em entrevista a um jornal carioca, no ano passado, ele previu uma reversão do comércio exterior brasileiro, dos Estados Unidos da América para aquele país que se gundo prevê, virá a ser portador de petróleo do mundo. Nessa mesma entrevista disse nossas compras de material elétrico na URSS tendem a aumentar consideradas as necessidades Itaipú — mas dentro de um sistema de balanças de comercio equilibra das.
melhor do mundo. Aliás os ameri canos já estão recorrendo a ela para o mesmo fim no que se refere às suas jazidas. Da Alemanha oriental estamos recebendo know how atra vés de contrato firmado por empre sa privada brasileira com a Karl Weiss, de Yena, para fabricação no Brasil de aparelhos científicos, con tra a exportação de quartzo ematita, cristal de rocha, tungstcnio e man ganês.
o maior exque de
Mudemos agora de comunismo e de continente, para ver o que se passa em nossas relações de comer cio com a China continental, com quem vínhamos comerciando ainda antes do estabelecimento de rela ções. Em 1973 exportamos pouco mais de 65 milhões de dólares e de lá importamos 499.000. Os dados de 1974 não foram ainda publicados. Como se vê, característica do comer cio é, como nos demais países co munistas, desequilíbrio em nosso fa vor. Somando os resultados da Eu ropa oriental e da China, encontra mos um total, em 1973, de pouco mais de 500 milhões de dólares (503.402.000) de ambos os lados, o que corresponde a cerca de 4% do volume global do comércio exterior do Brasil. com a
Colaboração econômica
Quanto a colaboração econômica, não encontro muito o que dizer. Ela está prevista para a exploração de xistos brasileiros, terreno no qual u tecnologia soviética é considerada a
Pragmatismo
Com a satisfação de sair do domí nio dos números, estatísticas e com parações de balanças comerciais, creio que cabe uma apreciação final
sileiro e pelo reflexo que possam ter no qua- intercâmbio, em vários mundo comunista.
sobre as atuais diretrizes de política ideológicos é a adotada pelo Mundo exterior adotadas pelo Governo bra- comunista) e a política de pnncí executada pelo Itamaraty, pios e de conformismo com as alian- tradicionais. De acordo com ela, Governo conduz sua ação no ex terior dentro de uma faixa mais ou estreita, limitada por pontos
ças um dro de nosso o terrenos, com Os novos rumos já eram pressenti dos nos últimos meses do Governo Médici, pelo menos no que se refere os países
ao relacionamento com árabes produtores de petróleo (com reflexos consequentes na nossa posiconflito do Médio-orienatitucle com relação
menos de vista tradicionais considerações de ordem ética e moral, conservadoras.
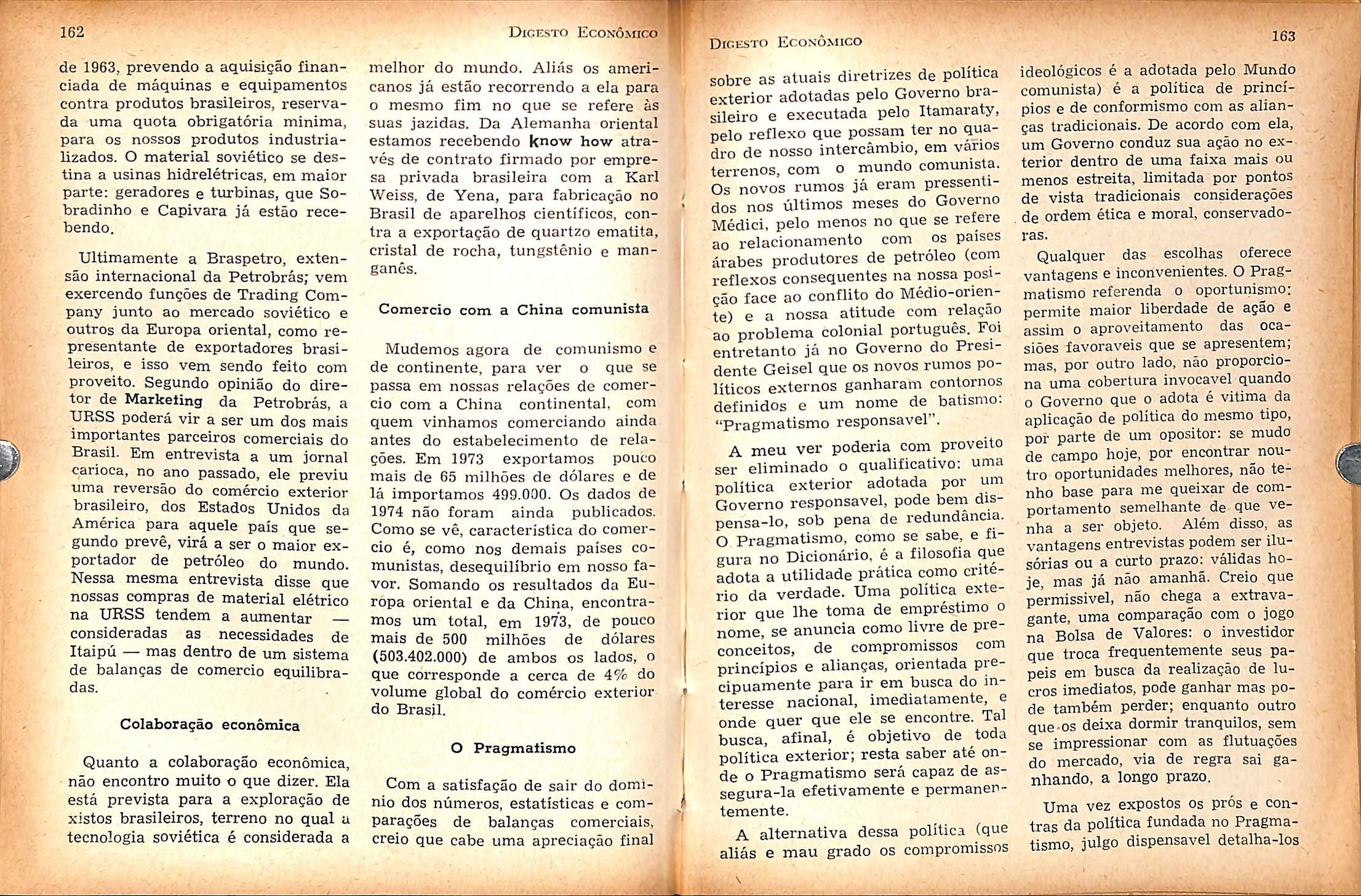
assim 0 ao sioes
ção face ao te) e a nossa -j problema colonial português. Foi entretanto já no Governo do Presi dente Geisel que os novos rumos po líticos externos ganharam contornos definidos e um nome de batismo: “Pragmatismo responsável ’.
A meu ver poderia com proveito
● eliminado o qualificativo: exterior adotada por uma um sei política
Qualquer das escolhas oferece vantagens e inconvenientes. O Prag matismo referenda o oportunismo: permite maior liberdade de ação e aproveitamento das ocafavoraveis que se apresentem;
na uma o
mas, por ouúo lado, não proporciocobertura invocavel quando Governo que o adota é vitima da aplicação de política do mesmo tipo, por parte de um opositor: se mudo de campo hoje, por encontrar nou tro oportunidades melhores, não te nho base para me queixar de com portamento semelhante de que nha a ser objeto. Além disso, as antagens entrevistas podem ser ilu sórias ou a curto prazo: válidas ho je, mas já não amanhã. Creio que permissivel, não chega a extrava gante, uma comparação com o jogo
Bolsa de Valores: o investidor troca frequentemente seus pabusca da realização de lu-
Governo responsável, pode bem dis- pensa-lo, sob pena de redundância. Pragmatismo, como se sabe, e fi no Dicionário, é a filosofia que utilidade prática como critéveO V gura adota a ,. . . rio da verdade. Uma política exteIhe toma de empréstimo anuncia como livre de preo rior que nome, se na de compromissos com conceitos, princípios e alianças, orientada pre- cipuamente para ir em busca do in- nacional, imediatamente, e que peis em cros de também perder; enquanto outro deixa dormir tranquilos, sem impressionar com as flutuações do mercado, via de regra sai ga nhando, a longo prazo.
imediatos, pode ganhar mas po- ,* teresse onde quer que ele se encontre. Tal busca, afinal, é objetivo de toda política exterior; resta saber até on de o Pragmatismo será capaz de assegura-la efetivamente e permanen temente. que-os se Uma vez expostos os prós e contras da política fundada no Pragma tismo, julgo dispensável detalha-los
A alternativa dessa política (que aliás e mau grado os compromissos
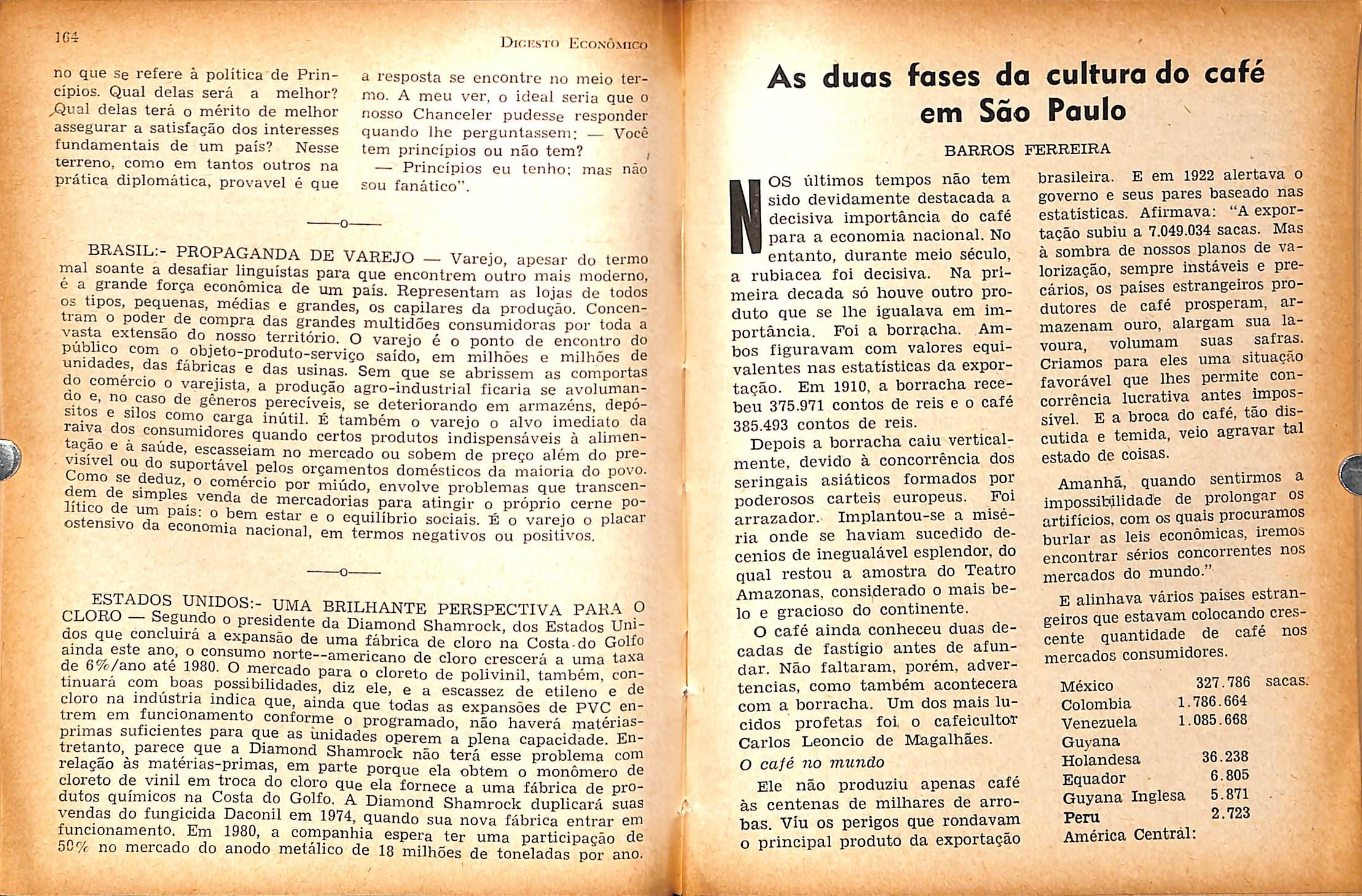
Dkm^sto
L‘x:oNÔ.\nco no que se refere à política de Prin cípios. Qual delas será a melhor? ^ual delas terá o mérito de melhor assegurar a satisfação dos interesses fundamentais de um pais? terreno, como em tantos outros prática diplomática, provável é que
a resposta se encontre no meio ter mo. A meu ver. o ideal seria que o nosso Chanceler pudesse responder quando lhe perguntassem: — Você lem princípios ou não tem? — Princípios eu tenho; mas não sou fanático”.
Nesse I na o
● ROPAGANDA de varejo — Varejo, apesar do termo a soan e a desafiar linguistas para que encontrem outro mais moderno, e a grande força economica de um país. Representam as lojas de todos os ipos, pequenas, medias e grandes, os capilares da produção. Concen- de compra das grandes multidões consumidoras por toda a núhlirn do nosso teiTÍtório. O varejo é o ponto de encontro do unidaHp<3 , ®.,.°*^J®^°“P^°d^to-serviço saído, em milhões o milhões de Hn ● ^t)ricas 6 das usinas. Sem que se abrissem as comportas rin ° o varejista, a produção agro-industrial ficaria se avoiuman- ■íitnç’ p goneros perecíveis, se deteriorando em armazéns, depó- raiva rlnç inútil. É também o varejo o alvo imediato da tarãn p ● ^^^tdores quando certos produtos indispensáveis à alimen- visívGl nn ®®??sseiam no mercado ou sobem de preço além do pre- Comn <;p Hp^t, pelos orçamentos domésticos da maioria do povo. dem de «?imntpc por miúdo, envolve problemas que transcen- liüco de um naís- rf vf atingir o próprio cerne po- ostensivo da economií^apfn^^i^ equilíbrio sociais. É o varejo o placar a nacional, em termos negativos ou positivos.
CLORO — Segundo
UMA BRILHANTE PERSPECTIVA PARA O ,^oc nii nnnMiií».' ^ prcsideote da Diamond Shamrock, dos Estados Uni- ahfda pstp n fábrica de cloro na Costa-do Golfo L 6%/LoTté IQRn norte-americano de cloro crescerá a uma taxa rnrvf^h ^ P^^^ ° cloreto de polivinil, também, con¬ tinuara com boas possibilidades, diz ele, e a escassez de etileno e de cloro na industria indica que ainda que todas as expansões de PVC en- tiem em funcionamento conforme o programado, não haverá matérias- primas suficientes para que as unidades operem á plena capacidade. En tretanto,^ parece que a_ Diamond Shamrock não terá esse problema com relaçao as matenas-pnmas, em parte porque ela obtem cloreto de vinil em troca do cloro que ela fornece a uma fábrica de pro dutos químicos na Costa do Golfo. A Diamond Shamrock duplicará sms vendas do fungicida Daconil em 1974, quando sua nova fábrica entrar em funcionamento. Em 1980 a companhia espera ter uma participação de 507c no mercado do anodo metálico de 18 milhões de toneladas por ano. o monômero de
BARROS FERREIRA
OS últimos tempos não tem sido devidamente destacada a decisiva importância do café para a economia nacional. No entanto, durante meio século, rubiacea foi decisiva. Na pri meira década só houve outro pro duto que se lhe igualava em im portância, bos figuravam com valores equi valentes nas estatísticas da expor-
Ein 1910, a borracha rece-
E em 1922 alertava o brasileira, governo e seus pares baseado nas estatísticas. Afirmava: “A expor tação subiu a 7.049.034 sacas. Mas à sombra de nossos planos de va lorização, sempre instáveis e pre cários, os países estrangeiros pro dutores de café prosperam, mazenam ouro, alargam sua lavoliimam
a arFoi a borracha. Am- suas safras, eles uma situação voura, Criamos para favorável que lhes permite con corrência lucrativa antes otpossivel E a broca do café, tão dis- temida, veio agravar tal tação. beu 375.971 contos de reis e o café 385.493 contos de reis.
Depois a borracha caiu vertical mente, devido à concorrência dos seringais asiáticos formados por poderosos cartéis europeus, arrazador. Implantou-se a misé ria onde se haviam sucedido de cênios de inegualável esplendor, do qual restoti a amostra do Teatro Amazonas, considerado o mais bedo continente.
cutida e estado de coisas.
Amanhã, quando sentirmos a impossibilidade de prolongar os artifícios, com os quais procuramos leis econômicas, iremos Foi burlar as encontrar sérios concorrentes no.s mercados do mundo.
E alinhava vários países estran geiros que estavam colocando cres cente quantidade de café nos mercados consumidores. lo e gracioso
México
Colombia
O café ainda conheceu duas dé cadas de fastígio antes de afun dar. Não faltaram, porém, adver tências, como também acontecera borracha. Um dos mais lu327.786 sacas. 1.786.664 1.085.668
O café 710 mundo
América Central: com a cidos profetas foi, o cafeicultoT Carlos Leoncio de Magalhães.
Venezuela Guyana Holandesa
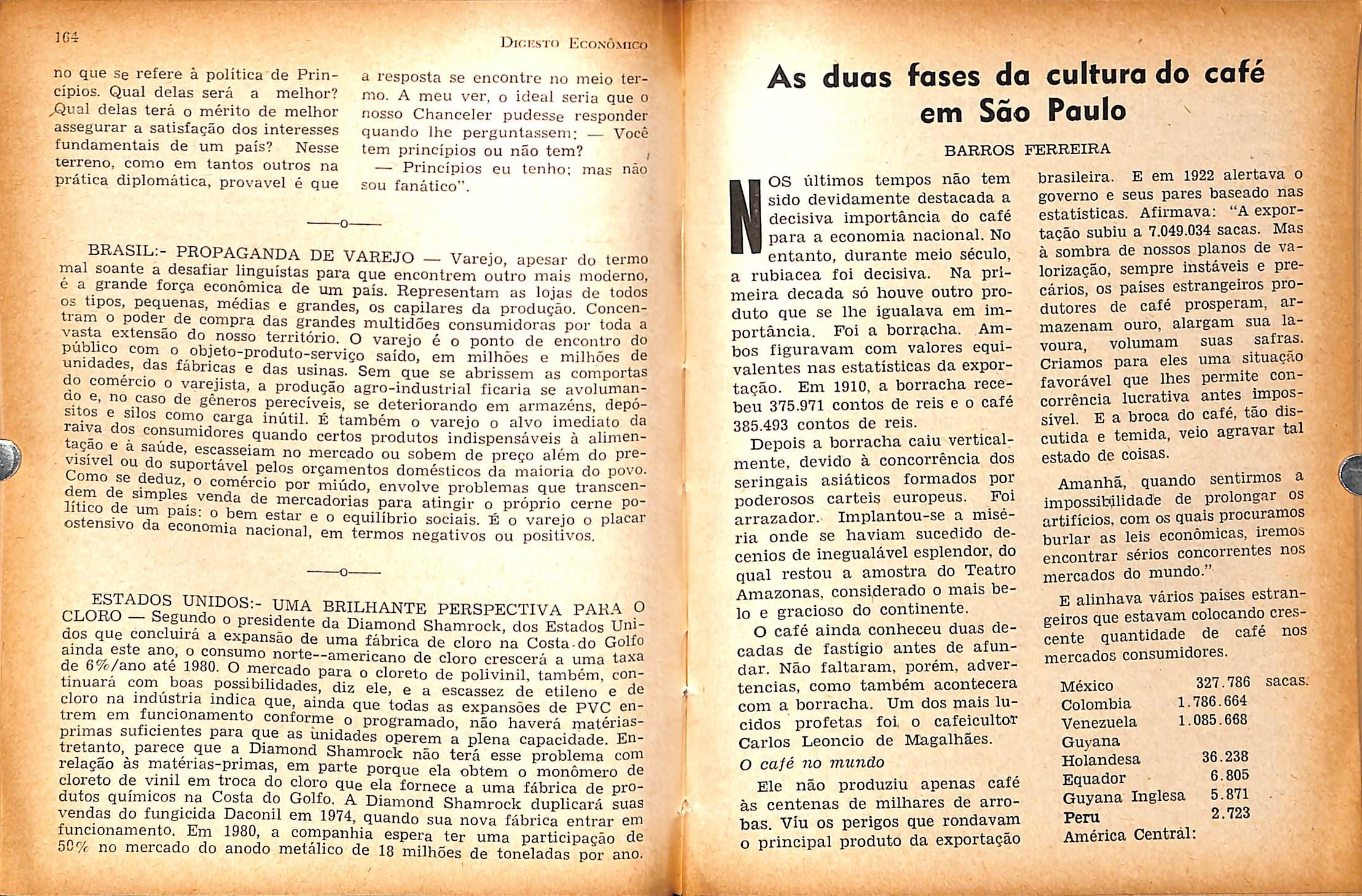
Ele não produziu apenas café às centenas de milhares de arro bas. Viu os perigos que rondavam principal produto da exportação
Equador Guyana Inglesa
Peru
. 2.723
O
Guatemala
S. Salvador
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
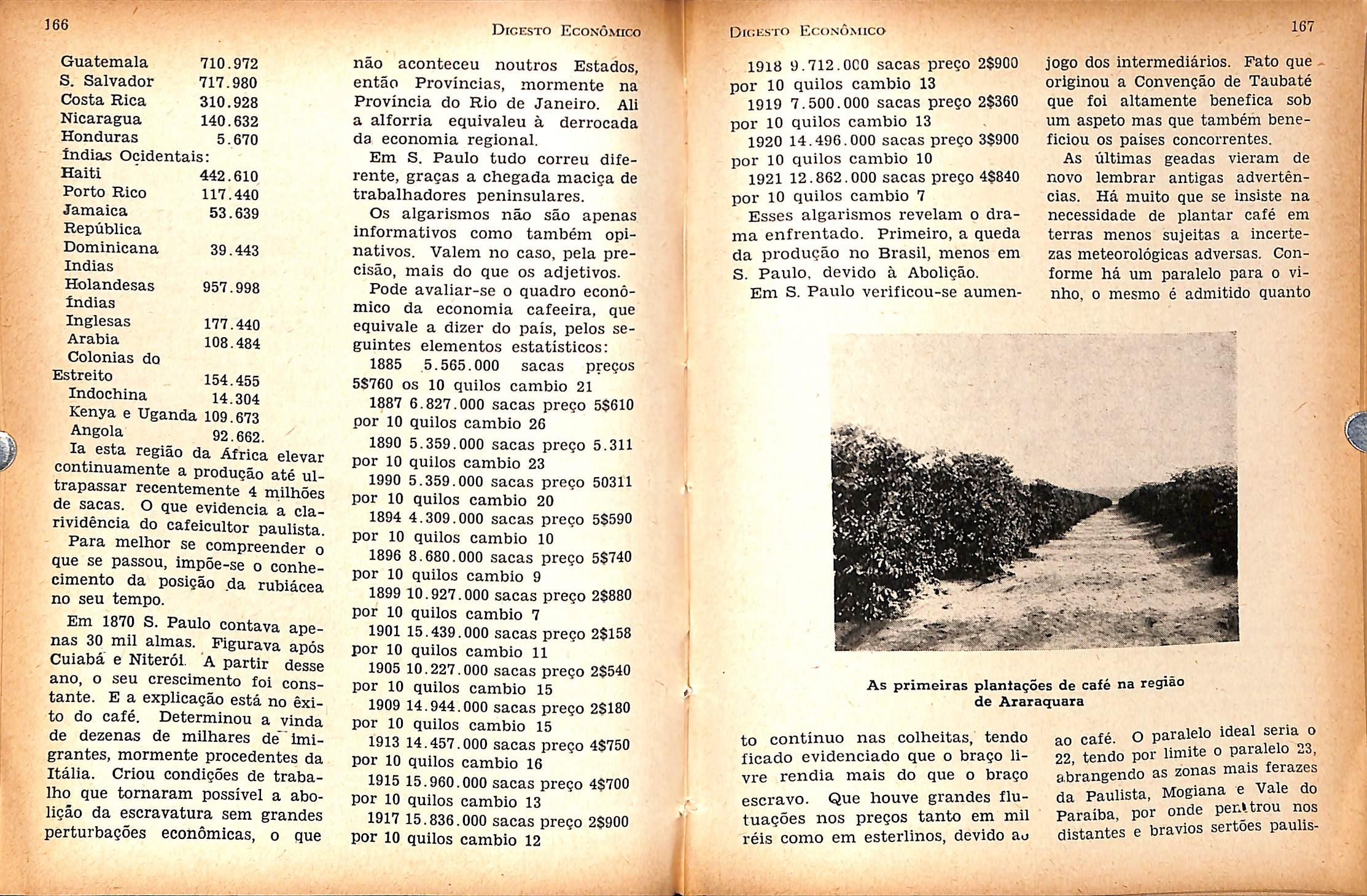
710.972
índias Ocidentais:
Haiti
Porto Rico
Jamaica
República
Dominicana
índias
Holandesas
índias
Inglesas
Arabia
Colonias do Estreito
Indochina
Kenya e Uganda 109.673
Angola
Ia esta região da África 92.662. .. elevar contmuamente a produção até ul trapassar recentemente de sacas. 4 niilhões . . . . ® evidencia a cla¬ rividência do cafeicultor paulista. Para melhor se compreender o que se passou, impõe-se o conhe cimento da posição da rubiácea no seu tempo.
Em 1870 S. Paulo contava ape nas 30 mil almas. Figurava após Cuiabã e Niterói. A partir desse ano, o seu crescimento foi tante. E a explicação está no êxi to do café. Determinou a vinda de dezenas de milhares de’ imi grantes, mormente procedentes da Itália. Criou condições de traba lho que tornaram possível a abo lição da escravatura sem grandes perturbações econômicas. conso que
não aconteceu noutros Estados, então Províncias, mormente na Província do Rio de Janeiro. Ali a alforria equivaleu à derrocada da economia regional.
Em S. Paulo tudo correu dife rente, graças a chegada maciça de trabalhadores peninsulares.
Os algarismos não são apenas informativos como também opinativos. Valem no caso, pela pre cisão, mais do que os adjetivos.
Pode avaliar-se o quadro econô mico da economia cafeeira, que equivale a dizer do país, pelos se guintes elementos estatísticos:
1885 .5.565.000 5S760 os 10 quilos cambio 21
sacas preços
1887 6.827.000 sacas preço 5S610 por 10 quilos cambio 26
1890 5.359.000 sacas preço 5.311 por 10 quilos cambio 23
1990 5.359.000 sacas preço 50311 por 10 quilos cambio 20
1894 4.309.000 sacas preço 5S590 por 10 quilos cambio 10
1896 8.680.000 sacas preço 5$740 por 10 quilos cambio 9
1899 10.927.000 sacas preço 2S880 por 10 quilos cambio 7
1901 15.439.000 sacas preço 2$158 por 10 quilos cambio 11
1905 10.227.000 sacas preço 2$540 por 10 quilos cambio 15
1909 14.944.000 sacas preço 2S180 por 10 quilos cambio 15
1913 14.457.000 sacas preço 4S750 por 10 quilos cambio 16
1915 15.960.000 sacas preço 4$700 por 10 quilos cambio 13
1917 15.836,000 sacas preço 2$900 por 10 quilos cambio 12
1918 9.712.OCO sacas preço 2$900 por 10 quilos cambio 13
1919 7.500.000 sacas preço 2$360 por 10 quilos cambio 13
1920 14.496.000 sacas preço 3$900 por 10 quilos cambio 10
1921 12.862.000 sacas preço 4$840 por 10 quilos cambio 7
Esses algarismos revelam o dra ma enfrentado. Primeiro, a queda da produção no Brasil, menos em S. Paulo, devido à Abolição.
Em S. Paulo verificou-se aumen-
jogo dos intermediários. Fato queoriginou a Convenção de Taubaté que foi altamente benefica sob um aspeto mas que também bene ficiou os países concorrentes. As últimas geadas vieram de novo lembrar antigas advertên cias. Há muito que se insiste na necessidade de plantar café em terras menos sujeitas a incerte zas meteorológicas adversas. Con forme há um paralelo para o vi nho, 0 mesmo é admitido quanto
●‘Al- 7HI9B % k
( l As primeiras planlaçÕes de café na regiao de Araraquara
ao café. O paralelo ideal 22. tendo por limite o paralelo .3, zonas mais ferazes e Vale do onde penltrou nos bravios sertões paulissena o continuo nas colheitas, tendo ficado evidenciado que o braço lirendia mais do que o braço to abrangendo as da Paulista, Mogiana vre escravo, tuações nos preços tanto em mil réis como em esterlinos, devido ao
Que houve grandes fluParaíba, por distantes e -
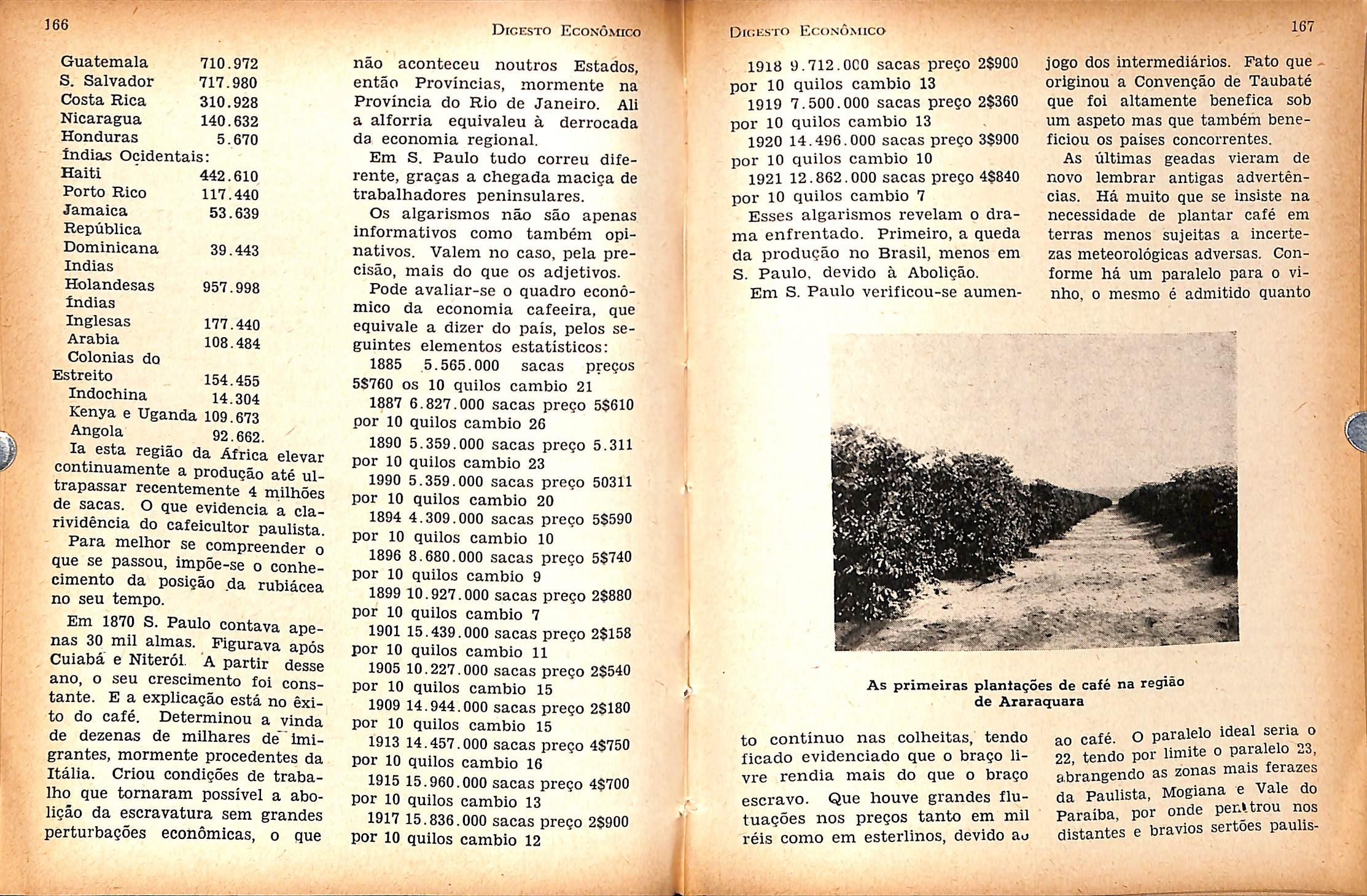
tas do Oeste. É um arbusto que requer calor. Na África, o tipo robusta, produz fantasticamente dentro da mata, Ê também ativi dade rural praticada predominan temente por sitiantes.

miu-
Plantava seu milho. seu arroz, seu feijão, criava porcos e galinhas. Do conjunto de dezenas de milha res resultavam sobras ponderáveis de ovos, aves, carne de porco fres ca ou de conserva, ■ a forma de linguiça perdeu esses preparada sob e paios. Só aspectos benéficos quando foram introduzidas rações no trato do trabalhador ral e patrão, do que resultou a aparição do deplorável sistema do “boia fria”, estimulador do exõdo do campo para Havia antes um benéfico brio,
alterugrande a cidade. - equilíquebrado pela ilusão ’ grandes centros onde acontece trabalhador rural dos ao a mesma marginalização que transforma busto índio da selva num mulamo robo.
zeres, bailaricos. seus ingênuos desafios, dentro de normas rígidas de moral que evitam a delinquência juvenil. Transplantados para grande acontece frequentemente rápida degenerescência que pesar de maneira opressiva sobre as coletividades urbanas, galopolis apre.senta-se, assim, al tamente poluente jiara os corpos sadios e as almas simples.
com suas modinhas, seus a cidade vai
Inicialmente o café em S. Paulo povoou e enriqueceu. A me- Caracteri zou-se como lavoura diversificada embora a considerassem exigente monocultura. Nas antigas fazen das, o regime agrícola, tinha to de parceria, pois o colono re cebia casa
e terra para tratar. As restriçõe.s feitas ao café cons tituem frequentemente distorsões. É inegável que a rubiácea custeou portos, ferrovias e o início do par que industrial. Fez do S. Paulo, modesto vilarejo, uma cidade mo derna, que já foi muito aprazível, nas décadas de 20 a 30. A orga nização agrícola, baseada no sis tema de parceria, propiciou a dis tribuição da riqueza, melhor do que através de qualquer legislação social avançada. Há dois casos expressivos de fortuna,- devido ao café. O de Geremia Lunardelli, que começou como modesto colono e se tornou famoso milhardário. Denominaram-no rei do café. Ape sar de não ter instrução aprimo rada possuia a bossa dos negócios. Acabou como o maior cafeicultor do País.
O homem do campo, criado hábitos apropriados ao meio, era servido por uma cultura adequaSentia-se amparado e feliz num conjunto de obrigações e lacom da.
Outro, foi Carlos Leoncio Maga lhães, mais conhecido como Nhonhô Magalhães. Este, brasileiro, de pais ricos nascido e também de elevada posição social. Aproveitou
experência da juventude no cul tivo de pequena fazenda, trans formando-se numa espécie de del fim da rubiácea.
Foi senhor da maior área rural do interior paulista, como um dos mais ricos e famosos ducados do velho mundo. a
um tesouro, uma autentica mina. Uma sesmaria adquirida de quem de direito, o próspero Gavião Pei xoto. Sua superfície medida atin gia 750 quilômetros quadrados. Não se limitava a um só municipio. Expandia-se pelos municípios de Matão, Araraquara e Ibitinga.

Sede da Fazenda Resgaie, em Bananal, símbolo dc esplendor da primeira fase da cafeicultura, no vale do Paraíba
Fora inicialmente um colossal Era
A GRANDE FAZENDA :* desperdício de possibilidades, então comum encontrarem-se lar gadas enormes parcelas de chão a de alguém que fosse capaz frutificar as reservas
Foi justamente considerada a maior propriedade rural, a maior fábrica de café em cóco. tituia, pela sua organização, uma indústria a céu aberto, cuja fina lidade primordial era produzir ba gas da rubiácea.
Chamou-se Fazenda Cambuhy e com essa denominação chegou a ser mundialmente conhecida. Era Cons- espera de fazer acumuladas em milênios. -A flores ta virgem cobrira por muitos sé culos aquela terra de imensa ferjtilidade.
Terra magnífica para planta café. Carlos Leoncio de Maga-
Ihães começou com algumas deze nas de milhares para atingir três milhões de pés. Conservou mil alqueires de matas em que abun davam as madeiras de lei.
Em cinco mil alqueires de mata fez pastagens em que cresceram doze mil cabeças de gado escolhi do. Para conter os rebanhos fo ram estendidos os fios de seis mil rolos de arame farpado.
0 British Bank of South America Limited, causou espanto quando publicado com destaque pelos jor nais da época. Foi emitido em 4 de novembro de 1924. Era uma coisa espantosa, nunca se vira an tes um algarismo seguido de sete zeros e um cifrão!
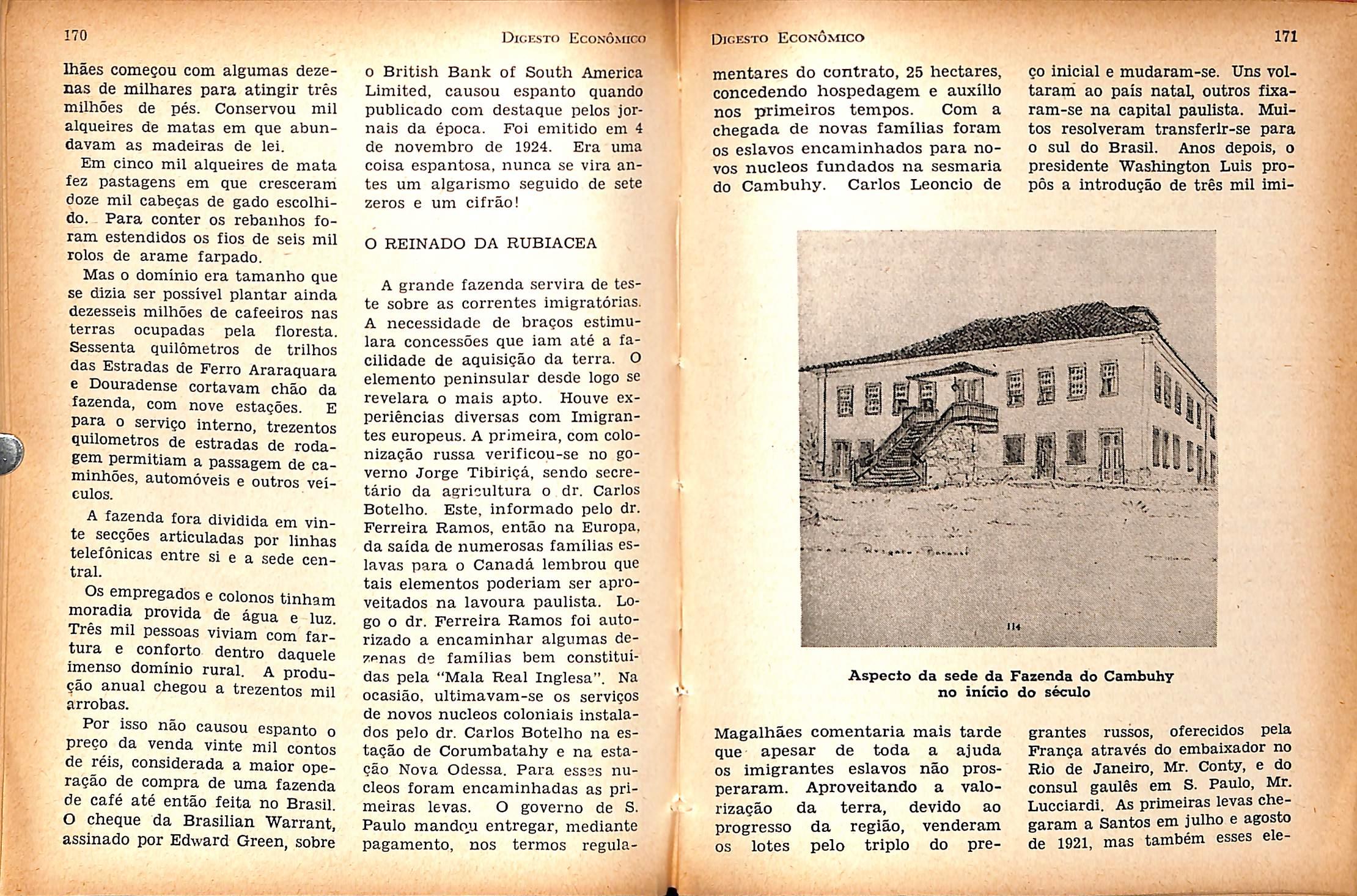
rodaca-
Mas o dominio era tamanho que se dizia ser possivel plantar ainda dezesseis milhões de cafeeiros nas terras ocupadas pela floresta. Sessenta quilômetros de trilhos das Estradas de Ferro Araraquara e Douradense cortavam chão da fazenda, com nove estações, para o serviço interno, trezentos quilômetros de estradas de gem permitiam a passagem de minhoes, automóveis e outros veí culos.
em vm-
e a sede cen-
A fazenda fora dividida te secções articuladas por linhas telefônicas entre si trai.
Os empregados e colonos tinham moradia provida de água e luz. Três míl pessoas viviam com far tura e conforto dentro daquele imenso domínio rural, ção anual chegou a trezentos mil arrobas.
A produ-
Por isso nao causou espanto o preço da venda vinte mil de réis, considerada contos a maior ope ração de compra de uma fazenda de café até então feita no Brasil. O cheque da Brasilian Warrant^ assinado por Edward Green, sobre
A grande fazenda servira de tes te sobre as correntes imigratórias. A necessidade de braços estimu lara concessões que iam até a fa cilidade de aquisição da terra. O elemento peninsular desde logo se revelara o mais apto. Houve ex periências diversas com Imigran tes europeus. A primeira, com colo nização russa verificou-se no go verno Jorge Tibiriçá, sendo secre tário da agricultura o dr. Carlos Botelho. Este, informado pelo dr. Ferreira Ramos, então na Europa, da saída de numerosas famílias es lavas para o Canadá lembrou que tais elementos poderíam ser apro veitados na lavoura paulista. Lo go o dr. Ferreira Ramos foi auto rizado a encaminhar algumas dezf^nas de famílias bem constituí das pela “Mala Real Inglesa’’. Na ocasião, ultimavam-se os serviços de novos núcleos coloniais instala dos pelo dr. Carlos Botelho na es tação de Corumbatahy e na esta ção Nova Odessa. Para esses nú cleos foram encaminhadas as pri meiras levas.
Paulo mando^u entregar, mediante pagamento, nos termos regula-
O governo de S. i
mentares do contrato, 25 hectares, concedendo hospedagem e auxilio
Com a
nos primeiros tempos, chegada de novas famílias foram os eslavos encaminhados para no vos núcleos fundados na sesmaria do Cambuhy. Carlos Leoncio de
ço inicial e mudaram-se. Uns voltarani ao pais natal, outros fixa ram-se na capital paulista. Mui tos resolveram transferir-se para o sul do Brasil. Anos depois, o presidente Washington Luis pro pôs a introdução de três mil imi-
Aspecto da sede da Fazenda do Cambuhy no inicio do século *
Magalhães comentaria mais tarde que apesar de toda a ajuda os imigrantes eslavos não pros peraram. Aproveitando a valo rização da terra, devido ao progresso da região, venderam os lotes pelo triplo do pre-
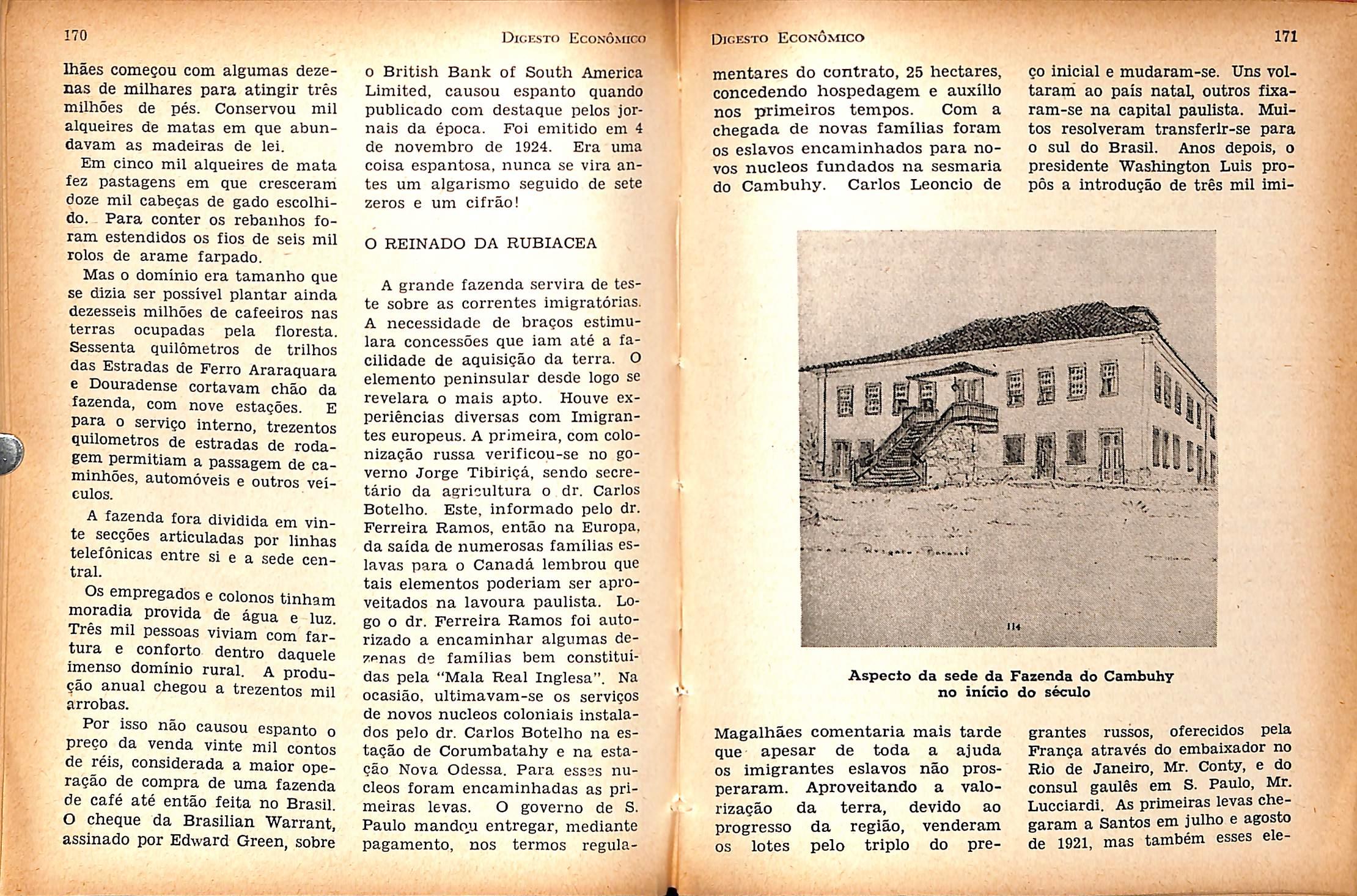
Santos em julho e agosto também esses ele-
grantes rusk)S, oferecidos pela França através do embaixador no Rio de Janeiro, Mr. Conty, e do cônsul gaulês em S. Paulo, Mr. Lucciardi. As primeiras levas che garam a de 1921, mas
mentos não provaram bem.
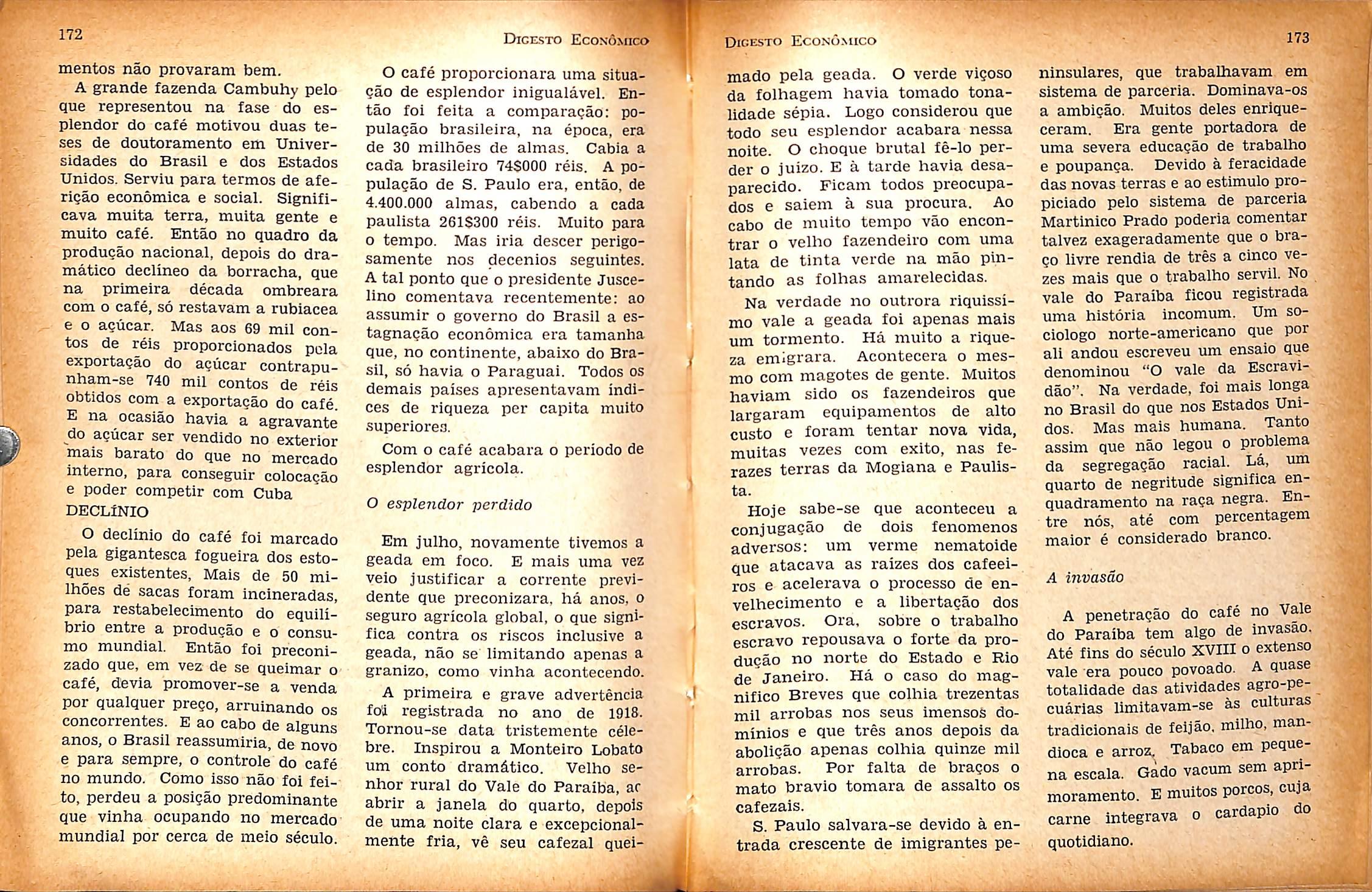
conpola a agravante no exterior que no mercado
A grande fazenda Cambuhy pelo que representou na fase do es plendor do café motivou duas te ses de doutoramento em Univer sidades do Brasil e dos Estados Unidos. Serviu para termos de afe rição econômica e social. Signifi cava muita terra, muita gente e muito café. Então no quadro da produção nacional, depois do dra mático declíneo da borracha, que na primeira década ombreara com o café, só restavam a rubiacea e o açúcar. Mas aos 69 mil tos de réis proporcionados exportação do açúcar contrapu nham-se 740 mil contos de réis obtidos com a exportação do café. E na ocasião havia do açúcar ser vendido mais barato do r interno, para conseguir colocacão e poder competir com Cuba
DECLÍNIO
O declínio do café foi marcado pela gigantesca fogueira dos esto ques existentes, Mais de 50 mi lhões dé sacas foram incineradas, para restabelecimento do equilí brio entre a produção mo mundial.
e o consuEntão foi preconi¬ zado que, em vez de se café, devia promover-se queimar o a venda por qualquer preço, arruinando concorrentes. E ao cabo de alguns anos, 0 Brasil reassumiría, de novo e para sempre, o controle do café no mundo. Como isso não foi fei to, perdeu a posição predominante que vinha ocupando no mercado mundial por cerca de meio século. os
O café proporcionara uma situa ção de esplendor inigualável. En tão foi feita a comparação: po pulação brasileira, na época, era de 30 milhões de almas. Cabia a cada brasileiro 74S000 réis. A po pulação de S. Paulo era, então, de 4.400.000 almas, cabendo a cada paulista 261S300 réis. Muito para 0 tempo. Mas iria descer perigo samente nos clecenios seguintes. A tal ponto que o presidente Juscelino comentava recentemente: ao assumir o governo do Brasil a es tagnação econômica era tamanha que, no continente, abaixo do Bra sil, só havia o Paraguai. Todos os demais países apresentavam índi ces de riqueza per capita muito superiores.
Com o café acabara o período de esplendor agrícola.
O esplendor perdido
Em julho, novamente tivemos a geada em foco. E mais uma vez veio justificar a corrente previ dente que preconizara, há anos, o seguro agrícola global, o que signi fica contra os riscos inclusive a geada, não se limitando apenas a granizo, como vinha acontecendo.
A primeira e grave advertência fód registrada no ano de 1918. Tornou-se data tristemente céle bre. Inspirou a Monteiro Lobato um conto dramático. Velho se nhor rural do Vale do Paraíba, ar abrir a janela do quarto, depois de uma noite clara e excepcional mente fria, vê seu cafezal quei-
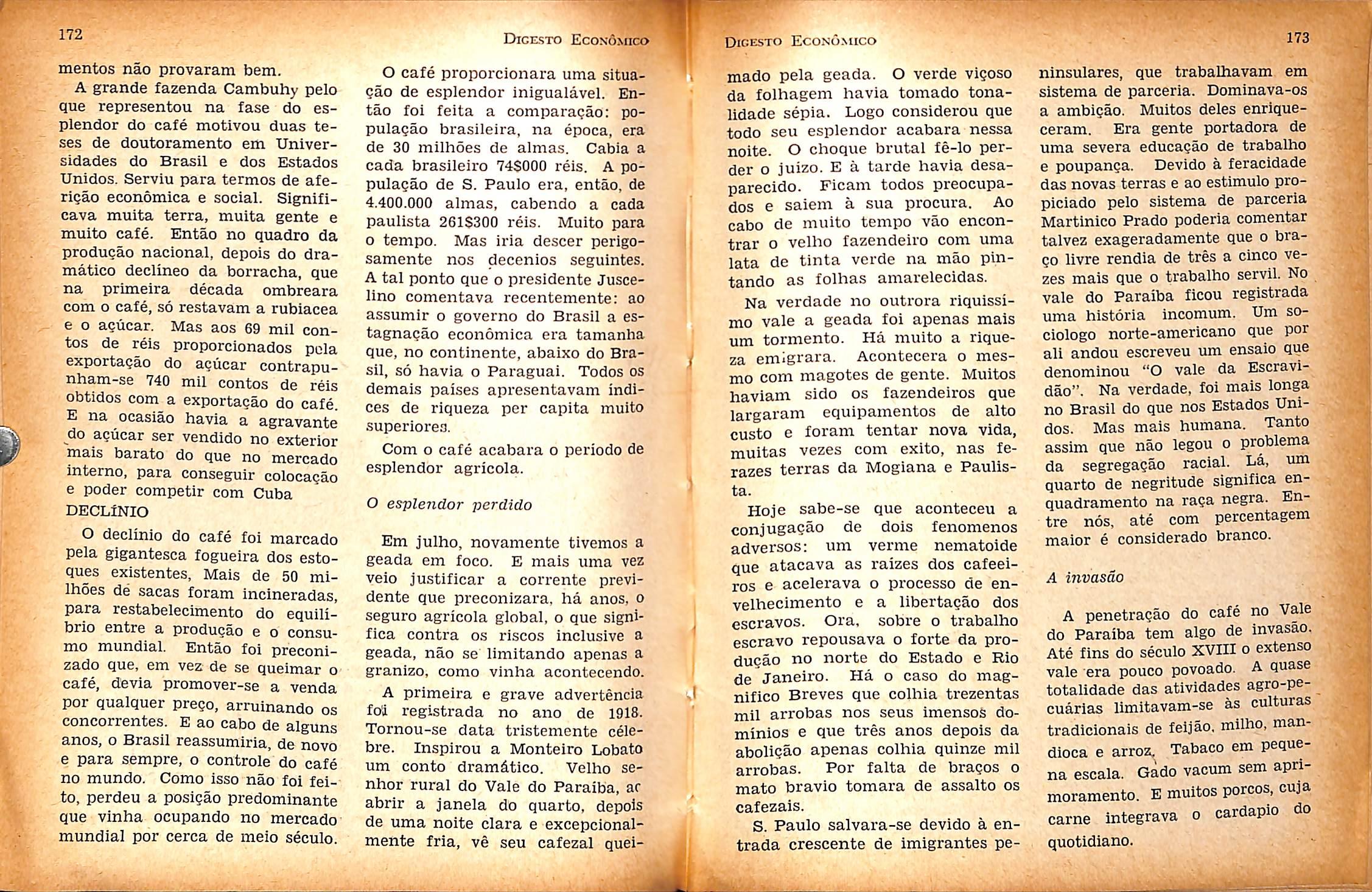
mado pela geada. O verde viçoso da folhagem havia tomado tona lidade sépia. Logo considerou que todo seu esplendor acabara nessa noite. O choque brutal fê-lo per der o juízo. E à tarde havia desa parecido. Ficam todos preocupa dos e saiem à sua procura, cabo de muito tempo vão encon trar 0 velho fazendeiro com uma lata de tinta verde na mão pin tando as folhas amarelecidas. Ao zes mais que o vale do Paraiba ficou registrada
Na verdade no outrora riquissimo vale a geada foi apenas mais um tormento. Há muito a rique za emigrara. Acontecera o mescom magotes de gente. Muitos haviam sido os fazendeiros que equipamentos de alto
ninsulares, que trabalhavam em sistema de parceria. Dominava-os a ambição. Muitos deles enrique ceram. Era gente portadora de uma severa educação de trabalho e poupança. Devido à feracidade das novas terras e ao estimulo pro piciado pelo sistema de parceria Martinico Prado poderia comentar talvez exageradamente que o bra ço livre rendia de três a cinco vetrabalho servil. No
Um so-
uma história incomum. ciologo norte-americano que por ali andou escreveu um ensaio que O vale da Escravi- denominou dão”. Na verdade, foi mais longa Brasil do que nos Estados UniTanto mo no largaram custo e foram tentar nova vida, muitas vezes com exito, nas feterras da Mogiana e Paulis-
Mas mais humana. dos. assim que não legou o problema da segregação quarto de negritude significa en quadramento na raça negra. En tre nós, até com percentagem maior é considerado branco. racial. Lá, um razes ta.
Hoje sabc-se que aconteceu a conjugação de dois fenomenos adversos: um verme nematoide atacava as raizes dos cafeeie acelerava o processo de enque
A invasão ros velhecimento e a libertação dos escravos. Ora. sobre o trabalho escravo repousava o forte da pro dução no norte do Estado e Rio de Janeiro. Há o caso do mag nífico Breves que colhia trezentas mil arrobas nos seus imensos do mínios e que três anos depois da abolição apenas colhia quinze mil Por falta de braços o
A penetração do café no Vale do Paraiba tem algo de invasao. Até fins do século XVIII o extenso vale era pouco povoado. A quase totalidade das atividades agro-peàs culturas cuárias limitavam-se tradicionais de feijão, milho, manTabaco em peque- dioca e arroz, na escala. Gado vacum sem apri moramento. E muitos porcos, cuja cardapio do arrobas, mato bravio tomara de assalto os cafezais.
S. Paulo salvara-se devido à en trada crescente de imigrantes pe-
0 carne integrava quotidiano.
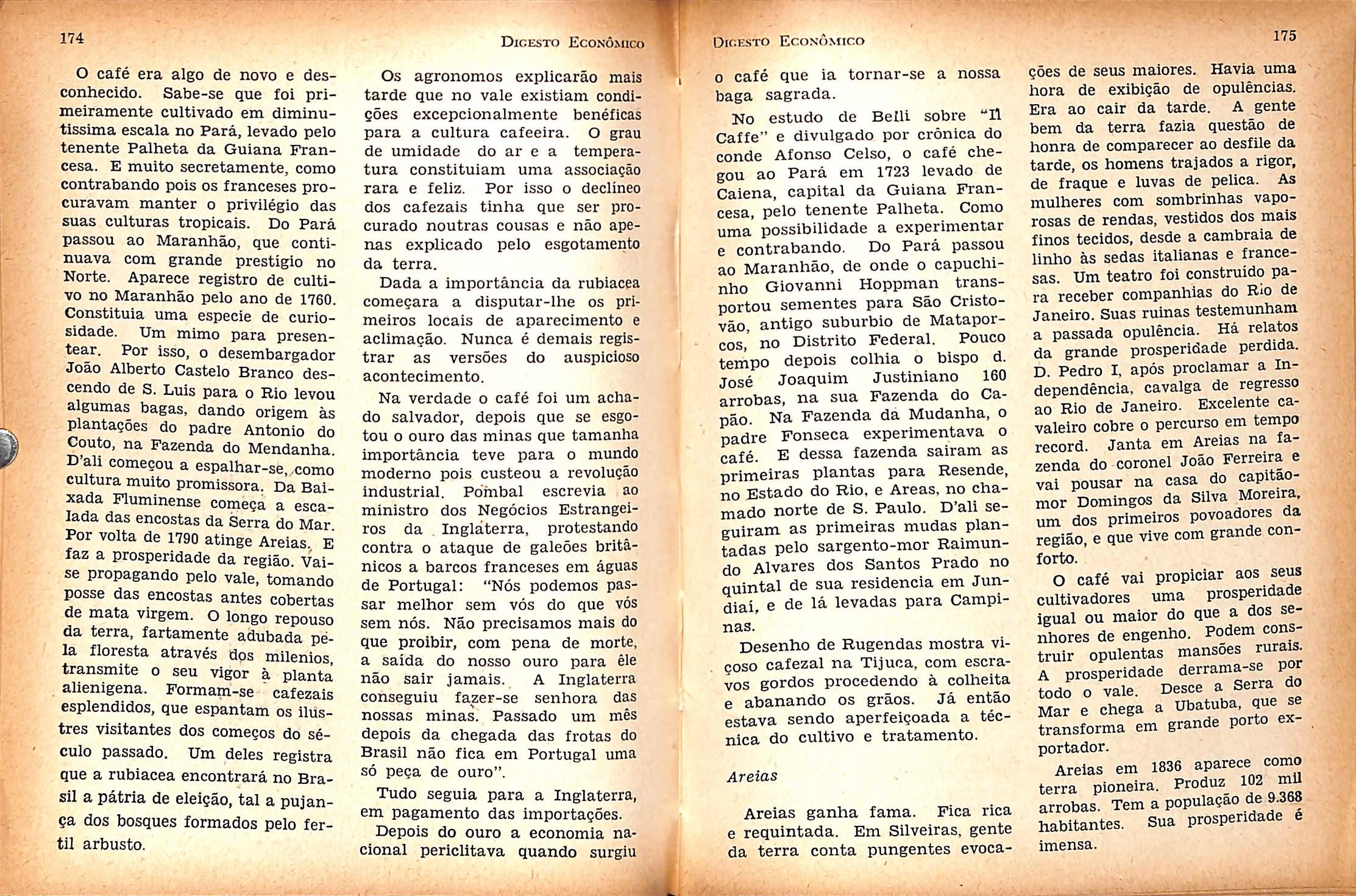
O café era algo de novo e des conhecido. Sabe-se que foi pri meiramente cultivado em diminu-
tissima escala no Pará, levado pelo tenente Palheta da Guiana Fran cesa. E multo secretamente, como contrabando pois os franceses pro curavam manter o privilégio das suas culturas tropicais. Do Pará passou ao Maranhão, que conti nuava com grande prestigio no Norte. Aparece registro de culti vo no Maranhão pelo ano de 1760. Constituia uma especie de curio sidade. Um mimo para presenPor isso, 0 desembargador João Alberto Castelo Branco des cendo de S. Luis para o Rio levou algumas bagas, dando origem às plantações do padre Antonio Couto, na Fazenda do Mendanha D’ali começou a espalhar-se, como cultura muito promissora. Da Bai xada Fluminense começa a esca lada das encostas da Serra do Mar Por volta de 1790 atinge Areias., E faz a prosperidade da região Vaise propagando pelo vale, tomando posse das encostas antes cobertas de mata virgem, o longo repouso da terra, fartamente adubada ne la floresta através dos transmite o tear. do milênios, seu vigor à planta Formam-se cafezais
Os agronomos explicarão mais tarde que no vale existiam condi ções excepcionalmente benéficas para a cultura cafeeira. O grau de umidade do ar e a tempera tura constituíam uma associação rara e feliz. Por isso o declineo dos cafezais tinha que ser pro curado noutras cousas e não ape nas explicado pelo esgotamento da terra.
Dada a importância da rubiacea começara a disputar-lhe os pri meiros locais de aparecimento e aclimação. Nunca é demais regis trar as versões do auspicioso acontecimento.
Na verdade o café foi um acha do salvador, depois que se esgo tou o ouro das minas que tamanha importância teve para o mundo moderno pois custeou a revolução industrial. Pombal escrevia ao ministro dos Negócios Estrangei ros da Inglaterra, protestando contra o ataque de galeões britâ nicos a barcos franceses em águas de Portugal: “Nós podemos pas¬ sar melhor sem vós do que vós sem nós. Não precisamos mais do que proibir, com pena de morte, a saída do nosso ouro para êle não sair jamais, conseguiu fazer-se senhora das nossas minas. Passado um mês depois da chegada das frotas do Brasil não fica em Portugal uma só peça de ouro”.
A Inglaterra alienígena, esplendidos, que espantam os ilus tres visitantes dos começos do sé culo passado. Um deles registra que a rubiacea encontrará no Bra sil a pátria de eleição, tal a pujan ça dos bosques formados pelo fér til arbusto.
Tudo seguia para a Inglaterra, em pagamento das importações. Depois do ouro a economia na cional periclitava quando surgiu
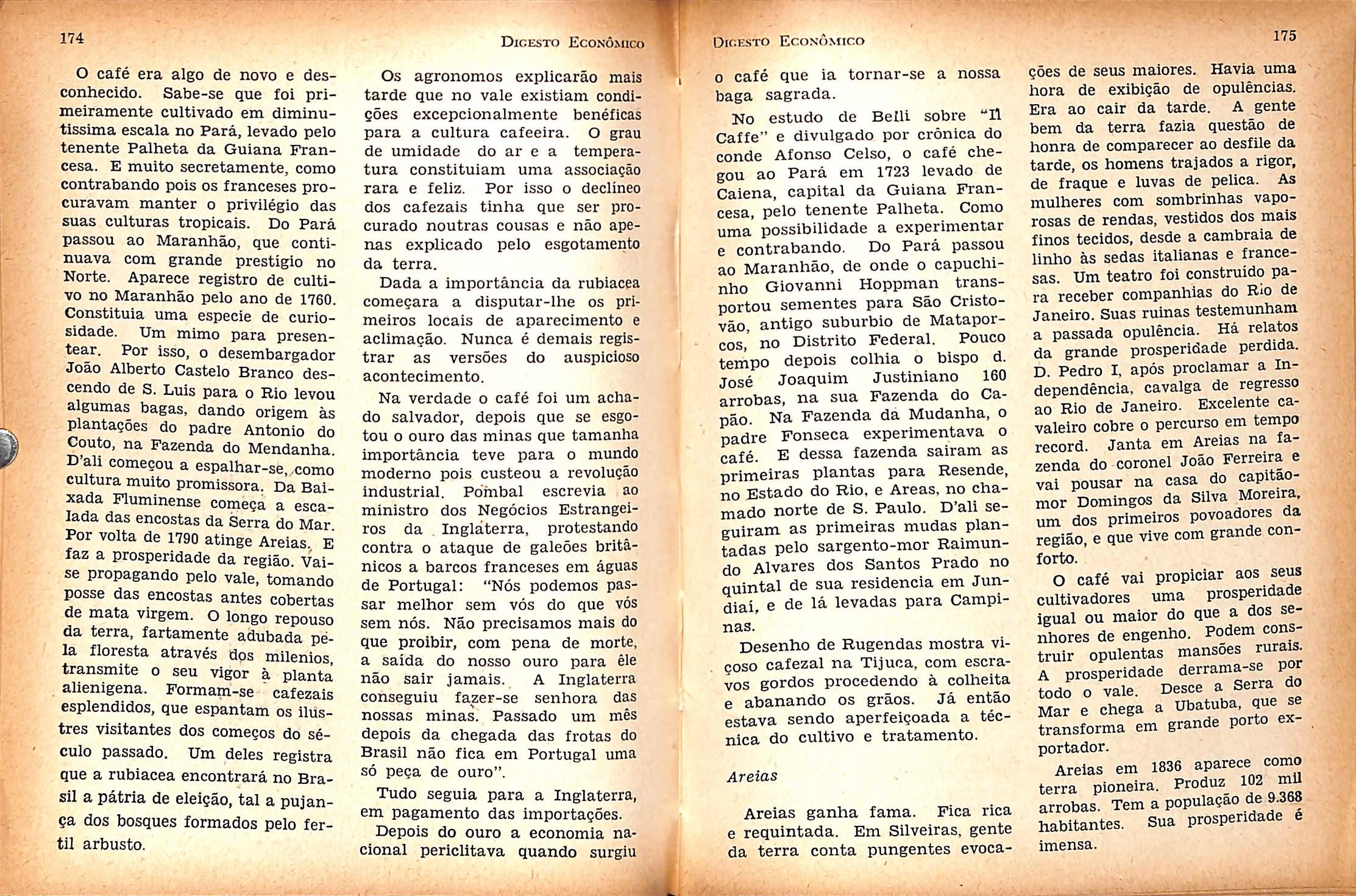
café que ia tornar-se a nossa baga sagrada. 0
11
1723 levado de
No estudo de Beilt sobre Caffe” e divulgado por crônica do conde Afonso Celso, o café che gou ao Pará em Caiena, capital da Guiana Franpelo tenente Palheta. Como possibilidade a experimentar
Do Pará passou Maranhão, de onde o capuchiGiovanni Hoppman transsementes para São Cristoantigo suburbio de MataporPouco
ções de seus maiores. Havia uma hora de exibição de opulências. Era ao cair da tarde. A gente bem da terra fazia questão de honra de comparecer ao desfile da tarde, os homens trajados a rigor, de fraque e luvas de pelica. mulheres com sombrinhas vapode rendas, vestidos dos mais
As cesa, rosas finos tecidos, desde a cambraia de linho às sedas italianas e france sas. Um teatro foi construído pa ra receber companhias do R*o de Janeiro. Suas ruinas testemunham Há relatos uma e contrabando. ao nho portou vao, COS, no tempo José passada opulência, grande prosperidade perdida. D. Pedro I. após proclamar a In dependência. cavalga de regressoExcelente caa Distrito Federal, depois colhia o bispo d. Joaquim da 160 Justiniano
Fazenda do CaNa Fazenda da Mudanha, o Fonseca experimentava o E dessa fazenda sairam as arrobas, na sua ao Rio de Janeiro, valeiro cobre o percurso Janta empão. padre café. primeiras plantas para Resende, no Estado do Rio, e Areas. no cha mado norte de S. Paulo. D’ali se guiram as primeiras mudas plan tadas pelo sargento-mor RaimunAlvares dos Santos Prado no de sua residência em Junde lá levadas para Campi-
- em tempo
Areias na fa¬ record. zenda do coronel João Ferreira e vai pousar na casa do capitao- mor Domingos da Silva Moreira, um dos primeiros povoadores região, e que vive com grande con forto.
O café vai propiciar uma da do aos seus quintal diaí, e prosperidade cultivadores igual ou maior do que a dos se- Podem consrurais. nas. nhores de engenho, truir opulentas mansões
Desenho de Rugendas mostra vicafezal na Tijuca, com escragordos procedendo à colheita Já então çoso vos e abanando os grãos, estava sendo aperfeiçoada a téc nica do cultivo e tratamento. portador.
A prosperidade derrama-se por todo o vale. Desce a Serra do Mar e chega a ^batuba q transforma em grande porto ex
Areias em 1836Produzaparece102 mil como
Areias terra pioneira. _ . arrobas. Tem a populaçao de 9.368 Sua prosperidade e Fica rica
Areias ganha fama. e requintada. Em Silveiras, gente da terra conta pungentes evocahabitantes. imensa.
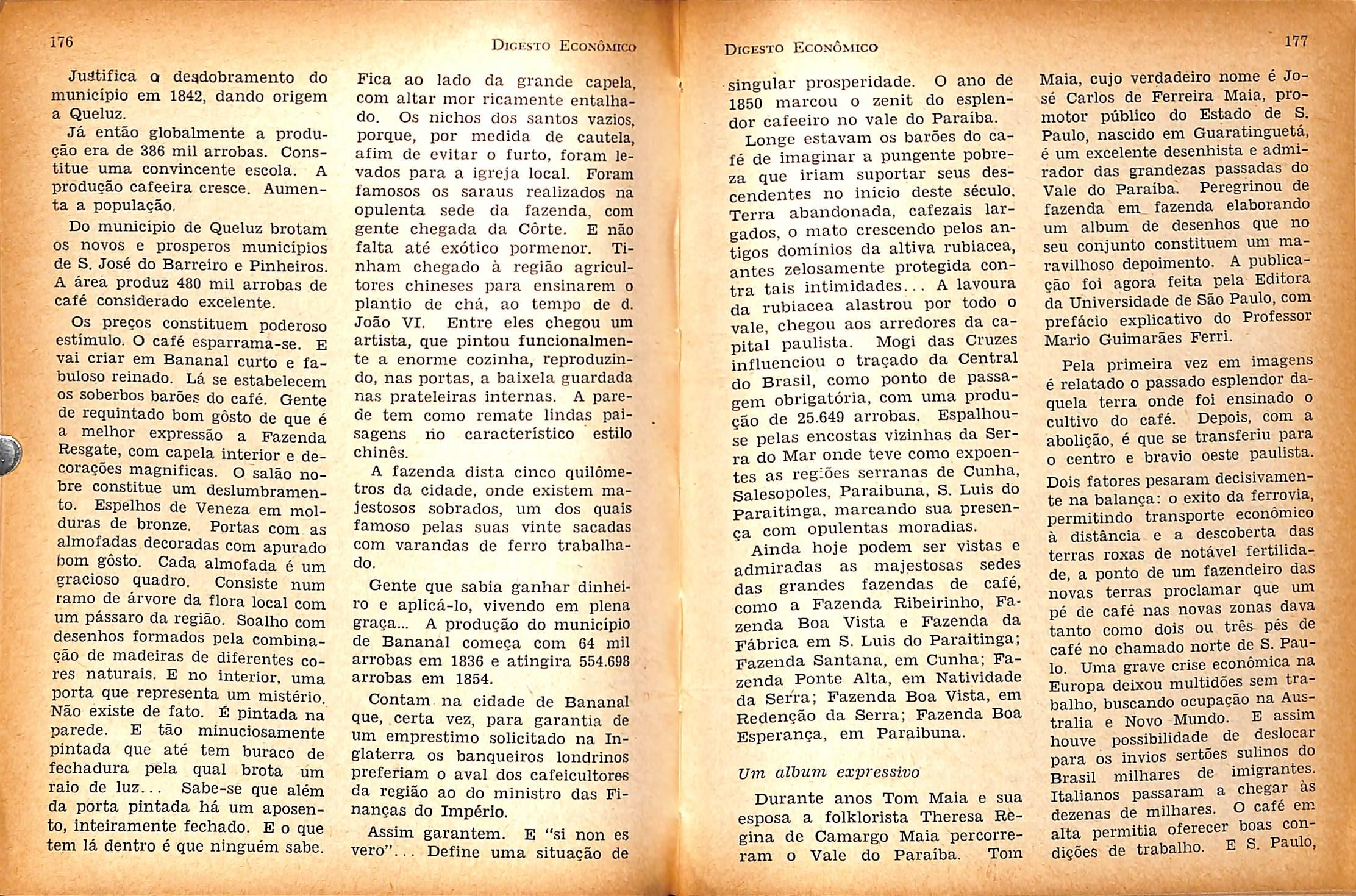
Juâtifica o degdobramento do município em 1842, dando origem a Queluz.
Já então globalmente a produ ção era de 386 mil arrobas. Constitue uma convincente escola. A produção cafeeira cresce. Aumen ta a população.
Do município de Queluz brotam os novos e prosperos municípios de S. José do Barreiro e Pinheiros. A área produz 480 mil arrobas de café considerado excelente.
Os preços constituem poderoso estímulo. O café esparrama-se. vai criar em Bananal curto e fa buloso reinado. Lá se estabelecem os soberbos barões do café. Gente de requintado bom gôsto de a melhor expressão Resgate, com capela interior
que e a Fazenda e de corações magníficas. O salão no bre constitue um deslumbramen to. Espelhos de Veneza duras de bronze, almofadas decoradas com apurado bom gôsto. Cada almofada é um gracioso quadro, ramo de árvore da flora local um pássaro da região. Soalho desenhos formados pela combina ção de madeiras de diferentes res naturais. E no interior, porta que representa um mistério. Não existe de fato. É pintada parede. E tão minuciosamente pintada que até tem buraco de fechadura pela qual brota raio de luz... Sabe-se que além da porta pintada há um aposen to, inteiramente fechado. E o que tem lá dentro é que ninguém sabe.
Fica ao lado da grande capela, com altar mor ricamente entalha do. Os nichos dos santos vazios, porque, por medida de cautela, afim de evitar o furto, foram le vados para a igreja local. Foram famosos os saraus realizados na opulenta sede da fazenda, com gente chegada da Côrte. E não falta até exótico pormenor. Ti nham chegado à região agricul tores chineses para ensinarem o plantio de chá, ao tempo de d. João VI. Entre eles chegou um artista, que pintou funcionalmen te a enorme cozinha, reproduzin do, nas portas, a baixela guardada nas prateleiras internas. A pare de tem como remate lindas pai sagens lio característico estilo chinês.
em molPortas com as
A fazenda dista cinco quilôme tros da cidade, onde existem ma jestosos sobrados, um dos quais famoso pelas suas vinte sacadas com varandas de ferro trabalha-
do.
Consiste num Gente que sabia ganhar dinhei ro e aplicá-lo, vivendo em plena graça... A produção do município de Bananal começa com 64 mil arrobas em 1836 e atingira 554.698 arrobas em 1854.
Contam na cidade de Bananal que, certa vez, para garantia de um empréstimo solicitado na In glaterra os banqueiros londrinos preferiam o aval dos cafeicultores da região ao do ministro das Fi nanças do Império.
Assim garantem. E “si non es vero”... Define uma situação de com com couma na um
O ano de singular prosperidade. 1850 marcou o zenit do esplen dor cafeeiro no vale do Paraíba. Longe estavam os barões do ca fé de imaginar a pungente pobre za que iriam suportar seus des cendentes no inicio deste século, abandonada, cafezais larmato crescendo pelos ane um
Maia, cujo verdadeiro nome é Jo sé Carlos de Ferreira Maia, pro motor público do Estado de S. Paulo, nascido em Guaratinguetá, excelente desenhista e admi rador das grandezas passadas do Peregrinou de
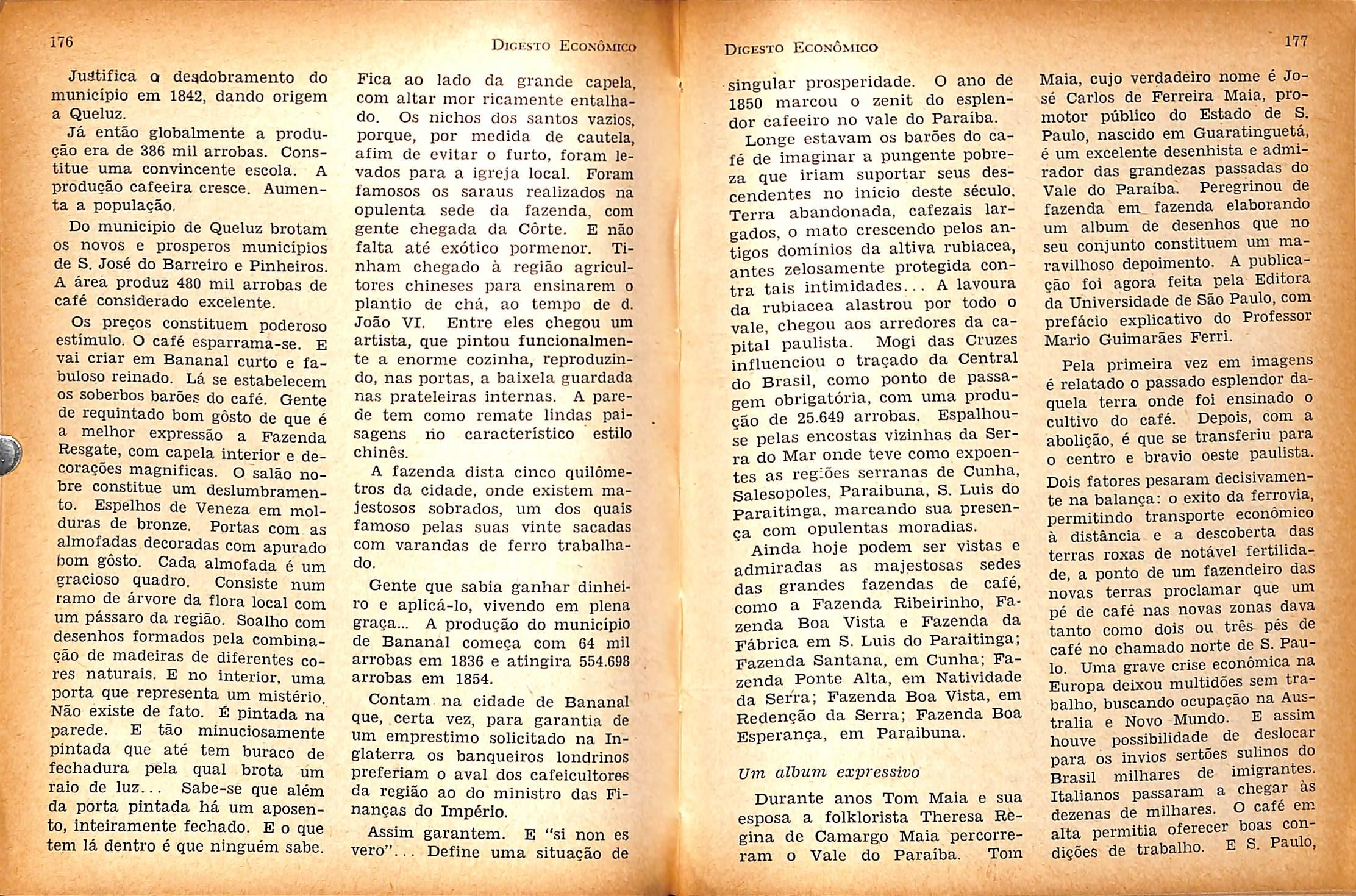
seu conjunto constituem um ravilhoso depoimento. A publica ção foi agora feita pela Editora da Universidade de São Paulo, com prefácio explicativo do Professor Mario Guimarães Ferri.
Vale do Paraíba', fazenda em fazenda elaborando album de desenhos que no maTerra um gados, o tigos domínios da altiva rubiacea, antes zclosamente protegida con tra tais intimidades... A lavoura da rubiacea alastrou por todo o vale, chegou aos arredores da ca pital paulista, influenciou o do Brasil, como ponto de passaobrigatória, com uma produde 25.649 arrobas. Espalhoupelas encostas vizinhas da Serdo Mar onde teve como expoenreglões serranas de Cunha,
gem cão Depois, com a se ra tes as Salesopoles, Paraibuna, S. Luis do Paraitinga, marcando sua presenconi opulentas moradias.
Ainda hoje podem ser vistas e admiradas as majestosas sedes grandes fazendas de café.
Fazenda Ribeirinho, Faça das como a zenda Boa Vista e Fazenda da Fábrica em S. Luis do Paraitinga; Fazenda Santana, em Cunha; Fa zenda Ponte Alta, em Natividade da Serra; Fazenda Boa Vista, em Redenção da Serra; Fazenda Boa Esperança, em Paraibuna.
Um album expressivo
Durante anos Tom Maia e sua esposa a folklorista Theresa Re gina de Camargo Maia percorre ram o Vale do Paraíba. Tom
Mogi das Cruzes traçado da Central Pela primeira vez em imagens é relatado o passado esplendor da quela terra onde foi ensinado o cultivo do café. abolição, é que se transferiu para o centro e bravio oeste paulista. Dois fatores pesaram decisivamen te na balança: o exito da ferrovia, permitindo transporte econômico à distância e a descoberta das terras roxas de notável fertilida de, a ponto de um fazendeiro das novas pé de café nas novas zonas dava tanto como dois ou três pés de café no chamado norte de S. Pau lo. Uma grave crise econômica na Europa deixou multidões sem tra balho, buscando ocupação na Aus trália e Novo Mundo. E assim houve possibilidade de deslocar para os iiivios sertões sulinos do Brasil milhares de imigrantes. Italianos passaram a chegai as dezenas de milhares. O cafe em alta permitia oferecer boas con dições de trabalho. E S. Paulo,
terras proclamar que um

morros e so.
E Elisée Reclus
É 0 maior esforço agiiLeguas e
que era em 1870 modcsta cidade de 30 mil almas, entrou a inchar, esparramando-se por vales, e até charcos circundantes, num dos quais se expandiu o Brás. O esplendor cafeeiro começou a bem dizer no vale do Paraiba. Iria transformar-se no que Ferri de nominou o maior fenomeno agrí cola do século, definiu: cola da humanidade, léguas de uma planta exótica meada pela mão do homem. Flo¬
restas e florestas compreendendo milhões e milhões da mesma ár vore. dispostas metódica e siste maticamente, cultivadas inteligen temente, produzindo colossal so ma de frutos um dos principais gêneros de exportação do país e do mundo. É realmente prodigio-
Só que depois sucederam-se anos de incompetência e incom preensão. E com a revolução de 30 passou a ser considerado uma simples sobremesa...
BRASIL.- CELULOSE DE CARNAÚBA — Depois de dezoito anos de pesquisas, a Moraes S.A., do Piauí, encaminhou jeto de industrialização das folhas de talos de 150 t/dia de celulose,
à Sudene o primeiro proda carnaubeira para fabricação a partir de 1977. Com processo próprio, pioneiro mundo pela não utilização de soda cáustica, a industrialização será ins talada em Parnaíba, Pl, e utilizará matéria-prima do Piauí, Ceará e Rio rande do Norte, investindo Cr$ 300 milhões. Pesquisas lizadas pela Divisão de Têxteis logia, revelaram
com a palha, reae Papel do Instituto Nacional de Tecnoa possibilidade de obtenção de polpas mecânicas semi- químicas, cruas e branqueadas para papéis de toda qualidade. Para obter a celulose, a Moraes desenvolve u um processo próprio, com patente requerida no INPI, que dispensa soda cáustica químico — problema que até ou qualquer outro produto agora invalidava o projeto devido à elevada porcentagem de álcali necessário ao cozimento e separação das fibras, de o peso de palhas e talos eliminando ainda a poluição das ar. Com assistência do INT, inicialmente foi obtido o desenceramento completo das folhas, 20 a 22% sobre águas e com novo processo termo-mecânico para redas pastas — carnaubeira cuperação das fibras, que permitiu obtenção simultâneas crua e mecâpica — e polpa química branqueadas. As folhas da sao material único no mundo com tais características.
ALVARO C. ALSOGARAY
PROBLEMA não era eco nômico G sim político; agora que o povo governa tudo se regularizará fàcilcilmente.” “O peronismo se diferencia dos liberais na medida em que distribui a riqueza”. “Hoje podemos falar do milagre argenti no; conseguimos o pleno emprego e a inflação zero”. “Nunca mais de penderemos do exterior e dos orga nismos financeiros internacionais”. “O desabastecimento, os mercados negros e o ausentismo são fantasmas que agitam os profetas da crise; não tem a importância que estes lhes conferem e em pouco tempo serão afugentados, mandando ao cárcere se for necessário, os especuladores, como faziamos antes”, caminho da Reconstrução, da Libe ração e da Argentina Potência”.
Mais uma tomada de posição do economista liberal argentino.
nuassemos assim, nos veriamos for çados a pedir um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, em condições que julgava desonrosas. E veio, em seguida, a explosiva decla ração do ministro de Economia que apresentou um quadro sombrio da situação, acompanhado de um ver dadeiro "ultimatum” ao setor políti co do governo e a todo o país. Esse “ultimatum”, caso não fosse aceito, dar-lhe-ia direito a retirar-se, sal vando seu prestigio.
Disse o ministro, entre outras coi- 'Estamos a sas:
Estas e outras afirmações simila res refletem o estado de ânimo — dos e o para não dizer a euforia atuais governantes desde o exato momento em que assumiram suas funções, há poucas semanas. Saia mos, finalmente do atraso, da de pendência, da injustiça social em que nos havíamos debatido duran te dezoitos anos.
A nova realidade.

1) “A causa principal da inflação déficit” orçamentário. A infla ção ocorre quando se gasta mais do que se produz. Isso é óbvio consti tui o caso atual”.
2) “O problema fundamental da economia argentina reside em falha na produtividade do conjunto econômico”.
3) “Não me declaro insatisfeito pela forma em que vivemos, mas sim pelo fato de que, como sou obri gado a ver o futuro, sei que isto, assim, não dura; é uma euforia que necessariamente,
Mas, de repente, tudo veio abaixo. Primeiro, o presidente do Banco Central anunciou que nós estavamos ficando sem divisas e que se contiuma uma pressagia, queda”.
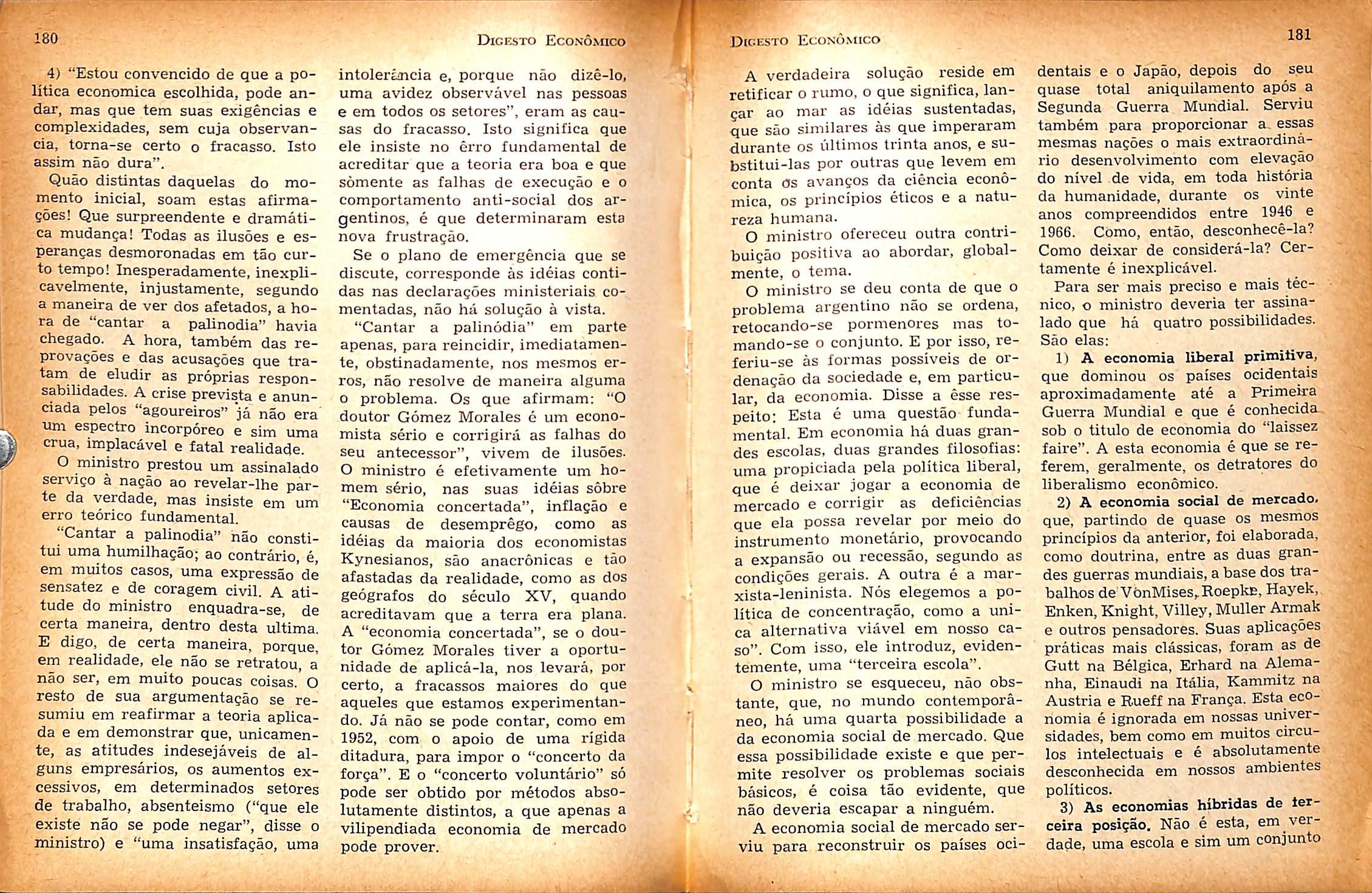
4) “Estou convencido de que a po lítica economica escolhida, pode an dar, mas que tem suas exigências e complexidades, sem cuja observân cia, torna-se certo o fracasso. Isto assim não dura”.
Quão distintas daquelas do mo mento inicial, soam estas afirma ções! Que surpreendente e dramáti ca mudança! Todas as ilusões e es peranças desmoronadas em tão cur to tempo! Inesperadamente, inexpli cavelmente, injustamente, segundo a maneira de ver dos afetados, a ho ra de “cantar a palinódia” havia chegado. A hora, também das provações e das acusações que tratam de eludir as próprias respon sabilidades. A crise prevista e anun ciada pelos “agoureiros” já não era um espectro incorpóreo re-
e sim uma crua, implacável e fatal realidade. O ministro prestou um assinalado serviço à nação ao revelar-lhe par te da verdade, mas insiste em um erro teórico fundamental.
“Cantar a palinódia” não consti tui uma humilhação; ao contrário, é, em muitos casos, uma expressão de sensatez e de coragem civil. A ati tude do ministro enquadi*acerta maneira, dentro desta ultima. E digo, de certa maneira, se, de porque, em realidade, ele não se retratou, a não ser, em muito poucas coisas. O resto de sua argumentação sumiu em reafirmar a teoria aplica da e em demonstrar que, unicamen te, as atitudes indesejáveis de alse reguns empresários, os aumentos ex cessivos, em determinados setores de trabalho, absenteismo (“que ele existe não se pode negar”, disse o ministro) e “uma insatisfação, uma
intoleráaicia e, porque não dizê-lo, uma avidez observável nas pessoas e em todos os setores”, eram as cau sas do fracasso. Isto significa que ele insiste no êrro fundamental de acreditar que a teoria era boa e que sòmente as falhas de execução e o comportamento anti-social dos ar gentinos, é que determinaram esta nova frustração.
Se o plano de emergência que se discute, corresponde às idéias conti das nas declarações ministeriais co mentadas, não há solução à vista.
“Cantar a palinódia” em parte apenas, para reincidir, imediatamen te, obstinadamente, nos mesmos er ros, não resolve de maneira alguma o problema. Os que afirmam: doutor Gómez Morales ó um econo mista sério e corrigirá as falhas do seu antecessor”, vivem de ilusões. O ministro é eíetivamente um ho mem sério, nas suas idéias sôbre “Economia concertada”, inflação e causas de desemprego, como as idéias da maioria dos economistas Kynesianos, são anacrônicas e tão afastadas da realidade, como as dos geógrafos do século XV, quando acreditavam que a terra era plana. A “economia concertada”, se o dou tor Gómez Morales tiver a oportu nidade de aplicá-la, nos levará, por certo, a fracassos maiores do que aqueles que estamos experimentan do. Já não se pode contar, como em 1952, com o apoio de uma rígida ditadura, para impor o “concerto da força”. E o “concerto voluntário” só pode ser obtido por métodos abso lutamente distintos, a que apenas a vilipendiada economia de mercado pode prover.
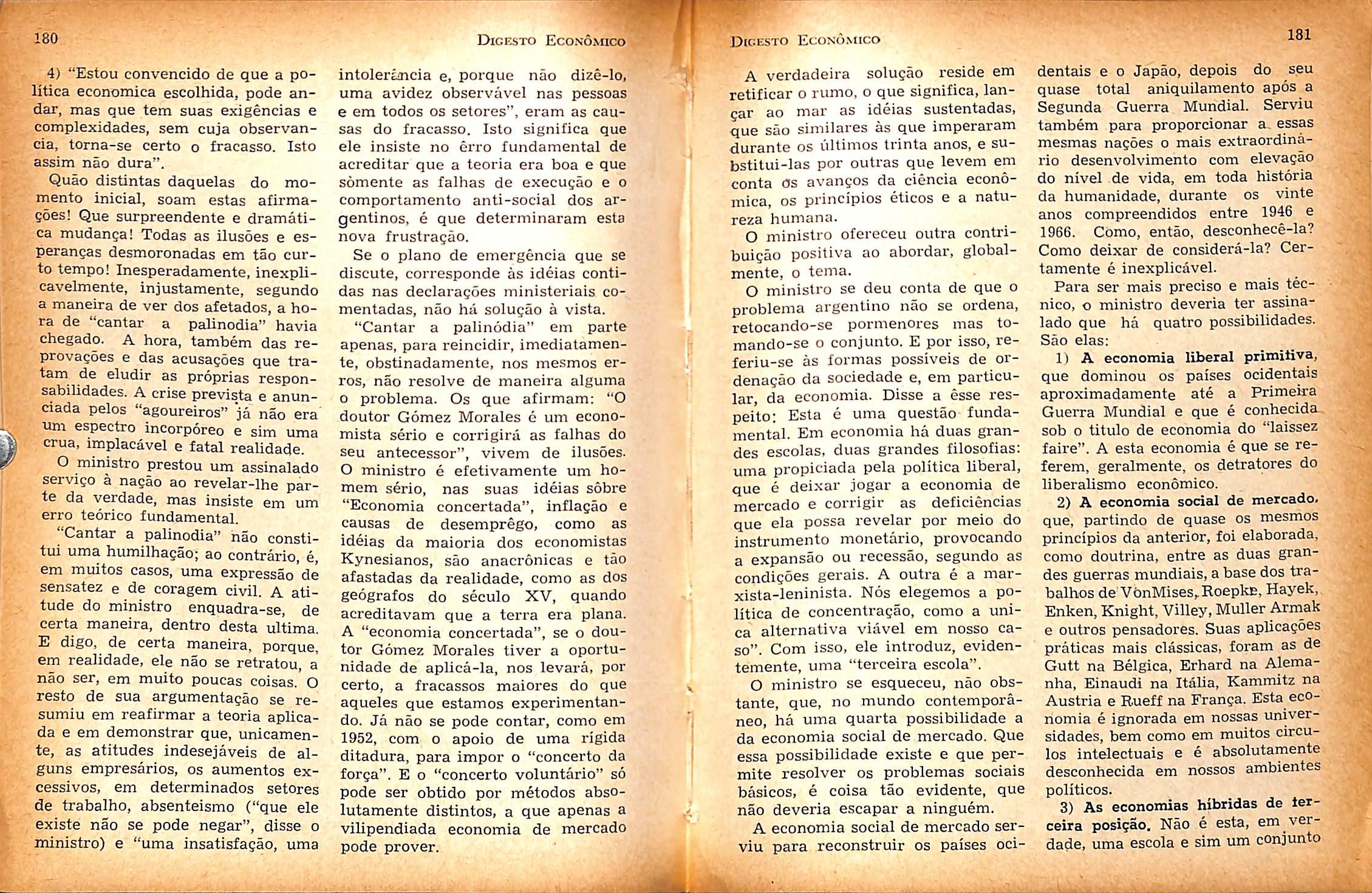
A verdadeira
solução reside em retificar o rumo, o que significa, lanmar as idéias sustentadas, similares às que imperaram seu
çar ao que são durante os úlümos trinta anos, e su bstitui-las por outras que levem em conta os avanços da ciência econôprincipios éticos e a natu- nuca, os reza humana.
O ministro ofereceu outra conüàbuiçãü positiva ao abordar, global mente, o tema.
dentais e o Japão, depois do quase total aniquilamento após a Segunda Guerra Mundial. Serviu também para proporcionar a. essas mesmas nações o mais extraordiná rio desenvolvimento com elevação do nível de vida, em toda história da humanidade, durante os vinte anos compreendidos entre 1946 e 1966. Como, então, desconhecê-la? Como deixar de considerá-la? Cer-
tamente é inexplicável.
O ministro se deu conta de que o problema argentino não se ordena, retocando-se pormenores mas to mando-se o conjunto. E por isso, re feriu-se às formas possíveis de or denação da sociedade e, em particu lar, da economia. Disse a êsse res peito: Esta é uma questão funda mental. Em economia há duas gran des escolas, duas grandes filosofias: propiciada pela política liberal, ferem, geralmente, os detratores do liberalismo econômico.
a expansão ou recessão, segundo as condições gerais. A outra é a marxista-leninista. Nós elegemos a po lítica de concentração, como a úni ca alternativa viável em nosso ca so”. Com isso, ele introduz, evidenterceira escola”. temente, uma
Para ser mais preciso e mais téc nico, o ministro deveria ter assina lado que há quatro possibilidades. São elas:
1) A economia liberal primitiva, que dominou os países ocidentais aproximadamente até a Primeira Guerra Mundial e que é conhecida sob o titulo de economia do “laissez faire”. A esta economia é que se reuma que é deixar jogar a economia de mercado e corrigir as deficiências que ela possa revelar por meio do instrumento monetário, provocando princípios da anterior, foi elaborada, como doutrina, entre as duas gran des guerras mundiais, a base dos ti'abalhos de VónMises,.RoepkE, Hayek, Enken, Knight, Villey, Muller Armak e outros pensadores. Suas aplicações práticas mais clássicas, foram as de Gutt na Bélgica, Erhard na Alema nha, Einaudi na Itália, Kammitz na tante, que, no mundo contemporã- Áustria e Rueff na França. Esta econeo, há uma quarta possibilidade a nomia é ignorada em nossas univerda economia social de mercado. Que sidades, bem como em muitos circulos intelectuais e é absolutamente desconhecida em nossos ambientes
2) A economia social de mercado, que, partindo de quase os mesmos
O ministro se esqueceu, não obsessa possibilidade existe e que per mite resolver os problemas sociais básicos, é coisa tão evidente, que políticos, não deveria escapar a ninguém.
A economia social de mercado ser viu para reconstruir os países oci-
3) As economias híbridas de ter ceira posição. Não é esta, em ver dade, uma escola e sim um conjunto
heterogêneo de improvisações e ex perimentação, cuja rai2 intelectual deve buscar-se nas idéias Keynesianas e sobretudo neokeynesianas. Uma dessas experiências é a “eco nomia concertada”’ a que se refere o doutor Goméz Morales. Estas mias históricas de terceira posição, com sua maior ou menor carga de nacionalismo econômico, “desenvolvimentismo^
dirigismo e inflação, regeram este país durante as três últimas décadas, sob regimes nistas, radicais, e militares e, particular, na forma de peroem economia concertada” desde 25 de maio de 1973 até hoje. Como acaba de afir mar o doutor Gómez Morales é compartilhada pelos “técnicos do ’ ronismo e do radicalismo” por dirigentes dos partidos ’ peisto é, que reu nem mais de 80 por cento dos votos, ernbora, os cidadãos ao votarem, es tejam seguramente, muito longe de levar em conta essa teoria e coincidência entre dicalismo.
mente, a dita forma de proprieda de. Correspondem a essa escola o socialismo-comunismo e o nacionalsocialismo.
Descartadas a primeira e a última dessas possibilidades, isto é, nomia liberal do “laissez faire’ a ecoe as econoeconomias coletivistas, restam como alternativas a economia social de mercado e as economias híbridas. Entre estas, devemos compreender a que está em vigência, ou seja, a “economia concertada do Pacto So cial e das Actas de Compromisso”.

4) A economia coletiva, com plani- ficaçao central e abolição da pro priedade privada, ou com interven ção compulsiva sobre econômicas, respeitando.
essa peronismo e raas atividades nominal0
Creio que o doutor Gómez Mora les faria um grande bem ao pais se aceitasse um debate, amplo e escla recedor, sobre ambas as possibili dades. Esse debate permitiría, tal vez, terminar com o “diálogo entre surdos”, praticado há anos. Poderia servir do mesmo modo para que o governo, caso se convencesse, ado tasse imediatamente ciai de mercado,
a economia so ou para que a opi nião pública se lembrasse no mo mento da comprovação de um novo e inevitável fracasso que se produ zirá caso se insista nas atuais políti cas que há uma solução alternativa na qual se pode verdadeiramente confiar (Buenos Aires, Argentina).
Nippon CANADÁ — A empresa no mundo em ordem de ImportânK^^^^^^ siderúrgica do Japão e quinta Vancouver, na costa canarl^^o S i ’ pretende inaugurar uma filial em as bases para rfon.íf,!- Pacifico. A subsidiái-ia deverá instalar com uma capacidade de^^r siderúrgica na Columbia Britânica, aç? N? iSiva ^ toneladas anuais de seTor, outr""empr\srtíonÍ^^^ .informações do r?de"'^diu brie^p^ord^ cL\rSl
JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO
Effm abril último, aqui mesmo, neste Conselho Deliberativo da SUDENE, tivemos opor tunidade de salientar que o Nordeste ainda é o grande bolsão de pobreza dc Pais, principalmente na sua re gião semi-arida.
Não hesito em dizer que o Nor deste continua sendo um dos nos sos dois ou três mais sérios pro blemas econòmico-sociais.
Sua problemática, cumpre lemnão pode ser confundida a de outras regiões pobres,

O Nordeste está ocupado, talvez superocupado, em face da disponi bilidade de recursos naturais e das alternativas de uso da mãode obra, principaimente. em áreas novas destas e de outras regiões.
E essa região, já ocupada, cons tituía área estagnada e sem ru mo definido até fins dos anos 50, quando se criou a SUDENE. Tan to é assim que o emprego indus trial no Nordeste, declinou a uma taxa media anual de 1,4%, na dé cada de 50 enquanto aumentava a sua vulnerabilidade ante a pe riódica incursão das secas.
Exposição do ministro chefe da Secretaria de Planejamento, em sessão do ConseZ^io Deliberativo da Sudene, realizada em. fins dc outubro, reafirma sua confiança 110 desenvolvimento da região. Neste mesmo número estampavics artigo sobre problemas do Nor deste. para o qual chamamos a atenção dos nossos leitores.
Congresso Nacional, inclusive eminentes senadores, da ARENA como do MDB, dando testemunho de sua preocupação com a situa ção do Nordeste.
Sobre o mesmo tema, apresen tando a posição do governo, aca bamos de ter as manifestações do ministro Mauricio Reis e do sena dor Virgílio Tavora, vice-líder do governo no Senado Federal.
Inúmeros têm sido os depoimen tos que, sobre o Nordeste, receber mos este ano, em contatos diretos, de ilustres congressistas os quais me permito destacar os senadores Milton Cabral, presi dente da Comissão de Economia do Senado, Virgílio Tavora e José Sarney —, assim como dos gover nadores da área e empresários dos diferentes Estados.
Temos acompanhado, em sema nas recentes, os pronunciamentos de representantes nordestinos no entre mos,
Dos orgãos do Ministério do In terior, principalmente da SUDENE e do Banco do Nordeste, recebeaté, relatórios especiais, com brar, com no Brasil, que são pobres porque ainda não foram ocupadas eco nomicamente.
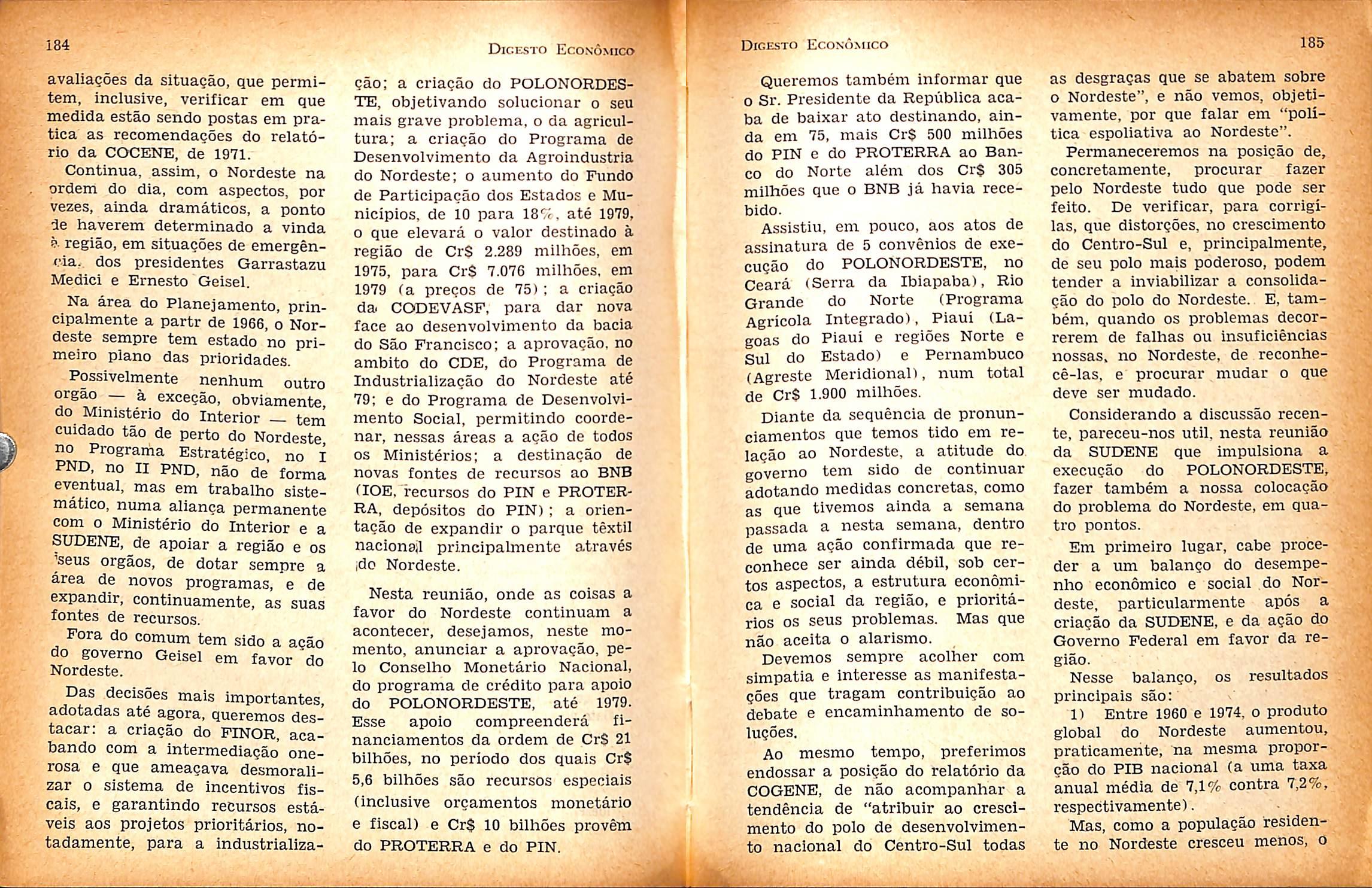
avaliações da situação, que permi tem. inclusive, verificar em que medida estão sendo postas em pra tica as recomendações do relató rio da COCENE, de 1971.
Continua, assim, o Nordeste ordem do dia, com aspectos, por vezes, ainda dramáticos, a ponto de haverem determinado a vinda k. região, em situações de emergên cia. dos presidentes Garrastazu Mediei e Ernesto Geisel.
Na área do Planejamento, prin cipalmente a partr de 1966, o Nor deste sempre tem estado no pri meiro plano das prioridades.
Possivelmente orgão nenhum outro a exceção, obviamente do Ministério do Interior — cuidado tão de perto do Nordeste no Programa Estratégico PND, no II PND, tem no I nao de forma eventual, mas em trabalho siste mático, numa aliança permanente com o Ministério do Interior e a SUDENE, de apoiar a região e os ’seus orgãos, de dotar sempre área de novos a programas, e de as suas expandir, continuamente, fontes de recursos.
Fora do comum tem sido do governo Geisel Nordeste. a açao em favor do
ção; a criação do POLONORDES TE, objetivando solucionar o seu mais grave problema, o da agricul tura; a criação do Programa de Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste; o aumento do Fundo de Participação dos Estados e Mu nicípios, de 10 para ISCí. até 1979, o que elevará o valor destinado à região de Cr$ 2.289 milhões, em 1975, para Cr$ 7,076 milhões, em 1979 ía preços de 75) ; a criação da< CODEVASF, para dar nova face ao desenvolvimento da bacia do São Francisco; a aprovação, no âmbito do CDE, do Programa de Industrialização do Nordeste até 79; e do Programa de Desenvolvi mento Social, permitindo coorde nar, nessas áreas a ação de todos os Ministérios; a destinação de novas fontes de recursos ao BNB ÍIOE, recursos do PIN e PROTER RA, depósitos do PIN); a orien tação de expandir o parque têxtil nacional principalmentc através (do Nordeste.
Nesta reunião, onde as coisas a favor do Nordeste continuam a acontecer, desejamos, neste mo mento, anunciar a aprovação, pe lo Conselho Monetário Nacional, do programa de crédito para apoio do POLONORDESTE, até 1979. Esse apoio compreenderá nanciamentos da ordem de Cr$ 21 bilhões, no período dos quais Cr$ 5,6 bilhões são recursos especiais (inclusive orçamentos monetário e fiscal) e Cr$ 10 bilhões provêm do PROTERRA e do PIN.
Das decisões inais importantes, adotadas até agora, queremos des tacar: a criação do FINOR, bando com a intermediação rosa e que ameaçava desmorali zar o sistema de incentivos fis cais, e garantindo recursos está veis aos projetos prioritários, tadamente, para a industrializafiacaoneno-
Queremos também informar que o Sr. Presidente da República aca ba de baixar ato destinando, ain da em 75, mais Cr$ 500 milhões do PIN c do PROTERRA ao Ban do Norte além dos Cr$ 305 milhões que o BNB já havia receCO bido.
Assistiu, em pouco, aos atos de assinatura de 5 convênios de exedo POLONORDESTE no cuçao Ceará (Serra da Ibiapaba), Rio Norte (Programa do Grande Agrícola Integrado), Piauí (La do Piauí e regiões Norte e e Pernambuco goas Sul do Estado) (Agreste Meridional), num total de Cr$ 1.900 milhões.
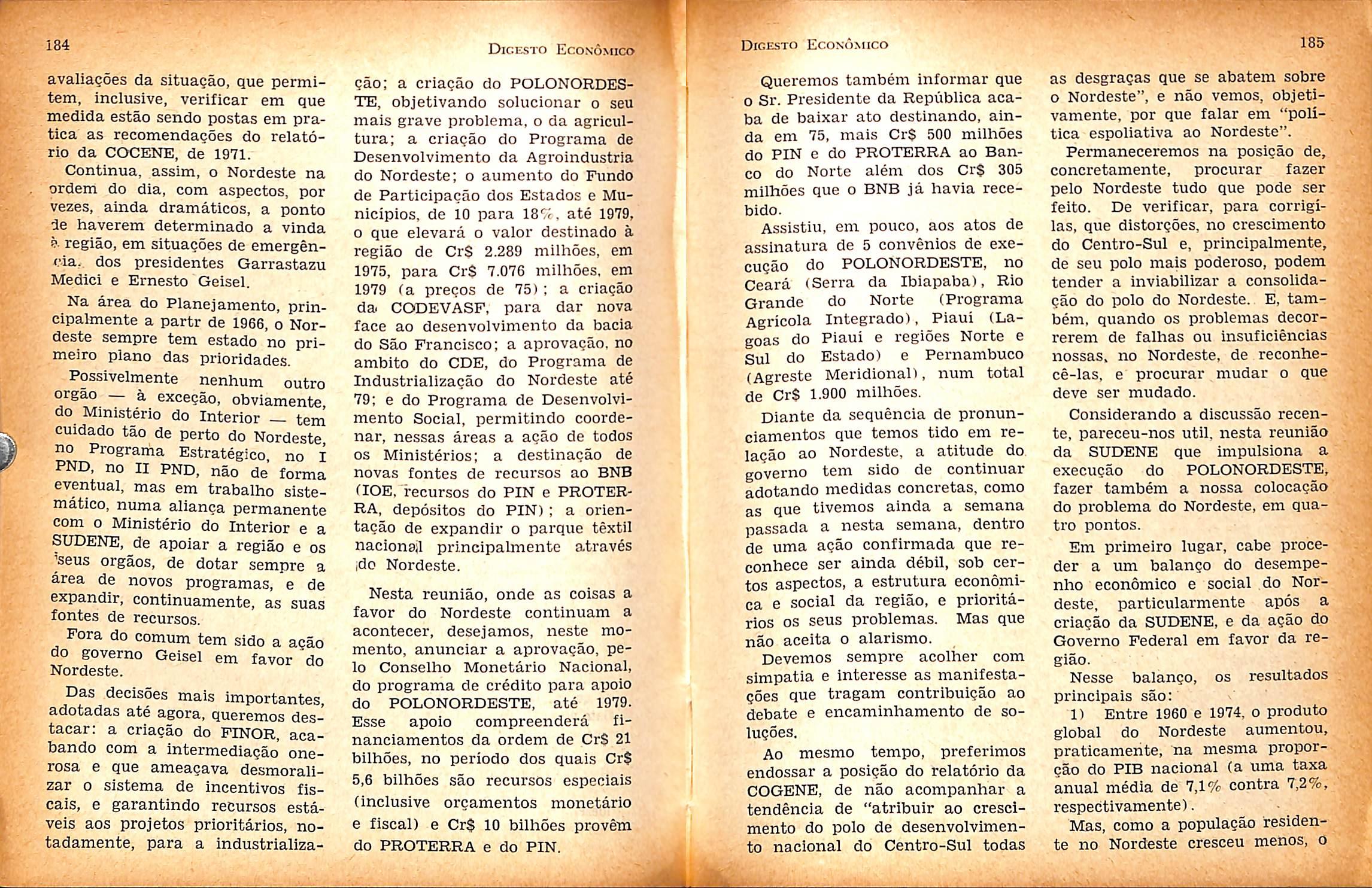
as desgraças que se abatem sobre 0 Nordeste”, e não vemos, objeti vamente, por que falar em “polí tica espoliativa ao Nordeste”.
Permaneceremos na posição de, concretamente, procurar fazer pelo Nordeste tudo que pode ser feito. De verificar, para corrigilas, que distorções, no crescimento do Centro-Sul e, principalmente, de seu polo mais poderoso, podem tender a inviabilizar a consolida ção do polo do Nordeste. E. tam bém, quando os problemas decor rerem de falhas ou insuficiências nossas, no Nordeste, de reconhe cê-las. e procurar mudar o que deve ser mudado.
Diante da sequência de pronun ciamentos que temos tido em re lação ao Nordeste, a atitude do tem sido de continuar governo adotando medidas concretas, como tivemos ainda a semana a nesta semana, dentro as que passada de uma ação confirmada que re conhece ser ainda débil, sob cer tos aspectos, a estrutura econômisocial da região, e prioritá- a ca e rios os seus problemas. Mas que aceita o alarismo.
Devemos sempre acolher com simpatia e interesse as manifesta ções que tragam contribuição ao debate e encaminhamento de so luções.
Considerando a discussão recen te, pareceu-nos util. nesta reunião da SUDENE que impulsiona a execução do POLONORDESTE, fazer também a nossa colocação do problema do Nordeste, em qua tro pontos.
Em primeiro lugar, cabe proce der a um balanço do desempe nho econômico e social do Nor deste, particularmente após criação da SUDENE, e da ação do Governo Federal em favor da re gião.
Nesse balanço, os principais são: 1) Entre 1960 e 1974, o produto global do Nordeste aumentou, praticameiite, na mesma propordo PIB nacional (a uma taxa anual média de 7,1% contra 7,2%, respectivamente).
Mas, como a população residen te no Nordeste cresceu menos, o
Ao mesmo tempo, preferimos endossar a posição do relatório da COGENE, de não acompanhar a tendência de “atribuir ao cresci mento do polo de desenvolvimen to nacional do Centro-Sul todas nao resultados cao
Digiísto Econômico
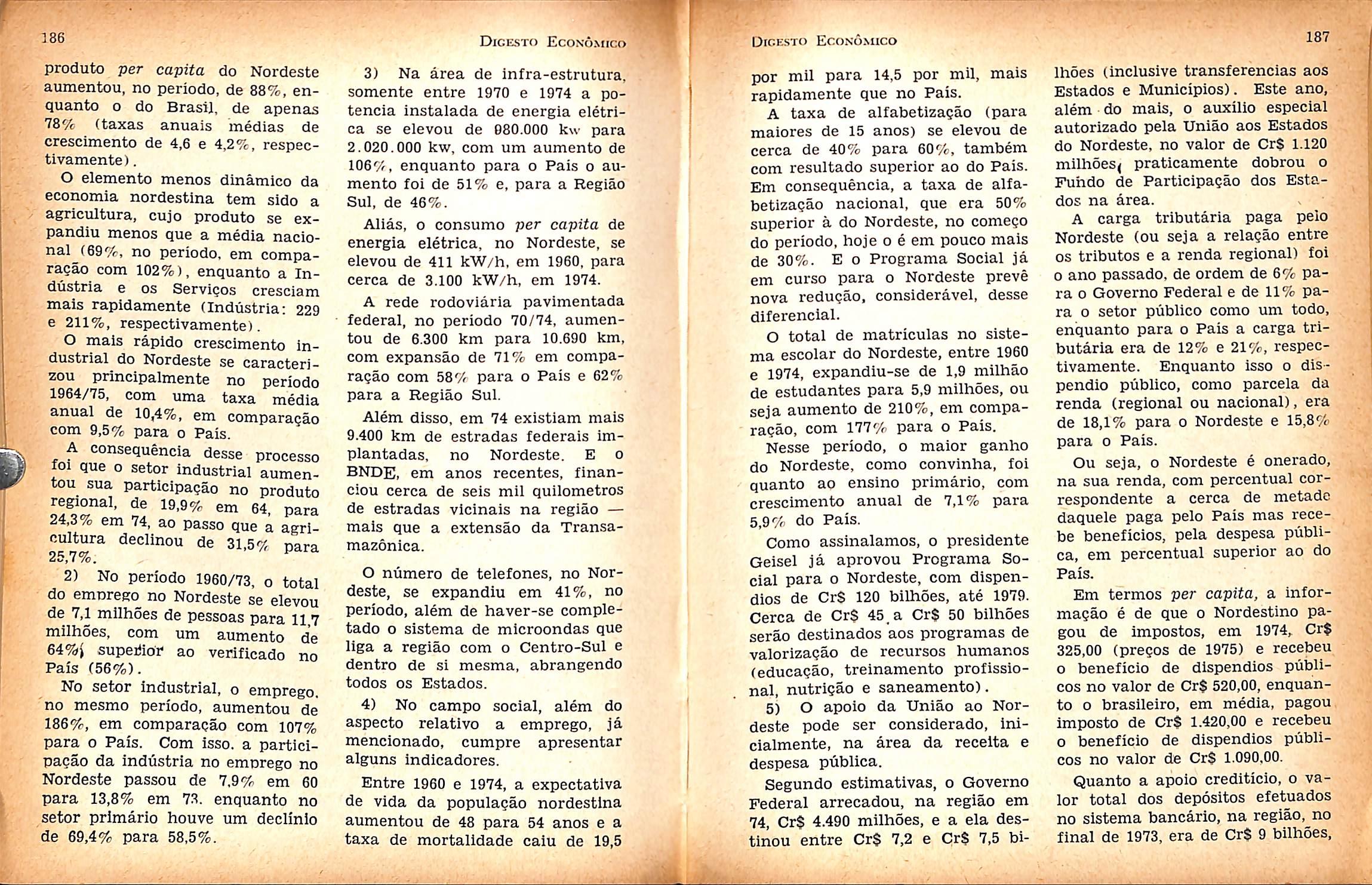
produto per capita do Nordeste aumentou, no periodo, de 88%, en quanto o do Brasil, de 78%
apenas (taxas anuais médias de
crescimento de 4,6 e 4,2%, respec tivamente) ,
O elemento menos dinâmico da economia nordestina tem sido agricultura, cujo produto pandiu menos que a média nal (697c, no período, em compa ração com 102%), enquanto a In dústria e os Serviços mais rapidamente (Indústria: e 2117o, respectivamente).
O mais rápido crescimento in dustrial do Nordeste zou principalmente 1964/75, anual de 10,4%, com 9,57o para o País.
A consequência desse foi que o setor industrial tou sua participação regional, de 19,9% a se exnaciocresciam 229 se caracterino periodo uma taxa média com em comparação processo aumenno produto em 64, para 24,3% em 74, ao passo que a agri cultura declinou de 3i 5% 25,7%. ’ '
para no
2) No período 1960/73, o total do emnrego no Nordeste se elevou de 7,1 milhões de pessoas para 117 milhões, com um aumento de 647di supetíioT ao verificado País (56%).
No setor industrial, o emprego, no mesmo período, aumentou de 1867r, em comparação com I077o para o País. Com isso. a partici pação da indústria no emprego no Nordeste passou de 7,9% em 60 para 13,8% em 7.3. enquanto no setor primário houve um declínio de 69,4% para 58,5%.
3) Na área de infra-estrutura, somente entre 1970 e 1974 a po tência instalada de energia elétri ca se elevou de 080.000 kw para 2.020.000 kw, com um aumento de 106%, enquanto para o Pais o au mento foi de 51% e, para a Região Sul, de 46%.
Aliás, o consumo per capita de energia elétrica, no Nordeste, se elevou de 411 kW/h, em 1960, para cerca de 3.100 kW/h, em 1974.
A rede rodoviária pavimentada federal, no período 70/74, aumen tou de 6.300 km para 10.690 km, com expansão de 717o em compa ração com 58% para o Pais e 627o para a Região Sul.
Além disso, em 74 existiam mais 9.400 km de estradas federais im plantadas, no Nordeste. E o BNDE, em anos recentes, finan ciou cerca de seis mil quilômetros de estradas vicinais na região — mais que a extensão da Transamazónica.
O número de telefones, no Nor deste, se expandiu em 417o, no período, além de haver-se comple tado o sistema de microondas que liga a região com o Centro-Sul e dentro de si mesma, abrangendo todos os Estados.
4) No campo social, além do aspecto relativo a emprego, já mencionado, cumpre apresentar alguns indicadores.
Entre 1960 e 1974, a expectativa de vida da população nordestina aumentou de 48 para 54 anos e a taxa de mortalidade caiu de 19,5
mil para 14,5 por mil, mais por rapidamente que no País.
A taxa de alfabetização (para maiores de 15 anos) se elevou de cerca de 407<> para 607c, também com resultado superior ao do País. Em consequência, a taxa de alfa betização nacional, que era 50% superior à do Nordeste, no começo do periodo, hoje o é em pouco mais de 30%. E o Programa Social já curso para o Nordeste prevê redução, considerável, desse os em nova diferencial.
O total de matrículas no sisteescolar do Nordeste, entre 1960 e 1974, expandiu-se de 1,9 milhão de estudantes para 5,9 milhões, ou seja aumento de 210%, em compa ração, com 177%. para o País.
Ihões (inclusive transferencias aos Estados e Municípios). Este ano, além do mais, o auxílio especial autorizado pela União aos Estados do Nordeste, no valor de CrS 1.120 milhões^ praticamente dobrou o Fundo de Participação dos Esta dos na área.
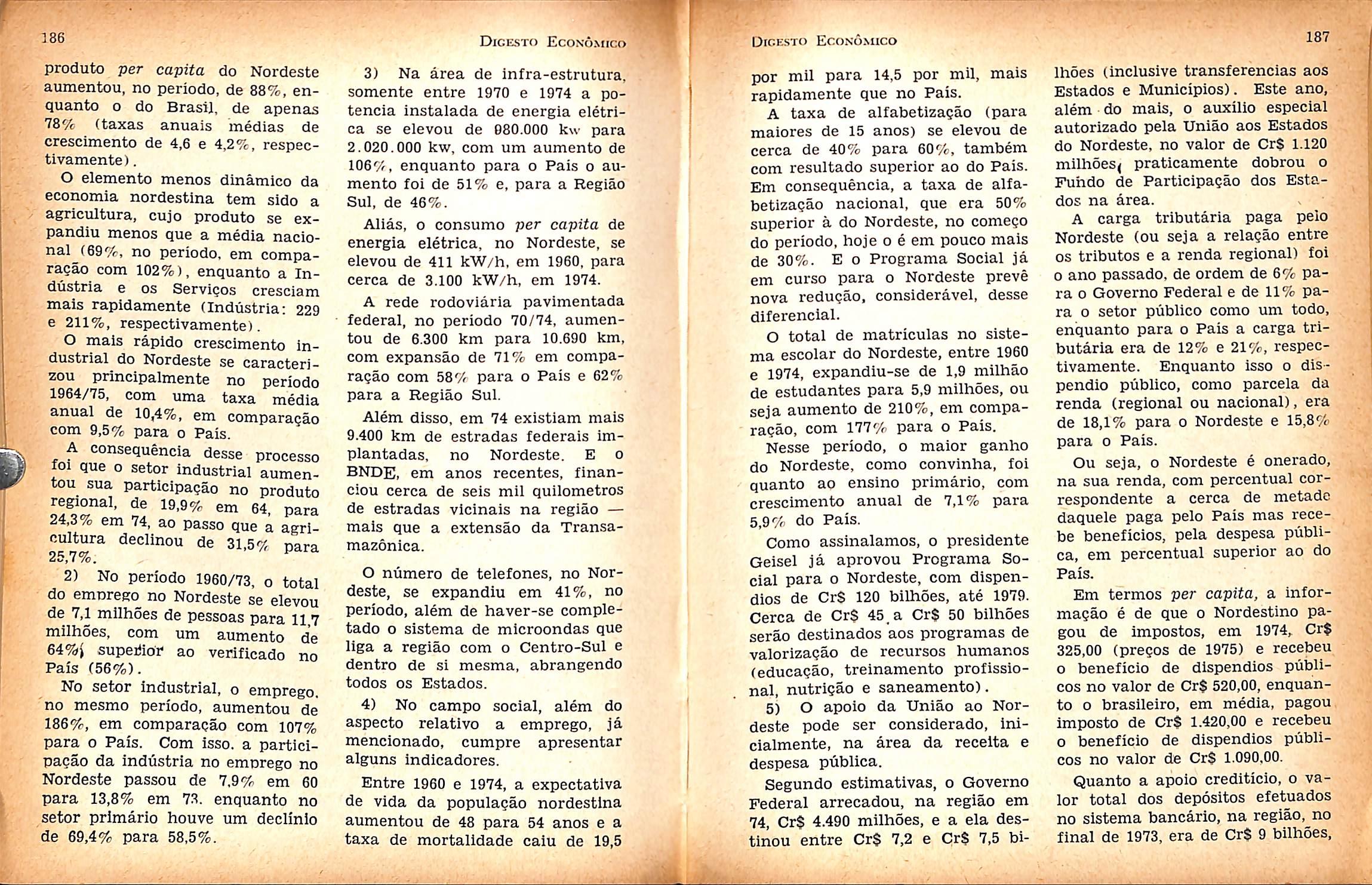
Nesse período, o maior ganho do Nordeste, como convinha, foi quanto ao ensino primário, com crescimento anual de 7,17o para 5,97c do País.
Como assinalamos, o presidente Geisel já aprovou Programa So cial para o Nordeste, com dispendios de CrS 120 bilhões, até 1979. Cerca de Cr$ 45.a Cr$ 50 bilhões destinados aos programas de ma
serão valorização de recursos humanos (educação, treinamento profissio nal, nutrição e saneamento).
A carga tributária paga pelo Nordeste (ou seja a relação entre tributos e a renda regional) foi 0 ano passado, de ordem de 67o pa ra o Governo Federal e de 11%> pa ra o setor público como um todo, enquanto para o Pais a carga tri butária era de 12% e 217o. respec tivamente. Enquanto isso o dispendio público, como parcela da renda (regional ou nacional), era de 18,17o para o Nordeste e 15,87o para o País.
Ou seja, o Nordeste é onerado, na sua renda, com percentual cor respondente a cerca de metade daquele paga pelo País mas rece be benefícios, pela despesa públipercentual superior ao do ca, em País.
Em termos per capita, a infor mação é de que o Nordestino pa gou de impostos, em 1974, Cr$ 325,00 (preços de 1975) e recebeu o beneficio de dispendios públi cos no valor de Cr$ 520,00, enquan to o brasileiro, em média, pagou imposto de Cr$ 1.420,00 e recebeu benefício de dispendios públivalor de CrS 1.090.00.
5) O apoio da União ao Nor deste pode ser considerado, irücialmente, na área da receita e despesa pública. o cos no
Segundo estimativas, o Governo Federal arrecadou, na região em 74, Cr$ 4.490 milhões, e a ela des tinou entre Cr$ 7,2 e Cr$ 7,5 bi-
Quanto a apoio creditício, o va lor total dos depósitos efetuados no sistema bancário, na região, no final de 1973, era de CrS 9 bilhões.
enquanto o total dos empréstimos recebidos era de CrS 16,6 bilhões. Isso se deveu, principalmente, à ação dos bancos oficiais, que apre sentaram um total de depósitos recebidos de Cr$ 5,5 bilhões, e de empréstimos realizados de CrS 13 "bilhões.
Por outro lado, o sistema de incentivos fiscais permitiu a apro vação de projetos, 1963/1974, que incorporavam in centivos fiscais no montante de quase Cr$ 20 bilhões (preços de 1975), e a efetiva liberação de cursos de aproximadamente de CrS 12 bilhões.
down stream”). Desse montante, Cr$ 1.550 milhões provém do go verno federal. Somente BNDE e SEPLAN) e CrS 29 milhões do go verno estadual.
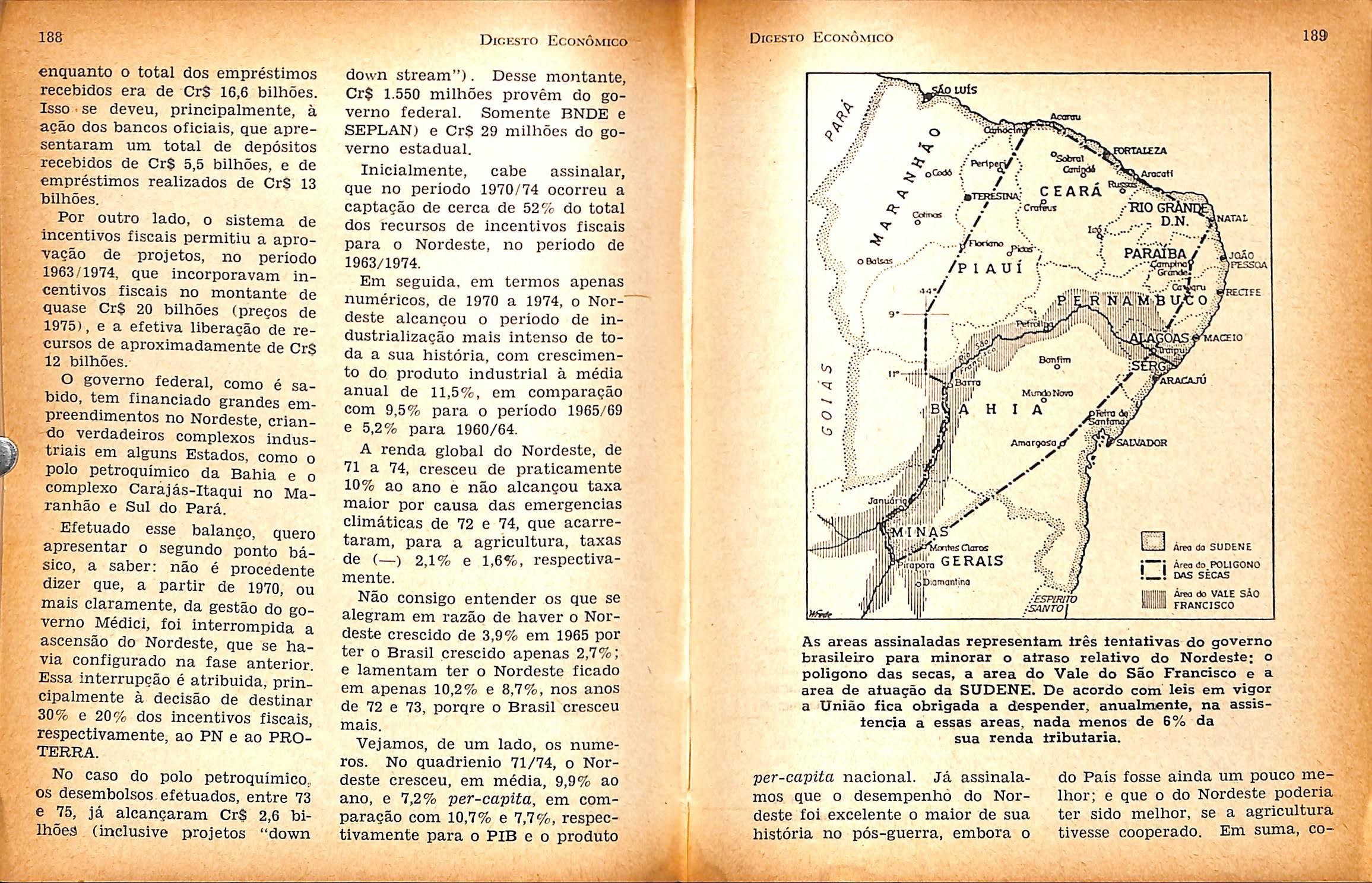
no periodo reemquero ou goa
Inicialmente, cabe assinalar, que no período 1970/74 ocorreu a captação de cerca de 52% do total dos recursos de incentivos fiscais para o Nordeste, no período de 1963/1974.
O governo federal, como é sa bido, tem financiado grandes preendimentos no Nordeste, crian do verdadeiros complexos indus triais em alguns Estados, como o polo petroquírnico da Bahia e o complexo Carajás-Itaqui no Ma ranhão e Sul do Pará.
Efetuado esse balanço, apresentar o segundo ponto bá sico, a saber: não é procedente dizer que, a partir de 1970, mais claramente, da gestão do [ verno Médici, foi interrompida ascensão do Nordeste, que se ha via configurado na fase anterior. Essa interrupção é atribuida, prin cipalmente à decisão de destinar 30% e 20% dos incentivos fiscais, respectivamente, ao PN e ao PROTERRA.
No caso do polo petroquímico., os desembolsos efetuados, entre 73 e 75, já alcançaram Cr$ 2,6 bi lhões (inclusive projetos “down
Em seguida, em termos apenas numéricos, de 1970 a 1974, o Nor-‘ deste alcançou o período de in dustrialização mais intenso de to da a sua história, com crescimen to do produto industrial à média anual de 11,5%, em comparação com 9,5% para o período 1965/69 e 5,2% para 1960/64.
A renda global do Nordeste, de 71 a 74, cresceu de praticamente 10% ao ano e não alcançou taxa maior por causa das emergencias climáticas de 72 e 74, que acarre taram, para a agricultura, taxas de (—) 2,1% e 1,6%, respectiva mente.
Não consigo entender os que se alegram em razão de haver o Nor deste crescido de 3,9% em 1965 por ter o Brasil crescido apenas 2,7%; e lamentam ter o Nordeste ficado em apenas 10,2% e 8,7%, nos anos de 72 e 73, porqre o Brasil cresceu mais.
Vejamos, de um lado, os numeNo quadrienio 71/74, o Nor- ros. deste cresceu, em média, 9,9% ao ano, e 7,2% per-capita, em com paração com 10,7% e 7,7%, respec tivamente para o PIB e o produto
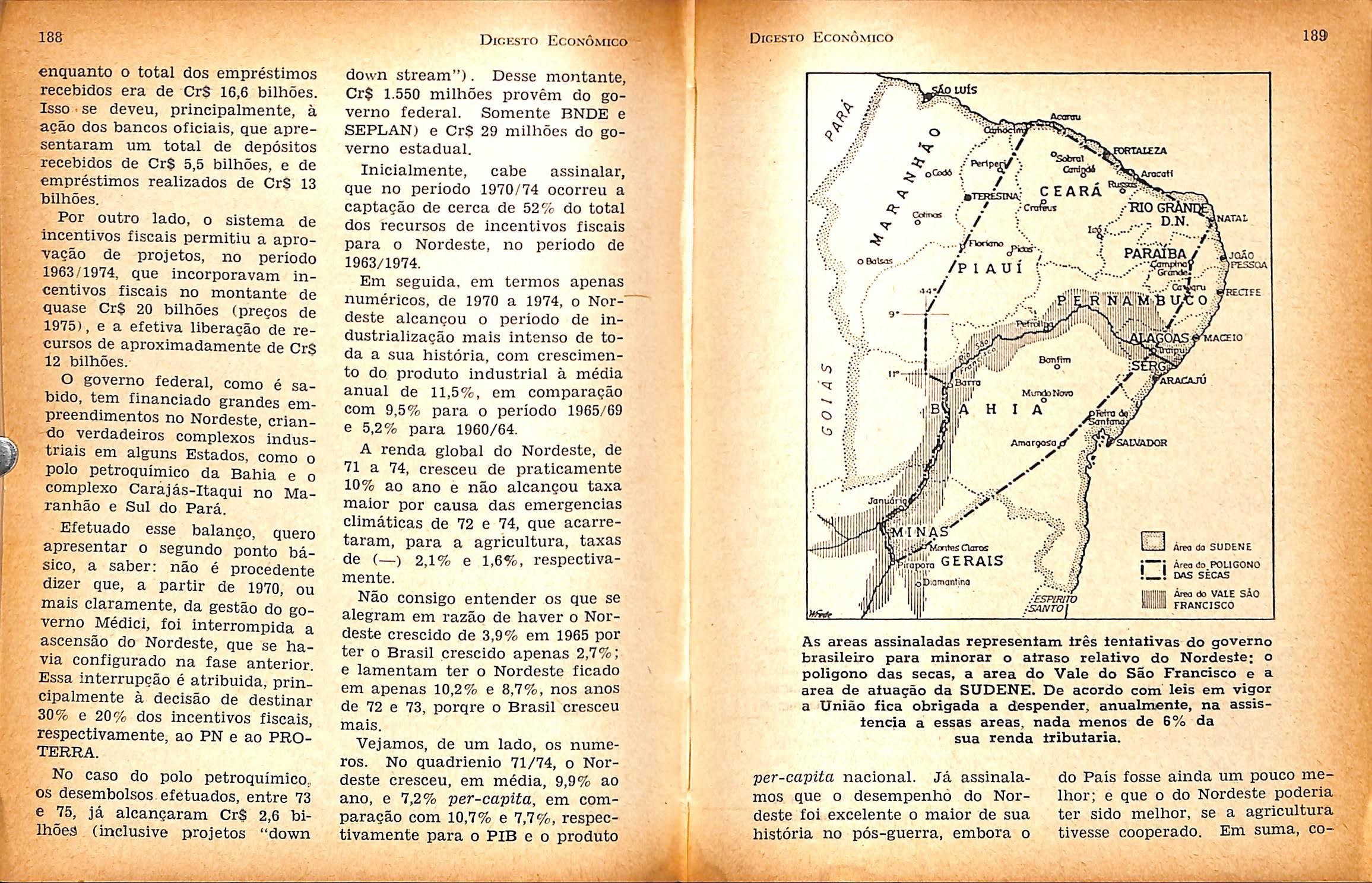
As areas assinaladas representam três tentativas do governo brasileiro para minorar o atraso relativo do Nordeste: o polígono das secas, a area do Vale do São Francisco e a area de atuação da SUDENE. De acordo com leis em vigor a União fica obrigada a despender, anualmente, na assis tência a essas areas, nada menos de 6% da sua renda tributaria.
do País fosse ainda um pouco me lhor; e que o do Nordeste poderia ter sido melhor, se a agricultura tivesse cooperado. Em suma, coper-capita nacional. Já assinala mos que o desempenhó do Nor deste foi excelente o maior de sua história no pós-guerra, embora o
mo 0 Brasil era a área no mundo que mais crescia, no período, o Nordeste, enfrentando intemperias ficou apenas um pouco atrás. Mais ainda, no curso do quadrienio a economia do Nordeste esta va acelerada a sua expansão, em relação à do resto do Pais.
Assim é que, se tomarmos ape nas os três últimos anos, de 72 74 o crescimento do Nordeste foi de 9,8%, e 7,1%, respectivamente, para o produto regional e o pro duto per-capita, enquanto a PIB do País crescia de 10,3% e o produ to nacional per-capita de 7,2%. Quer dizer em termos de renda per-capita, o aumento foi prati camente 0 mesmo.
Indo adiante: na Indústria, o Nordeste cresceu à terra de 14,2%, no triênio, enquanto o Pais de apenas 12,7%.
Mais importante porém, a ver dade é que a simples aritmética das taxas anuais de crescimento nao cobre o essencial.
No corrente ano, com a desace leração da taxa de crescimento do PIB, a expectativa é de maior crescimento no Nordeste, segundo a mais recente estimativa da SU DENE,
Além disso, o mais importante não está ai. O mais importante é saber o que efetivamente está acontecendo com o processo de desenvolvimento do Nordeste, se estão sendo construidas as bases para um crescimento acelerado, e se possivel, auto-sustentado da economia nordestina, em termos de infra-estrutura, de alguns se tores motores, de capacidade em presarial, de recursos humanos c tecnológicos, do perfil industrial instalado, de transformação, de agricultura, tradicional, das ins tituições econômicas e sociais, etc.
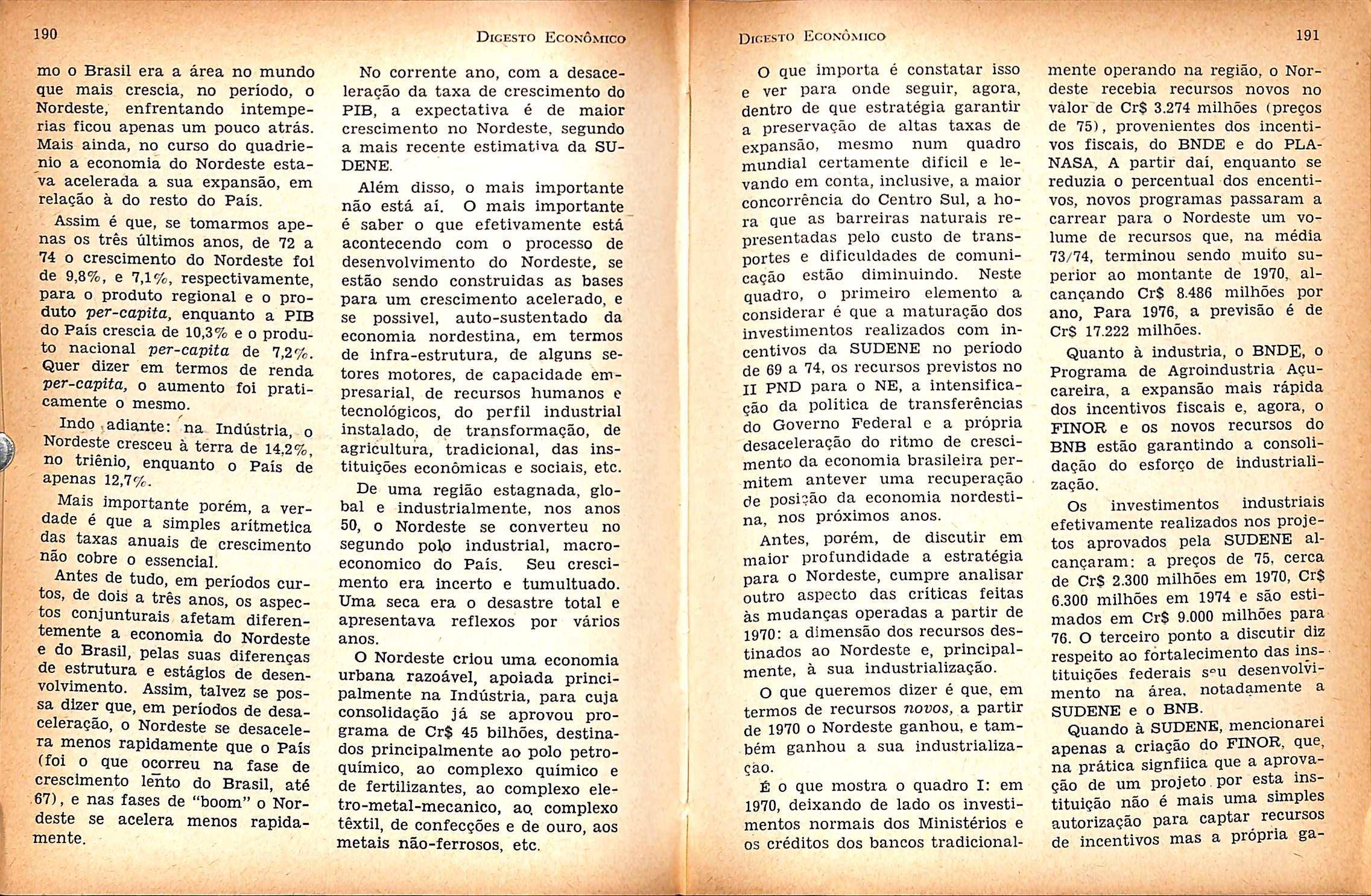
o Nor-
Antes de tudo, em períodos cur tos, de dois a três anos, os aspec tos conjunturais afetam diferen temente a economia do Nordeste € do Brasil, pelas suas diferenças de estrutura e estágios de desen volvimento. Assim, talvez se pos sa dizer que, em períodos de desa celeração, 0 Nordeste se desacele ra menos rapidamente que o País (foi o que ocorreu na fase de crescimento lento do Brasil, até 67), e nas fases de “boom deste se acelera menos rapida mente.
De uma região estagnada, glo bal e industrialmente, nos anos 50, 0 Nordeste se converteu no segundo polo industrial, macroeconomico do País. Seu cresci mento era incerto e tumultuado. Uma seca era o desastre total e apresentava reflexos por vários anos.
O Nordeste criou uma economia urbana razoável, apoiada princi palmente na Indústria, para cuja consolidação já se aprovou pro grama de Cr$ 45 bilhões, destina dos principalmente ao polo petro químico, ao complexo químico e de fertilizantes, ao complexo eletro-metal-mecanico, ao. complexo têxtil, de confecções e de ouro, aos metais não-ferrosos, etc,
a
O que importa é constatar isso e ver para onde seguir, agora, dentro de que estratégia garantir preservação de altas taxas de expansão, mesmo num quadro mundial certamente difícil e le vando em conta, inclusive, a maior concorrência do Centro Sul, a hoas barreiras naturais re-
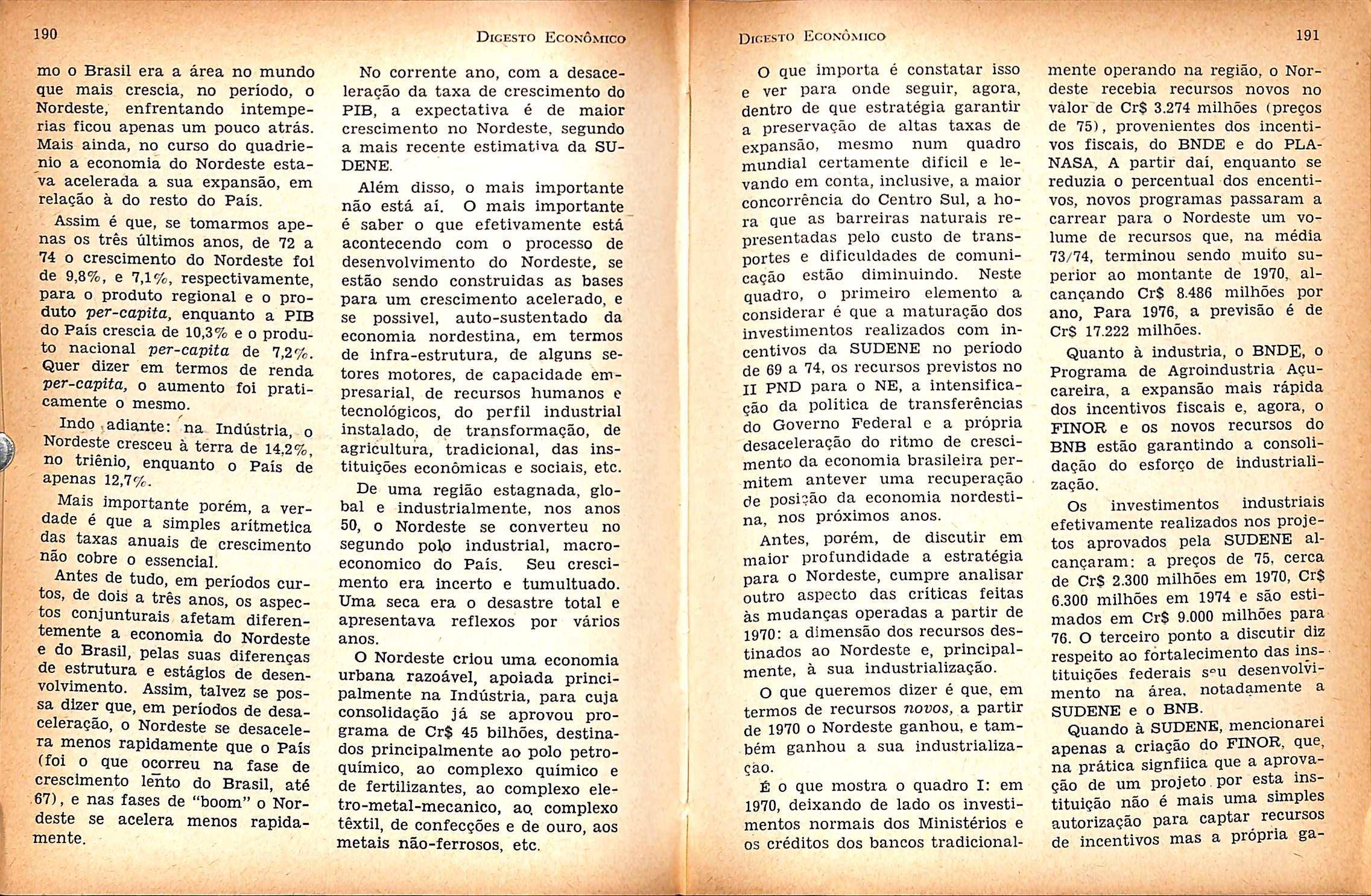
o primeiro elemento a çao
mente operando na região, o Nor deste recebia recursos novos no valor de CrS 3.274 milhões (preços de 75), provenientes dos incenti vos fiscais, do BNDE e do PLANASA, A partir daí. enquanto se reduzia o percentual dos encentivos, novos programas passaram a carrear para o Nordeste um vo lume de recursos que, na média 73/74, terminou sendo muito su perior ao montante de 1970, al cançando CrS 8.486 milhões por ano, Para 1976, a previsão é de CrS 17.222 milhões.
Quanto à industria, o BNDE, o Programa de Agroindústria Açucareira, a expansão mais rápida dos incentivos fiscais e, agora, o FINOR e os novos recursos do BNB estão garantindo a consoli dação do esforço de industriali zação.
ra que presentadas pelo custo de trans portes e dificuldades de comuniestão diminuindo. Neste caçao quadro, considerar é que a maturação dos investimentos realizados com in centivos da SUDENE no período de 69 a 74, os recursos previstos no II PND para o NE, a intensifica da política de transferências do Governo Federal c a própria desaceleração do ritmo de cresci mento da economia brasileira per mitem antever uma recuperação de posição da economia nordesti nos próximos anos.
Antes, porém, de discutir em maior profundidade a estratégia para o Nordeste, cumpre analisar outro aspecto das criticas feitas mudanças operadas a partir de 1970: a dimensão dos recursos des tinados ao Nordeste e, principal mente, à sua industrialização.
O que queremos dizer é que, em termos de recursos novos, a partir de 1970 o Nordeste ganhou, e tam bém ganhou a sua industrializaas na çao.
Os investimentos efetivamente realizados nos proje tos aprovados pela SUDENE al cançaram: a preços de 75. cerca de CrS 2.300 milhões em 1970, Cr$ 6.300 milhões em 1974 e são esti mados em CrS 9.000 milhões para 76. O terceiro ponto a discutir diz respeito ao fortalecimento das ins tituições federais s‘=’u desenvolvi mento na área. notadamente a SUDENE e 0 BNB.
industriais na,
É o que mostra o quadro I: em 1970, deixando de lado os investi mentos normais dos Ministérios e os créditos dos bancos tradicional- de
Quando à SUDENE, mencionarei apenas a criação do FINOR, que, prática signfiica que a aprova ção de um projeto por esta ins tituição não é mais uma simples autorização para captar recursos incentivos mas a própria ga¬
rantla de aplicação dos recursos, nos montantes previstos; e a ope ração do POLONORDESTE, cuja coordenação especial se encontra vinculada à SUDENE.
No tocante ao BNB, agora se pode dizer que o banco está do tado de fontes estáveis e amplas de recursos, muito superiores à vinculação constitucional de que tanto se falou, esses anos todos.
A vinculação, ao BNB na forma de sua Lei de criação, de 80% do Fundo das Secas (1% da receita tributária federal, segundo o art. 198 da Constituição de 46) signi ficaria um depósito da ordem de CrS 1 bilhão, em 1976.
Ora, o BNB aíém de depositário dos recursos do FINOR, já o é também dos recursos do PROTER- BA e,'agora, do PIN (este^ representarão depósitos Banco em 76, de bilhões).
da região seja considerado num quadro amplo de soluções e não em termos de soluções limitadas.
Solução limitada seria dar a en tender que o problema do Nor deste se resolve pela Educação e pelo restabelecimento dos 50% na taxa dos incentivos fiscais. O simples esforço em educação, na turalmente desejável, é insufi ciente, pois, por exemplo, sem abertura de oportunidades de em prego e sem enfrentar-se, em pro fundidade. o problema do siste ma produtivo na região semi-ári da, não haverá eliminação da po breza.
No quadro amplo dc soluções que se faz mister considerar, im porta destacar:
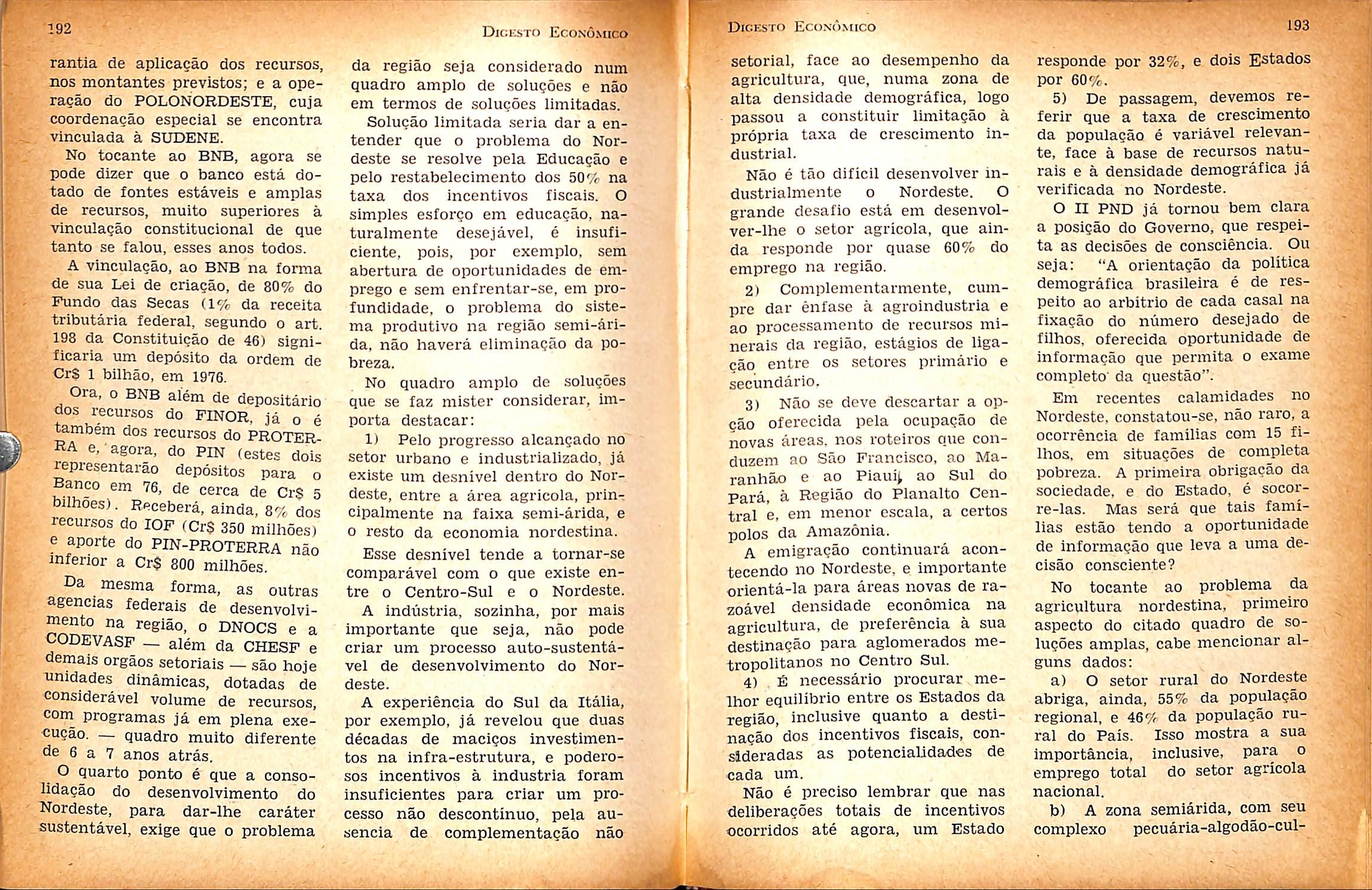
dois para o cerca de Cr.S 5 Receberá, ainda, 8% dos recursos do lOF (CrS 350 milhões) e aporte do PIN-PROTERRa inferior a CrS 800 milhões.
1) Pelo progresso alcançado no setor urbano e industrializado, já existe um desnível dentro do Nor deste, entre a área agricola, prin-; cipalmente na faixa semi-árida, e 0 resto da economia nordestina.
nao
Da mesma forma, . .as outras agencias federais de desenvolvi mento na região, o DNOCS e a CODEVASF — além da CHESF e demais orgãos setoriais — são hoje ■unidades dinâmicas, dotadas considerável volume de corn programas já em plena exe cução, — quadro muito diferente de 6 a 7 anos atrás.
O quarto ponto é que a conso lidação do desenvolvimento
T^ordeste, para dar-lhe caráter sustentável, exige que o problema de recursos. do
Esse desnível tende a tornar-se comparável com o que existe en tre 0 Centro-Sul e o Nordeste.
A indústria, sozinha, por mais importante que seja, não pode criar um processo auto-sustentá vel de desenvolvimento do Nor deste.
A experiência do Sul da Itália, por exemplo, já revelou que duas décadas de maciços investimen tos na infra-estrutura, e podero sos incentivos à industria foram insuficientes para criar um pro cesso não descontínuo, pela au sência de complementação não
setorial, face ao desempenho da agricultura, que, numa zona de alta densidade demográfica, logo passou a constituir limitação à própria taxa de crescimento in dustrial.
Não é tão dificil desenvolver in dustrialmente o Nordeste. O grande desafio está em desenvolver-llie o setor agrícola, que ain da responde por quase 60% do emprego na região.
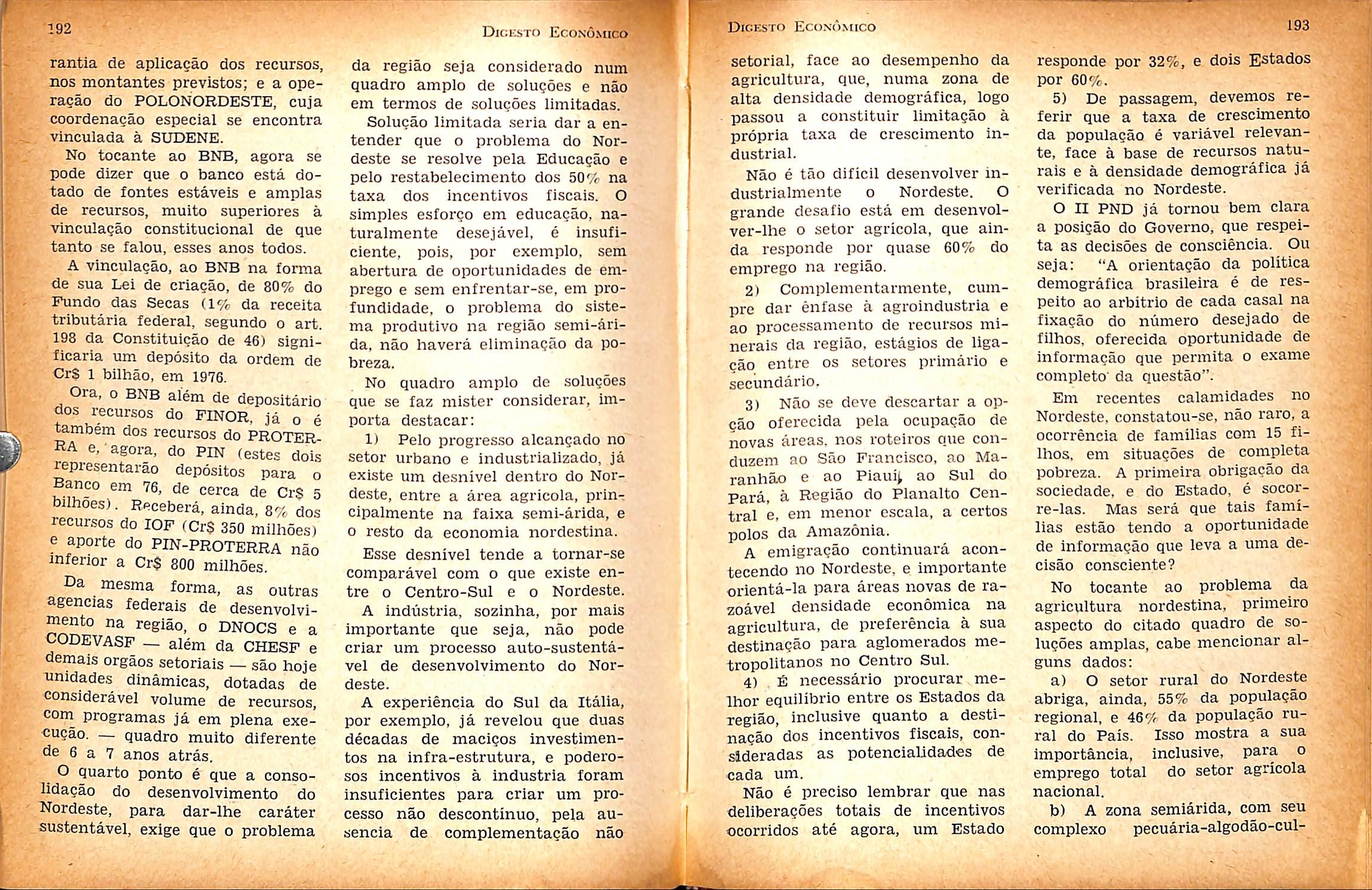
responde por 32%, e dois Estados por 60%.
5) De passagem, devemos re ferir que a taxa de crescimento da população é variável relevan te, face à base de recursos natu rais e à densidade demográfica já verificada no Nordeste.
O II PND já tornou bem clara a posição do Governo, que respei ta as decisões de consciência. Ou A orientação da política seja: demográfica brasileira é de res peito ao arbitrio de cada casal na fixação do número desejado de filhos, oferecida oportunidade de informação que permita o exame completo' da questão”. pre cao
2) Complemcntarmente, cumdar ênfase à agroindústria e ao processamento dc recursos mi nerais da região, estágios de ligaentre os setores primário e secundário.
Não se deve descartar a opoíerccida pela ocupação de 3) çao novas áreas, nos roteiros que conSão Francisco, ao Ma- duzem no ranhão e ao Piauit ao Sul do Pará, à Região do Planalto Cen tral e. em menor escala, a certos polos da Amazônia.
A emigração continuará acon tecendo no Nordeste, e importante orientá-la para áreas novas de ra zoável densidade econômica na agricultura, de preferência à sua destinação para aglomerados meno Centro Sul. guns dados: tropolitanos 4) É necessário procurar me lhor equilíbrio entre os Estados da região, inclusive quanto a destiiiação dos incentivos fiscais, con sideradas as potencialidades de
Em recentes calamidades no Nordeste, constatou-se, não raro, a ocorrência de famílias com 15 fi lhos, em situações de completa pobreza. A primeira obrigação da sociedade, e do Estado, é socorre-las. Mas será que tais famí lias estão tendo a oportunidade de informação que leva a uma de cisão consciente?
No tocante ao problema da agricultura nordestina, primeiro aspecto do citado quadro de so luções amplas, cabe mencionar al-
O setor rural do Nordeste da população a) abriga, ainda, 55 regional, e 46% da população ru ral do País. Isso mostra a sua Cf. /O para o do setor agrícola importância, inclusive, emprego total nacional,
b) A zona semiárida, com seu complexo cada um.
Não é preciso lembrar que nas deliberações totais de incentivos ocorridos até agora, um Estado pecuária-algodão-cul-
turas de subsistência e sua, em geral, baixa produtividade, cor responde a 52% do território da região e a 41% da sua população,
c) Pelos dados, a área dos es tabelecimentos, entre 60 a 70, au mentou de 17%, mas os pequenos estabelecimentos (até 10 há, mi nifúndios) aumentaram sua área
em 49%. Com a característica de empresas agrícolas, podem consi derar-se apenas cerca de 15% do número de estabelecimentos (ocu pando 5 a 6 da área total). CT íO
d) O aumento do emprego agrícola ocorreu principalmente nos minifúndios (variação 44%, para uma elevação total de emprego de 17%). de
e) O problema, no meio rural do Nordeste, não é apenas de es trutura fundiária (excesso de nifundios mie latifúndios), também de utilização. Mesmo minifúndios, cerca de 1/3 da área não está utilizado.
Diante destes elementos, melra constatação é de que o sis tema de incentivos fiscais a pri, em ne nhuma hipótese, iria resolver o problema da agricultura nordes tina, Inclusive levar, com os porque é preciso recursos financeiros, assistência técnica, em sistema de crédito rural orientado.
Os principais programas e me didas que 0 Governo está impul sionando, no setor agrícola do Nordeste são:
1) O POLONORDESTE, que objetiva o desenvolvimento de 26 polos agropecuários em vales úmi dos, serras úmidas, tabuleiros costeiros, zonas de agricultura seca e pré-amazónia, abrangendo 590.000 km2 (36',; da superfície e 27% da população da área).
Até 1969. nos polos inicialmente definidos e já com planos direto res preparados, o POLONORDES TE irá dispor de CrS 5 bilhões pa ra investimentos e CrS 21 bilhões para crédito à produção, atenden do principalmente ao pequeno produtor e estimulando a forma ção de empresas agrícolas. O apoio será dado pelos programas de es tradas vicinais, eletrificação ru ral, armazenagem, pesquisa e ex perimentação, extensão rural e crédito orientado.
mas nos Nesse sentido, o programa e complementar ao esquema de re forma agrária e redistribuição de terras do INCRA.
2) O Programa de Agroindús tria do Nordeste, para a industria lização de produtos básicos da re gião, já em pleno funcionamento.
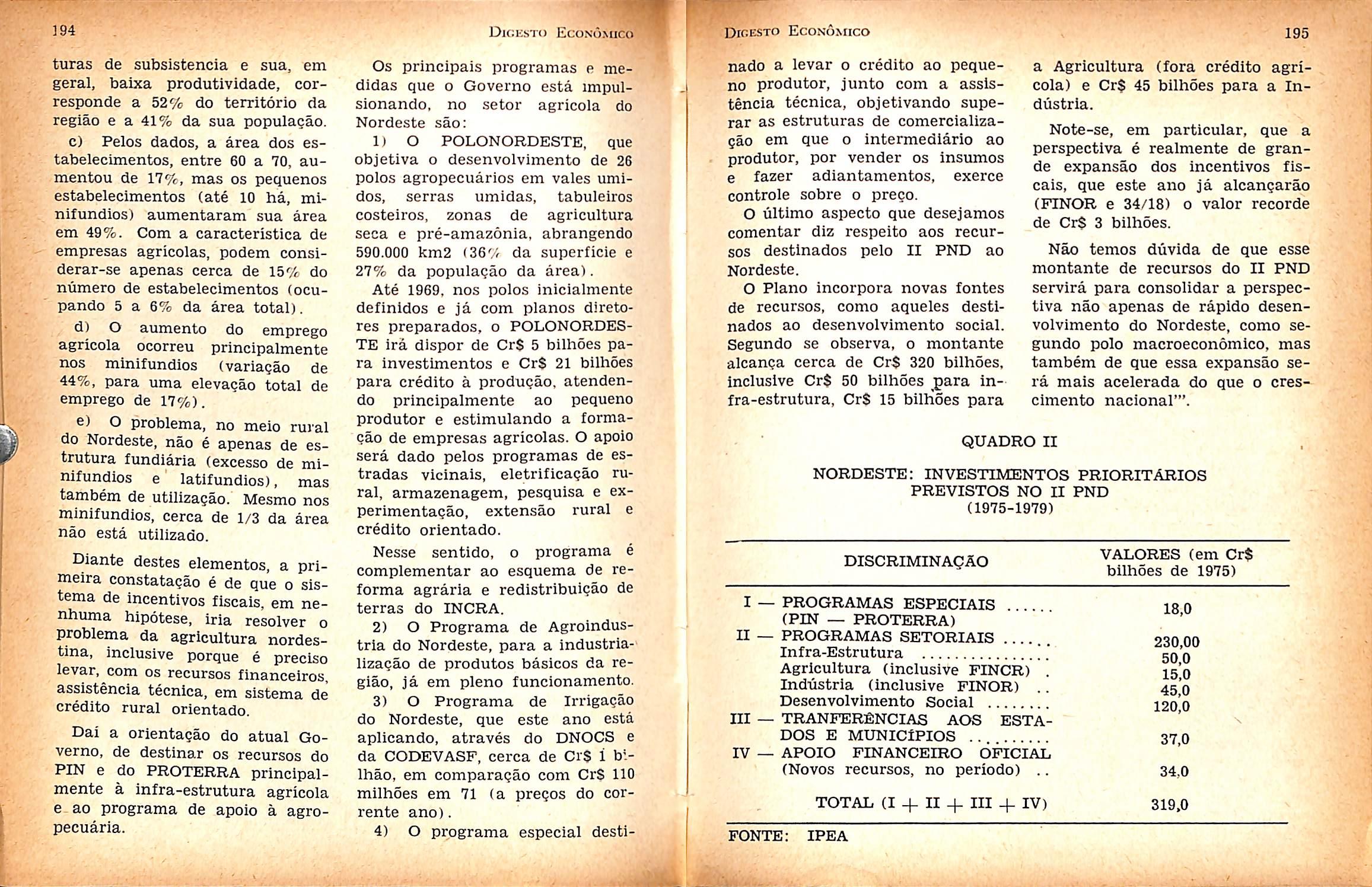
Daí a orientação do atual Go verno, de destinar os recursos do PIN e do PROTERRA principal mente à infra-estrutura agrícola e ao programa de apoio à agro pecuária.
3) O Programa de Irrigação do Nordeste, que este ano está aplicando, através do DNOCS e da CODEVASF, cerca de CrS í bi lhão, em comparação com CrS 110 milhões em 71 (a preços do cor rente ano).
4) O programa especial desti-
nado a levar o crédito ao peque no produtor, junto com a assis tência técnica, objetivando supe rar as estruturas de comercializa ção em que o intermediário ao produtor, por vender os insumos e fazer adiantamentos, exerce controle sobre o preço.
O último aspecto que desejamos comentar diz respeito aos recur sos destinados pelo II PND ao Nordeste.
O Plano incorpora novas fontes de recursos, como aqueles desti nados ao desenvolvimento social. Segundo se observa, o montante alcança cerca de Cr$ 320 bilhões, inclusive Cr$ 50 bilhões para in fra-estrutura, Cr$ 15 bilhões para
a Agricultura (fora crédito agrí cola) e Cr$ 45 bilhões para a In dústria.
Note-se, em particular, que a perspectiva é realmente de gran de expansão dos incentivos fis cais, que este ano já alcançarão (FINOR e 34/18) o valor recorde de Cr$ 3 bilhões.
Não temos dúvida de que esse montante de recursos do II PND servirá para consolidar a perspec tiva não apenas de rápido desen volvimento do Nordeste, como se gundo polo macroeconômico, mas também de que essa expansão se rá mais acelerada do que o cres cimento nacional’”.
NORDESTE: INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS
PREVISTOS NO II PND (1975-1979)
I — PROGRAMAS ESPECIAIS (PIN — PROTERRA)
II — PROGRAMAS SETORIAIS . .
Infra-Estrutura [
Agricultura (inclusive FINCR) .
Indústria (inclusive FINOR) ..
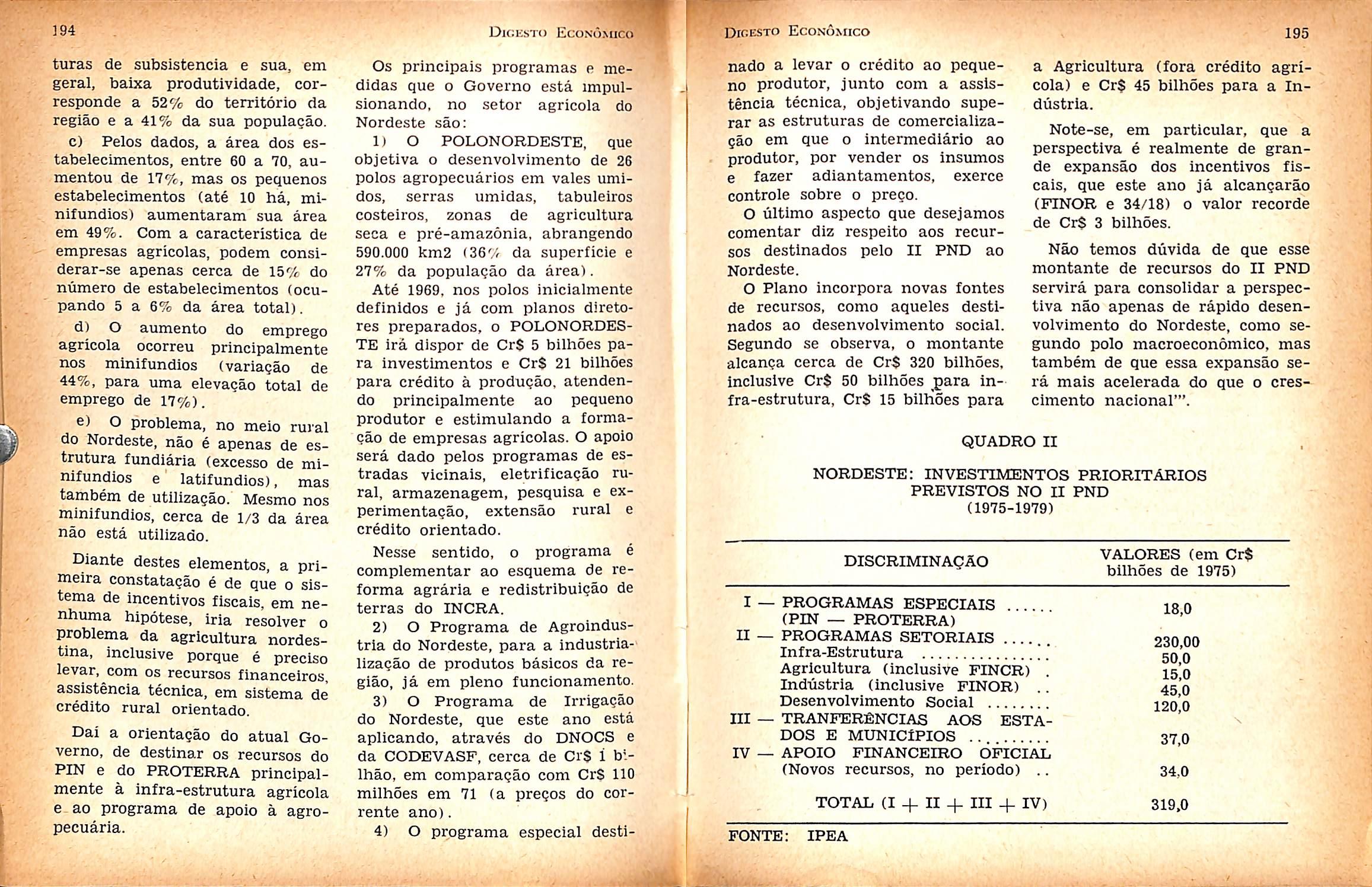
III
IV
Desenvolvimento Social TRANFERÊNCIAS AOS ESTA DOS E MUNICÍPIOS APOIO FINANCEIRO OFICIAL (Novos recursos, no período) ..
TOTAL (I + II -f III -I- IV)
FONTE: IPEA
VALORES (em Cr$ bilhões de 1975)
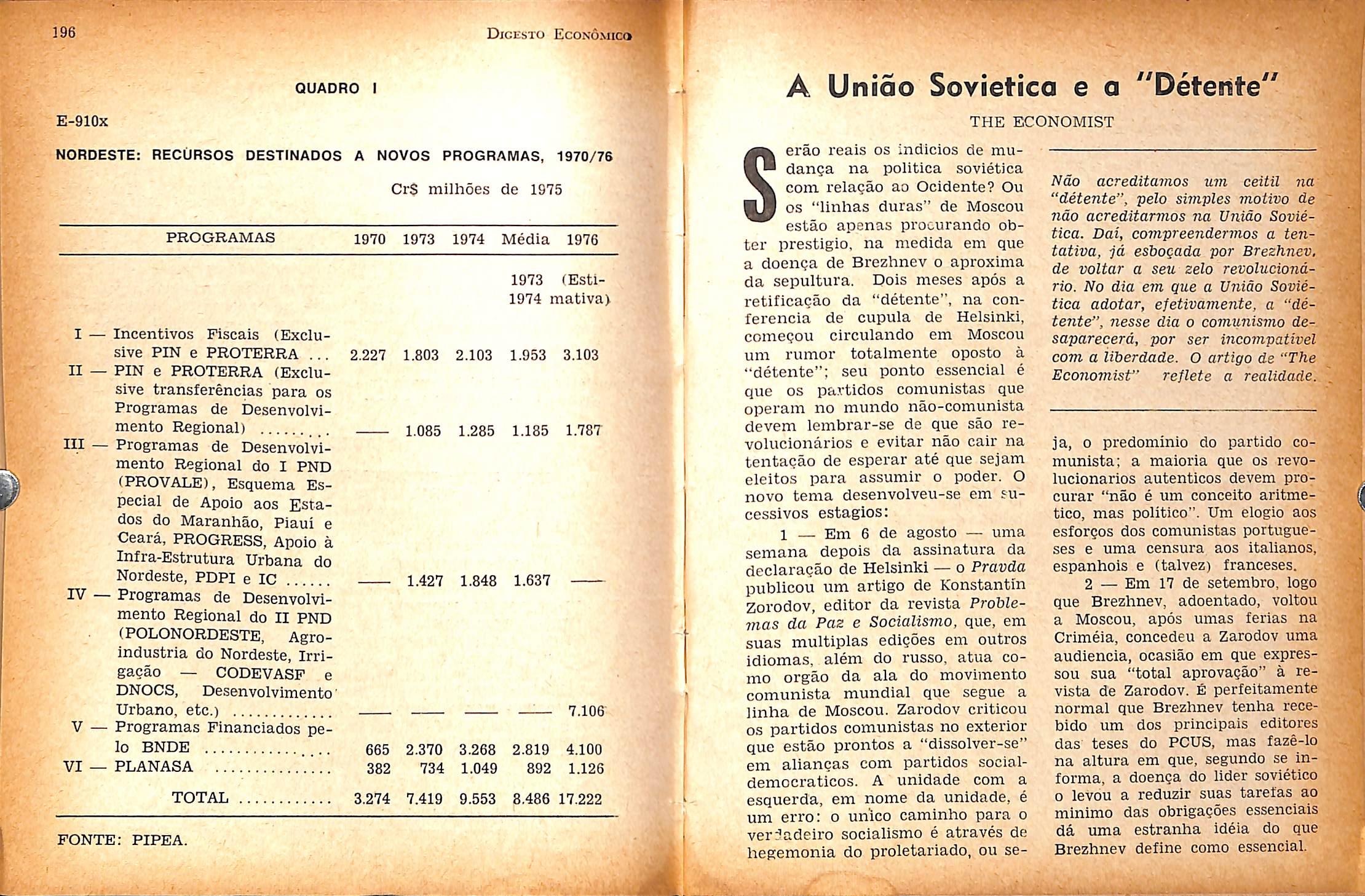
E-910X
NORDESTE: RECURSOS DESTINADOS A NOVOS PROGRAMAS, 1970/76
CrS milhões de 1975
PROGRAMAS
1973 (Esti-
mativa>
Agro-
CODEVASF e Desenvolvimento
I — Incentivos Fiscais (Exclu sive PIN e PROTERRA ... II — PIN e PROTERRA (Exclu sive transferências para os Programas de Desenvolvi mento Regional) .. ni — Programas de Desenvolvi mento Regional do I PND (PROVALE), Esquema Es pecial de Apoio aos Esta dos do Maranhão, Piauí e Ceará, PROGRESS, Apoio à Infra-Estrutura Urbana do Nordeste, PDPI e IC rv — Programas de Desenvolvi mento Regional do II PND (POLONORDESTE, industria do Nordeste, Irri gação DNOCS, Urbano, etc.)
V — Programas Financiados pe lo BNDE _ ..
VI — PLANASA .
FONTE; PIPEA.
erão reais os Indicios de mu dança na política soviética com relação ao Ocidente? Ou os “linhas duras” de Moscou estão apenas procurando ob ter prestigio, na medida em que a doença de Brezhnev o aproxima da sepultura. Dois meses após a retificação da “détente”, na con ferência de cupula de Helsinki, começou circulando em Moscou um rumor totalmente oposto à “détente”: seu ponto essencial é que os partidos comunistas que operam no mundo não-comunista devem lembrar-se de que são re volucionários 0 evitar não cair na tentação de esperar até que sejam eleitos para assumir o poder. O novo tema desenvolveu-se em su cessivos estágios:
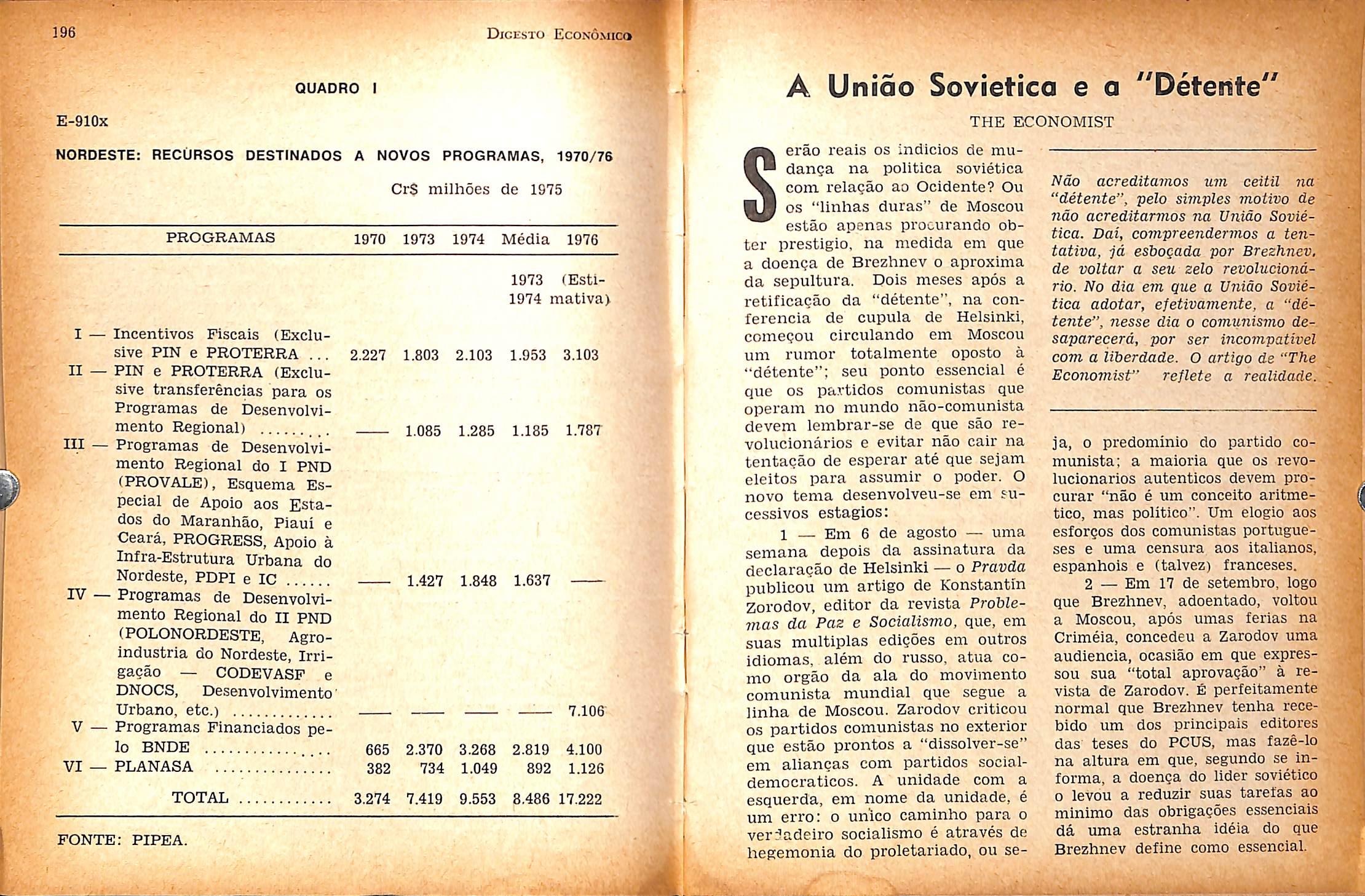
Não acreditamos um ceitil na "détente”, pelo simples motivo de não acreditarmos na União Sovié tica. Daiy compreendermos a ten tativa, já esboçada por Brezhnev. de voltar a seu zelo revolucioná rio. No dia em que a União Soüiética adotar, efetivamente, a "détente”, nesse dia o comunismo de saparecerá, por ser incompatível com a liberdade. O artigo de "The Economist” reflete a realidade. ja, 0 predomínio do partido co munista: a maioria que os revo lucionários autênticos devem pro curar “não é um conceito aritmetico, mas político”. Um elogio aos esforços dos comunistas portugue ses e uma censura aos italianos, espanhóis e (talvez) franceses. 2 — Em 17 de setembro, logo que Brezhnev, adoentado, voltou a Moscou, após umas ferias na Criméia, concedeu a Zarodov uma audiência, ocasião em que expres'total aprovação” à re-
1 — Em 6 de agosto semana depois da assinatura da declaração de Helsinki — o Pravda publicou um artigo de Konstantín Zorodov, editor da revista Proble mas da Paz e Socialismo, que, em múltiplas edições em outros uma suas idiomas, além do russo, atua co da ala do movimento sou sua vista de Zarodov. É perfeitamente normal que Brezhnev tenha rece bido um dos principais editores das' teses do PCÜS, mas fazê-lo na altura em que, segundo se in forma, a doença do lider soviético levou a reduzir suas tarefas ao minimo das obrigações essenciais dá uma estranha idéia do que Brezhnev define como essencial. mo orgao comunista mundial que segue a linha de Moscou. Zarodov criticou partidos comunistas no exterior que estão prontos a “dissolver-se” alianças com partidos socialdemccraticos. A unidade com a esquerda, em nome da unidade, é um erro: o unico caminho para o verdadeiro socialismo é através de hegemonia do proletariado, ou seos em 0
3 — Outros russos começaram a dar nova tônica ao potencial re volucionário da atual “crise do capitalismo”. Timur Timofeev, di retor do Instituto de História do partido comunista soviético, anda dizendo, ultimamente, que as di ficuldades do mundo ocidental oferecem aos partidos comunistas mais oportunidades do que alguns deles imaginam, militantes, em particular, podem contribuir para abreviar o proces so de mudança na direção dese jada.
4 ■— Um novo livro de Zaro dov, Três Revoluções, sobre a ma neira pela qual a revolução bolchevista de 1917 emergiu da his tória da Rússia depois de 1905, es tá sendo rapidamente impresso e propagandeado por meio de “anún cios urgentes”.
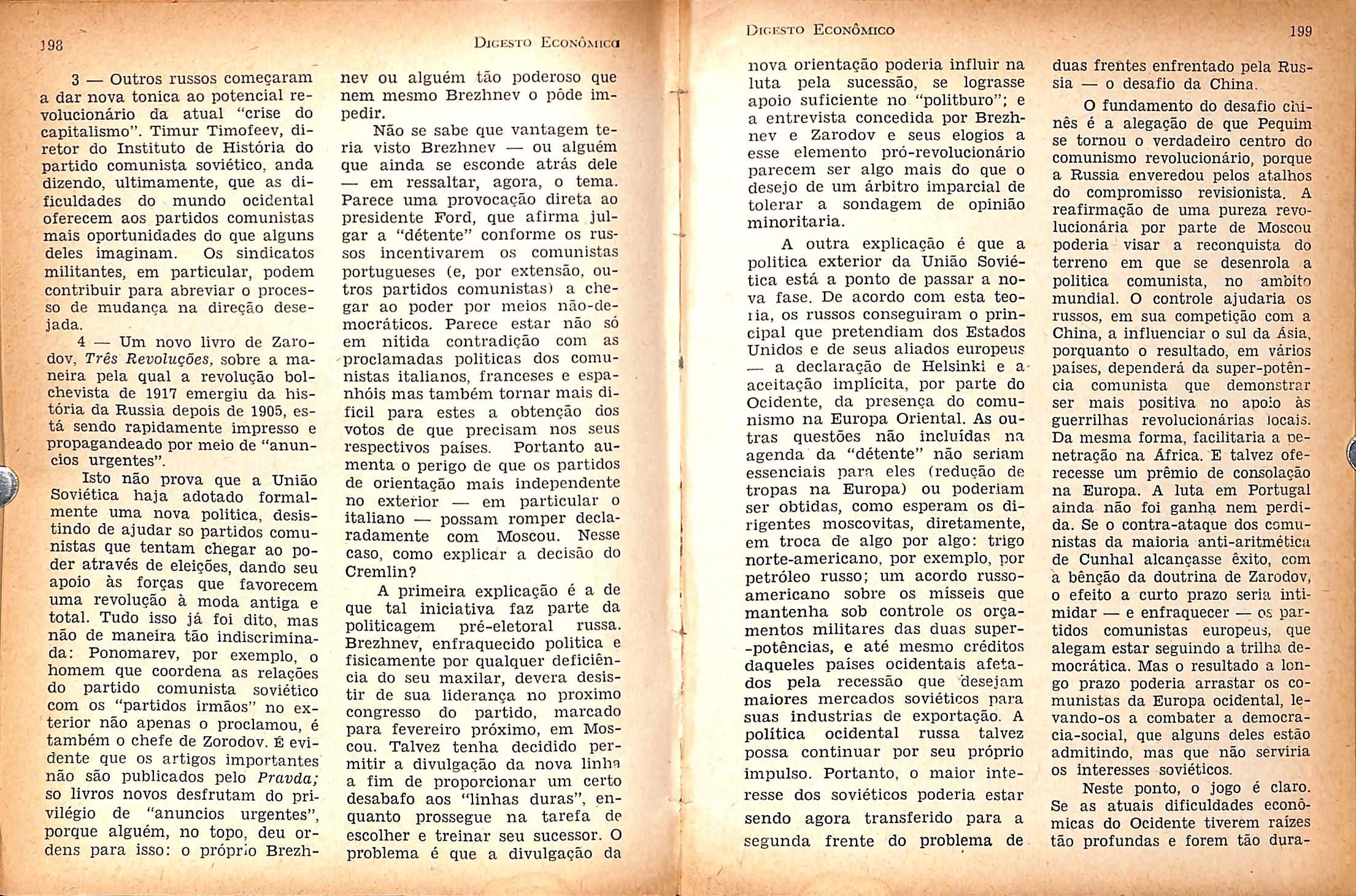
nev ou alguém tão poderoso que nem mesmo Brezhnev o pôde im pedir.
Não se sabe que vantagem teria visto Brezhnev — ou alguém que ainda se esconde atrás dele — em ressaltar, agora, o tema. Parece uma provocação direta ao presidente Ford, que afirma jul gar a “détente” conforme os rus sos incentivarem os comunistas Os sindicatos portugueses (e, por extensão, ou tros partidos comunistas) a che gar ao poder por meios não-democráticos. Parece estar não só em nítida contradição com as proclamadas políticas dos comu nistas italianos, franceses e espa nhóis mas também tornar mais di fícil para estes a obtenção dos votos de que precisam nos seus respectivos paises. Portanto au menta o perigo de que os partidos de orientação mais independente no exterior italiano — possam romper decla radamente com Moscou. Nesse caso, como explicar a decisão do Cremlin?
em particular o comu-
seu
mas
0 no ex-
Isto não prova que a União Soviética haja adotado formal mente uma nova política, desis tindo de ajudar so partidos nistas que tentam chegar ao po der através de eleições, dando apoio às forças que favorecem uma revolução à moda antiga e total. Tudo isso já foi dito, não de maneira tão indiscrimina da: Ponomarev, por exemplo homem que coordena as relações do partido comunista soviético com os “partidos irmãos’ terior não apenas o proclamou, é também o chefe de Zorodov. É evi dente que os artigos importantes não são publicados pelo Pravda; so livros novos desfrutam do pri vilégio de “anúncios urgentes”, porque alguém, no topo, deu or dens para isso: o próprio Brezh-
A primeira explicação é a de que tal iniciativa faz parte da politicagem pré-eletoral russa. Brezhnev, enfraquecido política e fisicamente por qualquer deficiên cia do seu maxilar, devera desis tir de sua liderança no proximo congresso do partido, marcado para fevereiro próximo, em Mos cou. Talvez tenha decidido per mitir a divulgação da nova linhn a fim de proporcionar um certo desabafo aos “linhas duras”, en quanto prossegue na tarefa de escolher e treinar seu sucessor. O problema é que a divulgação da
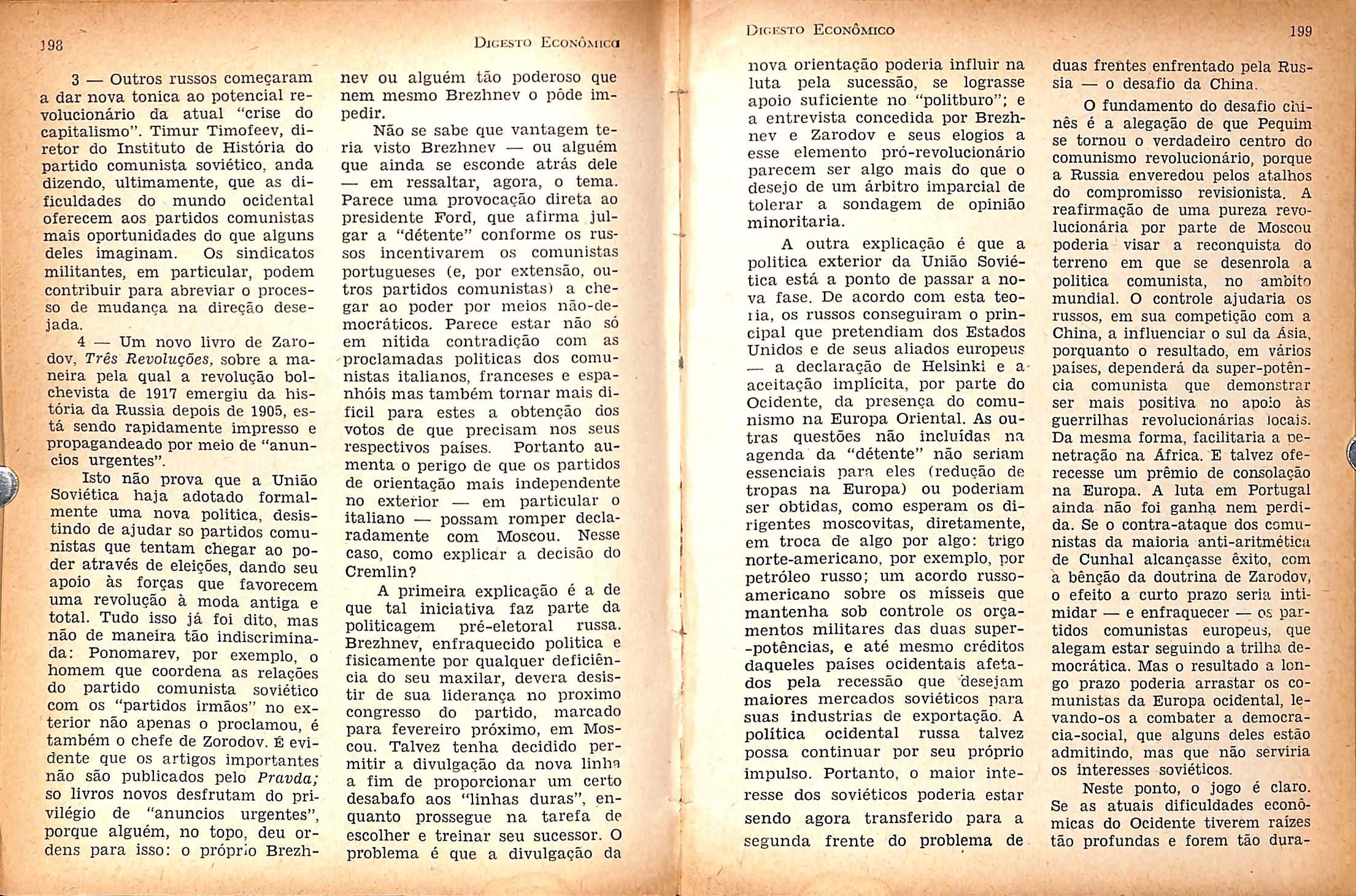
nova orientação podería influir na luta pela sucessão, se lograsse apoio suficiente no “politburo”; e a entrevista concedida por Brezhnev e Zarodov e seus elogios a esse elemento pró-revolucionário parecem ser algo mais do que o desejo de um árbitro imparcial de tolerar a sondagem de opinião minoritária.
A outra explicação é que a política exterior da União Sovié tica está a ponto de passar a no va fase. De acordo com esta teolia, os russos conseguiram o prin cipal que pretendiam dos Estados Unidos e de seus aliados europeus — a declaração de Helsinkl e aaceitação implícita, por parte do Ocidente, da presença do comu nismo na Europa Oriental. As ou tras questões não incluídas na agenda da “détente” não seriam essenciais para eles (redução de tropas na Europa) ou poderíam ser obtidas, como esperam os di rigentes moscovitas, diretamente, em troca de algo por algo: trigo norte-americano, por exemplo, por petróleo russo; um acordo russoamericano sobre os mísseis que mantenha sob controle os orça mentos militares das duas super-potências, e até mesmo créditos daqueles países ocidentais afeta dos pela recessão que 'desejam maiores mercados soviéticos paj‘a suas industrias de exportação. A política ocidental russa talvez possa continuar por seu próprio impulso. Portanto, o maior inte resse dos soviéticos poderia estar sendo agora transferido para a segunda frente do problema de
duas frentes enfrentado pela Rús sia — 0 desafio da China. O fimdamento do desafio chi nês é a alegação de que Pequim se tornou o verdadeiro centro do comunismo revolucionário, porque a Rússia enveredou pelos atalhos do compromisso revisionista. A reafirmação de uma pureza revo lucionária por parte de Moscou poderia visar a reconquista do terreno em que se desenrola a política comunista, no âmbito mundial. O controle ajudaria os russos, em sua competição com a China, a influenciar o sul da Asia, porquanto o resultado, em vários países, dependerá da super-potência comunista que demonstrar ser mais positiva no apoio às guerrilhas revolucionárias locais. Da mesma forma, facilitaria a pe netração na África. E talvez ofe recesse um prêmio de consolação na Europa. A luta em Portugal ainda não foi ganha nem perdi da. Se 0 contra-ataque dos comu nistas da maioria anti-aritmética de Cunhai alcançasse êxito, com a bênção da doutrina de Zarodov, 0 efeito a curto prazo seria inti midar — e enfraquecer — 05, par tidos comunistas europeus, que alegam estar seguindo a trilha de mocrática. Mas 0 resultado a lon go prazo poderia arrastar os co munistas da Europa ocidental, le vando-os a combater a democracia-social, que alguns deles estão admitindo, mas que não serviría os interesses soviéticos.
Neste ponto, o jogo é claro. Se as atuais dificuldades econô micas do Ocidente tiverem raízes tão profundas e forem tão dura-

douras quanto os russos imagi nam, seria vantajoso para a União Soviética tentar trazer de volta os partidos comunistas europeus a uma linha de ortodoxia revolu cionária à moda antiga, tanto em uma prolongada mais que crise ocidental, as revoluções à antiga poderiam realmente obter êxito. Mas se a situação do Oci dente não for tão má quanto pen sam os russos, essa politica po dería ser um erro. Os comunistas italianos e espanhóis, e talvez os franceses, completariam o rompi-
mento com Moscou; e o cisma com estes, acrescido ao cisma com a China, deixaria o movimento co munista dividido em três partes. O lider soviético que presidisse a tal divisão não ficaria por muito tempo no poder. Assim, o que pa rece ser um debate a respeito de uma questão fundamental, em Moscou, talvez não passe, por en quanto, de um simples debate. Mas se 0 acrescentarmos às ou tras incertezas que hão de seguir-se à retirada de Brezhnev. o me lhor é não apostar na Rússia.
PLaSTICO Em Pó — A crescente tendência em direção ao equi pamento de processamento talhado para a produção de tipos especiais de peças, e representada por um outro processo ainda, para a produção de delgadas. O mais recente, chamado fase-líquida a (LPSF), diz respeito a formação de “Sinter" g®^’al^ente poliolefinas pré-moldadas em de Dotes G subsequentemente moldadas a vácuo na forma volvido Dor equipamneto prototipo para o processo foi desen- da As vant«£nc Packaging Industries B. V.”, de Breda, na liolan- moidagem vindo custos do material (pode ser usado pó de d= estruturas mnlti foiK baixas taxas de retalho, possibilidades uto de ® decoração antes da moldagem. No seu mould”^GCGntÍmÍ5t?°’ ° .sistema se assemelha ao processo “Spray- tudo o íó TlflííncH Canadá. No“ Spraymould”, con de oré-moldadoípm matriz fêmea. No seu uso former mas aí disco, o LPSF é semelhante à técnica Top- comío^tos peletizados P°^ compressão a partir de o-
DINAMARCA:- CONTRA O ROUBO EM SUPERMERCADOS — supermercados e grandes lojas podem evitar ou reduzir 50 a 75% dos roubos que ocorrem nesses locais usando o “terceiro olho”, fabricado pela Eyerlite, que e rnetalizado e de acrílico, já testado em grandes lojas da Dinamarca. Este Terceiro Olho”, pode cobrir uma área de 200m2, quan do colocado a uma altura de 3,5 metros do piso. Os clientes das lojas afir maram que em nenhum momento se centiram vigiados e que, ao contrá rio, os “Olhos” lhes serviram como ponto de referência derem no local. Os para nao se per-