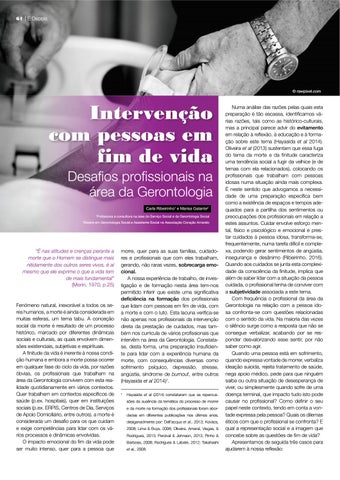61 | E Depois
E Depois | 61
© rawpixel.com
Intervenção com pessoas em ùP GH YLGD Desafios profissionais na área da Gerontologia Carla Ribeirinho1 e Marisa Galante2 1
Professora e consultora na área do Serviço Social e da Gerontologia Social
2
Mestre em Gerontologia Social e Assistente Social na Associação Coração Amarelo
“É nas atitudes e crenças perante a morte que o Homem se distingue mais nitidamente dos outros seres vivos, é aí mesmo que ele exprime o que a vida tem de mais fundamental” (Morin, 1970, p.25)
Fenómeno natural, inexorável a todos os seres humanos, a morte é ainda considerada em muitas esferas, um tema tabu. A conceção social da morte é resultado de um processo histórico, marcado por diferentes dinâmicas sociais e culturais, as quais envolvem dimensões existenciais, subjetivas e espirituais. A finitude da vida é inerente à nossa condição humana e embora a morte possa ocorrer em qualquer fase do ciclo da vida, por razões óbvias, os profissionais que trabalham na área da Gerontologia convivem com esta realidade quotidianamente em vários contextos. Quer trabalhem em contextos específicos de saúde (p.ex. hospitais), quer em instituições sociais (p.ex. ERPIS, Centros de Dia, Serviços de Apoio Domiciliário, entre outros), a morte é considerada um desafio para os que cuidam e exige competências para lidar com os vários processos e dinâmicas envolvidas. O impacto emocional do fim da vida pode ser muito intenso, quer para a pessoa que
morre, quer para as suas famílias, cuidadores e profissionais que com eles trabalham, gerando, não raras vezes, sobrecarga emocional. A nossa experiência de trabalho, de investigação e de formação nesta área tem-nos permitido inferir que existe uma significativa deficiência na formação dos profissionais que lidam com pessoas em fim de vida, com a morte e com o luto. Esta lacuna verifica-se não apenas nos profissionais da intervenção direta da prestação de cuidados, mas também nos curricula de vários profissionais que intervêm na área da Gerontologia. Constatase, desta forma, uma preparação insuficiente para lidar com a experiência humana da morte, com consequências diversas como sofrimento psíquico, depressão, stresse, angústia, síndrome de burnout, entre outros (Hayasida et al 2014)1. 1
Hayasida et al (2014) constataram que as repercussões da ausência da temática do processo de morrer e da morte na formação dos profissionais foram abordadas em diferentes publicações nos últimos anos, desiganadmente por: Dell’acqua et al., 2013; Kovács, 2008; Lima & Buys, 2008; Oliveira, Amaral, Viegas, & Rodrigues, 2013; Percival & Johnson, 2013; Pinho & Barbosa, 2008; Rodrigues & Labate, 2012; Takahashi et al., 2008.
Numa análise das razões pelas quais esta preparação é tão escassa, identificamos várias razões, tais como as histórico-culturais, mas a principal parece advir do evitamento em relação à reflexão, à educação e à formação sobre este tema (Hayasida et al 2014). Oliveira et al (2013) sustentam que essa fuga do tema da morte e da finitude caracteriza uma tendência social a fugir da velhice (e de temas com ela relacionados), colocando os profissionais que trabalham com pessoas idosas numa situação ainda mais complexa. É neste sentido que advogamos a necessidade de uma preparação específica bem como a existência de espaços e tempos adequados para a partilha dos sentimentos ou preocupações dos profissionais em relação a estes assuntos. Cuidar envolve esforço mental, físico e psicológico e emocional e prestar cuidados à pessoa idosa, transforma-se, frequentemente, numa tarefa difícil e complexa, podendo gerar sentimentos de angústia, insegurança e desânimo (Ribeirinho, 2016). Quando aos cuidados se junta esta complexidade da consciência da finitude, implica que além de saber lidar com a situação da pessoa cuidada, o profissional tenha de conviver com a subjetividade associada a este tema. Com frequência o profissional da área da Gerontologia na relação com a pessoa idosa confronta-se com questões relacionadas com o sentido da vida. Na maioria das vezes o silêncio surge como a resposta que não se consegue verbalizar, acabando por se responder desvalorizando esse sentir, por não saber como agir. Quando uma pessoa está em sofrimento, quando expressa vontade de morrer, verbaliza ideação suicida, rejeita tratamento de saúde, nega apoio médico, pede para que ninguém saiba ou outra situação de desesperança de viver, ou simplesmente quando sofre de uma doença terminal, que impacto tudo isto pode causar no profissional? Como definir o seu papel neste contexto, tendo em conta a vontade expressa pela pessoa? Quais os dilemas éticos com que o profissional se confronta? E qual a representação social e a imagem que concebe sobre as questões de fim de vida? Apresentamos de seguida três casos para ajudarem à nossa reflexão: