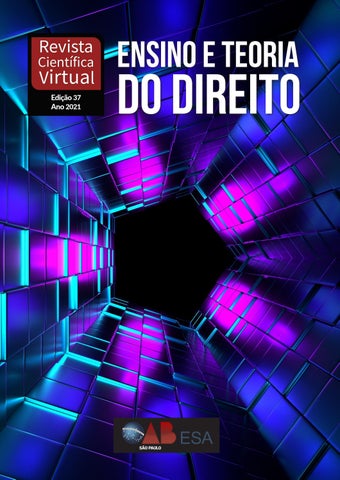39 minute read
DIREITO CIBERNÉTICO
from Revista Científica da Escola Superior de Advocacia: Ensino e Teoria do Direito - Ed. 37
by ESA OAB SP
11
ENSINO DO DIREITO E NOVAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Direito Digital e Direito Cibernético
Regina Célia Martinez93 Maurício Veloso Queiroz94 Adriana Ribeiro de Carvalho95
RESUMO O artigo pretende demonstrar como as novas tecnologias da informação impactaram a sociedade e a ciência do Direito, o que culminou especialmente, em 2021, na inclusão obrigatória da disciplina Direito Digital na Proposta Pedagógica Curricular do Curso de Graduação em Direito, além da possibilidade de inclusão também da disciplina Direito Cibernético. Diante disso, é preciso delinear melhor o estudo das duas disciplinas, a fim de que os jogadores do campo jurídico possam compreender a importância das novas tecnologias da informação e aprender a produzir direitos nessa sociedade, desde o começo da formação.
PALAVRAS-CHAVE Ensino do Direito. Direito Digital. Direito Cibernético. Novas tecnologias da informação.
93 Mestre e Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Jornalista, Advogada e Professora Titular Doutora e Pesquisadora do Centro Universitário de Jales (UNIJALES). Pesquisadora da Escola Superior de Advocacia. Mediadora, Conciliadora e Árbitra. Vice-Presidente da Associação Paulista de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais. Membro efetivo da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/SP. Consultora Especialista do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Integrante do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior (BASIS). Parecerista de diversas revistas científicas.
94 Mestre em Direito da Sociedade da Informação pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Advogado.
95 Pós-Graduanda em Direito Empresarial Aplicado à Era Digital pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Bacharela em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Advogada.
1 INTRODUÇÃO O aparecimento de novos direitos e a remodelagem dos direitos positivados, causados pelas novas tecnologias da informação, são objeto de preocupação do campo jurídico. O fenômeno abriu um vasto campo para pesquisas e foi responsável pela criação de novos ramos do Direito, o Direito Digital e o Direito Cibernético.
Em 2021, o ensino do Direito Digital se tornou obrigatório no Curso de Graduação de Direito, e o ensino do Direito Cibernético, facultativo. Veja-se que o Direito Digital e o Direito Cibernético, muitas vezes confundidos, são então duas disciplinas distintas do Direito, embora a primeira nem sequer possui independência, haja vista que trata sobre os efeitos das novas tecnologias de informação sobre todos os demais ramos jurídicos. O trabalho busca descrever o Direito Digital e o Direito Cibernético, diferenciálos, enquanto ramos diversos do Direito, traçar um histórico sintético, determinar o escopo de cada um, questões recorrentes e definir brevemente os principais conceitos relacionados.
Ainda, é importante apresentar as novas tecnologias da informação e apontar como a revolução informacional foi responsável pela transformação da sociedade industrial e do campo jurídico. A metodologia empregada é essencialmente a bibliográfica, foram analisados referenciais teóricos multidisciplinares, que tratam da revolução informacional, da cibernética, da atual sociedade e da economia digital, da remodelação dos direitos e dos direitos que surgiram a partir do novo paradigma social, assim como a pesquisa da atividade legislativa em curso, a jurisprudência dos tribunais, a relação dos juristas com as máquinas, os dados demográficos disponíveis relativos às novas tecnologias da informação.
2. AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE
A sociedade atual é interpretada sob inúmeras teorias sociais, cada qual com um enfoque diferente, como a sociedade pósmoderna,96 o pós-fordismo e a sociedade da informação. Apesar do fato de que essas teorias não sejam uníssonas,97 é possível identificar algumas interseções, como a globalização e o impacto das novas tecnologias da informação na sociedade. No fim do século XX, com o advento
96 Observa-se que até um conceito de tempo da história linear cristã, a modernidade, mesmo esse termo, tão aberto, se encontra em contraposição às teorias da pósmodernidade e em relação a muitas outras interpretações que de alguma forma indicam mudanças de uma época e o fim das ideias e técnicas da história moderna.
97 Gilles Lipovetsky (2007, p. 14-15) critica, por exemplo, que a teoria da sociedade da informação, “insistindo na revolução das tecnologias da informação e da comunicação, anunciou o advento de uma sociedade de novo gênero: a das redes e do capitalismo informacional tomando o lugar do capitalismo de consumo”, poderia indicar um equivocado “pós-materialismo”, ainda que essas teorias pós-industriais estejam de alguma forma entrelaçadas.
da microinformática e do salto evolutivo das telecomunicações, já era nítido que a sociedade havia mudado desde a revolução informacional, iniciada nos anos de 1940. Aos poucos, o computador tomou o lugar de destaque da fábrica, a unidade de produção central da sociedade industrial,98 assumindo posição privilegiada no mercado global e dando origem ao fenômeno da digitalização, o que, para José de Oliveira Ascensão (2002, p. 67), é que permitiu “o aparecimento e utilização de novos bens”, sobretudo quando a Internet se tornou uma rede de comunicação global, na década de 1990. O telefone e o rádio se popularizaram também como meios de comunicação na sociedade, porém, nenhuma dessas tecnologias permitia que, ao mesmo tempo, a comunicação tivesse escala global, interatividade e descentralização. Adorno e Horkheimer (1985, p. 100) classificam os meios de comunicação em liberal e democrático, distinguindo-os de acordo com o papel desempenhado pelo sujeito: Liberal, o telefone permitia que os participantes ainda desempenhassem o papel do sujeito. Democrático, o rádio transformaos a todos igualmente em ouvintes, para entregá-los autoritariamente aos programas, iguais uns aos outros,
98 Celso Antonio Pacheco Fiorillo (2014, p. 18-19) analisa o aparecimento da sociedade da informação como um novo processo civilizatório, e não apenas como uma nova unidade de produção econômica que se tornou preponderante. das diferentes estações. Não se desenvolveu qualquer dispositivo de réplica e as emissões privadas são submetidas ao controle.
Nessa classificação, a Internet então se revela tanto liberal quanto democrática, e, além disso, seria aberta, porque a interatividade não se limita a somente dois pontos, a exemplo do telefone, conforme José de Oliveira Ascensão (2002, p. 68): “não apenas de um para vários, sem interatividade, como na radiodifusão; ou de um para um com interatividade, como no telefone; mas de todos para todos, com interatividade”. Manuel Castells (2003, p. 56) recorda que, depois da disponibilização do uso comercial da Internet, no domínio dos negócios é que ocorreu a “difusão mais rápida, mais abrangente de seus usos”. Desde então, a Internet virou essencial para todas as atividades econômicas, não apenas às empresas ponto.com, o que foi capaz de criar verdadeiramente uma nova economia, uma economia globalizada e informacional.
3. O IMPACTO DA DIGITALIZAÇÃO NO CAMPO JURÍDICO E NO ENSINO DO DIREITO
O exercício jurídico não permaneceu incólume diante das novas tecnologias da informação e da comunicação. Para entender o impacto da digitalização na prática jurídica, Yves Dezalay e David Max Trubek (In: FARIA,
2010, p. 31) estabelecem o conceito-chave de campo jurídico, que se apoia na teoria dos campos sociais inter-relacionados de Pierre Bourdieu,99 como a “articulação de instituições e práticas através das quais a lei é produzida, interpretada e incorporada às tomadas de decisões na sociedade”.
O campo jurídico é, em outras palavras, um espaço virtual que se interage com os demais campos sociais para produzir direitos, mais ou menos como funciona um campo de futebol, onde as partidas são realizadas: há jogadores com aptidões diversas, regras e objetivos. No campo jurídico estão os advogados, defensores, juízes, legisladores, professores, promotores, associações, vale dizer, um leque imenso de pessoas que lidam com o litígio, a composição e o ensino jurídico. O placar ao final do jogo realizado no campo jurídico pelos agentes, que se confunde com a produção dos direitos, protege relações jurídicas, interesses econômicos, força o cumprimento das obrigações em atraso, estimula os mercados econômicos, encoraja a acumulação de riquezas, zela pela integridade dos cidadãos diante do Estado, modera a voracidade das empresas e promove a vida digna em sociedade. Apesar da globalização e da digitalização, responsáveis pela criação de uma economia global, paradoxalmente, a
99 A teoria da existência de campos de Bourdieu se relaciona com a ideia das esferas presente na obra de Max Weber. prática jurídica acontece ainda sobretudo no plano nacional, que é de onde emana a maior parte das leis e das decisões, judiciais ou não, com raras exceções. Mesmo assim é possível identificar uma modificação na lógica da produção do direito na nova economia, bem como apontar o surgimento de novos jogadores no campo jurídico e alterações do próprio ensino do Direito, uma vez que o mercado demanda profissionais adaptados e preparados a essas mudanças.
Não é somente uma legislação específica que marca a atuação da prática jurídica em cada país. Convém destacar que o Estado forma um limite caracterizado por uma situação socioeconômica e cultural própria. Contudo, mesmo que o modo de produção do direito não seja homogêneo nos distintos campos jurídicos nacionais, é possível notar claramente em todos as mesmas tendências de mudança nos padrões econômicos e da prática jurídica. Embora a produção de direitos não esteja limitada ao processo judicial, o que aconteceu a partir de 2007, com a entrada em vigor da Lei do Processo Eletrônico (BRASIL, 2006), que dispõe sobre a informatização do processo judicial no Brasil, é realmente representativo.100 Não há dúvida de que um dos maiores
100 No Brasil, desde 2001, já havia uma relativa segurança jurídica quanto ao uso de documentos eletrônicos, em razão da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, que a instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras (BRASIL, 2001).
desafios do Poder Judiciário desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 é a gestão da quantidade enorme de processos judiciais, porquanto ameaça o direito constitucional dos jurisdicionados da “razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII (BRASIL, 1988). Em 2019, havia em tramitação 77,1 milhões de processos judiciais no Brasil (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020a, p. 93). Paulatinamente, à medida que os tribunais implantavam o processo eletrônico, os primeiros processos judiciais passaram a tramitar exclusivamente em meio digital. Em 2009, somente 11,2% dos novos processos foram ajuizados em autos eletrônicos, e, em 2019, essa proporção saltou para 90% (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020a, p. 115), porém, apenas oito dos 27 tribunais de justiça, incluindo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, alcançaram nesse mesmo ano índice maior que 99% de processos eletrônicos: Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Sergipe e Tocantins (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020a, p. 141142). O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins foi um dos pioneiros do processo eletrônico, ao instalar, em 2007, o sistema de processo virtual, o que culminou, nos anos seguintes, no aumento da produtividade e na diminuição do tempo de tramitação dos processos, até mesmo quando comparado com outros tribunais estaduais.
No Relatório Justiça em Números 2020 do Conselho Nacional de Justiça (2020a, p. 138), o Tribunal do Tocantins aparece no topo do ranking do processo eletrônico, não por acaso, o Índice de Produtividade dos Magistrados – IPM no segundo grau foi o terceiro melhor entre todos os tribunais de justiça, com a média de 1.931 processos julgados por desembargador, produtividade 31,27% maior do que a média do País, atrás apenas do Tribunal de São Paulo (1.992) e de Sergipe (2.623). Frisa-se ademais que o tempo médio de tramitação no primeiro grau é de um ano e oito meses, e o tempo médio no segundo grau, de sete meses, no Tribunal de Justiça do Tocantins, enquanto o tempo médio dos tribunais de justiça é, respectivamente, de três anos e seis meses e de 8 meses (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020a, p. 185). Além da digitalização dos processos, muitos tribunais estão implementando melhorias na atividade jurisdicional, também por meio de computadores, que são comumente chamadas de “inteligência artificial”, nos termos do artigo 196 do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015).101
101 “Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código”.
A pandemia da COVID-19, anunciada em 11 de março de 2020, “comparável aos grandes marcos históricos”, que resultou inclusive em diversas medidas de isolamento social ao redor do mundo, foi capaz de catalisar as ações em curso para aperfeiçoamento do processo eletrônico, com o intuito de incrementar a atividade jurisdicional e mitigar os prejuízos causados. (QUEIROZ, 2020, p. 236). Assim, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça (2020b) traçou alguns princípios do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário na Resolução 332/2020, com destaque para a promoção do bemestar dos jurisdicionados e a prestação equitativa da jurisdição, o respeito aos direitos fundamentais, não discriminação, publicidade e transparência. A norma infralegal também determinou alguns conceitos importantes do modelo de inteligência artificial, a propósito, definido como o “conjunto de dados e algoritmos computacionais, concebidos a partir de modelos matemáticos, cujo objetivo é oferecer resultados inteligentes, associados ou comparáveis a determinados aspectos do pensamento, do saber ou da atividade humana”.
Ainda em 2020, o Conselho Nacional de Justiça (2020c) também regulamentou o uso da inteligência artificial pelos tribunais na Portaria 271/2020. Até o fim da segunda década do século XXI, o Conselho Nacional de Justiça (2019) assinalou que a inteligência artificial era utilizada de forma incipiente, para triagem de casos, sugestão de impulsionamento do processo e identificação de litispendência. Todavia, há uma grande expectativa, notadamente, quanto ao surgimento também de modelos de inteligência artificial para elaborar minutas de atos judiciais, como certidões e pronunciamentos judiciais, o que traria benefícios tanto para a celeridade processual quanto para a qualidade da prestação da atividade jurisdicional. Em algum ponto no futuro, quando o Poder Judiciário alcançar um grau satisfatório de agilidade, é provável que a inteligência artificial possa ser empregada também em antigos problemas da justiça, como a parcialidade e a legalidade das decisões judiciais, a satisfação integral das soluções do mérito e a paridade de tratamento das partes, tão importante quanto a universalização do acesso dos cidadãos à justiça.
Todas essas transformações do processo desaguaram na advocacia. Obviamente, para que os advogados representem os respectivos jurisdicionados, veio a patente necessidade, por conseguinte, de empregar computadores, gerenciadores digitais e certificado digital na rotina da condução do processo eletrônico. A habilidade do advogado em lidar com as tecnologias que permeiam a sua atuação, no entanto, não suprem as habilidades de negociação, conciliação ou intermediação de interesses, as soft skills.
Exemplo disso é o direcionamento do Conselho Nacional de Educação para que o ensino jurídico desenvolva “a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos” em detrimento da notória cultura do litígio (BRASIL, 2021). O Conselho Nacional de Educação enumera ainda outras habilidades que não estão atreladas ao tecnicismo jurídico, como “demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão” e “desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar” (BRASIL, 2021). A habilidade de trabalhar em coordenação com outros profissionais também aparece no relatório The future of jobs (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016) ao lado de inteligência emocional e criatividade.102
A informação, em sentido lato, está agora no cerne da nova economia, como um bem imaterial.
Logo, além das soft skills que se tornaram necessárias nesses últimos anos, o campo jurídico e o próprio Direito foram drasticamente modificados pela revolução informacional e pela concepção da informação como um bem. No campo jurídico atual, o exercício pleno da advocacia depende então do domínio das novas tecnologias e de soft skills, mas as hard skills do advogado
102 “Overall, our respondents anticipate that a wide range of occupations will require a higher degree of cognitive abilities—such as creativity, logical reasoning and problem sensitivity—as part of their core skill set”. também não podem ser negligenciadas, o que pressionou uma mudança drástica no conhecimento técnico-jurídico para a produção de direitos. Nesse sentido:
A sociedade da informação sem dúvida remodelou os direitos. O direito à liberdade de expressão em uma sociedade industrial, por exemplo, atinente à difusão de pensamentos, é certamente diminuto em relação ao direito à liberdade de expressão em uma sociedade da informação. É notória a discrepância entre a envergadura de um e do outro, haja vista a utilização na sociedade atual dos incontáveis gadgets, empregados para gerar, editar, armazenar e enviar informações que poderão instantaneamente ser recebidas pelos destinatários. (MARTINEZ; QUEIROZ, 2015, p. 430)
Ramos tradicionais do Direito, como o Direito Civil, sofreram mutações com a introdução das novas tecnologias da informação e da comunicação, de modo que os antigos institutos e as técnicas jurídicas da sociedade industrial não são mais plenamente capazes de produzir direitos, respondendo à demanda do mercado.
Destarte, mesmo tardiamente, desde 3 de maio de 2021, como resultado do impacto das novas tecnologias da informação no campo jurídico, o ensino do Direito Digital foi incluído na Proposta Pedagógica Curricular – PPC do Curso
de Graduação em Direito, e a Instituição de Ensino Superior – IES poderá compor a PPC com o ensino também do Direito Cibernético, de acordo com a Resolução CNE/CES nº 2/2021, que alterou as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 5/2018 (BRASIL, 2021).
4. DIREITO DIGITAL
O Direito Digital nasceu justamente pela introdução do fenômeno da digitalização nos negócios jurídicos, laureado em 2021 como um dos ramos obrigatórios do Curso de Graduação em Direito, ao lado, por exemplo, do Direito Constitucional e do Direito Penal, muito embora existam posições divergentes a respeito da independência necessária à criação da nova disciplina. Patricia Peck Pinheiro (2016, p. 77) define o Direito Digital não como uma disciplina independente, mas, como a “evolução do próprio Direito, abrangendo todos os princípios fundamentais e institutos que estão vigentes e são aplicados até hoje, assim como introduzindo novos institutos e elementos para o pensamento jurídico, em todas as suas áreas”.
Na mesma toada, Tarcísio Teixeira (2020, p. 12) não vislumbra um novo ramo do Direito, apenas uma questão didática na divisão, porquanto o aumento das relações jurídicas estabelecidas no mundo virtual pode ensejar ajustes no ordenamento jurídico, além de ser necessário um aprofundamento no estudo entre Direito e Tecnologia da Informação.
Dessa maneira, o Direito Digital se limitaria a tratar do impacto das novas tecnologias da informação, por exemplo, sobre o direito à privacidade, do Direito Constitucional, aplicado no contexto da Internet. É notório que a exposição da própria vida privada tem sido cada vez mais mercantilizada e os perfis em redes sociais configuram como verdadeiros patrimônios. Nesse contexto, a publicidade remunerada praticada pelos influenciadores digitais nas redes sociais atrai a incidência do Direito do Consumidor. Há ainda outras situações em que os influenciadores ultrapassam as barreiras legais do exercício ilegal da profissão e, não raro, são alvo de fiscalização dos conselhos profissionais (CREF1, 2018).
Outro tema inerente ao Direito Digital que se fala há tempo é a herança digital. Isso porque o Direito Civil se preocupa com a sucessão de bens tangíveis e intangíveis, e há uma insegurança quanto aos ativos digitais. Logo, o de cujus pode ter acumulado uma série de livros digitais (e-books), um sítio eletrônico ou um perfil que continue lucrando com publicidade após a morte. Um exemplo relevante é o perfil do apresentador Gugu Liberato na rede social Instagram, que ganhou mais de um milhão de seguidores após o anúncio de sua morte. Atualmente, o perfil dedica-
se a promover boas notícias, no entanto, aventa-se a utilização do perfil como “base se uma futura Fundação Gugu Liberato” (TUCHLINSKI, 2019). Há diversos outros exemplos de projeção de fatos jurídicos existentes no mundo físico para o mundo virtual, que já se encontravam protegidos até então pelos ramos já existentes do Direito, mas receberam regulações legislativas específicas. Pode-se citar o comércio eletrônico que continua sendo regido pelas regras do Código do Consumidor, mas foi regulado pelo Decreto 7.962/2013 (BRASIL, 2013), o direito ao lazer, representado pelos jogos eletrônicos, a prova eletrônica, objeto de estudo tanto do direito material quanto do direito formal, e a responsabilidade civil na Internet, sobretudo diante das redes sociais.
Merece especial destaque o teletrabalho, ou home office, introduzido pela Reforma Trabalhista, perpetrada pela Lei 13.467/2017 (BRASIL, 2017). A Reforma Trabalhista não trouxe exatamente uma novidade na legislação, uma vez que já existia a garantia trabalhista do salário-mínimo pelo trabalho em domicílio, executado na habitação do empregado ou oficina de família. Tarcísio Teixeira (2020, p. 66) afirma que a semente do teletrabalho surgiu com a Lei 12.551 (BRASIL, 2011), quando o artigo 6º da CLT foi modificado para equiparar o controle exercido pela tecnologia à supervisão direta do empregador. Essa alteração foi a justificativa utilizada pelo Tribunal Superior do Trabalho (2012) para implementar o teletrabalho no âmbito do tribunal. Muito embora a referida alteração legislativa de 2011 tenha ampliado o espaço para o uso das novas tecnologias nas relações trabalhistas, o tema do teletrabalho, de fato, só passou a ser expressamente regulado a partir da Lei 13.467 (BRASIL, 2017). Percebe-se que a entrada de novas regras com intuito de adequação do ordenamento jurídico à nova realidade digital exige uma diligência do profissional jurídico: o compliance digital. O termo compliance por si só está ligado à ideia de conformidade, num sistema de “procedimentos de controle de riscos e preservação de valores intangíveis”, resultando “na criação de um ambiente de segurança jurídica” (BERTOCELLI, 2020, p. 41). O legislador pátrio optou pelo termo Programa de Integridade quando editou a Lei 12.846 (BRASIL, 2013). A terminologia foi reproduzida no Decreto 8.420 (BRASIL, 2015), que define os parâmetros de avaliação do programa de compliance da empresa para fins de dosimetria da sanção administrativa.103 Assim, compliance unido ao termo digital faz referência direta às
103 “Art. 41. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira”.
regulamentações e risco inerentes ao meio ambiente digital. A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, em acréscimo ao Marco Civil da Internet e todas as outras regulamentações inerentes ao Direito Digital, demonstram que é evidente a necessidade de maior atenção aos riscos inerentes às atividades desenvolvidas no meio virtual.
Especificamente em relação à LGPD, Maria Celina Bodin de Moraes (2019) ressalta que se determinou um dever geral de prevenção de danos, a par do artigo 6º, inciso X, da referida lei. A autora defende a criação de uma nova modalidade de responsabilidade, denominada “proativa”:
O sistema de responsabilização civil da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, previsto nos artigos 42 a 45 da Lei n. 13853/2018, mostrase especialíssimo, configurandose como a principal novidade da lei, e reflete a determinação do disposto no inciso X do art. 6º da Lei, que prevê o princípio da “responsabilização e prestação de contas, isto é, a demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas”. Como se vê, o legislador pretendeu aqui não apenas determinar o ressarcimento dos danos eventualmente causados, mas também e, principalmente, buscou prevenir e evitar a ocorrência desses danos.
A responsabilidade proativa analisada pela autora se alinha à ideia de mitigação de risco, inerente dos programas de compliance. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados também instituiu a figura do Encarregado de Dados que, entre diversas atribuições, deve orientar os funcionários e os contratados da entidade acerca das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Pela leitura detida da lei, não há requisitos para a figura do encarregado, podendo ser indicada qualquer pessoa física ou jurídica. Não há exigência de o encarregado ser funcionário ou integrante do controlador de dados.
Vislumbra-se, portanto, um campo de atuação dos operadores de direito, na medida em que as atribuições do encarregado em muito se assemelham a de setores já existentes como as ouvidorias, jurídicos, controles internos e compliance. Nesse sentido, a doutrina tem indicado a atividade de encarregado como desafiadora, por exigir “tanto conhecimentos da própria legislação como também sobre o atendimento e relacionamento com titulares” (PECK, 2020). Tarcísio Teixeira (2020) considera como a situação ideal aquela em que: [...] o encarregado atue com a maior imparcialidade possível, como um
“oficial de compliance”. Não deve se comportar como mero cumpridor de ordens ou um subordinado do controlador, embora remunerado por este. Mas também não pode afrontar determinações do controlador que estejam amparadas por lei. Por vezes, não se mostra muito nítida a separação do objeto entre Direito Digital e Direito Cibernético, conforme concebida na Resolução CNE/CES nº 2/2021, que alterou as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito.
De fato, os dois ramos possuem uma área cinzenta gigantesca, como o próprio estudo das novas tecnologias da comunicação e da informação, o que colide com outros ramos também do Direito, como o Direito de Internet e o Direito de Informática. Longe de representar um contrassenso, a divisão do Direito, que é meramente didática, sugere uma interdisciplinaridade cada vez maior, e que não se resume ao campo jurídico.
5. DIREITO CIBERNÉTICO
Diferentemente do Direito Digital, o Direito Cibernético é uma disciplina com objeto próprio, desenvolvida a partir da Cibernética.
No fim da década de 1940, quando o computador ainda era incipiente, Norbert Wiener (1993, p. 15-16) batizou de Cibernética o vasto campo que inclui o estudo da linguagem e das mensagens como meios de dirigir as máquinas e a sociedade, campo que abarca igualmente os efeitos do computador sobre a psicologia e o sistema nervoso dos seres vivos.
Em torno desses novos bens criados pela digitalização, se estabeleceram relações exclusivamente no ciberespaço, como o registro do nome de domínio na Internet, o uso de jogos eletrônicos em plataformas digitais e a negociação de criptomoedas, uma economia cuja matéria-prima consiste na informação. O Livro Verde, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (BRASIL, 2000), já alertava em 2000 sobre a necessidade de regulamentação das relações cibernéticas no Brasil. No entanto, o maior esforço legislativo ocorreu na década de 2010, quando surgiram a Lei nº 12.737 (BRASIL, 2012), que criminalizou condutas antes não tipificadas, como a invasão de dispositivo informático e a falsificação de cartão de crédito ou débito, entre as modalidades de falsificação de documento particular do artigo 298, do Código Penal, e o Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014), que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet. Pouco tempo após o Marco Civil da Internet, alcançou-se um patamar mais significativo do uso da Internet no Brasil. O ano de 2017 foi marcado muito simbolicamente pelo fato de que o número de smartphones ultrapassou o de habitantes, tornando-se, aliás, a principal
forma de acesso das pessoas à Internet (MEIRELLES, 2020). No ano seguinte, em 2018, foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei nº 13.709 (BRASIL, 2018), que dispôs sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive no meio digital, o que transcende os direitos anteriormente existentes, na medida em que as pessoas naturais conquistaram, somente para ilustrar, o direito à autodeterminação informativa aos seus dados.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2021), no quarto trimestre de 2019, o percentual de domicílios brasileiros que utilizavam a Internet subiu 3,6% em relação a 2018, totalizando 82,7%, dos quais 98,6% acessavam a Internet pelo telefone celular, porém, entre os 12,6 milhões de domicílios sem acesso à Internet, 75,4% das pessoas alegaram não saber utilizar a Internet ou não possuir interesse. Assim, o Direito Cibernético busca compreender e conferir segurança jurídica às relações entre seres humanos e máquinas, como as possibilidades inimagináveis da Internet das Coisas, criar um ambiente regulatório fértil ao comércio eletrônico, fomentar a eficiência dos Estados pelo Governo Digital,104 garantir direitos de acesso pleno à informação, tratar das normas das comunicações105
104 A Lei do Governo Digital (BRASIL, 2021a), de 29 de março de 2021, dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública.
105 O assédio moral virtual, mais conhecido como e da criptografia,106 resgatar os direitos fundamentais no uso das máquinas, como na hipótese da inteligência artificial, proteger o comércio eletrônico e os bens digitais, tratar dos esportes eletrônicos,107 delimitar a responsabilidade civil dos fornecedores cibernéticos e criminalizar condutas praticadas através das máquinas, que representam lesão ou ameaça mais graves aos direitos.108 Não se deve ignorar o contexto da nova sociedade e da economia baseadas na informação para construir um direito positivo com maior autonomia para a criatividade dos particulares e para promover o desenvolvimento, de acordo com o artigo 1º, inciso IV, segunda parte, da Constituição Federal (BRASIL, 1988),
“cyberbullying”, está fortemente presente nas redes sociais. Em casos extremos de violência, é associado inclusive ao suicídio de crianças e adolescentes. A Lei nº 13.185/2015 (BRASIL, 2015a), a “Lei do Bullying”, instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. A Lei nº 13.277/2016 (BRASIL, 2016), instituiu o dia 07/04 como o “Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola”. A data faz referência ao dia 07/04/2011, em que 12 crianças foram assassinadas a tiros na Escola Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro. A tragédia ficou conhecida como o “massacre de Realengo”, há relatos de que o crime foi motivado pela intimidação sistemática na escola. Posteriormente, em 13/03/2019, em uma escola estadual localizada em Suzano/SP, ex-alunos mataram cinco estudantes e duas funcionárias da escola. O “massacre de Suzano” também foi motivado por bullying.
106 Como as criptomoedas.
107 Há uma verdadeira indústria, bilionária, em torno dos jogos eletrônicos. Entre os usuários dos jogos eletrônicos, há questões acessórias, além do direito ao lazer, como a existência de bens digitais, os próprios jogos, adquiridos em plataformas, e os bens digitais, utilizados dentro dos jogos, que são comercializados.
108 A Lei 13.772/2018 (BRASIL, 2018a) reconhece que a violação da intimidade da mulher consiste em uma das formas de violência doméstica e familiar, bem como tipifica a exposição pública da intimidade sexual.
o que se coaduna com a busca por uma sociedade livre, justa e igualitária, objetivos fundamentais promulgados no próprio texto constitucional.109 Jocelyn Bennaton (1986, p. 85-86) concluiu sua obra O que é a Cibernética afirmando que a grande contribuição da cibernética foi tentar entender os pontos comuns no funcionamento dos sistemas de forma interdisciplinar . 110 Essa aplicação interdisciplinar da cibernética permitiu que na década de 1970 o Direito tenha sido visto como objeto de tratamento cibernético. Igor Tenório (1971, p. 171), por sua vez, entendia que o “Direito, como norma, é um conjunto de princípios coerentes entre si, obedecendo a uma lógica formal e dogmática. Como norma, visa ao controle da Sociedade. Como conjunto de princípios lógicos se sujeita a uma descrição matemática”.
109 No artigo 3º, inciso I, da Constituição Federal: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária”.
110 Uma coisa que não pode ser esquecida é o caráter interdisciplinar da Cibernética. Desde sua origem ela tem se afirmado como ciência eclética, exatamente por crer na existência de unidade na natureza. Sem esta ousadia, que lhe está nas raízes, compromete-se todo seu desenvolvimento. A Cibernética, portanto, não possui um particular tema de interesse. Entre seus objetos de investigação estão arrolados tanto os organismos como as máquinas. Qualquer que seja a natureza e a circunstância destes objetos, cujo estudo cabe a outras especialidades, ela os trata sempre de modo indistinto. É esta sua marca registrada. Uma espécie de queda para valorizar estruturas de comportamento e não a constituição elementar das coisas que nos rodeiam. Ao agir assim, termina por revelar o que tais coisas têm em comum e, sobretudo, como se articulam. Por tudo isto, mais do que um simples ramo da ciência, a Cibernética é antes de mais nada um modo de olhar o mundo, uma linguagem. Em decorrência, também uma possibilidade de síntese. Não se pode ignorar que o próprio Wiener (1993, p. 104-110) abriu um capítulo em sua obra Cibernética e sociedade para discutir a relação entre a lei e a comunicação. O autor inicia fazendo uma comparação entre um contrato e finaliza discutindo sobre a interpretação da lei e a prática do campo jurídico: Formulemos assim a questão: o primeiro dever da lei, quaisquer que sejam o segundo e o terceiro, é o de saber o que deseja. O primeiro dever do legislador ou juiz é o de fazer formulações claras, isentas de ambiguidade, que não apenas os especialistas, mas também o homem comum da época, interpretarão de uma – e de uma só – maneira. A técnica de interpretação de julgamentos passados deve ser de tal espécie que o advogado saiba não apenas o que um tribunal disse, como até mesmo, com grande probabilidade, o que o tribunal irá dizer. Dessarte, os problemas da lei podem ser considerados problemas de comunicação e cibernética – vale dizer, problemas de controle sistemático e reiterável de certas situações críticas. É evidente a influência da Cibernética de Wiener, de 1948, na criação da teoria da Jurimetria no ano de 1949 pelo advogado norte-americano Lee Loevinger, no artigo publicado na revista da State Bar
Association. Loevinger chega a indicar ao seu leitor que consulte a obra de Wiener, em uma nota de rodapé. O advogado defende uma postura científica dos operadores do direito, ou, senão, estariam fadados a serem meros escrivães: “The next step forward in the long path of man’s progress must be from jurisprudence (which is mere speculation about law) to jurimetrics - which is the scientific investigation of legal problems”. A jurimetria criada por Lee Loevinger está extremamente alinhada à ideia da cibernética, na medida em que também tenta compreender o sistema judiciário só que pela via da estatística, na tentativa de obter parâmetros de tomadas de decisão. Atualmente, no Brasil, a jurimetria é objeto de diversos estudos publicados pela Associação Brasileira de Jurimetria, que tem apresentado muitos resultados com o uso da técnica. Nas palavras de Barbosa e Menezes (2016, p. 287) o mérito da jurimetria consiste na mudança de paradigma da ciência jurídica e aprimoramento da pesquisa científica jurídica que tradicionalmente tem sido composta por revisões bibliográficas.111 Os autores entendem que a jurimetria propõe um “método para a compreensão da realidade social” e continuam (BARBOSA e MENEZES, 2016, p. 287): Este tipo de análise constitui um novo
111 Essa mesma crítica à pesquisa jurídica é corroborada por Marcelo Guedes Nunes, presidente da Associação Brasileira de Jurimetria. ramo de conhecimento, a Jurimetria. É a métrica do Judiciário. A Jurimetria enfrenta as demandas judiciais e suas decisões a partir da massa de processos que se oferecem à análise do Poder Judiciário, isto é, em uma perspectiva do caso concreto ao normativo que inverte o movimento de compreensão porque se realiza de baixo para cima e no conjunto que apresenta à análise e não caso a caso, de forma atomizada e isolada, como se dá presentemente. Como se percebe, o Direito Cibernético não é um ramo tão recente do Direito. Sem embargo, é ainda pouco compreendido, carecendo inclusive de maior produção e divulgação da bibliografia. Assevera-se, por fim, que o estudo da Jurimetria indica que a pesquisa sobre o Direito Cibernético não deve privilegiar somente a positivação de direitos. Até porque há uma tendência regulatória menos exaustiva e detalhista – causada primordialmente pela globalização – mas, efetiva, segundo Ricardo Lorenzetti (1996, p. 37), no nível atual de complexidade da atividade econômica.
Desde a década de 1990, assistiuse no Brasil ao surgimento de diversos microssistemas jurídicos, como o microssistema de direitos do idoso, do torcedor, da criança e do adolescente, da juventude e do consumidor, no lugar de
legislações extensas, apesar do movimento de “recodificação”,112 que culminou, para ilustrar, no Código Civil que entrou em vigor em 2003 (BRASIL, 2002).
6. CONCLUSÃO
O ensino do Direito Digital e do Direito Cibernético poderá provocar uma mudança necessária e significativa na formação dos novos advogados, desenvolvendo novas habilidades, e ampliar a pesquisa jurídica dos dois ramos do Direito. É fundamental que, para continuarem produzindo direitos no campo jurídico, os jogadores do campo jurídico devem adquirir habilidades para a utilização da tecnologia desde a Graduação em Direito. Hoje em dia, até mesmo o simples protocolo de uma petição processual demanda do jurista pelo menos um computador, acesso à Internet e certificado digital para apor assinatura eletrônica, além da habilidade de manejar todos esses instrumentos, indissociáveis da vida. Entender também como essas tecnologias afetaram todos os ramos do Direito é parte imprescindível da adaptação dos juristas para produzirem direitos na sociedade da informação e não perderem a relevância.
Não resta mais dúvida de que as relações cibernéticas carecem de proteção jurídica, principalmente ao considerar a relevância dos bens digitais para a geração de riquezas na nova economia. Concomitantemente ao aparecimento dos bens digitais, surgiu a preocupação em produzir direitos para a proteção desses novos bens e dos direitos fundamentais, o que é ameaçado pela ausência de proteção jurídica adequada e pela prática dos vários crimes cibernéticos, alguns já tipificados, pela ameaça ou ofensa à liberdade de expressão, pelo cyberbullying, pelas fraudes bancárias, pela violação da intimidade da mulher, a chamada “vingança pornográfica”, e assim por diante.
112 Não obstante a “descodificação”, ressurgem, não raro, movimentos estranhos a essa tendência, como a promulgação do último Código Civil, a Lei 10.406/2002, um projeto que se arrastou da década de 1970, por trinta anos até a publicação, em 2002, planejado visivelmente para uma sociedade industrial. na classificação de bens do Código Civil não há sequer menção aos bens imateriais, tão presente no comércio eletrônico, há tão somente a imaterialidade no âmbito dos serviços, no artigo 594. Mário Luiz Delgado (2010, p. 222-223) recorda que na última década do século XX, o movimento de codificação retomou o fôlego, sob o signo da “recodificação”, exemplificando o Código Civil holandês, de 1992, o Código Civil de Québec, de 1994 e a reforma do BGB, de 2001.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da sociedade da informação: estudos. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA. Lista de pesquisas publicadas pela ABJ até o momento. Disponível em: <https://abj.org.br/ cases/>. Acesso em 11 jun 2021.
BARBOSA, Cássio Modenesi; MENEZES, Daniel Francisco Nagao. Jurimetria e Gerenciamento Cartorial. Revista de Política Judiciária, Gestão e Administração da Justiça. v. 2, n. 1, p. 280-295, 2016. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/revistapoliticiajudiciaria/ article/view/567/>. Acesso em 11 jun 2021.
BENNATON, Jocelyn. O que é cibernética. 4ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.
BERTOCCELLI, Rodrigo de Pinho. Manual de compliance. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 25 jun 2021.
Decreto 8.420, de 18 de março de 2015. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Brasília, 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2015-2018/2015/decreto/d8420.htm>. Acesso em 25 jun 2021.
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília: 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/ l10406compilada.htm>. Acesso em 26 jun 2021.
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências. Brasília, 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2006/lei/l11419.htm>. Acesso em 13 maio 2021.
Lei 12.551, de 15 de dezembro de 2011. Altera o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos. Brasília, 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/lei/l12551.htm>. Acesso em 26 jun 2021.
Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. Brasília, 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737. htm>. Acesso em 13 maio 2021.
Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013.Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Brasília, 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em 26 jun 2021.
Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília, 2014. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em 13 maio 2021.
Lei 13.105 de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília: 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/ lei/l13105.htm>. Acesso em 13 maio 2021. Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015. Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). Brasília: 2015a. Disponível em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm>. Acesso em 13 maio 2021.
Lei 13.277, de 29 de abril de 2016. Institui o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Brasília: 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13277. htm>. Acesso em 13 maio 2021.
Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24
de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília, 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2017/Lei/L13467.htm#art1>. Acesso em 13 maio 2021.
Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD). Brasília, 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em 13 maio 2021.
Lei 13.772, de 19 de dezembro de 2018. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar e para criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. Brasília: 2018a. Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13772.htm#art2>. Acesso em 13 maio 2021.
Lei 14.129 de 29 de março de 2021. Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública e altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Brasília: 2021a. Disponível em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm>. Acesso em 13 maio 2021.
Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Institui a InfraEstrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências. Brasília, 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/ antigas_2001/2200-2.htm>. Acesso em 13 maio 2021.
Ministério da Ciência e Tecnologia. Sociedade da informação no Brasil: livro verde. Brasília, 2000. Disponível em: <http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/434/1/ Livro%20Verde.pdf>. Acesso em 11 maio 2021.
Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de abril de 2021: altera o art. 5º da Resolução CNE/CES nº 5/2018, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito. Brasília, 19 abr. 2021. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=downloa d&alias=181301-rces002-21&category_slug=abril-2021-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 13 maio 2021.
CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro. Brasília: CNJ, 2019. Disponível em: <https://www.cnj.jus. br/wp-content/uploads/2020/05/Inteligencia_artificial_no_poder_judiciario_ brasileiro_2019-11-22.pdf>. Acesso em 20 maio 2021.
Justiça em números 2020: ano-base 2019. Brasília: CNJ, 2020a. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020. pdf>. Acesso em 20 maio 2021.
Resolução 332, de 21 de agosto de 2020. Dispõe sobre a ética, a transparência e a governança na produção e no uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário e dá outras providências. Brasília: CNJ, 2020b. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original191707202008255f4563b35f8e8.pdf/>. Acesso em 20 maio 2021.
Resolução 271, de 4 de dezembro de 2020. Regulamenta o uso de Inteligência Artificial no âmbito do Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2020c. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3613>. Acesso em 20 maio 2021.
CREFRJ. CREF1 denuncia 22 influenciadores digitais por exercício ilegal da profissão. Disponível em: <https://cref1.org.br/fiscalizacao/cref1-denuncia22-influenciadores-digitais-por-exercicio-ilegal-da-profissao/>. Acesso em 20 maio 2021.
DELGADO, Mário Luiz. Codificação, descodificação e recodificação do direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010.
DEZALAY, Yves; TRUBEK, David M. A reestruturação global e o direito: a internacionalização dos campos jurídicos e a criação de espaços transnacionais. In: FARIA, José Eduardo. Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 29-80.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios constitucionais do direito da sociedade da informação: a tutela jurídica do meio ambiente digital. São Paulo: Saraiva, 2014.
IBGE. PNAD contínua: acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2019. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101794_informativo. pdf>. Acesso em 11 maio 2021.
KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo contemporâneo. 2ª ed. ampl. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
LOEVINGER, Lee. Jurimetrics – The Next Step Forward (1949). Minnesota Law Review. 1796. Disponível em: <https://scholarship.law.umn.edu/mlr/1796>. Acesso em 11 jun 2021.
LORENZETTI, Ricardo Luis. Contratos modernos: ¿conceptos modernos? Nuevos aspectos de la teoría del tipo contractual mínimo – problemas contractuales típicos – finalidad supracontractual y conexidad. Revista Asociación de Escribanos del Uruguay, Montevidéu, v.82, n. 1-12, p. 33-48, 1996.
MARTINEZ, Regina Célia; QUEIROZ, Maurício Veloso. Extinção do dinheiro físico no Brasil: sociedade da informação e desenvolvimento do dinheiro eletrônico. In: XXIV Congresso Nacional do CONPEDI, 2015, Belo Horizonte. Direito e política: da vulnerabilidade à sustentabilidade. Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 427-442.
MEIRELLES, Fernando Souza. Pesquisa anual do uso de TI. 31ª ed. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2020. Disponível em: <https://eaesp.fgv.br/sites/ eaesp.fgv.br/files/u68/fgvcia2020pesti-resultados_0.pdf>. Acesso em 13 maio 2021.
MORAES, Maria Celina Bodin de. LGPD: um novo regime de responsabilização civil dito – proativo. Revista Civilistica, ano 8, n. 3, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://civilistica.com/lgpd-um-novo-regime-deresponsabilizacao-civil-dito-proativo/>. Acesso em 12 de abr de 2021.
NUNES, Marcelo Guedes. Palestra “Jurismetria” proferida na Semana Jurídica promovida pelo DCE FACAMP, 2021. Disponível em: <https://www.youtube. com/watch?v=3TGTDoY94AM>. Acesso em 11 jun 2021.
PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital. 6ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016.
QUEIROZ, Maurício Veloso. MP trabalhista: possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário durante a calamidade pública causada pela Covid-19. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Brasília, DF, v. 24, n. 1, p. 231-237, 2020.
TEIXEIRA, Tarcisio. Direito digital e processo eletrônico. São Paulo: Saraiva, 2020.
TENÓRIO, Igor. Direito Para o Nosso Tempo. Revista do Serviço Público, [S. l.], v. 106, n. 1, p. 169-177, 2017. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/ index.php/RSP/article/view/2547>. Acesso em 9 jun. 2021.
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. TST regulamenta teletrabalho para seus servidores. Brasília, 2012. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/ noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/tst-regulamenta-teletrabalhopara-seus-servidores>. Acesso em 26 jun 2021.
TUCHLINSKI, Camila. Gugu Liberato ganha mais de um milhão de seguidores no Instagram. Estadão de São Paulo. São Paulo, 2019. Disponível em: <https:// emais.estadao.com.br/noticias/gente,gugu-liberato-ganha-mais-de-ummilhao-de-seguidores-no-instagram,70003107273>. Acesso em 09 jun 2021.
WORLD ECONOMIC FORUM. The future of jobs. Disponível em: <http:// www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf>. Acesso em 26 jun 2021.
WIENER, Norbert. Cibernética e sociedade: o uso humano de seres humanos. 9ª ed. São Paulo: Cultrix, 1993.
Acesse:
https://issuu.com/ esa_oabsp www.esaoabsp.edu.br