
421 minute read
Património Mundial da Humanidade, e depois?
Património Mundial da Humanidade, e depois?7
José Fernando Alves Pinto
Advertisement
O Centro Histórico de Guimarães foi inscrito como Património Mundial da Humanidade em 13 de Dezembro de 2001. Tratou-se de uma distinção importantíssima para a divulgação da cidade e do concelho a nível nacional e internacional, com reflexo visível no incremento da nossa atividade turística. Foi também o reconhecimento de um trabalho plural, iniciado em 1985 e que permitiu requalificar todo o edificado do miolo da cidade, mantendo os residentes nas suas habitações. Lembro-me da festa de arromba, com foguetório e tudo, que teve lugar no Largo da Oliveira e zonas circundantes e que celebrou o acontecimento. Festa justificada que uniu todos os vimaranenses e que reconheceu o desempenho da Autarquia ao longo de uma boa quinzena de anos. Acontece, porém, que, a 16 de Dezembro desse mesmo ano de 2001, se realizaram as eleições autárquicas. Eu próprio fui candidato contra o poder da altura, liderado pelo António Magalhães. O resultado é conhecido: o PS teve 49,99% dos votos (41980), seis vereadores, contra os 29,28% do PSD (24583), quatro vereadores e os 12,24% da CDU (10281), um vereador. O CDS, que concorreu isolado, obteve 4,42% (3714), zero vereadores. Curiosidade: se o CDS tivesse concorrido coligado com o PSD, a soma da votação conjunta determinava a perda da maioria absoluta do PS, independentemente do efeito multiplicador que poderia advir da junção dos dois partidos! Dados são dados. Neste caso, datados. Na altura, Cartoon de Salgado Almeida, 2001 por isso a referência aos resultados eleitorais de 2001,
7 Este texto resulta de uma mente livre e independente. Não pretende ferir suscetibilidades nem servir qualquer intenção político-partidária. Assim o entendam, agradeço-o.
a coincidência da sobreposição da data da atribuição da distinção à nossa cidade com a data do ato eleitoral, deixou-me surpreendido, com uma pulga atrás da orelha. Em que medida a atribuição do galardão não influiu no desfecho das eleições? Quem sabe? Tudo acabou em bem. Nada havia a contestar. Desejar apenas que haja um bocadinho mais de atenção na marcação de eventos de forma a evitar dúvidas e suspeições, provavelmente infundadas, sobre a sua real, leal e correta oportunidade. Ostentar o qualificativo de Património Mundial da Humanidade marcou de forma positiva a nossa cidade. Basta ver o turbilhão de turistas que nos visitam e que enchem e envolvem de cor, juventude e alegria as ruas do nosso Centro Histórico, sobretudo do Castelo até ao Campo da Feira. Guimarães está diferente, mais cosmopolita, mais atraente, mais viva, mais jovem e muito mais movimentada (sobretudo a cidade). Mas Guimarães não pode adormecer à sombra do Centro Histórico. É verdade que muitas obras foram projetadas e concretizadas nos últimos anos. O mérito a quem o merece. Mas todos nós continuamos a viver o terrível inferno das centenárias acessibilidades das nossas freguesias e vilas à cidade, todos nós continuamos a sentir as limitações do nosso Hospital (pequeno para a população que serve) e a falta de articulação dos seus serviços com respostas de retaguarda que poderiam ser desenvolvidas por Centros de Saúde mais qualificados, todos nós nos confrontamos com o definhamento da capacidade do exercício de cidadania independente (os diversos poderes, disseminados por todo o concelho, crescem, absorvem e controlam quase tudo!...), todos nós verificamos o marasmo em que vive a nossa economia (pouco inovadora, escassamente criativa, avessa ao risco), todos nós sentimos que nos tolhem a ambição e o direito de querermos ser primos inter pares na nossa terra, todos nós entristecemos ao verificarmos que as «marquesas» e os «duques» de bom porte e de bem longe, que aparecem com uma mala repleta de ideias vazias mas bem embaladas, acreditados por famílias «credíveis», são logo entronizados pelos poderes, apresentados como vedetas às massas silenciadas e apoiados generosamente nas suas propostas já gastas ou então regadas de perfume que «veste PRADA». As gentes da nossa Terra têm capacidade e potencial para agarrar no Centro Histórico e transformá-lo não só no motor de desenvolvimento do turismo, mas também no miolo que permita fermentar um crescimento qualitativo a nível urbanístico e económico que gere a riqueza e a distribuição justa a que todos aspiram.
Vamos todos ao trabalho. Mãos à obra.
A Primeira Pedra do Milénio
José Maria de Eça de Queiroz Couceiro da Costa
Evocar o vigésimo aniversário da classificação de Guimarães, como Património Mundial da Humanidade, é sempre uma ótima ocasião para se refletir sobre os desafios que pendem sobre o Património. É assim com o Centro Histórico, e com as suas zonas adjacentes, e é também assim com o restante Património classificado que se encontra disperso um pouco por todo o concelho de Guimarães. O desafio de encontrar novos usos, o consociar essa nova utilização a lógicas de antanho e a posterior intervenção no Património, assegurando, simultaneamente, quer a sua perenidade quer a sua autenticidade não é tarefa que se possa considerar como fácil. Contudo, é certamente um imperativo ao qual a Sociedade não pode deixar de responder para que as pedras continuem vivas e a contarem-nos as grandes e as pequenas histórias. Caberá, neste testemunho, estabelecer um paralelismo entre a preservação do Património da cidade com a preservação do Património e memória daquela que é a minha Casa. Naturalmente, a vida tem por tendência lançar sinais e inusitados piscar de olhos. Ora, no presente ano, em que festejamos 20 anos da efeméride da elevação de Guimarães a Património Mundial da Humanidade, festejamos também os mil anos do primeiro documento da Freguesia de Mesão Frio e também da minha casa: a Quinta de Margaride8, ela própria

8 “Qui in libris evolvendis omne consumit tempus poteritne hoc die faustíssimo, quem omnes amici tui semper honoratum habebunt, tibi litterarum et ipsi studiosissimo aliquid tibi gratius donare quam literas?” Assim escreveu José Leite de Vasconcelos num “Comentariozinho” publicado em 1893 que ofereceu ao seu parente o 1o conde de Margaride no justo dia do seu aniversário natalício – “De Margariti” Villa in territorio Vimaranensi jam in quibusdam Medii Aevi chartis memorata commentariolum – edidit J. Leite Vasconcellos – Olisipone MDCCCXCIII – ed. 20 ex”.
também inscrita na listagem de Património Nacional, como Monumento de Interesse Público 9, curiosamente igualmente classificada a 13 de Dezembro, onze anos volvidos da classificação de Guimarães.
Para mim refletir sobre a preservação do nosso Património não se trata de um hipotético exercício indutivo, mas antes o recolhimento dos pedaços dispersos de história que encontro marcados em pedra viva nas fortes e duradouras fundações de Margaride. Assim, caberá desde logo perguntar a vexata quaestio: como é que algo sobrevive? A resposta é obtida através da inversão do ónus da perspetiva. Isto é, uma casa, um legado, um património ou até uma cidade que apenas se limita a sobreviver pelo tempo está, incondicionalmente, votada ao seu fracasso e, subsequentemente, ao perecimento (ou pior, esquecimento). Assim, através de Margaride consegui compreender a durabilidade das coisas através da sua própria longevidade. Margaride não se limitou a sobreviver, não se limitou a escapar da morte, mas antes viveu e os seus proprietários deram-lhe a vida –e cada um deles à sua própria maneira. Os tempos e as gerações tendem a corroer o passado porque o tentam legar a uma memória e não, como deviam compreender o próprio tempo. Vejamos pelo exemplo. Margaride foi várias Villa Margaridi coisas e teve várias utilidades ao longo do último milénio. Isto é, apesar da pedra se manter a mesma, a funcionalidade delas apresentou-nos uma geometria variável, caminhando a par e passo com o tempo e as necessidades de quem delas se servia.

Portanto, desde logo precisamos de compreender quem se serve da coisa (propriedade) e para que
“Adulescenti egregiae spei mecum amicitia et propinquitate conjunctissimo: ad diei memoriam quo juris studia Universitate Conimbrigensi feliciter absolvit” – “Chartem Alteram de Villa quae “Margaridi” appellatur – edidit J. Leite de Vasconcellos –Olisipone, Ex oficina Libanii da Silva, MDCCCXCIV – ed. 30 ex.” Nestes dois opúsculos, Leite de Vasconcelos publica as duas cartas medievais relativas a Margaride, também publicadas no “ Portugaliae Monumenta Historica “, designadamente a de 14.06.1021 e a de 09.02.1044.
9 Portaria nº 740-FI/2012, de 13.12.2012 – Publicada em Diário da República n.º 252/2012, 2º Suplemento, Série II de 201212-31
necessidades a vocaciona. As coisas materiais, para lá de terem a capacidade de se tornarem memórias/legados/momentos imateriais, nunca se libertam da sua materialidade e da sua estrita obediência às vontades dos seus donos – este é um princípio fundamental: o da propriedade e o da sua disponibilidade. Logo, como a própria história nos relata, Margaride conseguiu ser várias coisas. Mais quinta, menos quinta; mais casa, menos casa; mais abrigo, menos abrigo; mais rendimento, menos rendimento, mas sempre Casa. Assim, antes do país e do seu desenvolvimento, Margaride servia essencialmente como propriedade agrícola na sua plenitude. Servia as necessidades dos seus senhores, bem como servia as necessidades de quem lá laborava. As colheitas e os produtos mudavam de acordo com as necessidades dessa relação sinergética entre a propriedade e a própria sociedade. Contudo, o âmago da essencialidade de Margaride era mantido e atualizado conforme as necessidades dos tempos. Ainda mais, com o avançar da sociedade pós-industrial, com a mudança da estratificação social nacional e com o desenvolvimento de outras formas de rendimento, não descurando a sua vocação original, Margaride quis-se fazer mais casa e mais abrigo. Aí, mantendo os traços do seu carácter que primordialmente lhe deram vida, fez nascer de novas pedras um novo abrigo e uma nova torre – que se tornou adjacente ao já secular edificado principal. E, uma vez mais, como podemos observar, a par e passo das mutações sociais, culturais e económicas, Margaride renovou-se e brotou em si mesma uma nova conceção da sua própria utilidade. Por esta altura, Guimarães era mais Guimarães e Portugal era mais Portugal – pelo menos como os conhecemos. Também, Margaride era mais Margaride – pelo menos como a conheço: uma Casa. E os tempos foram passando e as realidades foram mutando. Ora, Margaride não será propriamente um caso único, mas é aquele que me é mais próximo e será, provavelmente, um dos exemplos mais apropriados para esta reflexão.
Entrada da Villa Margaridi

A mudança suave e constante no tempo, a derivação concertada entre todos os agentes que a compõem e a durabilidade da sua necessidade fizeram Margaride viver. Os renascimentos ou redesenhamentos não foram forçados, mas antes fluídos. Não tratamos Margaride como um produto histórico, mas antes como história e, sobretudo, como presente, mas, essencialmente, olhando para o futuro. Essa sua fluidez conferiu-
lhe a tão necessária solidez para abarcar tantas mudanças de tempo.
Os castelos são certamente produtos históricos: uma necessidade medida no tempo e uma construção desenhada para responder a esse mesmo tempo. Por sua vez, também se pode dar o inverso, mas perdendo a fluidez da mudança. Isto é, a propósito da II Guerra Mundial diversos museus, palácios, estações de metros ou até casas foram convolados em abrigos, hospitais, posições estratégicas de ataque ou defesa. Assim, a mudança que foi impressa nesses edificados tem como raiz uma alteração profundamente anormal das circunstâncias (ou das necessidades) a que esses mesmos foram levantados. Contudo, e porque essas alterações estão sempre associadas à temporalidade do momento, não persistem no tempo e vigoram, naquilo a que sobram, a meras residualidades do passado – a produtos históricos, a produtos de um tempo e de uma necessidade.
Como a reflexão que se impõe nestas linhas é sobre a preservação do Património, sendo que a tónica é colocada no Património Mundial da Humanidade da nossa cidade, é importante sobretudo dissecar e assimilar o exemplo próximo da cidade que Margaride lhe provê – também ela, como referido, igualmente classificada. Partimos da primeira premissa: a necessidade de viver e não de sobreviver. O Centro Histórico não se pode acantonar na sua beleza, no produto da memória viva que é ou até dos bem-intencionados atores que diariamente lhe vão dando traços de vida. Assim, é absolutamente essencial compreender as necessidades que a sociedade que o rodeia enfrenta, responder em que medida esses espaços lhe podem responder e de que maneira o seu caráter e traço icónico podem ser mantidos. O equilíbrio entre essas variáveis é o quid de toda esta questão e quem de facto o consegue manter é provavelmente bafejado com o toque de Midas. Ainda assim, tal como numa equação exponencial, podemos tender para zero sem nunca lá chegar, aqui podemos almejar o equilíbrio de modo a garantir a preservação do Património – com vida – até ao próximo alinhamento de necessidades, utilidades e conservação de uma memória coletiva. Desde logo, o problema dos centros urbanos em manter as suas identidades é um pouco transversal por todas as cidades que se podem reclamar como tendo algum conteúdo/interesse histórico. Assim, esse interesse histórico poderá muito bem – principalmente numa sociedade cada vez mais antropocénica como a nossa – se configurar como uma possível e hipotética vantagem comparativa.
É importante centrar as necessidades atuais. Assim, categorizar as necessidades não é propriamente um exercício fácil e, mais ainda, é um exercício muito dado a erros de raciocínio. Logo, podemos dizer que os grandes problemas que as cidades históricas enfrentam, fruto também do explosivo desenvolvimento dos últimos cem anos, é a pressão urbana. Portanto, a pressão urbana faz ressaltar uns quantos sintomas aos olhos de quem lá vive. A exclusão social, a dificuldade habitacional, a segurança, as possibilidades de oportunidades disponíveis e a qualidade de vida. Logo, como poderá um Centro Histórico ser a chave para a solução deste problema? Desde logo, temos de enquadrar a problemática numa visão mais macro e analisar aquilo que é a realidade económica nacional – uma vez que é a divisa que orienta e ordena as prioridades do país (e países e mundo no geral). À escala portuguesa compreendemos que fomos perdendo parte das nossas vantagens comparativas. Mais ainda, à escala da região do vale do Ave compreendemos que poderemos ter, quase que definitivamente, perdido a vantagem comparativa (nomeadamente da indústria têxtil) para outros polos económicos frutos da economia globalizada. Ainda assim, se a economia globalizada nos obriPormenor de uma das portas de acesso gou a retrair na maneira como encarávamos o nosso aparelho produtivo, é certo que também trouxe inúmeras oportunidades de desenvolvimento da nossa sociedade. Vejo o caso do Turismo como absolutamente paradigmático nesse caso. Atualmente este setor representa a nossa maior vantagem comparativa. Isto é, quase um quinto das nossas exportações estão relacionadas com esse setor da economia nacional. Para lá do bom tempo, para lá de Portugal se configurar como um país simpático e para lá das novas rotas aéreas que muito contribuíram para a explosão no setor, Portugal arrebata a concorrência em três eixos: preços, segurança e cultura. Os nossos preços são mais baixos do que os nossos competidores diretos, somos um país com elevadíssimos graus de segurança e temos história e cultura milenares que são um atrativo fundamental para quem nos escolhe.

Poderá Guimarães ter parte deste quinhão ou, melhor ainda, poderá Guimarães contribuir para aumentar ainda mais este quinhão? Creio que a resposta indubitável é positiva, isto porque uma das características mais importantes deste tipo de consumidor e setor é que eles não se excluem mutuamente – nem mesmo num país com pouco mais de seiscentos quilómetros de comprimento. Mais ainda, como podemos compreender, Guimarães encaixa perfeitamente no eixo preço, segurança e cultura. Porém, o eixo poderá ser desmontável e o trabalho necessário para a sua manutenção requer um considerável grau de esforço. Nessa medida, entendo que a preservação do Património, especialmente do Centro de Histórico, deverá Jardins da Villa passar por abraçar esta nova dinâmica. As pedras, apenas por serem pedras, não são valiosas. O seu uso, contudo, traz consigo valor acrescentado e a utilidade que lhes damos é aquela que as irá definir. Assim, o Centro com a sua identidade poderá ser preservado se abraçar esta nova forma de vida que diante dele se apresenta. Caso contrário, estará legado à mera sobrevivência, sugando dinheiros públicos para a sua manutenção, não trazendo utilidade acrescida para a vida daquilo que o rodeia. E o Centro Histórico de Guimarães é, pois, um cartaz de si próprio e uma vantagem comparativa que de nada mais necessita do que liberdade para a fluidez da sua nova função. Um espaço que, apesar de cada vez menos habitacional (na justa proporcionalidade do crescimento da cidade como um todo), se torna um foco de comércio, de cultura, de oportunidades e sobretudo de qualidade de vida. Por cada dormida, por cada consumo feito naqueles locais, é uma nova oportunidade para a cidade que certamente acabará por contribuir para o melhoramento porque este crescimento – derivado e alavancado no setor turístico – tem benefícios para toda a estrutura social vimaranense. Seja no emprego, seja na atração de jovens, seja na coleta de taxas, seja na vivacidade e dinâmica que se pode imprimir na cidade. Mais uma vez recordo e estabeleço o paralelismo com Margaride. A casa e as suas fundações estão estáveis por mais de mil anos. Os terrenos e aquela terra continuam a dar fruto por mais de mil anos. As

colheitas, as funções, as utilidades, mais pedra ou menos pedra, mais campo ou menos campo, evoluíram, de modo fluído, numa dinâmica que permitiu à minha Casa, que nem sempre foi minha ou da minha família alargada, viver. Margaride, nos nossos dias, mantendo a sua identidade e sem nunca renegar a sua história, transformou-se e preparou-se para uma nova etapa: Tomou os seus jardins seculares, notável exemplo da arte da topiária e recentemente classificados como Jardins de Interesse Público10, para seu cartão de visita entrando assim no novo milénio assegurando políticas de sustentabilidade do seu Património Verde (que também é da cidade), preparando-se assim para os desafios da nova configuração da economia global. É com o turismo e arte de bem receber – tão visceral a um vimaranense – que o futuro se desenha no horizonte desta milenar “Villa Margaridi” à meia encosta plantada. E o Centro Histórico, mantendo a sua identidade, não deixando apagar o seu traço inconfundível, outrora sítio de comércio local, ponto de encontro dos vilões, porta de entrada da cidade, poderá florescer nas luzes destes novos tempos. Com bares a atrair multidões, com hotéis para hospedar os viajantes, com residentes a estabelecer contactos com turistas, com fluxo de rendimentos cada vez mais constantes e a pedra, que era só pedra da memória da glória da cidade, poderá ser fundação para os novos tempos que dela se avizinham: como um verdadeiro polo de atração cultural e turística. É nesta medida que, Margaride e Guimarães, poderão enfrentar estes novos desafios em sintonia na defesa e promoção do património classificado e transformando as suas ancestrais fundações nas estruturas sociais, culturais e económicas necessárias para as futuras glórias que lhe estão designadas. Isto é, não se limitaram a sobreviver, mas antes ousaram continuar a viver.
10 Portaria em fase de publicação - Instituto de Conservação da Natureza e Florestas -
Guimarães: a Cidade Renascida “Por quem os sinos dobram”
José Pinheiro
“Com tal arte foi construída Andria, que todas as suas ruas correm segundo a órbita e os edifícios e os lugares da vida em comum repetem a ordem das constelações e a posição dos astros mais luminosos: Antares. (…) O calendário da cidade está regulado de maneira que as obras e as lojas e as cerimónias estão dispostos num mapa que corresponde ao firmamento nessa data: assim reflectem-se os dias na terra e as noites no céu.” Italo Calvino – in “As Cidades Invisíveis”.
Uso o título da obra de Hemingway para descrever o alvoroço vespertino com que, a 13 de dezembro de 2001, as igrejas e os seus carrilhões anunciaram à cidade e aos vimaranenses o reconhecimento e elevação do Centro Histórico da Cidade de Guimarães a Património Mundial da Humanidade, fazendo, a partir de então, parte da lista das Cidades com Centro Histórico de todo Mundo classificadas pela UNESCO, acontecimento que marcou indelevelmente todos os vimaranenses enchendo-nos de orgulho. A classificação do Centro Histórico de Guimarães como Património da Humanidade foi recebida pelos vimaranenses com grande emoção e alegria e um forte sentimento de pertença e de identificação com a cidade. Foi, também, o reconhecimento de um prolongado processo de requalificação e de reabilitação urbana, que teve como objetivo a recuperação e a preservação de um património construído de excelente qualidade formal e estética, bem como a melhoria das condições de vida da sua população local, e a persistente atitude, sensibilidade e empenhamento da Câmara Municipal de Guimarães e da sua excelente equipa de arquitetos e outros técnicos (Gabinete Técnico Local), com base no Plano Geral de Urbanização de Guimarães do Arquiteto Fernando Távora, acrescentando valor crítico, científico e estético, conhecimento inestimável para a apreciação do júri internacional da UNESCO, cumprindo-se, assim, o desiderato coletivo das gentes de Guimarães, projeto em que todos acreditavam. O Plano Geral de Urbanização de Guimarães de Fernando Távora revelou o diamante puro escondido na cidade intramuros, que se propôs lapidar com todas as cautelas, com conhecimento e com a consciência do seu valor patrimonial intrínseco. Como refere o arquiteto Bernardo Ferrão “As propostas efectuadas por
F. Távora no Plano Geral de Urbanização de Guimarães, que a Carta Europeia do Património Arquitectónico confirmará, muito contribuíram para a consideração de que a totalidade daquela área urbana fosse entendida como um «valor cultural», o que pressupunha a sua preservação e recuperação de modo crítico, mas de forma global” (Ferrão, 1998: 32). A identidade da população, com a sua história e memória, assenta nos símbolos maiores da fundação e da cidade: o rei fundador, Afonso Henriques, e a Colina Sagrada, Castelo (séc. X), Igreja de S. Miguel do Castelo (séc. XIII) e Paço dos Duques de Bragança (séc. XV), a Praça da Oliveira, a Igreja da Sr.ª da Oliveira (séc. XIV), o Padrão do Salado (séc. XlV), o antigo edifício dos Paços do Concelho (séc. XIV), hoje Museu de Arte Primitiva Moderna que liga a Praça da Oliveira à Praça de Santiago, o Convento de Santa Clara (séc. VI, hoje edifício da Câmara Municipal), o Museu Alberto Sampaio (fundado em 1928), o Museu Arqueológico (fundado em 1885) da Sociedade Martins Sarmento (1881), um dos mais antigos museus arqueológicos portugueses, e outras instituições emblemáticas, e a autenticidade da nossa gente, o seu laborioso trabalho artístico, artesanal e industrial, a cultura e as suas dinâmicas associativas nas múltiplas expressões de cultura, recreativas, artísticas e desportivas, espalhadas pela cidade e pelo concelho, deram consistência e espessura ao sucesso que se veio a confirmar ao longo do tempo. O município soube conjugar todos estes valores patrimoniais e articular saberes técnicos e científicos em torno de figuras tutelares - Arquitetos Fernando Távora e Nuno Portas - dando corpo à candidatura do centro histórico de Guimarães a Património Mundial da Humanidade. No dia seguinte da atribuição, pela UNESCO, da classificação de Património da Humanidade, a cidade e o centro histórico renascem para uma nova era – o renascimento de uma nova cidade. A vida dos vimaranenses é marcada pelo passado e pelo presente, um antes e um depois. Entendendo o património como abrangendo tanto os bens materiais como os bens imateriais considerados definidores da história, da memória e da identidade de uma comunidade sociocultural e integrante da cultura, pode-se compreender a importância que a classificação, a proteção e a conservação dos bens culturais têm assumido na vida social contemporânea dos vimaranenses. A carga histórica do lugar, reforçada por uma classificação de grande prestígio foi usada, antes de todos, pelo poder municipal como instrumento eficaz de desenvolvimento local. Várias publicações foram, entretanto, editadas, apostando sobretudo no registo fotográfico que tirou partido não só da beleza arquitetónica mas também das figuras populares que conferem a este centro histórico uma identidade própria, contribuindo para gerar uma imagem distintiva, elemento fundamental para o desenvolvimento do turismo urbano em Guimarães, aspeto que esteve, desde então, sempre presente em todos os discursos quer oficiais, quer
da parte de moradores, comerciantes ou quaisquer outros vimaranenses. As reações e os depoimentos de residentes e comerciantes aquando do reconhecimento, pela UNESCO, do centro histórico de Guimarães, veiculadas quer pelos vimaranenses, quer pela comunicação social, pelos jornais, pela rádio, pela televisão, revelaram a genuína estima que as pessoas sentem pelo lugar onde moram ou trabalham. Após décadas de exaltação de Guimarães como “berço da nação” e da carga simbólica que esse facto teve em termos identitários para a maioria dos vimaranenses (e de um modo geral para a maioria dos portugueses), o centro histórico era uma área antes muito degradada e desprestigiada, que surge em 2001 valorizada aos olhos de todos e por isso aos dos próprios residentes. O encontro entre a cidade verdadeira e a cidade imaginada dá-se, nesse momento, dando a ver a sua verdadeira alma.
O “Berço da Nação” é, na nossa memória histórica coletiva, um fator identitário que José Mattoso (2003:10), muito subtilmente, legitima em texto incluído na Candidatura de Guimarães a Património Mundial. Diz o historiador a favor da sua classificação: “De facto uma nação não tem registo de nascimento: vaise formando de forma tão lenta e progressiva, passa por tantas metamorfoses, que não é possível dizer exactamente quando nasce. Seja como for, as origens de Portugal estão indissoluvelmente unidas à vila, depois cidade, que foi honor dos condes de Portucale, do conde D. Henrique e dos seus descendentes, os reis de Portugal. Se a Nação pudesse ter algum local de nascimento seria certamente em Guimarães”. A zona classificada pela UNESCO de Património da Humanidade compreende o tecido urbano medieval intramuros, de grande diversidade de tipologias mas de grande homogeneidade física, onde sobressaem alguns edifícios de exceção, muitos dos quais são hoje monumentos nacionais (Igreja Nossa Senhora da Oliveira, Padrão do Salado, antigos Paços do Concelho, Torre da Alfândega e Pano da Muralha) ou imóveis de interesse público (Casa da Rua Nova, Igreja da Misericórdia, Casa das Rótulas e Casa dos Lobos Machado ou a Casa dos Laranjais). Para além destes imóveis classificados, muitos outros de grande valor patrimonial se encontram na área intramuros. De facto, o centro histórico de Guimarães concentra uma significativa quantidade destes elementos sobreviventes, dado o seu caráter singular, isto é, edifícios em que a melhor qualidade dos materiais utilizados lhes permitiu resistir a todo o tipo de agressões. No entanto, com o tempo, introduziram-se modificações de acordo com interpretações e utilizações mais racionais, melhorando o que estava velho e introduzindo novidades (materiais, cores, formas). Durante anos vai assistir-se ao reaparecimento de uma cidade que, de certo modo, vivia escondida. A abertura de novos cafés e bares, sobretudo no Largo da Oliveira e na Praça de Santiago, todos com
esplanadas, permitiu o aparecimento de novas zonas de lazer numa altura em que as áreas mais tradicionais do Centro Histórico estavam quase completamente perdidas para a vida social em Guimarães. Na área intramuros, surgem novos polos de atração da atividade urbana e da vida cívica onde antes havia parques de estacionamento ou trânsito automóvel. As novas esplanadas, amplas, soalheiras e longe do trânsito das ruas extras-muros atraíram de imediato pessoas de todas as zonas da cidade e do concelho, passando a ser uma imagem ou ex-libris da vida urbana vimaranense e local de intensa sociabilidade. Muitos recursos foram, entretanto, mobilizados. Espaços públicos e edifícios municipais foram reabilitados e a iniciativa privada recebeu apoio técnico e financeiro. O comércio, requalificado, passa a ser também mais atrativo e assiste-se à procura de muitos dos espaços recuperados para a atividade terciária. Visava-se a recuperação e preservação do património construído, de grande qualidade formal e funcional, cuja autenticidade era necessário manter no seu todo pelo que a reabilitação passava pela utilização dos materiais e técnicas construtivas tradicionais. Um outro objetivo era a manutenção da população residente, criando melhores condições de habitação (Gesta, 1998:67). Todo este esforço foi reconhecido: pelos prémios que o projeto, entretanto, recebeu e pela satisfação de quem visita e de quem mora na zona intramuros. É justo reconhecer o papel importantíssimo e relevante da associação Muralha (1981), pelo seu contributo na divulgação e sensibilização do património histórico, arquitetónico e artístico de Guimarães, promovendo palestras, conferências e visitas guiadas, algumas das quais com Fernando Távora, emergindo a tomada de consciência para a necessidade de defender o património local, valorizado progressivamente aos olhos de um número significativo da população vimaranense. Os seus estatutos definiam como objetivo contribuir para a defesa, estudo e divulgação do Património Cultural e Natural, sua conservação e recuperação. Tinha, ainda, por objetivo alertar para situações de património destruído ou em risco, assumindo uma responsabilidade didática perante o que foi legalmente instituído pela Lei do Património: “É direito e dever de todos os cidadãos preservar, defender e valorizar o Património cultural” (Historial da Muralha). O legado histórico, arquitetónico, artístico e cultural do nosso passado, como nação e povo, já existia, o que faltava era o esforço e investimento para a reabilitação do centro histórico que, todos sabemos, foi muito elevado e que exigiu de todos os vimaranenses um compromisso com a cidade. Uma questão pertinente se impõe colocar: que vantagens tem para uma cidade o reconhecimento e atribuição do selo de Património Mundial da Humanidade pela UNESCO? O benefício mais imediato é, sem dúvida, económico: “O que move os municípios, não é o carácter único desses aglomerados urbanos e a vontade profunda da sua manutenção, mas os proventos turísticos que daí podem tirar” (Pinto, 2003:21). Com uma posição semelhante, Carlos Fortuna (1999), define este turismo como turismo cultural:
desenrola-se em contextos urbanos, particularmente os que registam uma forte incidência de fatores arquitetónicos, históricos e monumentais e que, sem escapar às tendências de organização e mercantis do chamado turismo de massas, regista uma preponderância de turistas isolados, ou viajando em pequenos grupos, que utilizam meios próprios de transporte e têm autonomia sobre os itinerários e calendários da sua visita. A cultura é, de facto, uma das principais motivações para as deslocações das pessoas e, consequentemente, sem cultura, este turismo não existiria. “As viagens das pessoas incluídas neste grupo são provocadas pelo desejo de ver coisas novas, de aumentar os conhecimentos, de conhecer as particularidades e os hábitos doutras populações, de conhecer civilizações e culturas diferentes, de participar em manifestações artísticas ou, ainda, por motivos religiosos. Os centros culturais, os grandes museus, os locais onde se desenvolveram no passado as grandes civilizações do mundo, os monumentos, os grandes centros de peregrinação ou os fenómenos naturais ou geográficos constituem a preferência destes turistas” (Cunha, 1997:23). O património cultural transforma-se num artigo de consumo, o turismo cultural, e adquire a nova conotação de valor económico. A promoção de eventos culturais no centro histórico foi uma das estratégias adotadas pela Câmara Municipal para a reabilitação desses espaços urbanos, iniciada há 20 anos. A animação e dinamização dos espaços públicos e o investimento em equipamentos culturais assumidos pelo município foram constantes, em realizações próprias ou conjuntamente com as associações de cultura ou outras entidades, programaram concertos, festivais, cinema, teatro, dança, etc., para as praças do centro histórico e para os auditórios. No panorama cultural da cidade, com boas tradições associativas, destacam-se as associações urbanas como o “Convívio - Associação Cultural”, instalada numa casa do séc. XVIII do Largo João Franco, referência obrigatória da vida cultural de Guimarães e lugar agradável de lazer e convivência. O Convívio, instituição fundada em 1961, movimenta o largo, sobretudo à noite. Associação de grande prestígio na cidade, a ação do Convívio desdobrar-se-á ao longo dos anos em múltiplas realizações e colaborações: conferências, colóquios, exposições, concursos literários, ciclos de concertos de música clássica, espetáculos de jazz [Guimarães Jazz], Oficinas de Jazz e Cursos Internacionais de Música; o “Cineclube” (fundado em 1958), com sede no Largo da Misericórdia, com intensa atividade na divulgação da cultura cinematográfica, com sessões de “Cinema em Noites de Verão”, no Largo da Oliveira, colaborando com outras associações e entidades, em várias atividades culturais, e desenvolvendo ainda, no âmbito da imagem através da Secção de Fotografia, nomeadamente formação, realização e discussão na área da fotografia; e o “CAR - Círculo de Arte e Recreio” (fundado em 1939), com atividade cultural, recreativa e desportiva, designadamente o papel importantíssimo do “Teatro de Ensaio Raul Brandão”.
A Zona de Turismo de Guimarães (Z.T.G.), num inquérito aos turistas em 2002, referia um aumento significativo de turistas (64,2%), que constituiu um aumento de rendimento quer para o setor público, quer para o privado. Foi notório o aumento do número de cafés e bares neste período, sobretudo na Praça de Santiago, Largo da Oliveira e Largo João Franco. Era, por isso, de esperar que tal não passasse despercebido e muitos tentassem tirar partido, de uma forma ou de outra, do património enquanto artigo de consumo. Dos inquiridos, 71,7% apresentaram a Classificação de Património da Humanidade como um dos motivos da visita, seguindo-se os monumentos e museus, referidos por 41,4%. Não foi despiciendo para o interesse dos turistas a atribuição de vários prémios ao trabalho de reabilitação urbana: o Prémio Nacional de Arquitetura, pela Ordem dos arquitetos (em 1993); o Prémio da Real Fundação Toledo (em 1996); e o Prémio Nacional Imagem da Cidade, pela reabilitação das Casas Alpendradas, atribuído pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (em 1999). A valorização do património artístico e arquitetónico da área intramuros do Centro Histórico de Guimarães, e consequentemente a sua elevação a Património da UNESCO, não promoveram só o turismo, o poder político, o estudo da história ou a economia local; promoveram, igualmente, a autoestima dos cidadãos, a sua sensibilidade e atenção para as questões do património histórico e cultural, exercendo uma cidadania crítica e ativa, na defesa e proteção da sua cidade, que é Património da Humanidade, e que faz parte da nossa vida social, acrescentando um sentido novo às vivências da comunidade, quer coletivas, quer de cada um, riqueza que constitui por si só mais património.
Referências bibliográficas
CUNHA, Licínio - 1997, “Economia e política do turismo, Alfragide, Editora McGraw-Hill de Portugal. FERRÃO, Bernardo – 1998, “O Conceito de Património Arquitetónico e Urbano na Cultura Ambiental Vimaranense” in Guimarães, Cidade Património Mundial, Câmara Municipal de Guimarães. FORTUNA, Carlos – 1999, “Identidades, percursos, paisagens, culturais: estudos sociológicos da cultura urbana”, Oeiras, Celta Editora. GESTA, Alexandra – 1998, “Sentimentos nativos”, in Guimarães, Cidade Património Mundial, Um Objetivo Estratégico, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães. MATOSO, José – 2003, Cidade Património Mundial - Um Objetivo Estratégico. Câmara Municipal de Guimarães. PINTO, Fernando – 2003, “Ler Património”, in Manuel João Ramos (org.), A Matéria do Património – Memórias e Identidades, Lisboa, Edições Colibri.
Nos 20 anos do Centro Histórico de Guimarães Património da Humanidade O TOURAL DE HOJE
Lino Moreira da Silva
Convidam-me para colaborar na presente publicação, que se propõe celebrar os 20 anos do reconhecimento, pela Unesco, do Centro Histórico de Guimarães, Património da Humanidade. Faço-o com o maior gosto, recordando que o processo para esse reconhecimento envolveu muitas dificuldades, tendo sido a candidatura aprovada em 13.12.2001. Tratou-se de uma grande vitória, para Guimarães, pelo reconhecimento nacional e internacional que alcançou, pela centralidade que adquiriu, pela dinâmica que adotou, pelos benefícios que recebeu, e (para mim, o mais relevante:) pela obrigação de ‘cuidado’ que passou a ter, dadas as exigências que a Unesco impõe, na preservação e no respeito pelo património reconhecido. Estamos perante valias muito difíceis de conseguir, e sobretudo de manter, pelo que é da maior justiça felicitar todos quantos, sob a égide, nomeadamente, da Câmara Municipal de Guimarães, se têm esforçado por preservar, em Guimarães, o espírito da Unesco de valorização do património. Mas deve notar-se que esse reconhecimento não é irreversível. O galardão da Unesco já foi retirado a algumas entidades, como ao “santuário de vida selvagem”, em Omã (2007), por caçadas ilegais e ‘perda de habitat’; ao Vale do Elba (Dresden, Alemanha), devido à “construção de uma ponte rodoviária, de quatro vias, sobre o rio” (2009); à cidade inglesa de Liverpool (2021), pela intervenção urbanística operada na frente marítima, que originou “uma perda irreversível de atributos que transmitem o valor universal excecional do local” (jornal Público, 22.07.2021). E ainda muito recentemente, Braga manifestou, publicamente, o receio de essa despromoção ser exercida sobre o Bom Jesus do Monte, devido a circunstâncias naturais e à pressão urbanística (Jornal de Notícias, 16.08.2021). Por isso, a preservação do Centro Histórico de Guimarães, Património da Humanidade, exige uma atenção continuada, sob os mais diversos aspetos. Pontos essenciais são a necessidade de dinamização cultural continuada e a sensibilização dos munícipes, para ela mesma, além de apoios para a conservação dos edifícios, que, sendo indispensável, muitos não
estarão em condições de realizar. Por outro lado, a passagem deste aniversário sobre esse reconhecimento, pela Unesco, do Centro Histórico de Guimarães, Património da Humanidade, deverá ser oportunidade para se refletir sobre o património e aprofundar o conhecimento sobre ele. É o que vou procurar fazer, apresentando, como contributo, uma breve reflexão sobre um tema importante e atual: o Toural de hoje.
O TOURAL DE HOJE
O que foi feito, no Toural, pela GCEC 2012, representou, para mim (tenho-o escrito várias vezes), um grave prejuízo para Guimarães.
Mas isso não significa que não veja no ‘novo’ Toural uma obra prima de realização, um trabalho de filigrana arquitetónica, uma obra salutarmente bizantina, realizada com intuitos de perfeição. É um tema que não desenvolvo, aqui, por falta de espaço, mas aponto-o como merecedor da maior atenção, por parte dos investigadores do património local, suscetível de acrescentar conhecimento ao que já existe. Esse conhecimento exige-se correto e fundamentado – e não de mera reposição do que já se sabe, quando não de reescrita, apropriação, e até plágio, do trabalho de outros, como se tem tornado (desoladoramente!) usual verificar, com muita da dita ‘investigação cultural’ vimaranense, de hoje. O novo Toural é a praça mais ‘racional’ e ‘conscientemente trabalhada’, de sempre, em Guimarães. Resultou, realmente, de um equilíbrio de conjugações, que ali se desenvolveram, meticulosamente organizadas, em formas, dimensões, perspetivas, níveis, técnicas, materiais, efeitos, cores, sonoridades, luzes, relevos, elementos estruturais e estético-ornamentais, simbologias, semelhanças, influências, narrativas, alusões vegetativas e zoomórficas, reminiscências do antigo para o moderno, ‘arquétipos’ da etno-história de GuiToural antigo. Foto de Paulo Pacheco marães… Parecerá exagero afirmar que tenha sido tudo isto, mas investigue-se, com rigor e seriedade, e verificarse-á que assim é. Os artistas e os técnicos envolvidos esmeraram-se e erigiram, ali, um meandro único na cidade/concelho

– possivelmente, no país, e não sei se muito concretizado, pelo mundo fora. Houve dinheiro abundante, para o construir, embora (tem de ser dito) à custa do que não foi aplicado noutros espaços vimaranenses… que também mereciam obra, e não a tiveram.
Contudo, enquanto praça (e não enquanto espaço/lugar, que veio de ser ‘terreiro’, ‘largo’, ‘toural’, ‘feira’, ‘lajedo’…), o Toural ‘novo’ é totalmente desconforme com o que foi, no passado de Guimarães. O Toural que se destruiu era uma edificação centenária que se foi formando, em evolução, progredindo e corrigindo, mas consolidando-se sempre, de cada posição para a seguinte, até chegar, em anos não muito distantes, à exuberância que se lhe conheceu, como algumas imagens de época bem documentam. A partir de certa altura, vai-se lá saber porquê, começou a faltar a conservação necessária, e a sentença de morte ficou traçada. Até uma ‘estrutura’, que se disse ‘para matar pombos’, ali apareceu… O velho Toural havia adquirido, com o tempo, um estatuto que não foi respeitado nem preservado. O que lá se colocou revelou-se totalmente descabido. Comparo o que se fez, em danos, nas devidas proporções, ao que foi feito na Igreja da Oliveira, nos meados do século XIX, em que se delapidou um património instalado, que, para lá do absurdo de se ansiar ter o que outros tinham, na subjetividade do ‘bom’ ou do ‘mau’, de quem o olhava, era “o dali”, “criado para ali”, identitário, nosso, numa dinâmica evolutiva que se foi desenvolvendo, embora com recuos e avanços, ao longo do tempo. Ficou claro aos vimaranenses mais atentos que a Toural antigo. Foto de Paulo Pacheco ideia do ‘novo’ Toural surgiu da vontade de se dar existência, em Guimarães, a uma daquelas praças rasas, nuas, ‘fac-totum’, nevadas para as cerimónias anuais do Pai Natal, existentes em algumas cidades europeias e mundiais, que Guimarães (naturalmente) não possuía. Criada, para Guimarães, a utopia (bem intencionada) da cidade com cem mil habitantes (Jornal de Notícias, 13.02.2013), gerou-se essa praça, e, para a implantar, destruiu-se a maior e mais vetusta praça vimaranense. E o mais curioso é que, por um lado, almejaram-se os cem mil habitantes, mas, por outro, anularam-se meios essenciais para lá chegar. Esta tem sido uma das maiores vicissitudes por que tem passado a cidade de Guimarães – ser construída

a pender, mais para dentro (na atração do centro, à imagem das suas derruídas muralhas), do que, comedida e pensadamente, para fora, para servir a população vimaranense, com todas as consequências conhecidas, advindas daí. Quando havia muralhas, desfizeram-se. Estando elas desfeitas, edifica-se, concentradamente, dentro da sua memória. Foi triste, para Guimarães, a destruição do seu velho Toural. A nova praça, que foi posta em seu lugar, poderia ter engrandecido, magnificamente, um outro espaço (prometia ser uma grande praça), construída em local aberto, rasgado, criado de raiz, possibilitando concretizações diversificadas, sem estrangulamentos, com acessos amplos e até… permitindo habitação mais acessível… e regionalmente mais competitiva… – deixando-se o Centro Histórico, e espaços circundantes, devidamente conservados… na sua paz… Mas veio usurpar o último lugar que deveria, um dos principais santuários simbólicos vimaranenses. Quem sabe se, com contributos como esse, o processo de recessão demográfica, que está a afetar Guimarães, não teria já sido invertido. Exige-se, aos apreciadores do ‘novo Toural’, que parem de avaliar o que lá se fez com os critérios do ‘gosto’, ou ‘não gosto’, ou de árvores que lá houve, ou não houve, ou grades que teve, ou não teve… porque esse tipo de argumentação denota falta de rigor, se não mesmo de seriedade. Toural de hoje: http://seguircaminho.blogs.sapo.pt/ No entendimento que faço, os autores do ‘novo’ Toural, e quem os apoia, não têm nenhuma razão para se sentirem orgulhosos da obra feita – mas não em si mesma, porque ela é, micrometricamente, inteligente e faraónica, mas pelo espaço que ocupou, pelos estragos físicos e culturais que provocou, pelas memórias que desvaneceu, pelo núcleo da identidade vimaranense que desfez, pelas raízes histórico-culturais que apagou. E isso, pelo menos para mim, é justificativo suficiente para que, no futuro, vimaranenses matriotas, decididos e bem in-formados, tomem a decisão de fazer reverter o “falso Toural”, que hoje é, de novo no ‘nosso’ Toural, o ‘autêntico’ Toural, o que de lá foi arrancado.
Embora, em democracia, o voto seja ‘secreto’, eu apoiarei, sempre, de braços no ar, quem se propuser trazer, a Guimarães, a sua velha e genuína Praça do Toural, de volta!

Da Arquitectura. Sua criação e sua reabilitação
Miguel Frazão Diretor do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente da CMG
Chamava a atenção o Professor Arquitecto Fernando Távora para a circunstância de Guimarães ter a apoiar a reabilitação do Centro Histórico, uma tradição de preservação do seu património e do seu legado histórico muito precoce, que remonta aos finais do século XIX, o que criou na sua população um sentimento de orgulho e de pertença que muito contribuiu para a aceitação e adesão à iniciativa que o Município estava então a ter neste particular pedaço do nosso território e que veio a ter o seu ponto alto com o seu reconhecimento pela UNESCO há vinte anos atrás. Guimarães teve também, desde muito cedo, o concurso de excelentes arquitectos que aqui deixaram a sua marca indelével e certamente que estes dois aspectos se interligam. Do primeiro, regista-se já nas últimas décadas de oitocentos uma preocupação pela preservação daqueles edifícios mais icónicos para Guimarães e para o País, nomeadamente os que, à luz dos conhecimentos da época, se entendiam ligados à fundação da nacionalidade, tão invocados por Alexandre Herculano. São célebres as reações à intenção de desmantelamento do Castelo e destaca-se, nessa altura, o primeiro restauro da Capela de S. Miguel liderado por Francisco Martins Sarmento, cuja influência no interesse pelo conhecimento e valorização das nossas origens é também inegável. Muitos destes edifícios mais notáveis são classificados ainda em tempo de monarquia, ou logo no primeiro ano da primeira República, mas é com o Estado Novo, quando Salazar elege Guimarães como um dos polos das “Comemorações dos Centenários - 1140, 1640, 1940”, que os restauros liderados pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais se vão suceder, primeiro no Monte Latito (Castelo, Capela de S. Miguel, Paço dos Duques de Bragança), apelidado Monte Latito, Foto de Paulo Pacheco

então de “Colina Sagrada”, e posteriormente no restante Centro Histórico (Igreja de Oliveira, Paços do Concelho, S. Domingos, S. Francisco) e até fora deste, como por exemplo a Igreja de Serzedelo, ou, já em tempo de Democracia e pouco antes da extinção desta Direcção Geral, o Convento de S. Marinha da Costa, para a sua função de Pousada. Convém referir que as obras de restauro e reabilitação de dois desses monumentos, os de realização mais complexa (Paço dos Duques e S. Marinha da Costa), são entregues a dois grandes e reconhecidos arquitectos que nesta área e no exercício da sua actividade liberal, deixarão um cunho muito forte na Cidade, Rogério de Azevedo e Fernando Távora. Guimarães beneficiou também, nomeadamente a partir dos finais do Século XIX, da presença em obras quase sempre relevantes, de arquitectos de renome, ainda que em tempos mais remotos também os haja e vem-nos logo à memória o nome de André Soares. A partir dos anos oitenta de há dois séculos atrás e de forma continuada até à sua morte em 1947, pontua Marques da Silva, cujo primeiro trabalho profissional, depois de se formar em Arquitectura pelas Escolas do Porto e de Paris, de onde trouxe o estilo “Beaux Arts” aqui mais conhecido por “Eclético”, será a Igreja de S. Torcato a que se seguem muitas outras, Sociedade Martins Sarmento, Câmara Municipal mandada destruir a meio da obra por Salazar, Igreja da Penha, Mercado Municipal entre outras, algumas prosseguidas pela sua filha Maria José e pelo seu genro Moreira da Silva, que será também o autor do Ante-Plano de Urbanização de Guimarães, de 1949. Será Guimarães, a seguir à sua terra natal, o Porto, onde foi muitos anos Director da Escola de Belas Artes, a cidade onde Marques da Silva mais obras deixou. Rogério de Azevedo, discípulo de Marques da Silva com quem estagiou, foi um dos pioneiros da arquitectura modernista em Portugal, de que se destaca o edifício de garagem de “O Comércio do Porto”. Foi, também, professor da Escola de Belas Artes do Porto e Director da Secção do Porto da Direcção Geral dos Edifícios e MonuSociedade Martins Sarmento, antigo Mercado em fundo, do Arq. Marques da mentos Nacionais (1936-1940), certamente a Silva. Foto Paulo Pacheco

razão pela qual lhe entregam a execução do estudo e a reconstrução do Paço dos Duques de Bragança, obra icónica que marcará toda a actividade de restauro em Portugal até aos anos setenta do século passado. Ainda hoje polémica, é obra na verdade extraordinária vista à luz da sua época, não só pela sua dimensão, mas também pela inovação que apresenta em muitos aspectos ainda hoje seguidos, de que lembro o rigor com que procurou documentar-se, inclusive com visitas a palácios franceses da mesma época, o absoluto respeito pelo existente e pelas marcas existentes, a inovadora distinção entre o novo e o existente, nítido nas pedras, o que só pode ser intencional. Faço notar aqui que Rogério de Azevedo, por desacordo com os arquitectos da Direcção Geral, abandona a obra antes do seu final, não se lhe podendo atribuir alguns dos erros que hoje

Casa da Rua Nova n.º15 - Desenhos
mais notórios nos parecem no restauro. De Rogério de Azevedo são ainda algumas construções particulares existentes no Concelho, bem como as escolas do chamado “Plano dos Centenários”, que pontuam aqui e em todo o Norte do País.
De Fernando Távora, também ele Professor de Arquitectura na Escola de Belas Artes do Porto e da sucessora Faculdade de Arquitectura, à frente das quais esteve, pela sua ligação familiar a essa terra e pelos muitos contributos que aí deixou, difícil se torna referir todos os aspectos da sua actividade, mas também não caberá aqui fazê-lo. Passando as suas férias na juventude em Guimarães, na Casa do Costeado, agora adquirida pelo Município para Escola Superior de Hotelaria, cedo se interessa por esta Cidade, sendo conhecido o desenho que fez então da Casa da Rua Nova (que haveria de ser graças a si Prémio Europa Nostra). Também, já como arquitecto, apresenta muitos exemplos de casas rurais vimaranenses, quando lidera a equipa que, no Minho, faz o inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa. Távora deixará algumas obras relevantes em Guimarães, nomeadamente a reabilitação da sua Casa da Covilhã, em Fermentões e a reabilitação e restauro do Convento da Costa para Pousada, depois de ter sido residência da família Leite de Castro, constituindo também elas uma referência e objecto de estudo nesta área. À segunda será atribuído o Prémio Nacional de Arquitectura, mas nem isso a livrou, infelizmente, de ser bastante destratada. Deixou ainda outras obras relevantes como o belíssimo edifício da Assembleia de Guimarães, a sede da Polícia de Segurança Pública, ou a Faculdade de Arquitectura no Campos de Azurém, esta em parceria com o seu filho, também Arquitecto, José Bernardo. Mas é em colaboração com o Município que a sua presença e influência mais se fez notar, seja na execução do Plano Geral de Urbanização, seja na reabilitação da chamada Casa da Rua Nova (do Muro), que veio a ser sede do Gabinete do Centro Histórico/ Gabinete Técnico Local (GTL) e prémio Europa Nostra. Esta reabilitação há-de ser o motor de arranque e inspiração de toda a reabilitação do Centro Histórico, que Fernando Távora orientou e tutelou, sendo também o autor do desenho urbano das suas quatro praças principais –Município (Cónego José Maria Gomes), S. Tiago, Misericórdia e Feira do Pão (Condessa do Juncal), sendo que a do Largo da Oliveira fora já executada pela DGEDM aquando do restauro da Igreja. Citei apenas e de forma muito resumida três Arquitectos maiores e os seus contributos para Guimarães, mas poderia mencionar muitos outros, como por exemplo o Arq. Arménio Losa no campo do urbanismo, o Engenheiro/Arquitecto Júlio de Brito, autor do antigo Teatro Jordão, ou o Arquitecto Manuel d´Ávila, autor do Cinema S. Mamede e dos edifícios que fazem esquina entre a Avenida de Conde de Margaride com a de S. Gonçalo e com a Rua João XXI, que ao longo dos tempos foram criando obras, ou seja, foram criando
património, algumas destas podendo mesmo já ser consideradas património vimaranense a preservar. Faço, assim, votos para que estas tradições, a de criar e a de preservar património, que parecem nos últimos tempos esmorecer, se perpetuem em Guimarães pelos tempos a vir, à luz (não à sombra) da merecida classificação pela UNESCO, que agora se pretende, e bem, alargar para a zona de Couros. Mais uma vez, recorrendo a Fernando Távora, lembro que Guimarães, pela sua topografia,” é uma cidade que tem o privilégio de se ver a si própria” e é uma cidade que dá orgulho ver e viver, acrescento, mas que também por isso mesmo mais responsabiliza quem a vai construindo, todos nós.
2002: o início da Guimarães Turística
Raul Rocha
Na minha memória de infância (1955 – 1970), em Guimarães, não havia qualquer hotel. Era até essa uma das aspirações mais associadas às necessidades do progresso da terra. Numa comunidade onde os investimentos eram quase todos dirigidos para a têxtil, nomeadamente por aqueles que tinham constituído as suas primeiras poupanças a trabalhar nos teares e no fio, só alguns outros investiam na habitação arrendada, transformando património rural herdado em construção urbana. A necessidade da construção de um hotel era apelo e notícia do jornal da terra, de tempos a tempos, quando era ainda a imprensa escrita o divulgador da novidade, hoje escrita momento a momento nas redes sociais. Normalmente, a notícia anunciava um consórcio de investidores. Havia reuniões com jantares pela noite fora, faziam-se contas, distribuíam-se percentagens de participação, mas tudo morria. Os investidores de Guimarães eram “rivais” uns dos outros e dificilmente construíram projetos coletivos. Nos inícios dos anos 60 do século XX, lá está a minha infância, o Secretário de Estado do Turismo, César Moreira Baptista, visitou Guimarães, prendendo-se na Colina Sagrada, nas ruínas do Mosteiro da Costa, ocorrera um incêndio na década anterior, e particularmente no Palácio Vila Flor, a opção escolhida para instalar o tão sonhado hotel. Foi criada uma comissão de potenciais investidores: Francisco Pereira Mendes, Joaquim Sousa Oliveira, Fernando Jordão, Antero Henriques Silva, José Rodrigues Guimarães, Alberto Costa Guimarães, António Pinheiro, de Vizela, Hélder Rocha (que discordava de Vila Flor pela escassez de quartos), Manuel Paulino Ferreira Leite. Claro que não avançou. Os industriais vimaranenses sentiam a falta do hotel que penalizava os seus clientes que vinham comprar as suas coleções e não tinham alternativa de alojamento. Era o turismo de “negócios” que reclamava a carência, ainda estava muito longe o turismo cultural. As previsões para as taxas de ocupação valorizavam a semana e vazios aos fins de semana.
A “joia da coroa” da cidade turística, décadas mais tarde, o coração do hoje “centro histórico” ou “zona classificada”, era um lugar não frequentável. Pelo menos pelos escassos turistas de negócios, ou pelos adeptos do futebol que vinham de véspera assistir aos jogos do Vitória quando recebia o Benfica, o Sporting, a
Académica. Ou mesmo pelas poucas personalidades de Lisboa que vinham reunir com o poder político.
O largo da Oliveira, a Praça de S. Tiago, eram terra da “gandulagem” da época, dos paroquianos da Oliveira nas iniciativas de caridade promovidas pelo Pároco Araújo Costa. A melhor descrição desse mundo está no livro “As canjas de Aninhas Miranda”, de autoria de Fernando Fernandes, alfaiate na Rua da Rainha. Vale a pena transcrever:
“As casas do canto norte do largo, as da Rua de Santa Maria e parte da Praça de S. Tiago eram habitadas por autênticas colmeias humanas que viviam em situação de grande carência. Só não era um “ghetto” porque a classe média vivendo paredes meias com essa pobreza, proporcionava certa humanização nas relações de vizinhança. Diariamente, os cantos do largo, particularmente nas arcadas do então Arquivo Municipal, eram ocupados pela “gandulagem” que sentada ou estendida no chão, se aquecia ao sol. O espetáculo não era nada edificante, mas como era habitual, não merecia reparos. Quando alguém precisava de um homem para qualquer transporte de carga, tornava-se difícil a escolha, porque todos disputavam o serviço. Periodicamente, o largo era atravessado pelos padres das freguesias. Eram muitos, trajavam batina preta apertada no pescoço, deixando ver o colarinho branco engomado, em forma de goleira e na cabeça um corte de cabelo que, em forma de rodela, os marcava. A gandulagem comentava: hoje é dia de reunião do gado marcado!...
Outra parte do largo era da juventude. O rapazio jogava à bola – feita com uma meia cheia de trapos – sem respeito pelos transeuntes que, muitas vezes, apanhavam uma bolada na cara. O jogo da “macaca” fazia-se debaixo da alpendrada, cujas pedras tinham a marcação natural para o jogo. Também havia um buraquinho, bem redondinho, que os rapazes aproveitavam para jogar o “reino”. Quando o rapazio, filho da pobreza, vislumbrava um raro turista logo o cercava e perseguia à espera de uma moeda, que este acabava por dar para se livrar da praga”.
A mudança
Esta caraterização do hoje “centro histórico” de Guimarães, durante a quase totalidade do século XX, começou a modificar-se no início dos anos 1970, ainda no anterior regime político, pela sensibilidade de Duarte Amaral, deputado, e Bernardino Abreu, presidente da Câmara. A primeira remodelação do pavimento do largo em lajeado de pedra e a sua pedonalização tem essa data. Mas é notoriamente com a contratação de Fernando Távora, professor dos mais prestigiados da Faculdade de Arquitetura da Escola de Belas Artes do Porto e proprietário da Casa da Covilhã na freguesia de Fermentões, a quem foi atribuída a elaboração do Plano Geral da Urbanização (PGU) da cidade pelo primeiro presidente da câmara eleito Edmundo Marques de Campos, plano esse que nunca foi aprovado, que o “centro histórico” passa para outro patamar das preocupações da cidade e começa a ser visto com potencialidades de valorização para uma futura Guimarães turística.
Ainda hoje tenho dificuldades em compreender a “cegueira” das elites vimaranenses até aos anos 1970
do século passado. Recordo que, por essa época, terminada a minha infância, jovem adolescente, estudante do liceu, visitei com os meus pais, pela primeira vez, Santiago de Compostela. Fiquei deslumbrado com o que podia ser o nosso “centro histórico” que conhecia degradado, pobre, na comparação que imediatamente estabeleci com as ruas já turísticas de Compostela, muito semelhantes, reabilitadas… Os anos 1980 marcam a criação do Gabinete Técnico Local (GTL), a sua instalação na Rua Egas Moniz (“Rua Nova”), numa casa reabilitada como padrão a seguir, a nomeação de Alexandra Gesta para a sua direção, ela que tinha entrado para a equipa técnica municipal por sugestão de Fernando Távora, de quem terá sido aluna, e iniciou-se a requalificação. A prioridade foi requalificar os espaços públicos como indutor da reabilitação do edificado privado que veriam nela uma oportunidade de negócio. Mas limitado porque, desde o início, a Câmara estabeleceu regras muito apertadas das intervenções. Foi a época em que se defendia a “alma” das casas para se exigir a manutenção de materiais e das estruturas construtivas, defendendo-se que a autenticidade e a identidade histórica do construído teriam de ser os valores inatacáveis da reabilitação para ela ser exemplo em Portugal, na Europa, no Mundo, e poder um dia, que se considerava longínquo, mas que apareceu logo no horizonte, vir a ser classificado como Património da Humanidade. Entre esse sonho, esse objetivo e a distinção aprovada em Helsínquia, a 13 de dezembro de 2001, vão demorar cerca de quinze anos. Houve momentos em que tudo parecia paralisado, a classificação algo de utópico. Recordo que, no final dos anos 1990, dois anos antes da classificação, ainda o gótico de Santarém parecia ser a escolha portuguesa da UNESCO. Não foi e a candidatura de Santarém desapareceu até hoje…
A execução da reabilitação dos espaços públicos da hoje “zona classificada” foi a primeira prioridade política de António Magalhães quando iniciou a sua presidência em 1990. Particularmente, no seu segundo mandato, de 1993 a 1997. Ao mesmo tempo, os proprietários privados começaram a ver a grande oportunidade. A Câmara exigia a manutenção da população residente e, numa primeira fase, muitos avançaram com a reabilitação instalando um negócio no rés-do-chão e mantendo residência nos andares superiores.
Não demorou muito que as empresas de urbanização, a Sociedade “Santiago” foi a primeira, começassem a adquirir grande parte dos prédios, a negociar com os arrendatários saídas das habitações e avançassem com projetos mais arrojados num diálogo com a população e o município, sempre intenso, muito negociado, caso a caso, cedência e não cedência. O resultado foi o centro histórico que temos hoje e que veio mudar totalmente o perfil económico, urbano, e fundamentalmente cultural da cidade. Económico porque o turismo, após 13 de dezembro de 2001, dia da aprovação pela UNESCO da classificação, se tornou um dos eixos mais significativos da economia local, com uma crescente afluência a partir
de 2002, que teve o seu apogeu em 2012 com o evento Guimarães Capital Europeia da Cultura e que continuou até à pandemia que nos atingiu em março de 2020. Urbano porque o centro de convívio da cidade residente passou a ser o largo da Oliveira em detrimento do largo do Toural, centro da cidade durante décadas para não escrever séculos. Guimarães passou a ter a “movida” espanhola, as esplanadas, algo completamente inexistente até aos anos 1980, passaram a ser a imagem da cidade turística, a foto identificadora que corre mundo. Cultural porque o cenário proporcionou a promoção da cultura, de eventos, da criação inovadora que conjugasse com o edificado de séculos. O desenvolvimento das indústrias culturais de 2002 a 2020, o número de empregos criados, a sensibilização de novos públicos e vários outros indicadores que são visíveis, por exemplo, nas candidaturas aos apoios culturais do município, é algo de novo, mas que veio para ficar. Em 2002, iniciou-se uma nova Guimarães. As ruas da cidade passaram a ouvir várias línguas. O turismo, a cultura, a multiplicidade étnica ocuparam a cidade. Em 2020 a pandemia fez desaparecer a cidade turística. Um enorme abalo económico. Mas os investidores resistiram. Acreditaram que o desaparecimento seria passageiro. Poucos empreendimentos desapareceram. Novos ainda abriram. Todos ficamos à espera do regresso pós pandemia da Guimarães turística que, tendo vinte anos, já integra o nosso quotidiano como sempre tivesse sido assim. Não foi, tentei recordá-lo, mas voltará a ser consolidada para as atuais e futuras gerações de vimaranenses.
Centro Histórico Património Mundial e o turismo em Guimarães
Sofia Ferreira Vereadora da Câmara Municipal de Guimarães (Turismo, Ambiente, Serviços Urbanos e Proteção Civil)
Guimarães sempre foi um destino turístico e o património cultural o seu principal ativo. Guardiã de um capital histórico e simbólico de enorme relevância para a Portugalidade, Guimarães representa, desde sempre, para os portugueses e para a nossa diáspora, uma ligação essencial às nossas origens e à nossa afirmação e independência como país soberano. Desde a mais tenra idade, nos passeios escolares, até ao regresso em visita ao país dos que o deixaram para demandar outras oportunidades de vida e trabalho, são inúmeros os portugueses que vieram conhecer Guimarães e os testemunhos graníticos que falam de Afonso Henriques e dos seus fiéis seguidores que, a partir daqui, fundaram um país, à época improvável, mas que é hoje uma das mais antigas nações europeias. Até há vinte anos atrás, o Centro Histórico era um segredo de que só os Vimaranenses conheciam o verdadeiro potencial. A sua reabilitação possibilitou um reencontro com a memória da urbe medieval e a possibilidade de construção de novas vivências e de novas memórias. Mas foi a sua inclusão na Lista do Património Mundial da UNESCO que deu ao Centro Histórico de Guimarães a notoriedade e o reconhecimento que, até aí, lhe eram quase exclusivamente dedicados pelos Vimaranenses. Para além de ter alargado substancialmente os motivos de interesse junto dos nacionais, a classificação da UNESCO suscitou uma visibilidade internacional até então incipiente e fez de Guimarães um dos principais polos turísticos patrimoniais portugueses. As estatísticas aí estão para o atestar: a partir do seu reconhecimento pela UNESCO, a frequência turística de Guimarães conheceu um aumento exponencial, mais tarde reforçada por outro evento com uma fortíssima carga de atratividade turística - Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012. A diferença é que já não eram só os monumentos do Monte Latito que justificavam uma visita a Guimarães: todo o Centro Histórico passou a despertar interesse e a corresponder a esse interesse com uma oferta de serviços e de cultura geradores de convívio e permanência. A partir daí, muitos outros indicadores nos podem dar a medida do impacto da classificação na
economia local, começando, desde logo, pela multiplicação de unidades de alojamento e de restauração necessários para satisfazer uma procura que, até ao advento da pandemia de COVID-19, não parara de crescer.
Mas este é apenas um parêntesis. Guimarães continua a preparar-se para a retoma dos mercados e fluxos turísticos com uma estratégia de marca de que destaco dois objetivos essenciais: o reforço do papel dos Vimaranenses como promotores do destino e como anfitriões de excelência e a diversificação da oferta, através da valorização dos recursos naturais e patrimoniais existentes em todo o nosso território.
Crónica Guimarães - um som junto ao coração
Teresa Macedo
Quando alguém me pergunta “De onde és” e eu digo “Sou de Guimarães”, não preciso de indicar as rotas da terra a que pertenço, pois creio que não há ninguém que não tenha ouvido falar desta cidade antiga e saber marcá-la no mapa de Portugal, exceto, recentemente, o dono de um restaurante em Santiago de Compostela que, numa conversa, colocou Guimarães perto de Lisboa, o que me inquietou um pouco, mas logo reparei esse erro, pensando que se nunca tivesse estado em Ponferrada era capaz de a marcar junto a Madrid e também esquecer algumas centenas de quilómetros que separam estas cidades. Houve um tempo em que, para mim, ser de Guimarães também era duro de dizer, pois sabia a cerca de sessenta minutos a pé, atravessando campos e a subida da calçada do ferreiro, junto à da Madre de Deus, ao sol ou à chuva e com uns sapatos desconfortáveis nos pés, para poupar umas moedas na camioneta e, assim, poder ir ao cinema Jordão ou São Mamede ver um filme indiano. Era uma choradeira coletiva provocada por aquelas cenas de miséria, amores enviesados, onde eu também me deixava arrastar pelas melancolias e dramas e permitia que umas lágrimas falassem por todas as coisas que me faziam sofrer como era ter de regressar, de novo, a passo largo, porque não vivia propriamente na cidade de Guimarães. Dizer isto é muito grave ou assim pode ser julgado, se souberem que nasci a poucos quilómetros do casco velho, há vinte anos elevado pela Unesco à condição de Património Cultural da Humanidade, onde realizei os meus estudos até concluir o curso que me permitiu ganhar uma profissão, que me levou a uma terra onde o silêncio era de chumbo e as flores das bordas dos caminhos fechavam quando o sol abria ou a minha mão lhes cortava as hastes para fazer um ramo, que serviria para alegrar a minha casinha perto do Rio Nabão. O que eram pétalas azul cobalto, as minhas favoritas, fechavam-se numa recusa a serem outra coisa que não as flores selvagens que nasciam, cresciam e embelezavam as beiras das estradas pouco concorridas, onde o moleiro por vezes me esperava para dizer um bom dia enfarinhado e apontar Guimarães como um lugar onde só tinha ido na página rasgada do livro do irmão, que nunca conseguiu aprender a ler. Ele próprio chegou a confessar-me que foi para França ao concluir que uma pessoa não se pode intimidar quando são levantados muros nas letras indecifráveis dos livros da escola. O mais estranho é que este homem cismava que eu era parecida com um emigrante que foi seu vizinho
em França, que dizia que o Castelo de Guimarães era mesmo à porta de sua casa e que, ali, nasceu Portugal. Então o moleiro dava mais um passo na minha direção, olhava-me à procura de qualquer sinal que lhe garantisse que o seu palpite não estava errado, perante a suspensão de todos os músculos do meu corpo, que ficavam à espera que eu lhe respondesse que esse homem podia ser o meu pai, a quem eu tinha desolado ao ter seguido por caminhos que ele nunca quis que fossem outros que o correr do ponto da máquina Singer, que me ofereceu quando fiz 15 anos! Até aí eu nunca reparara que ser de Guimarães estava codificado na sonoridade da voz. Não digo ser do Norte, mas ser de Guimarães! Quando abria a boca para cumprimentar quem passava, era como se me desnudasse nas duas comuns palavras de cortesia. Bom dia foi aquele da viagem de camioneta a Guimarães, o da escola, para ver a estátua de Dom Afonso Henriques com cara de quem diz “quem manda aqui sou eu!”, no Monte Latito, a espada apontada para cima, vigilante, e o sonho de chegar a um lugar com muitos ecos, a soma de muitas querelas políticas, de muita resistência, a Batalha de São Mamede, esgrimida ali mesmo em frente à igreja de São Dâmaso, apontaria alguém, com algum erro de localização, mas fazia parte do cenário não saber tudo. Já era uma sorte poder ir a um passeio fora das quatro paredes da sala de aula, quanto mais chegar a Aldão nesse dia, nem disso se ouviria falar, apenas da luta contra as tropas do Conde galego Fernão Peres de Trava, bem simulada, com os braços a brandir as espadas, que se imaginavam sempre ensanguentadas de vitória, o enorme brado de vencer os poderosos e nós tão pequenos, enfim… - Você é de Guimarães! – dizia o moleiro que deixei atrás e, enquanto virava costas para entrar na casa junto à estrada, pensava na distante memória que se fixou nos seus ouvidos, o sotaque de vogais bem abertas como as medidas em pedra onde se recebia a contribuição devida de cereais dos campos das redondezas, exposta, outrora, na capela de São Miguel. Acreditava-se na lenda que narra que, ali, exatamente naquela pia, foi batizado o primeiro Rei, pequeno como um qualquer, a chorar alto quando a água lhe molhou a cabeça e esse lado humano de um bravo guerreiro aproximava-o de mim, no ato de imaginar. Várias vezes, tenho dado comigo a pensar que a oralidade, o sotaque é a caixinha de música que nos empresta um lugar de pertença, um berço. Ser de Guimarães é umbilical, está exposto como a expressão “Aqui Nasceu Portugal”, cravada na muralha, mas tem algo de embalo e de ternura que nem o calão que tudo diz em modo “sem ofensa!”, obscurece. É um linguajar com dicionário próprio como tornar sócio do Vitória Sport Club os filhos, logo que nascem, oferecendo-lhes um cachecol com as insígnias da equipa para livrar de todas as derrotas e, se as houver, remediá-las com um bom farnel partilhado com os amigos e o apoio incondicional nos momentos de aperto. Estas coisas têm de ser ditas, são medalhas de caráter e de prestimosa identidade, tais como a Capital Europeia da Cultura (2012), a Capital Europeia do Desporto (2013)
e o Património da Humanidade da Unesco (2001). Não sei explicar, com a paciência com que esclareço outros assuntos, as razões que me levam a concluir que é pelas pequeninas coisas sonoras que o meu sentido de pertença à Cidade (e agora escrevi com maiúscula) se desenvolveu e, ainda hoje, consegue atingir-me do lado esquerdo do peito com um bater mais rápido do coração, uma correnteza de água que se poisa nos olhos ao dizer “O tempo de Natal está a chegar”, só porque o som dos bombos das Nicolinas se solta e salta até ao vale onde resido e aquele murmúrio festivo faz dessa noite um momento especial, ainda que eu não saia do meu sofá. São as sonoridades e os cheiros a castanhas assadas, as barracas de doçaria variada, os chapéus escuros dos camponeses, as camionetas a abarrotar de gente, dar um euro para pegar nos “olhinhos” de prata, no dia de Santa Luzia, e passá-los bem junto aos que Deus nos deu para que estes nos deixem vislumbrar tudo com clarividência… Vale a pena a espera, na fila, os encontrões para deixar mais qualquer coisinha a Santa Luzia, que se venera em cada dia 13 de dezembro. Quando as pernas da minha Mãe deixaram de suportar os apertos dessa Romaria, pedia-me para eu ir levar o seu tributo à sua Santinha preferida. Não valia a pena perder tempo a argumentar que as minhas crenças andavam um pouco arredadas desses lugares de incenso, porque a nota de cinco euros saía da concha da sua mão, dobradinha em quatro, esperando que não me esquecesse de pedir uma estampa para colocar sobre a mesinha de cabeceira. Foi num desses anos que, apesar da tormenta que se abatia das nuvens, fui cumprir a vontade da minha Mãe e, depois, decidi deambular e passar pelas Praças de Santiago e da Oliveira, iluminadas como o meu espanto com velas pequenas a delimitar os passeios. As luzes seguiam pela Senhora da Guia, subiam junto à Muralha e, com a cabeça pousada num espaço feérico onde eu andava sozinha, no meio da chuva, vi um grande coração estilizado, vermelho, em frente ao antigo Paço do Concelho e percebi que a Cidade tinha uma Alma própria, mais que gente, mais que História, que fazia sentir-me amada por entre as suas ruas. Era um som rasgado pela chuva, que me trazia um cheiro a terra, a chão conhecido onde os meus antepassados devem ter deixado as vozes de um embalo que, ainda hoje, me sossega.
Guimarães, Património Mundial da Humanidade
Teresa Portal
Portuense de gema, amante confessa da História Nacional e Mundial, viajei para o berço da nacionalidade por um acaso ao preencher uma daquelas folhinhas azuis de 33 linhas (já então se abolira o papel selado) para lecionar no então Liceu de Guimarães (hoje Escola Secundária Martins Sarmento), que mantém na sua fachada o nome de liceu. O que eu não sabia (e apurei fruto de investigação) é que, ao contrário do que diz o meu registo biográfico que menciona ter lecionado no Liceu de Guimarães, vim lecionar para o Liceu Central Martins Sarmento, já que o Liceu Nacional de Guimarães apenas ministrava o currículo até ao 5º. ano do liceu (hoje 9º. ano) e, em 1917, sob proposta de um professor do liceu, o então deputado cónego José Maria Gomes, a Assembleia Nacional transformou o liceu em Central, começando a lecionar o Curso Complementar (6º e 7º anos), hoje Ensino Secundário (10º e 11º anos, já que o 12º ano surgiu bastante mais tarde) e cujas despesas caíam no orçamento municipal, tendo sido muito importante para o efeito a intervenção da Sociedade Martins Sarmento. Quando acabaram as escolas industriais e comerciais e se instituiu o Ensino Secundário único, caiu o nome de liceu central e colocou-se Escola Secundária. Atrevo-me a dizer que a maior parte das pessoas desconhecia e desconhece este facto. Martins Sarmento, um grande arqueólogo e escritor do século XIX, explorou a Citânia de Briteiros e Sabroso (só me interessa esta escavação arqueológica), pois parte do espólio está no Museu da Cidade, sede da Sociedade Martins Sarmento. O Liceu foi uma escola para mim. Nunca tinha lecionado, estava a concluir a Licenciatura em Filologia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no 5º ano, e tive um horário que, se fosse hoje, qualquer professor recusaria por o considerar todo esburacado. Acrescente-se ao horário 6 horas de camioneta por dia (Porto – Guimarães - Porto). É que, antigamente, os professores viajavam de camioneta e de comboio. Posso mencionar, por mera curiosidade, que dava aulas de Alemão de manhã (quase sempre às 8:.30 h) e, de tarde, Inglês (apanhei o 8º ano que tinha Inglês nível 4, única turma do liceu e de Guimarães sem programa a nível nacional, sem manual e sem ajuda, já que as outras turmas tinham todas Francês 4) e duas turmas de Português do 8º ano também. Uma verdadeira escola com muitas coisas boas e outras más, que não vêm ao caso. Consideremos que houve duas coisas que me chocaram na altura: os alunos do 8º ano
ignoravam quem era o 1º rei de Portugal, com o castelo à vista, desconhecendo o significado das quinas na bandeira nacional e tudo o que daí advinha e o não serem bairristas, pois punham Guimarães na rua da amargura. E facto incompreensível (para mim) saber que Guimarães só foi elevada a cidade em 1853, atendendo a que o burgo deu origem à nacionalidade e marcou passo, talvez pela opressão fomentada pela capital do distrito, Braga, e pelas rivalidades seculares existentes. O meu contacto com a cidade começou verdadeiramente, quatro anos depois, quando casei em 1980 e vim morar para as Caldas das Taipas. Rivalidades era coisa a que já estava habituada (Porto-Lisboa; FCPBenfica) e comecei a ver as existentes entre Guimarães e Braga, cidades separadas pelo Ave, quando as gentes taipenses se mostravam admiradas por eu fazer compras em Guimarães e não em Braga. Nada tendo contra a cidade dos arcebispos, sempre simpatizei muito mais com Guimarães, o berço da nacionalidade, embora ambas sejam riquíssimas em património monumental. Bracara Augusta foi uma notável cidade romana e um centro importante ao longo da História, enquanto Guimarães nasceu como um burgo medieval, onde D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal terá ou não nascido. Contudo, é indiscutível que a história de Guimarães está intimamente associada ao enraizamento da identidade nacional portuguesa e da língua portuguesa no século XII. Mais de doze séculos separam a origem das duas principais cidades do atual distrito de Braga que transformou (quanto a mim bem) a criação da Universidade do Minho (com polos em Azurém, Guimarães, e em Gualtar, Braga) numa ponte de entendimento entre as duas cidades e até as festas estudantis foram divididas: a Latada, em Guimarães, recebe os caloiros naquele percurso pelo Centro Histórico e o Enterro da Gata marca o fim do ano, em Braga, com o desfile e demais festejos. E no centro, a criação do Avepark, o parque de ciência e tecnologia de Guimarães, implantado perto da vila das Caldas das Taipas, mais concretamente na freguesia de Barco. E foi precisamente o Centro Histórico de Guimarães por onde esvoaçam as capas dos cardiais e dos doutores durante a Latada, festa a que assisti encantada pois as minhas praxes de caloira tinham sido outras (praticamente nem existiram, porque frequentei a Faculdade num tempo em que o traje académico era considerado fascista), que foi inscrito na Lista de Bens Património Mundial, a 13 de dezembro de 2001, ao constituir um vestígio único de um tipo particular de conceção de cidade, que teve a sua própria evolução, devido à morfologia do tecido urbano medieval bem como à forma característica de construção, utilizando as técnicas construtivas tradicionais, e designados por taipa de rodízio e taipa de fasquio, mais tarde exportadas para as colónias portuguesas, na África e no Novo Mundo. Não vou aqui explicar este tipo de construção porque o meu negócio são as letras e não a arquitetura. Mas observei-as no terreno nas muitas vezes que visitei
Guimarães, nomeadamente quando ela agora se veste de cidade medieval e recorda o velho burgo na Feira Afonsina, um evento com cerca de uma dúzia de anos, onde os visitantes podem apreciar as atividades decorrentes, assim como participar ativamente em algumas áreas temáticas, como por exemplo nos jogos e mesteres, e ainda deliciarem-se com um repasto nos vários espaços e tendinhas destinadas para o efeito, com gastronomia à época. Podem ainda fantasiar-se se assim o desejarem, já que a cidade se veste para o efeito e procura dar às ruas um ar ainda mais medieval. Eu que o diga que tive os meus filhos mascarados de soldados nessa feira e numa barraquinha do então MAT (Movimento Artístico das Taipas) ao qual pertenciam, aí já trajados de mercadores. Respira-se o nascimento da nacionalidade e até se espera que, ao virar da esquina, apareça o jovem rei de Portugal no meio dos guardas vestidos a rigor e trazendo o estandarte da primeira bandeira portuguesa: a cruz azul sobre um fundo branco, a bandeira de seu pai, o Conde D. Henrique e, portanto, do Condado Portucalense. A transformação de Guimarães nos últimos 40 anos tornou-se visível e, lentamente, foi saindo da letargia e transformou-se na bela cidade que é hoje. Graças ao trabalho iniciado na década de oitenta, em especial a partir de 1985, realizado no centro da cidade de Guimarães, que permitiu valorizar os espaços públicos do "centro histórico" e sua envolvente, bem como a recuperação do património edificado, maioritariamente privado, que carateriza a cidade. Não esqueci que, em pleno Centro Histórico, no belo palácio onde hoje está a Câmara Municipal, funcionava a escola João de Meira, onde há 46 anos, eu ia apanhar a boleia para regressar ao Porto. Não existia o Largo da Mumadona, ou era completamente diferente, e a Biblioteca Municipal Raul Brandão também não estava localizada no edifício do séc. XIX, propriedade da família vimaranense CARNEIRO, em frente ao edifício da Câmara Municipal de Guimarães. A sua inauguração aconteceu apenas em 1992. E fui acompanhando as obras que se foram fazendo nas múltiplas visitas de estudo, quase obrigatórias, que se faziam anualmente: - Aos museus (Martins Sarmento depois de visitar a Citânia de Briteiros ou Alberto Sampaio essencialmente por causa do loudel e do tríptico de prata oferecidos por D. João I aquando da Batalha de Aljubarrota e da sua peregrinação à Igreja de Nª Sr.ª da Oliveira, em agradecimento pela vitória na batalha, onde o românico cedeu lugar ao gótico tornando-se num dos mais significativos exemplares da arquitetura gótica no norte de Portugal); - Ao Castelo de Guimarães (monumento nacional, informalmente eleito, em 2007, como uma das 7 Maravilhas de Portugal) ou ao Paço dos Duques, e, mais tarde, - calcorreando as ruas estreitas do Centro Histórico restaurado, que é efetivamente uma viagem pela
História, sentindo o tropear dos cavaleiros, ouvindo o grito de “água vai” que ainda ecoa nas ruas estreitas recheadas de casas medievais, visitando as lojas dos diferentes ofícios… vendo a utilização dos azulejos a cobrir a fachada das casas, com data do século XIX, sendo Guimarães a segunda cidade, depois do Porto, a utilizar a azulejaria, uma arte da qual nos podemos e devemos orgulhar e garantir que nenhum outro país a tem igual. E do Centro, saiu-se para a cidade que se foi reformulando e adquiriu uma nova aparência no ano 2012 em que foi Capital Europeia da Cultura, daí resultando a Plataforma das Artes e da Criatividade, a requalificação do Largo do Toural, a reutilização da antiga fábrica têxtil Asa e o Instituto do Design, resultado da renovação de espaços fabris; a requalificação do antigo mercado com lojas, uma livraria e uma cafetaria e um local para a realização de eventos… De realce os magníficos eventos culturais, nomeadamente o da inauguração dos festejos no Toural e o da conclusão no Multiusos. Sobre isso sabem os vimaranenses mais do que eu que os tiveram ao alcance do “pé”. E muito ficou por falar como o facto de concorrer a Capital Verde Europeia em 2020, tendo sido o galardão entregue a Lisboa, mas vê-se efetivamente, a cada dia que passa, uma cidade cada vez mais verde e amiga do ambiente, merecedora de ser um dos pontos turísticos do nosso país de mérito reconhecido. E não falei das Nicolinas, em que os estudantes se apropriaram do culto a S. Nicolau desenvolvido entre o povo, tendo construído uma capela em honra de São Nicolau (entre 1661 e 1663) na Igreja Nossa Senhora da Oliveira, e aí sediaram a sua irmandade. De um dia, 6 de dezembro, as festas foram-se alargando e, atualmente, festejam-se de 29 de novembro a 7 de dezembro e incluem várias atividades, das quais saliento o pinheiro, as roubalheiras, o pregão e as maçãzinhas… E a gastronomia tradicional e os bordados de Guimarães com pontos característicos (o Canotilho, por exemplo) e a Cantarinha dos Namorados, graças à Oficina… Sou isenta porque não sou vimaranense e vi as transformações que são mais aparentes aos olhos de quem não viveu nem vive na cidade no dia a dia e de quem apenas a visita de vez em quando. Mas bastou para a considerar como a minha segunda cidade, depois do Porto, a minha cidade natal. E um nunca acabar de novas atitudes e de projetos têm marcado e continuam a marcar um constante renovar da cidade que tem escrito na muralha “AQUI NASCEU PORTUGAL!” Espero que gostem deste testemunho tanto como eu me diverti a escrevê-lo. Obrigada.
Guimarães, Património Mundial da Unesco, 20 anos depois
Victorino Costa
Qualquer evento, por mais importante que seja, só deixa marcas quando estribado num conjunto de infraestruturas que pautem o bem-estar e o progresso das populações. Isso requer, como é óbvio uma visão de futuro dos responsáveis pelos destinos das populações, que não podem ficar presos a contingências conjunturais e temporais, antes têm de alargar as suas perspetivas numa ótica de alargada prospetiva, visionária de um futuro que tem de mental social e culturalmente se projetar no amanhã. Esse foi o mérito do Marquês do Pombal ao ‘visionar’ a baixa pombalina, esse foi o mérito de Fontes Pereira de Melo ao ‘visionar’ as redes viárias como as veias de um país e esse foi, em última análise o grande demérito dos responsáveis autárquico de Guimarães das últimas décadas, esse foi o mérito do Infante D. Henrique ao visionar o projeto das descobertas. Por muito que a alguns custe admitir, temos de reconhecer que não tivemos, nas últimas décadas, edis com perspetiva de futuro, capazes de aproveitar as sinergias de todo um conjunto de acontecimentos que marcara, indelevelmente a comunidade e poderiam ter sido efetivas fontes de desenvolvimento sustentado, de um cada vez maior bem-estar das populações, de um maior progresso e desenvolvimento do concelho. Elevação de Guimarães a Património Mundial, Euro 200 e Capital Europeia da Cultura terão sido os mais importantes. Todavia e pese embora a sua relevância e impacto social e cultural, nem por isso com significado duradouro na referida melhoria das condições de vida, no progresso e desenvolvimento social e económico da terra e das populações.
Porque não houve ‘visionarismo’ capaz, os eventos ficaram geralmente preso nas teias da conjunturalidade, nas ténues malhas da temporalidade e circunstancialismo. Não criaram redes que sustentassem novos fôlegos, que congregassem as sinergias de uma população que bem merece melhor atenção. O passado só tem real valor, se sustentáculo de padrões de futuro, se alicerce de sentimentos e forças que nele se estribem para evitar erros e aproveitar sinergias. A elevação de Guimarães a Património Mundial da UNESCO irmanou-nos num conjunto restrito de
localidades que patenteiam toda uma riqueza patrimonial que, indo bem apara além das referências conjunturais, atesta acima de tudo um património onde o passado se reflete em cada pedra, onde a história perpassa em cada monumento. E essa riqueza, Guimarães tem-na, sente-a não só no legado histórico e cultural, como também e sobretudo no palpitar dos sentimentos dos seus cidadãos, orgulhosos da sua cidade, orgulhosos da sua história, orgulhosos de ser vimaranenses. Este orgulho, este legado, no entanto não pode confinar-se aos vetustos muros do seu castelo, às chaminés dos seus ‘Paços dos Duques’, ou mesmo ao belíssimo enquadramento arquitetónico da Oliveira ou do Largo João Franco. Porque herança, ele tem de ser assumido e acima de tudo potencializado, para que toda a comunidade mundial dele possa comungar, para que a nossa cidade e o nosso concelho possam aproveitar as sinergias endógenas a tal estatuto. Um estatuto como o da elevação da nossa cidade a património cultural da humanidade tem necessariamente de ter repercussões na vida dos seus munícipes, tem de pautar-se como elemento catapultador de progresso, de bem-estar; tem indiscutivelmente de ser fonte de melhoria na economia e no desenvolvimento do concelho.
De pouco adianta ter em mãos um tesouro se o mantivermos guardado em ancestral ‘burra’, ou arca, sem que dele qualquer proveito se tire, por muito bem envernizada que a conservemos, por muito luzidia que a mantenhamos. É preciso criar condições para que tal tesouro seja apetecível, seja desejado, seja ansiosamente procurado. Ora para que tal aconteça com o nosso património é preciso criar condições para que quem de qualquer parte do mundo quiser vir ter connosco tenha condições para o fazer. É preciso, por parte da edilidade do concelho, uma visão capaz de levar ao mundo o conhecimento da existência de tal tesouro. A primeira condição, para que tal aconteça é criar ótimas condições de mobilidade. Acessos que facilitem a chegada de quem de fora nos vem visitar, mas, antes de tudo, acessos fáceis aos próprios munícipes, eles os verdadeiros donos do tesouro e, como tal, os primeiros e privilegiados fruidores da sua riqueza. E, neste sentido, temos de ser contundentes: a elevação da nossa cidade a estatuto de património mundial em muito pouco ou quase nada influiu na vida dos seus munícipes, no seu bem-estar, no seu progresso, como acontece noutras ‘irmãs’ por essa Europa fora. A rede viária pouco ou nada se alterou, mantendo a cidade e as vilas adjacentes num estrangulamento asfixiante da economia e desenvolvimento locais. O caminho de ferro, continua sem trazer à cidade o ‘élan’ que lhe é idiossincrático e que bem poderia se potencializado. Ou seja, o que efetivamente se potenciou do facto de sermos elevados a Património da Humanidade? O que é que os munícipes efetivamente lucraram dessas sinergias implícitas ao referido estatuto, para além de um aumento do seu orgulho de vimaranenses?
O edil em cujo mandato Guimarães alcançou o seu reconhecimento mundial, costumava dizer que ‘não
era adivinho nem bruxo’ e que não queria nunca confundir ‘a nuvem com Juno’. Expressões reveladoras de um ensimesmamento, onde a insegurança e a falta de visão ficavam travestidas por bonitas expressões. Mas a vida dos cidadãos não se compadece com isso. Ela exige audácia, arrojo, perspetivas macro estruturantes. Se assim não fosse, não poderíamos hoje contemplar a beleza e atualidade espacial dos projetos da baixa pombalina, não poderíamos singrar nas veias viárias que Fontes Pereira de Melo visionou, não teríamos nunca ‘dado novos mundos ao mundo’. Creio que todos temos consciência da importância implícita nos eventos que nas últimas décadas perpassaram por Guimarães e que ao lado do seu estatuto de ‘Património Mundial’ nos proporcionaram oportunidades únicas de desenvolver todo um vasto conjunto de sinergias. O Campeonato Europeu de 2004 e a Capital Europeia da Cultura em 2012, a par do estatuto Mundial de 2001, foram momentos únicos para projetar o concelho, para criar estruturas dinamizadoras de uma vida de qualidade, de condições de prosperidade e bem-estar, de construção e alargamento de infra e macroestruturas. Todavia, e pesem embora outras respeitáveis opiniões, um olhar crítico alguns anos após leva-nos à conclusão de que, afinal, quase nada de estruturantes ficou, que não passaram de eventos pontuais, que se diluem no pó do tempo, sem quase nada de significativo para o bem-estar e progresso das pessoas do concelho. Uma visão de futuro teria facilmente deixado na imaginação a possibilidade de aproveitar as potencialidades que estes eventos podiam trazer a Guimarães. Mas isso seria prospetivar para o futuro, seria ser ‘bruxo’ e querer chegar às nuvens deixando Juno descansada nos braços de Júpiter. Ninguém dá o que não tem e quando não há imaginação, arrojo e visão de futuro, não se consegue desenvolver um concelho. Custe o que custar, dos eventos em questão, os vimaranenses quase nenhum ou muito pouco proveito tiveram, que lhes propiciasse melhor qualidade de vida. Em alguns casos até pioraram significativamente. Perante tantas oportunidades, como as potenciadas pela elevação a Património Mundial, o que se tem notado é a impreparação dos mais altos responsáveis; é constar a sua incapacidade para potenciar toda uma riqueza cujas sinergias acabam por ficar adormecidas num nebuloso sentimento de orgulho que, mesmo endógeno, acaba por ficar em repouso nos escaninhos da ‘burra’, perante as bem patentes condenações de Juno. E francamente, até nem é preciso ser bruxo ou adivinho para se ter a perceção da riqueza de que nos foi conferida, das sinergias implícitas no estatuto que nos foi confiado. Basta um pouco de bom-senso e competência. Por isso e numa ótica prospetiva de duas décadas após a elevação de Guimarães a Património Mundial da Humanidade, o que me sói dizer é que passaram os anos, os efeitos imediatos diluíram-se e o povo vimaranense pouco aproveitou deste reconhecimento. Fica-nos um indiscutível e incomensurável orgulho, a
constatação do reconhecimento da nossa história. Mas será que, a partir daí, não se poderia ter alcançado bem mais? Vinte anos após, fica-nos um amargo de boca por constatar tantas possibilidades perdidas, tantas sinergias desperdiçadas! Aprendamos com a lição e não tenhamos nunca medo de sonhar, pois por detrás da nuvem que divisamos, pode muito bem encontrar-se a Vénus, que agora se não descortina. O tesouro que Guimarães recebeu há vinte anos tem ainda muitas potencialidades, contém ainda no seu seio imensas e inexploradas sinergias. Tenhamos o arrojo de definitivamente o desenterrarmos da arca e fazer dele efetivo farol do desenvolvimento e do progresso da nossa terra. Só assim ele será um efetivo tesouro. Só assim as paredes do castelo ou o espaço da Oliveira assumirão em pleno o seu legado histórico, servirão de testemunho que permanece vivo e não enclausurado na frieza das suas vetustas pedras.
Inserir imagem do separador
NOVAS PROPOSTAS DE GUIMARÃES À UNESCO

Zona de Couros: Algumas notas sobre o nosso passado, presente e futuro
Ricardo Rodrigues Arquiteto, coordenador técnico/científico da candidatura do Centro Histórico de Guimarães e Zona de Couros a Património Mundial
Em setembro de 2001, iniciou-se a minha colaboração com o Município de Guimarães, que perdura até à data. Pouco tempo depois, a 13 de dezembro, celebrava com os restantes colegas do Gabinete Técnico Local (CMG), no Largo da Oliveira, a notícia acabada de chegar de Helsínquia: aprovada a inscrição do “Centro Histórico de Guimarães” na lista do Património Mundial da Unesco. Guimarães juntava-se ao grupo restrito de “centros históricos” em território nacional classificados como Património da Humanidade: Angra do Heroísmo (1983), Centro Histórico de Évora (1986), Paisagem Cultural de Sintra (1995) e Centro Histórico do Porto (1996). Desde então, de entre os inúmeros núcleos urbanos portugueses com elevado valor histórico, apenas a cidade de Elvas e suas Fortificações foi adicionada a esta lista de inscritos na lista da Unesco, em 2012. A Universidade de Coimbra—Alta e Sofia, inscrita em 2013 na lista da Unesco, não se integra nesta categoria uma vez que incide estritamente sobre edifícios e espaços da Universidade, não incluindo a “cidade”, no sentido mais amplo, com as respetivas habitações, comércio, indústria, serviços e demais atividades comuns à vida urbana. Interessa sublinhar a referência à vida urbana porque é um dos aspetos que, na prática, distingue Guimarães de muitas outras cidades ou núcleos de elevado interesse histórico. Em Guimarães, o burgo de origem medieval é parte integrante da cidade, ativa, e até central, na dinâmica quotidiana contemporânea da cidade. Se considerarmos que o “centro histórico” é a área que a Unesco inscreveu na lista do Património Mundial, em 2001, então essa área, de 19,45 hectares, corresponde ao interior do perímetro definido pela antiga muralha defensiva. Mas facilmente se percebe que a cidade histórica se estende muito para lá das muralhas. Pela rua D. de João I, pela rua de Camões, pelos Couros, pela Caldeiroa, por Santa Luzia (rua Francisco Agra), pela rua da Arcela, e por muitas outras. Mais óbvias umas do que outras. As noções de valor patrimonial e as respetivas classificações são aparentemente simples, mas, na realidade, são bastante complexas, tanto pelo que incluem, como pelo que excluem. “Classificar” implica selecionar à luz de critérios e de orientações que vão evoluindo ao longo dos tempos. Quando, a partir de 1996, se determinou iniciar o processo de candidatura de Guimarães à Unesco, o debate patrimonial era distinto daquele que hoje está consagrado. Estávamos já longe do entendimento do monumento como um edifício

isolado, mas ainda próximos de uma ideia “cristalina” de centro histórico: castelo, palácio, conventos e igrejas, casas senhoriais, casas “anónimas”, ruas sinuosas e praças mais ou menos regulares, tudo unificado por uma muralha defensiva. Numa síntese forçada, será uma descrição possível para o centro histórico classificado em 2001.
A Zona de Couros, em finais da década de noventa, era ainda fortemente marcada pela atividade industrial ativa e visível na “cor da moda” que saturava o Rio de Couros. Mas era também já uma marca de uma atividade do passado, já adormecida ou morta, como testemunhavam as muitas fábricas há muito abandonadas. Edifícios arruinados, ferrugem, sujidade. Eram elementos marcantes de uma área claramente marginal (e marginalizada) da cidade, pese embora a sua lo- Casa do Cidade, atual Pousada da Juventude. Fotografia de Luís Ferreira Alcalização geográfica e geométrica absoluta- ves, 1999. mente central, em relação à cidade de Guimarães que, entretanto, se alargava. Na verdade, usávamos - eu e muitos outros - a Zona de Couros para um curto-circuito pedonal entre a Escola Industrial (ainda assim chamávamos à Escola Francisco de Holanda) e o (recente) Villa, pela rua de Vila Verde. Mais bemdito: pelos campos de Vila Verde, através dos quais atravessava o caminho murado que ligava ao “Bairro Amadeu Miranda” e, dali, à Av. D. João IV. Para a Av. de Londres, atravessávamos o túnel da Caldeiroa pelos caminhos que ligavam aos an- Pousada da Juventude (antiga Casa do Cidade). Fotografia de Miguel Oliveira, 2020. tigos matadouros. Estas memórias ajudam a reforçar uma presença ainda muito viva da indústria na memória dos

cidadãos. Mesmo em gerações já nascidas depois do 25 de Abril que, precisamente nestas áreas, percebiam melhor o passado “miserável” de que muitos falavam. Não apenas nos Couros, mas um pouco em todo o “centro histórico”. Bastará pensar no estigma associado à “Rua Nova” (rua Egas Moniz), até muito recentemente.

Antiga fábrica Âncora, atual Centro Ciência-Viva. Fotografia de Luís Ferreira Alves, 2011. São memórias de um passado tão recente que custará, em especial aos (ainda) mais jovens, acreditar na diferença entre estas realidades e os tempos atuais. Mas as cidades mudam, muito. Umas partes mais, outras menos. São sistemas extremamente complexos que, por vezes, se alteram tão abruptamente que nada, ou quase nada, do passado se mantém legível. Não é o caso, de uma maneira geral, de Guimarães.
Em Guimarães é legível um quadro típico de uma pequena cidade medieval europeia: castelo à cota alta, palácio/convento à cota intermédia, e núcleos populacionais em redor destes polos. O que “Couros” ainda hoje ilustra é, usando um termo da estratigrafia, uma camada que já não é visível na generalidade das cidades: os lugares primitivos11 do Trabalho. De facto, impressiona notar que a Zona de Couros representa mil anos de Trabalho na cidade e nesse sentido representa uma vertente fundamental de suporte à vida local: o Trabalho. Não apenas o dos curtumes e o dos sapateiros, mas também os das tecelagens, das cutelarias. O Trabalho, lato sensu.
11 Expressão que apreendi desde a primeira vez que a ouvi em conversa com Elisabete Pinto, autora, entre outros textos e estudos, do Curtidores e surradores de S. Sebastião – Guimarães (1865-1923): a difícil sobrevivência de uma indústria insalubre no meio urbano, edição da autora, com o apoio do Grupo de História das Populações e do CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória»), Guimarães, julho de 2012.
Na Zona de Couros, vemos hoje um conjunto de antigas fábricas, bem representadas especialmente pelos tanques dos curtidores que correspondem, em geral, a edificações de finais do século XIX inícios do século XX. No entanto, são cada vez mais numerosas as provas documentais que demonstram a prática desta mesma atividade dos curtumes desde períodos remotos, sendo hoje bastante sólida a hipótese de o desenvolvimento do núcleo populacional ser indissociável do desenvolvimento da atividade de curtimenta. Ou seja, tal como não concebemos Guimarães sem o seu Castelo, sem a Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, (…), também não podemos conceber Guimarães sem os “Couros”. Esta visão, do ponto de vista histórico e, sobretudo, patrimonial (no sentido da sua salvaguarda e valorização) é nova e, em grande medida, inovadora.
Como destaca Deolinda Folgado é de um enorme pioneirismo o despacho de abertura de classificação relativo a um conjunto de fábricas de curtumes, em Guimarães, datado de julho de 1977, pelo então diretor-geral, que determinava a classificação como imóvel de interesse público, o conjunto das antigas fábricas de curtumes da cidade. Do conhecimento existente, até ao momento, este constitui o primeiro despacho de abertura de classificação para um bem de natureza industrial no país.12 Este pioneirismo será Antiga fábrica da Ramada, atual Instituto de Design. Fotografia de Luís Ferreira Alves, 2012. ainda mais evidente se notarmos que apenas uma década depois surgem as primeiras classificações de imóveis industriais em Portugal (na categoria de interesse público), como foi o caso da Central Tejo (1986), o edifício da Standard Eléctrica (1996), ou das classificações como monumento nacional da Cordoaria Nacional (1996), ou da Real Fábrica de Gelo de Montejunto (1997). O vanguardismo que Deolinda Folgado aponta à ação desenvolvida localmente por um grupo de cidadãos pode ser detetado em muitas outras experiências desenvolvidas em Guimarães, em especial na área da recuperação patrimonial. No que respeita, especificamente, ao centro histórico, Guimarães foi palco,

12 Deolinda Folgado, Os curtumes, uma indústria em e de Guimarães. A constante (re)criação da identidade e da memória, in Candidatura do Centro Histórico de Guimarães e Zona de Couros ao Património Mundial, Anexos 2—Textos, CMG, 2021.
recentemente, de várias atuações de caráter inovador. Centrando a atenção apenas na época em que alguns perceberam que a Zona de Couros representava uma cultura, tecnologia e, em grande medida, uma civilização (que estava) em desaparecimento (senão já desaparecida), em finais da década de setenta, inícios da década de oitenta, há dois marcos fundamentais: 1—Fernando Távora e Alfredo Matos Ferreira desenvolvem, por encomenda da Câmara Municipal, o Plano Geral de Urbanização, inovando ao nível da visão patrimonial com propostas que ainda hoje podem ser classificadas de grande ousadia ou, como entendo, de grande sensatez e sentido de futuro. Veja-se, por exemplo, como o Plano propõe como zona de proteção paisagística/cultural, “à cidade”, uma área que abrange parcialmente Pevidém, São Martinho de Candoso, Santiago de Candoso, Mascotelos, Urgezes, Costa, Mesão Frio, Azurém e Creixomil. Ou seja, o vale fértil que une/separa a cidade e a montanha da Penha da área industrial de Pevidém. Uma parte considerável desta zona de proteção é hoje ainda bem legível quando nos aproximamos da cidade, vindos de Silvares (na via principal de acesso à cidade). 2—Outro marco, ao nível da proteção do património urbano/edificado, foi a criação de uma equipa municipal para atuar no centro histórico da cidade. Uma equipa com a incumbência de pôr cobro ao ciclo de degradação física, económica e social a que a área mais antiga da cidade estava sujeita. Fenómeno não específico de Guimarães, comum um pouco por todas as cidades antigas da Europa. O património edificado, sobretudo habitacional, estava arrendado, em regra, a pessoas com baixos recursos económicos. Para compensar as baixas rendas, as propriedades eram subdivididas de modo que “uma casa” aumentava a capacidade para vários lares. As condições de salubridade eram, na generalidade dos casos, precárias, notando-se a incapacidade ou desinteresse de ambas as partes—senhorios e inquilinos—em alterar este ciclo de degradação que, com o passar dos anos, se agravava. A precariedade não se circunscrevia ao património edificado, era generalizada, incluindo no espaço público. Está ainda bem viva na minha memória a Praça de Santiago inundada. Fenómeno que ocorria sempre que a pluviosidade aumentava um pouco mais do que o normal. E os veículos (em grande número nestas artérias do burgo) “encharcavam” dando início à decorrente azáfama.
Os sucessivos prémios e, mais tarde, a classificação do Centro Histórico de Guimarães como Património Mundial significou, para muitos, uma atuação cultural, de caráter histórico-arquitetónico. Mas na verdade, a operação é estudada como exemplo pelo que implicou em termos muito mais profundos. Desde logo pelo que implicou em termos de valorização da vida da cidade. Correndo o risco de ser repetitivo, não me canso de defender o quão evidente é o impacto, em termos de crescimento (estatuto simbólico, turístico, entre muitos outros), resultante da recuperação do centro
histórico. Decisões como a nomeação de Guimarães como Capital Europeia da Cultura suportaram-se no processo exemplar de recuperação e revitalização urbanísticas. É um daqueles casos em que fica bem evidente que ser grande (e crescer) não tem necessariamente uma relação com o tamanho físico. Como canta José Mário Branco, Ser anão não é coisa do corpo / É a forma do espírito morto / São anões p’ra quem tudo são palmos13 . Na verdade, sem que a cidade tenha crescido nesta área urbana central, hoje a Zona de Couros representa a possibilidade de duplicar a área classificada como Património Mundial. Uma vez mais, crescer, sem alterar o tamanho. Pelo contrário: o respeito pela escala, pela especificidade da cultura de cada espaço, do espírito do lugar; por essa via será mais fácil dar mais dimensão a Guimarães, continuando a destacar “o berço” das suas congéneres, procurando não cometer os mesmos erros (urbanísticos) que recorrentemente lhes são apontados e reconhecidos. O que o futuro reserva para a Zona de Couros (e envolvente) é tão desconhecido quanto o é a sua História. A revelação de um deve ser reforçada com a informação Vista aérea sobre o Largo do Cidade. Fotografia de Miguel Oliveira, 2021. da outra. Sabemos muito sobre o passado dos Couros, mas sabemos pouco ainda. É uma porção de território urbano que está (ainda) expectante e, nesse sentido, muito pode alterar nos próximos anos. Quando, em 2001, comparámos Guimarães ao Porto e a Évora, apontavam-se especificidades que reforçavam o seu Valor Universal Excecional, indispensável à luz da Convenção do Património Mundial da UNESCO. Entre essas especificidades, a Zona de Couros não era apontada (até porque não se incluía na área a classificar). Vinte anos depois, a Zona de Couros alarga a visão e a especificidade do “centro histórico”. Hoje, porventura, será inevitável comparar com o Porto e com Évora, mas será igualmente natural a

13 José Mário Branco, O pior para o anão, canção escrita para "As viagens de Gulliver" de Jonathan Swift, encenada por Hélder Costa e estreada no dia 13 de maio de 1997 no Teatro Cinearte. A canção foi editada, com o título O papão do anão, faixa 8 do álbum "Resistir é vencer", de 2004.
comparação com outros núcleos a nível mundial, como por exemplo as medinas marroquinas de Fez, Tetuão ou Marraquexe, pelo entrecruzar entre o trabalho e a vida quotidiana das populações.
Quase todas as cidades têm, na sua toponímia, memórias dos Couros. A memória de Simão, o curtidor, em Jerusalém14. As ruas dos Pelames, no Porto, em Braga, em Lisboa, e em tantas outras, certamente. São inúmeras, um pouco por todo o Mundo, as cidades com histórias indissociáveis das manufaturas de curtumes. Mas são escassas—praticamente inexistentes—aquelas onde perduram sinais visíveis destas unidades fabris na atual leitura da paisagem da cidade histórica, não sendo possível entender a sua dimensão/escala, as suas tipologias, nem a relação que estabelecia com a urbe e demais território envolvente. Esta especificidade de Guimarães reforça uma caraterística única, universal e excecional, que lhe pode merecer o estatuto reforçado de Património Cultural da Humanidade, que deve ser acompanhado de um concomitante aumento na responsabilidade de gerir, salvaguardar e valorizar o que de único Guimarães tem. Nos últimos vinte anos fui testemunha e, em muitos dos casos, agente ativo, da transformação em Couros. Da intervenção no Complexo Multifuncional de Couros (em 2001 já em fase de obra) à reabilitação da antiga fábrica Âncora (atual Centro Ciência-Viva). A Ilha do Sabão, as Salas de Ensaio 2012 (teatro Jordão), o Plano Geral CampUrbis e a integração da Universidade no centro (histórico) da cidade. O Instituto de Design, na antiga fábrica da Ramada, e a criação de uma grande praça coberta, única na cidade. São muitos os resultados já visíveis, e muitas as circunstâncias que podem alterar-se nos próximos anos. Ainda há muito a ganhar, do ponto de vista patrimonial, através das intervenções nas unidades fabris (ainda) abandonadas: a Madroa, a antiga Simcur (entre o Instituto de Design e o Centro Ciência-Viva), as fábricas em redor do Largo do Cidade e da rua de Vila Verde, as unidades fabris da Caldeiroa. Como se pode compreender, apenas pela enumeração das fábricas, ainda há muito a fazer. Mas nos últimos anos, o rio deixou de dar testemunho das cores da moda. Hoje podemos ver peixes a habitar certas áreas do rio. É, uma vez mais, um regresso ao passado que augura um futuro melhor. Que outro objetivo poderemos ter?
14 Simão - o curtidor, referido no Novo Testamento (9,43; 10,5.17). Em Jaffa, Jerusalém, pode ler-se na entrada de uma casa
“House of Simon The Tanner´s Der Gerbe”, não sendo consensual essa localização.

Planta-síntese com a área classificada e zona tampão—Limites atuais (UNESCO, 2001) e novos limites propostos (candidatura 2021). Candidatura do Centro Histórico de Guimarães e Zona de Couros a Património da Humanidade. CMG, 2021.
1977- Guimarães - As antigas fábricas de curtumes e o papel dos Museus na salvaguarda do Património
Maria João Vasconcelos Conservadora de Museus Antiga Diretora do Museu de Alberto Sampaio, do Departamento de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal do Porto e do Museu Nacional de Soares dos Reis
Passaram 44 anos sobre a primeira tentativa de salvaguarda da Zona de Couros em Guimarães, possivelmente a primeira proposta de classificação de património industrial em Portugal. Nesse final da década de setenta do século XX, nos anos que se seguiram à revolução do 25 de Abril de 74, as questões do ambiente não eram ainda compreendidas de forma generalizada e o entendimento do valor patrimonial dos recursos naturais, fazendo-os equivaler ao património cultural, era uma posição defendida por alguns “líricos” que tinham em Gonçalo Ribeiro Teles um ideólogo e um líder15 . Por essa ocasião, o Museu de Alberto Sampaio, acompanhando as novas tendências da museologia, ia ensaiando uma acção de sensibilização para a importância desta visão mais global dos valores patrimoniais. Tratando-se de um Museu que albergava colecções essencialmente de arte sacra, tinha no seu patrono uma inspiração para o entendimento da importância da organização do território cuja evolução ele tão bem estudou, tendo deixado uma notável obra que nos ajuda a entender o modo como nos organizámos e vivemos ao longo da história. Assim, era natural que o Museu alargasse o âmbito da missão de conservação que cabe a qualquer museu, ao território que lhe está próximo e que se tentasse agregar os esforços de todos os que estavam mais sensibilizados, para chamar a atenção quando surgiam situações de ameaça ao património cultural. Foi assim que, alertados para o projecto de saneamento previsto para resolver a situação insalubre da zona das fábricas de curtumes, tapando o rio de Couros16, se desencadeou o trabalho de preparação de uma proposta que permitisse salvar os edifícios e encontrar uma forma de salvaguardar o curso do rio a céu aberto e conseguir a revisão das soluções previstas no plano de urbanização.
15 Só em 1979 Ribeiro Teles foi o primeiro Ministro do Ambiente. Até lá, a Comissão Nacional do Ambiente, dirigida pelo Dr. João Evangelista foi fazendo um notável trabalho de sensibilização que ia dando frutos junto dos mais novos. 16 A Constança Paúl, que prestava Serviço Cívico no Museu, e o Gonçalo Reis Torgal foram os dois jovens que primeiro me levaram àquela zona da cidade, alertando-me para o projecto de encanamento do Rio de Couros e suas consequências.

A proposta de classificação, de meados de 1977, teve três reclamações e sobre elas «foi mandada ouvir a Diretora do Museu de Alberto Sampaio», conforme se lê no parecer da Comissão Instaladora do Instituto de Salvaguarda do Património Cultural e Natural (3 de novembro de 1978), assinado pelo Arq. Viana de Lima. Aí se lia também que a Diretora do Museu considerava que, apesar dos argumentos apresentados, se mantinha a justificação para a classificação proposta. Após o despacho de homologação do mesmo parecer, pela Secretária de Estado da Cultura, Teresa Santa Clara Gomes (6 de novembro de 1978), foi constituída, como aí se determinava, uma Comissão com representantes dos vários serviços envolvidos17. Esta teria como missão encontrar as soluções mais justas que, sem prejudicar os legítimos interesses da comunidade local, permitissem «preservar tão valioso conjunto». A colaboração de todos os serviços envolvidos permitiu fazer um programa para a recuperação patrimonial e reutilização dos edi- Fábrica de curtumes. Passagem superior sobre o rio de Couros. Arquivo do Museu de Alberto Sampaio. fícios e o estudo das soluções urbanísticas e de saneamento mais adequadas, conforme o relatório de 15 de outubro de 1980. Entretanto, e a par destas diligências oficiais, o Museu continuava empenhado em dar continuidade a este projecto e ao envolvimento das pessoas de Guimarães neste processo, nessa altura ainda muito controverso. Não era fácil para muita gente aceitar que fosse atribuído o mesmo tipo de protecção patrimonial a um conjunto de edifícios fabris numa zona insalubre e mal cheirosa e aos monumentos históricos da cidade que todos reconheciam e dos quais se orgulhavam. Enquanto se aguardavam notícias sobre o desenvolvimento do processo de classificação, em Janeiro de

17 Tiveram importância fundamental no apoio a este projecto os vários serviços que fizeram parte da Comissão. Para além da SEC representada pela Diretora do Museu de Alberto Sampaio, a Câmara Municipal de Guimarães cujos presidentes, Srs Edmundo Campos e Manuel Ferreira foram sempre grandes defensores deste projecto. Do Ministério das Obras Públicas e seus serviços acompanharam e deram fundamental apoio o Arq. Manuel Aguiar e o Eng. Ilídio Araújo. O Delegado da SEC no Norte, Rui Feijó e o Arq. Filgueiras que com ele colaborava bem como com a Comissão Instaladora do Instituto do Património Cultural e Natural foram incansáveis na defesa deste controverso processo.
1978, no âmbito do Grupo de trabalho da SEC, Museus/Unesco, e com o apoio de consultores suecos, realizouse no Museu de Alberto Sampaio o primeiro seminário de Museus Locais e Regionais. Os participantes realizaram trabalhos práticos de propostas museológicas dedicadas à divulgação e educação sobre várias épocas da história de Guimarães. Demonstrando o interesse que este processo pioneiro estava a despertar, o grupo que se dedicou aos séculos XIX e XX construiu um protótipo de uma exposição itinerante, intitulada Os Curtumes em Guimarães com características de uma grande economia de meios e facilidade de transporte e montagem de forma a poder ser usada em qualquer espaço sem grandes exigências. No decorrer dessa semana de trabalho iniciou-se uma recolha de algum material ligado à laboração das fábricas e continuou-se o levantamento fotográfico dos espaços e das fases de trabalho nas fábricas ainda em laboração. Desta forma o Museu tem um pequeno núcleo inicial de material
Fábrica de curtumes - Arquivo do Museu de Alberto Sam- recolhido, destinado, desde início, à colecção para o futuro paio. Museu da indústria18 . A novidade desta atitude de conservação relativamente à dificuldade de reconhecimento de justificação para a conservação deste património, cujo valor histórico e estético não era evidente para quem com ele convivia de perto, foi dando lugar a algumas intervenções públicas de que destaco duas: nesse mesmo ano um pequeno artigo que escrevi em Março sobre a preservação desta zona no primeiro número do jornal O Povo de Guimarães. Aí se chamava a atenção para este assunto que se mantinha bastante controverso. O Museu mantinha uma estreita colaboração com a Biblioteca Gulbenkian e a conservação da Zona de Couros foi mais uma causa comum. Com o Cine Clube de Guimarães e o apoio do Instituto de Tecnologia Educativa foi realizado um filme sobre os curtumes em Guimarães. Ainda como consequência do reconhecimento da importância do estudo das indústrias que sofriam grandes alterações, nesses anos, foi iniciada também uma primeira colaboração experimental entre o Museu

18 O Museu de Alberto Sampaio, a quem agradeço a colaboração, tem no seu espólio uma meia dúzia de instrumentos fabris e no seu arquivo fotografias da zona nessa altura.
e a Universidade do Minho, tendo eu dado algumas aulas de sensibilização para o património industrial –edificado, equipamento e arquivos – aos futuros Engenheiros do curso que funcionava, na ocasião, no Palácio de Vila Flor. Passados tantos anos, o retomar deste assunto permitiu-me reencontrar pessoas e relembrar acontecimentos e, ao mesmo tempo, ver o apaziguamento que os anos que passam trazem às questões controversas. É hoje pacífico o reconhecimento do valor histórico, estético e social daquela zona que será parte do Património Mundial. A Câmara Municipal de Guimarães de há muitos anos que se vem envolvendo de forma decisiva com a finalidade de cumprir os compromissos assumidos desde 1979. Falta ainda conseguir o Museu da Indústria que Guimarães bem merece. Ficou também reforçada a minha convicção de que os Museus são instrumentos fundamentais para que a conservação do Património seja pensada e tornada útil em muitas dimensões que só com a conjugação do conhecimento e da sensibilidade se podem descobrir e desenvolver. O exemplo do empenhamento do Museu de Alberto Sampaio, neste caso em que o objeto não tinha à partida ligação disciplinar com as coleções do próprio Museu, merece, a meu ver, ser aprofundado com o estudo abrangente de todo o processo. Tentarei contribuir para isso.
Centro Histórico e Couros: Património de Futuro
Paulo Lopes Silva Adjunto da Vereação do Município de Guimarães
Falar, em 2021, da inscrição de Guimarães na Lista de Monumentos e Sítios classificados como Património Cultural da UNESCO é falar de passado, memória e preservação. Mas é também falar de futuro, de função, de uso, de novas interpretações e de comunidade. Em 2014, a Conferência Geral da UNESCO definiu a estratégia de médio-prazo de que constavam os objetivos estratégicos da organização. Essencialmente, consistiam na aprendizagem ao longo da vida, na capacitação de alunos a serem cidadãos globais criativos e responsáveis, na promoção da educação para todos, no fortalecimento das políticas de ciência, tecnologia e inovação, na promoção da cooperação científica internacional especialmente no que concerne ao desenvolvimento sustentável, no desenvolvimento social inclusivo, no diálogo intercultural, na proteção, promoção e transmissão do património, na promoção da criatividade e da diversidade de expressões culturais e na promoção da liberdade de expressão, no desenvolvimento dos media e acesso à informação e conhecimento. Em 2022, Guimarães assinalará também 10 anos da Capital Europeia da Cultura, tendo estado o Município representado, em 2018, na Conferência de Capitais Europeias da Cultura, em Florença, de onde saiu um compromisso coletivo destas cidades em "contribuir para preservar e reforçar as expressões culturais e o património cultural", em "continuar a incluir e a manter as políticas e as atividades culturais como prioridade municipal", bem como na "partilha de boas práticas e experiências sobre políticas culturais e atividades". Assim, a visão das instituições mundiais e europeias sobre o património assenta não só na preservação dos bens, como na diversificação das expressões culturais a eles associadas e na promoção da criatividade em torno do desiderato de promoção patrimonial. No domínio da preservação e valorização do bem, Guimarães tem 20 anos de uma experiência amplamente valorizada e elogiada pelas diferentes instâncias de gestão. Recentemente, foi aprovado um instrumento fundamental na perpetuação destas boas práticas: O Plano de Gestão para o Património Centro Histórico de Guimarães e Zona de Couros.
Este documento prevê a comunicação do bem classificado e dos valores universais que lhe estão associados, a identificação dos envolvidos e respetivas responsabilidades, o modo de salvaguarda e a evidência da viabilidade da salvaguarda.
Assenta também em 5 C’s fundamentais à salvaguarda, do qual eu gostaria de me centrar num em especial: Comunidade. A valorização, preservação e salvaguarda do bem patrimonial Centro Histórico de Guimarães não se faz apenas para e com os edifícios e as respetivas técnicas de construção. Faz-se com e de pessoas que o habitam, nele trabalham ou dele usufruem. São, assim, fundamentais as políticas de fixação de habitantes no Centro Histórico, a definição de elementos fundamentais ao uso do espaço, comportando os valores do conforto e do uso, dentro, naturalmente, dos limites da salvaguarda patrimonial, e a proteção da essência e dos elementos distintivos das praças e ruas que compõem o bem. Não há património sem os habitan- Tanques da Caldeiroa, foto de Nuno Machado tes, as lojas tradicionais e as associações culturais historicamente relevantes que o dinamizam e lhe dão a vida que o torna único.

Da mesma forma que são essenciais os elementos de envolvimento da comunidade e dos visitantes, na preservação e valorização do Património, de que são excelentes exemplos as iniciativas desenvolvidas pelo Museu de Alberto Sampaio, o Guimarães Allegro – Festa da Música Erudita, o Cinema em Noites de Verão do Cineclube ou o Guimarães o Verão é Jazz do Convívio. São ainda essenciais as dinâmicas dos convívios de moradores, a vivência religiosa em torno, especialmente da Igreja da Oliveira e Igreja da Misericórdia, ou o sentido de pertença e defesa do espaço pelos proprietários e trabalhadores do Centro Histórico. Conforme dito anteriormente, o Plano de Gestão para o Património aponta hoje como área de influência

não apenas o Centro Histórico classificado, como a Zona de Couros, e área envolvente, para a qual se pretende também alargar a classificação da UNESCO. Como tem sido dito, junta-se à memória da realeza e do clero, à vila de cima e de baixo previamente classificadas, a memória do trabalho com centenas de anos de história em Couros, Ramada e Vila Verde. É precisamente na área da Criatividade, e com o envolvimento da Comunidade, que se tem desenhado a ação e a transformação deste território. Se há território onde falar do nosso Centro Histórico, agora alargado, é falar de futuro, é o do eixo Couros – Cruz de Pedra –Conde Margaride. Foi para esta área que, no início do Século XXI, se desenhou o CampUrbis e a requalificação dos antigos edifícios industriais, especialmente da indústria de Couros, para lhes dar nova função através da instalação de entidades ligadas ao Conhecimento, à Ciência, à Cultura e à Comunidade. Instituto de Design, Centro de Ciência Viva, CyberImagem de 08/09/2021 centro, Fraterna ou Pousada de Juventude são edifícios e instituições que já reconhecemos, como históricos e presença no espaço, mas é também neste local onde se instalaram, ou instalarão entretanto, a Universidade das Nações Unidas, na antiga Fábrica Freitas e Fernandes, a Escola de Artes de Guimarães – com Artes Visuais e Artes Performativas da Universidade do Minho e Conservatório de Música da Sociedade Musical de Guimarães -, no Teatro Jordão e Garagem Avenida, a futura Escola Hotel, na Quinta do Costeado, ou o curso de Engenharia Aeroespacial na antiga Fábrica do Arquinho, na Caldeiroa.
Foto de José Caldeira Com a intenção de reinterpretar discursivamente esta estratégia de desenvolvimento e de a reproduzir

de forma consolidada e criativa, juntando sinergias de todas as instituições que habitam estes espaços, é que o Município lançou em 2019 o projeto Bairro C: Caminhos da Cultura e Criatividade. Um projeto que, além destas dimensões, se ativa de forma visível pela Arte Urbana, envolve a comunidade artística através de Chamadas Públicas à criação e programação do espaço, e desenvolve um trabalho de Comunidade muito forte, envolvendo os habitantes atuais e futuros na inscrição deste universo idealizado, na realidade dos seus dias, de forma bilateral e recíproca. Traria ainda à colação um objetivo deste estruturante projeto, e que se envolve na temática do uso do património, que assenta na reintegração de percursos pedonais no quotidiano da vivência urbana, ora esquecidos, ora agora reabilitados. É de futuro que falamos quando falamos de 20 anos de Património classificado pela UNESCO. Porque é de uso do património, de alargamento da classificação e da integração das prioridades da criatividade e da comunidade na valorização do bem que falamos, quando falamos da classificação da UNESCO. É um Centro Histórico romântico e carregado de simbologia da criação de um país – do Castelo à Oliveira – e uma nova área classificada, por ventura menos idílica, que conserva a memória do trabalho e a integra num motor de desenvolvimento do território assente na Criatividade, Cultura e Ciência. Assim, e em jeito de conclusão, deixaria duas notas finais sobre esta abordagem prospetiva destes 20 anos de Património Classificado. A primeira sobre a necessária atenção ao conforto, à qualidade do espaço público e ao equilíbrio da tríade moradores, visitantes e trabalhadores/empresários do Centro Histórico que deverá ter como preocupação central as pessoas e as características únicas do nosso bem. A rejeição das soluções standardizadas, das cadeias multinacionais e das ocupações habitacionais de curta duração, em detrimento das lojas tradicionais, das associações com história e dos moradores permanentes. A segunda sobre a criatividade e a ciência como motores de desenvolvimento do território, e que conhecem na nova área a classificar o seu laboratório vivo de experimentação, sediando em Couros, Caldeiroa e Cruz de Pedra, práticas vanguardistas, instituições de ensino superior em áreas científicas e artísticas, e uma vivência coletiva potenciadora da inovação e da experimentação. Centro Histórico e Couros já são Património, queremos que sejam também futuro.
Guimarães, ano 2041
Sérgio Silva Diretor Executivo do Curtir Ciência – Centro Ciência Viva de Guimarães

Este é um texto de ficção a partir de fragmentos de realidade. Algumas semelhanças não são mera coincidência.
Do nosso correspondente em Guimarães: Durante muitos anos, e principalmente com o impulso decorrente da inscrição, pela Unesco, do Centro Histórico de Guimarães na lista de Património Cultural da Humanidade, a 13 de dezembro de 2001 (há 40 anos, portanto), as incursões de carácter turístico ao burgo vimaranense iniciavam, não raro, na Colina Sagrada, onde são visitáveis o Castelo, um dos monumentos mais representativos do imaginário medieval português; o Paço dos Duques de Bragança, que há mais de meio século desiludiu o nosso (até agora) único Nobel da Literatura, José Saramago, escritor que, como se tem visto, as gerações mais novas, na escola, confundem com José Rodrigues do Santos; e a Capela de S. Miguel, onde o primeiro rei terá sido batizado, tese que continua a suscitar polémica acirrada na capital da Beira Alta; e prosseguiam a ritmo de marcha olímpica pelo Centro Histórico via Rua de Santa Maria pitoresca, com uma fugaz mirada ao Convento de Santa Clara, sede do Poder Municipal, e uma parada técnica para experimentar um doce tradicional, desembocando no Largo da Oliveira e na Praça de S. Tiago, que estão para Guimarães como as Plazas Mayores estão para a generalidade das cidades espanholas (estas duas “crateras” no miolo medieval são o epicentro da chamada movida vimaranense, com a sua generosa oferta de poisos para amesendação e beberagem, vertente que se tem reforçado nos últimos 20 anos, principalmente após a Pandemia de Covid-19, com a florescência de novos bares e hostels pela mão de empreendedores ); continuavam pela Rua da Rainha, proeminente artéria de comércio e hotelaria, onde pontifica uma célebre loja de roupa na antiga sede da Associação Comercial e Industrial de Guimarães (um palacete que encanta transeuntes, conhecido outrora por Casa dos Lobo Machado), passando pelo Largo do Toural, versão 2012, que resistiu com galhardia, há 10 anos, à tentativa de reversão ao seu desenho anterior de praça circular emoldurada por árvores, levada a cabo por forças mais conservadoras com assento na Câmara Municipal – mas ela lá está, a “sala de visitas” citadina, mostrando mais ainda a sua leitura contemporânea, e com ganhos de
dimensão pelo facto de não registar trânsito à sua volta. Durante décadas este foi o itinerário dos circuitos turísticos de massas: autocarros de muitas cores, a maioria azuis, chegados às imediações da Colina Sagrada, largavam grupos de reformados europeus baseados no Porto que em oito dias visitavam Portugal e os seus encantos. Mas começou a mudar nos últimos anos depois de a Unesco ter decidido estender o galardão de Património Cultural da Humanidade à Zona de Couros, abrindo assim caminho para duplicar a área protegida, o que torna Guimarães uma das cidades portuguesas com maior espaço urbano classificado como Património da Humanidade. E fruto também de um rigoroso modelo de planeamento que, depois de reservas iniciais, acabou por ser adotado pelo Município. De repente, em função do impulso promocional decorrente do alargamento da área classificada, os turistas começaram a acorrer a esta zona situada entre a área intramuros e as áreas extramuros do centro da cidade, e que durante séculos foi conhecida pela atividade dos curtumes, depois pelo abandono e degradação e no último meio século tem sido recuperada, sendo um testemunho excecional, porventura único, de uma tradição cultural desaparecida19 .
Considerando que “a conservação não pode ser antagónica da transformação”, o Município implementou um projeto de reconversão que foi muito para lá do mero restauro, antes “exigiu ações claramente transformadoras, tanto ao nível do património arquitetónico, como do património natural”20. E assim surgiu, em pleno coração da urde, um novo quarteirão caracterizado pela sua pujança e pela reconversão de antigas unidades fabris em centros de formação e investigação. E marcada pela sua pujante dinâmica cultural que nos recorda a razão de Guimarães ter sido, no longínquo ano de 2012, Capital Europeia da Cultura. Ainda há poucos anos poucas eram as pessoas que, a não ser por imperiosa necessidade, ousavam calcorrear as ruas estreitas que atravessavam casario degradado e abandonado e esqueletos de antigas fábricas

19 O articulista “colheu” inspiração para esta parte da leitura do “Plano de Gestão 2021-2026 - Centro Histórico de Guimarães e Zona de Couros”, p. 228. 20 O capítulo Visão do “Plano de Gestão 2021-2026 - Centro Histórico de Guimarães e Zona de Couros”, p. 150, merece leitura atenta.
de curtumes. Era um pouco como acontecia com o Centro Histórico de Guimarães antes da exemplar reabilitação iniciada nos anos 80 quando a Câmara Municipal criou o Gabinete do Centro Histórico com a função de gerir e desenhar as iniciativas privadas ou municipais nas três freguesias centrais da cidade: antes dessa ofensiva o Centro Histórico era tudo menos convidativo. Para moradores e para visitantes. Hoje, como comprovou a nossa reportagem, a Zona de Couros oferece diversos atrativos de visita. Desde logo a extensão de tanques de curtimenta em granito (superior a 4000 m2) que coloca a Zona de Couros ao nível de áreas classificadas pela Unesco como as de Fez e Marraqueche (Marrocos). Depois a vitalidade decorrente do polo cada vez mais importante da Universidade do Minho, que cresceu em número de cursos, professores e alunos. De facto, além do Instituto de Design na Antiga Fábrica da Ramada; do Centro de Formação Avançada Pós-Graduada e Agência para a Modernização Administrativa e a UNU-eGov, unidade de governação eletrónica da Universidade das Nações Unidas, o Theatro Jordão acolhe os cursos de Música, Teatro e Artes Performativas e o mais recente curso de Gestão Cultural.


O “antigo” Theatro Jordão é, desde a sua inauguração, um “hotspot” cultural e formativo, em perfeita sintonia com o vizinho Centro Cultural de Vila Flor, que recuperou legitimamente o seu estatuto de sala incontornável por onde fazem questão de passar os nomes da música, do teatro, da dança nacionais e estrangeiros, ombreando com o Theatro Circo de Braga. O Theatro, cuja recuperação foi premiada pela Ordem dos Arquitetos, continua a ser
um laboratório criativo e formativo nas áreas da música e artes performativas, e não foi beliscado na sua inserção arquitetónica pela construção, há pouco mais de seis anos, do Hotel Futuris nas suas traseiras, no âmbito do projeto de revitalização da Zona de Couros. Outros dos atrativos é o moderno Centro de Ciência que, de forma viva, se tem afirmado ao longo dos anos como polo divulgador de atividades experimentais junto do público. É um edifício moderno, com extensos frontais vidrados em harmonia com o betão aparente, projetado pelo arquiteto Seara de Sá, antigo vereador municipal, que atrai visitantes de toda a Europa, comparado já, à escala de cidade média, ao Museu das Confluências de Lyon devido à heterogeneidade das suas exposições em que predominam as respostas de alto valor tecnológico, na maioria resultantes de parcerias com a Universidade do Minho. O novo Centro de Ciência é um edifício de raiz, perfeitamente integrado no espaço envolvente, de linhas contemporâneas e energeticamente sustentável, fazendo ligação com a Antiga Fábrica de Curtumes Âncora, entretanto transformada em Museu da Pele (onde é possível acompanhar, através de exposições permanentes, a história, os documentos, os vestígios ligados à atividade dos curtumes) e com o Instituto de Design. Perante esta dinâmica transformadora percebe-se, claro, o entusiasmo que pontuou, no dia 13 de dezembro, as comemorações dos 40 anos da classificação inicial do Centro Histórico pela Unesco e pelo recente alargamento desse galardão à Zona de Couros. Tal alargamento reforçou fortemente o caráter central, incontornável, desta área da cidade. Uma área atrativa para viver, trabalhar, passear e conviver, onde coexistem a integridade e autenticidade históricas e as melhores práticas ao nível mundial no tocante a mobilidade urbana, participação cívica, educação e formação. A Zona de Couros é, cada vez mais, na opinião de quem ali vive, trabalha e dos muitos visitantes, um lugar obrigatório a visitar em Portugal, pelo seu património material e imaterial: a sua gastronomia, hospitalidade, celebrações e

festividades21 . "Muitos, mesmo cá dentro, achavam que éramos malucos por querermos aproveitar uma coisa que estava velha, a cair. Havia projetos, mesmo políticos, que apontavam o caminho seguido por muitos municípios aqui à volta, que era aderir ao modelo de explosão da construção e destruir tudo. Não era a nossa visão", recordou o Presidente da Câmara na sessão de comemoração no Largo do Cidade22 . Mas nem tudo foi fácil ou positivo. O caminho percorrido ao longo das duas últimas décadas, não escapou a desafios, obstáculos e polémicas, a principal das quais foi a proposta, quase aprovada por maioria no seio do Município, apresentada por forças de extrema-direita que entretanto conseguiram assento no Executivo, de suspender a intervenção municipal no restauro e reabilitação dos edifícios fabris da Zona de Couros, e em alternativa lotear os terrenos e colocar as antigas fábricas à disposição do investimento privado, encaixando dessa forma uma importante verba capaz de desafogar as contas municipais. Na altura o episódio, que teve ampla cobertura televisiva e deu origem a debates acalorados, reavivou memórias de mais de século de outra polémica, quando em 1836 deu entrada na Câmara uma proposta de um membro da Sociedade Patriótica Vimaranense para demolir o Castelo de Guimarães, por ter funcionado como prisão política no tempo de D. Miguel, e a utilização das suas pedras para ladrilhar as ruas da cidade. Não fosse a mobilização de forças vivas e de alguns setores da população, a proposta, à qual aderiram alguns representantes de forças políticas mais institucionais e ditas progressistas, teria sido aprovada, inviabilizando aquilo que é hoje a Zona de Couros: um conjunto de pequenos quarteirões de enorme vitalidade cultural, investigativa, científica e de lazer.

21 Excertos retirados com a devida vénia do artigo “A propósito do desenvolvimento da Zona de Couros”, do arquiteto Ricardo Rodrigues, na revista municipal “Guimarães C Visível”, nº 1, Abril/Dezembro 2021, p. 137. 22 Na verdade, esta declaração foi proferida pelo Dr. António Magalhães, antigo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, à Agência Lusa, em 5 de abril de 2016, na evocação do longo processo de recuperação do Centro Histórico que daria origem à classificação pela Unesco em 2001.
O Centro Histórico e a Zona de Couros são há vários anos passagem obrigatória de turistas, de artistas, de investigadores e estudiosos. E a nossa reportagem comprovou in situ as razões que explicam essa afluência e a preocupação local em evitar que ela se transforme, como outos aglomerados urbanos histórico-monumentais classificados pela Unesco, num mero cenário turístico. O percurso percorrido por Guimarães foi longo e não isento de falhas e desafios. O conjunto de medidas implementadas pelo Município em matéria de mobilidade, com o fecho ao trânsito automóvel de várias ruas centrais (medida que começou por gerar alguns focos de oposição entretanto amenizados pelo modelo urbano entretanto adotado e bem explicado pelo Poder Local); a criação de parques de estacionamento de periferia e de praças e zonas verdes lúdicas para crianças no miolo urbano; uma eficiente e rigorosa gestão e diminuição dos excessos de carga turística sobre esta zona, funcionando como barreira contra a banalização que afetou e afeta outras cidades, diferenciam Guimarães da generalidade das cidades a nível mundial e conferindo-lhe um estatuto singular em que dominam os elevados níveis de qualidade de vida, a vitalidade cultural e económica que a diferenciam da generalidade das cidades a nível mundial e que levaram um célebre arquiteto a classificá-la como “a Pontevedra de Portugal”. Em suma, uma cidade dinâmica e amiga das pessoas. Não na ficção, mas na realidade.

O Cidade e o Largo do Trovador
Álvaro Nunes
Quem de S. Francisco desce, em direção aos tanques de Couros, passa certamente pelo Largo do Trovador que, em tempos mais remotos, se denominou Largo do Pelourinho. De facto, ali se implantava o pelourinho transferido da Praça Maior (Oliveira), e nele se manteve até 1880. Era, igualmente, comum existirem neste largo peles a secar ao ar livre, colocadas em tendais, pelos industriais dos curtumes e pelames.
Porém, em 10 de Junho de 1880, Guimarães comemoraria com pompa e circunstância o 3º. centenário da morte de Camões e algumas alterações toponímicas foram levadas a cabo pela Câmara Municipal. Deste modo, a Rua Nova das Oliveiras passaria a Rua de Camões e por proposta do vereador António Joaquim de Melo e sugestão do Padre António Caldas, o Largo do Pelourinho seria rebatizado de Largo do Trovador, em homenagem a Manuel Gonçalves, assim referenciado pelo Padre António Caldas na sua obra “Guimarães Apontamentos para a sua história”:

Largo do Trovador, foto de Secundino Ferreira “Manuel Gonçalves - o Trovador – nasceu no antigo burgo da rua de Couros. Foi o primeiro que, em Portugal, apenas constituído em nação independente, compôs trovas. Jaz sepultado no mosteiro de Santa Maria do Pombeiro ao pé do túmulo de D. João de Melo e Sampaio, antigo comendador do mesmo mosteiro, fundado em 1041, por Fernando Magno de Castela.”
Ora, deste largo se chega facilmente aos tanques de Couros e ao Largo do Cidade. De facto, aqui viveu Cristóvão José Fernandes da Silva, abastado homem de negócios e da indústria de curtumes vimaranense,
conhecido pela alcunha “O Cidade”, que aqui residiu e seria proprietário do imóvel onde hoje está instalada a Pousada da Juventude. No seu livro “Toponímia Vimaranense”, Domingos Ferreira conta-nos a sua história:
“Cristóvão José Fernandes da Silva nasceu em 1812 e morreu em 1883. No ano de 1830, juntamente com o seu pai obteve vários privilégios reais, concedidos por D. Miguel no contexto da instabilidade verificada durante as lutas liberais. Após terem “estabelecido com fundos seus uma fábrica de curtumes de toda a qualidade de atanados no sítio do Rio de Couros”, justifica o documento que pode ser consultado no Livro de Registo Geral da Câmara – 1827-1830, existente no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta (…) No ambiente das lutas liberais, os homens da Rua de Couros “fizeram uma grande assuada na Cidade, alagando-lhe uma fábrica que ele andava a fazer”. Porém, esse contratempo não impediu Cristóvão José Fernandes da Silva de acumular uma grande fortuna, proveniente do negócio de couros e das aplicações de capitais feitas nos empréstimos de dinheiro a juro e na aquisição de grandes propriedades rurais e urbanas. Nos últimos anos da sua vida, este industrial, negociante e capitalista, exerceu funções de Ministro da Venerável Ordem de S. Francisco, localizada nas imediações da sua casa, tendo patrocinado importantes trabalhos de restauração da igreja, hospital e da capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Morreu solteiro, sem filhos conhecidos, nem descendentes diretos, e a transmissão dos seus bens deu azo ao aparecimento de um falso testamento (…) e deu origem a um longo e moroso processo judicial (…).
Casa/Largo do Cidade, atual Casa da Juventude, foto de Secundino Ferreira

Rio de Couros
Carlos Poças Falcão
Rio de Couros. Rio por onde correm muitos rios. Bem tentam os homens represar
as águas, conduzi-las a estes tanques. E conseguem, por momentos. Que depois tudo
flui. Corre a indústria dos curtumes, são passadas e repassadas as inumeráveis peles de
animais numa correnteza cruenta e insalubre. Correm também seu curso as palavras, que no tempo já se esquecem: abaldoar, atabicar, lavar, surrar, engordurar… Palavras, gestos e saberes de rios que passaram. Outro curso é o das vozes: gritos, chamamentos,
ordens de trabalho, cantos esforçados, rudes impropérios. Parece que ainda se ouvem,
mas passaram, correram, fluíram. Como as gerações, as inumeráveis gentes de trabalho, que aqui mergulha-
ram os seus corpos, a sua pele, deixando marcas de vida, de luta e de labor. Entretanto o rio corre, levando
consigo os outros rios. Rio de Couros: o seu sulco, a sua correnteza é, afinal, o que persiste, o movimento que, enfim, mais permanece.

Vista do local onde estás gravado este texto, na margem do RIo de Couros
Inserir imagem do separador
PERSPETIVA DAS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES

JANELA DO TEMPO
Pensando o Património Cultural da Sociedade Martins Sarmento: Breves considerações
Daniela Cardoso Centro de Geociências da Universidade de Coimbra - (u. ID73-FCT), Sociedade Martins Sarmento
O Homem não se lembra do passado. Reconstrói-o sempre (...). Parte do presente – e é sempre através dele que conhece, que interpreta o passado (...).
Lucien Febvre, Combates pela História, Lisboa. Editorial Presença, 1989 p., 25,26.
Para Francisco Martins Sarmento (1833-1899), escavar era descobrir a vida de nossos antepassados, pois mais do que o objeto lhe interessavam os homens, mais do que as ruínas, motivava-o a busca de informação acerca da vida dos habitantes dos castros, os antigos habitantes do território português. Julgava ser possível encontrar a nossa verdadeira identidade, o que fazia dele mais um antropólogo, etnólogo do que um arqueólogo. Calcorreando montes e vales, Martins Sarmento deparou-se com preciosos tesouros, entre eles a emblemática Citânia de Briteiros e o Castro de Sabroso, no concelho de Guimarães, os quais veio a estudar intensamente e, ainda insatisfeito, estendeu as suas pesquisas a muitos outros remotos lugares da região de Entre Douro e Minho. Nestes lugares, onde aparentemente nada havia senão pó, surgiram inesperadamente, como que impulsionados pelo poder da magia, mais de meia centena de cidades desconhecidas, os chamados castros/citânias/cividades, através da descoberta das suas estruturas, como muros e muralhas, assim como objetos de uso quotidiano, de caráter ritual e de labores ancestrais. Entrelaçando esses testemunhos, Martins Sarmento ensaiou a reconstituição da existência do Homem pré-histórico na região, foi considerado um sábio arqueólogo e obteve reconhecimento nos principais centros europeus de cultura da época. Após mais de uma década de pesquisas, o insigne arqueólogo reúne um considerável espólio que dará origem à necessidade da criação de um espaço museológico. A construção do Museu arqueológico em 1885 acontece no seguimento da fundação da Sociedade Martins Sarmento em 1881, uma instituição de utilidade pública, criada em sua homenagem, tendo como principal objetivo a promoção da “instrução popular”, o ensino primário, secundário e profissional. A sede da Sociedade Martins Sarmento (SMS) localiza-se no coração da cidade de Guimarães e ocupa dois espaços distintos: um medieval e um outro contemporâneo.
Do medieval faz parte o claustro gótico do extinto convento de S. Domingos, cedido em 1888 pelo rei D. Luís I, a fim de nele se instalar a Instituição (Figura 1). É neste antigo espaço que se encontra alojado um dos mais antigos e importantes museus arqueológicos portugueses, detentor de um acervo ímpar no contexto da Cultura Castreja do Noroeste Peninsular, descoberto maioritariamente por Martins Sarmento nas escavações da Citânia de Briteiros e do Castro de Sabroso, e nas prospeções realizadas em diversos sítios arqueológicos do Norte de Portugal, assim como de outros materiais doados por outros investigadores. O visitante deambulando pelo espaço museológico poderá ir descobrindo aqui e ali uma infinidade de elementos arqueológicos de proveniência diversa e de épocas distintas, desde a remota Pré-história à Idade Moderna. Pode observar esculturas, elementos arquitetónicos, objetos de uso quotidiano (facas em sílex, machados em pedra ou metal, cerâmicas, lucernas), mas certamente fixará mais intensamente o seu olhar nas singulares estátuas de guerreiros galaico-lusitanos, no excecional Carro Votivo de Vilela, Paredes (séc. IV a. Figura 1 - Claustro da Sociedade Martins Sarmento C.), nos materiais pré-históricos da Penha (Guimarães), (Fonte: Sociedade Martins Sarmento). assim como no Altar de Semelhe (Braga), um monumento romano com dedicatória a César Augusto. Já o espaço contemporâneo é um imponente edifício concebido pelo arquiteto José Marques da Silva, com início de construção em 1901 e concluído apenas em 1967. É neste edifício que está instalada uma das mais importantes bibliotecas privadas portuguesas que dispõe de cerca de 100 mil volumes. É aí que o visitante poderá consultar distintas coleções, entre elas a do Livro Antigo, assim como obras especializadas em áreas como a História, a Arqueologia, a Etnografia, a Medicina, o Direito, a Religião. Pode ainda solicitar publicações do valioso Fundo Local que integra tudo o que se tem publicado sobre Guimarães e obras de autores vimaranenses, assim como consultar na Hemeroteca, as coleções de jornais editados em Guimarães desde 1822. O visitante poderá ainda realizar uma viagem no tempo, no Arquivo Documental, espaço reservado apenas a investigadores, onde se encontram cerca de 30 mil peças desde o séc. XII até à atualidade, com destaque para o Foral de Guimarães de 1507. Para saciar a sua sede de cultura, o visitante pode finalmente percorrer outros espaços, nomeadamente

as Galerias de exposições temporárias, onde estão expostas variadas coleções que vão desde a arte contemporânea, numismática, pintura, gravura, escultura e etnografia. Considerada uma das mais antigas instituições da cultura em Portugal, a Sociedade Martins Sarmento tem como missão a defesa e conservação do património cultural local, regional e nacional, é uma singular guardiã da memória de Guimarães. Para além da sede da SMS, no centro de Guimarães, a instituição tem ainda sob a sua alçada a supervisão técnica e científica das estações arqueológicas da Citânia de Briteiros, do Castro de Sabroso, em S. Lourenço de Sande, e do Museu da Cultura Castreja, instalado no Solar da Ponte, antiga casa de campo do insigne arqueólogo, em S. Salvador de Briteiros, entre outros sítios arqueológicos e monumentos dispersos pelo norte do país.
Falando, agora, da emblemática Citânia, este espaço é um soberbo testemunho da grandeza de um passado que se crê glorioso. As suas ruínas são apenas o vestígio de algo humano que desafiou os séculos e que ainda resiste. Apesar do desgaste do tempo, as pedras preservam ainda a sua essência, a luminosidade da sua textura, pátina e seus reflexos. A Citânia implantada no Monte de S. Romão é um dos locais mais paradigmáticos da arqueologia portuguesa, citada nos textos dos antiquários desde o séc. XVI. Foi estudada por Martins Sarmento no séc. XIX, mais precisamente a partir de 1874, e é considerada um dos mais expressivos povoados proto-históricos da Península Ibérica, dada a sua dimensão (cerca de 24 hectares), monumentalidade das suas muralhas, urbanismo e arquitetura. Os trabalhos arqueológicos tiveram continuidade ao longo de todo o séc. XX, destacando-se durante esta época a incontornável figura de Mário Cardozo que para além das escavações deixou um contributo fundamental no que toca à conservação e restauro das ruínas deste povoado. Na atualidade, é visível uma extensa área de ruínas, tanto na plataforma superior (acrópole) como na encosta leste (Figura 2). Contudo, apesar das campanhas arqueológicas já realizadas, o subsolo do povoado encerra ainda muitos mistérios com importante e preciosa informação. A fase inicial de ocupação do Monte de S. Romão remonta ao Neolítico Final/Calcolítico, quando vários afloramentos graníticos com a designada Arte Atlântica (combinações circulares, covinhas, espiraliformes, linhas meandriformes) foram gravados ao longo de todo o monte (Cardoso, D., 2015). Porém, como habitat, apenas existem escassas evidências de que este povoado tenha tido a sua génese durante a Idade do Bronze (primórdios do I milénio a. C), visto ainda não terem sido encontradas estruturas que assinalem uma eventual ocupação deste período (Lemos & Cruz 2011, p. 52). Sabe-se, no entanto, que
o apogeu da Citânia de Briteiros se deu entre o séc. II a.C. e o câmbio da Era, tendo sido ainda habitada após a integração do Noroeste Peninsular no Império Romano, durante os séculos I e II d. C.. Existem ainda vestígios que denotam uma outra ocupação, ainda que breve (séc. X), como se pode constatar através das ruínas de uma capela com necrópole medieval adjacente (Cardozo, 1968). Ao percorrer as ruas da Citânia, o visitante de hoje tem a nítida perceção de que está a caminhar pelas artérias (ruas e quarteirões) que ordenavam uma majestosa cidade. Alongando o seu olhar pode observar as ruínas de unidades habitacionais de distintas épocas (da Idade do Ferro ou época romana); as canalizações; os equipamentos de carácter público, como a Casa do conselho ou os balneários pré-romanos que tinham como propósito mais óbvio o banho e a sauna; as três imponentes linhas de muralhas que poderão atestar uma finalidade defensiva, ou até mesmo simbólica, como uma possível manifestação de poder dos povos que um dia ali habitaram.
As ruínas da Citânia, o seu subsolo e os objetos recolhidos nas escavações testemunham milénios de história e confirmam a ocupação do Monte de S. Romão. Os vestígios daí provenientes podem ser observados no já referido Museu arqueológico da SMS, mas também num mais recente equipamento cultural (2003), o Museu da Cultura Castreja. Este edifício, constituía uma antiga casa agrícola da família de Martins Sarmento, construída entre os séculos XVIII e XIX (Figura 3). Figura 2 - Vista geral da área da acrópole-Citânia de BriO museu funciona como um centro de interpretação e teiros (Fonte: Sociedade Martins Sarmento). complementa a visita da Citânia. Aí o visitante pode avivar as memórias de outros tempos, ao percorrer as várias salas, onde objetos e painéis explicativos o remetem para o universo do dia a dia da Citânia de Briteiros e do Castro de Sabroso, através de diversificado espólio arqueológico. Em exposição pode olhar cerâmicas, metais, vidros, esculturas, elementos decorados oriundos de unidades habitacionais, como lintéis e padieiras, assim como o ex-libris da Citânia de Briteiros, uma grande estela decorada em granito, designada por Pedra


Figura 3 - Vista geral da fachada principal do Museu da Cultura Castreja (Fonte: Sociedade Martins Sarmento). Formosa, o mais excecional elemento descoberto na Citania que poderá ter feito parte do balneário do povoado. Este trajeto coloca ainda o visitante frente a frente com o percurso pessoal e científico de Martins Sarmento através dos vários objetos pessoais, mobiliário, câmaras fotográficas, correspondência com o seu amigo Camilo Castelo Branco e várias obras da sua biblioteca pessoal. O discurso museológico do Museu da Cultura Castreja constitui um legado da memória e da identidade das comunidades do passado na região e é essencial para a compreensão dos sítios arqueológicos e da figura de Martins Sarmento.
Visitar todas as valências da Sociedade Martins Sarmento é Re(Co)nhecer as nossas origens. A herança que nos foi deixada deve ser transmitida e partilhada às atuais e futuras gerações e deve continuar a inspirar e a apaixonar o nosso imaginário coletivo. Cuidar deste património é responsabilidade de todos nós.
Referências bibliográficas
Cardoso, D. (2015). A Arte Atlântica do Monte de S. Romão (Guimarães) no Contexto da Arte Rupestre Pós-paleolítica da Bacia do Ave – Noroeste Português. Tese de Doutoramento. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Cardozo, M. (1968). A Capela de São Romão da Citânia de Briteiros. Revista de Guimarães, 78 (1-2), pp. 107-111. Cruz, G. (2020). Citânia e Sabroso-Memória histórica e arqueológica/Citânia e Sabroso- An historical and archaeological account. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. Lemos, F. e Cruz, G. (2011). Citânia de Briteiros – Povoado Proto-histórico/The Protohistoric Settlement. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. Lucien Febvre (1989). Combates pela História, Lisboa. Editorial Presença, pp. 25-26. Martins, M. (1995). Martins Sarmento e a Arqueologia dos Castros. Revista de Guimarães, 105, pp. 127-138.
A Muralha
Rui Vítor Costa Texto adaptado e atualizado do artigo “A Muralha e a grande causa”, publicado na revista Cidade Invisível (2016)
Em 1981, respiravam-se ainda, e muito, os acontecimentos políticos de 1974. As pessoas falavam com paixão das suas opiniões, dos seus desejos, da sua visão de futuro. Já havíamos tido duas eleições para Presidente da República, quatro eleições para a Assembleia da República e duas eleições autárquicas. Discutiamse então as escolhas democráticas e o progresso que, ontem como hoje, é um vocábulo pesado e não delimita muito bem a sua incontida subjetividade.
Guimarães não escapava à onda da necessidade desse progresso, desse desenvolvimento alicerçado na escolha, na opinião e no estaleiro visível que rasga a cidade. Nas praças e nas ruas, os seus cafés alimentavam essa discussão: o progresso muito ligado ao crescimento urbano, novo, que o poder autárquico aqui ao lado, em Braga, dava corpo com especial devoção. E Guimarães não cresce? E Guimarães não arrasa para fazer do novo a excitação do momento?
É neste contexto de euforia na mudança, seja ela de ideias ou de construção civil, que surge a Muralha, associação de Guimarães para a defesa do património. Creio que na mente da Comissão Instaladora se instalara a certeza de que estávamos, enquanto comunidade, no palco de escolhas políticas decisivas em termos de urbanismo. E esse momento era importante, demasiadamente importante para que os cidadãos esclarecidos não se envolvessem na discussão, não lutassem por aquilo que sendo decisivo era também o correto, o desejável. A importância da conservação e recuperação do nosso património edificado era uma luta a ter naquela altura, apesar da sensibilidade que os vimaranenses sempre tiveram relativamente ao seu património, a época que se vivia atirava para experimentalismos perigosos cujas consequências irreversíveis só muito mais tarde daria para a comunidade perceber. Guimarães era ontem, como é hoje, uma cidade histórica. Quem conhecia as cidades europeias sabia da importância de preservar o edificado, de o mostrar, de tirar dele as necessárias vantagens culturais, sociais e económicas. Quem as não conhecia ou não as apreciava devidamente encavalitava-se na palavra progresso para arrasar sem dó nem piedade a nossa história comum, esperando que o deslumbramento da novidade se sobrepusesse à saudade das coisas a que conhecíamos a forma.
Guimarães teve até àquela altura três documentos importantes em termos urbanos: o Plano de
melhoramentos da cidade (1863) de Almeida Ribeiro, o Plano de alargamento da cidade (1925) de Luís de Pina e o Anteplano de Urbanização de Guimarães (1949) de David Moreira da Silva. Em 1981 discutia-se e construía-se um documento de igual importância e impacto, coordenado por Fernando Távora: o Plano Geral de Urbanização (1979-1982). Se o Plano vingasse Guimarães poderia chegar até hoje como a conhecemos agora, se o Plano fosse triturado pelos arautos do progresso as consequências seriam previsivelmente imprevisíveis com enorme custo para a cidade, para os seus cidadãos, e para o orgulho que eles sentem na cidade que habitam.
O grupo de cidadãos que fundou a associação Muralha tinha essa noção de urgência. Quando o tempo é de mudança convém perceber e afirmar o que importa preservar, o que importa fazer para destacar o que se quer manter. E o Plano Geral de Urbanização estava na linha da preservação patrimonial, incluindo em si um Plano de Pormenor do Centro Histórico (1981) a cargo de um Gabinete Municipal, uma das boas ideias da altura e que daria, mais tarde, origem ao Gabinete Técnico Local (1985).
A preocupação era garantir o futuro pelo respeito pelo nosso património comum. E a recuperação cuidada do Centro Histórico era uma preocupação central. O envolvimento de Fernando Távora com a Muralha é disso um exemplo claro. O notável arquiteto é o primeiro presidente eleito da associação em 1982. Voltaria em 1985 para novo mandato. Mas havia outras preocupações. A coleção de imagens antigas de Guimarães, em clichês de vidro, das casas Foto Eléctrica Moderna e Foto Moderna de Domingos Alves Machado poderia perder-se se nada fosse feito. Assim, em 1981, a associação adquire uma parte das imagens que completaria alguns anos depois. Hoje a Colecção de Fotografia da Muralha, constituída por 5646 clichês fotográficos em vidro, tem uma vida própria e constitui-se como uma das mais bem estruturadas e estudadas coleções de fotografia portuguesa dos inícios do século XX, o que permitiu a realização de um conjunto de exposições no âmbito da capital Europeia da Cultura através do programa Reimaginar Guimarães – A Cidade da Muralha (2011-2012), Rever a Cidade (2012) e Plano Geral-Grande Plano (2012-2013) – e fora dela – Guimarães a preto e branco (2009), O Trabalho (2014), A

Celebração (2015), Na Cidade (2016), Álbum de Família (2016) e O Verde a Preto e Branco (2017). Hoje a Colecção de Fotografia da Muralha apresenta, pela solidez dos contributos anteriores, um caráter dinâmico e virado para o futuro com o estudo de outros acervos e a incorporação de visões contemporâneas da cidade.
A Muralha, associação de Guimarães para a defesa do património, pela natureza das suas preocupações, não teve vida fácil. O apontar o dedo àquilo que não estava correto causou, ao longo do seu historial, um conjunto de tensões nem sempre levadas com a necessária elevação por parte dos intervenientes a quem a instituição alertou para erros ou omissões. Mas a associação sobreviveu com a altivez própria da sua razão a todos os contratempos e pressões. Ao longo destes quase 40 anos de existência, não contando com as inúmeras colaborações a que acedeu, a instituição realizou cerca de 70 exposições e organizou mais de uma centena de visitas guiadas. As exposições e as visitas guiadas são os principais instrumentos públicos da sua atividade enquanto participante cívica ativa da vida da comunidade a que pertence. Mas também a atividade editorial da Muralha se destaca com várias publicações nos anos oitenta e noventa a chamar a atenção para património e usos em risco de se perderem, acelerando decididamente a partir da Capital Europeia da Cultura com publicações em que deu a conhecer a sua Colecção de Fotografia (A Cidade da Muralha, Rever a Cidade, Plano Geral Grande Plano). Destacam-se ainda António Azevedo e Guimarães – vida e obra (2012), O Dia V (2013), O Trabalho, A Celebração, Na Cidade e Álbum de Família (2016), ou O Verde a Preto e Branco (2017).
As exposições e visitas organizadas pela Muralha tiveram, muitas vezes, um cunho de alerta à comunidade para a degradação patrimonial e ambiental. São exemplos disso as exposições Rios do Concelho (1982), O Rural na Cidade (1985), Capelas de Guimarães (1996) ou Sobre Pontes (2010), ou as visitas guiadas Azulejos de Guimarães (1982), Mosteiro de S. Salvador de Souto (1983), Capela de Nossa Senhora da Conceição (2000), Rota do Fresco (2012), À volta da Muralha (2015), Guimarães Conventual – III (2016) ou A Fábrica do Castanheiro (2019). Outras exposições foram aos aspetos menos conhecidos do património como as mostras Pormenores da Arquitectura de Guimarães (1984), Mobiliário Urbano de Guimarães (1986) ou Das Casas, lugares e tradições (2019), sem esquecer a dimensão

concelhia de Guimarães – Património do Concelho (1985), S. Torcato (1987) ou Bandas e Coretos (2000) e um conjunto grande de visitas guiadas ao património de várias freguesias de Guimarães.
A causa do património não é uma causa de passado: é uma causa de futuro. A elevação de Guimarães a património cultural da humanidade, em 2001, é disso o mais acabado exemplo e o sinal de que vale a pena. Para termos chegado até aqui, apesar da boa sensibilidade dos vimaranenses em relação ao seu património, foi preciso lutar muito, foi preciso tomar decisões difíceis, foi preciso dizer ao progresso para esperar um momento que o passado importa e tem que existir na memória e no olhar de todos. A Muralha esteve sempre, creio, do lado certo desta complicada barricada ética, moral, cultural.
Respeitar o nosso legado e a nossa cultura, conhecê-la melhor, divulgá-la adequadamente é, e sempre foi, o papel da Muralha. Abrindo sempre, como hoje acontece, a sua estratégia a novas dinâmicas e à colaboração daqueles que têm uma contemporânea visão sobre o nosso legado histórico, sobre as pessoas, enfim, sobre aquele que é o nosso património comum.
ASMAV: Uma associação viva e activa
Eva Machado Presidenta da Direcção
“Se quer ir rápido vá sozinho. Se quer ir longe vá em grupo.” Provérbio Africano
A Associação Artística Vimaranense surge em 1866, por iniciativa do jornalista e escritor Miguel J. T. Mascarenhas, com a finalidade de defender os interesses dos artífices residentes em Guimarães. Da Comissão Instaladora, eleita para dar seguimento ao processo, constavam o promotor da ideia Miguel Mascarenhas, João Pinto de Queirós, também jornalista, João António da Silva Areias e António José Ferreira Caldas, homens de negócios. No dia da sua instalação, que decorreu no Teatro Afonso Henriques a funcionar no Campo da Feira, a Assembleia Geral constituída por mais de uma centena de sócios, recebeu a Comissão Instaladora num ambiente de grande alegria. Agora os artífices de Guimarães podiam contar com uma instituição capaz de “socorrer os seus associados quando, por moléstia, decrepitude ou prisão não pudessem exercer a sua profissão; auxiliar as suas famílias e promover o melhoramento da respectiva classe”, como constava nos seus estatutos. Neste início, a Associação contou também com serviço clínico prestado pelo médico Avelino Germano da Costa Freitas que ofereceu os seus serviços, gratuitamente, durante um ano. Foi um dia festejado com muito entusiasmo, arruadas e foguetes. Desde a sua instalação já passaram 155 anos, o que a torna, neste momento, a mais antiga Associação vimaranense de carácter civil. Mas seria impossível falar, neste pequeno testemunho, da longa vida desta associação. Assim vamo-nos ficar, como nos foi sugerido, pelos últimos 20 anos da ASMAV. Vetusta na idade, é verdade, mas enérgica no conjunto de homens e mulheres que formam os seus associados, e fiel aos seus estatutos e ideais, a ASMAV tem vindo a crescer e a cimentar o seu nome no espaço público, não só pelos projectos inovadores que vai criando, mas também porque tem sido um espaço de liberdade, de convivência e de crescimento individual para todas as pessoas que a procuram. Princípios estes indispensáveis para que as associações continuem firmes e possam, com o seu importante trabalho associativo, ajudar na construção de sociedades criativas, equilibradas e democráticas. Neste saudável clima trocamse experiências e criam-se as condições para que, colectivamente, se reflitam ideias e se ergam projectos que
têm mantido viva e activa esta associação, com mais de século e meio de vida. Só assim, acompanhando as mudanças, de um mundo em constante mutação, tem sido possível manter, bem conservados, os alicerces erguidos nesse longínquo ano de 1866. Durante os últimos anos, a ASMAV tem vindo a promover inúmeras actividades que juntam na sua sede, na Rua de Gil Vicente, um público vivo e participativo e tem levado o seu nome para além das fronteiras do nosso burgo, nunca cedendo ao comércio cultural e investindo no seu património estrutural acima de tudo, na sua comunidade de associados, amigos e colaboradores. O seu edifício sede é, aliás, ele mesmo património local, construído por volta de 1890, da autoria de Nicola Bigaglia, prestigiado arquitecto veneziano que se fixou no nosso país a partir da década de 1880. Nicola Bigaglia foi também desenhador e aguarelista e autor do edifício atualmente sede do consulado da Embaixada de Espanha, em Lisboa, na Avenida da Liberdade, pertença de Lima Mayer e que ganhou o primeiro prémio Valmor, referente ao ano de 1902. Fachada da sede da ASMAV na Rua de Gil Vicente em Guimarães. Por aquele espaço têm passado interessantes debates, conferencistas de diferentes quadrantes sociais e políticos, exposições de pintura e escultura, lançamento de livros, homenagens a figuras públicas, protocolos com diferentes entidades e convívios com os seus associados. Entre as actividades culturais e cívicas, que vem promovendo, destacamos algumas que têm ganho maior dimensão a cada ano que passa: - As “Comemorações do 25 de Abril” que iniciam na noite que antecede esta data e terminam num grande convívio na sede da Associação; - A “Marcha Republicana”, na noite do dia 4 de Outubro, constituída por um cortejo que percorre algumas ruas e casas de republicanos, terminando no largo da Câmara Municipal da nossa cidade; - O “Festival de Canto Lírico” que tem trazido a Guimarães grandes nomes do canto lírico encantando um público que vem de vários pontos do país; - O “Torneio de Retórica” numa parceria com o Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, envolvendo alunos e alunas do 11º ano, e que encheu a sede da ASMAV com centenas de jovens. A pandemia


obrigou-nos a adiar as últimas fases, mas brevemente, assim o esperamos, voltaremos a encher o nosso salão com a alegria destes jovens; - A promoção do constante debate político e social, com intervenção local, nacional e até internacional. É por isso que podemos afirmar que a ASMAV constitui, hoje, uma instituição de referência do panorama associativo e institucional de Guimarães. Bem entendido, parte desta imagem e presença na comunidade deve-se ao perfil e história. No entanto, sem falsas humildades, não pode deixar de se inferir que os últimos anos constituíram um importante período de afirmação institucional na cidade e no concelho, mercê da qualidade do trabalho desenvolvido e da capacidade de projecção da instituição. De facto, desde que a instituição, sem nunca deixar de cumprir as suas obrigações sociais e de natureza mutualista e mútuo apoio, afirmou a sua estratégia de desenvolvimento cívico e cultural, tem vindo a reforçar a sua imagem como instituição de referência na nossa comunidade. Mesmo neste tempo difícil e conturbado de pandemia sanitária – Covid-19 – declarada desde Março de 2020, que tem limitado a vida das pessoas e por extensão das Associações, a ASMAV não parou. Quando a pandemia permitiu alguma abertura, e cumprindo as orientações da D.G.S., levou a efeito, presencialmente, alguns eventos inscritos no nosso Plano de Actividades, outros, já programados e com muito trabalho já efectuado, só foram possíveis recorrendo aos meios digitais. Este suporte foi para nós uma experiência inovadora, mas que correu muito bem. Pese embora os condicionalismos de distanciamento que o digital impõe, foi gratificante concluir que chegamos mais longe, em distância geográfica e em número de pessoas que ficaram a conhecer melhor o trabalho que a ASMAV desenvolve. Podemos concluir que durante os últimos 20 anos, fruto de uma boa gestão financeira e cultural e do apoio indispensável e voluntário de sócios e sócias, sempre presentes para reflectir e apoiar projectos, a nossa associação tem fortalecido o seu património identitário, tem inscrito o seu nome em realizações de grande qualidade, e ainda tem visto crescer o número de associados. Desta forma, a Asmav, consciente da importância das Associações em geral, e da sua em particular, como escolas de civismo e laboratório de sonhos que dinamizam a criação de hábitos de convivência democrática, sociabilidade e solidariedade, acredita estar a contribuir para o fortalecimento do panorama do Associativismo vimaranense e nacional. É justo dizer-se que a ASMAV está no bom caminho!
Busto da República oferecido pela ASMAV à cidade de Guimarães.

Ordem Afonsina: Ventralidades
Rui Viana
PORTUGAL, Guimarães, D. Afonso Henriques, Fundação, Marca, Sobressalto Histórico, Património Cultural Intangível.
Ventre all idades
Guimarães, alcofa, parto, ventre, berço, lio, património da Humanidade. Deu-se em 26JUN2021, em Guimarães, ao fim de quase 900 anos, uma batalha da nossa identidade e História colectiva, enquanto Nação, eco a perdurar até ao fim dos séculos, creio. Caiu a astenia do Dia de Portugal… e da idade do País. As I JORNADAS DO PATRIMÓNIO INTANGÍVEL DE GUIMARÃES, lavra da Grã Ordem Afonsina e com apoio da Câmara Municipal, trouxeram à mesa e à liça um documento do Arquivo Histórico Nacional de Espanha (Madrid), um TRATADO DE TRÉGUAS ENTRE TRÊS AFONSOS, respectivamente, Afonso VII de Leão, primo de D. Afonso Henriques, o Infante Afonso Henriques e Afonso I de Aragão, o Batalhador, este, como árbitro entre os dois opositores, conjuntamente com o estudo de RICARDO CHAO PRIETO - La “memoria de tréguas” de los três Afonsos: un paso en el camino a la independencia de Portugal. O documento tem exarado os termos da demarcação de obrigações respectivas ao território e beligerância transfronteiriça, sobretudo, pensa-se, porque devido a algumas tentativas de D. Afonso Henriques em conquistar territórios da Galiza e D. Afonso VII de Leão pretender a pacificação nesta zona da Península. Nesse Tratado, o Infante Afonso Henriques é tido em total paridade com o seu Primo Afonso VII. Destarte, releve-se que há um reconhecimento tácito do Rei de Leão (note-se que são os dois grandes opositores e que D. Afonso Henriques nunca prestou vassalagem a Afonso VII, nem este a impôs) de aceitação da autonomia do território e independência do mesmo. As circunstâncias estão fortemente
I Jornadas do património cultural Intangível da Humanidade justificadas na investigação levada a cabo e

apresentada pelo investigador espanhol, leonês, Ricardo Chao Prieto, de forma cabal e brilhante, situando cada facto conhecido, numa conjugação de argumentos notáveis e totalmente verosímeis, sendo que o Tratado, não tendo inscrita a data, obrigou a um raciocínio lógico-dedutivo e científico, brilhante. Fixou o investigador a data desse Tratado em 14 de Abril de 1129 (Páscoa), menos de um ano após a Batalha de S. Mamede, em 24 de Junho de 1128. Este tratado vem demarcar a data matriz face às restantes datas atribuídas ao nascimento de Portugal. A apresentação clara e inequívoca da investigação e dos factos atesta o que nunca foi assumido pelo Poder, em Portugal: a data e consequente lugar da Fundação de Portugal. Portugal nasceu a 24 de Junho de 1128, na Batalha de S. Mamede, em Guimarães, aquela que Acácio Lino designou por “Primeira tarde Portuguesa” (Pintura no Palácio de S. Bento, Assembleia da República). Ora, este é o momento da Fundação de Portugal e deverá ser o Dia de Portugal. Quase todos os países do mundo comemoram o dia da sua fundação enquanto Portugal comemora Portugal no dia da morte de Camões. Nada contra Camões… devendo comemorarse essa data efusivamente, mas, pelos motivos autênticos. Existem diversas razões para a escolha da data de 10 de Junho, em detrimento de 24 de Junho, desde 1880, por decreto Real de D. Luís, cuja intenção, segundo alguns autores, de pôr gelo nas altercações sociais à época, levou à escolha do poeta, por ser uma fi- I Jornadas do património cultural Intangível da Humanidade 2 gura consensual e carismática entre o povo (por ocasião das Comemorações dos 300 anos da morte de Camões). Começou por ser feriado da Cidade de Lisboa, alargou-se ao Dia da Raça, de Portugal, das Forças Armadas, das Comunidades Portuguesas e da Língua. Atravessou toda a História do Poder desde então até aos nossos dias. Li, algures, que a determinado momento se considerou que ao falar-se de Portugal no Mundo ninguém o conhecia, mas quando se falava da Pátria de Camões, já havia conhecimento. Ora, este argumento… se a moda pega, não tarda e seremos a Pátria de Ronaldo, o rapaz extraordinário de grande alma lusa, que tanto tem dado de Portugal ao Mundo, ou então, de Marcelo, que está em todo o lado… Toy, Goucha, Alves dos Reis… data de nascimento de Portugal é que não… O Poder nunca alterou a data (10 de Junho) das Comemorações do Dia de Portugal, com o pretexto de

que o “nascimento” carecia de um documento comprovativo e de que o maior rigor para a Historiografia Portuguesa era o facto de Portugal se ter formado num processo entre a Batalha de S. Mamede, em 1128, a Batalha de Ourique, em 1139, o Tratado de Zamora, em 1143 e a Bula Papal, em 1179. Não se negando a importância de cada momento per si, cabe ao médio entendimento que para se formar, em primeiro, tem de nascer. E Fundação é justamente o primeiro sol. Sem esta data concreta não podemos atribuir um número de anos a Portugal, nem comemorar a data, nem o lugar. Já se considerarmos o acto fundador da Nacionalidade a Batalha de S. Mamede, onde, de facto, agora, se comprova o momento de cisão e independência do território, face ao Reino de Leão, então Portugal tem 893 anos e está a sete anos de concluir 900 anos de vida - a Nação mais antiga da Europa e a quinta mais antiga do Mundo. Não ter o dia de nascer é perder a oportunidade de celebrar Portugal numa data idílica, 9 séculos. A investigação de Ricardo Chao Prieto é inequívoca e foi dada a público, a 26 de Junho, em Guimarães, estando o Tratado à disposição na net. Em conversa informal com o investigador, este referiu que, sabendo da enorme importância para Portugal, logo que tropeçou, ocasionalmente, no documento, achou muito estranho ter dado nota da descoberta a toda a comunicação social portuguesa e não ter havido o mínimo sinal de interesse ou manifestação, rigorosamente nada. Achou estranho… Eu não… O conjunto de atavismos sociais e culturais, pouca predisposição para o rigor histórico e científico, carregados de vírus e bactérias, fazem de nós um Povo estranho… 26 de Junho de 2021 deu à luz em Guimarães o Tratado e a Investigação que marcam definitivamente o Dia da Fundação de Portugal. E… cada dia que passar sem se consagrar esta efeméride é um dia perdido de Portugal. Resta na espuma do tempo e no tempo da espuma que Portugal teve um sobressalto, ontem, na sua História, capaz de acordar D. Afonso…, mas o Povo dormia, o Poder comia e Deus tinha-nos dado à mão, por companhia a alegre ilusão que brota da fantasia… E… deste dia vai rezar até ao fim dos séculos a História, mas por ora, não há visão, nem coração, valha-nos a memória. Os livros de História vão mudar da confusão. Um dia a orgulhar o sonho de D. Afonso. O nosso primeiro deu-nos Portugal… e questiono-me: o que temos de Portugal a dar a D. Afonso?
Para já, não houve uma gravação, nem notícia, nem codícia, nem justiça… Ricardo Chao Prieto veio de Leão, Espanha, oferecer, gratuitamente, a suas expensas, o seu contributo científico a Portugal que dormia… Teoricamente, Ricardo veio dizer a Portugal como a sua León se via obrigada a considerar o que não queria: a cedência de poder ao seu grande rival, o Condado Portucalense. Este seu testemunho é notável, enquanto grande honestidade intelectual. Estou-lhe eternamente grato na sua generosidade, honestidade e génio. Hoje cresci. Hoje vivi. Hoje aprendi um sobressalto de História. E hoje Portugal cresceu. Gostaria muito de ver o meu País agradecido à cultura de grupo… Hoje vi, alba, uma página de LIBERDADE. Hoje soltou-se o
sentimento Portugal. Hoje o sol deixou a rua com um sorriso da Terra até à Lua. Amo mais este País… porque cresce em mim esta marca do querer e da vontade que me corre as veias e artérias, horas de cultura, sangue e sonho. Só hoje se pode fazer História… estive aqui. Talvez por ordem divina, quis um certo destino que outro génio ou anjo caído das nuvens do acaso viesse a Guimarães dizer que uma marca, antes de mais, ab initio, é sentimento… Carlos Coelho. Num ambiente de 900 anos de História, Tratados e Pergaminhos, este, entra com a sua espada, a dar Portugal, numa afirmação brutal da portucalidade, Carlos Coelho, permitiu que as moscas falassem mais alto, no enorme salão e num brilhante argumento barroco final. Relevese tanta beleza, tanta profundidade, tanto ensinamento, tanto agradecimento. Portugal, uma Marca de amar e fortificar, de viver e aproveitar as oportunidades. Carlos Coelho, à imagem de William Golding, escritor, dramaturgo e poeta inglês (1911-1993), deixou a sua marca, igualmente, “O maior prazer humano não é o sexo, nem a geometria, mas antes a compreensão”. Carlos Coelho fez compreender Portugal de 9 séculos, uma Marca, numa exposição excepcionalmente criativa, brilhante, religando Portugal à sua Fundação, a D. Afonso Henriques, ao Povo, ao sentimento e ao Tratado dos Três Reis. Creio que não se podia esperar melhor daquela tarde sináptica, de História e sentimento. Portugal casou e já não é o mesmo do dia anterior, nem dos séculos anteriores. Portugal mudou e Réplica da espada oferecida pela Grã Ordem Afonsina ao presidente da república, no dia 24/06/2021, em Guimarãesa responsabilidade individual e colectiva, também. Creio ter estado no lugar onde o sublime tocou Portugal e o espírito de Afonso. A sessão/I Jornadas do Património Cultural Intangível de Guimarães teve, ainda, a participação de Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães; Adelina Pinto, Vereadora da Cultura da CMG; Florentino Cardoso, Presidente da Grã Ordem Afonsina; Hermenegildo da Encarnação, moderador. A excelsa iniciativa é obra da Grã Ordem Afonsina, de cujo desígnio de afirmar a Batalha de S. Mamede como

marco fundador da Nacionalidade, se concretizou em nome do rigor científico e da estética “cardíaca” do sentimento Portugal. Onde quer que esteja o espírito de D. Afonso… E… nós aqui!
Nota: Atrás do arco dos ilustres palestrantes uma enorme tômbola a sugerir a roda dentada da História, foi o ícone a situar o momento: Afinal, a História de nada serve se não agarrar a memória, colocar-se na roda e deixar que volte… Só quando se dá a volta da memória até ao ponto presente a História mostra quão necessário é o tempo de agir. E essa revolta é LIBERDADE…
Património (Pai)… Matrimónio (Mãe)… Demónio (ó Diabo…) … Pandemónio (é quando o Demónio se mete no Património do Matrimónio). E Portugal casou… Muito Obrigado! Muito Obrigado a cada. Muito Obrigado, Grã Ordem Afonsina.
ACTG: O comércio de rua na cidade de Guimarães
Cristina Faria Comerciante e presidente da ACTG

Fui convidada para tecer algumas considerações sobre o comércio de rua na nossa cidade e os problemas que este tipo de comércio enfrenta e que não são exclusivo vimaranense.
Para que se possa refletir sobre o comércio de rua, considero imperioso olhar para o passado e compreender como surgiu este tipo de comércio.
Um filósofo francês, há muitos anos atrás, escreveu: “se nem todas as cidades são filhas do comércio, em nenhuma civilização a vida floresceu sem a presença deste”. O comércio que nasceu e cresceu com as cidades foi, é claro, o comércio de rua, localizado no centro das cidades que eram densamente povoadas. É um comércio caracterizado por estar próximo das pessoas, com portas para a rua e com uma gestão quase sempre familiar e investimento de capital limitado. Este comércio permitia aos habitantes do “burgo” adquirir os bens necessários para o seu quotidiano e permaneceu longos tempos sem grandes mudanças. Com a revolução industrial e a necessidade de mais mãode-obra, as cidades foram crescendo para as periferias, com um crescimento em círculo se não houvesse qualquer obstáculo natural que o impedisse. Estas periferias passaram a ser ocupadas pelas populações com menor poder de compra, sendo as rendas mais baixas e a construção mais económica. Com a degradação de muitas habitações o centro inicial das cidades sofreu uma diminuição imensa de habitantes e começou a assistir-se a um fenómeno que ainda hoje se verifica, no período diurno é bastante povoado e à noite é desértico.

Apesar desta deslocalização das pessoas para fora do centro, estas tinham necessidade de a ele regressarem para adquirir os bens que necessitavam, resolver assuntos nos serviços públicos, virem ao mercado e à feira semanal. Esta mudança de paradigma, com gentes a viver nas periferias e todos os serviços nos centros, tiveram algum impacto no comércio, mas sem colocar em causa a sua subsistência. Após este deambular histórico, é altura de olhar para o presente e ver o quanto esta situação se alterou, com graves danos para todos, na nossa cidade de Guimarães. Foi autorizada e muitas vezes incentivada, a construção de grandes superfícies comerciais, com centenas de lojas, muitos restaurantes e cinemas, sempre com estacionamento garantido e gratuito com investimentos de muitos milhões de euros. É óbvio que o comércio de rua não pode competir com estes “Golias” económicos, exceto na atenção e na simpatia para com o cliente e que sempre foi uma característica do pequeno comércio. O planear do 2012, em que Guimarães é Capital Europeia da Rua de Santo António Cultura, leva a que o tráfego automóvel das ruas centrais da cidade seja reduzido pela autarquia, alargando os espaços pedonais e limitando os lugares de estacionamento. Para que este descongestionamento fosse ainda mais acentuado, o mercado municipal, a feira semanal e muitos outros serviços públicos foram descentralizados e atirados para a periferia, neste caso “empurrado” para a vizinhança do primeiro “shopping” de Guimarães. Para completar a decadência do comércio de porta aberta para a rua, tem-se assistido nos últimos anos a um aumento exponencial das rendas comerciais que asfixiam os comerciantes e impedem novos investimentos. Também não posso deixar de referir um novo tipo de comércio que está em fase de crescimento e com tendência para ser cada vez mais forte, o chamado comércio eletrónico, impessoal, sem contacto presencial, mas sempre aberto e disponível a partir de um simples telemóvel. Perante este panorama desolador, chegou a hora de perguntar: O que fazer? Por experiência própria sei que os comerciantes são resistentes e, apesar das poucas esperanças num

futuro mais ou menos próximo, continuam a abrir diariamente as portas dos seus estabelecimentos, mas estou convencida de que estamos a assistir em direto ao fim do comércio de rua, se não forem tomadas algumas medidas essenciais. De entre as muitas, só referirei algumas que considero fundamentais:
1. Centralizar novamente os serviços essenciais na cidade. 2. Aumentar os lugares de estacionamento em parques subterrâneos ou em altura. 3. Controlar o aumento exponencial das rendas. 4. Limitar o horário de funcionamento das grandes superfícies comerciais. 5. Baixar o IVA como aconteceu com a restauração.
Claro que muitas outras medidas poderiam ser propostas, mas não vamos pedir os impossíveis, tentamos resistir no campo dos possíveis. A ACTG, Associação do Comércio Tradicional de Guimarães, tem tentado trazer os Vimaranenses à cidade através de múltiplas atividades e fazendo chegar ao poder autárquico a necessidade da existência de serviços no seu centro.
Termino reformulando uma afirmação feita no início:
“O comércio é a mãe de todas as cidades” e se não queremos que a nossa cidade morra, salvem o comércio de rua.

Rua Paio Galvão

Rua Gil Vicente

Largo do Toural. Foto de Paulo Pacheco.
AJEG: A Alma da Cidade
Pedro João Oliveira Vinagreiro
A respeito do 20º aniversário da classificação do Centro Histórico de Guimarães como Património Cultural da Humanidade por parte da UNESCO, restarão poucas dúvidas dos benefícios associados para a nossa cidade. Este reconhecimento coloca Guimarães no mapa de destinos de referência, assumindo-se como determinante para o processo de consolidação e dinamização do tecido urbano vimaranense, repercutindo-se naturalmente a nível económico e social não só do centro histórico, mas também de toda a sua envolvente, alargando-se e contagiando mais território com o passar dos anos. Foi determinante para a dinâmica e constância da atuação, garantindo a coerência que podemos atualmente constatar. Importa referir, no entanto, que a classificação do Centro Histórico como Património Cultural da Humanidade não foi o mote para este processo de revitalização, mas sim o reconhecimento de um trabalho iniciado cerca de 20 anos antes, em meados da década de 80, tomando como referência a criação do gabinete técnico local (GTL), em 1985, responsável pela gestão do processo de recuperação do centro histórico. À imagem do que se passava um pouco por todo o país, a partir dos anos 50, mas com maior intensidade nos anos 70 e 80, assiste-se, nos centros das cidades, a um processo de declínio generalizado, explicado por vários fatores, que projetavam um futuro pouco promissor para estas áreas. Os processos de urbanização sofrem alterações significativas, com dinâmicas de descentralização que tendem a expandir os limites das cidades. O foco em novas morfologias urbanas, mais dispersas, apoiadas pelas melhorias de condições dos transportes, na massificação da utilização do automóvel, alteram a lógica de centralidade radial para uma dinâmica pendular entre o centro e as novas centralidades periféricas. Os centros históricos, com um parque edificado envelhecido, com tipologias urbanas e arquitetónicas desajustadas às novas necessidades e exigências da sociedade, com um espaço público degradado, condições de acessibilidade e mobilidade cada vez mais condicionada e a crescente dificuldade de dar resposta ao excessivo trânsito automóvel que se sobrepunha ao espaço pedonal (para o qual estava originalmente idealizado), vê-se sujeito a um contínuo processo
de “abandono”. A fuga da população para as novas urbanizações periféricas adensa-se, agravando a situação no núcleo urbano original. Em Guimarães, não foi diferente. Recordo-me ainda do tempo de criança (não serei o único), a zona intramuros era vista por grande parte da população como uma “zona problemática e degradada” e sempre que possível a evitar. Até meados da década de 80 o centro histórico encontrava-se num processo de degradação física e social, não se vislumbrando no horizonte uma inversão desta situação. Guimarães foi, neste cenário, pioneira na procura e identificação de soluções para reverter a situação. Rapidamente entendeu que a integração da cidade histórica com a cidade contemporânea era determinante para a valorização da cidade como um todo e que a revitalização do centro histórico estava na sua génese. Assim, conforme referido anteriormente, em 1985, pelo recém-criado GTL, foram definidos os princípios para o processo de recuperação do centro histórico. Tinham como objetivo a preservação e recuperação das características identitárias do lugar e permanência das pessoas. Desde a identificação das tipologias arquitetónicas específicas das diversas épocas, das técnicas, materiais e métodos construtivos tradicionais (como a taipa de fasquio e a taipa de rodízio entre outras, que assumem grande relevância no âmbito do património cultural de uma região e no que é a sua identidade), a recuperação dos espaços públicos com a consolidação e adequação de redes de infraestruturas, degradadas e desajustadas às necessidades atuais, a inversão do processo de apropriação automóvel das praças e arruamentos, devolvendo os “espaços de permanência” aos seus utilizadores naturais. Um marco histórico deste processo é a recuperação da Casa da Rua Nova: A primeira intervenção do GTL, que numa atitude pedagógica de “como reabilitar no centro histórico de Guimarães”, procedeu a uma intervenção que demonstra de forma clara e objetiva, sem artifícios, o que não deverá ser alienável neste processo. A Casa da Rua Nova é o exemplo, por excelência, do que deverá orientar o processo de restauro de acordo com os sistemas, técnicas e métodos construtivos tradicionais. Galardoada com o Prémio Europa Nostra, em 1985, atribuído a Fernando Távora, este reconhecimento constitui prova da sua qualidade e importância como referência para os anos seguintes no processo de revitalização do centro histórico de Guimarães, designadamente no âmbito das intervenções no seu património edificado. Mas o centro histórico de Guimarães não é apenas espaço urbano e património arquitetónico. Naturalmente, o que está na base da sua riqueza cultural, reconhecida pela UNESCO em 2001, são as pessoas, as gentes do centro histórico. São elas que habitam, que constroem, que dão vida ao lugar, apropriando-se do

espaço, garantindo-lhe identidade e uma dinâmica vibrante que lhe é tão característica. O principal objetivo do processo de revitalização, iniciado em 1985 pelo município de Guimarães, visava a manutenção da população residente. As medidas, atrás elencadas, tinham como objetivo a melhoria de condições dos seus moradores, reconhecendo as pessoas como elemento determinante neste processo. Talvez à data de classificação do Centro Histórico de Guimarães a Património Cultural da Humanidade se vivesse a melhor fase deste processo. O fenómeno de degradação física e social tinha infletido, o espaço público estava reabilitado, o património edificado recuperado, ou pelo menos num processo de recuperação consistente, e as gentes do centro histórico mantinham-se no local. São elas que o mantêm vivo, que lhe dão identidade cultural e lhe garantem autenticidade. A classificação do Centro Histórico de Guimarães a Património Cultural da Humanidade foi a prova de que o processo iniciado cerca de 20 anos antes foi bem-sucedido. Se durante esse período, que antecede a classificação, o processo tivesse sido mal conduzido, seria o tempo suficiente para subverter a sua genuinidade e descaracterizar a sua identidade. Aconteceu em muitas cidades no pós-guerra, onde uma reconstrução apressada dos centros urbanos destruídos pela guerra originou alguns dos maiores atentados urbanísticos e arquitetónicos a que assistimos ao longo da história, na maior parte dos casos sem possibilidade de reversão. Em Guimarães, sucedeu o contrário: passadas duas décadas, devolvemos a um centro histórico com morte anunciada, a sua vida e plenitude. Na última década temos assistido a um crescente aumento de interesse imobiliário por parte do investimento privado que vê Guimarães e o seu centro histórico com enorme potencial económico, de base essencialmente turística. Sucedem-se as operações urbanísticas com foco nessa atividade, com principal incidência no centro histórico. É um fenómeno que se verifica com mais ou menos intensidade nos principais centros históricos do país e que poderá comprometer a orgânica natural destas áreas num curto espaço de tempo. O processo de gentrificação turística é algo que queremos evitar. O que diferencia o nosso centro histórico de tantos outros é a vida autóctone que nele existe. A roupa a secar na varanda, a velhinha na janela a apanhar os primeiros raios de sol, as crianças a correr à volta do patronato. Essa é a sua maior riqueza, uma identidade única e exclusiva cada vez mais rara. Este organismo vivo composto por espaço público, património edificado e pessoas é a verdadeira essência do património cultural, que podemos ainda mostrar ao mundo. Não me interpretem mal quando digo que o processo de gentrificação turística é algo que queremos evitar. Não pensem que estou de alguma forma a estigmatizar esta tipologia de uso que foi, e ainda é, tão importante para o processo de revitalização do centro histórico. Sem ele nunca teríamos chegado tão longe.
No entanto, trata-se de um equilíbrio delicado que tem que ser salvaguardado. No dia em que a vida e as pessoas do centro histórico forem residuais, teremos perdido o valor acrescentado do nosso centro, teremos subvertido a alma da cidade, seremos mais um percurso museológico a céu aberto, cristalizado no tempo, com uma experiência idêntica à de ver um esqueleto de dinossauro fossilizado num qualquer museu de História Natural. A próxima crise do centro não será por via da degradação do seu parque edificado, pela desadequação das suas infraestruturas às necessidades atuais ou pela fuga da população para novas centralidades. A próxima crise do centro terá como base o afastamento das suas gentes dos lugares a que pertencem, dos lugares com que se identificam, sendo que elas próprias é que identificam os lugares. Guimarães goza ainda do privilégio desta simbiose harmoniosa onde o benefício entre as partes é comum. Só assim pode funcionar. O Centro Histórico tem de ter a capacidade de se renovar sem perder a identidade. Esta necessidade implica também a renovação da população que o habita. As tipologias familiares atuais divergem das que ocupavam tradicionalmente o centro histórico, mas essas, dificilmente voltarão. Temos de encontrar soluções para que os edifícios consigam responder às novas necessidades dos seus habitantes. Tem de ser um processo mais orgânico, espontâneo, como sempre foi. As exigências relativamente às condições de conforto e segurança são mais elevadas. Temos de fazer um esforço maior para dar resposta a essas necessidades: Promover soluções que se adequem à nossa visão de Centro Histórico, às nossas exigências no âmbito de políticas de reabilitação, mas que garantam melhores condições de habitabilidade adequadas às exigências atuais. Só assim poderemos ambicionar a manutenção e recuperação de habitantes permanentes. Estou consciente das condicionantes associadas à preexistência, da importância das tipologias arquitetónicas existentes, da necessidade da manutenção das técnicas e materiais tradicionalmente utilizadas no processo construtivo, que não devem nunca ser alienadas sob o risco de se perder a autenticidade do lugar. É possível, aliando a tecnologia atualmente disponível no sector da construção às técnicas tradicionais, atingir níveis de performance de acordo com os padrões atuais. Se perdermos as pessoas perdemos parte de um todo que não vive pela metade. As pessoas são a alma do centro histórico, são a alma da cidade, a essência do nosso património cultural. Sem elas não há vida, a cidade não passará de um amontoado de pedras, um espaço inanimado.
RECORTES DA IMPRENSA DA ÉPOCA
Equipa redatorial

Vinte anos depois recordamos nas páginas subsequentes o dia 13 de Dezembro de 2001, dia de Santa Luzia, mas também de consagração do Centro Histórico de Guimarães como Património Mundial da Humanidade, proclamado solenemente pela visão lúcida da UNESCO.
Deste modo, através de alguns recortes selecionados da imprensa da época, evocamos os festejos da festa, regados a champanhe ao som do estralejar dos foguetes, as cerimónias oficiais que trouxeram os órgãos do poder ao nosso burgo e o reconhecimento público da conquista, bem como alguns dos protagonistas, a que não falta sequer um sumário balanço de um ano depois da ocorrência.
Solenidades e textos que colocaram Guimarães nas bocas do país e do mundo, aos quais dois pintores vimaranenses, J. Salgado Almeida e Victor Costa se juntariam às celebrações e dariam a cor local ao evento, quer através da montagem quer da serigrafia alusivas, que, respetivamente, abrem e fecham este espaço de história(s) e de memória(s)…
, Almeida Ilustração de J. Salgado

Povo de Guimarães, 21 de dezembro de 2001. 197






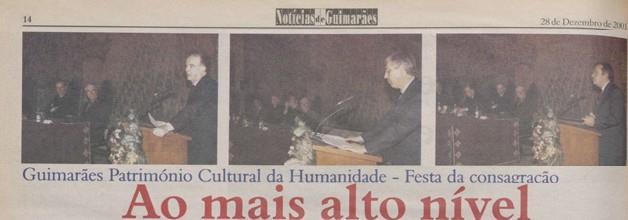
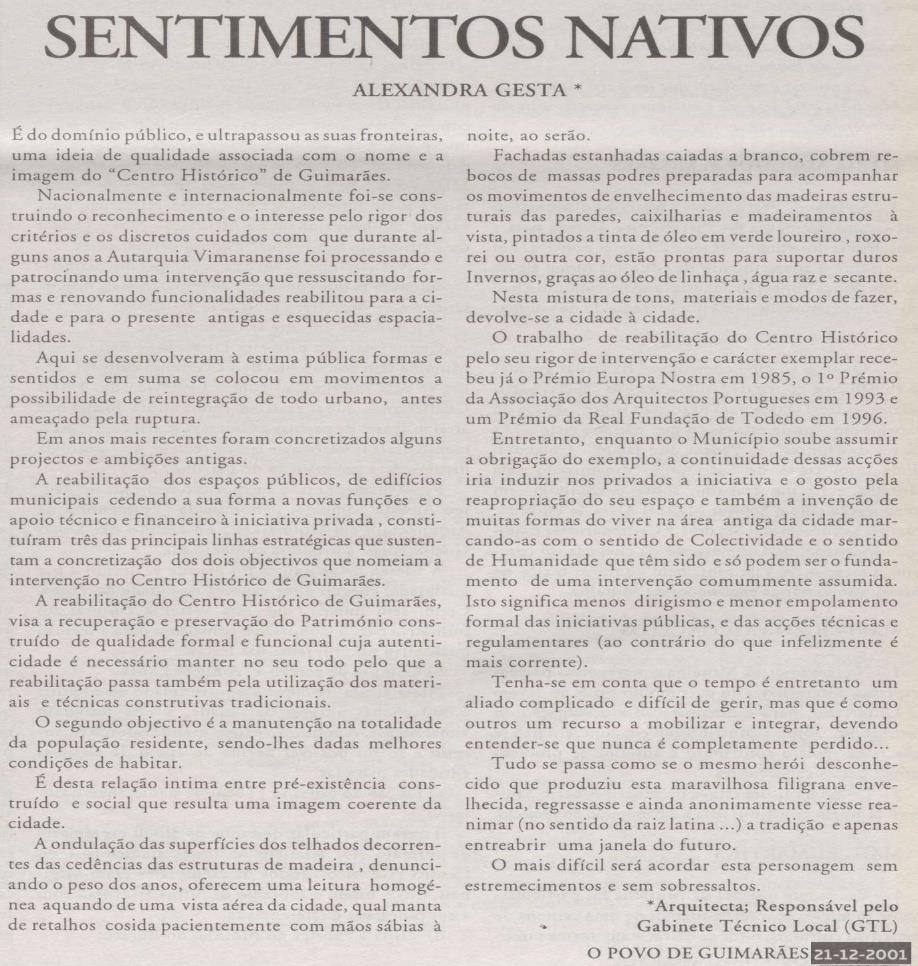

, Victor Costa Ilustração de

Povo de Guimarães, 21 de dezembro de 2001. Serigrafia publicada no 206
Inserir imagem do separador
VIAGEM AO CENTRO HISTÓRICO: Monte Latito

Receber o Castelo de Guimarães como prenda de anos
João Barroso da Fonte
O Castelo de Guimarães, há poucos anos considerado como a primeira Maravilha de Portugal, no concurso televisivo “Sete maravilhas de origem portuguesa no mundo”, foi sempre considerado a joia da Coroa. Mandado construir por Mumadona Dias, a Fundadora de Guimarães, por volta 926-950, não só defendeu dos intrusos, no então primeiro Condado Portucalense (868-1071), como no segundo Condado (1096 -1128), como desde 1128 até aos nossos dias.
É lindo e é simbólico, para quem aprendeu e aprenderá a História de Portugal; e é reconfortante para quem fala a Língua que nasceu à sombra das suas ameias e partilha o gozo da Lusofonia, que representa o maior tesouro da Portugalidade. Ao longo das Fronteiras terrestres foram construídas muitas fortalezas defensivas, torres de abrigo e castelos emblemáticos. Castelos houve muitos, não só nas fronteiras, como no interior do país. Para além da segurança, garantiam a estabilidade social, familiar e política. Para além da segurança, da estabilidade e do simbolismo, essas fortificações representavam, também, a grandeza e o poderio militar. O Padrão dos Descobrimentos, por exemplo, embora mais recente (1897-1948), evoca a expansão ultramarina portuguesa e simboliza a grandeza da obra do Infante D. Henrique. Quando, em 1960, se comemoraram os 500 anos da morte do Navegador, Infante D. Henrique (1394-1460), a evocação dessa epopeia ultramarina foi sintetizada num passado glorioso que o Arquiteto Cottinelli Telmo (1897-1948) e o escultor Leopoldo de Almeida (1898-1975) transformaram no Padrão dos Descobrimentos. Recentemente houve um deputado da Assembleia da República que saiu à praça pública com a proposta revolucionária da destruição desse Monumento. Prefiro, por agora, voltar ao Castelo de Guimarães sobre o qual Mário Jorge Barroca, no seu mais recente livro, exarou, cientificamente: “(…) reconhecido por muitos como o castelo que, por excelência, está ligado às origens de Portugal. É uma estrutura a vários títulos surpreendente. Em primeiro lugar pelas suas origens singularmente obscuras. É seguro que estamos perante uma estrutura condal, fruto da iniciativa da

emblemática condessa portucalense D. Mumadona Dias. Não estando mencionado num pormenorizado auto de partilha de bens entre a condessa e os seus filhos, em meados do ano de 950, podemos depreender que nessa altura ainda não existiria. Mas, nos finais desse mesmo ano de 950, já aparece mencionado, numa doação em que o Mosteiro de Guimarães é referido sob sua alçada. Trata-se, por isso, de uma fundação condal, da segunda metade do século X”. Nessa mesma fonte confirma-se que a própria Mumadona declara, num pergaminho datado de 968, que o fundara para proteger o mosteiro do ataque dos gentios, referindo-se aos Normandos. E diz uma coisa que pela primeira vez leio, ao fim de tantos anos de estudo: “Esse primitivo castelo, encaixado entre afloramentos graníticos, deve ter sido erguido em madeira e dele poucos vestígios nos restam”. Muitas vezes pensamos que sabemos tudo acerca de factos ou de feitos históricos ou outros, de interesse público. Esta postura social ganha foros de pandemia cultural e, quanto mais se avança no tempo, mais confusão se estabelece nas comunidades que partilhamos. Seguindo o raciocínio do historiador Mário Barroca, o Castelo da Fundação terá sido edificado por volta do ano de 950. Subtraindo o ano 2021 ficamos convictos de que o Castelo da Fundação foi construído há 1071 anos. Mas durante 178 anos ainda o segundo Condado Portucalense era domínio Galego. Sabendo-se que só em 24 de junho de 1128, com a vitória na Batalha de S. Mamede, Afonso Henriques se afastou daquele domínio territorial e administrativo, concluímos que o Castelo de Guimarães testemunhou o nascimento de Portugal e completará 900 anos, como símbolo da Portugalidade e Lusofonia, em 24 de junho de 2028. Nos 893 anos que leva de pertença inequívoca ao Império que fomos, o Castelo da Fundação passou a ser Berço da Nação que somos, sendo, por inerência, berço do rei Fundador, berço da Língua e, por conseguinte, Castelo, antes de 1866berço da Lusofonia, como, já durante o ano em curso, J. C. Robinson Collection foi palco da cerimónia nacional em 5 de maio, data que Fonte: collections.vam.ac.uk, in Nuno Saavedra -Facebook foi proclamada, mundialmente, pela UNESCO, como dia Mundial da Língua Portuguesa. Foram quase novecentos anos de História, vigiados a partir das ameias do Castelo que tem uma História riquíssima, prometendo prosseguir a missão que teve entre 1128 e 1131, quando D. Afonso Henriques

mudou a sede para Coimbra. Quando Salazar, nos anos 30 do século XX, visitou Guimarães, ordenando a saída do Regimente Militar número 20, com vista à restauração da Casa de Bragança, o próprio líder do Estado Novo ordenou que toda a Colina Sagrada fosse uma espécie de santuário histórico. E mandou também restaurar o Paço dos Duques de Bragança, ali situado.
Não se pense que está estudada e reconhecida a história do mais simbólico Castelo Português. Nem este breve apontamento aparece nesta simpática revista para ensinar o padre-nosso ao cura, embora desde 1986 me tenha debruçado sobre a história local, como vereador da Cultura e do Turismo e, entre 1990 e 1996, na qualidade de Diretor/Conservador do Paço dos Duques de Bragança. Apaixonei-me pela verdade histórica desta encantadora cidade. E depois de ter conhecido as grandes figuras humanas que aqui nasceram e para aqui convergiram, como Vimaranenses, entendi que, mesmo aposentado, tinha o dever de aprofundar esse conhecimento, através de causas e de pessoas. Enquanto vereador tive competências na então Biblioteca da Gulbenkian, cujo timoneiro era – o hoje saudoso - Joaquim Fernandes, autor de um dos livros mais saudados dessa geração: “Guimarães do Passado e do Presente”. Nas muitas conversas com ele percebi que Guimarães, em termos de Biblioteca, estava carenciada. Em 1884, fizera um protocolo com a Sociedade Martins Sarmento para aproveitar nela espaço para acolher e zelar pelo aumento e conservação bibliográfico. Entretanto, em março seguinte chegou um Despacho do Instituto Português do Livro e da Leitura, convidando a Câmara de Guimarães a concorrer à construção de uma Biblioteca de Leitura Pública. Era aliciante essa oportunidade porque obrigava a adquirir um edifício do Centro Histórico, à sua restauração e à aquisição de Fundos bibliográficos. Podia albergar a Biblioteca que se encontrava na SMS e todos os encargos seriam repartidos a 50% pela Câmara e pelo IPLL. O meu pelouro trabalhou afanosamente até setembro seguinte. No dia em que recebi o documento da aprovação dei conhecimento ao então Presidente do Município, António Xavier, até para agendar o assunto para a próxima reunião do executivo camarário. E assim, com a inauguração em 1992, passámos a ter uma das primeiras Bibliotecas Públicas.

Antes disso convidei duas técnicas da Câmara para fazerem um levantamento do número e qualidade de obras que a Câmara possuía na SMS. Tenho cópia desse inventário que espero publicar em vida. Essa informação deixará “parvas” muitas vozes que por essa altura se levantaram e ainda há resquícios justificativos e preocupantes. A Biblioteca Municipal “Raul Brandão” conquistei-a e reclamo-a, como contributo de minha mulher e neto, enquanto vimaranenses. Todos nós, aqui nascidos ou aqui residentes, temos obrigação de dar graças à Natureza por nos acolher por bem. Quanto ao Castelo, que é a referência que une toda a Comunidade Vimaranense - arrasto comigo uma faceta curiosa que, não passando de uma mera coincidência, corresponde àquilo que meu filho mais novo me dizia, quando íamos a Montalegre. Também aí existe um bonito castelo de Fronteira. Nessa vila nasceu e vive o seu padrinho de batismo e de casamento. Quando ele começou a falar, querendo dizer que chegámos a Montalegre, à terra do padrinho, dizia: “chegámos ao castelo do Padrinho”! Quem me conhece sabe que fui responsável pelos Monumentos Nacionais da Colina Sagrada: o Paço ducal, a Capela de S. Miguel e a estátua de Soares dos Reis. Ao cimo da Colina ergue-se o Castelo. Todos esses Monumentos e espaços adjacentes sempre estiveram na alçada do Estado. Mas quando, em 1931, foi criado o Museu Alberto Sampaio, o Conservador do Castelo passou a depender, administrativamente, desse único museu. Só em 1959 abriu o Museu do Paço Ducal, como segundo Museu público em Guimarães. Contudo, a gestão do Castelo, embora este seja contíguo aos monumentos da Colina Sagrada, os visitantes que pretendessem reclamar ou apresentar sugestões sobre o Castelo dirigiam-se ao responsável do Museu de Alberto Sampaio.


Fac-simile do Auto de Entrega das Chaves do Castelo da Fundação.
que no dia em que fiz 53 anos recebi como prenda o Castelo da Fundação. Quando cheguei ao Paço dos Duques e conheci a realidade, propus ao Presidente do IPPAR que alterasse as competências e gestão do Castelo para a direção do Paço Ducal. No dia 19 de fevereiro de 1992 recebi um telefonema do Diretor de Serviços Administrativos do IPPC, Doutor António Ventura, a dar-me conhecimento de que fora aprovada a minha proposta e que a Direção do Museu Alberto Sampaio me entregaria as Chaves do Castelo, nesse mesmo dia. Foi uma mudança simples que, até hoje, nunca vimos escrita, nem a maioria dos Vimaranenses conhecia. Agora, 29 anos depois, tenho o gosto de dar, através desta revista cultural, este esclarecimento que, em tom de brincadeira, me permite dizer

De Ontem… para Hoje: Um património em crescendo
Isabel Maria Fernandes Responsável pelo Paço dos Duques, pelo Castelo de Guimarães e pelo Museu de Alberto Sampaio, desde novembro de 2014, diretora do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, desde 1991
Há casas que são um poema Para dar a um amigo (Eugénio de Andrade, 1991)
Falemos de casas como quem fala da sua alma (Herberto Helder, 1961)
Património tem a sua raiz na palavra latina pater (pai). Património é herança, o que nos foi legado pelos nossos pais… Património é “bem ou conjunto de bens naturais ou culturais de importância reconhecida num determinado lugar, região, país ou mesmo para a humanidade, que passa(m) por um processo de arrolamento para que seja(m) protegido(s) e preservado(s)” (in Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa). A cidade de Guimarães é detentora de um notável património edificado, mas, atrevo-me a dizer, deveríamos antes chamar-lhe matrimónio em vez de património… De facto, a cidade nasceu sobre o signo de uma mulher – Mumadona Dias. Ela é a mãe (mater, em latim) que deu origem ao que hoje conhecemos como Guimarães. No longínquo século X, a Condessa Mumadona Dias, depois da morte de seu marido, Hermenegildo Gonçalves, decide abandonar o seu Paço, que ficava muito provavelmente onde hoje se encontra a pousada de Santa Marinha da Costa, e manda construir um mosteiro e um castelo na propriedade rústica “vimaranes”. É para o mosteiro, localizado onde hoje se encontra a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira e o Museu de Alberto Sampaio, que Mumadona Dias vem gozar os últimos anos que lhe restam de vida, trazendo com ela sua filha Oneca ou Onega. No entanto, para tristeza sua, a filha decide casar e abandona a pacata e religiosa vida que levava no mosteiro dedicado a O Salvador e Santa Maria. Se a urbe vimaranense fui fundada por uma mulher, a outra mulher foi dedicada a sua igreja – Santa Maria. E é sobre a proteção destas duas mulheres – uma condessa e uma santa – que a cidade foi crescendo e viu crescer o seu património cultural.
Desde o século X que a vida urbana se foi estruturando em torno de um eixo – mosteiro e castelo – que
uma rua unia – a rua de Santa Maria. Nascida na confluência das estradas que ligavam Porto a Braga e o litoral ao interior, dotada de um clima fértil em águas, possuindo terras baixas e montes, a urbe vimaranense e a sua envolvente foi propícia ao desenvolvimento de atividades agrícolas e “industriais” tão necessária à fixação da vida humana – cultivava-se o linho, havia rebanhos, a terra dava frutos, trabalhava-se o couro, faziam-se cutelarias, havia oleiros, tecia-se o linho e a lã…

Paço dos Duques, antes de 1866. J. C. Robinson Collection. Fonte: collections.vam.ac.uk
No devir de Guimarães há outros dois acontecimentos que lhe marcam o Ser – ser aqui que se acredita ter nascido o nosso primeiro Rei, Afonso Henriques, e ser aqui que ocorreu a Batalha de S. Mamede, a qual coloca em campos opostos Afonso Henriques e sua Mãe, D. Teresa. Ou, dito de outro modo, esta foi a batalha onde se digladiaram duas visões para o futuro do condado portucalense que vem a ser, alguns anos passados, reino de Portugal. Mas, fruto das necessidades, da vontade e da visão dos homens, a cidade vai anulando, alterando e aumentando o seu património – há edifícios que pereceram, há outros que foram sendo adaptados aos novos desejos dos homens e ainda outros que foram sendo criados. O Castelo é o exemplo típico de um edifício que acompanhou as necessidades dos tempos e dos homens. O castelo, fundado por Mumadona Dias no séc. X, foi sendo remodelado de acordo com a vontade dos homens e as “modas” de cada época, até ao seu abandono, por falta de utilidade para o fim para o qual tinha sido criado. Hoje, o seu uso é outro – já não há ferozes combates entre homens, já não é residência do senhor do castelo, já não é prisão – mas continua a ser vivenciado, sendo hoje memória desses outros tempos e lugar de visita para quem o deseja. Também já nada resta do velho cenóbio mandado construir por Mumadona Dias, mas esse local ficou sendo sempre um lugar sagrado – o mosteiro dúplice, onde viviam debaixo da mesma regra homens e mulheres, deu origem no séc. XII a uma Colegiada, extinta no séc. XIX, sendo hoje sede de uma paróquia – a paróquia de Nossa Senhora da Oliveira. Até a Santa venerada ao longo de tantos séculos mudou de nome – conhecida nos primeiros tempos como Santa Maria é hoje denominada Nossa Senhora da Oliveira. Mas, a verdade é que a devoção dos crentes é a mesma. Guimarães é um caso raro de urbanismo, pois, num espaço contíguo temos duas vilas e dois concelhos – a vila alta, ou vila do Castelo e a vila baixa onde dominava a Igreja de Santa Maria. Primeiro, as muralhas cercavam apenas a vila alta, mais tarde, no séc. XIII, também a vila baixa se vê rodeada de muralhas. Mas a vida continua e, no séc. XV, é na vila alta que D. Afonso, 8.º Conde de Barcelos, decide fazer o seu Paço para nele viver com a sua segunda mulher, D. Constança de Noronha. Nasce assim mais um edifício que vem enriquecer o património vimaranense e nacional. Em volta destes edifícios de poder – Castelo, Paço dos Duques, Igreja de Santa Maria – vão sendo edificadas as moradas de todos os que ao longo dos séculos habitaram em Guimarães. As casas são de pedra e taipa, possuem um “eixido”, ou seja, um espaço aberto onde se guardam os animais de criação, uma pequena horta e uma ou outra árvore de fruto. No rés-do-chão de muitas destas casas existe a “oficina” dos mesteres
– oleiros, cutileiros, correeiros, tecelões, sapateiros, ferreiros…
Uma cidade é uma espécie de organismo vivo que vai crescendo e sofrendo mutações. Uma cidade responde aos anseios dos homens e nela se concretizam, em forma de património edificado, as ideias desses mesmos homens. Não há cidade sem homens e os homens gostam de viver em cidades. Os homens que ao longo dos séculos viveram na urbe vimaranense legaram-nos uma cidade com caraterísticas próprias que a tornam distinta de outras cidades. Guimarães é uma cidade onde ainda pulsa a vida de bairro, onde as pessoas se conhecem e, o que é muito importante, reconhecem e valorizam o património edificado que receberam dos seus antepassados. Não admira, pois, que em 2001 Guimarães tenha sido reconhecida como Património da Humanidade e que em 2012 tenha sido Capital Europeia da Cultura. Tais galardões dignificam os homens de hoje, mas, sobretudo, reconhecem o trabalho continuado de muitos homens que habitaram a cidade e a foram criando e recriando. A nós que hoje habitamos Guimarães compete-nos preservar este notável património e legá-lo aos nossos vindouros, nunca esquecendo que uma cidade é feita por homens e para os homens e que uma cidade só existe enquanto for útil para esses mesmos homens.

História de um Palácio
Poema de Manuela Ribeiro - Osmusiké Integra o CD Cantar Guimarães, que também pode ser ouvido no SoundCloud, em https://soundcloud.com/osmusike/sets/gentes-de-guimaraes
Alto, belo e majestoso, Monumento nacional. Vislumbra a nossa cidade, Ele é único, sem igual.
Era uma vez um conde Que, pela Europa, viajou. D. Afonso, de seu nome, De Constança se enamorou.
Era filho ilegítimo, Queria voltar a casar. Como prova de amor, Mandou o Paço edificar.
Este Paço do séc. XV, Velha Borgonha lembrava: - Chaminés, estilo francês, Pátio central apresentava.
Torres altas e capela E telhados inclinados. Muitas janelas e arcadas Pra receber os convidados.
E Constança de Noronha Seu amor, por fim, aceitou. D. Afonso, homem culto, Grande Duque se tornou.
Constança, rara beleza, Sua bondade oferecia Aos pobres e enfermos. No Palácio os recebia.
Aquele Duque de Bragança Ainda novo pereceu. Sua segunda esposa Descendentes não lhe deu. A Duquesa, já viúva, (O) Palácio não abandonou. (O) hábito de S. Francisco Com agrado envergou…envergou
Sepultada em S. Francisco, Em Santa se transformou. Duquesa tão virtuosa O seu Palácio, enfim, deixou…enfim, deixou…enfim, deixou.
No belo Paço dos Duques, A ruína se instalou. Foi deixado ao abandono, No tempo, sozinho ficou.
Neste Paço senhorial, Qual fénix renascida, A imponência é restaurada, Em polémica investida.
Atualmente é um museu, Residência de presidentes, É espaço cultural, Exposições permanentes.
O seu vasto espólio: - Porcelanas preciosas, Mobiliário, tapeçarias, Armas, pinturas famosas…famosas.
De um lado, Afonso Henriques, De outro, legado de jardins. Berço da Casa de Bragança: - Riqueza, esplendor e afins…… Esplendor e afins…… Esplendor e afins.
Igreja de S. Miguel do Castelo
Isabel Maria Fernandes Responsável pelo Paço dos Duques, pelo Castelo de Guimarães e pelo Museu de Alberto Sampaio, desde novembro de 2014, diretora do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, desde 1991

Vista aérea da Igreja de S. Miguel com o castelo ao fundo. 2010. Fotografia de Paulo Pacheco. © Câmara Municipal de Guimarães.
Igreja de S. Miguel do Castelo. Vista da fachada com os túmulos em arcossólio. 2020. Fotografia de Miguel Sousa. © Paço dos Duques. Situada no Monte Latito, a meio caminho entre o Paço dos Duques e o Castelo de Guimarães, encontra-se a singela igreja de S. Miguel do Castelo23 . Se aquelas paredes falassem muito saberíamos sobre quem por lá passou e o que por lá se passou… Esta não foi a igreja onde D. Afonso Henriques foi batizado, mas os vimaranenses querem crer que assim foi e deste modo têm contribuído para preservar o monumento e manter o espírito do lugar. Mas, mesmo sendo a Igreja de S. Miguel posterior ao nascimento do nosso primeiro rei, a sua antiguidade é comprovada, sendo a referência mais antiga que se conhece datada de 1216 e nela se menciona a composição estabelecida entre o Arcebispo D. Estevão Soeiro e os cónegos da colegiada de Santa Maria de Guimarães. Nessa época, a igreja de S. Miguel aparece designada como capela, e encontra-se na dependência da dita colegiada, estando isenta do pagamento do censo. Terá sido sagrada em 1239, apesar de haver autores que apontam a data de 1236. O pavimento interior da nave da Igreja, bem como o espaço exterior circundante, foram sendo utilizados ao longo dos séculos como local de enterramento, e,

23 Refira-se que a escrita deste texto tem como base o livro de Isabel Maria Fernandes – Igreja de S. Miguel do Castelo. Guimarães: Associação de Amigos do Paço dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães, 2020. Refira-se também que, dado tratar-se de um texto de divulgação, optámos por retirar as referências bibliográficas. Quem quiser saber mais sobre este edifício e a bibliografia que lhe anda associada deve consultar a mencionada obra.

ainda hoje podemos observar os jacentes que aí se encontram, se bem que muito delidos pelo passar do tempo e pela incúria dos homens. O primeiro enterramento de que temos menção data de 1223 e é o do chantre da Sé de Coimbra, Martim Pais. Atente-se também nos dois túmulos em arcossólio que se encontram inseridos na grossura de uma das paredes exteriores da nave da Igreja: num deles terá sido enterrado João Anes Enxate, procurador de número da vila de Guimarães, do qual chegou até nós o seu interessante testamento, datado de 21 de dezembro de 1408.
Uma pia batismal venerada ao longo dos séculos
Dentro da Igreja encontra-se ainda hoje a pia batismal que a tradição atribui ao batismo de D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, se bem que a Igreja, como já acima referimos, tenha sido construída um século depois do nascimento deste monarca. Em 1664, numa época de elevado fervor nacionalista, o prior D. Diogo Lobo da Silveira, dado o simbolismo que andava associado a esta pia, leva-a para a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, aí ficando exposta. Convém referir que esta pia batismal aparece representada numa pintura do séc. XVII, que vem sendo atribuída ao pintor Simão Álvares, e que terá sido pintada a pedido do prior D. Diogo Lobo da Silveira, o mesmo que a traslada da Igreja de S. Miguel para a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira. Esta representação da pia batismal deixa perceber o simbolismo que a esta vem sendo associado, desde há muitos séculos. Em época que não conseguimos determinar, a pia foi pintada. De facto, na visita efetuada por D. Maria II à Igreja da Colegiada de Guimarães, a 16 de maio de 1852, a rainha achou estranho que «a pia em que fora batizado D. Afonso Henriques estivesse pintada».
Igreja de S. Miguel do Castelo. Perspetiva tirada do interior da capelamor, vendo-se a nave, as portas travessas e a porta principal. 2020. Fotografia de Miguel Sousa. © Paço dos Duques.

Em setembro de 1927, a pia batismal que tinha sido levada, em 1664, pelo prior D. Diogo Lobo da Silveira para a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, regressa à Igreja de S. Miguel do Castelo.

A igreja como espaço de sociabilidade
Mas se a igreja tinha uma evidente função religiosa, acompanhando a vida dos que junto a ela residiam – nela eram batizados, casavam, assistiam às festividades próprias de cada época do ano e aí eram enterrados –, também é verdade que aí se exerciam outras atividades.
Batismo de D. Afonso Henriques por S. Geraldo, Arcebispo de Braga. Simão Álvares (?). Séc. XVII, meados. Fotografia de Miguel Sousa. © Museu de Alberto Sampaio. É importante referir que em tempos idos, em três das suas faces, a igreja possuía um alpendre, sabendose que aí se realizavam as audiências concelhias no séc. XIV, e que em seu redor se realizava a feira, havendo, ainda hoje, guardado dentro da Igreja, o designado padrão das teigas. Ou seja, um tosco paralelepípedo de pedra, de feição irregular, e com duas cavidades arredondadas que serviam como medida de capacidade para sólidos, sendo uma a medida de teiga e a outra de alqueire.

A vida longa de uma igreja
Ao longo dos séculos, este pequeno templo foi sofrendo obras: acrescentou-se-lhe um alpendre, anexou-se-lhe uma sacristia, montou-se um coro alto, alteou-se uma torre sineira, mexeu-se na fachada afetada por uma forte intempérie… É a vida dos edifícios que, com o passar dos anos, vão sendo adaptados pelos homens a novas funções e recriados de acordo com as modas que vão surgindo… Em 1874, tendo em conta o estado de ruína e o simbolismo que se atribui a esta igreja – onde se acreditava ter sido batizado o nosso primeiro rei – é lançada uma subscrição pública para que se possa levar avante o seu restauro, iniciando-se os trabalhos em agosto de 1874. Consegue-se reunir a verba de 700.000 réis por subscrição pública, 1.200.000 réis de subsídio por parte do governo e uma verba não determinada, dada por Martins Sarmento, esta última especificamente para refazer o arco cruzeiro. A comissão que coordena e acompanha a execução da obra é constituída por Francisco Martins de
Morais Sarmento, cónego José de Aquino Veloso de Sequeira, João Pinto de Queirós e o padre António José Ferreira Caldas. A Associação dos Arquitetos e Arqueólogos Portugueses, que acompanhou todo este processo, nomeia o Eng.º João Maria Feijó, professor de arquitetura na escola do Exército, como consultor. Nesta requalificação do templo, que durou entre 1874 e 1877, foram suprimidos os altares laterais, um, dedicado a Nossa Senhora da Graça e, o outro, a Santa Margarida e substituído o arco cruzeiro, que tinha sido colocado em 1795, por outro mais consentâneo com o estilo dito original. Em 1910, a igreja de S. Miguel do Castelo é classificada como Monumento Nacional. Em 1926, este vetusto templo encontra-se, de novo, degradado. Em 1927, a sacristia, que sabemos existir desde pelo menos a 2.ª metade do séc. XVI, é demolida, mantendo-se, no entanto, na parede nascente da capela-mor a porta que lhe dava acesso bem como um postigo. Estas obras visaram também a recuperação das coberturas, a correção de fendas e a supressão das raízes de um plátano que a afetava. Em setembro de 1927, a pia batismal – que tinha sido levada, em 1664, pelo prior D. Diogo Lobo da Silveira para a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira – volta ao seu local de origem. E regressa exatamente pelo mesmo motivo pelo qual tinha sido levada – valorizar a pia batismal na qual se acreditava ter sido batizado o nosso primeiro rei – D. Afonso Henriques. Em 1912, era neste largo, ou como diz o documento, era em parte deste «terreno inculto junto à igreja, atravessado pela estrada que vai para o castelo» que o «Regimento de Infantaria n.º 20» realizava «exercícios ginásticos». Entre 1936 e 1940 novo restauro é realizado na igreja. Em abril de 1952 é publicada, no Diário do Governo, a zona especial de proteção ao Castelo, Igreja de S. Miguel e Paço dos Duques de Bragança, área que foi substancialmente alargada em 1955.
O valioso recheio da Igreja de S. Miguel
Hoje conhecemos esta singela igreja como Igreja de S. Miguel, mas, ao longo dos séculos, foi sendo associada quer a S. Miguel quer a Santa Margarida. No Museu de Alberto Sampaio está exposta uma pintura sobre tábua, da segunda metade do Séc. XVI, que representa S. Miguel e Santa Margarida, e que terá pertencido a um dos altares laterais da nave da Igreja.
S. Miguel e Santa Margarida. Séc. XVI, 2.ª metade. Guimarães, Mestre desconhecido. Fotografia de Miguel Sousa. © Museu de Alberto Sampaio. Há também no Museu duas belíssimas esculturas quatrocentistas de S. Miguel e de S. Margarida que terão estado ao culto nesta igreja. Lembremos que desde há muitos séculos que os vimaranenses são devotos de Santa Margarida, sendo que a mais antiga referência documental que encontramos, associando Santa Margarida à Igreja de S. Miguel do Castelo, data de 1285. No século seguinte intensificam-se as referências a esta Santa, começando a igreja a ser nomeada quer como Igreja de S. Miguel do Castelo quer como Igreja de Santa Margarida. Santa Margarida é a advogada das parturientes tendo tido ao longo dos séculos uma grande devoção por parte das mulheres vimaranenses. Nas Memórias Paroquiais de 1758 menciona-se o culto a Santa Margarida, informando o pároco que esta Santa “festejam com grandeza, todos os anos, as fidalgas e mais mulheres casadas da terra pela haverem tomada por advogada em seus partos. E no dia vinte de julho se lhe faz a sua festa aonde concorre muito povo até às 10h00 da noite, e nos mais dias do ano a buscam com seus novenários todas as mulheres pejadas por ser esta uma santa que em todos os partos obra especialíssimos milagres. Neste mesmo dia da sua festa vai o ilustríssimo e Reverendíssimo Cabido da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira a esta igreja aonde por legado cantam um noturno com sua missa rezada” . No século XX ainda se mantinha esta devoção a Santa Margarida e, mesmo quando a escultura dá entrada no Museu de Alberto Sampaio, havia quem se deslocasse ao museu para pedir a sua intercessão divina! Por último, refira-se a belíssima cruz processional de meados do séc. XV, executada em prata branca, fundida, repuxada

e cinzelada e que seria uma das valiosas alfaias da Igreja de S. Miguel.
Trata-se de uma peça de elevada qualidade artística, possuindo extremos flordelisados, assentando em nó arquitetónico de dois registos, sustentado em haste sextavada. Os braços da cruz confluem centralmente para um quadrado decorado, tendo aposta, no verso, a figura de Cristo em vulto pleno, sendo que, no reverso, se encontra representado, relevado, o Padre Eterno. A decoração, de cariz vegetalista, é composta por ramagens com motivos enrolados e entrelaçados, e cobre toda a cruz. Alfredo Guimarães e Pedro Dias acreditam, mas sem base documental que o sustente, que esta cruz terá sido uma oferta do Duque de Bragança à Igreja de S. Miguel do Castelo. No período das Invasões Francesas pensa-se que o abade da Igreja, para evitar a sua perda, a escondeu “numa caixa entre o centeio de um campo” . No final de 1872, dado o estado geral de degradação do templo, a cruz transita da vetusta igreja de S. Miguel para a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira. Com a criação do Museu de Alberto Sampaio, em 1928, esta passará a integrar o seu acervo e quem a quiser conhecer pode vê-la hoje, em todo o seu esplendor, neste museu.

Cruz Processional. Séc. XV (meados). Fotografia de José Pessoa. © ADF / DGPC.
E assim, a traços largos, demos a conhecer esta vetusta igreja de S. Miguel, que se encontra no Monte Latito, entre o Paço dos Duques e o Castelo de Guimarães.
D. AFONSO HENRIQUES: O maior ativo (asset) intangível de Guimarães
Florentino Cardoso Presidente da Direção da Grã Ordem Afonsina
“Guimarães é seguramente a cidade portuguesa que mais se apropriou da memória coletiva do reinado de D. Afonso Henriques, integrando-a na sua oferta turística. Até o clube de futebol local usa a imagem estilizada do monarca”. 24
Aproveito esta frase para iniciar uma breve reflexão sobre a forma como a cidade de Guimarães tem aproveitado o ativo (asset) da figura de D. Afonso Henriques ao longo dos séculos. Hoje ninguém tem dúvida de que o principal valor da cidade de Guimarães reside na sua história simbolizada na imagem de Afonso Henriques e nas palavras do slogan “Aqui nasceu Portugal”, que traduz, de modo muito impressivo, a relação circunstancial (de lugar) entre a cidade e a ação guerreira e política mais importante praticada pelo Rei Fundador - a vitória na batalha de S. Mamede - que aqui aconteceu no dia 24 de junho de 1128 e que, “de facto”, se traduziu na conquista da soberania sobre o território de Portugal, pese embora o reconhecimento da independência, “de jure”, ter acontecido uns anos mais tarde. À primeira vista, poderá pensar-se que este legado de D. Afonso Henriques à cidade de Guimarães foi constituído com o alvor da nacionalidade e usufruído plenamente por ela ao longo dos séculos, mas a verdade é que este culto ou homenagem de Guimarães e dos vimaranenses ao Rei Fundador só despontou em meados do séc. XIX, como consequência da controvérsia gerada pela publicação da obra HISTÓRIA DE PORTUGAL (1846/1853), de Alexandre Herculano, em que foi posta em causa a tradição fundadora baseada na lenda da aparição de Cristo na véspera da batalha de Ourique. Podemos afirmar, com bastante segurança, que foi a partir do rigor científico que Alexandre Herculano pôs na sua obra, que a batalha de S. Mamede passou a ganhar foros de

24 BERNARDO SÁ-NOGUEIRA, National Geographic Portugal, D. Afonso Henriques a verdade e o mito do reinado mais longo.
acontecimento histórico relevante no contexto da Fundação Nacional, pois durante os séculos anteriores foi tratada como um mero incidente de “violência doméstica”. Do nosso ponto de vista, só a partir de então teve início o processo de construção da imagem de D. Afonso Henriques como uma marca identitária da Cidade, que fez despontar a paixão pelo Rei Fundador de Portugal ainda hoje entrincheirada no coração dos vimaranenses. Fruto desta reviravolta na narração da história de Portugal, surgiu a ideia (1882) de erigir em Guimarães um monumento a D. Afonso Henriques. Curiosamente, a ideia nasceu no Rio de Janeiro, no seio de uma tertúlia de patriotas que aí residiam. Da ideia à ação foi um salto de pardal. Em 2 de setembro de 1885 foi assinado o contrato para a execução de uma estátua em bronze da autoria do célebre escultor António Soares dos Reis; em 20 de setembro de 1887 o monumento foi inaugurado no Largo de S. Francisco, com a presença do rei D. Luís e restante família real. Como se sabe, este monumento foi transferido para o Largo do Toural em 1911 e, posteriormente, em 1940, foi levado para o lugar onde hoje se encontra. 25 Esta iniciativa marcou de forma indelével o culto de Guimarães a D. Afonso Henriques e produziu efeitos patrióticos tão catalisadores a nível nacional, que a cidade de Lisboa se apressou a le- Coleção Arnaud vantar uma réplica da estátua no Castelo de S. Jorge! Mais tarde, em 1922, nasceu o Vitória Sport Clube, hoje reconhecido sobretudo pela sua enorme e fiel massa adepta que, nos primeiros anos da década de trinta, resolveu adotar um emblema com a imagem de

25 AMARO DAS NEVES, in MEMÓRIAS DE ARADUCA, citando João Lopes de Faria, Efemérides Vimaranenses, dá conta que a estátua de D. Afonso Henriques que se encontrava num pedestal de mármore no meio do jardim do Toural foi dali retirada no dia 21 de maio de 1940 e colocada no sítio onde hoje se encontra. No artigo que escrevi em Osmusiké Cadernos 1, de junho de 2020, sob o título “Guimarães – a Cidade Santa de Portugal”, na página 97, afirmei que a transferência da estátua tinha sido operada por ocasião das comemorações do milenário da cidade, o que não corresponde à verdade e aqui aproveito para retificar.
Afonso Henriques, da autoria do arqueólogo Coronel Mário Cardoso, 26 certamente para aproveitar a forte paixão que a comunidade vimaranense da época devotava ao Rei Fundador. Atrevo-me até a conjeturar que se algum dia se fizer um estudo sociológico em busca das causas da afeição e fidelidade clubística dos vimaranenses ao Vitória, uma delas será a forte carga patriótica que o seu emblema contém! Mais recentemente, a Câmara Municipal de Guimarães tomou a iniciativa de remodelar o Estádio Municipal para que ele pudesse ser palco de 2 jogos a contar para o Euro 2004. A cerimónia inaugural da remodelação ocorreu em 25 de julho de 2003 e o estádio, que passou a pertencer ao clube, foi batizado com o nome de “Estádio D. Afonso Henriques”, sem que alguém se atrevesse a sugerir qualquer alternativa! Apesar de o estádio ser privado, já alguém imaginou qual seria a reação dos vimaranenses se o seu “naming” fosse colocado em mercado e substituído por qualquer marca comercial? Isto demonstra que a imagem de Afonso Henriques continua a ser um ícone sagrado para os vimaranenses e, como tal, fora de qualquer estimativa monetária!
No passado dia 22 de setembro, o Vitória Sport Clube completou 99 anos de existência e anunciou a preparação das comemorações do centenário ao longo do próximo ano (2022). Colho o ensejo de expressar aqui ao Vitória as mais retumbantes felicitações pelo feliz aniversário, mas com o alvitre de que a gloriosa efeméride do centenário possa constituir uma oportunidade de ouro para Guimarães render preito e homenagem a D. Afonso Henriques e sensibilizar o país cultural e político para as comemorações do IX centenário da batalha de S. Mamede a ocorrer no ano de 2028, com todas as prerrogativas que lhe cabem no plano da Fundação de Portugal.
Como é que, no futuro, a cidade de Guimarães poderá aproveitar de forma eficaz o ativo (asset) que a figura do primeiro rei de Portugal representa?
Considerando que o acontecimento histórico mais importante protagonizado por D. Afonso Henriques

26 AMARO DAS NEVES, in MEMÓRIAS DE ARADUCA, refere que aquando da celebração do cinquentenário vitoriano, o próprio autor explicou a sua criação, nos seguintes termos: “Com a sugestão das palavras Vitória e Guimarães vinha logo ao pensamento o fundador da nacionalidade Afonso Henriques, “ex-libris” de Guimarães, em atitude serena, mas destemida da imagem que o grande estatuário Soares dos Reis modelou. Acerca das cores preta e branca parece que os fundadores do clube já pressentiam o que essas cores simbólicas viriam a significar, a admissão no clube de todos sem distinção que nele se quisessem associar tanto africanos de cor como os brancos europeus."
aconteceu em Guimarães (batalha de S. Mamede), parece-nos que deverá ser à volta deste facto histórico e das suas consequências (Fundação de Portugal) que a cidade deverá alinhar a sua estratégia, para honrar a memória do Rei Fundador e aproveitar o valor que ela acrescenta. Recordamos que, no século passado, a cidade de Guimarães assinalou satisfatoriamente, em 1928, a passagem do VIII centenário da batalha de S. Mamede, mas fazendo-o de uma forma muito singela, desorganizada e até polémica, tendo as grandes manifestações públicas acontecido nos dias 7 e 8 de julho e não no dia 24 de junho, como seria lógico e normal. Apesar disso, o reflexo dessa comemoração perdurou por muito tempo, sendo ainda sentido em 1940 quando a cidade participou na comemoração do “Duplo Centenário” que o antigo regime resolveu promover nesse ano. Como transparece das palavras de ALBERTO D'OLIVEIRA27 , escritas em 1939, estava bem fortalecida nos portugueses a relação causal entre a batalha de S. Mamede e a Fundação de Portugal:
«Em verdade, todos os Portugueses são, em certa medida, vimaranenses, pois foi ali, na decisiva batalha de S. Mamede, que raiou a aurora da Pátria, e foi dentro dos muros da fidalga vila que se desdobraram os primeiros capítulos da nossa existência. O Dia Um de Portugal foi em Guimarães e ninguém lhe pode disputar tal primazia».
Apesar de o VIII centenário ter sido uma singela festa municipal e não ter merecido as devidas honras nacionais, a batalha de S. Mamede foi unanimemente apontada como a causa da independência nacional pelos que, naquela ocasião (1928), sobre ela se pronunciaram nos meios de comunicação social. A partir da década de 1930, o dia 24 de junho passou a ser assinalado com uma cerimónia religiosa na Capela de S. Miguel do Castelo; em 1940, ano em que o antigo regime comemorou o “duplo centenário” da Restauração da Independência e da Fundação de Portugal, não houve qualquer celebração em Guimarães nesse dia, mas Salazar e Carmona estiveram cá no dia 4 de junho participando numa cerimónia solene; em 1970 a celebração contou com a presença do Presidente da República, Américo Tomás, e o Presidente da Câmara, Manuel Bernardino de Araújo Abreu, pediu que o dia fosse elevado à categoria de DIA DE PORTUGAL; só a partir de 1974 é que o dia 24 de junho passou a ser FERIADO MUNICIPAL; em 1983, marcou presença o Chefe de Estado, Ramalho Eanes, e a partir desta data as comemorações começaram a aproximarse do figurino com que hoje se apresentam. Em face desta síntese, forçoso é dizer que Guimarães se manteve adormecida à sombra deste ativo durante muitos anos, pouco ou nada tendo feito para o valorizar e usufruir.
27 DIÁRIO DE NOTÍCIAS de 13 de fevereiro de 1939.
Atualmente, porém, têm surgido alguns sinais de maior abertura e interesse político pela Fundação de Portugal: - De facto, em 28 de maio de 2019, o Correio da Manhã titulava em grande manchete:
“Guimarães quer feriado nacional a 24 de junho” e acrescentava as palavras de Domingos Bragança “queremos convictamente que o Dia Um de Portugal seja data adotada como feriado nacional, por ter sido o momento que despoletou todo o processo da fundação de Portugal”. - No dia 23 de junho de 2020, a frase “Guimarães quer feriado nacional no 24 de junho” voltou a ser manchete no Jornal de Notícias. - No ano em curso, o Presidente da Câmara, Domingos Bragança, em discurso proferido na sessão solene diante do Presidente da República, pediu expressamente o reconhecimento do dia 24 de junho como FERIADO NACIONAL, tendo recebido de Marcelo Rebelo de Sousa a resposta - em declarações à imprensa de que “esse é um processo da competência da Assembleia da República”, manifestando apenas a intenção de chamar a atenção para este problema. Ora, a escassos sete anos da passagem do IX Centenário da batalha de S. Mamede (2028), a cidade de Guimarães tem de começar a pensar numa estratégia mais eficaz para ver reconhecida a coincidência histó-
rica e cronológica entre a batalha de S. Mamede e a Fundação de Portugal.
Considerando que é à Cidade de Guimarães, como Berço da Pátria, que assiste o direito de se posicionar como o epicentro da futura comemoração nacional do IX centenário da batalha de S. Mamede (e da Fundação de Portugal), parece-nos urgente a criação de uma task force com as entidades e sob a forma jurídica mais adequadas, que seja capaz de desenvolver uma estratégia política, diplomática e de marketing no sentido de sensibilizar e envolver a comunidade nacional neste propósito. Este país, que se prepara para gastar milhões na celebração do 50º aniversário do 25 de abril, será que não quererá abrir uma garrafa do seu melhor espumante para comemorar 900 anos de existência em 2028?
A Grã Ordem Afonsina, a cuja direção tenho a honra de presidir, organizou, no passado dia 26 de junho, uma sessão intitulada “Primeiras Jornadas do Património Cultural Intangível de Guimarães” que contou com a participação do historiador espanhol RICARDO CHAO PRIETO, residente na cidade de Leão, autor de várias monografias históricas, que apresentou um estudo por si efetuado sobre um documento existente no Arquivo Histórico Nacional de Espanha (La memoria de treguas de los três Alfonsos: un passo en el caminho a la independencia de Portugal), cujo conteúdo consiste no estabelecimento de tréguas entre o rei de Leão

(Afonso VII) e o infante de Portugal (Afonso Henriques), atuando como árbitro e mediador o rei de Aragão (Afonso I). Se for comprovada a hipótese de este documento ter sido lavrado no dia de Páscoa de 1129, como defende o ilustre historiador, ficará confirmado que as relações políticas entre Afonso VII e D. Afonso Henriques tiveram início logo após o dia 24 de junho de 1128 e focaram-se sempre na definição das fronteiras e não na soberania de Portugal, podendo concluir-se (indiretamente) que a independência de Portugal foi tacitamente aceite desde a primeira hora (24 de junho de 1128). Impõe-se, agora, que este documento seja publicitado e submetido à crítica da comunidade científica portuguesa, para que se possa estabelecer na historiografia nacional como um instrumento com força probatória junto das autoridades académicas e políticas e, assim, servir os interesses de Guimarães na defesa da insigne pretensão que é o reconhecimento da coincidência histórica e cronológica entre a batalha de S. Mamede e a Fundação de Portugal.
EM CONCLUSÃO: A Cidade de Guimarães tem de tomar uma atitude diferente para ser bem-sucedida neste pleito: - Em primeiro lugar, deverá assumir plenamente a sua legitimidade histórica para ser o epicentro da comemoração do IX centenário da batalha de S. Mamede e da Fundação de Portugal; Em segundo lugar, criar uma Estrutura de Missão que junte personalidades, instituições públicas e privadas, associações culturais e demais forças vivas de Guimarães, de Portugal e do espaço lusófono para enfrentar com força e competência as dificuldades intrínsecas deste grande objetivo patriótico; - Em terceiro lugar, deverá despir-se dos preconceitos ideológicos decorrentes de outros entendimentos e hipóteses cronológicas que se apontam para o nascimento de Portugal e afirmar, sem receio de atavismo científico, que Portugal nasceu em Guimarães no dia 24 de junho de 1128 e que, neste ano (2021), completou a provecta idade de 893 anos, em vez de focar o alvo das suas ações na elevação do dia 24 de junho à categoria de Feriado Nacional e, assim, evitar os constrangimentos económico-políticos que a criação de novos feriados provoca.

Castelo de Guimarães É um símbolo nacional. Por todos reconhecido É maravilha mundial.
Manda Mumadona Dias Construí-lo no Século X. O Castelo defendia O Condado de lés-a-lés.
O ilustre D. Afonso Nasce, aqui, ele é o rei. E nos faz independentes De Castela e da sua lei.
Castelo de Guimarães, Berço da nossa nação. Sua Torre de Menagem Erigida na Fundação.
Nas Muralhas do Castelo Duas portas de Menção: Para o burgo, a principal; Para Leste, a da traição. Das ameias do Castelo Inimigos se abateram. Na poente Torre da Forca, Muitos traidores morreram.
Planta em forma de escudo Com adarves e seteiras Castelhanos derrotados, Nas batalhas prazenteiras.
Muito deve ao Castelo Afonso, o conquistador. Segundo reza a história, Dos cercos foi vencedor.
Lá na Colina sagrada Alto castelo descansa, Ex-libris da cidade, Sua vista tudo alcança.
Castelo de Guimarães
Poema de Manuela Ribeiro - Osmusiké Integra o CD Cantar Guimarães, que também pode ser ouvido no SoundCloud, em https://soundcloud.com/osmusike/sets/gentes-de-guimaraes
Mumadona Dias
Equipa redatorial
Ao que consta, em 26 de janeiro de 959, a aristocracia portucalense reunia no mosteiro de Guimarães, fundado cerca de 10 anos antes pela condessa Mumadona Dias (926-968?). Com efeito, acompanhada pelos seus cinco filhos, uma vez que o filho Nuno e o seu marido, conde Hermenegildo Gonçalves, já haviam fale-
cido e, rodeada por nobres e autoridade eclesiásticas, como os bispos de Tui e Braga, a reunião solene pretendia formalizar a doação ao mosteiro de Guimarães de vastos territórios e bens imóveis:
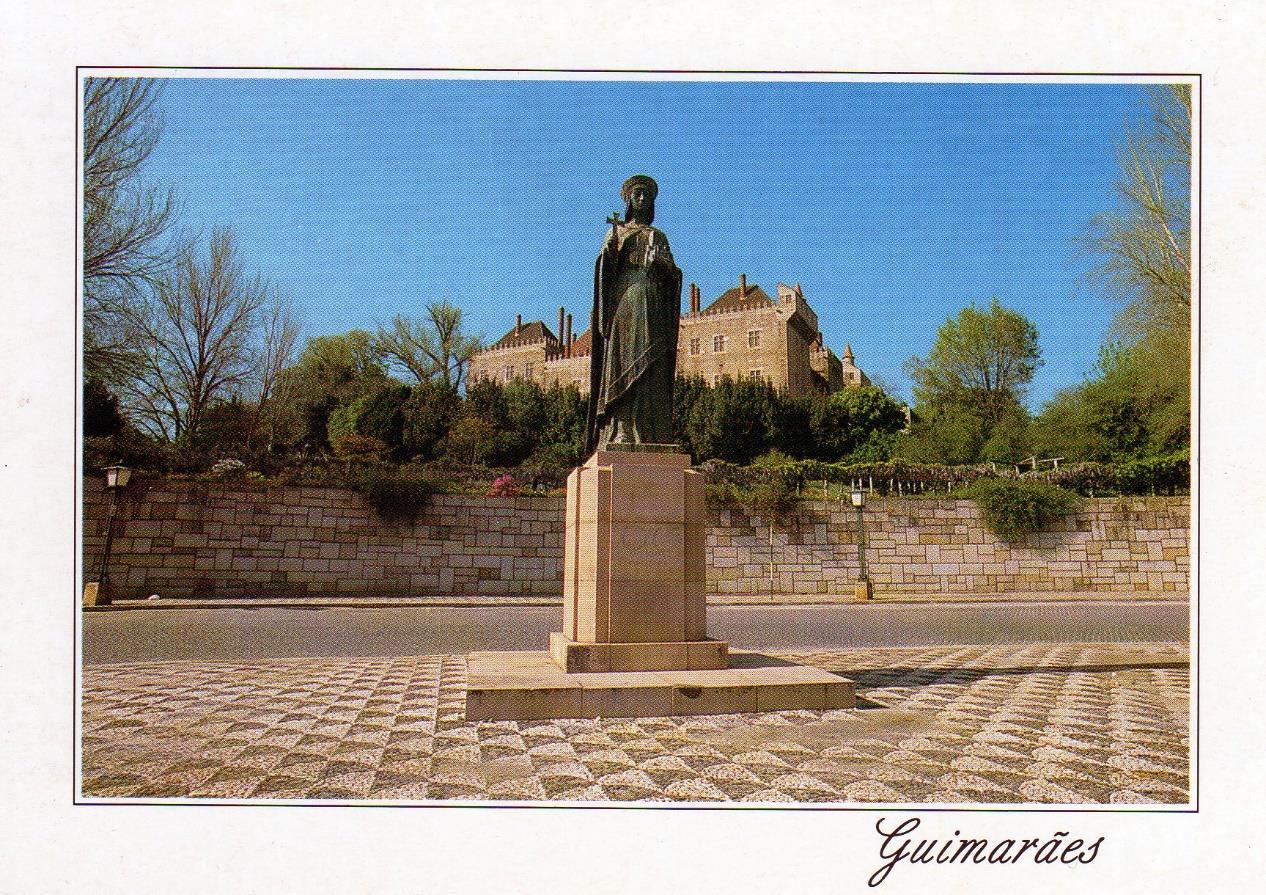
Coleção Reinaldo Arnaud
“Eu, Mumadona, filha de Diogo (Diogo Fernandes) e Oneca (Onega Lucides), ao atingir a juventude, fui como é de uso, unida pelo matrimónio a um homem de nome Ermenegildo, filho de Gonçalo e de Teresa; e, como,
de igual modo, nos tivéssemos juntado sob o regime de dote, como é costume entre a nobreza, tive desta união os filhos de nomes Gonçalo, Diogo, Ramiro, Nuno, Arriana e Oneca. Ao findar a sua vida, chegando ao último dia, chamou para junto de si, à hora da morte, mas ainda no seu perfeito juízo, amigos íntimos, como homens honrados que eram, seu irmão Paio, o abade Romualdo. Telo Tandariz e Aires Tandariz, e, na presença deles e de muitas outar pessoas, manifestou-nos a sua devoção e última vontade, e, perante todos me autorizou e ordenou a distribuir toda a quarta parte dos nossos bens pelos pobres e peregrinos, viúvas e órfãos, ou em benefício da Igreja. (…) E como igualmente os meus próprios filhos corroborassem, um a um, como confirmantes, tocou a minha filha Oneca a vila chamada Vimaranes. Ora, com então esta minha filha fazia vida de piedade, resolvi edificar nessa referida pequena propriedade, um convento de monges e de religiosas, submetidos à Regra monástica em obediência ao preceituado pelos Santos Padres (…)”
O longo testamento apresenta no seu final um “Codicilo, em seguimento do testamento acerca da edificação do Castelo de Guimarães” que acrescenta:
“Pouco depois que estas disposições testamentárias foram confirmadas na presença de muitos, irrompeu nos subúrbios deste nosso mosteiro uma incursão de gentio, e, com receio deles, edificamos o castelo chamado de S. Mamede. No já citado lugar do Monte Largo, o qual foi construído sobranceiro a este Mosteiro, e que em seguida concedemos a este santo cenóbio, para sua defesa e dos monges e monjas que no mesmo vivem. De tal modo que, no caso de meus filhos Gonçalo e Oneca quererem tomar a seu cargo este castelo, não lhes seja permitido entrega-lo a outrem, a não ser que continue como posse do Mosteiro (…) E se (o que Deus não permita), como acima dissemos, filhos, netos, ou pessoa nossa descendência, ou frade, ou qualquer outro homem o dito castelo fizer passar as mãos estranhas, criando embaraços a este Mosteiro, sobre ele recaia duranta a sua vida aquela maldição que atrás ficou exarado, e, após a sua morte, sofra as penas do inferno.”
De facto, o testamento previa ainda para aqueles que pretenderem invalidar ou infringir o testamento
que
“fique excomungado à face de Deus e dos Santos Apóstolos, de tal modo que não participe da suprema Ressurreição, mas, como Judas traidor do Senhor, sofra pena igual por sentença de Deus, e seja este mundo coberto de chagas desde o cimo da cabeça à planta dos pés, se revolva na lama com a lepra do corpo e cheio de verme, e não receba o Corpo nem o Sangue do Senhor, e permaneça publicamente excluído de cargos civis e eclesiásticos.”

Coleção Reinaldo Arnaud Mumadona é, portanto, a tia-avó de Portugal que fundou o mosteiro e o castelo de Guimarães, que a conferência inédita de João de Meira, intitulada “Guimarães, 9501850” corrobora e adita:
“Em 950 a 959 Mumadona, senhora aparentada com Ramiro II de Leão. Fundou na pequena quinta de Vimaranes um mosteiro, para satisfazer uma recomendação que à hora da morte lhe fizera Ermegildo, seu marido (…) O mosteiro prosperou rapidamente (…) O Burgo vimaranense nasceu e desenvolveu-se sob a influência desta crescente prosperidade. Onde cem anos antes alguns pobres servos cultivavam um prédio rústico, surgira uma população inteira, acolhendo-se à proteção espiritual do convento e à segurança material do castelo (…) Durante a vida do Conde Gonçalo Mendes, filho de Ermegildo e Mumadona, foi este, ao que parece, o defensor e protetor do mosteiro (…) O convento vimaranense foi primitivamente dúplice. Assim o institui Mumadona e assim se conservou até data ignorada. Em 1061 ainda existiam nele freiras. Uma doação feita em 1103 refere-se simplesmente aos frades e um texto de 1111 permite concluir que o Mosteiro se achava já então transformado em Colegiada. É possível que as freiras só abandonassem o Convento quando foi desta transformação.”
Mumadona Dias encontra-se evocada em Guimarães, numa estátua de bronze sobre base de granito de Álvaro Brée implantada na praça homónima, inaugurada em 1960, na presença do então Presidente da República, Américo Tomaz. Esta estátua da mais poderosa mulher do século X, segura em suas mãos uma cruz e um modelo do castelo, evocando a fundação do mosteiro e do reduto defensivo, bem como expressando simbolicamente a conciliação entre o espiritual e a segurança em torno dos quais cresceria o “condado portucalense”.
Todos temos as nossas mães Como o teve este Condado Cá em terras de Guimarães Por Mumadona Dias gerado
O Condado de Portucale Por esta mãe acarinhado Tem a marca matriarcal De um filho bem-criado!
Com ela o castelo se edifica Contra os ataques normandos Com ela Vimaranes vivifica Por sua vontade e mandos
Com ela se funda o Mosteiro De Guimarães ou S. Mamede Com ela se professa altaneiro Portugal que aqui teria sede.
Mumadona Dias
Poema de Álvaro Nunes
A Condessa Mumadona
Poema de Osmusiké Integra o CD Cantar Guimarães, que também pode ser ouvido no SoundCloud, em https://soundcloud.com/osmusike/sets/cantar-guimaraes
Mumadona foi Condessa De Guimarães fundadora, Ergueu casas, uniu gentes, Do povo foi protetora.
A Condessa Mumadona Chegou no séc. X. Foi uma grande senhora, Tem Guimarães a seus pés.
Dizem os livros de história: Seu descanso procurou Em terras de Vimaranes E um mosteiro aí fundou. Dama de grande riqueza E de costumes mui nobres, Protegeu os peregrinos, As viúvas e os pobres.
Como a guerra receava Contra o seu povo amado, Mandou construir um castelo Defendendo o povoado.
O largo da Mumadona - História, desenho e evolução da sua importância na estrutura urbana de Guimarães.28
Eduardo Fernandes EAUM, LAB2PT
1. Introdução
O largo de Mumadona, espaço de grande importância na história recente da cidade de Guimarães, é um exemplo do confronto entre o Poder Local e o Estado Novo que ocorreu durante boa parte do século XX, em Portugal. Projetada como núcleo central da nova zona de expansão urbana prevista no Plano do Capitão Luís de Pina (1925), a então denominada “Praça Municipal” deveria incluir o novo edifício da Câmara, projetado por Marques da Silva, cuja construção nunca foi finalizada. Foi aí posteriormente edificado o Palácio de Justiça, projetado por Luís Benavente e inaugurado em 1960; a sua construção mantinha como pressuposto a importância pretendida para este espaço na vida cívica de Guimarães, que é ainda evidente nos Planos de Urbanização desenvolvidos por David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva (1945-55) e Fernando Távora (1979-82). A recente construção de um parque de estacionamento subterrâneo, com projeto de Álvaro Siza (2011), veio requalificar a praça. No entanto, continua a ser evidente que este espaço, ponto de charneira entre a cidade nova e a cidade histórica, não tem para os Vimaranenses a importância cívica que, nos diferentes momentos da história do planeamento de Guimarães, lhe foi sendo atribuída.
28 Este texto foi desenvolvido no âmbito dos trabalhos do projeto "Representações do Poder de Estado" com o apoio financeiro do Projeto Lab2PT- Laboratório de Paisagens, Património e Território - AUR/04509 e da FCT através de fundos nacionais e quando aplicável do cofinanciamento do FEDER, no âmbito dos novos acordos de parceria PT2020 e COMPETE 2020 – POCI01-0145-FEDER-007528. Foi inicialmente publicado no livro de atas do II Congresso Internacional AS CIDADES NA HISTÓRIA (Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães, 2017, p. 113-132); a versão aqui apresentada reproduz o texto original, com pequenas alterações.



Fig. 1. Esquemas da evolução de Guimarães: a) malha urbana anterior ao plano de 1867; b) situação após a abertura do largo do Carmo e da rua de Serpa Pinto; c) traçado previsto no plano de 1925. Desenhos de Eduardo Fernandes, a partir de CMG (1925) e CMG (1985).
2. Da rua dos Trigais à rua de Santa Cruz
O local onde hoje se situa o largo da Mumadona foi, ao longo da história de Guimarães, uma área não edificada, situada nas traseiras do Convento de Santa Clara (construído no século XVI), do lado nascente da cidade. Aí passava um tramo da muralha iniciada por D. Dinis, que unificou os dois burgos (Vila Alta e Vila Baixa) que se foram desenvolvendo em redor do castelo e do mosteiro edificados a mando da Condessa Mumadona no século X. Quando, a partir do século XVII, a muralha perde a sua utilidade defensiva e se inicia a sua progressiva demolição (intensificada a partir do século XVIII), este sector sobrevive, graças à menor dinâmica de crescimento da cidade, do lado nascente. No final do primeiro quartel do século XX, este setor e a torre da alfândega são os únicos vestígios significativos que desmentem os receios do Padre António Caldas, que (no final do século XIX) previa que a antiga cerca “não possuirá daqui a pouco uma só pedra, que ateste aos vindouros a sua antiga existência” (Caldas, 1881: 428-30). Este pano de muralha era ladeado, pelo exterior, pela rua dos Trigais (atual Avenida Alberto Sampaio), que seguia da porta do Postigo, no campo da feira, junto à torre da Senhora da Guia, até à porta que dava
acesso à “ponte da Freiria, chamada também de Santa Cruz”, onde se encontrava com a estrada que seguia para Fafe; entre as duas portas, 490 passos a sul do “torrilhão” da Freiria e 262 passos a norte da torre de Nossa Senhora da Guia, erguia-se a “torre dos Cães” (Caldas, 1881: 428).29 No interior da muralha, esta área era ocupada pela cerca de Santa Clara e dominada pela proximidade do Paço dos Duques, que começa a ser edificado no início do século XV, 30 um pouco mais a norte; a tendência de esvaziamento que se inicia nesse século, na Vila Alta, permite que este sector se mantenha sem grandes transformações até à segunda metade do século XIX (fig. 1a). O Plano do Eng. Almeida Ribeiro (professor de Arquitectura Civil e Naval da Academia Portuguesa de Belas Artes), concluído em 1867, e a subsequente ação da Comissão de Melhoramentos criada (em 1869) para o executar, têm efeitos visíveis na revitalização da área da antiga Vila Alta: cria-se o largo do Carmo (atual largo Martins Sarmento), em 1881 (com o alargamento do terreiro existente e a destruição do casario situado no seu limite norte, entre as ruas do Poço e da Infesta), abre-se a rua Serpa Pinto (entre 1891 e 1892) que o liga à estrada de Fafe (rua de Santa Cruz), na área onde mais tarde se localiza o largo de Mumadona (fig. 1b). É já no século XX que se desenrolam os acontecimentos que irão dar sentido à construção da nova praça: o processo de construção do novo edifício dos Paços de Concelho e o Plano Geral de Alargamento da Cidade, do Capitão Luís de Pina (fig. 1c). Em 1869 já se falava na possibilidade de instalar serviços da Câmara Municipal de Guimarães no convento de Santa Clara,31 desocupado na sequência da extinção das ordens religiosas (em 1834), após o
29 A localização da torre dos Cães varia conforme a cartografia consultada, mas a planta de 1570 (adquirida pela Fundação Martins Sarmento na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro) parece confirmar a localização citada, ao contrário da planta que Mário Cardoso desenha (em 1922), ilustrando a cidade no séc. XVII, onde a torre dos cães surge um pouco mais a norte (ver CMG, 1985). 30 No final do primeiro quartel de Quatrocentos, D. Afonso (filho bastardo de D. João I e primeiro duque de Bragança) fixa residência em Guimarães, iniciando a construção do seu palácio. Após a sua morte, a construção do Paço é interrompida sendo retomada já na viragem para o séc. XVI. Com a deslocação dos descendentes da Casa de Bragança para Arraiolos e Vila Viçosa, no início do séc. XVI, o paço é abandonado (possivelmente, sem estar ainda concluído); há notícia de que estivesse em ruínas em 1530. Durante os séculos seguintes, as suas pedras são usadas em diversas construções e o edifício serve outros usos: celeiro para o armazenamento das rendas da Rainha e, depois de 1807, Quartel do Regimento de Infantaria, função que desempenha até 1938, apesar de ser considerado monumento histórico de 2ª classe em 1880. Em 1936 iniciam-se as obras de restauro, pela DGEMN, que lhe conferem a imagem que apresenta hoje (Silva, 1996 e Ferrão; Afonso, 2002b). 31 A instalação de serviços municipais no convento ocorre bastante mais tarde. Primeiro será cedido à Colegiada, sendo aí instalado o Seminário de Nossa Senhora da Oliveira, em 1893; três anos depois será aí instalado o Liceu Martins Sarmento (primeiro liceu Vimarenense); em 1958 é apresentado o estudo da adaptação do edifício a Câmara Municipal, projeto do arquiteto Luís Benavente, mas só em 1968 se efetiva a instalação definitiva (ver Ferrão; Afonso, 2002a e Ferrão; Afonso, 2002b).
falecimento da última freira (em 1891); repensar a sede municipal era uma necessidade cada vez mais evidente, porque o edifício edificado no início do século XVII32 para os Paços do Concelho, entre as praças da Oliveira e de S. Tiago, “guardava a «ideia» mas não a comportava, de facto, na dimensão” (Cardoso, 1997: 323). Na sessão Camarária de 2 de janeiro de 1914, Mariano Felgueiras propõe à Câmara Municipal que a Comissão Executiva (de que era presidente) “fosse encarregada de pôr em prática um conjunto de melhoramentos” na cidade, entre os quais se incluía “a construção de um edifício para Paços do Concelho e repartições públicas”. O relatório apresentado pela Comissão Executiva em dezembro propõe a sua construção na praça de S. Tiago, criando um “mútuo espelhamento entre os velhos e os novos Paços do Concelho” (Cardoso, 1997: 324-6). As bases para o concurso público de projeto são aprovadas em 16 de julho de 1916 e em 13 de outubro do mesmo ano já estão entregues as 11 propostas concorrentes. O projeto apresentado por Marques da Silva é classificado em primeiro lugar, apresentando uma “compósita imagem na qual se evoca o «castelo altaneiro», a capela românica de S. Miguel do Castelo, os Paços dos Duques (…), a parte gótica da Igreja de S. Francisco, a Colegiada e a Praça da Senhora da Oliveira (…) e sobretudo o, então, actual edifício da Câmara, «tão característico pelo seu pórtico gótico, de trânsito público, a ligar as duas praças»” (Cardoso, 1997: 3289).
No entanto, o projeto não chega a ser concretizado na Praça de S. Tiago, onde a sua construção implicaria a demolição de várias casas habitadas. Em 1923 o Ministério do Comércio e Comunicações aprova uma solução que propunha a sua construção noutro local: na confluência da rua de Serpa Pinto com a estrada de Fafe. O projeto de implantação, que incluía o desenho de uma praça para a qual convergiam várias vias, é aprovado em 1924; a sua memória descritiva é assinada pelo Eng. António Martins Ferreira (Cardoso, 1997: 331-2), mas parece evidente que terá sido redigida por Marques da Silva. No ano seguinte é apresentado o Plano Geral de Alargamento da Cidade, do Capitão Luís de Pina, que prevê a criação de uma zona de expansão urbana em torno do edifício da nova Câmara Municipal, que se encontrava já em construção.33
32 Os primeiros Paços do Concelho foram edificados neste local no séc. XIV, mas em 1516, estando estes em mau estado de conservação, foi iniciada a construção de um novo edifício. Em 1612 a obra está concluída e, pela sua descrição, percebemos que é semelhante ao que hoje existe. O edifício foi intervencionado várias vezes, ao longo dos séculos XVII, XVIII e XX, mas manteve o essencial da sua imagem (Fernandes; Jorge, 2011: 92-93). 33 As plantas, cortes e alçados deste projeto (cujo programa incluía os serviços do Tribunal e da Câmara Municipal), bem como a sua memória descritiva, foram publicados pela Câmara Municipal de Guimarães (CMG, 1925).



Fig. 2. Esquemas da evolução de Guimarães: a) situação anterior ao plano de 1867; b) traçado previsto no plano de 1925; c) expansão para poente, com o prolongamento da rua Gil Vicente (atual avenida Conde Margaride). Desenhos de Eduardo Fernandes, a partir de Ferrão; Afonso (2002a), CMG (1925), Silva; Silva (1951) e Távora (1982).
3. O Plano Geral de Alargamento da Cidade de Luís de Pina
O plano de melhoramentos do Engenheiro Almeida Ribeiro (1867) contemplava o traçado de novas vias, como a rua Paio Galvão (ligando o Toural e a nova praça de mercado) e a rua Nova do Mercado (atual Gil Vicente), abertas em 1873 (Ferrão; Afonso, 2002a). No entanto, a abertura destas vias dificilmente pode ser considerada como uma expansão da cidade; eram apenas intervenções pontuais que procuravam ordenar a malha existente, do lado poente. A única expansão significativa ocorrida na cidade no século XIX não estava prevista neste plano: a construção de duas avenidas quase paralelas que ligam a estação ferroviária de Guimarães (estabelecida em 1884 a sul do núcleo muralhado) à cidade, as avenidas da Indústria e do Comércio (atualmente D. João IV e D. Afonso Henriques). Assim, o Plano Geral de Alargamento da Cidade, do Capitão Luís de Pina (fig. 2a), é o primeiro estudo urbanístico que procura ordenar o crescimento da cidade. Na planta que acompanha a proposta são evidentes duas ideias base, salientadas por Mariano Felgueiras na introdução à publicação do Plano: em primeiro lugar, a intenção de conservar “o velho burgo, com o carinho que merece o que é antigo e tradicional”; em segundo lugar, e para melhor poder preservar a cidade existente, a proposta de uma matriz de crescimento regular, para nascente, “satisfazendo as modernas exigências de civilização e estética” (CMG, 1925: 3). Neste sentido, justifica-se o desenho de uma praça central, de grande dimensão, que funcionasse como elemento unificador e articulador das duas partes (velha e nova) que, no desenho, se equivalem em área.
Assim, mais do que o traçado de uma área de expansão, Luís de Pina propõe recentrar a cidade, intenção que é evidente no desenho da nova praça do município e das avenidas que para aí confluem. Na organização do conjunto, sobressai um esquema em forma de pata de ganso que lembra a praça Del Popolo (em Roma) e as triangulações do plano de Haussman para Paris, mas está também claramente referenciado a Guimarães: a avenida Alberto Sampaio corre paralela ao pano da muralha que sobreviveu às demolições do século XIX, a avenida Cónego Gaspar aponta ao alto da colina da Penha (local onde poucos anos depois se irá construir um Santuário, com projeto de Marques da Silva), a avenida dos Combatentes da Grande Guerra, no centro, traça a bissetriz do ângulo formado pelas outras duas e a (já existente) rua José Sampaio, que remata o triângulo, aponta ao convento de Sta. Marinha da Costa. Completam o desenho inicialmente previsto, do lado poente, a via que liga a nova praça municipal ao largo de Santa Clara (concretizada em 1925), a rua Serpa Pinto (já existente) e uma outra, que não chega a ser realizada, que passaria entre o Convento do Carmo e o Paço dos Duques e remataria na rua Conde D. Henrique; a nascente/norte são também propostas três novas vias, simétricas em relação às previstas para poente segundo o eixo da praça (definido pelo alinhamento da já referida avenida dos Combatentes da Grande Guerra). Este sistema viário radial, já previsto por Marques da Silva no desenho de 1924 para a nova praça Municipal, organizava toda a estratégia de expansão da cidade, articulando o traçado existente com a malha de quarteirões retangulares previstos para norte/nascente, que se desenvolveriam perpendicularmente à Avenida Cónego Gaspar. A nova praça ganhava assim uma dupla centralidade: por um lado, seria o centro do poder municipal, deslocado da sua anterior localização na articulação das praças de S. Tiago e da Oliveira; por outro lado, seria o centro da área urbanizada e o ponto de confluência das principais vias da cidade. Esta nova centralidade implicava ainda uma tentativa de contrariar (ou simplesmente ignorar) as tradicionais dinâmicas de expansão da cidade: se Guimarães nasce numa bipolarização (entre castelo e mosteiro), a unificação do burgo implica um eixo longitudinal, “que se manifestará secularmente” (Távora, 1982: 38), para norte/nascente (na direção de S. Torcato e Chaves) e para sul/poente, na direção de Vila do Conde, Santo Tirso e Porto (fig. 2a). Se era, sobretudo, nesta direção que a cidade tendia a expandir-se, antes de 1925, de forma não planeada, é ainda nesse sentido (sul/poente) que o seu crescimento se vai continuar a realizar, ignorando as intenções do plano de Luís de Pina; esta permanência da anterior tendência torna-se evidente logo em 1931, com a abertura do prolongamento da rua Gil Vicente (atual avenida Conde Margaride). Assim, do desenho
do plano de 1925 pouco mais se concretiza do que o referido sistema de vias em ‘pata de ganso’; da projetada expansão a norte/nascente, estruturada pelo sistema de matriz geométrica, pouco se realizará (fig. 2c). As mudanças políticas ocorridas no ano seguinte ditam o afastamento de Mariano Felgueiras da Câmara Municipal; a nova Comissão administrativa dará prioridade ao primeiro vetor do plano de Luís de Pina (a valorização da cidade existente) em detrimento do segundo (a planificação da sua expansão). Assim, entre 1929 e 1940, o maior esforço de ordenamento da cidade faz-se na zona da colina do Castelo, para a qual o plano de 1925 já propunha a demolição “dos velhos casebres e quintais de forma a constituir um terreiro do qual livremente se admirem as elegantes formas dessas relíquias do passado” (CMG, 1925: 17).
É ainda no “quadro de implementação do plano de Luís de Pina” que se realizará “o primeiro de muitos «pastiches» efetuados, pouco depois, pela ditadura nacional”: a abertura da rua Nuno Álvares (que liga a nova praça à rua de Santa Maria) implicou a demolição de parte do setor da muralha que sobreviveu ao séc. XIX; para rematar o remanescente, no cimo da avenida Alberto Sampaio, foi criado um “cotovelo no pano nascente da muralha, onde se praticou uma falsa porta34 para serviço da cerca do convento de Santa Clara” (Ferrão, 2002: 217). Entre 1925 e 1938 Marques da Silva realiza vários desenhos que, aceitando as premissas do plano de 1925, procuram harmonizar a intervenção na colina do castelo com a expansão planeada por Luís de Pina, que culminam num ambicioso (e não realizado) estudo para o Plano de Extensão da Cidade (Tavares, 2010: 87). Entretanto, na nova praça, a construção dos novos Paços do Concelho prosseguia a ritmo lento, até que, em 1934, foi ordenada a suspensão dos trabalhos.
34 Pode ver-se uma antevisão desta porta (num alçado perspético rudimentar) incluída nos desenhos do Plano (CMG, 1925: 19).
Fig. 3. Esquemas de ocupação da praça do Município (atual largo de Mumadona) a) implantação prevista no plano de 1925 para os Paços do Concelho; b) implantação proposta por Januário Godinho para o Palácio da Justiça; c) implantação de Luís Benavente para o Tribunal. Desenhos de Eduardo Fernandes, a partir de CMG (1925), Tavares (2010) e CDFAUP (processo JG163).
4. Dos Paços de Concelho ao Tribunal
Desenhado como praça do Município, com a intenção de criar um centro unificador que articulasse a nova expansão com a velha cidade, o atualmente denominado largo de Mumadona vai ser cenário de um confronto entre as intenções de Mariano Felgueiras, Luís de Pina e Marques da Silva e a subsequente ingerência do poder do Estado Novo, cuja prioridade é preparar o cenário para as comemorações dos Centenários.
As obras de beneficiação do monte Latito, projetadas por Faria da Costa (com a colaboração de Marques da Silva) e complementadas pela intervenção da Direção Geral dos Monumentos Nacionais na Igreja de S. Miguel, no Castelo e no Paço dos Duques, fazem parte de uma estratégia de “encenação e «restauração» monumentais” que terá o seu auge em 1940 (Ferrão; Afonso, 2002a: 142). Em 1934, a DGEMN vai aconselhar a suspensão da construção do edifício dos Paços de Concelho, com a recomendação da reformulação do projeto que permitisse aproveitar “para outros fins o que está realizado”, enquanto, em paralelo, se estudava a adaptação do Paço dos Duques para instalação da Câmara Municipal. Esta recomendação vem na sequência de um longo debate que ocorre na cidade: inicia-se em 1926, com as obras ainda a decorrer, e prolonga-se depois da suspensão dos trabalhos, que deixam no largo o “espetáculo deplorável de uma obra abandonada”. Mas se em 1945 ainda havia na cidade quem defendesse publicamente a conclusão do edifício, a morte de Marques da Silva, em junho de 47, facilitaria a decisão da sua demolição, que não seria, no entanto, consensual (Cardoso, 1997: 335-40). Mesmo depois da decisão da demolição da parte já construída ser irrevogável, Mariano Felgueiras ainda defendia a construção do edifício projetado por Marques da Silva noutro local da cidade; num artigo
publicado no jornal Notícias de Guimarães de 20 de Novembro de 1955, sugeria a sua construção no topo norte da praça do Toural, que “por feliz coincidência, mede justamente os 40 metros que terá a frente do edifício, segundo o projecto” (Neves, 2017). Em 1945 iniciam-se os trabalhos do Plano de Urbanização da Cidade de Guimarães,35 da autoria de David Moreira da Silva e Maria José Marques da Silva.36 O Anteplano entregue em 1949 não apresenta grandes semelhanças com a anterior proposta de Luís de Pina, exceto na consideração daquilo que já tinha sido concretizado da proposta de 1925. Partindo da Praça Municipal e do seu sistema de vias em pata de ganso, Moreira da Silva altera a matriz geométrica da extensão anteriormente prevista, procurando dar continuidade para nascente/nordeste (perpendicularmente à avenida dos Combatentes da Grande Guerra) à direção fortemente marcada pela avenida Conde de Margaride e pela rua Gil Vicente, que constitui o principal eixo de crescimento da cidade previsto neste plano. No entanto, na Memória Descritiva de 1949, Moreira da Silva faz ainda a defesa do projeto de Marques da Silva: refere-se ao futuro largo de Mumadona como “Centro Administrativo” da cidade, salientando que “o elemento preponderante da sua composição deverá ser sempre o edifício dos novos Paços do Concelho” (p. 57); no mesmo texto (p. 42), faz também um ponto de situação da longa história da obra, defendendo a sua conclusão e rebatendo os argumentos dos que defendem a sua demolição:37
“O edifício onde actualmente está instalada a Câmara Municipal, na Casa que foi de Martins Sarmento, não tem nem pode reunir as condições necessárias para esse fim. A sua substituição por outro é problema que há perto de quarenta anos apaixona a parte da população citadina para a qual o espírito cívico não é expressão vazia de sentido. Mas a verdade é que, apesar de haverem decorrido mais de trinta anos sobre o início das respectivas obras, há muito suspensas não se descortina bem com que fundamento, ainda não lhe foi dada a necessária, completa e definitiva solução. É certo que as paredes, assentes em fundações particularmente dispendiosas, cresceram até à altura do 1º andar, e que se despendeu muito dinheiro com a urbanização da nova Praça do Município e respectivos arruamentos radiais. Mas, a dado momento, tudo se abandonou e deixou ficar à mercê das intempéries. Situado a 92 m. de distância do cunhal mais próximo dos Paços dos Duques de Bragança, 20 m. abaixo da sua cota de nível, o local escolhido para aquela construção é suficientemente grande para o fim em vista, tem boa exposição ao Sul, acessos amplos e fáceis. É, ainda hoje, um dos melhores locais que para a construção da “Domus Municipalis” em Guimarães se pode encontrar e, sem dúvida alguma, o mais
35 O contrato, que se encontra arquivado na Fundação Marques da Silva, tem a data de 24 de outubro de 1945. 36 Maria José Marques da Silva e David Moreira da Silva eram, respetivamente, filha e genro de Marques da Silva; foram também antigos colaboradores do Mestre e continuadores da sua obra, após 1947. 37 Este documento, consultável no espólio de Moreira da Silva, foi também publicado em Silva; Silva (1951), edição a que se referem os números de página indicados. Dada a raridade desta publicação, pareceu-nos relevante reproduzir aqui a longa passagem que se refere a este caso, que faz uma boa síntese das posições em confronto.
económico de todos dado que pouco falta para a concluir. A objecção de que esta construção poderia prejudicar, pela sua proximidade, o aspecto dos Paços dos Duques de Bragança, em restauração, não colhe, tantas são em Guimarães as valiosas edificações de épocas diferentes que em boa vizinhança se valorizam mutuamente (…). Quanto a nós, a aceitação ou rejeição daquele local (…) deveria depender, apenas, das conclusões a que se pudesse chegar após uma revisão e actualização conscienciosa do programa e respectivo projecto do edifício. Isto é, parece-nos, o que o bom senso aconselha.”
Esta defesa da manutenção da localização dos Paços de Concelho vai esbarrar na determinação do Estado Novo em procurar outra solução, sendo este um dos principais argumentos que obrigam à reformulação do Anteplano: o parecer da Direção Geral dos Serviços de Urbanização e Melhoramentos Urbanos do Ministério das Obras Públicas38 é perentório (“a continuação do edifício já iniciado foi já superiormente rejeitada”) e, consequentemente, o Concelho Superior de Obras Públicas obriga à revisão do plano até 30 de setembro de 1952.39 Não sendo este o único argumento que obriga à revisão do Anteplano, é um dos pontos que merece uma justificação mais detalhada e enfática, em dois setores distintos do documento: inicialmente (pág. 5) considera ser de rejeitar a anterior solução, “apesar de [estar já] iniciado o edifício na sua construção, não só pela localização (…), superior e oficialmente condenada, mas também pela sua traça arquitectónica, completamente desatualizada, enormemente dispendiosa e anacrónica, mas também sob o ponto de vista funcional, pois que elaborado pela gerência camarária de 1923-25, não resolve já hoje as actuais necessidades exigidas a tais edifícios. Impõe-se, por isso, novo estudo para a sua implantação. Na praça onde se encontram as “Obras Novas” [atual Mumadona], com um arranjo conveniente e localizado mais a sul, poderia instalarse qualquer edifício público, de menores proporções e que em nosso entender deveria ser o futuro Palácio da Justiça.”
Esta decisão é depois reafirmada na página 29 do mesmo documento: “julga o Concelho condenável” a solução de finalizar a obra projetada por Marques da Silva “por ir prejudicar o aspecto grandioso do belo conjunto constituído pelos Paços e Castelo de Guimarães. Afigura-se ao Concelho que naquele local só deveria existir uma vasta praça de onde irradiem os vários arruamentos de penetração na cidade e os de acesso a esses dois monumentos nacionais, os mais imponentes que se erguem na cidade de Guimarães.”
38 Datado de 5 de Março de 1952 (Fundação Marques da Silva, espólio de Moreira da Silva, obra 2049, pasta 3). 39 Ver parecer enviado ao Ministro das Obras Públicas em 19 de junho de 1952 e homologado em 22 de julho do mesmo ano (Fundação Marques da Silva, espólio de Moreira da Silva, obra 2049, pasta 3); encontra-se também publicado em Concelho Superior de Obras Públicas, 1952 (edição a que se referem os números de página indicados).
Importa referir que, a 30 de setembro de 1952, foi fixada no Diário do Governo uma área de proteção aos Paços dos Duques que inviabilizava definitivamente a localização do edifício de Marques da Silva no local onde se tinha iniciado a sua construção. Mas, como referem Correia da Silva e Maria José Marques da Silva na memória descritiva do aditamento ao Anteplano (1953),40 esta área de proteção parece “ter sido determinada mais com o propósito de impedir a conclusão das obras dos novos Paços do Concelho” e aplicar-se unicamente a este caso: não impediu a construção do novo Palácio de Justiça, no final da rua dos Combatentes da Grande Guerra, junto à nova praça, com “a respectiva localização” prevista “inteiramente dentro da já citada ZONA VEDADA A CONSTRUÇÃO.” Na planta à escala 1:10.000 que acompanha este aditamento de 1953, Moreira da Silva inclui ainda a planta do edifício de Marques da Silva no centro da praça, mas indica também já a mancha de implantação do futuro Palácio de Justiça, sobre a avenida dos Combatentes da Grande Guerra. É difícil afirmar com precisão se esta implantação se baseia no edifício efetivamente construído (1955-60), com projeto de Luís Benavente, ou nos desenhos elaborados por Januário Godinho (em 1953) para o mesmo edifício, que se encontram no seu espólio.41 A proposta de Januário Godinho para o Palácio de Justiça de Guimarães era, no entanto, bastante diferente do edifício que hoje encontramos no largo de Mumadona, quer no desenho, quer na relação com a envolvente: se a implantação projetada por Luís Benavente bloqueia a avenida dos Combatentes da Grande Guerra, num claro desrespeito pelas intenções do plano de Luís de Pina (a relação entre o tridente de vias a sul e a praça fica comprometida), no desenho de Godinho a avenida dos Combatentes passava sob o edifício, cujo andar nobre se desenvolvia em ponte sobre o remate da via (com acesso, do lado do largo, por uma escadaria simétrica e monumental), permitindo a sua continuidade até à praça. Desconhecemos as razões que levaram à decisão da escolha da proposta de Benavente; mas, aparentemente, esta foi tomada numa fase inicial do trabalho de Godinho, uma vez que os desenhos que se encontram no seu espólio não configuram um projeto completo, apenas hipóteses de trabalho para uma solução que não avançou.
40 Anteplano de Urbanização da Cidade de Guimarães, 28 de Maio de 1953, peças escritas, aditamento “elaborado por determinação de sua Excelência o Ministro das Obras Públicas” (Fundação Marques da Silva, espólio de Moreira da Silva, obra 2049, pasta 1). 41 Ver processo JG163, no Centro de Documentação da FAUP.
O que é indiscutível é que, a partir de 1955, o nome de Luís Benavente surge ligado a duas das obras intervenções mais importantes realizadas na cidade: o projeto do novo Palácio de Justiça e a adaptação do Convento de Santa Clara a Câmara Municipal, consequência do abandono das intenções de a edificar no atual largo de Mumadona ou de a instalar no Paço dos Duques.


Fig. 4. Esquemas da evolução de Guimarães: a) traçado previsto no plano de 1925; b) traçado previsto no plano de 1949; c) traçado previsto no plano de 1982. Desenhos de Eduardo Fernandes, a partir de Ferrão; Afonso (2002a), CMG (1925), Silva; Silva (1951) e Távora (1982).
5. Do Plano de Urbanização de Távora ao Plano de Pormenor de Siza
Em 1982, o Plano de Urbanização de Guimarães de Fernando Távora42 propõe quatro áreas de expansão da cidade: a área a norte é dominada pela já prevista “implantação da Universidade do Minho (Pólo de Guimarães)”, a extensão para sul segue “no sentido da EN 105”, o crescimento para poente ocorre ao longo da nova variante à EN206 e, para nascente, dá-se continuidade à tendência já estabelecida pelo plano de Moreira da Silva, alterando a direção prevista na expansão de 1925 (Távora, 1982: 52-53). Esta orientação do crescimento a poente da cidade, ainda suportado pela estrutura radial que conflui no largo de Mumadona, tem a sua principal justificação na topografia do terreno, que é condicionante da ocupação do território desde a fundação do primeiro núcleo urbano. Se a cidade nasce num eixo norte/sul, na relação direta entre o castelo e o mosteiro, a sua expansão vai rodando progressivamente o seu eixo de referência, infletindo ligeiramente num movimento semelhante aos ponteiros de um relógio: se no Plano de
42 Este plano encontra-se arquivado na Fundação Marques da Silva, com a referência FIMS_FT_0207. O contrato foi assinado a 3 de janeiro de 1979, sendo o plano entregue em Janeiro de 1982, ano em que é também exposto publicamente; em 1991, Fernando Távora realiza uma revisão a este Plano Geral, que incide apenas sobre alguns aspetos pontuais, sem pôr em causa as principais premissas do trabalho anterior.
Luís de Pina a expansão proposta era perpendicular à avenida Cónego Gaspar (assumindo uma direção norte/nascente), no desenho de Moreira da Silva a nova malha é (quase) perpendicular à avenida dos Combatentes (nordeste/nascente). Távora enfatiza esta nova orientação, que acompanha o curso das linhas de água e procura algum paralelismo com a direção dominante das linhas de festo da topografia circundante (fig. 4).43 O largo de Mumadona continua a ocupar um lugar central no conjunto da área urbanizada da cidade, agora claramente definida pela nova circular rodoviária, que estabelece os novos limites da cidade consolidada a poente e norte do mesmo modo que a muralha os estabeleceu, no século XIV: com uma fronteira clara (Fernandes, 2016). Essa centralidade é ainda enfatizada pelo traçado da nova linha do teleférico, que liga a cidade ao alto da colina da Penha, que segue “o enfiamento da rua Cónego Gaspar” (Távora, 1982: 51), uma das vias radiais do Plano de Luís de Pina (fig. 4c). Na sequência deste plano, é estabelecida a necessidade de elaboração de diversos vários Planos de Pormenor para setores estratégicos da cidade. O Plano da Zona Envolvente do Paço dos Duques de Bragança e Campo de São Mamede, desenvolvido por Álvaro Siza a partir de 1995, inclui o desenho de um parque de estacionamento no subsolo do largo de Mumadona, que se insere “nos objectivos de melhoramento e transformação da cidade de Guimarães, explicitados no Plano Geral”. O projeto de Siza (construído entre 2004 e 2010) destaca-se sobretudo pelo cuidado dedicado à relação com o exterior do piso enterrado de estacionamento, com a “existência de um pátio descoberto no qual se prevê um tratamento vegetal apropriado” (Siza, 2011), que permite a iluminação natural do piso inferior, com um efeito cénico invulgar, em espaços deste tipo.
Fig. 5. Esquemas de ocupação do largo de Mumadona: a) implantação prevista no plano de 1925 para a Câmara Municipal; b) implantação atual do Tribunal com esquema de localização das rampas e escadas do novo parque de estacionamento; c) sobreposição da mancha de implantação de Marques da Silva sobre a situação atual do largo. Desenhos de Eduardo Fernandes, a partir de CMG (1925) e Siza (2011).
43 Ver desenho 22 do plano, intitulado “Relevo”.
Na superfície, Siza redesenha o largo, onde as duas rampas (de entrada e saída de viaturas) se assumem como elementos fundamentais na organização do espaço; visto em planta, o novo desenho da praça parece evocar subtilmente o projeto não construído de Marques da Silva para os Paços do Concelho (fig. 5). Destacase também, no novo desenho do largo, a opção de relocalização da estátua da Condessa Mumadona, que tinha sido construída em 1960 voltada para o tribunal, e agora se apresenta de frente para o Paço dos Duques, voltando as costas ao edifício de Luís Benavente; esta rotação pode ser interpretada como um gesto simbólico, assumindo um posicionamento que nos parece correto e muito significativo, face a toda a história deste espaço urbano.
6. Conclusão
Face ao crescimento para nascente, previsto no Plano de Fernando Távora, o largo de Mumadona ocupa hoje um espaço central na cidade, sem que, no entanto, essa centralidade se traduza numa importância simbólica sensível para a população.
A própria designação “largo”, em vez de “praça” (aparentemente mais adequada face à sua dimensão), parece implicar uma desqualificação. Nem a proximidade aos mais notáveis monumentos da cidade (o Castelo, o Paço dos Duques e a muralha) ou aos seus edifícios de maior importância cívica, como o Tribunal e a Câmara Municipal, fazem com que os Vimaranenses olhem para este espaço como uma referência, do ponto de vista da atratividade, como o Toural, a praça da Oliveira ou mesmo o vizinho largo do Carmo. Pensado inicialmente como o novo coração da cidade, este espaço sofreu as consequências da polémica criada com a construção (e posterior demolição) dos novos Paços de Concelho e a sua substituição pelo Palácio de Justiça. A imagem que aí encontramos hoje, marcada pela presença soturna do edifício do Tribunal, é a da vitória do poder central do Estado Novo (representado pela decisão da DGEMN e pelo desenho de Benavente) no confronto com o poder local, simbolizado pelas intenções de Mariano Felgueiras, Luís de Pina, Marques da Silva e Moreira da Silva para a Praça do Município, de que apenas a memória sobrevive. Talvez por isso, a população não se reveja neste espaço; sendo central na configuração física da cidade, não deixa de ser um espaço esquecido, do ponto de vista das dinâmicas urbanas de Guimarães. A história do largo de Mumadona, que aqui se tentou sintetizar, é mais uma confirmação de uma lição já muito conhecida: um centro cívico que se quer criar do nada nem sempre tem sucesso. O
arquiteto/urbanista/decisor pode escolher, com as melhores intenções, onde o vai localizar, mas são os habitantes da cidade que lhe vão atribuir ou negar o valor simbólico.
Referências bibliográficas
CALDAS, Padre António (1881). Guimarães, apontamentos para a sua história (1996). Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães / Sociedade Martins Sarmento. CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Gerência de 1923-25 (1925). Alargamento da cidade e novos Paços do Concelho – Memórias Descritivas. Guimarães: Minerva. CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES (1985). Guimarães, do passado e do presente. Guimarães: CMG / BPFCG. CARDOSO, António (1997). O Arquitecto José Marques da Silva e a arquitectura no Norte do país na primeira metade do século XX. Porto: FAUP. CONCELHO SUPERIOR DE OBRAS PÚBLICAS (1952). Apreciação ao Relatório do Anteplano de Urbanização da
Cidade de Guimarães. Guimarães: CMG. FERNANDES, Eduardo; JORGE, Filipe (2011). Guia de Arquitectura de Guimarães. Lisboa: Argumentum. FERNANDES, Eduardo (2016). Encontrar o futuro na história: o Plano de Urbanização de Guimarães. In CORREIA, Jorge; BANDEIRA, Miguel, coord. - PNUM 2016: Atas da V Conferência da Rede Lusófona de
Morfologia Urbana - Os Espaços da Morfologia Urbana. Guimarães: EAUM / LAB2PT, p. 177-87. FERRÃO, Bernardo (2002). O Conceito de Património Arquitectónico e Urbano na Cultura Ambiental Vimaranense. In MORAIS, Margarida; VAZ, Madalena, coord. - Guimarães Património Cultural da Humanidade. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães/GTL, Vol. II, p. 202-248. FERRÃO, Bernardo; AFONSO, José Ferrão (2002a). A evolução da Forma Urbana de Guimarães e a criação do seu património edificado. In MORAIS, Margarida; VAZ, Madalena, coord. - Guimarães Património Cultural da Humanidade. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães/GTL, Vol. I, pág. 5-185. FERRÃO, Bernardo; AFONSO, José Ferrão (2002b). Edificações do Centro Histórico e sua envolvente com interesse patrimonial (fichas). In MORAIS, Margarida; VAZ, Madalena, coord. - Guimarães Património Cultural da Humanidade. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães/GTL, Vol. I, pág. 186-379. FONTE, Barroso da (1992). Mumadona, a fundadora de Guimarães. Braga: Correio do Minho. NEVES, António Amaro das (2017). Por falar em projectos para o Toural. In http://araduca.blogspot.pt/ (consultado em 25.7.2017). SILVA, Moreira da; SILVA, Maria José Marques da (1951). Anteplano de Urbanização da Cidade de Guimarães.
Porto, 1949. Guimarães: Oficinas de S. José.
SILVA, José Custódio Vieira da (1996). Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães. Patrimonia, 1, p. 29-36. SIZA, Álvaro (2011). Praça e parque de estacionamento do largo da Condessa de Mumadona. Memória descritiva. Documento inédito, cedido pelo gabinete do Arq. Álvaro Siza. TAVARES, André (2010). Em granito, a arquitectura de Marques da Silva em Guimarães. Porto: FMS / CMG / FCG. TÁVORA, Fernando (1982). Plano Geral de Urbanização de Guimarães. Memória Descritiva. Documento inédito, consultado no Arquivo da Fundação Marques da Silva (Referência FIMS_FT_0207).
No Centro Histórico de Guimarães, Pela Porta da Vila a entrar, Deparas com Afonso Henriques, Ao Largo João Franco vais parar.
Segue-se a Praça de S. Tiago Com todo o seu esplendor. Praça medieval Saída da paleta de um pintor.
Passas par’o Largo da Oliveira E envolves-te em paixão. Ex-libris de Guimarães E sua mística de ilusão.
Entras na rua de Santa Maria, Quem não gosta de lá estar? Casa do Arco, Convento Santa Clara… Tudo ali nos faz sonhar!
VIAGEM AO CENTRO HISTÓRICO: Jardim do Carmo
Centro Histórico de Guimarães
Poema de Madalena Antunes - Osmusiké Integra o CD Cantar Guimarães, que também pode ser ouvido no SoundCloud, em https://soundcloud.com/osmusike/sets/gentes-de-guimaraes
Contornando esse convento, Aparece o granito da muralha Que cercava o velho burgo E o protegia da gentalha.
No extremo sul da muralha, Museu Alberto Sampaio aparece, Eis-nos na Rua Egas Moniz E, em Guimarães, acontece.
Terminas na Porta Velha Com alegria no coração. És capital da cultura, Berço lindo da Nação!... És capital da cultura, Berço lindo da Nação!
O Chafariz do Jardim do Carmo e as Nicolinas
Equipa redatorial
O Chafariz já não está no Largo Martins Sarmento ou Jardim do Carmo, pois já regressou ao Toural em 2012, aquando de “Guimarães – Capital Europeia da Cultura”. Mas, de facto, já esteve no Carmo a partir de 1891, após ter sido desmontado, no Toural em 1873, local onde seria inicialmente implantado na segunda metade do século XVI. De facto, este chafariz renascentista de três taças, concebido pelo mestre pedreiro vimaranense Gonçalo Lopes, em 1587/1588, tem história que se conte. Por exemplo, a sua taça central, de pedra única, veio de Gonça para o Toural puxada por trinta juntas de bois. Mas, acima de tudo porque as suas pedras e água contam também estórias ligadas às festas nicolinas. Com efeito, em torno deste chafariz, salvo raras exceções, realizaram-se anualmente as eleições da Comissão de Festas Nicolinas desde 1943, que seriam consideradas uma manifestação sadia de democracia estudantil, mesmo nos tempos mais difíceis. E era também aqui, em torno deste chafariz, que se castigavam com banhos forçados todo o casquilho, taful, caixeirinho ou ginja que, com identidade oculta atrás da máscara, ousasse meter-se no meio dos festejos dos filhos da ciência: os estudantes. Curiosamente, muitos pregões nicolinos aludem com frequência as mudanças do chafariz, bem como estas intrusões dos fruticas, termo que a partir de 1852 seria introduzido no léxico nicolino, para designar os não-estudantes.

O pregão de 1848, é elucidativo:
“E se algum temerário pretender
Leis violar de Nicolau Potente,
Antes que um murro as bentas lhe arrebate,
Ao tanque do Toural irá primeiro.
Ginja, Taful, Casquilho ou vil Caixeiro
Vai para casa vai, não sejas tolo,
As castanhas comer, comer um bolo,
Ou antes co’a Josefa, ou co’a Francisca
Vai na venda jogar rançosa bisca”
Em conclusão, um chafariz centenário que, além da sua função ornamental, ora no Carmo ora no Toural, se mantem intrinsecamente ligado às Nicolinas, ainda que nos dias atuais já ninguém seja castigado com banhos de água fria…
No Jardim do Carmo
Poema de Firmino Mendes
A meio do caminho de mil anos, entre a Colegiada e o castelo, saúdo este triângulo de terra onde houve ruas gastas e segredos de vultos vigilantes, traições amores apagados, gente viva, conspirações urdidas, ambições. E via-se a montanha e os seus medos do lado onde o sol aparecia. Podia ser ninguém, um grito só, e já o burgo todo se mexia.
O Lar de Santa Estefânia - Notas sobre a sua história44
José Fernando Alves Pinto
Até finais do século XVIII, a assistência social no nosso país foi propriedade de privados e da igreja. Para além da fundação da Casa Pia de Lisboa, em 1780, foi residual a intervenção do Estado na proteção social até 1835, altura em que foi decretada a criação do Conselho Geral de Beneficência, instrumento que viria a regulamentar e a desenvolver o aparecimento de diversas instituições vocacionadas a combater a mendicidade e a miséria e, por via disso, a proteger os mais desfavorecidos. A sociedade vimaranense, na altura muito ativa e empreendedora, aproveita os festejos da chegada a Lisboa de Sua Majestade a Rainha D. Leonor, para, no segundo dia das comemorações, em 25 de Maio de 1858, num baile organizado pela Sociedade Recreativa Vimaranense e realizado na Casa dos Pombais, pela voz do ilustre associado Francisco António de Almeida (professor primário, lisboeta, sargento de infantaria, falecido na nossa cidade em 17-01-1872 e sepultado na Igreja do Carmo), lançar e fazer aprovar o propósito da criação de um Asilo para a infância desvalida ou para a mendicidade que, de pronto, é designado de Asilo de Santa Estefânia do Amor de Deus e do Próximo. Não passou um mês (10-06-1858) para que as Comissões Promotoras se constituíssem e fossem participar ao Rei a criação do Asilo e pedir-lhe, a ele, à rainha e às cortes, para instalarem a Casa no complexo edifício e cerca do Convento de S. José do Carmo. No desfecho favorável de tal diligência, terá sido decisiva, ao que consta, a influência do Visconde de Pindela, João Machado Pinheiro Corrêa de Melo, Governador Civil de Braga e deputado às Cortes por Guimarães. No jornal Religião e Pátria, de 15 de Julho de 1863, consta: «É amanhã um dia de grande satisfação para esta terra. As portas da caridade já aqui abertas para o enfermo e para o inválido, vão sê-lo também para a infância desvalida (…)». «No dia 16 de Julho de 1863, ao romper da manhã, uma banda de música percorreu as ruas da cidade. (…) Às nove horas da manhã saíram da Casa de Vila Pouca em direção ao Asilo seis meninos. Entraram na
44 Texto elaborado pelo presidente da direção da Instituição, José Fernando Rodrigues Alves Pinto, por ocasião das comemorações dos 150 anos da mesma (16-07-2013). Revisto e atualizado em 2018 e 2021.

Instituição por entre o mais vivo e manifesto júbilo de todos os circunstantes (…) Assistiram a uma cerimónia religiosa em ação de graças a Deus Nosso Senhor, em cerimónia capitulada pelo Reverendo Chantre da Insigne e Real Colegiada.» «Após a leitura e assinatura do Auto de Inauguração e Abertura do Asilo de Santa Estefânia do Amor de Deus e do Próximo, o Conde de Vila Pouca proferiu um lindo e elaborado discurso. A 31 de Julho de 1864, cerca de um ano após a sua inauguração e abertura, o Asilo, fruto das contribuições de Dona Maria da Conceição Vaz Nápoles, de Sua Majestade a Imperatriz do Brasil, Duquesa de Bragança, e de outros beneméritos, acolhe seis meninas, num fresco e bem arranjado dormitório de oito camas. Em 1884 o Asilo abriga 50 crianças, sendo entre 15 a 20 externas e pobres. A qualidade do corpo docente do Asilo é reconhecida e pretende-se «bem apetrechado de conhecimentos», régua e palmatória». Em inícios de 1890, começam a surgir reparos ao funcionamento do Asilo e sua administração interna, sobretudo tendo como termo de comparação o funcionamento do Asilo de D. Pedro V, em Braga. Não se estranha, por isso, que em 31 de Maio de 1890, a administração seja substituída e o internato confiado às Irmãs de S. José de Cluny, «estimadas em Lisboa por todos quantos as conhecem». A partir de 2 de Agosto de 1891, o Asilo deixa de receber rapazes. O último foi José Afonso Pereira. Com a implantação da República (1910), a 28 de Outubro, as Irmãs de S. José de Cluny são obrigadas «a retirar-se», a largar tudo e, «enfarpeladas em roupas emprestadas à pressa», a embarcar no comboio das sete e meia da manhã. A gestão interna do Asilo fica entregue a direções particulares, constituídas por gente recrutada com critério pelas Comissões Administrativas, até que, a 2 de Agosto de 1934, tal função é atribuída à Congregação Espanhola do Amor de Deus, constituída então por um grupo de cinco religiosas. Tal Congregação, das Irmãs do Amor de Deus e do Próximo, ainda hoje é parceira fundamental da Instituição no acolhimento e

acompanhamento das crianças e jovens internadas. O Asilo, durante a II Guerra, com 61 bocas jovens para alimentar, subsiste graças à generosidade de inúmeros beneméritos, à ação de uma só professora na Escola Feminina Oficial e às freiras, sempre diligentes e silenciosas. Claro que alienam 855 metros quadrados de terra à Câmara Municipal para restauração do Paço dos Duques de Bragança, a 10 mil réis o metro quadrado. O Asilo sofre obras constantes de beneficiação. Algumas controversas. Sempre ao sabor dos parcos fundos que lhe são disponibilizados. Em 20 de Janeiro de 1969, extingue-se a designação de Asilo, caída em desuso, e a Instituição passa a ser chamada de Lar de Santa Estefânia. Com o 25 de Abril o Lar de Santa Estefânia entrou em ebulição. Não financeiramente pois tinha depositado recentemente cerca de mil e quinhentos contos, fruto da alienação de doações generosas. Entretanto, as instalações são em parte ocupadas pelas Finanças, hospedam-se as primeiras mulheres polícias e as escuteiras da Ilha da Madeira, etc. Em 31 de Janeiro de 1975 cria-se uma segunda resposta social no Lar de Santa Estefânia – o Jardim de Infância. De então para cá, o Lar de Santa Estefânia tem acompanhado a evolução que decorre da entrada em vigor das nossas leis de proteção de crianças e jovens, tem mantido e ampliado as suas respostas de creche e pré-escola, tem diversificado a sua resposta de ATL, criou, no exterior, unidades de autonomia para rapazes e raparigas se prepararem para a aproximação à vida ativa, criou uma unidade de saúde, integra a rede de cantinas sociais, criou uma unidade de apoio a mais velhos e a doentes neurológicos, criou uma unidade de agricultura e lazer, criou a Ronda Usera /LSE, com intervenção na área do emprego, dos mais velhos sós e abandonados, dos imigrantes e de outros carenciados, etc. Muitas são as pessoas que, pelo seu empenho, pelo seu afeto, pela sua generosidade, mereceriam uma referência nesta síntese. Seria de todo impossível lista-las, sem o risco de sermos exaustivos e injustos. Que Deus a todas abençoe e agradeça.

Nota: Em inícios de Julho de 2016, a Congregação das Religiosas do Amor de Deus e do Próximo, por escassez de vocações e por entender que as exigências do Lar de Infância e Juventude eram incompatíveis, por complexas, com a sua intervenção, decidiu abandonar o Lar de Santa Estefânia. Tal incumbência ficou à responsabilidade da direção em funções.
A Escola Francisco de Holanda e o Centro Histórico de Guimarães
- Cronologia dos espaços
Equipa redatorial45
19 de dezembro de 1885
A inspeção das escolas industriais e das de desenho industrial da circunscrição do Norte emite um aviso em que anuncia que estavam abertas as matrículas para a escola de desenho industrial, na casa da escola, rua de Paio Galvão. O ensino do desenho dividia-se em elementar e industrial, sendo o primeiro diurno e o segundo noturno. No curso diurno podiam inscrever-se rapazes dos 6 aos 12 anos e raparigas dos 7 aos 13. No curso noturno apenas eram admitidos alunos de ambos os sexos com mais de 12 anos.

Casa onde funcionou a Escola Industrial F. de Holanda, com início a 13 de janeiro de 1885 (Largo Martins Sarmento)

Casa onde funcionou a EIFH, na rua Paio Galvão, com início a 13 de abril de 1885
13 de janeiro de 1885
Inauguração da Escola de Desenho Industrial Francisco de Holanda, com 104 alunos, dos quais 14 do sexo feminino, numa sala do rés-do-chão da casa da Sociedade Martins Sarmento (casa dos viscondes de Pindela, contígua à residência de Francisco Martins Sarmento, no Largo do Carmo).
13 de abril de 1885
Início das aulas nas instalações da escola na rua de Paio Galvão.
45 Agradecemos a colaboração do historiador António Amaro das Neves.
5 de outubro de 1885
Início das aulas do ano letivo de 1885/86 em novas instalações (palacete dos Laranjais).
1 de fevereiro de 1886
Inauguração da Escola Industrial Francisco de Holanda, com a abertura da aula de aritmética, geometria e escrituração industrial, nos laranjais. Nesta data, Joaquim José de Meira foi designada o primeiro diretor da Escola. António Emílio de Quadros Flores, professor da cadeira de química (que abriria em breve), foi designado secretário. Estiveram presentes, entre outros, o Inspetor das Escolas Industriais do Norte, José Guilherme de Parada e Silva Leitão, o Secretário do Instituto Industrial do Porto, Joaquim Casimiro Barbosa, e a direção da Sociedade Martins Sarmento.

Palacete dos Laranjais, onde funcionou EIFH, desde 5 de outubro de 1885

Instalações da EIFH, no espaço onde funciona atualmente a ESFH (Campo do Proposto)
20 de outubro de 1887
Inauguração, “com as formalidades do estilo”, pelo rei D. Luís, dos trabalhos de construção das instalações da Escola Francisco de Holanda no Campo do Proposto.
Outubro de 1901
Início das aulas nas instalações do Campo do Proposto, onde a escola funcionará até ao ano letivo de 1909-1910.
6 de outubro de 1910
Início das aulas na “casa amarela”, no largo do Seminário-Liceu (atual largo Cónego José Maria Gomes), propriedade do barão de Pombeiro.


Ano letivo de 1914-1915
A escola passa a funcionar no antigo convento de Santa Clara, juntamente com o Liceu e o Internato Municipal.

Antigo Convento de Santa Clara, onde funcionou a EIFH a partir do ano letivo de 1914-1915. Casa onde funcionou a EIFH, com início a 6 de outubro de 1910
Ano letivo de 1923/1924
Instalação definitiva da EIFH no Campo do Proposto, onde hoje funciona, com novas instalações e a designação de Escola Secundária Francisco de Holanda.

VIAGEM AO CENTRO HISTÓRICO: Rua de Santa Maria e Largo Cónego José Maria Gomes
Guimarães, Património Mundial da Humanidade e a Biblioteca: Proteger o nosso património e promover a inovação
Juliana Fernandes Diretora da Biblioteca Municipal Raul Brandão
1. Património Mundial da Humanidade
“O património cultural e natural faz parte dos bens inestimáveis e insubstituíveis de toda a humanidade. A perda, por degradação ou desaparecimento, desses bens preciosos constitui um empobrecimento do património de todos os povos do mundo.”
(https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/redes-unesco/patrimonio-mundial-da-unesco)
De acordo com a UNESCO, a Lista do Património Mundial é um legado de monumentos e locais de grande riqueza natural e cultural que pertencem a toda a humanidade. Os locais desta lista obedecem a uma função de marcos no mundo, de símbolos da consciência de Estados e povos sobre o significado desses lugares e atributos da sua ligação à propriedade coletiva, bem como da transmissão desse património para as gerações futuras. Reconhecer como Património Mundial elementos de uma região com base nas suas qualidades extraordinárias, pressupõe, sem dúvida, que estes merecem ser especialmente protegidos e conservados contra os perigos que os ameaçam. As condições têm de ser criadas para que ao longo do tempo o seu estatuto de Património Mundial seja assegurado, estimulando a economia, a preservação da informação e mobilizando as suas gentes no sentido de gerar valor desse reconhecimento internacional. O objetivo é reforçar o senso de identidade para proteger e preservar os elementos mediante atividades que reconheçam o património e produzam experiências em matéria de conservação, saber fazer e artes, proteção jurídica e sistemas de gestão adequados para
implementar normas, planos ou mecanismos de proteção.
“Partilhar experiências e saberes adquiridos ao longo dos últimos anos na gestão de bens tão diferentes e apelar à inteligência coletiva, à coordenação da ação no sentido de assegurar a participação ativa e construtiva é o que move os Gestores de bens Patrimoniais e a criação da Rede Património Mundial de Portugal.”
(https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/redes-unesco/patrimonio-mundial-da-unesco)
2. Centro Histórico de Guimarães
“O título de Património Cultural da Humanidade constitui um justo reconhecimento de um trabalho de recuperação e conservação modelar, que honra Guimarães e as suas gentes.” (Amaro das Neves, 2001). A cidade de Guimarães é reconhecida mundialmente como Património da Humanidade a 13 dezembro 2001.
“O Comité da UNESCO inscreveu o Centro Histórico de Guimarães na Lista de Bens do Património Mundial, baseado nos seguintes critérios:
Guimarães é de um considerável significado universal, na medida em que aqui se desenvolveram técnicas especializadas de construção de edifícios durante a Idade Média que depois foram exportadas para as colónias portuguesas, na África e no Novo Mundo, transformando-se, mesmo, em características essenciais.”
(https://www.cm-guimaraes.pt/conhecer/patrimonio-mundial)
Guimarães é uma cidade muito bem preservada, o seu Centro Histórico foi e tem sido alvo de uma constante remodelação, requalificação e preservação – este bem único é o investimento mais importante e perdurável na cidade. A identidade nacional, a língua portuguesa no séc. XII, a evolução e preservação de alguns edifícios particulares desde os tempos medievais até hoje, com particular incidência entre os séc. XV e XIX, são factos e acontecimentos associados à “narrativa” de Guimarães. Ao longo da sua história, Guimarães soube adaptar-se ao passar do tempo: enaltecendo cada lugar e nunca esquecendo o valor patrimonial da cidade foi-se reorganizando para que o passado, o presente e o futuro possam coexistir, sem atropelos, num equilíbrio perfeito ente o Homem e a Natureza.
3. A Biblioteca 3.1 Bibliotecas do século XXI
Ao longo do tempo, as bibliotecas adaptaram-se irrepreensivelmente aos diferentes paradigmas
tecnológicos, desde a invenção da escrita, passando pela tipografia, até chegar ao atual contexto tecnológico. As bibliotecas do presente são híbridas, com espaços, serviços e coleções simultaneamente físicos e virtuais, em que as novas tecnologias de informação e comunicação são a base do serviço na relação com o utilizador, passando a disponibilizar ao cidadão informação e conhecimento que as novas tecnologias tornam disponível mas já de forma tratada e selecionada, permitindo uma maior eficiência no seu acesso.
3.2 Papel das Bibliotecas na preservação, proteção e promoção do património
As bibliotecas são centros de documentação e de informação e face ao risco crescente de perda de informação preciosa que determina o património mundial em termos de conhecimento, de identidade, de história e de valores humanos, o seu papel é fundamental. As bibliotecas, em tempos onde conceitos como globalização e massificação estão cada vez mais presentes, têm como desafio e missão garantir que a identidade local e o saber sobre a sua cultura permaneçam, mostrando que a evolução de uma região está no conhecimento que temos sobre ela.
A Biblioteca Municipal Raul Brandão – Guimarães (BMRB) dedica-se à conservação da memória da vida local através da constituição do Fundo Local, tentando estar apta a responder à maioria das questões que dizem mais diretamente respeito aos seus cidadãos e à região em que vivem. Como refere Barreto Nunes (1998), as pessoas mostram-se cada vez mais interessadas em descobrir as suas raízes, em encontrar a sua identidade.
O Fundo Local da BMRB reúne todo o tipo de documentação e publicações referentes à cidade de Guimarães, num total de cerca de 18 000 documentos. Trata-se de documentação produzida por uma comunidade ou com ela relacionada (neste caso Guimarães) que se refere Sala do Fundo Local da Biblioteca Municipal Raul Brandão aos mais variados aspetos da sua vida, história, política, economia, sociedade, instituições, vida religiosa, atividades de todos os géneros, geografia, geologia, fauna,

flora, etc. De uma maneira geral cuida-se de documentação que se refere ao Património Cultural e Natural de Guimarães. Compete à BMRB recolher, tratar, preservar, explorar e divulgar toda esta documentação, nos seus diferentes tipos de suporte, tornando-a acessível a todas as pessoas. No entanto, e tal como expõe Barreto Nunes (1998), a biblioteca deve saber conservar, mas para ser útil à comunidade e não para ser apenas encarada como um depósito morto de velharias, que ninguém consulta ou que ninguém sabe como utilizar. A biblioteca tem o papel de difundir este conhecimento, informar, formar e abrir horizontes servindo de ponto de partida para que a memória da vida local seja conservada e valorizada.
“Os povos são como as árvores. Se cortam com as suas raízes, mais tarde ou mais cedo secam, tornam-se dependentes, paralisam. Morrem.
Defender, salvaguardar o património cultural (na sua forma de património escrito) é como que proteger as raízes de uma árvore – é garantir, mais do que o seu presente, o seu alimento, a sua sobrevivência.
Dar uma nova vida ao património não é só salvar o nosso passado – é validar o nosso bilhete de identidade, a entrada no futuro.”
(Conclusões do 2º Encontro das Associações da Defesa do Património Cultural e Natural – Braga, 1981)
Podemos, então, afirmar que a BMRB é preponderante na defesa, preservação e difusão do Património Cultural de Guimarães, garantido atos pedagógicos e incentivos à comunidade em relação à proteção e reabilitação do nosso centro histórico e suas memórias coletivas, garantindo uma contribuição para autenticidade e para a assimilação da cidade histórica como lugar de partilha, de identidade e de cultura.
O papel da BMRB como centro de informação ao serviço da comunidade Vimaranense – essencial para o seu desenvolvimento e evolução e relevante para a melhoria da qualidade de vida das nossas gentes – deve ser valorizado e divulgado de todas as maneiras. Não é exequível construir o futuro e declarar a nossa identidade cultural se não tivermos uma biblioteca preparada – a BMRB é um abrigo da memória, presença do quotidiano e lugar de interrogação.
Em defesa da biblioteca Raul Brandão - Crítica da razão algorítmica
Esser Jorge Silva Sociólogo, professor no Ensino Superior
1. Cultura analógica e cultura digital
É muito difícil mudar. E quanto maior o tempo gasto na sedimentação menor se tornam as hipóteses de alterar. Sejam hábitos, comportamentos, modos de vida ou exigências de vida – também denominados “objetivos de vida” –, a alteração radical do costumeiro é muito difícil, senão doloroso, por vezes. Há de ser por isso que todos os projetos políticos têm na palavra “mudança” a chave da mágica futura. Neste caso, ainda que, na maior parte das vezes, o plano inexista e a palavra soe vã e despida de glória. E, todavia, quando se pretende subir alguma escala só a mudança nos salva. Só as alterações planeadas e assentes em conhecimento conseguem resultados condizentes. Só o esforço, o desligar do antigo e o ligar ao hodierno, fornecem essa transformação, aparentemente serena. É certo que certas mudanças de âmbito social parecem ter geração espontânea. Não se vislumbra o ato originador da mudança e, em regra, os resultados mostram mais a satisfação do presente e invocam menos os incómodos da vivência passada. A boa mudança naturaliza-se e produz esquecimento. Mas há sempre que ter presente que as transformações mais visíveis partem da coragem de um agente, regra geral um responsável político. E, se ter coragem é o primeiro passo para as transfigurações, a sua decorrência é, em regra, possuída por uma certa dor que, por vezes, até chega a ser violenta. É bem verdade que a dor tem impacto em quem é convertido pelo ato de mudar e, neste caso, as resistências são, em regra, mais do que muitas. O exemplo dos alunos nas escolas é sintomático: aos primeiros dias vigora o choro, a tristeza, o medo. Gradualmente, porém, normalizam-se os sentidos e, ultrapassada a dificuldade inicial, os alunos aceitam entrar num sistema da sua transformação. Nem sempre a mudança se impõe pela dor. Uma, ou outra vez, existem mudanças que se instituem sem que delas o cidadão se aperceba. De forma indelével, sem se dar conta, o cidadão é atualmente um objeto vigiado e dirigido pela ordem algorítmica. O que faz, o que diz, o local aonde vai, a informação que procura, as suas rotinas, os seus hábitos, tudo é registado pelo algoritmo. E, quando, por exemplo, falar em adquirir uma balança e ainda que os seus dispositivos digitais estejam desligados, sabe que esses dispositivos passarão a

bombardear-lhe com informação sobre balanças – ou outro objeto investigado ou conversado. Por paradoxal que seja, não só o cidadão está sob vigia, como é o próprio a incentivar a vigia de si. Os dispositivos eletrónicos e os seus inventores conseguiram, assim, a melhor forma de produzir mutações sem violência. Além de contarem com a colaboração dos indivíduos, promovem a sua satisfação pessoal e, pasme-se, introduzem satisfação nos seus espíritos. Estabelece-se aqui a diferença entre a mudança analógica e a mudança digital. Com maior ou menor empenhamento, na mudança analógica há esforço dos indivíduos na sua transformação. Ainda que exista um diretório, este não tem como se impor totalmente sem a colaboração dos indivíduos em transformação. A mente individual obriga o corpo a agir em obediência a um objetivo conhecido que interessa à pessoa que quer processar mudança em si. Na mudança digital a vontade individual não é considerada. Desaparece. O ato de mudar não convoca a vontade do indivíduo. Mas serve-se dele como que incubando um alienígena no seu interior. Esse dispositivo serve, em primeira ordem, a uma transformação geral que escapa ao interesse geral. A mudança digital como que aldraba os indivíduos fornecendo-lhes uma espécie de doce para, de seguida, ao manipulá-los, lhes controlar a existência. Trata-se da substituição da razão sensível pela razão algorítmica. A grande diferença entre uma e outra mudança é que, enquanto na analógica há processo colaborativo, na mudança digital há uma subtração de si do indivíduo.
2. Decadência da Biblioteca Raul Brandão
Entre outras, uma das instituições capacitadas para fornecer recursos de mudança aos indivíduos são as bibliotecas. Mas, vá-se lá saber porquê, a ausência de investimentos nestes espaços, que em alguns casos quer mesmo dizer abandono e Janela da Biblioteca Municipal Raul Brandão desinteresse, demonstra como a política não está a reconhecer os mecanismos de mudança individual suportados no conhecimento sedimentado. O caso da biblioteca Raul

Brandão é paradigmático. Percebi-o aquando da escrita de um documento académico fundamental. Procurava, então, um espaço onde pudesse estar lendo, pensando e escrevendo. Habituado a sair de casa para o trabalho, afiguravase-me desagradável ficar em casa 24 sobre 24 horas, fazendo do espaço da casa, espaço de trabalho. Uma observação mais criteriosa demonstrou-me a desgraça que se abatera sobre a Biblioteca Raul Brandão. Inaugurada a 7 de março de 1992, a biblioteca jamais foi tocada pelo milagre de um cêntimo de investimento estrutural. Olhando para alguns equipamentos é como se o tempo resolvesse ali residir sem avançar. Já nem os ácaros devem resistir à rapada alcatifa cinzenta escura, usada no século passado. Paredes nunca mais foram pintadas. Para acomodar obras, os corredores de circulação tornaram-se exíguos. Um projetor de dimensões XXL, excelente peça de museu, mostra como o tempo tecnológico parou por ali. Evita-se comprar mais livros porque o espaço da Raul Brandão não alberga mais alimento bibliotecário. Mas o que verdadeiramente constrange é ver janelas de madeira corroídas e calafetadas com ardis de trazer por casa, um inglório esforço que se percebe de quem lá trabalha. Trata-se de um tão grande marcador de pobreza que convoca o esforço de contenção das lágrimas. De tal modo destroça, ao ponto de, como cantou Sérgio Godinho, se sentir “uma força Infiltrações na Biblioteca Municipal Raul a crescer nos dedos e uma raiva a nascer nos dentes”. Brandão

O que se espera, verdadeiramente, da biblioteca Raul Brandão? Que definhe até desaparecer? Estará atrás deste abandono um plano para dar outro fim ao edifício bibliotecário? É uma opção política? Qual o motivo porque se abandonou o desiderato da aprendizagem lenta, trabalhosa, sólida, consolidada que fornece conhecimento e sabedoria aos cidadãos? Pensa-se que o espaço de biblioteca está ultrapassado? Démodé? É certo que gente chique pós-moderna não lá vai; afinal o alimento do espírito é para uns poucos. Mas serão assim tão poucos os que se prestariam a usar o espaço da biblioteca se esta oferecesse condições

consentâneas com este tempo de vida? Há vários exemplos de projetos bibliotecários atuais que demonstram como os livros – materializados ou desmaterializados – continuam a atrair, a ensinar, a descobrir, a confortar e a treinar a imaginação, algo de que estamos sempre carenciados. Nas andanças académicas, este escrevedor perorou pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em Porto Alegre, no Brasil, um imenso espaço que acolhe 30 mil matrículas anuais. Numa reunião com Antônio Hohlfeldt – ex-jornalista, professor e político –confessei-lhe a minha admiração pela biblioteca da universidade. Por aqueles dias dedicava-se-me a ler, entre outros, a obra de António Gramsci. Explicou-me, então, o ex-vice-governador do Rio Grande do
Biblioteca da PURS – Porto Alegre (Brasil) – espaço de encontro, recolhi- Sul, a luta para a existência daquele edifício. A um mento e conhecimento prédio original de 4 andares pretendia-se acrescentar mais 14 e modernizar o conceito. Lembrava-se das reuniões infindáveis tentando convencer os burocratas do Banco Mundial de que se tratava de um investimento com sentido. A persistência foi intensa ao ponto de os burocratas da “racionalidade económica” aceitarem a irracionalidade criativa como argumento. O projeto avançou e, atualmente, a Biblioteca Central Irmão José Otão, é uma das mais graciosas da América do Sul.
3. Bibliotecas – o alimento da “vida do espírito”
Não se pode pensar uma biblioteca no século XXI como se pensava a loja comercial no século XIX. Uma biblioteca já não é o local para aonde a família pobre manda o filho colher umas letras. Por algum motivo os shoppings se transformaram em espaços onde, além de inexistir marcadores do tempo, é sempre primavera, como escreveu Albertino Gonçalves. Na Biblioteca da PUCRS a luz natural

banha os espaços de leitura. Quem lê pode usar amplas salas e confortáveis poltronas. Quem escreve tem cadeiras não menos confortáveis. Quem precisa de concentração, ou vai trabalhar em grupo, requisita um gabinete. Quem desejar pode usar o exterior para trabalhar. À parte de tudo, guardados em espaço climatizado, milhões de obras repousam até serem convocados. Cada piso serve áreas científicas diferenciadas. Mas não será por isso que, cada piso, se socorre de design diferenciado. Há por ali uma preocupação com o espaço humanizado. Do ambiente amorfo e cinzento de antigamente, responde a biblioteca da PUCRS com mobiliário colorido e atrativo. Já velho feito, foi lá que o autor deste texto aprendeu a ser uma espécie de operário de biblioteca. É certo que a descrição é de uma biblioteca universitária e não de uma de leitura pública. Mas serve de exemplo da transformação que os espaços de leitura podem ter para se tornarem agradáveis e atraentes. A Biblioteca Municipal Raul Brandão precisa, urgentemente, de ação. Não se trata de pintar e retocar, mas de ser redefinida e reorientada. Na linguagem ao gosto da política “precisa de ser regenerada”. Precisa de se adequar aos tempos e de se tornar apelativa. Visitável. Precisa de ser um lugar onde dá gosto ir e não uma espécie de “não lugar”, como escreveu Marc Augé. Precisa de deixar de ser um espaço acanhado e limitado à ideia de armazém de livros. Precisa de ter função e de marcar o território vimaranense como instituição extensiva do ensino secundário e superior. E neste particular, deve funcionar como ponto de atração, ao mesmo tempo servindo de referência para os estudantes circularem, descobri- Janela “calafetada” na Biblioteca Municipal Raul rem e intervirem na cidade. Brandão Há que deixar de olhar para a Biblioteca Municipal como uma obrigação política e passar a interpretála como parte de um projeto integrado de cidade. Não como um edifício ocupado por funcionários a oferecer existência, mas como um espaço de afirmação da cultura capacitado para a transformação analógica do indivíduo. Há muito mais para oferecer na cultura além da pura e exclusiva fruição de espetáculos auditivo-

visuais. Uma ideia política de cultura tem a obrigação de integrar a polissemia da palavra e de se não reduzir a uma fórmula limitada. Pode-se alimentar o circuito das indústrias culturais e criativas, sem se entrar numa submissão exclusiva de som, luz e cor. No final haverá, sempre, gente com necessidade de desenvolver “a vida no espírito”. Gente que vai muito além de fornecedor acrítico de dados algorítmicos ao mundo, aparentemente, encantado do digital. Notícias dizem que na Grã-Bretanha foram encerradas 800 bibliotecas. São péssimas notícias porque se trata da aniquilação dos espaços de encontro entre indivíduos, se não entre si, pelo menos entre a sua produção. Encerrar bibliotecas é uma opção muito ao jeito pós-moderno no qual os princípios neocapitalistas se sobrepõem às decisões políticas. Segue o princípio da mudança em favor da aniquilação social que olvida o mundo do sensível, dos sentidos invisíveis, da consciência imediata que, segundo Henri Bergson, nos legou o intelecto como força aglutinadora do pensamento. A razão algorítmica é a grande produtora da inteligência artificial. E esta funda-se na crença da aprendizagem da máquina através das ações humanas para, deste modo, o futuro nos oferecer robôs capacitados para a resolução de problemas da humanidade. Mas como fornecer razão sensível à inteligência artificial se as opções vão no sentido da aniquilação desta razão e da transformação humana em razão algorítmica. Tudo será melhor, contudo, se as bibliotecas e a razão sensível não forem interrompidas e prevalecer a possibilidade de estas melhorarem continuadamente a razão algorítmica.
Um património de Guimarães
Vítor Oliveira Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência
O Convento de Santa Clara de Guimarães, que se ergue com proeminência no “vintage” Centro Histórico classificado, não foi só uma casa de reclusão, mas também um centro de criação e confeção de doces conventuais de grande qualidade. Alguns deles chegaram até nós, dos quais se destacam o Toucinho do Céu e as Tortas de Guimarães – que tanto nos distinguem na doçaria conventual. Sabemos que foi um dos mais ricos conventos de Guimarães, instituído no século XVI pelo Cónego mestre-escola da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, Baltasar de Andrade. Na sua história, o Convento, com um claustro de dois pisos, de tipo clássico, conhece vários momentos, com funções distintas ao longo dos tempos. A entrada das religiosas deu-se há exatamente 459 anos (12 de agosto de 1562). Durante as décadas de 30 e 40 do século XVIII, o Convento sofreu obras de beneficiação e ampliação como comprovam vários contratos estabelecidos entre as clarissas e diversos mestres pedreiros, carpinteiros ou pintores.
Em 1891, as portas fecham-se quando morre Antónia Amália da Ascensão, a última religiosa e superiora do Convento. Dois anos depois, em 1893, o edifício é cedido, por decreto, à Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, que aí instala o Seminário. Três anos volvidos, novo decreto de 16 de setembro de 1896 transforma o Seminário em Liceu Nacional de Guimarães, que funcionou no Convento de Santa Clara até 1961. A Escola Secundária Francisco de Holanda também passou pelas salas do antigo Convento de Santa Clara, onde já funcionava o Seminário - Liceu. Segundo Silvestre Barreira (2021), “o Internato ainda perdurou por mais algum tempo, sendo ocupado pelo Ciclo Preparatório.”
Claustros do Convento de Santa Clara, foto de Paulo Pacheco

“Em 1968, o edifício assume as funções que mantém nos dias de hoje, ou seja, passa a albergar os
principais serviços da Câmara Municipal de Guimarães. Em 1973, no Local correspondente à Igreja do Convento, é instalado o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, transferido, em 2003, para a Casa dos Navarros de Andrade.” (Fernandes, Isabel e Oliveira, António José de) A sua riquíssima capela foi esvaziada e destruída no século XIX, encontrando-se, hoje, parte da talha dourada, no Museu de Alberto Sampaio. Na década 50, o Liceu muda de instalações e, em 1968, o edifício assume as funções que mantém nos dias de hoje: albergar os principais serviços da Câmara Municipal de Guimarães.
Este edifício de fachada barroca tem ao centro a escultura de Santa Clara. É, garantida e religiosamente, uma imagem de marca do nosso Património, que valoriza e enaltece Guimarães, um território onde a História e a contemporaneidade se cruzam em coerência. Um território onde a criação cultural e a inovação coabitam em simetria com as tradições e o património. Um território onde a cultura se constitui como núcleo e como motor do desenvolvimento social e económico. Um território onde se alimenta a memória Fachada pricipal do Convento de Santa Clara, foto de Paulo Pacheco e se produz a memória futura. Pelo seu passado histórico, pela carga simbólica que se lhe atribui no contexto nacional e pela responsabilidade que lhe foi conferida como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO, Guimarães tem sabido cuidar do seu património e da sua imagem de modo exemplar, mantendo de forma firme e constante os princípios que sempre nortearam a sua recuperação e reabilitação urbanas sem, contudo, cair em dogmatismos que impeçam a resolução de casos mais delicados e excecionais. A relação entre património, cultura e desenvolvimento assume um papel cada vez mais relevante na definição estratégica das políticas de cidade, um pouco por todo o mundo. As pessoas e as instituições necessitam de ter memória para saberem quem são e (re)conhecerem a sua identidade. Numa cidade que é Património Cultural da Humanidade, a preservação da memória histórica e patrimonial – material e imaterial – em articulação com a criação, a criatividade e o conhecimento contribuem para o respeito pelos valores éticos, para a aquisição e transmissão de saberes, para o conhecimento e a capacidade criativa.

O sentimento de pertença e o fomento da participação cívica e coletiva são requisitos determinantes para quem tem por missão servir as nossas pessoas e trabalhar para uma boa sociedade. Aqui, em Guimarães, sente-se a História do país e dá-se a devida expressão e dimensão cultural, o que nos confere o legado histórico de uma Cidade Europeia de Cultura, que introduz elementos de contemporaneidade e de modernidade, fazendo de Guimarães uma cidade com um espaço único em Portugal, com vimaranenses bairristas que são as células principais de um organismo vivo, que apoia e que incentiva a fazer mais e melhor.
Nada, pois, como aceitar o desafio de todos conhecermos o exemplo de Guimarães e sentir o orgulho, a consciência cívica e a hospitalidade dos Vimaranenses. Nas redes de trabalho ou de amizades, pretendemos aliar aquilo que hoje aqui nos reúne nesta publicação de Osmusiké - Comunicar Património.
Ó rua de Santa Maria És elo de ligação… Vila de cima e de baixo, Primórdios da fundação.
És a primeira do burgo, És de origem medieval, És testemunho da história E da tua vida ancestral.
Abrigavas nos teus braços A elite da cidade. Casas de nobres fidalgos, Não as perdeste co’ a idade.
Por ti passavam guerreiros Pró Castelo defender. Peregrinos se cruzavam Prá Virgem agradecer. É agora a juventude Que vive o teu encanto. Como outrora já fizeste, Protege-a com o teu manto.
Tens em ti simbologia, Baluartes da nação: - Religião e conquista, A guerra e a devoção.
E em cada pedra tua Contas a nossa história. Destes tempos és lazer, Doutros tempos és memória.
VIAGEM AO CENTRO HISTÓRICO: Largo da Oliveira e Praça de S. Tiago
Rua de Santa Maria
Poema de Madalena Antunes - Osmusiké Integra o CD Cantar Guimarães, que também pode ser ouvido no SoundCloud, em https://soundcloud.com/osmusike/sets/gentes-de-guimaraes
Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira: Na Festa da Padroeira, 15 de agosto de 2021
Monsenhor José Maria Lima de Carvalho, D. Prior da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira
Pode bem dizer-se que, na aceção plena do termo, a Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira é o coração do Centro Histórico de Guimarães, já pela caraterística física do espaço que ocupa, quer pela origem e vocação que desenvolveu, desde antes da fundação da nacionalidade até aos nossos dias. O carinho com que designamos Guimarães como cidade-berço teve ali a sua forja. Na verdade, uma mulher nobre, rica e poderosa, mas também muito piedosa, a condessa Mumadona Dias, cerca do ano de 950, instituiu, no espaço compreendido pela igreja de Nossa Senhora da Oliveira e do museu de Alberto Sampaio, um mosteiro duplex (ramos masculino e feminino), dedicado ao Salvador do Mundo, à Virgem Santa Maria e aos Santos Apóstolos. Entre 1107 e 1110, este mosteiro deixou de ser regido segundo as regras monásticas e, por isso, extinto; todavia, a atividade, designadamente como centro de culto, continuaria por um conjunto de membros do clero secular que, no início, viviam segundo um estilo de vida comunitária, não monástica. Com esta nova realidade, nasceu a Colegiada, em tempos do conde D. Henrique e, provavelmente, por sua iniciativa. À semelhança das sés catedrais, aquele colégio de clérigos, daí a designação colegiada, formava um cabido, cujos elementos, presididos por um dom prior, tinham a dignidade de cónegos. A sua função primordial era cumprir a regra do coro, isto é, cantar em comum as horas canónicas (liturgia das horas) e a celebração solene da Eucaristia. Não cabe, aqui, fazer, nem sequer um esboço da história da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira. Referirei apenas que dependia do poder real e, no campo espiritual, relativamente à jurisdição do arcebispo primaz de Braga, gozava de muitas isenções e privilégios concedidos pela Santa Sé. Foi estruturada por D. Afonso Henriques, o qual se constituiu seu padroeiro; foi em 1147 que o presidente, então abade, passou a chamar-se prior. A Colegiada atingiu autonomia plena no reinado de D. Afonso ll (1211-1223). São conhecidas as visitas e concessões dos reis da dinastia afonsina e também a passagem da rainha Santa Isabel, a caminho de Santiago de Compostela. Foi a partir do século XlV que a Colegiada, que até então se denominava de Santa Maria de Guimarães, passou a designar-se Nossa Senhora da Oliveira por, segundo a lenda, a oliveira existente no largo, que secara, ter reverdecido ao ser colocado, junto dela, o cruzeiro abrigado pelo padrão do
Salado. Atingiu verdadeiro fulgor na dinastia de Avis. A ação de D. João l (1357-1433) está vincadamente associada à Colegiada com a peregrinação que fizera à Senhora da Oliveira, em atitude de penitente e gratidão pela vitória de Aljubarrota (14 de agosto de 1385). Falam deste acontecimento memorável a reformulação da igreja e as ricas e expressivas ofertas à padroeira do Reino. A projeção da Colegiada, no domínio da cultura, das artes, do ensino e pelo seu valioso património levou, séculos mais tarde, o rei D. João lV, em 1649, a conferir-lhe o título de insigne, passando a denominar-se Insigne e Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira. A mesma simpatia da dinastia de Bragança foi bem manifesta pelo rei D. Pedro ll (1648-1706), o qual patrocinou a construção da capela-mor. No ritmo histórico da Colegiada consta, segundo alguns, uma lista de 69, 70 priores em que emergem personalidades ilustres como Pedro Julião ou Pedro Hispano (Papa João XXl) (1215-1277), doutor João das Regras (1357-1404) e D. Diogo Lobo da Silveira (1470-1526) e também vive épocas de muito fulgor.
Não escapou, porém, como tudo o que é humano, a registos de cobiça e fraquezas que macularam o seu prestígio e depauperaram o património. No século XlX, a Colegiada atravessou um período de luzes e sombras, mais marcantes estas que aquelas, ao ponto de se tornar incapaz de resistir ao liberalismo instalado no País; em 1869, foi das últimas instituições a cair no mesmo saco das Ordens Religiosas extintas. Foi, neste século, no entanto, que se operou uma reforma, controversa aliás, da Colegiada, ao gosto do estilo neoclássico, revestindo de estuques o interior da igreja; da mesma época, pelos anos 1834-1841, é o imponente órgão de tubos, obra de Luís António de Carvalho Guimarães e os quatro altares neoclássicos com telas do pintor Joaquim Rafael 1783-1864). A história da vida da instituição, perpetuada em milhares de documentos, foi, na sua maior parte, perante a impotência do Cabido em mantê-la em Guimarães, levada para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa (4203 documentos), mais de uma centena para o Arquivo da Universidade de Coimbra. Felizmente, muitos outros documentos permaneceram, acautelados, em Guimarães; alguns, na Sociedade Martins Sarmento e a maior parte no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, incluindo uns de valor inestimável do tempo de Mumadona que, providencialmente, haviam escapado à leva dos executores do mandato governamental. Face à realidade dos factos, que cheirava a agonia da secular e benemérita instituição, o inconformismo e indignação geral provocou uma onda de esperança. A pressão popular e das forças vivas do concelho, com realce para a Sociedade Martins Sarmento, encontraram no Conselheiro João Franco (1855-1929) o intérprete certo para a restauração da Colegiada. No dia um de janeiro de 1891, por carta régia, passada no palácio de Belém, enviada ao arcebispo de Braga, o rei D. Carlos (1865-1908), satisfazendo os anseios de
Guimarães, restaurou a Colegiada, definindo também a sua nova composição: passava a ter um total de 11 membros, contando o dom prior, que seria o pároco da freguesia da Oliveira, sete cónegos e três beneficiados. Ao mesmo tempo, em edifício próximo, instalava-se o “Pequeno Seminário de Nossa Senhora da Oliveira”. Esta instituição funcionaria como lugar de instrução pública e gratuita, podendo nela ser professores todos os membros do Cabido. O ensino das disciplinas preparatórias do curso teológico foi a base e a razão do posterior Liceu Nacional de Guimarães, fundado em 1896, o qual funcionou no convento de Santa Clara até ao ano de 1961. Apesar de muito depauperada, começava um ciclo de vida de utilidade muito concreta para a própria sociedade. Todavia a revolução republicana de 1910 e a Lei da Separação entre a Igreja e o Estado ditaram, em 1911, a sua extinção definitiva. Foram muito difíceis os tempos de anticlericalismo oficializado da primeira república. A paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, que era assistida pela Colegiada, sentia-se empurrada para o confinamento silencioso do templo, que também foi declarado monumento nacional em 1910. O claustro medieval e amplas salas que o envolviam, a casa do priorado e a casa do cabido, ora meio abandonadas, ora com novas funções impediam a ação da Igreja. Com o andar dos anos e não poucos atritos entre a paróquia e autoridade civil, chegou-se a uma posição mais clara sobre o uso das sobreditas instalações: em 1928 foi criado o museu de Alberto Sampaio (1841-1908), o qual, organizado por Alfredo Guimarães (1882-1958), foi oficialmente inaugurado em um de agosto de 1931. A paróquia, no entanto, não largou alguns espaços, por muito necessários que eram para as suas atividades. No princípio da década de sessenta, no andar da parte norte e em grande parte do espaço do lado nascente, ainda funcionavam salas de reuniões, catequese e salão de festas. Daí que, mesmo com boa vontade, quer dum lado, quer do outro, paróquia e museu, eram indisfarçáveis os sentimentos de inconformismo e desconforto. Em outubro de 1947, tomou posse da paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, e também arcipreste de Guimarães, monsenhor António de Araújo Costa (1915-1988). Era o início de uma caminhada determinante

para uma imagem nova da Colegiada.
Os planos de ação e circunstâncias favoráveis que caraterizaram a sua obra contribuíram para que a Colegiada permanecesse, não apenas como memória, mas como realidade viva. Desde logo, dá primazia a elementos de comunicação, incomuns naquela época: Boletim paroquial e programas regionais na Rádio Renascença em 1948 e, a dois de fevereiro de 1950, lançamento do jornal semanal, regionalista e católico, “O Conquistador”. Imediatamente também entendeu que a sua solicitude pastoral, no que diz respeito ao exercício da caridade, estava posta à prova; que muitas famílias, especialmente inúmeras crianças, careciam de satisfação de necessidades básicas de educação, carinho e pão. Tornava-se, por isso, a bem duma resposta adequada a esta e outras realidades da paróquia e do arciprestado, a edificação de uma estrutura capaz. Enquanto ele assim pensava, do outro lado e agora, diretamente do presidente do Conselho de Ministros, doutor António de Oliveira Salazar (1889-1970), era manifesta a intenção de solucionar a questão do museu, com uma definição correta e justa de propriedade dos espaços. De imprevisto, certo dia, expressamente mandatado como interlocutor entre o Estado e a Igreja, entra no cartório paroquial o ministro engenheiro Eduardo de Arantes e Oliveira (1907-1982). Foram tais a simpatia e confiança geradas entre ele e Mons. Araújo Costa que foi muito fácil chegar a um rápido entendimento.
A Igreja renunciou definitivamente a quaisquer títulos de posse dos antigos salões da Colegiada e o Estado comparticiparia com cinquenta por cento na execução da obra a realizar na adaptação de edifícios existentes e outros que, entretanto, foram adquiridos, completando uma área coberta de 810 metros quadrados, equipamento e imobiliário, responsabilidade de fiscalização de toda a obra, bem como a indemnização de 500.000.00 (quinhentos mil escudos) pela cedência dos aludidos salões. Em dois de novembro de 1957 era benzida e lançada a primeira pedra pelo próprio patrono da obra, o arcebispo primaz e, a 24 de junho de 1962, este Centro Pastoral D. António Bento

Martins Júnior (1881-1963) foi solenemente inaugurado pelo então bispo auxiliar de Braga, D. Francisco Maria da Silva (1910-1977). O Patronato que, mesmo em condições precárias, vinha funcionando desde 1953, foi o primeiro beneficiário deste empreendimento o qual, por vocação, consubstanciaria o meio indispensável de resposta, nos diversos âmbitos, às necessidades pastorais da comunidade. O Centro Pastoral apareceu como meio providencial para acompanhar e promover a doutrina e reformas do Concílio Vaticano ll (1962-1965). A valência de resposta ao crescimento integral e sadio da criança foi enriquecida com a criação do Campo de Férias João Paulo Mexia, na quinta de Santa Catarina, na Penha. O prédio rústico e a construção de raiz deste empreendimento, oficialmente inaugurado em 11 de setembro de 1966 pelo arcebispo primaz, D. Francisco Maria da Silva, ficaram a dever-se à benemerência e generosidade da viúva do patrono, Aida dos Santos Cunha Mexia. Um pouco mais tarde, já na década de setenta, ao lado da casa do Campo de Férias, outra obra arrojada e feliz de monsenhor Araújo Costa: a construção de quatro habitações para famílias carenciadas, com a designação de Aldeia do Arcebispo. Era a resposta a um dos votos de D. Francisco Maria da Silva no ll Congresso Eucarístico Nacional realizado em Braga, em junho de 1974: “que em cada paróquia da arquidiocese de Braga se construísse uma casa para famílias pobres, como sinal de contribuição da Igreja para a resolução do sempre inquietante problema da habitação”. Entre tantos planos e realização consistente de projetos, subsistia o sonho do renascimento da Colegiada. 13 de fevereiro de 1967 é a data memorável da nomeação de Monsenhor António de Araújo Costa (1915-1988) como D. Prior da Insigne e Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, cuja investidura viria a acontecer, em ambiente solene e festivo, a um de maio seguinte na domus municipalis, consumando-se assim a aspiração nunca abafada dos vimaranenses em ver restaurada a sua Colegiada. Por esta altura aconteceu também, parecendo até fruto maduro deste ato de justiça, o começo do restauro substancial da igreja de Nossa Senhora da Oliveira (1967-1973), obra da Direção Geral dos Monumentos Nacionais. Em outubro de 1971, comemorando o octogésimo aniversário da criação do Pequeno Seminário de Nossa Senhora da Oliveira, nasceu, sediado no Centro Pastoral, com o objetivo de promoção vocacional, o Centro de Iniciação Vocacional da Insigne e Real Colegiada (CIVIC). Momento abrangente e marcante no que todos estes acontecimentos representam de cultura e reposição histórica, foi o l Congresso Histórico sobre Guimarães e sua Colegiada (19 a 23 de junho de l979). Como em todos os desenvolvimentos de factos aqui lembrados, mas especialmente na organização deste Congresso, foi a ação determinante do engenheiro Duarte Pinto de Carvalho Freitas do Amaral (1909-1979).
Na atualidade, o arcebispo primaz de Braga, D. Eurico Dias Nogueira (1923-2014), por Provisão de oito
de janeiro de 1991, ocorrendo nesta data o centenário da restauração da Insigne e Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães, que havia sido vítima das leis anticongregacionistas do Liberalismo”, referindo ainda outros pertinentes considerandos, diz: Hei por bem Nomear Dom Prior da Insigne e Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães o (…) Monsenhor José Maria Lima de Carvalho (1936-), actual pároco da Oliveira e Arcipreste de Guimarães. Desde então, tem havido o cuidado de honrar a dignidade do legado recebido. Deste modo e porque se tornava necessário atender ao desgaste e novas exigências de funcionalidade das instalações do Centro Pastoral, nomeadamente na área da Educação Pré-escolar e AtL (Atividades de tempos livres), foi planeado um programa de remodelação e ampliação do edifício. O resultado final deste processo culminou com a inauguração solene das obras pelo ministro da Segurança Social, da Família e da Criança, doutor Fernando Negrão (1955-), o qual, para o efeito, atribuíra um subsídio de 100.000,00 euros. O Centro Pastoral passou a cobrir uma área de cerca de 1.500 metros quadrados. O custo total da obra foi de 510.388,14 euros. Desde sempre e mesmo quando devido a circunstâncias de vária ordem, designadamente acordos com organismos do Estado, foi dotado de estatutos próprios e obteve personalidade jurídica e, por isso também direção autónoma, o Centro Pastoral permanece umbilicalmente unido à Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira. As duas instituições são o reflexo animado da Colegiada. Nos últimos tempos, a Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira cometeu dois atos algo surpreendentes: a concessão do direito de superfície do prédio nº 44 da rua de Santa Maria, obtido em 1993, por doação de Maria Madalena de Matos Rola e Albuquerque, à Associação de Apoio à Criança (2005) e à Associação do Corpo Nacional de Escutas, núcleo de Guimarães, o Campo de Férias João Paulo Mexia (2011). Quanto a nós, pelo seu alcance social em prol da Infância e da Juventude, estes protocolos são duas páginas bem dignas do percurso histórico da Colegiada. O relacionamento com o museu de Alberto Sampaio, nos anos mais recentes, tem-se caraterizado por

uma cumplicidade simpática com a vida de uma e outra instituição. É inteiramente justo este reparo e especialmente a menção dos nomes da historiadora Manuela de Alcântara Santos e da atual diretora Isabel Maria Fernandes. Com a prestimosa intervenção desta, a paróquia da Oliveira tem inventariado e devidamente acautelado o seu património artístico; foi determinante também a sua capacidade negocial para o restauro do órgão de tubos. Estes são apenas dois exemplos do dinamismo que lhe vai na alma. Uima palavra de apreço e gratidão é devida à equipa de trabalho, que ela lidera, com destaque para a “abelhinha do museu”, a técnica superior, Maria José Queirós Meireles. Já também neste século XXl, a expensas da Fábrica da Igreja, foram restauradas as talhas e estuques das absides do Sagrado Coração de Jesus e Santíssimo Sacramento, as talhas e pinturas das naves laterais, o guarda-vento, uma renovação profunda do soalho da sacristia e ainda reparação do telhado da capela-mor. Como já foi referido atrás, a obra de marca foi o restauro do órgão de tubos (2013), juntamente com a obra de recuperação/ reforço das estruturas e conservação /restauro de elementos artísticos do coro alto, resultante do contrato de financiamento, em 15 de julho de 2010, pela Comissão diretiva do Programa Operacional Regional do Norte, o Novo Norte (ON2), e a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira. Nesta empreitada, bem como no restauro do retábulo da capelamor, que fazia parte do referido contrato, a responsabilidade financeira da paróquia foi de 30%. Juntando a este o encargo total das obras, acima referenciadas, a paróquia despendeu cerca de 250.000,00 euros na igreja que é monumento nacional. Em janeiro de 1986, instalou-se no Centro Pastoral uma comunidade das Irmãs da Aliança de Santa Maria, sob a responsabilidade da Irmã Maria Alice Anacleto dos Santos, com a missão de apoio logístico e atividades pastorais da paróquia. Em 29 de setembro de 2001, a igreja de Nossa Senhora da Oliveira foi palco de um acontecimento verdadeiramente histórico: esta família religiosa, aprovada com o estatuto de Congregação de direito diocesano pelo arcebispo primaz, D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, em 13 de junho do mesmo ano, inaugurava oficialmente, em cerimónia presidida pelo mesmo prelado, uma vida nova; declarada foi também, nessa ocasião, a Colegiada como Casa-mãe e Superiora- geral a Irmã Maria Alice, a qual desempenhou o cargo até 2013. A Fábrica da Igreja da Oliveira editou duas obras de muito interesse para a história da Colegiada: “Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira História e Património - 2011” ; “O Órgão de tubos da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira - 2014”, ambas em coautoria de vários especialistas, sob a organização, orientação e colaboração também da diretora do museu, Isabel Maria Fernandes. Em jeito de conclusão, diremos que a Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira foi extinta por decreto liberal em 1869, restaurada pelo rei D. Carlos em 1891, extinta pela segunda vez em 1911, ressurgindo
novamente em 1967; que a figura do dom prior assegura a continuidade desta instituição multissecular como entidade canónica; que as estruturas da paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, designadamente Igreja e Centro Pastoral, com os dinamismos aí gerados e alimentados, conferem visibilidade comprovada ao caráter genuíno da Colegiada. Na inauguração solene do adarve da muralha, profundamente reformulado, em 30 de junho de 2019, a doutora Isabel Maria Fernandes, na qualidade de diretora do museu de Alberto Sampaio, evocou, na sua feliz intervenção, duas mulheres que estão na origem da história do deslumbrante edificado - Museu, Colegiada e sede do Município - que pode ser admirado no percurso da muralha, que o abraça e guarda, e convida a fixar os olhos, como na altura disse o presidenta da Câmara de Guimarães, dr. Domingos Bragança, na Colina Sagrada, onde se ergue, altaneiro, o Castelo de Guimarães. São essas mulheres a condessa Mumadona e a Virgem Santa Maria. Na verdade, a primeira jamais poderá ser esquecida, porque se confunde com os principais símbolos e raízes da cidade de Guimarães, Colegiada e Castelo; Santa Maria de Guimarães, ternamente invocada Senhora da Oliveira, continua a ser a inspiradora e intercessora que permanentemente convida os vimaranenses a honrar e dignificar a Pátria, que aqui nasceu, o nosso querido Portugal.
Lá vai D. João I Cumprir o que prometeu À Senhora da Oliveira Pela batalha que venceu.
E as armas da batalha E as armas da batalha À Senhora ofereceu. Desde a lança ao loudel Desde a lança ao loudel Nem do altar se esqueceu. E do padrão de S. Lázaro E do padrão de S. Lázaro Ele descalço saiu. Rua D. João e Toural Rua D. João e Toural Com orgulho ele subiu.
(De) Cordão de ouro a brilhar (De) Cordão de ouro a brilhar À Oliveira chegou, Para cumprir a promessa Para cumprir a promessa Ajoelhou e rezou.
Poema cantado por Osmusiké. Integra o CD Cantar Guimarães, que também pode ser ouvido no SoundCloud, em https://soundcloud.com/osmusike/sets/cantar-guimaraes
O Milagre da Oliveira46
«Reza uma lenda muito, muito antiga que, no tempo dos Godos, Vamba, um comum lavrador se ocupava, um dia, do amanho da terra, conduzindo ele próprio, com uma vara na mão, uma charrua puxada por uma junta de bois, quando apareceram na sua frente alguns membros da nobreza, que lhe disseram: - Vamba, o próximo rei dos Godos vais ser tu. Surpreso e incrédulo, Vamba respondeu-lhes: - Eu, rei?! Não é possível! Eu sou um humilde lavrador. Eu só serei rei se esta vara que trago na mão e que vou espetar nesta terra que ando a lavrar, der folhas e frutos!
Como que por um prodígio extraordinário, a vara da oliveira que Vamba espetou na terra ganhou raízes e cobriu-se de folhas e de frutos. Diz, ainda, a lenda que essa árvore prodigiosa foi trazida para Guimarães, para junto da igreja de Santa Maria e que o azeite que produzia servia para alumiar a candeia da Virgem. Mas o tempo foi passando, passando e a oliveira acabou por secar e só voltou a dar folha e fruto quando, em 1342, Pêro Esteves, um comerciante vimaranense residente em Lisboa, ofereceu a Santa Maria uma grande cruz de pedra. Cruz que foi colocada em frente da igreja, por baixo do chamado Padrão do Salado, e, três dias depois,
Largo da Oliveira. Foto de Paulo Pacheco.

46 In, Saavedra, Rosa; Sampaio, Patrícia; Silva, Sónia (2016). “Lendas e Outras histórias de Guimarães”, Guimarães, edição Amiguinhos do Museu Alberto Sampaio S/P. A ilustração do Livro é de Rita Faria
a oliveira murcha, com a presença desta cruz, como que por milagre reverdeceu e o povo gritou: - Milagre! Milagre! Milagre da oliveira! Santa Maria de Guimarães, assim conhecida até 1342, e a quem é atribuído este milagre, logo mudou de nome e passou a chamar-se Santa Maria da Oliveira e a igreja, onde era venerada. Igreja da Oliveira e a praça, Praça da Oliveira. Durante séculos, a oliveira ali esteve e era visitada por muitos peregrinos e soldados que queriam um raminho desta frondosa árvore milagreira para se sentirem protegidos e abençoados pela Virgem da Oliveira. Só que, no ano de 1870, a oliveira foi retirada da Praça, por ordem da Câmara Municipal com o argumento de que impedia a passagem de carruagens. O corte da oliveira fez-se de noite, às escondidas do povo de Guimarães que, quando deu pela sua falta, cheio de tristeza e indignação, correu à torre da igreja e tocou os sinos a defuntos. É que a Câmara tinha matado a sua oliveira! Mas os tempos mudam e as vontades também. E, cem anos depois, em 1985, a Câmara de Guimarães voltou a colocar no seu lugar outra oliveira. Hoje, a oliveira embeleza a praça mais famosa de Guimarães e a pedra que a envolve tem inscritas as três datas mais importantes da sua história: 1342, 1870, 1985.
Também a memória da “árvore sagrada” é relembrada no brasão de Guimarães onde os seus ramos aparecem a envolver a imagem de Nossa Senhora da Oliveira. No Museu Alberto Sampaio, está guardada a lápide, em bronze, que refere a oferta da cruz ao Pêro Esteves, no dia 8 de setembro de 1342. Esta lápide esteve durante muitos séculos junto do cruzeiro.»
O Adarve da Muralha47
Monsenhor José Maria Lima de Carvalho D. Prior da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira
No âmbito das comemorações do DIA UM de Portugal/2019, de 24 de junho, foi inaugurado, no dia 30 do mesmo mês, o adarve da muralha de Guimarães, na sua parte mais extensa, a qual delimita todo o lado poente da avenida Alberto Sampaio. O ato revestiu-se de solenidade condigna e atraiu a curiosidade de boas centenas de vimaranenses. Para o cidadão minimamente conhecedor da nossa história, aquele momento era sentido como despertador a debitar memórias do passado: das origens como povo livre e independente e de esforço e tenacidade dos nossos antepassados em construir, proteger e defender a Nação alicerçada na fé cristã. Ficou aberta aquela passagem pedonal, testemunha certamente, de muitas vigílias e incertezas, face a possíveis ataques inimigos. O percurso, assim requalificado, na nossa opinião e arte, acompanha o interior de toda a muralha, desde a capela da Senhora da Guia até à praça Condessa Mumadona. Pode ser utilizado num e noutro sentido; todavia, de acordo com as palavras do senhor presidente da Câmara, doutor Domingos Bragança, é na direção sul-norte que o caminhante poderá imergir na grandeza do património que, a partir de Guimarães, caraterizou Portugal. O piso do adarve, feito por módulos metálicos, em sequência de subida e, olhando bem em frente, atrai a atenção para a colina sagrada, onde se levanta, imponente, o Paço dos Duques de Bragança, por detrás do qual se encontra a igreja românica de São Miguel e o castelo de Guimarães, conjunto apanhado e protegido por outro pano de muralha, bem conservado também. Olhando para nascente, por entre as ameias, o visitante poderá contemplar o santuário de Nossa Senhora da Penha, qual torre de vigia, assente sobre o pedestal maravilhoso que é a serra de Santa Catarina. Todavia, do lado poente, mesmo aos pés do caminho e quase tangível, apresentam-se quadros preciosos para rememorar as origens e a nossa história local. Tudo, como proclamou a doutora Isabel Maria Fernandes, diretora do Paço dos Duques e do Museu de Alberto Sampaio, no ato da inauguração, obra de duas mulheres, cada uma delas incomparável na sua ordem: Santa Maria e Condessa Mumadona. Naquele chão sagrado do coração do centro histórico, cheio do passado e prenhe do presente, os vestígios arqueológicos e outras verdades documentais são, hoje, expressão eloquente de continuidade da aplicação da herança recebida. A
47 In, jornal O Conquistador, n.º 616, de 24 de janeiro de 2020
igreja da Colegiada, grande, sobretudo a partir da reformulação profunda. Operada por ordem de D. João I, patenteia a devoção de Mumadona ao Salvador do Mundo e a Santa Maria e aos Apóstolos. Objeto de sucessivos restauros, o último dos quais realizado nos anos sessenta-setenta do século passado e, mais recentemente, beneficiado com o restauro do órgão de tubos, retábulo-mor, absides laterais e ainda dos quatro altares das duas naves e consolidação do soalho da sacristia, a igreja da Senhora da Oliveira assume-se, cada vez mais, como ex-libris da Cidade-berço. O Museu de Alberto Sampaio, que foi sede da benemérita Colegiada e residência da figura principal da instituição, o dom prior, guarda o acervo notável do património cultural e artístico que foi possível preservar e, graças à competência, dedicação e empenho das últimas direções e zelo de funcionários(as) seletos(as) vai renovando, ampliando e recriando aquela fonte da história local e da própria Nação.

Foto: Câmara Municipal de Guimarães Continuando a subir pelo adarve, é visto, imponente também, o edifício do Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior com o Patronato de Nossa Senhora da Oliveira. Com muita pertinência, poderá afirmar-se que esta instituição, em boa hora nascida em meados do século XX, graças às negociações e bom entendimento institucional entre a arquidiocese de Braga e o governo da Nação, protagonizados por monsenhor António de Araújo Costa, arcipreste e, mais tarde, dom prior da Colegiada e o ministro das Obras Públicas, engenheiro Eduardo Arantes e Oliveira, ultimamente dotado com novas instalações do Patronato, é a versão atual da Colegiada. Numa área coberta de aproximadamente 1.500 metros quadrados, o Centro Pastoral está aberto à Comunidade e desenvolve especialmente atividade de caráter pastoral, no âmbito da paróquia de Nossa Senhora da Oliveira e do arciprestado de Guimarães e Vizela. Os espaços exteriores falam-nos ainda da vida, alegre e feliz, de cerca de 90 crianças que frequentam as valências do patronato. Mais escondida e
resguardada por um muro antigo, está a Casa da Criança, cujas instalações foram cedidas, em direito de superfície, pela Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira e, agora, profundamente remodeladas e ampliadas pela Associação, então criada, com ajudas substanciais, sobretudo da Câmara Municipal e Segurança Social. O terceiro módulo edificado visto do adarve, também ele carregado de memórias, é a sede do Município e Câmara Municipal. Há aproximadamente cinquenta anos, os serviços da administração local que, antes, funcionavam na casa Martins Sarmento, ao largo do Carmo, foram instalados no antigo convento de Santa Clara. Desde finais do século XIX, neste mesmo edifício, funcionara o Seminário-Liceu, uma das imposições de 1891. No lado norte deste edifício, funcionou simultaneamente o Internato anexo ao Liceu, o qual ainda se manteve ativo, durante algum tempo, após a transferência, no princípio da década de sessenta do século passado, para as instalações atuais, à alameda Professor Abel Salazar, hoje Escola Secundária Martins Sarmento. O convento de Santa Clara serviu também, numa fase posterior, durante algum tempo, de prolongamento da Escola Industrial e Comercial de Guimarães (Escola Secundária Francisco de Holanda) para o ciclo preparatório (EB2) e curso geral do comércio (noturno) com algumas salas. Toda a realidade descrita, abrangida pela muralha e adarve, resume, de facto, um condensado histórico, bem interessante para apreciar e divulgar. Dizem as estatísticas que o Paço dos Duques e o Castelo são os monumentos do Norte mais visitados, tendo atingido a fasquia muito próxima de meio milhão de visitantes/ano. A estes podemos acrescentar a muralha e o adarve. Parece, portanto, que, para além do gesto louvável de a Câmara Municipal permitir a circulação gratuita, algo mais deverá ser pensado que permita aos visitantes levarem, gravadas no seu espírito, tantas memórias que aquele pedaço do centro histórico encerra. Espaço atraente, que é o adarve da muralha afonsina de Guimarães, eis o miradouro a gerar energias para a autoestima mais consistente de ser português.
Florentino Cardoso

A invocação de Nossa Senhora da Lapinha corresponde ao lugar onde, segundo a lenda, terão ocorrido factos extraordinários no início do séc. XVII que determinaram a confiança na intervenção solícita de Nossa Senhora e onde nasceram e se desenvolveram as consequentes práticas de veneração que hoje subsistem. Esse local é o monte da Lapinha, situado na freguesia de Calvos, deste concelho. Este culto expressa-se, fundamentalmente, numa manifestação mariana, piedosa e de penitência, do tipo Clamor e sob a forma de Ronda, muito antiga, extensa e popular, atualmente conhecida simplesmente por «RONDA DA LAPINHA», mas que até meados do séc. XIX era oficial e popularmente referida como «SENHORA-ÀVILA», para designar a viagem que o andor da Senhora fazia todos os anos à então vila de Guimarães. É antiga porque tem as particularidades que lhe são conferidas por uma vivência coletiva que já completou quatro séculos em 2012. É extensa porque desde o Santuário até à Cidade de Guimarães e no regresso por outro caminho atravessa 14 freguesias, fazendo um percurso de 21 quilómetros, o que levou o Arcebispo de Braga D. Jorge Ortiga, em 2012, a conferir-lhe o epíteto de «MEIA MARATONA DA FÉ». É popular porque se exprime na cultura de um povo residente numa área geográfica mais ou menos correspondente à bacia hidrográfica do rio Vizela, desde a milenar freguesia de Cepães, a montante, até à atual cidade de Vizela, a jusante, com as particularidades que os quatro séculos de vivência coletiva lhe conferiram.


Este território onde está implantada a devoção reparte-se por quatro municípios: Guimarães, Felgueiras, Fafe e Vizela. Todavia, enquanto percurso processional, o Clamor-em-Ronda da Lapinha desenvolve-se exclusivamente em território vimaranense, percorrendo 14 freguesias deste concelho, a saber: Calvos, Infantas, Costa, Mesão Frio, Azurém, Oliveira do Castelo, S. Paio, S. Sebastião, Creixomil, Urgezes, Polvoreira, Tabuadelo, S. Faustino e Abação. Em face das suas características religiosas, sociais, culturais e antropológicas, o Clamor-em-Ronda da Lapinha tem a particularidade de ser um evento único no mundo. E se é certo que a competitividade, hoje em dia, passa por apostar naquilo que for simultaneamente autêntico e diferente, então o Clamor-em-Ronda da Lapinha tem todas as condições para se afirmar como um importante produto de turismo cultural e religioso, à semelhança do que acontece, por exemplo, com os chamados Círios da Nazaré. Foi precisamente por encerrarem características equivalentes ou congéneres que em 2014 se implementaram os primeiros passos de aproximação destas venerações marianas, com romagens recíprocas de devotos e a participação dos Presidentes das Câmaras de Guimarães, Nazaré e Alenquer, este último por causa do Círio de Olhalvo. Efetivamente, o conceito de património como uma das componentes fundamentais da cultura tem vindo a afirmar-se num sentido mais amplo, de modo a incluir também as expressões incorpóreas. A crescente valorização do intangível constitui um modo de afirmar a identidade cultural dos povos e, ao mesmo tempo, reagir contra as tendências de homogeneização cultural. O património intangível é uma valência muito importante nos segmentos do turismo cultural e do turismo religioso, porque se tem afirmado uma procura crescente por estas peculiares expressões da cultura local, por parte de um público possuidor de uma certa sabedoria e sensibilidade. A Colegiada de Guimarães é o lugar de destino do Clamor-em-Ronda da Lapinha, em cada terceiro

domingo do mês de junho, há mais de 400 anos, afirmando-se assim de forma indireta, mas não menos importante, a veneração mariana mais consagrada e antiga de Portugal, Santa Maria de Guimarães ou Nossa Senhora da Oliveira. Convém referir que esta manifestação religiosa foi alvo de uma grande campanha de “marketing” religioso em 2012, por se terem comemorado nesse ano os 400 anos do evento, com o registo de que nesse ano Guimarães foi Capital Europeia da Cultura (CEC 2012) e que a sua inclusão na programação deste gigantesco evento foi prometida, mas não cumprida. Apesar de tudo, as imagens impressionantes que atrás se apresentam, e que mostram o Largo da Oliveira e o Largo do Toural apinhados de fiéis e peregrinos, foram colhidas nesse ano.
Nesta imagem ao lado pode ver-se o maestro Rui Massena a dirigir um conjunto de centenas de cantores pertencentes aos diversos coros paroquiais de Guimarães, durante a cerimónia comemorativa dos 400 anos, no Largo do Toural, naquela que foi uma contribuição residual da CEC 2012 para a promoção do Clamor-emRonda da Lapinha. Impõe-se esclarecer que, em 2011, a Irmandade de Nossa Senhora da Lapinha decidiu reeditar uma monografia de Artur Magalhães Leite, sob o título “SENHORA-À-VILA, Quatro Séculos de Fé e Tradição Cultural”, como contributo histórico e etnográfico para a abertura do procedimento de inscrição do Clamor-em-Ronda da Lapinha como Património Cultural Imaterial no sistema de informação MatrizPCI. E para o efeito, apresentou no balcão único de atendimento, em 05/07/2011, um requerimento, registado sob o nº 48768/11, em que pediu à Câmara Municipal que apresentasse uma proposta à Assembleia Municipal para que essa manifestação religiosa fosse declarada como «Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal». Sucedeu, porém, que, em vez disso, na reunião de 28/07/2011 a Câmara Municipal de Guimarães aprovou por unanimidade uma proposta apresentada pela então Senhora Vereadora da Cultura, Drª Francisca Abreu, em que se apoiava «o reconhecimento do Clamor da Senhora-à-Vila ou Ronda da Lapinha e a sua inclusão na lista das manifestações nacionais do Património Cultural Imaterial», decisão esta que foi posteriormente ratificada pela Assembleia Municipal, em reunião de 23/07/2011. Ora, apesar de declarar a vontade de “inclusão na lista das manifestações nacionais do PCI”, a aprovação

da Assembleia Municipal revestiu-se da mais completa inutilidade, uma vez que não declarou o Clamor-emRonda da Lapinha como “património cultural imaterial de interesse municipal”, declaração essa que constituía um requisito formal indispensável para que a Irmandade da Lapinha pudesse dar início ao processo de inventariação junto do Instituto dos Museus e Conservação (IMC). Decorridos que são mais de dez anos sobre esta infrutífera diligência administrativa, ninguém mais tomou a iniciativa de abertura do processo junto do IMC que, recorde-se, nessa época recebeu os pedidos de inventariação do «Dialeto Barranquenho», da «Tauromaquia de Barrancos», da «Bugiada» de Sobrado, em Valongo, e dos «Caretos de Podence», em Macedo de Cavaleiros, que já figuram todos no sistema de informação Matriz PCI e, curiosamente, este último até já alcançou a inscrição como Património Cultural Imaterial da Humanidade na UNESCO. Escrevem-se estas linhas para sensibilizar os agentes responsáveis para a importância que tem, cada vez mais, a identificação rigorosa da riqueza e diversidade do nosso património imaterial e da sua proteção, e para sugerir que a decisão da Assembleia Municipal de 23/7/2011 seja revertida no sentido de reconhecer e declarar o Clamor-em-Ronda da Lapinha como PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL DE INTERESSE MUNICIPAL e, assim, possibilitar que os agentes com legitimidade para o efeito (Câmara Municipal e Irmandade) procedam à abertura do procedimento de inscrição no sistema de informação Matriz PCI.
SENHORA-À-VILA
Lá da encosta da serra, por caminhos só conhecidos de algum bom pastor, vinha a Senhora à vila, em seu andor, cheirando a alfazema e a rosmaninhos.
Com ela vinham todos os vizinhos da sua igreja; e, a tocar tambor, homens rudes, cobertos de suor, e outros amortalhados, por anjinhos … Ao chegar cá baixo, que alegria! Tão moreninha em seu amor sorria, e o seu sorriso um doce enlevo tinha!
Repicam os sinos fortemente, e sempre à volta dela toda a gente implorava: Senhora da Lapinha! …
Jerónimo de Almeida
O Sermão do Pelote
Equipa redatorial
A Festa do Pelote comemorava-se anualmente em Guimarães, em 14 de agosto. A celebração visa recordar a batalha de Aljubarrota, que marcou a independência de Portugal face a Castela, após a crise de 1383-1385. Com efeito, para além da fundação da nacionalidade e início das conquistas, com D. Afonso Henriques, a cidade de Guimarães está também intimamente ligada às lutas de independência e ao Mestre de Avis. De facto, D. João I tinha uma profunda devoção pela Senhora de Guimarães e aqui terá estado várias vezes como romeiro, uma delas antes da batalha de Aljubarrota, em 1385, na qual se terá encomendado à Senhora da Oliveira e pedido proteção. Deste modo, após a batalha, o rei veio a Guimarães agradecer a vitória e depor as suas armas no altar da Senhora da Oliveira, afirmando:
“Vós, Senhora, mas deste, vós as tomai e guardai.
Assim, entre outras oferendas, como o “Tríptico da Natividade”, o rei deixou na
Loudel ou Pelote de D. João I, patente no Museu Alberto Sampaio; Foto de Luís Peixoto Colegiada a lança e o pelote (peça de vestuário de linho acolchoado com lã, que se usava como proteção, por baixo da armadura). Ora, é este pelote (loudel ou laudel), ainda hoje conservado no Museu Alberto Sampaio, que tradicionalmente era colocado

num dos arcos do Padrão da Senhora da Vitória (ou Padrão da Oliveira), construído no reinado de D. Afonso IV.
Porém e embora esta tradição da Festa do Pelote relembre sobretudo a recuperação da independência no século XIV, a comemoração está também intrinsecamente conectada com a restauração da independência, no primeiro de dezembro de 1640, e os cerca de 60 anos do domínio espanhol e filipino. Com efeito, em 1638, cerca de dois anos antes deste marcante episódio histórico da restauração da independência, o franciscano Frei Luís da Natividade, guardião do Convento de S. Francisco, em Guimarães, seria o orador do célebre Sermão do Pelote, que era costume proferir em 14 de agosto. E assim diria corajosamente aos presentes, há mais de 380 anos atrás, perante as autoridades espanholas, apontando solenemente em direção ao pelote roto, pobre, esfarrapado e alanceado, diria:
“Para bem saberdes quão perdido temos o reino, olhai para este retrato dele e vê-lo-eis bem pintado (…) O Reino que nessa roupa do invicto Senhor D. João nosso rei dedicou e sujeitou à Virgem da Oliveira, quando o vedes em tal estado, nele vedes também qual esteja o Reino. Vejo-vos, pelote, velho e roto: vejo-vos atravessado com a vossa própria lança (…) Só me resta para consolação ver-vos diante da Virgem da Oliveira, que se uma vez vos livrou da morte, vos pode ainda ressuscitar a nova vida” O pelote era assim usado, em linguagem metafórica e revolucionária, como um símbolo de um país roto e velho que carecia de fazer ressurgir e levantar novamente os seus valores da liberdade de outrora. Um país que necessitava de rejuvenescer, como acontecera em 1342 aquando do milagre da oliveira, que apesar de ressequida voltaria a ficar viçosa. Por isso, acrescentaria:
“ainda pode haver vida para vós, ainda pode haver século florente, e tornardes neste a reverdecer, como essa (oliveira) reverdeceu ficando duzentos e cinquenta anos a esta parte sempre verde (…) Mas se quereis que viva, floresça, seja sempre verde, conservai-lhe a esta oliveira as suas folhas, sua autoridade, seus foros, suas liberdades, seus privilégios (…).” Frei Luís da Natividade não podia ser mais direto neste sermão do pelote, autêntico símbolo e pretexto de pregação visionária da libertação e restauração da independência, que não tardaria.
Camilo Castelo Branco consideraria (mesmo) que este “Retrato de Portugal Castelhano” – assim seria intitulada a pregação, era “o melhor sermão em português que conhecia”.
Histórias da nossa história: a tomada de Guimarães
Álvaro Nunes
Por essa altura o Mestre de Avis estava no Porto. Corria a primavera de 1385 e o ambiente não poderia ter sido melhor, quando o Mestre de Avis chegou a Gaia. Naus embandeiradas no rio Douro, ramos e flores nas estradas, pavimentos das ruas atapetados de flores e panos e mantas ornamentando as janelas. Aqui e além havia ainda bandos de mulheres que cantavam cantigas em louvor d’El Rei, que nas cortes de Coimbra fora aclamado Governador e Defensor do Reino, graças à notável defesa da causa do Mestre de Avis por parte do especialista em leis, doutor João das Regras, prior da Colegiada de Guimarães.
- Viva El-Rei D. João, viva! - Bibó Porto! Bibó o Porto – eram as vozes que ecoavam por toda a cidade.
Porém, na vila de Guimarães, que o Mestre de Avis tanto amava como berço da nação e devoção por Santa Maria da Oliveira, o alcaide Aires Gomes da Silva continuava fiel a Dª. Beatriz, filha do falecido rei D. Fernando, casada com D. João de Castela. Na altura Guimarães era forte e bem defensável, pois além da muralha exterior que envolvia o seu núcleo central, tinha duas vilas, separadas por uma muralha transversal, que comunicavam entre si pela porta de Santa Bárbara: a Vila de Cima ou do Castelo e a Vila de Baixo ou do Mosteiro. Cuidou então o D. João de traçar um plano para tomar Guimarães. E as informações recolhidas não podiam ser melhores. De facto, entre as gentes da Vila de Baixo, vários seriam os simpatizantes e partidários da causa do Mestre de Avis, entre os quais se destacavam os escudeiros Afonso Lourenço de Carvalho e Paio Rodrigues, homens valentes e respeitados na Vila de Baixo, que conheciam como ninguém as rotinas e fraquezas da Vila de Cima. Assim, num encontro secreto com D. João, o plano de conquista seria então traçado e dias depois, no início do mês de maio, tudo estava em marcha.
Cerca de 300 cavaleiros e alguns homens apeados chegaram então pela calada da noite, na data marcada, ocultados na Veiga de São Redanhes, onde já Afonso Lourenço os esperava, daí partindo em silêncio e sorrateiramente até ao vale da Devesa ou de Santa Maria, a cerca de três tiros de besta de distância das muralhas. Entretanto, o escudeiro Paio Rodrigues cumpria a sua parte do plano junto de João Azedo, porteiro responsável pelas chaves da Porta do Postigo, uma das sete portas da muralha exterior. De facto, o escudeiro tinha convencido o porteiro a abrir as portas das muralhas bem cedo, para entregar uma cuba de vinho num carro, sem ninguém ver. Assim, levado ao engano, mal a porta foi aberta, o porteiro seria preso e os homens de Paio Rodrigues entrariam dentro das muralhas. Pouco depois, já ao alvorecer, chegariam as tropas de D. João, conduzidas por Afonso Lourenço, que ocupariam a Vila de Baixo. No entanto, momentos depois, o alerta seria dado. Um escudeiro do alcaide, que se levantara cedo para ouvir missa na Capela de S. Miguel do Castelo, sentiu trotes estranhos de cavalos e avistou homens desconhecidos junto às muralhas. E o grito de alarme soou:
Entrada nas muralhas, ilustração de SAL

- Por Castela, por Castela! Por Santiago! - Por Portugal, por Portugal! Por S. Jorge! – replicariam os homens de D. João, que avançavam sob o comando do fidalgo João Rodrigues de Sá.
O escudeiro do alcaide acabaria por cair morto com um golpe de Afonso Lourenço. Porém, apesar de terem penetrado na Vila de Baixo, o efeito de surpresa fora quebrado e a resistência dos homens do Castelo já se tinha organizado em torno da segunda cerca, sob o comando de Álvaro de Tor de Fumos. D. João propôs então ao alcaide, para evitar mais mortes, uma rendição negociada e honrosa, que seria recusada. Com efeito, o alcaide havia empenhado a sua palavra na defesa da Vila de Cima e não poderia faltar ao prometido, nem queria contrariar a sua esposa castelhana, D. Urraca Tenório. Então D. João ordenou aos seus trazer do Porto engenhos e armas para combater o alcaide. Novos
ataques violentos seriam então travados, usando-se escadas de madeira, ou lançando-se fogo às portas de defesa, que os do Castelo apagavam com água de grandes cubas e procuravam responder, atirando grandes pedras sobre as tropas de D. João. Momentos de tréguas e lutas se seguiriam por alguns tempos até à rendição de Aires Gomes da Siva, que o rei de Castela havia desobrigado do dever de vassalagem, por não poder socorrê-lo atempadamente. Decorria então já o mês de junho e a festa da conquista da paz e da vitória fazia-se em Guimarães, na Vila de Baixo, junto à Igreja de Santa Maria da Oliveira. Mas, durante o arraial, El-Rei veio ainda a saber do romance (às escondidas) entre Fernão Lourenço, irmão mais novo de Afonso Lourenço e a bela e jovem Inês Aires, sobrinha do alcaide. Deste modo, como prova da sua bondade, concedeu então à linda Inês os bens de seu tio e ele próprio se ofereceu para a levar ao altar no dia do casamento. Assim, no dia em que a muralha de separação entre as duas vilas foi destruída, realizou-se o enlace de Fernão e Inês, na Igreja da Oliveira, ligando as duas vilas por laços do amor. A Igreja não conseguiu albergar quantos queriam assistir ao matrimónio. E a cerimónia a todos emocionou! D. João dava o seu braço a Inês e fazia-se seguir de todos os seus homens e escudeiros. Entre o povo, havia quem chorasse de alegria e grande era o alarido da multidão. Então a festa saltou para a rua, com os sinos a repicarem hinos de regozijo aos noivos e às duas vilas unidas. E a diversão prolongou-se, noite fora, com danças e cantares, enquanto, na Praça de Santiago, se assava um vitelo e corria o verde branco e o verde tinto, entre as goelas que bebiam e gritavam:
- Vitória! Vitória! Vitória! - Viva D. João, Rei de Portugal!
O rei D. João voltaria a Guimarães, meses depois, após a vitória na Batalha de Aljubarrota, travada em 14 de agosto de 1385. Uma celebração que ainda hoje se comemora na cidade vimaranense …
Mas a leitura dos livros “D. João I e Guimarães” de Rosa Maria Saavedra e/ou “Guimarães, a vila de D. João I” de J. Santos Simões, que a todos se recomenda, vos dirão mais sobre este período histórico.
Os antigos Paços do Concelho
Túlia Machado
Guimarães, cidade histórica carregada de simbolismo como Berço da Nacionalidade, tem sabido preservar o seu património de forma exemplar no que respeita à articulação entre o passado e o presente. Os inovadores métodos de excecional preservação do património do Centro Histórico de Guimarães valeramlhe a inscrição na lista do Património Cultural da Humanidade pela UNESCO, a 13 de dezembro de 2001.
Na zona mais antiga do Centro Histórico de Guimarães sobressai, em importância, a antiga Casa da Câmara, com a sua fachada principal voltada para a Praça da Oliveira, outrora Praça Maior (Carvalho, 1949: 161-162), inserindo-se, já na Baixa Idade Média, no centro vital do burgo vimaranense. Com efeito, até ao século XIX, a Praça da Oliveira foi designada por Praça Maior da Vila de Guimarães por nela se concentrarem os três poderes: o político e judicial, ambos com sede na sua casa da Câmara e das Audiências, e o religioso, com sede na Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira (Azevedo, 2000: 311-312). Símbolo material do poder concelhio e da sua capacidade de decisão, a construção deste edifício público foi um projeto acarinhado pelo povo de Guimarães ao longo da Idade Média.
Inicialmente, nos séculos XIII e XIV, não havendo edifício próprio para as reuniões, os homens do concelho reuniam no claustro da Igreja de Santa Maria (Braga,1992:5), no adro das igrejas de S. Paio, S. Tiago e S. Miguel ou na Praça de Santa Maria (Ferreira, 1989: 40, nota Nº60; 62, nota Nº122) à semelhança do que acontecia no resto do país. Sobre este assunto, Mattoso afirmou que: “Ao contrário do que acontece a partir do século XIV, são raros ou mesmo inexistentes os edifícios da Câmara Municipal. A reunião da assembleia é ainda uma realidade efetiva, Fachada principal dos antigos Paços do Concelho – Largo da Oliveira

e por isso o local referido nos documentos desta época é um espaço aberto: uma “praça do concelho”, um carvalho, o exterior da igreja junto a uma das suas janelas, o adro da igreja ou um claustro” ((Mattoso, 1993: 228). Porém, no último quartel do séc. XIV, no contexto da crise de 1383-85 em que, ao contrário da Vila Baixa, o Alcaide da Vila do Castelo tomou a voz por Castela oferecendo resistência ao Mestre de Avis, D. João I alterou esta situação ao ordenar a destruição da cerca da Vila Alta ou Castelo e a construção de uns primitivos Paços Municipais na Vila Baixa ou de Santa Maria entregando-lhe a liderança política. Daí em diante, as duas vilas incorporaram “um só povo e um só concelho - Guimarães” (Ferreira, 2010: 73). É, pois, a partir de 1384 que temos notícia da existência de um edifício próprio onde se celebravam as reuniões da vereação (Ferreira, 1989: 62, nota Nº 122) entre a Praça de Santa Maria da Oliveira e o adro de S. Tiago (Ferreira, 2010: 323) desconhecendo-se qual seria o seu aspeto. De qualquer modo, a construção prolongouse pelo século XV pois, segundo Alfredo Guimarães, no reinado de D. Afonso V ainda se lançavam fintas, isto é, ainda se cobrava o imposto voluntário para a sua conclusão (Guimarães, 1940: 102).
Em 1516, a Casa do Concelho devia ser tão modesta que os juízes, homens bons e oficiais da Vila de Guimarães pediram ao rei D. Manuel I uma nova Casa do Concelho “porque a que tinha era a pior do reino e muito desbaratada” (Braga, 1992: 7). O pedido foi deferido nesse mesmo ano e os trabalhos iniciam-se rapidamente. O edifício dos Paços Municipais então existente, com a Casa da Câmara a ocidente e o Paço do Concelho, onde se faziam as audiências, a oriente, já era muito semelhante ao atual com os elementos manuelinos visíveis sobretudo nos merlões e ameias, esferas armilares e escudos reais. O rei D. Manuel I, ao liberalizar o uso de elementos de arquitetura exclusivamente militar, como os merlões e ameias que coroaram o edifício, nobilitou paços concelhios e edificações privadas. O alpendre dos Paços Municipais, sustentado Antigos Paços do Concelho – fachada da Praça de S. Tiago em arcadas góticas, permitiu a circulação entre as praças da Oliveira e de Santiago, articulando entre si os dois polos cívico e económico de Guimarães assumindo, assim, um carater regulador de singular importância.
No século XVII, por ameaçar ruína, o edifício é reconstruído quase na totalidade pelo arquiteto João Lopes de Amorim, tendo-se assinado o contrato para se dar início às obras, em 1628. Mais tarde, em 1674, o


mau estado em que os paços se encontravam novamente obrigou as vereações a mudarem-se para a Misericórdia fazendo-se importantes obras que incluíam um acrescento com os seus dois arcos para o lado da praça de Santiago. (Braga,1992: 8, 156, 222).
No cunhal do lado direito da fachada principal para a rua dos Açoutados, que liga a Praça da Oliveira à Praça de Santiago, tem um contraforte com a inscrição epigráfica que comemora o voto de D. João IV pela Imaculada Conceição da Virgem Nossa Senhora, proclamada Padroeira de Portugal em 1646 (Caldas, 1996: 425-426). A 30 de junho de 1654, o rei D. João IV mandou colocar inscrições iguais a esta em todas as portas e entradas das cidades e vilas do reino e noutros lugares públicos, traduzindo a sua devoção pela Virgem declarando este reino seu feudatário (Pimentel, 1899: 244-246). Foto abaixo.
No século XVIII procedeu-se ao primeiro verdadeiro restauro do edifício fazendo algumas alterações: as janelas foram refeitas e, sobre elas, colocados os escudos e as esferas armilares que se encontravam por baixo das ameias. No século seguinte, uma reforma de modernismo veio alterar novamente a fachada: as esferas armilares e escudos mudaram de posição ocupando os seus lugares atuais e, tanto o relógio de sol como o sino de recolher foram retirados. Em 1877, no lugar da sineira, foi colocada uma escultura em pedra simbolizando a cidade de Guimarães, proveniente do edifício da Alfândega demolido no ano anterior. (Caldas, 1996: 424).
No século XX, por Decreto de 16-06-1910, os Paços Municipais (antigos) de Guimarães são considerados Monumento Nacional (Catálogo, 1973:27). Com o Estado Novo, o edifício foi dotado de utilidade pública, nele se instalando o Arquivo Municipal (criado em 1931) e, posteriormente, as sedes da Biblioteca Calouste Gulbenkian, do Museu de Arte Primitiva Moderna, da Delegação do Turismo Porto e Norte de Portugal e, a partir de 4 de junho de 2021, da sede de três instituições: do Consulado Honorário do Cazaquistão para o Norte e Centro de Portugal, da Associação de Jovens Empresários e do Espaço Dedicado à Diplomacia Económica da Câmara Municipal de Guimarães.
Os antigos Paços do Concelho são um exemplar de arquitetura municipal, de planta retangular, apoiado em arcos quebrados que sustentam o piso superior. O piso térreo, ou alpendre, é delimitado pelos
Contraforte com placa em honra da Imaculada Conceição

arcos quebrados criando um espaço inferior aberto que permite a comunicação entre as Praças da Oliveira e a de Santiago. Debaixo do alpendre, situa-se a porta de entrada que dá acesso às escadas que conduzem ao piso superior com duas salas, uma das quais com teto polícromo. Este andar nobre tem na fachada principal, voltada para a Praça da Oliveira, uma varanda corrida, de ferro, apoiada em cachorrada, com cinco janelas de sacada encimadas por frontões triangulares interrompidos por dois escudos reais e três esferas armilares. Ao longo da cornija, acompanhando toda a fachada, corre uma fiada de merlões chanfrados. De salientar ainda as gárgulas de granito para escoamento das águas pluviais. No centro, a encimar a fachada principal, destacase a icónica escultura em pedra simbolizando Guimarães.
Após 1974, a visão monumentalista do Estado Novo dá origem a um novo conceito de património e novos modos de intervenção levados a cabo pelo município com o contributo de várias individualidades e instituições públicas e privadas. Foi sobretudo a partir de 1983 que a ação reabilitadora partindo, metodologicamente, da requalificação dos espaços públicos e da recuperação dos edifícios municipais, cedendo a sua forma a novas funções, bem como a ações de renovação da construção privada, tornou o centro histórico vivo, habitado e fruído.
Surpreendente é a notável relação do edifício dos antigos Paços do Concelho com o espaço envolvente. Sente-se um ambiente heterogéneo, harmonioso e cenográfico onde a alpendrada une as duas praças como se uma fosse o prolongamento da outra, estimulando um sentimento de partilha. Esta galeria e a contígua da Pousada da Oliveira mostram a compatibilização entre a forma e a função, ao permitir a passagem Alpendre dos antigos Paços do Concelho e vista parcial do Largo da Oliveira pedonal e ao estimular atividades como o serviço à mesa, que se estende para além da galeria pelas esplanadas das duas praças adjacentes. Estar aqui é impossível ficar indiferente porque, embora surpreendendo pelo passado, há contemporaneidade. As cidades atuais necessitam de se valorizar como espaços de relações, fornecendo lugares de grande qualidade para a partilha e interação humana. É por isso que a cidade de Guimarães quer ser mais, quer dar mais aos seus e aos que a visitam.

Referências bibliográficas
Azevedo, Padre Torcato Peixoto de, Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães, 2ª ed. Guimarães, 2000. Braga, Alberto Vieira, Administração Seiscentista do Município Vimaranense, Edição da Câmara Municipal de Guimarães, fac-simile da edição de 1953, Guimarães, 1992. Caldas, Padre António José Ferreira, Guimarães, Apontamentos para a sua História, 2ª ed. Guimarães, 1996. Carvalho, A. L. de, Antigamente, Guimarães, 1949. Catálogo dos Imóveis Classificados – Monumentos Nacionais e Imóveis Classificados, Junta Nacional da Educação e Direção-Geral dos Assuntos Culturais, Lisboa, 1973 Ferreira, Maria da Conceição Falcão, Uma Rua de Elite na Guimarães Medieval, (1376-1520), Guimarães, 1989. Ferreira, Maria da Conceição Falcão, Guimarães: “Duas vilas, um só povo” - Estudo de história urbana (1250-1389), Braga, 2010. Guimarães, Alfredo, Guimarães, Guia de Turismo, Guimarães, 1940. Mattoso, José, A Monarquia Feudal (1096-1325), Os Concelhos. In: História de Portugal, vol.2, Editorial Estampa, Lisboa,1993. Pimentel, Alberto, História do Culto de Nossa Senhora em Portugal, Lisboa, 1899.
Entidades no Centro Histórico
Silvestre Barreira Fotografias de Secundino Ferreira

O interior da vila muralhada foi o centro de toda uma comunidade em que se desenvolveram inúmeras actividades, geradoras de entidades dos mais variados sectores – da economia à solidariedade social, da cultura à religião. Algumas são muito antigas (a Santa Casa da Misericórdia existe há mais de cinco séculos), mas todas se mantêm em actividade desde que o Centro Histórico foi consagrado pela UNESCO Património Cultural da Humanidade. Vamos localizá-las de Sul para Norte a partir da Colegiada.
A casa da Senhora Aninhas
A Senhora Aninhas natural de Quinchães, Fafe, era uma mulher simples de formação popular, condizente com a sua vida modesta. O primeiro emprego foi no Palácio dos Condes de Margaride, no Largo do Carmo. Aí experimentou o que era a deslocalização, que a motivou para a forma carinhosa como tratava os estudantes (“os seus meninos”). Mais tarde, já casada, viveu na Rua de Santa Maria, nº 57, em que estabeleceu o seu pequeno negócio no rés-do-chão, sendo o 1º andar a sua moradia. Localizava-se muito próximo do Internato Municipal, depois Liceu, o que lhe permitia, a todas as ho-Casa onde viveu a Senhora Aninhas
ras do dia, o contacto fácil com grupos de estudantes que acarinhava, protegia e apoiava. Ao longo de várias gerações de estudantes contribuiu com a sabedoria de experiência feita para que a Festa Nicolina fosse vivida em alegre fraternidade. A senhora Aninhas ganhou por justiça, reconhecida por

gerações de nicolinos, um espaço no seu coração e ainda a condição de Madrinha ou Mãe, quantas vezes amiga, conselheira e educadora. Foi uma referência para os jovens que marcaram uma época e que deixa transparecer uma aura de mito e saudade. Por tudo isto os estudantes revelaram para com a Senhora Aninhas um sentimento de gratidão. E se, para ela, eles eram os seus meninos, para eles, ela era a sua mãe, fazendo em sua homenagem passar à sua porta o Cortejo do Pregão que era e é aí declamado.
Torre dos Almadas
AAELG/Velhos Nicolinos
A Torre do morgadio dos Almadas era uma de várias instaladas em habitações de nobres e burgueses, em vários locais da vila. Situada no largo da Tulha, existe ainda num gaveto da rua da Rainha. O casario envolvente, que a separava da antiga rua Sapateira (rua da Rainha) foi demolido, libertando uma fachada completamente reinventada pelo historiador, escritor e urbanista Luís de Pina. Actualmente nela está sediada a Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães/Velhos Nicolinos, cujo termo de cedência foi deliberado, em Assembleia Geral, pelo município, em 18 de Outubro de 1967, e a sua instalação teve lugar a 29 de Novembro de 1968, em cerimónia que precedeu a realização da 8ª Assembleia Geral. É a herdeira da ASSOCIAÇÃO ESCHOLÁSTICA VIMARANENSE, criada em 1837 por um grupo de Nicolinos que aprovaram os seus estatutos e definindo claramente quem é o Nicolino e o desempenho dos Nicolinos na organização das Festas. Acabaria em finais do século XIX.
Albergue de S. Crispim
Fica situado numas casas ao fundo da capela de S. Crispim, na travessa do mesmo nome. Foi instituído, no ano de 1315, pelos mestres sapateiros João Baião e Pedro Baião, que legaram todos os seus bens e herdades à irmandade do Anjo e de S. Crispim com o encargo de fundar e
Torre dos Almadas

administrar o mesmo albergue…. Dá pousada e lenha por três dias aos pobres passageiros e uma ceia de bacalhau cozido com batatas, pão e vinho a qualquer número de pobres, que ali se apresentem na mesma véspera de Natal...
“Esta tradição mantem-se actualmente com a oferta da ceia de Natal” a qualquer número de pobres, que ali se apresentem”.
Santa Casa da Misericórdia
Instituída em 1511, teve a sua primeira sede na Capela de S. Brás, na igreja da Colegiada. Por provisão régia dada em Lisboa, em 4 de Janeiro de 1602, são-lhe concedidas todas as graças, privilégios e liberdades que pelos Reis de Portugal tinham sido atribuídos à sua congénere daquela cidade. Em 31 de maio 1588 é lançada a primeira pedra do edifício situado na Rua Sapateira, hoje Rua da Rainha D. Maria II, para instalação da Misericórdia, onde hoje se situa a sua sede. Durante os mais de 500 anos da sua história tem desenvolvido uma notável obra de solidariedade para com os mais desfavorecidos e idosos nos seus cinco lares e outras valências sociais, bem como cuidados de saúde implantados no edifício reestruturado do seu antigo hospital. Actualmente diversificou a sua actividade cultural com realizações diversas, para além dos concertos musicais aumentando os eventos. A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães tem personalidade jurídica canónica, cujo fim é a prática das Obras de Misericórdia e personalidade jurídica civil com o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social, desenvolvendo a sua actividade enquadrada pelas normas e directrizes do Instituto da Segurança Social, IP.

Casa de Recolhimento das Trinas
O Recolhimento das Trinas, ou das Merceeiras, situado na rua de D. Luiz I, antiga rua do Gado, da cidade de Guimarães, foi instituído em 1653 pelo Dr. Paulo de Mesquita Sobrinho, desembargador da Relação Eclesiástica de Braga, por escritura celebrada entre o instituidor e a Mesa da Misericórdia.
Para além de “por ele louvassem a Nosso Senhor, e lhe dessem as graças das mercês que lhe tinha feito,
e suprissem as suas faltas, … que o fosse também por algumas mulheres devotas com suas orações e rosários, para cujo enfeito estava contractado com o dito Provedor e Irmãos da dita Santa Casa da Misericordia que, para isso houvesse seis mulheres que vivessem juntas em Recolhimento, em habito honesto, as quaes viessem juntas todos os dias ouvir missa a esta egreja da Santa Misericordia”. Actualmente recebe cidadãos com necessidade de protecção internacional.

Associação Comercial e Industrial de Guimarães
Em Julho de 1865, foi decidido por um grupo de comerciantes a criação da Associação Comercial de Guimarães para servir os seus interesses, cujos estatutos foram aprovados a 3 de Outubro por alvará régio e alterados em 1922 para incluir a Indústria, passando a designar-se Associação Comercial e Industrial de Guimarães.
A partir de então, desenvolve uma actividade intensa, destacando-se a proposta da criação de uma Escola Profissional, que se vem a concretizar em 13 de Fevereiro de 1884 com a fundação da Escola Industrial Francisco de Olanda. Por acção da ACG foi instalada uma Oficina de aprendizagem, dotado das mais avançadas técnicas da indústria.
Esta preocupação com a “aprendizagem profissional” manteve-se culminando com a criação da Escola Profissional Cisave e inúmeras acções de formação. Em 1923 organiza a Exposição Industrial e Agrícola, cuja promoção ultrapassou fronteiras.

A sua situação financeira foi-se degradando na última década, tendo sido declarada a insolvência pelo Tribunal de Comércio de Guimarães, em 30 de Outubro de 2019. Assim chegou ao fim da sua história, ao cabo de 155 anos, depois de grandes e relevantes serviços prestados à comunidade vimaranense, pelos quais, em 1991, foi agraciada pelo Município com a Medalha da Cidade em Ouro.
Casa dos Coutos
Tribunal de Relação de Guimarães
Construção mandada reedificar pelo arcebispo de Braga, Dom José de Bragança, para sua residência, num período conturbado de sé vacante, em que assumiu a administração do episcopado, tendo permanecido em Guimarães, de 10 de Dezembro de 1746 a 1749. Em 1855 é instalado neste edifício um hospital para clérigos, que funcionou até Novembro do mesmo ano. Posteriormente, o imóvel foi vendido à família dos Coutos tendo ficado conhecida desde então pela "Casa dos Coutos". Em 2002, é criado o Tribunal da Relação de Guimarães que aqui ficou instalado

Casa de Sarmento. Francisco Martins Sarmento vivia na sua residência do Largo do Carmo, construída em meados do século XIX e beneficiada ao longo dos anos com sucessivos melhoramentos que lhe conferiram o aspeto imponente e desafogado que ainda hoje possui. Neste palacete, Martins Sarmento recebia os amigos e organizava eventos recreativos, tais como soirées e festas temáticas. Entre 1931 e 1934 o Arquivo ocupou o segundo andar da Casa de Martins Sarmento Aí se instalaram e desenvolveram a sua actividade a Câmara Municipal e a Repartição de Finanças. Depois acolheu a UNAGUI - Universidade do Autodidacta e da Terceira Idade.
Actualmente, nela está instalada a Casa de Sarmento, uma Unidade Diferenciada da Universidade do Minho, fundada em 2017, suportada num protocolo que a Universidade celebrou com o Município de Guimarães e a Sociedade Martins Sarmento. Dos seus objectivos destacam-se: - A promoção da cooperação da Universidade do Minho com a comunidade em geral, e a vimaranense em particular; - O desenvolvimento de actividades de índole cultural;

- O enquadramento de projectos de investigação no âmbito dos estudos sobre o Património e a História Local; - O estabelecimento de acções de cooperação científica e captação de financiamentos com instituições nacionais e internacionais. - A realização de acções de formação em áreas pertinentes para os objectivos específicos da Unidade; - A recolha, tratamento e disponibilização de fundos documentais relacionados com o património e a história local;
Asilo de Santa Estefânia
Em 25 de Maio de 1858, festejava a Sociedade Recreativa Vimaranense o casamento do Rei D. Pedro V com a rainha D. Estefânia na Casa dos Pombais, quando Francisco António de Almeida lança a ideia da criação de um asilo para socorrer “a compungente nudez com que a imensidade de inocentes dorme no rigor das estações, sem abrigo, sem vestuário, sem sustento e sem educação”, propondo para sua protectora a rainha e que se chame Asilo de Santa Estefânia. As comissões promotoras do Asilo informam os reis da sua criação e pedem-lhes a sua aprovação enviando o requerimento às Cortes para a cedência do

Convento de S. José do Carmo. Este pedido é aceite e, por Decreto Régio, cedido para os fins propostos. É inaugurado em 16 de Julho de 1863, acolhendo em 28 de Maio do ano seguinte as primeiras seis meninas. Em 31 de Maio de 1890 é confiada a sua administração às Irmãs de S. José, substituídas pela República por “pessoas de bons costumes e com capacidade” e, mais tarde, pela Congregação Religiosa Amor de Deus. O Asilo acaba por tomar a denominação de Santa Estefânia e, em 1975, é criado nas suas instalações um Jardim de Infância.
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
A criação do Arquivo Municipal é uma consequência da Lei da Separação do Estado das Igrejas, de Abril de 1911, promulgada pela República recém-implantada. Esta situação levou à preocupação de preservar o arquivo da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira e a sua conservação em Guimarães. Na sequência de diligências feitas junto Governo é solicitada informação sobre as condições que a Sociedade Martins Sarmento tinha para receber e conservar em exposição os objectos de valor histórico e artístico correspondente ao cha-

mado Tesouro da Colegiada de Guimarães. A Delegação da Procuradoria da República, em Guimarães, a 28 do mesmo mês, autorizou a entrega dos móveis de carácter histórico ou artístico arrolados nos edifícios das extintas congregações religiosas da cidade. O Arquivo só nasceria em 1931, através decreto nº 19.952, de 27 de Junho, em que se referiam as condições de instalação, conservação, tratamento de documentos originários das entidades extintas a serem seguidos pela Sociedade Martins Sarmento.
Para seu Director foi nomeado, por portaria de 22 de Dezembro de 1931, o 2.º conservador do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Dr. Alfredo Pimenta, que daria o nome ao Arquivo Municipal como homenagem ao trabalho por ele realizado nos 20 anos em que exerceu funções. Entretanto, por dificuldades desta Sociedade, o Arquivo ocupou o segundo andar da Casa de Martins Sarmento, entre 1931 e 1934.
Seria novamente mudado em 1934, devido à ocupação do edifício, devido à ocupação do espaço pela Câmara Municipal de Guimarães e pelos Serviços de Repartições de Finanças. O Arquivo mudou-se para os Antigos Paços do Concelho, no Largo da Oliveira, onde, a 14 de outubro de 1934, se assistiu à sua abertura solene. Por razões de segurança, em 1963, o Arquivo foi transferido para algumas dependências do Convento de Santa Clara, e, posteriormente, para a sua Capela. No âmbito do Programa de Apoio à Rede Nacional de Arquivos Municipais (PARAM), do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, foi este arquivo comparticipado financeiramente para a sua instalação em edifício já existente denominado de Casa Navarros de Andrade, inaugurado no dia 24 de Junho de 2003. Com a adaptação da Casa Navarros de Andrade a arquivo resolveu-se uma das preocupações mais prementes, a salvaguarda, preservação e acesso à nossa memória colectiva.
Convento de Santa Clara
Em 1548, foi fundado pelo cónego Baltazar de Andrade, mestre-escola da Colegiada de Nossa Senhora de Oliveira, com a condição das suas filhas, freiras professas em Santa Clara de Amarante, virem a ocupar o abadessado "in perpetuum" e dotou o Mosteiro de estatutos, proibindo, entre outras coisas, que as freiras soubessem ler ou escrever, à excepção de duas delas. O convento, instituído por bula papal de 1559, receberia três anos depois, as primeiras religiosas. Em 1834, no âmbito da "Reforma geral eclesiástica" empreendida pelo Ministro e Secretário de Estado, Joaquim António de Aguiar, foram extintos todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e casas de religiosos de todas as ordens religiosas, ficando as de religiosas, sujeitas aos respetivos bispos, até à morte da última freira, data do encerramento definitivo. Em finais do século XIX, para aqui foi transferido o seminário que daria lugar ao Liceu de Guimarães que funcionou até finais da década de sessenta do século XX. O Internato ainda perdurou por mais algum tempo, sendo ocupado pelo Ciclo Preparatório. Hoje, está instalada neste edifício a Câmara Municipal.
Convento de Santa Clara, Aguarela de Vasco Carneiro

Emília Ribeiro
Ler uma inscrição assim em latim, emoldurada em calçada portuguesa aos pés de quem calcorreia o centro urbano de Guimarães, Património da Humanidade, comemorando o seu vigésimo aniversário, é também uma forma diferente de viajar no tempo, em plena Praça de Santiago. Ficarão a saber, pela tradução desta frase roubada ao foral do Conde D. Henrique que deu origem à povoação, em 1096, "A vós homens que viestes povoar em Guimarães e àqueles que aqui quiserem habitar", que a mensagem não é dirigida a visitantes ou turistas acidentais, mas aos habitantes desta terra, de quem se diz não serem cidadãos iguais aos outros. Não foi ao acaso que o arquiteto Fernando Távora (1923-2005), com laços familiares a Guimarães, terra que considerava também sua, decidiu inscrever esta frase numa das praças do centro da cidade, de cujo restauro se ocupou desde 1980, aquando da elaboração do Plano Geral de Urbanização de Guimarães. A sua preocupação principal e a da equipa do Gabinete Técnico Local constituída pela câmara, em 1983, foi servir, em primeiro lugar, os habitantes do centro histórico. A arquiteta Alexandra Gesta, vereadora da autarquia à época e responsável desde o início pelo projeto de requalificação urbana do centro histórico, referiu várias vezes que o programa de requalificação teve como princípio ordenador não expulsar ninguém das suas casas; simultaneamente tiveram o cuidado de refazer o antigo sem deitar nada fora. A Praça de Santiago é, a par com a Praça da Oliveira, o coração do centro histórico de Guimarães. De características e traça medieval, a sua existência remonta aos tempos da fundação de Portugal e é exemplar único no país e no mundo. Segundo a tradição, uma imagem da Virgem Santa Maria foi trazida para Guimarães pelo apóstolo S. Tiago e colocada num Templo pagão num largo que passou a chamar-se Praça de Santiago. Foi nas suas imediações que se instalaram os francos que vieram para Portugal em companhia do Conde D. Henrique. Esta capela foi demolida no século XIX e hoje o seu desenho encontra-se traçado na calçada,



outra feliz criação de Fernando Távora. A fachada ondulada das casas, a roupa a secar nas varandas floridas, lavadas nas águas do Ribeiro da Costa/Couros, as mulheres às janelas conversando com os vizinhos, as bancas às portas das mercearias, as pessoas cumprimentando quem passa, mostram que estamos perante gente da terra – Garra Vimaranense. A Praça de Santiago está ligada ao Largo da Oliveira através das arcadas do Antigo Paço do Concelho. É digno de uma visita o primeiro piso da velha câmara para admirar, na sala das audiências, um teto de madeira em masseira, decorado com uma belíssima pintura a óleo, representando a Justiça e a deusa grega Atena. Performance de Osmusiké “A Vós homens que viestes povoar Guimarães e àqueles que aqui quiserem habitar”, in Museu Alberto O Largo da Oliveira, lugar fundador de Vimaranes Sampaio (13 de dezembro de 2020) e que mantém uma réplica da árvore associada à lenda das origens, é dominado pela Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, mandada construir em meados do século X pela Condessa Mumadona Dias, Mosteiro duplex (para religiosos e religiosas), que se encontra associado ao Castelo de Guimarães, já que a sua construção visava a sua proteção. No final do século XIV, D. João I, para assinalar a vitória em Aljubarrota, mandou reedificar a Igreja, a cuja sagração assistiram os reis e os príncipes. O seu interior está pejado de marcas da História. Geminado com a Igreja da Oliveira, o Museu de Alberto Sampaio abriu em 1928 nas instalações do velho mosteiro para mostrar a valiosa coleção da Colegiada: escultura medieval e renascentista; pintura; ourivesaria e peças icónicas dos primeiros tempos da nacionalidade, como o cálice românico de D. Sancho I, oferecido ao Mosteiro de Santa Marinha da Costa, ou o loudel que D. João I usou em Aljubarrota, oferecido a Nossa Senhora da Oliveira. A pulsão humana no centro histórico é um motivo acrescido para uma visita a esta belíssima cidade, onde Osmusiké in “Guimarães – Sítio de memórias” (13 de dezembro de os portugueses normalmente se deslocam para viajar no 2017) tempo e participar desse lugar mítico que esteve na origem da nacionalidade.

Caminho de Torres - Caminhos de Santiago
Álvaro Nunes
O “Caminho de Torres – História de um caminho, um caminho na História” é uma edição das cinco comunidades intermunicipais nortenhas, entre as quais a Comunidade Intermunicipal do Ave (CIA). Uma publicação de autoria de Paulo Almeida Fernandes, com cerca de 300 páginas e excelentes fotografias, reportando o denominado Caminho de Torres, que partindo de Salamanca e entrando em Portugal por Almeida, sobe até Guimarães provindo do Douro, e prossegue norte fora, por Braga, Vila Verde, Ponte de Lima, Rubiães (Paredes de Coura) até à raia em Valença e Tui, rumo a Santiago de Compostela.
Uma caminhada de cerca de 24 dias e um percurso inesquecível, também chamado Moçárabe, uma vez que se crê que por estas vias terão caminhado os primeiros peregrinos moçárabes, os cristãos que, na altura, viviam sob o domínio muçulmano na Hispânia medieval. Porém, a adoção do nome Caminho de Torres provem do espanhol Diego Torres Villarroel (1694-1770), poeta, aventureiro, matemático e astrónomo, natural de Salamanca, que, enquanto homem dos sete ofícios, seria ainda professor universitário, político, presbítero e figura da cultura espanhola entre o barroco e o iluminismo.
Com efeito, em 1737, após um exílio em Portugal nos anos de 1732 a 1734, Diego Torres meteu-se a caminho de Santiago de Compostela, na companhia do amigo Agustin de Herrera e de dois criados, cada um com um cavalo e um burro, optando por este caminho português, em alternativa ao trajeto espanhol por Zamora, Sanabria e Ourense, provavelmente por motivações afetivas e promessa assumida aquando do exílio. No entanto, seis anos mais tarde, em 1743, Torres Mapa da rota do caminho de Torres
consideraria esta jornada jacobeia como uma peregrinação indevota. Na circunstância, escreveria até que “foi sem dúvida o mais indignadamente cumprido, porque as indevotas, vãs e ridículas circunstâncias da minha peregrinação puseram a perder parte do mérito e do valor da promessa”, uma vez que, como explica nas suas memórias, fora vivenciada em casas fidalgas e

conventos com muita diversão. Efetivamente, ao que consta, numa jornada vagarosa, que duraria cerca de cinco meses, para que “o meu companheiro e os meus criados vissem sem pressa os lugares daquele reino”.
Quanto à obra, surgida na sequência da valorização do Caminho de Torres, empreendida no âmbito das ações de património cultural e turístico por parte das cinco comunidades intermunicipais da região Norte de Portugal (Douro, Tâmega e Sousa, Ave, Cávado e Alto Minho), proporciona-nos uma visão detalhada sobre as cerca das 31 localidades do seu trajeto, de quase 600 quilómetros, compreendidos entre Salamanca e Santigo de Compostela, calcorreados ao longo de 24 dias de caminhada num “percurso inesquecível, diverso e com personalidade própria”, que percorre localidades do norte de Portugal e regiões espanholas de Leão, Castela e Galiza.
Viagem-peregrinação que passa também por Guimarães, que, após passagem pelo mosteiro de Pombeiro de Ribavizela (abordado com detalhe), cruza o rio
Capa do livro "História de um caminho Um caminho na História Vizela para poente em direção a Gémeos e Abação, até Pinheiro, onde entronca na antiga estrada medieval que levava ao centro de Guimarães. Daí “chega-se rapidamente à Fonte Santa, apesar de existir pelo meio a subida a Penedos Altos”. A Fonte Santa, em Urgezes, faculta-nos então ensejo a contar a lenda da Fonte Santa, local onde se estabeleceria o frade São Gualter, em 1217. De seguida, sempre a descer pela Avenida D. João IV, atinge-se o rio de Couros e traz-se à memória as antigas fábricas de curtumes, seguindo-se uma ligeira subida até ao convento de S. Francisco. Aqui, após uma sabática lição com o passado do convento, ocorre o reencontro com S. Gualter, que traz à colação o historial das Festas Gualterianas. Mas também, uma alusão a outros mosteiros mendicantes como os dominicanos e S. Domingos, a trazer à liça a legenda do beato Frei Lourenço Mendes, detalhadamente contada. Todavia, Santiago e a devoção a Santa Maria de Guimarães (mais tarde Nossa Senhora da Oliveira) e o

seu historial permitem uma pausa na viagem. Aludem-se, assim, os 44 milagres que motivaram a organização do livro de milagres e da aura de santidade em torno da colegiada vimaranense que, além da relevância devocional, era também um destino de peregrinações e romarias, pelas relíquias de que dispunha, como esta passagem dilucida:
“Principal centro de peregrinação do Norte do país desde o século XV – a ponto de se difundir que a imagem de Santa Maria (que se sabe hoje ser do século XIII) havia sido ali colocada pelo próprio apóstolo Santiago, durante a sua lendária evangelização da Península Ibérica -, a colegiada foi objeto de atenção por parte dos monarcas do tempo barroco.”
Entretanto e a propósito da afluência peregrina a Guimarães, a obra referencia ainda a vasta rede de equipamentos assistenciais durante a Idade Média existentes na cidade, enumerando cerca de 17 instituições, entre as quais a Albergaria de Santiago, que já existira em 1212.
A peregrinação pela cidade alude depois à capela de Santiago:

Vieira indicativa do Caminho de Santiago
“A primeira notícia que se conhece deste edifício remonta a 1114 e dá conta da existência de uma capela construída por francos, companheiros do conde D. Henrique e guardas da infanta D. Teresa. O edifício medieval foi destruído há muito, mas sabe-se que tinha torre anexa à fachada principal, referida em 1284, e que foi objeto de obras em 1331, mencionadas no testamento de Rodrigo Afonso de Portel, que deixava 30 soldos para a campanha. O conjunto era ainda servido por um claustro, o que ampliaria significativamente o edifício na atual Praça de Santiago, não sendo hoje fácil equacionar a existência de uma quadra naquele espaço urbano específico.
A capela medieval passaria por várias etapas até ser totalmente demolida.
Porém, após 1607, esta capela, cuja configuração se conhece graças a gravuras, seria substituída por outra mais pequena, uma vez que o espaço na Praça de Santiago era necessário para as áreas reservadas à venda de peixe, que “até então estava misturada com bancas de transação de pão e de fruta, o que era
desaconselhada para os padrões do século XVII (…)” No entanto,
“no Largo da Oliveira, subsistem um conjunto de quatro colunas que destoam da restante construção que compõe a colunata do edifício com os números 30 a 38. São elementos de grande qualidade, com fustes de acentuada entasis, comum no século XVII, e capitéis decorados com vieiras. Apesar de difícil comprovação, poder-se-á estar na presença do que resta da colunata que suportava o alpendre da desaparecida igreja de Santiago de Guimarães, reaproveitado num edifício civil depois da sua demolição em finais do século XIX.”
Portanto, como se constata, um livro que nos transporta pelos caminhos de Torres e de Santiago e pela história das localidades calcorreadas. E como o caminho se faz caminhando, ruma-se agora a Braga, após “escalar uma mítica subida dos caminhos portugueses de Santiago: a encosta da Falperra. ” Por conseguinte, saídos de Guimarães pela Rua Francisco Agra, após passagem pela Capela de Santa Luzia (antiga gafaria feminina) e ultrapassada a antiga ponte de pedra de Santa Luzia, sobre o rio Merdeiro ou Merdário, atravessamos então o rio Selho na ponte românica de Roldes e ainda o rio Ave nas Taipas, local onde ainda se conserva uma epígrafe honorífica dedicada a Trajano (ano de 103 d.C.). Antes do santuário de Santa Maria Madalena da Falperra (século XVI), um dos marcos dos sacro-montes, há ainda mais uma travessia do pontilhão sobre o Rio das Pontes até à Fonte dos Quatro Irmãos, cuja lenda se conta e é conhecida por estas bandas. Depois, da Falperra a Braga é sempre a descer … Mas ainda faltam longos quilómetros (e muitas páginas de aprazível leitura) até avistar Santiago de Compostela …
Caminho de Santiago percurso devocional e património cultural classificado: um breve apontamento
Salomé Duarte Antropóloga
Caminho (via de comunicação, passagem, rumo, extensão percorrida) e Santiago (Apóstolo de Jesus Cristo e primeiro mártir do cristianismo) são vectores que, há já muitos séculos, presidem e unem gentes de diversos estratos sociais e nacionalidades, a partir de diferentes pontos geográficos, em direcção à Catedral de Compostela. São vastas as evidências documentais, iconográficas, manifestações religiosas, culturais e sociais que evidenciam a profusa presença do ideário Jacobeu, um pouco por todo o mundo, mas com especial impacto em alguns países europeus, entre os quais Portugal.
Ao longo do território português e no decorrer dos séculos, foram surgindo vários testemunhos48 – materiais e imateriais – que demonstram a grande devoção que foi sendo dedicada a S. Tiago e ao culto prestado a este Santo.
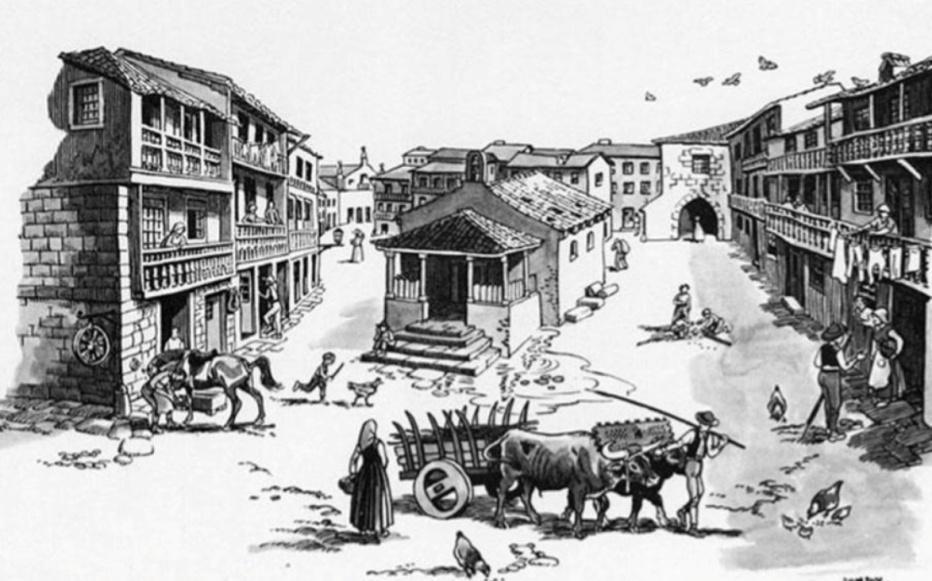
O universo devocional jacobeu assumiu uma vasta expressão, especialmente de cariz religioso, ritual, artístico e cultural, em Portugal, de onde se destaca a existência de numerosas capelas de invocação, romarias e celebrações religiosas49 dedicadas ao Apóstolo Tiago Maior, confrarias, albergarias, oragos, topónimos, elementos iconográficos, de veneração, da arquitectura religiosa e civil, entre outros.
Reconstituição do aspecto urbanístico da Praça de S. Tiago, de Guimarães, em meados do séc. XIX, tendo ao centro a antiga Capela de S. Tiago.
48 BRAGA, Alberto Vieira – Influência de S. Tiago da Galiza em Portugal. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1993. 49 No século XVI, o Cabido da Real Colegiada de Guimarães determinou que, no dia de S. Tiago, os Beneficiados fossem à sua Igreja, com a imagem de S. Tiago para que o pudessem venerar e aumentar a confraria existente na referida Igreja. Na sequência de uma visitação à Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, de Guimarães, faz-se referência ao oitavário de S.
A profunda veneração dedicada ao Apóstolo Tiago Maior teve particular preponderância na cultura portuguesa, particularmente de expressão popular, manifestada nos cantares e crenças, assim como no calendário agrícola. Estes documentos traduzem a forma como a comunidade vive e traduz os quadros sociais e culturais do seu tempo, os esquemas rituais, os costumes e o mapa de saberes tradicionais que (re)activam. Apresenta-se, de seguida, algumas leituras populares, em torno da figura de S. Tiago, que nos permitem compreender alguns aspectos subjacentes à peregrinação a Santiago de Compostela e que são os seguintes:
“Eu hei-de ir a S. Tiago no dia da romaria; hei-de ver se vou a pé a mais a minha Maria.
Se fores a S. Tiago, trazei-me um S. Tiaguinho: se não puderes com um grande, trazei-me um mais pequeninho.
”50
*** “A gritar vai uma alma, a gritar que se perdia, caminho de S. Tiago a cumprir a romaria. Ouvira-a um cavaleiro da sala onde dormia: - p’r’ onde vais, ó alma santa, com tão grande gritaria? - Caminho de S. Tiago a cumprir a romaria.”51
*** “S. Tiago da Galiza vós sendes tão interesseiro,
Tiago, “q. nesta Igreja se Reza (…) à m.tos annos, asim por o appostollo aquem este Reino deve a fee q. professa o qual elle escolheo p.a vir pregar e em Braga en cujo Arcebispado está esta terra fes seu assento e fes p.ro Arcebispo S. P.o de Rates, com outros muitos companheiros de cujo numero foi S. Torq. de como por seu sagrado corpo estar sepultado em Compostella vizinho desta provincia dentre douro e minho, e esta Igreja ter devoção particular ao dito Sto. pella qual rezão o Cabido desta Real Collegiada nas suas vesporas costumava a sua Igreja da praça rezar a completa, pelo q. com rezão se embarga o dito capitullo” (BRAGA, Alberto Vieira – Influência de S. Tiago da Galiza em Portugal. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1993). 50 BRAGA, Alberto Vieira – Influência de S. Tiago da Galiza em Portugal. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1993. 51 MARTINS, Firmino A. - Folklore do concelho de Vinhais. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1928.
ou em morte ou em vida hei-de ir ao vosso mosteiro. “52
*** “S. Tiago de Galiza é um cavaleiro forte: quem lá não for em vida há-de ir lá depois da morte.”53
*** “Pelo S. Tiago, apinta o bago! Pelo S. Tiago, o homem no campo parece o diabo e pelo S. João parece um cão! Pelo S. Tiago, cada pinga vale um cruzado! Pelo S. Tiago, pinta o bago e cada pinga vale um cruzado! Pelo S. Tiago, esconde o coelho o rabo! Pelo S. Tiago, vai à vinha e acharás bago, se não for maduro será inchado! Pelo S. Tiago, cada pinga uma canada, pela Santa Marinha uma canadinha! Pela Santa Marinha, despeja o S. Tiago uma cabacinha! Pelo S. Tiago, atira o sacho p’ro diabo! Malha pelo S. Tiago é de agrado, mas a de Agosto já não dá gosto! São Tiaguinho traz sempre seu cabacinho!”54
Os estudos que têm vindo a ser desenvolvidos em torno da temática do Caminho de Santiago – sob o ponto de vista histórico, cultural, sociológico e antropológico, patrimonial e, mais recentemente, turístico – atestam a influência do culto jacobeu e as mudanças culturais que operou na Península Ibérica, com assinaláveis reflexos em outras dimensões do espaço ibérico55 . As primeiras peregrinações a Santiago assentavam no culto da veneração das relíquias do Santo Apóstolo Tiago Maior - que, segundo reza a tradição, repousam na Cidade de Compostela. O culto a Santiago e a peregrinação pelo Caminho de Santiago56 foram-se, ao longo do tempo, transformando numa profunda tradição que fez acorrer a Compostela, não somente, gentes de diversas proveniências e estratos
52 VASCONCELOS, J. Leite de - Tradições Populares de Portugal, Porto: Livraria Portuense de Clavel & C.ª, 1882. (Bibliotheca ethnographica portugueza; 1). 53 VASCONCELOS, J. Leite de - Tradições Populares de Portugal, Porto: Livraria Portuense de Clavel& C.ª, 1882. (Bibliotheca ethnographica portugueza; 1). 54 Adaptado de BRAGA, Alberto Vieira – Influência de S. Tiago da Galiza em Portugal. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1993. 55 Assume particular ênfase a legitimação que o culto de S. Tiago influiu no período da Reconquista, fase em que prolifera a iconografia de S. Tiago guerreiro. 56 “ - A Via Láctea foi o caminho que S. Tiago tomou quando entrou no Paraíso, não foi Senhor Pe. Santos? - disse o Basco
sociais – de Portugal, personalidades da monarquia, o Rei D. Manuel I e a Rainha Santa Isabel, entre outros membros da realeza, assim como diversas figuras da sociedade portuguesa, peregrinaram até Santiago –, como promoveu avultadas ofertas, doações e foros para o culto do Santo Apóstolo57, assim como para construção da Catedral de Compostela. Com o passar dos séculos, as motivações subjacentes aos peregrinos e ao Caminho de Santiago foram sofrendo alterações, fruto das transformações culturais, políticas e sociais das sociedades. Para além do aspecto devocional e da experiência ecuménica, um grande número de pessoas percorre o Caminho até Santiago de Compostela pelo seu interesse histórico, artístico, cultural e turístico. A via em direcção a Santiago de Compostela não é única. Ao longo do tempo, alguns itinerários foram sendo mais percorridos do que outros, entre eles o Caminho Francês58, o Português59, o do Norte e o Primitivo60, o Inglês, o de Finisterra e o da Prata. No caso português, o designado Caminho Central e, mais recentemente, o da Costa têm vindo a ser os que registam maior número de peregrinos, em relação a outras vias, como por exemplo o Caminho de Torres. O Caminho de Torres61 é um trajecto de peregrinação que inicia na cidade espanhola de Salamanca, passando em várias cidades portuguesas, entre elas Guimarães, até Santiago de Compostela. Independentemente do trajecto iniciado e das motivações pessoais que animam os que percorrem os vários itinerários até Compostela, a relevância do Caminho de Santiago e a diacronia do culto ao Apóstolo, implantado desde o século IX, foram reconhecidos pelo Conselho da Europa, quando o declarou como Primeiro Itinerário Cultural Europeu, em 1987.
acompanhando o gazeio com um sorriso que lhe franzia os lábios delgados, cheio de meiga e grácil timidez. - Meteu por ela S. Tiago - disse o frade - mas antes, segundo Ovídio, já metiam os imortais quando se dirigiam à morada do Senhor dos trovões. A lenda cristã enxertou-se no mito, mas não é daí que vem mal ao mundo.” (RIBEIRO, Aquilino – Uma luz ao longe. Lisboa: Bertrand, 1969). 57 BRAGA, Alberto Vieira – Influência de S. Tiago da Galiza em Portugal. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1993. 58 Trajecto identificado e descrito no Codex Calixtinus. A importância do itinerário foi assinalada em 1993, quando foi classificado Património da Humanidade, pela UNESCO. Em 2004 foi-lhe atribuído o Prémio Príncipe das Asturias de La Concordia. 59 Apresentada candidatura a Património da Humanidade, em 2016, encontrando-se integrado na lista indicativa a Património Mundial. 60 Reconhecidos pela UNESCO, como Património da Humanidade em 2015. 61 O traçado do Caminho de Torres assenta no testemunho D. Diego de Torres Villarroel que, em 1737, partindo de Salamanca e entrando em Portugal, dirigiu-se em peregrinação a Santiago de Compostela. Em terras portuguesas, o Caminho de Torres passa por várias cidades, tais como Almeida, Amarante, Felgueiras, Guimarães, entre outras, seguindo pela Falperra até Braga, e daí para Ponte de Lima, onde entronca com a rota do Caminho Central até à Catedral de Santiago.
Oh! Guimarães antiga como és bela! Se vou até à Praça de Santiago Sinto o tempo parar e ficar nela Nas saudades meninas que em mim trago …
Numa dessas janelas, prisioneiro Foi mundo de cidade, esse que via O menino aldeão e forasteiro Que as primeiras letras aprendia!
E o rapazito a jogar à bola … A Julinha vendendo pirolitos … O Barroca fazendo gritaria …
A saudade que me faz a grande esmola De ouvir dos zilros teus eternos gritos Que na aldeia perdida não ouvia!
Dezembro 2001
Soneto
Meireles Graça
Praça de S. Tiago, recorte de imagem retirada de https://olhares.com/praca-de-sao-tiago-guimaraes-foto6145369.html

VIAGEM AO CENTRO HISTÓRICO: Largo da Misericórdia, rua da Rainha e espaços adjacentes
A importância das gentes de Guimarães na vida de André Soares
Francisco Vieira da Silva62
Falar de André Soares (1720-1769) é referir o nome de um dos maiores, quiçá, o maior arquitecto português do séc. XVIII. Faz os seus primeiros estudos no Colégio de S. Paulo, dirigido pelos Jesuítas, posteriormente ingressa no Seminário de S. Pedro e S. Paulo. De baeta comprida, lenço de cor ao pescoço, grandes punhos na camisa e rolos nas meias, galões nas véstias, espada debaixo do braço e capuz no capote – eis o retrato da estudantada na época, e ele é apenas mais um dos 3.000 que campeavam por Braga, a sua cidade natal. Ora, todos sabemos que onde há estudantes, alegria, festas e outras coisas mais, existem a rodos…. Certamente que participava nessas demonstrações estudantis, até porque dinheiro era coisa que não lhe faltava. Em paralelo com os estudos, e sem dar nas vistas, exercita um dom: desenho! Uma personagem está, indubitavelmente, associada ao seu percurso: D. José de Bragança, Arcebispo de Braga. Nas veias do prelado corre o sangue azul da realeza, irmão de D. João V (embora fosse a consequência de um percalço do seu augusto pai, D. Pedro II – muitos percalços tinha sua Majestade…) e fora retirado do seu idílico trabalho de nada fazer (árdua tarefa entregue aos príncipes), que dividia com os estudos eclesiásticos. Altivo, de estatura ordinária, cabelo preto eriçado, olhos grandes e vivos, beiços grossos e um contínuo tremor na cabeça (consequência do susto que apanhou, quando o tiraram do Tejo; pior sorte
62 Braga, a cidade onde nasci, cresci, casei e resido, inserida na região minhota. Região geradora de histórias que fazem parte da história de Portugal e cuja história milenar sempre me cativou e que aprendi a respeitar e divulgar. Tudo o que escrevo é em homenagem a todos os que com os seus actos a engrandeceram, aos modestos cidadãos que com o seu trabalho (a única herança recebida e legada) a ergueram, e aos restantes que fazem parte da história do Minho.
teve o seu irmão D. Miguel, vítima por afogamento) era também, e porque não dizê-lo, uma figura conflituosa. Porém, vem para Braga com uma ordem bem explícita: pôr na ordem os cónegos do Cabido Bracarense que, durante os 12 anos de sede vacante, praticaram desmandos de toda a natureza, ao ponto de, em 30.5.1739, uma ordem real mandar suspender todos os trabalhos em execução (salvou-se o actual coro da Sé, por estar já na fase de acabamento). Os cónegos, sabedores da missão do arcebispo, prepararam-se para colocar-lhe um sem número de obstáculos; nada que D. José não esperasse. Paulatinamente, consegue pôr ordem na casa; entre as muitas peripécias, uma sobressai: não teve pejo nenhum em mandar a maior parte deles para o aljube (que rica Páscoa suas reverências tiveram…). Mas a sua justiça ultrapassou todos os limites do aceitável, de tal modo que, e depois de muitas queixas, uma ordem real obriga-o a sair de Braga –fazendo jus à dialética política, a expulsão é transformada em Visita Pastoral. Na manhã bem fria, de 10.12.1746, a principal nobreza bracarense acompanhou-o até à Falperra, limite do couto de Braga. Indiferente a este ping-pong belicoso, André dá azo à sua habilidade desenhadora. Tem contacto com as gravuras de Augsburgo existentes nas bibliotecas dos Jesuítas e de Tibães; começa por copiá-las, aprimorando os riscos e as curvas. Quantas vezes o fez? Imaginemos um número… Atingindo a perfeição, começa lentamente a pôr o seu cunho, criando uma nova arte e transforma-a na sua assinatura artística. O seu tio Tomé Guimarães, tesoureiro da Mitra, era portador de dois segredos: do extraordinário talento do sobrinho e da paixão do arcebispo no novo estilo que estava a chegar - o barroco, bem como das horas que, também, D. José dedicava ao lazer desenhista, para além de ser detentor de uma considerável colecção de gravuras dos mais famosos arquitectos, decoradores, cenógrafos e pintores europeus (convém dizer que o seu real irmão tinha a maior colecção da europa). Do encontro entre ambos nasceu uma amizade com frutos para André: as encomendas do palácio para o arcebispo e, poucos anos depois, a Casa da Câmara, bem como uma fonte de fresco para o jardim arquiepiscopal. Num ápice, torna-se no arquitecto do arcebispo, traduzido à letra: estavam abertas as portas da fama. Voltando à Visita Pastoral de D. José. Os vimaranenses souberam da notícia quase ao mesmo tempo que o arcebispo saía de Braga, o que não impediu de, mesmo à pressa, engalanarem as ruas com sedas e tapeçarias. Tinham razão na sua alegria: há mais de um século que Guimarães não recebia um príncipe da Casa de Bragança. Passada a porta da vila, e já acompanhado pelos vereadores, principais cavaleiros, ministros da justiça, cónegos da Real Colegiada, párocos e religiosos, que o foram receber junto à ponte, é recebido pela tropa com as honras devidas no Campo do Toural, prossegue de imediato até à Praça da Senhora da Oliveira e entra de modo triunfal na igreja; terminado o Te Deum em sua honra, deu por si a admirar a antiga imagem de Nossa Senhora da Oliveira – a mesma perante a qual D. João I se ajoelhara; o manto, oferecido
pelo seu irmão D. João V; e o vestido, ofertado pela sua irmã infanta D. Francisca; e como apreciador de arte, observa com minúcia o tecto da capela-mor, mandado fazer pelo seu augusto pai D. Pedro II. Hóspede na casa de Tadeu Luís António Lopes de Carvalho da Fonseca e Camões, senhor dos coutos de Abadim e Negrelos, sita no Campo da Misericórdia, sente os vimaranenses ufanosos com a sua presença – o que nunca sentiu na sede do arcebispado; a felicidade é tanta que pensa em fazer a sua habitação permanente em Guimarães. Se bem o pensou, mais rápido o fez! Em 20.8.1747, com capital próprio, compra a casa dos Coutos para esse fim. Chama de imediato André para dar um parecer e fazer os riscos necessários. A concha que encima a porta principal é idêntica à que desenhou para o seu palácio em Braga, cujas obras estavam suspensas. Poderá ter feito mais alguma intervenção, mas sem relevância. Aproveitando o tributo do real d’água concedido durante dez anos para fazer face às despesas de altear os muros dos diversos conventos femininos (Remédios, Conceição e Salvador, em Braga; e Carmo, em Guimarães) – certamente que fortes razões o levaram a agir nesse sentido, a começar pelas visitas nocturnas a que as freirinhas estavam sujeitas (para não orarem sozinhas?), ou pelas fugas daquelas que se sentiam com mais forças em rezar no exterior das suas celas… As religiosas do convento de Santa Rosa de Lima, situado na rua da Travessa, haviam procurado D. José para solicitar autorização para construírem o mirante e, ao mesmo tempo, para lhes resolver um problema urgente: dado que a rua era muito estreita, e como em redor do convento o casario fora construído com uma altura considerável, sentiam-se desprotegidas, quer pelos olhares, quer pela falta de segurança (para não falar das tais visitas nocturnas…), pretensão que foi atendida de imediato. Uma vez que André estava em Guimarães, o arcebispo encarrega-o de achar solução. Desafio aceite com todo o gosto! E aquilo que parecia ser um bico d’obra resolve-o de uma maneira singela: um muro fecha o pátio de entrada e ao centro uma porta alta com visibilidade para o interior, franqueada por uma grade trabalhada; não oculta a fachada, mas impede a admissão sem autorização, não mexe na arquitectura existente. Simetricamente uma forte e musculada cornija, recoberta por uma fiada de cantaria, desce desde o mirante até ao portão, aqui eleva-se um pouco, quase a parecer uma inversão de um arco. Sobre a porta um leve drapejado, quase a parecer uma sanefa, termina numa guirlanda em cada lado. E, claro!, sobre a porta o brasão de D. José de Bragança. Simples, não é? Faz-nos lembrar a história do ovo de Colombo… Todos apreciaram, e ainda apreciam, este trabalho simples. O arcebispo amava as gentes de Guimarães e estas o arcebispo. Mas este sentimento recíproco não era aceite pelos cónegos bracarenses, “Tem lá algum jeito o arcebispo estabelecer residência permanente fora da sua cidade?” – rumorejava-se nos corredores da Sé. Não estiveram com mais contemplações, deram conta
da sua insatisfação ao rei. Houve resposta:
«[…] Sua Majestade manda-se significar a Vossa Alteza, o muito que lhe tem sido desagradável a desmedida demora de Vossa Alteza nessa vila de Guimarães, deixando de continuar no indispensável ministério […] É Sua
Majestade servido, que Vossa Alteza, sem mais perda de tempo, cumpra […] saindo dessa vila no prazo de vinte e quatro horas […]». Súmula da carta do secretário de estado Pedro da Mota e Silva, mais que uma carta era uma ordem. E uma ordem real tem de ser cumprida. No dia 22.6.1748 termina a Visita Pastoral (convém dizer que, quase dois anos para exercer este múnus, deu muito nas vistas…) e, para desgosto dos locais, sai abruptamente para continuar a Visita Pastoral para outras terras. As obras do seu palácio, que ele nunca iria habitar, ainda não estavam acabadas. Não deixa de ser curioso que em 6.1.1749 o arcebispo doa este mesmo palácio ao seu estribeiro, João Lobo da Gama, pela paga dos seus serviços (grandes serviços deve ter executado para ser tão bem recompensado…). Não há provas documentais, mas tudo aponta para isso, que neste mesmo ano, 1749, a família Lobo Machado convida André Soares a fazer o risco da sua nova casa. Cinco anos passados, e com pompa, é inaugurada a nova residência desta abastada família. Entretanto, ao longo dos anos seguintes, André Soares não tem tempo para descanso, mercê dos inúmeros pedidos de confrarias (igrejas e retábulos) e particulares (palácios). Mas houve uma pessoa para quem nunca mais trabalhou: o arcebispo. Provou dos maus azeites de D. José, certamente que a causa esteve na contenda perpetrada pelo Marquês de Pombal contra os Jesuítas. Ambos estudaram na Companhia de Jesus, mas enquanto o Arcebispo-Príncipe depressa esqueceu (a Casa dos Lobos Machados, Guimarães, aguarela de Vasco Carneiro

realeza tem destas falhas de memória…), por sua vez, André nunca escondeu a admiração que nutria por aqueles que lhe ministraram os primeiros ensinamentos escolares (anos mais tarde prová-lo-á, emprestadolhes dinheiro quando todos lhes viraram as costas). Em Guimarães, e desde 1756, a capela onde se veneram as imagens do Senhor dos Passos e da sua mãe sagrada foi sempre uma constante fonte de preocupação das mesas da irmandade. Tudo, porque o corpo da mesma capela está totalmente aberto do lado norte e o seu frontispício resguardado com umas simples grades de madeira, tornando-se um local privilegiado para, na calada da noite, ser um local procurado por aqueles que indiferentes à religiosidade do espaço cometem delitos ofensivos ao respeito e preceito divinos. Em 1767 foi decidido tapar o frontispício e a parte oposta com pedra de qualidade. Quando tudo parecia estar a contento de todos e o problema resolvido, nova inquietação surge: os alicerces da capela não suportam o peso das novas obras e começam a ameaçar ruína. “É necessária uma intervenção profunda e duradoira!” – foi a frase ouvida, após o breve resumo da conversa que, Carlos António Costa Cardoso Pereira, o padre Cosme de Araújo e Manuel Gomes Macedo, respectivamente juiz-presidente, secretário e tesoureiro da Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Senhor dos Santos Passos (haviam tomado posse em 20.12.1767), tiveram com André Soares, em sua casa, em Braga, na rua de S. Miguel-o-Anjo, e já bastante debilitado pelas moléstias que o apoquentavam. Mesmo doente aceita o desafio com um pensamento: “Adoro o povo daquela vila. Sempre fui bem tratado e pelos vistos não fui esquecido” – vinte e dois anos haviam passado. Com esforço desloca-se a Guimarães, toma os seus apontamentos, faz os respectivos cálculos e no dia 25.3.1769 apresenta as suas ideias através de quatro mapas. Foi, mais ou menos, esta a apresentação: “Caros confrades, é com prazer que apresentamos o resultado do nosso trabalho. Uma nota, desde já, adiantamos! Esqueçam o local onde a actual capela se encontra… Ao projectarmos o novo templo, um pouco mais a sul e a poucos metros do pequeno rio de Couros, aproveitando a ligeira elevação existente, queremos não só poupá-la de águas de alguma cheia, mas sobretudo que domine todo o largo espaço devoluto que se avista das muralhas. Para dar mais expressão à visibilidade que queremos impor, propomos que seja feito um pequeno terrapleno que em pouco onerará a obra. O acesso será por uma escadaria que terá pouco mais de uma dúzia de degraus, ficando a igreja acima da cota do nível do terreno”. A satisfação e a pressa foram tais que em finais de Junho foi aberto o concurso; a pedra veio do monte de Gonça. Numa demonstração da importância das gentes de Guimarães na sua vida, soube agradecer-lhes através da única forma que sabia: desenhar. Esta foi a sua última produção. Nove meses depois (26.11.1769) faleceu. Há um outro trabalho (e que trabalho!) por ele executado primorosamente, em várias fases, na capela
de Santa Maria Madalena, na Falperra. Uma linha imaginária geodésica divide o pequeno templo entre Braga e Guimarães. A beleza exterior (fachada e escadaria) e interior (retábulo-mor) são um hino à criatividade. É de louvar a arte do maior vulto do rococó português por um simples motivo: não frequentou qualquer escola de engenharia ou desenho, exerceu apenas a autodidaxia. Foi um criador de arte, mas foi também um desenhador de poemas, pois a leveza dos seus riscos sobrepõe-se à dureza do granito e a graciosidade dos desenhos encontram a máxima expressão na madeira. São verdadeiros poemas as curvas e contracurvas, são sonetos belíssimos expressos na pedra e na talha. Tivesse André Soares nascido numa qualquer grande capital europeia, hoje seria mundialmente conhecido. Tivesse nascido na capital portuguesa, certamente que o seu nome não seria desconhecido da maior parte dos académicos.
Referências bibliográficas:
VIVER COM ANDRÉ SOARES // CRIADOR DE ARTE, DESENHADOR DE POEMAS – Francisco Vieira da Silva, Editora Chiado ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO – Tese de Doutoramento em História de Arte de Eduardo Pires de Oliveira, Faculdade de Letras da Universidade do Porto MEMÓRIAS PARTICULARES DE INÁCIO JOSÉ PEIXOTO – Inácio José Peixoto, Arquivo Distrital de Braga/Universidade do Minho
A Fonte da Misericórdia
Equipa redatorial
A Fonte da Misericórdia, vizinha da antiga Casa dos Coutos (atual edifício do Tribunal da Relação de Guimarães), datada de 1820, refere a data do pronunciamento militar de Santo Ovídio, no Porto, que deu início à Revolução Liberal, há cerca de 200 anos. Igualmente, assinala D. João I na sua inscrição o que causa alguma perplexidade, uma vez que o rei D. João I reinou no século XIV. De facto, por debaixo das armas nacionais, assentes sob a esfera armilar manuelina, pode ler-se, neste fontanário:
“João Primeiro Rei do Reino Unido Menistro aqvi fes por a’Estevao Ivsto O qual com esta Fonte Magestoza Ornov a Patria do Primeiro Avgvsto. ANNO 1820”
Porém, este D. João I é, de facto, o primeiro rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, entre 1816 e 1822, mas refere-se a D. João VI, que foi sexto rei de Portugal, entre 1822 e 1823. Contudo, como a inscrição indica, trata-se de um rei que o povo de Guimarães considera que honrou a Pátria do Primeiro Augusto, ou seja, D. Afonso Henriques, e que seria a esperança de um novo rumo para o país, após a expulsão dos franceses e do protetorado inglês. Com efeito, nesta fonte neoclássica em granito, obra do mestre pedreiro Bártolo Fontão, de S. Cristóvão de Selho, proclamava-se claramente a adesão dos vimaranenses ao rei D. João VI e o seu regresso a Portugal, após a fuga da família real para o Brasil em 1808, aquando das invasões francesas, que só aconteceria em 1821.

A Ceia de São Crispim
Álvaro Nunes
Como todos os anos, desde que caíra na rua, Nicolau Santos estugou o passo e dirigiuse ao Albergue de S. Crispim para celebrar a sua consoada de família. Perdera a sua família de sangue, ou a família perdera-se dele, já lá vão vários anos, tantos que também já perdera a conta. Nicolau sabia que tinha uma filha emigrada e talvez netos, sabia que a sua mulher era ainda viva, mas compreendia o que lhe sucedera, devido ao maldito vício do alcoolismo. Mas agora, já recuperado, tinha outra família. Talvez até uma outra liberdade, ainda que mendigada moedinha a moedinha nas A ceia de Natal, ilustração de SAL ruas da cidade; talvez outra independência, ele que sempre fora senhor do seu nariz; mas talvez, também, um fardo de solidão pesado, que suportava dolorosamente nos dias nebulosos e chuvosos da vida. Mas, naquela noite, véspera de Natal, havia pelo menos uma grande família de outros como ele, alguém com quem partilhar a comida, as canções de Natal, o vinho (quanto baste) e o companheirismo perante a solidão. - Então, Nicolau, estás muito calado! - Olha, ovelha que berra é bocado que perde! Deixa-me acabar este jantar que me está a saber pela vida, que já te atendo … Como era habitual há cerca de 700 anos, na Ceia de Natal do Albergue de S. Crispim, não faltava comida. Neste ano, como era tradição, servia-se bacalhau a preceito, acompanhado por boas couves e batatas cozidas, a que não faltavam a rega de um saboroso azeite, pão com fartura e, claro, a aletria e as rabanadas com aquele gostinho a mel, como só em Guimarães se sabem fazer! E tudo quentinho, como a noite o pedia … Que melhor prenda poderia desejar Nicolau Santos, neste dia!? Realmente, Nicolau, patrono dos estudantes nicolinos e amigo das crianças, estava feliz!

- Bem, meus amigos, já que tanto me pedem, vou então botar faladura! Pois, caros companheiros, este ano vou falar-vos desta instituição. Acho que, para além da alimentação do corpo, sempre fez bem a todos alimentar também o espírito … E pelo menos, já que comeis de borla, tendes obrigação de saber quem paga a conta! - Olhem para ele! Hoje o nosso Nicolau parece um filósofo! … - Pois, amigos e companheiros, esta conta está paga desde 1315, vejam lá! De facto, data do ano 1315 este legado, por graça dos irmãos João e Pedro Baião, ambos mestres sapateiros. E por graça de todos estes voluntários que nos servem e mantêm viva a tradição … - Nessa época os sapateiros deviam viver bem! E eu que pensava que, nessa altura, a maioria das pessoas até andava descalça! - Bem, lá isso não sei! O que sei é que ambos os irmãos formaram a Irmandade de S. Crispim ou S. Crispiniano, deixando-nos todas as suas rendas e herdades, que, entre outras coisas, obrigava a cumprir esta ceia estatutária. Por isso, companheiros, proponho um brinde aos irmãos Baião, onde quer que estejam! E a todos estes nossos amigos voluntários que aqui nos prestam serviço, a nossa gratidão. - Ó Nicolau, estás quase a ficar doutor! Qualquer dia ainda vais ser deputado!
Seguiram-se então os brindes regados a verde tinto e branco e inúmeros vivas aos falecidos irmãos e aos vivos presentes. Porém, momentos depois, o convívio estava terminado e todos tomaram os seus caminhos. No entanto, antes de sair, Nicolau pediu mais uma ceia para levar consigo. Era para dona Natividade, uma velhota acamada, que vivia nas redondezas, graças à assistência social e ao apoio dos vizinhos. Nessa noite, Nicolau fez ainda companhia à idosa senhora e meteu conversa:
- Olhe, dona Natividade, o belo presépio que nós aqui fazemos! Você bem pode ser a Virgem Maria que eu faço de S. José. O cão e o gato substituem a vaca e o burro. Só nos falta ter o Menino! - Não, senhor Nicolau, ele está aqui entre nós, pelo menos em espírito! E vai ser preciso mudar-lhe a fralda …
Mas o senhor Nicolau despediu-se e partiu, antes que lhe coubesse o “frete” (espiritual) da mudança da fralda…
Quando Guimarães virou cidade
Álvaro Nunes
- Ó avó, é verdade que Guimarães só é cidade há pouco mais de 168 anos? Como pode ser, se fomos a capital do Condado Portucalense? - É verdade, Henrique! Só em 1853 é que Guimarães passou de vila a cidade.
Eu conto-te: Entre 15 e 17 de maio de 1852, a rainha D. Maria II visitou Guimarães. Foi uma festa de arromba, logo sentida estrada fora, entre Braga e Guimarães. Havia arcos, músicas populares, sinos a tocar a repique e vozes de regozijo: - Viva a rainha! Viva Portugal! Que Deus vos salve por muitos anos! A comitiva pararia nas Taipas, para visitar os banhos termais e chegaria a Guimarães cerca das 9 horas de sábado, dia 15 de maio, sendo entusiasticamente recebida no Toural pela população, autoridades locais e um destacamento de infantaria 20.
E de novo, os vivas de emoção: - Viva(m) a rainha D. Maria II e seu esposo D. Fernando! Viva(m) o príncipe D. Pedro e o infante D. Luís! Viva Guimarães! Viva Portugal! O ambiente era eufórico e as janelas encontravam-se engalanadas com colchas adamascadas, sobressaindo nas fachadas dos edifícios do terreiro do Toural uma uniforme cor de limão. Depois, na Porta da Vila, o Presidente da Câmara, João Machado Pinheiro, pronunciou um brilhante discurso e entregou à rainha as chaves simbólicas da vila de Guimarães.
Ilustração de SAL

O cortejo seguiu depois em direção à Colegiada, pela Rua dos Mercadores (atual Rua Rainha D. Maria II), que estava alcatifada de baeta cor de púrpura na parte central e ervas bem cheirosas de ambos os lados. Como sempre, as janelas estavam apinhadas de gente e adamascadas. As saudações repetiam-se: - Viva Sua Majestade D. Maria II e a sua família real! Viva Guimarães! Viva Portugal! - Ó avó, até parece que estavas lá! Como sabes tantas coisas? - Claro que não estava, Henrique! Só tenho 70 anos! Mas já li muita coisa sobre a nossa cidade e há coisas que nunca esquecem! - Julguei que era apenas uma grande enciclopédia sobre as coisas do Vitória!? - Não, rapaz, há mais coisas no meu coração! Como tu, por exemplo.
Bem, mas continuando a história: Então, na Colegiada, a família real e comitiva, assistiriam às cerimónias religiosas e recolheram depois ao Palácio de Vila Flor, de Nicolau Arrochela. À noite, com a vila iluminada, um coro de raparigas atuou nos Passarinhos, quero dizer, S. Francisco No entanto, as cerimónias continuariam no dia seguinte, domingo. Houve então um beija-mão concedido às autoridades e várias visitas às ordens terceiras, como S. Domingos e Dominicas, entre outras. Nessa altura, a rainha receberia várias ofertas entre as quais uma bandeja-almofada, feita no Convento das Dominicas, que muito sensibilizaria a monarca, e as gentes do Gerês vieram a Guimarães oferecer à família real 3 cargas de caça morta e 7 cabrinhas bravas vivas, que levaram para Lisboa. Entretanto, a soberana, como era costume na época, mandou dar 15 moedas a cada um dos 4 conventos de freiras e avultadas esmolas aos presos e a várias outras pessoas. A família real partiria a 17 de maio, rumo a Santo Tirso, ignorando o convite da visita a Vizela que se preparava para receber a comitiva real e entregar uma petição no sentido de ali ser criado um concelho com parte de algumas freguesias de Guimarães, Barrosas e Negrelos. - Ó avó, não sabia que o concelho de Vizela já vinha desses tempos! - É verdade, Henrique! Mas o mais importante resultado desta visita seria a elevação de Guimarães a cidade. Vou ler-te esse decreto da rainha, datado de 19 de fevereiro de 1853, que tenho ali guardado:
“Querendo eu dar, aos habitantes de tão nobre povoação, um testemunho autêntico do distinto apreço em que tenho a sua honrada e habitual dedicação à cultura das artes e trabalhos úteis, por mim presenciados na ocasião da minha visita às províncias do norte: hei por bem elevar a Vila de Guimarães à categoria de Cidade com a denominação de Cidade de Guimarães, e me praz que nesta qualidade goze de todas as prerrogativas, liberdades e franquezas que diretamente lhe pertencerem.
- Mas, sabes a melhor?! Este decreto só seria conhecido pela Câmara Municipal em 21 de março, quando decorriam a Semana Santa e as festas pascais. Por isso, os festejos foram adiados para o dia 3 de abril, prolongando-se até ao dia seguinte, que por acaso coincidia com a data de aniversário da rainha. Aliás, seria o último aniversário da rainha D. Maria II, porque faleceria em novembro, com apenas 34 anos, vítima do seu 11.º parto. Porém, vê lá tu, só em 22 de junho de 1853 a rainha assinou a carta régia que mandava cumprir o decreto citado. Por isso, é esta data que se costuma comemorar.
- Gostei, avô! Só não percebo porque demorou tanto tempo! - Ora, além das burocracias, não te esqueças que naquele tempo tudo era feito a cavalo ou de barco!!! - Também não entendo porque demorou tanto tempo para Guimarães ser reconhecida como cidade!? - Bem, embora Guimarães fosse uma das cidades mais populosas a norte do rio Tejo, só ultrapassada por Lisboa, Porto e Santarém, o título de cidade era geralmente e apenas atribuído às povoações com sede de bispado, como acontecia a Braga. De facto, segundo o Numeramento de 1527, a cidade de Braga tinha cerca de metade da população de Guimarães.
Como vês, o critério da população não contava …
Fora mais uma estória de História Local para o Henrique, que gosta muito de saber coisas e loisas da sua terra …
VIAGEM AO CENTRO HISTÓRICO: TOURAL e espaços adjacentes de cultura e memória
O Nosso Toural
Álvaro Nunes
O nosso Toural é um dos espaços simbólicos e patrimoniais mais emblemáticos de Guimarães e um dos sítios com História, cheio de histórias. De facto, o Toural, um dos nossos sítios mais badalados pelos sinos da Basílica de S. Pedro, que diariamente toca o Hino da Cidade, ao meio-dia em ponto! Bem, as referências ao Toural recuam até 1498, embora se acredite que teria sido no século XVI que este terreiro, fora das muralhas de Guimarães, recebeu este nome. Ora, como é sabido, antigamente a nossa cidade possuía duas cinturas de muralhas: uma mais interior, antiga e pequena, rodeando a Colina Sagrada; e outra exterior, mais recente e mais robusta, da qual ainda hoje temos testemunhos, ao longo da Avenida Cónego Gaspar Estaço e seu adarve, bem como na Torre da Alfândega, sita no pano de muralha na qual se encontra o dístico “Aqui nasceu Portugal”. Pois caberia a este terreiro, no exterior das muralhas, a denominação de Toural. Ali, seria costumeiro realizarem-se feiras de gado bovino e a venda de produtos ao ar livre e até corridas de touros (às quais o largo teria ido buscar o seu nome)! Sim, touradas, não estou enganado! Principalmente em algumas datas festivas, como no Corpo de

Imagem da coleção Reinaldo Arnaud
Deus, ou até no Natal, como aconteceu em 1867.
AS CARAS DO TOURAL
Porém, como é lógico, o Toural mudou muito e teve várias caras ao longo dos tempos! Já foi um terreiro, jardim, praça ou largo de convívio e festa. E continua a ser a sala de visitas da cidade, hoje com um novo aspeto e “mobília”. Novas caras que passam pela dança do vira nas esculturas costumeiras no (nosso) Toural. Por exemplo, sabia que a estátua de D. Afonso Henriques já lá esteve (no Toural), depois de ter sido inaugurada pelo rei D. Luís, no terreiro de S. Francisco, em 20 de outubro de 1887? De facto, quando Guimarães celebrava o oitavo centenário do nascimento do rei fundador, em 1911, Imagem da coleção Reinaldo Arnaud esta estátua real, de autoria do escultor Soares dos Reis, seria transferida do Largo de S. Francisco para o Toural. Antes, porém, na segunda metade do século XIX, já o Toural se havia transformado num espaço verde, cercado com grades e portões de ferro, que era fechado à noite. Curiosamente, um lugar chique, no qual (está admirado?!), não era permitido circularem pessoas descalças nem homens sem gravata! Todavia, perante vários protestos, estas proibições acabariam por ser retiradas, assim como as grades. De igual modo, de lá sairia o coreto existente desde 1880, que seria transferido para o terreiro de S. Francisco; e abandonado e destruído o lago de peixinhos vermelhos que também lá existiu! Todavia, a estátua do primeiro rei não ficaria por muito tempo no Toural. Assim, em de 21 de maio de 1940, a estátua de D. Afonso Henriques seria apeada e implantada no seu “ambiente próprio”, junto ao castelo, onde hoje ainda se encontra.

Contudo, nem só a estátua do rei Afonso andou em bolandas, de um sítio para outro! De facto, existiu também no Toural um chafariz executado em 1583, segundo risco do mestre de pedraria vimaranense Gonçalo Lopes. Um chafariz em estilo maneirista, com três taças, que em 1873 seria retirado para o Jardim do
Carmo. Isso mesmo, o chafariz à volta do qual, tradicionalmente, se elege a Comissão de Festas Nicolinas e que hoje está novamente no Toural!

De facto, mudam-se os tempos e as vontades, como diria Camões, e de novo o chafariz regressaria ao Toural, em 2012, aquando da consagração de Guimarães como Capital Europeia da Cultura. Mas não parariam por aqui as mudanças, geralmente ao sabor dos acontecimentos e ocorrências marcantes da cidade. Foi o caso do ano de 1953, data da comemoração do Milénio de Guimarães e do Centenário da Elevação de Guimarães a Cidade. Efetivamente, nesse ano seria colocada no Toural uma fonte escultórica simbolizando a Vitória, (a vitória e não o Vitória) do escultor vimaranense Sequeira Braga. No entanto, também esta escultura já não está lá, replicará admirado! De facto, em 2012, seria transferida para a Alameda Doutor Alfredo Pimenta, defronte à Escola Secundária Francisco de Holanda. Entretanto, no mesmo ano de 1953, o Toural assistiria ainda à inauguração, no seu território, do Café Milenário (assim chamado pelos festejos do Milénio de Guimarães). E, no início do século XX, começavam a sentir-se os primeiros problemas de trânsito e estacionamento automóvel no Toural, que outrossim chegou a ter aí instalada uma bomba de gasolina. É óbvio que os problemas de estacionamento, não terão sido por “culpa” de Bernardino Jordão, que em 13 de março de 1904 terá adquirido um dos primeiros automóveis comprados por um “vimaranense”, mas cer- Toural antes da demolição da muralha, sec. XVIII. Ilustração de Alexandre Reis (2011), publicada no opúsculo “Um percurso pelas tamente por tudo o que seguiu depois, em matéria de Muralhas de Guimarães” , de Miguel Bastos, julho de 2015. estacionamento e passagem (quase) obrigatória pelo Toural, muitas das vezes para ver e ser visto com o braço de fora ou ouvido ao som da música pimba ou eletrónica … Todavia e na realidade, o Toural teria ao longo dos tempos, várias mudanças e várias configurações e aspetos. De facto, desde a atual fachada pombalina do lado nascente, que só seria construída após a demolição da muralha existente, após 1793, até toda a parte norte reconstruída depois do terrível incêndio

ocorrido na madrugada de 4 de junho de 1869, que no Toural, à laia de Lavoisier, algo se perde e algo transforma. Mesmo na parte poente, onde se manteria o palacete dos fidalgos do Toural, mas que a posterior construção da Igreja de S. Pedro, obrigaria a alterar quanto baste.
HISTÓRIAS DO TOURAL
Porém, o nosso Toural tem também muitas histórias para contar. Há petróleo no Toural, é uma dessas histórias, recordada na Casa da Memória! Tudo aconteceu, de facto, em 13 de agosto de 1924, aquando das obras de rebaixamento de um prédio para instalação de uma agência do Banco do Minho. Na altura, noticiava o Comércio de Guimarães que fora encontrado “um líquido que pela sua cor e cheiro nos faz supor tratar-se duma nascente ou veio de petróleo!”. E que, pelos vistos ardia bem!
O que é certo, é que “foram retiradas amostras para se proceder a análises, ficando suspensas as obras”, tendo a Direção do Banco do Minho pedido “autorização para proceder a pesquisas” Mas, até hoje, nem um fiozinho do “precioso”!… E ainda bem, dirá da sua justiça… Outra história tem a ver com as obras da Basílica de S. Pedro, que só terminariam em 1883/1884! Uma obra que gastaria muitos anos para a sua conclusão e que mesmo assim, por aquilo que consta, ainda lhe falta qualquer coisa! Não nota que lhe falta alguma coisa?

Toural após a renovação de 2012. Foto de Paulo Pacheco.
Exatamente, caro leitor, faltará uma outra torre sineira que estaria simetricamente projetada, mas que nunca foi construída! Mas, ainda bem, dirá o estimado leitor, pois assim (ainda) existiriam avariados mais relógios da torre sineira! Conta-se também que a igreja teria sido profanada e usada como cavalariça em 1809, durante a 2ª. invasão francesa, quando as tropas napoleónicas comandadas pelo general Soult entraram em Guimarães. Relata-se ainda que no dia 1 de dezembro de 1942, a igreja foi também o local de uma tragédia, com dezenas de feridos e 10 mortos, alguns de menor idade. Tudo aconteceu durante uma missa de almas, manhã cedo, quando o soalho da igreja cedeu devido ao peso excessivo, resultante da aglomeração das pessoas que
pediam a esmola de pão, nesses tempos de fome da II Grande Guerra Mundial. Além disso, no Toural existiu também um belo café, o Café Oriental, inaugurado em 19 de dezembro de 1925 com decorações inspiradas em cenas da vida da antiga civilização egípcia, com esfinges, pirâmides e esculturas de faraós, concebido pelo capitão Luís de Pina. Eram os tempos da egiptomania, decorrentes da descoberta do túmulo de Tutankhamon, em 1925.
Porém, um café sobre o qual José Sant’Ana Dionísio, escritor e jornalista, escreveria, no Comércio do Porto de 11 de setembro de 1926, ser digno de “um bar de turistas do Cairo, ou, talvez melhor ainda, duma sala do British Museum, em Londres”, acabaria infelizmente por ser adquirido por um banco, em 1968 e ignobilmente seria destruído!!! Igualmente, no Toural, é também possível observar ainda um dos mais importantes edifícios da chamada arte dos fingidos, técnica grecoromana recuperada no período barroco, que consiste na imitação pintada de materiais nobres, como a mármore, madeiras, lacas, etc. Com efeito, se reparar bem no edifício do antigo Banco Nacional Ultramarino (atual hotel, situado entre a esquina do Toural e a Rua D. João I), verificará que o granito da fachada se confina apenas ao rés-dochão, porque a pedra dos restantes pisos é apenas fingida e o resultado desta arte do engano, denominada arte dos fingidos.
Ademais, no Toural haveria também de nascer Abel Salazar (18891946), considerado o “Da Vinci vimaranense”, que numa placa no local e no busto junto à Caixa Geral de Depósitos é recordado, cujo nome é ainda relembrado na cidade, na Alameda Abel Salazar e no Agrupamento de Escolas Abel Salazar, em Ronfe. Médico, cientista, artista e crítico plástico, professor conceituado e escritor, Abel Salazar é indubitavelmente um caso singular na cultura portuguesa e uma das personalidades mais prestigiadas do seu tempo, que ainda hoje pode ser revisitado na sua Casa-Museu, em S. Mamede de Infesta. Aliás, o seu nome é também recordado no Porto, onde exerceu a sua atividade profissional, quer no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, quer no Largo Professor Abel Salazar e ainda numa estátua, implantada no jardim do Carregal.
Arte dos fingidos

CENTRO CÍVICO VIMARANENSE
Mas acima de tudo e ao longo dos tempos, o Toural foi um centro cívico de excelência da sociedade vimaranense: “o centro da cavaqueira indígena”, como se lê no Minho Pitoresco. Com efeito, o Toural era, nos meados do século XVII e segundo o Padre Torcato Peixoto de Azevedo, autor das “Memórias Ressuscitadas de Guimarães”, uma ampla praça e “uma das melhores do Reino”. Mas também, como escreveria o Padre Caldas, um terreiro “quase intransitável em tempos invernais”, apesar de ser o coração de Guimarães. Aí se situaram cerca de 12 estalagens em 1760 e se localizou o célebre botequim do Vago Mestre, tasca fina, frequentada pelos intelectuais locais, entre os quais Camilo Castelo Branco, Toural nos tempos antigos com a visão da Igreja de S.Dâmaso aquando da sua residência temporária por terras minhotas. E aí chegou também a ser implantada uma forca que felizmente, ao que consta, nunca teria funcionado! Mas, aí funcionaria também o comércio local, sob as alpendradas da praça, como a feira dos panos de linho, a feira do pão e da louça e as doceiras, bastante afamadas por este país fora. Efetivamente, o Toural sempre foi a sala de visitas de Guimarães, onde se reunia o escol da sociedade vimaranense. Ali se situava, já no dealbar do século XX, a célebre Casa Havaneza, o Café da Porta da Vila, o High-Life dos chapéus e das modas, a loja do Vinagreiro, cedida posteriormente ao Banco Nacional Ultramarino, o “Parrameco”, o “Chafarica”, entre muitos outros estabelecimentos comerciais. Um terreno neutro e equânime das grandes discussões, duelos de oratória, entremeadas por umas tacadas de bilhar e umas xícaras de chá … Realmente, ali, decorreria quase tudo! De facto, além dos atos festivos, ocorreriam também aqui as manifestações políticas, ligadas à guerra civil (1828-1834), à Maria da Fonte e à Patuleia (1846-1847) e, mais tarde, à Revolta da Maria Bernarda (1862), e, claro, ao 25 de Abril dos nossos tempos.

E, pasme-se, também e até os ajustes de contas! De facto, consta que em pleno Toural, Martins Sarmento terá encaixado uns sopapos a certo padre, e que o historiador Alfredo Pimenta e o arqueólogo Mário Cardoso se teriam envolvido numa (escandalosa) cena de pancadaria neste local … Mas, além disso, o Toural foi também em tempos o espaço fundamental das Nicolinas, quer dos números do Pinheiro quer das Maçãzinhas. Com efeito, só quando o espaço foi ajardinado e cercado de grades é que alguns números nicolinos mudariam de local. E há até notícias trágicas do evento, em 1842, data em que o Pinheiro caiu no Toural e atingiu mortalmente um rapaz de 10 anos. No entanto, o Toural foi também o palco de muitas alegrias, em especial o 25 de Abril e de belos espetáculos, em especial no decurso e âmbito de Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura. E, obviamente, nos triunfos e vitórias do nosso Vitória! Aliás, contam as crónicas que o Vitória começou a ser discutido na Chapelaria Macedo, situada no Toural e aqui terá funcionado a sua primeira sede, desde a sua fundação em 1922, situação que se manteve até ao ano de 1948, época em que terá ocorrido a sua transferência para a Rua D. João I. Porém e acima de tudo, aqui se celebrou em 1934 a primeira conquista vitoriana do campeonato distrital de futebol, título renovado em 36/37 e 37/38. Aqui se festejou também a subida ao escalão máximo do futebol nacional em 1942, a subida ao campeonato nacional da 1ª. divisão, em 1952 ou os acontecimentos marcantes de 1958, aquando da candidatura presidencial de Humberto Delgado. Aqui se comemorou ainda o regresso à primeira divisão em 2007, após da descida por um ano à divisão secundária. Aqui se gritou e saltou, em maio de 2013, pela conquista da Taça de Portugal! Aqui, estamos certos, muitas outras alegrias irão ainda ser vividas indelevelmente por vindouras gerações de vimaranenses …

O Toural pelos nossos escritores
Equipa redatorial
O Toural tem sido ao longo dos séculos um espaço e sítio emblemático dos vimaranenses, quer do ponto de vista comercial quer de lazer. Não admira por isso que seja sistematicamente referenciado por vários escritores, como o documenta este excerto do “Arquivo Pitoresco”, de Vilhena Barbosa, datado de 1864:
“É aqui, nas lojas, e no passeio de lajedo que corre junto delas, que se reuniram diariamente os tafuis e passeantes, para matarem as horas de ócio, conversando e inquirindo novidades. (…) Ninguém se estranhava por isso, que alguma dama de ampla saia de balão e minúscula sombrinha de rendas, botins de duraque e touquinha de grinaldas, atravessando o largo acompanhada de qualquer leão janota, de farta cabeleira, romântica, sobrecasaca de baetão e colete de fantasia, calça de boca larga unida à bota com presilhas e chapéu alto”. De facto, o Toural no século XIX era não só um local de comércio, no qual se passeava a moda da época, como também um espaço de convívio, mas também, como esta passagem da obra “Guimarães”, de autoria do Padre António Caldas (1843-1884) bem dilucida e historia, o centro de (des) encontro e de expressão das visões político-sociais desses tempos:
“O campo do Toural ainda há pouco, até 1873, quase intransitável em tempos invernosos, oferece agora para recreio e descanso um pequeno, mas elegante jardim.
Este campo, que em 1861 era considerado o melhor rocio da vila, tinha sido em 1585 enriquecido com um formoso chafariz de três taças, sendo de três metros de diâmetro a maior: o qual foi demolido a 3 de Junho de 1873.
Defronte, levanta-se majestoso, como obra de arte igualmente digna de atenção, o cruzeiro da Irmandade do Rosário, também pouco tempo depois demolido e inutilizado.
A fachada oriental deste campo, com o aspeto de um só edifício regular e simétrico, de quarenta e quatro portas e cento e vinte e cinco janelas, foi levantado por iniciativa particular no fim do século passado. No centro desta fachada, alçava-se um majestoso frontão, pousando-lhe no vértice a estátua colossal da Fama, empunhando um clarim de metal. Tanto esta, porém, como o frontão, foram posteriormente abatidos; porque o seu peso considerável ia fazendo afastar as paredes da linha de prumo.
Depois do pavoroso incêndio, que na noite de 4 de Junho de 1869 reduzira a cinzas quase todas as casas do lado norte – ocasionando a morte de quatro pessoas – foi ainda este campo aformoseado com a edificação de novos prédios, que se levantaram donairosos nas cinzas dos antigos.
Já em 1834 havia planos para restaurar e ornar de qualquer modo este campo, o mais regular e o mais importante de Guimarães; e a este respeito oferecerei aos meus leitores a seguinte notícia:
Em sessão de 2 de Outubro de 1834, o vereador Manuel António Moreira de Sá apresenta a seguinte proposta:
Proponho, que em lugar das solenes exéquias, que deveriam fazer por ocasião do falecimento do incomparável Duque de Bragança se lhe erga na Praça do Toural uma pirâmide quadrangular de pedra fina, cujo ápice sustente um livro, representando a Carta Constitucional que ele nos outorgou; e uma espada, representando aquela com que o herói libertou a pátria.
Todavia, esta escultura a D. Pedro de Alcântara, Bragança e Bourbon, que foi imperador do Brasil e rei de Portugal, que evocaria a vitória do liberalismo contra o miguelismo, em 1832, jamais chegaria a realizarse.
De facto, são comuns as referências ao Toural no decurso das disputas entre liberais e absolutistas, quer como lugar de festejos quer de protestos, como se refere em “Velharias, in Gil Vicente, vol. II (p.173):
“Em 31 de Julho de 1826, dia destinado ao juramento sole e da Carta Constitucional, outorgada por D. Pedro IV a 29 de Abril do mesmo ano, acordaram os habitantes desta vila ao estrondo de vinte e um tiros de mortares dados na Praça do Toural, e ao som dos hinos constitucionais executados pela banda marcial do Regimento de Infantaria 20, que percorrera então as principais ruas, acompanhada por muito povo (…) À noite foi deslumbrante a iluminação no campo do Toural. No centro deste campo via-se a fachada de um grande templo, fingindo mármores, realçando no meio dele iluminada por centenares de lumes de cera a figura da Constituição (…)”
O Toural é também espaço referenciado na novela camiliana “A Viúva do Enforcado”, inserida na obra “Novelas do Minho”, cuja ação decorre em Guimarães:
“O tio Manuel era irmão do Joaquim. Tinha oficina de curtidor na Rua dos Pelames, no Porto, e era muito rico, e viúvo sem filhos, com cinquenta anos, sujos, sim, mas bem conservados. Tinha passado a festa de Natal de 1822 em Guimarães e levara à sobrinha um grilão de ouro da sua viúva, dentro de uma rosca de pão-de-ló. (…) Acompanhou o tio Manuel a sobrinha à missa do galo e embirrou com o fidalgo do Toural, que le atirou confettis a ela, e a ele dois rebuçados velhos à cara que pareciam de chumbo. Todavia, notou a austera gravidade de Teresa, que nunca voltou o rosto para ver donde lhe atiraram os confettis”. Os jardins do Toural e a sua configuração ao longo dos tempos, são outros aspetos ventilados assiduamente. Assim, de autoria do inglês Anthony Kinnon,

radicado em Guimarães por um casamento vimaranense e extraído do seu livro “Guimarães: século XIX, de vila a cidade”, respigamos a seguinte passagem, sob o título “Os Jardins do Toural”:
“Construído dentro da estética urbanística francesa, o jardim tomou por modelo o Largo da Batalha, no Porto. O novo mobiliário urbano de ferro fundido estava muito em evidência no gradeamento, mictório, bancos, candeeiro e coreto - referido como pavilhão acústico nos jornais da época - montado a 1 de Março de 1880 e inaugurado pela banda “União Vimaranense”, no dia 7. A sua construção permitia que dessem concertos ao ar livre nas noites de verão e, com a implantação do regimento 20 em Guimarães, a banda dessa unidade militar podia contribuir para a vida cultural da cidade. Como pano de fundo, tinhas novas construções resultantes do pavoroso incêndio que, em 4 de Junho de 1869, deflagrou nos prédios da ala norte do Toural.

Foto do Grande Hotel de Guimarães - coleção Reinaldo Arnaud No processo de transformação, os marcos centenários começaram a ser removidos, começando com o belo chafariz de três taças. Neste dia (26-10-1865) aparece demolida uma parte do chafariz do Toural, o que deu lugar a juntar-se aí muito povo fazendo comentários a tal obra exercida de noite por ordem camarária. O chafariz passou para o centro de um novo espaço verde, que foi criado a nascente, até ser substituído por um fontanário de mármore branco. O cruzeiro, conhecido por “cruzeiro do fiado”, por ser o local onde se vendia linha, foi removido, em 1874, do local onde existia a poente.
Em Março de 1881, a Irmandade de S. Pedro iniciou a construção da nova igreja, começando pela demolição das casas da Irmandade de S. Pedro, a fim de rematar a fachada principal da Basílica, conferindo assim um novo aspeto ao Terreiro. A grande cruz pontifical foi colocada em 23-04-1884.
O Grande Hotel de Guimarães foi inaugurado, no lado nascente do Toural, a 2 de Outubro de 1886. É este o estabelecimento que nesta cidade mais divertimentos e comodidades oferece aos seus hóspedes, rezava a publicidade de 1898, altura em que Domingos José Pires já era proprietário. O seu serviço de mesa é excelente; tem um magnífico salão de recreio com piano; sala com dois bilhares e outros jogos não proibidos; sala de banhos –quentes e frios – e rede eléctrica.”
Finalmente, extraído da Revista de Guimarães (vol. XXXIV, pág. 125), destacamos a seguinte passagem
sobre o famoso botequim do Vago Mestre, situado no Toural:
“O estabelecimento pertencia a José Joaquim da Costa, homem férreo, de austeras virtudes, de sãos e inflexíveis princípios. O botequim era uma sala acanhada, de paredes nuas e pequena altura, com duas portas para a Praça do Toural, sala quase tão larga que comprida, que quatro únicas mesas de simples luzidio mármore, com as competentes cadeiras de palhinha – não muito confortáveis – mas muito frescas, guarneciam e enchiam, escassamente iluminada por outros tantos candeeiros de azeite. De mistura com a frangipani, a canela e a baunilha, perfumavam-no os afamados produtos da Arábia e do México. (…), subindo e espalhando-se no ambiente entre as emanações culinárias duma cozinha que se perscrutava, (…) mas que não se via, por estar edificada nas traseiras do prédio.
Por ali passaram tudo quanto, em Guimarães, havia, então, de mais nobre e mais selecto, de mais ilustre e mais distinto, nas ciências e nas letras, nas artes e nas indústrias, no comércio e na agricultura (…). Dessa plêiade ilustre era Francisco Martins Sarmento (…), Joaquim José de Meira, António Coelho da Mota Prego, Adolfo Salazar e Manuel Freitas Aguiar (….) Foi simultaneamente, associação e grémio, academia e cenáculo, e quantas vezes até – a casa da câmara e tribunal! Todas as questões se trataram ali; dali se orientava e dirigia a opinião; ali se criaram, formaram e discutiram todos os empreendimentos da moderna Guimarães”.
Era assim o nosso Toural no século XIX, na perspetiva dos nos nossos escritores.
Abel Salazar: O Da Vinci Vimaranense
Álvaro Nunes
ABEL (de Lima) SALAZAR (1889-1946) nasceu no Toural, em Guimarães, local onde se encontra evocado numa placa evocativa e num busto. Médico, cientista, escritor e artista plástico, Abel Salazar é indubitavelmente um caso singular da cultura portuguesa e uma das personalidades mais prestigiadas do seu tempo.
Com efeito, considerado o “Da Vinci” vimaranense, este nosso Salazar foi pelo seu poliformismo um homem renascentista, que de forma multifacetada e de espírito aberto conciliou como poucos a atividade científica e a dimensão artística e pedagógica.
Tudo começou na cidade-berço, onde nasceu em 19 de julho de 1889, como filho mais velho de Adelaide da Luz Lima e Adolfo Pereira Salazar, professor de Francês na Escola Francisco de Holanda, também cultor da escrita na Revista de Guimarães e secretário/bibliotecário da Sociedade Martins Sarmento. De facto, aqui iniciaria Abel Salazar os seus estudos no Seminário Liceu de Guimarães, onde seria colega de Manuel Gonçalves Cerejeira, futuro cardeal patriarca. Todavia, ainda Casa onde nasceu Abel Salazar
jovem, viria morar para o Porto, em companhia de seus pais, devido ao facto da disciplina de Francês ter sido extinta na Escola Francisco de Holanda. Consta ainda que nesse período estudantil e liceal se lhe deve, conjuntamente com outros estudantes, a publicação do jornal escolar “O Arquivo”, que refletia as ideias políticas republicanas dos seus promotores e publicava caricaturas suas, mostrando precocemente as suas aptidões artísticas. Entrementes, então, já no Porto, frequentaria o Liceu Central e posteriormente ingressaria na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, em 1909, cujo curso terminaria em 1915, com a tese de dissertação intitulada “Ensaio de Psicologia Filosófica”, classificada com a nota máxima de 20 valores. Deste modo, graças ao seu esforço e formação esmerada, ganharia quase de imediato o concurso a vaga de professor contratado em Histologia, passando dois anos depois à condição de professor ordinário, e, seguidamente, em 1919, a dirigir o Instituto de Histologia e Embriologia. Aí, e após o casamento com Zélia

Barros, em 1921, relação da qual não nasceriam filhos, iniciaria a sua vida afetiva, a par com notáveis trabalhos científicos diversos no âmbito dos tecidos celulares, anatomia do cérebro e sobre a estrutura e evolução do ovário. Investigações científicas que acabariam coroados de êxito, com o célebre “Método Tano-férrico de Salazar”, que lhe abriria as portas do meio científico, quer à escala nacional quer universal. Simultaneamente, torna-se colaborador do anatomista Prof. Champy, em Paris, e subscreve então vários manifestos contra a ditadura portuguesa, numa postura de militante republicano e democrata que lhe valeria em 1935 a exoneração pelo homónimo Salazar (António de Oliveira). Na realidade, conjuntamente com outros nomes prestigiados da universidade portuguesa, como Aurélio Quintanilha, Rodrigues Lapa, Álvaro Lapa e Norton de Matos, Abel Salazar fica proibido de lecionar e investigar, bem como de sair do país, ou simplesmente de ter acesso à biblioteca da sua faculdade. A razão, se razão houvera, fica bem explícita nestas suas palavras e métodos (pouco “científicos”) da ditadura salazarista:
“Além dos trabalhos científicos fiz na universidade cursos sobre a Filosofia da Arte, conferências de Filosofia, onde desenvolvi um sistema de Filosofia que acabo por constatar com satisfação ser bastante próximo da Escola de Viena. Foi o desenvolvimento deste sistema filosófico que, tendo desagradado à Ditadura e ao Catolicismo, que foram a causa principal da minha revogação. Mas, como a ditadura não se podia basear nesta questão, ela torneou a questão, fazendo através da sua imprensa uma campanha de difamação, após a qual me demitiu sem processo nem julgamento. (…) Esclareço que nunca fui um político, toda a minha vida me ocupei unicamente da atividade intelectual.”
Paralelamente, na escrita, Abel Salazar notabiliza-se em diversas revistas e jornais. Deste modo, entre muitos outros, escreve na “Seara Busto de Abel Salazar colocado no largo do Toural. Foto de Secundino Ferreira
Nova”, no “Primeiro de Janeiro”, e no “Diabo”, periódico dos intelectuais portugueses da época e de oposição ao regime, que em suas páginas regista:

“Abel Salazar, nosso eminente colaborador, é uma das figuras de maior relevo como cientista. É-o igualmente como escritor. É-o ainda como artista e político. Para encontrar um homem que parece feito de pedaços de vários homens, todos eles notáveis, somos forçados a andar para trás nos tempos e recordar personalidades ricas, riquíssimas, geniais como houve alguns há quinhentos anos.
De facto, no jornal “O Diabo”, Abel Salazar escreveria, entre 1936-1939, uma série de 51 artigos sobre “O Pensamento Positivo Contemporâneo” que divulgaria em Portugal o pensamento científico e da época e daria a conhecer as ideias da corrente filosófica do empirismo lógico europeu, na esteira de John Locke, David Hume e Bertrand Russel. Porém, entre as suas publicações multifacetadas, em que se contam 113 trabalhos científicos, inseremse também outros assuntos e temas diversificados, que demonstram a sua polivalência e ecletismo. Basta recordar as suas “Digressões a Portugal” (1935) ou as “Recordações do Minho Arcaico” (1939), numa deambulação mais terra a terra, mas também aspetos mais reflexivos como “A Crise da Europa” (1942), para além das publicações de carácter mais científico como “A Posição Atual da Ciência, da Filosofia e da Religião” (1934), e até outros de filosofia artística como “O que é a Arte?” (1940). Efetivamente, o afastamento compulsivo da universidade leva-o a dedicar-se à arte, revelando a sua (outra) característica de artista e crítico plástico, para além das anteriores facetas de cientista, professor, pedagogo, filósofo e escritor de vários temas e vertentes. Uma espécie de homem dos sete instrumentos, como sói dizer-se popularmente, que Amândio Siva, diretor artístico da Casa-Museu Abel Salazar, sintetiza do ponto de vista artístico:
“Abel Salazar como pintor foi sempre um intérprete de uma realidade social do seu tempo. As variadas técnicas que sofregamente o vemos experimentar são uma das facetas mais notáveis do seu temperamento de artista e da sua capacidade polivalente. Reconhecido como pintor e desenhador, ele ainda tem uma pujante e qualificada obra como caricaturista, gravador, escultor e martelador de cobres, aqui também caso único entre artistas contemporâneos.”
De facto, também na perspetiva artística, Abel Salazar marcaria pontos pela sua arte socialmente comprometida, que evidencia a dignidade e nobreza do trabalho braçal e popular, em especial das mulheres da ribeira portuense, na sua labuta quotidiana. Ressalta assim um estilo portador duma herança naturalista de profundo humanismo que exalta etnograficamente a vida rústica e simples, que alguns críticos tendem a classificá-la como precursora de um certo neorrealismo com tendências impressionistas, assumidos por extensão como instrumentos de denúncia da opressão e injustiças sociais.
Abel Salazar viria a falecer, após doença prolongada, vítima de cancro, em 29 de dezembro de 1946, em Lisboa, na casa de sua irmã Dulce Salazar. Tinha apenas 56 anos e certamente muito ainda para nos legar … No entanto, atualmente a sua vida e obra encontra-se evocada e à guarda da Casa-Museu Abel Salazar, em S. Mamede de Infesta, uma instituição de utilidade pública tutelada pela Universidade do Porto, cuja missão consiste em promover a investigação, o estudo e a divulgação da obra científica, literária, filosófica e artística de Abel Salazar. Ali e aqui tão perto, podemos revê-lo naquele espaço que foi sua casa, justificando-se cabalmente uma visita. Ali, com efeito, um pouco da sua vida e obra pode ser vivenciada e apreciada nas suas várias dimensões, bastando meter pés a caminho …
Em Guimarães, por seu turno, além da placa evocativa e do seu busto, no Toural, sua memória permanece na toponímia da cidade (Alameda Abel Salazar) e como patrono do Agrupamento de Escolas Abel Salazar, em Ronfe. No Porto, seu nome é recordado no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e na toponímia da cidade invicta, urbe que lhe dedica ainda uma estátua, implantada no Jardim do Carregal.
No fundo, o retrato do “homem que parece feito de pedaços de vários homens, todos notáveis”, a justificar plenamente esta evocação, preito e o epíteto “Da Vinci Vimaranense”.

Foto de Secundino Ferreira
In memoriam do Café Oriental
Álvaro Nunes
“Oh as casas as casas as casas/mudas testemunhas da vida/elas morrem não só ao ser demolidas/Elas morrem com a morte das pessoas (…)”
Este excerto poético de Ruy Belo bem poderia ser um epitáfio elegíaco do Café Oriental, inaugurado em 19 de dezembro de 1925 e destruído em 1968 para dar lugar ao Banco Português do Atlântico. Porém, e acima de tudo, estes versos funcionam mais como um cartaz de protesto e alerta, contra os “crimes” de lesa património que acontecem impunemente e por vezes sob o manto diáfano dos interesses instalados.
Com efeito, há mais de 50 anos atrás, Guimarães assistiu desdenhosamente a este atentado irreparável ao património e à memória da cidade, perante as máquinas e instrumentos demolidores do poder (outrora) estabelecido. Sem dúvida, um crime de lesa património que nos envergonha, não só por esta perda irrecuperável, mas também pela indiferença e/ou certa impotência dos poderes públicos instituídos, nesses tempos.
Imagem da coleção Arnaud

Mas vamos à história, socorrendo-nos da imprensa da época, concretamente “O Comércio de Guimarães” de 18 de dezembro de 1925:
“Amanhã, sábado, vai ser inaugurado, ali no Toural, na antiga casa Magalhães, o mais distinto estabelecimento em conceção artística, em apuro inteligente de gosto, moldado de feição e em costumes à maneira egípcia, apuro meticuloso de uma observação rigorosa, onde tudo se calha em uniformidade, desde as figuras de maior nomeada egípcia, espalhadas com largueza, traçadas em linhas corretas e em avivado tom de pinceladas firmes nos dois panos altos de parede até aos miudeiros motivos de adorno, que são como a nota etnográfica dos nossos esgrafitos portugueses, em enfeite nas frontarias das velhas casas e solares antigos.
De facto, concebido e montado pelo capitão e artista republicano Luís Augusto de Pina Guimarães (este último apelido, ao que se diz, acrescentado pelas suas ligações à cidade), o café apresentava grandes painéis murais reproduzindo cenas da antiga civilização egípcia, de grande beleza e suntuosidade. Eram os tempos
da chamada “egiptomania” que grassava em toda a Europa, que aqui fora acolhida de forma vanguardista e pioneira. Um interesse de cariz universalista que, segundo corre voz, decorreria do impacto da descoberta do túmulo (intacto) de Tutankhamon, em setembro de 1922.
Mas, acima de tudo, um belíssimo projeto de arquitetura, decoração, pintura, escultura e marcenaria de Luís de Pina (herói condecorado das campanhas de África e redator do jornal vimaranense Alvorada), que os empresários José e Francisco da Costa Guimarães, em sociedade com Eugénio Leite Basto e José Fernandes da Costa, assumiram como um empreendimento arrojado. Aliás, este edifício surpreenderia de sobremaneira o escritor, professor e pensador José Sant’Anna Dionísio, quando aqui pernoitou, a propósito de uma visita de reencontro com Raul Brandão. Surpresa de que daria conta numa crónica d’O Comércio do Porto de 11 de setembro de 1926 e da qual respigamos esta passagem:
(…) “A cena toda tem um ar teatral. Há escravos esmagados, pelos carros. Há setas cravadas nos ventres. Há mutilados. (…) De resto, o painel não tem mais de vinte guerreiros, incluindo os solípedes. O pintor – o capitão Pina – é fiel às características da Arte do Nilo, dando às figuras a rigidez da frontalidade, a indigência de dinamismo vital e a ausência desagradável de expressão fisionómica.


Imagens da coleção Reinaldo Arnaud
Da banda daqui, na última parede, há algumas figuras enormes e bizarras. É uma cena religiosa, duma solenidade macabra. Diante de Osíris, faz-se o julgamento da alma dum defunto. Anúbis, deus com cabeça de chacal, pesa o coração do “réu”. À sessão assiste ainda Shot, o conselheiro de Osíris, e Apet, deus de cabeça de crocodilo.
A sala que aqui tenho está cheia disto. Se não fossem os dois carros – um Lancia de 60 HP, vintesco, e um carro de bois, bíblico de aspeto, paquidérmico de andar – que ali estão parados, lado a lado; se não fosse ainda o sonido brônzeo do campanário defronte e os pedantifs do BNU e os lapuzes que passam diante das portas
copiadas do pavilhão de Ramsés II, de bom grado suspeitaria que não estou a escrever dum botequim dum vilório minhoto, mas de um bar de turistas no Cairo, ou, talvez melhor ainda, duma sala do British Museum, em Londres”. De facto, em 1968, Guimarães perderia irremediavelmente esse cosmopolitismo dos ares do Cairo e/ou da dignidade de uma sala do Museu Britânico. Tudo se desfez, irremediavelmente e impunemente! Mas, com a suprema ironia, ou quiçá por praga ou maldição dos deuses, até o próprio banco aqui instalado, acabaria por ser transferido para outras paragens … Desconhecemos, contudo, e ainda o que terá acontecido ao bar egípcio de Braga, que o Sindicato dos Empregados do Comércio local terá plagiado, dez anos volvidos …
Outrossim, ao que consta, “o Café Oriental era muito frequentado e a ele acorriam muitos que desejavam ouvir a conhecida Orquestra Lusitana que lá atuava”. E aqui, segundo o Notícias de Guimarães de 16 de fevereiro de 1935, se teria despedido essa orquestra, que teve a colaboração de António Guise e Manuel Marques Ferreira – lê-se no livro “Histórias à volta do Toural (2008), de Fernando José Teixeira. E, para vislumbrar bem o que se perdeu, terminamos exatamente com uma transcrição descritiva do citado livro:
“O café apresentava dois grandes painéis murais com as reproduções de obras primas da pintura egípcia. Um deles mostrava um relevo polícromo de Seti, faraó da XIX Dinastia, existente no seu templo de Ábidos, mostrando o rei, de joelhos, recebendo de Amon os atributos da realeza, tendo, atrás de si, o deus Khnum, com cabeça de bode encimada pelo disco solar. Na parede adjacente, havia o painel da batalha de Kadesh, travada entre os egípcios de Ramsés II e os hititas do rei Muwatali, perto de Kadesh, na Síria actual.
Ladeando uma escadaria que levava à entrada do café pela Porta da Vila, encontravam-se duas notáveis esculturas sentadas: a do faraó Ramsés II e a da princesa Nofret”.
Ao que se sabe, apenas duas notáveis peças de mobiliário estarão (ainda) a salvo e à guarda do Museu Alberto Sampaio. Mas perdeu-se o resto, do qual apenas ficam as fotografias …
Mete pena …
“Estórias” que a História há de classificar
Jerónimo de Sousa Gonçalves da Silva
Eis uma estória em torno da eleição de Humberto Delgado, passada no coração da cidade – o Largo do Toural. Estávamos em 1958, curiosamente, o ano do meu nascimento. E a dois anos do falecimento de A. J. Ferreira da Cunha, pai de Bento Ferreira da Cunha (o homem que calava os estádios com a sua voz gritando: “Vitória! Vitoria! Vitória!“). Como as Eleições eram a 8 de junho desse mesmo ano, havia que arranjar quem apoiasse a candidatura do General e claro que não havia melhor lugar para se discutir táticas e estratégias para que Américo Tomás não chegasse ao poder do que a Casa Ferreira da Cunha. Em Guimarães, no LARGO DO TOURAL, durante muitos anos funcionou a Escola Maçónica dirigida por


Fachada da Casa Ferreira da Cunha Traseiras da Casa Ferreira da Cunha
vários Republicanos da Ala Dura, gente de grande caráter e altruísmo, como o Dr. Mariano Felgueiras, A. J. Ferreira da Cunha, Manuel Caetano Martins, Francisco Martins "Careca" e tantos outros. Um dia, pelas 21 horas, soube-se que o General estava em Guimarães. Isto é, a PIDE, a Legião e alguns bufos foram em direção à velha Escola que, curiosamente também tinha, e tem, saída pela viela da Arrochela. Os bufos e legionários diziam: “Mate-se o Homem!” E foram pelo café dentro para o apanharem e talvez limpar-lhe o “sebo”. Quando o Largo estava por demais cercado de gente a favor do “Botas”...

Escadas do interior para as Traseiras Velha porta das Traseiras

Só havia uma solução, diz o velho Ferreira da Cunha: “Venha comigo!”. Da velha Escola à sua loja eram 25 metros. Viam-se as fileiras a engrossar na Rua da Caldeiroa, na Rua de Camões e na Rua D. João I. Já dentro da Casa Ferreira da Cunha o General e sua esposa Iva Delgado (que anos mais tarde faz esta descrição em entrevista) estavam seguros. E lá fora sentia-se a correria para o Oriental. Era uma loucura. Nesse tempo os empregados de Drogarias e Lojas de Ferragens usavam um solipó, que era uma espécie de bata mas de um pano rude e acastanhado. Como o general estava fardado e notavam-se as divisas
militares, o velho Ferreira da Cunha pôs-lhe por cima da farda o solipó e tirou-lhe o boné. O Ferreira da Cunha, o General e a Esposa e o velho Ferreira da Cunha desceram pelas escadas e foram os quatro Rua de Camões abaixo, com a multidão em sentido oposto para ver a chacina. O Ferreira da Cunha morava no n.º 45 da Rua de Camões e tinha um quintal, anexo ao Avelino Guimarães (Doceiro, mais tarde da pastelaria Vimaranense) que tinha saída para a Av. Afonso Henriques, onde o Benardino Jordão com o seu carro e motorista os aguardavam para levarem para o Porto. Ainda hoje alguns desses bufos estarão à espera da noite de nevoeiro onde aquele D. Sebastião aparecerá... A festa durou até às tantas, mas da marca do general... nada ficou. O meu pai, o meu avô e o meu tio João (os Maloios) fizeram parte da equipa da colagem dos cartazes e tiveram problemas com alguns polícias, pois meu pai era Zelador Municipal. Mas não foi nada que uns copos de vinho não fizessem esquecer o caso.
Tudo o que está aqui escrito foi-me contado por outrem e faz parte de um conjunto de textos da família Ferreira da Cunha, que jamais virão a público, por ser eu o último que acompanhei os dois filhos que ficaram: o João e o António.
O Fidalgo do Toural
A. Rocha e Costa
Chamava-se João António Vaz Vieira da Silva Melo Alvim Pinto Nápoles Teles de Menezes Madeira e Freitas. O comprimento do seu nome deixa desde logo adivinhar as suas origens nobres. Como era habitual à época, e ainda hoje continua a ser, de certo modo, os filhos e as filhas das famílias de linhagem, a que nos tempos que correm chamamos famílias com “pedigree”, estabeleciam entre si laços matrimoniais. Foi assim que, em 1869, se celebrou com pompa e circunstância o casamento do personagem atrás referido com D. Mécia de Arrochela Vieira de Almeida Sodré, filha dos condes de Arrochela. A cerimónia teve lugar no imponente Palácio do Cavalinho, também conhecido por Vila Flor, residência dos pais da noiva.
Doravante o casal passou a viver na casa do Toural, sendo designados como “fidalgos do Toural”. Sobre João Vaz Vieira (nome abreviado do Fidalgo do Toural) ainda hoje pende uma certa aura de mito, que tem a ver com as suas excentricidades e maneira de viver. Diz-se que tinha um refinado gosto pela música, chegando a dirigir as orquestras que financiava. Dono de uma fortuna considerável, que herdara de seu pai, o fidalgo do Toural passou a ser um mecenas, com fama de uma prodigalidade generosa, a ponto de ter oferecido aos músicos de uma orquestra que convidou e dirigiu, uns módicos 22 relógios de oiro, tantos quantos o número de músicos. Imaginemos o largo do Toural à época, com uma fisionomia completamente diferente da atual, repleto de povo embasbacado, enquanto nos salões da casa ecoavam os sons dos instrumentos musicais que adquiria a preços exorbitantes. Além de dirigir as orquestras também compunha, sendo, naquela época, o autor da música do Hino de Guimarães, que ofereceu à Câmara. No panorama nacional, o fidalgo do Toural não constitui caso único. Se consultarmos a historiografia da época, deparámo-nos igualmente com uma figura fora dos cânones. Trata-se de Joaquim Pedro Quintela, conde de Farrobo, que viveu entre 1801 e 1869. Ficaram célebres os seus saraus pela noite dentro, na Quinta dos Laranjais, nos arredores de Lisboa. Estes eventos tornaram-se de tal modo célebres e frequentes que as pessoas que os frequentavam diziam que iam para o “forrobodó”, numa alusão ao conde de Farrobo.
Por coincidência ou não, o conde de Farrobo foi um defensor da causa liberal, enquanto que o pai do Fidalgo do Toural esteve exilado na ilha Terceira, nos Açores, e aí veio a falecer, em 1829, por ter defendido igualmente a causa liberal. Certamente o clima liberal tornava-se mais propício ao florescimento das artes.

Casa do Fidalgo do Toural. Coleção Reinaldo Arnaud.
Quanto ao Fidalgo do Toural teve de vender a maior parte dos seus bens para pagar as dívidas, incluindo o Palacete do Toural, em cumprimento da execução do Tribunal.
Caído o pano, dizem os jornais da época que se “retirou de cabeça erguida, sem ódio, sem raiva, sem pedir nada. Sozinho, recolheu-se às Caldas de Vizela, aí vivendo do pouco que lhe ficou e de um ou outro biscate”. Morreu a 6 de janeiro de 1930 e repousa no cemitério de S. João das Caldas, numa campa térrea.
Quanto ao Palacete do Toural é atualmente ocupado pelo “Novo Banco”. Por ironia do destino ou não, o dito banco continua a “dar-nos música”, a diferença é que, indiretamente, temos de pagar o “bilhete” com uma parte dos nossos impostos.
A propósito das muralhas da cidade de Guimarães
Antero Ferreira Casa de Sarmento – Centro de Estudos do Património
«Cidade é todo o lugar que é cercado de muros, com os arrabaldes e os edifícios (…)»
Afonso X, o Sábio, citado por M. C. Falcão Ferreira (p. 235)
Em Guimarães, como em muitas outras cidades medievais, como se depreende das palavras de Afonso X, as muralhas foram o elemento definidor do espaço urbano. Contudo, ao longo dos séculos vão perdendo a sua principal utilidade, como nos recorda o Padre Caldas «com o progressivo aperfeiçoamento das armas, invenção da pólvora, e novos sistemas de defesa; e precisando por outro lado a vila, pelo crescente número de seus habitantes, de estender a sua área para fora delas; principiaram estas a demolir-se em partes (…)» (Caldas, 1996: 429). De facto, se a muralha cumpria a missão de conter os inimigos que tentavam tomar a cidade, também funcionava como barreira que continha o crescimento urbano. Por essa razão, antes mesmo de começar a ser desmontada, a muralha começou a ser integrada no espaço edificado. São várias as evidências desse processo. Recorde-se a significativa denominação toponímica Rua de Trás-do-Muro, rua que aliás se situava à frente do muro, do lado de fora das muralhas – pormenor curioso que nos conduz à interrogação natural de qual seria a frente para os nossos antepassados. Note-se ainda a integração da muralha no espaço edificado de uma série de ruas, por exemplo na Rua Nova do Muro ou na Rua de Arrochela. São vários os contratos de emprazamento em que encontramos sugestivas descrições desta integração da muralha no espaço edificado e, por vezes, da sua apropriação privada. Na descrição da casa da Rua de Arrochela emprazada pelo cabido da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira a D. Maria Teresa da Costa Silva e Alves63, afirma-se que «(…) tem estas casas serventia para o muro que fica sobre o Toural como também tem estas casas a serventia do muro e ameias que ficam nas traseiras das casas de baixo que ficam para o Norte que também são dela caseira porem o dito muro pertence a estas casas»; na Rua Nova do Muro, encontramos o Prazo que faz o Ilustríssimo cabido a Domingos José de Sampaio Peneda de uma morada de casas de dois sobrados, que «(…) para a sua traseira tem no primeiro andar tem hua porta para sima do muro
63 Arquivo Municipal Alfredo Pimenta (AMAP), Notas do D. Priorado, Livro n.º 27, 02/08/1800, fls. 23 - 25v, PT/AMAP/ECL/CSMOGMR/055/C-1006.
da villa (…) tem sua serventia por sima do muro com sua ameia»64; noutro extremo da cidade, na Rua do Gado, encontramos uma casa que confronta «(…) da parte do nassente com a rua publica de puente com o muro da villa onde vai acabar o quintal do norte com cazas e quintal delle cazeiro (…)»65 . Dos incómodos desta utilização privada nos dá nota Maria José Meireles (2021: 61) ao recordar uma reclamação dos representantes da cidade, em 1667, que «protestavam por não poderem ver as festas, fogos ou tomar o ar fresco e o calor, de verão e de inverno, devido não só ao muro se encontrar tapado, mas também porque do seu alto se lançava lixo sobre quem estava sentado junto dele, o que dava origem a problemas». Um ano antes, são apresentadas duas reclamações contra o tecelão Francisco Monteiro, morador na Rua da Arrochela, uma por tapar o muro, outra por ter aberto uma porta no muro que era inconveniente para o povo (Meireles, 2021: 61). Hoje em dia, para além da Torre da Alfândega e de alguns vestígios integrados em diversas construções, resta-nos o importante pano da muralha na Avenida Alberto Sampaio, um dos ex-libris da cidade de Guimarães, importante elemento simbólico de eras passadas. Mas por pouco os vimaranenses não poderiam usufruir desta perspetiva. Em 1803, o importante negociante de peles Cristóvão Francisco Barroso66, residente na Rua Nova do Muro, apresentou um projeto à Câmara de Guimarães, para construir uma moradia encostada à muralha, na Rua dos Trigais, desde a capela da Senhora da Guia até à Fonte da Barrela. Apesar de o projeto ter sido aprovado, por razões que desconhecemos, a construção acabou por não ir avante. Ainda bem! De mais esta ameaça à muralha da cidade restou um esquisso do projeto, que é uma das mais significativas imagens que temos desta parte da cidade, permitindo-nos perceber o conjunto de edificações que aí existiam. Aqui fica para nosso deleite.
Referências bibliográficas
Caldas, P. António (1996). Guimarães. Apontamentos para a sua história. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento e C. M. de Guimarães. Ferreira. M. Conceição Falcão (2010). Guimarães. Duas vilas um só povo. Braga: CITCEM.
64 AMAP, Livros de Notas, Livro n.º 55, 07/02/1811, fls. 181-182v, PT/AMAP/ECL/CSMOGMR/055/C-1010. 65 AMAP, Livros de Notas, Livro nº 21, 27/09/1756, fls. 300v – 303 v, PT/AMAP/ECL/CSMOGMR/055/C-972. 66 Natural da freguesia de São Gens, concelho de Fafe, Cristóvão nasceu a 05/10/1743 e faleceu na freguesia de Oliveira do Castelo (Guimarães); casou com Dona Ana Maria da Maia, em 05/05/1771, na freguesia de Oliveira do Castelo. Outras informações podem ser consultadas no Repositório Genealógico Nacional em: http://porgener.csarmento.uminho.pt/Individuos/Individuo/74021.
Meireles, M. J. Q (2021). O Património Urbano de Guimarães nos séculos XIX-XX. Guimarães: Casa da Memória e Muralha.

Legenda da imagem (grafia atualizada): Esta rua tem de comprimento até à quina da capela 117 varas contando da torre até à dita capela; tem de largura 20 na sua entrada. Tem o muro de altura 8 varas, e em parte mais. Para melhor mostrarmos os sítios conheceremos pelos números. N.1 Passeio que vai até às oliveiras. N. 2 Fonte chamada da barrela. N. 3 entrada da calçada que vai para Santa Cruz (por outro modo) a Torre dos Cães. N. 4 Caminho para o lugar da Pupa. N. 5 Caminho que vai para o lugar das Ortas. N. 6 entrada para o Campo da Feira. N. 7 Capela da Senhora da Guia. N.8 Lugar e sítio que a camara desta vila aforou a Cristovão Francisco Barrozo para a edificação das suas novas casas cujo terreno se mostra pela linha oculta que vai apontada de vermelho cuja terra fica pela parte de trás da capela.
Fonte: AMAP, Coleção de pinturas e desenhos, Teixeira Caçoila, Desenho da muralha com a capela de Nossa Senhora da Guia e a torre dos cães, 1803, PT/AMAP/008/005/002/05 7.
A Torre da Alfândega
Poema de Manuela Ribeiro
Sou a Torre da Muralha, Junto à Praça do Toural E canto orgulhosamente: “Aqui Nasceu Portugal!”
Alfândega é meu nome, Sou património local. Também sou um miradouro Com acesso especial.
Ergo-me larga e altiva, Sustentando o meu granito. Abraço a minha cidade, Defendo-a com meu grito.
Ergo as ameias ao céu, Procurando a proteção. Sobrevivo ao passado, Lembro-me da fundação.
(Sou) de todos e (de) cada um, Sou divina e imponente. Rasgo a antiga cidade Quero olhar sempre em frente!
Em mim a memória vive, Em mim a história perdura. Quero ser a inspiração, Quero ser a alma futura.
Alexandra Marques Diretora do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
Conseguimos! Esta foi a expressão que, em 13 de dezembro de 2001, traduziu a alegria, o entusiasmo, a emoção e o desejo de todos os vimaranenses pelo merecido reconhecimento de integração do Centro Histórico de Guimarães na lista de Património Mundial da Unesco. Se até aí o caminho tinha sido longo, depois desta data, Guimarães não mais parou!
Vinte anos depois, continuamos a festejar esta e outras iniciativas que fazem do “berço da nacionalidade” uma cidade única, que se distingue pelo seu património material e imaterial, pela sua história, pelo dinamismo cultural e pelo “bairrismo” das suas gentes. A esta comemoração junta-se o nonagésimo aniversário da fundação do “Arquivo Municipal de Guimarães”, Arquivo único no seio dos arquivos municipais portugueses, não só por ter sido criado pelo Decreto n. º 19.952 de 27 de junho de 1931, mas também, por lhe terem sido conferidas funções análogas às de um Arquivo Distrital na área correspondente ao concelho de Guimarães. Por esta determinação legal foi incorporado tudo o que restava do arquivo da extinta Colegiada Nossa Senhora da Oliveira, os processos crimes, cíveis, orfanológicos, bem como os livros dos cartórios e tabeliães extintos e todos os documentos e livros, processos e estatutos existentes de irmandades, corporações e repartições extintas. O Arquivo Municipal foi criado sem encargo algum para o Estado e, inicialmente, esteve instalado em dependências da Sociedade Martins Sarmento, cuja direção passou a ser responsável pela sua salvaguarda, catalogação e disponibilização pública. Um ano depois, em 4 de junho de 1932, de acordo com uma proposta apresentada pela Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Guimarães ao Ministro da Instrução, Gustavo Cordeiro Ramos (18881974) os encargos de instalação, incorporação, material, pessoal e expediente do recém-criado Arquivo Municipal transitaram para a Câmara Municipal de Guimarães.
A abertura solene do Arquivo Municipal fez-se aos 14 de outubro de 1934, no antigo edifício dos Paços do Concelho, no largo da Oliveira, que ficou a ser a primeira casa do Arquivo com abertura ao público. De ressalvar as palavras proferidas no discurso inaugural do seu primeiro diretor e patrono, o Dr. Alfredo Pimenta:
“(…) Está definitivamente instalado, em casa própria, o Arquivo Municipal de Guimarães. Não é grande a casa; também não é muito grande o arquivo. Para as coleções incorporadas, e para as proximamente e possivelmente incorporadas, chega. Como os homens, os Arquivos não se medem pelo tamanho: avaliam-se pela riqueza do seu conteúdo. Ter muitos documentos é bom, mas ter bons documentos é melhor (…)”67 .
Hoje, 90 anos depois, instalado, desde 2003, na antiga casa dos Navarros de Andrade, podemos dizer que o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, assim denominado, desde 1952, em memória do seu 1º diretor, Alfredo Pimenta, tem a “casa” que reúne todas as condições para albergar e salvaguardar o vastíssimo e valiosíssimo património documental, a nossa memória individual e coletiva, a memória da nossa cidade contada pelos documentos, transmitida de geração em geração e que nos permite compreender o passado, documentar o presente com vista a orientar o futuro. O património documental certifica quem somos, mostra-nos a trajetória da nossa história, das nossas vivências, dos nossos modos de vida, do modo de vida das nossas cidades; sem ele, como saberíamos de onde viemos e que informação patrimonial teríamos além do que é visível? É este património documental Arquivo Municipal Alfredo Pimenta que nos contextualiza, que contextualiza os nossos edifícios, os nossos monumentos, que dá sentido à nossa vida, que representa a memória da cidade, a memória da humanidade. Preservá-lo, divulgá-lo e torná-lo acessível é um dever, uma responsabilidade acrescida numa cidade como Guimarães, cujo centro Histórico está classificado como Património Cultural da Humanidade.

67 ARQUIVO MUNICIPAL DE GUIMARAES - Para a história do Arquivo Municipal de Guimarães: documentos. Boletim de Trabalhos Históricos. Guimarães. Vol. II (1936), p.3-10
O Toural! sempre igual é o coração da cidade. bombeia o tráfego de gentes e veículos. O Toural sempre igual. Ao centro o monumentículo afoga-se na secura da taça. A roda da praça as esquinas estão polidas a cu como os Rossios de todo o mundo. O importante - Significante –é o povo banal! no seu trajecto riscando o Toural tal e qual.
Santos Simões
Poemas alusivos ao Toural
Santos Simões e Manuel Branco de Matos
No centro da cidade as pombas mansas nascidas nos telhados das igrejas tropeçam nas velhinhas benfazejas que ao templo vão levar algumas franças.
Afeitas ao bulício e às andanças de quem no Largo atiça as más invejas e alteiam os zumbidos das varejas, volitam por ali entre crianças.
Há muita pomba branca, há pombas pretas, há pombas coloridas, pombas várias, no Largo a esgravatar as muitas gretas das pedras das calcetas proletária. E outras pombas há: as que, discretas, Adejam pelas ruas solitárias-
Dispersas pelo espaço em vibrações, no chão a debicar, como em convento, as freiras na quaresma ou no advento bicando e bichanando as orações,
mil pombas há no Largo aos Encontrões dos pés do forasteiro em andamento; dejectam e pontilham de excremento as pedras, os desenhos e os brasões.
Também a debicar as nossa vidas há pombas que nos seguem divertidas, bicando e dejectando em nossa imagem;
e dão como estas pombas à cidade um toque português de sujidade fazendo parte já desta paisagem. Manuel Branco de Matos











