
4 minute read
Apresentação
8 Este documento, preparado por autores nomeados pelo Conselho da Sociedade Brasileira de Física (SBF), resultou de longas discussões presenciais e virtuais. Em reuniões virtuais, foram também ouvidos consultores com ampla visão da ciência brasileira e reconhecida competência em suas respectivas especialidades, os quais deram importantes contribuições para o conteúdo do documento, mas a responsabilidade pela interpretação de suas ideias é dos autores.
O documento, de construção reflexiva e caráter propositivo, tem como público-alvo a comunidade científica e acadêmica brasileira (em particular, os sócios da SBF), bem como os formuladores de nossa política científica e educacional, além do público interessado no desenvolvimento sustentável brasileiro.
Advertisement
Como modelo de desenvolvimento e ações sustentáveis, adotamos o documento Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, aprovado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015.
Valorizamos as palavras que dão início ao documento: “Esta Agenda é um plano para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com liberdade mais ampla. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluída a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requerimento indispensável para o desenvolvimento sustentável.”
O documento divide-se em capítulos organizados por categorias. Os dois primeiros abordam o enfrentamento das mudanças climáticas. O primeiro, Mudanças climáticas: preservação ambiental, trata das ações necessárias para recuperar nosso meio ambiente e torná-lo menos vulnerável aos extremos climáticos e aos déficits hídricos, que no futuro devem se agravar. Importantes avanços têm de ser feitos para que nossa agricultura se torne mais produtiva e sustentável. Eles incluem boa administração e bom uso de nossos recursos hídricos.
O segundo, Mudanças climáticas: transição energética, aborda a transição energética, cujo objetivo é o banimento dos combustíveis fósseis. O Brasil tem plenas condições de obter sucesso nas duas transformações, e a ciência será fundamental para que isso ocorra.
O capítulo seguinte, Áreas portadoras de futuro, aborda três grandes fronteiras da ciência (ciência de dados, complexidade, informação quântica e materiais quânticos) que terão enorme importância nas próximas décadas e para as quais o Brasil precisa qualificar-se melhor, porque os países líderes do mundo estão fazendo isso com empenho e vigor.
Seria ocioso lembrar que a educação e ciência são os grandes pilares da prosperidade, não fosse a perversa negligência do Brasil com esses fundamentos. Na educação, continuamos muito mal – especialmente, na educação básica, que é a mãe de todas. A histórica omissão do Estado em prover educação básica ampla
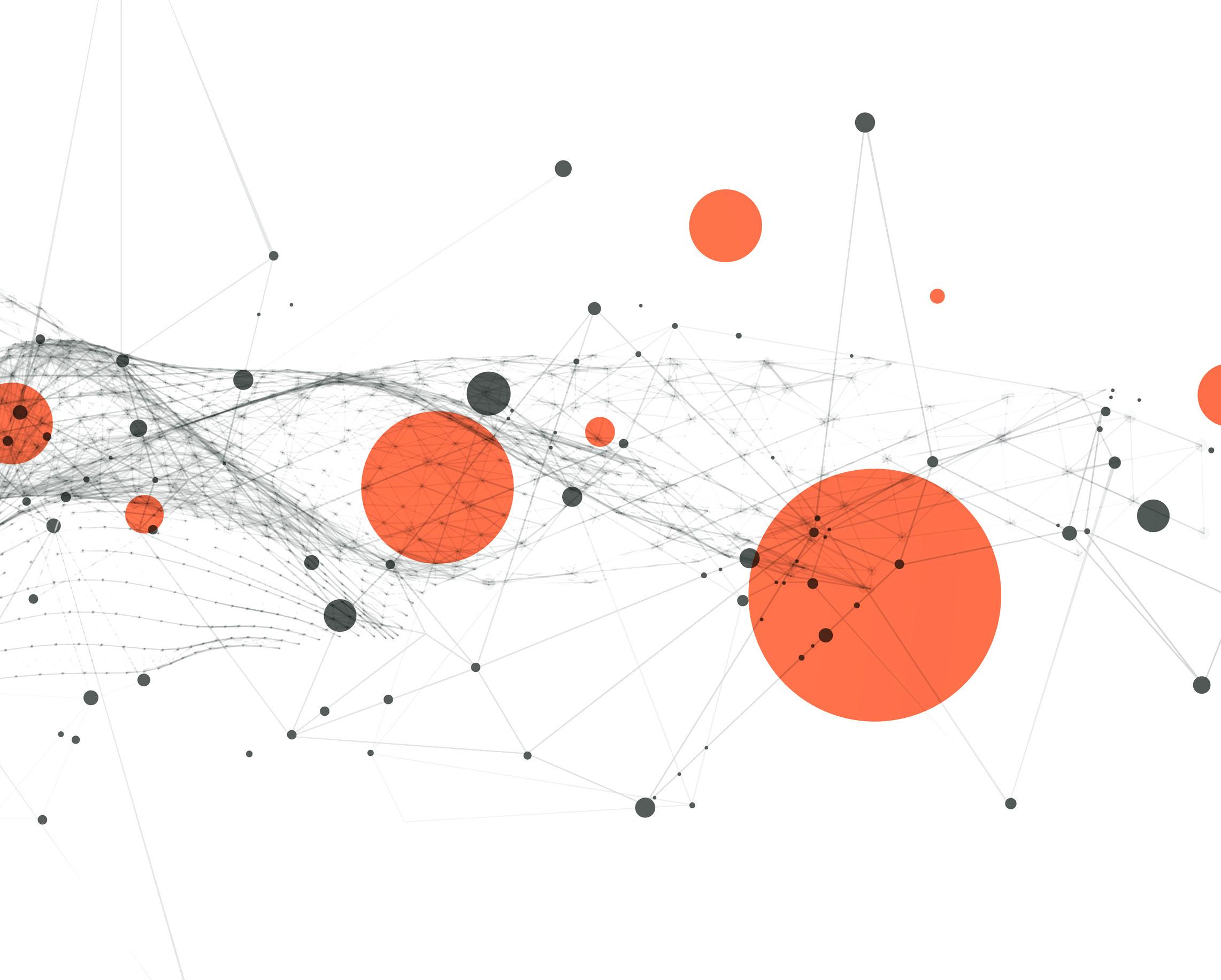

de qualidade condena metade da população brasileira à exclusão econômica – e essa injustiça também nos condena ao atraso.
O quarto capítulo, Educação básica, trata da educação nessa fase, e o quinto capítulo, Infraestrutura para o desenvolvimento da ciência, trata de temas que o título não permite antever e, por isso, merecem ser resumidas.
Com a institucionalização da nossa pós-graduação, em 1968, e a prática de políticas de Estado para o setor, o Brasil construiu considerável qualificação científica e tecnológica, e nossa infraestrutura de pesquisa também se tornou significativa.
A ciência brasileira deu contribuições importantes para nosso desenvolvimento social e econômico, mas elas poderiam ser maiores – e precisam ser. Para isso, ela tem de ser institucionalizada e solidamente fomentada pelo governo federal e pelos governos estaduais, por meio de recursos garantidos por regras legais que os governantes tenham de atender.
As deficiências institucionais e de fomento decorrem de não termos, no Brasil, um plano de desenvolvimento sustentável, baseado na ciência – e, por isso, não termos uma agenda científica. Tanto o plano de desenvolvimento quanto a agenda científica para promovê-lo tem de ser pensado, negociado e formulado pelo conjunto de atores que formam uma sociedade democrática (como a nossa), e cabe ao Estado articular essas ações, embora setores da sociedade, como o científico e empresarial, possam – e devam – levantar questões e propor ações.
Cabe salientar aspectos de uma ciência institucionalizada. Embora ela tenha de ser planejada, é necessário evitar excesso de dirigismo, pois parte significativa dos grandes avanços da ciência nasce fora do plano. Por isso, o financiamento da ciência deve contemplar, com base unicamente no critério da
excelência, desde grandes instalações de pesquisa abertas a multiusuários externos ao apoio a solicitações de pesquisadores que trabalham individualmente ou em pequenos grupos. E é essencial que a disponibilidade dos recursos seja consistente e previsível.
No Brasil, embora o número de cientistas tenha crescido, ele ainda é pequeno se comparado a padrões internacionais. Apenas 0,2% da população brasileira entre 25 e 64 anos tem título de doutor, enquanto, na média da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE), esse número é 1,1%.
A física poderá ter papel importante no enfrentamento de todos os desafios descritos neste documento, que só serão resolvidos por trabalho interdisciplinar. Pois a física é a ciência com maior penetração interdisciplinar. Primeiramente, porque é a mais fundamental das ciências; depois, porque a formação do físico inclui o domínio de poderosos métodos de investigação que se aplicam à solução dos mais diversos problemas. Além do conhecimento desses métodos, os físicos estão entre os melhores formuladores de modelos científicos.
Finalmente, mas não menos relevante, tanto para merecer o apoio da sociedade que a sustenta quanto para que se crie no país uma cultura científica, é essencial que os cientistas e as cientistas saibam comunicar-se efetivamente com a sociedade. Não falamos de exposições ‘em nome da ciência’, em que profissionais explicam a públicos passivos o papel e valor da ciência, mas em interações ‘em nome da democracia’, na qual cientistas dialogam com o público leigo, para que, dessa interação, construa-se uma ciência cidadã. Esse é o tema do capítulo final, Ciência: comunicação com a sociedade.









