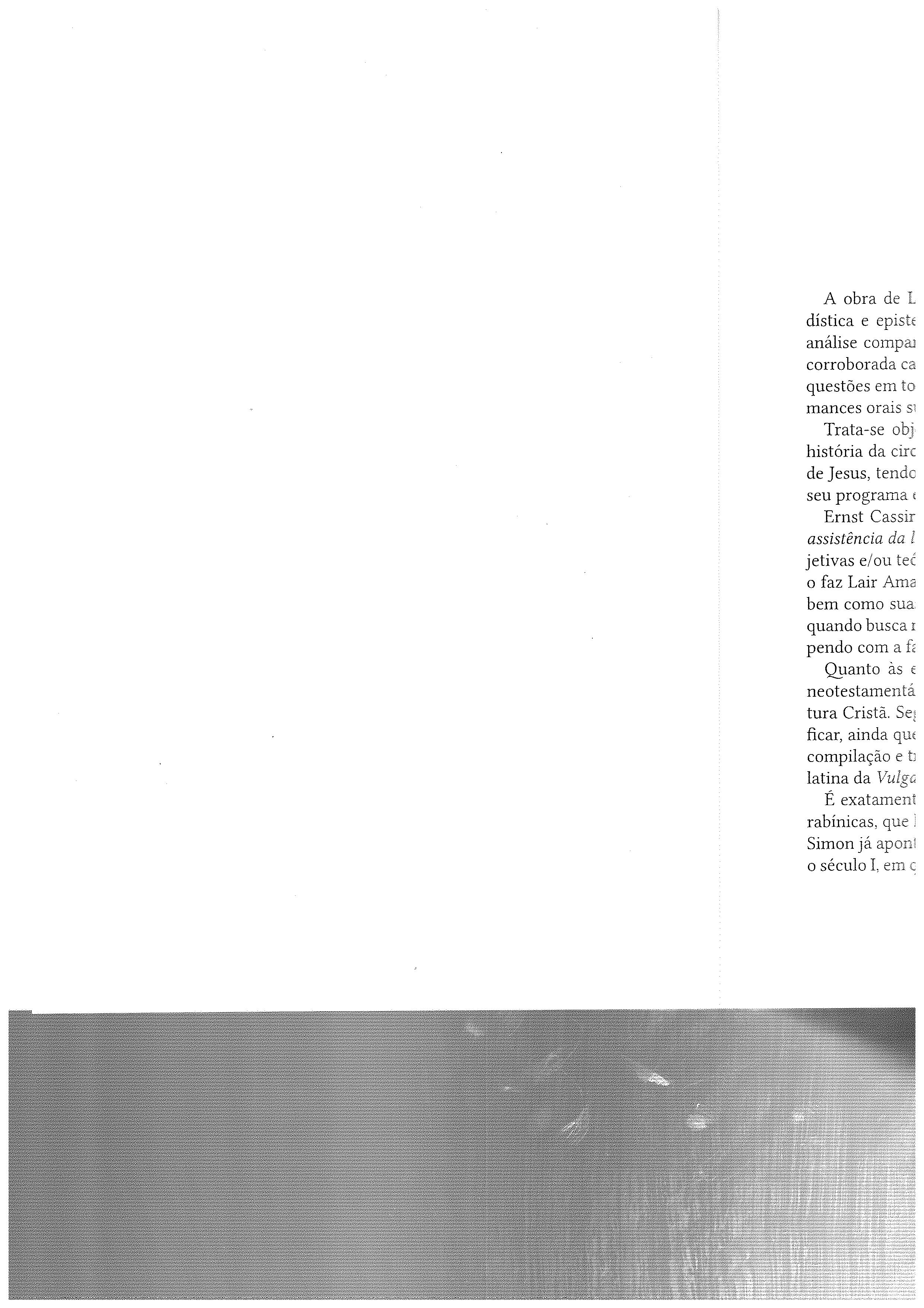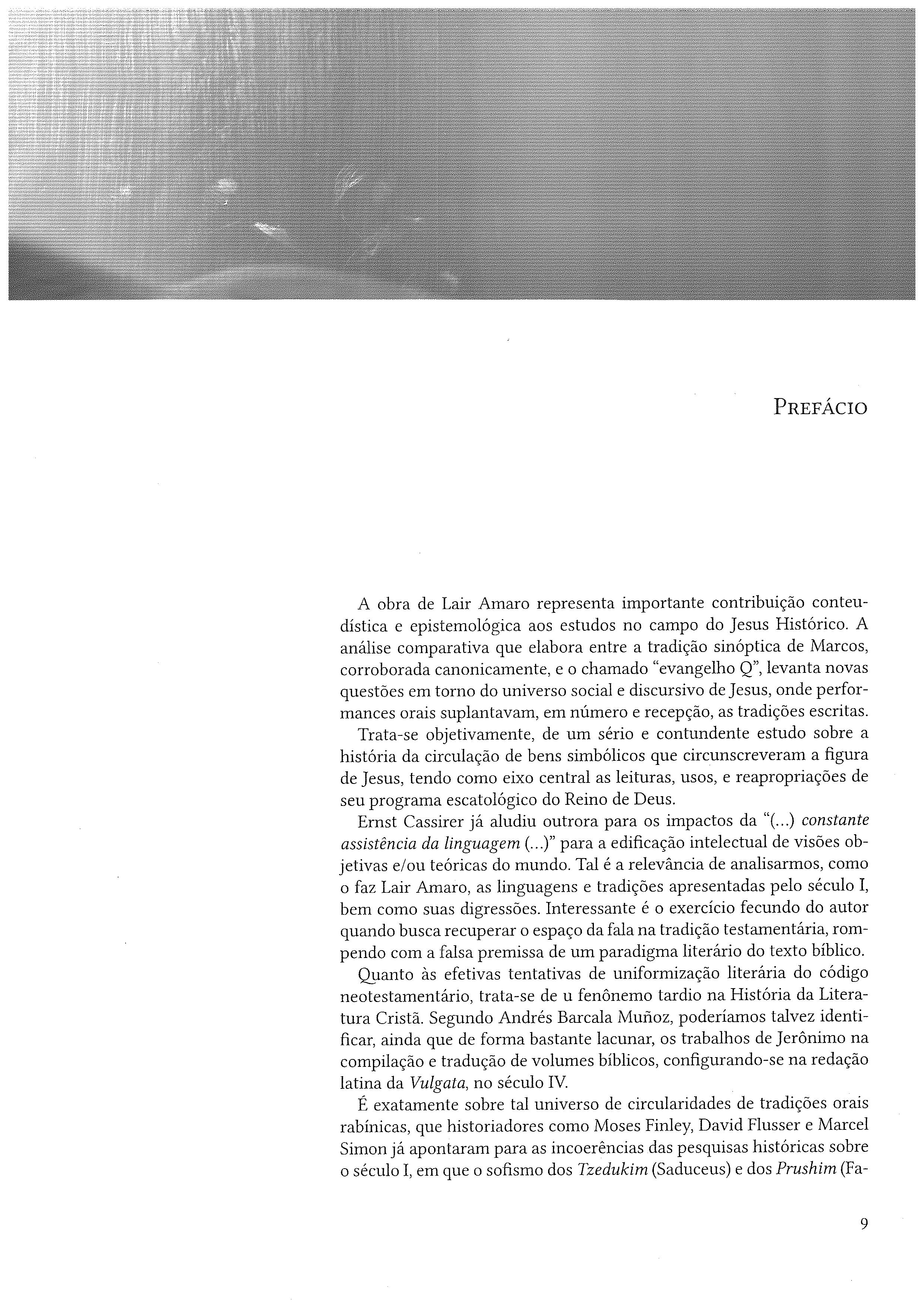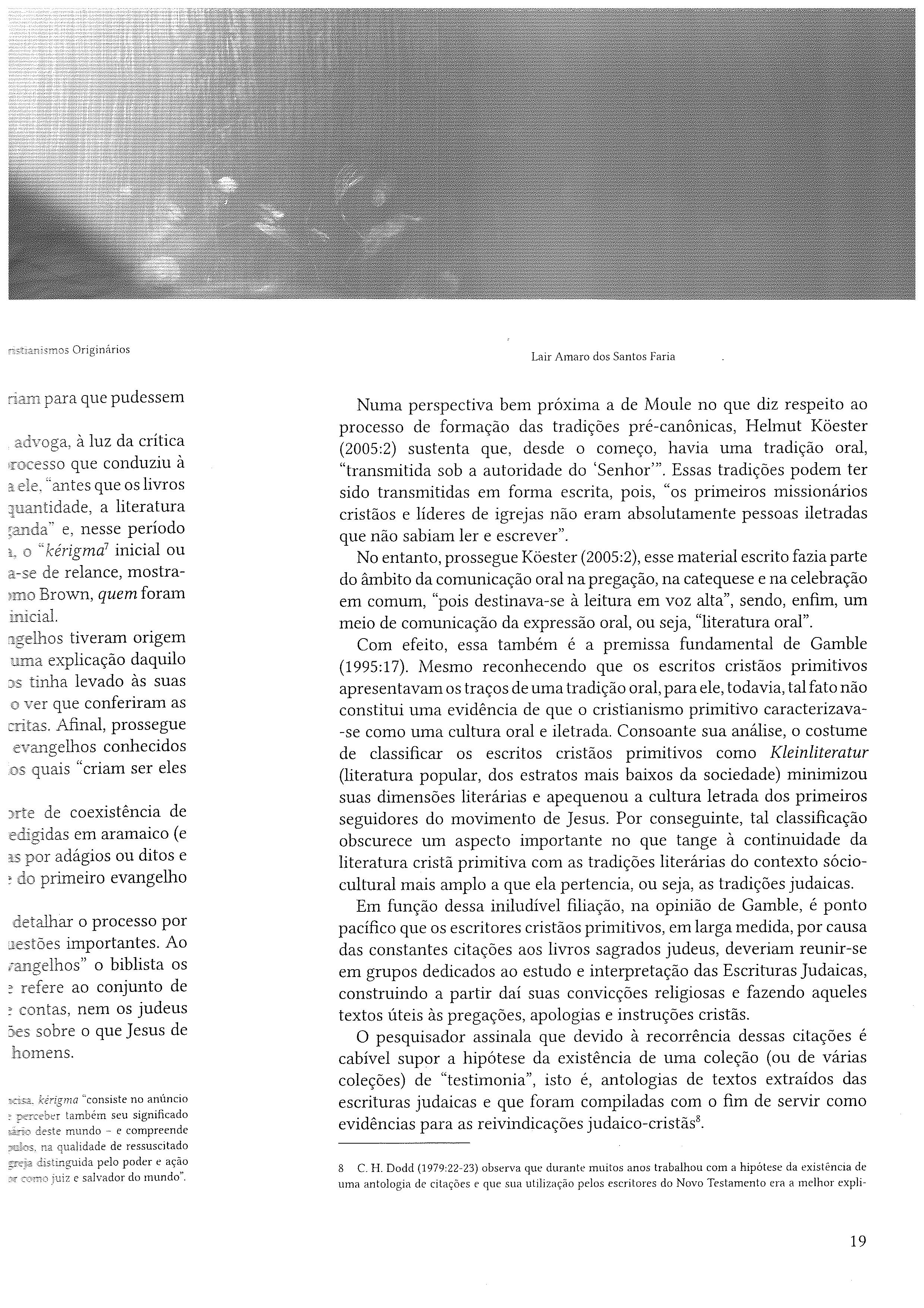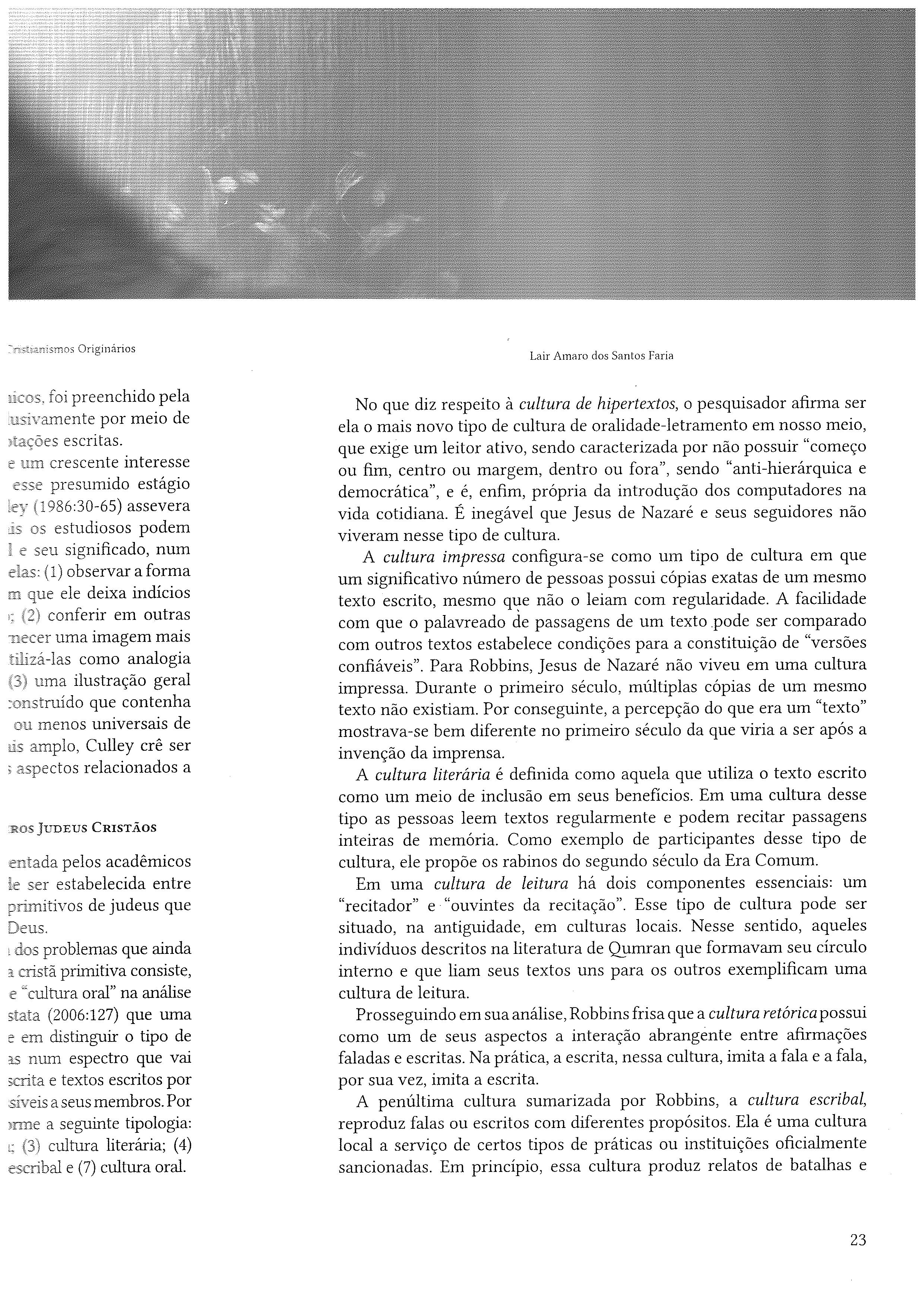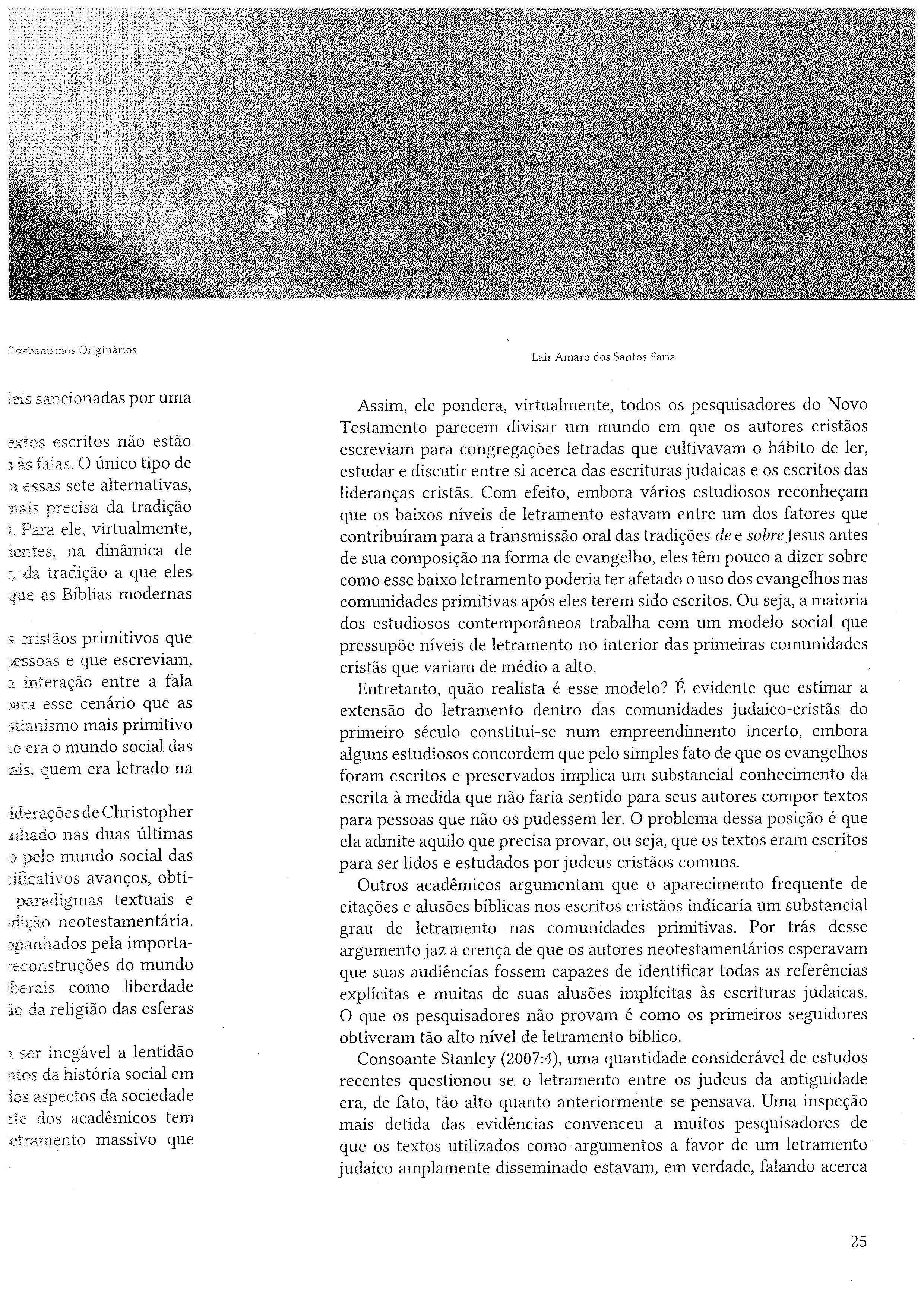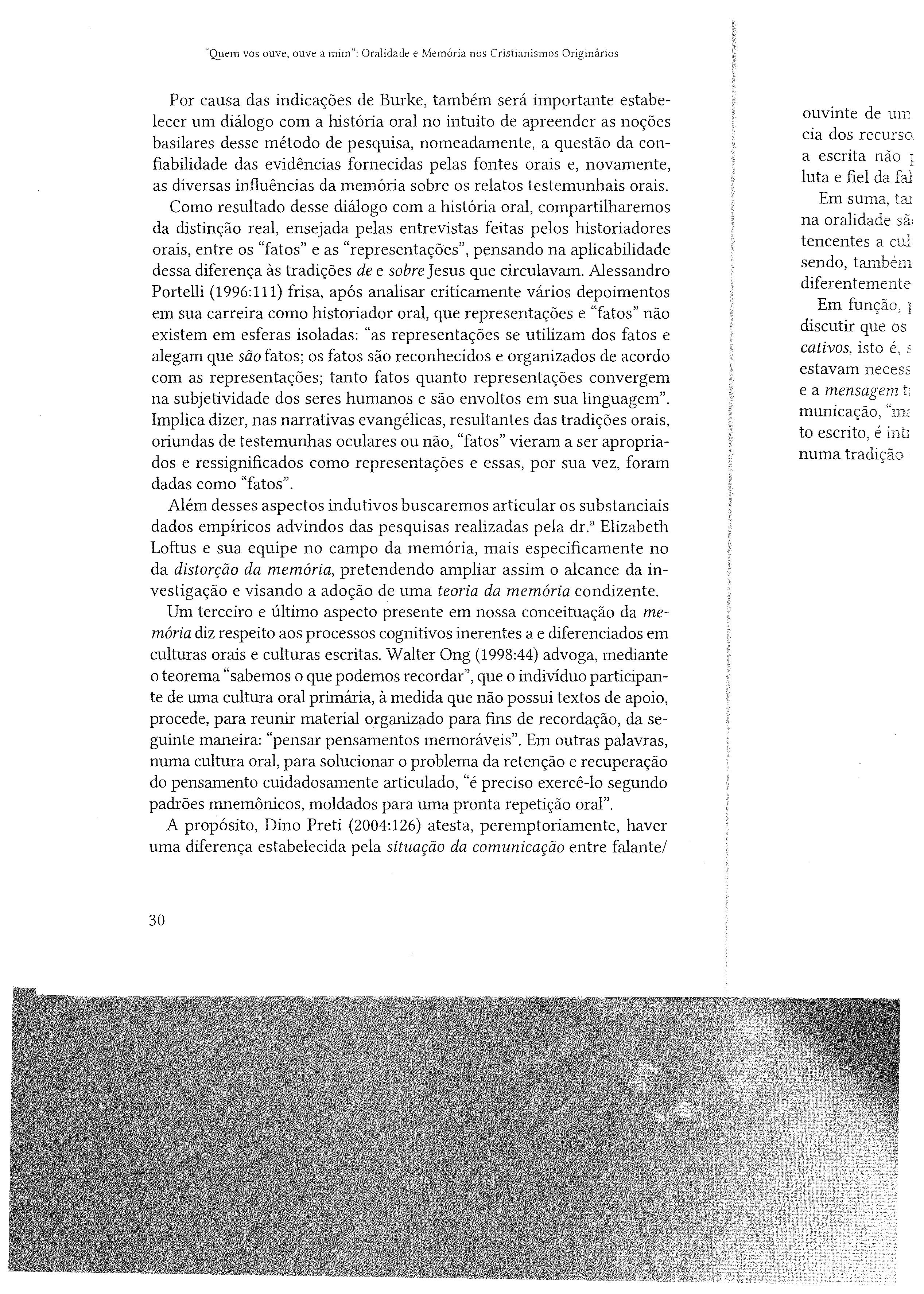VOS OUVEOUVE A MIM":
ORALIDADE E MEMÓRIA NOS
CRISTIANISMOS ORIGINÁRIOS
Edição Revista
"Quem vos ouveouve a mim": Oralidade e memória nos cristianismos originários 2" Edição - 2021
I<liné Editora ®
Rua Maria Amália, 591, Tijuca, Rio de janeiro - Rj- Brasil contctto@klineeditora.com I www.klineeditora.com
Coordenação Ediwrial
Eduardo B. Santana
Felinto Pessóa de Faria Neto juliana Batista Cavalcanti
Raphael Botelho de Moura
Conselho Ediwríal
André L. Chevitarese (U FRj)
Daniel Brasiljusti (UNIFESSPA)
Marta Mega (UFRj)
Mónica Selvatici (UH)
Osvaldo Ribeiro (UNIDA)
Diagramação
Raphael Botelho de Moura
Capa
juliana Batista Cavalcanti
Raphael Botelho de Moura
Imagem da capa: Detalhe do Sarcófago "de Jonas", esculpido em pedra. retratando a ressurreição de Lázaro. Museu Pio Cristiano. Datado do 3° quarto do século 111..
FARIA, Lair Amaro dos Santos.
"Q!.lem vos ouve, ouve a mim": Oralidade e Memória nos Cristianismos Originários / Lair Amaro dos Santos Faria. - Rio de Janeiro: Kliné 2021.
144pp. ; 16 x 23 em
Inclui Referências Bibliográficas
ISBN 978-85-64995-00-0
1 - cristianismo primitivo. 2 - oralidade e escrita. 3 - memória e história.
A um velhinho e três velhinhas que me ajudaram a ser quem eu sou e que hoje, mais perto de Deus, compartilham comigo desse momento:
Dinho Evaristo, Dinha Anita, Tia Juju e Tia Cotinha.
Com amor e muitas saudades
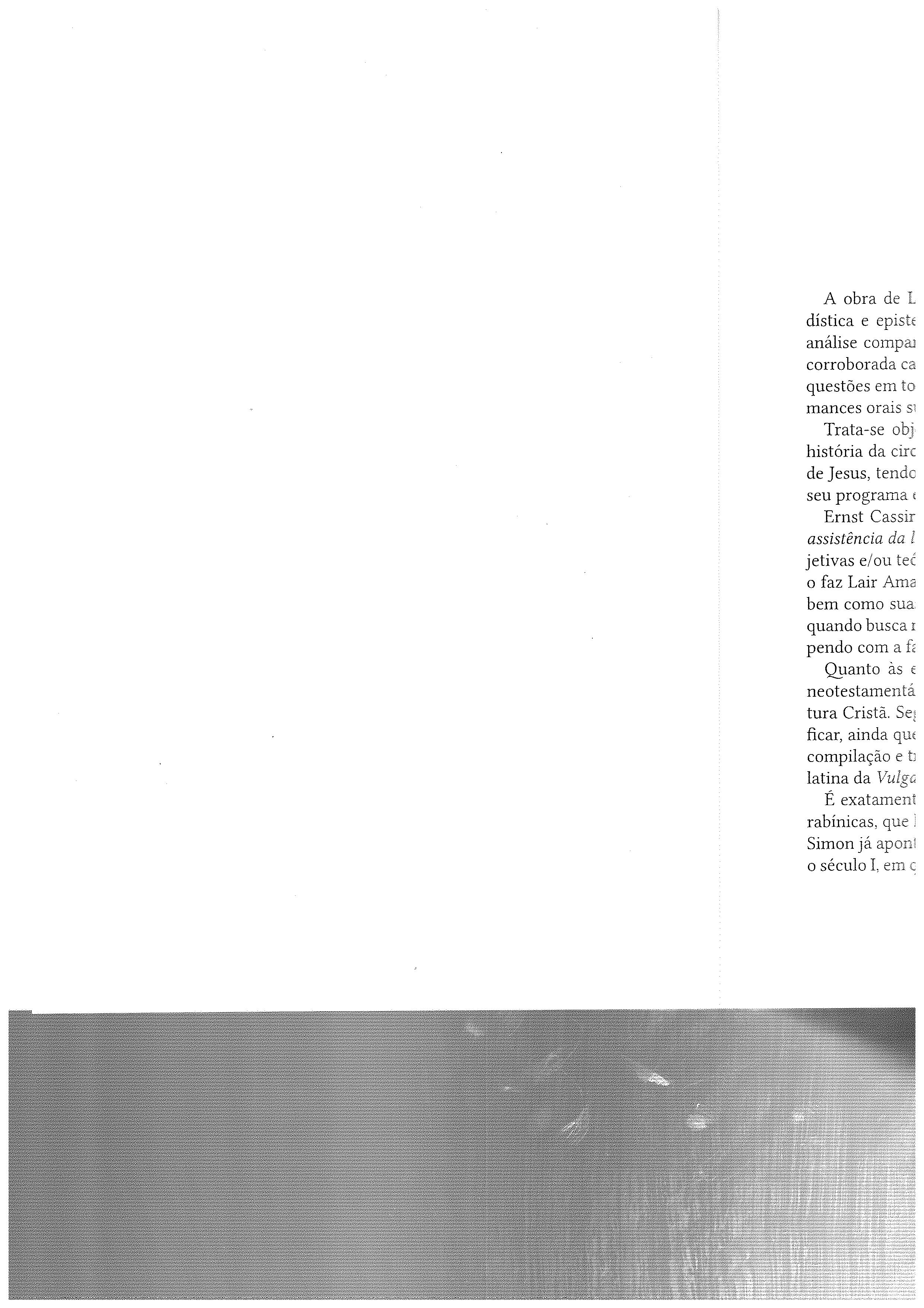
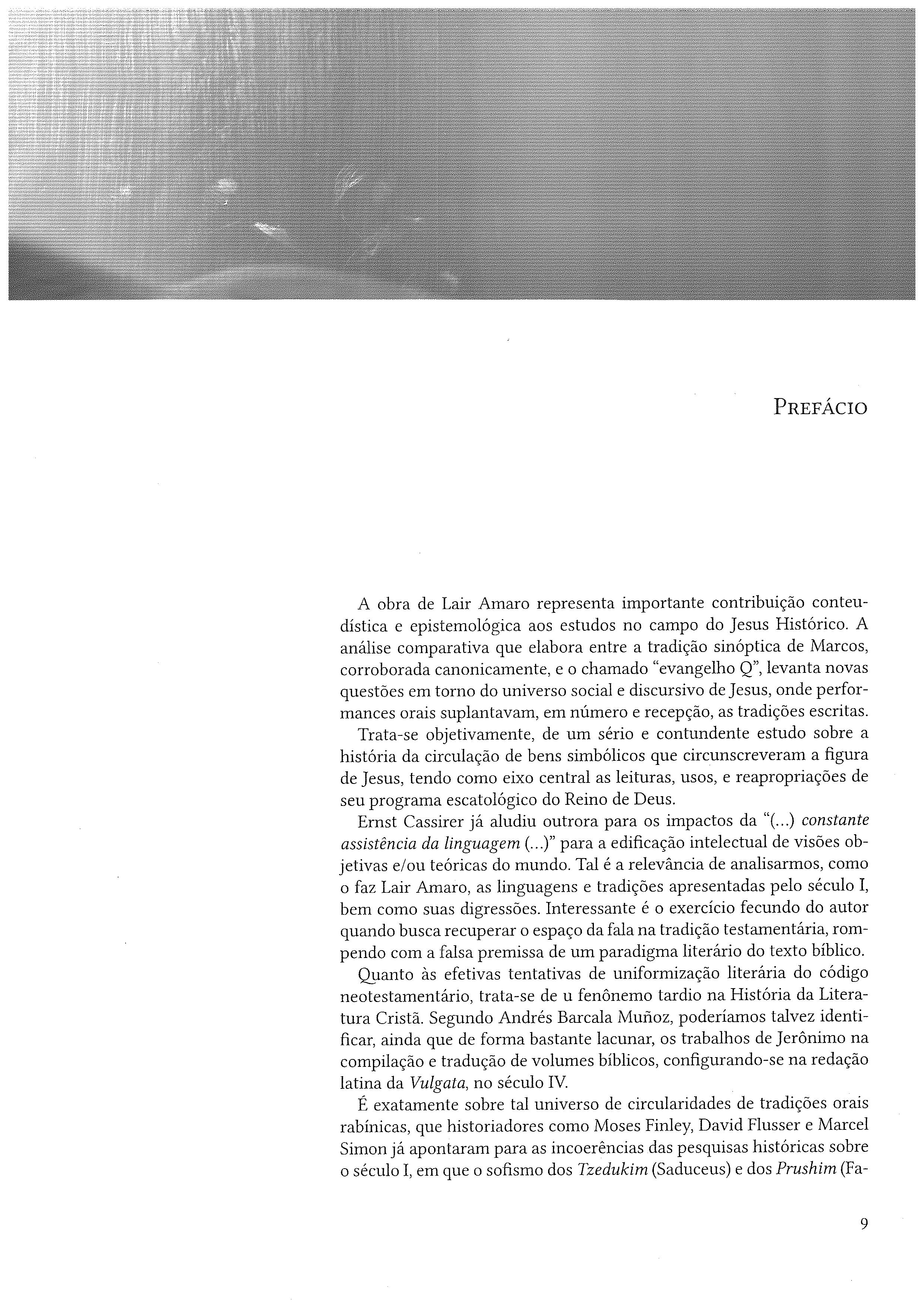
A obra de Lair Amaro representa importante contribuição conteudística e epistemológica aos estudos no campo do Jesus Histórico. A análise comparativa que elabora entre a tradição sinóptica de Marcos, corroborada canonicamente, eo chamado "evangelho Q", levanta novas questões em torno do universo social e discursivo de Jesus, onde performances orais suplantavam, em número e recepção, as tradições escritas. Trata-se objetivamente, de um sério e contundente estudo sobre a história da circulação de bens simbólicos que circunscreveram a figura de Jesus, tendo como eixo central as leituras, usos, e reapropriações de seu programa escatológico do Reino de Deus. Ernst Cassirer já aludiu outrora para os impactos da "( ... ) constante assistência da linguagem (... )" para a edificação intelectual de visões objetivas e/ou teóricas do mundo. Tal éa relevância de analisarmos, como o faz Lair Amaro, as linguagens e tradições apresentadas pelo século I, bem como suas digressões. Interessante éo exercício fecundo do autor quando busca recuperar o espaço da fala na tradição testamentária, rompendo com a falsa premissa de um paradigma literário do texto bíblico. Qyanto às efetivas tentativas de uniformização literária do código neotestamentário, trata-se de u fenônemo tardio na História da Literatura Cristã. Segundo Andrés Barcala Muiíoz, poderíamos talvez identificar, ainda que de forma bastante lacunar, os trabalhos de Jerônimo na compilação e tradução de volumes bíblicos, configurando-se na redação latina da Vulgata, no século IV.
É exatamente sobre tal universo de circularidades de tradições orais rabínicas, que historiadores como Moses Finley, David Flusser e MareeI Simon já apontaram para as incoerências das pesquisas históricas sobre o século I, em que o sofismo dos Tzedukim (Saduceus) e dos Prushim (Fa-
riseus) se oporia terminantemente à inocência quase bucólica de Jesus e seus discípulos.
Na complexidade dos vários Judaísmos da Galiléia, Jesus jamais poderia representar o rompimento com o Judaísmo, porque ele mesmo seguia e propagava a Lei (Torah), segundo princípios que lhes seriam próprios, conhecido em seus círculos sociais por adjetivações típicas às reverências judaicas aos chamados "Doutos", como Adon (Senhor Mestre), Adoni (Meu Senhor), Rav (Rabi), e Tzadik (Justo/Sábio).
David Flusser chega inclusive aproximar Jesus à erudição típica de um Prushi (Fariseu):
"(. . .) Assim seria um erro não reconhecer o constrangimento sentido por muitos pensadores e eruditos cristãos. Estes sentiram-se obrigados a lidar com o fato de que o fundador de sua religião era um judeu, fiel à Lei, que nunca tivera de enfrentar a necessidade de adaptar seu Judaísmo ao modo de vida europeu. Para Jesus havia, naturalmente, o problema peculiar de sua relação com a Lei e seus preceitos, mas o mesmo ocorre com todo judeu crente que leva a sério seu Judaísmo." 1
Interessante verificarmos que as tradições literárias neotestamentárias passam a situar, em campos opostos, Jesus e os "seguidores Fariseus e Saduceus". Assim, caso limitemos as análises históricas sobre Jesus e seu entorno sociorreligioso às narrativas sinópticas, todo o seu pensamento, seu comportamento, e seu messianismo expresso no programa do Reino de Deus seriam entendidos como distintos e antagônicos à fé judaica, exatamente como verificamos em construções discursivas da Patrística Clássica, dos século III, IV eV da Era Cristã.
Ao contrário do que vemos em Atos (4:13) e João (7:15), onde se insiste em definir Jesus como homem simples, de pouca educação, o Judaísmo letrado e erudito de Jesus é comentado inclusive, em diversos trechos dos evangelhos sinópticos, principalmente em Lucas e na obra Antiguidades Judaicas de Josefo. Voltemos a Flusser,
] FLUSSER, David. Jesus. São Paulo: Perspectiva, 2002. p.34.
"(. . .) A corroboração externa da erudição judaica de Jesus é fornecida pelo fato de que, muito embora ele não fosse um escriba reconhecido, algumas pessoas estavam acostumadas a dirigir-se a ele como Rabi, meu professor/mestre. [O Epíteto"Rabi" era de uso comum naqueles dias e especialmente popular para descrever eruditos e mestres da Torá. Ainda não estava restrito a mestres experientes e ordenados.] Deve-se observar todavia que segundo as fontes mais antigas, conforme refletido por Lucas, Jesus era chamado de Rabi, só por estranhos. Aqueles que pertenciam ao círculo íntimo de seus seguidores e os que a ele vinham por necessidade chamavam-no de Senhor - Haadon (Lucas 20: 41-44). O Título não deve ser confundido como um sinal de sua deidade (Adonai) mas como indicação de sua elevada autoconsciência." 2
Para tal, necessita o historiador, assim como o fez Lair Amaro, ampliar seus horizontes de observação sobre o real estudado, aludindo a outras tipologias documentais coevas e dedicar maior atenção às diversas teorias salvíficas localizadas no seio do Judaísmo Rabínico do século I, o mesmo que no século seguinte, produziu a chamada "Torah Oral": a Mishnah.
A oralidade, ou melhor, as tradições orais preservadas em textos como "Q", há séculos já permeavam o cotidiano judaico e eram lugar comum de edificação de memória das principais comunidades judaicas palestinas. E, pela primeira vez no âmago dos estudos sobre o Jesus Histórico adquire, finalmente, lugar de problematização.
A relevância dessa discussão se dá pela força ideológica de tradições testamentárias que impunham, objetivamente, antagonismos insuperáveis entre Jesus eo Judaísmo, o que certamente adquiriu valor de um mito para os séculos seguintes. Tal mito tornou-se inquestionável já para os teólogos cristãos do final da Antiguidade e início da Idade Média. Desjudaizar Jesus, retirá-lo como ser social do complexo universo judaico de diversidades e concepções políticas de fé messiânica, e torná-lo apenas o Christós divinizado, seria uma atitude necessária para
2 Idem. p.14.
a formação do Cristianismo, e principalmente da Eeclesia como corpo institucional e religioso autônomo.
Podemos afirmar que a partir do século Io messianismo torna-se uma constante nas dicussões políticas e religiosas da Palestina, entre os principais núcleos formadores do chamado "Judaísmo Rabínico". Mais politizado do que escatológico, segundo narrativas de Flavio Josefo, a opressão romana fazia ressoar pelas aldeias e cidades da Judéia a possibilidade de libertação pela independência política, corroborada pela escolha de líderes abençoados.
Neste contexto mais dois lapsos historiográficos precisam ser levantados: Primeiramente, as imprecisões sobre comportamentos e papéis dos Tzedukim e Prushim no século I, onde as "Elites do Templo", o "Sinédrio", o "Judaísmo Rabínico" são situados num mesmo campo semântico, com atuações sociais e políticas idênticas e generalizadas.
Neste ponto, a questão do clã familiar dos Caiafás é bem elucidativa. Repudiado pela própria literatura rabinica oral e escrita (Mishnah, Talmud Yerushalmi e Bavli) dos século TI a V, a linhagem dos Caiafás (Atos 4:6, João 18: 13-24) foi acusada por inúmeras narrativas judaicas de danos irreversíveis causados ao Judaismo (Masseehet Pessaehim 57a) e por Josefo, de arbitrariedades, crueldades em julgamentos e abusos pessoais de poder.
O Judaísmo Farisaico, expresso na literatura rabínico-talmúdica do século II, opunha-se às atitudes de Caiafás, mostrando a ausência de consenso sobre as atitudes tomadas supostamente em nome da fé. À luz da crítica histórica, longe de configurar loeus de "consensos rabínicos", o Sanhedrin (Sinédrio) já se apresentava, desde antes de Jesus, um lugar de dissensões entre eruditos e sacerdotes.
Embora algumas das narrativas neotestamentárias e tratados patrísticos, a partir dos séculos III e IV tenham colaborado para torná-lo alegoricamente representativo de todos os judeus no episódio da Paixão de Cristo, acompanhado pela conivência, consenso e escárnio popular, a postura de Caiafás mostrou ser uma espécie de digressão em relação aos judeus da Palestina. A literatura rabínico-talmúdica construiu a sua imagem sob veemente repulsa, responsabilizando-o pelos episódios e martírios do primeiro século.
Outro ponto nevrálgico das representações sobre o século I seria a questão, já discutida por diversos historiadores, sobre a solidarieda-
de popular judaica durante a punição romana de Jesus. A hostilidade tendenciosa de todos os judeus contra Jesus em sua morte é um ponto-chave, inclusive do cinema épico do século XX. Todos os judeus teriam abandonado um de seus mais pios irmãos, escolhendo-o para encaminhá-lo à morte. O ímpeto conspiratório judaico é transformado em verdade histórica. Raul Girardet, ao trabalhar as repercussões sociais e históricas dos mitos, demonstra que a idéia de conspiração sempre foi usada como artifício político, principalmente com relação à questão judaica.
Em Lucas e em Josefo veremos a forte oposição eo pesar popular sobre a morte de Jesus. As lamentações judaicas diante da morte de mais um judeu crucificado por Roma são atestadas em Lucas 23:27, trecho relevante para uma revisão das representações judaico-cristãs no cinema que escolheram as leituras eusebianas de Marcos para retratar a crucificação, como uma caso de assassinato judaico coletivo de Deus.
Para estes judeus, ao invés do escárnio e da chacota, as fontes apresentam o pesar pelo sacrifício de mais um dentre milhares de judeus crucificados por Roma em Jerusalém e arredores, somente no século I, segundo o historiador alemão Martin Hengel. De acordo o antropólogo Joe Zias eo arqueólogo Vassilios Tzaferias, entre 66 e 702 ,o Império chegava a crucificar diariamente até 500 judeus com o intuito de reprimir revoltas.
A morte de Jesus revela historicamente o recrudescimento ea efervescência do caldeirão político de agitações e rebeliões populares judaicas contra Roma, como veríamos com os casos da crucificação em Jerusalém do revoltoso Yohanan Ben Hagkol entre 50 e 70 d.C, Metzadá (67-73 d.C), a destruição do Templo em 70 d.C, o levante messiânico contra Trajano em Alexandria, Chipre e Cirene (114-117 d.C) a revolta de Shimon Bar Kochba (133 d.C).
Profa. Dra. Renata Rozental Sancovsky
Departamento de História
Programa de Pós-Graduação em História
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
'Q' uem vos ouve, ouve a mim 1 ". "Qyem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa própria de um profeta 2 ". A essas duas sentenças consideradas como provenientes do Jesus histórico, podem-se acrescentar ainda estas outras duas, também a ele conferidas: "Ide e pregai 3 " e "Sede transeuntes 4 ". Ouvir, receber, pregar, transitar. Termos que, em conjunto, denotam um projeto de disseminação de uma mensagem, interiorização e exemplificação de um estilo de vida e, por fim, acolhimento dos portadores de um "texto" a ser "lido", pelo menos, coletivamente.
Há que se ressaltar, por outro lado, não haver em partguma do material evangélico, intra ou extracanânico s , qualquer recomendação por parte de Jesus de Nazaré (ou que a ele tenha sido atribuído) para que seus seguidores registrassem, em textos escritos, seus ditos e feitos para a posteridade.
Não obstante, fato é que os judeus e os não-judeus que aderiram ao programa político-religioso do reino de Deus, proposto por Jesus de
1 Lc 10:16a.
2 Mt 10:41a.
3 Mc 16:15
4 Evangelho de Tomé 42.
5A nomenclatura aqui empregada orienta-se pela noção de que há evangelhos intracanânicos, ou seja, o material cristão aceito como autêntico e legitimo pela cristandade ocidental e evangelhos extracanânicos, isto é, material também cristão, mas que foi considerado "apâcrifo" e ilegitimo.
Nazaré, produziram manuscritos das mais variadas espécies e gêneros. Cartas, apologias, martirológios, apocalipses, tratados anti-heréticos, regras eclesiásticas, livros de atos e evangelhos. Conforme assevera Harry Gamble (1995:18), "nenhum grupo religioso greco-romano produziu, usou ou deu valor a textos em escala comparável ao Judaísmo e ao Cristianismo, de tal modo que, excetuando a literatura judaica, não há um corpo apreciável de escritos religiosos com que a literatura cristã primitiva possa ser proveitosamente comparada".
Assim, de um lado, recomendações expressas para homens e também mulheres deambularem transportando uma mensagem, um "texto vivo". De outro, uma conservação escrita substancial de falas e feitos em um significativo conjunto de documentos. A gênese desse processo de redação e composição dos manuscritos cristãos, em geral, e dos evangelhos intra e extracanânicos, em particular, é alvo de diferentes hipóteses explicativas. Difícil é negar, porém, que os materiais pré-evangélicos circularam, por algum momento, como tradições orais constituídas a partir das memórias fragmentadas de diferentes testemunhas oculares, mais ou menos afetadas por fatores emocionais das mais variadas procedências.
Nesse sentido, é plausível postular um intervalo de tempo, entre a carreira pública de Jesus de Nazaré ea fixação por escrito de suas palavras e seus atos pelos seguidores de suas ideias na forma de evangelhos, preenchido pela transmissão, talvez não exclusiva, mas essencialmente oral das recordações.
Debalde essa possibilidade, ao longo da pesquisa sobre as origens do cristianismo primitivo, os estudiosos observaram que as tradições de e sobre Jesus registradas por escrito eram caracterizadas por ou moldadas em pequenas unidades, as quais foram denominadas perícopes. Essas unidades eram constituídas por sumários, citações das escrituras, ditos e estórias. Com o propósito de estudar essas unidades, vários métodos foram desenvolvidos. Todos, no entanto, tomando por base os textos em sua forma final disponível aos leitores de hoje, estabeleceram, como observa Werner Kelber (1983:xvi), um paradigma literário que, em última instância, logrou perder "contato com o espaço da fala na tradição". Implica dizer, o foco sobre as perícopes, isto é, textos em pedaços, desviou a atenção de um aspecto essencial do contexto sócio-histórico
no qual os primeiros seguidores de Jesus de Nazaré viviam: um contexto marcado por uma fraca penetração da cultura escrita.
A HISTORIOGRAFIA SOBRE A TRANSIÇÃO
Assim, uma parcela considerável de pesquisadores renomados esboçou esquemas explicativos para o processo de formação das tradições evangélicas acentuando diferentes aspectos, sem uma análise mais detida sobre os níveis de letramento entre comunidades de pescadores e camponeses da Palestina romana. O biblista e decano dos estudos neotestamentários, Raymond E. Brown (2004:181-189), considera que o processo de encadeamento de testemunhos transcorreu em três estágios distintos:
1. O ministério público de Jesus. Nessa primeira fase, os companheiros de Jesus viram e ouviram o que ele fez e disse. Retiveram na memória, de forma seletiva, aquilo que dizia respeito à proclamação que Jesus fazia de Deus, e não às muitas trivialidades da vida cotidiana.
2. A pregação (apostólica) sobre Jesus. Com a morte de Jesus, aqueles que viram e ouviram-nd, convencidos pelas aparições após a ressurreição, sentiram-se impulsionados a difundir oralmente sua fé.
3. Os evangelhos escritos. Surgem num período posterior, ainda que coexistindo com a pregação marcadamente oral, a qual permanece baseada na conservação e desenvolvimento do material sobre Jesus até o século II.
Destacam-se, na concepção de Brown, o recurso à memória seletiva como repositório dos ditos e feitos de Jesus ea transmissão oral como meio de difusão da fé adotada pelas testemunhas oculares. Concomitantemente, ele não pressupõe quaisquer registros escritos anteriores a produção dos primeiros evangelhos. Isso porque, conforme sua perspectiva (2004:58), as primeiras gerações de cristãos eram fortemente escatológicas. Implica dizer, para elas, "os últimos tempos" eram iminentes e, como Jesus, sem resquícios de dúvidas, logo retornaria, antecipando o fim do mundo, essa certeza "desencorajava os cristãos a
6 Ao usar a expressão "aqueles que viram e ouviram Jesus", Brown não especifica se as mulheres que acompanhavam o grupo de Jesus (Lc 8:1-3) também podem ser inéluidas neste genérico "aqueles",
escrever para as gerações futuras (que não existiriam para que pudessem ler livros)".
Outro biblista, Charles F. M. Moule (1979:15), advoga, à luz da crítica das formas, uma trajetória semelhante para o processo que conduziu à redação dos documentos cristãos primitivos. Para ele, "antes que os livros pudessem ser prontamente reproduzidos em quantidade, a literatura era menos proeminente como meio de propaganda" e, nesse período anterior ao surgimento de uma tradição escrita, o "kérigma7 inicial ou proclamação era oral". Mas essa afirmação, diga-se de relance, mostra-se por demais simplificada e não explicita, tal como Brown, quem foram os transmissorés ou proclamadores do kérigma inicial.
Ademais, Moule (1979:17) supõe que os evangelhos tiveram origem num "esforço para colocar em poucas palavras uma explicação daquilo que os cristãos tinham ouvido e visto e que os tinha levado às suas atuais convicções". Em síntese, foram o ouvir eo ver que conferiram as prerrogativas para a produção das tradições escritas. Afinal, prossegue Moule (1979:17), aqueles cristãos por trás dos evangelhos conhecidos "tinham estado no meio de certos eventos" e dos quais "criam ser eles mesmos encarregados de dar testemunho".
Ainda segundo Moule (1979:19), alguma sorte de coexistência de tradições orais e folhas de papiros circulantes, redigidas em aramaico (e possivelmente em hebraico) ou grego, compostas por adágios ou ditos e que, posteriormente, teriam vindo a fazer parte do primeiro evangelho escrito, ou seja, o evangelho de Marcos.
A formulação de Moule, no entanto, por não detalhar o processo por ele concebido, deixa em aberto uma série de questões importantes. Ao apontar para "aqueles cristãos por trás dos evangelhos" o biblista os trata de maneira homogênea, tanto no que se refere ao conjunto de crenças quanto à questão de gênero. Afinal de contas, nem os judeus cristãos formavam um bloco coeso de concepções sobre o que Jesus de Nazaré fez e disse, nem eram todos eles apenas homens.
7 C. H. Dodd (1979:7-8) esclarece que. em sua formulação mais concisa, kérigma "consiste no anúncio de certos acontecimentos históricos, feito de tal modo que se pode perceber também seu significado particular. Tais acontecimentos são: o aparecimento de Jesus no cenário deste mundo - e compreende o ministério, os sofrimentos, a morte e sucessiva aparição aos discípulos, na qualidade de ressuscitado da morte e revestido da glória de outro mundo - ea afirmação da Igreja distinguida pelo poder e ação do Espirito Santo e voltada ansiosamente para o retorno de seu Senhor como juiz e salvador do mundo".
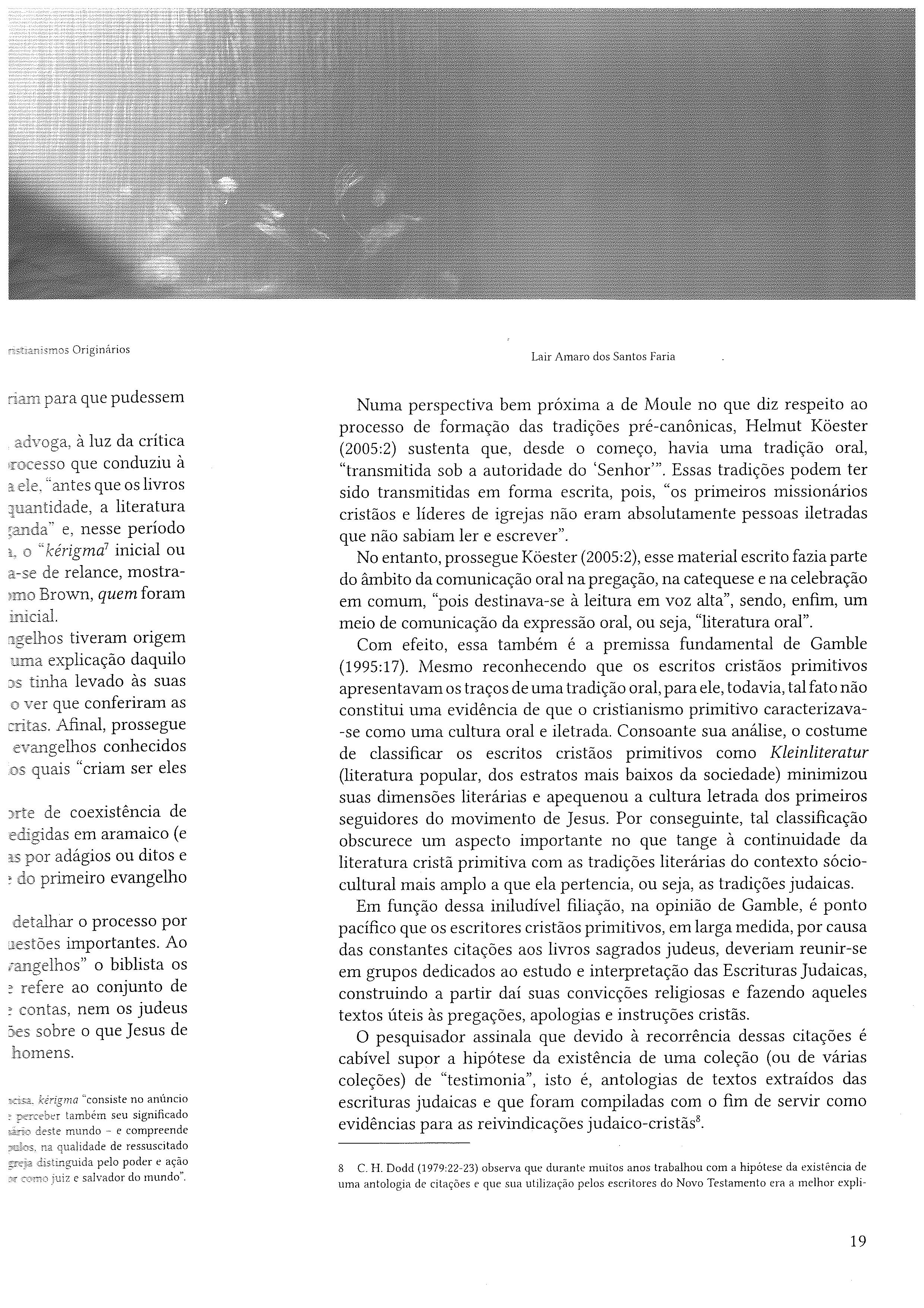
Numa perspectiva bem próxima a de Moule no que diz respeito ao processo de formação das tradições pré-canônicas, Helmut Koester (2005:2) sustenta que, desde o começo, havia uma tradição oral, "transmitida sob a autoridade do 'Senhor"'. Essas tradições podem ter sido transmitidas em forma escrita, pois, "os primeiros missionários cristãos e líderes de igrejas não eram absolutamente pessoas iletradas que não sabiam ler e escrever".
No entanto, prossegue Koester (2005:2), esse material escrito fazia parte do âmbito da comunicação oral na pregação, na catequese e na celebração em comum, "pois destinava-se à leitura em voz alta", sendo, enfim, um meio de comunicação da expressão oral, ou seja, "literatura oral".
Com efeito, essa também éa premissa fundamental de Gamble (1995:17). Mesmo reconhecendo que os escritoscristãos primitivos apresentavam os traços de uma tradição oral, para ele, todavia, tal fato não constitui uma evidência de que o cristianismo primitivo caracterizava-se como uma cultura oral e iletrada. Consoante sua análise, o costume de classificar os escritoscristãos primitivos como Kleinliteratur (literaturapopular, dos estratos mais baixos da sociedade) minimizou suas dimensões literárias e apequenou a cultura letrada dos primeiros seguidores do movimento de Jesus. Por conseguinte, tal classificação obscurece um aspecto importante no que tange à continuidade da literatura cristã primitiva com as tradições literárias do contexto sóCÍocultural mais amplo a que ela pertencia, ou seja, as tradições judaicas.
Em função dessa iniludível filiação, na opinião de Gamble, é ponto pacífico que os escritores cristãos primitivos, em larga medida, por causa das constantes citações aos livros sagrados judeus, deveriam reunir-se em grupos dedicados ao estudo e interpretação das Escrituras Judaicas, construindo a partir daí suas convicções religiosas e fazendo aqueles textos úteis às pregações, apologias e instruções cristãs.
O pesquisador assinala que devido à recorrência dessas citações é cabível supor a hipótese da existência de uma coleção (ou de várias coleções) de "testimonia", isto é, antologias de textos extraídos das escrituras judaicas e que foram compiladas com o fim de servir como evidências para as reivindicações judaico-cristãs 8
8 C. H. Dodd (1979:22-23) observa que durante muitos anos trabalhou com a hipótese da existéncia de uma antologia de citações e que sua utilização peJos escritores do Novo Testamento era a melhor expli-
Esses mesmos livros de testemunhos eram úteis, prossegue Gamble (1995:27), em inúmeros aspectos, principalmente, em situações vivenciadas pelos missionários cristãos, à medida que livros completos das escrituras sagradas (a) não seriam fáceis de adquirir na antiguidade e (b) cristãos individuais ou comunidades cristãs não deviam possuí-los para consulta. Assim, "há então, pelo menos, uma forte probabilidade circunstancial que coletâneas de testemunhos eram correntes na igreja primitiva e que essas podem ser contadas entre os itens perdidos da literatura cristã primitiva", reiterando sua visão que advoga o letramento entre algumas, senão todas, das lideranças do cristianismo primitivo.
Em uma fecunda abordagem do problema e divergente das anteriores, James D. G. Dunn assevera que qualquer um que tenha o desejo de aproximar-se de Jesus precisa necessariamente tomar contato com a "tradição de Jesus", quer dizer, o material utilizado pelos escritores dos evangelhos, constituído basicamente das estórias sobre Jesus e dos ensinos atribuídos a Jesus. Ele também chama a atenção para a persistente falta de estudos sobre o que, segundo ele, fazia parte dos estágios mais antigos do cristianismo: a tradição oral. Salienta, inclusive, a ausência de análises sobre o que a oralidade pode ter significado para a transmissão desse materiaF.
Convém frisar que Dunn faz um alerta no sentido de que qualquer investigação sobre esse assunto requer do pesquisador o questionamento acerca da existência de evidências suficientes da transmissão oral por trás do material escrito resultante. Perante diferentes versões das mesmas unidades narrativas, cuja tendência majoritária entre os estudos neotestamentários aponta como sendo o efeito de mudanças redacionais teologicamente motivadas, Dunn clama para que os estudos libertem-se dessas conclusões embasadas em paradigmas literários, como se pudesse dizer-se que os evangelistas mais tardios tomaram ciência das tradições de Jesus só, e somente só, após terem lido de suas fontes mais
cação sobre o modo como o Antigo Testamento era empregado para explicar o kérigma no periodo mais antigo do cristianismo, mas que chegou à conclusão de que essa teoria "afirma mais do que consegue provar, pois as provas alegadas não são suficientes para demonstrar a existência deuma iniciativa literária tão extraordinária numa época tão remota".
9 cc DUNN, 1- D. G. Jesus in Oral Memory: lhe initial slages of lhe Jesus lradilion. Disponivel em: www. ntgateway.coml]esus/dunn.rtC
primitivas, rejeitando-se a possibilidade de que essas tradições orais já fizessem parte de seu repertório de estórias sobre Jesus, levando Dunn a ponderar contra os argumentos padrão segundo os quais as tradições sinóticas têm de ser analisadas em termos de uma seqüência linear de edições literárias em que cada versão sucessiva consiste numa reedição de sua precedente, daí distorcendo a percepção crítica ea análise resultante das tradições de Jesus.
Por conseguinte, o pesquisador ressalta a imperiosa necessidade de encontrarem-se as "marcas" da tradição oral nos textos evangélicos. Assim, as tradições orais não eram transportadas, prossegue Dunn, em "pequenos cofres como algumas relíquias sagradas de um passado distante com seus elementos enrijecidos em função de um rigor mortis textual", nem eram criações livres de mestres ou profetas. Conclusivamente, portanto, é possível asseverar que elas eram a alma das comunidades em que eram contadas e recontadas.
Outra hipótese, em certa medida, provocativa, postulada por Gerd Theissen (2007: 32), especula acerca de três tradições desenvolvidas entre os círculos judaico-cristãos de adeptos do movimento do Reino de Deus propalado por Jesus de Nazaré. Uma, essencialmente constituída por coleções de ditos de Jesus, foi produzida por carismáticos itinerantes que reproduziam o estilo de vida de Jesus, sendo esses indivíduos, "os verdadeiros transmissores do novo movimento". A segunda, transmitida por grupos fixos de simpatizantes (não itinerantes) e que, muito provavelmente, formou-se a partir das recordações sobre os últimos dias de Jesus. Segundo Theissen (2007:35), há indícios seguros de que a tradição da paixão de Jesus emergiu em alguma data próxima aos eventos nela retratados. E ainda uma terceira, de origem popular, marcadamente constituída por histórias de milagres.
Convém ressaltar que o pesquisador alemão sublinha que essas tradições não eram estanques, mas que perpassavam estes três contextos sociais, podendo-se, por assim dizer, admitir que elas retro alimentavam-se, recombinavam-se, sofrendo todo tipo de alterações, contraindo-se e expandindo-se, incluindo e excluindo elementos, enfim, preservando pouco daquilo que originalmente fora sua matriz.
Até esse ponto, é possível verificar que a historiografia não formou, ainda, um consenso amplo se o espaço de tempo entre a morte de Jesus
ea produção dos evangelhos, intra e extracanânicos, foi preenchido pela transmissão das memórias "daqueles dias" exclusivamente por meio de tradições orais ou se essas co-existiam com anotações escritas.
Convém salientar, entretanto, a existência de um crescente interesse em tentar recuperar, na medida do possível, esse presumido estágio oral pré-evangélico. Com efeito, Robert C. Culley (1986:30-65) assevera existirem três maneiras distintas com as quais os estudiosos podem formar sua opinião a respeito da tradição oral e seu significado, num âmbito mais geral, para os estudos bíblicos. São elas: (1) observar a forma do texto bíblico em si mesmo ea extensão com que ele deixa indícios em seus modos de composição e transmissão; (2) conferir em outras culturas, modernas ou antigas, que parecem fornecer uma imagem mais clara da tradição oral, com o propósito de utilizá-las como analogia para tirar conclusões sobre o texto bíblico e (3) uma ilustração geral pode ser aceita ou um modelo geral pode ser construído que contenha aquilo que pareçam ser as características mais ou menos universais de uma cultura oral. Por meio desse esquema mais amplo, Culley crê ser possível discernir a presença ou a ausência dos aspectos relacionados a textos "orais" e escritos.
A RELAÇÃO ORALIDADE-ESCRITA ENTRE OS PRIMEIROS JUDEUS CRISTÃOS
Mas é preciso assinalar uma dificuldade enfrentada pelos acadêmicos e que diz respeito ao tipo de relação que pode ser estabelecida entre oralidade e letramento no interior dos grupos primitivos de judeus que deram continuidade ao programa do Reino de Deus.
Vemon K. Robbins (1995:74) concorda que um dos problemas que ainda persegue a investigação da oralidade na literatura cristã primitiva consiste, de fato, no uso impreciso dos termos "oralidade" e "cultura oral" na análise dos escritos neotestamentários. Assim, ele constata (2006:127) que uma das principais deficiências nesse campo consiste em distinguir o tipo de oralidade que existe em culturas compreendidas num espectroque vai daquelas em que os indivíduos desconhecem a escrita e textos escritos por completo àquelas em que textos escritos estão acessíveis a seus membros. Por conseguinte, Robbins classifica as culturas conforme a seguinte tipologia: (1) cultura de hipertextos; (2) cultura impressa; (3) cultura literária; (4) cultura de leitura; (5) cultura retórica; (6) cultura escribal e (7) cultura oral.
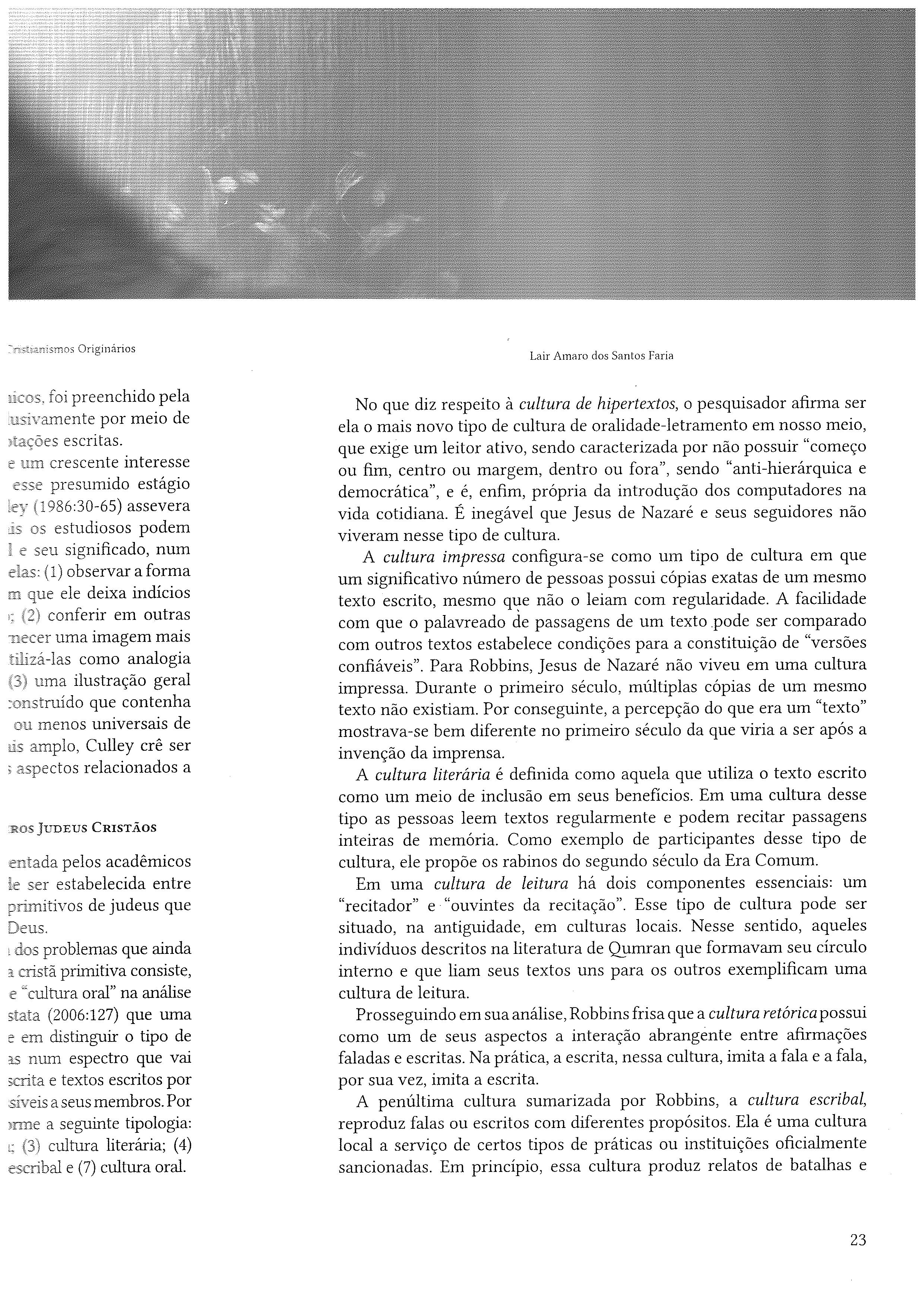
No que diz respeito à cultura de hipertextos, o pesquisador afirma ser ela o mais novo tipo de cultura de oralidade-Ietramento em nosso meio, que exige um leitor ativo, sendo caracterizada por não possuir "começo ou fim, centro ou margem, dentro ou fora", sendo "anti-hierárquica e democrática", e é, enfim, própria da introdução dos computadores na vida cotidiana. É inegável que Jesus de Nazaré e seus seguidores não viveram nesse tipo de cultura.
A cultura impressa configura-se como um tipo de cultura em que um significativo número de pessoas possui cópias exatas de um mesmo texto escrito, mesmo q\le não o leiam com regularidade. A facilidade com que o palavreado de passagens de um texto pode ser comparado com outros textos estabelece condições para a constituição de "versões confiáveis". Para Robbins, Jesus de Nazaré não viveu em uma cultura impressa. Durante o primeiro século, múltiplas cópias de um mesmo texto não existiam. Por conseguinte, a percepção do que era um "texto" mostrava-se bem diferente no primeiro século da que viria a ser após a invenção da imprensa.
A cultura literária é definida comoaquela que utiliza o texto escrito como um meio de inclusão em seus benefícios. Em uma cultura desse tipo as pessoas leem textos regularmente e podem recitar passagens inteiras de memória. Como exemplo de participantes desse tipo de cultura, ele propõe os rabinos do segundo século da Era Comum. Em uma cultura de leitura há dois componentes essenciais: um "recitador" e "ouvintes da recitação". Esse tipo de cultura pode ser situado, na antiguidade, em culturas locais. Nesse sentido, aqueles indivíduos descritos na literatura de Q.umran que formavam seu círculo interno e que liam seus textos uns para os outros exemplificam uma cultura de leitura.
Prosseguindo em sua análise, Robbins frisa que a cultura retórica possui como um de seus aspectos a interação abrangente entre afirmações faladas e escritas. Na prática, a escrita, nessa cultura, imita a fala ea fala, por sua vez, imita a escrita.
A penúltima cultura sumarizada por Robbins, a cultura escribal, reproduz falas ou escritos com diferentes propósitos. Ela é uma cultura local a serviço de certos tipos de práticas ou instituições oficialmente sancionadas. Em princípio, essa cultura produz relatos de batalhas e
vitórias, irrigações e colheitas, tributos e taxas, leis sancionadas por uma pessoa ou outra, e assim por diante.
Por fim, a cultura oral. Nessa cultura os textos escritos não estão presentes ou não estão pressupostos em relação às falas. O único tipo de "texto" que existe éo "texto oral". Em relação a essas sete alternativas, portanto, Robbins considera ser a definição mais precisa da tradição cristã primitiva a cultura retórica e não a oral. Para ele, virtualmente, todos os cristãos primitivos estavam conscientes, na dinâmica de seus discursos, da existência, em algum lugar, da tradição a que eles se referiam como "os escritos" (hai graphai), que as Bíblias modernas traduzem como "Escritura" ou "as Escrituras".
Ainda de acordo com Robbins (2006:127), os cristãos primitivos que pregavam, que liam em voz alta para outras pessoas e que escreviam, estavam continuamente trabalhando em uma interação entre a fala e "coisas que eram escritas". No entanto, é para esse cenário que as evidências apontam? Em outras palavras, o cristianismo mais primitivo foi constituído por sujeitos letrados? Aliás, como era o mundo social das primeiras comunidades judaico-cristãs? Ademais, quem era letrado na Palestina romana do século I?
Nesse sentido, cumpre destacar uma das considerações de Christopher D. Stanley (2007) de que o interesse testemunhado nas duas últimas décadas pelos estudiosos do Novo Testamento pelo mundo social das comunidades cristãs primitivas produziu significativos avanços, obtidos através de bem-vindos corretivos aos paradigmas textuais e teológicos que dominavam a história da erudição neotestamentária. Porém, ele lamenta, esses avanços foram acompanhados pela importação de valores e práticas modernas em suas reconstruções do mundo antigo, incluindo naquela era virtudes liberais como liberdade pessoal, empreendimento privado ea separação da religião das esferas políticas e econômicas.
Entre prós e contras, Stanley frisa também ser inegável a lentidão verificada na penetração de alguns discernimentos da história social em certas áreas da pesquisa. Por conseguinte, um dos aspectos da sociedade mediterrânea antiga cuja apreciação por parte dos acadêmicos tem sido minimamente observado éo do não-Ietramento massivo que caracterizava o mundo dos cristãos primitivos.
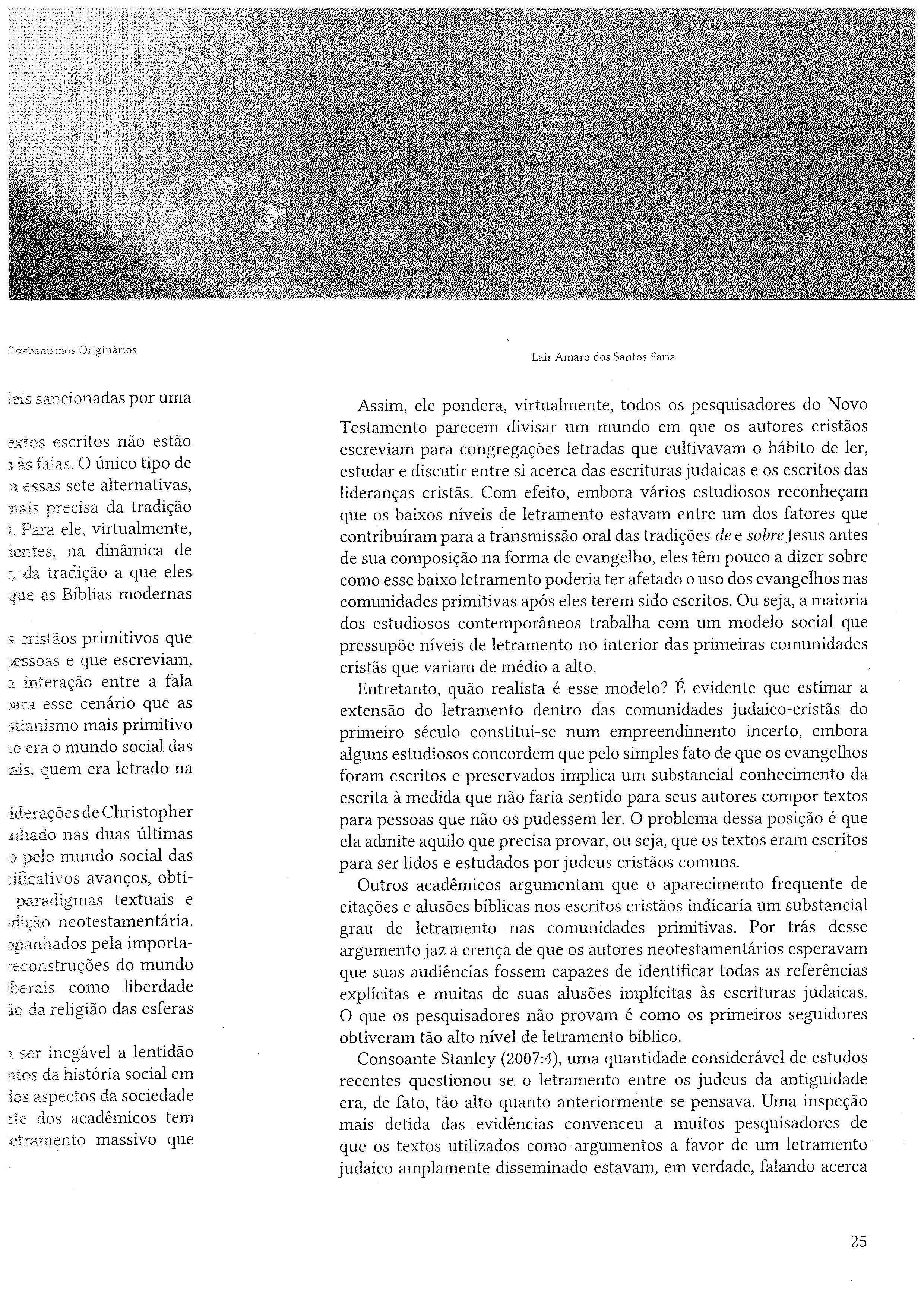
Assim, ele pondera, virtualmente, todos os pesquisadores do Novo Testamento parecem divisar um mundo em que os autores cristãos escreviam para congregações letradas que cultivavam o hábito de ler, estudar e discutir entre si acerca das escrituras judaicas e os escritos das lideranças cristãs. Com efeito, embora vários estudiosos reconheçam que os baixos níveis de letramento estavam entre um dos fatores que contribuíram para a transmissão oral das tradições de e sobre Jesus antes de sua composição na forma de evangelho, eles têm pouco a dizer sobre como esse baixo letramento poderia ter afetado o uso dos evangelhos nas comunidades primitivas após eles terem sido escritos. Ou seja, a maioria dos estudiosos contemporâneos trabalha com um modelo social que pressupõe níveis de letramento no interior das primeiras comunidades cristãs que variam de médio a alto.
Entretanto, quão realista é esse modelo? É evidente que estimar a extensão do letramento dentro das comunidades judaico-cristãs do primeiro século constitui-se num empreendimento incerto, embora alguns estudiosos concordem que pelo simples fato de que os evangelhos foram escritos e preservados implica um substancial conhecimento da escrita à medida que não faria sentido para seus autores compor textos para pessoas que não os pudessem ler. O problema dessa posição é que ela admite aquilo que precisa provar, ou seja, que os textos eram escritos para ser lidos e estudados por judeus cristãos comuns.
Outros acadêmicos argumentam que o aparecimento frequente de citações e alusões bíblicas nos escritos cristãos indicaria um substancial grau de letramento nas comunidades primitivas. Por trás desse argumento jaz a crença de que os autores neotestamentários esperavam que suas audiências fossem capazes de identificar todas as referências explícitas e muitas de suas alusões implícitas às escrituras judaicas. O que os pesquisadores não provam é como os primeiros seguidores obtiveram tão alto nível de letramento bíblico.
Consoante Stanley (2007:4), uma quantidade considerável de estudos recentes questionou se o letramento entre os judeus da antiguidade era, de fato, tão alto quanto anteriormente se pensava. Uma inspeção mais detida das evidências convenceu a muitos pesquisadores de que os textos utilizados como argumentos a favor de um letramento judaico amplamente disseminado estavam, em verdade, falando acerca
de subgrupos especiais situados no interior da comunidade judaica. Catherine Hezser (2001:496) concluiu, após exaustivo levantamento de evidências literárias e epigráficas na Palestina romana, que pouquíssimos judeus eram capazes de ler textos simples e assinar seus próprios nomes durante a era imperial.
A autora descreve o letramento entre os judeus por meio da imagem de círculos concêntricos no qual o círculo central seria ocupado por um número muito pequeno de pessoas altamente letradas que podia ler textos em hebraico/aramaico e em grego. O círculo seguinte seria composto por pessoas que podiam ler textos em hebraico/aramaico ou em grego. Em torno desses dois círculos, haveria um terceiro formado por pessoas que não conseguiriam ler textos literários, mas seriam capazes de ler somente listas ou cartas. Uma proporção bem mais ampla da população conseguiria identificar letras, nomes e rótulos e, finalmente, a vasta maioria da população que tinha acesso a textos apenas por meio de intermediários.
Gamble (1995:2-11) reconheceu que, mesmo se a igreja primitiva incluísse um número desproporcional de artesãos e pequenos empresários entre seus membros, o nível de letramento das comunidades cristãs primitivas não excederia aos 10% da população que sabia ler no período. Com efeito, ele sublinha que o grau de cultura escrita na igreja primitiva não podia ser maior do que o existente na sociedade da qual o cristianismo era uma parte. Conclusivamente ele assinala: "devemos admitir que a grande maioria dos cristãos nos primeiros séculos da igreja eram iletrados, não porque eles fossem uma exceção, mas porque, a esse respeito, eles fossem homens típicos de seu tempo".
Compreensão bastante similar é adotada por John Kloppenborg (2000:167) que considera improvável que os cristãos do primeiro século desfrutassem de um nível de letramento maior do que a população como um todo.
Por conseguinte, Crossan (2004:274) postula que "quase por definição, os camponeses são analfabetos" e, por essa razão, ele assevera: "Jesus era um camponês de um povoado camponês. Portanto, para mim, Jesus era analfabeto até que o contrário seja comprovado".
LEVANTANDO PREMISSAS E HIPÓTESES
Nesse sentido, com todo o respeito às considerações de Robbins, parece mais apropriado inferir os primeiros seguidores do movimento de Jesus, situados nas aldeias e vilas rurais da Palestina romana, como homens e mulheres marcadamente iletrados. Com efeito, essa éa primeira premissa deste trabalho: a transição de Jesus de Nazaré para o cristianismo mais primitivo esteve sob a responsabilidade de camponeses e pescadores iletrados.
Até este ponto o termo "cristianismo mais primitivo" tem sido empregado sem maiores distinções acerca de seu significado. É hora, portanto, de aclarar o conceito. Em parte, quer-se, com essa expressão, tratar dos anos perdidos do cristianismo, ou seja, os anos 30 e 40 do século I, aquelas décadas obscuras, envoltas em silêncios, que se seguiram imediatamente à execução de Jesus. Como alerta Crossan (2004:18), não há documentos do cristianismo datados desse período, tomando qualquer reconstrução histórica um empreendimento fadado ao fracasso. No entanto, ele também observaque tudo passa a ser uma questão de "método novo e material novo" (2004:18). Conforme sua perspectiva, o método novo consiste da combinação interdisciplinar de antropologia, história, arqueologia e literatura. Por meio desse método, ele assegura, é possível estabelecer o contexto, da forma mais bem definida possível, antes de se estudar qualquer texto cristão.
Quando Crossan afirma que inexistem fontes escritas datadas das décadas obscuras isso pode ser uma conseqüência do fato de que aqueles que disseminavam o programa do Reino de Deus eram, assim como Jesus, iletrados. No entanto, em diferentes momentos daquele primeiro século após a morte de Jesus surgiram textos que, em certa medida, reuniam as lembranças das testemunhas oculares "daqueles dias".
A historiografia moderna, depois de acuradas análises e intensos debates, definiu datas prováveis para cada um dos documentos surgidos no interior das comunidades de seguidores do judaísmo de Jesus. Do estudo e discussão dessas fontes escritas, alcançou-se um consenso relativamente amplo de que os documentos mais primitivos da literatura cristã seriam o evangelho de Marcos e uma hipotética coletânea de ditos de Jesus denominada QO.
10 "Q" éo nome dado a um hipotético documento ou manuscrito cristão que teria sido utilizado. por
Por conseguinte, não seria implausível imaginar que esses dois documentos mais antigos da literatura cristã remontassem, nos termos de 1heissen, aos carismáticos itinerantes, aqueles missionários ambulantes que deixaram para trás o pouco que possuíam e que se engajaram, de corpo e alma, com maior ou menor sucesso, na utopia do Reino de Deus de Jesus.
Propor que aqueles dois documentos remontam a esses indivíduos não acarreta afirmar que foram eles os responsáveis pela escrita de Marcos e de Q. Antes, consiste em introduzir na história das comunidades cristãs primitivas indivíduos que até então não faziam parte do movimento: letrados que se encarregaram de verter por escrito as tradições de e sobre Jesus que eles ouviam daqueles itinerantes ll Essa situação inédita para o movimento do Reino de Deus redundaria, no futuro, em alterações programáticas decorrentes das expectativas diferentes que cada grupo possuía sobre o porvir do povo de Israel e dos embates internos que se sucederam. No entanto, não é esse o escopo desta pesquisa.
Enfim, aqui se postula o quadro seguinte: os indivíduos, homens e mulheres, que ouviram e viram Jesus de Nazaré tornando-se crentes de uma utopia, o Reino de Deus, entenderam que a morte de seu líder fora o sinal para a disseminação de sua proposta "por todo o mundo". Por conseguinte, adotaram um estilo de vida itinerante, que, ao fim e ao cabo, era semelhante ao estilo de vida do próprio Jesus. Iletrados, como pessoas comuns de sua época, não transportavam os ditos e feitos de Jesus em anotações ou livros. Carregavam as lembranças "daqueles dias" na memória. Mas havia o risco de se perder, aos poucos, os detalhes das histórias. Talvez, quando de volta a localidades antes visitadas, as hisvias independentes, pelos autores dos evangelhos de Mateus e Lucas e que éa abreviaçiio da palavra "ÇbJelle", que significa "fonte" em alemão. Até o presente momento, sua presumida existência é, segundo os principais historiadores da pesquisa acadêmica sobre o cristianismo primitivo, a melhor solução para o Problema Sinótico. Para outras informações, ver, de nossa autoria, nossa monografia: "O Evangelho Q: controvérsias em torno de sua existência e gênero literário" e nosso artigo "Evangelho Q: um 'turning point' na história do cristianismo primitivo", disponivel no si te da Revista Eletrõnica Gaia.
11 Um leitor cristiio sentir-se-ia tentado a contra-argumentar veementemente essa última consideração apontando que, desde o ministério público de Jesus, sujeitos da alta classe da Judéia e, portanto, letrados, faziam parte do grupo de crentes do movimento do Reino de Deus. Citaria, por exemplo, José de Arimateia, como um deles. No entaljto, Crossan (J 995:202) demonstra, muito convincentemente, que Arimateia é um personagem ficticio, fruto da imaginação literária de Marcos, que desempenha Um papel importante na economia de sua narrativa.
tórias já estivessem sendo contadas de formas diferentes. Daí, eles podem ter pensado numa forma de padronização das narrativas de modo a conservar as tradições de e sobre Jesus minimamente inalteradas. Assim, as primeiras versões escritas que surgiram reproduziriam as pregações dos missionários constituindo narrativas completas, comunicadas em encontros coletivos, e não textos em pedaços.
Cumpre, então, formular duas hipóteses: (1) os textos dos evangelhos de Marcos e Q oferecem múltiplas indicações que permitem dizer que eles são, na verdade, a transcrição posterior de performances públicas de missionários itinerantes e não o resultado do trabalho de um escritor letrado sentado e isolado numa escrivaninha; e (2) pelo fato de serem "textos" orais, a compreensão ea interpretação dos dois documentos cristãos primitivos deve passar por uma significativa mudança de entendimento, alterando a visão que há sobre o próprio movimento liderado por Jesus.
Em função da proposta de reconstrução da transição de Jesus para o cristianismo primitivo, conforme o quadro e as hipóteses acima apresentadas, e dos vários elementos que ela envolve, diversas reflexões teóricas serão necessárias. À medida que se afirma que os carismáticos itinerantes confiavam à memória as tradições de e sobre Jesus, fundamental será discorrer sobre seus variados aspectos.
Por conseguinte, buscar-se-á estar alinhado, integralmente, às considerações de Peter Burke (2000) no que tange ao dever dos historiadores por se interessar pela memória a partir de dois pontos de vista. Em primeiro lugar, estudar a memória como fonte histórica, elaborando uma crítica da confiabilidade das reminiscências em teor idêntico ao da crítica tradicional de documentos históricos. Assim, "mesmo os que trabalham com períodos anteriores [ao da modernidade] têm alguma coisa a aprender com o movimento da história oral, pois precisam estar conscientes dos testemunhos e tradições orais embutidos em muitos registros históricos" (2000:72).
Em segundo lugar, pensar a memória como um fenômeno histórico, em outras palavras, como algo semelhante a uma história social do lembrar. Levando em conta que a memória social, como a individual, é seletiva, Burke assinala que nós, historiadores, precisamos identificar os princípios de seleção e observar como eles variam de lugar para lugar; ou de um grupo para outro, e como mudam com o passar do tempo.
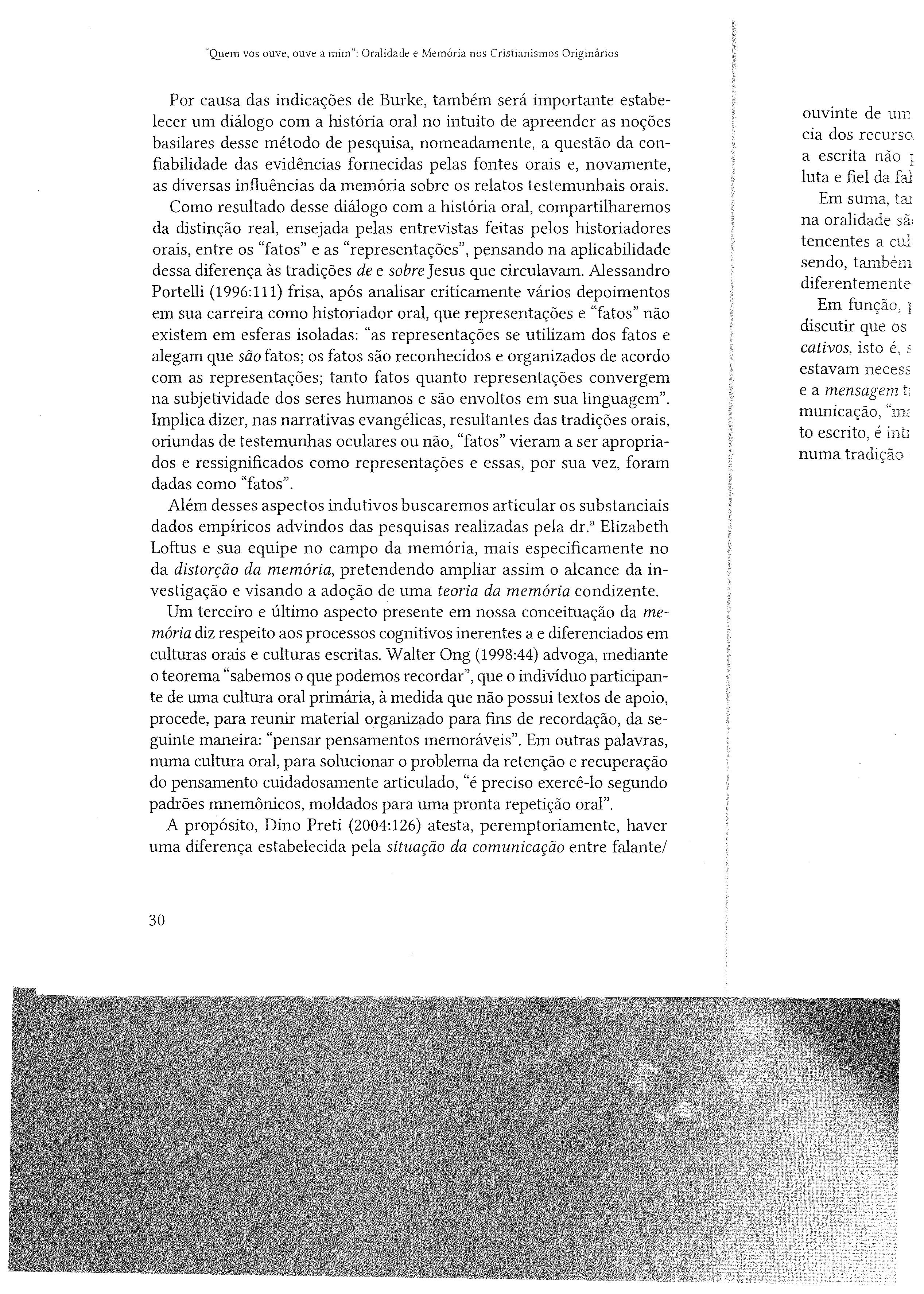
Por causa das indicações de Burke, também será importante estabelecer um diálogo com a história oral no intuito de apreender as noções basilares desse método de pesquisa, nomeadamente, a questão da confiabilidade das evidências fornecidas pelas fontes orais e, novamente, as diversas influências da memória sobre os relatos testemunhais orais. Como resultado desse diálogo com a história oral, compartilharemos da distinção real, ensejada pelas entrevistas feitas pelos historiadores orais, entre os "fatos" e as "representações", pensando na aplicabilidade dessa diferença às tradições de e sobre Jesus que circulavam. Alessandro Portelli (1996:111) frisa, após analisar criticamente vários depoimentos em sua carreira como historiador oral, que representações e "fatos" não existem em esferas isoladas: "as representações se utilizam dos fatos e alegam que são fatos; os fatos são reconhecidos e organizados de acordo com as representações; tanto fatos quanto representações convergem na subjetividade dos seres humanos e são envoltos em sua linguagem". Implica dizer, nas narrativas evangélicas, resultantes das tradições orais, oriundas de testemunhas oculares ou não, "fatos" vieram a ser apropriados e ressignificados como representações e essas, por sua vez, foram dadas como "fatos".
Além desses aspectos indutivos buscaremos articular os substanciais dados empíricos advindos das pesquisas realizadas pela dI. a Elizabeth Loftus e sua equipe no campo da memória, mais especificamente no da distorção da memória, pretendendo ampliar assim o alcance da investigação e visando a adoção de uma teoria da memória condizente. Um terceiro e último aspecto presente em nossa conceituação da memória diz respeito aos processos cognitivos inerentes ae diferenciados em culturas orais e culturas escritas. Walter Ong (1998:44) advoga, mediante o teorema "sabemos o que podemos recordar", que o indivíduo participante de uma cultura oral primária, à medida que não possui textos de apoio, procede, para reunir material organizado para fins de recordação, da seguinte maneira: "pensar pensamentos memoráveis". Em outras palavras, numa cultura oral, para solucionar o problema da retenção e recuperação do pensamento cuidadosamente articulado, "é preciso exercê-lo segundo padrões mnemônicos, moldados para uma pronta repetição oral".
A propósito, Dino Preti (2004:126) atesta, peremptoriamente, haver uma diferença estabelecida pela situação da comunicação entre falante/
ouvinte de um lado e escritor/leitor de outro, com a presença/ausência dos recursos da produção lingüística face a face, demonstrado que a escrita não pode ser, em momento algum, a representação absoluta e fiel da fala.
Em suma, tanto o pensamento quanto o modo como esse se expressa na oralidade são diferentes daqueles que são fundados em sujeitos pertencentes a culturas com algum tipo de escrita já desenvolvida. Assim sendo, também a memória e seus mecanismos devemser processados diferentemente.
Em função, portanto, de seu presumido caráter oral, cumpre então discutir que os evangelhos podem ser encarados como eventos comunicativos, isto é, sua disseminação se processando num contexto em que estavam necessariamente presentes um emissor, um ou mais receptores ea mensagem transmitida. Assim, segundoHorsley (2004), qualquer comunicação, "mas especialmente a performance oral, com ou sem um texto escrito, é intrinsecamente relacional e inserida num contexto social e numa tradição cultural".